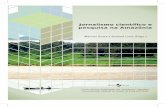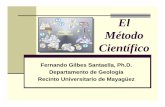V Colóquio Técnico Científico de Medicina Veterinária
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of V Colóquio Técnico Científico de Medicina Veterinária
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
1
SUMÁRIO
IMPORTÂNCIA DA CERTIFIED HUMANE BRASIL NA BOVINOCULTURA DE CORTE ...................................................................... 4
A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO NA SAÚDE ÚNICA ................................................................................. 5
A INFLUÊNCIA DO ABATE HUMANITÁRIO PARA A QUALIDADE DA CARNE BOVINA .................................................................. 6
A SÍNDROME DO GATO PARAQUEDISTA ..................................................................................................................................... 7
ABORDAGEM CIRÚRGICA DA OSTEOCONDRITE DISSECANTE: RELATO DE CASO ....................................................................... 8
ACHADOS CLÍNICOS E NECROSCÓPICOS EM LOBÓ-GUARA (CHRYSOCYON BRACHYURUS) ....................................................... 9
AFECÇÕES PODAIS EM GADO DE LEITE ..................................................................................................................................... 10
ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE URETROSTOMIA E PENECTOMIA ..................................................................................... 11
REVISÃO DE LITERATURA: ANOMALIA DO OLHO DO COLLIE .................................................................................................... 12
APLICAÇÕES PRÁTICAS DA CURVA DE NÍVEL NA AGRICULTURA .............................................................................................. 13
RELATO DE CASO: ARTRITE SÉPTICA EM BEZERRO DA RAÇA GIROLANDO ............................................................................... 14
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO HERPESVÍRUS BOVINO TIPO 1 (BHV-1) .............................................................................. 15
ASPECTOS FISIOLÓGICOS DO REFLEXO DE FLEHMEN ............................................................................................................... 16
ASPECTOS REPRODUTIVOS RELACIONADOS AO CICLO ESTRAL DE CABRAS ............................................................................. 17
AVALIAÇÃO DO USO DE LOKIVETMAB NA TERAPÊUTICA DA DERMATITE ATÓPICA CANINA (DAC) ......................................... 18
BIOCLIMATOLOGIA DE BOVINOS CRIADOS EM SISTEMA SILVIPASTORIL ................................................................................. 19
BIOTECNOLOGIAS REPRODUTIVAS E O PESO AO NASCIMENTO DE BEZERROS ........................................................................ 20
CÃES ERRANTES NO COLETIVO – REVISÃO DE LITERATURA ..................................................................................................... 21
CAPNOGRAFIA EM MEDICINA VETERINÁRIA E SUA RELAÇÃO COM A COVID-19 ..................................................................... 22
CARACTERISTICAS DO CARCINOMA NEUROENDÓCRINO DA MAMA CANINA ......................................................................... 23
CASTRAÇÃO COMO MEDIDA PREVENTIVA A NEOPLASIAS MAMÁRIAS EM CADELAS .............................................................. 24
RELATO DE CASO: CHOQUE ANAFILÁTICO EM EQUINO ........................................................................................................... 25
CITOLOGIA DE LESÕES CAUSADAS POR SPOROTHRIX SPP EM FELINOS ................................................................................... 26
COLETA E CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN EM FELINOS SILVESTRES ......................................................................................... 27
CORREÇÕES CIRURGICAS Do COLAPSO DE TRAQUEIA: REVISÃO DE LITERATURA ................................................................... 28
CRIPTORQUIDISMO EM EQUINOS ............................................................................................................................................ 29
CURA DE UMBIGO EM BEZERROS: EFICIÊNCIA NO MANEJO X ONFALOPATIAS ....................................................................... 30
CYTAUXZOON FELIS ................................................................................................................................................................... 31
DERMATITE ATÓPICA CANINA: REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................................ 32
DERMATITE DIGITAL BOVINA: AGENTE ETIOLÓGICO E PATOGÊNESE ...................................................................................... 33
DERMATITE PSICOGÊNICA EM FELINOS .................................................................................................................................... 34
DESEMPENHO DE PROGÊNIES F1 X RETRO CRUZADAS E NELORE ............................................................................................ 35
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE CETOSE EM BOVINOS ......................................................................................................... 36
DIETA ANIÔNICA NA PREVENÇÃO DA HIPOCALCEMIA EM VACAS LEITEIRAS ........................................................................... 37
DISPLASIA COXOFEMORAL BILATERAL EM CÃO DA RAÇA LABRADOR ..................................................................................... 38
DISPLASIA COXOFEMORAL EM CÃES ........................................................................................................................................ 39
DNA MITOCONDRIAL SOLUCIONANDO CRIMES CONTRA A FAUNA SILVESTRE........................................................................ 40
EFEITO DO USO DE ANTICONCEPCIONAIS EM CADELAS E GATAS ............................................................................................ 41
ENDOCRINOLOGIA DO CICLO ESTRAL DAS CADELAS ASSOCIADA À INSEMINAÇÃO ................................................................. 42
ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA CÃES DOMÉSTICOS ...................................................................................................... 43
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
2
ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA FELINOS DOMÉSTICOS ................................................................................................. 41
ERITROGRAMA EM CÃO COM ANEMIA HEMOLÍTICA IMUNOMEDIADA: RELATO DE CASO .................................................... 42
ETIOPATOLOGIA DA CINOMOSE CANINA ................................................................................................................................. 43
EXCITAÇÃO POR ESTÍMULO EM CÃO SEDADO COM DEXMEDETOMIDINA .............................................................................. 44
EXTRUSÃO AGUDA DO NÚCLEO PULPOSO NÃO DEGENERADO EM CÃES ................................................................................ 45
FATORES QUE INTERFEREM NO CONSUMO DE CARNE SUÍNA NO BRASIL ............................................................................... 46
FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL NA AGRICULTURA ....................................................... 47
FISIOLOGIA DA SAZONALIDADE REPRODUTIVA EM EQUINOS .................................................................................................. 48
GESTÃO REPRODUTIVA DAS BÚFALAS ...................................................................................................................................... 49
HEMATOLOGIA EM AVES SILVESTRES E EXÓTICAS ................................................................................................................... 50
HERNIORRAFIAS DIAFRAGMÁTICAS CONGÊNITAS UMA REVISÃO ........................................................................................... 51
HIPERPLASIA FIBROADENOMATOSA FELINA: RELATO DE CASO ............................................................................................... 52
HIPOADRENOCORTICISMO PRIMÁRIO EM CÃO – RELATO DE CASO ........................................................................................ 53
IMPACTOS DA NEOSPOROSE BOVINA NA REPRODUÇÃO NACIONAL ....................................................................................... 54
INCIDÊNCIA DE RETENÇÃO DE PLACENTA EM UMA PROPRIEDADE DE MG ............................................................................. 55
INFECÇÃO GENITOURINÁRIA CAUSADA POR DISPOSITIVO DE PROGESTERONA ...................................................................... 56
INFECÇÃO ORAL POR TRICHOMONAS GALLINAE EM FALCONIFORMES ................................................................................... 57
INFLUÊNCIA DA GESTÃO EM PROPRIEDADES RURAIS .............................................................................................................. 58
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO EM BOVINOS: REVISÃO ....................................................................................... 59
INSULINOMA MALIGNO EM CÃO: RELATO DE CASO ................................................................................................................ 60
ISOERITRÓLISE NEONATAL EQUINA .......................................................................................................................................... 61
LEISHMANIOSE FELINA .............................................................................................................................................................. 62
LEUCOENCEFALOMALÁCIA EM EQUINOS ................................................................................................................................. 63
LINFOMA CANINO: REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................................................................... 64
MALASSEZIOSE ASSOCIADA À DERMATITE TROFOALÉRGICA EM UM CÃO .............................................................................. 65
MELHORAMENTO DO GADO GIROLANDO NO ESTADO DE MINAS GERAIS .............................................................................. 66
METÁSTASE PULMONAR EM CADELA E ANÁLISE RADIOGRÁFICA: RELATO DE CASO .............................................................. 67
METRITE EM VACA: RELATO DE CASO ...................................................................................................................................... 68
MIELOMA MÚLTIPLO EM CÃES ................................................................................................................................................. 69
MUCOMETRA EM CADELA-RELATO DE CASO ........................................................................................................................... 70
MUTAÇÃO E RECOMBINAÇÃO VIRAL ASSOCIADA À PANDEMIA DO COVID-19........................................................................ 71
NEFRECTOMIA EM PEQUENOS ANIMAIS .................................................................................................................................. 72
O MÉDICO VETERINÁRIO NO CONTROLE DE EPIDEMIA E PANDEMIA EMERGENTES ............................................................... 73
O PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE ÚNICA ........................................................................................ 74
O USO DE BLOQUEIOS PERINEURAIS NO DIAGNÓSTICO DE CLAUDICAÇÃO EQUINA ............................................................... 75
O USO DO TAMANCO DE MADEIRA NA LAMINITE EQUINA – RELATO DE CASO ...................................................................... 76
OCITOCINA E QUEDA NO DESEMPENHO REPRODUTIVO .......................................................................................................... 77
ONFALOFLEBITE EM BEZERRA NEONATA – RELATO DE CASO .................................................................................................. 78
OS BIÓTIPOS DE S. AUREUS E SUAS IMPLICAÇÕES ................................................................................................................... 79
OZONIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE FERIDA CUTÂNEA EM OURIÇO-CACHEIRO ................................................................. 80
PAPEL DA CURVA DE NÍVEL NA CONSERVAÇÃO DO SOLO NO BRASIL ...................................................................................... 81
PROCESSO INFLAMATÓRIO SINOVIAL ASSOCIADO COM LUXAÇÃO DE PATELA ....................................................................... 82
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
3
RELAÇÃO DO USO DE CONTRACEPTIVOS COM A INCIDÊNCIA DE PIOMETRA EM FÊMEAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES ............................................................................................................................................................................... 83
RESISTÊNCIA BACTERIANA NA CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS: REVISÃO DE LITERATURA ................................................... 84
RESISTÊNCIA MICROBIANA NA CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS ............................................................................................ 85
RESPOSTAS IMUNES E TIPOS DE VACINAS APLICADAS NA VETERINÁRIA ................................................................................. 86
RETENÇÃO DE PLACENTA E AMBIÊNCIA EM FAZENDA NO ALTO PARANAIBA - MG ................................................................ 87
RETENÇÃO DE PLACENTA EM VACAS LEITEIRAS ....................................................................................................................... 88
SENECAVÍRUS A – REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................................................................. 89
SÍNDROME DA CAUDA EQUINA EM CÃES ................................................................................................................................. 90
SÍNDROME DE CONSTRIÇÃO DE MEMBROS EM PSITTACARA LEUCOPHTHALMUS .................................................................. 91
SÍNDROME DA DISFUNÇÃO COGNITIVA CANINA ...................................................................................................................... 92
SÍNDROME DA LISE TUMORAL .................................................................................................................................................. 93
SÍNDROME DA ANSIEDADE DE SEPARAÇÃO EM CÃES .............................................................................................................. 94
SÍNDROME DO OVÁRIO REMANESCENTE EM CÃES E GATOS ................................................................................................... 95
SÍNDROME UVEODERMATOLÓGICA ......................................................................................................................................... 96
TENDINITE EM EQUINO DA RAÇA BRASILEIRO DE HIPISMO – RELATO DE CASO ..................................................................... 97
TEOR DE AGRESSIVIDADE RELACIONADO à RAÇA: REVISÃO DE LITERATURA .......................................................................... 98
TERMOGRAFIA POR INFRAVERMELHO NA MEDICINA VETERINÁRIA ....................................................................................... 99
TESTE DE SENSIBILIDADE PARA O CONTROLE DO CARRAPATO DOS BOVINOS ...................................................................... 100
TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO EM CÃES: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. ............................................................ 101
TRATAMENTO DE CATARATA EM ANIMAIS DE COMPANHIA ................................................................................................. 102
TRATAMENTO DE FERIDA COM ÓLEO OZONIZADO EM DASYPUS NOVEMCINCTUS .............................................................. 103
TRÍADE DE VIRCHOW .............................................................................................................................................................. 104
TRIPANOSSOMOSE POR T. EVANSI EM EQUINOS: REVISÃO DE LITERATURA ......................................................................... 105
UM EQUINO CRIPTORQUIDA DEVE SER RETIRADO DA REPRODUÇÃO? ................................................................................. 106
USO DE CÉLULAS-TRONCO NA TERAPÊUTICA DE LESÕES MEDULARES EM CÃES................................................................... 107
USO DE DNA NO ESCLARECIMENTO DE CRIMES AMBIENTAIS ............................................................................................... 108
USO DE PLANTAS MEDICINAIS NO CONTROLE DO RHIPICEPHALUS MICROPLUS ................................................................... 109
USO DO IRAP NO TRATAMENTO DE OSTEOARTRITE EM CAVALOS ATLETAS ......................................................................... 110
USO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS EM PEQUENOS ANIMAIS ......................................................................................... 111
UTILIZAÇÃO DO CIO DO POTRO NO MANEJO REPRODUTIVO DOS EQUINOS......................................................................... 112
VESICULITE SEMINAL EM GARANHÕES ................................................................................................................................... 113
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
4
IMPORTÂNCIA DA CERTIFIED HUMANE BRASIL NA BOVINOCULTURA DE CORTE
Samantha Antunes Teixeira1, Patrícia Mota Simões1, Bruna de Oliveira Corrêa¹, Gabriel Almeida Dutra2. 1Graduando em Medicina Veterinária– UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
² Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O consumo de carne está relacionado à fatores socioeconômicos tais como os hábitos alimentares das famílias ou preços de produção e de consumo. A indústria de carne global hoje alimenta e sustenta bilhões de pessoas1. Nesta evolução, alguns métodos de produção e tecnologias usados resultaram em práticas danosas tanto para o meio-ambiente e pessoas, quanto para os animais envolvidos. Neste contexto, o bem-estar animal emergiu como fator-chave de avaliação de mercado, ao lado de preocupações com a saúde e o meio ambiente. A preocupação com o bem-estar animal manifesta-se na cadeia produtiva através de diversas iniciativas². Foca-se aqui no uso do selo “Certified Humane Brasil", o qual atesta para o consumidor final que o processo produtivo do alimento de origem animal escolhido, obedeceu a regras explicitas, concebidas para garantir a melhoria da vida das criações e seu bem-estar. O presente trabalho baseia se em pesquisa documental, a fim de explorar materiais já existentes sobre o mercado consumidor de carne, sobre o bem-estar animal e sobre as práticas utilizadas pela Certified Humane no Brasil.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi realizado através de pesquisas nos bancos de dados do Scielo, Google e Google Academics. Foram utilizados artigos científicos e documentos publicados a partir de 2010 por organizações governamentais e não governamentais. Palavras-chave :Bem-estar, certificação, práticas humanizadas e criação de bovinos de corte, RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Certified Humane no Brasil é uma organização não governamental, vinculada a Humane Farm Animal Care - HFAC. Esta certificadora trouxe para o mercado nacional a promoção do programa de certificação e rotulagem para carnes, laticínios, ovos e aves. A fim de melhorar a vida dos animais criados em fazendas e granjas e direcionando a demanda do mercado para produtos elaborados com práticas mais humanizadas e responsáveis3. Essa certificação permite que o consumidor possa, ao escolher o produto, determinar também que tipo de tratamento o animal recebeu ao longo de sua vida. O mercado consumidor ao privilegiar esse tipo de produto, está indiretamente determinando a implantação de práticas de preservação do bem-estar animal. Cada produtor, para obter o selo, segue exigências apresentadas no manual de diretrizes4 da certificadora. Neste estão especificados os referenciais específicos a serem respeitados de cada espécie. Foca-se aqui nos Bovinos de Corte, mas outros animais também são atendidos pela norma. Conforme informado pela organização, os padrões são validados por organismos de pesquisa, veterinários e diretrizes práticas de produtores. Ao ser demandado pelo mercado consumidor, o fornecedor que busca a certificação segue um processo com regras bem definidas de preparação, solicitação, inspeção e decisão. Atendidas as exigências, aprova-se o uso do logotipo nas embalagens e é concedida a certificação por um ano. Os produtores certificados, seguem diversas práticas, as quais incluem os seguintes princípios básicos5: Nutrição - acesso a água fresca e dieta formulada sem concorrência desnecessária; Ambiente - respeito às necessidades específicas da espécie, protegendo-a de
desconforto físico, térmico e estresse; Gerenciamento - profissionais treinados e responsáveis com conhecimento sobre os padrões, planejamento da fazenda e atividades da gerência; Saúde do Rebanho - ter planejamento sanitário do rebanho que esteja de acordo com boas práticas veterinárias e de criação de bovinos; Transporte - deve assegurar que os bovinos não sejam submetidos a estresse ou desconforto desnecessários; Abate – segue práticas que não causem estresse ou sofrimento desnecessário aos bovinos. Conforme relatório anual da Humane Farm Animal Care 20186, 196 milhões de animais de diversas espécies, em 13 países, foram criados sob esses referenciais. O crescimento do número de animais criados sob regras de preservação do bem-estar de 2003 até 2018 (FIG. 1), mostra como a demanda feita pelo consumidor consciente traz melhoria das condições de vida dos animais que compõe a cadeira produtiva de carne.
Figura 1 – Total de animais criados sob as regras da certificadora entre 2003 e 2018
Fonte: Relatório Anual Humane Farm Animal Care 2018
CONCLUSÕES
Consumidores conscientes que optam por consumir carne produzida sob regras bem definidas de bem-estar animal e com qualidade no processo produtivo, encontram na exigência da certificação analisada uma ferramenta eficaz para segurança neste consumo. A certificação analisada possui um padrão abrangente de práticas cobrindo todas as etapas da criação e manejo do animal. O estímulo do mercado consumidor, promove a ampliação da base de fornecedores aderentes à metodologia. BIBLIOGRAFIAS 1. UN (USA). OECD and Food and Agriculture Organization of the United Nations (ed.). Agricultural Outlook 2019-2028. In: OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028. [S. l.], 8 jul. 2019. ISBN 9789264289253. Disponível em: https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2019-en. Acesso em: 20 mar. 2020. 2.SILVA, Brunna Velho Costa. Abate Humanitário e o Bem-estar animal em Bovinos. Porto Alegre, 2012. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/69873. Acesso em: 19 mar 2020. 3. HUMANE FARM ANIMAL CARE. Instituto Certified Humane Brasil. Diretrizes do Programa Certified Humane. [S. l.], 2020. Disponível em: https://certifiedhumanebrasil.org/referenciais. Acesso em: 19 mar. 2020. 4.HUMANE FARM ANIMAL CARE. Instituto Certified Humane Brasil. Manual de Diretrizes do Programa: Humane Farm Animal Care. [S. l.], 2020. Disponível em: https://materiais.certifiedhumanebrasil.org/agradecimento-manual-de-diretrizes. Acesso em: 19 mar. 2020. 5. HUMANE FARM ANIMAL CARE. Instituto Certified Humane Brasil. Referencial de Bem-Estar Animal Janeiro de 2014. [S. l.], 2014. Disponível em: http://materiais.certifiedhumanebrasil.org/normas-bovinos-de-corte. Acesso em: 20 mar. 2020. 6 . HUMANE FARM ANIMAL CARE. Instituto Certified Humane Brasil. Relatório Anual 2018: Humane Farm Animal Care. [S. l.], 2019. Disponível em: http://certifiedhumanebrasil.org/wp-content/uploads/2019/05/Annual-Report-2018_Portuguese.pdf. Acesso em: 20 mar. 2020,
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
5
A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO NA SAÚDE ÚNICA
Juliana Ferreira Olimpio¹*, Izabella Machado Vilaça¹, Frederico Eleutério Campos¹, Roberta Renzo2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – BrasilContato: [email protected]
INTRODUÇÃO
O conceito de Saúde Única, ou One Health, foi proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras organizações internacionais. Elas consideram a interação entre o homem, o animal e o ambiente indissociável para a saúde humana. O conceito propõe a atuação conjunta da medicina humana, veterinária, instituições e outros profissionais da saúde e define políticas, legislações, pesquisas e programas em que múltiplos setores trabalham em conjunto2. A Medicina Veterinária é uma das profissões de maior crescimento mundial, devido ao amplo campo de atuação. Além da assistência clínica de pequenos e grandes animais, também tem importante atuação na saúde pública nas áreas de: gestão, planejamento, defesa sanitária, ensino e pesquisas, implementação de tecnologias de produção, inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, prevenção de zoonoses e manejo ambiental. Pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, o médico veterinário passou a integrar o Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) nas vigilâncias epidemiológicas, sanitárias, de zoonoses, doenças transmitidas por vetores e saúde do trabalhador1. Essa inclusão foi um marco no reconhecimento da profissão na área da saúde única no Brasil. Este trabalho tem o objetivo de exemplificar as ações do médico veterinário no âmbito da Saúde Única em programas públicos e/ou privados, demonstrando sua importância para a saúde humana, animal e ambiental. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a criação deste trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica em artigos sobre o tema a partir de 2016 na plataforma Google Acadêmico, consultas nos sites da Organização Mundial de Saúde (OMS) e consulta ao site do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG). Palavras-chave: saúde única, one health, veterinária, saúde pública. REVISÃO DE LITERATURA
Os humanos e animais interagem de diversas maneiras em diferentes ambientes, levando à ocorrência de zoonoses. De acordo com a OIE, 60% das doenças humanas são zoonoses e 75% dos agentes patógenos de doenças emergentes são de origem animal. Em projeto desenvolvido entre a Universidade de Marília (Unimar) e a prefeitura do município, buscou-se a solução do problema de abandono de gatos no bosque municipal da cidade. Foram executadas atividades educacionais com crianças e frequentadores, ações de prevenção de zoonoses, distribuição de material informativo, manejo populacional dos felinos com o emprego de castração, adoção responsável, vacinação e microchipagem. Como resultado, pôde-se constatar diminuição da população de gatos no local e retorno de espécies nativas, como aves e pequenos roedores1. Em outro relato, os médicos veterinários residentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, durante a atuação no Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), acompanhavam as visitas domiciliares orientando as famílias sobre os cuidados nos domicílios. Essas orientações iam desde a manipulação do alimento, o cuidado dos animais domésticos, limpeza e higienização das áreas externas até a identificação de risco para monitoramento de zoonoses 3. Um outro problema de saúde pública e social, relatado em estudo na cidade de Curitiba, é o acúmulo de animais, um transtorno mental caracterizado pela dificuldade do indivíduo em se
desfazer de suas posses. Usualmente, observa-se no local ausência de saneamento, alimentação e cuidados veterinários, sendo o acumulador incapaz de reconhecer os efeitos dessas falhas no bem-estar dos animais e sua própria saúde. A ocorrência de acumuladores é mais frequentes em bairros mais populosos e com menor renda, e envolvendo um elevado número de animais. O veterinário atua nesses casos junto com o NASF para a melhoria da condição de vida do indivíduo, do ambiente e do bem estar animal 4. Em situações de desastres ambientais, como o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG, a cooperação que se deu entre médicos veterinários do CRMV/CFMV, da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público, órgãos ambientais e ONGs, além de outros profissionais envolvidos, evidencia a necessidade da medicina veterinária em contextos que envolvam a saúde humana, ambiental e animal (Fig. 1). A partir dessa vivência, foi possível desenvolver protocolos de atendimento à desastres e treinamento de equipes, em várias regiões do Brasil 5. Figura 1: Brigada Animal. Brumadinho/MG. Equipe multidisciplinar
em atendimento à animal soterrado pela barragem.
Fonte: Fotos Públicas/ Ricardo Stuckert
CONCLUSÕES
O médico veterinário tem um papel fundamental na Saúde Única, com a responsabilidade de proporcionar melhores condições ambientais, difusão de informações e orientação à população humana quanto aos princípios básicos de saúde, que traduz a união indissociável entre a saúde ambiental, humana e animal. BIBLIOGRAFIAS 1- GALVANI, Guilherme David et al. Projeto" O Pulo do Gato: a Medicina
Veterinária por uma Saúde Única". Revista de Educação Continuada em
Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 15, n. 3, p. 24-30, 2017.
2- MIRANDA, Michele. A contribuição do médico veterinário a saúde única-
one health. Psicologia e Saúde em debate, v. 4, n. Suppl1, p. 34-34, 2018.
3- SANTOS, V. P. et al. Experiência de médicos-veterinários residentes e
aprimorandos atuando com equipe multiprofissional em ações de
educação em saúde e atenção primária. Revista de Educação Continuada
em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 15, n. 1, p. 70-70, 2017.
4- ROCHA, Suzana Maria et al. Frequência de casos de acumuladores de
animais e correlação com indicadores socioeconômicos em Curitiba–
PR. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do
CRMV-SP, v. 13, n. 3, p. 76-76, 2015.
5- VALENTINI, Ana. CRMV-MG coordena ações de resgates de animais em
Brumadinho. Revista V&Z em Minas, No 140 | Jan/Fev/Mar 2019
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
6
A INFLUÊNCIA DO ABATE HUMANITÁRIO PARA A QUALIDADE DA CARNE BOVINA
Larissa Monik de Freitas e Silva1*, Gabriela Marianne Gonçalves Fernandes1*, Breno Mourão de Sousa², Prhiscylla Sadanã Pires².
1Graduando em medicina veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O manejo dos bovinos destinados ao consumo humano tem grande influência na qualidade da carne que irá para mesa dos consumidores.¹ Quando são atendidos os quesitos de sanidade animal, nutrição, manejo, ambiente adequado e transporte confortável, consequentemente, a fazenda estará aumentando o valor da carcaça comercial e a qualidade da carne.¹ Contudo o frigorifico também deve ter medidas como o abate humanitário para que continue sendo cumprida as exigências do mercado, e ambos não terem perdas lucrativas. Objetivou-se neste estudo revisar os principais aspectos relacionados ao abate humanitário enfatizando algumas características que influencia no produto final da carne.
MATERIAIS E MÉTODOS
O resumo foi desenvolvido a partir de experiência através de estágio em frigorifico, trabalhos técnicos e artigos científicos (Google acadêmico) baseados pelo regulamento do RIISPOA, visando sempre relacionar com possíveis impactos diretos e indiretos através do abate humanitário. Palavras chave: Bem estar animal, abate humanitário, qualidade da carne.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estresse é o principal indicador para avaliação do bem estar dos bovinos². Afim de evitar tal transtorno, o manejo deve ser feito de forma harmoniosa, com a boa interação dos colaboradores para com os animais. Ter boas instalações para recebê-los e acomoda-los, os deixarão mais tranquilos e diminuirá os níveis de estresse físico e psicológico ocasionados pela viagem.4 Essas instalações devem ter condições para os animais realizarem a termorregulação, como áreas sombreadas e com aspersores, sendo que os aspersores não deverão ser utilizados continuamente, principalmente durante a noite que as temperaturas diminuem, fazendo com que os animais se locomovam, assim prejudicando o descanso.¹ O manejador pode usar recursos para auxiliar que os animas se locomovam do desembarque até a área de descaso do abatedouro, são eles estímulos sonoros e visuais como chocalho e bandeiras. ² O bastão elétrico é um método doloroso e muito estressante, a utilização é permitida apenas como último recurso e nunca se deve utilizar em partes sensíveis do bovino como úbere, anus, genitais, focinhos e olhos.² O período de permanência dos animais na área de descanso, além de permitir a recuperação dos animais, completa o tempo de jejum necessário para o abate, e nesse período realiza-se a inspeção ante mortem dos mesmos.5 Durante o período de jejum, é essencial que os bovinos tenham livre acesso a dieta hídrica.5 Entretanto, longo tempo de descanso em jejum pode influenciar negativamente o bem-estar animal e a qualidade da carne fazendo com que a carcaça tenha com perda de peso, pH final elevado, maior força do cisalhamento da carne (avalia a maciez da carne) e lesões provocadas por brigas. Além disso, o jejum por tempo prolongado nos ruminantes auxilia na proliferação bacteriana gastrointestinal, tendo maior risco de contaminação.5 De acordo com RIISPOA, o tempo estimado dos animais no frigorífico é de 6 horas, se exceder o tempo de permanência os animais devem ser alimentados e quando forem abatidos, devem submeter a novo jejum.
Após o descanso, os animais são conduzidos ao box de insensibilização onde é feita insensibilização por pistola
pneumática, a estrutura adequada do box não permite que o animal se mova, melhorando assim a precisão do disparo da pistola.³ Os equipamentos de dardo cativo têm como finalidade causar perda imediata da consciência, provocando a inconsciência do bovino sem que haja transdução do estímulo da dor.³ Para que isso aconteça, é imprescindível a contenção correta da cabeça do bovino para que o colaborador tenha precisão no momento de utilizar o dardo cativo.³ Todas as boas práticas descritas têm em comum um único motivo, influenciar beneficamente na qualidade da carne. Quando o bovino sofre fatores estressantes o seu sistema nervoso simpático é ativado, acionando a reação luta ou fuga do animal². A glândula adrenal e suprarrenal e secretam hormônios como cortisol, adrenalina e noradrenalina, causando aumento da frequência cardíaca e respiratória, vasodilatação, midríase e aumento do nível de glicose no sangue. Identificamos o estresse por indicadores fisiológicos como hormônios no plasma, a presença de lesões, contusões, fraturas e principalmente as características físico-químicas da carne como pH, coloração, capacidade de retenção de água.6 A carne com defeito, escura, firme e seca, é consequência de um manejo ante mortem inadequado, que determina o consumo do glicogênio muscular antes do abate contribuindo para um pH final elevado, cujo resultado veio da menor produção de ácido lático devido à baixa reserva de glicogênio; condição essa, encontrada em animais submetidos a estresse de longa duração.6 Devido ao pH final elevado (acima de 6,0) favorece também o desenvolvimento de microrganismos responsáveis pela degradação do produto, alterando assim as características físico-químicas e organolépticas da carne, que resultam em alta capacidade de retenção de água das fibras musculares, textura mais firme, coloração mais escura, além do curto período de conservação, e assim tornando-a inapropriada para elaboração de produtos industrializados.²
CONCLUSÕES
Tendo em vista os aspectos citados, o abate humanitário apresenta efeitos no bem estar animal que influencia diretamente no produto final, a carne bovina de qualidade.
BIBLIOGRAFIAS
1.COSTA, M. J. R. P. et al. Racionalização do manejo de bovinos de corte: bases biológicas para o planejamento (ambiente de criação, instalações, manejo e qualidade da carne). ABNP, 2006. 2.PARANHOS DA COSTA, M,J,R,; HUERTAS, S.M.; GALLO, C.; DALLA COSTA, O.A. Strategies to promote farm animal welfare in Latin America and their effects on carcass and meat quality traits. Meat. Science v. 92, p. 221– 226, 2012. 3.SPITTLER, J. F.; WORTMANN, D.; VON DURING, M.; GEHLEN, W. Phenomenonological diversity of spinal reflexes in brain death. European Journal of Neurology, Oxford, v. 7, n. 3, p. 315-321, 2000. 4. TSEIMAZIDES, S. P. Efeito do transporte rodoviário sobre a incidência de hematomas e variações de pH em carcaças bovinas. 2005. f.47. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2005.
5.VOOGD CONSULTING. Managing your food safety and quality programs from farm to table.
6.BROOM, D.M.; JOHNSON, K.G.Stress and animal welfare. London,1993.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
7
A SÍNDROME DO GATO PARAQUEDISTA
Cláudia Bárbara Gonçalves Medeiros1*, Luara Mara Groia Martins2, Maria da Glória Quintão3. 1Graduando em Medicina Veterinária – UNIBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Graduando em Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte/MG - Brasil
3 Professora do Departamento de Medicina Veterinária – UNIBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A “síndrome do gato paraquedista” é o termo usado para descrever as lesões sofridas por um animal que cai ou salta de uma altura superior a dois andares, referindo-se inicialmente a gatos que sofrem quedas dos parapeitos das janelas ou varandas.1
Esta síndrome começou a ser estudada por volta de 2002, após o número de casos de gatos que pularam a janela do apartamento onde moravam ter crescido mais que 60%.Nem todos os saltos são considerados síndrome, apenas aqueles tão altos que os bichanos não consigam reduzir o impacto, ou tão baixos que não consigam rotacionar o corpo.2
As principais lesões encontradas são as de face, contusões pulmonares, pneumotórax e fraturas múltiplas de membros.3
MATERIAL E MÉTODOS
Estudo realizado por meio de uma revisão literária de artigos e leituras complementares feitas no Google Acadêmico e SciELO, escolhendo artigos em português e inglês, datados de 2002 a 2017. As palavras-chaves utilizadas foram: síndrome do gato paraquedista e síndrome do gato voador.
REVISÃO DE LITERATURA
Quando caem de uma altura à partir do sexto andar, os gatos não apenas corrigem a postura para a posição quadrupedal, mas também afastam os membros como num voo de esquilo, também chamado de planado ou de paraquedas, como mostrado na figura 1, e consequentemente reduzem a velocidade de impacto na queda. Dessa maneira os gatos minimizam as lesões, pois o impacto é distribuído pelo corpo3. Entretanto, quando a queda é de uma altura menor ou igual a seis andares o gato não plana e o choque com o solo se dá sobre as quatro patas, ocasionando lesões mais graves.4
Figura 1. Gato corrigindo postura. Fonte: CAMPILLO, Santiago. ¿Por qué los gatos
siempre caen de pie? 2016. Hipertextual. Disponível em: https://hipertextual.com/ 2016/02/por-que-los-gatos-siempre-caen-de-pie.Acesso em: 15 maio 2020.
A fratura de membros é uma das principais lesões encontradas. Um estudo feito por Gheren (et al. 2017) relatou que a fratura de membros estava presente em mais de 41% dos gatos que sofreram quedas. 5 A maior incidência de fraturas ocorre nos membros pélvicos e alguns animais podem apresentar fratura de pelve com menor incidência.3 As lesões ortopédicas incluem também fraturas torácicas e luxação das articulações.2
PRATSCHKE (et. al 2002) escreveu que as lesões faciais incluem fratura de palato, separação de sínfise mandibular, fratura de mandíbula, fratura dentária e luxação da articulação temporomandibular e, nesses casos, os gatos podem apresentar epistaxe, fístulas oro nasais e lesões de língua também são observadas.1
As lesões torácicas com maior frequência incluem contusão pulmonar seguida de pneumotórax (figura 2), fratura de costelas e de vértebras.5 Rupturas de bexiga estão entre as lesões abdominais mais relatadas.2
Figura 2. Pneumotorax com pulmão com deslocamento dorsal do coração.
Fonte: VIEIRA, I. S. D. SÍNDROME DO GATO PARAQUEDISTA: revisão da literatura. 2018. 40 f. TCC (Graduação) - Curso de Medicina Veterinária, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de BrasÍlia, Brasília, 2018. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/ 10483/22080/1/2018_IsabelaSimasDeDeusVieira_tcc.pdf.
Acesso em: 15 maio 2020.
Embora a Síndrome do Gato Paraquedista seja de origem politraumática, observamos que em todos os estudos de caso, a taxa de sobrevivência dos gatos é bastante alta, variando de 88% a 97,3%. Para isso, a triagem de um felino com síndrome deve sempre ser tratada como emergência grave, 2 5 e a anamnese deve ser feita junto ao exame clínico, com duas perguntas essenciais sobre o há quanto tempo ocorreu a queda e de qual andar foi. Também precisa ser perguntado se o animal obteve alguma melhora ou piora no seu quadro desde que o animal foi recolhido até o momento em que ele chegou à clínica.4 Foi observado ainda que muitas quedas ocorreram em função de alterações na rotina da casa, por exemplo: festas, reuniões, obras, mudança, chegada a nova residência, confinamento do gato em local restrito, presença de visita, consertos e dedetização.5
CONCLUSÕES
Embora as taxas de sobrevivência sejam altas, a Síndrome do Gato Paraquedista pode gerar diversas sequelas devido aos politraumatismo que causa. Manter as janelas fechadas, não permitir que o gato entre na área de varanda sem permissão e, principalmente, colocar telas em janelas e varandas são medidas essenciais para garantir a segurança do felino, especialmente para aqueles que moram em prédios.4
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. PRATSCHKE, K. M.; KIRBY, B. M. High rise syndrome with impalement in three cats. Journal of small animal practice, v. 43, n. 6, p. 261-264, 2002
2. VNUK, D. et al. Feline high-rise syndrome: 119 cases (1998-2001). Journal of Feline Medicine and Surgery, v. 6, n. 5, p. 305–312, 2004.
3. FARIA, M.L.E. Síndrome do Gato Pára-Quedista: Traumatismo por Queda. In: DE SOUZA, Heloisa Justen M. Coletâneas em medicina e cirurgia felina. LF Livros, 2003. cap 33. p. 405-422.
4. OXLEY, J. & MONTROSE, T. High-rise syndrome in cats. Veterinary Times, Vol. 46. pag. 10-12, out. 2016. Disponível em: http://www.vbd.co.uk.
5. GHEREN, Margarete Weinschutz et al. Síndrome da queda de grande altura em gatos: 43 casos atendidos no município do Rio de Janeiro. Brazilian Journal of Veterinary Medicine, v. 39, n. 3, p. 182-189, 2017.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
8
ABORDAGEM CIRÚRGICA DA OSTEOCONDRITE DISSECANTE: RELATO DE CASO
Izabella Machado Vilaça1*, André Andrade Teixeira ², Bruno divino Rocha 3. 1Graduando em Medicina Veteirnária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil / e-mail:[email protected]
2 Médico Veterinário Neurocirurgião Ortopedista – Belo Horizonte/MG - Brasil 3 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A osteocondrite dissecante (OCD) é um distúrbio na ossificação endocondral que leva a retenção da cartilagem. O início do espaçamento da cartilagem é denominado como osteocondrose, na qual evolui para a OCD. É uma alteração que ocorre com maior frequência em animais em desenvolvimento principalmente entre 4-9 meses, mas também pode ocorrer tardiamente. Esta afecção pode ser vista mais comumente na articulação do ombro, mas também pode ocorrer na articulação do cotovelo e jarretes. O sinal clínico mais observado é a claudicação unilateral, também é visto diminuição da amplitude de movimento do membro afetado e consequente atrofia muscular1,2,3. O diagnóstico pode ser feito através de exames de imagem, associado ao exame clínico, físico e predisposição racial1,2,3. O tratamento pode ser conservativo ou cirúrgico, sendo o cirúrgico apresentando maior eficácia, pois consiste na retirada do fator limitante da dor1,2,4. Diante das informações descritas, este trabalho tem como objetivo relatar o caso de um cão que passou pelo procedimento cirúrgico de retirada do flap da articulação fêmur-tíbio-patelar e curetagem da face lateral do côndilo femoral, através da técnica de artrotomia por incisão parapatelar lateral a cápsula articular. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Um cão, da raça Fila Brasileiro, macho, de quatro meses de idade, não castrado foi encaminhado para uma Clínica particular em Belo Horizonte com histórico de claudicação intermitente de membro posterior esquerdo há um mês. Durante a anamnese o tutor informou fornecer suplementação de cálcio ao animal desde o seu nascimento. O animal encontrava-se ativo, com tônus muscular regular e não apresentava diminuição na amplitude de movimento. Durante o exame físico, o animal apresentou dor à palpação do joelho e foram realizados testes ortopédicos, como o teste de gaveta e o tibial trust cranial, e ambos os testes deram negativos. O animal foi submetido ao exame radiográfico do joelho, nas projeções mediolateral em extensão, mediolateral em flexão e craniocaudal com foco na avaliação do membro pélvico esquerdo (articulação fêmur-tíbio-patelar). Evidenciou-se estrutura radiopaca em espaço articular da articulação fêmur-tíbio-patelar (Fig.1-A), localizada em sua porção lateral, de margens irregulares, medindo aproximadamente 1,22x 0,94 cm, aumento de radiopacidade infra-patelar, discreta irregularidade óssea em côndilo lateral do fêmur, aumento de volume em tecido mole adjacente a articulação fêmur-tíbio-patelar e presença de placas epifisárias. Indicou-se então artrotomia para remoção do flap da cartilagem e curetagem do côndilo femoral lateral. Foi realizada antissepsia de forma convencional, posteriormente foi realizada incisão cutânea de pele e tecido subcutâneo em arco que se estendeu do terço distal do fêmur até o terço proximal do membro passando sobre o epicôndilo lateral do fêmur, a artrotomia foi realizada por incisão parapatelar lateral da cápsula articular, estendendo-se do terço distal do fêmur até o terço proximal da tíbia. Após obter acesso á cavidade articular do joelho (Fig.1-B), o tendão do quadríceps femoral foi deslocado medialmente, provocando a luxação da patela e expondo o interior da articulação. A cápsula articular apresentava-se espessa e com grande quantidade de líquido sinovial com aspecto viscoso e sanguinolento, a patela foi rebatida medialmente, e o côndilo lateral do fêmur foi exposto,
ficando evidente dois fragmentos de tecido conjuntivo fibroso, um de 02 cm e o outro de 0,5 cm de tamanho (Fig.1-C). Os fragmentos foram removidos e a face lateral do côndilo femoral foi curetada até a exposição do osso subcondral. Realizou-se artrorrafia com poliglactina 2.0 no padrão de sutura simples separado. Procedeu reduçao do espaço morto com fio poliglactina 2.0 no padrão simples contínuo e dermorrafia com fio inabsorvível Poliamida 2.0 no padrão descontínuo Wolf. Após 10 dias, o paciente retornou para retirada dos pontos cutâneos e nao apresentou sinais de dor e nem claudicação. Com 30 dias de pós-operatório o animal retornou normalmente suas ativades sem intercorrências. No caso descrito o processo mórbido foi análogo ao encontrado na literatura, pois os níveis adequados de cálcio são essenciais para mineralização e crescimento normal dos ossos, e qualquer desequilíbrio desse mineral como com a suplementação nutricional, pode ser um grande fator para o desenvolvimento de OCD 1,2.
Figura1: (A) Estrutura radiopaca em espaço articular da articulação fêmur-tíbio-patelar (seta); (B) Cavidade articular do joelho: cápsula articular (setas azuis); côndilo lateral do
fêmur (seta verde); tendão do músculo extensor digital longo (seta amarela); corpo adiposo intrapatelar (seta rosa);
ligamento patelar (seta vermelha); tróclea do fêmur (seta cinza); (C) fragmento de 02 cm retirado da articulação
fêmur-tíbio-patelar.
Fonte: A,C: arquivo pessoal. B: Rafael Latorre, Atlas de ortopedia
em cães e gatos.
CONCLUSÃO
Conclui-se que em casos de OCD o tratamento cirúrgico é muito eficiente e consiste na técnica de artrotomia que possibilita a retirada do flap, diminuindo a dor e reduzindo o risco de osteoartose. Como neste caso, apenas 30 dias pós cirurgico o animal não apresentava dor e nem claudicação. BIBLIOGRAFIA 1. André luis. Osteocondrite dissecante da cabeça do úmero em cães. Ciência rural, v.28, n.1, 1998. 2. Fossum T.W. Cirurgia de pequenos animais. 4ª ed., 2014, p. 1362. 3. Fox, S.M., Walker, A.M. The ethiopathogenesis of osteochondrosis, Veterinary Medicine, v.2, p. 116-122, 1993. 4. Donald L. Piermattei, Osteocondrite dissecante do côndilo femoral. Ortopedia e tratamento das fraturas de pequenos animais.3ª ed. 2009, p. 527.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
9
ACHADOS CLÍNICOS E NECROSCÓPICOS EM LOBÓ-GUARA (CHRYSOCYON BRACHYURUS)
Hallana Couto e Silva¹*, Angélica Maria Araújo e Souza1, Bruno Alves Carvalho¹, Pedro Henrique Cotrin Rodrigues¹,Thamiris Almeida de Paula Freitas¹, Thiago Lima Stehling², Aldair Junio Woyames Pinto3.
1Graduando em Medicina Veterinária – Belo Horizonte/MG – Brasil - *E-mail: [email protected] 2Analista Ambiental – Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) - Belo Horizonte/MG – Brasil
3Professor do Departamento de Medicina Veterinária – Newton Paiva – Belo Horizonte/MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) pertence a ordem Carnivora e família Canidae. É o maior canídeo brasileiro, podendo ser encontrado da região nordeste até o Rio Grande do Sul, sendo encontrado também na Argentina, Peru, Paraguai, Bolívia e Uruguai. Habitam preferencialmente biomas de Cerrado, possuem atividade noturna e comportamento territorial, vivendo sozinhos ou em pares.¹ O presente trabalho aborda o relato de caso de um lobo-guará filhote, de vida livre, que chegou ao Centro de Triagem de Animais Silvestres de Belo Horizonte (CETAS-BH), e, após dois meses de permanência, veio à óbito. O objetivo do trabalho é relatar o caso, e frisar a importância de exames complementares e achados necroscópicos para otimizar as técnicas de manejo específicas com filhotes como curva de crescimento, dieta, exames realizados imediatamente após entrada do animal, e demais técnicas que devem ser empregadas após a chegada de um animal ao CETAS-BH que posteriormente possibilitem sua soltura em seu habitat natural. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Um filhote de lobo-guará deu entrada na clínica no dia 21 de agosto de 2019. Por volta do dia 9 de setembro, o animal demonstrou alterações em seu comportamento, mostrando-se prostrado e apático. No dia 11 de setembro, se recusou a ingerir carne, alimento que antes era bem aceito pelo animal. No dia 12 de setembro, ao exame clínico (Fig. 1-A), detectou-se aumento de volume abdominal, mucosas hipercoradas, temperatura corporal de 38,7ºc (dentro da normalidade), condição corporal regular e peso vivo de 4,100kg. Notou-se que o animal apresentava estruturas rígidas na palpação abdominal. Macroscopicamente, havia presença de pedras nas fezes que foram ingeridas no recinto onde o animal passava o dia (Fig. 1-B). Foi indicado realização de exame parasitológico, este por sua vez foi feito no dia 13 de setembro, a partir de coleta direta das fezes do Lobo-guará. Os exames escolhidos foram o direto a fresco e flutuação saturada de NaCl, como resultado, o exame direto sugeriu vermes adultos de parasitos do gênero Ancylostoma sp. (FIG. 1-C). No exame de flutuação, encontrou-se ovos de Ancylostoma sp. em grande quantidade.² Para o tratamento foi indicado fluidoterapia com solução de Ringer Lactato, dosagem de 20ml via subcutânea, duas vezes ao dia até apresentar melhora. Suplemento vitamínico Glicopan® dosagem de 2ml, via oral, duas vezes ao dia, até apresentar melhora. Metoclopramida na dosagem de 0,5ml via SC, SID. Domperidona na dosagem de 0,4ml via oral uma vez ao dia e Fembendazol, dose de 2ml via Oral, repetindo em 15 dias. Foi indicado realização do hemograma, o eritrograma apresentava anemia normocítica normocrômica, trombocitopenia moderada e o leucograma aumento de neutrófilos segmentados. No exame sorológico Elisa, o resultado foi escore 1 para cinomose. No exame clínico realizado no dia 17 de setembro, o animal apresentou perda de peso, temperatura de 39,3º, mucosas pálidas, principalmente a mucosa ocular, além de desidratação, fraqueza, queda de pelos e pelagem opaca e quebradiça. Foi administrado vitamina B12 na dosagem de 2ml via IM, dose
única, e demais suplementos vitamínicos como Potenay® 1ml IM dose única, Hemolitan® + Glicopan® 2ml via oral até apresentar melhora. No dia 18 de setembro o animal apresentou dispneia e veio a óbito. O cadáver foi encaminhado para necropsia no laboratório de Patologia Veterinária da UFMG, que utilizou a mesma técnica de necropsia de cães domésticos.
Figura 1: Evolução do caso clínico e imagens do exame
necroscópico em Chrysocyon brachyurus.
(Fonte: Arquivo pessoal – CETAS/BH)
As principais alterações macroscópicas encontradas foram hepatite necrotizante multifocal acentuada (Fig. 1-D); pneumonia necrotizante multifocal a coalescente acentuada (Fig. 1-F) e lesões intestinais ulcerativas em decorrência de fixação do parasito, sufusões multifocais e presença de helmintos (Fig. 1-E). Microscopicamente os achados foram sugestivos de taquizoítos e bradizoítos intralesionais compatíveis com Toxoplasma gondii. CONCLUSÕES
Os cuidados com filhotes que terão de estadia em cativeiro até serem destinados à soltura, necessita de protocolo com exames clínicos e laboratoriais na chegada do local, checkups periódicos, dieta balanceada, ambientação e enriquecimento ambiental. Todavia, mesmo com os devidos cuidados, infecções virais, somadas à queda de imunidade e multiplicação de protozoários em um ambiente repleto de desafios, podem ser um fator decisivo para sobrevivência do indivíduo. Nesses casos, se faz de extrema importância o exame necroscópico para avaliar a possível causa mortis e assim empregar novas técnicas que possam proporcionar a devolução desse animal ao seu habitat natural. BIBLIOGRAFIAS 1. CUBAS, Z. S. et. al. Tratado de animais selvagens: Medicina Veterinária.
2.ed. São Paulo: Editora GEN/Roca, 2014.
2. GONZÁLEZ C. A. et. Al. New findings of helminths parasites of Chysoyon braghuyurus (Carnivora: Canidade) in Argentina - Neotropical Helminthology, ISSN-e 1995 1043, https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/365828, págs. 265-270, 2013
APOIO: CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES DE BELO
HORIZONTE (CETAS-BH)
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
10
AFECÇÕES PODAIS EM GADO DE LEITE
Gabriel Rodrigues Franco da Cruz1*, Bruna Pimenta Dias de Andrade¹, Leonardo Dothling Gonçalves¹, Gabriel Torres Pires Ferreira¹, Delcimara Ferreira de Sousa¹, Breno Mourão de Sousa2, Prhiscylla Sadanã Pires2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil – [email protected]
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
*Autor para correspondência: [email protected]
INTRODUÇÃO
As afecções podais se destacam entre os inúmeros problemas aparecidos nos criatórios. Dependendo da gravidade, podem ocasionar imensos prejuízos, maior desgaste físico dos animais e disseminação dentro do estabelecimento de transtornos de origem infecciosos1. As doenças de casco e a sua incidência só têm ficado atrás de prejuízos provocados pela infecção da glândula mamária e
distúrbios que comprometem a reprodução2. Diferentes
fatores têm sido responsáveis pela gênese das extremidades distais dos membros locomotores, tais como nutrição, predisposição genética, meio ambiente, manejo, estresse, traumatismos, estação do ano, idade, umidade, confinamentos, enfermidades do aparelho reprodutor e da glândula mamária e deficiência de microelementos3. Lesões de casco contribuem para diminuição da produção de leite, perdas de peso, alteração de conversão alimentar, infertilidade e custos veterinários3.
O objetivo do presente estudo foi demonstrar a importância das afecções podais dentro do rebanho leiteiro, bem como seu diagnóstico, prevenção e controle.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado uma revisão bibliográfica baseada em artigos no período entre o ano de 1980 até o ano de 2010, referentes a infecções originadas em animais. Estes artigos foram encontrados por meio de uma pesquisa com os termos afecções podais e gado de leite. Os critérios de inclusão foram manejo adequado, vacas e problemas podais. Os critérios de exclusão basearam-se em animais jovens e animais hígidos.
Palavras chave: Afecções podais, gado de leite, casco.
REVISÃO DE LITERATURA
Existem várias formas de apresentação de afecções podais em bovinos, com manifestações clínicas e etiológicas diferentes, além de medidas de tratamento e controle específicas em função das causas predisponentes, que normalmente são multifatoriais. Fatores como: instalações, higiene ambiental, alta umidade, traumatismos por corpos estranhos como pedras e cascalhos, a superlotação, falta de casqueamento preventivo, hereditariedade, nutrição, falhas no diagnóstico e nas intervenções, e a influência do homem por ser diretamente responsável por todo o manejo dos animais4, são predisponentes para o aumento de caso de afecções podais em um rebanho leiteiro. Para saber reconhecer as afecções podais, é preciso conhecer a anatomia dos membros destes animais, como a morfologia do casco, e saber se a afecção em questão é primária ou secundária.
Figura 1: Anatomia do casco dos bovinos
Fonte: COMPRE RURAL
Uma maneira de levantar a prevalência de afecções podais de um sistema de criação, é avaliar o escore de locomoção dos animais, muito utilizado para analisar os índices do rebanho. É uma maneira de avaliação rápida, não apresenta custos e pode ser aprendida com facilidade5.
Este método apresenta uma grande vantagem, pois proporciona o diagnóstico precoce das afecções de casco, além de ser muito eficiente, contribuindo para uma redução nas perdas de produção de leite.
Tabela 1: Classificação de escore de locomoção.
Fonte: Robinson (2001)
CONCLUSÕES
As afecções podais ocasionam perdas significativas na produtividade de vacas leiteiras e, consequentemente, na lucratividade do rebanho acometido. As causas da doença são multifatoriais, e as lesões podem acometer a sola, o talão, regiões periféricas, tecido interdigital e interior do estojo córneo. A fim de se obter um controle efetivo do problema, deve-se fazer um acompanhamento diário do rebanho, favorecendo, um diagnóstico precoce da ocorrência dos casos, bem como a realização de manejo preventivo dentre os quais se destacam o pedilúvio, o casqueamento em períodos pré-determinados e a atenção voltada aos fatores pré-disponentes.
BIBLIOGRAFIAS
1. DIAS.S. Efeito das afecções de casco sobre o comportamento de estro e desempenho reprodutivo de vacas leiteiras. In: DIAS, et al. In: Tese de Doutorado na Universidade de São Paulo, p 21-45, 2004.
2. RIBEIRO, P.N.; BORGES, J.R.J.; RONCONI, M.A. et al. Incidência
de afecções podais em bovinos de corte abatidos no Estado do Rio de Janeiro.Arq. EMV-UFBA, v.15, p.28-33, 1992.
3. Dirksen G. & Stöber E.M. 1981. As afecções dos cascos dos bovinos: melhor prevenir que curar. Hora Vet., Porto Alegre, 1(3):13-18.
4. SILVA, M. A. F. Podologia em Bovinos: Conceitos Básicos. Universidade de Trás-os-montes e Alto Douro, Vila Real, 2009
5. ROBINSON, P. Locomotion Scoring Cows. 2001.
<http://www.availa4.com/locomotion>
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
11
ANESTESIA EM PROCEDIMENTO DE URETROSTOMIA E PENECTOMIA
Natália Oliveira1*, Camila Rodrigues¹, Bruno Divino Rocha3. 1Graduando em Medicina Veteirnária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
² Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A obstrução uretral felina é caracterizada pela presença de qualquer formação que oclui ou comprime o lúmen uretral, sendo mais comum a presença de urólitos e tampões, associado a diminuição do diâmetro luminal e da elasticidade da uretra peniana, que impede a progressão do fluxo
urinário1,2. Anatomicamente felinos, machos caracterizam-se
por predisposição a obstruções de trato urinário inferior1.
A manutenção e restauração da patência uretral é uma medida absolutamente importante. Caso a desobstrução uretral não seja possível, deve-se realizar a uretrostomia associada ou não a penectomia3.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Foi atendido na clínica veterinária, em Belo Horizonte, um felino, macho, SRD, com 5 anos de idade com a patologia FELV (vírus da leucemia felina) positivo. Tutora chegou a clínica relatando que o animal estava apresentando dificuldade em urinar. O paciente já tinha histórico de obstrução uretral e o caso era recorrente.
Foi feito o procedimento de desobstrução por graduação de cateter, seguido de sondagem. Devido a reincidência da obstrução, foi optado por procedimento cirúrgico (uretrostomia e penectomia).
O paciente foi submetido a exame como hemograma e bioquímico, foi necessário restabelecer a hemodinâmica do animal e diminuir o nível de uréia e creatinina que estavam altas, foi solicitado ultrassonografia onde foi verificado sedimentos, cristais e a uretra discretamente dilatada, confirmando a obstrução uretral.
Com a reposição da hemodinâmica e a recidiva da obstrução após a retirada da sonda, a cirurgia foi realizada.
O paciente foi classificado como ASA 3 na anestesia. Na avaliação pré-anestésica o felino apresentou frequência cardíaca de 160 bpm, TPC 2, temperatura de 37ºC e mucosa normocorada. Como medicação pré-anestésica (MPA) foi utilizado metadona na dose de 0,2mg/kg intramuscular, com o intuito de promover analgesia, o efeito sedativo foi discreto. A indução foi realizada com propofol 5mg/kg intravenoso tendo boa qualidade, foi realizado anestesia periglotica com 0,1ml de lidocaína sem vasoconstritor (S/V) e o animal foi entubado com uma sonda endotraqueal de Murphy número 4. Para manutenção da anestesia foi utilizado o isofluorano e o circuito utilizado foi o baraka. Houve anestesia locorregional sendo escolha a peridural sacrococcígea, com lidocaína S/V na dose de 0,2ml/kg associado a 0,1mg/kg de morfina. A fluidoterapia utilizada foi o ringer lactato na taxa de 3 ml/kg/h.
O paciente foi monitorado com oximetro de pulso, eletrocardiograma, capnografia, termômetro esofágico e a pressão arterial aferida com doppler vascular. Durante todo o procedimento a média de temperatura do animal ficou em 35,7ºC. Outros parâmetros como oximetria de pulso (SPO2), frequência respiratória (FR), não sofreram grandes variações. A frequência cardíaca (FC) sofreu uma queda no início da cirurgia, permanecendo mais baixa durante o procedimento, foi administrado atropina na dose de 0,022mg/kg e a frequência voltou a subir e permanecer estável. A pressão arterial sistólica (PASIS) sofreu algumas variações, porém não significativas.
O gato obstruído requer um procedimento anestésico seguro². Indica-se a realização da anestesia inalatória como
o isofluorano, porém ele causa vasodilatação periférica, levando a hipotensão e redução do debito cardíaco, contudo, o paciente deve ser monitorado durante todo o procedimento²
O propofol deve ser utilizado com cautela em gatos, devido a eles terem dificuldade na sua metabolização. O uso é interessante, pois ele possui um período de latência e ação rápidos, com ausência de efeitos cumulativos ou liberação de metabolitos secundários ativos².
Em cães e gatos a lidocaína é o anestésico local de maior aplicação no bloqueio epidural4. Essa técnica de anestesia regional, a qual consiste na deposição de anestésico local ao redor da dura-máter, resultando em difusão longitudinal do anestésico no interior do espaço epidural e bloqueio das raízes sensitivas e motoras dos nervos espinhais. O anestésico local ideal para o uso no espaço peridural deve possuir período de latência curto, período de ação longo, bem como promover analgesia e relaxamento muscular satisfatório5.
Figura 1: Variações hemodinâmica observado durante a anestesia, com intervalo de 10 minutos.
CONCLUSÕES
Foi possível concluir que o protocolo anestésico do animal foi satisfatório, não tendo variações hemodinâmicas consideráveis.
BIBLIOGRAFIAS
1 SILVEIRA, S, D. URETROSTOMIA PERINEAL EM FELINO OBSTRUÍDO DE TRÊS MESES DE IDADE: RELATO DE CASO. PubVet,,v.10, n.10, p.759-765, Out., 2016.
2 MARTIN, J. AVALIAÇÃO CLÍNICA-TERAPÊUTICA E ANESTÉSICA DE FELINOS OBSTRUÍDOS: SUA IMPORTÂNCIA NA PRÁTICA CLÍNICA. Nucleus Animalium, v.3,n.1,maio 2011.
3 Peixoto, E. C. T. M. URESTROTOMIA PENIANA E PERINEAL EM FELINOS DOMÉSTICOS. Ciencia Rural, Santa Maria, v.27, n 4, p 629 a 633, 1997.
4.SONAGLIO, F. ANESTESIA EPIDURAL EM GATOS. Revista Agrocientífica, v. 1, n. 1, jan./jun. 2014, p. 81-88.
5. GERING. A, P. ANESTESIA EPIDURAL: REVISÃO DE LITERATURA.
REVISTA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA - ISSN:1679-7353 Ano XIII-Número 25 – Julho de 2015
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
16
:30
16
:40
16
:50
17
:00
17
:10
17
:20
17
:30
17
:40
17
:50
18
:00
18
:10
18
:20
18
:30
18
:40
18
:50
19
:00
19
:10
19
:20
FC SPO2 ETCO2 PA SIST FR
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
12
REVISÃO DE LITERATURA: ANOMALIA DO OLHO DO COLLIE
Luigi Paolo Vieira de Freitas1*, Jade Caproni Corrêa1, Ranielle Stephanie Toledo Santana¹, Daniel da Silva Rodrigues¹, Pollyana Marques e Souza1, Rubens Antônio Carneiro2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A Anomalia do olho do Collie (AOC) trata-se de um problema congênito, hereditário, não progressivo que pode causar cegueira súbita em cães das raças Collie, Smooth Collie, Pastor-de-shetland e Border Collie.1, 2, 3, 4 A doença é causada devido à diferenciação mesodérmica defeituosa das túnicas fibrosa e vascular na região do polo posterior do olho, sendo que o defeito envolve a esclera, coróide, retina e disco óptico.2
Em algumas regiões do mundo essa doença pode chegar a atingir 97% dos Collies, mas resulta em baixa acuidade visual ou cegueira em apenas de 2 a 4% dos afetados.1 Sendo assim, se qualquer animal de alguma das raças predispostas apresentar cegueira súbita ou nascer cego deve-se suspeitar desta doença devido à sua alta prevalência nessas populações e um criterioso exame de fundo de olho deve ser realizado. 2
MATERIAIS E MÉTODOS
O seguinte estudo foi realizado por meio de uma revisão literária de artigos pesquisados na plataforma PUBMED e Google acadêmico e livros destinados a Anomalia do olho do Collie (AOC). REVISÃO DE LITERATURA
A Anomalia do olho do Collie é um problema congênito, de herança autossômica recessiva, sendo assim ela pode diagnosticada em animais bem jovens, a partir das 6 semanas de vida.3 A doença é bilateral, mas raramente simétrica, sendo assim pode ocorrer de a doença ser leve e não causar nenhum prejuízo na visão em um dos olhos e severa causando cegueira no outro.1, 2 A AOC é composta por duas anormalidades primárias: a displasia de coróide e o coloboma, porém, diversas anormalidades podem ocorrer de forma secundária, como o descolamento de retina, hemorragia intraocular e tortuosidade dos vasos retinianos.1
A displasia coriorretiniana também chamada de hipoplasia da coróide é a anormalidade mais comumente observada, na qual a coróide que é mais fina que o normal e seus vasos sanguíneos são mais finos ou ausentes. Além disso, na área afetada há um menor número de células tapetais e menos pigmento no epitélio pigmentar e, por isso, a hipoplasia de coróide pode ser vista como uma área pálida posicionada temporal ao disco óptico geralmente na junção entre a área tapetal e não tapetal.1, 2 Nessa área pálida é possível visualizar um número menor de vasos da coróide. A displasia coriorretiniana é uma anormalidade não progressiva que, geralmente, não causa defeitos na visão e é possível de ser observada a partir das 8 a 12 semanas de idade.1 Essa alteração pode estar ou não acompanhada de outra lesão primária a essa doença: o coloboma.1, 2
O coloboma, que também pode ser chamado de estafiloma, é caracterizado como a escavação do disco óptico e em alguns casos do fundo ocular adjacente.1, 2, 3, 4 É menos comum que a displasia coriorretiniana e só está presente em associação a essa anormalidade, mas causa maiores prejuízos à visão.2 Esses prejuízos são proporcionais ao tamanho e a profundidade do coloboma que pode ser classificado como pequeno ou grande e raso ou profundo.2 O estafiloma é visualizado como uma área circunscrita branca ou cinza, desprovida de vasos sanguíneos ou com vasos sanguíneos atenuados sobre suas margens, que pode ocupar uma pequena área do disco óptico ou ser consideravelmente maior
que o mesmo ocupando uma extensa área no pólo posterior do olho. Neste último caso, ele pode ser visto como uma massa cística que empurra o nervo óptico para a lateral. 1, 2
O descolamento de retina é a lesão secundária a AOC mais importante visto que leva à cegueira e ocorre devido ao suprimento sanguíneo insuficiente provido pela coróide hipoplásica.1,2,3 Este descolamento pode ser congênito ou ocorrer em qualquer outro momento da vida do animal, sendo mais comum de ocorrer em animais com até um ano de idade.1 Geralmente este começa como um descolamento parcial que posteriormente evolui para o total, mas também pode começar diretamente como um descolamento total.1, 2 Para o diagnóstico o ideal é utilizar o oftalmoscópio indireto, pois a maioria dos descolamentos parciais ocorrem na retina periférica e o oftalmoscópio indireto possui maior campo de visão.1, 2 O animal também pode apresentar hifema ou hemorragia intraocular devido ao descolamento de retina ou pelo sangramento de vasos anormais da retina. Essa alteração não é comum, ocorrendo em menos de 1% dos casos, quando ocorre geralmente é unilateral e pode levar a cegueira.2 A tortuosidade excessiva dos vasos retinianos vem sendo aceito por alguns autores como parte da anomalia do olho do collie. Porém, é comum achar algum grau de tortuosidade dos vasos retinianos em cães normais, sendo incerto o limite entre a tortuosidade normal e a excessiva.1, 2,
3
Figura 1: Coloboma e displasia coriorretiniana.
Fonte: BARNETT, K. C
CONCLUSÕES
Devido à alta prevalência, ao caráter hereditário e a possibilidade de complicações que levam a cegueira é indicado que todos os animais de raças predispostas passem por um exame oftalmológico completo o mais cedo o possível. É importante que o clínico conheça todas as lesões primárias e secundárias a doença que foram descritas nesta revisão para que consiga diagnosticar corretamente a enfermidade. Os animais que apresentarem anormalidades compatíveis com a AOC devem ser excluídos da reprodução. Essa seleção de reprodutores é a única estratégia eficaz para redução da incidência da doença. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Barnett KC. Collie eye anomaly (CEA). J Small Anim Pract. 1979 Sep;20(9):537-42. Disponível em: doi: 10.1111/j.1748-5827.1979.tb06762.x.
Acesso em: 21 abril 2020 2. Palanova, A. Collie eye anomaly: a review. Veterinarni Medicina, v. 60, n. 7, 2015.Disponível em: doi: 10.17221/8381-VETMED. Acesso em: 20 abril 2020. 3. Mason TA, Cox K. Collie eye anomaly. Aust Vet J. 1971 Feb;47(2):38-40. Disponível em: doi: 10.1111/j.1751-0813.1971.tb02101.x.. Acesso em: 22 abril 2020. 4. ACVO GENETICS COMMITTEE et al. Ocular disorders presumed to be inherited in purebred dogs. In: American College of Veterinary Ophthalmologists. 2009.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
13
APLICAÇÕES PRÁTICAS DA CURVA DE NÍVEL NA AGRICULTURA
Clarice Martins Ribeiro Leite¹, Gilson Antônio Teixeira Salomão¹, Maria Fernanda Almeida Santos¹, Breno Mourão de Sousa 2. 1Graduando em Agronomia – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil. email: [email protected] 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH- Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A curva de nível, na conservação do solo e da água, foi inicialmente utilizada pelas antigas civilizações em seus cultivos. No Brasil, foi introduzida durante o período colonial, utilizando-se cercas de pedra seca em nível para retenção do solo e da água; sua aplicação em plantios se deu por volta da década de 1940. A curva de nível é a base da maioria das práticas mecânicas de conservação do solo e da água, como no cultivo em contorno, carreamento em contorno, faixas de vegetação permanente, terraços em contorno e nas muretas de pedra em contorno. Ela acompanha a forma do terreno em um traçado sinuoso. É objetivo deste trabalho apresentar as principais aplicabilidades dessa tecnologia para a agricultura brasileira. MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando as plataformas Scielo e Google Acadêmico, buscando-se artigos com as seguintes palavras-chave: curvas de níveis, curva de nível na agricultura, sustentabilidade. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A marcação das curvas de nível é efetuada de quatro
maneiras: três das técnicas podem ser feitas pelo próprio
trabalhador rural, fazendo seu próprio equipamento por meio de carpintaria, a baixo custo. A primeira é através do aparelho denominado “pé de galinha”, que tem uma precisão razoável. Consiste em uma barra de madeira de 4 metros de comprimento, com dois pés, um em cada extremidade com alturas diferentes em função do desnível pretendido; A segunda, também com precisão razoável, utiliza mangueira transparente de aproximadamente 15 metros de comprimento fixada em duas barras de 2 metros, com marcação de 5 em 5 cm. Tanto nessa quanto na primeira, cada ponto depende do anterior, ou seja, se há um único erro de marcação, outros vão se acumulando, sem um modo de serem corrigidos, e operam em áreas descampadas. A outra técnica é utilizando um nivelador de alvo, que já tem uma boa precisão. O espaçamento entre seus piquetes deve ser entre 10 e 20 metros. Nesse, um ponto independe do anterior, os possíveis erros são isolados e fáceis de serem corrigidos. Operam em áreas descampadas, mas que sejam de caatinga e capoeira. A última técnica é utilizando um nível de luneta e mira falante. Possui um custo muito alto, por ser um equipamento importado e podendo ser utilizado somente por um engenheiro ou topógrafo. Cada ponto deve ter uma distância entre 10 e 20 metros e esses, assim como no nivelador de alvo, independem um do outro. Também operam somente em áreas descampadas. O plantio em curva de nível consiste em realizar a semeadura transversalmente ao declive do terreno. As linhas de semeadura e as fileiras de plantas assim posicionadas criam barreiras ao livre escoamento da enxurrada, podendo aumentar em mais de cinco vezes a infiltração de água no solo. Pode reduzir em mais de 50% as perdas da água e do solo por erosão, e no caso do solo auxilia em sua conservação e de seus respectivos nutrientes, que, em terreno de plantio sem curva de nível, seriam levados pela enxurrada. Além do empobrecimento do solo, previne também os deslizamentos de terra, enchentes, extinção de espécies da fauna e da flora (devido à consequente
preservação do sistema) e redução da biodiversidade, assoreamento dos rios e a formação de ravinas, à longo prazo, voçorocas, pois preserva-se os horizontes superficiais do solo. É uma das práticas conservacionistas mais eficientes e baratas, popularmente denominada “Plantio Contra as Águas”. Compreende as operações de preparo do solo: aração e gradeamento; o plantio e tratos culturais; limpas e escarificações, aproximadamente em nível. Não é necessário que todas as fileiras das plantas sejam em nível, é suficiente que sejam paralelas a algumas curvas de nível, marcadas no terreno, que servem de guias e, por isso, denominadas “Niveladas Básicas” ou “Niveladas Mestras”. As Niveladas Básicas são marcadas no terreno do alto para baixo e a distância ou espaçamento máximo. Quanto mais íngreme o terreno, mais próximas. Outra prática que está associada ao cultivo em contorno são os terraços. Atualmente, a tecnologia para dimensionar terraços permite espaçamentos quatro vezes maiores. A água retida nos terraços infiltra no solo, irriga a lavoura e demora de três a cinco meses para chegar aos rios. A água que não infiltra no solo é água perdida que em poucas horas já estará nos rios e somente voltará à lavoura na próxima chuva. Esse escoamento superficial da água pode gerar economia de 40% ao ano com fertilizantes, evitando a perda de nutrientes do solo e garantindo a disponibilidade de água para as plantas nos momentos em que essa é comumente escassa, especialmente em região de cerrado, onde podem ocorrer períodos de seca mesmo durante a primavera e o verão, chamados veranicos, e no período de maio a setembro os índices pluviométricos mensais podem chegar a zero, influenciando drasticamente nos plantios caso não haja disponibilidade de água para irrigação. CONCLUSÃO
Na prática, as curvas de nível são importantes para projetos que envolvem a hidráulica, principalmente na contenção de erosão do solo causada pelas águas pluviais, através do levantamento de terraços.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. MACHADO, Pedro L. O. A. ; WADT, Paulo G. S.. Agência Embrapa de Informação Tecnológica. Disponível em:(https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/CONT000fohgb6cq02wyiv8065610dfrst1ws.html). Acesso em: (24/04/2020)
2. Agência Embrapa de Informação Tecnológica. Disponível em: (https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/17952130/semeadura-em-contorno-pode-reduzir-em-50-perdas-de-agua-e-solo-por-erosao). Acesso em: 24/04/2020.
3. GODOY, Geraldo B. O. ; Caminhos para a agricultura sustentável: Princípios conservacionistas para o pequeno produtor rural. Ministério do Meio Ambiente. Brasília. Editora IABS. 2015.
4. COUTINHO, Leopoldo M. ; Aspectos do Cerrado: Clima. Cerrado, USP. Disponível em: (http://ecologia.ib.usp.br/cerrado/aspectos_clima.htm) Acesso em: 01/05/2020.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
14
RELATO DE CASO: ARTRITE SÉPTICA EM BEZERRO DA RAÇA GIROLANDO
Bárbara de Souza Dias¹, Lohane Jennifer Jesus Lacerda¹, Vinicius Pereira Pacheco², Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira³, Marina Guimarães Ferreira³.
¹Graduando em Medicina Veterinária - 2020 – UniBH – Belo Horizonte/MG – Brasil
²Graduando em Medicina Veterinária - 2020 – FACISA – Unaí/MG - Brasi ³Professor(a) do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG - Brasil
*autor para correspondência: Bárbara Dias: [email protected]
INTRODUÇÃO
A artrite séptica é uma inflamação generalizada das articulações muito comum em bezerros em decorrência da entrada de bactérias no organismo do animal.² A causa primaria é a desinfecção inadequada do umbigo dos recém-nascidos ou uma ineficiente imunidade passiva produzida por ingestão insuficiente ou tardia do colostro. A principal via de entrada da infecção é a umbilical, e em alguns casos pode ser a digestiva, produzindo nos dois casos uma septicemia, chegando por via sanguínea a articulação, causando a artrite.³ As articulações mais frequentemente afetadas são carpiana, tarsiana, patelar, úmeroradio-ulnar e metacarpo-falangiana.¹ No início ocorre uma sinovite seguida por mudanças na cartilagem articular e algumas vezes no osso. A membrana sinovial fica inflamada, edematosa ocorrendo distensão da cápsula articular provocando danos e destruição da cartilagem. Isso pode levar a artrose e redução dos movimentos no membro atingido.³ Como sinais clínicos podemos citar o som de crepitação da articulação, mobilidade reduzida, formação de abscesso, claudicação, aumento de volume e/ou deformação das articulações.² Os animais que sobrevivem podem ficar com seqüelas como claudicação, deformação articular e atrofia muscular.³ Objetiva-se por meio deste relato, descrever um caso de artrite séptica em bezerro de 10 dias, da raça Girolando, localizado em uma propriedade no interior de Minas Gerais.
RELATO DE CASO
O seguinte relato trata-se de um bezerro da raça Girolando ¾, oriundo de inseminação artificial, proveniente da Fazenda Philadélfia localizada no estado de Minas Gerais, nascido no dia 07/07/2019 com aproximadamente 35 KG. Foi separado da mãe ao nascer, alojado no bezerreiro coletivo para administração de colostro, e cura do umbigo com Iodo 10%, que segundo funcionário da propriedade foi feito somente uma vez no dia do nascimento do animal. No décimo dia de vida do bezerro, notou-se que o mesmo estava prostrado, com dificuldade de se manter em estação e claudicando ao se locomover. No exame clínico feito pelo proprietário e médico veterinário Rafael Fonseca, foram notados sinais clínicos como aumento de volume na articulação úmero-radio-ulnar do membro torácico esquerdo, aumento de volume na região inguinal, abscesso com presença de secreção purulenta e sanguínea no canal umbilical e febre, indicando um caso de Artrite Séptica secundária a uma Onfalite. Após a conclusão do diagnóstico, foi prescrito pelo médico veterinário a administração de 5 ml de Penforte, antibiótico a base de Benzilpenicilina e 5 ml de Diclofenaco, anti inflamatório a base de Diclofenaco de Sódio, ambos por cinco dias, por via intramuscular e a drenagem do abscesso na região umbilical. Ao final do tratamento o animal apresentou melhora somente no quadro clínico de Onfalite, persistindo a artrite séptica.
Foto 1. Aumento de volume na articulação umeroradio-
ulnar. Fonte: arquivo pessoal.
Foto 2. Umbigo com inchaço e secreção purulenta.
Fonte: arquivo pessoal. A articulação do animal ficou deformada, impossibilitando que o mesmo se locomove-se de maneira adequada e tivesse o mínimo de condição de vida e bem estar, diante disto o mesmo veio a óbito. CONCLUSÃO
Conclui-se que mesmo após terapia com antibiótico e anti-inflamatório pode não haver resolução da artrite septicêmica, gerando comprometimento permanente do membro e o óbito do animal. Recomenda-se a adoção de manejo sanitário adequado com o neonato para a prevenção de patologias e mortalidade de bezerros. REFERÊNCIAS 1. BRAGA, J,T.; STURION, T,T.; FERREIRA, C,Y,M,R.; MOYA-ARAUJO, C,F. Onfaloflebite e Poliartrite em Bezerros da Raça Nelore – Relato de Caso. Ourinhos – SP: Faculdades Integradas de Ourinhos. 2. COELHO,M,B.; VASCONCELOS, A,B.; NETO,J A,M. Poliartrite e Gigantimos em Animais FIV: Relato de Caso. Uberaba – MG: Revista Científica de Medicina Veterinária, 2013. 3. RIET-CORREA, F.; SCHILD, A,L.; LEMOS, R,A,A.; MENDEZ, M,D,C.Doenças de ruminantes e eqüídeos. São Paulo – SP, p.327-329, 2
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
15
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO HERPESVÍRUS BOVINO TIPO 1 (BHV-1)
Larissa Chyara Macclawd Vieira¹*, Gabriel Resende Souza¹, Mariana Perpétuo Dias¹, Sérgio Henrique Andrade dos Santos¹, Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira².
*[email protected] 1 Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O herpesvírus bovino tipo 1 (BHV-1) é um vírus de distribuição mundial1 (sendo considerado um dos principais patógenos de bovinos, apresentando grande repercussão sanitária e econômica da infecção em rebanhos de leite e corte2. A infecção pelo BHV-1 está associada a uma variedade de quadros clínicos, como rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR), vulvovaginite pustular infecciosa (IPV) e balanopostite pustular infecciosa (IBP), além de falhas reprodutivas, como retorno ao cio e abortamentos3.
O conhecimento epidemiológico é de extrema importância para a compreensão da doença, sua disseminação e importância do patógeno. Através dessas informações é possível elaborar formas de prevenção, controle e tratamento.
O presente trabalho tem como objetivo salientar os principais aspectos epidemiológicos do herpesvírus bovino tipo 1 (BHV-1), visando compreender melhor sua distribuição, transmissão e os fatores condicionantes e determinantes na população animal.
MATERIAIS E MÉTODOS.
Para a construção do resumo, foi realizada uma revisão bibliográfica com base nos artigos encontrados no Google Acadêmico e Scielo, entre os anos 1963 e 2017. As palavras chaves foram: HVB-1, herpesvírus bovino tipo 1, herpesvírus bovino e epidemiologia HVB. REVISÃO DE LITERATURA
O BHV-1 está presente em rebanhos bovinos de praticamente todo o mundo, tendo alta prevalência nos rebanhos brasileiros4, sendo o primeiro caso relatado no país em 1963, no estado da Bahia5.
As doenças causadas pelo BHV-1 apresentam caráter relevante, sendo consideradas de fácil transmissão e difícil controle4. As principais vias de eliminação do vírus são: respiratórias, oculares, genitais e o sêmen de animais infectados. A via de transmissão direta pode ser horizontal ou vertical, sendo a primeira mais relevante, principalmente nos sistemas intensivo e semi-intensivo. A contaminação direta vai ocorrer através do contato direto com essas secreções, podendo também ocorrer durante a cópula e via transplacentária6.
Existem também as formas de contaminação indireta por meio de aerossóis a curta distância e fômites. A inseminação artificial também atua como fonte de contaminação e desempenha papel importante na transmissão indireta, já que permite através do sêmen infectado a entrada da doença em rebanhos que nunca tiveram contato com o vírus anteriormente. Dessa forma, doses de sêmem podem ser propagadoras do patógeno, pois o BHV-1 mantém sua viabilidade em amostras criopreservadas por até um ano4.
Além disso, os herpesvírus apresentam uma característica biológica denominada latência viral, que ocorre após a primo-infecção. Essa característica induz nos animais o estado de portadores e transmissores potenciais do vírus, devido aos episódios de re-excreção viral, que sob casos de terapia com corticoides ou condições de estresse o agente pode ser reativado, consequentemente liberando partículas virais infectantes7.
Vários fatores podem ser condicionantes e determinantes para que o vírus se propague mais facilmente, dentre eles estão o manejo sanitário inadequado e ausência de assistência veterinária3. Atualmente, o vírus se apresenta distribuído de forma endêmica no Brasil, sendo identificado em vários estados, (figura 1)3.
Figura 1: Distribuição do BHV-1 no Brasil. Fonte: (NASCIMENTO, L.G.D. 2016).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A larga distribuição geográfica, o alto índice de prevalência e os impactos causados pelo BHV-1 no Brasil, além dos fatores potencializadores da disseminação do vírus mostram a importância dos estudos epidemiológicos, levando em consideração que são a base para elaboração de medidas de prevenção e controle da infecção por esses agentes. Agregando ainda mais à importância econômica e social da bovinocultura no Brasil. . BIBLIOGRAFIAS 1. VAN, O.J.T. The BoHV-1 situation in Europe. In: Simpósio Internacional
Sobre Herpesvírus Bovino e Virus da Diarreia Viral Bovina (BVDV). p.69-
72. 1998. 2. KAHRS, R. F. Infectious bovine rhinotracheitis and infectious pustular
vulvovaginitis, p. 159-170. In: Viral diseases of cattle. (2ed). Iowa State University Press. Ames, Iowa. 370p. 2001.
3. NASCIMENTO, L.G.D. Herpesvírus Bovino tipo 1 e 5: revisão e situação atual no Brasil. Brasília-DF: [s. n.], 50 p. 2016.
4. COSTA, E.D. et al. BoHV-1 (o vírus da IBR) e sua relação com estruturas e órgãos genitais da fêmea bovina. Rev. Bras. Reprod. Anim, Belo Horizonte, ano 2017, v. 41, p. 254-263, mar. 2017.
5. GALVÃO, c. L.; DORIA, J. D.; ALICE, F. J. Anticorpos neutralizantes para o vírus da rinotraqueíte infecciosa dos bovinos, em bovinos do Brasil. Boletim do Instituto Biológico da Bahia, v.6, n.l, p.15-25, 1962/1963.
6. FAVA, C.D. et al. Herpesvírus Bovino tipo 1 (HVB-l): revisão e situação atual no Brasil. Continuous Education Journal CRMV·SP, São Paulo, v. 5, n. 3, página 301, p. 300-312. dez. 2002.
7. WORKMAN A. et al. Cellular Transcription factors induced in trigeminal ganglia during dexamethasone-induced reactivation from latency stimulate bovine herpesvirus 1 productive infection and certain viral promoters. J Virol, v.86, p.2459-2473, 2012.
Apoio:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
16
ASPECTOS FISIOLÓGICOS DO REFLEXO DE FLEHMEN
Rodiney Junio Mesquita dos Santos1, Janaina de Oliveira Romeiro1, Sandra Julia Leite Ricardo1, Gabriel Almeida Dutra².
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A reação Flêmen ou reflexo de Flêmen (do inglês flehmen), refere-se à elevação da cabeça e ondulação do lábio superior de animais, permitindo aos machos identificar as oportunidades de acasalamento por intermédio do seu órgão vomeronasal ou órgão de Jacobson¹.
Desta forma, os feromônios femininos associados às secreções vaginais e urina durante o estro evocam esta resposta conhecida como Flêmen. Este comportamento é típico de bovinos e pode ser observado em muitas outras espécies, tais como gatos domésticos, cavalos, búfalos, tigres, antas, leões, girafas e caprinos2.
A característica do comportamento sexual pode ser influenciada por fatores como: genética, estação do ano, raça, níveis hormonais, sanidade, manejo, dominância e idade3. Os eventos fisiológicos do comportamento sexual podem ser agrupados em comportamento de identificação ou de reconhecimento, comportamentos de cortejo e acasalamento.
O objetivo deste trabalho é apresentar a importância do órgão vomeronasal capaz de detectar feromônios e por essa razão está envolvido nos comportamentos reprodutivos resultando na reação de Flêmen.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para elaboração da presente revisão literária, foram utilizados artigos científicos e materiais técnicos da área de 2002 a 2006. Palavras-chaves: reação de Flêmen, comportamento e vômero-nasal. REVISÃO DE LITERATURA
Os eventos fisiológicos do comportamento sexual são agrupados e caracterizados como, comportamento de reconhecimento, onde são observados lambidas e cheirada na vulva e corpo do animal e o reflexo de flehmen. O comportamento de cortejo, que testam a receptividade da fêmea em estro, e consistem nos eventos de reflexo de monta e frente a frente. Os eventos de acasalamento consistem nos eventos de exposição de pênis, tentativa de monta, falsa monta, monta abortada e serviço completo4.
O reflexo de Flêmen serve para direcionar moléculas em suspensão (feromônios) para dentro de um órgão vomeronasal, localizado na parte superior dos seios nasais, próximos ao cérebro. Esse reflexo é caracterizado por uma “careta” facial realizada por esses animais, após a percepção de líquidos, em particular na urina pelo órgão vomeronasal (OVN)¹, no qual destaca-se a principal função do reflexo de Flêmen, discriminação de odores do estro a partir da urina5. A urina alcança o órgão vômero-nasal, a ondulação do lábio superior fecha as narinas e, com a cabeça elevada, um diferencial de pressão promove a passagem ascendente, através de ductos nasopalatinos para alcançar o órgão sensorial¹. Dessa forma, ocorre a identificação dos feromônios associados ao estro, o que, permitirá aos machos identificar as oportunidades de acasalamento. O tecido receptor do OVN em geral situa-se na superfície medial do órgão com epitélio semelhante ao sistema olfatório lateral. Os receptores são muito similares àqueles do sistema
olfatório principal, com a exceção de que não tem cílios, mas microvilosidades. Esses receptores são neurônios primários que convertem os feromônios voláteis oriundos de líquidos corpóreos da fêmea (urina) em potenciais de ação¹, que são transmitidos através de um caminho restrito, para as áreas do cérebro envolvidas com a reprodução e o comportamento social (bulbo olfatório acessório). Um nervo motor (nervo eferente) conduz potenciais de ação do SNC para o órgão efetor (lábio superior) que executará, portanto, a resposta reflexa. Figura 1: Reflexo de Flêmen em equinos.
Fonte: www.peritoanimal.com.br.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os feromônios são importantes para o comportamento sexual dos mamíferos, sendo essenciais para a ocorrência do reflexo de Flêmen. Reflexo esse, que se dá por uma resposta à urina excretada por fêmeas da mesma espécie, que se encontram em estro, possuindo feromônios específicos. O órgão mais comumente envolvido faz parte do sistema olfatório acessório no qual inclui o órgão vomeronasal e bulbo olfatório. O reflexo se caracteriza pela postura do animal, que se mantém ereto com o pescoço estendido, a cabeça erguida, as narinas e a boca abertas com enrolamento dos lábios superiores. Essa postura facilita que os feromônios cheguem até o órgão vomeronasal. BIBLIOGRAFIAS 1 .REECE, W.O. Dukes Fisiologia dos Animais Domésticos, 12° Ed. Rio de Janeiro, RJ, Editora: Guanabara Koogan, 2006. 2 .HAFEZ, B.; HAFEZ, E.S.E. Reprodução Animal , 7° Ed. Barueri, SP, Editora: Manole, 2003 3 .SANTOS, A.D.F.; TORRES, C.A.A.; FONSECA, J.F.; BORGES, A. M.; COSTA, E.P.; GUIMARÃES, J.D.; ROVAY, H. Parâmetros reprodutivos de bodes submetidos ao manejo de fotoperíodo artificial, Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n° 5, p. 1926-1933, 2006. Disponível em: www.sbz.org.br. 4 .LOPES, F.G. Avaliação andrológica por pontos e comportamento sexual de touros da raça nelore ( Bos taurus indicus ), Viçosa, Minas Gerais, 2004. Tese. 5 .WEEKS, J.W.;CROWELL-DAVIS, S.L.; HEUSNER, G. Preliminary study of the development of the Flehmen response in Equus caballus. Applied Animal Behaviour Science. v. 78, p. 329- 335, 2002.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
17
ASPECTOS REPRODUTIVOS RELACIONADOS AO CICLO ESTRAL DE CABRAS
Cicero Luiz Camargos Júnior¹*, Gabriel Resende Souza¹, Gabriel Almeida Dutra². *[email protected]
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Estima-se que o rebanho caprino brasileiro é em torno de 9,8 milhões de cabeças e, cerca de 50% desse rebanho é leiteiro, seja por especialidade ou por dupla e tripla aptidão. Dentro desse número, há ainda a produção de leite de cabra que, atualmente, é estimada em 250 milhões de litros de leite1,2.
Apesar desse número, a espécie caprina ainda não é amplamente estudada quanto a produção e reprodução, sendo assim há maior necessidade de compreensão de seus fenômenos reprodutivos3.
Os caprinos são classificados como poliéstricos estacionais de dias curtos, ou seja, seu comportamento reprodutivo é influenciado positivamente pela diminuição das horas de luz4. Dessa forma, é necessário identificar e conhecer seus aspectos reprodutivos para determinar seu desempenho, seja na produção de leite ou na própria reprodução.
O objetivo desse trabalho é apresentar os aspectos reprodutivos de cabras, relacionando com seu ciclo estral, para determinar o desempenho em um sistema de criação.
MATERIAIS E MÉTODOS
O resumo foi desenvolvido a partir da revisão de artigos, livros e trabalhos técnicos devidamente referenciados, buscando estudos relacionados a fisiologia da reprodução das cabras e seu ciclo estral. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As cabras possuem estacionalidade reprodutiva, boa prolificidade e período de gestação curto e são fortemente influenciadas pelo estímulo de luz onde, quanto menor o estímulo, maior o desempenho reprodutivo5. A estacionalidade ocorre devido a esse fenômeno de estimulo de luz, no qual o outono é o auge da reprodução. A prolificidade elevada reflete a possibilidade de várias crias por parto que, associada ao período de gestação de cinco meses, pode aumentar a produção do rebanho.5
O ciclo estral na cabra tem uma duração média de 17-21 dias, com uma fase luteínica de 13 a 17 dias e uma fase folicular de 4 dias. Nesse período, as secreções de estrógenos levam ao comportamento do estro. Pelo estímulo do FSH, começam a ocorrer ondas foliculares (duas a quatro). Após a última onda folicular surge o folículo ovulatório, que alcança maturação final e ovulação6. De modo geral, a atividade reprodutiva pode ser dividida em estações de anestro, do início do inverno ao início do verão, de transição no verão e de acasalamento no final do verão ao início do inverno5. Há ainda a possibilidade de sincronização e indução de ovulação e estro nas cabras por meio de utilização de hormônios. Pode mostrar-se satisfatório na melhoria do desempenho produtivo e reprodutivo dos animais, porém esse desempenho requer a utilização correta e adequada de protocolos hormonais4. Leite et al. (2006) induziram e sincronizaram o estro com esponjas intravaginais com acetato de medroxiprogesterona e aplicação de gonadotrofina coriônica equina e prostaglandina sintética. Em seguida, os animais foram tratados em 3 grupos, sendo 1 grupo com solução salina, 1 grupo com hormônio luteinizante e 1 com hormônio liberador de gonadotrofina. Após isso, obteve-se eficiência na indução fora da estação em 100, 73,3 e 66,6% respectivamente. Com o estudo, concluiu-se que a utilização de LH ou GnRH não
apresentaram resultados satisfatórios, explicando assim novamente a necessidade da utilização correta e adequada de protocolos hormonais testados cientificamente. Existe também a possibilidade de perda embrionária devido a falha da função luteal, podendo ser revertido com técnicas capazes de promover essa função luteal correta6
Há também o efeito macho na indução do ciclo estral nas fêmeas, que consiste no afastamento dos machos do rebanho por 60 dias. Quando são re-introzidos no rebanho, induzem um alto percentual de estro nas fêmeas5. Os sistemas utilizados na caprinocultura são a monta natural ou inseminação artificial e, em alguns casos, a utilização de transferência de embrião. Por fim, os sistemas de acasalamento devem ser escolhidos com base no sistema de produção a ser seguido e pode estar associado ou não à estação de monta. CONCLUSÕES
Entender sobre o ciclo estral e aspectos reprodutivos dos caprinos podem fornecer informações essenciais para o aumento da produtividade e retorno financeiro ao produtor. Sincronização e indução de estro devem ser baseadas em estudos científicos, pois um protocolo inadequado pode causar um efeito reverso nos animais. BIBLIOGRAFIAS
1. EMBRAPA. Evolução anual do efetivo de rebanho de caprinos
(cabeças). 2016. Disponível em: https://www.embrapa.br/cim-
inteligencia-e-mercado-de-caprinos-e-ovinos/producao-nacional 2. WANDER, A. E.; MARTINS, E. C. Viabilidade econômica da
caprinocultura leiteira. In: Embrapa Caprinos e Ovinos-Artigo em anais de congresso (ALICE). In: SEMANA DA CAPRINOCULTURA E OVINOCULTURA BRASILEIRAS, 4., 2004, Sobral. A pesquisa e os avanços tecnológicos contribuindo para o futuro da caprino-ovinocultura brasileira: anais. Sobral: Embrapa Caprinos, 2004. 16 f. CD-ROM., 2004.
3. FONSECA, J. F. Controle e perfil hormonal do ciclo estral e performance reprodutiva de cabras alpina e saanen. 2002. 107f. Tese de Doutorado. Tese (Doutorado em Zootecnia)–Departamento de Zootecnia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG.
4. LEITE, P. A. G. et al. Indução da ovulação em cabras, fora da estação reprodutiva, com LH e GnRH e com estro induzido por progestágenos. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 58, n. 3, p. 360-366, 2006.
5. FONSECA, J. F. Biotecnologias da reprodução em ovinos e caprinos. Embrapa Caprinos e Ovinos-Documentos (INFOTECA-E), 2006.
6. FONSECA, J. F. Estratégias para o controle do ciclo estral e superovulação em ovinos e caprinos. In: Embrapa Caprinos e Ovinos-Artigo em anais de congresso (ALICE). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL, 16, 2005, Goiânia. Anais... Belo Horizonte: Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, 2005. 9 f. 1 CD-ROM., 2005.
APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
18
AVALIAÇÃO DO USO DE LOKIVETMAB NA TERAPÊUTICA DA DERMATITE ATÓPICA CANINA (DAC)
Isabela Fernandes dos Santos1*, Jade Caproni Corrêa1, Ranielle Stephanie Toledo Santana1, Adriane Pimenta da Costa-Val Bicalho2
1Graduanda em Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte/ MG – Brasil
Professor do Departamento de Clínica e cirurgia Veterinárias– UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A dermatite atópica canina (DAC) é uma doença de caráter genético, que está relacionada com a produção de imunoglobulinas (Ig), sobretudo IgE, que agem contra diversos alérgenos ambientais, o que contribui para causar inflamação e prurido na pele dos animais. DAC é uma enfermidade incurável com prevalência de 10-14%, e se manifesta na maioria dos cães entre os seis meses e os três anos de idade, e requer um manejo permanente 1. O prurido é um sinal clínico frequente que colabora para redução da qualidade de vida tanto dos animais, quanto dos tutores. Há diversos fármacos que visam atenuar a intensidade dos sinais clínicos, desencadeado pelas citocinas pró-inflamatórias envolvidas na fisiopatologia da doença. Uma das principais mediadoras do prurido é a Interleucina-31 (IL-31), que desempenha um papel importante na patogênese da doença e é alvo no desenvolvimento de medicamentos, a fim de inibir sua produção. O lokivetmab (Cytopoint® ; Zoetis) é um anticorpo monoclonal caninizado contra a IL-31, sendo hoje umas das opções na terapêutica da DAC. Diversos estudos realizados têm demonstrado sua eficácia, especialmente, no controle das manifestações pruriginosas 2,3. MATERIAIS E MÉTODOS
O seguinte estudo foi realizado por meio de uma revisão
literária de artigos destinadas a análise do lokivetmab no
tratamento da Dermatite Atópica Canina (DAC). Os artigos
foram selecionados da plataforma PUBMED
REVISÃO DE LITERATURA
O lokivetmab é um anticorpo monoclonal (mAb) produzido
através da inoculação de um antígeno de interesse em ratos
de laboratório da espécie Mus musculus e Rattus norvegicus 4. Sua ação é extracelular e visa neutralizar a IL-31, antes que
ela se ligue ao seu receptor e provoque reação pruriginosa 1,4.
Para que os anticorpos produzidos não gerem uma reação
imunológica na espécie alvo, a produção do fármaco é obtida
por tecnologia de DNA recombinante, na qual se substitui
porções dos anticorpos dos ratos por porções da espécie
designada, por isso no caso passam a ser chamados
caninizados 4.
As vantagens da terapia com o lokivetmab estão relacionadas
com um rápido início de ação, doses menos frequentes, não
restrição de idade, compatibilidade com outros tratamentos e
medicações 2. Em estudos realizados, em menos de 24h da
aplicação subcutânea do lokivetmab houve redução
significativa do prurido 1,2,3. O tempo para o início do efeito
anti prurido é um fator relevante para o tratamento das
dermatoses alérgicas 2. No estudo de SOUZA et al (2018) foi
administrado Lokivetmab a cada duas a quatro semanas, o
que demonstrou ser uma terapia de manutenção de longo
prazo eficaz, e segura. Também foi demonstrado em 38 cães,
sendo que 21 deles não haviam recebido nenhuma terapia
anti prurido antes, e logo após foram tratados com o anticorpo
monoclonal, apresentaram melhora em menos de 24h, o que
enfatiza o seu rápido tempo de efeito. As doses utilizadas
variaram de 1,8 a 3,7mg/kg2. O método de análise utilizado
foi a escala visual analógica (VAS) de prurido e, por meio
deste, constatou-se redução de >50% no pVAS em 104 cães,
representando 77% de sucesso no tratamento com o
lokivetmab 1,2. Em relação a interferência com outros
medicamentos e tratamentos, o anticorpo monoclonal foi
administrado com uma variedade de fármacos, como
antibióticos, glicocorticóides, anti histamínicos e anti
inflamatórios não esteroidais, bem como ciclosporina e
oclacitinib, e não foi demonstrado nenhuma reação adversa 1,2. Também não há evidências de que a terapia com o
lokivetmab interfira no Teste Intradérmico, e nem nos níveis
de IgE circulantes no sangue, sendo seguro para ser utilizado
concomitantemente a imunoterapia1,2. Já em comparação
com o oclacitinib, foi constatado que cães que não
responderam anteriormente a terapia com este medicamento,
quando administrado duas vezes ao dia, teriam menos
chance de responder ao anticorpo monoclonal, mostrando
que a resposta ao oclacitinib pode ajudar a prever o sucesso
do tratamento com o lokivetmab2. Entretanto, os resultados
não foram os mesmos para o uso do oclacitinib uma vez ao
dia 1,2. Os efeitos colaterais, são incomuns, mas os mais
frequentes são letargia e vômito, entretanto não há
necessidade de intervenção médica, visto que são
esporádicos e suaves 2.Porém, há cães que mesmo após
algumas aplicações persistem com efeitos adversos e o
controle do prurido é perdido, demonstrando que ainda uma
reação imunogênica pode acontecer 1,2. Outro estudo
demonstrou que, apesar do lokivetmab conseguir prevenir
grande parte do prurido na DAC, ele tem poucos efeitos
contra lesões agudas eritematosas que nela comumente
ocorrem, tendo sido constatado que essa citocina não tem
grande interferência na formação de lesões prévias e na
inflamação causada pela doença 3
CONCLUSÕES
As pesquisas realizadas demonstraram que o lokivetmab é
uma alternativa segura e apresenta efeito rápido e eficaz de
acordo com os estudos revisados.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1.FORSYTHE, Peter; JACKSON, Hilary. New therapies for canine atopic dermatitis. In Practice, v. 42, n. 2, p. 82-90, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1365-3164.2010.00889.x. Acesso em: 21 abr 2020. doi: 10.1111/j.1365-3164.2010.00889.x2.SOUZA, C. P., ROSYCHUK, R. A. 2.W., CONTRERAS, E. T., SCHISSLER, J. R. & SIMPSON, A. C. (2018) A retrospective analysis of the use of lokivetmab in the management of allergic pruritus in a referral population of 135 dogs in the western USA. Veterinary Dermatology 489-e164. Disponível em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30141223/. Acesso em: 21 abr 2020. doi:
10.1111/vde.12682 3.TAMAMOTO‐MOCHIZUKI, Chie; PAPS, Judy S.; OLIVRY, Thierry. Proactive
maintenance therapy of canine atopic dermatitis with the anti‐IL‐31 lokivetmab. Can a monoclonal antibody blocking a single cytokine prevent allergy flares?. Veterinary dermatology, v. 30, n. 2, p. 98-e26, 2019. Disponivel em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30672050/ . Acesso em: 21 abr 2020. doi: 10.1111/vde.12715
4.OLIVRY T, BAINBRIDGE. Advances in veterinary medicine: therapeutic monoclonal antibodies for companion animals. Clinician’s Brief 10 Mar 2015. 5 HILLIER A. GRIFFIN C.E. (2001) The ACVD task force on canine atopic dermatitis (1): incidence and prevalence. Veterinary immunology and immunopathology v. 81, 147– 151. Disponivel em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11553375/. Acesso em 21 abr 2020. doi: 10.1016/s0165-2427(01)00296-3
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
19
BIOCLIMATOLOGIA DE BOVINOS CRIADOS EM SISTEMA SILVIPASTORIL
Marina Gonçalves Rangel1, Mariane Pereira de Souza1, Sérgio Henrique Andrade dos Santos1, Thallyson Thalles Teodoro de Oliveira1, Vinícius Augusto Gonçalves Rezende1, Breno Mourão de Sousa2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O crescimento populacional, a demanda industrial e o mercado consumidor estão exigindo que os sistemas de produção se reinventem tanto nos aspectos produtivos como nas formas de criação dos animais, adotando principalmente medidas de bem-estar.
Um tipo de criação utilizado em algumas regiões do Brasil e muito estudado é o sistema silvipastoril. Esse sistema promove benefícios tanto para o conforto térmico dos animais como para o meio ambiente3.
O presente trabalho tem como objetivo avaliar a bioclimatologia aplicada a produção de bovinos criados no sistema silvipastoril.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa em sites de buscas de artigos científicos, como o Google Acadêmico, Scielo e PubMed. Foram usadas palavras chave como conforto; estresse térmico; silvipastoril. Foram incluídos artigos científicos nacionais e internacionais, buscando estudos relacionados ao conforto térmico e bioclimatologia de bovinos criados em sistema silvipastoril, desde 2000 até 2018.
REVISÃO DE LITERATURA
O sistema silvipastoril combina pastagens, animais e árvores e visa otimizar a produtividade por unidade de área. A presença das árvores, além de promover a sustentabilidade e qualidade das pastagens, permite maior conforto térmico e consequentemente reflete na produção e reprodução dos animais3. Isso se deve ao microclima mais ameno que é criado, o que diminui a incidência de raios solares e proporciona maior conforto térmico.
Esse tipo de sombra natural acarreta redução de 26% na carga térmica radiante1. Além disso, esse tipo de sistema promove benefícios para o solo e seu microclima e leva a redução na temperatura e na taxa de evaporação. Essa condição gera um aumento de umidade do solo e facilita o desenvolvimento das forrageiras nessa área.
Os locais com predominância de clima quente são um grande desafio para raças taurinas, pois esses animais são menos rústicos quando comparados aos de origem zebuína, que são muito mais suscetíveis à altas temperaturas. Isso também se deve a maior dificuldade em dissipar o calor produzido em seu metabolismo.
Nos bovinos, o estresse térmico pode impactar negativamente a produção, visto que os animais tendem a aumentar a frequência respiratória, diminuir a sua função tireoidiana e diminuir a ingestão de água e alimentos1. Com essa redução no consumo, as exigências nutricionais não são atendidas, o que pode levar a alteração na composição do leite e redução na produção.
Para mensurar o conforto térmico dos animais, podem ser utilizados índices como a temperatura de globo negro (TGN), temperatura de bulbo úmido (TBU), temperatura de bulbo seco (TBS) e índice de temperatura e umidade (ITU)1.
Em um trabalho realizado em 2010, foi observado que a TGN no verão (35ºC) é muito superior quando comparada às registradas no inverno (31,4ºC). Foi destacado a necessidade da busca por métodos que diminuam o estresse térmico. Além disso, foi evidenciado que as médias obtidas de TGN
nos locais com incidência direta de raios solares e nas entrelinhas (34,8ºC) foram superiores aos valores de TGN obtidas nas copas das árvores (31,1ºC). Quanto ao ITU, para animais mais taurinos, valores como 76, 77, 78 e 79 são considerados críticos. Para animais mestiços (taurino x zebuíno), os valores são considerados amenos e, portanto, de conforto térmico2.
Isso mostra que a utilização de árvores nesse tipo de sistema proporciona um microclima melhor e maior conforto térmico para os bovinos em diferentes variáveis (Tabela 1).
A TBS, que considera a radiação solar, a velocidade do vento e os efeitos da temperatura, também foi indicativo de conforto térmico. Valores acima de 43ºC são indicativos de desconforto calórico por parte dos animais2 (Tabela 1).
Tabela1: Efeito do clima e local de amostragens em seis variáveis microclimáticas.
*TGN= temperatura de globo negro (Cº); TBS= temperatura do bulbo seco, em OC; TBU= temperatura do bulbo úmido, em ºC; VV= velocidade do vento, em m/s; Tmáx.= temperatura máxima, em ºC; Tmín.= temperatura mínima, em ºC; ITU= índice de temperatura e umidade, em ºC. Médias com mesma letra nas colunas, dentro de cada tratamento não diferem estatisticamente pelo teste Scott-Knott à nível de probabilidade 5%. (Da Silva et. al. 2000 ADAPTADO)
CONCLUSÕES
O sistema silvipastoril representa uma estratégia eficiente para a criação de bovinos leiteiros, principalmente para os mestiços, visto que oferece conforto térmico e consequentemente bem-estar.
BIBLIOGRAFIAS
1. Azevedo, M., M. F. A. Pires, H. M. Saturnino, A. M. Q. Lana, , I. B. M. Sampaio, J. B. N. Monteiro, e L. E. Morato. Estimativa de níveis críticos superiores do índice de temperatura e umidade para vacas leiteiras ½, ¾ e ɏ Holandês²Zebu em lactação. Rev. Bras. Zoot. 34 (6): 1-12. 2005.
2. DA SILVA, L. L. G. G. et al. Avaliação de conforto térmico em sistema silvipastoril em ambiente tropical. 2010.
3. LEME, Tania Mara Soares Paes et al. Comportamento de vacas mestiças Holandês x Zebu, em pastagem de Brachiaria decumbens em sistema silvipastoril. Ciência e Agrotecnologia, v. 29, n. 3, p. 668-675, 2005.
4. PEZZOPANE, José Ricardo Macedo et al. Animal thermal comfort indexes in silvopastoral systems with different tree arrangements. Journal of thermal biology, v. 79, p. 103-111, 2019.
TGN TBS TBU Tmax Tmin ITU
Época
águas 35.7 A 28.9A 23.6A 31.9A 27.1A 78.9A
seca 31.7B 25.9B 19.9B 28.2B 24.1B 74.6B
Local
sob a copa 31.1B 26.7 21.3 28.9 25.1 75.9
entrelinhas 34.0A 27.5 22.0 30.2 25.7 76.9
pleno sol 35.5A 28.2 22.0 30.9 26.1 77.6
Variáveis
Fonte de variação
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
20
BIOTECNOLOGIAS REPRODUTIVAS E O PESO AO NASCIMENTO DE BEZERROS
Thallyson Thalles Teodoro de Oliveira1*, Gabriel Resende Souza1, Marina Gonçalves Rangel1, Sérgio Henrique Andrade dos Santos1, Regina Ribeiro Chaves1, Breno Mourão de Sousa2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil *[email protected] 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Com o objetivo de aumentar a produção de bezerros e melhorar a genética do rebanho, várias biotecnologias reprodutivas estão sendo empregadas, tais como a inseminação artificial, transferência de embrião, sexagem espermática e embrionária e fertilização in vitro.
O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito das biotecnologias reprodutivas e o peso ao nascimento de bezerros.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram analisadas tabelas no programa Excel contendo todos os dados de partos de uma propriedade leiteira localizada na região do Alto Paranaíba – Minas Gerais. Foram utilizados dados de 494 animais, sendo 3 bezerros provenientes de monta natural, 344 de inseminação artificial e 147 de Fertilização in vitro (FIV), em que as médias de pesos dos bezerros foram correlacionadas com o tipo de serviço utilizado nas progenitoras.
Além disso, foi realizada uma pesquisa em sites de buscas de artigos científicos, como Google Acadêmico, Scielo e PubMed, através de palavras chave como FIV; Biotecnologias; bezerros leiteiros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A utilização de biotecnologias reprodutivas na bovinocultura leiteira tem se tornado uma estratégia para acelerar a produção de bezerros e aumentar a qualidade genética do rebanho, mas dependendo da ferramenta aplicada, podem ser observadas mudanças no bezerro produzido, como ocorre no peso da prole proveniente da FIV3. Embora a FIV tenha sido muito empregada, desafios como reabsorção embrionária, abortos, natimortos, distocias e elevado peso ao nascimento, também conhecida como síndrome do bezerro grande, podem ser encontrados1.
Acreditava-se que esse crescimento exacerbado dos bezerros estava associado somente com o tipo de técnica utilizada na manipulação nuclear nos procedimentos in vitro, mas atualmente sabe-se que o crescimento fetal durante a gestação acontece em embriões de FIV não manipulados, principalmente3.
Foi observado por alguns autores que os embriões produzidos in vivo e transferidos posteriormente tiveram 9 kg a menos quando comparados à embriões produzidos in vitro. Em ambos os casos a fertilização foi feita com um touro da mesma raça3. Esse crescimento exacerbado dos bezerros pode ser explicado pela utilização do Soro Fetal Bovino (SFB), que é uma forma de suplementação do meio de cultura no processo da FIV, trazendo resultados satisfatórios na maturação dos oócitos e no desenvolvimento embrionário. O SFB é composto por ácidos graxos, substratos energéticos, fatores de crescimento, aminoácidos e vitaminas, e esses podem ter concentrações variáveis no soro2. Por ser um produto obtido através da coagulação sanguínea de bovinos, o soro pode acarretar a entrada de componentes patogênicos no meio de cultivo e ainda pode estar relacionado com a síndrome do bezerro grande1.
Uma análise realizada com os dados obtidos em uma propriedade leiteira localizada na região do Alto Paranaíba
(MG) com rebanho 100% holandês, mostrou que os animais provenientes de cobertura (N=3) tiveram um peso médio de 38kg, já os animais provenientes de inseminação artificial (N=344) nasceram com o peso médio de 38,6kg, e os bezerros provenientes de FIV (N=147) obtiveram o peso médio de 44,7 kg. Isso indica que a biotecnologia utilizada pode influenciar no peso ao nascimento dos bezerros (Gráfico 1).
Gráfico 1: Efeito do tipo de serviço utilizado nas progenitoras no peso ao nascimento dos bezerros.
CONCLUSÕES
Foi observado que bezerros produzidos por cobertura ou inseminação artificial possuem um peso menor ao nascimento quando comparados a animais provenientes de FIV, que pode estar relacionado com a utilização de soro fetal bovino no cultivo do embrião.
BIBLIOGRAFIAS
1. Coelho, M. B., et al. Poliartrite e gigantismo em animais FIV: Relato de caso. Polyarthritis and gigantismo IVF in animals: A case report. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, n 21, Julho de 2013. 2. Del Collado, M., et al . Efeitos da redução ou substituição do soro fetal bovino por outros compostos na maturação in vitro de oócitos bovinos. Pesquisa Veterinária Brasileira. Rio de Janeiro, v. 34, n. 7, p. 689-694, Julho de 2014. 3. Stacchezzini, S., Fabaro, P., e Cremonesi, F. Field experiences with the transfer of in vitro or in vivo derived Piedmontese embryos in holstein recipients. Theriogenology, 47: 381. 1997.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
21
CÃES ERRANTES NO COLETIVO – REVISÃO DE LITERATURA
Daniela Taynara Pereira1*, Yara de Freitas Oliveira¹, Brunna Gabriela Gonçalves de Oliveira Ferreira¹, Vitor Gonçalves Teixeira¹, Viviana Feliciana Xavier².
1Graduanda em Medicina Veterinária – PUC Minas – Belo Horizonte/ MG – Brasil – [email protected] – (31) 99561-1928, ² Professora Assistente I do Departamento de medicina Veterinária – PUC Minas – Belo Horizonte /MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Os fatores que influenciam o abandono são diversos e resultam no aumento da população de cães errantes1. Falhas em se difundir o conceito de guarda reponsável e educação em saúde pública resultam nas principais causas deste problema, que afeta diversos países1. Este é um desafio coletivo, que se reflete em consequências não somente para esta espécie, mas para saúde pública e meios sociais, ecológicos e econômicos. Desse modo, saúde humana depende também de saúde animal1-3. MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou-se revisão bibliográfica em bases de dados científicas e acadêmicas, como Pubmed, Research Gate e Scielo, levantando os principais fatores que contribuem para o abandono de cães, suas consequências no coletivo, bem como levantar propostas para a resolução deste problema. REVISÃO DE LITERATURA
Dentre os principais fatores que levam ao abandono de cães, destacam-se problemas comportamentais, crenças sobre à reprodução, que resulta na ausência de controle populacional, e mudanças de espaço físico e estilo de vida do tutor1. Além disso, existem diferenças entre a expectativa e realidade da guarda e o impulso no momento da aquisição. Estes fatores estão diretamente associados à falhas na difusão do conceito de guarda responsável e educação em saúde pública1. Em situação de rua, cães estão sem supervisão responsável e cuidados médicos, em condições de saúde física e mental deficientes e são vítimas de constantes maus-tratos4. Ademais, estes cães estão envolvidos diretamente na permanência de zoonoses como raiva e leishmaniose4. Sua presença sem tutela em locais públicos propiciam agressões como mordeduras a humanos e outros animais, o que agravam os riscos de transmissões de doenças e aumentam a taxa de morbimortalidade entre eles por compromenter a integridade física e psicológica1. Animais errantes podem promover danos a propriedades privadas devido a comportamentos impróprios e ruídos indesejáveis frequentes1. Parques e reservas ecológicas podem sofrer com impactos ambientais através da contaminação do meio por excreções e carcaças (caninas e de espécies das quais se alimentam), e predação de fauna silvestre4. Em relação às consequências econômicas, observam-se principalmente gastos com manutenção de Centros de Controle de Zoonoses e programas de controle populacional, já em áreas rurais, podem ocorrer perdas econômicas devido à predação de animais de produção5. Considerando o espaço que cães compõem na sociedade atual e a proximidade que têm com o homem, por estabelecimento de vínculos e por possuírem total depêndencia de cuidados, essa relação deve ser encarada não como posse, mas troca, beneficiando as duas espécies6. Quando pessoas adquirem cães compulsóriamente, não os treinam de maneira adequada e não estão preparados para responsabilidades envolvidas na guarda responsável, esses animais tendem a ser abandonados3. Por isso é importante instruir os responsáveis no momento da aquisição ou adoção, sobre comportamentos normais da espécie, orientações sobre guarda responsável, cuidados básicos, custos envolvidos na criação e bem-estar animal3.
Legislações e delegacias dos animais existem, porém sem investimento e fiscalização, esses serviços se tornam precários e não são postos em prática em sua totalidade1. É necessário instaurar leis que contemplem não apenas maus-tratos, mas a punição adequada aos que descumprem a responsabilidade com a guarda responsável de acordo com a gravidade, assim como a regulamentação da criação e comércio de cães e políticas públicas7. Órgãos públicos de saúde como CCZs devem promover programas de educação continuada em saúde pública, como conscientização da população quanto a legislação vigente e guarda responsável de animais domésticos7. Os programas governamentais de controle populacional devem promover parcerias com entidades não governamentais, escolas de veterinária, empresas e centros de promoção de saúde públicos e privados para auxílio de médicos veterinários7. É importante que legislações sejam realmente eficazes, visto que o Brasil apresenta particularidades socioeconômicas desafiadoras, com muitos problemas humanos ainda por serem resolvidos1.
CONCLUSÃO
Uma nova estrutura sociocultural precisa ser formada, englobando educação em saúde, participação em programas de prevenção de abadono e criação de leis que regulamentem a guarda responsável de animais, visando promover-lhes a vida que lhes é de direito, livres dos maus-tratos e abandono. A resolução desse problema não deve ser colocada somente sobre responsabilidade de órgãos governamentais e não governamentais. Profissionais da saúde e estudantes devem se posicionar e ter conhecimento sobre os papéis que podem desempenhar frente ao abandono, através de ações de informação à tutores sobre a guarda responsável e participação efetiva em programas de saude pública desenvolvidos em âmbitos universitários e governamentais. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. AGOSTINI, Sueli Aparecida. Representações sociais sobre os direitos dos animais: subsídios para a formulação de políticas públicas de proteção aos animais de companhia e de combate ao abandono de cães e gatos. 2014. 66f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Políticas Públicas, Ciencias Sociais, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2015.
2. SALMAN, M. D.; NEW Jr., J. G.; SCARLETT, J. M.; KASS, P. H.; RUCH-GALLIE, R.; HETTS, S. Human and Animal Factors related to the relinquishment of Dogs and Cats in 12 Selected Animal Shelters in the United States. Journal of Applied Animal Welfare Science, v. 1, n. 3, 206-226, 1998.
3. ALVES A.J.S.; GUILOUX A.G.A.; ZETUN C.B.; POLO G.; BRAGA G.B.; PANACHÃO L.I.; SANTOS O.; DIAS R.A.; Abandono de cães na América Latina: revisão de literatura / Abandonment of dogs in Latin America: review of literature / Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP / Continuous Education Journal in Veterinary Medicine and Zootechny of CRMV-SP. São Paulo: Conselho Regional de Medicina Veterinária, v. 11, n. 2 (2013), p. 34 – 41, 2013.
4. GALETI, M.; SAZIMA, I. Impacto de cães ferais em um fragmento urbano de Floresta Atlântica no sudeste do Brasil. Natureza e Conservação. v. 4, p. 58-63. 2006.
5. SLATER, M.R. The role of veterinary epidemiology in the study of free-roaming dogs and cats. Preventive Veterinary Medicine, v.48, p.273-286. 2001.
6. FARACO, Ceres Berger. Interação Humano-Cão: O social constituído pela relação interespécie. Porto Alegre: PUC, 2008. Tese (Doutorado em Psicologia), Faculdade de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2008.
7. SÃO PAULO. Lei Municipal no 13.131, de 18 de maio de 2001. Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-13131-de-18-de-maio-de-2001>. Acesso em 4 de abril de 2020.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
22
CAPNOGRAFIA EM MEDICINA VETERINÁRIA E SUA RELAÇÃO COM A COVID-19
Júlia Riquetti Vasconcelos1*, Davi Guilherme Souza¹, Luiz Flávio Telles.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ³³ Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O uso do capnógrafo é comumente utilizado na Anestesiologia Veterinária a fins de alcançar um diagnóstico precoce de uma possível hipoventilação ou hiperventilação, bem como a falha na perfusão adequada do pulmão. As vias aéreas que não possuem função de troca gasosa são consideradas um espaço morto anatômico, e será o primeiro fluxo de ar eliminado durante uma expiração. O espaço morto alveolar, permeia a área em que deveria haver hematose, mas pela escassez da perfusão em relação a ventilação, se torna comprometida(¹).
A capnometria é a representação numérica da quantidade de dióxido de carbono( CO²) expirado. É denominado capnografia esta quantidade em volume ou tempo, expressado em um gráfico. A PaCO² demonstra a pressão arterial parcial de CO² nos alvéolos, e a PETCO² seria a pressão parcial de CO² no final da expiração(¹).
A equação da PaCO² nos auxilia durante a interpretação da Capnografia, e suas alterações. Os valores obtidos através de PaCO²:PBs[(FiCO² + VCO²)/VA], onde PBs é a pressão barométrica seca, FiCO² fração inspirada de CO², VCO² a vazão de CO² para dentro do alvéolo e VA ventilação alveolar, podemos entender que o aumento da PaCO² resulta em aumento da inspiração de CO², consequentemente da vazão alveolar deste, e diminuição da ventilação do paciente em presença de algum distúrbio no sistema respiratório(¹).
O presente estudo, pretende demonstrar a relação da Capnografia utilizada na Medicina Veterinária, com o COVID-19 sucedido em humanos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta revisão de literatura foi baseada em estudos científicos sobre o uso da Capnografia e suas interpretações em afecções respiratórias, bem como tutorias de seu uso na Anestesiologia. REVISÃO DE LITERATURA
Na medicina humana, o COVID-19 apresenta-se como uma afecção de origem viral, que acomete o sistema respiratório, havendo uma fibrose pulmonar, área esta impossibilitada de promover a funcionalidade respiratória normal. Isto ocorre devido a ocorrência de Doença respiratória aguda, com sintomas específicos de Pneumonia (²) como letargia, dor no peito, tosse seca, dispneia, febre e ausculta pulmonar alterada (³). Estas alteração são diagnosticadas através de Tomografias torácicas que melhor demonstram alteração pulmonar). É de suma importância o conhecimento da Capnografia normal de um paciente ( Figura 1) para detecção de um traçado anormal.
Figura 1:Capnografia de um paciente normal
Fonte: www.eworldpoint.com
Em pacientes com histórico de esforços respiratórios ( Figura 2) são esperadas curvas capnográficas distintas daquelas normalmente visualizadas em monitores de anestesia de pacientes sabidamente hígidos.
Figura 2: Capnografia de um paciente com esforço respiratório
Fonte:www.eworldpoint.com
A análise das curvas capnográficas são de extrema importância na monitorização. Doenças pulmonares de caráter obstrutivo, deficiência em válvulas do equipamento de ventilação, heterogeneidade pulmonar e outras comorbidades que podem vir a diminuir a saturação de oxigênio do paciente, provocando apneia, serão comprovados através deste meio, evitando distúrbios na ventilação e perfusão pulmonar (1). A PaCO² nos alvéolos se apresentam aumentadas quando há maior quantidade de CO² alveolar (1), portanto a proporção de oxigênio apresenta-se diminuída, comprovando baixa saturação
CONCLUSÕES
Ao relacionar os casos de pacientes acometidos pelo coronavírus COVID-19 a alterações em ondas capnográficas, e, associando a esforço respiratório, o equipamento utilizado em Medicina Veterinária para assim detectar este comprometimento, será útil em tal situação, uma vez que a Medicina veterinária investe em Capnógrafos sensíveis e eficazes durante anestesia e terapia intensiva, que auxiliam em episódios de apneia ou baixa PaO² nos alvéolos. BIBLIOGRAFIAS 1. NERONE, Gabriela. TIPOS DE CAPNÓGRAFOS. Sociedade brasileira de Anestesiologia, 2020. 2. ARAUJO-FILHO, Jose de Arimateia Batista et al. Pneumonia por COVID-19: qual o papel da imagem no diagnóstico?. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 46, n. 2, 2020.. 3. Thevarajan, I., Nguyen, T.H.O., Koutsakos, M. et al. Breadth of concomitant immune responses prior to patient recovery: a case report of non-severe COVID-19. Nat Med 26, 453–455 (2020) 4. CHATE, Rodrigo Caruso et al. Apresentação tomográfica da infecção pulmonar na COVID-19: experiência brasileira inicial. Jornal Brasileiro de Pneumologia, v. 46, n. 2, 2020. 5. ESTEVÃO, Amélia. COVID-19. Acta Radiológica Portuguesa, v. 32, n. 1, p. 5-6, 2020. 6. Wu, J.T., Leung, K., Bushman, M. et al. Estimating clinical severity of COVID-19 from the transmission dynamics in Wuhan, China. Nat
Med 26, 506–510 (2020).
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
23
CARACTERISTICAS DO CARCINOMA NEUROENDÓCRINO DA MAMA CANINA
Karen Yumi Ribeiro Nakagaki1, Maíra Meira Nunes2, Geovanni Dantas Cassali1, Luiz Flávio Telles3. 1Instituto de Ciências Biológicas, ICB-UFMG ˗ Belo Horizonte, MG - Brasil
2Graduando em medicina veterinária – UniBH – Belo Horizonte, MG - Brasil 3Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte, MG - Brasil
INTRODUÇÃO
O carcinoma de mama com características neuroendócrinas é considerado raro na mulher1 e foi relatado uma única vez na cadela2. Apesar de pouco relatada, a verdadeira incidência de neoplasias neuroendócrinas da mama humana e canina é difícil de ser avaliada, pois muitas das características histopatológicas clássicas dos carcinomas neuroendócrinos não estão presentes na variante mamária3. Além disso, marcadores neuroendócrinos não são rotineiramente utilizados no painel imuno-histoquímico de diagnóstico do câncer de mama4.
O objetivo deste estudo é descrever as características histopatológicas e imunohistoquímicas de 10 casos de carcinoma mamário sólido com características neuroendócrinas na cadela, com intuito de permitir um maior reconhecimento e classificação apropriada desse tipo histológico nesta espécie.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram selecionados dez casos de carcinoma mamário com características morfológicas neuroendócrinas de um grupo de 150 carcinomas sólidos da mama da cadela, recebidos entre 2011 e 2018 pelo Laboratório de Patologia Comparada da Universidade Federal de Minas Gerais. Foram descritas as características histopatológicas e realizada a técnica de imuno-histoquímica para cromogranina A, sinaptofisina, CD56, NSE, PGP 9.5, pancitoqueratina, Ki67, receptor de estrógeno e receptor de progesterona. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este estudo incluiu 10 pacientes com carcinoma sólido de mama. A idade média das cadelas foi de 13,2 anos, com idades variando entre 9 a 16 anos. O tamanho médio das neoplasias foi de 4,8cmOs tumores apresentaram, em geral, alta contagem mitótica, com uma média de 27,5 mitoses em 10 campos de maior aumento (40X). No total, 70% das neoplasias foram classificadas pelo sistema de Nottingham como grau III e 30% como grau II. Em três casos foram observados êmbolos neoplásicos em vasos linfáticos. Na análise histopatológica foram observados padrões morfológicos semelhantes e apenas um caso exibiu característica de tumor carcinoide. Todos tumores apresentaram arranjo sólido das células (fig. 1A) e pelo menos alguma área de proliferação in situ. A maioria dos casos exibiu um padrão de crescimento infiltrativo, com invasão em derme e tecido adiposo adjacente, apesar de circunscrito em alguns casos. No total, 60% dos casos exibiam arranjo em pequenos ninhos sólidos de células delimitados por delicado estroma fibrovascular (fig. 1B). As células apresentavam na sua maioria citoplasma de tamanho moderado, levemente eosnofílico, com graus variados de granulação fina, ou citoplasma claro, com vacuolizações de limites indistintos. Os núcleos eram grandes, redondos a ovalados, com graus variáveis de atipia. Todas os carcinomas foram positivos para cromogranina A (fig. 2A), já para sinaptofisina apenas dois casos foram reagentes (fig. 2B). Para PGP 9,5, NSE e CD56 obtivemos positividade em 100%, 90% e 70% dos casos, respectivamente. Nenhum caso foi positivo para todos marcadores neuroendócrinos. Todas neoplasias expressaram receptores de estrógeno e progesterona em pelo menos 10% das células e foram positivos para pancitoqueratina (AE1/AE3). A marcação para
Ki67 variou entre 29 a 95%, com uma média de 67% de marcação celular.
Figura 1:Características histológicas dos carcinomas neuroendócrinos na cadela. A) Nódulo mamário em arranjo sólido. HE.10x. B) Ninhos sólidos de células delimitadas por delicado estroma fibrovascular. HE.40x. Fonte: LPC-UFMG.
Figura 2:Marcações imuno-histoquímicas de carcinomas sólidos na cadela. A) Marcação positiva para cromogranina A, com padrão de marcação granular no citoplasma. 40x. B) Marcação citoplasmática para sinaptofisina em mais de 50%
das células neoplásica. 40x. Fonte: LPC-UFMG.
CONCLUSÕES
Os carcinomas neuroendócrinos ocorrem na glândula mamária canina, assim como na mulher, e podem estar sendo subdiagnosticados quando são incluídos no grupo de carcinomas sólidos. O diagnóstico somente pelo exame histopatológico é desafiador, fazendo necessária a utilização de marcadores neuroendócrinos específicos para confirmação. São necessários mais estudos para determinação do prognóstico deste novo tipo histológico. BIBLIOGRAFIAS 1. Wei B, Ding T, Xing Y, Wei W, Tian Z, Tang F, et al. Invasiveneuroendocrine carcinoma ofthebreast: a distinctivesubtypeofaggressivemammary carcinoma. BMC Cancer. 2010; 116: 4463-73. 2. Nakahira R, Michishita M, Yoshimura H, Hatakeyama H, Takahashi K. Neuroendocrine carcinoma ofthemammarygland in a dog. J CompPathol. 2015; 152: 188-91 3. Wachter DL, Hartmann A, Beckmann MW, Fasching PA, Hein A, Bayer CM. Et al. Expression ofneuroendocrinemarkers in different molecular subtypesofbreast carcinoma. BioMed Res Int. 2014; 2014: 408459. 4. KeltenTalu C, Savli TC, Huq GE, Leblebici C. Histopathological and Clinical Differences Between Primary Breast Carcinomas With Neuroendocrine Features and Primary Breast Carcinomas Mimicking Neuroendocrine Features. Int. J SurgPathol. 2019; 27: 744-52.
APOIO: CAPES, CNPQ
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
24
CASTRAÇÃO COMO MEDIDA PREVENTIVA A NEOPLASIAS MAMÁRIAS EM CADELAS
Anna Clara Silva Martins1*, Carolina Fonseca Horta1, Giovanna Ferreira de Aquino1, Luiz Flávio Telles2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil – *[email protected]
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Grande parte dos tutores de pets optam pela castração com intuito de controle populacional e melhora comportamental em seus animais. Não é de conhecimento comum que tal procedimento é eficiente método preventivo contra neoplasmas hormônio-dependentes, como alguns tumores mamários. As neoplasias estão associadas ao alto índice de mortalidade e morbidade em cães1, sendo detectadas em animais mais velhos e de meia idade. O câncer de mama em cadelas tem despertado forte interesse devido à elevada prevalência de tumores malignos, comumente reflexo do diagnóstico tardio, que compromete o tratamento e reduz a taxa de sobrevida dos animais2. O objetivo do presente trabalho é informar e conscientizar os tutores sobre a importância da ovariosalpingohisterectomia (OSH) para fins preventivos contra neoplasias mamárias. MATERIAIS E MÉTODOS
A revisão de literatura foi realizada por meio de artigos científicos de revistas indexadas e trabalhos técnicos selecionados através de busca nos bancos de dados do Google Acadêmico.
REVISÃO DE LITERATURA
Neoplasmas mamários constituem aproximadamente 52% dos tumores diagnosticados em cadelas1. Dentre as neoplasias hormônio-dependentes, destacam-se as de mama, útero, ovário, testículo, próstata, tireoide e o osteossarcoma. Em cadelas a incidência de tumores de mama benignos ou malignos aumenta de acordo com a idade e utilização contínua de progestágenos, podendo ser reduzida através de ovariectomia em animais jovens3. As neoplasias podem surgir em qualquer cadeia mamária, sendo comum a presença de múltiplos nódulos de mesmo tipo ou de tipos histológicos diferentes3. O tumor de mama corresponde à patologia multifatorial, apresentando caráter genético, ambiental, nutricional e hormonal. Os hormônios agem como promotores no desenvolvimento da neoplasia mamária. A prolactina estimula o crescimento do tumor através da sensibilização celular aos efeitos do estrógeno, promovendo aumento da quantidade de receptores deste. Receptores de estrógeno (ER) e de progesterona (PR) têm sido identificados, em cadelas, em tecido mamário normal ou neoplásico. De forma geral, em tumores malignos, a expressão de genes que codificam os receptores destes hormônios pode apresentar-se reduzida, em particular nas neoplasias com maior grau de malignidade ou nas fases mais avançadas da doença4. A presença de ER no citoplasma de células tumorais é sinal claro de dependência hormonal neoplásica. A presença simultânea de ER e PR, considerado marcador da ação estrogênica, reforça ainda mais esta dependência. Em cadelas o aumento do estradiol sérico associado ao proestro pode estimular as células que expressam ER a sintetizarem PR. O estrógeno e a progesterona atravessam a membrana celular por processo passivo e ligam-se a receptores proteicos específicos no citoplasma da célula alvo tumoral. Subsequentemente, o complexo esteroide-receptor move-se em direção ao núcleo, ligando-se à cromatina e promovendo aumento da síntese de RNA mensageiro, RNA ribossômico e de proteínas, que irão alterar a função celular. Estes hormônios podem estimular a replicação celular tanto em
tumores que expressam ER e PR quanto naqueles que não os expressam4. O estrógeno e a progesterona são responsáveis pela manutenção do ciclo estral e possuem funções específicas. Fêmeas castradas não apresentam ciclo, o que determina a perda de função de tais hormônios para fins reprodutivos e a diminuição destes no organismo do animal. Com a realização da OSH antes do primeiro estro, o risco de desenvolvimento de neoplasias mamárias é reduzido para 0,5%. Este risco aumenta significativamente em fêmeas esterilizadas após o primeiro ciclo estral (8%) e após o segundo (26%). A proteção conferida pela castração desaparece depois dos dois anos e meio de idade, quando nenhum efeito é obtido2. Figura 1: Ovariosalpingohisterectomia (OSH).
Fonte: Imagem cedida pelo médico veterinário Tiago
Rezende.
CONCLUSÕES
Conclui-se que a castração é importante método preventivo contra tumores mamários, reduzindo o risco de ocorrência para até 0,5%. A difusão desta informação é de suma importância, visto que a patologia apresenta alta prevalência e índice de mortalidade. Com mais tutores informados, maior será o número de animais castrados, gerando possível redução da ocorrência de câncer de mama em cadelas. BIBLIOGRAFIAS 1. PASCOLI, Ana Lucia et al. CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO,
PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DE TUMORES MAMÁRIOS EM CADELAS E PREVALÊNCIA DESSES TUMORES DIAGNOSTICADOS DURANTE A CAMPANHA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC. Archives of Veterinary Science, v. 22, n. 2, 2017.
2. DEUSDADO, Fernanda et al. Estudo sobre o conhecimento da importância da castração na prevenção do câncer de mamas em cadelas. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 13, n. 3, p. 91-91, 2015.
3. ZAGO, Bianca Schivitz. Prós e contras da castração precoce em pequenos animais. 2013.
4. HANSEN, Ana Carolina Sampaio Goes. Mastectomia e OSH como terapia preventiva em neoplasias mamárias em cadelas: Revisão de literatura. 2015.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
25
RELATO DE CASO: CHOQUE ANAFILÁTICO EM EQUINO
Frederico Eleutério Campos1*; Michelle Aguiar de Lima¹; Bruna Pereira da Silva¹; Juliana Ferreira Olimpio¹; Richard Deyber Guimarães de Carvalho²; Ana Luísa Soares de Miranda3.
1 Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Médico Veterinário – Belo Horizonte – MG – Brasil
3 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade de início súbito e grave, mediada por imunoglobulinas E e G após a exposição à antígenos3. O choque anafilático é a manifestação mais grave da anafilaxia, com diferença do componente hipovolêmico, sendo potencialmente fatal. Durante o choque ocorrem à liberação de mediadores como cininas, prostaglandinas, histaminas, seretoninas, leucotrienos e fator ativador de plaquetas, resultando em vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, constrição do músculo liso, e diminuição do débito cardíaco2. O choque anafilático é causado por agentes capazes de induzir a degranulação de mastócitos ou basófilos, sendo os agentes mais comuns, os venenos de insetos da ordem Hymenoptera, como abelhas e vespas; medicamentos, como relaxantes musculares; anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), antibióticos betalactâmicos; e outros, como hipnóticos, opioides e coloides1. As benzilpenicilinas são antibiótiocos beta-lactâmicos, amplamente utilizados na medicina veterinária, com o objetivo de efeito bactericida, impedindo a síntese de parede celular bacteriana3. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de choque anafilático em reação a administração de benzilpenicilina em um equino, atendido na clínica do Parque de Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte, MG. RELATO DE CASO E DISCUSSÃO
No dia 17 de julho de 2019, durante a 38º exposição do Mangalarga Marchador, em Belo Horizonte, MG, foi realizado o atendimento na clínica oficial da exposição, de um animal da espécie equina, fêmea, de três anos de idade, pesando cerca de 400Kg, da raça Mangalarga Marchador. A queixa do proprietário era a apresentação de tosse e secreção nasal. No exame clínico foi observada frequência cardíaca de 44 bpm, frequência respiratória de 25 mpm, mucosas normocoradas, com o tempo de preenchimento capilar de dois segundos e temperatura retal de 39,5 graus. Na avaliação do sistema respiratório, foi observada presença de estertores pulmonares nos focos de ausculta traqueobrônquico e bronco-bronquiolar. Com base na epidemiologia dos casos semelhantes atendidos na exposição, associado aos sinais clínicos foi dado um diagnóstico de Influenza equina. O tratamento realizado foi o profilático para infecções bacterianas secundárias, sendo 13.000 UI / kg de benzilpenicilina, em uma aplicação por dia, por via intramuscular, durante sete dias, e 225 mcg / kg de cloridrato de bromexina com o objetivo de favorecer a expectoração e potencializar a ação do antibiótico nas secreções pulmonares. No segundo dia de tratamento, após a aplicação da benzilpenicilina, o animal apresentou um quadro de choque anafilático, entrando em decúbito esternal dentro do tronco de contenção, apresentando mucosas congestas e tremores musculares, sendo necessária uma rápida intervenção emergencial, na qual foi realizado a administração de dexametasona a 0,2 mg / kg, 4 ml de epinefrina, além de acesso intravenoso nas duas veias jugulares para fluidoterapia sob pressão, com o objetivo de aumentar o volume plasmático e reverter o quadro. Após a administração do décimo soro, o animal se levantou, ainda apresentando um quadro de ataxia e reflexos aumentados, sendo necessária a administração de uma associação de
detomidina e midazolam para facilitar a contenção e realização de fluidoterapia. Após 12 horas de tratamento o animal apresentou uma melhora e dentro de 24 horas o animal se recuperou totalmente sobre o quadro de ataxia. Dessa forma, foi realizada a prescrição de outro antibiótico, a base de sulfadoxina e trimetoprima para evitar outra reação anafilática. Figura 1: Atendimento ao quadro de choque anafilático após
o decúbito.
Fonte: Arquivo pessoal
CONCLUSÕES
O choque anafilático é uma condição clínica que requer atendimento emergencial, necessitando de um rápido diagnóstico e amplo conhecimento para a realização do tratamento de forma adequada. A benzilpenicilina é um fármaco capaz de causar reação anafilática. As reações anafiláticas em equinos são pouco relatadas na literatura, ocasionando em poucos estudos sobre a fisiopatologia. O atendimento clínico foi suficiente para a resolução do quadro, e apesar de o animal não ter recebido alta para participar da competição de marcha, a sua condição clínica estava em perfeito estado após o tratamento. BIBLIOGRAFIAS 1. BORGES, Isabela Nascimento; DE CARVALHO, Joana Starling;
SERUFO, José Carlos. Abordagem geral do choque anafilático. REVISTA MÉDICA DE MINAS GERAIS-RMMG, v. 22, n. 2, 2012.
2. DE MELO, Ubiratan Pereira et al. Choque circulatório em equinos. Semina: Ciências Agrárias, v. 31, n. 1, p. 205-229, 2010.
3. Moraes, B. A. (2012). Antibioticoterapia para infecções respiratórias em equinos.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
26
CITOLOGIA DE LESÕES CAUSADAS POR SPOROTHRIX SPP EM FELINOS
Laura Ferreira Câmara1*, Emerson Augusto Crisostomo1, Gabriela Almeida Dutra1, Laura Barreto Tavares1, Breno Mourão de Sousa2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
1*
Autor para correspondência: [email protected]
INTRODUÇÃO
A esporotricose é uma micose causada por fungos pertencentes ao gênero Sporothrix spp1. Estes fungos são facilmente encontrados em diversos ambientes, como o solo, troncos de árvores, matéria orgânica em decomposição e afins, a principal forma de contaminação é através de um implante traumático do fungo na pele através de arranhaduras ou por contato direto dos fungos com uma lesão dérmica previamente estabelecida2. Os felinos têm considerável papel epidemiológico na propagação e transmissão da doença e as lesões apresentam aspecto nodular e firme no primeiro momento de infecção e posteriormente se tornam macias com aspecto gelatinoso, tendo frequentemente ulceração da ferida com liberação de sangue e exsudato purulento2,3.
O objetivo deste trabalho é caracterizar de maneira citopatológica as lesões cutâneas macroscópicas causadas por fungos do gênero Sporothrix spp em felinos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização deste trabalho foram utilizadas lâminas lisas 26x76 mm para realizar a técnica de imprint, que consiste em colocar diretamente a lâmina sobre a superfície a analisar e fazer pressão para que o material cutâneo fique aderido. Após a coleta da amostra, esta segue para a coloração pelo método panótico rápido, secagem ao ar livre e análise no microscópio óptico (400x). Esta técnica foi realizada em gatos de Belo Horizonte, no período de outubro a novembro de 2019, já diagnosticados e em tratamento ou não para a esporotricose felina sob orientação de professores do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Belo Horizonte. As coletas foram realizadas a domicílio para evitar o estresse do animal e chances de recidiva da doença, o material foi analisado em laboratórios de citologia da própria faculdade. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em felinos o exame citológico apresenta vantagens por ser rápido, de baixo custo e apresentar uma sensibilidade de 84,5%, além disso os felinos apresentam maior quantidade de células fúngicas nos tecidos acometidos, o que acelera o processo de diagnóstico e tratamento do animal2. Entretanto vale ressaltar que o padrão-ouro para diagnosticar a esporotricose é a cultura e o isolamento fúngico, pois permite melhor análise morfológica e reconhecimento da espécie4. Após a coleta das amostras e coloração das mesmas, estas foram analisadas em microscopia óptica nos aumentos 100x e 400x, nos animais positivos para a doença observou-se a presença de células ovaladas e/ou alongadas de formato leveduriforme livres e fagocitadas, características ao Sporothrix spp, células de defesa, principalmente macrófagos (FIG. 1), já nos animais com lesões mais recentes e extensas, observou-se grande presença de neutrófilos e bastonetes, além de agregados plaquetários, o que não permitiu a observação das células leveduriformes devido a grande quantidade de secreção na lesão. Figura 1: Citopatologia (100x) de lesão em gato por imprint com presença de células leveduriformes (setas vermelhas).
Fonte: arquivo pessoal.
Os felinos acometidos apresentaram padrões lesionais nas
regiões da cabeça, extremidade dos membros torácicos e
pélvicos, plano nasal, conjuntiva ocular e extremidade da
cauda. As análises incluíram animais que não haviam iniciado
o tratamento, que haviam iniciado a poucos dias ou meses e
que já haviam finalizado, porém com suspeita de recidiva da
doença, em todas foram observadas as mesmas
características citológicas citadas anteriormente, com
exceção do felino que ainda não havia iniciado o tratamento,
pois suas lesões apresentavam-se com muita secreção e
inviabilizaram a observação de outras células, além dos
neutrófilos. Todos os tratamentos instituídos utilizaram o
itraconazol sozinho ou em associação ao iodeto de potássio
seguindo a dosagem de acordo com o quadro clínico de cada
animal, sendo as dosagens segundo a literatura de 5 a 27
mg/kg, VO, BID ou SID de itraconazol por até um mês após
atingir a cura clínica e 2,5 a 20 mg/kg, VO, SID de iodeto de
potássio até atingir a cura clínica2.
CONCLUSÕES
Conclui-se que as lesões causadas por Sporothrix spp resultam em padrões lesionais cutâneos e citopatólogicos, caracterizado, principalmente, pela visualização das células leveduriformes e macrófagos. BIBLIOGRAFIAS
1. Macêdo-Sales, P.A.; Souto, de S.R.; Destefani, C.A.;Lucena, de R.P.;
Rocha, da E.M.; Baptista, A.R. Diagnóstico laboratorial da esporotricose felina em
amostras coletadas no estado do Rio de Janeiro, Brasil: limitações da citopatologia
por imprint. SciELO, 2018.
2. Santos, A.F.; Rocha, B.D.; Bastos, e C.V.; Oliveira, de C.F.; Soares, D.F.;
Pais, G.C.; Xaulim, G.M.; Keller, K.M.; Salvato, L.A.; Lecca, L.O.; Ferreira, L.; Saraiva,
L.H.; Andrade, M.B.; Paiva, M.T.; Alves, M.R.; Morais, M.H.; Azevedo, de M.I.;
Teixeira, M.I.; Ecco, R.; Brandão, S.T. Guia Prático para enfrentamento da
Esporotricose Felina em Minas Gerais. Revista V&Z Em Minas, número 137,
Abr/Mai/Jun 2018.
3. Adriana, A.J.; Reis, N.F.; Lourenço, C.S.; Costa, N.Q.; Bernardinho,
M.L.; Vieira-da-Motta, O. Esporotricose em felinos domésticos (Felis catus
domesticus) em Campos dos Goytacazes, RJ. Pesquisa Veterinária Brasileira, Julho
2018.
4. Larsson, C.E. Esporotricose. Brazilian Journal of Veterinary Research
and Animal Science, v.48, n.3, p. 250-259. São Paulo, 2011.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
27
COLETA E CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN EM FELINOS SILVESTRES
Deivisson Junio Fernandes dos Santos1, Brenda Andrade de Souza¹, Dayanne Kelly Oliveira Pires¹, Maria Paula Vieira Rodrigues¹, Gabriel Almeida Dutra2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
E-mail para correspondência: [email protected]
INTRODUÇÃO
A maior parte das populações felinas em cativeiro tem poucos reprodutores, resultando em baixa variabilidade genética, com consequências reprodutivas negativas. A expectativa de vida de felinos silvestres é curta, e a produção de filhote para a espécie é de aproximadamente 1 a 4 filhotes por ninhada, considerada baixa, tendo início precoce da senilidade reprodutiva, geralmente em 7 a 10 anos de idade, desse modo, as populações geneticamente viáveis em cativeiro são de difícil manutenção. O grau de ameaça à maioria das populações de felídeos silvestres é crescente, sendo que as técnicas de reprodução assistida servem como uma importante solução para enfrentar os desafios de manejoe, com isso, auxiliar na conservação das espécies. O número de animais exemplares e a disposição geográfica dos felinos silvestres em cativeiro são fatores limitantes na pesquisa, por isso, o gato doméstico tem um papel importante como modelo experimental para o entendimento da fisiologia reprodutiva e do uso de biotecnologias reprodutivas nos felídeos silvestres. As técnicas de reprodução assistida (TRAs) são a inseminação artificial (IA), fertilização in vitro (FIV), transferência de embrião (TE), a coleta de sêmen e a criopreservação de espermatozoide e embriões. Nessa revisãoserão abordadas as técnicas de coleta de sêmen e criopreservação de espermatozoides.
MATERIAIS E MÉTODOS
Revisão de literatura utilizando pesquisas feitas pelo Google e Google Acadêmico, buscando publicações do período de 2011 a 2018, que tratam sobre a reprodução de felinos silvestres. Palavras-chave utilizadas: felinos silvestres, reprodução, crioscopia, sêmen.
REVISÃO DE LITERATURA
Na coleta de sêmen, deve-se causar o menor estresse possível ao animalpara permitir a melhor qualidade possível do ejaculado.O método de eletroejaculação é o mais utilizado para coleta, no entanto, existem alguns fatores limitantes: o preço do equipamento eletroejaculador pode tornar a técnica inviável; há risco de contaminação por urina no momento da coleta, e ocorrem contrações musculares fortes nos animais, apesar de estarem sob anestesia geral. A eletroejaculação é preferida pois não necessita de uma fêmea no estro, e os machos não precisam ser submetidos a treinamento.
Há variação considerável entre as espécies com relação ao volume do ejaculado e ao número de espermatozoides por ejaculado (depende da voltagem utilizada e da quantidade de estímulos elétricos), porém, a utilização da anestesia e da eletroejaculação parecem não prejudicar a capacidade ejaculatória normal do animal, ou causar efeitos nocivos. A eletroejaculação pode ter efeito benéfico no caso de animais que estão em inatividade sexual durante muito tempo, ela geralmente melhora a qualidade espermática a partir da segunda coleta, pois estimula a formação de novos espermatozoides e remove aqueles que estão armazenados por longo período.
O protocolo de estímulos elétricos mais utilizado consiste em três séries de (30, 30 e 20 estímulos) de 2 a 6 volts, com descanso entre as séries de 5 min. O equipamento utilizado deve ser adaptado para a espécie, com voltagem máxima
de12V e probes retais que variam de acordo com o porte do animal. Diferentes protocolos anestésicos como a cetamina isolada ou associada com a medetomidina, ou protocolos com associação de zolazepan, tiletamina e morfina também são descritos.2
A criopreservação é a tecnologia por meio da qual célula, tecidos ou embriões são preservados a temperaturas abaixo do ponto de congelamento da água, tendo como objetivo a preservação e viabilidade das células por maior tempo.Dois métodos de criopreservação de sêmen são mais utilizados: a refrigeração e o congelamento. A refrigeração busca manter o sêmen a 4 ou 5 ° C, após a diluição em um meio extensor. É indicada quando o transporte de sêmen se dá em questão de horas ou alguns dias. O congelamento em nitrogênio líquido é o segundo método, o sêmen congelado tem maior potencial de conservação, pois pode ser armazenado por tempo indefinido e transportado a qualquer distância.
O processo de criopreservação espermática, além de possibilitar sua utilização por período relativamente longo (refrigeração) ou indeterminado (congelação), reduz riscos e custos com aquisição e transporte de reprodutores, além de favorecer rápida difusão de material genético entre locais distantes.2 Apesar das vantagens, a criopreservação em felinos ainda é um grande desafio, pois há uma queda brusca na qualidade do sêmen após ser descongelado, devido aos danos causados na membrana plasmática e acrossomal, principalmente se considerarmos que muitos felinos silvestres possuem alta porcentagem (>60%) de espermatozoides defeituosos.
A adição dos agentes crioprotetores ao diluente é essencial para a sobrevivência das células espermáticas, pois minimizam os efeitos do processo de congelação/descongelação, embora essas substâncias possam causar danos às células.
CONCLUSÕES
Tendo em vista o grau de ameaça que sofrem as populações de felídeos silvestres e a falta de estudos e pesquisas de biotecnologias reprodutivas específicas para esses animais, conclui-se que deveria ocorrer um investimento maior para o melhoramento das técnicas já existentes, e para a implantação de outras novas, que contemplem as características particulares das espécies.
BIBLIOGRAFIAS 1. ACKERMANN, Camila Louise. et al. Uso de agonistas do GnRH na
contracepção de felinos: revisão de literatura. Veterinária e Zootecnia, v. 18, n. 2, p. 187-196, 2011.
2. CATARDO, Felipe A. et al. Técnicas reprodutivas, criopreservação Espermática e coleta de sêmen em felinos selvagens visando à conservação - Revisão Bibliográfica. R. cient. eletr. Med. Vet., n. 30, 2018.
3. MICHELETTI, T. et al. Reprodução natural de felídeos selvagens em cativeiro: dificuldades e orientações. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 36, n. 1, p. 39-43, 2012.
4. MOREIRA, N. Desafios fisiológicos da reprodução de felídeos selvagens. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 37, n. 2, p. 232-236, 2013.
5. MOREIRA, N; MORATO, R. G. Técnicas de Reprodução Assistida em Felídeos Neotropicais. in vitro (por meio da criopreservação), v. 9, p. 11.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
28
CORREÇÕES CIRURGICAS Do COLAPSO DE TRAQUEIA: REVISÃO DE LITERATURA
Fernanda Santos Costa1*, Izabella Machado Vilaça1, Roberta Renzo2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A traqueia é um órgão de tecido conjuntivo tubular flexível, e uma das patologias que a afetam é o colapso de traqueia, no qual ocorre degeneração e enfraquecimento dos anéis traqueais associados ao relaxamento da membrana dorsal traqueal resultando em estreitamento do seu lúmen. Comum em cães de meia idade, idosos, de raças pequenas e miniaturas. Seu desenvolvimento é crônico, podendo ser classificado em quatro diferentes graus de acordo com a gravidade da redução do diâmetro luminal, no grau Iocorre redução de aproximadamente 25% de diâmetro traqueal, no II a redução é de aproximadamente 50%, no III a redução corresponde à aproximadamente 75% e no IV ocorre obliteração luminal4. As reparações traqueais tem sido de grande interesse para os veterinários principalmente no que se diz a qualidade cicatricial que é promovida logo após a técnica de traqueoplastia. O tratamento cirúrgico deve ser recomendado para animais que não respondem ao tratamento clínico, e o diagnóstico definitivo é realizado por meio de radiografias torácicas1,2,3. O objetivo deste estudo foi revisar trabalhos sobre as principais técnicas cirúrgicas para tratamento do colapso traqueal em cães.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo constitui-se de uma revisão de literatura, no qual se realizou pesquisas de artigos científicos publicados em língua portuguesa e estrangeira através de buscas nos bancos de dados do Google acadêmico. O intervalo de tempo de publicação dos artigos em busca foi de 2004 até a presente data. Os critérios de inclusão para os estudos foram publicações de artigos sobre técnicas cirúrgicas para correção do colapso de traqueia em cães. Palavras-chave: colapso traqueal, abordagem cirúrgica. REVISÃO DE LITERATURA
Cada técnica tem como objetivo fornecer suporte estrutural circunferencial para preservar o lúmen da traqueia, mantendo a flexibilidade. Na técnica de colocação dos implantes extraluminais, o paciente é posicionado em decúbito dorsal, é realizada uma incisão na linha média cervical ventral da pele e do subcutâneo, entre a laringe e o manúbrio, a divulsão dos músculos esternocefálico e esterno-hióideo é procedida através da linha média, sempre com cautela à respeito dos vasos segmentares e do nervo laríngeo recorrente4. Para os implantes em anel, é realizado um túnel por meio dos tecidos peritraqueais, entre a traqueia e os nervos laríngeos recorrentes, apenas nas áreas de colocação dos anéis. Cada anel é passado em torno da traqueia e posicionado com o lado aberto voltado para a linha média ventral. E então, os anéis são suturados com três ou quatro suturas simples interrompidas de fio polipropileno 4-0. As suturas são colocadas através da membrana traqueal dorsal e da porção ventrolateral da traqueia. A sutura envolve os anéisadjacentes, penetrando no lúmen traqueal (Fig.1-A). As incisões fasciais e cutânea são fechadas de maneira rotineira. Em um estudo onde 20 cães foram submetidos à colocação de implantes extraluminais, 85% apresentaram melhora do quadro clínico e 60% foram dispensados do uso de medicamentos para controle da tosse4. Para aplicação dos implantes em formato espiral também é requerida a dissecação do tecido peritraqueal, formando um túnel, para a sua respectiva implantação (Fig.1-B). Este é inserido de maneira a rodear a traqueia. O relato do uso do implante em
espiral em dois cães trouxe bons resultados clínicos4. Outra técnica é o uso de implante de stentstraqueais endoluminais (Fig.1-C). Esteé colocado sob observação direta, usando um broncoscópio pediátrico rígido e/ou fluoroscópio, o paciente é posicionado em decúbito lateral e o broncoscópio é inserido na traquéia até o nível da bifurcação, adjacente ao broncoscópio, o sistema de colocação do stenté então inserido. O broncoscópio é retraído lentamente quando os primeiros 1 a 2 cm do stentsão implantados, assegurando que a posição do stentna carina permaneça inalterada. Uma vez que o stenté totalmente implantado, o broncoscópio é retraído da e, subsequentemente, reinserido para verificar a colocação precisa do stente para garantir o contato circunferencial da mucosa com o stentem todo o seu comprimento. Em estudos estudo 10 de 12 cães (83%) que foram submetidos ao implante do stentdesenvolveram melhora à longo prazo da sua condição clínica4. Figura1: (A)trans-operatório após fixação extraluminaisdos
implantes em anéis protéticos na traqueia(B)trans-operatório após implantação da prótese em espiral de nitinol na
traquéia(C)Stentstraqueais.(D)Radiografia latero-lateralpós-implantação dosStentstraqueaisendoluminaisobserva-se a
restauração do diâmetro da traqueia
FONTE: Google.com
CONCLUSÃO
Conclui-se que as formas de tratamento para o colapso de traqueia podem ser tanto paliativas quanto cirúrgicas. Quando realizadas de forma cirúrgica é necessário escolher a opção que melhor se adequa ao paciente, pois todas as técnicas descritas têm comprovada eficiência. BIBLIOGRAFIA 1. Dos santos evangelho, Juliano et al. Colapso de traquéia em um cão. Acta ScientiaeVeterinariae, v. 32, n. 2, p. 149-152, 2004. 2. Kpires,Angústia respiratória aguda por colapso de traqueia: correção cirúrgica com colocação de stent–relato de caso. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária CRMV-SP v11,n.2,p.58-2013. 3. Sun, Fei et al. Endotracheal stenting therapy in dogs with tracheal collapse. The VeterinaryJournal, v. 175, n. 2, p. 186-193, 2008. 4. Cavalcante, Gabriela Galiza Medeiros. Abordagem cirúrgica do colapso traqueal: revisão de literatura. 2018.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
29
CRIPTORQUIDISMO EM EQUINOS
Ana Luiza Teixeira Ferreira1, Lucas Valadares Rodrigues1, Samuel Resende de Oliveira1, Gabriel Almeida Dutra²
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O criptorquidismo é uma das afecções testiculares congênitas mais comuns nos equinos. O termo criptorquidia tem origem no grego, “kriptos”, que significa escondido e, “orchis” que significa testículo, ou seja, a criptorquidia significa a ausência de um ou ambos os testículos no seu lugar habitual, a bolsa escrotal.5 De modo específico, consiste na falha da deiscência testicular normal de um ou ambos os testículos para o interior do escroto.2 A criptorquidia pode ser unilateral ou bilateral, sendo que a primeira é mais comum que a segunda.4 Considerando a retenção de apenas um dos testículos, especialmente em cavalos, é possível observar que os animais continuam indicando um temperamento similar ao garanhão hígido, já que o testículo retido ainda produz carga hormonal. A doença é diagnosticada baseando-se no histórico do animal, no exame clínico e em exames complementares.2 O objetivo deste estudo é elaborar uma revisão de literatura com os conceitos gerais relevantes sobre o tema e contribuir com a compreensão da etiologia desta patologia que ainda não foi completamente esclarecida. MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão bibliográfica com base em livros e artigos em plataformas de busca online, usando as palavras-chave: criptorquidismo, equinos, deiscência, testículo. REVISÃO DE LITERATURA
A descida testicular geralmente ocorre entre 30 dias antes e 10 dias após o nascimento do potro, ainda que possa acontecer até dois anos de idade. Durante a deiscência testicular, a gônada migra caudalmente dentro do abdômen para o anel inguinal interno, atravessa a parede abdominal e emerge no anel inguinal externo. O testículo completa a migração quando chega à bolsa testicular (escroto). Ocasionalmente, se isto não acontece, estes animais podem ser considerados criptorquídicos abdominal ou inguinal, de acordo com a localização anormal dos testículos.4 A etiologia do criptorquidismo permanece incompreendida, entretanto, presume-se base genética para o criptorquidismo em equinos. Algumas hipóteses de hereditariedade citadas na literatura veterinária incluem: padrão supostamente dominante e parece apresentar um caráter hereditário com transmissão autossômica recessiva ligada ao sexo.4 As causas anatômicas do criptorquidismo incluem: encurtamento dos vasos espermáticos, ducto deferente ou músculo cremáster, aderências peritoneais, anéis ou canais inguinais subdesenvolvidos e malformações escrotais.2 Equinos criptorquidas podem apresentar um ou ambos os testículos posicionados na cavidade abdominal ou em qualquer parte do trajeto da via de deiscência, sendo assim, o criptorquidismo pode ser classificado como: criptorquida abdominal total ou completo se ambos os testículos estão completamente contidos na cavidade abdominal; criptorquida abdominal parcial ou incompleto quando o testículo se localiza no abdômen e uma porção do epidídimo e o ducto deferente estão no canal inguinal; criptorquida inguinal quando o testículo está localizado no canal inguinal ou no subcutâneo, externamente ao canal inguinal superficial, e; ectópicos quando os testículos se encontram no tecido subcutâneo e não podem ser deslocados manualmente para o escroto.1
As gônadas de equinos criptorquidas bilaterais ficam sujeitas às torções testiculares e às altas temperaturas, o que desfavorece a espermatogênese tornando estes animais inférteis; Porém, os cavalos criptorquidas unilaterais apresentam as mesmas características de fertilidade de um garanhão. Estes animais geralmente são mais nervosos quando comparado aos garanhões saudáveis, tornando-se mais agressivos e com libido aumentado, devido a maior produção de hormônios masculinos no testículo retido.2 Um método de diagnóstico de fácil execução e eficaz para o criptorquidismo inguinal é a palpação externa buscando cicatrizes de castrações e a localização da gônada. Quando o testículo não é encontrado na região inguinal, pode ser feita a palpação retal com o objetivo de identificação da gônada e dos anéis inguinais. Contudo, tal exame fornece resultados incoerentes devido à mobilidade que o testículo retido apresenta. Em equinos com histórico desconhecido e com testículos não palpáveis no escroto, o método mais confiável é a dosagem hormonal de androgênios e estrogênios, onde se espera aumento sérico dos respectivos hormônios. Também podem ser utilizados o ultrassom e a laparoscopia. Recentemente foi descoberto que é possível realizar o diagnóstico de criptorquidismo por análise de urina ou dosagem do hormônio anti-mulleriano.2 O tratamento indicado em casos de criptorquidismo é o cirúrgico, por meio da criptorquidectomia, uma vez que animais criptorquídicos apresentam elevado risco de desenvolvimento de neoplasias.4 Equinos criptorquidas, mesmo unilateral, devem ser castrados e não devem ser utilizados para reprodução devido sua etiologia hereditária.3 CONCLUSÕES
No caso de criptorquidismo unilateral os equinos mantêm a mesma fertilidade de equinos sadios, já os animais criptorquidas bilaterais são inférteis, porém, considerando que a doença possui caráter hereditário, não é recomendado que estes animais se reproduzam e, por isso, equinos criptorquidas, ainda que unilaterais, devem ser castrados. BIBLIOGRAFIAS 1. SCHADE, Jackson. et al. Criptorquidismo em Cavalos – Revisão. Revista Acadêmica de Ciência Equina v. 01, n° 1, 2017. 2. PEDRO, Antônio Henrique L., et al. Criptorquidismo em equinos. Revista investigação. Franca. nº 15(1), p. 68-72, 2016. 3. DYCE, K.M.; SACK, W.O; WENSING, C.J.G. Anatomia Veterinária, 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p.139-140, 1997. 4. SILVA, Marcelo de Oliveira Caron., et al. Criptorquidismo em Equinos. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária. Ano IV, n. 8, 2007. 5. Lu KG (2005), “Clinical Diagnosis of the Cryptorchid Stallion”, Clinical Techniques in Equine Practice, 4, 250-256.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
30
CURA DE UMBIGO EM BEZERROS: EFICIÊNCIA NO MANEJO X ONFALOPATIAS
Gabriela Marianne Gonçalves Fernandes1*, Larissa Monik de Freitas Silva1*, Breno Mourão de Sousa², Prhiscylla Sadanã Pires².
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ²Professores do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A criação de bezerros é uma das etapas fundamentais em um sistema de produção, assim, é de vital importância que cresçam saudáveis e na ausência de patologias que impactem diretamente sob sua evolução perante o rebanho, garantindo resultados satisfatórios ao produtor, gerando lucro e perpetuando a produtividade do rebanho brasileiro. Estima-se que 75% das perdas até um ano de idade ocorram durante o período neonatal, sendo que mais da metade das mortes de bezerros neonatos ocorre no primeiro ou no segundo dia de vida¹. Dos problemas sanitários que afetam os bovinos jovens, as infecções de umbigo ocupam lugar de destaque, e são o alvo do presente estudo, pois as consequências trazidas por elas acarretam altas taxas de mortalidade em bezerros ou perda de aproximadamente 25% em seu desempenho produtivo quando comparados a outros animais com a mesma idade². MATERIAIS E MÉTODOS
Para execução do trabalho foi realizada revisão de literatura em artigos científicos buscados em plataformas digitais como Google Acadêmico e Scielo, leitura de cadernos técnicos e livros com referência ao manejo na primeira fase de vida e onfalopatias recorrentes aos bezerros leiteiros. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As onfalopatias podem chegar a 10% das causas de mortalidade em bezerros com até oito meses de vida, e relacionam-se direta ou indiretamente com fatores ambientais, de manejo, higiene e traumáticos, os quais isolados ou em conjunto desencadeiam quadros inflamatórios e infecciosos, comprometendo a saúde umbilical e sistêmica do neonato (figura 1)³. O processo inflamatório do umbigo pode ser classificado em quatro tipos, de acordo com a estrutura acometida, sendo onfalite, onfaloarterite, onfaloflebite e infecção do úraco (a qual pode desencadear cistite caso haja progressão bacteriana para a bexiga). As principais consequências do quadro inflamatório das estruturas umbilicais são as artrites e abscessos hepáticos, os quais podem prejudicar o crescimento e desenvolvimento dos bezerros, inviabilizando sua produtividade4. Estas podem se restringir a infecções locais ou causarem infecções graves em diversos órgãos do bezerro, podendo levar a morte por septicemia como mostrado na figura abaixo.
Figura 1– Principais vias de infecção decorrente de
patologias umbilicais.
A cura de umbigo proporciona a desidratação do coto umbilical com seus respectivos vasos e
úraco, impedindo a ascensão de patógenos pelo canal umbilical e consequentemente processos inflamatórios e infecciosos5. Diante dos impactos causados pela má cura do umbigo, é descrito por RIET6 os seguintes métodos de manejo nas primeiras horas após o nascimento: uso de desinfetantes como solução de iodo a 10% ou álcool iodado, de alto potencial antisséptico, desidratando o coto umbilical com repetições de no mínimo uma vez por dia, durante três a cinco dias consecutivos ou até que o cordão umbilical caia. O iodo deve ser aplicado sob a forma de imersão, para permitir a entrada da solução no coto umbilical, garantindo a atrofia das cavidades. Para o sucesso do processo de cura, é importante que as instalações da maternidade estejam as mais limpas possíveis a fim de evitar propagação de agentes e patógenos, pois, é importante ressaltar que a presença de matéria orgânica no umbigo diminui a ação do iodo, reduzindo
assim sua eficácia na desinfecção. Além da cura do umbigo,
é preciso incluir na rotina diária da fazenda o monitoramento da ocorrência de infecções, que pode ser realizado através da palpação das estruturas internas e externas, que, quando saudável, apresenta-se macio e flexível, sem incidências de aumento na espessura ou sensibilidade ao toque, e já na infecção, o umbigo pode estar com volume aumentado e firme, podendo manifestar dor, secreções umbilicais e febre.
CONCLUSÔES
Diante do presente estudo, tornou-se evidente a necessidade de se atentar aos cuidados com os bezerros logo ao nascimento, tendo em vista os prejuízos econômicos e produtivos decorrentes das onfalopatias, seja por complicações secundárias, gastos com medicamentos e assistência veterinária, déficit no crescimento e desenvolvimento dos bezerros e até mesmo o óbito nos quadros septicêmicos. Logo, a prevenção das onfalites deve ser baseada na manutenção da higiene das instalações da maternidade, na determinação do intervalo de tempo para a cura de umbigo e garantia da satisfatória cicatrização do coto umbilical integrado ao adequado direcionamento de mão de obra e manejo dos animais. Dessa forma, garante-se a eficácia na cicatrização do coto umbilical, resultando em bezerros com maior vigor para as fases subsequentes da cria destes animais. BIBLIOGRAFIAS 1. PRESTES, N.C., LANDIM-ALVARENGA, F.C. Obstetrícia Veterinária. Rio de Janeiro, Brasil: Guanabara Koogan, 2006. 2. COELHO, S. G. ; LIMA ; SILPER, B. F. ; FRANZONI, A. P. S. . Cuidados com vacas e bezerros ao parto. Leite DPA, Goiânia, p.16. ago. 2010. 3. BRAGA, J.T.; STURION, T.T.; FERREIRA, C.Y.M.R.; MOYA-ARAUJO, C.F. Onfaloflebite e Poliartrite em bezerros da raça Nelore – Relato de caso.Faculdades Integradas de Ourinhos-FIO/FEMM 4. RADOSTITS, O. M. et al. Clínica veterinária, 9.ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002, cap.3. 5. REIS, A. S.B.; PINHEIRO, C. P.; LOPES, C. T. A.; OLIVEIRA, C. M. C.; DUARTE, M. D.; BARBOSA, J. D. Onfalopatias em bezerros leiteiros no nordeste do estado do Pará.Ciência Animal Brasileira – Suplemento 1– Anais do VIII Congresso Brasileiro de Buiatria. 2009. 6 . RIET-CORREA, F.; SCHILD, A.L.; LEMOS, R.A.A.; MENDEZ, M.D.C.
Doenças de ruminantes e equídeos, p.327-329. 2006.
Infecção de umbigo
Artérias
Veia
Úraco
- Pneumonia - Artrite - Septicemia
- Diarreia - Abscessos no fígado - Septicemia
- Infecções na bexiga e rins
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
31
CYTAUXZOON FELIS
Isabela Assunção Martins1, Gabriela dos Reis de Lima1, Lorena de Souza Santos1, Claudio Roberto Scabelo Mattoso²
1Graduanda em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A Cytauxzoonose Felina é uma doença grave que acomete felinos domésticos e silvestres, sendo causada pelo hemoprotozoário Cytauxzoon felis, pertencente à ordem Piroplasmida, que possui duas famílias de importância, Babesiidae e Theileriidae.¹ A sua incidência é maior nos meses de verão, quando aumenta a população de carrapatos. Assim, gatos com acesso à rua e especialmente às áreas próximas de florestas têm maiores risco de entrarem em contato com vetores infectados e adquirirem a infecção. No Brasil, essa doença é raramente diagnosticada nos felinos domésticos e silvestres, e pouco se sabe sobre os possíveis reservatórios e espécies de carrapatos responsáveis por sua transmissão. A importância clínica e a prevalência do C. felis ainda estão em discussão. O presente trabalho tem por objetivo reunir informações e referências sobre a situação atual da Cytauxzoonose Felina no Brasil.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema na literatura disponível, através de consulta no Google acadêmico e Pub Med, reunindo dados sobre como se dá a Cytauxzoonose felina e sua atual situação no Brasil. REVISÃO DE LITERATURA
O gênero Cytauxzoon foi descrito pela primeira vez em 1948 e recebeu este nome para descrever pequenos corpos circulares regularmente distribuídos e que realizam esquizogonia no citoplasma de macrófagos¹. Os protozoários deste gênero apresentam duas fases: fase intraeritrocitária (piroplasma) e fase tecidual com grandes esquizontes parasitando macrófagos e monócitos. A transmissão ocorre pela picada do carrapato que se contamina ao ingerir o sangue de um felino infectado, e o transmite a outro saudável durante seu repasto. O Dermacentor variabilis (Acari:Ixodidae) é o vetor responsável por causar infecções por este agente.² O ciclo biológico de C. felis requer vetor artrópode, carrapatos da família Ixodidae (Dermacentor variabilis; Amblyoma americanum) como hospedeiro intermediário e felinos domésticos e silvestres como hospedeiro definitivo do parasito. No carrapato não ocorre transmissão transovariana, estando presentes as formas infectantes somente nas ninfas e adultos.³ O ciclo de vida do C. felis é apresentado esquematicamente na figura 1. Os sinais clínicos apresentados pelos animais infectados são sinalizados pela presença de hipertermia, depressão, anorexia, vômitos, mucosas pálidas, icterícia e hepatoesplenomegalia. Os sinais clínico-patológicos incluem anemia não regenerativa, leucopenia, trombocitopenia e hiperbilirrubinemia³. Por muitos anos esta patologia foi endêmica exclusivamente para a América do Norte, principalmente nos estados do sul, sudeste e médio-atlântico dos Estados Unidos, sendo relatada na América do Sul e no Brasil por volta de 2007. Outras espécies identificadas foram relatadas na África e em outras regiões geográficas³. O diagnóstico direto de citauxzoonose é baseado, na observação de formas intraeritrocíticas e/ou formas esquizogônicas teciduais, típicas do agente. Poucas drogas têm sido reveladas úteis no controle de teilerioses durante a
fase aguda da doença. Entre elas, as mais eficientes são a halofugisona, a parvaquone e a buparvaquone. O tratamento eficiente para a citauxzoonose ainda está por ser estabelecido. O uso de terapia de suporte com solução de Ringer lactato e analgésico, associada a diamidinas, parece mostrar melhor resultado¹. Figura 1: Ciclo de vida Cytauxzoon felis.
Fonte: TARIGO et. al. (2013) CONCLUSÕES
Com base no que foi apresentado conclui-se que animais mais susceptíveis a presença de ectoparasitas (carrapatos) serão os animais mais acometidos pela cytauxzoonose, e com isso o controle de ectoparasitas é fundamental para impedir a contaminação. Nota-se também uma deficiência de trabalhos e pesquisas sobre a Cytauxzoonose felina, apesar de já existirem relatos em diversos países. BIBLIOGRAFIAS 1. AMARAL, Alessandra Scofield .Caracterizações Morfológica, Morfométrica E Ultraestrutural De Formas Intraeritrocíticas De Cytauxzoon felis símile. Rio de Janeiro, 2002. 2. BATISTA, Liliane Maria do Rosário.Emprego De Reação De Polimerase Em Cadeia (PCR) Para Analisar A Presença De Cytauxzoon Felis Em Gatos Domésticos (FELIS CATUS) Residentes No Distrito Federal. Brasília, 2018. 3. PEREIRA, D.A. Prevalência de hemoparasitos em felinos domésticos da microrregião de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil e correlação com variáveis epidemiológicas. 2018. 81p. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. 4. TARIGO J.L. et al. A novel candidate vaccine for cytauxzoonosis inferred from comparative apicomplexan genomics. 2013.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
32
DERMATITE ATÓPICA CANINA: REVISÃO DE LITERATURA
Gabriela Fonseca Horta1, Breno Mourão de Sousa2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil *Autor para correspondência – [email protected]
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A dermatite atópica canina (DAC) é uma enfermidade de origem genética que acomete a pele dos cães. Caracteriza-se por uma reação alérgica a antígenos encontrados no ambiente, desencadeada pela formação de imunoglobulinas do tipo IgE. A DAC é a segunda dermatopatia mais presente em clínicas de pequenos animais, ficando atrás apenas da dermatite alérgica à picada de pulgas1. Os sinais clínicos mais comuns são: prurido intenso sem lesões, eritema, escoriações, automutilação e dermatites bacterianas ou fúngicas secundárias2. O diagnóstico da DAC é feito por meio do histórico do animal e observação dos sinais clínicos manifestados. Devem ser descartadas outras condições pruríticas que se assemelham à DAC2. A doença, na maioria das vezes, não possui cura, apenas tratamento, que, nesse caso, é vitalício11. Em geral, é baseado na associação de fármacos de uso tópico e sistêmico, visando reduzir os sinais clínicos com o mínimo de efeitos indesejados10.
O presente trabalho objetiva agregar informações a respeito da dermatite atópica canina, ou DAC, com a finalidade de facilitar o entendimento desta afecção, tornando, assim, mais rápido e eficiente seu diagnóstico e tratamento clínico.
MATERIAIS E MÉTODOS
O resumo foi elaborado através de revisão bibliográfica utilizando artigos científicos encontrados na plataforma de dados Google Acadêmico. As palavras-chave buscadas foram: dermatite atópica, cães e sistema tegumentar. REVISÃO DE LITERATURA
A DAC é caracterizada como uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, causada por antígenos denominados alérgenos ambientais. Estes alérgenos são: ácaro de poeira, pólen, esporos de bolor, sementes de gramíneas, debris da epiderme humana, insetos, penas, etc. Os cães com predisposição a esta afecção, absorvem por via percutânea, inalam ou ingerem os alérgenos, que acarretam a produção de imunoglobulinas do tipo IgE e IgG1. Acredita-se que há aumento na penetração dos antígenos devido a uma disfunção da barreira lipídica epidérmica11. Os sinais da DAC costumam aparecer antes dos 3 anos de idade. No geral, a afecção não possui predileção sexual6. Os sinais clínicos da DAC variam de acordo com fatores genéticos, extensão das lesões, estágio da doença e presença de infecções microbianas secundárias6. O principal sinal é o prurido, que faz o animal se coçar, lamber, mordiscar ou roçar as áreas afetadas. Além disso, podem surgir: anorexia, agressividade, eritema, alteração na pigmentação do pelo pela ação da saliva quando o animal se lambe, alopecia, escoriações, seborreia seca, colaretes, crostas e otite externa. A atopia crônica gera liquenificação e hiperpigmentação da pele, e o animal pode apresentar lesões e nódulos. Estes fatores associados à deficiência na barreira cutânea permitem infecções secundárias causadas por Malassezia e Staphylococcus, que acabam agravando o quadro clínico primário5. O diagnóstico deve ser obtido através da soma do histórico, sinais clínicos e exclusão de outras dermatopatias que mimetizam a DAC, através da realização de raspado cutâneo, uso de anti-histamínicos ou corticoides, exame citológico com amostras da superfície da pele e cultura bacteriana.11. Os critérios postulados por Favrot (2010) para o diagnóstico da DAC são: aparecimento dos sinais antes dos 3 anos de idade;
cão que vive maior parte do tempo dentro de casa; prurido responsivo à corticoterapia; prurido como primeiro sinal, e só depois lesões associadas; extremidades dos membros anteriores afetadas; pavilhões auriculares afetados; margens auriculares não afetadas; área dorso-lombar não afetada7. O teste intradérmico é o mais indicado para detectar alérgenos causadores de sinais clínicos em cães2. Em casos não possuintes de cura, o tratamento serve apenas para controle9, sendo feito através da identificação e exclusão de alérgenos, reforço da barreira cutânea, uso de anti-inflamatórios e antibiótico, imunoterapia, etc. A terapêutica pode ser dividida em tratamento etiológico e tratamento sintomático, sendo que, para a realização do tratamento etiológico deve-se identificar os antígenos que geram sensibilidade em cada animal e, se possível, erradicá-los ou minimizá-los. Os fármacos sistêmicos que podem ser utilizados no tratamento são: glicocorticoides orais, anti-histamínicos, antibióticos, ácidos graxos essenciais, antifúngicos orais, etc. Para o tratamento tópico pode-se usar glicocorticoides tópicos, antibioticoterapia tópica, antifúngicos tópicos, etc.7. CONCLUSÃO
O tratamento clínico é possível, desde que seja feita a eliminação de outras dermatopatias que mimetizam os sinais causados pela DAC, com consequente realização do teste intradérmico para detecção dos alérgenos causadores da doença. BIBLIOGRAFIAS 1. ALVES, Breno Henrique. Ocorrência de dermatite atópica em cães atendidos na Clínica de Medicina Veterinária (Climvet) do Centro Universitário de Formiga-UNIFOR-MG entre os anos de 2010 a 2015. 2016. 2. BOTONI, Larissa Silveira et al. Prevalência de reações positivas a alérgenos causadores de dermatite atópica em cães na região metropolitana de Belo Horizonte. MEDVEP Derm., p. 140-146, 2012. 3. DO AMARANTE, Cristina Fernandes; RAMADINHA, Regina Ruckert; PEREIRA, Maria Júlia Salim. Dermatite atópica: um estudo retrospectivo dos fatores associados em uma população canina dermopata. Brazilian Journal of Veterinary Medicine, v. 37, n. Supl. 1, p. 13-17, 2015. 4. FAVROT, Claude et al. A prospective study on the clinical features of chronic canine atopic dermatitis and its diagnosis. Veterinary dermatology, v. 21, n. 1, p. 23-31, 2010. 5. FONSECA, Júlia Rezende. Alternativas no tratamento de dermatite atópica canina: revisão de bibliografia. 2013. 6. MEDEIROS, Vítor Brasil. Dermatite atópica canina. Journal of Surgical and Clinical Research, v. 8, n. 1, p. 106-117, 2017. 7. NÓBREGA, Diana Rafaela Ferreira da. Abordagem proactiva à terapêutica da dermatite atópica canina. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Medicina Veterinária. 8. NONNEMACHER, Andressa Ribeiro; FRAZÃO, Cássia Souto. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E CONDUTA TERAPÊUTICA EM UM CANINO COM DERMATITE ATÓPICA CANINA–RELATO DE CASO. 9. OLIVRY, Thierry et al. Tratamento da dermatite atópica canina: guidelines de 2010 para a prática clínica do Grupo de Trabalho Internacional dedicado ao estudo da Dermatite. Dermatology, v. 21, p. 233-248, 2010. 10. SOUZA NETO, Adriano et al. Eficácia da ciclosporina no controle da dermatite atópica em cães. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 37, n. 7, p. 729-733, 2017. 11. ZANON, Jakeline Paola et al. Dermatite atópica canina. Semina: Ciências Agrárias, v. 29, n. 4, p. 905-919, 2008.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
33
DERMATITE DIGITAL BOVINA: AGENTE ETIOLÓGICO E PATOGÊNESE
Sérgio Henrique Andrade aos Santos1*, Gabriel Resende Souza¹, Larissa Chyara Macclawd Vieira¹, Mariana Perpétuo Dias¹,Thallyson Thalles Teodoro de Oliveira¹, Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira².
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
*Autor para correspondência: [email protected]
INTRODUÇÃO
A dermatite digital (DD) é uma das principais doenças do sistema locomotor de bovinos que levam os animais à claudicação e causam graves prejuízos econômicos¹. Bactérias do gênero Treponema e Dichelobacter nodosus são os principais agentes encontrados, mas, já foram relatados infecções por Fusobacterium necrophorum, Guggenheimella, Prevotella, Camplyobacter, Clostridium, Mycoplasma², outra fonte de infecção são os materiais usado para casqueamento¹. O presente trabalho tem como ideia central elucidar os principais agentes etiológicos da Dermatite Digital, seu mecanismo de ação e fontes de reservatório para que essa doença ocorra em rebanhos intensivos e extensivos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, buscando artigos e teses, correspondente aos anos de 2015 e 2018, com as palavras chave Dermatite Digital, bovino, casco.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A dermatite digital (DD) é uma patologia de sistema locomotor, que têm um grande impacto na bovinocultura, é uma inflamação superficial contagiosa da epiderme superficial próxima a margem coronariana no espaço interdigital, tanto do lado palmar quanto plantar podem ocorrer (figura 1)¹. Bactérias do gênero Treponema são os principais agentes envolvidos, pois se apresentam como as bactérias mais abundantes e também estão presentes nas partes mais profundas das lesões. Mais de 20 espécies diferentes de Treponema foram identificados em amostras de DD, sendo as espécies T. pedis, T. medium, T. phagedenis, T.refringens e T. denticula, A DD é uma doença polimicrobiana, cuja etiologia ainda não é totalmente elucidada².Os filotipos T. phagedenis e o T. pedis são de grande interesse, devido sua alta prevalência no ambiente e também nos casos de DD¹.
Figura 1: Fases da Dermatite Digital. A - Hiperplasia, B - Ulcerativa, C - Proliferativa
Fonte: Rogério C. Souza, Escola de Veterinária UFMG 2005
A transmissão da DD dentro dos rebanhos e entre rebanhos não é totalmente esclarecida, assim como sua patogênese. O local de predileção da DD ocorre, provavelmente, devido à conformação anatômica, a qual possibilita o acúmulo de sujidade, gerando um ambiente com menor tensão de oxigênio e, consequentemente, favorecendo o
desenvolvimento dos microrganismos envolvidos na etiopatogenia da DD.
Estudos demonstraram que a microbiota dominante das lesões de DD de bovinos que estão a pasto durante todo o ano também possui os Treponemas como a principal bactéria. Entre as outras bactérias presentes nas lesões, D. nodosus parece desempenhar, possivelmente com a Treponema, um papel importante no desenvolvimento e na expansão da lesão. D. nodosus produz proteases extracelulares que podem causar danos ao tecido e facilitar a penetração e colonização de bactérias do gênero Treponema.
Dessa forma, esses dois agentes podem agir sinergicamente, principalmente na fase inicial da doença³. Várias treponemas pôde ser isoladas da microbiota ruminal e intestinal de vacas, sendo possível estabelecer relação entre o aparecimento de DD² e sua principal fonte ser o líquido ruminal, fezes e cavidade oral³.
CONCLUSÕES
A Dermatite Digital Bovina demonstra grande impacto produtivo e sanitário na produção bovina. Suas rotas de infecção demonstra ser um desafio para ser elucidado, devido ser uma doença “polimicrobiana e multi treponemal”, porém, os estudos sugerem que a microbiota do trato gastrointestinal e a fazenda são os principais reservatórios de bactérias envolvidos na patogênese da DD³. Sendo que, a infecções por Dichelobacter nodosus e Treponema spp. são os principais agentes encontrados na etiopatogenia da doença.
BIBLIOGRAFIAS
1. DE ANDRADE, Leandro Silva. Dermatite digital bovina: etiologia, reservatórios e rotas de transmissão. 2017.
2. MOREIRA, Tiago Facury et al. Dermatite digital bovina: etiologia e rotas de transmissão. Revista Acadêmica Ciência Animal, v. 16, p. 1-11, 2018.
3. Souza, Rogério Carvalho. Enfermidades podais em vacas leiteiras: eficiência e custos de tratamento, efeitos na produção e reprodução,histopatologia e aspectos econômicos, 2015.
Apoio:
.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
34
DERMATITE PSICOGÊNICA EM FELINOS
Laura Ferreira Câmara1*, Estéfany Gabrielly Lima Mendes¹, Manuela Bamberg Andrade2, Gabriel Almeida Dutra3. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professora do Departamento de Medicina Veterinária – Newton Paiva - Belo Horizonte/ MG – Brasil 3Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte/ MG – Brasil
1* Autor para correspondência: [email protected]
INTRODUÇÃO
A dermatite psicogênica felina ou tricotilomania felina é uma inflamação crônica da pele de origem psicogênica causada pela higienização compulsiva da pele e pelos através da lambedura1. Sabe-se que os felinos são animais territoriais e o estresse oriundo de mudanças ambientais é capaz de desencadear uma ansiedade nervosa e reforçar esse comportamento de limpeza até culminar em automutilação2. Outros fatores ambientais, como a inserção de novos animais ou pessoas, internações prolongadas ou deslocamentos também podem desencadear a tricotilomania felina2. O objetivo dessa revisão de literatura é apresentar a dermatite psicogênica em felinos, suas possíveis causas, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamentos. MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou-se pesquisas nas plataformas digitais Google Acadêmico e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), entre os dias 3 a 10 de setembro de 2019 com as seguintes palavras chave: dermatite, psicogênica, felinos e tricotilomania felina. REVISÃO DE LITERATURA
A principal etiologia da dermatite psicogênica é a ansiedade nervosa causada por alterações no ambiente e estilo de vida do animal, como a introdução ou retirada de um animal filhote ou residente da casa, mudança de móveis, mudança do local das bandejas sanitárias e comedouro do animal, hospitalização, competição e invasão do seu território3. Além disso fatores de origem psicológica como solidão, hiperatividade, ansiedade por separação do tutor e a falta de atenção no ambiente domiciliar também podem desencadear a dermatite psicogênica2. O felino, ao se deparar com uma ameaça ao seu bem estar ou situações novas de desfecho desconhecido, experimenta uma série de respostas neuroendócrinas, que levam ao aumento do nível de vigilância e isto consequentemente, desencadeia alterações comportamentais4. Acredita-se que a exposição constante a agentes estressores, estimula o aumento do fator de liberação de corticotropina (CRF), do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e da cortisona que estimulam e liberam β-endorfinas4. Estas podem gerar o comportamento compulsivo de lambedura por estarem associadas aos seus efeitos narcóticos e de falsa sensação de conforto ao felino acometido5. A tricotilomania felina possui diversas manifestações clínicas, uma vez que as papilas filiformes queratinizadas presentes na língua podem causar ulceração, abrasão e infecções secundárias no local. Entretanto a manifestação mais comum consiste na lambedura repetitiva, com ou sem a mastigação e arrancamento dos pelos de uma determinada área2. O animal tende a mascar e lamber regiões de fácil acesso, como a face medial dos membros pélvicos, as regiões abdominal ventral e lombossacra dorsal, caracterizando assim a alopecia bilateral simétrica3 (figura 1). Eventualmente, pode haver atopia, hipersensibilidade alimentar, dermatofitose ou dermatite alérgica à picada de pulga concomitantemente a esse distúrbio psicológico, sendo necessário tratá-los antes de fechar o diagnóstico e/ou instaurar a prescrição para dermatite psicogênica. O diagnóstico é realizado de forma diferencial por exclusão dessas patologias associado ao histórico do paciente3.
Figura 1: Alopecia por lambedura excessiva em região abdominal ventral em felino adulto.
Fonte: Cedida por Manuela Bamberg.
O tratamento mais efetivo e de curta duração para a melhora do quadro de dermatite psicogênica em felinos é a remoção de todos os problemas que levaram ao desenvolvimento do
distúrbio2. Porém quando não se faz possível essa remoção,
alguns medicamentos podem ser utilizados para diminuir a ansiedade e a consequente lambedura compulsiva, a exemplo
a primidona1 e a fluoxetina5, além do uso de um colar de
contenção cervical para impedir a lambedura das áreas2.
CONCLUSÕES
Conclui-se que a dermatite psicogênica em felinos é um distúrbio comportamental oriundo do estresse por alterações ambientais e na rotina de vida do animal. Sua principal manifestação clínica é a alopecia por excesso de lambedura e o tratamento consiste em remover os agentes estressores e medicamentos ansiolíticos. BIBLIOGRAFIAS 1. Holzworth, J. Diseases of the cat: medicine and surgery. Philadelphia: Saunders, 1987. 2. Scoot, D.W.; Miller, W.H.; Griffin, C.E. Dermatologia de Pequenos Animais. 5ª Edição. Rio de Janeiro, Interlivros, 1996. (Cap.14; p.790-802).
3. Wilkinson, G.T.; Harvey, R.G. Atlas Colorido de Dermatologia dos Pequenos Animais. 2ª Edição. São Paulo, Manole, 1996. (Cap.16; p.255-258). 4. Margis, R.; Picon, P.; Cosner, A.F.; Silveira, R.O. Relações Entre Estressores, Estresse e Ansiedade. SciELO, 2003. 5.
Sousa, M.G.; Ferreira, L.S.;
Gerardi, D.G.; Costa, M.T. Uso da Fluoxetina no
Tratamento da Tricotilomania Felina.
Ciência Rural, Santa Maria, v.34, p.917-920, 2004.APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
35
DESEMPENHO DE PROGÊNIES F1 X RETRO CRUZADAS E NELORE
Rafael Monteiro dos Santos1*, Dayana Silva Araújo¹, Miguel Alonso de Gouvêa Valle².
1Graduando em Medicina Veterinária – PUC Minas – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – PUC Minas – Belo Horizonte – MG – Brasil
*Autor para correspondência: [email protected]
INTRODUÇÃO
A comparação da eficiência dos bezerros puros Nelore, ½ Nelore x ½ Angus (F1) e ³/4 Nelore x 1/4 Angus (Retrocruzados) é muito importante no cenário da pecuária de cria, onde os cruzamentos estão ganhando espaço nas propriedades. De acordo com um estudo¹, bezerros cruzados possuem desempenho superior aos puros. Sendo assim, esta revisão tem por objetivo avaliar os resultados presentes na literatura a respeito do desempenho dos três diferentes grupos genéticos anteriormente descritos e determinar qual a estratégia mais interessante para ser adotada em um sistema de cria.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho referido baseou-se por meio de revisão bibliográficas de seis artigos científicos compreendidos entre os anos 1992 à 2017. Ressalta-se que as palavras chaves para a busca da literatura consistiram em: bezerros, grupamento genético, peso de nascimento e desmame. REVISÃO DE LITERATURA
A caracterização da superioridade média dos filhos em relação à média dos pais, independentemente da causa, denomina-se heterose (vigor híbrido). Esta é observada no produto de acasalamentos entre linhagens consanguíneas, ou entre populações de raças puras, gerando desempenhos superiores à média das duas populações.² Ao se considerar um cruzamento, é perceptível que a heterose obtida de animais F1 origina-se por meio de combinações gênicas dos efeitos diretos dos progenitores. Já a heterose individual na geração F2 é reduzida, contudo, o efeito materno expresso nesse produto é superior, pois a progenitora é uma F1 que expressará sua heterose materna. Sendo assim, espera-se que filhos de vacas cruzadas consigam ter um desempenho na fase pré-desmama superior, tendo a produção de leite como um importante fator no crescimento e desenvolvimento do bezerro nesta fase, comparativamente à bezerros de mães puras.¹ Nesse aspecto, diversos estudos foram promovidos realizando a comparação entre o desempenho de produtos Nelore, F1 e Retrocruzamento gerando o animal F2. Segundo resultados avaliando peso à desmama aos 240 dias (PD240) e ganho médio diário do nascimento à desmama (GMD) dos agrupamentos genéticos Nelore, F1 ½ Nelore x ½ Aberdeen Angus e Retrocruzamento ¾ Nelore x ¼ Aberdeen Angus houve superioridade no animal Retrocruzado nas duas características analisadas, como observado na Tabela 1. Compactuando com este resultado, ao comparar animais nascidos nos mesmos grupamentos genéticos, observou-se que animais oriundos do Retrocruzamento utilizando matrizes F1 ½ Nelore x ½ Aberdeen Angus com um touro Nelore, obtiveram maiores pesos na desmama aos 205 dias.3 De acordo com o autor, isto é devido à maior habilidade materna que vacas ½ sangue Aberdeen Angus x ½ Nelore possuem, o que reafirma ainda mais o observado anteriormente.¹ O cruzamento para obtenção do F1 é uma boa ferramenta para se adotar em fazendas que preconizam baixo Peso ao Nascimento (PN), mas que buscam um maior GMD alcançando, inclusive, resultados semelhantes de Peso à Desmama (PD) de bezerros puros.4 Nesse aspecto, ao analisarem o PN e PD entre o produto de Nelore puro e ½ sangue Red Angus x ½ Nelore, observaram um PN de 28,5 ± 0,38 e 29,4 ± 0,46, respectivamente; enquanto que para PD,
141,3 ± 1,47 e 167,5 ± 1,72. Isto indica, portanto, a superioridade do produto F1 na desmama.5 Outros autores corroboram com o resultado, pois, ao compararem 18 machos Nelore e 18 machos ½ sangue Aberdeen Angus x ½ Nelore, observaram que o produto F1 apresentou um valor superior médio, comparativamente ao Nelore puro de: 3,28 kg para PN e 40,56 kg para PD.6
Tabela 1 - Médias (kg) para Peso Ajustado à Desmama
(PD240) e Ganho Médio Diário do Nascimento à Desmama (GMD) conforme o grupo genético do bezerro.
Grupo Genético PD 240 GMD
Nelore 172.18 ± 1.32 0,587 ± 0,005
½ Nelore x ½ Aberdeen Angus
179.61 ± 1.99 0,613 ± 0,008
¾ Nelore x Aberdeen Angus
188.73 ± 2.11 0,655 ± 0,009
Fonte: Adaptado de MUNIZ & QUEIROZ (1998).
CONCLUSÕES
Conclui-se por meio dessa revisão literária que os animais cruzados tendem a ter um desempenho superior aos animais puros, principalmente os retrocruzados. Portanto, em uma fazenda de cria, seria interessante a utilização dos cruzamentos, pois garantem um maior peso de desmame, refletindo um maior retorno financeiro ao criador. BIBLIOGRAFIAS 1. MUNIZ, Carolina Amália de Souza Dantas; QUEIROZ, Sandra Aidar de. Avaliação do Peso à Desmama e do Ganho Médio de Peso de Bezerros Cruzados, no Estado do Mato Grosso do Sul. R. Bras. Zootec.,Viçosa, v.27, n.3, p.504-512, Jan.1998. 2. PEREIRA, J.C.C. Melhoramento Genético Aplicado à Produção Animal. In J.C.C. PEREIRA: Introdução, Herança e Meio, Correlações Genéticas, Seleção e Auxílio à Seleção, Heterose e Cruzamentos e Melhoramento Genético das raças Zebu. 5 ed. Belo Horizonte: Editora FEPMVZ. cap. 1,6-7,9,13 e 14, p. 1-329, 2008. 3. ZAMBONI, Vinicius Tokunaga et al. DESEMPENHO DE NOVILHOS FILHOS DE VACAS NELORE E ANGUS X NELORE INSEMINADAS DE TOUROS NELORE OU ANGUS. Vet e Zootec. São Paulo, mar. 2010. 4. SANTOS, Rodolfo Miranda et al. Desempenho do nascimento até a desmama de bezerros de diferentes grupos genéticos. Anais do Congresso Brasileiro de Zootecnia. São Paulo, mai. 2017. 5. CUBAS, Antonio Carlos et al . Desempenho até a desmama de bezerros Nelore e cruzas com Nelore. Rev. Bras. Zootec., Viçosa , v. 30, n. 3, p.694-701, Jun. 2001. 6. DIAS, Lucas Lopes Rino et al. Ganho de peso e características de carcaça de bovinos Nelore e meio sangue Angus-Nelore em regime de suplementação a pasto. Arq. Ciênc. Vet. Zool. UNIPAR, Umuarama, v. 18, n. 3, p. 155-160, jul./set. 2015.
APOIO: Grupo de Estudos Pró Pasto PUC Minas
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
36
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE CETOSE EM BOVINOS
Ana Cristina da Silva1, Aléxia Pimenta B. Conselho1 , Luana Cristina O. Melo1 Claudio R. S. Mattoso2
1 Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A cetose é um transtorno comum nos rebanhos leiteiros. Essa patologia é definida como uma desordem do metabolismo de carboidratos e gorduras, sendo caracterizada pelo excesso de corpos cetônicos (acetona, acetoacetato, β-hidroxibutirato) no sangue. As fêmeas apresentam incidência maior de cetose
em comparação com os machos.1 Essa patologia ocorre
normalmente no período pós-parto, entre a segunda e nona semana, principalmente em vacas de alta produção, por distúrbios multifatoriais do metabolismo energético, sendo a principal causa um balanço energético negativo. Alguns autores estimam que a prevalência da cetose em bovinos
leiteiros pode estar entre 8 e 34%². A cetose pode ser
diagnosticada associando os sinais clínicos apresentados pelo animal em conjunto com os exames laboratoriais, que tem a capacidade de identificar precocemente essa patologia. O diagnóstico pode ser realizado através da concentração de β-hidroxibutirato no sangue e leite. Outro meio de identificação laboratorial de cetose bovina é através da utilização de fitas reagentes a corpos cetônicos na urina e leite². Por meio de aparelhos portáteis específicos é possível mensurar a concentração de corpos cetônicos no sangue venoso. O propósito deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre as diferentes formas de diagnóstico laboratorial para cetose em bovinos.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado através de revisão bibliográfica em artigos científicos. REVISÃO DE LITERATURA
A cetose em bovinos ocorre principalmente em vacas no período de pós-parto, devido ao balanço energético negativo. O pico de lactação, entre a quarta e sexta semana após o parto, antecede o máximo consumo de matéria seca, que ocorre próximo a 10° semana. Diante disso, a ingestão de energia não acompanha a demanda de produção de leite, ou seja, o animal apresenta uma necessidade de energia maior
que o consumo alimentar pode fornecer².Os primeiros sinais
clínicos apresentados pelos animais não são característicos. Os animais podem apresentar gradual queda no apetite e diminuição na produção de leite. Havendo evolução do caso clínico, os animais apresentam tremores musculares, convulsões, distúrbios visuais, ranger de dentes, decúbito,
coma e morte3.Para análise de cetose é essencial avaliar o
nível de glicose do animal, em bovinos adultos os índices normais de glicose estão entre 45 e 75 mg/dL. A cetose é determinada pela queda na concentração de glicose e
aumento excessivo dos corpos cetônicos no sangue.1 Devido ao balanço energético negativo, os níveis de glicose e insulina sanguíneos diminuem drasticamente.Como forma de atender a demanda energética há mobilização de tecido adiposo, aumentando os níveis séricos de ácidos graxos não-esterificados e produção de corpos cetônicos pelo fígado. Diante disso, a degradação de tecido adiposo associado ao catabolismo dos músculos esqueléticos tem a finalidade de
fornecer a glicose necessária para o animal.² O diagnóstico de cetose é realizado mediante a mensuração dos corpos cetônicos na urina, leite ou sangue. Além de ser essencial relacionar o resultado obtido ao histórico e sinais clínicos apresentado pelo animal. A acetona e acetoacetato são muito voláteis e por este motivo, os testes que demandam mais tempo devem ser específicos para β-hidroxibutirato. Os
testes rápidos são feitos a partir da urina e leite, sendo realizados ao lado da vaca. Esses testes são classificados como semi quantitativos, pois a concentração de corpos cetônicos é estimada pela cor sendo indispensável seguir as
instruções do fabricante 6 .
O diagnóstico através do leite é possível em razão dos corpos cetônicos serem solúveis no plasma e não necessitarem de proteínas transportadoras, e com isso chegarem à glândula mamária. Os tabletes contendo β-hidroxibutirato reagem com o leite alterando a coloração em concentrações acima de 1,0 mmol/L. Em quadros clínicos de cetonúria 40% do corpos cetônicos serão excretados pela urina. A mensuração desta substância é realizada com fitas reagentes a acetoacetato e
acetona.6. A mensuração de β-hidroxibutirato no sangue é predominante quando comparada aos outros corpos cetônicos presente no organismo do animal. No entanto, para a avaliação através desse método será necessário: estrutura laboratorial, cuidados com o manuseio da amostra, demanda logística e tempo para emissão de resultado. O custo e tempo impossibilita a execução a campo. Na literatura é possível encontrar diferentes valores de referências de concentração de β-hidroxibutirato para diagnóstico de cetose. Estes valores oscila entre 1,0 e 1,2 mmol/L Os aparelhos portáteis utilizam uma gota de sangue que em contato com uma tira reagente de beta cetona para mensuração de β-hidroxibutirato no
sangue.6 CONCLUSÕES
O aumento da demanda energética para sustentar a produção de leite, não acompanhada do aumento do consumo de matéria seca na mesma proporção induz o organismo do animal a realizar metabolização de tecido adiposo com a finalidade de obtenção de energia, ocorrendo então, o balanço energético negativo. Assim, a mobilização de gordura que excede a capacidade do organismo de metabolizar em energia será responsável pela acetonemia. Um adequado diagnóstico da cetose é crucial para o tratamento da doença, evitando evolução do caso clínico e minimizando prejuízos econômicos
BIBLIOGRAFIAS 1. CAMPOS, F ;Gonzalez,F;,COLBELLA A; LARCEDS,L.
Determinaçao de Corpos Cetônicos na Urina Como Ferramenta Para Diagnóstico Rápido de Cetose Subclínica Bovina e Relação Como a Composição do Leite. Archives of Veterinary Science v. 10, n. 2, p. 49-54, 2005 Printed in Brazil
2. BATISTA,Flávio Carmo. Cetose Bovina: Revisão de Literatura,2015- Nucleus Animalium, v.8, n.1. Fundação Educacional de Ituverava
3- Santos, T.A.B. e Nantes, J.H. Cetose metabólica. PUBVET, V.2, N.23, Artigo 252, Junho.2, 2008
4. .Gonçalves,Rodrigo;Relatório de Caso Clínico-Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias -Universidade Federal do Rio Grande do Sul.2017.Disponivelem.<ufrgs.br/lacvet/site/wp-content/uploads/2017/06/cc_spccetose.pdf>
5. VAM,ERIC Cleef.Distúrbios Metabólicos por Manejo Alimentar Inadequado em Ruminantes- Novos Conceitos Rev.Colombiana Cienc.Anim.1(2).2009.
6 .ALVARENGA,Emersom Gonçalves.Perfil Metabólico de Vacas Da Raça Holandesa Durante o Período de Transição Locais De Colheita e Métodos De Analise De Beta Hidroxibutirato Diseertação de Mestrado Escola de Veterinária da UFMG 2013
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
37
DIETA ANIÔNICA NA PREVENÇÃO DA HIPOCALCEMIA EM VACAS LEITEIRAS
Bruna Rodrigues de Almeida1, Kamila Ferreira1, Breno Mourão de Sousa2. 1Graduandas em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/MG – Brasil – Contato: [email protected] e [email protected]
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
As dietas aniônicas têm sido aplicadas com o intuito de aumentar a produção de leite em condições particulares e de prevenir alterações metabólicas, principalmente às relacionadas ao cálcio, durante o período de transição das vacas, ou seja, 21 dias antes e 21 dias após o parto.3
Assim, a hipocalcemia, que é a redução sérica do cálcio (Ca), é de grande importância na pecuária leiteira. É a doença metabólico-nutricional mais comum entre vacas leiteiras e a maior causadora de danos e prejuízos devido à falta de diagnóstico e tratamento adequado.2
Portanto, o objetivo desse trabalho é evidenciar e discutir os efeitos da dieta aniônica no pré-parto (ultimas três semanas da gestação) das vacas leiteiras.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho constitui-se de uma revisão de literatura para qual foram selecionados artigos no banco de dados do Google Acadêmico. As palavras chaves utilizadas foram: dieta aniônica, hipocalcemia, vacas leiteiras, pré-parto.
REVISÃO DE LITERATURA
A hipocalcemia é uma das doenças que mais ocorrem durante o período de transição, que compreende o final da gestação, a parição e o início da lactação. Esta alteração está relacionada a queda na concentração de cálcio no sangue devido à alta demanda deste elemento pela glândula mamária e mecanismos fisiológicos do parto.4
Assim sendo, as mudanças de estado fisiológico da vaca leiteira ocorrem em um período de tempo muito curto, insuficiente para que o animal consiga ativar os mecanismos existentes para a manutenção de níveis normais do elemento no sangue.3
A doença apresenta incidência anual nos rebanhos brasileiros de 3 a 15% na forma clínica e 50% na forma subclínica.2 Ademais, predispõe outras desordens metabólicas como a mastite, metrite, prolapso uterino, cetose e a retenção de placenta, pois o cálcio atua na contração muscular.1
As alterações associadas à hipocalcemia acarretam redução na produção de leite e, consequentemente, perdas econômicas (Tabela 1).
Tabela 1. Estimativas de perdas na produção de leite devido aos principais distúrbios metabólicos do peri-parto.
Incidência média de
doenças no peri-parto de vacas
leiteiras
Redução da produção de
leite (%)
Redução em L nos 30 primeiros dias de lactação
Perdas econômicas (R$0,30/L)
Febre do leite (3%) 4,7 276 82,80 Deslocamento de
abomaso (3%) 16,0 470 141,00
Retenção de placenta (8%)
1,1 321 96,30
Cetose (5%) 7,6 371 111,30 Metrite (8%) 3,8 298 86,40
SCHAFHÄUSER, 2006
Por tanto, a dieta aniônica se torna importante no pré-parto porque ativa mecanismos capazes de aumentar o Ca no sangue, sendo que o que a caracteriza é a maior concentração de ânions em relação a concentração de cátions.4
Os cátions e ânions são os eletrólitos da dieta. Cátions possuem carga positiva e ânions têm carga negativa, sendo
que (Cl-), enxofre (S-2 e SO4-2) e fósforo (HPO4
-2) são exemplos desses, já o sódio (Na+), potássio (K+), cálcio Ca++) e magnésio (Mg++) representam aqueles.1
O fornecimento de uma dieta aniônica torna o pH do sangue mais ácido. Essa acidez estimula a ação do paratormônio e vitamina D que causam a mobilização do cálcio dos ossos para o sangue, aumentando também a absorção intestinal e reduzindo a excreção urinária de Ca.3
A diferença em miliequivalente entre os principais cátios e ânions da dieta (DCAD). Quando positivo, a dieta é considerada mais catiônica e quando negativo, é considerada mais aniônica.1 A dieta aniônica ideal tem DCAD entre –10 e –20 meq/100 g de MS (matéria seca).1
Assim, dietas
aniônicas reduzem a incidência de hipocalcemia e as catiônicas aumentam (Tabela 2).
Tabela 2. Efeito da DCAD na incidência da hipocalcemia pós-parto.
Autor DCAD (meq/100g de MS)
Número de Animais
Hipocalcemia (%)
Dishington (1975)
-11,90 -2,20
+34,60
6 6
14
17 0 86
Block (1984) -12,90 +33,10
19 19
0 48
Oetzel et al. (1988)
-7,50 +18,90
24 24
4 17
Gaybir et al. (1989)
+22,0 +60,0 +126,0
5 6 6
0 33 17
Beede (1992)
-25,0 +5,0
260 250
4 9
Adaptada de VALENTINE, 2009
Por fim, para que os mecanismos de manutenção da calcemia estejam ativos ao parto, recomenda-se o uso de dietas aniônicas por um período mínimo de 10 dias antes do parto.3
CONCLUSÃO
A utilização de dietas aniônicas para vacas no pré-parto reduz a incidência de distúrbios metabólicos e eleva a eficiência produtiva e reprodutiva de sistemas de produção de leite. Isso porque, o manejo nutricional inadequado no pré-parto é a causa primária da hipocalcemia e de problemas como, por exemplo, a retenção de placenta.
BIBLIOGRAFIAS
1. CAVALIERI, Fabio Luiz Bim; SANTOS, Geraldo Tadeu dos. Balanço catiônico-aniônico em vacas leiteiras no pré-parto. 2001. Disponível em: <http://www.nupel.uem.br/balanco.pdf>. Acesso em: 11 de abr. 2020.
2. GREGHI, Gisele F. et al. Suplemento mineral aniônico para vacas no periparto: parâmetros sanguíneos, urinários e incidência de patologias de importância na bovinocultura leiteira. Pesquisa Veterinária Brasileira, [s.l.], v. 34, n. 4, p. 337-342, abr. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/pvb/v34n4/07.pdf>. Acesso em: 11 de abr. 2020.
3. SCHAFHÄUSER JUNIOR, Jorge. Balanço de cátions e ânions em dietas para vacas leiteiras no período de transição. FZVA, Uruguaiana, v. 1, n. 13, p.
112-127, 2006. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fzva/article/view/2345/0>. Acesso em: 11 de abr. 2020.
4. VALENTINI, Paulo Vitor. Dietas Aniônicas Para Vacas no Pré Parto. Revista Eletrônica, Belo Horizonte, v. 5, n. 6, p. 1088-1097, out. 2009. Disponível em: < https://www.nutritime.com.br/arquivos_internos/artigos/099V6N5P1088_1097SET2009_.pdf>. Acesso em: 11 de abr. 2020.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
38
DISPLASIA COXOFEMORAL BILATERAL EM CÃO DA RAÇA LABRADOR
Franciely do Carmo1*, Bárbara Luiza1, Jussara Silva1, Bruno Divino2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
*E-mail:[email protected] 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO__________________________________ A displasia coxofemoral (DCF) é uma doença degenerativa que afeta a cabeça do fêmur e o acetábulo, sendo de origem multifatorial1. Todas as raças podem ser acometidas, porém é uma doença comum em raças de porte grande e sua prevalência em algumas raças é acima de 70%. Os sinais clínicos dependem do grau de evolução da doença, o mais demonstrado é dor, claudicação unilateral ou bilateral progressiva e crônica, marcha rígida, atrofia muscular, dorso arqueado, peso corporal deslocado em direção aos membros anteriores, com rotação lateral desses membros, andar bamboleante e relutância durante a realização de exercícios constantes2. Para o diagnóstico desta afecção deve-se agregar uma série de dados e informações como o histórico do animal, sinais clínicos observados durante o exame físico e exame radiográfico da pelve obtido na incidência ventro dorsal3. O presente trabalho tem como objetivo descrever, a displasia coxofemoral de um cão da raça labrador, envolvendo os principais meios de diagnósticos e o tratamento utilizado. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Um cão da raça Labrador Retriever, com quatro anos de idade, pesando 26 kg, apresentando um quadro de claudicação intensa dos membros posteriores, foi atendido em uma clínica veterinária. Durante a anamnese a tutora relatou que o animal reside em casa com quintal cimentado, mas frequentava o interior da casa que possui piso liso. O animal não tinha hábitos de passeios frequentes, não havia sofrido nenhum trauma recente e apresentava dificuldade ao se levantar. A médica veterinária examinou o paciente e através do quadro clínico e devido a predisposição de doenças articulares, indicou a realização de exame radiográfico e uma nova consulta com um especialista na área de ortopedia. Foi realizado o “raio x” dos membros posteriores com posicionamento em projeção ventrodorsal com foco na avaliação da pelve e membros posteriores. Foi observado acetábulo esquerdo e direito com arrasamento; aumento da densidade do osso subcondral (esclerose); presença de osteófito e cabeça femoral esquerda e direita apresentando subluxação em relação ao acetábulo com remodelamento ósseo, podendo ser visto na figura14. Na figura 24 observa o membro esquerdo do animal em projeção mediolateral, sem alterações significativas. O animal foi em um médico veterinário ortopedista, onde foi feito o exame físico com os movimentos de abdução, adução, flexão, extensão e rotação de todos os membros, evidenciando a presença de dor intensa e crepitação dos membros posteriores. Após a análise do laudo e do “raio x”, o médico veterinário ortopedista obteve diagnóstico confirmativo de displasia coxofemoral bilateral. Após analisar o caso do paciente foi receitado Condroton (condroitina e glucosamina) de 100mg e condroprotetor, um comprimido via oral a cada 24hrs, por 60 dias e Carproflan de 100mg um comprimido por via oral, a cada 12 horas, por 6 dias. Foi indicado uma dieta com baixo teor em proteína e outra opção de tratamento indicado foi o procedimento cirúrgico.
Figura 1: Exame radiográfico em projeção ventrodorsal Foto: Arquivo pessoal
Figura 2: Exame radiográfico em projeção mediolateral Foto: Arquivo pessoal
CONCLUSÕES
A displasia coxofemoral vem sendo uma patologia muito recorrente na clínica veterinária. O protocolo de tratamento deve ser baseado no grau da doença, quadro clínico do paciente, idade e imagem radiográfica. Diante do relato de caso, o cão foi medicado como prescrito na receita, teve uma melhora no quadro clínico parando de claudicar, sendo que uma avaliação bem feita é indispensável para um preciso diagnóstico e para qualidade de vida do animal.
BIBLIOGRAFIAS 1. VIEIRA, G. et al. Associação entre o ângulo de Norberg, o percentual
de cobertura da cabeça femoral, o índice cortical e o ângulo de inclinação em cães com displasia coxofemoral. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. Belo Horizonte, v.62, n.5, p.1094-1101, 2010.
2. ROCHA, F. et al. Displasia coxofemoral em cães. Revista científica eletrônica de medicina veterinária de Garça. São Paulo,jul. 2008.
3. TUDURY E.A. et al. 2004. Frequência de extrusões de núcleos pulposos cervicais e toracolombares, em cadáveres caninos submetidos á técnica de fenestração. Ciência Rural. 34(4): 1113-1118.
4. PINTO, A. DUE - Diagnóstico por imagem. 16/01/2017.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
39
DISPLASIA COXOFEMORAL EM CÃES
Pedro Henrique de Paula Sá1*, Bruna Caroline Pereira Santos 1, Laura Araújo Fortes Ribeiro1, Gabriela Mazini Carvalho1, Isabela Christine Cruz Mendes1, Breno de Souza Mourão2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A displasia coxofemoral (DCF) é uma má formação nas articulações que afeta a zona de encaixe da cabeça do fêmur com a fossa do acetábulo. Geralmente há animais com predisposição genética a ter DCF, nascem com articulações normais e o desenvolvimento da anomalia acontece no decorrer do crescimento do cão2. A DCF pode afetar muitas raças caninas, porém é mais comum em cães de grande porte, e de crescimento rápido, tais como Pastor-Alemão, Rotweiller, Labrador e São Bernardo1. A transmissão dessa patologia é hereditária, existem alguns coeficientes que favorecem o aparecimento da DCF como o ambiente em que o cão vive possuir um piso escorregadio, nutricionais hormonais, entre outros2. O grau de displasia varia de alterações ósseas até o desgaste total da articulação3. Os sinais clínicos são dorso arqueado, andar bamboleante e claudicação uni ou bilateral. O diagnóstico da DCF é realizado através do exame radiográfico. O objetivo desta revisão de literatura é apresentar a DCF os métodos disponíveis para o diagnóstico dessa patologia e possíveis medidas as serem tomadas quanto ao tratamento seja ele cirúrgico ou não.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido através de revisões de artigos relacionados a displasia coxofemoral, apontando pontos mais relevantes sobre a patologia em questão. A base de dados de artigos científicos utilizadas foram Google Academics e SciELO. REVISÃO DE LITERATURA
O diagnóstico presuntivo da DCF é baseado no histórico, sinais clínicos e exame físico, sendo o diagnóstico definitivo feito por exame radiográfico. Para confirmar o diagnóstico é necessário exame radiográfico na incidência ventrodorsal, obtido com o cão bem posicionado, para que cabeça e colo femorais fiquem visíveis além do bordo acetabular. Para o diagnóstico um dos métodos usados é o Ângulo de Norberg (Fig. 1). O valor dessa angulação determina o grau da DCF em Normal, Suspeita, Média e Grave2. A probabilidade de se fazer um diagnóstico incorreto é grande em cães jovens, especialmente antes do fechamento das placas epifisárias, uma que alterações radiográficas são mais visíveis em cães adultos1.A frouxidão da articulação pode ser detectada ser detectada pelo sinal de Ortolani e método de Bardens, observada radiograficamente ou investigada sonograficamente. Crepitação, sensibilidade e amplitude de movimentação restrita da articulação também podem ser observadas durante o teste ortopédico de Ortolani. O tratamento clínico da DCF é baseado na utilização de analgésicos, anti-inflamatórios, controle do peso do cão através de uma dieta saudável e balanceada, fisioterapia (natação e caminhada), não deixar que o cão ande em superfícies lisas e a acupuntura2. No tratamento cirúrgico, para casos mais graves, a técnica mais usada é a implantação de uma prótese completa do quadril, sendo indicado apenas em cães com mais de dois anos de vida, pois os ossos necessitam estar bem formados para suportarem os implantes. Não apenas com o objetivo de minimizar a dor, mas também devolver para a região articular sua funcionalidade e corrigir os erros genéticos3. Outras técnicas
cirúrgicas usadas são a osteotomia tripla que pode ser realizada em cães de ate 12 meses de vida, a cirurgia poderá ser feita desde que o cão não tenha artrite; dartroplastia, procedimento em cães jovens que não tem as condições necessárias para osteotomia tripla ou prótese total da anca; osteotomia da cabeça do fêmur, técnica usada de último recurso devido a agressividade do procedimento; colocefalectomia é um procedimento ortopédico que consiste na extirpação da cabeça do fêmur, realizando uma secção na região do colo femoral1.
Figura1: Radiografia da pelve de um Golden Retriever com DCF severa no lado esquerdo da articulação onde o ângulo de Norberg é de 87 graus. No lado direito o ângulo é de 98 graus. CONCLUSÕES
A DCF é uma patologia em que cães de porte grande são afetados, o diagnóstico mais preciso é feito pelo exame radiográfico, existem vários fatores que favorecem o aparecimento da DCF são eles pisos escorregadios, exercícios demasiados, obesidade canina, entre outros. É muito importante um diagnóstico o mais cedo possível, com isso e necessário que sempre leve o cão ao veterinário para uma qualidade de vida melhor. BIBLIOGRAFIAS 1. Rocha Fábio P C da Silva, et.al. Displasia coxofemoral em cães. Rev cien eletrônica de med vet, 2008, Jul, ISSN:1679-7353. 2. Alberti Ariane, et.al. A importância do raios x para o diagnóstico de displasia coxofemoral. XV Jornada científica dos campos gerais, 2017, Nov. 3. OLIVEIRA, Michel Gonçalves. Estudo Retrospectivo de Displasia Coxofemoral em cães, no Hospital Veterinário UFCG/Campus Patos-PB no período de 2006 a 2016. Patos, UFCG. 2018. (Trabalho de conclusão de curso de Medicina Veterinária, Clinica e ortopedia de pequenos animais). 4. ANDERSON, A. Treatment of hip dysplasia. Journal of Small Animal Practice, v. 52, n.1, p.182-189, 2011. 5. Demeulemeester Stéphanie Christine. Displasia coxofemoral em cães e gatos: Análise das alterações radiográficas mais frequentes. Monografia apresentada a faculdade Veterinária de Porto Alegre, 2016, segundo semestre.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
40
DNA MITOCONDRIAL SOLUCIONANDO CRIMES CONTRA A FAUNA SILVESTRE
Luisa Andrade Azevedo¹*, Angélica Maria Araújo e Souza¹, Pedro Henrique Cotrin Rodrigues¹, Helen Christine Alves de Magalhães Oliveira², Aldair Junio Woyames Pinto³
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ²Médica Veterinária residente em Saúde Pública com Ênfase em Interface Saúde Humana e Silvestre – UFMG – Belo Horizonte/ MG – Brasil
³Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil *Contato: [email protected]
INTRODUÇÃO
A caça e comercialização ilegal de animais silvestres é uma ameaça às espécies nativas brasileiras, colocando em risco a biodiversidade e alterando ecossistemas, já que os animais passam a ser colocados em outros habitats e geram desequilíbrio na fauna. Assim, a tecnologia da biologia molecular tem sido empregada dentro da medicina veterinária forense para constatação e esclarecimentos de crimes ambientais. A identificação das espécies, através da genética, desempenha um papel fundamental na investigação do comércio ilegal de espécies silvestres, protegidas ou ameaçadas de extinção.1 Por isso, pesquisadores estão cada vez mais desenvolvendo estratégias de codificação de DNA, envolvendo sequenciamento de códigos de barras e de marcadores moleculares (gene COI e cyt b) para a detecção simultânea de espécies, com intuito de identificar espécies.1
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi baseado em dados científicos pesquisados por meio das plataformas “Google Scholar” e “Scielo” utilizando as palavras de composição do título como palavras-chave. Foram selecionados artigos com autores distintos, em anos distintos. REVISÃO DE LITERATURA
O exame genético tem como intuito de sequenciar, através de análises filogenéticas, a amostra de dados de DNA de diversas espécies para futuras comparações em casos de denúncias.2 O fragmento, quando encontrado pelos órgãos de fiscalização ambiental no local do crime, é encaminhado ao laboratório forense autenticado3 com a intenção de gerar documentos que ajudem, principalmente, a resolução de dúvidas taxonômicas, determinação do sexo de indivíduos, diminuição de perda da diversidade genética, determinação de graus de parentesco, definição de rotas de tráfico e definição de táticas de recuperação de espécies e/ou populações.3 Dentro do cenário criminal, o DNA mitocondrial vem ganhando maior espaço por apresentar maior resistência à degradação devido à sua natureza circular e seu elevado número de cópias, o que é preponderante visto que a disponibilidade de vestígios geralmente é pequena. As técnicas de identificação baseadas no DNA mitocondrial podem se valer de primers universais para amplificação da mesma região informativa em diversos grupos animais, permitindo a realização de exames sem conhecimento prévio do material analisado.4 Diversas regiões do DNA mitocondrial podem ser utilizadas na identificação de espécies animais, entre elas, o gene citocromo b (cytb),5,6 que tem sido uma escolha tradicional para este fim há bastante tempo. Na literatura, podem ser encontrados inúmeros exemplos do uso desta região na identificação de vertebrados para fins forenses incluindo mamíferos, répteis, peixes e aves, inclusive seus ovos.7 O gene cytb e o gene COI são ferramentas para identificação de espécies. O cytb codifica a enzima pertencente à família de genes da cadeia respiratória mitocondrial e compõe um grupo de proteínas denominados de complexo III. Na mitocôndria, o complexo III atua na fosforilação oxidativa para a produção ATP celular. Enquanto o gene COI codifica a subunidade I a citocromo oxidase, esta consiste de um catalisador terminal da cadeia respiratória
mitocondrial, assim como o gene cytb.1 Uma vez que tais genes façam parte de uma cadeia com alto grau de complexidade, qualquer alteração na estrutura das proteínas tende a ser um fator deletério para o organismo. Dessa forma, a pressão seletiva consiste em uma vantagem para que os mesmos possam ser usados como marcadores táxon-específico, pois são mantidos conservados.3 Na rotina forense, a metodologia utilizada para análise de DNA mitocondrial é consiste na extração do DNA e amplificação via PCR (reação em cadeia da polimerase) seguida de sequenciamento e eletroforese, sendo a técnica de sequenciamento de Sanger a mais utilizada.3 Os tipos de amostras que podem ser utilizadas no sequenciamento são pelos, ossos, dentes e fluidos corporais (saliva e sangue sendo os mais comuns). A preservação ou não das amostras, bem como idade e estado delas, são fatores que interferem na hora de escolher o método de sequenciamento a ser utilizado. Por exemplo, caso a amostra de pelo não tenha o bulbo capilar preservado, é recomendado o uso preferencial de vestígios de natureza óssea, considerando que os dois estejam disponíveis. 3,6,8,9 CONCLUSÕES
O sequenciamento de DNA está ficando mais rápido e mais barato, permitindo o sequenciamento tanto do genoma mitocondrial, quanto do nuclear.6 Isso acaba sendo benéfico quando pensamos na perspectiva futura do uso de DNA na identificação de crimes contra a fauna silvestre. Além disso, o desenvolvimento tecnológico tem avançado rapidamente nos últimos anos, diminuindo ainda mais o custo que envolve o sequenciamento de DNA. Isso pode levar a uma maior quantidade de dados para diferentes espécies, bem como a vários membros da mesma espécie utilizando uma única gota de sangue, fragmento de unha e até mesmo através de um único fio de cabelo achado na cena do crime. BIBLIOGRAFIAS 1. GARRIDO, Rodrigo G.; RODRIGUES, Eduardo L. Contribuições da biologia molecular para a proteção animal e a investigação dos crimes contra a fauna. Revista Semioses, V11, n.04, 2017. 2. ALACS, E. A., A. GEORGES, N. N. FITZSIMMONS & J. Robertson. DNA detective: a review of molecular approaches to wildlife forensics. Forensics Science, Medicine, and Pathology 6: 180-194, 2009. 3. BUTLER, J.M. Mitochondrial DNA analysis In Forensic DNA typing: biology, technology, and genetics of STR markers. 2ed. Elsevier, 2010, Capítulo 10, p.376-389. 4.CARVALHO, Carlos B. V. de. Identificação genética de aves vítimas do tráfico de animais silvestres. Atualidades Ornitológicas On-line Nº 165, 2012. 5. PARSON, W., K. PEGORARO, H. Niederstätter, M. Föger & M. Steinlecker. Species identification by means of the cytochrome b gene. International Journal of Legal Medicine 114: 23-28, 2000. 6. LINACRE, Adrian. International Forensic Science and Investigation Series: Forensic Science in Wildlife Investigations. Boca Raton, Taylor & Francis Group, LLC, 2009. 7. CARVALHO, Carlos B. V. de. Identificação genética de aves vítimas do tráfico de animais silvestres. Atualidades Ornitológicas On-line Nº 165, 2012. 8. MELTON, T. et al. Forensic mitochondrial DNA analysis of 691 casework hairs. J. Forensic Sci., v.50, p.1-8, 2005. 9. SILVA, L.A.F; PASSOS, N.S. DNA forense: Coleta de amostras biológicas em locais de crime para estudo do DNA. 2.ed. Maceió: Editora da Universidade Federal de Alagoas, 2006.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
41
EFEITO DO USO DE ANTICONCEPCIONAIS EM CADELAS E GATAS
Corinne Gonçalves Sette¹*, Sara Jéssica de Araújo Oliveira¹, Fernanda Mara Santos Firmino¹, Laís Barbosa Figueiredo¹, Gabriel Almeida Dutra².
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
*Autor para correspondência - e-mail: [email protected]
INTRODUÇÃO
Sabe-se que a relação simbiótica entre homem e animais de companhia ocasionou uma expansão populacional das espécies caninas e felinas acarretando problemas de bem-estar animal e riscos à saúde humana¹. Para realizar o controle populacional dessas espécies são necessários métodos contraceptivos para contenção de natalidade exacerbada³. O método contraceptivo mais eficaz para animais de pequeno porte é a ovariosalpingohisterectomia (OSH), método cirúrgico mais seguro para impedir a reprodução. Porém, existem outros métodos para controle de população, como a utilização indevida de fármacos contraceptivos. Este é uma opção para o tutor, pois é um medicamento de baixo custo, vendidos sem restrição veterinária. Esses fármacos ocasionam efeitos colaterais, como alterações e infecções uterinas, resultando em alterações patológicas endometriais¹.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema nos artigos de revista cientifica, reunindo e comparando os diferentes dados encontrados nas fontes de consulta. REVISÃO DE LITERATURA
A fisiologia reprodutiva das fêmeas abrange o efeito integrado dos hormônios sobre o ovário, útero e glândula mamária¹. Nas gatas e cadelas, a progesterona é o hormônio responsável pela inibição do estrógeno (hormônio responsável pelo estro) que consequentemente inibe os efeitos do cio². Foram criados fármacos anticoncepcionais derivados de progesterona, os progestágenos, que suprimem ou inibem o cio e atuam sinergicamente no desenvolvimento das glândulas mamárias³. Além desses efeitos, os fármacos contraceptivos possuem efeitos secundários como demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 1: Efeitos colaterais secundários dos fármacos contraceptivos e suas complicações patológicas.
Efeito Colateral Complicação Patológica
Inibição da Imunidade Uterina
Piometra: processo inflamatório do útero, caracterizado pelo acúmulo de secreção purulenta no lúmen uterino.
Proliferação das Glândulas Endometriais
Hiperplasia Endometrial Cística: alteração endometrial do útero a exposição prolongada de progesterona.
Hiperplasia das Glândulas Mamárias
Neoplasia Mamária: Lesão constituída por proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma nas glândulas mamárias.
Complicações na Gestação Aborto, maceração fetal, atraso no parto, distocia e retenção de feto.
Fonte: Adaptado de Uso de fármacos contraceptivos e seus efeitos adversos em pequenos animais. UNIVERSIDADE DE
FRANCA – SP
Apesar dos progestágenos proporcionarem contracepção reversível, grande parte das lesões ocasionadas podem causar infertilidade ou o óbito dos animais4. Por esse motivo, o uso de anticoncepcionais derivados de progesterona é contraindicado em cadelas e gatas, tendo como opção mais segura e eficaz a OSH5.
Figura 1: Endométrio com hiperplasia em cadela tratada com contraceptivo.
CONCLUSÕES
Métodos contraceptivos reversíveis, apesar de serem de baixo custo são facilmente encontrados no mercado e sem restrição veterinária. O uso prolongado e inadequado podem
causar lesões irreversíveis aos animais de companhia e até mesmo levar ao óbito. O conhecimento de novas abordagens contraceptivas, apesar de invasivas, como a OSH, são mais seguras para o bem-estar do animal, diminuindo o risco de câncer de mama e infecções uterinas graves, prolongando a sua vida. BIBLIOGRAFIAS
1. REECE WO. DUKES Fisiologia dos animais domésticos/ WILLIAM O. REEC – 13. ED. – RIO DE JANEIRO: GUANABARA KOOGAN, 2017.
2. BENITES, N.R. Medicamentos empregados para sincronização do ciclo estral e transferência de embriões. IN: SPINOSA, H.S., GÓRNIAK, S.L., BERNARDI, M.M. Farmacologia aplicada à medicina veterinária: 3ª ed guanabara KOOGAN, 2002. P. 301-14.
3. DIAS, L. G. G. G, et al. Uso de fármacos contraceptivos e seus efeitos adversos em pequenos animais. UNIVERSIDADE DE FRANCA – SP. 2013.
4. MUNSON, L. Contraception in felids.Theriogenology, V. 66, P.126-134, 2006.
5. GOERICKE-PESCH, S.; GEORGIEV, P.; et al. Treatment of queens in estrus and after estrus with a gnrh-agonist implant containing 4.7 mg deslorelin; hormonal response, duration of efficacy, and reversibility
6. ARAÚJO, E. K. D, et al. Principais patologias relacionadas aos efeitos adversos do uso de fármacos contraceptivos em gatas em teresina – PI. TERESINA, 2017. PUBVET, V.11, N.3, P.256-261, MAR., 2017. TERESINA, PIAUÍ.
7. ACKERMANN, C. L, et al. Métodos contraceptivos em gatas domésticas – revisão de literatura. BOTUCATU, 2014.
Fonte: Retirado em ResearchGate.net. https://www.researchgate.net/figure/Utero-de-cadela-tratada-com-contraceptivo-Endometrio-E-Hiperplasia-com-
glandulas_fig3_250046808 - acessado em 30/04/20.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
42
ENDOCRINOLOGIA DO CICLO ESTRAL DAS CADELAS ASSOCIADA À INSEMINAÇÃO
Ana Paula Simões Alves Ferreira¹, Bruna de Oliveira Corrêa¹, Jéssica Ferreira Luz¹, Julia Cruz Coelho Silva¹, Maira Meira Nunes¹, Gabriel Almeida Dutra².
1 Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte - MG – Brasil
² Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O ciclo estral é caracterizado por modificações cíclicas que ocorrem nas fêmeas domésticas após a puberdade, relacionados a secreções de hormônios ovarianos¹. A puberdade nas cadelas é definida como o primeiro sinal de fertilidade e ocorre geralmente após a manifestação do primeiro proestro. O intervalo médio para o início da puberdade em cadelas é de 6 a 14 meses de idade². Diferente de outras espécies domésticas, a cadela apresenta quatro fases do ciclo estral, sendo elas o proestro, o estro, o diestro e o anestro³. Conhecer a fisiologia do ciclo estral das cadelas e o período de maior fertilidade na fêmea é importante para determinar o momento ideal para a inseminação artificial (IA)4. O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre a endocrinologia do ciclo estral das cadelas e relacioná-lo ao melhor momento para realização da inseminação na fêmea.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização desta revisão de literatura foi feita uma pesquisa por artigos científicos e livros relacionados ao tema nas bases de dados Google Acadêmico e Pubmed. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: ciclo estral em cadelas, hormônios reguladores do ciclo estral em cadelas e inseminação artificial. REVISÃO DE LITERATURA
As cadelas são monoéstricas não sazonais e apresentam no ciclo estral características distintas de outras espécies5. O ciclo estral e suas fases funcionais correspondentes são o proestro que corresponde à fase folicular, estro e diestro que representam a fase luteínica e o anestro que é descrito como uma fase de quiescência³. Na figura 1 estão exemplificadas as concentrações dos principais hormônios envolvidos no ciclo estral das cadelas.
Figura 1: Período fértil correspondente às concentrações hormonais de LH, progesterona e estrógeno em cadelas.
Fonte: Oliveira ECS et al.
No proestro o evento hormonal mais importante é o aumento contínuo do estradiol sérico. O início do proestro está associado a altas concentrações de estrógeno que atinge o pico máximo da sua concentração 48 horas antes do término do mesmo. Essa onda de estrógeno dura de um a dois dias e precede o pico ovulatório do hormônio luteinizante (LH)³.
O LH é a gonadotrofina que estimula a maturação e ovulação dos folículos ovarianos. No final do proestro apresentam ondas mais elevadas em amplitude e frequência até alcançar o pico máximo 48 horas antes da maioria das ovulações. A onda pré ovulatória de LH tem duração de 24 a 72 horas e é a mais longa observada na maioria das espécies4. No estro a concentração de estrógeno circulante começa a declinar e a progesterona sérica aumenta, isso devido a luteinização das células da granulosa dos folículos maduros, que passam a produzir progesterona. Acontece também o feedback positivo sobre o eixo hipotálamo e hipófise, resultando na secreção do FSH e também na onda pré ovulatória de LH. A ovulação que na cadela é espontânea ocorre 24 a 72 horas após a onda de LH². O diestro é dominado pela progesterona, que atinge um pico duas a três semanas após o início desta fase, o qual persiste por uma a duas semanas, declinando gradualmente até atingir valores basais no final do período, enquanto os outros hormônios encontram-se essencialmente em concentrações basais4. Segundo Feldman & Nelson, 1996, a inseminação na espécie canina é utilizada como uma alternativa para animais que não podem realizar monta natural por problemas anatômicos e comportamentais, bem como para prevenção de transmissão de agentes infecciosos. Para realização da IA pode ser utilizado sêmen refrigerado ou congelado. A dosagem hormonal é a técnica mais eficaz para determinação do momento ideal para a realização da inseminação, que é quando a progesterona está em torno de 7,5 ng/mL, que corresponde a aproximadamente dois dias após a ovulação. Dessa forma, a inseminação artificial intravaginal deve ser realizada nas cadelas até seis dias após o pico de LH na fase do estro. Este período compreende tanto a ovulação, quanto o fechamento da cérvix que ocorre até 7 dias após o pico de LH5. CONCLUSÕES
O conhecimento da endocrinologia relacionada a cada fase do ciclo estral é de extrema importância para garantir maior eficiência na inseminação artificial das cadelas. O melhor momento para realizar a inseminação ocorre na fase do estro, cerca de dois dias após a ovulação, fase que apresenta concentrações séricas hormonais ideais. BIBLIOGRAFIAS 1. HAFEZ, E.S.E. Reprodução animal. 6. ed. São Paulo: Manole, 1995. Cap 4. p. 95-125. 2. Concannon, P. W. (2011). Reproductive cycles of the domestic bitch. Animal Reproduction Science, 124(3-4), 200–210. doi:10.1016/j.anireprosci.2010.08.028 3. Reprod Sci 2011;124:200–10.3. Root Kustritz, M. V. (2012). Managing the Reproductive Cycle in the Bitch. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice, 42(3), 423–437. doi:10.1016/j.cvsm.2012.01.012 4. SILVA, L.D.M., VERSTEGEN, J.P. Comparisons between three different extenders for canine intrauterine insemination with frozen thawed spermatozoa. Theriogenology, v.44, p.571-79, 1995. 5. OLIVEIRA, ECS et al. Endocrinologia Reprodutiva E Controle Da Fertilidade Da Cadela-Revisão. Archives of Veterinary Science, v. 8, n. 1, 2003.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
43
ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA CÃES DOMÉSTICOS
Bruna de Oliveira Corrêa¹*, Jéssica Ferreira Luz¹, Samantha Antunes Teixeira¹, Gabriel Almeida Dutra ². 1 Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
² Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A discussão sobre enriquecimento ambiental surgiu inicialmente com os animais silvestres criados em cativeiro, com o objetivo de promover o bem-estar e a qualidade de vida desses animais mesmo fora do seu habitat natural. Atualmente, o conceito utilizado é de que, enriquecimento ambiental é um processo dinâmico que estrutura e modifica os ambientes dos animais de uma maneira que forneça escolhas comportamentais aos mesmos, e traga à tona comportamentos e habilidades adequadas de sua espécie 1. O enriquecimento ambiental para os animais domésticos tem como objetivo intervir no espaço que o animal vive, proporcionando um ambiente interativo e o mais próximo possível do encontrado por ele na natureza 3 .O objetivo deste trabalho é destacar as cinco formas de enriquecimento ambiental para cães domésticos, além de enfatizar a importância dessas intervenções para o comportamento e bem-estar dos animais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esse trabalho foi realizado através de pesquisas em artigos científicos realizados na área (Google Acadêmico, Scielo) coerentes com as informações dispostas na literatura. (Foram utilizados artigos de 2003-2014). Palavras-chave: enriquecimento ambiental, comportamento, bem-estar. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A busca pelo bem-estar animal vem desempenhando papel fundamental na medicina veterinária como um todo, sendo importante o entendimento das particularidades de cada espécie. O enriquecimento ambiental propõe dispor de meios para que o animal consiga através de interações premeditadas, liberdade para expressar seu comportamento natural (sendo a quarta, das cinco liberdades proposta pela boa prática de bem-estar animal) 4. A fim de contribuir para o bem-estar através do enriquecimento ambiental, foram classificados tipos de enriquecimento de acordo com o seu objetivo. O conceito mais difundido é que existem cinco tipos de enriquecimento ambiental, sendo eles alimentar, sensorial, cognitivo, social e físico 3. O enriquecimento ambiental alimentar tem como objetivo, através da alimentação, promover estímulos que aproximem o animal do seu comportamento instintivo, como ofertar a ração de maneira diferenciada, utilizando de mecanismos para que o animal tenha certa dificuldade proposital de se alimentar, aumentando seu desafio e interação com o ambiente. Quando a alimentação se apresenta de forma imprevisível, há redução de estereotipias decorrentes do fenômeno chamado “antecipação pré-alimentar” 2. A espécie canina na natureza, está em constante busca por recursos, gerando desafios físicos e mentais. Na domesticação dos animais, a alimentação é fornecida de forma regular, sem propor desafios que se comparariam ao ambiente natural, isso torna o animal ocioso, acarretando problemas comportamentais 4. Um exemplo de comedouro que garante esse tipo de enriquecimento ambiental pode ser observado na Figura 1.
Figura 1: Comedouro interativo
Fonte: Google Imagens
O enriquecimento ambiental sensorial tem como objetivo estimular os sentidos dos animais: visão, olfato, audição e tato, através de ferramentas que introduzem imagens, odores , sons e texturas, aguçando a curiosidade e instinto natural dos cães 2. O enriquecimento ambiental cognitivo tem como objetivo exercitar não somente a parte física, mas mental dos cães, com acréscimos ao ambiente que promovam a resolução de problemas para estímulos mentais. A maioria dos desafios fornecem como prêmio, um alimento e permite o desenvolvimento estratégico e cognitivo, contribuindo para a redução do estresse e problemas comportamentais 2. O Enriquecimento ambiental social busca por meio de interações sociais, podendo ocorrer com a mesma espécie ou com espécies distintas, agregar no bem-estar dos animais. Por fim, o enriquecimento ambiental físico consiste na modificação estrutural, permanente ou temporária, do recinto onde residem os animais, permitindo que o animal explore e interaja com o ambiente 2. CONCLUSÕES
A implantação de meios de enriquecimento ambiental é essencial para a vida dos cães em condições de bem-estar, gerando uma discussão sobre a importância da responsabilidade humana em garantir e zelar pelo bem estar dos animais de companhia. Os resultados são satisfatórios e podem ser alcançados de maneiras relativamente simples. Enfatizando que cada indivíduo tem suas particularidades e predileções, sendo importante levar em conta na execução dos meios de enriquecimento. BIBLIOGRAFIAS 1. .YOUNG, R.J. Environmental enrichment for captive animals. Cornwall: Blackwell Publishing, Universities Federation for Animal Welfare, 2003 2. .LOUREIRO, Sara Bárbara Monteiro. Enriquecimento ambiental num núcleo cativo de lobo (Canis lúpus). 2013. 3. .HOSEY, Geoff; MELFI, Vicky; PANKHURST, Sheila. Zoo animals: behaviour, management, and welfare. Oxford University Press, 2013. 4. .HENZEL, Marcelo da Silva. O enriquecimento ambiental no bem-estar de cães e gatos. 2014.
APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
41
ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA FELINOS DOMÉSTICOS Fernanda Mara Santos Firmino¹*, Anna Clara Silva Martins¹, Corinne Gonçalves Sette¹, Laís Barbosa
Figueiredo¹, Sara Jéssica de Araújo Oliveira¹, Gabriel Almeida Dutra². 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil – *[email protected]
² Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O enriquecimento ambiental (EA) é uma área que está crescendo e sendo cada vez mais promovida e divulgada. Esse método consiste em práticas para expor os animais a um ambiente com muitos estímulos sensoriais sendo comum utilizar-se de alimentos escondidos, objetos inanimados e entre outros5. O objetivo central de trabalhar esses estímulos é promover o bem-estar animal de maneira mais completa possível4. Os felinos domésticos de vida livre são expostos a diversos desafios, quando em cativeiro eles fazem parte de um ambiente facilitador e de pouca complexidade2. Sendo assim, o trabalho visa apresentar algumas formas de enriquecer o ambiente para gatos domiciliados priorizando seu bem-estar.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esse trabalho foi realizado através de pesquisas bibliográficas nos bancos de dados do Google Acadêmico, Biblioteca Digital da USP de teses e dissertações e Journal of Feline Medicine and Surgery, utilizando as palavras-chave: enriquecimento ambiental, felinos e bem-estar. O parâmetro de escolha dos artigos analisados foi o período de 2003 a 2014. Os critérios para seleção da bibliografia basearam-se em documentos confiáveis e coerentes sobre o tema. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O bem-estar do indivíduo está relacionado diretamente com seu ambiente. Se neste âmbito há ausência de estímulos, como por exemplo, sensoriais e físicos, estes animais podem sofrer mudanças de comportamentos, além de ser um fator estressante. Em consequência destas ações podem ocorrer distúrbios fisiológicos, como aumento dos níveis de cortisol², causando problemas ainda maiores. Para evitar o estresse e promover o bem-estar animal são considerados cinco tipos de EA sendo eles: alimentar, sensorial, físico, cognitivo e social. O EA alimentar consiste em fornecer alimentos de forma a estimular o interesse e comportamento do animal. O alimento pode ser escondido, para estimular o olfato e a caça. Quando esta alimentação se apresenta de forma imprevisível, há diminuição de estereotipias decorrentes do fenômeno chamado “antecipação pré-alimentação”4. O EA sensorial tem como objetivo apresentar aos animais diversas texturas, sons, cheiros a fim de estimular os sentidos. Uma ferramenta que pode ser utilizada são os arranhadores caseiros confeccionados com madeira e corda. O EA físico pode ser realizado com o acréscimo de mobílias em paredes e brinquedos que estimulam a movimentação do animal dentro do ambiente (FIG. 1). O EA cognitivo envolve brinquedos que são desafiadores e causam um estímulo mental aos animais e fornece como prêmio um alimento4. Por último, o EA social, que consiste na interação deste animal com outros indivíduos. Pode ser um enriquecimento interespecífico, que está relacionado a indivíduos de outras espécies, ou intraespecífico, que é a interação de indivíduos da mesma espécie4. Essas medidas de EA tornam o ambiente em que o animal vive mais estimulante e permitem que estes possam expressar comportamentos característicos da sua espécie¹.
Figura 1: Plataformas e pontes para gatos.
Fonte: https://casavogue.globo.com
CONCLUSÕES
O EA é uma prática que só aumenta a qualidade de vida dos felinos domiciliados e para que ele seja implementado de maneira correta é importante conhecer os comportamentos dessa espécie. Animais que vivem em ambientes muito restritos tendem ao estresse e devemos trabalhar com essas práticas para minimizar esses efeitos e promover o bem-estar. BIBLIOGRAFIAS 1. PEREIRA, G. A. G. Efeito do Maneio Comportamental e do Enriquecimento Ambiental na Hipertensão Felina Associada a Doença Renal Crônica. Tese (Tese de Doutoramento em Ciências Veterinárias) - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. 2014.
2. DAMASCENO, Juliana. Enriquecimento ambiental alimentar para gatos domésticos (Felis silvestris catus): aplicações para o bem-estar felino. 2012. Dissertação apresentada á Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto- USP.
3. GUANDOLINI, Gisele Cristina. Enriquecimento ambiental para gatos domésticos (Felis silvestris catus L.): A importância dos odores. 2009. Dissertação apresentada á Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto- USP.
4. HENZEL, Marcelo. O enriquecimento ambiental no bem-estar de cães e gatos. 2014.
5. NUNES, Carlos R. O; GUERRA, Rogério F; BUSSAB, Vera S. R. Enriquecimento ambiental, privação social e manipulação neonata. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis: EDUFSC, n. 34, p. 365-394, outubro de 2003.
APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
42
ERITROGRAMA EM CÃO COM ANEMIA HEMOLÍTICA IMUNOMEDIADA: RELATO DE CASO
Luana Cristina de Oliveira Melo1*, Ana Cristina da Silva1, Aléxia Pimenta Bom Conselho1, Cláudio Roberto Scabelo Mattoso 2
1 Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Dentre os distúrbios imunológicos em cães, as doenças hematológicas são as mais frequentes. A anemia hemolítica imunomediada (AHIM) é o distúrbio imunológico de maior prevalência em cães. A doença é causada pela destruição imunomediada dos eritrócitos e resulta em uma diminuição acentuada do volume globular (VG), sendo que o índice de mortalidade varia entre 26 a 70%1,2.
A AHIM pode ser classificada como primária (idiopática), com anticorpos contra hemácias normais, ou secundária quando o aparecimento dos anticorpos está relacionado com neoplasias, doenças infecciosas, modificações antigênicas induzidas por medicamentos, transfusões sanguíneas3, 4.
Os sinais clínicos não são patognomônicos, podendo variar individualmente. Os mais comuns são: fraqueza, letargia, intolerância ao exercício, palidez, além de dispnéia, taquicardia, febre e icterícia5. O diagnóstico baseia-se principalmente em achados laboratoriais bem característicos como anemia, evidências de hemólise (hemoglobinúria, bilirrubinúria), reticulocitose, auto-aglutinação, esferocitose, teste de Coombs positivo, sendo estes importantes para fechamento do diagnóstico do paciente4, 5.Uma vez diagnosticada, o tratamento suporte deve ser instituído. Muitos animais com destruição severa de hemácias inicialmente requerem hospitalização para monitorar e controlar a anemia2. O objetivo deste caso clínico foi relatar o caso da AHIM de um cão, baseado nos achados laboratoriais, com maior enfoque no Eritrograma.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Em abril de 2020 foi atendida numa clínica Veterinária em Belo Horizonte uma cadela, SRD, 15 anos, castrada, pesando 15,3 Kg. Durante a anamnese o tutor relatou inapetência e prostração. Ao exame físico observou-se apatia, mucosas orais hipocoradas e parâmetros vitais normais. Foram solicitados os seguintes exames: hemograma, bioquímicos, ultrassonografia, Leishmaniose (RIFI, ELISA e PCR-RT) e PCR Babesiose.Para caracterizar a AHIM é fundamental considerar a avaliação da anemia e seus graus de regeneração, além de reticulocitose, morfologia eritrocitária, contagem de plaquetas, cálculo dos índices hematimétricos e avaliação da RDW4. Baseado nos resultados do Eritrograma ao longo do tempo (tabela 1) juntamente com exames negativos para hemoparasitoses e eliminação de outras causas constatou-se um quadro hemolítico de provável origem primária, apurado pela redução de eritrócitos, hematócrito e hemoglobina, além de alterações dos índices hematimétricos (macrocitose e hipocromia), presença de reticulocitose e RDW aumentado, todos achados condizentes com uma anemia regenerativa e resposta medular ativa. Foi identificada também aglutinação macroscópica das hemácias. A morfologia eritrocitária, dado importante para avaliação e diagnóstico de AHIM, não foi observada, devido a não realização da análise do esfregaço sanguíneo. O teste de Coombs também não foi solicitado, e este método baseia-se na detecção de imunoglobulinas na superfície das hemácias, caracterizando uma AHIM1. Os outros exames, já citados acima, não apresentaram alterações significativas, descartando uma AHIM secundária. O 2º eritrograma mostrou uma anemia muito intensa, além de piora clínica do paciente, sendo necessária a realização de
transfusão sanguínea. É importante frisar que esse eritrograma apresentou os maiores indícios de regeneração eritrocitária, clássicos na AHIM. Aproximadamente 70% a 90% dos pacientes com AHIM requerem transfusão sanguínea, com uma grande porcentagem recebendo múltiplas transfusões2. Após a transfusão foi observado uma melhora clínica e também laboratorial, com diminuição da anemia. Com isso o paciente recebeu alta médica, com orientação de acompanhamento semanal. Foi estabelecida uma conduta terapêutica de suporte seguido pela terapia imunossupressora, que impede a destruição dos eritrócitos e a progressão do quadro anêmico4. A prednisona e a dexametasona são a primeira opção de tratamento, podendo ser associadas ou não a outros medicamentos como azatioprina, ciclofosfamida e ciclosporina3. No paciente relatado foi instituída a associação de Prednisona e Azatioprina por aproximadamente dez dias. Após reavaliação médica, ocorreu alteração da azatioprina por micofenolato, pois este possui rápida ação e não causa hepatotoxicidade e mielossupressão como outros imunossupressores. A melhora clínica e hematológica (5º eritrograma) comprova a eficiência do tratamento. A resposta completa do tratamento pode levar varias semanas, por outro lado, animais que respondem rapidamente ao tratamento com glicocorticóides, e apresentam um hematócrito entre 25 e 30% podem ter o prognóstico favorável 3,4. Tabela 1: Resultados do Eritrograma em cão com AHIM.
*Fonte: Jain, 1993 Meyer & Harvey, 2004.
CONCLUSÕES
A AHIM é uma doença comum em cães, sendo necessária a realização de um diagnóstico diferencial baseado nos sinais clínicos e exames laboratoriais. Essa associação é fundamental para um diagnóstico preciso, que leva a um tratamento eficiente, e com isso gera um prognóstico favorável do paciente. BIBLIOGRAFIAS 1. GORENSTEIN, T. G.; SANTOS, B. dos; BASSO, R. M.; TAKAHIRA, R. K. Anemia hemolítica imunomediada primária em cães – revisão de literatura. Arq. Ciênc. Vet. Zool. UNIPAR, Umuarama, v. 22, n. 2, p. 71-75, abr./jun. 2019. 2. LEITE, J. H. A. C.; CARVALHO, L. C. N. DE; PEREIRA, P. M.. Anemia hemolítica imunomediada em cães – relato de três casos. Seminário: Ciências Agrárias, Londrina, v. 32, n. 1, p. 319-326, jan./mar. 2011. 3. R. C. Castilho, M. O. Lima, M. F. R. Cruz, E. S. Marquez, C. Calderón. Anemia hemolítica imunomediada em cães. Scientific Electronic Archives, 2016. 4. Silva, L. Anemia hemolítica imunomediada: diagnóstico e terapêutica. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Pernambuco, 2019. 5. RAMOS, L. T, LEITE et al.Alterações clínicas e laboratoriais em um cão com anemia hemolítica imunomediada: relato de caso. REVISTA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA - ISSN 1679-7353 Ano XIV - Número 28 – Janeiro de 2017 – Periódico Semestral.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
43
ETIOPATOLOGIA DA CINOMOSE CANINA
Autor1 Gabriela Mazini Carvalho¹, Autor2 Pedro Henrique de Paula Sá¹, Autor3 Breno Mourão de Sousa²
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor de Medicina Veterinária – UniBH. Belo Horizonte/ MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A Cinomose Canina (CC) é uma doença causada pelo vírus Paramyxoviridae e pode infectar caninos, carnívoros selvagens e alguns felinos. É uma doença que não possui cura e é contagiosa, com o segundo maior índice de letalidade de caninos1. Além disso, a CC é muito grave, pois a doença atinge o sistema nervoso central, na maioria dos casos, ocasionando em comprometimentos na coordenação e nos movimentos do animal. Os principais sintomas são caracterizados por febres repentinas, convulsões, paralisias, apatia, secreções, morte repentina, entre outros. Os sinais clínicos são diversos, pois a CC pode evoluir em quatro fases, que são: a respiratória, a gastrointestinal, a nervosa e a cutânea, respectivamente2. A transmissão advém por meio de aerossóis e gotículas contaminadas, através das secreções e ocorre principalmente no inverno (Daniela de Nazaré).
O objetivo da pesquisa é apresentar e avaliar o agente causador da CC e evidenciar o que o mesmo causa no paciente.
MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia utilizada no estudo consistiu em pesquisas bibliográficas e artigos científicos sobre definições da doença e do vírus, encontrados no Google Acadêmico. Então, foi desenvolvido com base em outros artigos já publicados juntamente a relatos de casos e notícias sobre a doença de 2007 até 2014. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O agente etiológico da Cinomose é pertencente à família Paramyxoviridae e do gênero Morbillivirus, é caracterizado por possuir envelope lipoptroteico e apresentar capacidade de motivar lesões no sistema nervoso cental (SNC)¹. O vírus da cinomose canina (VCC) possui um vínculo com o vírus do sarampo e da peste bovina, apresenta RNA-vírus com particularidade pantotrópica, ou seja, possui a capacidade de infectar células de diversos sistemas do corpo4. Ademais, o vírus pode ser eliminado por meio de qualquer secreção do animal infectado, juntamente às gotículas que ficam presentes no ar e no ambiente, propiciando altos índices de propagação (Fig. 1). Dessa forma, o vírus pode ser liberado por vários meses e gera uma taxa de mortalidade de 25 a 75%². Diante disso, a infecção no organismo é disseminada de formas diferentes em cada paciente, devido às diversificadas respostas imunológicas. Logo, quando o vírus penetra no organismo, a replicação é iniciada nos macrófagos respiratórios, ocasionando quadros febris³. Depois, pode se espalhar para os linfonodos bronquiais, causando as tosses, entre outros³. Logo após, pode se propagar para outros tecidos e pelas vias hematógenas, podendo ser encontrado na via hematógena³. Enfim, pode ser encontrado nos epitélios gastrointestinais e o SNC³. Quando o VCC atinge o SNC, é possível não apresentar sintomas, mas, geralmente é a fase mais grave da cinomose, visto que provoca convulsões, perdas de cognição e paralisias dos membros (Fig.2)²; (Daniela de Nazaré). O diagnóstico pode ser feito por diversos testes e exames clínicos compatíveis, como análise do líquor ou do sangue, podendo também ser fundamentado pela observação dos sinais clínicos do paciente, devido às diversas manifestações³. Por fim, o tratamento oferece apenas suporte
para o cão por intermédio de terapia neural, antibióticos, anticonvulsivos, entre outros. Figura 1. Patogenia da Cinomose Canina de 4-6 dias pós infecção¹.
Fonte: Adaptado de GREENE & VANDEVELDE, 2012
Figura 2. Patogenia da Cinomose Canina de 7-20 dias pós infecção¹.
Fonte: GREENE & VANDEVELDE, 2012
Compreendendo a Etiopatologia da Cinomose Canina, é justificável afirmar que o comportamento do VCC decorre da idade, imunidade e da estirpe viral do animal. Porém, a instalação e a replicação do vírus ocorrem em diversos órgãos e tecidos do organismo. Assim, a infecção debilita os tecidos linfáticos e esse desgaste impede os efeitos naturais dos linfócitos, sendo esse um dos principais motivos da gravidade da doença². CONCLUSÕES
Em suma, é possível concluir que o vírus da Cinomose Canina é extremamente invasivo e agressivo, além de possuir alto grau de contaminação, de modo rápido e letal. BIBLIOGRAFIAS 1. Benetti, Bruno, Ribeiro, Vitor “Cinomose Nervosa Canina: patogenia, diagnóstico, tratamento e prevenção”. Clínica Médica, 2012. 2. De Nazaré, Daniela “Cinomose Canina – Revisão de Literatura”. Monografia, 2009. 3. MBMC Dias , ER Lima , FLP Fukahori , VCL Silva , MSA Rêgo
“Cinomose Canina – Revisão de Literatura”, 2012. 4. ZEE, Y. C. Paramyxoviridae. In: HIRSH, D. C; ZEE, Y. C. Microbiologia Veterinária. Rio de Janeiro: Guanabara, p. 375 – 382, 2003. 5. Cowell, R. L.; Valenciano, A. C. Diagnóstico, Citologia e Hematologia do cachorro e do gato, 2007.
APOIO: Breno Mourão de Sousa (Médico Veterinário)
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
44
EXCITAÇÃO POR ESTÍMULO EM CÃO SEDADO COM DEXMEDETOMIDINA
Júlia Riquetti Vasconcelos1. Luiz Flávio Telles³.
1Graduando em Medicina Veteirnária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 3 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A Dexmedetomidina, é um potente α-2 adrenérgico de ação sedativa, analgésica e de relaxamento muscular. Essas propriedades são consequentes de seu estímulo em receptores α-adrenérgicos pré e pós sinápticos a nível central e periférico, ocasionando depressão dose dependente com inibição de noradrenalina(1). Este fármaco induz uma diminuição da frequência e débito cardíaco, aumento inicial da pressão arterial com conseguinte diminuição desta além de promover bloqueio atrioventricular(1), sendo contra indicada em pacientes com qualquer alteração cardiovascular(2). Além da ação de agonistas α-2 adrenérgico em receptores centrais promovendo sedação, bradicardia, hipotensão, há um estímulo em receptor α-1 adrenérgico (1.620:1, respectivamente), sendo mais seletivo ao α-2. Este efeito em α-1, resulta em maior rigidez ou excitação paradoxal, portanto sua ação será proporcional a seletividade em seu receptor. Em certos casos, animais submetidos a estímulos estressantes e/ou dolorosos podem apresentam excitação paradoxal ou ausência de sedação, devido ao excesso de catecolaminas circulantes(4). O objetivo do estudo em questão, é relatar um efeito de excitação repentina e momentânea após um estímulo sonoro com administração da Dexmedetomidina em medicação pré anestésica, perante a sedação de alguns animais. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Este estudo foi realizado com um cão,macho, da raça Shih-Tzu de 8 anos no dia 06 de Fevereiro de 2020, precedentemente ao procedimento de limpeza periodontal. Em medicação pré anestésica, foram administrados 2mcg/kg de Dexmedetomidina IM e 0,3mg/kg de Metadona IM para potencializar a analgesia cirúrgica. Após 10 minutos, o paciente apresentou sedação intensa e hipnose, estando susceptível a qualquer manipulação. Durante o período de sedação e após canulação venosa, o paciente foi encaminhado para o bloco cirúrgico e posicionado adequadamente em mesa cirúrgica, onde houve um estímulo sonoro provocado pela veterinária presente. Neste momento, o animal ergueu-se para se movimentar e rapidamente voltou ao estado hipnótico, posteriormente sendo induzido apenas com Propofol dose dependente. Este episódio foi observado em apenas alguns animais, obrigatoriamente, sedados com a associação da Dexmedetomidina, e, após estímulos variados, sendo táteis, sonoros como uma batida em mesa de metal. O estresse provoca diversas alterações hemodinâmicas, dentre elas a liberação de catecolaminas a níveis elevados no sistema nervoso simpático, que, combinados a outros mediadores, fornecerão energia para o combate aos estímulos estressantes(5). Além disso, há uma pequena porcentagem de ação dos receptores α-1 adrenérgicos, tornando o resultado excitatório em alguns animais. A relação α-2: α1 1620:1, demonstra mais seletividade α-2, indicando ser um fármaco agonista adrenérgico de maior potencia analgésica, e apto a diminuição das demais drogas anestésicas(6).
Figura 1:Mecanismo de bloqueio dos receptores adrenérgicos ao uso da Dexmedetomidina.
Fonte: Comparación de la Dexmedetomidina com el Midazolan en la sedación del paciente crítico
Tabela 1 - seletividade dos receptores adrenérgicos α-2:α-1 pra agonistas selecionados dos receptores α-2
adrenérgicos
Xilazina 160:1
Detomidina 260:1
Romifidina 340:1
Medetomidina 1.620:1
Dexmedetomidina 1.620:1 Fonte: Livro Lumb e Jones – Anestesiologia e Analgesia 5ed
CONCLUSÕES
A Dexmedetomidina é o mais recente α-2 agonista utilizado em rotinas anestésica, conhecido pela sua potencia analgésica e sedativa e de fácil associação aos demais fármacos durante a medicação pré anestésica. Não há evidencias ou referências significativas para a comprovação da excitação sonora provocada por este medicamento durante o período de sedação, contudo, pode-se considerar o fator estressante dos pacientes parante ao pessoas e ambiente desconhecidos associados a manipulação, juntamente com pequena ação do receptor α-1 agonista. BIBLIOGRAFIAS 1. Fantoni, D.T et al. Anestesia em Cães e Gatos. 2 ed. Roca. 2010. 2. GROPPETTI, Debora et al. Maternal and neonatal wellbeing during elective C-section induced with a combination of propofol and dexmedetomidine: How effective is the placental barrier in dogs?. Theriogenology, v. 129, p. 90-98, 2019. 3. Massone, F; Anestesiologia Veterinária- Farmacologia e técnicas. 6ed. Guanabara Koogan. 2011. 4. Grimm, K. A et al. Lumb & Jones Anestesiologia e Analgesia em Veterinária. 5ed. Roca. 2017. 5. DUKES, H. H.; Fisiologia dos Animais Domésticos. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A. 1996. 942p. 6. BAGATINI, Airton et al. Dexmedetomidina: farmacologia e uso clínico. Revista Brasileira de Anestesiologia, v. 52, n. 5, p. 606-617, 2002. 7. Riker RR, Shehabi Y, Bokesch PM, Cersao D, Wisemandle W, Koura F, Whitten P, Margolis BD, Byrne DW, Ely EW, Rocha MG, for the SEDCOM (Safety and Efficacy of Dexmedetomidine Compared with Midazolam) Study Group. Dexmedetomidine vs midazolam for sedation of critically ill patients. A randomized trial. JAMA 2009; 301: 489-99. (PubMed).
APOIO: (Vet Contagem e Hospital Veterinário Vet Vogas)
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
45
EXTRUSÃO AGUDA DO NÚCLEO PULPOSO NÃO DEGENERADO EM CÃES
Daniel da Silva Rodrigues1*, Jade Caproni Corrêa¹, Luara Mara Groia Martins¹, Pollyana Marques e Souza1, Ranielle Stephanie Toledo Santana1, Eliane Gonçalves de Melo2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professora do Departamento de Clinica e cirurgia veterinárias –UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A doença do disco interbertebral (DDIV) é uma afecção neurológica comum em cães, sendo definida como um deslocamento anormal e localizado do disco intervertebral para além dos seus limites anatômicos normais, estando geralmente associado a um processo degenerativo. Sua classificação compreende classicamente dois tipos principais, condróide e fibroide, que dão origem a duas formas distintas de discopatia, Hansen tipo I e Hansen tipo II, respectivamente1. Entretanto, os avanços contínuos em ressonância magnética na medicina veterinária permitiram concluir que extrusões agudas podem ocorrer em discos não degenerados ou minimamente degenerados. Dessa forma, uma nova apresentação da doença do disco intervertebral foi proposta e nomeada como “Extrusão aguda do núcleo pulposo não degenerado”, que por sua vez é subdividida em: extrusão do núcleo pulposo aguda e não compressiva (ENPANC) e extrusão do núcleo pulposo hidratado (ENPH)1,2. O objetivo dessa revisão bibliográfica é discutir as principais características da extrusão aguda do núcleo pulposo não degenerado, bem como aspectos relativos ao diagnóstico e tratamento.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado por meio da revisão de artigos publicados na área de neurologia veterinária com as palavras-chave: doença do disco intervertebral, extrusão aguda e núcleo pulposo. Os bancos de dados utilizados foram as revistas: ACVS foundation, Elsevier e Veterinary Record. REVISÃO DE LITERATURA
Em comparação à doença do disco intervertebral Hansen tipo I e tipo II, a extrusão aguda do núcleo pulposo não degenerado é muito menos comum3. Sua ocorrência está associada geralmente à trauma ou exercício vigoroso, resultando em um aumento súbito na pressão intradiscal que pode causar rápida projeção do núcleo pulposo saudável em direção à medula espinhal através de uma pequena fissura no anel dorsal, provocando contusão medular e podendo ou não causar compressão permanente2. A ENPANC é caracterizada como uma extrusão, em alta velocidade, de parte do núcleo pulposo causando uma injúria medular sem compressão. Outros termos utilizados para denominá-la são extrusão discal de alta velocidade e baixo volume, “explosão” do disco intervertebral, extrusão traumática do disco e DDIV “Hansen tipo III”1,2. A apresentação clínica depende da localização da lesão e severidade da lesão medular, sendo caracterizada como uma mielopatia aguda ou hiperaguda, não progressiva nas primeiras 24 horas, com deficits neurologicos lateralizados em 90% dos casos. Frequentemente ocorre vocalização e moderada hiperestesia espinhal no estágio inicial, porém a dor à palpação da coluna pode estar ausente após as primeiras 24 a 48 horas1,2. Já na ENPH, pode ser encontrado no canal vertebral uma quantidade de material gelatinoso e hidratado, ocasionando graus variados de compressão medular. A fisiopatologia ainda não foi completamente elucidada, embora saiba-se que há possíveis similaridades com a ENPANC, ocorrendo extrusão do núcleo pulposo hidratado por uma fissura no anel fibroso. Geralmente há predileção pela região cervical e os sinais clínicos são simétricos, sendo a tetraparesia ambulatória o mais comum2.
O diagnóstico definitivo é post-mortem, porém o diagnóstico presuntivo é possível baseado no histórico, apresentação clínica e achados de ressonância magnética. Na ENPANC, as imagens ponderadas em T2 revelam área focal de hiperintensidade da medula espinhal, com compressão mínima ou ausente (figura 1-A). Já na ENPH os achados incluem material compressivo extradural, isointenso a um núcleo pulposo hidratado, associado a um estreitamento do canal do disco intervertebral com redução do volume normal do núcleo pulposo (figura 1-B). Dentre os principais diferenciais para essas afecções destacam-se a mielopatia isquêmica e o embolismo fibrocartilaginoso1,2.
Figura 1: Imagens de ressonância magnética
ponderadas em T2. (A) Hiperintensidade focal da medula espinhal associada a redução de volume do núcleo pulposo,
compatível com ENPANC. (B) Compressão extradural da medula espinhal por material isointenso ao núcleo pulposo
normal, com redução do núcleo pulposo no disco, compatível com ENPH.
Fontes: De Decker, 2017 e Borlace, 2017.
O tratamento geral consiste em restrição de exercícios, cuidados de enfermagem, reabilitação física e terapia medicamentosa com antiiflamatórios e analgésicos. No caso da ENPH, animais com deficitis neurológicos severos e compressão visível da medula espinhal podem ser indicados para cirurgia, embora a eficácia da associação permaneça incerta2,4. CONCLUSÕES
O conhecimento acerca da extrusão aguda do núcleo pulposo não degenerado é necessário para o estabelecimento de uma melhor conduta diagnóstica e terapêutica em alguns casos. Como o diagnóstico definitivo é post mortem, o histórico e uma anmnese bem feita, associados a achados de ressonância magnética são fundamentais para um diagnostico presuntivo mais acertivo. Maiores estudos ainda são necessários quanto à fisiopatologia e abordagem terapêutica. BIBLIOGRAFIAS 1. DE RISIO, L.; THOMAS, W. B.; FINGEROTH, J.M. Advances in
intervetebral disc disease in Dogs and Cats: traumatic disc extrusions. ACVS Foundation, by John Wiley & Sons, Inc., p. 121, 2015 B.
2. DE DECKER, S.; FENN, J. Acute Herniation of Nondegenerate Nucleus Pulposus. Vet Clin Small Anim, Elsevier, 2017.
3. MCKEE, W. M.; DOWNES, C. J.; PINK, J. J.; GEMMILL, T. J. Presumptive exercise-associated peracute thoracolumbar disc extrusion in 48 dogs. Vet Rec, 166:523–8, 2010.
4. Borlace T, Gutierrez-Quintana R, Taylor-Brown FE, et al. Comparison of medical and surgical treatment for acute cervical compressive hydrated nucleus pulposus extrusion in dogs. Vet Rec 2017.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
46
FATORES QUE INTERFEREM NO CONSUMO DE CARNE SUÍNA NO BRASIL
Layza Marciano Cangussu¹, Dayanne Kelly Oliveira Pires¹, Deivisson Junio Fernandes dos Santos¹, Nágila Rocha Aguilar¹, Alessandra Silva Dias ².
Rocha Aguilar¹, Alessandra Silva Dias ².
1Graduanda em Medicina Veterinária, autora – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ³ Professora do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Em todas as regiões do mundo, especificamente o Brasil, vem sendo observadas mudanças socioeconômicas, como aumento dos preços dos alimentos, mudanças nas necessidades dietéticas e nas composições das famílias entre outros.³ Pelo Brasil ter um vasto território, a criação de animais a pasto, como os bovinos e confinados -aves e suínos- para sustentar as demandas internas e externas, é intensa. Atualmente, devido ao alto custo de produção, se comparado a animais criados a pasto e o baixo consumo pela população interna, apenas de 15,8%, o Brasil ocupa o quarto lugar de maior produtor de carne suína no mundo, estando com apenas 3% da produção. Pelo mercado interno não apresentar o dinamismo necessário para o crescimento do segmento, cabe ao mercado externo absorver parcela crescente da produção e consequentemente alavancar na produção de suínos para exportação.³ O objetivo desta revisão de literatura é focar nos motivos pelos quais a população brasileira consome pouca carne suína, sendo que esta é uma das carnes mais proteicas, saudáveis e de alto potencial produtivo, podendo assim, ser uma carne de menor custo para os consumidores.
MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo utilizou como fonte de pesquisa: artigos e trabalhos científicos (publicados entre os anos 2000- 2019) selecionados através de busca no banco de dados do Google Academics e em livros relacionados a suinocultura. As palavras chaves utilizadas na busca foram: suinocultura, carne suína, mitos na suinocultura, produção intensivista. REVISÃO DE LITERATURA
Vários estudos analisaram as tendências e o perfil dos consumidores de carne e identificaram, entre as tendências de consumo, a consciência crescente da relação alimentação e saúde e o maior interesse quanto à origem da carne e o sistema de criação dos animais de produção.¹ Como se é de conhecimento de parte da população, os suínos destinados a consumo são criados em granjas, vacinados e acompanhados por veterinários especializados, para que não haja nenhuma contaminação da carne e que esta possa ser consumida sem restrições. No entanto, a outra parcela, ainda acredita que os suínos são criados em ambientes em que não respeitam a sanidade animal, ou seja, lugares sujos, sem vacinação ou acompanhamento veterinário. Este é um dos principais fatores que explicam o reduzido consumo de carne suína. A preocupação dos consumidores com as consequências ambientais e éticas da produção de carne tem crescido progressivamente. ¹ O interesse com o bem-estar dos suínos durante a produção intensiva pode, porventura, reduzir a compra de produtos cárneos advindos destes. Neste sentido, há um aumento no interesse dos produtores em sistemas de criação menos intensiva, nos quais os animais são criados com livre acesso ao ambiente externo e com menor impacto para o meio ambiente e mais benéfico para o bem-estar.2 Atualmente, poucas granjas no Brasil e no mundo são adeptas a este meio de criação, mas, segundo a BRF, gigante no setor de alimentos e detentora das marcas Sadia,
Perdigão e Qualy, anunciou, ainda em 2012, que abolirá no prazo de 12 anos o uso de gaiolas de gestação de suínos na companhia e nos seus fornecedores.² A preocupação mundial dos consumidores com a própria saúde e bem-estar pode ser um empecilho para o consumo de carne suína, pois, segundo alguns mitos sobre a carne, esta tem alta taxa calórica e teor de colesterol, prejudicando a saúde.6 Antigamente esses mitos poderiam ser verídicos, mas atualmente a indústria investe na criação de animais com menor teor de gordura corporal e, consequentemente, menor teor de colesterol e valor calórico, podendo assim, ter cortes mais magros e saudáveis do que o a carne de frango.6
CONCLUSÕES
O consumo de carne suína ainda se mostra limitado graças a crenças e ao desconhecimento dos consumidores sobre sua qualidade nutricional e sensorial e da tecnologia empregada em sua produção. Nesse cenário, a indústria de carne suína deve desenvolver estratégias de informação, esclarecimento e desmistificação da carne aos consumidores, especialmente aos jovens, que definirão o perfil do futuro consumidor brasileiro de carnes.
BIBLIOGRAFIA
1. E. Thoms, L. S. Rossa, E. von R. Stahlke, I. D. Ferro, R. E. F. Macedo - Perfi l de consumo e percepção da qualidade da carne suína por estudantes de nível médio da cidade de Irati, PR, 2010. 2. Globo Rural, BRF anuncia fim de gaiolas de gestação para suínos, disponível em <https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Suinos/noticia/2014/11/brf-anuncia-fim-de-gaiolas-de-gestacao-para-suinos.html>. Acesso em 9 de Setembro de 2019 3. M. Miele, P. D. Waquil - Cadeia produtiva da carne suína no Brasil, 2007.4. M.M. Schlindwein, A. L. Kassouf - Análise da influência de alguns fatores socioeconômicos e demográficos no consumo domiciliar de carnes no Brasil, 2006. 6. Escolha mais carne suína, nutrição, disponível em <http://www.maiscarnesuina.com.br/artigos/compare-a-carne-suina/>Acesso em 9 de setembro de 2019.
APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
47
FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA REALIZAÇÃO DE CURVAS DE NÍVEL NA AGRICULTURA
Thiago Henrique Mendes Graçano1*, Marcelo Henrique Silva de Souza1, Arthur Augusto O. dos Santos1, Marcelo Nonato Borges1, Breno Mourão de Sousa2
1Graduando em Agronomia – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Agronomia – UniBH- Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
De acordo com a Embrapa a forma ideal para realizar um terraceamento, ou curva em nível, é em quatro passos: 1- Definição da textura do solo; 2- Cálculo de declividade; 3- Definição da distância entre os terraços; e, 4- Piqueteamento da curva em nível. As curvas em nível é uma técnica muito usada para evitar a erosão do solo, reter a água no terreno e manter a terra fértil e produtiva. Traz muitos benefícios para a produção agrícola, pastagens e principalmente para a renda do produtor além de contribuir com o meio ambiente. É objetivo desse trabalho exibir, de maneira sucinta, os principais equipamentos para realização de trabalhos em campo para a realização de curvas de nível. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização desse trabalho, foram utilizados arquivos técnicos científicos publicados pela EMBRAPA, Ministério do Meio Ambiente, UNESP, UFSM e PROGRAMA RIO RURAL, disponibilizados como arquivo digital. Foram utilizadas as seguintes palavras chaves: teodolito, curvas de nível, topografia. RESULTADOS E DISCURSÕES
O terraceamento consiste em criar barreiras de terra em terreno com declive tendo como objetivo reter a água da chuva como também os nutrientes da camada fértil que pode correr morro abaixo causando erosão no solo. Terracear terrenos com declive é uma das formas de manter a terra fértil e produtiva, pois recuperar o solo degradado. Para a tecnologia ser implementada na propriedade rural e agrícola, primeiramente é necessário verificar a textura do solo, calcular o declive e definir a distância entre os terraços que se deseja fazer. Existem vários equipamentos que podem ser utilizados para a criação das curvas de nível e terraceamentos, desde os mais modernos como o teodolito, o GPS e o uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), até mesmo os mais simples que podem ser confeccionados em casa como o pé de galinha e o nível com mangueira. Nas grandes propriedades rurais o mais indicado é a utilização dos aparelhos mais modernos como teodolito, GPS e/ou VANTs, pois sua margem de erro é menor por se tratar de curvas de grande escala. Já nas pequenas propriedades pode se utilizar os métodos mais simples como o pé de galinha e o nível de mangueira. Antes de medir a distância entre as curvas de nível é importante saber a declividade e definir qual o seu tipo de solo, arenoso ou argiloso para que assim saiba-se qual a distância entre uma curva e outra no terraceamento (Fig. 1). Após definida a distância a ser feita cada linha entra com seu meio de tração pode ser ele animal ou mecânico. O solo argiloso possui uma granulometria menor, os poros são menores, proporcionando uma barreira maior para a passagem da água, por outro lado, o solo arenoso é constituído por uma granulometria maior, os poros são maiores, permitindo que a água passe com maior facilidade. Portanto solo argiloso permite curvas de nível mais distantes. Solo arenoso requer curvas de nível mais próximas.
Figura 1: Distancias entre curvas de nível, de acordo com o
tipo de solo. Fonte: Embrapa (2016). CONCLUSÃO
Sabe-se que o terraceamento e/ou curva de nível é de muita utilidade para grandes e pequenos produtores, pois evitam erosões do solo, retém a água da chuva e mantém a terra fértil. Para os grandes produtores é melhor utilizar os equipamentos mais modernos e com máxima precisão. Já para pequenas propriedades, equipamentos mais simples e funcionais conseguem fazer o mesmo trabalho em menor escala. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1- MIRANDA, SÉRGIO Luiz (2001). A noção de Curva de Nível no Modelo Tridimensional. Dissertação de Mestrado – Rio Claro – UNESP. 2- EMBRAPA. Vídeo Demonstrativo de Terraciamento com Arado Disponível no You Tube. 3- Portal compre Rural. Disponível em< https://www.comprerural.com/aprenda-como-construir-as- curvas-de-nivel-da-sua-propriedade/ consultado em 23.04.2020. 4- Revista Energia na Agricultura. Disponível em<http://revistas.fca.unesp.br/index.php/energia/article/view/3502 consultado em 23.04.2020. 5- EMATE MG- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
48
FISIOLOGIA DA SAZONALIDADE REPRODUTIVA EM EQUINOS
Daísa Santana Melo1*, Angélica Maria Araújo e Souza1, Carolina Fonseca Horta1, Letícia Pedrosa Blazute1, Gabriel Almeida Dutra2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil – *[email protected] 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Égua são animais poliéstricos estacionais que, no período de 12 meses, apresentam distintas fases quanto ao ciclo reprodutivo1. Os equinos são animais que expressam características fotossensíveis, ou seja, precisam de luminosidade para ativar o sistema neuro-endócrino e, assim, desencadear a atividade reprodutiva2.
Desta forma, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre a fisiologia ligada à sazonalidade da reprodução em equinos.
MATERIAL E MÉTODOS
A revisão de literatura foi realizada por meio de artigos científicos relacionados ao tema através de busca nos bancos de dados do Google Acadêmico, Scielo e Pubmed, no período de abril de 2020. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: fotoperíodo, sazonalidade, reprodução e equino. Como critério da inclusão de artigos, foi estabelecido o período de publicação entre os anos de 1974 a 2018 e artigos publicados nas línguas portuguesa e inglesa.
REVISÃO DE LITERATURA
A gestação de uma égua dura em torno de 11 meses. A estação de monta inicia-se na primavera e a de parição ocorre na mesma época do ano seguinte, coincidindo com o período em que há maior oferta de alimentos. A mudança anual no fotoperíodo é considerada a principal pista ambiental que sincroniza a atividade reprodutiva sazonal em éguas. Essa premissa foi desenvolvida em grande parte com base em três observações principais. Primeiro, a maioria das éguas interrompe a atividade reprodutiva durante o inverno, ou seja, nos meses em que a duração do dia é curta; segundo, o início da estação reprodutiva ocorre em associação com o aumento da duração do dia; e terceiro, o momento do início do estro pode ser avançado pela exposição a um aumento abrupto e artificial na duração do dia3.
Nos mamíferos, a fotoperiodicidade está relacionada à secreção do hormônio melatonina pela glândula pineal, o qual tem pico produtivo no período noturno e atua no sistema neuroendócrino, produzindo mudanças endócrinas, anatômicas e fisiológicas, afetando o comportamento, o balanço energético e o sistema reprodutivo4. O sistema fotoneuroendócrino funciona a partir da captação da informação luminosa na retina e condução pelo nervo óptico ao núcleo hipotalâmico supraquiasmático. Por sua vez, este controla a secreção noturna de melatonina.
A melatonina tem efeito inibidor na produção do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH), estimulante da sintetização de dois hormônios atuantes nos ovários: hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH)5 (Figura 01). Os hormônios LH e FSH, produzidos na hipófise anterior, são hormônios glicoproteicos. O FSH possui a função de promover o crescimento dos folículos e controlar a síntese de estrógenos, atuando na granulosa. Já o LH, além de participar da síntese de estrogênios, possui como função primária a estimulação, maturação e evolução do folículo antral e, de modo secundário, a formação e manutenção do corpo lúteo (CL)6.
A elevada sintetização e secreção de estrógenos pelos folículos pré-ovulatórios é responsável pela estimulação do
crescimento uterino através da interação do hormônio com receptores e do aumento de processos sintéticos celulares. Além disso, o estrógeno faz com que o animal demonstre sinais de estro. O estro é o momento em que ocorre a ovulação e a receptividade sexual por parte da fêmea. Nas éguas, este período tem duração de cinco a sete dias, geralmente ocorrendo a ovulação no terço final do cio7.
Figura 01. Relação da incidência de luz com a produção de melatonina. Demonstração da regulação de GnRH e demais hormônios presentes na endocrinologia reprodutiva da égua
por meio da baixa de melatonina.
Fonte: Arquivo pessoal.
CONCLUSÕES
Conclui-se que os equinos, durante a evolução da espécie, adequaram-se fisiologicamente para que o momento de sua reprodução fosse equivalente ao período com máxima incidência solar e consequente maior oferta alimentar. Também foi possível compreender que a melatonina possui papel fundamental nesta adaptação.
BIBLIOGRAFIAS 1. GINTHER. O.J. Occurrence of anestrus, estrus, diestrus, and ovulation over a 12-month period in mares. American Journal of Veterinary Research, v.35, p.1173-1179, 1974. 2. FITZGERALD B.P., MCMANUS C.J.. Photoperiodic versus metabolic signals as determinants of seasonal anestrus in the mare. Biol. Reprod. ed. 63, 2000. 3. SHARP DC. Environmental influences on reproduction in horses. Vet Clin North Am 1980; 2:207–225. 4. MORGAN, P. J., HAZLERIGG, D. G. Photoperiodic signaling through the melatonin receptor turns full circle. Journal of Neuroendocrinology, v. 20, 2008. 5. MARONDE, E.; STEHLE, J. H. The mammalian pineal gland: known facts, unknown facets. Trends in Endocrinology and Metabolism, v. 18, n. 4, p.142-149, 2007. 6. FERREIRA, A. I. T. Reprodução equina. 2009. 54 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade do Porto, Porto, 2009. 7. SAMPER, J. C. Artificial isemination with fresh and cooled sêmen. In: SAMPER, J. C. Equine Breeding Management and Artificial Insemination. 2. ed. Estados Unidos: Elsevier Health Sciences, p. 165-174, 2008.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
49
GESTÃO REPRODUTIVA DAS BÚFALAS
Rebeca Pimentel de Oliveira Silva1*, Camylla Marques¹, Dayanne Kelly Oliveira Pires¹, Adriana Doti¹, Mário Martins Guimarães2, Gabriel de Almeida Dutra3.
1 Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Mestre em Ciência Animal – UFPA. Castanhal – PA – Brasil
3 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil Contato: [email protected]
INTRODUÇÃO
O crescimento do rebanho de búfalos no Brasil tem sido rápido e significativo. É de conhecimento geral a elevada rusticidade desses animais e sua capacidade de adaptação a solos de baixa fertilidade e terrenos alagadiços, sendo capazes de converter alimentos de baixa qualidade em carne e leite. Os búfalos apresentam longevidade incomparável e grande possibilidade de ocupar regiões que são inadequadas para a criação de bovinos e outros ruminantes. Estes animais foram introduzidos no Brasil a pouco mais de 100 anos através da Ilha de Marajó no Estado do Pará e expandiu-se por toda a região Amazônica que abriga cerca de 50% do rebanho brasileiro³.
Os bubalinos são considerados animais poliéstricos sazonais e que expressam seu padrão reprodutivo em resposta a fatores genéticos e ambientais, ciclo estral variando entre 16 a 33 dias. O fotoperíodo é o principal modulador da estacionalidade reprodutiva, o qual delimita a estação de concepções e partos. 4
O objetivo desta revisão foi descrever as principais estruturas e os eventos envolvidos na reprodução de bubalinos a fim de comprovar os benefícios da criação destes animais de forma estimular novos criadores e a melhor forma de gestão destes animais a fim de obter seu desempenho máximo.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado uma revisão bibliográfica em artigos e cartilhas direcionadas ao produtor onde utilizamos os termos: bubalinocultura, búfalos, reprodução, sazonalidade reprodutiva, gestão de búfalas, inseminação, biotecnologias reprodutivas dos artigos obtidos com base no tema, foram utilizados os artigos que demonstram os efeitos da sazonalidade na reprodução deste animal a fim de obter seu desempenho máximo estudo. REVISÃO DE LITERATURA
Como nos bovinos, o ciclo estral da búfala se divide em quatro fases distintas: proestro, estro, metaestro e diestro com duração média de 16 a 33 dias. A duração média do ciclo estral varia, para as búfalas de Rio, em torno de 20 a 22 dias, e de 19 a 20 dias para as búfalas de Pântano. A fase do estro tem uma duração maior e mais variável que dos bovinos, podendo ocorrer de 5 a 27 horas com a ovulação ocorrendo de 24 a 48 horas após o início do estro ou 6 a 12 horas após o final do estro. O ovário da búfala é ovóide e consideravelmente menor do que o da vaca, apresentando menor número de folículos primordiais e maior taxa de atresia folicular.5 As pesquisas com búfalos no Brasil foram iniciadas há aproximadamente 50 anos, sendo portanto, fator responsável pelo pouco conhecimento sobre esta espécie.³ O corrimento da mucosa vaginal, vulva intumescida, comportamento de monta (muito menos frequente que nos bovinos) e a aceitação de monta são os principais sinais da presença do estro. O comportamento estral da fêmea bubalina é diferente da fêmea bovina, apresentando cios mais curtos e de difícil detecção por parte dos tratadores, pois as búfalas não apresentam comportamento homossexual, ou seja, outras fêmeas do rebanho não montam naquelas que estão em cio, exigindo a presença de rufiões.1
A melhor forma de detecção do cio na búfala é a utilização de rufiões com buçal marcador, além da frequente observação visual. Um dos sinais de estros mais seguros é a aceitação da monta pelo rufião.5 Nas regiões equatoriais com climas mais quentes e dias mais longos durante o ano todo a fêmea bubalina tem tendência em apresentar sinais de estro durante o dia, sendo assim um animal fotoperíodo positivo, não querendo dizer que estes animais não apresentaram bom desempenho em outras áreas do Brasil. 5 As fêmeas bubalinas quando criadas em localidades afastadas do Equador, são influenciadas pela redução das horas de luz durante o dia, mediadas pela produção de melatonina, ou seja elas não estão em estro o ano todo mais escolheram horário com a temperatura mais amena. Desta forma, são consideradas, nestes locais, animais com poliestria sazonal de dias curtos, apresentando interrupção de ciclicidade durante o verão, semelhante aos caprinos e ovinos. Em regiões equatoriais, onde não ocorrem variações de luminosidade significativas durante o ano, o búfalo é considerado poliestral contínuo, não sofrendo influência do fotoperíodo, o que permite sua reprodução durante todo o ano.5 No centro-sul do país, onde existe variação anual na duração de horas de luz conforme a estação do ano é observada uma concentração maior das manifestações de cio no período do outono.2 Mostra-se aí então a importância de conhecer o ciclo estral deste animal e sua sazonalidade para que biotecnologias reprodutivas sejam aplicadas da forma correta afim de ter uma elevada taxa de prenhez. CONCLUSÕES
Com esta revisão bibliográfica conclui-se que os bubalinos são animais sazonais que podem adaptar seu estro em diferentes climas do Brasil, lembrando que em regiões equatoriais onde os dias são mais longos, estes animais podem demonstrar cio durante o ano todo, desta forma o índice de partos neste locais será maior, conhecendo assim a fisiologia destes animais podem aplicar as melhores biotecnologias reprodutivas nestes animais. BIBLIOGRAFIAS 1. BARUSELLI, P.S. Manejo reprodutivo de bubalinos. 1993. 46f. Monografia - Instituto de Zootecnia - Estação Experimental de Zootecnia do Vale do Ribeira. 1993. 2. SARAIVA, N. Z.; MARQUES, JRF; FIGUEIRO, M. R. Manejo reprodutivo de búfalos com o uso de biotécnicas da reprodução. Embrapa Amazônia Oriental-Documentos (INFOTECA-E), 2019. 3. PEREIRA, RG de A. et al. Eficiência reprodutiva de búfalos. Embrapa Rondônia, Porto Velho, 15p. , 2007. 4. TORRES-JÚNIOR, José R. de S. et al. Sazonalidade reprodutiva de bubalinos (Bubalusbubalis) em regiões equatorial e temperada. R. bras. Reprod. Anim., Belo Horizonte, v.40, n.4, p. 142-147, 2016. 5. WARMLING, L.M. Biotécnicas reprodutivas usadas em bubalinos no brasil. 2018. 53f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
50
HEMATOLOGIA EM AVES SILVESTRES E EXÓTICAS
Aléxia Pimenta Bom Conselho1*, Luana Cristina Oliveira Melo1, Ana Cristina da Silva1, Cláudio Roberto Scabelo Mattoso2.
1Graduanda em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Na medicina de aves é frequente deparar-se com doenças subclínicas, tanto em plantéis de zoológicos e criadouros, como em aves mantidas como pets. Nesse contexto, a patologia clínica tem papel fundamental no diagnóstico precoce de patologias e na avaliação da sanidade em um plantel ou em um bando de vida livre, e em animais isolados. Porém, existem alguns fatores que podem dificultar o correto diagnóstico laboratorial, como: a variação dos parâmetros hematológicos entre espécies, idade das aves, sexo, estado fisiológico, habitat, se a ave é de vida livre ou de cativeiro e o desconhecimento das especificidades da hematologia em aves1,2. Dessa forma o presente trabalho de revisão de literatura tem como objetivo estudar a hematologia em aves, abordando as diferenças morfológicas nos tipos celulares e traçando comparações com os mamíferos, sempre visando a correta interpretação hematológica nesses animais e sua importância na medicina de aves. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi conduzido por meio de revisão bibliográfica. REVISÃO DE LITERATURA
As células encontradas no sangue das aves são: os eritrócitos que, diferente dos mamíferos, apresentam núcleo e tempo de vida reduzido (25 a 35 dias), podendo variar entre as espécies avícolas, o que ajuda a justificar a intensa eritropoiese que ocorre nesses animais, sendo comum encontrar células jovens no sangue devido a esse motivo. Leucócitos granulócitos: Heterófilos, a primeira linha de defesa do organismo, respondendo a inflamação e exercendo função fagocítica, semelhante aos neutrófilos nos mamíferos. Eosinófilos, que ainda não tem sua função elucidada nas aves, mas acredita-se estar associado a resposta a infecção parasitária. Basófilos, que tem ação principalmente na inflamação aguda, nas reações de hipersensibilidade, entre outras funções. Leucócitos agranulócitos: Linfócitos e monócitos, que apresentam função semelhante a observada em mamíferos, sendo os linfócitos B e T responsáveis pela imunidade humoral e celular respectivamente, e os monócitos atuando nos processos inflamatórios. Trombócitos, que apresentam núcleo, diferentemente dos mamíferos, e que tem função hemostática e fagocítica1,3,4,5. Nas aves é comum os veterinários trabalharem com valores de decisão ao invés de valores de referência, visto às grandes variações observadas no hemograma desses animais, variações intra e interespecíficas, em decorrência da idade, região geográfica, período reprodutivo, se o animal é de vida livre ou cativeiro. Os valores de decisão são valores extremos válidos para todas as aves, que quando ultrapassados demandam algum tipo de ação do médico veterinário1. Os valores de decisão tornam-se importantes quando a espécie atendida não tem valores de referência específicos para sua condição (ex. ave de vida livre, em período de postura de ovos). Na interpretação da série vermelha, o valor de decisão do hematócrito (Ht) é de 35 a 55%. Desta forma, consegue-se avaliar anemias (diminuição do Ht) ou policitemias (aumento do Ht). As anemias podem ser regenerativas, geralmente associadas a hemoparasitose, intoxicação, septicemia ou raramente por doenças autoimunes, ou não regenerativas, desencadeada por doenças crônicas, hipotireoidismo, deficiência nutricional, ou leucemia. A policitemia, achado incomum nas aves, pode ser absoluta ou relativa. É comum as aves apresentarem anisocitose, policromasia e poiquilocitose, visto que possuem eritropoiese
acelerada, sendo inclusive normal policromatófilos entre 1 a 5% dos eritrócitos, por outro lado valores maiores que 5% indicam resposta a uma anemia regenerativa. A hipocromasia está associada a deficiência nutricional de ferro, inflamação e processos de intoxicação1,2,6. Na série branca é importante considerar que aves até o sexto mês de vida apresentam ampla variação na contagem de leucócitos, e que fatores pré-analíticos, como estresse de coleta, podem gerar uma leucocitose fisiológica (leucocitose por heterofilia e linfopenia), que só irá normalizar 24h após o evento promotor de estresse. Para a mensuração do estresse utiliza-se a relação heterófilo:linfócito, sendo 0,2 indicativo de baixo estresse e 0,8 de alto estresse. As principais causas patológicas de leucocitose são: inflamação, infecção, intoxicação, doenças virais, traumas, neoplasias e leucemia. Já a leucopenia está associada a depressão da leucopoiese, doenças nutricionais, endotoxemia, radiação, doenças autoimunes e excesso de corticosteróides. Vale ressaltar que geralmente a leucocitose se dá por heterofilia, e a leucopenia por heteropenia, embora essa seja de ocorrência incomum em aves. A basofilia aparece relacionada a doenças respiratórias, traumas e parasitismo, já a monocitose é incidente em inflamações granulomatosas, enquanto a eosinofilia não tem sua ação bem elucidada1,3,6,7. CONCLUSÕES
Através dessa revisão de literatura é possível observar a importância da patologia clínica na medicina de aves, assim como, concluir que a correta interpretação é fundamental para auxílio no diagnóstico, sendo esta uma ferramenta de grande ajuda na medicina de aves silvestres e exóticas. BIBLIOGRAFIAS
1. Vila L G. Hematologia em aves: Revisão de literatura. 2013. 46p.
Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Escola de Veterinária
e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO).
2. Pinto FMSC, Holum SB, Gondim LSQ. Atlas virtual de hematologia
comparada de aves mantidas sob cuidados humano. Seminário
Estudantil de Produção Acadêmica, v.16, 2017.
3. Cubas ZS, Silva, JCR, Dias JLC, (2006). Tratado de animais
selvagens. São Paulo, Roca.
4. MITCHELL EB, JOHNS J. Avian hematology and related disorders.
Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice, v. 11,
p. 501-522, 2008.
5. Tully TN, Dorrestein GM, Jones AK. Handbook of avian medicine.
Elsevier/Saunders, 2009.
6. Ritchie BW, Harrison GJ, Harrison LR. Avian medicine: principles
and application. HBD International, Incorporated, 1994.
7. Silva GFN. Perfil hematológico de psitacídeos mantidos em
cativeiro. 2010. 68p. Dissertação (Graduação Medicina Veterinária)
–Universidade Federal do Vale do São Francisco, PE.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
51
HERNIORRAFIAS DIAFRAGMÁTICAS CONGÊNITAS UMA REVISÃO
Bárbara Figueiredo de Assis Almeida 1*, Izabella Machado Vilaça1, Roberta Renzo 2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A hérnia diafragmática é caracterizada pelo deslocamento de vísceras abdominais, para a cavidade torácica através de defeito no diafragma, a maior parte destas tem origem traumática, embora, também ocorram hérnias diafragmáticas congênitas (HDC) sendo essas raras1,2,3. As HDC podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. As verdadeiras são aquelas em que as vísceras estão contidas dentro de um saco herniário, ou seja, quando contêm saco completo de peritônio, como nas hérnias: peritônio-pericárdica (HDPP), a qual é considerada a anormalidade congênita mais comum, a hérnia de hiato (HH) e a hérnia pleuroperitoneal (HDPLP). Enquanto que as falsas ocorrem quando não contêm saco peritoneal completo. O reparo cirúrgico das HDCs deve ser realizado o mais cedo possível para reduzir a probabilidade de aderências e maximizar o potencial de ter pele, músculos, esterno e caixa torácica flexíveis, que facilitam o fechamento de grandes defeitos1,2,3. O objetivo deste estudo foi revisar trabalhos sobre as principais técnicas de herniorrafias diafragmáticas congênitas em animais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo constitui-se de uma revisão de literatura, no qual se realizou pesquisas de artigos científicos publicados em língua portuguesa e estrangeira através de buscas nos bancos de dados do Google acadêmico. O intervalo de tempo de publicação dos artigos em busca foi de 2011 até a presente data. Os critérios de inclusão para os estudos foram publicações de artigos sobre as principais técnicas cirúrgicas de herniorrafia diafragmática congênita em animais. Palavras-chave: Hérnia, diafragmática, neonatos. REVISÃO DE LITERATURA
Na correção cirúrgica da HDPP, o animal é posicionado em decúbito dorsal e é preparado todo o abdomen. A abertura da cavidade abdominal deve ser feita através de uma incisão ventral sobre a linha média, alongando a incisão cranialmente até o esterno se for necessária uma maior exposição da alteração diafragmática e dos órgãos envolvidos, a incisão ser feita cuidadosamente, de modo a não danificar os órgãos que se encontrem sob a hérnia. Os órgãos abdominais são recolocados na cavidade abdominal, alargando-se a solução de continuidade diafragmática se necessário. No fechamento, pode-se utilizar fios de sutura absorvíveis ou não absorvíveis, com pontos simples interrompidos ou contínuos4. Nas HDPLP a técnica para a correção é semelhante à utilizada nas HDPP. Já nas HH o tratamento cirúrgico consiste na associação de três procedimentos: redução do tamanho do hiato esofágico, fixação do esôfago (esofagopexia) e fixação do estômago à parede abdominal (gastropexia fúndica esquerda). A abertura da cavidade abdominal é feita através de uma incisão sobre a linha média cranial, prolongada caudalmente até ao umbigo para expor o diafragma e o estômago. Após secção do ligamento gastro-hepático, retraem-se os lobos hepáticos esquerdos medialmente, de modo a expor o hiato esofágico. Para facilitar a redução do hiato esofágico, deve introduzir-se oralmente um tubo gástrico, ou utilizar um dedo para avaliar o diâmetro apropriado do hiato. Por tração suave do estômago, a hérnia é reduzida, liberando o esôfago do diafragma ventralmente, por dissecção do ligamento frenoesofágico. Após o deslocamento para o abdômen da porção caudal do esôfago, o esfincter esofágico inferior é exposto, procedendo-se então à redução do hiato esofágico, isso é feito suturando-se os músculos dos pilares diafragmáticos ventrais ao hiato, de modo que o seu diâmetro
seja reduzido a 1 ou 2 cm. Para isso, as margens do hiato devem ser desbridadas, unindo-se depois os bordos com pontos simples interrompidos, após realiza-se a fixação do esófago ao diafragma, o que é possível através de pontos simples interrompidos entre a margem restante do hiato e o esófago abdominal, através das camadas adventícia e muscular do mesmo. A correção da HH é completada com uma gastropexia do fundo gástrico3,4. Um estudo mostrou que animais submetidos a cirurgia, apresentaram melhora no padrão respiratório e o exame radiográfico permitiu delinear a silhueta do diafragma já reconstituída fazendo com que houvesse melhora nos sinais clínicos e aumento na qualidade e expectativa de vida dos animais com HDC2,3.
Figura 1: (A) HDC: Cavidade torácica parcialmente preenchida pelo estômago e intestino delgado; (B) anatomia
do diafragma do cão; (C) Correção cirúrgica da HH; (D) Visão intraoperatória da HDPP.
FONTE: (A) Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia nº 85 Atlas de patologia macroscópica de cães e gatos; (B) RÍOS BOETA
1987; (C) BARACHO,2011; (D) TOBIAS; JOHNSTON, 2014.
CONCLUSÕES
Conclui-se que animais com HDC, caso necessário, devem ser conduzidos à correção cirúrgica o mais precocemente possível, com o objetivo de evitar a formação de aderências, aprisionamento de órgãos, melhorar os padrões respiratórios, assim como a melhora dos sinais clínicos, além de proporcionar ao animal um considerável aumento da qualidade e expectativa de vida. BIBLIOGRAFIA 1. JACOBS, Redução de hérnia diafragmática utilizando malha de polipropileno. 2. ANDRADE, Patrícia Bueno et al. Hérnia diafragmática congênita em gato filhote–relato de caso. 3. FOSSUM, T. W., Hedlund, C. S., Johnson, A. L., Schulz, K. S., Seim III, H. B., Willard, M. D., Bahr, A. & Carroll, G. L. 2007. 3ª ed 4. HUNT, G. B. & Johnson, K. A. 2003. Diaphragmatic, pericardial, and hiatal hernia. In D. Slatter (Ed.) Volume1, (3 rd ed.) Philadelphia: Elsevier Science.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
52
HIPERPLASIA FIBROADENOMATOSA FELINA: RELATO DE CASO
Ingrid Nayara de Abreu¹, Vanessa Rodrigues da Cunha Santos¹, Hizadora Arlinda Dias Silva¹, Júllia Stefane Aniceto Pizate¹, Sarah Tielhy Tarquinio ¹, Gabriel Almeida Dutra ².
1Graduando em Medicina Veteirnária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A hiperplasia fibroadenomatosa mamária felina é uma condição benigna e não neoplásica caracterizada por uma rápida proliferação do epitélio dos ductos mamários e estroma, em resposta a estímulos hormonais. Esta condição é frequentemente observada em gatas jovens que ciclam e está associada a um aumento no nível sérico de progesterona, pois também pode ser observada em felinos que receberam progestágenos exógenos usados como contraceptivos¹. Em raros casos a hiperplasia fibroadenomatosa felina é vista em gatos machos, castrados ou não, que receberam progesterona como tratamento para incontinência urinária4.
Um dos protocolos terapêuticos é mastectomia, uma vez que em alguns animais não se observa redução do volume mamário após a utilização do progestágeno ou ocorre recidiva do processo após algum tempo². Entretanto, atualmente, destaca-se a utilização do aglepristone, um fármaco antiprogestágeno e equivale a um método de tratamento alternativo à mastectomia³. O presente trabalho descreve um caso de hiperplasia mamária felina, utilizando aglepristone como alternativa terapêutica. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Foi atendida em uma clínica particular em Belo Horizonte/MG Uma gata, sem raça definida, com 1 ano e 3 meses de idade e pesando 3 kg. Tinha um histórico de gravidez no primeiro ciclo estral há aproximadamente 8 meses, e utilização de antiprogestágeno há 15 dias. Ao exame clínico observou aumento muito significativo de toda a cadeia mamária bilateral, tecido com consistência firme, com alterações cutâneas e com ulcerações. Apresentava sensibilidade dolorosa e dificuldade de locomoção, o tutor relatou ainda que estava com apetite diminuído e prostrado. Com base na anamnese e exame físico, aumentou a suspeita de hiperplasia mamária. Foi coletado amostra sanguínea para realização de exames complementares. Os resultados dos exames mostraram discreta leucocitose e os demais não mostraram alterações significativas. Como terapia específica, foi utilizado Aglepristone na dose de 15mg/kg, por via subcutânea, a cada 24 horas por 2 dias consecutivos durante 4 semanas. Foi realizado tratamento de suporte com Tramadol na dose de 1mg/kg, via oral a cada 24 horas por 7 dias e Prednisolona via oral 1mg/kg a cada 24 horas por 5 dias e aplicação única de Convenia® (Cefovecina sódica) na dose de 8mg/kg por via subcutânea. Na primeira semana de tratamento, os tutores relataram melhora no apetite e no comportamento e discreta regressão no volume mamário. Na segunda semana, houve diminuição muito significativa das mamas, apetite normal e comportamento mais ativo. Na terceira semana, somente a mama torácica cranial esquerda apresentava tamanho aumentado, o animal apresentava apetite normal e comportamento ativo. Na última semana do tratamento, todas as mamas estavam em tamanho normal, apetite normal e comportamento ativo. Foi coletado amostra sanguínea para realização de exames complementares para avaliar a condição geral para submeter ao procedimento anestésico e cirúrgico de ovariosalpingohisterectomia ( OSH).
CONCLUSÃO
A procura de antiprogestágenos sintéticos como método contraceptivo ainda é muito frequente, tendo em vista os inúmeros casos de hiperplasia mamária em gatas. A ocorrência se dá provavelmente devido à facilidade de acesso e ao baixo custo quando comparado ao procedimento cirúrgico de ovariosalpingohisterectomia (OSH) eletiva, associado a falta de informação dos tutores. Em muitos casos, o paciente é submetido à mastectomia parcial ou radical como tratamento de escolha. Porém, a terapêutica medicamentosa mostrou-se muito eficaz, bem tolerado pela espécie. Apresentando pouco ou nenhum efeito colateral e rápida resposta, não sendo necessário submeter o paciente a tal procedimento cirúrgico. A escolha por fazer as medicações semanais além de ser um protocolo de confiança, foi também uma estratégia para manter o paciente em constante monitoração podendo acompanhar de perto a resposta ao tratamento, visto que, em alguns casos os tutores não retornam após uma melhora do quadro. A hiperplasia mamária, embora seja uma condição benigna, pode adquirir um caráter emergencial e crítico, com possibilidade de óbito em caso de complicações sistêmicas, sendo assim é
recomendado a OSH eletiva como método contraceptivo.
BIBLIOGRAFIAS 1 AMORIM, F.V. 2007. Hiperplasia mamária felina. Acta Scientiae Veterinariae. 35(2): 279-280 2 VASCONCELLOS, C. H. C. Hiperplasia mamária. In: SOUZA, H. J. M. Coletâneas em medicina e cirurgia felina. Rio de Janeiro: L. F. livros, 2003. p. 231-237. 3 SILVA, T. F. P.; UCHOA, D. C.; SILVA, L. D. M. Fibroadenoma mamário felino após administração única de acetato de medroxiprogesterona. Revista Brasileira de Reprodução Animal, n. 5, supl., p.154-156, 2002. 4. ROSSI, L.K.J. Hiperplasia fibroadenomatosa mamária felina – relato de caso. 2014. 23f.Monografia (Graduação em medicina veteriária). Universadade Estadual Paulista Julio Mesquita Filho, Araçatuba, 2014.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
53
HIPOADRENOCORTICISMO PRIMÁRIO EM CÃO – RELATO DE CASO
Juliana Ferreira Olimpio¹*, Izabella Machado Vilaça¹, Frederico Eleutério Campos¹, Clarissa Corrêa Guerra Lustosa¹. Roberta Renzo2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O hipoadrenocorticismo ou doença de Addison é uma doença endócrina pouco comum em cães que resulta da produção deficiente, pelas glândulas adrenais, de mineralocorticoide como a aldosterona e/ou glicocorticoide sendo o principal o cortisol. A destruição do córtex adrenal caracteriza o hipoadrenocorticismo primário, mais comum em cães. A forma secundária é condição rara e se caracteriza pela deficiência de secreção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) pela hipófise². Os cães de meia idade e as fêmeas são mais acometidos, embora já tenha sido relatado em animais jovens. Os sinais clínicos mais comuns são anorexia, letargia, vômito, tremores, diarreia, poliúria e polidipsia. Ao exame físico a depressão, a fraqueza, a síncope, a hipotermia e a desidratação são mais comumente descritas. Nos exames laboratoriais a doença é caracterizada por alterações eletrolíticas como hipercalemia, hiponatremia e hipocloremia. A redução da relação sódio: potássio (Na:K) é um dos achados clássicos de hipoadrenocorticismo primário³. O diagnóstico pode ser feito pelo teste de estimulação com ACTH, que consiste na determinação do cortisol plasmático. O tratamento baseia-se em corrigir a hipovolemia e anormalidades eletrolíticas e suplementação de glicocorticoide e mineralocorticoide ao longo da vida. O prognóstico é positivo, mas o paciente deve ser medicado e monitorado periodicamente, o que favorece a manutenção de uma vida normal e de melhor qualidade. Diante das informações supracitadas, este trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico de uma cadela sem raça definida (SRD), de 9 anos de idade, com hipoadrenocorticismo primário, atendida em uma clínica veterinária na região metropolitana de Belo Horizonte./MG. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Uma cadela SRD, castrada, de 9 anos de idade, pesando 5kg, foi atendida em uma Clínica Veterinária em Belo Horizonte com queixa de anorexia, letargia e fraqueza muscular. Foi relatado pelo tutor poliúria e polidipsia nas últimas duas semanas antes da consulta. Ao exame clínico foi observado dor abdominal, baixo escore corporal, desidratação grave, hipotermia, bradicardia e pulso femoral fraco. No atendimento inicial optou-se por restabelecer a volemia e temperatura e iniciou-se a fluidoterapia com soro fisiológico 0,9% na dose de 70ml/kg, além do aquecimento corporal.Nos exames laboratoriais, evidenciou-se anemia não regenerativa, azotemia, hipercalemia, hipercalcemia, hiperfosfatemia e hiponatremia. Por meio de radiografia convencional, foi observada microcardia e adrenais com diâmetro reduzidos na ultrassonografia. Após estes achados realizou-se o teste de estimulação de ACTH sintético na dose de 0,25mg intramuscular, que teve como resultados 0,25μg dL-1 de cortisol plasmático pré ACTH e 0,44μg dL-1 pós-ACTH, o que confirmou o diagnóstico de hipoadrenocorticismo primário. A deficiência de cortisol leva a alterações como letargia, fraqueza, alterações gastrointestinais e perda de peso, o que justifica os achados clínicos encontrados na primeira consulta. A falta de aldosterona aumenta a concentração de íons potássio, o que leva perda de sódio, cloreto e água, levando o animal ao quadro de desidratação, hipovolemia, hiponatremia³. A azotemia pode ser explicada pela redução da taxa de filtração glomerular, diminuição da troca de sódio e consequentemente hipercalemia, uma das causas da fraqueza muscular presente. Nos achados laboratoriais, a
hipercalemia e a hiponatremia são clássicas de hipoadrenocorticismo primário devido à deficiência de aldosterona, que interfere na capacidade dos rins em excretar potássio e absorver sódio². A relação de Na:K fisiológica não deve ser inferior a 27:1 e a paciente apresentava relação de 17:1, sugerindo uma possível deficiência de mineralocorticoide¹. A microcardia está presente em 50% dos casos relatados e está associada à hipovolemia.A atrofia da glândula adrenal explicaria perda de produção hormonal. O diagnóstico é confirmado quando a concentração de cortisol, após a administração de ACTH sintético, é inferior a 1 μg/dL².Após a instauração do diagnóstico, iniciou-se o tratamento da crise aguda com dexametasona na dose de 0,3mg/kg, uns dos medicamentos de eleição, pois não interfere no teste de ACTH. Após a estabilização, a paciente foi liberada para casa com a prescrição de acetato de fludrocortisona, que tem ação mineralocorticoide e glicocorticoide administrado na dose de 0,025mg/Kg, SID, initerruptamente. Nos exames de monitoramento feitos 30 dias após o início da terapia, os valores de hemograma e bioquímicos se encontravam próximos do normal, a relação Na:K aumentou para 24:1 e o animal apresentava boa condição física, o que foi indicativo do controle da doença. Figura 01: Glândula adrenal - anatomia das zonas e principais hormônios produzidos.
Fonte:www.medicinanet.com
CONCLUSÕES
Podemos concluir que o hipoadrenocorticismo é uma doença de difícil diagnóstico e com sinais clínicos inespecíficos que mimetizam outros distúrbios, como doenças gastrointestinais e renais. O exame clínico bem feito e a escolha correta de exames laboratoriais são essenciais para o diagnóstico correto da doença, que geralmente possui prognóstico favorável. BIBLIOGRAFIAS 1. EMANUELLI, Mauren Picada et al. Hipoadrenocorticismo primário em um cão. Ciência Rural, v. 37, n. 5, p. 1484-1487, 2007. 2. SANTANA, Ana Paula Álvaro et al. Hipoadrenocorticismo primário no cão: estudo retrospectivo de 10 casos clínicos. 2009. Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Medicina Veterinária. 3. GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 9.ed. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 1997. 1014p.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
54
IMPACTOS DA NEOSPOROSE BOVINA NA REPRODUÇÃO NACIONAL
Mariana Cardoso de Abreu1*, Felipe Guimarães Guerrieri1, Mariana Perpétuo Dias1, Luís Fernando Freitas Carvalho1, Gabriel Almeida Dutra2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O Neospora caninum é um protozoário do filo Apicomplexa, que apresenta como hospedeiros definitivos os canídeos, como: cão doméstico, coiote e o lobo cinzento. Inúmeros mamíferos podem servir de hospedeiro intermediário para esse parasita o que engloba bovídeos, caprinos e alpacas.1
Vacas infectadas apresentam de três a sete vezes mais chances de apresentar aborto, quando comparadas a animais não parasitados.1 A Neosporose é considerada a principal causa de aborto em rebanhos bovinos no mundo.1,2,3,4,5.
Calcula-se um prejuízo anual de cerca de U$ 1 bilhão.2
O objetivo deste estudo foi realizar uma breve revisão bibliográfica apontando o ciclo biológico desse coccídeo, sua epidemiologia, prevalência nos rebanhos bovinos brasileiros, patogênese, métodos diagnósticos e preventivos. A fim de compreender os impactos da neosporose bovina na pecuária nacional e as suas consequências no desempenho dos animais.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica com base em artigos científicos publicados no período de 2012 a 2019. Para desenvolver esse trabalho foram utilizadas as palavras-chaves: Neospora caninum, bovinos, aborto e prevalência. REVISÃO DE LITERATURA
O ciclo biológico do Neospora caninum apresenta três fases morfológicas distintas o oocisto, taquizoíto e bradizoíto (figura 1). Nos hospedeiros definitivos serão encontradas todas essas fases. Nessas espécies a contaminação ocorre pela ingestão de oocistos esporulado ou pelo consumo de carcaças contaminadas. No intestino delgado, os esporozoítos se ligam à mucosa e, então, são interiorizados pelos enterócitos, onde se forma o vacúolo parasitóforo, no qual há o desenvolvimento do taquizoíto e, sucessivamente do bradizoíto.2 Em bovinos a contaminação ocorre por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados, mas também, pela passagem transplacentária de taquizoítos para o feto. A primeira forma de infecção também pode ser denominada contaminação horizontal, nessa há a ocorrência acentuada de abortamentos, podendo ser denominada como epidêmica, cerca de 10% das vacas gestantes sofrem aborto nesse tipo de contaminação. Já a transmissão placentária, ou vertical, apresenta baixa manifestação de abortos. Uma explicação seria o desenvolvimento de imunidade celular e humoral que reduzem a proliferação do coccídeo.2 A severidade que a doença afeta os animais depende da quantidade de agente patológico que infectou a fêmea, a virulência e o estágio de gravidez que a gestante se encontra. No terço inicial da gestação esse parasita induz a morte embrionária e reabsorção, tornando sua percepção mais improvável. Já do terceiro mês de gestação ao parto, há aborto, e esses tendem a acontecer entre o quinto e o sexto mês de gestação.2
Figura 1: Ciclo biológico do Neospora caninum.
Fonte: Guido, 2018.
Os fetos apresentam lesões localizadas no sistema nervoso central, coração, fígado e placenta. As lesões no histopatológico caracterizam-se por encefalite multifocal supurativa, microgliose e necrose no SNC. Já no fígado há hepatite periportal. No coração é possível identificar o miocárdio inflamado sem presença de pus.2 O diagnóstico da neosporose pode ser realizado em amostras de materiais abortados ou pesquisa sorológica em fêmeas.2 Amostras de 205 vacas nelore do estado do Mato Grosso - Brasil, foram testadas por meio imunofluorescência indireta. Obteve-se uma prevalência de 37,56%. Além disso, observou-se que a oferta de água era de fonte natural, as mortes fetais ocorriam no terço médio de gestação e a repetição de cio acometiam 10 a 15% do rebanho. Todas as fazendas faziam teste diagnóstico para Brucelose, IBR e BVD, mas obtiveram resultado negativo.3 Em Minas Gerais 1.204 animais de 40 fazendas leiteiras foram testados para neosporose, a prevalência foi de 21,6%.5
A bibliografia consultada revela que a prevalência de neosporose está entre 20 a 30% tanto em rebanhos leiteiros quanto de corte.1,3,4. A prevenção da neosporose é a medida mais efetiva, já que o tratamento com anticoccidianos, como o toltrazuril, é pouco eficiente. Portanto, ofertar água potável aos animais, restringir o acesso de cães e identificar os animais positivos, são as medidas a serem tomadas.2
CONCLUSÕES
A neosporose é uma doença presente nos rebanhos brasileiros na ordem de 20 a 30%, reduz a eficiência reprodutiva e aumenta os custos de produção. Em vista disso, o conhecimento acerca de sua biologia, epidemiologia, manifestações clínicas e diagnóstico, se torna fundamental. BIBLIOGRAFIAS 1. Serrano-Martínez, M. E., Cisterna, C. A. B., Romero, R. C. E., Huacho, M. A. Q., Bermabé, A. M., & Albornoz, L. A. L. Evaluation of abortions spontaneously induced by Neospora caninum and risk factors in dairy cattle from Lima, Peru. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, 2019; (AHEAD). 2. Guido, Stefano. Development of diagnostic tests for the detection of Neospora caninum infected cattle. 2018. 3. Justo, R. V., Manfio, J. B., Galhardo, J. A., Garcia, J. L., & Campos, A. K. Seroepidemiological inquiry on bovine neosporosis in northern Mato Grosso state, Brazil. Semina: Ciências Agrárias, 2013; 34(6Supl2): 3897-3902. 4. Sousa, M. E., Wagnner, J. N., Albuquerque, P. P., Souza Neto, O. L., Faria, E. B., Pinheiro Júnior, J. W., & Mota, R. A. Seroprevalence and risk factors associated with infection by Neospora caninum of dairy cattle in the state of Alagoas, Brazil. Pesquisa Veterinária Brasileira, 2012; 32(10): 1009-1013. 5. Cerqueira-Cézar, C. K., Calero-Bernal, R., Dubey, J. P., & Gennari, S. M. All about neosporosis in Brazil. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, 2017; 26(3): 253-279.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
55
INCIDÊNCIA DE RETENÇÃO DE PLACENTA EM UMA PROPRIEDADE DE MG
Gabriel Rodrigues Franco da Cruz¹*, Gabriel Torres Pires Ferreira¹, Delcimara Ferreira de Sousa¹, Leonardo Dothling Gonçalves¹, Gabriel Almeida Dutra².
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBh – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBh – Belo Horizonte – MG – Brasil
*Autor para correspondência: [email protected]
INTRODUÇÃO
Aproximadamente 75% das enfermidades que acometem vacas leiteiras acontecem no período de transição, da primeira semana que antecede o parto até a terceira semana pós-parto. Neste contexto, enfermidades relacionadas ao trato reprodutivo, como a retenção placentária, podem prejudicar a produção de leite, bem como afetar a eficiência reprodutiva dos animais1. A retenção de placenta (RP) é uma falha na expulsão das membranas fetais, que ocorre durante o terceiro estágio do trabalho de parto. É considerada uma complicação comum em ruminantes, principalmente em fêmea bovinas, devido o tipo de placenta cotiledonária encontrada nesta espécie4.
A liberação da placenta após o parto envolve a perda da adesão materno-fetal e ocorre somente após a maturação do placentoma, sendo que as contrações uterinas ajudam mecanicamente essa liberação que ocorre fisiologicamente entre três e seis horas após o parto2;3. caracterizaram a retenção de placenta como falha da expulsão da placenta dentro de 24 horas após o parto.
Este estudo teve o objetivo de relatar a ocorrência dessa doença em um rebanho leiteiro do estado de Minas Gerais, avaliando o número total de partos no ano de 2019.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Os dados foram obtidos de uma propriedade leiteira localizada no estado de Minas Gerais, com um rebanho de aproximadamente 1200 cabeças de gado da raça girolando, com uma produção leiteira média de 22 litros/dia. O manejo nutricional adotado na propriedade consistia em: no período chuvoso (Novembro-Abril) é baseado em pastejo rotacionado em gramínea tropical (Panicum maximum cv. Mombaça) e no período seco (Maio-Outubro), silagem de milho fornecida no cocho aos animais. A suplementação com concentrado é realizada durante todo o ano, de acordo com a produção de leite. O ambiente no qual as vacas são mantidas se dispõe de sistema de resfriamento apenas na sala de espera da ordenha. Para identificar os casos de RP, as vacas foram observadas durante e/ou logo após o parto. Foram considerados positivos os casos em que a placenta não foi eliminada na sua totalidade, permanecendo retida por mais de 24 horas após a expulsão do feto. No gráfico 1 podemos observar o número total de 919 partos no ano de 2019 e um total de 90 casos confirmados de Retenção de Placenta (RP), dando uma porcentagem de 10% de retenção dentro do sistema neste ano. Este valor é mais alto que os apresentados na Nova Zelândia (2,0%), GrãBretanha (3,8%), Irlanda (4,1%), Arábia Saudita (6,3%), Estados Unidos (7,7%), Suécia (7,7%), Israel (8,4%) e Índia (8,9%), e mais baixo que os obtidos em Bangladesh (39,0%), Indonésia (30,0%) e Tunísia (15,0%)5, o que nos permite avaliar que os procedimentos da fazenda estão dentro do esperado pois esta porcentagem está dentro dos limites impostos pela literatura. No gráfico 2 podemos observar uma porcentagem de casos de RP maior no período chuvoso em relação ao período seco do ano de 2019. Uma justificativa plausível para este aumento é a mudança destes animais do confinamento no período seco para o pastejo rotacionado no período das águas. Isso
pode ser justificado pela alteração da dieta desses animais e estresse térmico pré parto.
Gráfico 1 – Número de casos de retenção de placenta em comparação com o total de partos no ano de 2019
Gráfico 2 – Porcentagem dos casos de retenção de placenta no ano de 2019
CONCLUSÕES
Todas as vezes que é a propriedade realiza boas práticas de manejo no sistema, podemos observar números satisfatórios como os apresentados no trabalho. Para dar continuidade, objetivando melhora na porcentagem da RP no sistema, a fazenda necessitará de aperfeiçoar os números do período chuvoso para que os casos se mantenham de maneira promissora. BIBLIOGRAFIAS 1. Nobre M.M., Coelho S.G., Haddad J.P.A., Campos E.F., Lana A.M.Q., Reis R.B. & Saturnino H.M. 2012. Avaliação da incidência e fatores de risco da retenção de placenta em vacas mestiças leiteiras. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec. 64(1):101-107. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-09352012000100015. 2. Meça K.K.O., Vasconcelos A.C. & Moro L. 2006. Inibição de apoptose e retardo da maturação placentária: um provável mecanismo da retenção de placentária na brucelose bovina, revisão de literatura. Biosci. J. 22:163-174. 3. Kelton D.F., Lissemore K.D. & Martin R.E. 1998. Recommendations for recording and calculating the incidence of selected clinical diseases of dairy cattle. J. Dairy Sci. 81(9):2502-2509. http://dx.doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(98)70142-0. PMid:9785242. 4. Pereira, E. S., Pimentel, P. G., Queiroz, A. C. & Mizubuti, I. Y. (2010). Novilhas leiteiras (Vol. 1). Fortaleza, Ceará: Graphiti Gráfica e Editora Ltda. 5. LAVEN, R.A.; PETERS, A.R. Bovine retained placenta: aetiology, pathogenesis and economic loss. Vet. Rec., v.139, p.465-471, 1996.
0
20
40
60
80
100
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Nº de Partos Nº de casos de RP
13%13%
5%
11%
5%
7%8%
11%
3%
12%
16%15%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
56
INFECÇÃO GENITOURINÁRIA CAUSADA POR DISPOSITIVO DE PROGESTERONA
Bruna Pereira da Silva1, Karen Machado Magalhães1, Frederico Eleutério Campos1, Bruna Rocha de Oliveira2, Gabriel Almeida Dutra3.
1Graduanda em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/MG – Brasil 2Medica Veterinária no Hospital Veterinário – UniBH – Belo Horizonte/MG – Brasil
3Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH– Belo Horizonte/MG – Brasil
INTRODUÇÃO
É notório o crescimento do mercado equino no Brasil na última década, assim como o interesse pelo aperfeiçoamento das biotecnologias da reprodução4. Dentre as principais biotécnicas reprodutivas, destaca-se a transferência de embriões (T.E). De acordo com o último levantamento realizado, o Brasil é o país com o maior número de embriões transferidos por ano, cerca de 25.0005.Isso porquea T.E permite que sejam incluídas no processo reprodutivo éguas idosas e subférteis, além de evitar a interrupçãodo treinamento de animais atletas3. Nas últimas décadas, dezenas de protocolos de sincronização entre a égua doadora e a receptora foram elaborados visando melhorar as taxas reprodutivas pós transferência. Dentre os diversos protocolos desenvolvidos, a utilização de um dispositivo intravaginal de progesterona tem demonstrado bons resultados2. Entretanto, se utilizado de forma negligente, o dispositivo pode causar sérios danos ao trato genitourinário da égua.Desta forma, o objetivo deste trabalho foi relatar pela primeira vez um caso de cistite e infecção uterina em um equino causado por um dispositivo intravaginal de progesterona.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
O presente relato descreve o caso de uma égua de sete anos, SRD, recém comprada (dois meses), que deu entrada no hospital veterinário do UniBH, durante o projeto A Tração em setembro de 2019, para realizar casqueamento corretivo. Previamente a avaliação do casco, o animal foi direcionado à triagem. Além da ausculta cardíaca (36 bpm) e respiratória (24 rpm), temperatura (37,2°C), análise da coloração da mucosa (normocorada) e TPC (2”) – todos os parâmetros estavam normais - também foram realizados exames para avaliar o trato reprodutivo. Durante a palpação transretal, a paciente urinou e foi observado urina de aspecto sanguinopurulenta (FIG.1), onde também foi constatado ventralmente, na mucosa retal, uma estrutura rígida em formato de “Y”. Como exame complementar, a égua foi submetida a uma ultrassonografia transretal de todo trato geniturinário. Ao longo da avaliação ultrassonográfica, verificou-se a bexiga de parede espessada, repleta com conteúdo hiperecogênico. Na análise ultrassonografica do útero, observou-se um hiperedema (Fig.2), assim como presença de líquido (++). A fim de identificar a estrutura em forma de “Y”, o médico veterinário responsáveloptou pela palpação transvaginal, a qual revelou a presença de um dispositivo intravaginal de progesterona (Fig.3). O dispositivo estava há mais de dois meses no canal vaginal da égua, o que promoveu uma resposta inflamatória, concomitante a uma infecção geniturinária. Provavelmente essa infecção foi potencializada pela ação do dispositivo em liberar progesterona, uma vez que esse hormônio tem como uma das funções inibir a ação do estrógeno, o que impossibilitou o aumento da vascularização. Consequentemente, a chegada de mais células de defesa na região foi comprometida. Por fim, o dispositivo foi retirado e prescreveu-se antibioticoterapia para o tratamento da paciente.
CONCLUSÔES
O dispositivo de progesterona intravaginal é um excelente aliado dos médicos veterinários para aumentar os índices de fertilidade nos processos que envolvem a reprodução equina. No entanto, uma vez introduzido na égua, é necessário que haja acompanhamento e inspeção do seu funcionamento, e que seja retirado após o protocolo para que o animal não sofra danos clínicos. BIBLIOGRAFIA 1. Alvarenga, Marco Antonio, andEriky Akio Oliveira Tongu. "Estratégias para melhorar a eficiência reprodutiva em programas de transferência de embrião de equinos." Rev. Bras. Reprod. Anim 41.1 (2017):19-24. 2. Schutzer, Carlos Guilherme de Castro. "Utilização do implante de progesterona intra-vaginal e acetato de deslorelina em éguas acíclicas associados ou não a luz artificial para o controle da sazonalidade repprodutiva." (2012): 62-f. 3. Pinto MR, Miragaya MH, Burns P, Douglas, R, Neild, DM. Strategies for IncreasingReproductiveEfficiency in a CommercialEmbryoTransferProgramWith High Performance Donor Mares Under Training. J EquineVetSci, v.54, p.93-97, 2017. 4. Souza, R.T.R. et al. Sincronização de receptoras no diestro para utilização em programa de transferência de embriões em equinos. Veterinária e Zootecnia, p. 245-253, 2015. 5. Losinno L, Urosevic IM. Equine embryo transfer . Technical and practical considerations for application on horse production programs. Proceedings...19th International Congress on Biotechnology in Animal Reproduction (ICBAR). Novi Sad, Serbia, p.23-30, 2015. .
Figura 2: Imagem ultrassonografica do corno uterino direito (indicado pela seta) mostrando o útero hiperedemaciado.
Figura 1: égua eliminando conteúdosanguinopurulento.
Figura 3: Dispositivo de progesterona intravaginal recém tirado do canal vaginal.
Fonte: arquivo pessoal Fonte: arquivo pessoal
Fonte: arquivo pessoal
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
57
INFECÇÃO ORAL POR TRICHOMONAS GALLINAE EM FALCONIFORMES
Pedro Henrique Cotrin Rodrigues1*, Angélica Maria Araújo e Souza1, Hallana Couto e Silva1, Luisa Andrade Azevedo1, Thamiris Almeida de Paula Freitas1, Luiz Flávio Telles2.
1Graduando em Medicina Veterinária – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
*Autor para correspondência: Pedro Henrique Cotrin Rodrigues – [email protected]
INTRODUÇÃO
Até o presente momento, cerca de 63 espécies de Falconiformes já foram descritas mundialmente. Dessas, 17 ocorrem no Brasil, sendo ampla sua área de distribuição1,2. De habito alimentar carnívoro generalista ou especialista, sua preferencia varia conforme a espécie, podendo novas presas serem inclusas devido à disponibilidade e/ou falta de alimentos primários2. Dentre os Falconiformes, o Carcará (Caracara Plancus) é o mais comum em território brasileiro, em virtude de sua alta capacidade de adaptação em regiões periurbanas e hábito alimentar generalista3.
Devido à perda de habitat, é cada vez mais frequente à ocupação de ambientes periurbanos pela fauna silvestre, como alternativa na busca de novos alimentos. É por essa razão que tem se aumentado a incidência de doenças antes não documentadas em determinadas espécies, sendo a tricomoníase uma delas2,3. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo descrever a etiopatogenia da tricomoníase em Falconiformes, e seus impactos a essa ordem, apresentando medidas terapêuticas. MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em plataformas digitais, utilizando as seguintes palavras chaves: tricomoníase, rapinantes, aves, silvestres; e seleção de artigos recentes. Juntamente a isso foi feito um levantamento de dados sobre a incidência da tricomoníase em Falconiformes, apresentando mediações. REVISÃO DE LITERATURA
A tricomoníase é uma doença infecciosa parasitária e cosmopolita, causada pelo Trichomonas Gallinae, protozoário flagelado e de ciclo direto, sem forma de cistos ou resistência2,4. Afeta principalmente animais jovens e imunossuprimidos, sendo frequentemente relatada em Falconiformes. O pombo doméstico (Columba livia) é o principal reservatório do T. Gallinae, e se infecta através da ingestão de grãos, principalmente em épocas quentes e úmidas1,2. De acordo com TASCA (1999), em um estudo realizado no Rio Grande do Sul, cerca de 27% desses animais são positivos para esse agente, servindo como fonte de infecções para outras espécies. Devido a abundancia de pombos domésticos em centros urbanos e sua facilidade de predação, os Falconiformes, na busca de alimento fácil, passam a predar esses animais, mesmo que não façam parte do seu ciclo alimentar2,3. Grande parcela da infecção por T. Gallinae em Falconiformes ocorre pela ingestão de carcaça de pombos doentes e, em menor proporção, por utensílios alimentadores infectados, água contaminada e através da alimentação dos progenitores infectados para a sua prole1.
A sintomatologia está intimamente relacionada à porção afetada e gravidade da lesão. As lesões por T. Gallinae acometem principalmente o trato digestório1,2, mas podem afetar o trato respiratório superior e tecido ósseo adjacente, de acordo com a progressão3. De aspecto caseoso, coloração que varia de amarelado/amarronzado e odor fétido, as placas formadas em cavidade oral, faringe, esôfago e inglúvio comprometem o consumo alimentar, podendo ser observado disfagia, perda de peso, anorexia e morte por inanição. Em quadros mais severos, evolui para necrose e perda
anatômica, mesmo quando tratado, tornando-se incompatível com a vida, onde a eutanásia deve ser discutida1,2.
O diagnóstico se baseia no histórico, sinais clínicos e lesões em cavidade oral, sendo sugestivo da doença2. Em relação ao tratamento, o Metronidazol (30mg/kg/VO/BID/10 dias) apresenta bons resultados (FIGURA 1), sendo o fármaco de eleição. Além disso, a hidratação, suporte nutricional e tratamento de infecções secundárias e concomitantes são necessários. Em alguns casos, pode ser essencial o uso de sondas alimentares, devido à disfagia1,2. Figura 1: Evolução do caso clinico de um Caracara plancus
após administração de Metronidazol.
A: antes do tratamento; B: 10 dias após o tratamento (Arquivo pessoal - CETAS/BH). Medidas de isolamento preventivo devem ser adotadas, sendo os utensílios higienizados diariamente e de uso exclusivo1,5. CONCLUSÕES
Visto a alta prevalência da tricomoníase em centros de triagem de animais silvestres (10%) e seu alto potencial de dispersão5, é inquestionável o entendimento da etiopatogenia da doença e condutas terapêuticas adequadas, contribuindo na perpetuação da espécie e permitindo que ela cumpra seu papel ecológico. BIBLIOGRAFIAS 1. CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de animais selvagens: Medicina Veterinária. 2.ed. São Paulo: Editora GEN/Roca, 2014. 2. ECHENIQUE, Joanna V.Z. et. al., Oral trichomoniasis in raptors in Southern Brazil. Pesq. Vet. Bras., v. 39, n.12, p. 983-988, RJ, Jan 10, 2020. 3. MALZ, G. A.L, et. al., Lesões ósseas causadas pela infecção por Trichomonas gallinae em Carcara plancus. XXVII Congresso de iniciação cientifica (CIC). UFPEL, 2018. 4. SPRIGGS M. C., et. al., Detection of Trichomonas gallinae in Wild Birds Admitted to a Rehabilitation Center, Florida, USA. Journal of Wildlife Diseases, 56(3), 2020. 5. ANDERY, D de A et. al., Health assessment of raptors in triage in Belo Horizonte, MG, Brazil. Rev. Bras. Cienc. Avic., Campinas , v. 15, n. 3, p. 247-256, Sept. 2013. 6. TASCA T. et. al., Prevalência de Trichomonas gallinae no trato digestivo superior do pombo comum, Columba livia, no sul do estado brasileiro, Rio Grande do Sul. 1999.
APOIO: CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES DE BELO HORIZONTE (CETAS-BH)
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
58
INFLUÊNCIA DA GESTÃO EM PROPRIEDADES RURAIS
Bárbara de Souza Dias¹, Lohane Jennifer Jesus Lacerda¹, Sthepanie Ingrid Ferreira¹, Breno Mourão de Sousa².
¹Graduando em Medicina Veterinária - 2020 – UniBH – Belo Horizonte/MG – Brasil ²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG - Brasil
*autor para correspondência: Bárbara Dias: [email protected]
INTRODUÇÃO
As propriedades rurais estão inseridas no chamado agronegócio, que compreende a união de todas as atividades envolvidas no setor agrícola.³ No cenário mundial o Brasil é reconhecido por seu imenso território e por inúmeros produtos do agronegócio que dependem de conhecimento específico e capacidade de gerir as atividades que desenvolvem.¹ Com a economia globalizada, o setor agrícola, vem sofrendo profundas transformações, exigindo uma gestão eficiente, sustentável e inovadora tanto por parte do produtor rural quanto do empresário ou administrador.⁴A informação contábil se torna necessária para que o processo de gestão não se torne falho ou impreciso quanto as decisões a serem tomadas.¹Nesse contexto, a gestão torna-se ferramenta de apoio, planejamento e controle para a tomada de decisões relacionadas as atividades das propriedades rurais.¹ Objetiva-se relatar sobre a gestão em propriedades rurais, seu desenvolvimento e sua importância. MATERIAIS E MÉTODOS
No presente trabalho a metodologia utilizada foi uma revisão de literatura sobre gestão do agronegócio, gestão em propriedades rurais e gestão de custos. REVISÃO DE LITERATURA
A gestão rural é fundamental pois, permite ao produtor o conhecimento financeiro da propriedade, registra e controla as atividades, gera informações para serem analisadas e estas auxiliam na tomada de decisão.⁴ O processo de gerenciamento das propriedades rurais no passado se restringia a duas ou três atividades, hoje é complexo e envolve múltiplas atividades.³ Dentre as atividades desenvolvidas pelos gestores das propriedades rurais estão as do processo decisório, que definem o sucesso ou não de um estabelecimento.³ Dentre os processos decisórios, destacam-se: selecionar o quadro de pessoal, planejamento de tarefas de campo, seleção de máquinas e equipamentos, gestão do processo de compra, manutenção e substituição de máquinas e equipamentos, seleção da cultura, segurança das pessoas sob a responsabilidade do gestor, análise de custos e gestão da responsabilidade social da propriedade.³ Para a implantação de um sistema desta natureza faz-se necessário o diagnóstico da propriedade rural, possibilitando a montagem do planejamento através de um orçamento anual e plurianual, contudo, todo o sistema deve ser desenvolvido mediante um intenso e sistemático trabalho de pesquisa quantitativa e qualitativa do gestor junto às propriedades rurais, às associações e às agroindústrias.² As incertezas e ameaças pode ser resolvida com o desenvolvimento de um sistema gerencial que seja de fácil aplicação e manuseio, além de ser flexível para que o produtor ou empresário rural possa gerenciar qualquer atividade de forma integrada ou independente.¹ Para um gestor rural, o conhecimento técnico, a sensibilidade e a competência de diagnóstico da propriedade determinam grande parte do seu sucesso devido aos múltiplos fatores que influenciam a atividade.⁴ Sobre o aspecto técnico estuda-se possibilidades na produção agrícola, zootécnica e agroindustrial, já no aspecto econômico, estudam-se várias operações a serem executadas, quanto ao seu custo e aos seus resultados e sobre o aspecto financeiro, considera-se quando se estudam
as possibilidades de obtenção de recursos necessários e o modo de sua aplicação, ou seja, o movimento de entradas e saídas, de modo a manter o equilíbrio do negócio.⁴ Para que essa gestão se traduza numa economia forte e plenamente sustentável, os produtores, as agroindústrias e os gestores ligados ao setor devem buscar e adotar novas tecnologias, priorizar a atualização de informações e adotar mecanismos de aprendizagem e de formação profissional e empresarial, para garantir a competitividade do negócio, o sucesso e a sustentabilidade dos empreendimentos rurais, os quais são de vital importância ao conglomerado agroindustrial do país.¹ CONCLUSÃO
Conclui-se então que a obtencão de informações auxilia na utilização de ferramentas no gerenciamento de propriedades rurais. E que o desenvolvimento de novas tecnologias, mudanças no perfil do consumidor, ampliação da concorrência e dinamismo dos mercados atuais, força uma mudança por parte do produtor. REFERÊNCIAS 1. KRUGER, S, D; MAZZIONI, S; BOETTCHER, S,F. A importância
da contabilidade para a gestão das propriedades rurais. Fortaleza – CE: XVI Congresso Brasileiro de Custos, 2009.
2. MARION, J, C; SEGATTI, S. Sistema de gestão de custos nas pequenas propriedades leiteiras. São Paulos – SP: Custos e Agronegócio, 2006.
3. NAGAOKA, M, P, T et al. Gestão de Propriedades Rurais: Processo Estruturado de Revisão de Literatura e Análise Sistêmica. Florianópolis – SC: Currente Agricultural Science and Technology (CAST), 2012.
4. PARIS, M. Gestão em pequenas propriedades leiterias na região do Paraná como estratégias para o desenvolvimento da atividade. PR: XI Congresso Virtual Brasileiro de Admnistração, 2019.
APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
59
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO EM BOVINOS: REVISÃO
Isabella Luisa de Miranda¹*, Paulo Victor Coelho Duarte¹, Reginaldo José dos Santos¹, Gabriel Resende Souza¹, Breno Mourão de Sousa².
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Atualmente, de acordo com estudos recentes, o Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo com cerca de 210 milhões de cabeça.1 O setor pecuário brasileiro vem evoluindo e se destacando por sua importante participação no PIB do País.2
A produção animal está relacionada diretamente com a eficiência reprodutiva em que, à medida que a eficiência aumenta, a produção aumenta, gerando assim maior lucro ao produtor.3
O uso de biotecnologias pode auxiliar na melhora dos índices reprodutivos, como é o caso da Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF).1 A IATF é um método reprodutivo que tem como objetivo eliminar a observação de cios, induzirem o ciclo em vacas e sincronizá-los por meio de associação de fármacos.3
O objetivo desse trabalho é demonstrar as principais informações a respeito da IATF, como seus usos, exemplos de protocolo e viabilidade financeira.
MATERIAIS E MÉTODOS
O resumo foi desenvolvido a partir da revisão de artigos, livros e trabalhos técnicos descritos ao final do colóquio, com o objetivo de resumir e trazer informações compiladas a respeito da Inseminação Artificial em Tempo Fixo. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A IATF é caracterizada pelo uso de hormônios que aumentam a fertilidade pela sincronização do estro. Além dos benefícios de uma Inseminação Artificial comum, a IATF ajuda a concentrar em uma estação a parição de um determinado grupo de animais, facilitando a mão-de-obra responsável.1
Em seu estudo, Santos et al. (2018) avaliaram a viabilidade da utilização da IATF quando comparada com a monta natural em bovinos de corte. Os resultados foram satisfatórios para a IATF, mostrando que, apesar do investimento inicial ser maior na IATF, as taxas de prenhez relacionadas com o retorno foram maiores na IATF (87% taxa de prenhez, valor estimado) do que na monta natural ao final da estação de monta (75% taxa de prenhez, valor estimado), se mostrando assim um ótimo recurso para produtores pela rentabilidade. Ainda nesse estudo, foi avaliado o custo por prenhez na monta natural e na IATF, identificando valores de R$ 117,62 e R$ 217,66 respectivamente e, apesar do custo ser maior, os benefícios também são maiores, fazendo com que tenha um bom custo/benefício.
Apesar de se mostrar mais eficiente, a IATF requer uma atenção com relação à forma de preservação do sêmen. O processo de criopreservação pode causar injurias a até 85% dos espermatozoides, deixando com uma pouca parcela do que foi inicialmente conservado. Sendo assim, um processo de refrigeração adequado somado a um bom protocolo de IATF pode ser suficiente para manter uma boa taxa de prenhez.4
Para ter sucesso na IATF, deve-se escolher o protocolo mais adequado com base nos animais a serem inseminados,
levado em conta também a qualidade e forma de preservação do sêmen. A escolha do protocolo usado deve ser feita com base nos animais, na raça, status nutricional e na propriedade a ser realizado. Alguns dos protocolos mais usados são a associação de Benzoato de Estradiol e Progestágeno, a associação entre progesterona, Benzoato de Estradiol e gonadotrofina coriônica equina, a associação de progesterona, Benzoato de Estradiol e hormônio liberador de gonadotrofina, entre outros. 2,5
Além das informações sobre a IATF, é necessário conhecer o ciclo estral das fêmeas bovinas, já que reconhecer as manifestações comportamentais pode auxiliar na detecção de estro, aumentando a eficácia e diminuindo prejuízo na Inseminação (Figura 1).
Figura 1: esquema de ciclo estral da fêmea bovina (Embrapa, 2006).
CONCLUSÕES
Por representar grande importância na produtividade, o manejo reprodutivo das propriedades deve ser realizado adequadamente. Um dos métodos de reprodução bastante utilizado é a IATF, um método de inseminação por indução de estro nas vacas. Existem vários protocolos de IATF atualmente e, dessa forma, é necessário que se conheça esses protocolos a fim de escolher o mais adequado, aumentando assim a eficiência reprodutiva dos animais. Por fim, é comprovado a viabilidade econômica da IATF através de estudos, já que as taxas de prenhez são maiores do que em monta natural e os benefícios são maiores do que na Inseminação Artificial Comum. BIBLIOGRAFIAS
1. SANTOS, G. et al. Rentabilidade da monta natural e inseminação artificial em tempo fixo na pecuária de corte. Revista IPecege, v. 4, n. 1, p. 28-32, 2018.
2. TORRES-JÚNIOR, J. R. S. et al. Mitos e verdades em protocolos de IATF. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v. 40, n. 4, p. 129-141, 2016.
3. GODOI, C. R. et al. Inseminação artificial em tempo fixo (IATF) em bovinos de corte. PUBVET, v. 4, p. Art. 802-808, 2010.
4. ARRUDA, R. P. et al. Importância da qualidade do sêmen em programas de IATF e TETF. 1º Simpósio Internacional de Reprodução Animal Aplicada, p. 166-179, 2005.
5. FURTADO, Diego Augusto et al. Inseminação artificial em tempo fixo em bovinos de corte. Revista científica eletrônica de medicina veterinária, v. 16, p. 1-25, 2011.
6. EMBRAPA. O ciclo estral em fêmeas. out. 2006. Disponível em: https://www.embrapa.br/biblioteca
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
60
INSULINOMA MALIGNO EM CÃO: RELATO DE CASO
Maíra Meira Nunes¹*, Henrique Bernardes2, Karen Yumi Ribeiro Nakagaki3. Luiz Flávio Telles4. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte - MG – Brasil
3Médico veterinário – Clínica veterinária Dr. Guilherme Savassi – Belo Horizonte – MG – Brasil 2Médica veterinária – Responsável técnica do Centro de Diagnostico Veterinário – Celulavet – Belo Horizonte - MG – Brasil
4Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Insulinomas são neoplasias malignas das células beta pancreáticas, incomuns em cães, que são capazes de sintetizar e secretar insulina independente da concentração de glicose sanguínea1. As alterações clinicas observadas resultam da produção excessiva de insulina que leva a um quadro de hipoglicemia grave2. Os sinais iniciais incluem fadiga após exercícios vigorosos, contração muscular generalizada, ataxia, confusão mental, mudanças de temperamento, crises convulsivas, coma e até a morte devido ao agravamento e aumento de intensidade da doença1,2. O diagnóstico definitivo do insulinoma se dá por meio de análise histopatológica de amostras obtidas do tumor primário e/ou lesões metastáticas. Para auxiliar o diagnóstico, faz-se a combinação dos sinais clínicos e dos exames laboratoriais e de imagem, como o ultrassom1,3. O objetivo do presente relato é descrever os sinais clínicos e os achados histopatológicos de um caso de insulinoma canino. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Um cão, macho, da raça bordercollie, com 9 anos de idade foi atendido apresentando quadro de prostração. Durante exame físico parâmetros clínicos se apresentaram dentro da normalidade. Os exames laboratoriais revelaram hipoglicemia (48mg/dL). O animal foi internado e apresentou um episódio convulsivo. Realizou-se aplicação de Diazepam e bolus lento de glicose IV para normalização da glicemia que se apresentava oscilante. O paciente foi mantido em soro glicosado a 2,5%. O animal foi submetido à celiotomia exploratória e posterior pancreatectomia após a visualização de nódulo em corpo pancreático. Realizou-se exérese de fragmento do corpo pancreático que foi encaminhado posteriormente para análise histopatológica. No pós operatório a glicemia foi aferida a cada uma hora demonstrando acréscimo a cada aferição. Dessa forma, foi optado por cessar a infusão do soro glicosado a 2,5%, pois o paciente manteve indicie glicêmico normal (110mg/dL). Na análise macroscópica da lesão foi observado um nódulo medindo 2,3 centímetros de diâmetro de consistência firme e superfície externa regular, apresentando aos cortes superfície sólida e multinodular, de aspecto homogêneo e coloração parda. O exame microscópico revelou fragmento de pâncreas apresentando proliferação neoplásica de células, de aspecto bem delimitado, porém com invasão neoplásica parcial através da uma fina cápsula de tecido conjuntivo fibroso (figura 1A). O nódulo era composto por células arranjadas em pacotes, delimitados por um fino estroma de tecido conjuntivo (figura 1B). As células apresentavam citoplasma granular levemente basofílico, núcleos redondos, cromatina esparsa, nucléolos evidentes, com moderado pleomorfismo e moderada anisocitose e anisocariose (figura 1C) Observou-se ainda áreas de invasão vascular (figura 1D) e seis figuras de mitose em 10 campos de maior aumento (40X). O linfonodo peripancreático não foi encaminhado para análise histopatológica. O paciente foi diagnosticado com insulinoma maligno. Animais com insulinoma geralmente não apresentam alterações significativas ao exame físico, a menos que possuam obstruções pelo tumor primário ou metástases1. Clinicamente, é importante associar a hipoglicemia e a
elevação dos níveis séricos de insulina à presença de neoplasias de células beta3. A hipoglicemia é o achado laboratorial mais comum nos pacientes com insulinoma1.
Figura 1:Insulinoma canino. A) Neoformação infiltrando o parênquima pancreático normal (*) através de uma fina
camada de tecido conjuntivo fibroso (seta) que delimita a neoplasia. HE. B) Neoformação composta por células
dispostas em pacotes delimitados por uma fina capsula de tecido conjuntivo fibroso. HE. C) Células com citoplasma levemente basofilico, moderado pleomorfismo e núcleos
redondos. HE. D) Invasão vascular (*). HE. Fonte: Celulavet.
Após o procedimento cirúrgico o paciente foi mantido internado e apresentou perda progressiva de apetite e de sede, sendo adotada alimentação forçada. Após 98 horas da cirurgia apresentou intenso quadro de vômito suspeitando-se de pancreatite. Foi solicitado teste de lipase pancreática o qual foi negado pela tutora. Paciente apresentou piora do quadro clinico e veio a óbito 168 horas após procedimento cirúrgico. CONCLUSÕES
O insulinoma é uma neoplasia do pâncreas endócrino, geralmente maligna e que apresenta alta taxa de mortalidade. O insulinoma deve ser considerado um possível diagnostico em pacientes que apresentem hipoglicemia persistente, entretanto o exame histopatológico deve ser realizado para confirmação diagnostica. BIBLIOGRAFIAS 1. GOUTAL, Caroline M.; BRUGMANN, Bonnie L.; RYAN, Kirk A. Insulinoma in dogs: a review. Journalofthe American Animal Hospital Association, v. 48, n. 3, p. 151-163, 2012. 2. Meuten, Donald J. Tumors in domestic animals. John Wiley & Sons, 2017. 3. Steiner JM, Bruyette DS. Canine insulinoma. Compend Contin EducVet 1996;18(1):13–25. 4. NELSON, Richard W. Beta-cell neoplasia: insulinoma. In: Canine and Feline Endocrinology: Fourth Edition. Elsevier Inc., 2014. p. 348-375.
APOIO: CELULAVET
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
61
ISOERITRÓLISE NEONATAL EQUINA
Ana Luiza C. Monteiro1*, Frederico Eleutério Campos¹, Guilherme G. Teixeira¹, Luísa Braga e Souza ¹, Priscilla Menezes de Almeida¹, Ana Luisa Soares Miranda²
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A Isoeritrólise Neonatal Equina (INE) é uma enfermidade desenvolvida por potros neonatos caracterizada pela incompatibilidade de antígenos presentes nos grupos sanguíneos da égua e do potro. Essa incompatibilidade é mediada por anticorpos maternos que são transferidos para o potro através do colostro, uma vez que a placenta equina é epiteliocorial, isto é, não é possível que os anticorpos atravessem a placenta. O contato entre o anticorpo materno e o organismo do potro promove uma hemólise e desencadeia uma sequência de sinais clínicos como anemia, icterícia, dentre outros¹. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais, uma vez que a afecção pode gerar perdas econômicas².
O objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão de literatura acerca do tema destacando-se seus aspectos etiopatológicos, manifestações clínicas e tratamentos.
MATERIAIS E MÉTODOS
A revisão de literatura foi feita através da leitura de artigos e matérias sobre Isoeritrólise Neonatal Equina, a fim de evidenciar suas características, prevenção e tratamento, utilizando palavras chave: anemia hemolítica, potro, equino, isoeritrólise, icterícia. REVISÃO DE LITERATURA
A INE, patologia que acomete potros neonatos, provoca uma hemólise imunomediada causada por uma incompatibilidade de grupos sanguíneos entre o potro e a égua. Os anticorpos maternos, à medida que são absorvidos através da ingestão do colostro pelo potro, provocam uma destruição das hemácias deste. Essa enfermidade acomete 1 a 2% dos
partos equinos². A doença neonatal pode ocorrer em qualquer parto, até nos de primíparas, desde que a égua tenha sido sensibilizada através de contato prévio por meio de transfusão sanguínea de um doador que seja positivo para antígenos concomitantes aos presentes na tipagem sanguínea do potro³ ou, pelo contato do sangue fetal com os antígenos de superfície das hemácias estranhos à mãe que levam à formação de anticorpos contra a superfície das células vermelhas do feto². Equinos apresentam placenta epiteliocorial, ou seja, não há contato entre os sangues materno e fetal durante a gestação, além disso, os anticorpos não atravessam a referida barreira, logo o primeiro contato com estes se dá através da
colostragem nas primeiras horas de vida do potro².
A gestação corre normalmente e ao nascimento o potro apresenta-se normal. Os primeiros sinais clínicos manifestados são anemia aguda e icterícia (Fig.1) que podem começar a aparecer dentro de 24 horas após o parto. Não havendo diagnóstico rápido e tratamento adequado os animais acometidos podem apresentar complicações e
evoluírem para óbito². A prevenção desta afecção inclui identificação dos animais envolvidos no acasalamento e se há histórico de INE em partos anteriores. Caso não seja realizada a tipagem sanguínea previamente à monta, o soro da égua deve ser avaliado para a presença de anticorpos antieritrócitos 30 dias antes do parto através da junção do soro da égua com os eritrócitos do garanhão, avaliando-se assim se há aglutinação. Em caso de resultado positivo, as éguas serão
impedidas de amamentarem seus potros e a colostragem deve ser realizada por outra égua compatível até que o leite
da mãe pare de produzir anticorpos². Ao serem diagnosticados os sinais clínicos a colostragem deve ser suspensa por até 48 horas. O tratamento varia de acordo com a severidade do quadro e animais em estado crítico devem receber transfusão sanguínea de um doador compatível ou transfusão de papa de hemácias da mãe após remoção total do plasma juntamente aos anticorpos, além disso, deve ser estabelecido um tratamento suporte para o animal com monitoramento constante². Figura 1: Mucosas ictéricas de um potro acometido por INE.
Fonte: Instagram @lpv.unipamp
CONCLUSÕES
Conclui-se que a Isoeritrólise Neonatal Equina é uma afecção que acomete potros neonatos quando há incompatibilidade de antígenos sanguíneos entre a mãe e o potro. Diante disso, é notório que a prevenção e a rapidez no diagnóstico diretamente ligadas ao sucesso do tratamento dessa enfermidade. BIBLIOGRAFIAS 1. BRITO, Tereza Villa. Neonatologia Equina,2015. 2. ROSSI, Larissa Sartori. Isoeritrólise Neonatal Equina, 2009. 3. SILVA, E. S. M.; PUOLI FILHO, J, N, P. Isoeritróliose Neonatal Equina: Revisão de literatura, 2011.
APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
62
LEISHMANIOSE FELINA
Gabriela dos Reis de Lima1, Isabela Assunção Martins1, Lorena de Souza Santos1, Cláudio Roberto Scabelo Mattoso²
1Graduanda em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A Leishmaniose é um grande problema na saúde pública no Brasil e também de vários outros países, sendo que o número de óbitos só aumentam, já passando de 60 mil novos casos, anualmente. No Brasil, as regiões mais endêmicas são no Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, sendo que os canídeos são considerados reservatórios da doença tanto nas áreas urbanas, quanto nas áreas rurais.¹Por outro lado, os felinos são caracterizados como reservatórios acidentais. O primeiro caso de infecção acidental na espécie felina foi
relatado no ano de 1912, na Argélia.² O presente trabalho tem
por objetivo reunir informações e referências sobre a situação atual da Leishmaniose Felina no Brasil.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema em artigos disponíveis online e livro, reunindo dados sobre como se dá a Leishmaniose Felina e sua atual situação no Brasil. REVISÃO DE LITERATURA
A leishmaniose se dá pela da picada de fêmeas infectadas de dípteros da sub-família Phlebotominae, pertencentes aos gêneros Lutzomyia (Phlebotomus). Nos flebotomíneos, a hematofagia é um hábito exclusivo das fêmeas, que necessitam de sangue para a maturação dos ovos; desta forma, enquanto se alimenta, a fêmea pode ingerir macrófagos infectados por Leishmania spp., que se transformam em formas promastigotas ao chegar no trato digestório do flebótomo. Ao realizar o repasto sanguíneo em outro vertebrado, os flebótomos inoculam saliva juntamente com as formas promastigotas, que ao serem fagocitadas por macrófagos no tecido do hospedeiro definitivo perdem seu flagelo devido a acidez no interior do fagolisossomo, caracterizando a forma amastigota. Os gatos domésticos podem ser infectados por diversas espécies de Leishmania, podendo ser sintomático ou não e apresentar sinais clínicos inespecíficos. Todavia, alguns estudos apontam que os gatos possuem certo grau de resistência natural à infecção por Leishmania, na ausência de outra doença como FIV (Vírus da imunodeficiência felina), FelV (Vírus da Leucemia Felina) ou em estado de imunossupressão, por apresentarem os títulos de anticorpos muito baixos.¹ Os sinais clínicos usuais se apresentam na forma cutânea da doença, com úlceras, nódulos com presença de sangue (principalmente na região do focinho), alopecia difusa ou localizada, crostas, eritema, pápulas, pústulas, descamação e seborreia, e alguns dos sinais viscerais documentados em gatos infectados foram linfadenopatia, hepatomegalia, esplenomegalia, e insuficiência renal.² O método de diagnóstico mais utilizado e mais seguro da Leishmaniose felina é a técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR), a partir de órgãos linfóides e outros tecidos como pele. As técnicas, de imuno-histoquímica ou imunocitoquímica em lesões cutâneas também podem ser utilizadas. A identificação da formas amastigotas em macrófagos ou livres em citologia de alguns órgãos também permite um diagnóstico definitivo (Figura 1)³.
Figura 1: Lâmina demonstrando presença de formas
amastigotas em tecidos de felino com diagnóstico de
Leishmaniose.
Fonte: Revista Cães&Gatos® Vet FOOD
CONCLUSÕES
Com esta revisão percebeu-se uma deficiência de trabalhos e pesquisas sobre a Leishmaniose em felinos. Contudo, com base nas pesquisas realizadas conclui-se que medidas de prevenção como: controle de ectoparasitas, coleira inseticida e o confinamento dos felinos, são medidas importantes para o impedimento da disseminação da doença e controle da mesma. BIBLIOGRAFIAS 1. PIRAJÁ, G.V. et al. Leishmaniose felina: Revisão de Literatura. Vet. e Zootec. 2013 jun.; 20(2):203-216. 2. MENDONÇA, Helen, Félkix .Leishmaniose em gatos domésticos (Felis catus). Distrito Federal, 2019. 3. DAGNONE, A.S; TINUCCI-COSTA, M. Doenças Infecciosas na Rotina de Cães e Gatos no Brasil. Edição 01. Curitiba: Medvep, Fevereiro de 2018. 4. PEREIRA, D.A. Prevalência de hemoparasitos em felinos domésticos da microrregião de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil e correlação com variáveis epidemiológicas. 2018. 81p. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2018. 5. TECSA, Diagnósticos Pet. Ocorrência De Leishmania Sp Em Gatos. 6. OLIVEIRA, L. et al. Felinos Leishmaniose. Você está por dentro? CÃES&GATOS VET FOOD..Pág 59.n°235 Mar, 2019.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
63
LEUCOENCEFALOMALÁCIA EM EQUINOS
Michelle Aguiar de Lima1*, Marcelo Henrique Silva1, Marina Guimarães Ferreira2 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil *Autor para correspondência: Michelle Aguiar de Lima – [email protected]
INTRODUÇÃO
A leucoencefalomalácia (LEME) em equinos é uma importante afecção causada pela ingestão de micotoxinas (fumonisinas), produzidas por fungos do gênero Fusarium1 que podem crescer e se desenvolver em alimentos mal acondicionados e com alto teor de umidade, como por exemplo, o grão de milho, cereal muito utilizado na alimentação dos equinos de forma in natura ou em rações peletizadas ou não peletizadas¹. Visto que, os cavalos são sensíveis á intoxicação por fumonisinas, a doença pode manifestar-se com graves sinais cllínicos e evoluir para óbito, o que gera grande impacto econômico. O presente trabalho tem por objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a leucoencefalomalácia na espécie equina, bem com a definição da doença, seus sinais clínicos, diagnóstico e prevenção.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram selecionados artigos indexados através de busca nos bancos de dados do Google acadêmico e Scielo, publicados entres os anos de 1982 e 2019. Utilizou-se como palavras chaves na busca: intoxicações, equinos, micotoxinas, fumonisina e milho. REVISÃO DE LITERATURA
A leucoencefalomalácia, afecção ocasionada pela ingestão de micotoxinas B1 do fungo Fusarium verticillioides (antigo Fusarium moniliforme), teve seu primeiro relato em 1949 no estado de São Paulo. A partir de então, houve relatos da doença em diversos estados do Brasil, onde foram descritos surtos de LEME em equinos resultantes, principalmente, da ingestão de milho moído, milho em espiga ou ração a base de milho². Os casos da doença são sazonais e ocorrem, principalmente, entre os meses de Julho a Setembro, uma vez que o desenvolvimento do fungo está intimamente relacionado a baixas temperaturas e alta umidade³. Estudos demonstram que temperaturas abaixo de 20 °C e umidade ambiental de 15% predispõe a produção de fumonisina pelo Fusarium spp, características das estações mais frias do ano4. É importante ressaltar que a proliferação do fungo também é dependente da atividade de água do grão, ou seja, a quantidade de água presente no alimento e sua capacidade de reagir com os microorganismos5. Em relação aos sinais clínicos, quando se trata de uma intoxicação natural à primeira manifestação clínica observada é a diminuição da ingestão de alimentos e por consequência a perda de peso do animal². Estudos mostram que concentrações de fumonisina superiores a 10 ppm na ração podem ser letais para os equinos.6 Observa-se também depressão, sonolência ou hiperexcitabilidade, ataxia, tremores, pressionamento da cabeça contra objetos, cegueira, dificuldade de preensão de alimentos e mastigação, além de decúbito (Fig.1)
Figura 1: Cavalo em decúbito lateral, sinal clínico avançado.
Fonte: Univittá/net O óbito do animal ocorre de seis a 24 horas após o aparecimento dos primeiros sinais clínicos¹. Os achados de necropsia se caracterizam por necrose da substância branca do córtex cerebral e do tronco encefálico, com hemorragia e edema¹. O diagnóstico da leucoencefalomalácia é baseado na epidemiologia, sinais clínicos, histologia, achados de necropsia e presença de fumonisina no milho fornecido aos equinos. Além disso, a dosagem sérica da relação esfinganina/esfingosina é considerada o fator mais sensível da intoxicação. Seu mecanismo de ação toxicológica envolve a interferência na síntese de esfingolipídeos em que, normalmente, da esfinganina é transformada em esfingosina (ação da esfinganina redutase) e está em ceramida sob ação da ceramida sintase, havendo produção de esfingomielina. Essa micotoxina inibe a ação da ceramida sintase com consequente acúmlo de esfinganina/esfingosina nos tecidos, soro e urina dos animais¹. Os diagnósticos diferenciais incluem, principalmente, raiva e encefalomielite viral equina². A melhor forma de prevenção dessa afecção é evitar o fornecimento de milho que não tenha sido submetido a um processo de secagem correto, e evitar que os mesmo sejam expostos à umidade principalmente nos meses do ano que registram baixas temperaturas, quando são registradas maiores taxas de intoxicação². CONCLUSÕES
A leucoencefalomalácia é uma doença neurotóxica fatal em equídeos, causada pela ingestão de metabólitos secundários produzidos por fungos do genêro Fusarium. É fundamental a adoção de medidas preventivas contra a doença, de forma a diminuir seu impacto na criação dos animais. BIBLIOGRAFIAS 1. ECHENIQUE, Joanna Vargas Zillig et al. Surto de leucoencefalomalacia em equinos associado ao consumo de milho verde. Ciência Rural, v. 49, n. 3, 2019. 2. RIET-CORREA, Franklin; SOARES, Mauro Pereira; MENDEZ, Maria del Carmen. Intoxicações em eqüinos no Brasil. Ciência rural, v. 28, n. 4, p. 715-722, 1998. 3. RIET-CORREA, F., MEIRELES, M.C.A., SOARES, J.M. et al..Leucoencefalomalácia em eqüinos associada à ingestão de milho mofado. PesqVetBras, v. 2, p. 27-30, 1982.
4. RIET-CORREA, F. et al. Leucoencefalomalácia de cavalo no Brasil. Plantas tóxicas e outros tóxicos naturais. Wallingford, Reino Unido: CAB International. p. 479-482, 1998. 5. CUNHA HVF A diferença entre Atividade de Água (Aw) e Teor de Umidade nos alimentos. 2018. 6. REED, S.M., BAYLEY, W.M. Equine Internal Medicine. Diseases of especific body system, chapter 19, section 2, p.1010-1011, 1998.
APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
64
LINFOMA CANINO: REVISÃO DE LITERATURA
Gabriela Fonseca Horta1, Luis Flávio Telles2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil *Autor para correspondência – [email protected]
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O linfoma é uma neoplasia malígna que acomete órgãos linfóides (OF) como baço, fígado e linfonodos2, que compõem o sistema imune do indivíduo7. É o tumor do tecido hematopoiético que mais ocorre em cães3, sendo mais frequente em machos, de meia idade a idosos. Também chamado de linfossarcoma, é caracterizado pela multiplicação desordenada de células oriundas do tecido linfóide. A frequente exposição a substâncias químicas é apontada como uma das causas predeterminantes do surgimento de linfoma em cães7. Os sinais clínicos podem ser, na maioria das vezes, inespecíficos, e podem variar de acordo com o órgão envolvido e com a imunidade do animal3. O linfoma é um dos tumores que melhor responde à quimioterapia, sendo esta o método terapêutico de eleição, capaz de aumentar a duração e a qualidade de vida do paciente significativamente5.
Este trabalho reúne informações importantes sobre o linfoma em cães, com o objetivo de instruir e facilitar seu entendimento.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente resumo foi elaborado em abril de 2020, através de revisão bibliográfica de artigos científicos encontrados na plataforma de dados Google Acadêmico. As palavras-chave buscadas foram: linfoma, cães e tecido linfóide. REVISÃO DE LITERATURA
Eventos genéticos, deficiência imunológica, exposição à radiação ionizante, carcinógenos químicos e aberrações cromossômicas são alguns dos fatores predisponentes do linfoma canino6. Os linfomas podem ser classificados de acordo com sua localização em: multicêntrico, alimentar, tímico, cutâneo e solitário/extranodal. O de maior ocorrência é o multicêntrico, logo após vem o digestivo3. A forma multicêntrica acomete linfonodos superficiais e profundos, baço, fígado, tonsilas e medula óssea. A forma alimentar acomete o trato gastrintestinal e/ou linfonodos mesentéricos. A forma tímica acomete o timo e linfonodos regionais. A forma cutânea acomete a pele e a solitária envolve apenas um órgão4. O linfoma multicêntrico pode causar linfoadenomegalia, hepatomegalia e esplenomegalia pela infiltração neoplásica, vômito, diarreia, dispneia, poliúria, polidipsia, ascite e hipertermia. Os sinais clínicos gerados pelo linfoma alimentar são: vômito, diarreia e estearorréia decorrentes da síndrome da má absorção. O espessamento segmentar do intestino pode gerar obstrução parcial. Se a neoplasia infiltrar-se na mucosa do intestino delgado, com ulceração, pode ocorrer melena. Quando há linfoma tímico pode-se observar poliúria e polidipsia, que são secundárias à hipercalcemia, que pode gerar também hipercalciúria, lesão renal e urolitíase. Além disso, intolerância ao exercício, taquipnéia, dispnéia, ortopnéia, tosse, cianose, síncope, regurgitação, anorexia, caquexia e letargia também são sinais clínicos descritos em decorrência da compressão provocada pela neoplasia tímica. Lesões na pele com distribuição multifocal ou generalizada, em forma de placas ou nódulos ulcerados e eritrodermia esfoliativa são alguns dos sinais clínicos provocados pelo linfoma cutâneo; outros sinais são: alopecia, seborreia, prurido, ulcerações e despigmentação mucocutânea, principalmente em mucosa oral e conjuntival. Como o linfoma solitário/extranodal pode acometer qualquer tecido corporal,
os sinais clínicos variam, estando sempre relacionados com o órgão acometido2. O diagnóstico de linfoma é obtido através da soma dos sinais clínicos, radiografia torácica e abdominal, ultrassonografia e exames laboratoriais como hemograma, perfil bioquímico com dosagem de cálcio3, além de perfil sérico renal e hepático, e urinálise, que indicam a extensão e o grau de comprometimento orgânico6. A citologia e a histopatologia são os exames confirmatórios. A citologia aspirativa por agulha fina e a imunofenotipagem classificam a neoplasia quanto ao tipo celular. A biópsia de regiões acometidas e a imunohistoquímica classificam histologicamente a neoplasia, apontando o prognóstico e a melhor conduta terapêutica a ser aplicada3. A principal conduta terapêutica para o tratamento do linfoma canino consiste em quimioterapia antineoplásica, sendo este o tumor que melhor responde a esse tipo de tratamento, exceto os linfomas indolentes, que não respondem. Os agentes quimioterápicos mais eficazes para o tratamento do linfoma são doxorrubicina, L-asparaginase, vincristina, ciclofosfamida e prednisona ou prednisolona6. O prognóstico é reservado para cães que possuem linfoma3. CONCLUSÃO
É importante diagnosticar e classificar o tipo de linfoma para melhor escolha da conduta terapêutica que será aplicada. Como a probabilidade de cura é baixa, o tratamento também objetiva trazer qualidade de vida ao paciente oncológico. BIBLIOGRAFIAS 1. BETTIOL, Gabriela. Medicina integrativa no tratamento de linfoma canino. 2011. 2. CARDOSO, M. J. L. et al. Sinais clínicos do linfoma canino. ArchivesofVeterinary Science, v. 9, n. 2, 2004. 3. DE MOURA, Veridiana Maria BrianeziDiagnani; SEQUEIRA, Júlio Lopes; BANDARRA, EnioPedone. Linfoma canino. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 2, n. 2, p. 29-33, 1999. 4. FIGHERA, Rafael Almeida et al. Aspectos clinicopatológicos de 43 casos de linfoma em cães. MEDVEP–Revista Científica de Medicina Veterinária–Pequenos Animais e Animais de Estimação, v. 4, n. 12, p. 139-146, 2006. 5. GRANCHO, Mariana Isabel de Carvalho Correia et al. Linfoma canino: novas abordagens terapêuticas. 2014. Tese de Doutorado. 6. RIBEIRO, R. C. S.; ALEIXO, G. A. S.; ANDRADE, L. S. S. Linfoma canino: revisão de literatura. Medicina Veterinária (UFRPE), v. 9, n. 1-4, p. 10-19, 2017. 7. SILVA, Maria Claudia Lopes; SEQUEIRA, Julio Lopes. Linfoma canino: Revisão de literatura com ênfase no linfoma difuso de grandes células B. Veterinária e Zootecnia, v. 23, n. 4, p. 561-576, 2016.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
65
MALASSEZIOSE ASSOCIADA À DERMATITE TROFOALÉRGICA EM UM CÃO
Giovanne Luiz da Silva Mesquita¹*, Grazielli Natani Soares Lima¹, Guilherme Fracetti¹, Frederico Rezende Lana¹, Luciana Wanderley Myrrha².
1 Graduando em Medicina Veterinária – PUC MINAS – Betim/ MG – Brasil – [email protected] – (31) 98798-3166, 2 Professora do Departamento de Pós Graduação de Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais – PUC MINAS – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A hipersensibilidade aos componentes dietéticos é mediada pelo sistema imune, e normalmente é vinculada ao mecanismo de ação da imunoglobulina E (IgE), que gera uma liberação significativa de histamina1. Nessa reação imunológica, podem estar incluídas as reações de hipersensibilidade dos tipos I, III e IV por estímulo de alérgenos contidos na dieta, como proteínas e carboidratos1. Um dos fatores para desencadear essa reação de hipersensibilidade, é o peso molecular dos alérgenos. Autores relatam um limite mínimo e máximo, que pode variar entre 3 a 5 unidades de massa atômica (kDa) até 60 kDa, que poderão estimular a ativação e a degranulação de mastócitos2-3. Os sinais clínicos observados são comuns à maioria dos cães, e os sinais dermatológicos se mostram como principal queixa por parte dos tutores, acometendo as regiões dos coxins palmares e plantares, períneo, axila, face, orelhas e região inguinal3-4. O diagnóstico é feito por método de exclusão, através do fornecimento de dieta hipoalergênica, que será ofertada por 4 a 12 semanas. Caso ocorra melhora do quadro, a alimentação fornecida ao animal antes do tratamento é reintroduzida e caso ocorra recidiva, o diagnóstico estará fechado3-5-6. A Malassezia sp. é um fungo leveduriforme pertencente a microbiota normal da pele do animal que pode desenvolver de forma exacerbada em algumas condições, sendo um patógeno oportunista3. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de malasseziose associado à dermatite trofoalérgica, em um cão, com histórico de prurido ininterrupto por um período de um ano, atendido no CECCA da PUC Minas campus Betim. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Foi atendido no CECCA Betim, um cão, macho, da raça Pug, com um ano e oito meses de idade, pesando 10,6 quilogramas (Kg). Durante a anamnese, o tutor relatou que o animal apresentava prurido e eritema nas extremidades dos membros torácicos, orelhas e escroto, além de alopecia periocular há um ano. O animal já havia negativado para sarna em raspado de pele feito anteriormente. Ao exame clínico foram identificados hiperpigmentação e eritema no conduto auditivo externo, escroto e áreas interdigitais. Após o exame clínico a suspeita diagnóstica foi de malasseziose e foi colhido citologia da região interdigital e do escroto. Foi aplicado prometazina 0,4 mg/Kg devido ao prurido e eritema, e receitado Ômega 3 e Fluralaner a ser administrado trimestralmente. Como houve melhora após a aplicação de prometazina, mas não o desaparecimento do quadro, foi prescrito Prednisona 0,5 mg/Kg, semel in die (SID), durante 5 dias e colhido sangue para exame sorológico de leishmaniose. O resultado desse exame foi negativo. A citologia de pele revelou a presença de levedura Malassezia sp. em concentrações variáveis de até 6 formas por campo e bactérias cocóides na forma livre e em fagócitos. Após resultados, foi recomendado trocar a fonte da proteína (Cibau® Sensitive Fish) e não usar mais nenhum outro alimento, buscando assim fechar o diagnóstico de dermatite trofoalérgica e dar banho no animal uma vez por semana com shampoo a base de clorexidine 2% e miconazol 2% (Cloresten®) para controle da malasseziose.
Por possuir sintomas pouco específicos, como o prurido intenso sem detecção de lesões cutâneas, grande parte das vezes, a dermatite trofoalérgica é de difícil diagnóstico6. A troca da proteína da dieta para proteína derivada de peixe deve-se ao fato de que essa fonte de proteína possui menor peso molecular, causando menor incidência de alergia em cães, devendo essa ser sua única fonte de alimento, para que se chegue a um diagnóstico final. No caso relatado, após o uso da dieta por 6 meses, o cão não apresentou novo episódio de prurido e de malasseziose. Entretanto, para o diagnóstico definitivo de dermatite trofoalérgica deveria ser realizado a reintrodução da proteína anterior e observação do retorno do prurido6. Como observado nesse relato, a malasseziose foi causada, provavelmente, secundária à hipersensibilidade ao componente dietético. Outros fatores que podem predispor a malasseziose estão associados a distúrbios endócrinos e metabólicos, defeitos de queratinização, tratamentos imunossupressores e predisposição racial3. O tratamento tópico recomendado pela literatura com clorexidine 2% e miconazol 2%7, foi suficiente para controlar a malassezisose do cão do relato. O uso do ômega 3 auxilia na manutenção da integridade da barreira cutânea, impedindo a perda de água transepidérmica e, regula a resposta inflamatória sendo recomendado como tratamento adjuvante em dermatopatias8. A administração de Fluralaner visa prevenir a infestação por ectoparasitas. Visto que já há um problema de pele existente, o protocolo para que não haja esse tipo de infestação deve ser seguido com rigor, a fim de evitar maior comprometimento do sistema tegumentar. CONCLUSÕES
Como demonstrado no presente trabalho, a dermatite trofoalérgica é uma afecção de difícil diagnóstico, sendo necessário um acompanhamento longo até que estabeleça o diagnóstico definitivo. A dieta de eliminação é um processo muito importante sendo a conscientização do tutor extremamente necessária para o diagnóstico. O diagnóstico e controle dessa afecção são de extrema importância visto que patógenos oportunistas como a Malassezia sp. podem agravar o quadro dos animais. BIBLIOGRAFIAS 1. PEREIRA, A. C.; MOURA, S. M.; CONSTANT, P. B. L. Alergia alimentar: sistema imunológico e principais alimentos envolvidos. Semina: Ciências Biológicas e da Saúde. Londrina. v19, n.2, p. 189 – 200, 2008. 2. CAVE, N. J. Hydrolyzed protein diets for Dogs and Cats. Veterinary Clinics of North America Small Animal Practice. Palmerston North. 2006. 3. ETTINGER, S. J. & FELDMAN, E. C. Doenças do Cão e do Gato. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 5ª edição. V. 1. 2004. 4. ALÉSSIO, B. C.; et al. Hipersensibilidade alimentar em um cão. FAMEZ – UFMS. Universidade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Mato Grosso do Sul. 2017. 5. HUDSON, Cecilia Sartori Zarif. Hipersensibilidade alimentar. Vet&share: Ciência, Clínica e Negócios, [s.i], v. 1, n. 28, p. 10-12, abr. 2017. Mensal. 6. SALZO, P. S.; LARSSON. C. E. Hipersensibilidade alimentar em cães. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. São Paulo. v.61, n.3, p.598-605, 2009. 7. BOND, R. et al. Comparison of two shampoos for treatment of
Malassezia pachydermatis‐associated seborrhoeic dermatitis in basset hounds. Journal Of Small Animal Practice. Hatfield, p. 99-104. maio 1995. 8. CARCIOFI, A. C.; BAZOLLI, R. S.; PRADA, F. Ácidos graxos poliinsaturados n3 e n6 na alimentação de cães e gatos. Revista de Educação Continuada do CRMV-SP, São Paulo, v. 5, n. 3, p. 268-277, jan. 2002.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
66
MELHORAMENTO DO GADO GIROLANDO NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Yasmin Mascury Masci¹*, Bianca Rolim Santos Laudo¹, Gabriel Resende Souza¹, Sérgio Henrique Andrade dos Santos¹, Breno Mourão de Sousa.2
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil. *[email protected] 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O Brasil possui o terceiro maior rebanho de vacas leiteiras do mundo e, com a produção de aproximadamente 33 bilhões de litros de leite, é o terceiro maior produtor mundial em 2018. Esse rebanho é constituído, em sua maioria, por animais da raça Girolando.1,2
É comum no Brasil a utilização de cruzamento entre raças zebuínas e europeias no sistema de produção, sob a justificativa da alta rusticidade das raças zebuínas e pelo bom potencial para produção de leite das raças europeias.3 Um exemplo desse cruzamento é o próprio gado Girolando, proveniente do cruzamento entre a raça Gir Leiteiro (zebuíno) e a raça Holandês (europeu).
Para Nanzer (2010), ainda há a necessidade da evolução da produção brasileira de leite. Entender a cadeia produtiva e melhoramento dos animais é um fator importante para proporcionar um aumento de ganhos, seja genéticos, produtivos ou econômicos. O objetivo desse trabalho é apresentar as principais características da raça Girolando, citando formas de melhorar o rebanho para aumentar os ganhos na produção.
MATERIAIS E MÉTODOS
O resumo foi desenvolvido a partir da revisão de artigos, livros e trabalhos técnicos descritos ao final do trabalho, objetivando especificar o melhoramento genético da raça Girolando focado no aumento final da produtividade financeira. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para formação da raça pura, foram criados três critérios fundamentais de seleção, sendo eles, ser produto do cruzamento entre os pais 5/8 Holandês + 3/8 Gir; ser um animal próximo do modelo característico da raça Girolando; e ter produção de leite que comprove sua superioridade à média do rebanho com que convive.4
Como algumas raças presentes no Brasil, a vaca da raça Girolando está sujeita a ser nervosa e agitada pela forma de manejo relacionada à genética, podendo interferir na qualidade do leite, devido a retenção do leite (leite residual), fazendo com que produzam menos leite e diminua a qualidade. Por ter uma parcela zebuína, o Girolando tende a ser mais agitado. Sendo assim, espera-se que a criação de animais com maior grau de Gir tendam a ser mais reativos, porém, por outro lado, mais rústicos e adaptados ao clima tropical do Brasil.3 Segundo Canaza-Cayo et al. (2014), a intensidade de seleção de animais da raça Girolando nos últimos anos promoveu uma aceleração no progresso da raça, mas também aumentou a endogamia, reduzindo assim a diversidade genética. Com isso, faz se necessário o monitoramento da população de Girolando e sistemas de acasalamento, a fim de prevenir a endogamia e perda de variabilidade. Oliveira e Nogueira (2006) avaliaram a curva de crescimento de bezerros da raça Girolando e identificaram que os animais apresentaram um padrão de crescimento e desenvolvimentos compatíveis para criação leiteira, e demonstrando também alguns aspectos de ganho de peso que podem estar associados à produção de carne. Dessa forma, o melhoramento da raça pode ser dado para a produção leiteira ou produção de carne, estando de acordo com o sistema de criação e aspectos genéticos escolhidos para a produção.
Almeida et al. (2010) avaliaram a utilização de um sistema de resfriamento relacionando com o impacto na produção de leite em vacas Girolando. Nesse estudo, foi observado o aumento na produção de leite dos animais com o uso do sistema. Com isso, observa-se que o aumento da produção de leite não está ligado apenas ao melhoramento genético, mas sim no melhoramento da criação como um todo, como no bem-estar das vacas. Um exemplo de utilização desse sistema seria no estado de Minas Gerais, onde há uma mudança significativa no clima, em algumas épocas o ar se torna extremamente seco e em outras a temperatura pode ficar muito alta, afetando a produção desses animais. Há também, nessa região, como grande parte do Brasil, a forma de criação com maior lotação que possibilita o aparecimento de doenças e já que o Girolando é uma raça rústica, faz com que seja uma boa escolha na criação nessa região.3
Por fim, ressalta-se que a seleção animal e o processo de melhoramento devem ser efetuados por um profissional, fazendo com que haja sucesso no melhoramento da produção leiteira na raça Girolando.
Figura 1: vista de um curral de uma fazenda em Minas Gerais (bezerros).
CONCLUSÕES
O gado Girolando representa grande parte da produção leiteira no Brasil, além de possuir certos índices para produção de corte. É também observado uma certa endogamia nessa raça e o monitoramento e melhoramento assistido é necessário para prevenir perda de variabilidade. Além dos aspectos genéticos, a criação da raça Girolando requer uma atenção aos outros aspectos, como bem-estar e comportamento, já que é comprovado através de estudos o impacto direto na produção de leite em animais dessa raça. BIBLIOGRAFIAS
1. EMBRAPA. Anuário leite 2019. Disponível em https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes
2. NANZER, T.A.D.T. Produção de leite no Brasil e participação da genética Girolando com ênfase em reprodução. 2010. Disponível em:<http://www.girolando.com.br/index.php?paginasSite/tecnico,39>.
3. DA COSTA, M. J. R. P.; SANT’ANNA, A. C.; SILVA, L. C. M. Temperamento de bovinos Gir e Girolando: efeitos genéticos e de manejo. Inf. Agropecuário (Belo Horizonte), v. 36, p. 100-107, 2015.
4. MENEZES, C. R. A. Programa de melhoramento do Girolando. In: III Simposio Nacional de Melhoramento Animal. 2000.
5. CANAZA-CAYO, A. W. et al. Estrutura populacional da raça Girolando. Ciência Rural, v. 44, n. 11, p. 2072-2077, 2014.
6. OLIVEIRA, D. J. C.; NOGUEIRA, G. P. Curvas de crescimento de bezerros da raça girolando. Arquivos de ciências veterinárias e zoologia da UNIPAR, v. 9, n. 1, 2006.
7. ALMEIDA, G. L. P. et al. Investimento em climatização na pré-ordenha de vacas girolando e seus efeitos na produção de leite. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 14, n. 12, p. 1337-1344, 2010.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
67
METÁSTASE PULMONAR EM CADELA E ANÁLISE RADIOGRÁFICA: RELATO DE CASO
Carolina Fonseca Horta1*, Anna Clara Silva Martins1, Daísa Santana Melo1, Gabriela Fonseca Horta1, Luiz Flávio Telles2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil – *[email protected] 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
As neoplasias mamárias são os tumores mais frequentes em cadelas3, representando 25 a 50% dos tumores caninos2. Diversos tipos neoplásicos podem se desenvolver nas mamas, sendo os de caráter maligno mais incidentes e o carcinoma mais comumente encontrado1. Recidivas e metástases são esperadas na maioria das neoplasias mamárias malignas3. Sendo assim, em animais portadores de câncer, a realização do exame radiográfico torácico torna-se extremamente importante para o diagnóstico de metástase pulmonar4.
O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico de uma cadela SRD diagnosticada com carcinoma mamário e evolução metastática pulmonar, apontando os achados radiográficos.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Uma cadela, Sem Raça Definida (SRD), não castrada, pesando 12kg, com 10 anos de idade, foi atendida no Hospital Veterinário do UniBH, em Belo Horizonte – MG, em março de 2019. O animal chegou ao consultório apresentando tosse e dispneia. Conforme relato da tutora, apesar do comportamento normal, a cadela apresentava tosse recorrente há alguns meses com piora do quadro nas últimas semanas. A paciente possuía histórico de neoplasia mamária, tendo sido submetida à mastectomia radical unilateral em janeiro de 2017. De acordo com Daleck (1998), tumores mamários são detectados em animais mais velhos e de meia idade, não existindo predisposição racial. Ainda de acordo com o autor, a técnica cirúrgica de escolha nestes casos é a mastectomia radical, que tem apresentado eficácia na cura de 50% dos tumores malignos. O resultado do exame de histopatologia, realizado na época da cirurgia através do envio do nódulo na mama inguinal, apontou a presença de carcinoma papilar a sólido com diferenciação sebácea multifocal. Tumores malignos da glândula mamária podem gerar metástases em vários órgãos, sendo os nódulos linfáticos regionais e os pulmões os mais frequentemente afetados2. As neoplasias pulmonares metastáticas são muito comuns, pois no pulmão localiza-se o principal sistema capilar carreador da maioria das células neoplásicas circulantes4. Entretanto, a radiografia torácica, também realizada na época, com projeções laterolateral (direito e esquerdo) e ventrodorsal, demonstrou ausência de evidências radiográficas de nódulos metastáticos dispersos pelo parênquima pulmonar. Nos exames radiográficos somente são constatados nódulos pulmonares maiores que 4-5mm, sendo a sensibilidade em detectar metástase pulmonar estimada entre 65 a 97%, desde que sejam feitas no mínimo duas projeções: laterolateral direita e ventrodorsal4. Ao exame físico, durante a consulta, foram constatados alguns parâmetros dentro da normalidade, como escore corporal, coloração de mucosas, tempo de preenchimento capilar, turgor cutâneo e temperatura. Porém, a partir da auscultação pulmonar foi detectado roçar pleural. Devido à suspeita de metástase pulmonar, visando fechar o diagnóstico, foi realizado novo exame complementar de raio x de tórax, apresentado a seguir. É importante salientar que o animal estava dispneico no momento do exame, o que não permitiu o posicionamento ideal.
Na projeção laterolateral direita há detecção de nódulos com aumento de radiopacidade multifocal em lobos cranial e caudal; aumento de radiopacidade em topografia de linfonodo esternal; silhueta cardíaca não visualizada devido ao aumento de radiopacidade no parênquima pulmonar; vértebras torácicas e arcos costais preservados; lúmen e trajeto traqueal preservados. Na projeção ventrodorsal visualiza-se aumento difuso de radiopacidade no pulmão direito; padrão alveolar no pulmão esquerdo; padrão bronquial no lobo caudal do pulmão esquerdo. Imagens 1 e 2: Projeções laterolateral direita e ventrodorsal.
Fonte: Arquivo pessoal.
As neoplasias pulmonares metastáticas normalmente apresentam padrão intersticial reticular com múltiplos nódulos em toda a extensão dos campos pulmonares, podendo variar desde o padrão intersticial nodular bem definido ao mal definido, associado ou não ao quadro alveolar. Pode ainda ser identificado envolvimento de linfonodo regional ou ossos4. Em estágios avançados as metástases pulmonares produzem sinais clínicos2. A partir da clínica, histórico e resultado do exame radiográfico, a paciente foi diagnosticada com metástase pulmonar. Devido ao prognóstico desfavorável, a orientação de tratamento foi realizada com base no conforto do animal. Foram prescritos Ciclofosfamida 8mg/VO/SID e Firocoxib 60mg/VO/SID até segunda recomendação. Após a consulta, mesmo medicada, a cadela apresentou piora da tosse e dispneia, com manifestação de inapetência e prostração. O agravamento do quadro perdurou por três dias, causando o óbito da paciente. CONCLUSÕES
A metástase pulmonar é a evolução esperada da maioria dos neoplasmas mamários malignos. A conscientização por parte dos tutores sobre a identificação e o diagnóstico precoce de tumores é de extrema importância, dada a possível intervenção no desenvolvimento da patologia. O exame radiográfico constitui papel essencial na abordagem de animais com neoplasias e deve ser realizado em todos os portadores, pois possibilita o monitoramento do paciente, diagnóstico e prognóstico. BIBLIOGRAFIAS 1. CABRAL, Lucas Amorim. Terapêutica clínico- cirúrgica de neoplasias mamárias em cadelas. Revista Científica de Medicina
Veterinária, v. 4, n. 2, p. 16-30, 2017. 2. DALECK, Carlos Roberto et al. Aspectos clínico e cirúrgicos do tumor mamário canino: clinical and surgical evolution. Ciência Rural, v. 28, n. 1, p. 95-100, 1998. 3. OLIVEIRA FILHO, José C. et al. Estudo retrospectivo de 1.647 tumores mamários em cães. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 30, n. 2, p. 177-185, 2010. 4. SOAVE, Tatiana et al. A importância do exame radiográfico torácico na abordagem de animais portadores de neoplasias. Semina: Ciências Agrárias, v. 29, n. 2, p. 399-405, 2008.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
68
METRITE EM VACA: RELATO DE CASO
Thainan Fernandes Rodrigues1, Gabriel Almeida Dutra 2. 1Graduando em Medicina Veteirnária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Compreendido como a inflamação das camas uterinas, a metrite é uma importante patologia da reprodução sendo autora de perdas econômicas e reprodutivas em rebanhos de todo o globo, sendo multifatorial e ocorrendo em maior incidência pós-parto, porém, pode ocorrer em qualquer fase. Possui tratamento complicado sendo necessário mais a competência imunológica ideal da vaca, do que o uso de fármacos apenas, e uma das maiores formas de prevenção são os níveis de bem-estar adequados1. Esse trabalho constitui-se de uma revisão bibliográfica e um relato de caso acompanhado, sobre a ocorrência da metrite em vacas de leite, resultando em grandes consequências na saúde dos animais. Realizado pelo aluno Thainan Fernandes Rodrigues, na cidade de Luz, MG, supervisionado pela médica veterinária Tamires Gomes Cordeiro no mês janeiro de 20201. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Entre as causas da metrite temos o coito, prenhez, parto, involução uterina, abortos, distocia, lesão de útero e cérvix, atonia uterina, sêmen contaminado, entre outras causas. Os principais agentes infecciosos são Streptococcus, Escherichia Coli, Proteus spp, Clostridium spp, Micrococcus, Enterobacter spp, Staphylococcus, Trueperella pyogenes, Fusobacterium necrophorum, Prevotella melaninogenica, Bacteriodetes spp. Metrites podem ser causas de retenção de placenta, uma vez que na fase de dilatação no parto ocorre contaminação que pode originar uma placentite que impede a expulsão da placenta. Geralmente a ocorrência de metrite acontece em 50% das fêmeas que tem retenção de placenta, e retirar a placenta com uso de força pode ocorrer metrite séptica1. Animais que passaram por distocias no parto tem maior índice de metrite uma vez que as membranas fetais na maioria das vezes ficam retidas e os tecidos sofrem injuria ficando desvitelizados e também existe um maior índice de contaminação uterina1. Quando ocorre contaminação bacteriana no útero se inicia a cascata de defesa celular, com a chegada de neutrófilos seguidos de macrófagos e outras células de defesa incluindo os anticorpos, mas em casos de animais debilitados essa resposta é limitada, no qual pode aumentar a ocorrência de metrite. Em casos de contaminação por bactérias gram negativas, com ocorrência de liberação de lipopolissacarídeos (LPS), interferem na regulação neuroendócrina o que ocasiona no déficit da liberação do hormônio folículo estimulante (FSH) e do hormônio luteinizante (LH) causando anestro nos animais acometidos e dificulta o diagnóstico de metrite. Independente do agente infeccioso em casos de inflamação exacerbada ocorre queda na produção de prostaglandina (PGF2α) o que prolonga o diestro1. Um dos maiores causadores de metrites, principalmente na forma crônica, é o A. pyogenes que quando coloniza de forma exacerbada libera fatores de crescimento para favorecer a colonização de F. necrophorum que é produtora de leucotoxina. O maior sinal clínico observado é secreção na vagina na maioria dos casos purulenta, mas pode se observar em casos mais sistêmicos prostração, febre, sinais de endotoxemia, que dá na produção, prolongamento do anestro1. No dia 07/01/2020 um animal, em uma propriedade em Luz – MG, foi atendido pela médica veterinária responsável, relatou
que o animal estava com hemorragia originada no canal da vagina (FIG. 1). Na anamnese o proprietário relatou que era um animal de primeira cria com média de 13 kg de leite por dia, sendo um animal sem histórico de nenhuma patologia, também foi relatado que este animal estava no quarto mês de prenhez confirmado, porém no lote de animais que ela estava tinha um boi que acompanhava os animais, sendo que antes de iniciar este sangramento ela aceitou a cópula com o boi novamente, foi constatado que o animal não apresentou queda na produção e se alimentava normalmente1. O tratamento aplicado foi dois dias de antibiótico a base de Oxitetraciclina (11mg/kg), Vitamina K (2mg/kg) em dose única, ModPlus (10ml/animal), no qual é um complexo de vitaminas e minerais em dose única, retirada do animal de perto do boi e descarte do leite devido a eliminação de oxitetraciclina no mesmo. Após 2 dias, o animal tinha cessado o sangramento e continuava com seu desempenho leiteiro normal e com bom apetite, após foi reintegrado a fila de ordenha assim que o período de carência terminou, sem ter
sido relatado demais problemas posteriormente1.
Figura1: Foto autor- metrite
CONCLUSÕES
Este presente relato de caso tem por finalidade entender a fisiopatologia da metrite e como ela pode influenciar no ciclo reprodutivo das fêmeas. Considerando assim, a preocupação não somente intrauterina, mas também extrauterina1. BIBLIOGRAFIAS
1. Leblanc SJ.2011.Reproductive tract defense and disease in postpartum dairy cows. Theriogenology. 76(9):1610-1618
2. Knudsen, LRV.2015. Revisiting bovine pyometra—New insights into the disease using a culture-independent deep sequencing approach. Veterinary Microbiology.175:319–324.
3. Noaks EN. et al.2001. Arthur’s veterinary reproduction and obstetrics. Elsevier: Amsterdam, p.234.
4. Rehbun WC.2000. Doenças do gado leiteiro. São Paulo: Roca.p. 379-434)
5. Santos RM, Vasconcelos JLM.2006. Saúde uterina no pós-parto: dilemas e decisões. Milk Point. 3(2):15.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
69
MIELOMA MÚLTIPLO EM CÃES
Vitor Gonçalves Teixeira1*, Brunna Gabriela Gonçalves de Oliveira Ferreira2, Daniela Taynara Pereira2, Carla Maria Osório Silva3.
1 Graduando em Medicina Veterinária – PUC Minas – Belo Horizonte/MG - Brasil – [email protected] – (31)999621001, ² Graduanda em Medicina Veterinária – PUC Minas – Belo Horizonte/MG - Brasil
³ Docente do Departamento de Medicina Veterinária – PUC Minas – Belo Horizonte/MG - Brasil
INTRODUÇÃO
O mieloma múltiplo é uma neoplasia maligna sistêmica das células plasmáticas que surge dentro da medula óssea. É uma doença rara em gatos e incomum em cães, sendo responsável por 8% de todos os tumores hematopoiéticos caninos, afeta principalmente animais idosos, sem predileção por raça ou sexo3. O diagnóstico é direcionado por exames bioquímicos, hemograma e urinálise, e para confirmação, devem ser encontrados dois ou mais dos seguintes fatores: plasmocitose da medula óssea, presença de lesões osteolíticas ósseas, gamopatia monoclonal e proteinúria de Bence-Jones. O tratamento quimioterápico pode prolongar a sobrevida do animal, mas a cura é rara e recidivas são comuns. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão acerca da doença, bem como dos métodos de diagnósticos e tratamento.
MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou-se uma revisão bibliográfica acerca do mieloma múltiplo em cães por artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e bases de dados científicos e acadêmicos, como PubMed e SciELO utilizando para pesquisa os termos: mieloma múltiplo e neoplasia em cães.
REVISÃO DE LITERATURA
O mieloma múltiplo é um distúrbio maligno, caracterizado pela proliferação de células plasmáticas neoplásicas, com predileção pela medula óssea do esqueleto axial7. Entre 25% e 75% dos cães afetados com mieloma múltiplo apresentam lesões ósseas em suas radiografias7. Aproximadamente 50% dos cães com envolvimento de algum segmento da coluna vertebral apresentam déficits neurológicas associados à dor7.
A etiologia ainda é desconhecida, porém sugere-se que predisposições genéticas, alterações moleculares, infecções virais, estimulação imune crônica e exposição a estimulação por carcinógenos sejam fatores contribuintes4.
A fisiopatologia do mieloma múltiplo é descrita como uma proliferação anormal de plasmócitos na medula óssea, com consequente produção e secreção de grande quantidade de imunoglobulina monoclonal integral ou em fragmentos, as chamadas proteínas M ou paraproteínas3. Essas paraproteínas em excesso são responsáveis pela ampla variedade de anormalidades no quadro clínico, como diátese hemorrágica causada pela hiperviscosidade sanguínea associada à hiperproteinemia, nefropatia, imunodeficiência3, citopenias e anormalidades oftálmicas5. A ação das células neoplásicas promovem também hipercalcemia e aumento da atividade osteoclástica causando reabsorção óssea que pode levar a fraturas patológicas2. Além disso, a infiltração neoplásica na coluna vertebral causa compressão por massa extradural e consequentemente a ocorrência de dor e sinais neurológicos como paresia e paralisia4.
Os sinais clínicos iniciais geralmente são inespecíficos e incluem fraqueza, poliúria, polidpsia e letargia ou falta de apetite. De maneira mais específica encontram-se sinais como dor, sangramentos espontâneos, convulsões, menor sensibilidade a estímulos ou sinais de compressão nervosa por fratura3. Exames como hemograma1, perfil bioquímico e urinálise são importantes para direcionar a suspeita. O perfil bioquímico é geralmente útil; 90% dos pacientes apresentam
hiperglobulinemia, 16% apresentam hipercalcemia6, e 33% dos pacientes têm evidências de azotemia3. Outros testes recomendados no diagnóstico e estadiamento de mieloma múltiplo incluem aspirado de medula óssea, pesquisa de radiografias esqueléticas, e biópsia ou aspirado com agulha fina das lesões ósseas osteolíticas características3.
Ressalta-se a importancia de estabelecer diagnósticos diferenciais entre as alterações que provocam distúrbios linfoproliferativos (leucemias linfocíticas e linfomas), doenças infecciosas crônicas1-5 (erliquiose e leishmaniose, por exemplo) e gamopatias monoclonais idiopáticas4. Radiografia, ressonância magnética e tomografia podem auxiliar a diferenciar mieloma múltiplo de tumores vertebrais primários e outras afecções como osteomielite7. Tumores primários em vértebras geralmente afetam apenas um segmento, enquanto o mieloma múltiplo envolve vários segmentos7.
Em um estudo feito por Wyatt et al, foi demonstrado que a localização neuroanatômica foi mais frequente envolvendo os segmentos T3-L37. As complicações neurológicas podem ser decorrentes da compressão nervosa por fraturas, hipercalcemia, síndrome da hiperviscosidade, toxicidade secundária ao tratamento e incluem neuropatias periféricas, radiculopatias espinhais, paralisia dos nervos cranianos, compressão da medula espinhal e uma série de encefalopatias metabólicas7.
O tratamento quimioterápico pode prolongar significativamente a sobrevida do paciente, reduzindo a carga celular do mieloma, aliviando a dor óssea, auxiliando na cicatrização esquelética e na redução dos níveis de imunoglobulinas séricas4, sendo utilizados os agentes alquilantes, como o melfalano, em combinação com corticóides5. Também é necessária a utilização de drogas analgésicas devido a intensa algesia. No entanto, a cura é rara3 e recidivas são comuns, tornando o prognóstico reservado a desfavorável5.
CONCLUSÕES
Conclui-se que apesar de mieloma múltiplo ser uma neoplasia rara, o diagnóstico deve ser feito por combinação de exames laboratoriais e de imagem e assim, diferenciar de outras patologias.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. GEIGY, C., RIOND, B., BLEY, C. R., et al. Multiple myeloma in a dog with multiple concurrent infectious diseases and persistent polyclonal gammopathy. Vet. Clin. Path., 42(1), 47–54. 2012. 2. HUNGRIA V.T.M. Doenca ossea em Mieloma Multiplo. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 29(1): 60-66. 2007.
3. RUTHANNE CHUN. Common malignant musculo skeletal neoplasms of dogs and cats. Vet. Clin. Small Anim. Pract., p.1155-1167, 2005. 4. SANTOS, I. K. S. Relato de caso: mieloma múltiplo em canino – diagnóstico e tratamento. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Departamento de Medicina Veterinária, UFRPE, Recife, 2019. 5. SANTOS, R.S. et al. Mieloma múltiplo em cão com apresentação clínica atípica de paralisia facial bilateral: relato de caso. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., Belo Horizonte, v. 69, n. 5, p. 1225-1230, Oct. 2017. 6. TRIPP, C. D. et al. (2009). Presumptive increase in protein-bound serum calcium in a dog with multiple myeloma. Vet Clin Path, 38(1), 87–90.
7. WYATT, S., Risio, L., Driver, C., José‐López, R., Pivetta, M., & Beltran, E. Neurological signs and MRI findings in 12 dogs with multiple myeloma. Veterinary Radiology & Ultrasound, 60(4), 409–415. 2019.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
70
MUCOMETRA EM CADELA-RELATO DE CASO
Vitória Castro1*, Ana Luiza Horta¹, Anna Clara Silva¹, Giovanna Aquino¹, Renata Drumond¹, Gabriel Dutra².
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A mucometra é uma alteração não inflamatória que pode acometer cadelas, caracterizada pelo acúmulo de fluído estéril no lúmen uterino1, proveniente de secreções das glândulas endometriais, com estímulo da progesterona 3. O fluido é caracterizado como mucoso de coloração clara, acinzentada ou marrom2. A mucometra em cadelas é uma patologia de baixa incidência3, que normalmente é observada nas fases iniciais da hiperplasia endometrial cística, porém pode estar associada a outras alterações como a piometra e a aplasia de corno uterino2. Comumente, as cadelas com mucometra não apresentam sintomatologia clínica evidente3. No entanto, pode-se observar distensão uterina pelo acúmulo de fluido no lúmen, que proporciona um meio de cultura para o crescimento de bactérias 2, e alterações endometriais, podendo resultar em falhas na concepção e infertilidade4. O presente trabalho objetivou relatar a ocorrência de mucometra em uma cadela, destacando características como sinais clínicos encontrados, método diagnóstico e tratamento de escolha. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Uma cadela de quinze anos de idade, sem raça definida, de porte pequeno e peso de 3,7 quilos, foi atendida na Clínica Veterinária Fauna, em Itabirito, Minas Gerais. Conforme relatado pela tutora o animal apresentava aumento da região abdominal e secreção vaginal com aspecto líquido, mucoso e de coloração marrom, indicando um possível caso de mucometra. Algumas cadelas podem apresentar histórico de poliúria, polidipsia, vômito ou anorexia3, o que não aconteceu no presente relato. O diagnóstico de mucometra foi sugerido através de uma associação de fatores, que incluíam o aspecto da secreção vaginal e achados ultrassonográficos, que indicavam aumento de volume uterino. O exame ultrassonográfico não pode ser usado para diagnóstico definitivo da mucometra, visto que esse aumento de volume poderia estar relacionado à hidrometra ou piometra3. Foi indicado como tratamento de escolha a ovariosalpingohisterectomia (OSH) por incisão pré-retroumbilical na linha média ventral, sendo esse acesso um dos mais utilizados para realização de OSH em cadelas6. Os procedimentos pré-cirúrgicos realizados foram eritrograma, leucograma e exames bioquímicos (uréia, creatinina e fosfatase alcalina), nos quais os resultados estavam dentro dos padrões descritos pela literatura5. Verificou-se que o útero apresentava aumento de volume, com a parede hiperêmica espessada, assim como em outros casos relatados3.
Imagem 1: Útero com mucometra em cadela.
Fonte: Arquivo pessoal
O pós-operatório transcorreu de forma positiva e o animal se manteve bem. Foi prescrito enrofloxacina para profilaxia de possíveis infecções e anti-inflamatório não esteroidal. A literatura indica uma analgesia pós cirúrgica com o opióide tramadoll6. CONCLUSÕES
A mucometra é uma alteração patológica que pode causar transtornos reprodutivos e sistêmicos no animal, com possibilidade de proliferação bacteriana no conteúdo mucoso uterino, além de causar destruição da mucosa endometrial. O diagnóstico precoce é de grande importância para não permitir a evolução para um quadro de piometra. BIBLIOGRAFIAS 1. DA FONSECA SAPIN, Carolina et al. Patologias Do Sistema Genital
Feminino De Cães E Gatos. Science And Animal Health, v. 5, n. 1, p. 35-56, 2017.
2. AGUIRRA, Lucien Roberta Valente Miranda de; PEREIRA, Washington Luiz Assunção; MARSOLLA, Eduardo Henrique. Ocorrência e aspectos macro e microscópicos da mucometra em cadelas. Veterinária e Zootecnia, v. 22, n. 01, p. 83-88, 2015.
3. FERREIRA FILHO, Sinésio Gross et al. DIAGNÓSTICO CIRÚRGICO DE MUCOMETRA EM CADELA SUBMETIDA À OVÁRIO-HISTERECTOMIA ELETIVA. ANAIS SIMPAC, v. 4, n. 1, 2015.
4. VEIGA, Giselle Almeida Lima da et al. Abordagem diagnóstica e terapêutica das principais afecções uterinas em cadelas. Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, v. 108, n. 585-586, p. 9-16, 2013.
5. THRALL, Mary Anna. Hematologia e bioquímica clínica veterinária.
Editora Roca, 2007.
6. QUESSADA, Ana Maria et al. Comparação de técnicas de
ovariosalpingohisterectomia em cadelas. Acta Scientiae Veterinariae,
v. 37, n. 3, p. 253-258, 2009.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
71
MUTAÇÃO E RECOMBINAÇÃO VIRAL ASSOCIADA À PANDEMIA DO COVID-19
Gabriela da Silva França de Oliveira1*, Alessandra Silva Dias²
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil – [email protected] ² Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Muitas doenças emergentes e reemergentes são zoonoses causadas por diferentes agentes biológicos, que podem determinar alta morbidade e mortalidade de humanos e animais. Certas práticas, tais como produção animal intensiva e em alta densidade, criação simultânea de espécies distintas, degradação ambiental, interações entre humanos, animais domésticos e selvagens, produção com baixa biosseguridade, contribuem para o aparecimento de doenças infecciosas associadas a mutações e recombinações genéticas virais que levam ao surgimento de novos fatores de virulência.¹ A pandemia em curso da doença do coronavírus 19 (Covid-19), da síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars-CoV2), causada pelo agente coronavírus 2, pertencente à família Coronaviridae, gênero Betacoronavírus, tem, possivelmente, sua origem relacionada a um mercado de animais vivos, em Wuhan, na China, onde animais de diferentes espécies são mantidos juntos.2,3 Diante disso, o objetivo do trabalho é associar características replicativas virais, “Drift” e “Shift”, ao agente Sars-Cov2, causador da pandemia do Covid-19.
MATERIAIS E MÉTODOS
Pesquisa feita nas plataformas de busca Google Acadêmico, Scielo e BioRxiv. Baseada em artigos publicados entre os anos de 2016 a 2020, em livro de virologia e em publicação do Jornal da USP. Palavras chave: Covid-19; Sars-CoV2; coronavírus; mutação viral; recombinação viral.
REVISÃO DE LITERATURA
O agente responsável pelo surto em curso, Covid-19, denominado Sars-CoV2, é um vírus envelopado, pertencente à classe IVb (genoma ssRNA(+)) – não segmentado, que dispõe de nove ORFs (sequências codificantes de proteínas) e possui alta taxa de recombinações e mutações genéticas. As recombinações virais são chamadas de “antigenic Shift” e ocorrem quando uma célula é parasitada por dois ou mais vírus, o que pode levar a uma troca de genes, modificando características antigênicas, e pode gerar novas cepas com alta patogenicidade e, assim, causar epidemias ou pandemias.3 Essas alterações são exclusivas de vírus com genoma segmentado, mas a recombinação nos coronavírus está associada à sua complexa replicação, que inclui a produção de RNA subgenômicos, ou seja, frações genéticas de diferentes extensões, transcritas a partir do RNA antigenômico. Com isso, é possível a transferência de material genético entre vírus distintos, implicando um rearranjo genético. Já as mutações são denominadas “antigenic Drift” e acontecem de forma restrita e pontual. As RNA polimerases não possuem etapa de proofreeading (revisão para reparo de erros na codificação genômica), com isso, podem apresentar erros na transcrição, causar deleções ou mudança sequencial no genoma e, sem reparo posterior, podem aumentar a variabilidade genética.3
Foram identificadas, após análises filogenéticas, similaridades entre os coronavírus de morcegos (Rhinolophus affins) em grande parte do genoma (96,0% de similaridade) e do mamífero selvagem ameaçado de extinção Pangolin-malaio (Manis javanica), em que a principal semelhança se encontra nos genes do receptor de ligação (proteína S – “Spike protein”), no domínio ligante do receptor (RBD), (97,4% de similaridade) que usa a ACE2 (enzima conversora
de angiotensina II) do hospedeiro para entrar na célula.2,4 Há também um sítio de clivagem polibásico, no genoma do agente, que não está associado a esses mamíferos, sugerindo que outro animal também esteja envolvido no aparecimento do Sars-CoV2.4,5 Portanto, surgiram teorias para o aparecimento do novo vírus, entre as quais, a que ocorreu recombinação genética viral, pois, além dos já mencionados, outros animais eram mantidos juntos no mercado de Wuhan, o que promoveu condições favoráveis de transmissão entre animais contaminados, rearranjo genético entre os vírus, mudança do espectro de hospedeiros e posterior contágio de humanos. 4,5
Figura 1: Sars-CoV2: recombinação genética viral em genoma não segmentado
Fonte: Adaptado de FLORES, 2007 e GRUBER, 2020
Existe ainda a possibilidade de que o vírus tenha sofrido mutação (Drift) no receptor de ligação e no sítio de clivagem, ou seja, uma evolução genética natural que promoveu modificação favorável à infecção de humanos.5
Sabe-se que a criação de animais de modo descontrolado, a falta de vigilância sanitária e a baixa biosseguridade favorecem agentes a ultrapassarem a barreira da espécie, adquirindo novos fatores de virulência e, com isso, aumenta a probabilidade do surgimento de novos vírus com potencial infeccioso e zoonótico e, assim, podem causar epidemias e pandemias com grande impacto social e econômico.1
CONCLUSÕES
Análises demonstram que o Covid-19 pode ser uma zoonose, porém, de origem ainda pouco definida. Existe a necessidade de mais estudos para aferir a real gênese desse vírus, no entanto, reforça-se um alerta para as consequências da criação de animais sem adequada biosseguridade.
BIBLIOGRAFIAS
1. ZANELLA, J. R. C. Zoonoses emergentes e reemergentes e sua importância para saúde e produção animal. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 51, n. 5, p. 510-519, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-204X2016000500011> Acesso em: 27 mar. 2020
2. LAM, T. T. et al. Identification of 2019-nCoV related coronaviruses in Malayan pangolins in southern China. Nature, 2020. Disponível em:
<https://doi.org/10.1101/2020.02.13.945485 >. Acesso em: 27 mar. 2020
3. FLORES, E. F. Virologia veterinária: virologia geral e doenças víricas.Santa Maria: Editora da UFSM, 2007.
4. GRUBER, A. Covid-19: o que se sabe sobre a origem da doença. Jornal da USP, 14 abr. 2020 Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/covid2-o-que-se-sabe-sobre-a-origem-da-doenca/> Acesso em: 16 abr. 2020
5. ANDERSEN, K.G. et al. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat Med 26, 450–452, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9> Acesso em: 16 abr. 2020.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
72
NEFRECTOMIA EM PEQUENOS ANIMAIS
Izabella Machado Vilaça1*, Mateus do Amaral Oliveira1, Roberta Renzo². 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil / e-mail:[email protected]
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A nefrectomia consiste no procedimento cirúrgico em que há remoção do rim ou parte dele, esse procedimento pode ser classificado como nefrectomia parcial, onde apenas parte do órgão é removida ou em nefrectomia total, onde é realizada a retirada de todo o rim. O procedimento também pode ser unilateral, quando apenas um dos rins é removido, ou bilateral, com a remoção do par desse órgão. A nefrectomia parcial é indicada apenas para situações de trauma com hemorragia de um dos polos renais. A nefrectomia total é realizada em hidronefroses graves, tumores renais, traumas renais extensos, pielonefrite e o transplante renal. Sendo a técnica indicada quando a destruição do parênquima renal é significativa, sendo impossível sua recuperação funcional e quando o rim contralateral está funcional, e, portanto, capaz de manter a homeostasia1,2. O objetivo deste estudo foi revisar trabalhos sobre as principais técnicas de nefrectomia utilizadas em pequenos animais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo constitui-se de uma revisão de literatura, no qual se realizou pesquisas de artigos científicos publicados em língua portuguesa através de buscas nos bancos de dados do Google acadêmico. Os critérios de inclusão para os estudos foram publicações de artigos em revistas científicas sobre técnicas cirúrgicas de nefrectomia em pequenos animais. Palavras-chave: nefrectomia, animais. REVISÃO DE LITERATURA
Primeiramente deve-se realizar a preparação da área
cirúrgica asséptica, com ampla tricotomia e antissepsia. Procede-se com incisão cutânea em região média ventral pré-retro-umbilical, e incisão da linha alba foi para acesso à cavidade abdominal3. Em umas das técnicas existentes inicia-se o procedimento pela dissecação romba do tecido perirrenal que promove o descolamento do órgão da região peritoneal, realiza-se dissecção das estruturas do hilo renal atraumaticamente e ligadura da artéria renal, da veia renal e do ureter o mais próximo possível do trígono vesical 1,3,4. Em outra técnica descrita é realizada a dissecção distal, ligadura dupla e secção do ureter mais distal junto à bexiga (Fig.1-A). O ureter é dissecado atraumaticamente em sentido cranial. Para se alcançar a região renal, o peritônio é incisado ao redor do rim, mantendo certa distância, a fim de se conseguir pinçar facilmente e manipula-lo com comodidade. Após a incisão do peritônio perirrenal, procede-se à liberação do rim (Fig.1-B) da parede abdominal com os dedos. A próxima fase é dissecção dos vasos renais (Fig.1-C) e dos grandes vasos abdominais, embora não seja necessária sua precisa individualização, já que estes são ligados, também existindo a opção de utilizar um grampeador vascular para oclusão dos vasos renais. Posteriormente os vasos renais são pinçados distalmente e o tecido entre os grampos e a pinça cortado, extraindo-se o rim. Sendo que é fundamental comprovar ausência de sangramento (Fig.1-D) pelos vasos renais antes da rafe da laparotomia 2. No caso de nefrectomia por tumor renal deve-se proceder primeiramente à ligadura da veia renal para, depois, ligar a artéria renal e o ureter, objetivando reduzir a metástase tumoral promovida pelo retorno venoso durante a dissecação do rim1. Quando o órgão apresentar conteúdo líquido e estiver extremamente aumentado de volume como nos casos de hidronefroses e pielonefrites, a exposição das estruturas do hilo pode se tornar difícil. Para
facilitar o procedimento realiza-se, antes da dissecação nefrocentese direta1. A nefrectomia é uma técnica relativamente simples, Porém, pode ocorrer complicações em razão do tamanho do rim, das aderências aos órgãos adjacentes ou da infiltração de vasos abdominais, então deve sempre estar preparado para qualquer tipo de intercorrência ou complicação quando se realizar uma nefrectomia 1,2. Figura 1: (A) Dissecção distal, ligadura dupla e secção do ureter mais distal junto à bexiga; (B) Dissecção do rim e a liberação de suas fixações da parede abdominal; (C) Vasos renais depois de dissecados da aorta e da cava caudal (seta cinza: artéria renal, seta azul: veia renal, seta amarela: ureter); (D) Para evitar sangramento retrogrado do rim, os vasos são pinçados próximo ao hilo.
Fonte: José Rodríguez Gomes, 2016.
CONCLUSÃO
Contudo, é possível concluir que a nefrectomia é de grande apoio na medicina veterinária e que essa intervenção cirúrgica possui mais de uma técnica descrita na literatura. Ademais, a decisão de qual procedimento cirúrgico será realizado na prática dependerá, sobretudo, do estado clínico e da patologia do paciente. E que, mesmo sendo uma técnica simples, poderá ocorrer complicações durante a cirurgia, com isso, o cirurgião deve estar sempre preparado para intervenções inesperadas. BIBLIOGRAFIA 1. DE ABREU OLIVEIRA, André Lacerda. Técnicas cirúrgicas em pequenos animais. Elsevier, 2013. 2. RODRÍGUEZ GOMES, Cirurgia na clínica de pequenos animais: a cirurgia em imagens, passo a passo/ São Paulo: MedVet,2016.. 3. DE FREITAS, Dilma Mendes et al. Nefrectomia unilateral em um cão parasitado por Dioctophyma renale: Relato de caso. PubVet,v.12, 2018. 4. DE QUADROS, Aparício Mendes et al. Nefrectomia, cistotomia para remoção de múltiplos cálculos vesicais e renais e ressecção de neoplasma prostático em cão da raça boxer–RELATO DE CASO.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
73
O MÉDICO VETERINÁRIO NO CONTROLE DE EPIDEMIA E PANDEMIA EMERGENTES
Natália Félix Rezende1*, Roberta Renzo². 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil *Autora para correspondência – (31) 983037433 – [email protected]
INTRODUÇÃO
O aumento do contato entre a população humana e os animais domésticos e silvestres ocorridos nos últimos anos em decorrência dos processos sociais e agropecuários resultaram na disseminação de agentes infecciosos e parasitários para novos hospedeiros e ambientes, implicando em emergências de interesse nacional ou internacional, ressaltando a importância da atuação do médico veterinário na saúde pública¹. O conceito de “One Health” (em português: Saúde Única) pode ser definido como a abordagem multidisciplinar, incluindo áreas da medicina, da medicina veterinária e de outras áreas da saúde, trabalhando em nível local, nacional e global, com o objetivo de se alcançar altos níveis de qualidade á saúde humana, animal e ambiental². Diversas instituições internacionais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention – CDC), e a Organização Mundial de Saúde Animal (World Organization for Animal Health - OIE), aderiram essa metodologia de trabalho em suas rotinas. Existem ainda órgãos, como a Iniciativa Saúde Única (One Health Iniciative), que desenvolvem atividades e promoção desse conceito³. Este trabalho tem o objetivo de elucidar a importância do médico veterinário no conceito de saúde única.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para revisão de literatura foram utilizados artigos nacionais e internacionais disponíveis online em texto completo. As seguintes palavras chaves foram utilizadas: medicina veterinária, saúde pública, zoonoses, saúde única. REVISÃO DE LITERATURA
Desde a implantação da Medicina Veterinária no Brasil, com as duas primeiras escolas nos anos de 1913 e 1914, no Rio de Janeiro4, a profissão vem ganhando destaque em diversos setores da sociedade, devido a sua ampla gama de atuação, que vai desde a clínica médica com a prevenção e cura das afecções de diversas espécies de animais, higiene e inspeção de produtos de origem animal, defesa sanitária animal, saúde pública, ensino, pesquisa e extensão, até a conservação, recuperação e preservação ambiental. Considera-se, portanto, que a medicina veterinária é, atualmente, uma das profissões mais importantes para a promoção, prevenção e assistência à saúde humana, animal e ambiental¹. Infelizmente a maioria da população desconhece a importância do profissional veterinário como promotor da saúde humana, reconhecendo somente áreas de atuação como a clínica e a cirurgia animais. No entanto, a OMS tem divulgado de forma ampla e abrangente a necessidade de seus países membros obterem a participação destes profissionais em equipes de administração, planificação e coordenação de programas de saúde5. O campo de ação do médico veterinário na saúde pública é muito amplo, atuando não somente em nível da saúde e proteção animal e ambiental, como também na segurança sanitária dos produtos de origem animal e na promoção da saúde humana através do combate a doenças zoonóticas¹. Diversas situações atuais requerem atenção do médico veterinário, como o risco de disseminação e transmissão de doenças, a movimentação de pessoas, animais e produtos agrícolas, o que facilita a dispersão e o contato com patógenos; as mudanças climáticas, que podem favorecer doenças
transmitidas por vetores; e a destruição de habitats, aproximando animais silvestres de seres humanos e animais domésticos6. Podemos verificar na Figura 1 algumas doenças emergentes de caráter zoonótico no mundo.
Figura 1:Doenças infecciosas emergentes nos seres humanos de origem animal.
http://www.onehealthinitiative.com/index.php.
No Brasil a Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011 aprovou a Política Nacional de Atenção Básica para o SUS, e incluiu a Medicina Veterinária no NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família), atuando na avaliação e redução de fatores de risco à saúde na interação entre os humanos, animais e o meio ambiente, assim como na informação e educação buscando solucionar os desafios, efetivando a Saúde Única4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como sugerido pela Iniciativa de Saúde Única, o uso de uma abordagem multidisciplinar na sociedade atual é fundamental para prevenir, controlar e reduzir situações de risco como epidemias e pandemias que teriam impactos globais. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. MENEZES, C.C.F, A importância do Médico Veterinário na Saúde
Pública. Fortaleza, UECE: 2005. 54p. Dissertação (Monografia) - Conclusão do curso de graduação, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2005. Disponível em: <https://url.gratis/c3D8l>. Acesso em 24 abr. 2020.
2. AMERICAN Veterinary Medical Association. One Health – What is One Health? Disponível em: <https://url.gratis/eBTIr>. Acesso em 24 abr. 2020.
3. DAY M. J. One health: the small companion animal dimension. Vet. Record, v. 167, p. 847-849, 2010. Disponível em: <https://veterinaryrecord.bmj.com/content/167/22/847>. Acesso em 24 abr. 2020.
4. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. História. Disponível em: <http://portal.cfmv.gov.br/pagina/index/id/40/secao/1>. Acesso em 24 abr. 2020.
5. BRITES NETO, J. O Papel do Médico Veterinário no Controle da
Saúde Pública. Disponível em: < http://www.saudeanimal.com.br/1413/geral/diversos/o-papel-do-med-saude-publica >. Acesso em 24 abr. 2020.
6. OSBURN B.; SCOTT C.; GIBBS P. One World – One Medicine – One Health: emerging veterinary challenges and opportunities. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., v. 28, n. 2, p. 481-486, 2009. Disponível em: <https://doc.oie.int/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=30965>. Acesso em 24 abr. 2020.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
74
O PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO NO SISTEMA DE SAÚDE ÚNICA
Daniela Taynara Pereira1*, Yara de Freitas Oliveira¹, Brunna Gabriela Gonçalves de Oliveira Ferreira¹, Vitor Gonçalves Teixeira¹, Viviana Feliciana Xavier².
1Graduanda em Medicina Veterinária – PUC Minas – Belo Horizonte/ MG – Brasil – [email protected] – (31) 99561-1928, ²Professora do Departamento de medicina Veterinária – PUC Minas – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A Medicina Veterinária sempre visou promover saúde animal com o objetivo de reduzir os prejuízos econômicos gerados por afecções que os acometiam e resultavam em queda na produção animal. A posteriori, se observou que a maioria das doenças infecciosas que acometiam humanos eram transmitidas através de produtos de origem animal (POA) contaminados e por reservatórios animais. Essas ponderações iniciaram, e serviram como base, para o que atualmente é conhecido como Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública1.
Deste modo, através da relevância das zoonoses, que correspondem a 80% das doenças transmissíveis em humanos, a atuação simultânea de profissionais da Medicina Humana e Veterinária passou a ter importância reconhecida e sua atuação conjunta promove prevenção de doenças zoonóticas, segurança alimentar de POA e ações de bem-estar coletivo2.
A evolução integrada resultante dessas atuações entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental compactou-se no termo “Saúde única”, representação proposta por organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) e Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Logo, a Medicina Veterinária torna-se braço estendido da Medicina, apresentando natureza interdisciplinar ao promover a saúde da coletividade2.
MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou-se revisão bibliográfica em revistas e bases de dados científicos e acadêmicos, como Pubmed e Research Gate, levantando histórico da saúde pública vinculada a Medicina Veterinária, buscando demonstrar a importância do médico veterinário nos conceitos e aplicações práticas de saúde universal. REVISÃO DE LITERATURA
O termo “Saúde Pública Veterinária” (SPV) foi utilizado oficialmente pela primeira vez em 1946, em um encontro entre a OMS e FAO, que teve por finalidade fornecer diretrizes para atividades conjuntas na saúde pública. Definiu-se: “A SPV compreende todos os esforços da comunidade que influenciam e são influenciados pela arte e ciência médica veterinária, aplicados à prevenção da doença, proteção da vida, e promoção do bem-estar e eficiência do ser humano”. No entanto, durante certo período, a atuação veterinária nesse meio deu-se principalmente através de ações na indústria de POA2.
Em decorrência de modificações nos meios de POA e processos socioambientais, os homens e animais domésticos e silvestres tornaram-se mais próximos, implicando na maior disseminação de agentes infecciosos e parasitários e emergência de novas doenças. No entanto, somente na segunda metade do século XX, momento em que ocorreu uma crise na saúde pública, com reflexos na SPV, em virtude das campanhas promovidas contra as afecções, foi que houve maior atuação destes profissionais na área. As campanhas eram promovidas com a pretensão da redução de doenças zoonóticas, mas devido aos conhecimentos escassos sobre estas enfermidades, seu completo controle e erradicação não foram alcançados. Diante deste novo
desafio, a epidemiologia foi inserida na SPV, promovendo análise detalhada e específica dos fatores relacionados à doenças3.
A crise da saúde provocou mudanças no sistema de saúde do país, e ocasionou na proposição de um sistema de saúde único, descentralizado, hieraquizado e regionalizado, que objetivava promover saúde preventiva e coletiva. Em 1988, foi instituído então o Sistema Único de Saúde (SUS) pela nova Constituição Federal, que torna o acesso a saúde igualitário e universal. Em 1994, para atender famílias em vulneralibidade socioeconômica, foi criado o Programa da Saúde da Família (PSF), e em 2008 foram criados os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), que estende sua ações através da interdisciplinalidade ao envolver múltiplos profissionais da saúde. Em 2011, a Portaria GM/MS 2.488 incluiu o médico veterinário aos profissionais atuantes do Nasf. Essa atuação baseia-se em educação em saúde sobre transmissão de doenças, guarda responsável e controle populacional de animais, atuação frente a desastres naturais e provocados pelo homem, estudos epidemiológicos, etc4.
As atuais diretrizes para SPV se apoiam nas ciências sociais e biológicas conectando agricultura, pecuária, saúde animal, educação em saúde e saúde humana, sendo as principais atribuições do médico veterinário no âmbito da saúde pública: a) vigilância sanitária e segurança alimentar; b) investigação epidemiológica e controle de doenças zoonóticas; c) biotecnologias; d) sistemas de exploração agrária; d) questões éticas relativas aos animais; e) análises e avaliações de serviços e programas de saúde pública; f) aspectos socais, comportamentais e mentais da relação entre seres humanos e animais, dentre outros2. CONCLUSÃO
O profissional atuante em SPV possui habilidade para trabalhar de forma interdisciplinar, auxiliando as populações animais e humanas no enfrentamento de seus desafios no que se refere a promoção da saúde¹. A Medicina Veterinária está diretamente envolvida na saúde única e seu papel é indissolúvel, o que requer novos métodos educacionais sobre o tema e ampliação do conhecimento a toda população. Embora as atividades do médico veterinário estejam consolidadas sobre a atenção médica, cirúrgica e produção, a formação técnica deve contemplar disciplinas comuns em atuação na saúde humana. BIBLIOGRAFIAS 1. ARMELIN, Nino Tollstadius; CUNHA, Jarbas Ribeiro Almeida. O papel e a importância do médico veterinário no sistema único de saúde: uma análise à luz do direito sanitário. Cadernos Ibero-americanos de Direito Sanitário, Brasília, v. 5. 2. PFUETZENREITER, Márcia Regina; ZYLBERSZTAJN, Arden; AVILA-PIRES, Fernando Dias de. Evolução histórica da medicina veterinária preventiva e saúde pública. Ciência Rural, Santa Maria, v. 5, n. 5, p. 1661-1668, set.-out, 2004. 4ISSN 0103-8478. 3. GOMES, Laiza Bonela. Importância e atribuições do médico veterinário na saúde coletiva. Sinapse Múltipla, Betim, v.6, n.1, p.70-75, jul. 2017. 4. JUNGES, Marina; JUNGES, Fernanda. A importância do Médico Veterinário no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 14f. Monografia (Especialização) - Curso de Medicina Veterinária, Vigilância Sanitária, Universidade Católica de Goiás, Goiás, 2015.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
75
O USO DE BLOQUEIOS PERINEURAIS NO DIAGNÓSTICO DE CLAUDICAÇÃO EQUINA
Guilherme Vitor Maquart Matos¹*, Priscilla Menezes de Almeida¹, Frederico Eleutério¹, Richard Deyber Guimarães de Carvalho², Gabriel Dias Costa3 .
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil * Autor para correspondência: [email protected] 2Médico Veterinário Autônomo. Belo Horizonte – MG – Brasil
3 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Atualmente, de acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil possui uma tropa com mais de 5 milhões de equinos utilizados para lazer, trabalho e esporte². Esses animais sofrem, frequentemente, com lesões musculoesqueléticas no aparelho locomotor o que predispõe a claudicação, independente da atividade que realizam. A claudicação pode comprometer a função dos equinos de maneira temporária ou definitiva, o que gera grandes prejuízos econômicos. O exame de claudicação completo é de extrema importância para identificar o membro claudicante, a região afetada, a causa do problema e assim definir o melhor tratamento. O bloqueio anestésico perineural é uma técnica de anestesia local utilizada na clínica de equinos com a finalidade de auxiliar o veterinário a localizar a região do foco de dor causador da claudicação³. O presente trabalho tem como objetivo de discorrer sobre a utilização dos bloqueios perineurais no diagnóstico de claudicação em equinos. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização dessa revisão de literatura foram utilizados artigos técnicos científicos e guias ilustrativos que abordaram diferentes métodos para o uso de bloqueios perineurais em equinos a partir das palavras-chaves: equinos, claudicação, anestesia, bloqueio e perineural. REVISÃO DE LITERATURA
O desempenho funcional dos equinos depende da integridade do aparelho locomotor. Esses animais, independente da atividade que realizam, podem ser acometidos por injúrias musculoesqueléticas que, consequentemente, provocam uma claudicação que deve ser avaliada a partir de um exame clínico completo e um exame físico específico do aparelho locomotor. O exame de claudicação inicia-se a partir de uma inspeção estática detalhada, seguida da inspeção dinâmica. Logo após, realizam-se os testes de flexão para identificar o membro claudicante. A partir daí, exames complementares podem e devem ser utilizados, tais como, exames de imagem e bloqueios perineurais e intra-articulares para fechar o diagnóstico de maneira precisa³. Os bloqueios perineurais auxiliam o médico veterinário a identificar melhor o local da lesão, uma vez que promovem a dessensibilização da região afetada e cessam, temporariamente, a claudicação³. É importante citar que o procedimento é contraindicado em pacientes com suspeitas de fraturas, diante da possibilidade de agravamento do quadro¹. O procedimento deve ser realizado por um profissional que conheça bem anatomia e a técnica a ser aplicada. Vale ressaltar que, alguns animais não aceitam a manipulação, fazendo-se necessária a contenção física ou química através do uso de sedativos e tranquilizantes como a acepromazina (0,05mg/kg, intravenosa (IV)) ou xilazina (0,2 a 0,4 mg/gk, IV)¹. Para garantir o máximo de especificidade do bloqueio, após a antissepsia bem feita, é importante que: o bisel da agulha esteja apontado distalmente, o calibre da agulha seja menor, o volume de anestésico deve ser adequado para a região, o tempo de repouso pós-aplicação não deve ser maior que 10min, deve-se evitar manobras que facilitem a difusão
do anestésico e, principalmente que os bloqueios iniciem-se da região distal para a região proximal¹. Os bloqueios utilizados nos membros torácicos (MT) e membros pélvicos (MP) são (FIG 1.): bloqueio dos ramos posteriores (1); abaxial (2); dos quatro pontos baixos (3); dos quatro pontos altos (4); nervo palmar lateral (5); do nervo ulnar (6); do nervo mediano (7); do nervo antebraquial cutâneo medial (8); abaxial (9); dos seis pontos baixos (10); dos seis pontos altos (11); do nervo plantar lateral (12); do nervo tibial (13); dos nervos fibulares (superficial e profundo) (14) e bloqueio do nervo fibular comum (15)¹. Figura 1: Ilustração simplificada da inervação utilizada para realização de bloqueios perineurais MT (esq.) e MP (dir.).
FONTE: Baccarin, 2015
As soluções anestésicas mais utilizadas para a realização dos bloqueios perineurais são o cloridrato de lidocaína solução a 2%, cloridrato de mepivacaína a 2% e o cloridrato de bupivacaína a 5%, com base na diferença de tempo que ficam ativos nos nervos³. A lidocaína possui tempo anestésico de 30 a 45 minutos, enquanto a mepivacaína age de 90 a 120 minutos. Já a bupivacaína é preferencialmente usada em períodos longos de anestesia onde o animal apresenta claudicação em mais de um membro ou várias lesões no mesmo membro, com tempo de ação de 4 a 6 horas¹. Os bloqueios perineurais possuem baixo risco de complicações como: formação de hematomas, infecção subcutânea, injeções intravasculares, quebras de agulhas e, de maior gravidade, a sinovite séptica¹. CONCLUSÃO
Conclui-se que os bloqueios perineurais são uma importante ferramenta para o diagnóstico de claudicações em equinos. O procedimento deve ser realizado por um médico veterinário capacitado, a fim de evitar complicações e garantir o diagnóstico preciso. BIBLIOGRAFIAS 1. BACCARIN, Raquel Yvonne Arantes; BROSSI, Patrícia Monaco; SILVA, Luis Claudio Lopes Correia da. Guia ilustrado para injeção perineural em membros locomotores de equinos. 2015. 2. LIMA, RA de S.; CINTRA, A. G. Revisão do estudo do complexo do agronegócio do cavalo. Ministério da Agricultura, Brasília, DF, 2015. 3. LUNA, Stelio Pacca Loureiro. Anestesias perineurais e regionais em equinos. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 1, n. 1, p. 24-30, 1998.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
76
O USO DO TAMANCO DE MADEIRA NA LAMINITE EQUINA – RELATO DE CASO
Guilherme Vitor Maquart Matos*, Priscilla Menezes de Almeida¹, Luca Santi Engel¹, Thales Monteiro França¹, Bruna Rocha de Oliveira², Gabriel Dias Costa³
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil * Autor para correspondência: [email protected] 2 Médico Veterinário – MG – Brasil
³ Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O aparelho locomotor dos equinos, responsável pela locomoção e sustentação dos mesmos, apresenta alta incidência de afecções. A pododermatite asséptica difusa, popularmente conhecida como laminite, é uma doença de grande importância clínica, pois envolve o comprometimento anatômico e funcional do casco. A laminite é definida como uma desordem metabólica sistêmica que provoca um processo inflamatório das lâminas do casco que leva à má fixação da falange distal na parede interna do casco¹. Existem diversas teorias para a etiologia da afecção e as causas predisponentes são: fatores alimentares; obesidade; fatores mecânicos e traumáticos; questões sistêmicas, como infecções, endotoxemias, intoxicações e causas neuroendócrinas². A laminite pode acometer ambos os membros torácicos ou os quatro membros e surgir como uma doença aguda que pode evoluir para um quadro crônico¹. Os sinais clínicos mais comuns são: postura antiálgica com deslocamento do peso para os membros menos acometidos, aumento da temperatura na parede dos cascos; pulso arterial digital positivo; aumento da frequência cardíaca, respiratória e da temperatura corporal; sudorese; claudicação de variados graus; rotação e afundamento da falange distal³. O diagnóstico é realizado a partir do exame clínico e radiográfico, verificando se há e qual o grau de rotação da falange distal em relação à parede do casco². O prognóstico é definido de acordo com o grau de rotação da estrutura¹. Independente do quadro clínico, o tratamento tem como objetivo conter e reverter às consequências da afecção. O casqueamento corretivo e o ferrageamento ortopédico, além do tratamento clínico, são essenciais para o tratamento da laminite crônica, pois ajudam na restauração do equilíbrio e garantem apoio adicional, proteção, tração, correção de anormalidades do movimento e asseguram o bem estar animal. O uso de tamancos de madeira visa estabilizar a falange distal e garantir conforto ao animal com redução da dor 4. O presente relato irá descrever o tratamento da laminite através da aplicação da ferradura de madeira bem como seus possíveis resultados. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Em setembro de 2019, deu entrada no Hospital Veterinário UniBH, uma égua SRD de 7 anos que apresentava claudicação severa nos quatro membros. No exame clínico estático foi observado aumento da temperatura da parede dos cascos, bem como aumento do pulso arterial digital nos quatro membros e sudorese excessiva. Na avaliação radiográfica constatou-se, nos quatro membros, rotação da falange distal, com os respectivos graus de rotação; membro torácico direito (MTD): 8,7°(FIG 1.); membro torácico esquerdo (MAE): 9,1°; membro pélvico direito (MPD): 8,4°; membro pélvico esquerdo (MPE): 7,7°, diagnosticando-se assim o quadro de pododermatite asséptica. Foi instituído tratamento clínico a base de: Omeprazol (1 a 5mg/kg), uma vez ao dia (SID), via oral (VO); fenilbutazona (1 a 2ml/100kg), SID, por via intravenosa; acepromazina 1% (0,5 a 1ml/100kg), duas vezes ao dia (BID), por via intramuscular (IM); ácido acetilsalicílico-AAS (8g), SID, VO; Bio Hoof®(10g), SID, VO.
Figura 1: Projeção latero-medial (LM) do MTD com 8,7° de rotação da falange distal (esq.) e membros torácicos com o tamanco de madeira fixado (dir.).
Após o 3° dia de internação foi realizado o casqueamento corretivo e o ferragemento ortopédico com os tamancos de madeira compensada (3cm) (FIG 1.); silicone de condensação dentário como palmilha para apoio de ranilha, sola, barra, talão e bulbo; 16 parafusos para fixação da ferradura; gesso sintético para auxilio da fixação e impermeabilização do estojo córneo. A utilização do referido método possibilitou a elevação dos talões e diminuiu o breakover, a fim de facilitar a retirada do membro do solo e reduzir a força de tração do tendão flexor digital profundo; além de estabilizar a falange distal em relação à parede do casco e impedir a progressão da rotação. O casqueamento e a ferração, que garantiram o aumento da superfície de apoio e proporcionaram maior conforto ao animal, foram efetivos no controle da dor e possibilitaram evolução do quadro com a redução no grau de rotação das falanges, sendo: MTD 5° (FIG 2); MTE: 8,3°, MPD: 7,5°, MPE: 6,2°. O animal apresentou melhora e recebeu alta para dar segmento no tratamento na propriedade de origem. Figura 2: Projeção LM do MTD com 5° de rotação da falange distal pós ferrageamento.
CONCLUSÕES
Na clínica médica equina o casqueamento e a ferração ortopédica são ferramentas essenciais para realização do tratamento da laminite. A utilização do tamanco de madeira tem como principal função proporcionar conforto ao animal e controlar a dor, além de impedir a progressão da afecção em casos crônicos. A escolha da ferradura está relacionada com o objetivo que se pretende e a cada caso clínico em particular. O procedimento deve ser realizado por um ferrador experiente e o acompanhamento periódico é fundamental, uma vez que o manejo inadequado pode agravar o quadro, sendo o tratamento longo e dispendioso. BIBLIOGRAFIAS
1- Thomassian, Armen, et al. "Patofisiologia e tratamento da pododermatite asséptica difusa nos eqüinos-(Laminite eqüina)." Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP 3.2 (2000): 16-29.
2- de Godoy, Roberta Ferro. "Pododermatite asséptica difusa–LAMINITE Antônio Raphael Teixeira Neto."
3- Lippi, Beatriz Michelini. "PODODERMATITE ASSÉPTICA DIFUSA OU LAMINITE EM EQUINOS (Equus caballus)."
4- Stashak, Ted S. Adams' lameness in horses. Verlag M. & H. Schaper, 2008.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
77
OCITOCINA E QUEDA NO DESEMPENHO REPRODUTIVO
Mariana Cardoso de Abreu1*, Gabriel Resende de Souza1, Mariana Perpétuo Dias¹, Breno Mourão de Sousa2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O desempenho reprodutivo de vacas nos sistemas produtivos tem grande impacto na eficiência e lucratividade da fazenda. A baixa fertilidade aumenta o intervalo entre partos, o custo de criação, reduz o número de crias ano, e a produção de leite. 1
A repetição do cio pode ser provocada por diversas patologias, dentre elas a morte embrionária, uma das principais causas de queda no desempenho reprodutivo. Ela pode ser provocada pela lise precoce do corpo lúteo (CL). 2 Essa estrutura produz progesterona (P4) o principal hormônio responsável pela manutenção da gestação. Seu processo de degeneração é mediado pela prostaglandina F2α (PGF2α), que é produzida por indução da ocitocina. Esse hormônio é utilizado nas propriedades rurais como um indutor da ejeção de leite durante a ordenha, seu uso está associado à lise prematura do CL. 3
O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibiográfica sobre a fisiologia da fase luteal, descrevendo o papel da ocitocina na luteólise e apontado seu papel na patogênese da queda do desempenho reprodutivo de vacas.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para desenvolver esse trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico em plataformas digitais de pesquisa científica, do período de 2016 a 2020, utilizando as palavras chaves: ocitocina, eficiência reprodutiva e bovinos. REVISÃO DE LITERATURA
O corpo lúteo é um órgão endócrino temporário que se desenvolve logo após a ovulação, por indução do hormônio luteinizante (LH). É constituído por células esteroidogênicas, responsáveis pela produção de P4, mas também, por células endoteliais, periócitos, fibrócitos e células imunes. A progesterona é o principal hormônio responsável pela manutenção da gestação, sob estímulo do LH, proteínas intracelulares de ligação, transportam o colesterol até a mitocôndria, nesta, a enzima P450scc promove a conversão do colesterol para pregnolona. Em seguida a pregnolona é encaminhada para o retículo endoplasmático liso, no qual há a passagem para progesterona pela enzima 3β- HSD.4
No útero o P4 promove diferenciação das células glandulares endometriais, e inibição da contração do miométrio. Tornando esse ambiente ideal para a gestação. Para a manutenção da gestação o embrião deve produzir uma sinalização que demonstra sua presença no útero. Essa sinalização é feita pelo IFN-T. Esse reduz a expressão de receptores de ocitocina no endométrio impedindo, assim, a produção de PGF2α. 4
Quando não gestante o CL deve sofrer luteólise para o retorno ao cio e uma nova ovulação. Pode-se dividir esse processo em duas fases, a luteólise funcional e estrutural. Fisiologicamente no final da fase lútea há uma redução nos níveis de P4, que possibilita a produção de estrogênio. No útero esse ultimo produz uma sinalização ao endométrio para expressar mais receptores de ocitocina. Esse hormônio previamente produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise ganha à circulação e atua sobre o endométrio. Por meio da Cox 2 há a conversão do ácido araquidônico em PGF2α que atua sobre o CL no ovário. 4
Na fase de luteólise funcional a PGF2α induz uma alteração da produção de P4, há uma flutuação plasmática, que por fim culmina em níveis circulantes abaixo de 1ng/ml. A fase
estrutural caracteriza-se pela degeneração das células do CL e sua substituição pelo corpo albicans.4
O uso indiscriminado de ocitocina exógena é frequente em produções brasileiras, seu uso pode provocar uma lise antecipada do corpo lúteo. Isso provoca uma manifestação de cio antecipada, mas também pode ocasionar a morte embrionária, no período de 7 a 16 dias considerado o momento crítico para o reconhecimento materno da gestação.3
Vacas que passaram por um protocolo de IATF e que recebem 2,5 ml de ocitocina intravenosa na ordenha apresentam um retorno ao cio entre o 15° e 18° dia, já as não tratadas apresentam um retorno entre 18° e 28° dia, estando em consonância com o padrão fisiológico. Além disso, 75% das vacas que recebem ocitocina apresentam retorno ao cio, enquanto, as não tratadas possuem um percentual de 58,3%. O tamanho do CL em vacas que recebem ocitocina é menor do que as que não recebem, como demonstrado na tabela abaixo: 3
Tabela 1: Diâmetro e desvio padrão do CL após IATF de
vacas não tratadas e tratadas com ocitocina nos dias 10, 15 e 18.
Fonte: Mascarenhas, et al. (2016).
Esses achados corroboram com a tese de que a ocitocina promove uma lise do CL prematura, já que há uma redução no tamanho do ultimo e um retorno ao cio adiantado. CONCLUSÕES
O uso de ocitocina exógena é frequente em sistemas produtivos, sua ação pode provocar uma lise precoce do CL, promove morte embrionária, reduzindo a eficiência reprodutiva por apresentar baixa taxa de concepção e maior retorno ao cio, em períodos mais curtos. BIBLIOGRAFIAS 1. Abraham, F. "An Overview on Functional Causes of Infertility in Cows." JFIV Reprod Med Genet 5.2, 2017; 203. 2. Sánchez, J. M., Mathew, D. J., Passaro, C., Fair, T., & Lonergan, P. “Embryonic maternal interaction in cattle and its relationship with fertility.” Reproduction in Domestic Animals, 2018; 53: 20-27. 3. Mascarenhas, L. M., Botteon, R. D. C. C. M., de Mello, M. R. B., Botteon, P. D. T. L., & da Roseira Vargas, D. F. ‘’Aplicação de ocitocina durante
a ordenha e eficiência reprodutiva de vacas mestiças.’’ Brazilian Journal of Veterinary Medicine, 2016; 38(Supl. 2): 108-112. 4. Pugliesi, G., Nishimura, T. K., Melo, G. D., MEMBRIVE, C., Naves, J. R., & Carvalho, G. R. ‘’Regressão espontanea do corpo lúteo em bovinos-revisão.’’ Ars Veterinaria, 2017; 33(1): 01-12.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
78
ONFALOFLEBITE EM BEZERRA NEONATA – RELATO DE CASO
Mariana Perpétuo Dias1*, Sérgio Henrique Andrade dos Santos¹, Larissa Chyara Macclawd Vieira1, Gabriel Resende Souza¹, Mariana Cardoso de Abreu¹, Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira2, Márcio Nunes
Cordeiro Costa3. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil 3 Mestre em Ciências Veterinária pela UFES - Consultor técnico Ourofino Saúde Animal.
*autor para correspondência: Mariana Perpétuo Dias: [email protected]
INTRODUÇÃO
As afecções umbilicais se encontram entre as enfermidades com maior incidência em bezerros recém nascidos, e estão diretamente correlacionadas a fatores inadequados de manejo, o que determina a ascendência ou declínio de animais doentes no rebanho [1]. Dentre as adversidades apontadas, as más condições higiênico-sanitárias, a colostragem e a cura de umbigo inadequadas predispõem o neonato a diversas patologias, sendo que a ocorrência de enfermidades depende do equilíbrio entre a imunidade passiva, adquirida principalmente através de imunoglobulinas presentes no colostro, e do desafio encontrado no ambiente
[2,3]. Estes fatores, juntamente a má cicatrização umbilical, tornam o umbigo a porta de entrada para inúmeros microrganismos e, de forma ascendente, propicia a disseminação de agentes infecciosos para diversas regiões do corpo, o que pode gerar complicações como poliartrite, abscesso hepático, endocardite, diarreia, pneumonia, septicemia e óbito [4]. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma bezerra da raça Holandesa, que foi atendida no Hospital Veterinário do UniBH, em fevereiro de 2020, sendo relatado pela proprietária falha na transferência de imunidade passiva via colostragem, que a instalação onde o animal vivia possui condições insalubres e, que após duas semanas de vida, apresentou aumento da região umbilical com presença de secreção purulenta e dor à palpação, fezes liquefeitas e oscilação de temperatura, tendo como suspeita preliminar um quadro infeccioso denominado de onfaloflebite. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
No dia 22 de janeiro de 2020, em uma propriedade rural no estado de Minas Gerais, ocorreu um parto gemelar de sexos opostos em uma fêmea bovina da raça Holandesa. O bezerro macho foi considerado natimorto, já a fêmea, pesando 25 kg, não recebeu a administração correta do colostro sendo, posteriormente, transferida para uma instalação onde não se encontrava os aspectos sanitários adequados. Mesmo com os desafios encontrados no ambiente, a cura do umbigo foi efetivada, utilizando iodo 10%, três vezes ao dia, em um período de quatro dias consecutivos. Em seguida, houve transferência do animal para um ambiente mais apropriado. No entanto, 14 dias após o nascimento a proprietária relatou que a bezerra manifestou quadro diarreico e aumento da região umbilical. Ao exame clínico verificou-se mucosas levemente hipocoradas, 5% de desidratação, região do umbigo externo e interno edemaciada, com aumento de veia intra-abdominal, presença de secreção purulenta e fétida (Figura 1) e temperatura retal equivalente a 40.0º C. Tendo como diagnóstico clínico final a onfaloflebite. Sucedeu-se, então, com o encaminhamento do animal ao Hospital Veterinário do UniBH. Inicialmente, foi realizada coleta de sangue para realização de hemograma completo e limpeza da região umbilical com solução degermante. O leucograma indicou leucocitose, com valores equiparados a 14.000/mm³ (ref.: 4.000 a 12.000 /mm³), o que demonstrou infecção. Sendo assim, foi efetuada medicação terapêutica com aplicação de Dipirona Sódica, 3 mL, a cada 8 horas, por via intramuscular (IM), durante 3 dias, para cessar a hipertermia. Procedeu-se também com antimicrobianoterapia sistêmica,
utilizando medicamento a base de Benzilpenicilina Potássica e Sulfato de Gentamicina no volume de 3,5 mL, o que corresponde a 40.000 UI de Benzilpenicilina Potássica e a 3,320 mg de Sulfato de Gentamicina por kg de peso vivo, via IM, por um período de 10 dias, além de administrar fluidoterapia oral (20 g de Glicose de milho, 5 g de Cloreto de sódio, 4 g de Bicarbonato de sódio e 1 g de Cloreto de potássio) 2 vezes ao dia, até completa recuperação do quadro diarreico. Após um período de 15 dias do início dos tratamentos a paciente se mostrou responsiva a medicamentação ministrada, havendo cicatrização umbilical e completa recuperação da sintomatologia retratada (Figura 2).
Figura 1 e 2: Umbigo edemaciado com presença de secreção purulenta (1); Cicatrização umbilical após 15 dias
de tratamento (2).
CONCLUSÕES
Conclui-se com esse relato que a ocorrência de onfaloflebite está diretamente relacionada as condições de sanidade do ambiente externo, descuidos na desinfecção do umbigo, juntamente com falhas na transferência passiva de imunoglobulinas via colostragem. No entanto, apesar do quadro avançado de infecção, o uso precoce de antimicrobianos associado a fluidoterapia oral revelou-se eficaz, com significativa melhora da paciente. Porém, deve-se presar por prevenir infecções umbilicais, sendo a cura do umbigo e a colostragem fundamentais após o nascimento.
BIBLIOGRAFIAS 1. Oliveira, M. C. S.; Oliveira, G. P. Cuidados com o bezerro recém-nascido em rebanhos leiteiros. Circular Técnica Embrapa, n. 9, p. 8-29, 1996. 2. Donovan, G. A.; Dohoo, R. I.; Montgomery, D. M.; Bennett, F. L. Cattle morbidity and mortality: passive immunity. Preventive Veterinary Medicine, Amsterdan, v. 34, n. 1, p. 31-46, 1998. 3. Cortese V.S. 2009. Neonatal imunnology. Vet. Clin. Food Anim. Pract. 25:221-227. 4. Reis, A. S. B.; Pinheiro, C. P.; Lopes, C. T. A.; Cerqueira, V. D.; Oliveira, C. M. C.; Duarte, M. D; Barbosa, J. D. Onfalopatias em bezerros de rebanhos leiteiros no nordeste do estado do Pará. Ciência Animal Brasileira, supl. 1, Anais do VIII Congresso Brasileiro de Buiatria, p. 20-34, 2009. APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
79
OS BIÓTIPOS DE S. AUREUS E SUAS IMPLICAÇÕES
Mariane Pereira de Souza¹, Marina Gonçalves Rangel¹, Sérgio Henrique Andrade dos Santos¹, Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira²
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
Autor para correspondência – Mariane P. de Souza: [email protected]
INTRODUÇÃO
O Staphylococcus aureus (S. aureus) é uma bactéria pertencente à família Staphylococcaceae, do gênero Staphylococcus. São cocos Gram-positivos, anaeróbios facultativos e apresentam temperatura de crescimento entre 7 e 47,8°5. Este micro-organismo possui a maior prevalência em casos de mastite subclínica em bovinos e tem distribuição mundial².
A mastite causada especificamente pelo S. aureus, além de causar impactos diretamente na produção, também implica na saúde pública, levando à casos de intoxicações alimentares³. Diversos biótipos de S. aureus podem ser identificados nos animais acometidos com mastite³.
Diante disso, a averiguação da origem da infecção é de suma importância para um melhor esquema de prevenção e tratamento dos animais acometidos³. O presente trabalho tem como objetivo apresentar os principais biótipos de S. aureus encontrados em rebanhos bovinos, identificando a origem e possibilitando melhor controle da disseminação da infecção.
MATERIAIS E MÉTODOS
Revisão de literatura e pesquisas bibliográficas nas plataformas Scielo e Google Acadêmico. Foram selecionados artigos do ano de 1984 a 2011.
REVISÃO DE LITERATURA
A mastite bovina representa uma das maiores enfermidades que acometem rebanhos bovinos leiteiros, acarretando em severas perdas econômicas em uma propriedade, principalmente com a queda de produção e descarte de animais¹. O Staphylococcus aureus é o agente contagioso de maior prevalência em todo mundo¹. Ele possui como principal características sua capacidade de formação de biofilmes que, dificulta o tratamento e sua eliminação do tecido mamário5. Outra característica importante em relação ao S. aureus é sua capacidade de produção de diversas exotoxinas termoestáveis, sendo importantes agentes de intoxicações alimentares4. Esta bactéria possui característica oportunista e pertence a microbiota natural de diversas espécies de animais, inclusive da humana³. Existem cepas de S. aureus de diferentes ecovares ou biovares, os quais são classificados em biotipos, por sistemas baseados em critérios bioquímicos¹. Devriese (1984), utilizando quatro diferentes testes: produção de Estafiloquinase (K), β – hemólise (β), coagulação de plasma bovino (PI) e crescimento em meio com cristal violeta (CV), desenvolveu um sistema de biotipagem permitindo a identificação de dez biótipos de S. aureus: humano, bovino, aviário, ovino, canino e cinco biovares de hospedeiro não específico (tabela 1). Desde então, a biotipagem vem sendo utilizada como subsidio ao conhecimento da epidemiologia e a identificação de elementos que ajudem no controle da doença, além de também ser utilizado em investigações na indústria alimentícia, a fim de elucidar as causas de intoxicações alimentares³. Estudos realizados na região de Pernambuco (Neto et al., 2011) utilizando amostras de animais acometidos com mastite subclínica procedentes de 8 fazendas leiteiras, detectou 9 dos 10 biótipos descritos por Devriese, sendo que das 30 cepas estudadas 16,6% eram do biótipo aviário, 6,6% bovino e 3,3% do tipo humano e ovino, 70% foram
classificados como hospedeiro não específico. Brito et al.(2000) encontraram os mesmos biótipos, porém, em percentuais diferentes, no estado de Minas Gerais: 16% biótipo bovino, 7,8% ovino, 4,6% aviário e 0,5% humano, enquanto que 71% das amostras não apresentavam características especificas de hospedeiros.
Tabela 1 - ESQUEMA DE BIOTIPAGEM DE DEVRIESE MODIFICADO
A: Amarelo C: Violeta NHS: No host specific CV: Cristal violeta SAK:Estafiloquinase
CONCLUSÕES
Os diferentes biótipos encontrados nos estudos sugerem que, são diversas as origens de contaminações nas propriedades. O grande número de amostras com hospedeiro não especifico indicam que, maiores pesquisas e métodos de identificação, podem ser necessários para melhor compreensão destes organismos. A predominância de determinados biótipos no rebanho pode estar relacionada com a presença de fatores de risco, preconizando a necessidade de identificação destes para que, medidas de prevenção possam ser implementadas com maior eficiência. A biotipagem mostrou-se um método de grande eficiência para alinhamento de estratégias de prevenção ao Staphylococcus aureus. BIBLIOGRAFIAS
1. Neto, A. C. C., Hardoim, E. L., & da Cruz Monte, S. (2011). BIÓTIPOS DE Staphylococcus aureus ISOLADOS DE LEITE in natura DE VACAS COM MASTITE SUBCLÍNICA. Acta Veterinaria
Brasilica, 5(1), 54-60. 2. Brito, M. A. V. P.; Brito, J. R. F.; Cordeiro, F. M.; Costa, W. A.;
Fortes, T, O. 2000. Caracterização de biótipos de Staphylococcus aureus isolados de mastite bovina. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. 52(5), outubro.
3. Devriese, L. A.1984. A simplified system for biotyping Staphylococcus aureus strains isolated from different animal species. Journal of Applied Bacteriology. 56: 215 - 220.
4. FERREIRA, Luciano Menezes et al. Identificação de genes enterotoxigênicos de estirpes de staphylococcus aureus isoladas de casos de mastite bovina. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DO LEITE: SEGURANÇA ALIMENTAR E SAÚDE PÚBLICA, 3., 2008, Recife-anais. Recife: CBQL: UFRPE, 2008., 2008.
5. HENNEKINNE, J. A. et al. Discrimination of Staphylococcus aureus biotypes by pulsed‐field gel electrophoresis of DNA macro‐restriction fragments. Journal of applied microbiology, v. 94, n. 2, p. 321-329, 2003.
Biótipo SAK Beta-hemolisina
Coagulação em plasma bovino
CV
Humano Positivo Variável Negativo A/C
Bovino Negativo Positivo Positivo A
Ovino Negativo Positivo Positivo C
Aviário Negativo Negativo Negativo A
NHS1 Positivo Negativo Positivo A
NHS2 Positivo Positivo Positivo A
NHS3 Negativo Positivo Negativo A
NHS4 Negativo Positivo Negativo C
NHS5 Negativo Negativo Negativo C
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
80
OZONIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE FERIDA CUTÂNEA EM OURIÇO-CACHEIRO
Angélica Maria Araújo e Souza1*, Thamiris Almeida de Paula Freitas¹, Hallana Couto e Silva¹, Pedro Henrique Cotrin Rodrigues¹, Bruno Alves Carvalho¹, Thiago Lima Stehling², Luiz Flávio Telles3.
1Graduando em Medicina Veterinária – Belo Horizonte/MG – Brasil - *E-mail: [email protected] 2Analista Ambiental – Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) – Belo Horizonte/MG – Brasil
3Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O Ouriço-cacheiro (Sphiggurus villosus) pertence à família Erethizontidae, e ocorre na Mata Atlântica, desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul. Têm como característica os pêlos modificados, chamados de espinhos, usados para defesa, além da cauda preênsil com função de locomoção e apreensão. Cada vez mais frequente em áreas urbanas, comumente sofre lesões fatais por ataques de cães domésticos e atropelamentos por automóveis1. A Ozonioterapia é empregada no tratamento de feridas cutâneas devido à sua ação antiinflamatória, antisséptica, analgésica e cicatrizante2. Sendo esta, uma técnica terapêutica ainda pouco explorada dentro da medicina veterinária, principalmente, na clínica de animais selvagens. O presente trabalho objetiva relatar o tratamento de cicatrização por segunda intenção em um Ouriço-cacheiro, mediante o uso de óleo ozonizado. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
No dia 31 de Outubro de 2019 o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Belo Horizonte (CETAS-BH) recebeu um espécime de S. villosus jovem, macho, pesando 1,6kg e sem histórico. No exame físico, constatou-se uma ferida profunda na região dorsal, próximo à cauda, com tecido vivo e bordas necrosadas, além da presença de miíase com grande quantidade de larvas L3 na região. Visando o bem-estar animal durante o procedimento clínico, realizou-se sedação com o uso de Xilazina (1,1 mg/kg/IM) associado à Cetamina (22 mg/kg/IM) e manutenção com Isoflurano. Retirou-se manualmente os espinhos próximos à lesão e as larvas, realizando a lavagem da ferida com Amoxicilina 0,1% diluída em solução fisiológica 0,9%, e a aplicação de antisséptico tópico à base de Clorexidina 2%, visando a prevenção de um quadro infeccioso grave devido ao grau da lesão. Iniciou-se o tratamento sistêmico com Dipirona (25mg/kg/IM/BID) por 5 dias; Cetoprofeno 1% (2mg/kg/IM/SID) por 3 dias; Ceftriaxona (25mg/kg/SC/BID) por 10 dias; Enrofloxacina de longa duração (5mg/kg/IM) em dose única; Ivermectina (0,25mg/kg/VO) em duas doses, e fluídoterapia. O tratamento tópico consistiu em limpeza da ferida com reavivamento do tecido, seguido da aplicação de Dersani® Hidrogel com Alginato pomada (48/48h) por 10 dias. Em 24 horas já não foram encontradas larvas de moscas na ferida e após os 10 dias de tratamento, a ferida apresentava tecido de granulação (Fig. 1-A e 1-B). O protocolo clínico passou, então, a consistir na ozonioterapia através da aplicação tópica de óleo de girassol ozonizado duas vezes na semana e limpeza da ferida até completa cicatrização por segunda intenção (Fig. 1-C e 1-D), a qual ocorreu com rápida diminuição da extensão e profundidade da ferida com reparo tecidual. O mecanismo de ação do gás ozônio (O3) ocorre através de uma reação oxidativa com as moléculas do organismo, gerando espécies reativas de oxigênio (ROS) e lipooligopeptídeos (LOPs), os
quais promovem os efeitos terapêuticos da ozonioterapia2.
Devido à presença de moscas no recinto do animal, optou-se pela aplicação de spray prata no local quando julgado necessário em dias alternados à ozonioterapia para conter reincidiva de infestação por míiase. No dia 20 de Janeiro de 2020, a lesão encontrava-se cicatrizada e limpa, demonstrando o efeito antisséptico e
cicatricial do uso do óleo de girassol ozonizado (Fig. 1-E e 1-F). O animal recebeu alta do tratamento e continuou em processo de reabilitação para posterior reintrodução na natureza, a qual ocorreu em Fevereiro de 2020. Figura 1: Evolução da cicatrização por segunda intenção de
Sphiggurus villosus com aplicação da ozonioterapia
(Fonte: Arquivo pessoal – CETAS/BH)
O tratamento completo durou 82 dias, sendo 33 dias de ozonioterapia, totalizando 10 sessões da aplicação do óleo do girassol ozonizado. A contenção química do animal fez-se necessária apenas no primeiro dia, sendo a contenção física suficiente no restante do tratamento. CONCLUSÕES
A ozonioterapia demonstrou eficácia no tratamento de ferida em S. villosus, diminuindo o processo inflamatório e promovendo aceleração do processo cicatricial. O uso do óleo de girassol ozonizado é indolor e rápido, diminuindo o estresse durante o manejo clínico, otimizando o tempo de tratamento e a recuperação dos animais, o que é muito desejável, principalmente, tratando-se de animais silvestres com fins de reabilitação e soltura. Assim, mais estudos devem ser publicados, a fim de demonstrar os resultados da ozonioterapia na medicina de animais selvagens. BIBLIOGRAFIAS 1. SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Meio Ambiente – Coordenadoria de Educação Ambiental. Cadernos de Educação Ambiental: Fauna Urbana. vol 1. Hélia Maria Piedade. São Paulo: SMA/CEA. 2013. 2. VILARINDO, M. C. et al. Considerações sobre o uso da ozonioterapia na clínica veterinária. VIII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica Cesumar. UNICESUMAR. 2013.
APOIO: IEF-MG, IBAMA, CETAS-BH, WAITA ONG E GEAS UNIBH
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
81
PAPEL DA CURVA DE NÍVEL NA CONSERVAÇÃO DO SOLO NO BRASIL
Victor Silva Alkmim Lafetá ¹*, Vitor Martins Lima de Souza ¹, Caio Amorim Castro ¹, Wallison Júnio Santo Soares ¹, Iuri Almeida Portela ¹, Breno Mourão de Sousa2.
1Graduando em Agronomia – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Agronomia – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Curvas de nível são curvas altimétricas ou linhas isoípsas, ou seja, linhas que ligam pontos de mesma altitude. O plantio em curva de nível é realizado em áreas íngremes e consiste na produção ordenada por meio de linhas dispostas em espécies de degraus, ou seja, linhas horizontais paralelas entre si, uma sobre a outra, onde o cultivo se encontra na parte plana. O processo contribui de forma significativa na conservação do solo. O objetivo desse trabalho é apresentar de forma objetiva como as curvas de nível contribuem para preservação do solo. MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização do trabalho sobre o papel das curvas de nível na conservação do solo, foram utilizados arquivos técnicos científicos publicados pela EMBRAPA, Ministério do Meio Ambiente, UNESP, UFSM e PROGRAMA RIO RURAL, disponibilizados como arquivo digital. Foram utilizadas as seguintes palavras chaves: curvas, curvas de nível, conservação do solo. RESULTADOS E DISCURSÕES
As curvas de nível são linha que ligam pontos de mesma altitude (Fig.1). São feitas em áreas íngremes, transversalmente a declividade do terreno.
Figura 1: Representação de um perfil topográfico em curvas
de nível. Fonte: Geografia (2020) Na agricultura as curvas de nível são realizadas em formas de degraus, e o plantio se localiza na parte horizontal desses, respeitando a declividade do terreno. Se tem registro da utilização das curvas de nível dês das civilizações do Velho Mundo, como na Mesopotâmia, Egito, China e também nas Américas pelos Astecas, Incas e Maias. Os primeiros registros no Brasil datam da época colonial, onde utilizavam cercas de pedra para reter o solo e a água, na Serra da Borborema. Mas, por que utilizar as curvas de nível? Qual o papel desse delas no meio ambiente e na agricultura? As curvas de nível além de serem uma ótima opção de otimização e aproveitamento do espaço de plantio, tem um papel fundamental na conservação do solo. Elas previnem as
grandes enxurradas nas épocas de precipitação intensa, dessa forma evitando erosão do solo (Fig.2), inundações, assoreamento dos rios e permitindo que a água da chuva infiltre no solo, abastecendo a cultura (caso esteja sendo utilizada na agricultura) e o lençol freático da área, assim alimentando nascentes, rios e todo o curso da água. O sistema também ajuda a reter os minerais e elementos solúveis do solo, mantendo o solo mais rico de nutrientes, tornando-o mais fértil.
Figura 2: Curva de nível na agricultura. Fonte: Martins
(2020).
CONCLUSÃO
Após o levantamento de todas as informações adquiridas na pesquisa sobre as curvas de nível e seu papel na conservação do solo, fica evidente que a prática é um ótimo método para a conservação do solo e água, além de ser viável economicamente a todos. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1- BARRETO, Geraldo; GODOY, O. Caminhos para a agricultura sustentável: princípios conservacionistas para o pequeno produtor rural. Brasília-DF: Editora IABS, 2015. 2- ZONTA, J. H.; SOFIATT, V.; COSTA, A. G. F.; SILVA, O. R. R. F.; BEZERRA, J. R. C.; SILVA, C. A. D.; BELTRÃO, N. E. M.; ALVES, I.; JÚNIOR, A. F. C.; CARTAXO; W. V.; RAMOS, E. N.; OLIVEIRA, M. C.; CUNHA, D. S.; MOTA, M. O. S.; SOARES, A. N.; BARBOSA, H. F. Práticas de conservação de solo e água. Campina Grande, PB: EMBRAPA, 2012. 3- PES, L. Z.; GIACOMINI, D. A. Conservação do solo. Santa Maria- RS: Colégio Politécnico UFSM, 2017. 4- MACEDO, J. R.; CAPECHE, C. L.; MELO, A. S. Recomendações de manejo e conservação de solo e água. Niterói-RJ: Programa Rio Rural, Manual Técnico, 20, 2009.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
82
PROCESSO INFLAMATÓRIO SINOVIAL ASSOCIADO COM LUXAÇÃO DE PATELA
Pollyana Marques e Souza1*, Daniel Rodrigues da Silva1, Jade Caproni Corrêa¹, Luara Mara Groia Martins¹, Ranielle Stephanie Toledo Santana¹, Santiago Jaramillo Colorado 2, Cleuza Maria de Faria Rezende 3.
1 Aluno de graduação em Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Aluno de pós-graduação do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias da Escola de Veterinária – UFMG. Belo Horizonte/ MG – Brasil
3 Professora titular do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias da Escola de Veterinária – UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Dentre os problemas ortopédicos encontrados na rotina clínico cirúrgica de pequenos animais, encontra-se aqueles relacionados com as alterações da articulação femorotibiopatelar (FTP). Dentre as afecções mais frequentes cita-se a luxação de patela, mais comum em raças de cães de pequeno porte, que ocasiona dor e claudicação 1. A inflamação articular pode ser induzida por vários fatores, entre eles, as mudanças na biomecânica articular, os processos autoimunes e infecciosos. Todos estes promovem o desenvolvimento do processo articular degenerativo2. O objetivo do presente estudo é relatar um caso de neoformação sinovial associada com luxação medial de patela, apresentado para tratamento no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. RELATO DE CASO E DISCUSSÃO
Um cão macho não castrado, da raça Labrador Retrievier, um ano e meio de idade, foi apresentado no Hospital Veterinário da Escola de Veterinária da UFMG com dor e claudicação moderada no membro posterior direito. Segundo o relato, os sintomas surgiram há cerca de um mês. Havia histórico de tratamento anterior com anti-inflamatório não esteroidal, com melhora momentânea, mas os sinais retornaram após finalização do tratamento. Ao exame ortopédico, verificou-se claudicação moderada, dor na flexão e extensão da articulação femorotibiopatelar, aumento de volume articular, efusão articular e luxação medial de patela grau II no membro direito. Foi realizada radiografia ventro-dorsal de pelve envolvendo ambas as articulações femorotíbiopatelares e o terço proximal da tíbia (Fig. 1). O animal foi encaminhado para a cirurgia. Foi realizado artrocentese e a coleta de 15mL de líquido sinovial, de cor âmbar e viscosidade diminuída. A efusão articular foi a responsável pelo aumento de volume da articulação, identificado no exame físico anteriormente. A efusão ocorre devido a insultos articulares que ocasionam inflamação e alteração da constituição do líquido sinovial.3 Foi realizada a artrotomia que mostrou neoformação nodular (Fig.2) intra-articular, abrangendo a membrana sinovial. Realizou-se a sinoviectomia parcial com remoção de todas as neoformações, cujos fragmentos foram encaminhados para exame histopatológico. Material para cultura e antibiograma foram também coletados e encaminhados para análise. Diante da incerteza do quadro sinovial, optou-se pela imbricação lateral da cápsula articular. Não haviam lesões erosivas na cartilagem ou presença de osteófitos peri-articulares . O paciente retornou quinze dias após o procedimento cirúrgico para avaliação e retirada dos pontos. Ele apresentava locomoção satisfatória, sem claudicação aparente e sem dor ao exame físico da articulação. O resultado histológico foi de um processo inflamatório crônico e a cultura foi negativa, eliminando a possibilidade de infecção articular.
Figura 1: Foto da radiografia pré-operatória. Observa-se a patela discretamente medializada e ausência de lesões ósseas degenerativas na articulação FTP direita (seta vermelha).
Imagem cedida pela professora Cleuza – HV UFMG
Figura 2: Foto da neoformação na membrana sinovial, de aspecto nodular de tamanhos variados.
Imagem cedida pela professora Cleuza – HV UFMG
CONCLUSÕES
A partir do exposto, pode-se concluir que as alterações articulares podem ser únicas ou associadas, como no caso em questão, dificultando o diagnóstico clínico e a de decisão cirúrgica. BIBLIOGRAFIAS
1. Dona, F. D. Valle, G. D. Fatone, G. Patellar luxation in dogs. Dove Press. 2018. Disponível em: https://www.dovepress.com/patellar-luxation-in-dogs-peer-reviewed-article-VMRR. Acesso em 03 de março de 2020.
2. Frost-Christensen, L. N et al. Degeneration, inflammation, regeneration, and pain/disability in dogsfollowing destabilization or articular cartilage grooving of the stifle joint. Elsevier. 2008.Disponível em: https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458408000903?token=5161AC130510DF00E697B70FC6A15867A5684E6A187DABAF6207D3937B56784626D69A9EB85C780D92156B60E390B788. Acesso em 07 de abril de 2020
3. Louis A. Gerena; Alexei DeCastro. Knee Effusion. StatPearls. 2019. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532279/. Acesso em 15 de maio de 2020.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
83
RELAÇÃO DO USO DE CONTRACEPTIVOS COM A INCIDÊNCIA DE PIOMETRA EM FÊMEAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES
Layza Marciano Cangussu¹, Ana Laura Pinto¹, Marcelo Henrique Silva¹, Luiz Flávio Telles².
1Graduando(a) em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Piometra é uma enfermidade multissistêmica que acomete primeiramente o trato reprodutivo de várias espécies, sendo está mais comum em cadelas adultas de meia-idade, não castradas.2,3 É caracterizada pelo acúmulo de exsudato mucopurulento ou purulento no lúmen uterino, em decorrência de um desequilíbrio endócrino. Observa-se infiltrado inflamatório, associado a infecção bacteriana secundaria, geralmente por Escherichia coli ascendente. ³
A patologia está associada principalmente ao diestro, quando há maior exposição do útero a progesterona. Em consequência, ocorre a hiperplasia das glândulas endometriais (hiperplasia endometrial cística - HEC) e acúmulo de líquido, que favorece a colonização por bactérias, podendo evoluir para piometra.1,3 Esta é classificada em dois tipos: o cérvix aberta, que tem como principal sinal clínico o corrimento vaginal e é mais comum em cadelas; e de cérvix fechada, que causa distensão das paredes uterinas, podendo causar o rompimento destas e também levar a septicemia e choque, sendo mais comum em gatas.1,4A administração exógena de hormônios na prevenção de sinais de estro e controle gestacional é uma prática inadequada, porém comum dentro da medicina veterinária. 4 O uso de estrógenos aumenta a expressão de receptores de progesterona na superfície endometrial, favorecendo a incidência de piometra e outras patologias reprodutivas. ¹ Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento de dados sobre o número de animais que apresentaram piometra após uso de hormônios contraceptivos.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi redigido a partir de uma pesquisa realizada em Governador Valadares, onde foi realizado o mutirão de castração itinerante, em janeiro de 2020. Foram castrados 236 animais, sendo 59 machos e 177 fêmeas, incluindo felinos e caninos. Neste mutirão, foi realizado uma pesquisa por formulário preenchido por tutores que tivessem animais das quais fossem diagnosticadas com piometra. O formulário continha perguntas sobre o estado clínico do animal no último mês (alimentação, comportamento, vômitos, diarreias), quando foi o último cio, prenhez e/ou aborto e se já tinha sido administrado anticoncepcional ao animal. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram avaliadas durante a campanha 177 animais (102 cadelas e 75 gatas) e todas foram submetidas a cirurgia de ovariosalpingohisterectomia (OSH). 11 cadelas e 4 gatas apresentaram alterações sugestivas de piometra (8,5%). Durante a leitura dos formulários, 1 cadela e 1 gata, apresentaram corrimento vaginal (cérvix aberta), 9 cadelas e 2 gatas não apresentaram corrimento vaginal (cérvix fechada) e o resto das fêmeas o tutor não soube relatar (1 cadela e 1 gata). Entre todas, apenas 6 cadelas e 3 gatas tiveram contato com o anticoncepcional, ou seja 60% das fêmeas com piometra usaram contraceptivos. Alguns estudos relacionaram o uso de estrógeno exógeno com o aumento da probabilidade do animal apresentar essa doença. Estes concluíram que o estrógeno aumenta os receptores de progesterona no útero, levando a alterações endometriais e podendo se acentuar caso essa exposição se torne intensa e prolongada4,5, ou seja, quanto maior a dose de contraceptivo administrada maior a chance do animal desenvolver HEC, e
consequentemente evoluir para piometra. Para demonstrar mais resultados obtido no mutirão, se fez a figura 1, a qual retrata a quantidade de animais que receberam anticio comparado com as que apresentaram piometra. Importante salientar que, todos os animais tiveram o trans e o pós cirúrgico sem complicações, a única diferença entre as fêmeas que apresentaram a doença ou não, foi o tamanho do corte, pois o útero com piometra tem o tamanho/volume maior do que o útero normal, como demonstrado na figura 2. Figura 1 – Gráfico demonstrativo da quantidade de animais
que apresentaram piometra em relação aos que foram administrados anticio.
Figura 2 - Útero com piometra (A) e útero normal (B) de cadela.
Fonte: arquivo pessoal.
CONCLUSÕES
Após analisar os formulários e redigir o artigo foi possível concluir que o uso de anticoncepcionais pode sim, influenciar no desenvolvimento da HEC e consequentemente na evolução desta para piometra. Deve ser de dever dos Médicos Veterinários a conscientização dos tutores sobre este assunto, e certificar-se que os tutores em geral saibam que a esterilização é o melhor caminho para o controle populacional de animais. BIBLIOGRAFIAS
1. S.P.G. Filho, L.L.Martins, A.S.Machado, M.R.F.Machado - Piometra
em cadelas: revisão de literatura, 2012.
2. L.S.M.Evangelista, A.M.Quessada, R.P.A.Alves, R.R.F.B.Lopes, L.M.F.Gonçalves - Função renal em cadelas com piometra antes e após ovariosalpingohisterectomia, 2010.
3. L.R.S. Lima – Piometra em cadelas, 2009.
4. R.B.R.Moura, T.M.Jacob, G.P.Voss, A.P.D.Santos, P.R.B.Rosa –
Estudos dos efeitos de contraceptivos, 2016.
5. T.G.A.F.Honório, A.P.B.Fonseca, E.K.D.Araújo, V.M.Moura,
R.A.A.Chaves, M.C.Rodrigues, R.P.Klein - Implicações patológicas
após o uso de anticoncepcional, em cadelas situadas em Teresina
– PI, 2017.
1146 3
0
20
Cadelas GatasApresentou piometra. Foi administrado anticio.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
RESISTÊNCIA BACTERIANA NA CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS: REVISÃO DE LITERATURA
Luara Mara Groia Martins1*, Daniel da Silva Rodrigues1, Jade Caproni Corrêa¹, Pollyana Marques e Souza1, Ranielle Stephanie Toledo Santana1, Nayara Viana de Andrade2, Patrícia Maria Coletto Freitas2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Medica Veterinária, Residente do Hospital Veterinário da UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
2 Professora do Departamento de Clinica e cirurgia veterinárias –UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Uma das maiores preocupações tanto na saúde humana como na saúde veterinária é a resistência aos agentes antimicrobianos.1
O termo resistente se refere àqueles microrganismos que são capazes de se multiplicar em presença de concentrações de antimicrobianos mais altas do que as que provém de doses terapêuticas e não se inibem pelas concentrações habitualmente alcançadas no sangue ou tecidos do correspondente antimicrobiano.2 3
Sabe-se que os antimicrobianos são usados mundialmente para tratamento e profilaxia em diversas áreas da medicina veterinária, como para tratamento de doenças em animais de produção e animais de companhia, e como promotores de crescimento. Daí a importância do uso racional e ética dos antimicrobianos no intuito de contribuir com a prevenção do desenvolvimento de cepas resistentes.4 MATERIAIS E MÉTODOS
O seguinte estudo foi realizado por meio de uma revisão literária de artigos e leituras complementares destinados ao uso de antimicrobianos na clínica de pequenos animais. REVISÃO DE LITERATURA
A resistência bacteriana pode ser transferida por mecanismos diversos, podendo estabelecer-se entre microrganismos de uma mesma população ou de diferentes populações, como da microbiota animal para humana e vice-versa.2 As bactérias possuem diversos mecanismos de resistência aos antimicrobianos, como ilustra a figura 1.
Figura 1: Principais mecanismos de resistência antimicrobiana.1
O antimicrobiano pode ser impedido de atingir seu alvo em razão de sua baixa capacidade de penetração na célula bacteriana; ou as bombas de efluxo, gerais ou específicas, podem expulsar antimicrobianos das células; ou o antimicrobiano pode ser inativado por meio de modificação ou degradação, antes ou depois da penetração na célula; ou, o alvo do antimicrobiano pode ser modificado, de modo que deixa de atuar, ou a aquisição do microorganismo ou a ativação de uma via alternativa pode suprir o alvo
indispensável.1
O uso de antimicrobianos promove a adaptação ou a morte dos microrganismos, em um fenômeno conhecido como pressão de seleção. Os microrganismos que sobrevivem possuem genes de resistência, que podem ser
transmitidos a outros microrganismos da mesma espécie ou até mesmo, de outras espécies.5 Sendo assim, os antimicrobianos devem ser usados de maneira cautelosa e criteriosa na clínica de pequenos animais, visto que a resistência bacteriana é um acontecimento inevitável.1
A causa da prescrição indevida de antimicrobianos é vinculada a diversos fatores, como à má prática, à qualidade da formação médica, às políticas de saúde, à grande variedade de antibióticos existentes no mercado e ainda à pressão exercida por laboratórios farmacêuticos.6
Os erros de prescrição de antimicrobianos podem ser
classificados em quatro níveis. O primeiro nível, é a
prescrição de antimicrobianos não efetivos ou não indicados
para a infecção em questão. Em uma segunda categoria,
enquadram-se os erros de seleção do antimicrobiano,
privilegiando os de segunda eleição. O terceiro nível refere-
se aos erros de duração de tratamento. Os relacionados à
dosagem, ao intervalo entre doses e à via de administração
do medicamento são considerados no quarto nível.7
O uso empírico de antimicrobianos deve ser evitado sempre
que possível, e os antimicrobianos devem ser prescritos de
preferência com base em diagnóstico laboratorial e teste de
suscetibilidade antimicrobiana. O ideal é que o agente
etiológico infeccioso seja identificado em relação à espécie e
sua suscetibilidade antimicrobiana seja determinada antes de
iniciar a terapia antimicrobiana.8
CONCLUSÕES
A utilização prudente e racional dos antimicrobianos deve ser considerada como uma importante questão ética na medicina veterinária. Os veterinários têm a obrigação ética de utilizar e prescrever, quando indicados, antimicrobianos adequados para tratar infecções em seus pacientes, contribuindo, assim, para a saúde e o bem-estar dos animais. BIBLIOGRAFIAS
6. GUIGUÈRE, S. et al. Terapia Antimicrobiana em Medicina Veterinária. São Paulo, 4ed. 2010
7. MOTA, R. A. et al. Utilização indiscriminada de
antimicrobianos e sua contribuição a multirresistência
bacteriana. Braz J vet Res anim Sci, São Paulo, v. 42, n. 6, p.
465-470, 2005.
8. WANNMACHER, L. Uso indiscriminado de antibióticos e
resistência microbiana: uma guerra perdida? Uso Racional de
Medicamentos 2004; 1(4):1-6.
9. ARIAS, M. V. B., MAIO C. M. D. Resistência antimicrobiana
nos animais e no ser humano. Há motivo para preocupação?
Semina: Ciências Agrárias, v. 33, n. 2, p. 775-790, 2012
10. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Resistência microbiana – mecanismos e impacto clínico,
2008. 11. NASCIMENTO, M. C.. Medicamentos, comunicação e cultura.
Ciência & Saúde Coletiva. 10 (sup): 179-193, 2005.
12. FIJN R., CHOW M. C., SCHUUR P. M. H. et al. Multicentre
evaluation of prescribing concurrence with anti-infective
guidelines: epidemiological assessment of indicators.
Pharmacoepidemiol Drug Saf 2002; 11:361-72
13. GUARDABASSI, L., JENSEN, L. B., KRUSE, H. et al. Guia de
Antimicrobianos em Veterinária. São Paulo, 2010.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
RESISTÊNCIA MICROBIANA NA CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS
Vitor Gonçalves Teixeira1*, Brunna Gabriela Gonçalves de Oliveira Ferreira2, Daniela Taynara Pereira2, Yara de Freitas Oliveira2, Viviana Feliciana Xavier3.
1 Graduando em Medicina Veterinária – PUC Minas – Betim/MG - Brasil – [email protected] – (31)999621001, ²Graduanda em Medicina Veterinária – PUC Minas, 3 Professor Assistente 1 do Departamento de Medicina Veterinária – PUC Minas – Betim/MG - Brasil
INTRODUÇÃO
Atualmente, o homem apresenta uma estreita ligação com animais de companhia, compondo assim famílias multi espécies. Essa proximidade leva a um potencial risco para a transmissão de zoonoses, incluindo microorganismos resistentes a medicamentos3. Estudos demonstram a presença de bactérias de cães com potencial de transmissão zoonótica, como Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, Enterococcus resistentes à vancomicina, Salmonella typhimurium resistentes a diversas drogas e Escherichia coli resistentes a sulfonamidas e tetraciclina6 bem como Pasteurella multocida resistente a cloranfenicol, doxiciclina e tetraciclina em gatos4.
Os antimicrobianos são fármacos que possuem ação contra várias doenças causadas por bactérias, vírus, fungos e parasitas e são utilizados na prevenção, propagação e tratamento de doenças infecciosas, incluindo as zoonoses5. O uso adequado de antimicrobianos otimiza a eficácia terapêutica, melhora o sucesso do tratamento e minimiza a resistência aos antimicrobianos6.
O presente resumo objetivou salientar a importância do uso consciente de antimicrobianos na clínica de pequenos animais, evitando a resistência e ressaltando o papel do médico veterinário na promoção da saúde única.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram avaliados diretrizes mundiais, artigos científicos, dissertação de mestrado, utilizando os termos como pesquisa: antimicrobianos, resistência bacteriana, saúde única.
REVISÃO DE LITERATURA
Na saúde pública, a categoria de antimicrobianos de maior interesse, atualmente, é a classe antibacteriana. Dentro da clínica veterinária de pequenos animais são utilizados de forma terapêutica, a fim de controlar uma infecção bacteriana existente; de forma metafilática, se referindo ao uso com fins terapêuticos e profiláticos; bem como de forma profilática, utilizado como forma de prevenção5. Entretanto, para que um antimicrobiano seja efetivo, é necessário que ele atinja o alvo farmacológico suscetível na célula, em quantidades e períodos suficientes para o propósito empregado5.
Na clínica de pequenos animais, pode ser necessário o uso de antibióticos de amplo espectro em animais com risco eminente de morte, sepse e pneumonia, mas a transição para o medicamento mais adequado pode ser realizada com base na cultura, testes de sensibilidade e progressão clínica7.
Com a adesão desses fármacos na rotina, percebeu-se que, com o passar do tempo, alguns microorganismos começaram a desenvolver a capacidade de resistir a determinados princípios ativos, acontecimento tal que permite que cepas sobreviventes cresçam e se multipliquem2.
A forma como estes microorganismos adquirem resistência se divide em mecanismos intrínsecos ou naturais que resulta na capacidade de resistência natural a todos os membros de uma classe de antimicrobianos sem exposição prévia, enquanto os mecanismos adquiridos são os mais preocupantes, pois permite a transferência do material genético mutante entre os microorganismos após exposição
e um prolongando do tempo de infecção resulta em maior risco de morte5.
Para que possamos identificar a existência ou suscetibilidade de um microorganismo frente a um antimicrobiano, diversas técnicas podem ser empregadas como a difusão de disco que permite, de forma qualitativa, predizer se o microorganismo é sensível, intermediário ou resistente à determinada classe de antimicrobianos5. Outras metodologias quantitativas devem ser empregadas para que se tenha conhecimento do patógeno envolvido e a terapia antimicrobiana apropriada seja iniciada o mais rápido possível7.
Algumas atitudes de acordo com o Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos podem reduzir a resistência a agentes antimicrobianos adotando estratégias simples e racionais como: executar a higiene correta de mãos e equipamentos; manter registros precisos de tratamento e resultados; selecionar e usar antimicrobianos de forma prudente; manter-se atualizado e prevenir a contaminação ambiental pelo descarte correto de fármacos vencidos1. Já por Weese et al, são recomendadas três principais abordagens para reduzir a resistência antimicrobiana: prevenir a ocorrência de doenças, reduzir o uso geral de drogas antimicrobianas e otimizar a utilização destes fármacos. CONCLUSÃO
Os antimicrobianos são fármacos de extrema importância, mas o seu uso deve ser feito de maneira prudente e racional, a fim de reduzir riscos de infecções multiresistentes. As diretrizes mundiais devem servir de orientações criteriosas na escolha de antimicrobianos. Somente por um processo educacional a estudantes e profissionais da saúde os benefícios conjuntos poderão ser percebidos neste processo único de saúde.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. About Antibiotic Resistance. Centers for Disease Control and Prevention, 2019. Disponível em: https://www.cdc.gov/drugresistance/about.html.
2. ACAR, Jacques & Röstel, B. Antimicrobial resistance: an overview. Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics). 20. 797-810. 2002.
3. KASPAR U, et al. Zoonotic multidrug-resistant microorganisms among small companion animals in Germany. PLoS One. 2018.
4. REIS, C. A. C. Caracterização genética e perfil de sensibilidade a antimicrobianos de isolados de Pasteurella multocida oriundos da cavidade bucal de gatos domésticos sadios e com gengivite. 2019. Dissertação (Mestrado em Biociência Animal) - FZEA, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2019.
5. TORRES, M. C. Resistência antimicrobiana em populações animais e seu impacto na saúde pública: uma revisão da literatura. Dissertação (Trabalho de conclusão de graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.
6. TUNON, G. I. L; SILVA, E. P.; FAIERSTEIN, C. C. Isolamento de estafilococos multirresistentes de otites em cães e sua importância para a saúde pública. BEPA, Bol. epidemiol. paul. (Online), São Paulo, v. 5, n. 58, out. 2008.
7. WEESE, J.S., Giguere, S., Guardabassi, L., Morley, P.S., Papich, M., Ricciuto, D.R., Sykes, J.E., 2015. ACVIM consensus statement on therapeutic antimicrobial use in animals and antimicrobial resistance. J. Vet. Intern. Med. 29, 487–498.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
RESPOSTAS IMUNES E TIPOS DE VACINAS APLICADAS NA VETERINÁRIA
Emerson Crisóstomo1, Rubia Moreira 1 Izabella Pacheco1 Maria da gloria Silva2
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 3 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Nos fenômenos imunológicos naturais, existem dois protagonistas fundamentais: o sistema imune e os patógenos,os quais podem ser vírus, bactérias, protozoários, substâncias químicas, células do próprio individuo ou qualquer substância entendida como estranha pelo
organismo¹ A imunidade induzida ou artificial, leva em
consideração, além do sistema imunológico, ferramentas protetoras conhecidas como vacinas. Assim, as vacinação é considerada uma estratégia de intervenção eficaz para diversas doenças infecciosas, embora há métodos que não sejam tão eficazes, devido ao potencial de reversão dos microrganismos, bem como a preocupação com aparecimento de fenótipos mais virulentos, visto que diversos antígenos não são seres uniformes ou estáticos ao longo dos anos. Logo, faz-se necessário descrever a interação patógeno-sistema imune e realizar uma breve revisão geral dos tipos de vacinas utilizados na medicina veterinária.1,2
MATERIAIS E MÉTODOS
Para este levantamento bibliográfico foram feitas pesquisas nas plataformas NCBI, SCIELO e Google acadêmico, utilizando inglês e português com termos de indexão: immunology; veterinary vaccines; vacinas recombinantes; sistema imune animal. REVISÃO DE LITERATURA
O sistema imunológico tem como função central conferir proteção aos indivíduos. Logo, respostas inatas e adquiridas eficientes são essenciais. O primeiro mecanismo consiste em respostas inespecíficas e imediatas à detecção de antígenos. O reconhecimento desses padrões moleculares associados aos patógenos ou danos celulares, a saber, PAMPs e DAMPs, respectivamente é realizado por células, como macrófagos e mastócitos, os quais expressam receptores de reconhecimento de padrão (PRRs) em sua superfície e em vesículas intracelulares. Nessa esfera, por intermédio de sinais bioquímicos oriundos após detecção dos antígenos pelos PRRs, há transcrição de genes codificadores de proteínas inflamatórias, indução à migração de células fagocíticas para o local da infecção, bem como de proteínas do sistema complemento. Dessa forma, de acordo com os patógenos e grau da infecção pode haver a sua eliminação ou esses corpos estranhos podem ser captados, processados e apresentados aos linfócitos nos órgãos secundários, por intermédio de células apresentadoras de antígenos(APCs).1,2
Entretanto, a resposta após a apresentação pelas APCs dos peptídeos endógenos e/ou exógenos às células T, as respostas são especificas, resultando na diferenciação de variadas populações de linfócitos T auxiliares, todavia para interesse vacinal as populações TH1 e TH2 são de central importância. Ainda, nesse cenário, há diferenciação de linfócitos B, produção de células de memória e imunoglobulinas que são importantes para a eficácia de vacinas e produção de novos métodos vacinais.1,2,3 (Figura 1)
Atualmente, com o intenso avanço da genômica, o estudo da patogênese, da caracterização de microrganismos e de descobertas de novos antígenos e adjuvantes, tem possibilitado, novas abordagens eficazes, baratas e seguras, em detrimento aos métodos de produção de vacina convencionais, como as vacinas atenuadas e inativas, que embora contribuam para a melhoria da saúde pública e
animal, são de difícil cultivo e armazenamento podendo haver reversão da virulência. 1,3,4 Dentre os tipos contemporâneos de vacina utilizados na medicina veterinária, podem ser incluídas as vacinas recombinantes vetoriais, baseadas em ácidos nucleicos e as reversas. Nas vacinas vetorizadas recombinantes os genes imunogênicos do patógeno de interesse são clonados em vetores (bactérias, vírus e leveduras), por consequência podendo fornecer proteção celular e humoral contra o vetor e os genes nele inserido, como vacinas de peste suína clássica.4 Introduzidos em plasmídeos bacterianos, o material genético que codifica o antígeno da vacina é acompanhado de adjuvante, resultando em respostas humoral e celular.3,4 Por fim, a vacinologia reversa ou imunoinformática revela abordagem computacional para a busca de alvos e desenhos de vacinas .Logo essa estratégia pode ser econômica e eficaz . visto que pode-se analisar todo o proteoma predito de organismos patogênicos, como o parasita leishmania spp.1,2,3,4
Figura 1: Esquema de memória imunológica
Fonte :Abbas.Imunologia Molecular e Celular
CONCLUSÕES
Conclui-se que o desenvolvimento de novas técnicas de vacinologia, bem como aprimoramento das técnicas existentes pode maximizar o quadro de proteção contra diversas doenças infecciosas que acomete os animais e os seres humanos. BIBLIOGRAFIAS 1 Ian R. Tizard.Vaccines for veterinarians .2018:27-61 2 Jaime Borrell Valls. immune system of animals; vaccine antigens vaccine design and main veterinary vacines.Disponivel em : https://www.veterinariadigital.com/en/articulos/veterinary-immunology/#animal-immune-system,2019 3 Sérgio Jorge, Odir Antônio Dellagostin .The development of veterinary vaccines: a review of traditional methods and modern bio technology approaches. 2017
4 J. John Kirubaharan ;M. Vidhya
Recombinant veterinary
vaccines,Ranjani,Rajasekaran,Disponível:https://www.researchgate.net/publication/328478214_Recombinant_veterinary_vaccines,2018 5 Abbas, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv.. Imunologia celular e molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
RETENÇÃO DE PLACENTA E AMBIÊNCIA EM FAZENDA NO ALTO PARANAIBA - MG
Thallyson Thalles Teodoro de Oliveira1*, Gabriel Resende de Souza1, Letícia de Paula Souza Freitas1, Marina Gonçalves Rangel1, Sérgio Henrique Andrade dos Santos1, Breno Mourão de Sousa2, Gabriel Almeida Dutra2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil *[email protected] 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A retenção de placenta é uma patologia recorrente e significativa em propriedades leiteiras no Brasil, podendo trazer prejuízos financeiros, reprodutivos, produtivos e sanitários aos animais acometidos2. O presente trabalho tem como objetivo tentar correlacionar, por meio de dados meteorológicos, o índice temperatura umidade (ITU) e a incidência de retenção de placenta em propriedade leiteira da região do Alto Paranaíba (MG).
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizados dados do índice de temperatura e umidade (ITU) da região do Alto Paranaíba através do INMET. Além disso, foram utilizados dados com o histórico de 232 partos e casos de retenção de placenta ou não em 2019 de uma propriedade leiteira localizada na região do Alto Paranaíba (MG). Também foi realizada uma pesquisa em sites de buscas de artigos científicos como Google Acadêmico, Scielo e PubMed.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A retenção de placenta (RP) é provocada por uma falha no mecanismo de desprendimento dos placentomas, sendo caracterizada pela permanência dos anexos fetais em um período superior à 12 horas pós-parto, em média. Dentre os fatores predisponentes, pode-se destacar os partos distócicos, gemelares ou induzidos, abortos, natimortos, deficiências nutricionais e estresse térmico2.
O estresse térmico acontece quando a taxa de ganho de calor pelo animal é maior que a taxa de dissipação, consequentemente reduzindo o bem-estar. Esse aumento de temperatura eleva os níveis de cortisol e consequentemente ocasiona uma imunossupressão, reduzindo a quimioatração e a atividade dos neutrófilos no organismo3.Esse padrão imunológico também foi evidenciado por Beagley et al. (2010), em que vacas com retenção de placenta apresentam uma redução na concentração de interleucina-8, fator importante para a quimioatração dos neutrófilos para a placenta, que promove uma menor atividade desse tipo celular. Esse conjunto de fatores levará a uma falha no desprendimento da placenta, uma vez que essa atividade neutrofílica é de extrema importância para o descolamento dos anexos fetais após o parto. Uma das maneiras de avaliar se o ambiente está confortável para o animal é através do ITU. Dentro desse índice, é possível observar que valores abaixo de 70 não levaram a nenhum desconforto ao animal, enquanto valores acima de 75 ocasionaram uma queda drástica na produção e na ingestão de alimentos3.
De acordo com as análises dos partos de 2019 de uma propriedade leiteira, foi observado um aumento no número de casos de retenção de placenta quando o ITU estava acima de 70, tendo uma correlação moderada (R=0,64) entre esses fatores. Esse aumento pode ser explicado pela elevação nos níveis de cortisol ocasionado pelo estresse térmico que esses animais possivelmente estavam expostos com esse ITU elevado (Tabela 1) (Figura 1). Além disso, pode estar muito mais evidenciado nesses dados, uma vez que o rebanho em questão é 100% Holandês, raça mais sensível a temperaturas mais elevadas.
Tabela 1: Correlação da % de animais com RP e a média do ITU/mês (2019) (R=0,64).
Figura 1: Correlação da % de animais com RP e a média do
ITU/mês (2019) (R=0,64).
CONCLUSÕES
Através da bibliografia e da análise dos dados obtidos, foi possível observar uma correlação moderada (R=0,64) entre a incidência dos casos de retenção de placenta e o ITU local, podendo ter como causa o desconforto térmico com os níveis altos de ITU.
BIBLIOGRAFIAS
1. BEAGLEY JC, Whitman KJ, Baptiste KE, Scherzer J. Physiology and treatment of retained fetal membranes in cattle. J Vetintern Med. 2010;24:261–8.
2. NOBRE, M. M. et al. Avaliação da incidência e fatores de risco da retenção de placenta em vacas mestiças leiteiras. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 64, n. 1, p. 101-107, 2012.
3. CAMPOS, Alessandro Torres et al. Estudo do potencial de redução da temperatura do ar por meio do sistema de resfriamento adiabático evaporativo na região de Maringá, Estado do Paraná. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 24, p. 1575-1581, 2002.
% de animais com R.P Média ITU
Janeiro 14,3 72,48
Fevereiro 8,3 72,75
Março 15,8 71,31
Abril 11,8 71,44
Maio 9,1 68,89
Junho 5,3 64,95
Julho 5,9 62,53
Agosto 13,6 64,69
Setembro 13,0 69,84
Outubro 16,7 71,91
Novembro 16,7 72,88
Dezembro 14,3 71,51
Correlação de % de animais com R.P e média ITU/Mês (2019)
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
88
RETENÇÃO DE PLACENTA EM VACAS LEITEIRAS
Gabriel Torres Pires Ferreira1*, Delcimara Ferreira de Sousa1, Bruna Pimenta Dias de Andrade1, Gabriel Rodrigues Franco da Cruz1, Bruna Torres Pires Ferreira2, Breno Mourão de Sousa3, Prhiscylla Sadanã Pires3
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Graduando em Medicina Veterinária – UNA – Itabira/ MG – Brasil
3Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil * Autor para correspondência Gabriel Ferreira: [email protected]
INTRODUÇÃO
A retenção placentária está entre as principais enfermidades que acometem bovinos no pós-parto.
Essa síndrome compreende a ausência de deiscência e falha na expulsão dos envoltórios fetais durante o terceiro estágio do trabalho de parto fisiológico (eutócico), sendo resultado de insuficiência nas contrações uterinas, e de lesão placentária que afeta a união física entre as vilosidades cotiledonárias fetais e as criptas carunculares maternas (1).
O objetivo do trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre a retenção de placenta em vacas leiteiras.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado uma revisão bibliográfica utilizando-se como termos indexadores de busca: retenção de placenta, saúde uterina e doenças pós-parto. Os trabalhos foram obtidos de revistas científicas por meio de busca na internet. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aproximadamente 75% das enfermidades que acometem vacas leiteiras acontecem no período de transição, das primeiras semanas que antecedem o parto até a terceira semana pós-parto. Neste contexto, enfermidades relacionadas ao trato reprodutivo, como a retenção placentária, podem prejudicar a produção de leite, bem como afetar a eficiência reprodutiva dos animais (6).
Os sinais clínicos são característicos, quando as membranas fetais protraem a partir da vulva ou ficam penduradas ventralmente da vulva à marca da anca, ao úbere.
O desenvolvimento da retenção de placenta é considerado multifatorial. A incidência pode variar de acordo com cada rebanho. Podem estar associadas a esta enfermidade: abortamentos, doenças metabólicas ou infecciosas, hipocalcemia, distocia, partos gemelares, indução do parto, intervenções obstétricas, duração da gestação, estação do ano, nutrição, idade da vaca e fatores específicos relacionados ao manejo em cada propriedade (6).
Independente das causas apresentadas acima, as infecções bacterianas associadas a retenção de placenta é um fator predisponente para a ocorrência de infecções uterinas(3).
Particularmente no Brasil, Fernandes (2008) relatou que a ocorrência de retenção de placenta em vacas, tem como causa primária deficiências tanto nos aspectos nutricionais quanto de sanidade do rebanho brasileiro. O maior intervalo entre partos, a ausência de cio, inibição da lactação, esterilidade e até morte por septicemia e toxemia são algumas de suas consequências.
Uma grande variedade de protocolos que tem sido empregado no tratamento da retenção de placenta, no entanto, muitos estão questionados atualmente. O objetivo principal do tratamento deve ser a prevenção de futuras complicações, que podem comprometer a vida e o bem-estar geral do animal (4). No entanto, não é recomendada a remoção manual da placenta, pois esta manobra pode acarretar várias complicações, tais como: hemorragia, septicemia, ruptura uterina e retardo na involução uterina.
Devido sua origem multifatorial, nenhuma medida específica será eficiente para a prevenção da retenção de placenta.
Levando-se em conta as complicações possivelmente geradas pela retenção de placenta, tem-se um prognóstico bom para a vida, porém, reservado para a reprodução (5).
Recomenda-se minimizar ao máximo o estresse e aumentar a imunidade do rebanho, principalmente no período de transição, além de manter os animais bem nutridos e vacinados, impedindo problemas de subnutrição ou doenças reprodutivas infecciosas. Como controle, em geral, o rebanho deve ser mantido livre de doenças, principalmente as abortivas, receberem alimentação de qualidade e quantidade suficiente, ser mantido em instalações higienizadas e desinfetadas, devendo-se eliminar animais velhos ou aqueles que tenham predisposição hereditária a retenção (4).
Figura 1. Animal apresentando retenção de placenta.
Fonte: MilkPoint (2017)
CONCLUSÕES
De acordo com a revisão conclui-se que a retenção de placenta é uma importante doença a ser trabalhada preventivamente dentro do rebanho, pois pode desencadear várias doenças graves aos animais acometidos. Já existem trabalhos orientado os produtores a respeito da importância do controle e cuidado com estes animais visando minimizar os prejuízos econômicos. BIBLIOGRAFIAS 1. ARTHUR, G. H. Retention of the afterbirth in cattle: a review and
comentary. Vet. Annual, v. 18, p. 26- 36, 1979. 2. DE ALMEIDA, Ítalo Câmara et al. Aspectos relacionados a retenção de
placenta em vacas. PUBVET, v. 13, p. 148, 2018. 3. FERNANDES, D. Uso terapêutico da terramicina contra retenção de
placenta em vacas sob condições naturais de campo: resultados Brasil. Documento em hipertexto. Disponível em: http://www.pfizersaudeanimal.com.br/bov_atualizacoes8.asp
4. FERREIRA, A. M. Retenção de placenta em bovinos. Coronel Pacheco, MG. (EMBRAPA – CNPGL – Documentos, 47), 1991. Pereira, E. S., Pimentel, P. G., Queiroz, A. C. & Mizubuti, I. Y. (2010). Novilhas leiteiras (Vol. 1). Fortaleza, Ceará: Graphiti Gráfica e Editora Ltda.
5. LOPES, D. T. et al. Retenção dos envoltórios fetais em vacas leiteiras: importância da etiopatogenia. Pubvet, v. 2, n. 1, jan 1, 2008.
6. NOBRE, M. M., Azevedo, R. A., Campos, E. F., Lage, C. F. A., Glória, J. R., Saturnino, H. M. & Coelho,S. G. (2018). Impacto econômico da retenção de placenta em vacas leiteiras. Pesquisa Veterinária Brasileira, 38(3), 450-455.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
89
SENECAVÍRUS A – REVISÃO DE LITERATURA
Dayanne Kelly Oliveira Pires¹*, Camylla Marques¹, Deivisson Junio Fernandes dos Santos¹, Maria Paula Vieira¹, Rebeca Pimentel de Oliveira Silva¹, Alessandra Silva Dias².
¹Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil – Email:[email protected] 2 Professora do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH- Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O Senecavírus A ou Seneca Valley Virus (SVA) é o agente etiológico da doença vesicular idiopática suína que acomete a espécie suína, não oferecendo riscos ao homem. Resiste bem ao meio ambiente e a via de transmissão é fecal-oral, mas faltam mais informações epidemiológicas sobre a doença.
O SenecavírusA foi associado à doença vesicular pela primeira vez no Canadá, em 2007, e depois nos Estados Unidos, em 2012. Porém, ficou comprovado que o vírus circula de forma silenciosa nos rebanhos dos Estados Unidos, desde 1988. Até o ano de 2014, o vírus foi encontrado somente na América do Norte (Canadá e Estados Unidos), mas após o final do ano de 2014, foi também identificado na América do Sul (Brasil) e Ásia (China e Tailândia).¹ Este trabalho tem como objetivo revisar alguns aspectos do Senecavírus, bem como mostrar o atual cenário da doença no Brasil.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho constitui-se de uma revisão de literatura, realizada em março de 2020, para a qual foram feitas consultas no site do Instituto Mineiro de Agropecuária, da Organização Mundial de Saúde Animal e em artigos e trabalhos científicos selecionados através de busca no Google acadêmico. As palavras chaves utilizadas foram: senecavírusA, suinocultura, sanidade, doença vesicular.
REVISÃO DE LITERATURA
Os primeiros surtos de Seneca relatados no Brasil,ocorreram no final de 2014 e no início de 2015. Nesses casos, as infecções foram associadas a lesões vesiculares nas bandas coronárias, cascos e/ou focinhos em suínos desmamados e adultos, e com altas taxas de mortalidade em leitões de um a cinco dias de vida.¹
Estudos sorológicos retrospectivos para delineara entrada do agente foram feitos no Brasil e os resultados sugerem que, antes de 2014, o vírus não circulava em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, os principais estados produtores de suínos do Brasil.¹
No segundo semestre de 2018, foram relatados novos surtos de doença vesicular em rebanhos suínos do Sul (estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), Sudeste (estados de São Paulo e Minas Gerais) e Centro-oeste (Mato Grosso e Goiás). Essas três regiões geográficas concentram 95% da produção nacional de carne suína no país (Figura1).² Nesses novos surtos, a doença parecia apresentar manifestações clínicas mais graves às observadas em 2015. Os surtos de doenças vesiculares foram relatados simultaneamente em todos os sete estados, mostrando a capacidade do vírus de se espalhar rapidamente para os três locais geográficos.²
No Brasil, a infecção por Senecavírus foi denominada como Perdas Neonatais Epidêmicas Transientes (PNET), que é uma infecção generalizada, essencialmente com sinais de diarréia e alta mortalidade em leitões, com aparecimento de lesões vesiculares no focinho e banda coronária dos cascos de suínos adultos³ (Figura 2). O quadro clínico é súbito e transitório, com duração de uma a duas semanas. Estima-se que cerca de 80% dos rebanhos suínos tenham sido afetados
desde o surgimento da doença.3 Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no início de 2020, aproximadamente 60 granjas de suínos foram interditadas em Minas Gerais após detecção de Senecavírus, algumas apresentando sinais clínicos semelhantes aos da febre aftosa. Os sinais clínicos são indistinguíveis de outras doenças vesiculares importantes como a Febre Aftosa, por isso a notificação ao Serviço Veterinário Oficial é obrigatória.5
Figura 1:Regiões de concentração de maior produção de carne suína do país.
Fonte: ABPA, 2018
Figura 2: Lesões vesiculares por Senecavírusno focinho e casco.
Fonte: www.3tres3.com
CONCLUSÕES
Novos estudos e pesquisas são fundamentais a fim de contemplar informações epidemiológicas sobre o Senecavírus. Por não haver vacinas ou tratamentos específicos disponíveis para infecções pelo vírus, faz-se necessário alertar para que sejam intensificadas as medidas preventivas e de controle para a doença.
BIBLIOGRAFIAS
1. SAPORITI, Viviane et al. A tenyears (2007–2016) retrospectiveserologicalsurvey for Seneca Valley virusinfection in major pigproducingstates of Brazil. Veterinaryresearch communications, v. 41, n. 4, p. 317-321, 2017.
2. LEME, Raquel A. et al. A new wave of Seneca Valley virus outbreaks in Brazil. Transboundaryandemergingdiseases, v. 66, n. 3, p. 1101-1104, 2019.
3. EMBRAPA, Perdas Neonatais Epidêmicas Transientes e Doença Vesicular Associada com Infecção com o Seneca Valley Virus (Senecavírus A); Instrução técnica para o Suinocultor; Dezembro, 2015.
4. SENECAVÍRUS A EM GRANJAS DE SUÍNOS AUMENTA VIGILÂNCIA A SUSPEITAS DE DOENÇAS VESICULARES. Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA. 2020.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
90
SÍNDROME DA CAUDA EQUINA EM CÃES
Bruna Caroline Pereira Santos1, Karol Vitorino Santos2, Lucas Queiroz dos Santos2, André Rebello3
1Graduanda em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte - MG – Brasil 3Médicos Veterinários
²Medico Veterinário Acupunturista, Cirurgião Ortopedista e Professor do Departamento de Medicina Chinesa Veterinária – Incisa - MG - Brasil
INTRODUÇÃO
A cauda equina é o conjunto de raízes nervosas e nervos que emergem dos segmentos lombossacros e percorrem no canal vertebral até os forames correspondentes2. A síndrome da cauda equina (SCEq) representa um conjunto de afecções que cursam com alterações neurológicas produzidas pela compressão dos nervos, seja de forma congênita pela má formação do canal vertebral, ou adquirida, por protrusão do disco intervertebral ou lesões vertebrais na região lombossacra, como em casos de neoplasias de vertebras e traumas.1 Tendo em vista da gravidade da síndrome, o trabalho tem como objetivo demonstrar o acometimento da patologia em cães, destacando a identificação do quadro e quais as alternativas de tratamento conservativo e cirúrgico. MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi elaborado através de revisão de literatura de artigos científicos advindos da base de dados da biblioteca eletrônica Scielo, com a seleção entre os anos de 2006 e 2015, na língua portuguesa. Também foram utilizados para o desenvolvimento do trabalho livros de cirurgia e clínica médica 2012, com os descritores cauda equina, compressão-lombossacra-sindrome. REVISÃO DE LITERATURA
Observou-se nas literaturas que as alterações causadas pela SCEq ocorrem devido a compressão de nervos que resultará em déficit proprioceptivo nos membros pélvicos, variando em vários graus. Os mais leves apresentam reações lentas de posicionamento proprioceptivo e em casos mais graves ataxia dos membros pélvicos com o aspecto dorsal dos artelhos se arrastando no solo. Muitos cães com reflexos de retração da pelve deficientes unicamente ao nível do tarso podem ter associação com uma compressão progressiva da cauda equina, como por exemplo estenose lombossacra degenerativa. Durante o exame clínico pode ser detectado déficits motores voluntários aos músculos inervados pelo nervo ciático e pelos nervos caudais (inervação coccígea-caudal), pois os segmentos medulares espinhais e as raízes nervosas da cauda equina dão origem a esses nervos. Graus variáveis de incontinências urinarias e fecais também podem ocorrer devido à lesão dos segmentos sacrais onde o funcionamento anormal vesical está correlacionado ao neurônio motor inferior (NMI). ² O sinal clínico mais comum da SCEq é o estímulo exacerbado à dor, que pode decorrer da compressão ou inflamação das meninges e/ou raízes nervosas da cauda equina, do disco L7-S1 ou das capsulas articulares do processo articular L7S1. ² O tratamento dependerá do estado clínico do animal e dos exames de imagem complementares, podendo ser conservativo com repouso, na intenção de evitar danos ainda maiores as raízes nervosas. Também poderão ser utilizados anti-inflamatórios não esteroidais e acupuntura. É necessário uma estabilização cardiovascular e avaliação de lesões em outros órgãos e sistemas. A indicação cirúrgica dependerá do estado neurológico do paciente e de sua resposta à terapia conservadora, sendo as técnicas de laminectomia dorsal e a facetectomia as mais comuns.
A laminectomia tem como objetivo a descompressão das estruturas neurológicas, removendo as partes craniais do sacro e o processo espinhoso dorsal, completamente ou apenas parte dele; enquanto a facetectomia é a remoção parcial ou total dos processos articulares de L7/S1. Segundo autores, os pacientes tratados clinicamente com sinais neurológicos leves e sem alteração de esfíncteres, possuem prognóstico favorável à excelente. Já o prognóstico de pacientes com sinais neurológicos grave, dor intensa e incontinência urinária, é de reservado à desfavorável, sendo os mesmos indicados para descompressão cirúrgica o mais rápido possível.
CONCLUSÕES
A síndrome da cauda equina exige um bom conhecimento anatômico da região lombossacral, já que a etiologia e os sinais clínicos são semelhantes a outras patologias e poderão ser confundidas. A participação do proprietário na evolução do tratamento é de extrema importância, já que o animal deverá permanecer em repouso. O diagnóstico deve ser realizado o quanto antes para realizar um tratamento adequado e menos invasivo. Além da submissão do animal à cirurgia de alto risco, o procedimento tem custo elevado, o que muitas vezes prejudica prosseguir com o tratamento, inviabilizando a melhora do animal ou mesmo a cura. BIBLIOGRAFIAS 1. COUTO, Guillermo. C. Distúrbios da medulla espinal. In: NELSON, W. Richard; COUTO, Guillermo. C. Medicina interna de pequenos animais. Tradução de Cíntia Raquel Bombardieri; Marcelo de Melo Silva. 5 ed. Cap. 67, p: 1067-1068, Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 2. FOSSUM. Theresa Welch; DUTREY, Laura Pardi; Theodore G. Cirurgia de pequenos animais. 4 ed. [S.I] p. 4388-4404; 2015, 3. FERREIRA, L.F.L. e SANTOS, F.F. A síndrome da cauda equina em cães: revisão de literatura. PUBVET, Londrina, V. 6, N. 25, Ed. 212, Art. 1411; 2012.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
91
SÍNDROME DE CONSTRIÇÃO DE MEMBROS EM PSITTACARA LEUCOPHTHALMUS
Angélica Maria Araújo e Souza1*, Luisa Andrade Azevedo¹, Bárbara Lorena Garcia Machado², Inaiá Ramirez Tupinambás², Marco Victor Queiroz Alves², Thiago Lima Stehling3, Luiz Flávio Telles4.
1Graduando em Medicina Veterinária – Belo Horizonte/MG – Brasil - *E-mail: [email protected] 2Voluntário do WAITA Instituto de Pesquisa e Conservação – Belo Horizonte/MG – Brasil
3Analista Ambiental – Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) – Belo Horizonte/MG – Brasil 4Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A Maritaca (Psittacara leucophthalmus), é uma espécie monogâmica que nidifica em cavidades arbóreas e que hoje está adaptada ao ambiente urbano, nidificando em fendas de construções civis, onde os ovos são postos diretamente sobre o substrato. Este, comumente causa constrição dos dígitos e membros pélvicos por material linear estranho, podendo provocar lesões e fraturas, podendo levar ao óbito. As maritacas possuem pés zigodáctilos que permitem o empoleiramento e a apreensão dos alimentos1. A espécie não é considerada como ameaçada, porém, sofre declínio de suas populações devido ao tráfico de animais silvestres e à perda de habitat1. O Centro de Triagem de Animais Silvestres de Belo Horizonte (CETAS-BH) apresenta importante casuística de recebimentos de maritacas com constrição de pés por material estranho anualmente. Desta forma, objetifica-se relatar as aves atendidas no primeiro trimestre de 2020, apresentando estrangulamento de membros pélvicos, submetidas ou não à amputação, seu tratamento, evolução do quadro e destinação. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
A constrição de membros em psitacídeos possui etiologia desconhecida, sendo atribuída à constrição mecânica por material natural ou sintético utilizado na nidificação, resultando em edema e lesão aos tecidos moles, associadas ou não a fraturas2. Foram recebidos pelo CETAS-BH, entre os dias 10 de Fevereiro e 27 de Março de 2020, 19 espécimes de P. leucophthalmus apresentando constrição de membro por material linear. O histórico dos animais divide-se entre animais caídos ou retirada dos indivíduos de forros e telhados em área urbana, sendo 16 (84,2%) indivíduos jovens e 3 (15,8%) filhotes, sendo o peso médio dos animais de 133 gramas, considerado regular. Do total de indivíduos, 14 (73,7%) ainda apresentavam o material enrolado ao membro, e 5 (26,3%) indivíduos não (Fig. 1-A e 1-B). Os sinais clínicos mais comuns eram inchaço e lacerações locais, edema, dor e hiperventilação, onde 16 (84,2%) indivíduos apresentavam isquemia e/ou necrose distal, além de 3 indivíduos (15,3%) que apresentavam fratura exposta. Todos os animais apresentavam constrição na altura de tarsometatarso – sendo 14 (73,7%) constrições do membro esquerdo e 5 (26,3%) do membro direito –, e 2 (10,5%) indivíduos apresentavam constrição de dedos. O tratamento consistiu em remoção do material causador da constrição e protocolo medicamentoso, sem necessidade de amputação do membro2, para 8 (42,1%) dos indivíduos, onde fez-se uso de analgésico, antiinflamatório, fluídoterapia, antibioticoterapia, suplementação vitamínica e limpeza das feridas, caso necessário. Devido ao acometimento do tecido por necrose avascular ou fratura (Fig. 1-C), a amputação do membro, fez-se necessária para 11 (57,9%) dos indivíduos2. Realizou-se sedação com o uso de Xilazina (1 mg/kg) associado à Cetamina (0,2 mg/kg/IM) e manutenção com Isoflurano1. A cirurgia consistiu na amputação a partir da articulação proximal à área afetada, sendo a incisão cutânea distal à articulação para provimento de tecido suficiente para a sutura sem tensão2. O protocolo medicamentoso consistiu em antiinflamatório, analgésico, antibioticoterapia, fluídoterapia, suplementação vitamínica, utilização de bota ortopédica, limpeza das feridas e aplicação
de óleo de girassol ozonizado até cicatrização e de acordo com a adaptação de cada indivíduo (Fig. 1-D). Do total de indivíduos, 9 (47,4%) foram à óbito, e 10 (52,6%) indivíduos receberam alta e seguiram em processo de reabilitação para futura destinação, seja ela o cativeiro ou a soltura.
Figura 1: Estrangulamento de pés em espécimes de Psittacara leucophthalmus recebidos pelo CETAS-BH
Fonte: Arquivo pessoal – CETAS/BH
CONCLUSÕES
O estrangulamento de pés comumente afeta psitacídeos em áreas urbanas, provocando lesões irreversíveis e óbito aos animais, sendo uma casuística relevante no CETAS-BH. Em cativeiro, muitos indivíduos conseguem se adaptar com apenas um membro posterior, conseguindo se empoleirar e se alimentar, sendo a amputação uma alternativa à eutanásia dos indivíduos acometidos. O CETAS-BH também já realizou a soltura de psitacídeos com pés amputados, entretanto, necessita-se estudos in situ para avaliar o sucesso da reintrodução e a qualidade de vida destes. Necessita-se, também, que sejam realizados estudos acerca do impacto da urbanização e o conflito de fauna relacionado à espécie, além de estratégias de conservação e educação ambiental. BIBLIOGRAFIAS
1. GRESPAN, A.; RASO, T. F. Psittaciformes (Araras, Papagaios, Periquitos, Calopsitas e Cacatuas). In: CUBAS, Z. S. et al. Tratado de animais selvagens: medicina veterinária. 2.ed. São Paulo: Editora GEN/Roca, 2014. p. 550-567.
2. QUESENBERRY, K. et al. Musculoskeletal system. In: ALTMAN, R. B. et al. Avian Medicine and surgery. Philadelphia: W. B. Saunders, 1997. p. 517-539.
APOIO: IEF-MG, IBAMA, CETAS-BH, WAITA ONG E GEAS UNIBH
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
92
SÍNDROME DA DISFUNÇÃO COGNITIVA CANINA
Carolina Gabrielle Ferreira Leite1, Gabriel Almeida Dutra².
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil – [email protected] 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Com o progresso da tecnologia aplicada a medicina veterinária houve um aumento na expectativa de vida de cães domésticos, fazendo com que doenças neurodegenerativas se tornem mais frequentes, como é o caso da Síndrome da Disfunção Cognitiva Canina (SDCC)1. A SDCC é uma doença neurodegenerativa crônica e progressiva, sendo subdiagnosticada, pois seu diagnóstico depende principalmente das percepções do tutor a cerca da mudança do comportamento do seu animal e a exclusão de outras
doenças2. Portanto, o objetivo deste trabalho foi elaborar uma
revisão de literatura a cerca da SDCC, a fim de entender melhor acerca da patologia da doença e sua repercussão no bem-estar do animal.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão de literatura utilizando pesquisas feitas pelo Google Acadêmico de acordo com as palavras-chaves: cognição, doença neurodegenerativa e disfunção em cães.
REVISÃO DE LITERATURA
A SDCC pode ser comparada ao Alzheimer humano devido a sua similaridade nos exames de imagens e na histopatologia3. Os pacientes demonstram alteração nos padrões de sono e interação social, além de um déficit de aprendizagem, memória e percepção espacial, podendo também apresentar desorientação, andar compulsivo, vocalização excessiva e urinar/defecar em locais não habituais1. É uma doença de difícil diagnóstico, tanto para os tutores quanto para os médicos veterinários. Em muitos casos, os donos encaram essa mudança de comportamento como sinais comuns de envelhecimento e não a relata ao veterinário3. O diagnóstico é feito com base no relato do tutor e na exclusão de outros processos patológicos que causam ou contribuem para o aparecimento desses sintomas, sendo difícil fechar o diagnóstico. A realização de uma anamnese com o auxílio de questionários com a citação de sintomas clássicos da doença e um exame neurológico com atenção aos nervos cranianos e reflexo perineal são grandes aliados no diagnóstico, também se pode realizar uma ressonância magnética em busca de lesões intracranianas ou atrofia cerebral4.
Não há dados a cerca da prevalência mundial da doença, embora acometa cães com média de 11 anos. A natureza das lesões fisiológicas ainda não é bem definida, mas inclui o aumento das placas de β – amiloide e formação de placas senis, principalmente no hipocampo e no córtex frontal, o que causa degeneração neuronal com diminuição de sua função, disfunção sináptica, redução dos canais de cálcio e dos potenciais sinápticos e o esgotamento dos neurotransmissores2. Com a progressão da idade há o aumento do acúmulo de proteínas tóxicas, o que prejudica o metabolismo de glicose cerebral e causa danos oxidativos no sistema nervoso, este dano oxidativo está relacionado aos sintomas comportamentais apresentados pelos cães1.
Não há uma cura para esta afecção, o tratamento consiste em retardar a evolução do quadro favorecendo o aumento da longevidade, a qualidade de vida e o bem estar do animal e seu tutor. Torna-se necessário tratar outras comorbidades, alterar o ambiente e a maneira de lidar com o animal, além de fornecer suporte nutricional e utilizar medicamentos
que visam restaurar a concentração de neurotransmissores e evitar o progresso neurodegenerativo2. Os fármacos que podem ser utilizados são: selegilina5, propentofilina6, nicergolina e pentoxifilina2. O enriquecimento ambiental pode ser usado para manter o ciclo de sono/vigília, com a realização de alguma atividade durante o dia que gaste sua energia facilitar a locomoção do animal ao fazer algumas mudanças no local que o cão se localiza na maior parte do tempo (mudança da localização dos móveis). O manejo alimentar pode ajudar a reduzir a perda neuronal e manter a função cognitiva existente e a dieta aliada ao enriquecimento ambiental e a medicamentos se complementam para proporcionar uma maior qualidade de vida e bem estar ao animal2.
CONCLUSÕES
A expectativa de vida dos cães tem crescido nas últimas décadas, sendo necessário mais conhecimento acerca da prevenção, evolução e tratamento dessa patologia, evitando precocemente a doença, assim como sua evolução influenciando positivamente no em estar canino.
BIBLIOGRAFIAS
1. Oliveira HEV, Marcasso RA, Arias MVB. Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais e Animais de Estimação; 2016. Disponível em: <https://www.researchgate.net> Acesso em: 25 abr. 2020.
2. SCHIMANSKI, L. Síndrome da Disfunção Cognitiva em Cães – Do Diagnóstico ao Tratamento. 2019. Disponível em: <http://publicacoes.unifran.br> Acesso em: 25 abr. 2020.
3. TRAVANCINA, J. Alterações Comportamentais Sugestivas de Síndrome da Disfunção Cognitiva em Cães Geriátricos. Universidade de Lisboa, 2014. Disponível em: <https://www.repository.utl.pt > Acesso em: 25 abr. 2020..
4. TEIXEIRA, H. Síndrome da Disfunção Cognitiva em Cães. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br> Acesso em: 25 abr. 2020.
5. SzriberS. J.; CalvoD. B.; GouveiaD.; PonceF. Disfunção cognitiva canina mimetizando neoplasia cerebral: relato de caso. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 11, n. 2, p. 57-58, 11. Disponível em: <https://www.revistamvez-crmvsp.com.br> Acesso em: 25 abr. 2020.
6. DIESING, U. Estágio em clínica de animais de companhia, Síndrome de disfunção cognitiva canina. Universidade de Évora, 2014. Disponível em: <http://dspace.uevora.pt> Acesso em: 25 abr. 2020.
APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
93
SÍNDROME DA LISE TUMORAL
Ranielle Stephanie Toledo Santana1*, Pollyana Marques e Souza¹, Daniel da Silva Rodrigues¹, Luara Mara Groia Martins¹, Jade Caproni Corrêa1 Nayara Viana de Andrade2, Patrícia Maria Coletto Freitas3
1Graduando em Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Médica Veterinária, Residente do Hospital Veterinário da UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
3Professora do Departamento de Clínica e cirurgia veterinárias –UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Síndrome da lise tumoral (SLT) é uma emergência oncológica, com manifestações clínicas resultantes da destruição maciça de células neoplásicas, induzidas pela quimioterapia, por radiação ou até mesmo de forma espontânea. 1,2
Através da lise dessas células neoplásicas, há a liberação do conteúdo citoplasmático, como fósforo, potássio e ácidos nucléicos no espaço extracelular, o que excede a capacidade excretória dos rins, gerando distúrbios metabólicos e eletroquímicos, resultando em hipercalemia, hiperfosfatemia, hiperuricemia, acidose metabólica e hipocalcemia. 1,2
Estas alterações podem resultar em diversas manifestações clínicas, como lesão renal aguda, convulsões e morte, manifestações que podem requerer cuidados intensivos.1
MATERIAIS E MÉTODOS
O Seguinte estudo foi realizado por meio de uma revisão literária de artigos e leituras complementares destinados a síndrome da lise tumoral. REVISÃO DE LITERATURA
Na medicina veterinária a síndrome da lise tumoral tem sido associada à quimioterapia ou radioterapia no tratamento de linfomas. Os linfócitos neoplásicos contém aproximadamente 4 vezes a quantidade de fósforo que um linfócito normal, logo, o rápido rompimento dessas células malignas resulta em uma hiperfosfatemia, seguida de hipocalcemia causada pela precipitação de fosfato de cálcio nos tecidos, incluindo os túbulos renais. 2 Diversos fatores estão associados com o aumento do risco de se desenvolver SLT, como doenças avançadas, insuficiência renal pré-existente, desidratação e tumores grandes com alta taxa proliferativa.2 Além disso, a agressividade da quimioterapia pode precipitar a ocorrência de SLT. A síndrome apresenta-se clinicamente por letargia, êmese, diarréia hemorrágica e choque. No entanto, a hiperfosfatemia é um indicador consistente da ocorrência de SLT, sendo que esta pode aparecer de forma isolada ou junto a uma azotemia renal. 1,2 O animal também pode apresentar sinais clínicos de hipocalcemia, como arritmias cardíacas, síncopes, tetanias ou convulsões. Também pode apresentar hipercalemia, resultando em letargia, bradicardia, fraqueza, síncope e arritmias, sendo esta observada no eletrocardiograma como onda P diminuída e onda T em “tenda”. 2,3 Dálmatas e Buldogues ingleses são mais susceptíveis a hiperuricemia associada a SLT, pois essas raças não possuem a enzima uricase, responsável por realizar a oxidação do ácido úrico em alantoína no fígado. Haja vista que o metabolismo das purinas que é responsável por prevenir que a maioria dos cães desenvolva hiperuricemia, sintoma este que é frequentemente observado na medicina humana e caracterizado pela alta concentração de ácido úrico na circulação sanguínea.3
A fisiopatologia da síndrome da lise tumoral pode ser detalhada na figura 1.
Figura 1: Fisiopatologia da síndrome da lise tumoral. Adaptado de Darmon M, et al,2008
CONCLUSÕES
Na medicina veterinária a síndrome da lise tumoral é pouco relatada, sendo até mesmo considerada rara, diferente da medicina humana na qual a SLT é bastante estudada, possuindo diferentes classificações. Dado o exposto, percebe-se que há muito o que se discutir sobre essa síndrome na medicina veterinária e aqueles animais predispostos a desenvolverem a SLT, como animais com linfoma e elevada carga tumoral, devem receber acompanhamento durante todo o período de quimioterapia para que haja o reconhecimento precoce desta síndrome, haja vista que as manifestações clínicas da SLT requerem cuidados intensivos. BIBLIOGRAFIAS 1. Darmon M, et al. Síndrome de lise tumoral: uma revisão abrangente da literatura. Rev Bras Ter Intensiva. 2008. 20(3):278-85. 2. Steffenon, S. M. 2014. Efeitos adversos do tratamento quimioterápico em cães e gatos com câncer. Medicina Veterinária. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 3. Mylonakis, M., Koutinas, A., Papaioannou, N., & Lekkas, S. (2007). Acute tumour lysis syndrome in a dog with B-Cell multicentric lymphoma. Australian Veterinary Journal, 85(5), 206–208. doi:10.1111/j.1751-0813.2007.00127.x 4. Brooks DG. Acute tumor lysis syndrome in dogs. Comp Cont Educ Pract Vet 1995;9:1103–1106 5. Laing EJ, Carter RF. Acute tumor lysis syndrome following treatment of canine lymphoma. J Am Anim Hosp Assoc 1987;24:691–696. 6. Calia CM, Hohenhaus AE, Fox PR, Meleo KA. Acute tumor lysis syndrome in
a cat with lymphoma. J Vet Intern Med 1996;10:409–411.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
94
SÍNDROME DA ANSIEDADE DE SEPARAÇÃO EM CÃES
Fernanda da Cunha Lopes1*, Letycia Karen dos santos¹, Gabriel Dutra². 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Atualmente os cães vem sendo frequentemente inseridos no contexto de famílias humanas. Essa humanização promove distúrbios de comportamento nesses animais, entre os quais a Síndrome de Ansiedade de Separação em Animais (SASA) é um dos mais observados, na qual o animal apresenta vocalização excessiva, comportamento destrutivo, micção e defecação em locais inapropriados¹. Com a domesticação, o cão assimila o tutor como parte de sua matilha, com isso, a dependência emocional envolvida pode favorecer distúrbios de comportamento² como em situações em que o proprietário se prepara para sair de casa. Esses sinais podem variar com tentativas de impedir a partida do tutor sendo eles tremores, agitação de maneira geral, até comportamentos depressivos. Os comportamentos depressivos normalmente relatados são de cães que após a saída do tutor, vão para um local específico, ficando no mesmo local, sem comer, beber, urinar e defecar³.
O cão pode manifestar os sinais da SASA mesmo quando não está sozinho, pois o animal pode se vincular a um único indivíduo canino ou humano e, na ausência da figura de vínculo, iniciam-se os sinais. A síndrome pode se manifestar quando o cão tem acesso restrito, de alguma maneira (contido em algum cômodo, caixa de transporte, gaiola), ainda que esta esteja na mesma casa e há poucos metros do animal³.
Portanto, o objetivo deste estudo é mensurar o problema dentro de uma população de cães identificando os sinais de SASA.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão de literatura onde foram analisados artigos científicos sobre SASA. Após a leitura e estudo dos artigos foram selecionadas as informações mais significativas para a realização de uma conclusão sobre o comportamento dos cães.
REVISÃO DE LITERATURA
A SASA em cães é um problema comportamental aflitivo, tanto para o animal quanto para o proprietário, que ocorre quando o animal é separado de seu dono geralmente nos primeiros 5 a 30 minutos após a saída do proprietário. O problema pode acontecer quando o proprietário está fora de casa, ou quando o animal não consegue ter acesso a ele².
O início desse problema, muitas vezes, está relacionado à mudança na rotina do proprietário e no tempo que ele passa com o animal, como retorno do proprietário, um novo membro na família ou um novo animal de estimação. A ansiedade também pode ser devida a estresses ambientais, mudança para uma nova casa, após estadia em canil, medo, apego excessivo aos donos e falta de estimulações ou interações apropriadas².
Alguns proprietários acreditam que o comportamento destrutivo é uma forma de vingança do animal, pelo fato de ter sido deixado preso. Esse raciocínio ocorre pelo fato de o cão danificar objetos pessoais dos proprietários, como livros, roupas, sapatos e assentos de sofá. O que ocorre na verdade é que eles preferem esses objetos por trazerem o cheiro do proprietário, já que são frequentemente manipulados por ele. Esse cheiro faz o animal lembrar-se do dono ausente e, por
isso, ele fica mais ansioso, o que o leva a comportamento destrutivo¹.
Os sinais clínicos mais frequentes são micção e defecação inapropriadas, vocalização excessiva, mastigação destrutiva, escavação, salivação excessiva, comportamento medroso, tremores, vômito, diarreia, lambedura excessiva, automutilação, procura de atenção e agressão. Para diagnosticar a SASA, devem ser colhidas informações sobre o animal. Quando o animal é excessivamente apegado ao proprietário, os comportamentos ansiosos começam logo que o proprietário sai, mesmo que por pouco tempo. Para o diagnóstico é importante um vídeo que mostre o comportamento do animal quando o proprietário está ausente para que sejam descartados outros distúrbios, para que o proprietário e o médico-veterinário vejam como isso acontece e para acompanhamento do tratamento.
O tratamento pode ser feito com mudanças da interação entre cão e proprietário, mudanças no ambiente em que o animal vive e com medicamentos psicotrópicos. As mudanças na interação entre o cão e o proprietário são feitas para que o cão seja mais independente e incluem protocolos de saída de casa, ignorando o cão 15 a 30 min antes de sair e não festejando em seu retorno, habituando-o com a saída. Aumento de atividade física com o animal também é indicado para que ele fique menos ansioso. A intervenção farmacológica deve ser feita juntamente com o tratamento comportamental. O neurotransmissor serotonina é citado como importante agente no comportamento social dos animais, portanto agentes farmacológicos que aumentam a receptação de serotonina devem ser usados no tratamento desses animais. Antidepressivos tricíclicos (AT) e inibidores seletivos da recaptação de serotonina(ISRS) podem ser utilizados, sendo descritas as doses para cães dos medicamentos Clomipramina (2-4 mg/kg VO, SID), Amitriptilina (2,2 – 4,4 mg/kg VO, BID) como AT e Fluoxetina (1mg/kg VO, SID) como ISRS. Caso a resposta ao tratamento farmacológico seja favorável, deve ser continuado até que doses menores possam ser usadas efetivamente no período em que o tratamento comportamental estiver sendo realizado².
CONCLUSÃO
A SASA é um distúrbio comportamental comum na atualidade. A terapia comportamental é um fator importante para o tratamento dessa síndrome e a utilização de alguns fármacos podem ajudar na evolução ainda mais precoce do tratamento.
BIBLIOGRAFIAS
1. Soares G.Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de Santa Maria, 2010, 01p.
2. Barros T. Revista Científica Univiçosa - Volume 3 - n. 1 - Viçosa-MG - jan. - dez. 2013 - p. 71-76
3. Soares G Cienc. Rural vol.39 no.3 Santa Maria May/June 2009 Epub Jan 09, 2009
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
95
SÍNDROME DO OVÁRIO REMANESCENTE EM CÃES E GATOS
Fernanda da Cunha Lopes¹, Letycia Karen dos Santos¹, Brenda Larissa Viana de Sousa¹, Ana Paula dos Santos Benfica¹, Karina da Silva Gomes¹, Gabriel Almeida Dutra².
1 Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Atualmente a ovariossalpingo-histerectomia (OSH) é o procedimento cirúrgico que vem sendo realizado com maior frequência na clínica de pequenos por reduzir o risco de neoplasias mamárias (quando realizada antes do primeiro ou segundo ciclo estral), eliminar o risco de piometra e pseudogestação². Embora seja considerado um procedimento tecnicamente simples há risco de complicações sendo elas, incontinência urinária, obesidade, vulva infantil, alopecia, mudança da cor e da textura dos pêlos, além de ser um método irreversível. Dentre outras complicações existe também a Síndrome do Ovário Remanescente².
A Síndrome do Ovário Remanescente (SOR) refere-se a presença de tecido ovariano funcional após procedimento de OSH em cadelas e gatas. Existem poucos casos relatados na literatura sobre essa complicação e geralmente os animais voltam ao veterinário por apresentarem retorno ao estro em período variável entre a cirurgia e o reaparecimento dos sintomas². Alguns estudos apontam que a SOR é mais comum após OSH eletiva e ocorre mais frequentemente em gatas que em cadelas¹. Casos relatados em cadelas e gatas reportam que o ovário direito possui um maior envolvimento que o esquerdo, devido ao seu posicionamento mais cranial no abdômen, o que dificulta a exteriorização durante a cirurgia³. Este fato poderia estar relacionado a uma ocorrência maior de persistência de tecido ovariano no lado direito, mas essa condição não foi reportada por MILLER (1995) em seu estudo¹. O objetivo desse trabalho é mensurar uma revisão de literatura sobre SOR acometidos em cães e gatos.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi elaborado a partir de pesquisas nas bases de dados Capes, Scielo e Google acadêmico, comparando os diferentes dados e listando as principais achados na SOR.
Palavra chave: ovário, OSH, cirurgia, estro.
REVISÃO DE LITERATURA
A etiologia mais frequente do SOR é por erro na técnica cirúrgica de OSH, com ressecção incompleta de um ou ambos os ovários. Outra opção é a queda de uma pequena porção do tecido dentro da cavidade peritoneal durante a excerese dos ovários, onde o tecido pode revascularizar-se, voltando a ser funcional. A terceira opção é um tecido residual ovariano em localização diferente da região normal³, dentro do ligamento próprio do ovário ou na união com a parede abdominal4.
Os sinais clínicos são comportamento de proestro ou estro². Em seu relato de caso em gata, Finger, Brun, Colomé, Pimentel e Feranti (2009), relataram sinais de vocalização, lordose e atração por machos. Já Oliveira (2007) apontou em cadelas crescimento vulvar, sangramento vaginal e atração por cães machos. Os sinais podem aparecer dentro de dias, semanas ou anos após a OSH4.
Segundo Finger, Brun, Colomé, Pimentel e Feranti (2009), para diagnóstico de SOR pode ser usado citologia vaginal, ultrassonografia, dosagens hormonais e cirurgia exploratória,
associado ao histórico e sinais clínicos do animal. O diagnóstico final só poderá ser feito após analise histopatológica do tecido excisado³. Segundo Freitas (2010), o exame citológico da vagina é a técnica mais fácil e barata a ser utilizada, pois demonstra queratinização do epitélio vaginal, indicativo de altas concentrações de estrógeno podendo ser utilizado em gatas ou cadelas. Ainda diz que, a ultrassonografia abdominal é pouco valida, pois não foi capaz de detectar os cistos presentes na superfície do ovário remanescente de uma gata³.
Como diagnóstico diferencial para SOR podem incluir patologias que provoquem sangramento vaginal em cadelas e gatas castradas, como neoplasias, vaginites, piometra de coto de cérvix uterino, traumatismos, terapias exógenas de estrógeno e coagulopatias. Também se pode correlacionar ovário supranumerário, ovário acessório, hiperatividade da glândula adrenal e tumor secretor de estrógeno².
O tratamento de escolha é cirúrgico, com remoção dos fragmentos com margem de segurança. Estudos recomendam a laparotomia exploratória em pacientes em estro ou diestro, já que o aumento da vascularização, presença de folículo ou corpo lúteo possibilitam a visualização do tecido. Já Copat (2015) e Finger (2009) relataram a eficiência da laparoscopia como procedimento minimamente invasivo. Ambos os pedículos devem ser explorados à procura de resíduo de ovário4. Se não houver tecido ovariano detectável, o tecido cicatricial deve ser removido de ambos os pedículos². Existe tratamento clinico baseado na administração de hormônios, porém recomendado apenas quando não há autorização cirúrgica pelo tutor ou quando não foi possível localizar o tecido durante a laparotomia exploratória.
CONCLUSÕES
A SOR é pouco relatada, mas sua ocorrência pode estar subnotificada em achados clínicos. O tratamento é simples e não proporciona sequelas ao animal, contudo deve ser realizado com seriedade, pois postergar o tratamento pode proporcionar outras patologias como piometra de coto de corno uterino.
BIBLIOGRAFIAS
1. FINGER, Bruna Lopes; BRUN, Maurício Veloso; COLOMÉ, Lucas Marques; PIMENTEL, Ricardo Oliveira; FERANTI, João Pedro Scussel. Videolaparoscopia no diagnóstico e tratamento da síndrome do ovário remanescente em uma gata. Ciência Rural, [s.l.], v. 39, n. 8, p. 2539-2541, 11 set. 2009. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0103-84782009005000179.
2. OLIVEIRA, Kellen de Sousa. Síndrome do resto ovárico. Acta Scientiae Veterinariae, Porto Alegre, v. 2, n. 35, p. 273-274, 2007.
3. FREITAS, Valéria Amanda Lima de. SÍNDROME DO OVÁRIO REMANESCENTE EM UMA GATA DOMÉSTICA. Acta Veterinaria Brasilica, Mossoró, v. 4, n. 2, p. 118-122, 2010.
4. COPAT, Bruna. Ovariohisterectomia Videolaparoscópica em Cadela com Ovários Remanescentes e Piometra de Cornos Uterinos. Acta Scientiae Veterinariae, Santa Maria, v. 97, n. 43, p. 1-5, 14 ago. 2015.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
96
SÍNDROME UVEODERMATOLÓGICA
Isabela Fernandes dos Santos1*, Jade Caproni Corrêa1, Ranielle Stephanie Toledo Santana¹, Rubens Antônio Carneiro 3.
1Graduanda em Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte/ MG – Brasil Professor do Departamento de Clínica e cirurgia – UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A síndrome uveodermatológica é uma doença que acomete cães e se assemelha a síndrome Vogt-Koyanagi-Harada em humanos, sendo conhecida também como síndrome Vogt-Koyanagi-Harada canina. A patogênese da doença em humanos e em cães ainda não é totalmente esclarecida. No entanto, populações humanas que possuem o antígeno leucocitário humano HLADRB1*0405 e HLA-DQB1*0401 e os cães que possuem o alótipo leucocitário canino DQA1*00201 tem demonstrado grande susceptibilidade à doença reforçando a teoria de que se trata de uma doença auto imune.1 Acredita-se que essa doença seja mediada por linfócitos T e B e tem como alvo os melanócitos. A doença pode causar sintomas oculares e dermatológicos em ambas as espécies, sendo que a manifestação neurológica típica em humanos ainda é controversa em cães.1, 2
MATERIAIS E MÉTODOS
O seguinte estudo foi realizado por meio de uma revisão literária de artigos e leituras complementares destinados a síndrome uveodermatológica. REVISÃO DE LITERATURA
A síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada foi detectada em 1-4% dos humanos que apresentavam uveíte, da mesma forma estima-se que pode afetar 4,1% dos Akitas.1, 2 Os animais mais acometidos são jovens, possuindo entre 7 meses 4 anos de idade, mas já foram relatados casos em animais de até 13 anos de idade, prevalecendo em machos. As raças mais predispostas são Akita, Husky siberiano e Samoieda1, 2. A grande maioria dos animais desenvolve sintomas oftalmológicos antes dos sintomas dermatológicos, sendo que a uveíte bilateral é relatada como o primeiro sinal clínico mais frequente e pode levar rapidamente a sinéquia anterior e posterior. No entanto, as lesões cutâneas também podem ocorrer antes ou aparecer de forma concomitante com os sinais oculares. A maioria dos animais acaba por desenvolver as duas manifestações clínicas anteriormente citadas, sendo a média de tempo entre o aparecimento dos sintomas oculares e as lesões de pele de seis meses.1, 2
Os sinais oculares mais comuns em cães são cegueira ou diminuição da acuidade visual, uveíte, anormalidades de íris (rubeosis iridis, edema de íris, sinéquia), despigmentação do epitélio pigmentado da retina e da coróide e atrofia de retina. Frequentemente há a ocorrência de glaucoma, catarata e descolamento de retina de forma secundária a doença. Já os sinais dermatológicos mais comuns são leucoderma e leucotriquia seguido de ulcerações, alopecia, crostas e eritema. Outras alterações cutâneas podem ocorrer com menor frequência como inchaço do nariz, prurido, hiperqueratose dos coxins dos membros traseiros e onicomadese .1, 2, 3
As áreas mais atingidas pelas lesões de pele são o plano nasal, seguido pela pele da região periorbital, pálpebras e lábios.1 As lesões na cabeça geralmente progridem para leucoderma e leucotriquia generalizadas. As lesões de pele e oculares são bilaterais e simétricas, com exceção dos animais que possuem heterocromia no qual o olho de coloração clara não é afetado.2 Em humanos o tratamento inicial consiste na aplicação de altas doses de glicocorticóides sistêmicos, sendo que estudos apontaram que o uso dessas altas doses por duas semanas
resultaram em diminuição no tempo necessário de uso dos esteroides, maiores chances de obter a completa remissão e menor duração da doença. Os corticoides devem ser mantidos por pelo menos 6 meses para reduzir o risco de recorrência e perda grave da visão. Para pacientes com doença crônica, recorrência da doença ou intolerância a corticoides podem ser utilizados imunossupressores como a ciclosporina e azatioprina.1
O tratamento em cães segue as mesmas diretrizes do tratamento da síndrome de VKH em humanos. A associação de glicocorticóides com imunossupressores têm demonstrado resultados superiores a monoterapia, com menor inflamação e melhor resultado visual, sendo esta uma opção como primeiro tratamento. Também devem ser utilizados colírios a base de corticoide e cicloplégicos para a prevenção de sinéquias e maior conforto ocular.1, 2
Não existe uma definição clara de quando pode ser declarado remissão clínica, porém alguns critérios têm sido adotados para esta avaliação, sendo eles: melhora ou o restabelecimento da visão de animais que apresentavam cegueira ou baixa acuidade visual, ausência de desenvolvimento de novos sinais ou progressão dos existentes e resolução dos sinais clínicos. O tempo de remissão clínica utilizando estes critérios varia entre 2 semanas e 10 meses, sendo que não há relatos de remissão espontânea.1
Figura 1: Descolamento parcial da retina (A). Despigmentação do epitélio pigmentado da retina e da
coróide (B).
CONCLUSÕES
Devido aos poucos relatos de casos de síndrome uveodermatológica em literatura informações sobre o prognóstico de animais com a enfermidade são escassos. No entanto, devido à ausência de definição do melhor protocolo de tratamento a ser seguido assim como a grande variedade de problemas oculares graves secundários a doença como o glaucoma e descolamento de retina faz com que a muitos dos casos resultem em cegueira.
BIBLIOGRAFIAS 1. THAM, Heng L.; LINDER, Keith E.; OLIVRY, Thierry. Autoimmune diseases affecting skin melanocytes in dogs, cats and horses: vitiligo and the uveodermatological syndrome: a comprehensive review. BMC veterinary research, v. 15, n. 1, p. 251, 2019. 2. ZARFOSS, Mitzi K. et al. Clinical findings and outcomes for dogs with uveodermatologic syndrome. Journal of the American Veterinary Medical Association, v. 252, n. 10, p. 1263-1271, 2018. 3. ACVO GENETICS COMMITTEE et al. The Blue Book. Ocular disorders presumed to be inherited in purebred dogs.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
97
TENDINITE EM EQUINO DA RAÇA BRASILEIRO DE HIPISMO – RELATO DE CASO
Priscilla Menezes de Almeida¹*, Ana Luiza Cardoso Monteiro¹, Guilherme Vitor Maquart Matos¹, Marco Antonio Souza Perreira¹, Luca Santi Engel¹, Bárbara Corrêa Toledo2, Ana Luísa S. de Miranda3.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil – [email protected] 2 Médica Veterinária – Belo Horizonte – MG – Brasil
³ Professora do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A criação de equinos é composta atualmente por aproximadamente cinco milhões de animais de trabalho, lazer e esporte1. A raça Brasileiro de Hipismo surgiu a partir do cruzamento das mais importantes linhagens europeias de cavalos de salto e adestramento, sendo uma das mais utilizadas na prática do hipismo nacional. As práticas esportivas equestres, diante das rotinas extenuantes de provas e treinamentos, predispõem um maior desgaste do aparelho locomotor equino, ocasionando diversas lesões do sistema músculo esquelético. Tais afecções geram, para os criadores, perdas econômicas decorrentes de injúrias por treinamento excessivo ou repetitivo, uma vez que o período de recuperação dos animais é longo e dispendioso, além do risco iminente da diminuição de desempenho atlético e da possível reincidência das lesões.1
A tendinite, inflamação do tendão e da inserção muscular tendinosa, é uma lesão frequentemente diagnosticada em equinos atletas1, tendo em vista que durante a atividade física o animal realiza movimentos e esforços repetitivos exigidos pelas modalidades esportivas.² Outros fatores predisponentes são: treinamentos indevidos, ferrageamento inadequado, pisos impróprios para realização dos treinamentos e competições, preparo físico ineficiente, obesidade e má conformação anatômica2. A etiologia está associada à sobrecarga das estruturas, excedendo à resistência máxima das fibras, o que leva a degeneração, podendo culminar a ruptura da estrutura tendínea3.
Os sinais clínicos caracterizam-se por aumento de volume e temperatura local, dor à palpação da estrutura, claudicação aguda do membro afetado e queda na performance¹. O diagnóstico das afecções tendíneas é realizado a partir do exame clínico e através de exames complementares como a ultrassonografia3. Atualmente existem diversos tratamentos e associações destes para a tendinite, que variam de acordo com o grau da lesão.
O presente relato tem como objetivo descrever as lesões observadas no exame ultrassonográfico, bem como o tratamento para tendinite de um cavalo atleta, da raça Brasileiro de Hipismo.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Em novembro de 2018, um equino macho de aproximadamente 10 anos, da raça Brasileiro de Hipismo, apresentou claudicação grau 2 (escala AAEP de 1 a 5) no membro torácico esquerdo (MTE) durante a execução dos exercícios previstos em seu programa de treinamento. Ao exame estático, durante a palpação foi possível identificar o aumento da temperatura no terço distal do MTE, na região dos tendões flexores. Já na inspeção visual, notou-se um aumento significativo na região acometida. No exame clínico, não houve resposta positiva de sensibilidade dolorosa aos testes com a pinça de casco, nem às flexões articulares. Foi realizado o teste de bloqueio perineural com Lidocaína 2%, sendo 2ml por ponto, obtendo-se resposta positiva com o bloqueio dos 4 pontos altos. Foi realizado exame ultrassonográfico, mostrados nas imagens 1 e 2, que evidenciou uma lesão no tendão flexor digital superficial, diagnosticando assim a tendinite.
Imagem 1 - Imagem longitudinal, hipoecóica, indicando o local aonde que cerca de 15% do tendão flexor digital
superficial foi acometido.
Imagem 2 - Imagem transversal indicando a lesão tendínea.
O tratamento prescrito foi à base de fenilbutazona 4,4ml/Kg, intravenosa, SID, durante sete dias; crioterapia por 20 minutos, BID, durante sete dias; massagem no membro acometido com Ekyflogyl® e a utilização de bandagem por dez dias após a massagem. O animal também foi submetido a sessões com ondas de choque, denominadas Shock wave, com o intuito de incrementar a circulação local, promover analgesia e atrair células tronco para o foco da lesão. A partir do 15° dia de tratamento foi realizada a primeira sessão de terapia complementar, o Shock Wave, e mais duas sessões no 45° dia e no 80° dia. Além do tratamento sistêmico e tópico, o animal foi submetido à reabilitação no 20° dia de tratamento. Após 110 dias uma reavaliação foi realizada e por meio de um novo exame ultrassonográfico notou-se melhora da lesão, os sinais clínicos regrediram indicando que o tratamento foi eficaz. Diante dos resultados o animal retornou as suas atividades esportivas e não apresentou recidivas. CONCLUSÕES
O paciente apresentou melhora clínica satisfatória e pôde retornar às atividades atléticas. A somatória dos tratamentos sistêmicos e tópicos e o apoio fisioterápico foram fundamentais para esse resultado. BIBLIOGRAFIAS 1. PEREIRA.C.F.et al.The effect of platelet-rich plasma in the treatment of tendoni and desmitis in horses: report of eight clinical cases;International Journal of Development Research.Vol.08,Issue,02,pp.18770-18774, 2018. 2. Wrigley R.H. 2006. Ultra-sonografia de tendões, ligamentos e articulações, p.417-601. In: Stashak T.S. (Ed.) Claudicação em eqüinos segundo Adams. 5ª ed. Roca, São Paulo 3. McILWRAITH, W.C.Doenças das articulações, tendões, ligamentos e estruturas relacionadas.In:STASHAK,T.S.Claudicação em equinos segundo Adams. 5ed. São Paulo: Roca, 2006.p. 551- 597 APOIO: CLINEQ VETERINÁRIOS
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
98
TEOR DE AGRESSIVIDADE RELACIONADO à RAÇA: REVISÃO DE LITERATURA
Anna Clara Silva Martins1*, Carolina Fonseca Horta1, Davi Guilherme Souza1, Laís Barbosa Figueiredo1, Gabriel Almeida Dutra2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil – *[email protected] 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A disseminação de notícias sobre ataques de cães a pessoas tem aumentado as discussões sobre a probabilidade de algumas raças serem mais agressivas e apresentarem risco à população. Devido a este cenário, o preconceito e o medo direcionados às raças, geralmente usadas para guarda, tomaram grande proporção². O crescimento dos estudos direcionados ao comportamento animal possibilita melhor compreensão sobre a natureza de determinados ataques e a orientação da população, sendo possível esclarecer mitos e verdades sobre a relação entre raças e agressividade². O objetivo do presente trabalho é elucidar a origem do comportamento agressivo e propagar informações, visando a segurança dos cães e tutores. MATERIAIS E MÉTODOS
A revisão de literatura foi realizada por meio de artigos, trabalhos e reportagens presentes em revistas e sites de caráter científico, selecionados através de busca nos bancos de dados do Google Acadêmico.
REVISÃO DE LITERATURA
Problemas comportamentais impactam prejudicialmente a saúde e bem estar dos cães e de seus tutores. Cerca de vinte milhões de animais de estimação, a cada ano, são abandonados em abrigos nos Estados Unidos, sendo pelo menos dez milhões destes mortos por distúrbios de
comportamento⁵. No Brasil, segundo a opinião de médicos
veterinários, a agressividade canina é a principal causa de
abandono ou eutanásia dos animais⁵, além de configurar
questão de saúde pública. De acordo com especialistas, existem algumas raças consideradas mais agressivas, tais como Pit Bull, Dogo Argentino (FIG. 1) ou Rottweiler. Também é importante enfatizar que, não pode-se atribuir a agressividade apenas à raça², pois o meio em que o animal vive reflete muito sobre seu comportamento. Existe relação entre aspectos sociais (ter ou não filhos e tamanho da família), personalidade do tutor (critérios de escolha do cão, violência física e hostilidade) e manifestações de agressividade e medo por
parte do cão⁴. Segundo o livro da Associação de Conselheiros de Comportamento Animal (APBC Book of Companion Animal Behaviour)¹, existem três categorias para a agressividade: a agressão relacionada à posse de recursos (necessários para a sobrevivência), a por medo e por último a resultante de causa física2. Cães que demonstram agressividade em momentos de dor, quando sente-se ameaçados ou acuado não devem ser classificado como um animal agressivo. De acordo com a professora do DCCV (Departamento de Clínica de Cirurgia Veterinária) e médica do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais, Christina Malm, outro fator relevante é a seleção genética realizada pelo homem nas raças de guarda. Os animais selecionados possuem porte físico maior e nível de agressividade acentuado. O perfil do cão de guarda foi propositalmente criado pelo homem, gerando animais com aptidão para proteção, não especificamente ou somente agressivos³.
Figura 1: Cão da raça Dogo Argentino.
Arquivo pessoal.
CONCLUSÕES
Conclui-se que a expressão da agressividade é multifatorial e não determinada somente pela raça. O ambiente em que o animal vive e sua forma de criação são cruciais no estabelecimento ou não de distúrbios comportamentais. O estudo na área de comportamento animal é de extrema importância para compreender os fatores que desencadeiam reações agressivas e reduzir os índices de acidentes. É primordial que haja consciência no processo de seleção de animais para reprodução, visando obter equilíbrio temperamental. BIBLIOGRAFIAS
1. APPLEBY, D; HEATH, S. The APBC Book of Companion Animal Behaviou. Souvenir Press Limited, 2004.
2. KANASHIRO, M. Raça canina não determina agressividade. Com Ciência-Revista Eletrônica de Jornalismo Científico.
3. Por que a agressividade não está sempre relacionada à raça de um cão? Escola de Veterinária – Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. Disponível em: < https://vet.ufmg.br/noticias/exibir/4611/por_que_a_ agressividade_nao_esta_sempre_relacionada_a_raca_de_um_cao>. Acesso em: 08/03/2020. 4. SOARES, G. M., Telhado, J., & Paixão, R. L. (2011). Avaliação da Influência da Agressividade do Proprietário na Manifestação da Agressividade do Cão. Revista Brasileira de Zoociências, 13(1, 2, 3). 5. SOARES, G. M., Telhado, J., & Paixão, R. L. (2013). Avaliação da influência do manejo na manifestação da agressividade do cão. Revista Brasileira de Zoociências, 15(1, 2, 3).
APOIO:
GRUPO DE ESTUDOS EM COMPORTAMENTO E BEM ESTAR ANIMAL.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
99
TERMOGRAFIA POR INFRAVERMELHO NA MEDICINA VETERINÁRIA
Franciely do Carmo1*, Bárbara Luiza¹, Bárbara Teixeira1, Grazino Junio¹, Jussara Silva¹, Bruno Divino2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
*E-mail:[email protected] 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Na medicina veterinária, os meios de diagnósticos têm apresentado avanços substanciais, com técnicas elaboradas e seguras que permitem ao médico veterinário realizar uma abordagem clínica mais completa e eficiente1. A termografia, método inovador de diagnóstico, é uma técnica de mensuração de temperatura da superfície corporal, em diferentes níveis, que tem como objetivo auxiliar na avaliação clínica do paciente, identificar lesões inflamatórias e garantir um melhor diagnóstico de forma não invasiva. A utilização da imagem termográfica foi introduzida na Medicina Veterinária na década de 60, como exame complementar no diagnóstico e prognóstico de diversas lesões e afecções inflamatórias, por demonstrar alterações de temperatura na superfície cutânea 2.
A técnica auxilia na percepção e localização de focos específicos de anormalidades teciduais e evidencia o grau de comprometimento dos mesmos, uma vez que, no processo inflamatório o calor é um sinal clínico importante. Vale ressaltar que, antes mesmo do aparecimento dos sinais clínicos é possível, por intermédio desse método de diagnóstico, observar os indícios do problema 3.
O presente trabalho tem como finalidade elaborar uma revisão de literatura sobre a utilização da termografia por infravermelho na medicina veterinária.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho constitui-se de uma revisão de literatura sobre a utilização da técnica de termografia por infravermelho na medicina veterinária. Utilizou-se para a pesquisa bases de dados científicos, por meio de buscas pelas plataformas Google Acadêmico e Scielo, foram utilizadas palavras chaves para a busca como: diagnóstico por imagem, temperatura e inovação. Os artigos foram elaborados por autores com o mesmo propósito, porém com abordagem e ideias diferentes. REVISÃO DE LITERATURA
A termografia infravermelha é uma técnica de diagnóstico por imagem que detecta a emissão de calor da superfície do corpo através de radiação infravermelha e indica assim a temperatura do local avaliado. O aumento de temperatura de um corpo corresponde à vibração dos seus átomos em torno do ponto de equilíbrio, o que gera uma emissão de ondas eletromagnéticas. A frequência destas vibrações, ou dos movimentos rotacionais, no caso de algumas moléculas gasosas, situa-se na região do infravermelho, sendo esta captada por aparelho capaz de detectar temperaturas a partir 0,05 °C, denominado termovisor, termógrafo ou câmara infravermelha5. As emissões infravermelhas do animal estão relacionadas diretamente à perfusão e metabolismo dos tecidos logo, as variações de temperatura superficial, geralmente, resultam de mudanças na circulação da área avaliada. Os sinais clássicos da inflamação, calor e edema, interferem na circulação sanguínea e, consequentemente, na emissão de radiação infravermelha da área. A técnica ainda avalia, indiretamente, o sistema nervoso autônomo simpático que está relacionado a pele, tornando-se útil para detectar também distúrbios vasculares e neurológicos. É importante frisar que, traumas ou lesões teciduais causam mudanças na circulação e são detectáveis por meio da termografia como um “ponto quente”, tendo em vista a inflamação local; em contrapartida
tromboses venosas, compressões nervosas e edemas podem ser detectados como “pontos frios” no termograma6. A alta sensibilidade permite a detecção de alterações subclínicas, às vezes de forma mais precoce6. As imagens termográficas ajudam a identificar as regiões com diferenças térmicas que podem ser comparadas com regiões não afetados, conforme a Figura 17. A avaliação termográfica pode prover informação diagnóstica útil em muitas áreas, como por exemplo: reumatologia, fisioterapia, ortopedia, reprodução, dermatologia, oncologia e cirurgia. Além disso, a técnica pode ser utilizada em diversas espécies. O exame é não invasivo, indolor e provê segurança ao examinador e ao animal, uma vez que a contenção não se faz necessária, o que reduz o estresse e garante o bem estar
do mesmo, pois a avaliação é feita a distância6. O uso da
termografia na veterinária aos poucos tem evidenciado maior confiabilidade e entendimento diagnóstico. Figura 1: Imagem termográfica de cascos saudáveis de equinos
.
CONCLUSÕES
A termografia pode ser aplicada em inúmeras situações, pois exerce um papel importante na identificação de patologias, auxilia na prevenção e evita perdas relacionadas a um diagnóstico tardio. A técnica deve ser mais explorada, a fim de gerar benefícios quando aplicada sozinha ou em conjunto com outros exames de imagem. É importante ressaltar que a especificidade e sensibilidade do diagnóstico dependem muito do rigor de aplicação e conhecimento do médico veterinário a respeito da leitura dos termogramas. BIBLIOGRAFIAS 1. LAHIRI, B.B.; S. BAGAVATHIAPPAN;T. JAYAKUMAR. Medical
application of infrared thermography: A review. Infrared Physics& Technology, v.55, n.4, p.221- 235, 2012.
2. MIKAIL, S. Termografia: diagnóstico através da temperatura. Nosso Clínico, v.13, n.74, p.20-24, 2010.
3. VIANNA DML, CARRIVE P. Changes in cutaneous and body temperature during and after conditioned fear to context in the rat. Eur. J. Neurosci. 2005; 21 (9): 2505-12. Disponível em: http://unsworks.unsw.edu.au/fapi/datastream/unsworks:3471/SOURCE1.
4. CARDENAS, J.J. Termografia como método diagnóstico na medicina eqüina (2008). In:Anais da XXXV Semana Capixaba do Médico Veterinário e III Encontro Regional de Saúde Pública em Medicina Veterinária.2008. Espírito Santo.
5. BARREIRO, A.L.B.S.; David, J.M. Estresse oxidativo: relação entre geração de espécies reativas e defesa do organismo (2006).Rev.Quim. Nova, v. 29, n. 1, p. 113-123
6. ROSA, et al. Avaliação termográfica em equinos: uma revisão. Ciência Animal. Rio Grande do Sul, v.29, n.1, p.83-93, 2019.
7. Çentinkaya, M.A; Demiruktu, A.Thermography in the assessment of equine lameness (2011).Turk. Journal Vet.Animal Science,v.35, n.1, p.1-6.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
100
TESTE DE SENSIBILIDADE PARA O CONTROLE DO CARRAPATO DOS BOVINOS
Gabriel Resende Souza¹*, Thallyson Thalles Teodoro de Oliveira¹, Sérgio Henrique Andrade dos Santos¹, Larissa Chyara Macclawd Vieira¹, Mariana Perpétuo Dias¹, Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira².
*[email protected] 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Em um estudo recente, GRISI et al. (2014) identificaram que os carrapatos dos bovinos são responsáveis por perdas econômicas na pecuária de leite e corte estimadas em 3,24 bilhões de dólares ao ano no Brasil.
Os carrapatos são causadores de diversas injurias aos bovinos, desde a ação espoliadora e lesão no couro dos animais até a transmissão de doenças, como é o caso da Tristeza Parasitária Bovina.2 Nesse contexto, é necessário o controle desses parasitos a fim de evitar grandes perdas econômicas, porém esse controle quase sempre é feito diretamente nas propriedades pelos produtores sem a devida atenção, resultando em contaminação ambiental, dos animais, das pessoas e na disseminação da resistência nas populações de carrapatos.3
Ao longo dos anos, o carrapato foi capaz de adquirir resistência às substancias químicas que são usadas em seu controle, como é o caso dos organofosforados, piretróides e lactonas macrocíclicas.4 Essa resistência ocorre pela morte dos carrapatos sensíveis no uso contínuo dos carrapaticidas e os resistentes acasalam entre si, gerando descendentes com a característica de resistência.5
Sendo assim, o teste de sensibilidade demonstra ser uma boa ferramenta para identificar resistência dos carrapatos da propriedade onde, após uma série de testes, demonstrará a melhor base química e área de ação no carrapato para a utilização nos animais. 3,4,5,6,7,8
O objetivo desse resumo é explicar a metodologia do teste de sensibilidade utilizado para o controle do Rhipicephalus (Boophilus) microplus, o carrapato dos bovinos.
MATERIAIS E MÉTODOS
O resumo foi desenvolvido a partir da revisão de artigos, livros e trabalhos técnicos, objetivando explicar a metodologia utilizada no teste de sensibilidade para detecção de resistência nos carrapatos dos bovinos. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O teste de sensibilidade, também chamado de biocarrapaticidograma ou carrapatograma, se inicia através da coleta dos carrapatos dos animais, não havendo um número específico de animais necessários. Esses animais que serão submetidos a coleta devem ser separados dos demais para que não tenha aplicação de produtos, sendo pelo menos 30 dias para produtos com ação por contato e aproximadamente 50 dias no caso de produtos com ação sistêmica. Após a coleta dos carrapatos e preparação dos mesmos no laboratório a ser testado, os carrapatos são pesados e separados em grupos de 10, contendo 1 grupo controle para cada propriedade. Em seguida, os carrapatos são mergulhados em soluções de carrapaticidas com a mesma proporção utilizada diretamente nos animais por 5 minutos. Após os 5 minutos, os carrapatos são retirados da solução, secados e armazenados em placas de Petri, sendo levados a estufa onde as teleóginas ficarão por 2 semanas, como proposto por DRUMMOND et al. (1973). As fêmeas são então descartadas e os ovos são pesados e colocados novamente na estufa até que ocorra a eclosão, que equivale a aproximadamente 20 dias. Após a eclosão, é estimado um valor visual que, posteriormente, será utilizado para a realização do cálculo de eficácia do produto (Esquema 1).
Após o cálculo de eficácia do carrapaticida, é possível identificar a resistência dos carrapatos as bases químicas disponíveis no mercado. 3,4,5,8 Segundo CHAGAS et al. (2003), há também o efeito que os solventes por si só possuem com relação a mortalidade das teleóginas e na ação residual que atingem os ovos e larvas dos carrapatos. Em seu trabalho, foi identificado que solventes de baixo peso molecular e pouca viscosidade não interferem na mortalidade e eficácia média dos testes de sensibilidade. Dessa forma, a utilização desses solventes é essencial em pesquisas de novas bases químicas e produtos naturais já que, dessa forma, o resultado será o valor real da eficiência carrapaticida do produto testado. Esquema 1: cálculo de eficiência do carrapaticida proposto por Drummond et al. (1973). ER: reprodução estimada; EC: eficiência do carrapaticida. ER = peso ovos / peso das fêmeas x estimativa de eclosão em porcentagem x 20000. O valor 20000 é uma estimativa do número de larvas em 1g de ovos. EC = (ER grupo controle – ER tratado) / ER grupo controle x 100 CONCLUSÕES
Devido a crescente resistência dos carrapatos aos carrapaticidas disponíveis no mercado, o teste de sensibilidade é uma boa ferramenta na escolha da base química a ser utilizada no controle do carrapato em uma determinada propriedade, já que identificará o melhor produto por meio de testes de eficiência, onde avalia não só o efeito direto na teleógina como também na eclodibilidade dos ovos. BIBLIOGRAFIAS
7. GRISI, L. et al. Reassessment of the potential economic impact of cattle parasites in Brazil. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v. 23, n. 2, p. 150-156, 2014.
8. PEREIRA, M. de C. et al. Rhipicephalus (Boophilus) microplus: biologia, controle e resistência. São Paulo: MedVet, 2008.
9. FURLONG, J. Carrapato: problemas e soluções. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, p. 65, 2005.
10. FURLONG, J. et al. O carrapato dos bovinos e a resistência: temos o que comemorar. A Hora Veterinária, v. 27, n. 159, p. 26-32, 2007.
11. FURLONG, J.; SALES, R. O. Controle Estratégico de Carrapatos no Bovino de Leite: Uma Revisão. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v. 1, n. 2, p. 44-72, 2007.
12. DRUMMOND, R. O. et al. Boophilus annulatus and B. microplus: laboratory tests of insecticides. Journal Economic Entomology, College Park, v. 66, n. 1, p. 130-133, Feb. 1973.
13. CHAGAS, A. C. S. et al. Sensibilidade do carrapato Boophilus microplus a solventes. Ciência Rural, v. 33, n. 1, p. 109-114, 2003.
14. GOMES, C. C. G. Instruções para coleta e envio de material para teste de sensibilidade aos carrapaticidas ou biocarrapaticidograma. Comunicado Técnico, v. 76, 2010.
APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
101
TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO EM CÃES: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.
Jéssica Ferreira Luz1*, Bruna de Oliveira Corrêa ¹, Gabriel Almeida Dutra ². 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
² Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, é notório o crescimento dos estudos comportamentais dos animais domésticos. ¹ A relação cada vez maior entre cães e o homem, tem despertado na medicina veterinária um olhar crítico dos profissionais, tornando imprescindível a avaliação do bem-estar e saúde, a partir de estresses, traumas físicos ou ansiedade, aos quais o animal possa ter sido submetido. Um distúrbio comportamental cada vez mais frequente é o chamado transtorno obsessivo compulsivo, caracterizado por ações repetidas, constantes e sem propósito aparente, como por exemplo, correr atrás da própria cauda e abocanhar objetos imaginários. ¹
Diante do exposto, tem-se como objetivo abordar em uma revisão de literatura o que se sabe sobre o diagnóstico e tratamento deste transtorno nos animais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram pesquisados e utilizados artigos do Google Acadêmico, Scielo e Google Acadêmico. Os critérios para seleção da bibliografia basearam-se em documentos confiáveis e coerentes com as informações vistas em todas as literaturas. REVISÃO DE LITERATURA
O transtorno obsessivo compulsivo é um distúrbio comportamental cada vez mais frequente, caracterizado por ações repetidas, constantes e sem propósito aparente. ² As causas do transtorno compulsivo podem ser de origem genética, médica ou até mesmo comportamental. ² As desordens compulsivas em cães são divididas em locomotoras, alucinatórias, automutilantes e orais, onde as principais alterações envolvem a perseguição da cauda, observação de luz e sombra, mordedura de ar e moscas, elevada sucção do flanco, apetite depravado, ataques a objetos inanimados, lambedura e mordedura de objetos dos proprietários4. É válido ressaltar que existe uma grande variação desses comportamentos em diferentes animais5. O diagnóstico é baseado na observação de comportamento, feita de preferência no local onde o animal vive, observando sua rotina diária, histórico detalhado, incluindo informações acerca do desenvolvimento do problema, histórico de toda a vida do animal. ¹ A queixa principal do proprietário nem sempre é a alteração comportamental, onde tal problema é identificado e tratado antes da desordem psicológica. Durante a anamnese, deve haver uma atenção especial para situações onde ocorra a quebra de rotina, onde os animais possam estar expostos a situações de ansiedade e medo. Muitos tutores cometem erros comuns, como repressões e punições, o que acarreta situações estressantes aos animais. ³ O tratamento pode ser comportamental e medicamentoso. O comportamental, primeiro, deve-se eliminar os fatores desencadeantes do comportamento. O trabalho deve ser feito com dessensibilização para situações de estresse. A distração, como um barulho para tirar o cão da situação deve ser feita, sem interatividade, pois, muitas vezes esses comportamentos são desencadeados por uma busca de atenção por parte do animal6. O enriquecimento ambiental pode ser feito, nos casos dos cães, com brinquedos e comidas. Brinquedos como bolas comuns, até quebra-cabeças são usados para estimular os cães a gastarem sua energia. Esses brinquedos podem ser
feitos com materiais baratos como garrafas PET recheadas com alimento (FIG.1). É essencial o animal passear, pois, o passeio gasta energia excedente do animal, além de melhorar a qualidade de vida, tanto do animal, quanto do seu tutor. ² Há também o tratamento medicamentoso, com antidepressivos tricíclicos, que bloqueiam a captação de noradrenalina e serotonina pelas terminações nervosas. Como efeitos colaterais, observa-se aumento da frequência cardíaca, midríase, entre outros. Outro medicamento utilizado são os inibidores da recaptação de serotonina, como, por exemplo, a fluoxetina, que atuam de maneira a inibir a receptação pré-sináptica de serotonina e noradrenalina, ou seja, aumentam a concentração de serotonina centralmente, além de bloquear receptores de acetilcolina, dopamina e noradrenalina. O início da ação varia de 2 a 6 semanas. ¹ Figura 1: Enriquecimento ambiental com garrafa pet recheada com alimento.
Fonte: www.amigoholistico.blogspot.com CONCLUSÕES
Os comportamentos compulsivos interferem na qualidade de vida dos cães, por isso é muito importante que o diagnóstico seja descoberto rapidamente, para que seja feito o tratamento e o prognóstico seja melhor. Cada caso deve ser analisado particularmente pelo Médico Veterinário. BIBLIOGRAFIAS 1. FERREIRA, Tiago Cunha; DE SOUSA, Carmen Vládia Soares; COSTA, Paula Priscila Correia. Transtorno Obsessivo Compulsivo em cães e gatos. Revista de Ciência Veterinária e Saúde Pública, v. 3, n. 1, p. 37-43, 2016. 2. PERUCA, Juliana. Comportamento compulsivo em cães. 2012. 3. TYNES, V.V; SINN, L. Abnromal repetitive behaviors in dogs and cats : a guide for practioners . Veterinary Clinics of North America, v.44, p543-564, 2014. 4. LANDSBERG, G.; HUNTHAUSEN, W.; ACKERMAN, L. Problemas Comportamentais do cão e do gato, 2ª ed. Roca. São Paulo, 492 p. 2005. 5. BECUWE-BONNET, V.; BÉLANGER, M.; FRANK, D. Gastrointestinal disorders in dog with excessive licking of surfaces. Journal of Veterinary Behavior, v.7 , p.194-204, 2012. 6- TELHADO, J.; DIELE, C.A.; SOUZA, M.A.F.; DE MAGALHÃES, L.M.V.; CAMPOS, F.V. Dois casos de transtorno compulsivo em cão. Revista FZVA Uruguaiana. V.11, n.1, p.146-152, 2004.
APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
102
TRATAMENTO DE CATARATA EM ANIMAIS DE COMPANHIA
Jade Caproni Corrêa1*, Ranielle Stephanie Toledo Santana¹, Daniel da Silva Rodrigues¹, Luara Mara Groia Martins¹, Pollyana Marques e Souza¹, Rodrigo de Castro Valadares², Rubens Antônio Carneiro 3.
1Graduando em Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Médico veterinário do Hospital veterinário da UFMG – UFMG. Belo Horizonte – MG – Brasil 3 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O cristalino é a estrutura ocular responsável pela acomodação visual e por focalizar o feixe luminoso na retina, sendo composto por, em média, 35% proteínas, 65% água e alguns minerais. A catarata ocorre quando há coagulação dessas proteínas lenticulares, o que causa opacificação do cristalino e de sua cápsula, seja ela anterior ou posterior, dificultando a chegada dos feixes luminosos na retina, sendo uma das principais causas de cegueira ou baixa acuidade visual em cães.1, 2
Diversas enfermidades oculares podem ocorrer de forma secundária a catarata não tratada, como: uveíte, glaucoma, atrofia progressiva da retina, luxação, subluxação de cristalino, sinéquias e phthisis bulbi.1
A cirurgia para a retirada da lente alterada com substituição ou não por uma lente artificial é o único tratamento existente para a enfermidade. Algumas complicações no trans e no pós operatório na cirurgia de catarata podem ocorrer. Sendo assim, a realização dos exames pré operatórios corretos para a avaliar se o paciente está apto ao procedimento bem como o uso de adequados cuidados pré e pós-operatórios reduzem a probabilidade de intercorrências.1, 3
O presente trabalho tem como objetivo dissertar sobre o tratamento da catarata, bem como os cuidados necessários no pré e no pós operatório necessários para se obter melhores resultados.
MATERIAIS E MÉTODOS
O seguinte estudo foi realizado por meio de uma revisão literária de artigos e leituras complementares destinados a catarata. Os trabalhos foram selecionados em grau de relevância. REVISÃO DE LITERATURA
A transparência típica do cristalino só é possível devido ao arranjo altamente organizado das células fibrosas lenticulares, do citoplasma de baixa densidade e ausência de organelas e núcleo em suas fibras.1
A catarata está relacionada com o aumento da atividade de enzimas hidrolíticas e proteolíticas que coagulam as proteínas lenticulares. Além disso, há ruptura das membranas celulares o que aumenta a concentração de água e leva a um desarranjo das células fibrosas. Como este arranjo é um dos mecanismos de transparência da lente ela torna-se gradualmente opaca e esbranquiçada.1, 2
A classificação mais utilizada para catarata em medicina veterinária é quanto ao estágio de desenvolvimento, podendo ser classificada como incipiente, imatura, madura e hipermadura. O ideal é que a cirurgia seja feita no estágio imaturo, quando já há prejuízos na acuidade visual, mas geralmente, ainda não há uveíte e atrofia progressiva de retina, sendo que as taxas de sucesso da cirurgia são maiores nas cataratas imaturas do que nas maduras.2, 3, 4
Constantemente há formação de novas fibras no equador da lente que fazem com que células mais velhas sejam forçadas em direção ao núcleo, tornando-o mais denso. Este processo natural do envelhecimento do cristalino que aparece em animais acima de 6 anos de idade é denominado esclerose nuclear e se apresenta como uma turvação branco azulada ou azul acinzentada que não prejudica o processo visual e portanto não precisa ser tratado, mas pode ser confundido
com catarata. O diagnóstico diferencial é feito por meio do uso de midriáticos e retroiluminação.1, 2, 3, 4
Como o único tratamento disponível para catarata é cirúrgico alguns exames pré-operatórios devem ser solicitados para avaliar se o paciente está apto ao procedimento. A opacidade causada pela catarata impede a avaliação do segmento posterior do olho pela oftalmoscopia, sendo assim é necessário a realização do ultrassom ocular com o objetivo de avaliar a existência ou não de alterações anatômicas que possam comprometer o resultado do tratamento e também para que seja medido com precisão o tamanho da lente artificial a ser adquirida. Deve ser realizado o exame de eletrorretinografia para avaliação da atividade elétrica da retina, sendo considerados inaptos aqueles animais que apresentarem sinais de atrofia progressiva da retina, já que o prognóstico visual desta condição é desfavorável. Animais que não permitem manipulação intensa ou com outras afecções oculares não são candidatos ao procedimento. Caso houver uveíte lente induzida ou hiperglicemia estas devem ser controladas antes da intervenção cirúrgica.1, 2, 4 A preparação pré operatória consiste no uso de colírios midriáticos como a atropina 1% quatro vezes por dia, três dias antes do procedimento com o intuito de facilitar as manobras cirúrgicas. Além disso, deve ser utilizado também com três dias de antecedência a associação de colírios anti inflamatório e antibiótico quatro vezes ao dia. As técnicas mais utilizadas em medicina veterinária são: facoemulsificação, facectomia extracapsular, facectomia intracapsular e aspiração-dissecação.1, 2, 4 Durante o procedimento algumas intercorrências podem ocorrer sendo as mais comuns: miose, prolapso de íris, hemorragias intraoculares e expansão do vítreo. Logo após a cirurgia deve ser receitado o uso de colírio a base de corticoide por pelo menos seis semanas, visto que as proteínas da lente são imunogênicas. Recomenda-se o uso de atropina a 1% para prevenção de sinéquias e conforto ocular e antibiótico tópico de 4 a 6 vezes por dia, ambos por 3 a 6 semanas. As possíveis complicações no pós-operatório incluem: uveítes, hipertensão intra ocular transitória, edema corneano, sinéquia, endoftalmite, opacificação da cápsula posterior da lente e descolamento de retina.1, 2, 4
CONCLUSÕES
O tratamento cirúrgico da catarata tem como objetivo a recuperação da visão do paciente. Sendo assim, é necessário fazer uma adequada avaliação pré-operatória, bem como tomar os devidos cuidados pré, trans e pós operatório para que melhores resultados sejam obtidos. BIBLIOGRAFIAS 1. SILVA, Taciana de Melo Fernandes. Catarata em cães: Revisão de literatura. PUBVET, v. 4, p. Art. 717-722, 2010. Acesso em: 15 março 2020. 2. CUNHA, Olicies. Manual de Oftalmologia Veterinária. Palotina: UFPR, 2008. 3. VIANA, Fernando A. Bretas. Manual de Oftalmologia Veterinária. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 4. CAMARATTA, Priscila da Rosa. Catarata em cães. 2009. Acesso em: 17 março 2020.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
103
TRATAMENTO DE FERIDA COM ÓLEO OZONIZADO EM DASYPUS NOVEMCINCTUS
Thamiris Almeida de Paula Freitas1*, Inaiá Ramirez Tupinambás², Angélica Maria Araújo e Souza³, Pedro Henrique Cotrin Rodrigues³, Hallana Couto e Silva4, Daniel Ambrózio da Rocha Vilela5 Thiago Lima Stehling 6
1Graduanda em Medicina Veterinária – Faculdade Arnaldo – Belo Horizonte – MG – Brasil / [email protected]* 2Médica veterinária - PUC – Betim – MG – Brasil
³Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil 4 Graduanda em Medicina Veterinária – Centro Universitário Newton Paiva – Belo Horizonte – MG – Brasil
5 Analista Ambiental – IBAMA – Belo Horizonte – MG/Professor do Departamento de Medicina Veterinária – Faculdade Arnaldo – Belo Horizonte – MG – Brasil 6 Analista Ambiental – Instituto Estadual de Florestas (IEF) – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O ozônio é um gás com alto poder de oxidação e a ozonioterapia pode ser utilizada no tratamento de diversas patologias. Para feridas cutâneas e lesões isquêmicas, utiliza-se a aplicação tópica de óleos ozonizados, provando ser efetivo, principalmente, para desinfecção e cicatrização das
feridas¹. No tratamento de feridas cutâneas, sua ação é
observada, devido à redução da infecção bacteriana, modulação da inflamação, estimulação da angiogênese¹ e geração de um estresse oxidativo, promovendo um processo antioxidante e cicatrizante pelo organismo².
Vista como terapia alternativa, é viável pelo baixo custo e ausência de efeitos adversos em seu uso tópico na forma de óleo ozonizado².
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Um indivíduo da espécie Dasypus novemcinctus, popularmente conhecido como Tatu-galinha, deu entrada no CETAS-BH no dia 02/01/20, encaminhado pela clínica veterinária Zoovet, após receber primeiros socorros, com suspeita de atropelamento. O animal apresentava um quadro de dor moderada, apatia, diarreia, hemorragia nasal, melena, desidratação, dispneia moderada e laceração do casco, na região lateral direita do último escudo caudal, próximo ao membro posterior direito, além de lesões na cabeça, na altura da fronte e no dorso do animal (Figura 1). Foi realizada radiografia para descartar a suspeita de fraturas, sendo observada a integridade óssea do esqueleto do animal.
O tratamento inicial tinha como foco a estabilização do paciente, sendo utilizados analgésicos, anti-inflamatório, antibiótico, fluidoterapia, anti-hemorrágicos e suplemento vitamínico. Para as lesões cutâneas, foi realizada limpeza diária com soro fisiológico e clorexidine degermante. Além disso, optou-se pela utilização do óleo de girassol ozonizado via tópica, devido a sua ação bactericida, antiviral e antifúngica. Após melhora clínica da dor e ausência de sangramento, no dia 5 do tratamento, suspendeu-se o uso de analgésicos e anti-hemorrágicos, seguindo apenas com o uso de antibiótico por mais 3 dias e o óleo ozonizado via tópica.
Após 8 dias de tratamento com o óleo, a ferida já apresentou um bom aspecto evolutivo, havendo reepitelização do tecido lesado, ausência de secreções purulentas e cicatrização das áreas de lesões, porém o tratamento se estendeu por 26 dias, quando as feridas já se encontravam quase que completamente cicatrizadas, não apresentando sinais de infecções ou outras complicações (Figura 2), possibilitando o retorno do animal para a natureza.
Figura 1: Feridas cutâneas no primeiro dia de tratamento: A - Ferida na altura da fronte. B - Ferida dorsal. C - Ferida na região
lateral direita.
Figura 2: Feridas cutâneas 6 dias após início do tratamento. A - Ferida na altura da fronte cranial. B - Ferida no dorso. C - Ferida na
região lateral direita.
A utilização do óleo ozonizado como terapia ainda é restrita e pouco estudada na clínica veterinária³, no entanto, estes resultados experimentais preliminares podem indicar sua adequação como suporte no tratamento deste tipo de lesão em animais silvestres, mais especificamente em tatus do gênero Dasypus. CONCLUSÕES
Após avaliação quadro clínico do animal, constatou-se que o tratamento utilizado, contendo óleo ozonizado, foi efetivo para a boa evolução e perfeita cicatrização das feridas, uma vez que não foram detectadas complicações comuns neste tipo de afecção, como infecções oportunistas ou necrose tecidual. BIBLIOGRAFIAS
1. Anzolin AP, Silveira-Kaross NL, Bertol CD. Ozonated oil in wound healing: what has already been proven? Med Gas Res. 2020;10(1):54-59.
2. SILVA, José Ivaldo Siqueira Jr. Ozonioterapia em ferida contaminada de canídeo (Canis lupus familiaris) – Relato de caso. UniFran, 2018. Investigação. Disponível em: <http://publicacoes.unifran.br/index.php/investigacao/article/view/2738>. Acesso em: 24 de abril de 2020, às 14:13.
3. SANCHEZ, Camila Maria Sene. A utilização do óleo ozonizado para o tratamento tópico de lesões em porquinho da índia (Cavia Porcellus) - Relato de caso. 2008. 38 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização em Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Selvagens, Universidade Castelo Branco, Itatiba, 2008.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
104
TRÍADE DE VIRCHOW
Luigi Paolo Vieira de Freitas1*,Ranielle Stephanie Toledo Santana¹, Jade Caproni Corrêa¹, Isabela Fernandes dos Santos¹, Rubens Antônio Carneiro2
1Graduando em Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Clínica e cirurgia veterinárias –UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A tríade de Virchow está relacionada aos fatores que compõem a etiologia e patogenia da formação de trombos, que inclui, hipercoagulabilidade, alteração do fluxo sanguíneo, que pode ser venoso ou arterial e lesão vascular endotelial. Conhecer esses fatores relacionados ao tromboembolismo, capacita o médico veterinário a formar estratégias de profilaxia quanto a formação de trombos, pois a tromboembolia se trata de uma condição subestimada e requer reconhecimento imediato, pois apresenta risco de vida e
é necessária uma abordagem diagnóstica e terapêutica agressiva.1,2
MATERIAIS E MÉTODOS
O Seguinte estudo foi realizado por meio de uma revisão literária de artigos e leituras complementares relacionadas à tríade de Virchow. REVISÃO DE LITERATURA
O tromboembolismo em pequenos animais se trata da obstrução completa ou parcial de um vaso sanguíneo por trombos. O conjunto dos fatores que resultam na formação de um trombo são chamados de tríade de Virchow, que é o resultado de ao menos um de três fatores etiológicos: lesão vascular endotelial, hipercoagulabilidade sanguínea e estase venosa. A estase sanguínea e a lesão da parede do vaso levam a agregação plaquetária desencadeando a cascata de coagulação, assim como os componentes celulares e proteínas, resultando na formação de um trombo intravascular. Vale ressaltar que, apesar da estase venosa ser o mais comum, a hipertensão arterial também pode ativar a formação de trombos devido a dano vascular, que podem ser tanto arteriais como venosos.1,3,4
Figura 1: Fatores que resultam na formação de um trombo. Adaptado de Symons et al., 2001
Existem muitos processos patológicos que podem resultar na tríade de Virchow e consequentemente aumentar o risco de tromboembolismo em cães e gatos. As complicações tromboembólicas em felinos, é uma condição que está bem definida na literatura, ocorrendo frequentemente em gatos com cardiomiopatia hipertrófica. Contudo, flebite pré-existente, síndrome nefrótica, anemia hemolítica imune mediada, trauma grave e quaisquer distúrbios que causam inflamação sistêmica podem levar a formação de trombos.2,5,6
A cateterização venosa, assim como a punção arterial são um fator de risco para a formação de trombos, pois com o cateterismo podem ocorrer trombos no próprio cateter ou entre o cateter e parede do vaso. Esses trombos podem desprender-se da parede do vaso e se tornarem êmbolos na circulação. O risco da formação de trombos é maior nas veias com baixo fluxo e pequeno calibre ou em cateterizações próximas a articulações móveis5,2
Contudo, quando esses trombos são maiores, podem levar a oclusão parcial ou total de um vaso sanguíneo, resultando em em dor, perda de função, isquemia e necrose e, podem ser fatais5 A trombose associada a uma região, por exemplo, no membro posterior, pode resultar em claudicação, palidez, extremidades frias, dor e perda de função do membro. O tratamento inclui analgesia, o uso de medicamentos tromboembóliticos e em casos de necrose, a intervenção cirúrgica pode ser necessária.5 CONCLUSÕES
Através da revisão da literatura abordada, conclui-se que o
tromboembolismo é multifatorial. Logo, conhecer os fatores de risco para a formação de trombos pode aumentar a atenção dos médicos veterinários em relação a ocorrência nos animais internados, submetidos a cirurgias e/ou nos animais predisponentes e, dessa forma formar estratégias de profilaxia que consiste no tratamento efetivo da doença primária, o rápido retorno a movimentação e a remoção imediata de cateter intravenoso desnecessário. BIBLIOGRAFIAS
1. Rassam E, Pinheiro TC, Stefan LFB, Módena SF. Thromboembolic
complications in surgical patients and its prophylaxis. ABCD Arq Bras Cir Dig 2009;22(1):41-4
2. KONECNY, F. Thromboembolic Conditions, Aetiology Diagnosis and Treatment in Dogs and Cats. Acta Vet Brno, 79, 47-508.2010
3. Paloma Maria Assumcion Pinto,Kauanna Alves Teixeira, Marcos Antonio Solle Antunes, Ana Laura D’Amico Fam. Tromboembolismo Arterial em Cão com Doença Renal Crônica - Relato de Caso, Revista Eletrônica Biociências, Biotecnologia e Saúde, Curitiba, n. 15, maio-ago. 2016.
4. Martins HS, Damasceno MCT, Awada SFCB – Tromboembolia Pulmonar. Emergências Clínicas, 439-55, 2006.
5. Trent, K. B. (2018). Venous Access. Veterinary Technician’s Manual for Small Animal Emergency and Critical Care, 35–43. doi:10.1002/9781119536598.ch3
6. GONÇALVES R., PENDERIS J., CHANG Y.P. et al. Clinical and neurological characteristicsof aortic thromboembolism in dogs. Journal of Small Animal Practice. v.49, n.4,p.178-184, 2008
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
105
TRIPANOSSOMOSE POR T. EVANSI EM EQUINOS: REVISÃO DE LITERATURA
Ana Luiza C. Monteiro1*, Frederico E. Campos², Luisa B. e Souza¹, Priscilla M. de Almeida¹, Ana Luísa Soares de Miranda2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
As doenças parasitárias têm atormentado o homem e seus animais domésticos desde os tempos mais remotos. Dentre as hemoparasitoses nos equídeos está a tripanossomose por Trypanosoma evansi que afeta principalmente equinos. A prevalência da afecção varia de região para região e apresenta altos índices de mortalidade. 1,2
O T. evansi pode ser transmitido por insetos hematófagos e por morcegos hematófagos. A hemoparasitose causada por T. evansi apresenta os seguintes sinais clínicos: perda de peso em pouco tempo, anemia, febre intermitente, edema dos membros pélvicos e fraqueza progressiva. Os animais acometidos podem ir a óbito dentro de semanas ou meses, mas também podem ocorrer infecções crônicas com evolução de muitos meses. Sinais neurológicos centrais raramente
acontecem na fase terminal. Para o diagnóstico da
tripanossomose podem ser utilizados exames parasitológicos, imunológicos e moleculares 1,3
O presente trabalho tem o intuito de realizar uma revisão de literatura acerca da hemoparasitose por T. evansi em equinos, incluindo a sua etiologia, sinais clínicos e possíveis tratamentos.
MATERIAIS E MÉTODOS
A revisão de literatura foi baseada em trabalhos, revistas e artigos acadêmicos voltados à tripanossomíase, utilizando como palavras-chave para a busca: hemoparasitose; tripanossomíase; equinos; Trypanossoma evansi; protozoário. REVISÃO DE LITERATURA
O Trypanosoma evansi, agente etiológioco da Tripanossomose, é um protozoário da classe Mastigophora, transmitido mecanicamente de um hospedeiro mamífero a outro pela alimentação interrompida de insetos picadores através da inoculação de tripanossomas por meio da saliva dos vetores, principalmente tabanídeos e Stomoxys sp. A hemoparasitose apresenta ampla distribuição geográfica e acomete animais domésticos em algumas regiões do Brasil como, por exemplo, o Pantanal Sul Matogrossense, onde sua incidência assume um caráter endêmico e afeta, principalmente, equinos. 4 A anemia é uma das principais alterações clínicas da infecção por T. evansi em cavalos, porém sua patogênese ainda não é esclarecida. Estudos sugerem que a anemia não ocorre devido à lesão de medula óssea, mas sim pela destruição dos eritrócitos³. Outros sinais clínicos observados são: emagrecimento progressivo, apesar dos animais apresentarem apetite voraz; letargia, incoordenação, instabilidade e atrofia dos membros pélvicos, dificuldade para levantar, fraqueza muscular e palidez das mucosas. Em casos crônicos uma sintomatologia de caráter neurológico pode ser observada com sinais de ataxia, andar em círculos, hiperexcitabilidade, cabeça inclinada, headpressing e movimentos de pedalagem. Outros sinais como febre intermitente, lacrimejamento e aborto também são relatados. 4,5 No hemograma a principal alteração sanguínea em animais infectados é a anemia acentuada. No hemograma em equinos observa-se hematócritos baixos e baixa produção de hemoglobina e eritrócitos totais. Os eritrócitos ainda podem
sofrer alteração no seu formato. A anemia intensa é seguida por um pico de parasitemia. 6 As alterações leucocitárias associadas a essa patologia não são consistentes, uma vez que o valor total de leucócitos é variável. Em casos de leucopenia há a diminuição dos neutrófilos. No geral não há alterações monocitárias, eosinofílicas e basofílicas. Os animais infectados também apresentam proteínas totais dentro dos valores considerados normais. A ocorrência de alteração dessas é devido ao aumento das globulinas séricas. Nas alterações macroscópicas são encontradas palidez de mucosas, emaciação, esplenomegalia com hiperplasia da polpa branca, linfadenomegalia, hepatomegalia, hidropericárdio, congestão e hemorragia pulmonar.6
O tratamento da doença baseia-se na junção de drogas tripanocidas, quais sejam: suramina, diminazene, quinapiramina, melarsoprol, homidium e isometamidium. Vale ressaltar que essas são escolhidas e dosadas de acordo com o quadro apresentado, ao estado de cronicidade da doença e pela preferência do veterinário. O tempo de recuperação está diretamente ligado ao estado nutricional e a duração da doença. 6 Estudos mostram que o Aceturato de Diminazene é o medicamento mais usado em casos de tripanossomose em animais domésticos. O diagnóstico de tripanossomíase por T. evansi é baseado nos dados epidemiológicos, clínicos, hematológicos, patológicos e tratados devidamente correlacionado à sua gravidade e local de infecção juntamente a tratamento de suporte. 6 CONCLUSÕES
A Tripanossomose em Equinos é uma afecção que gera um impacto direto na produção de equídeos, pois é uma doença que tem um alto índice de mortalidade. Suas manifestações clínicas juntamente aos achados microscópicos e macroscópicos são imprescindíveis para levar ao diagnóstico. O tratamento dessa enfermidade é tratamento suporte aos sintomas juntamente aos medicamentos diretamente ligados a doença. BIBLIOGRAFIAS
1. RODRIGUES, Aline et al. Surtos de tripanossomíase por Trypanosoma evansi em eqüinos no Rio Grande do Sul: aspectos epidemiológicos, clínicos, hematológicos e patológicos. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 25, n. 4, p. 239-249, 2005.
2. RODRIGUES, Aline et al. Infecção natural por Trypanosoma evansi em equinos. 2006. 127 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Universidade Federal de Santa Maria.
3. SILVA, RAMS et al. Trypanosoma evansi e trypanosoma vivax: biologia, diagnóstico e controle. Embrapa Pantanal-Livro científico (ALICE) , 2002.
4. DA SILVA, Aleksandro Schafer et al. Tripanossomose em equinos na região sul do Brasil. Acta Scientiae Veterinariae, v. 38, n. 2, p. 113-120, 2010.
5. ZANETTE, Régis Adriel et al. Ocorrência de Trypanosoma evansi em eqüinos no município de Cruz Alta, RS, Brasil. Ciência Rural, v. 38, n. 5, p. 1468-1471, 2008.
6. MONZON, C.M. et al. Estudios hematologicos en cobayos y equinos infectados con el Trypanosoma evansi (Steel 1885). Veterinaria Argentina, v.8, n.80, p.668-676, 1991.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
106
UM EQUINO CRIPTORQUIDA DEVE SER RETIRADO DA REPRODUÇÃO?
Karen Machado Magalhães¹, Jéssica Cordeiro Guedes1, Bruna Pereira da Silva1, Gabriel Almeida Dutra2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O criptorquidismo em equinos é uma patologia caracterizada pela falha da progressão testicular para a bolsa escrotal1. A afecção pode manifestar-se uni ou bilateralmente e os testículos podem ficar retidos na cavidade abdominal ou no canal inguinal2. Equinos acometidos mantêm a produção de testosterona e apresentam comportamento de garanhões3. Apesar disso, os testículos retidos não produzem espermatozoides2.
É importante ter conhecimento sobre a afecção para que equinos acometidos não sejam destinados à reprodução, uma vez que os fatores interferem na funcionalidade do sistema reprodutivo4.
O presente trabalho tem como objetivo reunir informações sobre o criptorquidismo em equinos e ressaltar a importância destes animais na reprodução.
MATERIAIS E MÉTODOS
As informações utilizadas para a realização da revisão de literatura foram obtidas por meio de livros e artigos de revistas científicas. Para a busca foram utilizadas palavras chaves como criptorquidismo, equinos e reprodução.
REVISÃO DE LITERATURA
Os testículos dos potros, ao nascimento, podem ficar retidos na bolsa escrotal, tornando-os predispostos a serem considerados criptorquidas quando atingirem de dois a três anos de idade4. Os animais, ao serem examinados através da palpação do escroto, palpação transretal e/ou exame ultrassonográfico transretal, são diagnosticados como criptorquidas uni ou bilaterais e também se os testículos encontram-se na cavidade abdominal ou inguinal5. Os testículos retidos, visualizados macroscopicamente, tem um tamanho reduzido, apresentam alteração na consistência e apresentam uma coloração mais escura. Microscopicamente, os túbulos seminíferos são menores e possuem um número reduzido de camadas de células espermatogênicas como pode ser observado na figura 1.5 A gônada retida no abdômen se encontra em uma temperatura mais elevada devido à falta da regulação térmica o que provoca uma falha na produção espermática4. Apesar de não haver produção de espermatozoides, as células espermatogênicas não são comprometidas e continuam a produzir testosterona3. É importante frisar que equinos criptorquidas bilaterais são considerados inférteis, apresentam libido aumentada e comportamento mais agressivo devido à produção de testosterona4. Entretanto, estudos não comprovam essa informação, mas na rotina observa-se o fato em garanhões acometidos6. O testículo retido em equinos criptorquidas unilaterais é hipoplásico (FIG. 2), possui uma consistência amolecida, falha no crescimento e no desenvolvimento funcional4. Como apenas uma das gônadas migra para o escroto destes animais, eles são considerados subférteis e a orquiectomia é indicada, devido à ocorrência de neoplasias e por tratar-se de uma patologia com alta indicação de hereditariedade, supostamente vinda de um gene dominante na espécie equina 4,5.
Figura 1: Lâmina histológica característica de testículo hipoplásico. Na lâmina em questão, indicado pela seta, é possível observar túbulos seminíferos com rarefação de células da linhagem espermática e presença de espermatozoides apenas ao redor dos túbulos.
Fonte: BATISTA & de MOURA (2017).
Figura 2: Comparação entre testículo retido (A) e testículo normolocalizado (B).
Fonte: BATISTA & de MOURA (2017).
CONCLUSÕES
Após a revisão de literatura conclui-se que o criptorquidismo é uma patologia que ocorre com frequência na espécie equina. Por tratar-se de uma afecção hereditária e com alto risco de desenvolvimento de neoplasias de tumores em equinos acometidos, a orquiectomia é indicada para minimizar os problemas causados pela afecção e evitar que esses animais tornem-se reprodutores e propaguem o gene predisponente para futuras gerações. BIBLIOGRAFIAS 1. Hafez, B; Hafez, E. S. E. Reprodução animal. 7 ed. Barueri: Manoele, 2004. p 313. 2. Batista, A. S. G., & de Moura, A. J. O. L. (2017). Criptorquidismo unilateral em equino: Relato de caso. Saber Digital, 9(2). 3. Auer, J. A., Stick, J. A. Equine Surgery. 3. ed. Saunders, 2006. p. 775-810. 4. Thomassian, A. Enfermidades dos Cavalos. 4 ed. São Paulo: Livraria Varela, 2005. p. 238-240. 5. Cattelan, J. W., Barnabe, A. P., Toniollo, H. G. & Cadioli, A. F. Revista CFMV – Brasília/ DF – Ano X, n 32, p. 44-54, 2004. 6. Pedro, A. H. L., Dias, F. G. G., Casas, V. F., Malta, C. A. S., & Pereira, L. F. (2016). Criptorquidismo em Equinos. Investigação 15(1).
%
Subtipo
2013
2014
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
107
USO DE CÉLULAS-TRONCO NA TERAPÊUTICA DE LESÕES MEDULARES EM CÃES
Bárbara Figueiredo de Assis Almeida1*, Izabella Machado Vilaça1, Roberta Renzo2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Recentemente, o transplante de células-tronco tem sido considerado uma opção promissora para o tratamento de distúrbios neurológicos, incluindo lesões medulares agudas e crônicas1. Considera-se como célula-tronco um tipo de célula que possui capacidade de se renovar e originar diferentes tipos celulares especializados, por isso também são chamadas de progenitoras, não possuindo nenhuma função específica até que essa receba um sinal do ambiente, direcionando-a a diferenciação em uma célula especializada2. Estudos já utilizaram células-tronco neurais como fonte celular para a regeneração do sistema nervoso, no entanto, devido à sua disponibilidade limitada, fontes alternativas para o transplante de células-tronco, tais como embrionárias e células-tronco adultas também têm sido estudadas. As células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo (CTDAs) podem ser facilmente obtidas, expandidas in vitro e diferenciadas em fenótipos neuronais na medula espinhal, e desta forma, podem ser uma boa opção terapêutica para cães com lesão medular1. O objetivo deste estudo foi revisar trabalhos sobre a efetividade do uso de células tronco para o tratamento de enfermidades medulares agudas e crônicas em cães. MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo constitui-se de revisão de literatura de artigos científicos publicados em linguagem nacional e estrangeira com intervalo de publicação de 2012 até a presente data. Os critérios de inclusão para os estudos foram análise de dados obtidos através de estudos a respeito da utilização de células tronco em lesões medulares. REVISÃO DE LITERATURA
Estudos demonstraram que algumas células, particularmente as células mesenquimais, modulam o estresse oxidativo e secretam citocinas e fatores de crescimento que têm efeitos imunomoduladores, anti-inflamatórios, angiogênicos e antiapoptóticos. São essas características que fazem com que esse tipo celular sejam candidatas ao avanço das técnicas atuais em cirurgia da coluna vertebral e ao fornecimento de novas estratégias direcionadas às causas subjacentes das doenças e distúrbios da coluna vertebral para assim promover o reparo de matriz e regeneração.1,3Os subtipos de células-tronco diferem em seu potencial de linhagem, sendo descritos como totipotentes, pluripotentes ou multipotentes, sendo esta última o caso das células-tronco mesenquimais (CTM), utilizadas nos presentes estudos.3As CTM, têm a capacidade de se diferenciar em tecidos, incluindo ossos e cartilagens e de dar origem a vários outros tipos de células, mas em número limitado3,2.
Em estudos realizados, foram examinamos os efeitos terapêuticos do transplante autólogo de CTM da medula óssea em quatro cães com lesões traumáticas naturais da medula espinhal. As suspensões celulares foram preparadas e administradas cirurgicamente na medula espinhal. Dez dias após o procedimento cirúrgico foi observado recuperação progressiva do reflexo do panículo e diminuição da resposta superficial e profunda à dor, embora ainda houvesse reflexos proprioceptivos baixos, além de um hiperreflexo nas respostas do movimento dos membros posteriores atáxicos. No 18º mês demonitoramento clínico, foi observado melhorado movimento, em três dos quatro cães, indicando
que as CTM são potenciais candidatos à terapia com células-tronco após lesão medular4. Outro estudo realizado em 7 cães adultos com lesão medular crônica toracolombar foi demonstrado que, 3 deles apresentaram o retorno do movimento voluntário da cauda, 4 desses animais obtiveram movimentação de algumas articulações e recuperação funcional de alguns grupos musculares mais craniais, movimentação na qual não era observada antes do procedimento. Em 2 dos animais foi observado melhora na propriocepção consciente, e que em determinados momentos foram capazes de apoiar e suportar o peso do próprio corpo. Em um dos animais foi observado flexão de ambos os membros para que o mesmo urinasse, e em um dos animais a retenção urinária melhorou de forma satisfatória5.
Fig.1:Coleta, cultura, diferenciação e aplicação de CTM da medula óssea de cães(A) e (B) Controle das culturas de
células em meio não indutor: (A)Primeiro dia de uma cultura. (B) Confluência celular após 15 dias de cultura.(C) Adipogénico diferenciação; Coloração
com óleo vermelho mostrando granulos de gordura citoplasmáticos no interior das células.(D) Diferenciação osteogênica, coloração vermelha mostrando deposição
dematriz mineralizada dentro de células-tronco.
Fonte:PENHA et al. (2014)
CONCLUSÕES
Os respectivos estudos demonstraram através dos resultados obtidos que as CTM são potenciais candidatos à terapia com células-tronco em cães após lesão medular. BIBLIOGRAFIAS 1. SILVA, Thais Gabrielle FSL et al. 2018. Avaliação sensitiva, motora e cistométrica de cães com lesão medular crônica, submetidos ao transplante de células-tronco mesenquimais derivadas de tecido adiposo. Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 38, n. 10, p. 1955-1965. 2. BERTASSOLI, Bruno Machado et al. 2013. Células-tronco mesenquimais de cães e gatos–uma revisão bibliográfica. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, v. 14, n. 9, p. 1-17. 3. GOLDSCGALAGER, Tony et al. 2013. Current and Future Applications for Stem Cell Therapies in Spine Surgery.Current stem cell research & therapy. 4. PENHA, Euler et al. 2014. Use of Autologous Mesenchymal Stem Cells Derived from Bone Marrow for the Treatment of Naturally Injured Spinal Cord in Dogs. Hindawai. StemCellsInternational. 5. SARMENTO, Carlos Alberto Palmeira. Utilização de células tronco da medula óssea de fetos caninos em cães adultos com lesão medular crônica toracolombar. 2012. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
108
USO DE DNA NO ESCLARECIMENTO DE CRIMES AMBIENTAIS
Luisa Andrade Azevedo¹, Angélica Maria Araújo e Souza¹, Helen Christine Alves de Magalhães Oliveira², Pedro Henrique Cotrin Rodrigues¹, Aldair Junio Woyames Pinto²
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
²Residente em Saúde Pública com Ênfase em Interface Saúde Humana e Silvestre – UFMG – Belo Horizonte/ MG – Brasil ² Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O Crime contra a Fauna vem crescendo cada vez mais e a convicção da impunidade e as altas taxas de lucros conquistadas com o comercio ilegal dessas espécies são razões para colaborar com a propagação dessa atividade ilícita Brasil e no mundo. A caça e comercialização ilegal de animais silvestres é uma ameaça às espécies nativas brasileiras, colocando em risco a biodiversidade e alterando ecossistemas, já que os animais passam a ser colocados em outros habitats e geram desequilíbrio na fauna. Assim, a tecnologia da biologia molecular tem sido empregada dentro da medicina veterinária forense para constatação e esclarecimentos de crimes ambientais.1 A identificação das espécies, através da genética, desempenha um papel fundamental na investigação do comércio ilegal de espécies silvestres, protegidas ou ameaçadas de extinção. Por isso, pesquisadores estão cada vez mais investidos no desenvolvimento de estratégias de codificação de DNA, envolvendo sequenciamento de códigos de barras e de marcadores moleculares para a identificação tanto de espécies1, quanto de possíveis autores de crimes ambientais.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi baseado em dados científicos pesquisados por meio das plataformas “Google Scholar” e “Scielo” utilizando as palavras de composição do título como palavras-chave. Foram selecionados artigos com autores distintos, em anos distintos. REVISÃO DE LITERATURA
O exame genético tem como intuito de sequenciar, através de análises filogenéticas, a amostra de dados de DNA, nesse caso, daquele que cometeu o crime ambiental.2 O fragmento, quando encontrado pelos órgãos de fiscalização ambiental no local do crime, é encaminhado ao laboratório forense autenticado.3 Dentro do cenário criminal, o DNA mitocondrial vem ganhando maior espaço por apresentar maior resistência à degradação devido à sua natureza circular e seu elevado número de cópias, o que é preponderante visto que a disponibilidade de vestígios geralmente é pequena.3 Essas análises forenses e conservacionistas podem, portanto, ser baseadas em exames de DNA com intenção de resolver problemas de âmbito jurídico-policiais relacionados à defesa da biodiversidade. A metodologia tradicional utilizada para análises forenses de DNA mitocondrial humano utiliza como marcadores genéticos as regiões hipervariáveis HVI e HVII da região controle ou D-loop e compreende o sequenciamento destas com posterior análise e interpretação.3 De acordo com as diretrizes para interpretação da sequência de nucleotídeos do DNA mitocondrial, os resultados podem ser agregados em três grupos: exclusão, inconclusivo e falha de exclusão. Se as sequências diferirem em dois ou mais nucleotídeos, uma exclusão pode ser feita. Se as sequências corresponderem uma à outra, as amostras não podem ser excluídas de serem da mesma pessoa ou da mesma linhagem materna. Para se determinar a significância dos resultados em que não se pode excluir a possibilidade das amostras apresentarem mesma origem ou mesma linhagem matrilínea é necessário verificar a frequência dos polimorfismos na população, assim busca-se determinar estatisticamente a frequência da
sequência, ou seja, a taxa de ocorrência da mesma, sendo estes cálculos baseados em banco de dados populacionais de DNA mitocondrial.4 Embora a região controle apresente alta taxa de porlimorfismo, a genética forense vem buscando aperfeiçoar o poder de discriminação da análise de DNA mitocondrial para a identificação humana através da análise de variações (polimorfismos) na região codificante do DNA mitocondrial, sendo o foco a caracterização de SNPs (single nucleotide polymorphisms), que são definidos como a presença de diferentes bases nitrogenadas em uma mesma posição na sequência de DNA.5,6 Os tipos de amostras que podem ser utilizadas no sequenciamento são pelos, ossos, dentes e fluidos corporais (saliva e sangue sendo os mais comuns). A preservação ou não das amostras, bem como idade e estado delas, são fatores que interferem na hora de escolher o método de sequenciamento a ser utilizado. Por exemplo, caso a amostra de pelo não tenha o bulbo capilar preservado, é recomendado o uso preferencial de vestígios de natureza óssea, considerando que os dois estejam disponíveis.3,6,7,8 CONCLUSÕES
O sequenciamento de DNA está ficando mais rápido e mais barato, permitindo o sequenciamento tanto do genoma mitocondrial, quanto do nuclear. Isso acaba sendo benéfico quando pensamos na perspectiva futura do uso de DNA na identificação de crimes contra a fauna silvestre. Além disso, o desenvolvimento tecnológico tem avançado rapidamente nos últimos anos, diminuindo ainda mais o custo que envolve o sequenciamento de DNA.5 Ao realizar o sequenciamento, se torna possível localizar o suspeito responsável pelo crime contra a fauna, cruzando dados sobre o DNA encontrado no local com um banco de dados policiais, ajudando a condenar ou absolver um suspeito com uma única gota de sangue, fragmento de unha e até mesmo através de um único fio de cabelo achado na cena do crime. BIBLIOGRAFIAS 1. 1. GARRIDO, Rodrigo G.; RODRIGUES, Eduardo L. Contribuições da biologia molecular para a proteção animal e a investigação dos crimes contra a fauna. Revista Semioses, V11, n.04, 2017. 2. ALACS, E. A., A. GEORGES, N. N. FITZSIMMONS & J. Robertson. DNA detective: a review of molecular approaches to wildlife forensics. Forensics Science, Medicine, and Pathology 6: 180-194, 2009. 3. BUTLER, J.M. Mitochondrial DNA analysis In Forensic DNA typing: biology, technology, and genetics of STR markers. 2ed. Elsevier, 2010, Capítulo 10, p.376-389. 4. PARSON, W., K. PEGORARO, H. Niederstätter, M. Föger & M. Steinlecker. Species identification by means of the cytochrome b gene. International Journal of Legal Medicine 114: 23-28, 2000. 5. LINACRE, Adrian. International Forensic Science and Investigation Series: Forensic Science in Wildlife Investigations. Boca Raton, Taylor & Francis
Group, LLC, 2009. 6. TOBE, Shanan S.; LINACRE, Adrian. DNA typing in wildlife crime: recent developments in species identification. Springer Science+Business Media, LLC 2010. 7. MELTON, T. et al. Forensic mitochondrial DNA analysis of 691 casework hairs. J. Forensic Sci., v.50, p.1-8, 2005. 8.SILVA, L.A.F; PASSOS, N.S. DNA forense: Coleta de amostras biológicas em locais de crime para estudo do DNA. 2.ed. Maceió: Editora da Universidade Federal de Alagoas, 2006. 9. EDSON, S.M. et al. Naming the dead – confronting the realites of rapid identification of degraded skeletal remains. Forensic Sci Rev, v.16, p.63-90, 2004.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
109
USO DE PLANTAS MEDICINAIS NO CONTROLE DO RHIPICEPHALUS MICROPLUS
Gabriel Resende Souza¹*, Mariana Cardoso de Abreu¹, Alexia Pimenta Bom Conselho¹, Thallyson Thalles Teodoro de Oliveira¹, Sérgio Henrique Andrade dos Santos¹, Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira².
*[email protected] 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O carrapato dos bovinos, Rhipicephalus (Boophilus) microplus, é considerado um dos principais parasitos que afetam a pecuária no Brasil.1,2 Segundo GRISI et al. (2014), os carrapatos são responsáveis por perdas na pecuária estimadas em 3,24 bilhões de dólares ao ano no Brasil.
Além da ação espoliadora, toxicidade da sua saliva, lesão no couro dos animais e perdas produtivas, é também responsável pela transmissão da Tristeza Parasitária Bovina, complexo de doenças causadas principalmente por protozoários do gênero Babesia e bactérias do gênero Anaplasma.1 Levando isso em consideração, é altamente desejável o controle correto do carrapato no qual, segundo LEAL (2003), utiliza-se acaricidas químicos, como organofosforados, piretróides e lactonas macrocíclicas desde a década de 50.
Estudos epidemiológicos demonstram o crescente aumento da resistência dos carrapatos pelos carrapaticidas, sendo comprovados pelo teste de sensibilidade, desenvolvido por DRUMMOND et al. (1973). Pesquisas sobre plantas medicinais no controle do carrapato do bovino estão sendo desenvolvidas numa tentativa de controlar a resistência e encontrar novas bases biológicas que são menos impactantes para os animais e ambientes.
O objetivo desse trabalho é apresentar o uso de plantas medicinais no controle do carrapato do bovino, tais como suas perspectivas, algumas plantas testadas e métodos usados.
MATERIAIS E MÉTODOS
O resumo foi desenvolvido a partir da revisão de artigos, livros e trabalhos técnicos, objetivando especificar a fitoterapia no controle do carrapato. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O uso de plantas no controle do carrapato se dá principalmente pelos óleos essenciais ou pelos seus extratos, sejam etanólicos ou aquosos. Vários testes in vitro foram feitos e grande parte desses testes se mostraram promissores.5
Um exemplo que se mostrou eficaz no controle do R. microplus é o caso do óleo essencial do Cuminum cyminum (cominho), que em um teste in vitro recente (VILLARREAL, 2017) apresentou 100% de eficácia a partir da concentração de 100mg/ml. No mesmo trabalho, também foram testados os óleos de Bertholletia excelsa (castanha do Brasil) e Helianthus annus (semente de girassol), porém demonstrado pouca eficácia (39,39% e 58,75% na concentração de 200mg/ml, respectivamente). Outro teste in vitro envolvendo extratos de plantas do Pantanal foi realizado pela Embrapa (CATTO, 2009) sendo observado eficácia nas atividades acaricidas entre 50-100% de Annona dioica, Simarouba versicolor, Annona cornifolia e Duguetia furfuracea, demonstrado assim resultados promissores para o controle do R. microplus. Apesar do grande número de testes feitos com plantas e dos resultados promissores, grande parte destes estudos permanecem in vitro, dificultando assim a validação de certas plantas medicinais no controle do carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Além disso, ainda existe uma falta de padronização na preparação dos diferentes óleos essenciais
e dos extratos das plantas, fazendo com que não haja consenso científico nas metodologias. Apesar disso, grande parte das pesquisas usam como método de avaliação da eficiência dos acaricidas o teste de sensibilidade desenvolvido por DRUMMOND et al. (1973), em que consiste basicamente em mergulhar a fêmea ingurgitada, denominada teleógina (figura 1), na solução preparada, armazenando em estufa para completar o ciclo e, posteriormente, analisada através de cálculos de eficiência. Por fim, BORGES et al. (2011) em seu estudo compilaram e afirmaram que cerca de 55 plantas medicinais já foram validadas com efeito acaricida sobre o Rhipicephalus (Boophilus) microplus em todo o mundo e, ainda, afirmou que o mercado das plantas medicinais no controle do carrapato é muito promissor, requerendo assim mais estudos específicos. Figura 1: Teleóginas de Rhipicephalus (Boophilus) microplus em oviposição in vitro - Fonte própria
CONCLUSÕES
A crescente resistência dos carrapatos aos carrapaticidas encontrados hoje no mercado é um grande obstáculo a pecuária leiteira no país. Estudos recentes demonstraram futuro promissor das plantas medicinais no controle do Rhipicephalus (Boophilus) microplus entretanto, requerem mais pesquisas in vivo. BIBLIOGRAFIAS
1. PEREIRA, M. de C. et al. Rhipicephalus (Boophilus) microplus: biologia, controle e resistência. São Paulo: MedVet, 2008.
2. LEAL, Alexandre Trindade et al. Perspectivas para o controle do carrapato bovino. Acta scientiae veterinariae. Porto Alegre, RS. Vol. 31, n. 1 (2003), p. 1-11, 2003.
3. GRISI, L. et al. Reassessment of the potential economic impact of cattle parasites in Brazil. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v. 23, n. 2, p. 150-156, 201
4. DRUMMOND, R. O. et al. Boophilus annulatus and B. microplus: laboratory tests of insecticides. Journal Economic Entomology, College Park, v. 66, n. 1, p. 130-133, Feb. 1973.
5. BORGES, L. M. F. et al. Perspectives for the use of plant extracts to control the cattle tick Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v. 20, n. 2, p. 89-96, 2011.
6. VILLARREAL, José Pablo Villarreal et al. Avaliação de alternativas fitoterápicas no controle in vitro de Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v. 26, n. 3, p. 299-306, 2017.
7. CATTO, J. B. et al. Efeito acaricida in vitro de extratos de plantas do Pantanal no carrapato de bovinos Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Embrapa, Campo Grande, v. 26, p. 1980-6841, 2009.
APOIO:
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
110
USO DO IRAP NO TRATAMENTO DE OSTEOARTRITE EM CAVALOS ATLETAS
Lucas Augusto Pacheco Santos1*, João Gabriel Melo Franco Silva¹, Marcos Fontoura Lamounier¹, Gabriel Dias Costa2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil *Autor para correspondência: [email protected] 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÂO
Os cavalos atletas são constantemente submetidos a rotinas extenuantes de exercícios e, em alguns casos, chegam ao overtraining, além disso, outros fatores como a conformação, traumas articulares, inflamações e envelhecimento, são apontados como possíveis causas do desenvolvimento das osteoartrites (OA). A OA ou Doença Articular Degenerativa (DAD) é apontada como principal causa de claudicação em equinos. A afecção está diretamente relacionada com a queda de performance desportiva e ao término precoce da vida útil de cavalos atletas. A doença inicia-se com um processo degenerativo articular, caracterizado por produção e liberação de citocinas e outros mediadores inflamatórios, entre eles a interleucina-1 (IL-1)¹.
Atualmente, as terapias utilizadas no tratamento de claudicações associadas à OA incluem suplementação oral a base de glucosamina e sulfato de condroitina, administração de anti-inflamatórios não esteroides (AINES), e medicamentos intra-articulares, como os corticosteróides, o ácido hialurônico, os polissulfatados glicosaminoglicanos e a proteína antagonista do receptor da interleucina-1 (IRAP)². Essa proteína antagonista está em equilíbrio com a IL-1 numa articulação saudável, contudo, em casos de OA há uma produção insuficiente da mesma que torna-se incapaz de bloquear a acelerada destruição tecidual pelo excesso de IL-1¹.
O IRAP tem propriedades anti-inflamatórias e também regenerativas, portanto, não somente reduz a dor relacionada ao processo inflamatório articular, mas também reduz o processo degenerativo que ocorre na articulação, devido a IL-1 ser impedida de se ligar aos receptores na articulação. Ao contrário das terapias intra-articulares convencionais, com o uso de corticoesteróides e ácido hialurônico; o IRAP é obtido através do próprio sangue do equino, o que reduz o risco de reações alérgicas. A utilização deste tem sido comum em cavalos de corrida na Europa, por se tratar de uma terapia biológica, sem efeitos colaterais negativos e sua aplicação não é proibida pela Federação Equestre Internacional, diferente da administração de corticosteróides¹.
O objetivo do presente trabalho é relatar a utilização do IRAP como uma boa alternativa terapêutica para tratamento de oesteoartrite em cavalos atletas, aliviando a dor e aumentando a vida útil do mesmo no esporte.
MATERIAIS E MÉTODOS
O resumo foi desenvolvido a partir da revisão de artigos e trabalhos técnicos, sempre buscando trabalhos mais completos e atualizados. Para realização do trabalho, foram analisadas hipóteses associadas à queda da performance do animal e consequente perda de valor zootécnico. REVISÃO DE LITERATURA
As articulações são estruturas compostas por cartilagem articular, ossos, cápsula articular (membrana sinovial interna e membrana fibrosa externa), líquido sinovial e estruturas ligamentosas que conectam os ossos envolvidos na articulação³. Uma articulação saudável permite um sistema sem fricção, capaz de suportar grande peso. O início de um processo patológico indica que há disfunção de um ou mais componentes articulares¹. Quanto à etiopatogenia da OA, a teoria mais comum para explicar o seu aparecimento é a
artrite traumática, responsável por alterações em uma cartilagem articular (CA) normal. Independente da causa primária, o desenvolvimento das OA está sempre associado a mediações de substâncias pró-inflamatórias4. O cavalo atleta é exposto durante o exercício a grandes esforços e pode sofrer vários tipos de lesões, dentre elas as articulares que implicam na queda de desempenho e vão dar início a longos e caros tratamentos. Apesar das diferentes terapias disponíveis, o resultado muitas vezes não é de sucesso e a estrutura tratada é comprometida quando o animal retorna aos treinamentos. A fim de se obter uma maior eficácia no tratamento, tem sido pesquisado o emprego de derivados sanguíneos, entre eles o IRAP5. O IRAP, soro autólogo condicionado obtido através do sangue do cavalo, é rico em uma proteína que inibe receptores de interleucina-1 e tem sido muito utilizado no controle de inflamação intrassinovial. Com base em estudo feito, cavalos tratados com o mesmo diminuíram a claudicação e, histologicamente, diminuíram a hiperplasia e a hemorragia da membrana sinovial, bem como apresentaram uma menor fibrilação da CA. Trata-se de um produto útil em casos que a OA não é responsiva a corticóides, em lesões moderadas da CA e no tratamento suporte após artroscopia.4 Seu uso é pouco recomendado em casos mais avançados, como em degenerações consideráveis da CA. A administração do IRAP é feita por via intra-articular, no volume de 1 a 7ml de acordo com a capacidade da articulação a ser tratada. São realizados 3 tratamentos seguidos, com intervalos de 7 a 10 dias entre eles e, caso necessário, o mesmo poderá ser repetido. Devem ser tomados todos os cuidados de assepsia antes de sua administração¹. Imediatamente após sua aplicação, deve-se proteger a articulação com uma bandagem, que deverá ser retirada após dois dias. Nos primeiros três dias antes do tratamento o cavalo deve ficar em repouso; nos próximos dias, até a nova aplicação, o animal pode realizar até 45 minutos de passo a puxado³. CONCLUSÕES
O IRAP pode ser uma alternativa terapêutica de excelência no tratamento das osteoartrites, visto que, não só combate a inflamação reduzindo a dor causada na articulação, mas também bloqueia a progressão do processo degenerativo articular e assim, cavalos atletas que seriam afastados do esporte podem retornar aos exercícios e tendo um prolongamento da vida útil. BIBLIOGRAFIAS 1. DE OLIVEIRA, Ana Raquel Pinto Salazar. IRAP no tratamento da osteoartrite equina. 2015. 2. SCHAEFER, Elysia C. Effects of sodium hyaluronate and triamcinolone acetonide on proteoglycan metabolism in equine articular chondrocytes treated with interleukin-1. 2010. 3. OLIVEIRA, Rafaela Andreia Crespo de. O uso do soro autólogo condicionado-IRAP-no tratamento de lesões articulares em equinos: estudo preliminar. 2015. Tese de Doutorado. Universidade de Lisboa. Faculdade de Medicina Veterinária. 4. CABETE, Ana Catarina Silva. Osteoartrite Equina: Revisão Bibliográfica e Terapias Atuais. 2018. 5. VENDRUSCOLO, Cynthia Prado et al. Uso do soro autólogo condicionado e do plasma rico em plaquetas na terapia ortopédica de equinos. Semina: Ciências Agrárias, p. 2607-2624, 2014.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
111
USO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS EM PEQUENOS ANIMAIS
Ranielle Stephanie Toledo Santana1*, Jade Caproni Corrêa¹, Daniel da Silva Rodrigues¹, Luara Mara Groia Martins¹, Pollyana Marques e Souza1 , Nayara Viana de Andrade2 , Rubens Antônio Carneiro3
1Graduando em Medicina Veterinária – UFMG – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Médica Veterinária, Residente do Hospital Veterinário da UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
3Professor do Departamento de Clínica e cirurgia veterinárias –UFMG – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O plasma rico em plaquetas (PRP) é uma técnica utilizada para acelerar a cicatrização de feridas cirúrgicas, principalmente na ortopedia veterinária, onde os fatores de crescimento (FC) oriundos das plaquetas do próprio paciente estimulam a regeneração óssea.1,2
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado por meio de uma revisão literária de artigos e leituras complementares destinadas ao uso do plasma rico em plaquetas. REVISÃO DE LITERATURA
O Plasma rico em plaquetas (PRP) é uma suspensão concentrada de sangue centrifugado, que contém altas concentrações de plaquetas, sendo uma fonte autógena e não imunoreativa de fatores de crescimento e que quando aplicado no local da ferida, contribuirá para a reparação óssea, além de aumentar a vascularização local. Se trata portanto, de uma técnica útil e benéfica em diversas situações, haja vista que, a reconstituição de tecidos, lesões tumorais, ossos reabsorvidos ou danificados por processos inflamatórios, muitas vezes podem representar um obstáculo para o cirurgião3,2,4
Para obtenção do PRP, é realizado a centrifugação do sangue coletado do animal e usa-se citrato de sódio como anticoagulante, pois essa substância não altera os receptores de membrana das plaquetas.O processo de centrifugação é feito em velocidade baixa para permitir a sedimentação das hemácias e manter a plaquetas e leucócitos em suspensão no plasma,permitindo a concentração de um grande número de plaquetas aptas a liberar, em um pequeno volume de plasma, os fatores de crescimento (FC).7
O PRP é constituído de plasma, leucócitos, plaquetas e dos fatores de coagulação que estão contidos no plasma. Os leucócitos vão conferir resistência natural aos agentes imunológicos e infecciosos e as plaquetas irão liberar os FC ao sofrer degranulação no local de lesão3. Os FC influenciam a divisão celular, diferenciação tecidual e na síntese de matriz, sendo esses fatores importantes para a formação de cartilagem, reparação óssea e reparação de tecidos esqueléticos e musculares. Também participam da ativação de macrófagos, que promoverão a fagocitose de debris da região e reparos contínuos para posterior regeneração óssea.2,3 Em suma, o conjunto de ações dos FC resultará na sinalização para as células mesenquimais e epiteliais migrarem até o local da lesão e estimularem a síntese de matriz e colágeno, tendo como resultado uma cicatrização mais rápida e eficiente.3,4,5
Dentre os FC, pelo menos três são derivados dos grânulos plaquetários: fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fator de crescimento e transformação beta (TGF-ß) e fator de crescimento semelhante à insulina (IGF). O PDGF é uma glicoproteína responsável pela angiogênese, ativação de magrofagos, promoção da quimiotaxia, além de estar envolvido na mitogênese. Essa glicoproteína quando
presente em grandes quantidades proporciona maior atividade das células osteocompetentes, e consequentemente uma maior rapidez na formação óssea.2,3,6
O TFG-ß irá estimular a proliferação de células mesenquimais indiferenciadas; regula a mitogênese endotelial, fibroblástica e osteoblástica; regula a síntese de colágeno e secreção de colagenase; estimula a quimiotaxia endotelial e angiogênese e inibe a proliferação de macrófagos e linfócitos.2,3
O IGF, quando combinado com outros fatores de crescimento, como o TGF-ß e/ou PDGF, acelera a osteogênese, pois o IGF é mitogênico para as células da linhagem osteoblástica e estimulador da osteogênese a partir dos osteoblastos diferenciados.3
Dessa forma, a associação do PRP na medicina veterinária, principalmente aos tratamentos ortopédicos convencionais tem proporcionado ótimos resultados no tratamento de fraturas, em associação com enxertos ósseos.2
CONCLUSÕES
Logo, o uso do PRP na medicina veterinária se mostra eficaz na regeneração de lesões, principalmente no tecido ósseo, sendo uma técnica confiável e segura. Sendo assim, o uso do PRP se mostra promissor para o uso em animais, Entretanto ainda são necessários mais estudos que comprovem a sua eficácia na medicina veterinária. BIBLIOGRAFIAS
1. Costa PA, Santos P. Plasma rico em plaquetas: uma revisão sobre seu uso terapêutico. RBAC. 2016; 48.4:311-9. DOI: 10.21877/2448-3877.201600177
2. Oliveira D.M.M.C., Leme Junior P.T.O. & Castro J.L. 2012. Plasma rico em plaquetas (PRP) na reparação osteo-articular em pequenos
animais: uma revisão. Medvep 10:62-66. 3. BARBOSA, Anna Laeticia Trindade et al . Plasma rico em plaquetas
para reparação de falhas ósseas em cães. Cienc. Rural, Santa Maria , v. 38, n. 5, p. 1335-1340, Aug. 2008. DOI:10.1590/S0103-84782008000500021.
4. LIEBERMAN, J.R. et al. The hole of growth factors in the repair bone. J Bone Joint Surg, v.84, n.6, p.1032-1042, 2002.
5. LEMOS, J.J. et al. Utilização de plasma rico em plaquetas em enxertos ósseos – Proposta de um protocolo de obtenção simplificado. 2002. Capturado em 01 abr. 2020. Online. Disponível na Internet: http://www.odontologia.com.br/ artigos.asp?id=225&idesp=6&ler=s
6. BRANDÃO, G.H.F. Estudo comparativo entre a eficácia clínica de enxertos ósseos (autógenos, alógenos, aloplásticos) com ou sem utilização de plasma rico em plaquetas. 2005
7. Margarita Pardo. et al. Principais usos do plasma rico em plaquetas na medicina veterinária. REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE MEDICINA VETERINÁRIA – ISSN: 1679-7353. Ano IX – Número 18 – Janeiro de 2012 – Periódicos Semestral
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
112
UTILIZAÇÃO DO CIO DO POTRO NO MANEJO REPRODUTIVO DOS EQUINOS
Kamilla Reggiani Silva Duarte1*, Gabriel Rodrigues Franco da Cruz1, Gabriel Almeida Dutra2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil – [email protected]
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
*Autor para correspondência: [email protected]
INTRODUÇÃO
O primeiro estro pós-parto, popularmente conhecido como cio do potro, consiste em uma estratégia de manejo reprodutivo de éguas recém paridas que possibilita aos criatórios a produção de um potro por ano. Pouco após o parto há aumento da concentração sanguínea do hormônio folículo estimulante (FSH) e da liberação do hormônio luteinizante (LH). A atuação desses dois hormônios logo após o parto possibilita a ocorrência do cio do potro nas fêmeas equinas1, com duração média de 5 a 15 dias.
O objetivo do presente trabalho consiste em relatar o estudo do manejo reprodutivo dos equinos no primeiro estro pós-parto e sua relevância na reprodução.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão bibliográfica baseada em artigos referentes a reprodução equina no primeiro estro pós-parto. Estes artigos foram encontrados por meio de uma pesquisa com as palavras-chave: Cio do potro, estro, éguas, pós-parto.
REVISÃO DE LITERATURA
As fêmeas da espécie equina são poliéstricas estacionais, ou seja, apresentam-se aptas para a reprodução apenas no verão, onde há maior disponibilidade de luz, o que favorece o fotoperíodo e possibilita a ovulação. O ciclo estral desses animais tem duração média de 21 dias. Após a gestação, as éguas apresentam um primeiro estro pós-parto denominado, popularmente, como cio do potro que ocorre entre o 5° e 12° dia e, se utilizado de maneira correta, gera um produto por ano2.
A associação da natureza pouco invasiva da placenta equina e da grande concentração de FSH plasmático no final da gestação, favorece o crescimento dos folículos e a atividade ovariana logo após o nascimento do potro. Porém, vários fatores influenciam esse retorno da atividade ovariana e do comportamento sexual nas éguas pós-parto, e são eles: condição corporal, número de partos, idade da fêmea e estação reprodutiva3.
A concepção nesse período é muito desejada, uma vez que o novo potro nascerá precocemente na estação de parição seguinte, como visto na tabela 1. A concepção no cio do potro não difere estatisticamente daquelas obtidas no segundo cio pós-parto4.
Tabela 1: Duração do primeiro cio após o parto e o respectivo índice de concepção.
Fonte: KURTZ FILHO, Mario et al . Fertilidade pós-parto em éguas Puro-Sangue de Corrida. Braz.
J. Vet. Res. Anim. Sci., São Paulo , v. 35, n. 2, p. 00, 1998 .
O cio do potro também pode se mostrar útil para éguas que parem tardiamente na estação reprodutiva; nesses casos o cio do potro pode ser a última oportunidade de prenhez naquele ano. Algumas éguas têm tendência a apresentar cios
aberrantes/ciclos erráticos, nesses casos o cio do potro também é uma opção interessante, uma vez que esses animais costumam apresentá-lo normalmente, após o parto2.
Alguns autores defendem que as taxas de concepção realizadas nesse período são inferiores às obtidas em cios mais tardios, como visto na tabela 2. Defende-se também que a cobertura no cio do potro apresenta maiores taxas de perda embrionária, prejudicando o planejamento reprodutivo da propriedade5.
Tabela 2: Índices de perdas de prenhez em relação a classificação do cio.
Fonte: DUARTE, Marcelo Barbanti; VIEIRA, Rogério Chaves; SILVA, Frederico Ozanan Carneiro e. Incidência de perda de prenhez até o 50º dia em éguas quarto de milha. Cienc. Rural, Santa Maria
, v. 32, n. 4, p. 643-647, Aug. 2002
É importante frisar que a reprodução do cio do potro não pode ser imposta a todas as éguas. A utilização da técnica depende, principalmente, da escolha correta de fêmeas a serem utilizadas e o acompanhamento cuidadoso no período pós-parto, a fim de reduzir o intervalo entre partos e obter um produto por ano. Além disso, a melhora no manejo nutricional e sanitário dos animais é fundamental para o sucesso na reprodução no cio do potro2.
CONCLUSÕES
Atualmente, o mercado do cavalo exige investimentos para que as suas necessidades do mesmo sejam supridas. Diante deste cenário, criadores tendem a investir mais no manejo reprodutivo das propriedades e utilizar, juntamente com profissionais capacitados e aptos a realizarem os procedimentos; protocolos e terapias que garantem melhores resultados. Com isso, a prática do manejo reprodutivo no período pós-parto pode ser uma opção viável para os criadores de equinos, a fim de garantir um produto por ano.
BIBLIOGRAFIAS
1. Matthews RG, Ropiha RT, Butterfield RM. The phenomenon of foal heat in mares. Aust Vet J, v.43, p.579- 82, 1967. 2. BARROS, B.S.; OLIVEIRA R.A. Cio do potro: o que é e quando utilizar? Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.41, n.3, p.665-670, 2017. 3. NAGY, P. et al. Factors influencing ovarian activity and sexual behavior of postpartum mares under farm conditions. Theriogenology, v.50,p.1109, 1998. 4. CAMILLO, F.; MARMORINI, P.; ROMAGNOLI, S.; VANNOZZI, I.; BAGLIACCA, M. Fertility at the first post partum estrous compared with fertility at the following estrous cycles in foaling mares and with fertility in nonfoaling mares. In: WORLD EQUINE VETERINARY CONGRESS, 1997, Padova, Italy. Journal of Equine Veterinary Science, v. 17, n. 11, 1997. 5. KOSKINEN, E.; KATILA, T. Uterine involution, ovarian activity and fertility in the postpartum mare. Journal of Reproduction and Fertility, v. 35, p. 733-734, 1987.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
113
VESICULITE SEMINAL EM GARANHÕES
Júlia Macholl Brant¹, Isabella Beatriz de Souza Zanon¹, Júlia Riquetti Vasconcelos¹, Roberta Mazzaro Reis¹, Samara Fernanda de Oliveira Silva¹, Gabriel Almeida Dutra².
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ² Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Dentre as afecções que envolvem as glândulas sexuais acessórias em equinos a vesiculite seminal é a mais frequente8, caracterizando-se pela infecção bacteriana da vesícula seminal. A vesiculite seminal gera perdas importantes, além de oferecer um alto risco ao garanhão acometido e as éguas envolvidas no plantel de reprodução, devido à contaminação bacteriana10. Garanhões que apresentam o problema geralmente possuem histórico de subfertilidade ou infertilidade, com a qualidade e longevidade do sêmen afetada negativamente11. O tratamento convencional é realizado com antibioticoterapia sistêmica apresenta pouca eficácia devido à baixa vascularização das glândulas e a farmacodinâmica dos antibióticos utilizados2. O objetivo do presente estudo é apresentar a etiopatogenia da vesiculite seminal, seus sinais clínicos, bem como suas consequências e atuais tratamentos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram realizadas pesquisas em artigos científicos com as palavras-chave garanhão; vesiculite; reprodução; inseminação; sêmen. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os machos da espécie equina possuem um conjunto completo de glândulas sexuais acessórias, compostas pelas bulbouretrais, a próstata, vesículas seminais e ampolas dos ductos deferentes. A vesiculite seminal é uma das afecções que acometem essas estruturas de forma frequente e consiste na colonização de uma ou ambas as vesículas por bactéria, sendo as P. aeruginosa e K. pneumoniae as mais frequentes1. A P. aeruginosa é uma bactéria Gram-negativa, aeróbia e formadora de biofilme, capaz de debelar o sistema imune do hospedeiro4. É resistente aos fármacos disponíveis e está desenvolvendo resistência a fármacos mais modernos, como o Imipenem³, antibiótico de amplo espectro. A K. pneumoniae é uma bactéria Gram-negativa, aeróbia e também multirresistente aos antibióticos disponíveis7. Os sinais clínicos da vesiculite seminal não são demonstrados na maioria dos casos e alguns animais apresentam disfunção ejaculatória com dor no momento da ejaculação9. O sêmen do garanhão com vesiculite seminal apresenta-se com piospermia e hemospermia11. No exame citológico há aumento de polimorfonucleares e bactérias, com longevidade reduzida10. A presença de neutrófilos induz a aglutinação e precipitação das células, o que afeta a cinética espermática9, além de induzir o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio que geram injúrias mitocondriais e fragmentação do DNA12. O diagnóstico é feito através das análises macro e microscópicas do sêmen10, culturas e isolamento bacteriano do pênis e uretra12. Na palpação transretal as glândulas podem apresentar-se lobuladas e aumentadas de tamanho, porém a palpação geralmente não fornece informações diagnósticas suficientes. O diagnóstico definitivo é feito pela endoscopia das vesículas seminais10. A maioria dos antimicrobianos utilizados não alcança a glândula em concentrações adequadas para serem efetivos5. De modo geral, os fármacos que possuem melhor penetração
na vesícula seminal são os antibióticos: Enrofloxacina e Sulfonamida-trimetoprim11. Outra opção terapêutica é a
infusão local de antimicrobiano na vesícula seminal. Existem relatos de sucesso no tratamento a base de Imipenem-
cilastatina local, no caso de um garanhão com vesiculite seminal por Klebsiella pneumoniae. Entretanto, em outro estudo, a antibioticoterapia local guiada por endoscópio em cinco garanhões mostrou eficácia temporária, com recidiva 30 (trinta) dias após final do tratamento em todos os indivíduos testados6. O prognóstico reprodutivo da vesiculite seminal é reservado, devido à ineficácia da antibioticoterapia e alta taxa de recorrência9. CONCLUSÕES
A vesiculite seminal é uma alteração de difícil tratamento em garanhões que traz grandes prejuízos e eleva a subfertilidade ou infertilidade dos animais acometidos. O exame endoscópico é de suma importância e é considerado o diagnóstico definitivo. Vale ressaltar que o uso de antibióticos não apresenta a eficácia desejada e o prognóstico é reservado. BIBLIOGRAFIAS 1. Conboy, H.S. Significance of bacteria affecting the stallion’s reproductive tract. Cap.37. p.231-236. In: Current Therapy in Equine Reproduction. Samper, J.C; Pycock, J.F.; McKinnon, A.O. 1st Ed, Saunders, Philadelphia, PA. 2007. 2. Fennel, L.C.; McKinnon, A.O.; Savage, C.J. Cryopreservation of semen from a stallion with seminal vesiculitis. Equine Veterinary Education Equine, v.22, n.5, p.215-219, 2010. 3. He, J.; Jia, X.; Yang, S.; Xu, X.; Sun, K.; Li, C.; Yang, T.; Zhang, L. Heteroresistance to carbapenems in invasive Pseudomonas aeruginosa infections. International Journal of Antimicrobial Agents, v.51, p.413-421, 2018. 4. Kariminik, A.; Baseri-Salehi, M.; Kheirkhah, B. Pseudomonas aeruginosa quorum sensing modulates immune responses: na update review article. Immunology Letters, v.190, p.1-6, 2017 5. Samper, J.; Tibary, A. Disease transmission in horses. Theriogenology, v.66, p.551-559, 2006. 6. Sancler-Silva, Y.F.R. Efeito do tratamento local de vesiculite seminal sobre a qualidade e longevidade do sêmen eqüino. 2014. 124f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Curso de Pós-graduação em Biotecnologia Animal, UnespBotucatu/SP. 7. Stoesser, N.; Batty, E.M.; Eyre, D.W.; Morgan, M.; Wyllie, D.H.; Del Ojo Elias, C.; Johnson, J.R.; Walker, A.S.; Peto, T.E.A.; Crook, W. Predicting antimicrobial susceptibilities for Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates using whole genomic sequence data. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v.68, p.2234–2244, 2013. 8. Tibary, A.; Rodriguezm, J.; Samper, J.C. Microbiology and Diseases of Semen. In: Equine Breeding Management and Artificial Insemination. Samper, J.C. 2nd Ed., Saunders, Philadelphia, PA. 2009. 9. Tibary, A.; Rodriguez, J.S. Causas e Manejo de lãs subfertilidad em padrillos. In: II Congresso on Equine Reproduction, p.55-69, 2011. 10. Varner, D. D.; Blanchard, T. L.; Brinsko, S. P.; Love, C. C.; Taylor, T. S.; Johnson, L. Techniques for evaluating selected reproductive disorders of stallions. Animal Reproduction Science, v.60–61, p.493–509, 2000. 11. Varner, D.D.; Schumacher, J. Abnormalities of the accessory sex glands. In: McKinnon, A. O.; Squires, E. L.; Vaala, W. E.; Varner, D. D.Equine reproduction. 2ed. United Kingdom: Wiley-Blackwell, v.1, Cap. 95, p.867-880, 2011. 12. Varner, D.D. Approaches to breeding soundness examination and interpretations of results. Journal of Equine Veterinary Science, v.43, p.37-44, 2016
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
115
SUMÁRIO ADENITE EQUINA: REVISÃO DE LITERATURA ......................................................................................................................... 117
AGALAXIA CONTAGIOSA NA PRODUÇÃO CAPRINOLEITEIRA: REVISÃO DE LITERATURA ....................................................... 118
ANEMIA INFECCIOSA EQUINA ................................................................................................................................................ 119
BEM ESTAR DE GALINHAS POEDEIRAS: REVISÃO DE LITERATURA ......................................................................................... 120
BEM-ESTAR FELINO EM GATIS DE CRIAÇÃO ........................................................................................................................... 121
BOAS PRÁTICAS NA FABRICAÇÃO DO QUEIJO MINAS ARTESANAL ........................................................................................ 122
CHLAMYDOPHILA PSITTACI: REVISÃO COM ÊNFASE NA RELAÇÃO ENTRE HUMANOS E AVES .............................................. 123
CISTITE AGUDA EM CÃES ....................................................................................................................................................... 124
CLAMIDIOSE EM AVES SILVESTRES......................................................................................................................................... 125
COLAPSO TRAQUEAL EM CÃES ............................................................................................................................................... 126
CONTAMINAÇÃO DE LINGUIÇAS ARTESANAIS POR SAMONELLA SPP ................................................................................... 127
CONTAMINAÇÃO DE LINGUIÇAS CASEIRAS DURANTE AS ETAPAS DE PROCESSAMENTO ..................................................... 128
CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM HAMBÚRGUER ARTESANAL .................................................................................. 129
CUIDADOS COM O LEITE NA PRODUÇÃO DO QUEIJO MINAS ARTESANAL ............................................................................ 130
DEBICAGEM NA CRIAÇÃO DE GALINHAS POEDEIRAS NO BRASIL .......................................................................................... 131
DIAGNÓSTICO DE CISTO INTRAUTERINO ATRAVÉS DE ULTRASSOM EM CADELA ................................................................. 132
DISENTERIA SUÍNA: REVISÃO DE LITERATURA ....................................................................................................................... 133
ECTOPARASITAS NA PRODUÇÃO DE AVES POEDEIRAS .......................................................................................................... 134
EMPREGO DA ULTRASSONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA SOR – RELATO DE CASO ............................................................ 135
FATORES QUE PODEM INTERFERIR NA QUALIDADE DE LINGUIÇAS CASEIRAS ...................................................................... 136
HAEMOPHILLUS PARAGALLINARUM (GÔGO) ........................................................................................................................ 137
HIGIENE E QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO QUEIJO MINAS ARTESANAL .......................................................................... 138
IMPACTOS ECONÔMICOS CAUSADOS PELA MOSCAS-DOS-CHIFRES ..................................................................................... 139
IMPORTÂNCIA DO RAIO X NO DIAGNÓSTICO DE DISPLASIA COXOFEMORAL EM CÃES ........................................................ 140
LEISHMANIOSE E SUA MANIFESTAÇÃO EM ÓRGÃOS INTERNOS ........................................................................................... 141
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA E SUA RELEVÂNCIA PARA OS CANIS ................................................................................ 142
MANEJO NUTRICIONAL DE AVES POEDEIRAS ........................................................................................................................ 143
MASTITE EM BOVINOS DE LEITE: REVISÃO DE LITERATURA .................................................................................................. 144
METRITE CONTAGIOSA EQUINA ............................................................................................................................................. 145
NEFRÓLITO EM CADELA COM LEISHMANIOSE VISCERAL: RELATO DE CASO ......................................................................... 146
O IMPACTO ECONÔMICO DA MASTITE NA PRODUÇÃO LEITEIRA ......................................................................................... 147
OBSTRUÇÃO GÁSTRICA POR CORPO ESTRANHO EM CADELA: RELATO DE CASO .................................................................. 148
OSTEOARTRITE TÁRSICA EM POTRA: RELATO DE CASO ......................................................................................................... 149
PAPEL DA FISCALIZAÇÃO NA QUALIDADE DE LINGUIÇAS ARTESANAIS ................................................................................. 150
PARATUBERCULOSE EM CAPRINOS - REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................................ 151
PIOMETRA CANINA ................................................................................................................................................................ 152
PRESENÇA DE BACTÉRIAS DO GRUPO COLIFORMES EM LINGUIÇAS ARTESANAIS ................................................................ 153
PRINCIPAIS DOENÇAS DE ALTO IMPACTO NA PRODUÇÃO DE BOVINOS DE CORTE .............................................................. 154
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
116
PRINCIPAIS RISCOS MICROBIOLÓGICOS NO QUEIJO MINAS FRESCAL ................................................................................... 155
SÍNDROME DO OSSO NAVICULAR EM EQUINOS .................................................................................................................... 156
STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM REBANHOS LEITEIROS COM ALTA PREVALÊNCIA DE MASTITE ............................................ 157
SUINOCULTURA: CUIDADOS SANITÁRIOS NO PERIODO DA PRENHEZ E AMAMENTAÇÃO .................................................... 158
UROLITÍASE EM CÃO – RELATO DE CASO ............................................................................................................................... 159
USO DE GAIOLAS ENRIQUECIDAS NA AVICULTURA POEDEIRA .............................................................................................. 160
USO SUSTENTÁVEL DA CAMA DE FRANGO NA HORTICULTURA ............................................................................................ 161
UTILIZAÇÃO DO ULTRASSOM PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO DE ALTERAÇÕES RENAIS CAUSADAS PELA LEISHMANIOSE
............................................................................................................................................................................................... .162
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
117
ADENITE EQUINA: REVISÃO DE LITERATURA
Maria Luíza Andrade Quites Salazar Diniz1*, Bruna Maria Marchetti Silva Oliveira¹, Caio Henrique Chaves¹,
Giovana Coura Gomes¹, Guilherme Vitor Maquart Matos¹, Junia Gabriela Nunes Viana¹, Junio César Araujo¹,
Maria Julia Correia dos Santos¹, Rodrigo Alves Nogueira¹, Sávio Gregório Silveira¹, Ana Luisa Soares de
Miranda2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A adenite equina está presente em 30% dos ocorridos
relacionados as doenças do aparelho respiratório, sendo bem
limitantes quanto ao aspecto das atividades desses animais.
A detecção precoce de problemas respiratórios é essencial
para o rápido retorno dos animais a sua atividade, bem como
na prevenção de complicações secundárias que podem
encerrar prematuramente a carreira do animal. Nesse
aspecto, a adenite equina tem grande relevância, uma vez
que é uma bacteriose de alta morbidade e uma das mais
frequentes doenças do trato respiratório anterior de cavalos
nas regiões mais frias do país. [1]O objetivo desse estudo é
relatar os possíveis sintomas, diagnósticos, tratamentos e
prevenções da adenite equina.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização dessa revisão de literatura, foram utilizados artigos técnicos e científicos, buscando trabalhos revisados por pares em bases de dados online. Utilizou-se como palavras-chave: equino, garrotilho, Streptococcus. REVISÃO DE LITERATURA
A adenite equina é também conhecida como garrotilho uma
vez que este termo se deve ao fato de que cavalos afetados
e não tratados adequadamente parecem estar sendo
estrangulados/garroteados devido ao aumento dos linfonodos
retrofaríngeos e submandibulares que obstruem a faringe. A
enfermidade bacteriana é causa pelo Streptococcus equi, são
bactérias gram-positivas, com forma de cocos que atingem o
trato respiratório anterior de equinos, acometendo animais de
todas as idades, mas com prevalência nos animais mais
jovens. A morbidade do garrotilho é alta e a letalidade é baixa,
os prejuízos econômicos decorrentes são consequências dos
gastos com tratamentos e suspensão das atividades dos
animais. [1] A transmissão ocorre quando a bactéria
responsável se fixa nas células epiteliais da mucosa nasal e
bucal, invadindo a muco nasofaríngea gerando uma faringite
aguda e rinite. Se o hospedeiro não obtiver sucesso na
contenção da bactéria, o agente invade a mucosa e o tecido
linfático faríngeo. À medida que a doença progride,
desenvolvem-se abscessos com predominância nos
linfonodos retrofaríngeos e submandibulares causando uma
obstrução local por compressão. Entre 7 e 14 dias após estes
abscessos fistulam, drenando na faringe, na bolsa gutural ou
no exterior, liberam o pus que contém a bactéria e esta, por
sua vez, contamina o ambiente por semanas. [2] Febre,
corrimento nasal e enfartamento de linfonodos (Fig.1) são os
principais sinais clínicos da doença, resultantes da dificuldade
de fagocitose por células de defesa devido à presença do
ácido hialurônico e proteína M. [3] O diagnóstico do garrotilho
pode ser confirmado por isolamento do agente infeccioso a
partir da secreção nasal purulenta ou do conteúdo de
abscessos. A técnica de PCR (reação em cadeia de
polimerase) é utilizada para detectar o agente vivo ou morto
permitindo a detecção de até 90% dos portadores. A técnica
de ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) é utilizada
no diagnóstico indireto demonstrando a presença de
anticorpos, utilizando como antígeno a proteína M específica
de S.equi. Neste teste não é possível distinguir a diferença
entre resposta à vacina e à infecção, porém a magnitude dos
títulos de anticorpos permite esta diferenciação. [1] O
tratamento da enfermidade é feito de acordo com o estágio
da doença, de uma forma geral os animais que não
apresentam abscessos nos linfonodos devem ser tratados
com antimicrobianos como por exemplo a penicilina G, com a
intenção de prevenir a formação dos abscessos. Já quando
há abscessos é necessário acelerar o processo inflamatório
com a aplicação de substâncias revulsivas, como o iodo, para
antecipar a supuração dos abscessos.[1] Em casos se surtos
de adenite, o fator mais importante é o manejo correto dos
equinos para se obter um controle da disseminação da
doença. Animais que estão doentes devem ser separados e
submetidos aos tratamentos de acordo com a evolução do
caso, além de uma correta higienização e desinfecção de
equipamentos e instalações. Outro aspecto importante na
disseminação é a existência de animais portadores
assintomáticos, estes geralmente abrigam a bactéria nas
bolsas guturais. [1] Outro método de prevenção é através da
vacinação, porém a imunização com vacinas contendo
bactérias inativadas (bacterinas) não asseguram um controle
satisfatório, pois conferem apenas cerca de 50% de
imunidade nos animais vacinados. [3]
Figura 1: Equino demonstrando sinais de adenite. Observar secreção nasal
purulenta e enfartamento de linfonodos.
Fonte:https://www.comprerural.com/caracterizacao-do-garrotilho-nos-equinos/.
CONCLUSÕES
A adenite equina é uma doença com grande importância ética
e econômica, requer uma detecção precoce e segura de
animais que sejam portadores para se obter um controle da
enfermidade. As técnicas para diagnóstico como o PCR e
ELISA devem ser valorizadas para obtenção de um
diagnóstico rápido e eficaz. É necessário o desenvolvimento
de vacinas eficientes para um controle mais efetivo da
enfermidade.
BIBLIOGRAFIAS 1. MORAES, Carina Martins de et al. Adenite equina: sua etiologia,
diagnóstico e controle. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 6, p.1944-1952,
set. 2009.
2. KOWALSKI, J.J. Mecanismo da doença infecciosa. In: REED,
S.M.; BAYLY, W.M. Medicina interna eqüina. Rio de Janeiro: Rio de Janeiro,
2000. p.54-56.
3. LIBARDONI, Felipe. Epidemiologia molecular de surtos de adenite
equina no Rio Grande do Sul – Brasil. 2012. 40 f. Dissertação (Mestrado em
Medicina Veterinária Preventiva) – Centro de Ciências Rurais, Universidade
Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2012.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
118
AGALAXIA CONTAGIOSA NA PRODUÇÃO CAPRINOLEITEIRA: REVISÃO DE LITERATURA
Catharina Alves Spíndola¹, Giovanna Jorge de Miranda¹, Giuliana Vasconcelos Duque Estrada Carvalho¹,
Raquel Medeiros Limeres¹, Rhana Sette e Câmara Toscano¹, Ana Luísa Soares de Miranda2 1Graduando em Medicina Veteirnária – UniBH – Belo Horizonte - MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
No setor agrícola é notória a evolução da caprinocultura
em níveis mundiais. O leite de cabra está se tornando um
produto muito comum no mercado brasileiro e vem
conquistando cada vez mais os consumidores, por possuir
alto valor nutritivo, além do importante papel na renda da
população, com produção de milhões de toneladas de
leite. ¹ A agalaxia contagiosa é uma desordem infecciosa,
gerada por uma bactéria do gênero Mycoplasma. Os casos
acometidos da doença em caprinos causam grandes e
significativas perdas econômicas nos rebanhos leiteiros do
Nordeste brasileiro e do mundo.² O impacto econômico
mais acentuado advém da queda na produção de leite ou
quando o animal desenvolve um quadro de agalaxia,
dependendo da imunidade do rebanho acometido, pode se
instalar rapidamente e atingir todos os animais em uma
semana.² O objetivo do presente trabalho é discorrer sobre
o tema de agalaxia, destacando a sua etiopatogenia e
tratamento.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizado um levantamento de artigos científicos
veterinários que abordam o tema agalaxia contagiosa em
produções de caprinocultura. Deu-se preferência para
artigos publicados após 2015 por periódicos revisados por
pares. Utilizou-se como palavras-chave para a busca:
caprino, agalaxia, mycoplasma.
REVISÃO DE LITERATURA
A agalaxia contagiosa é uma doença que ataca o sistema
imunológico de caprinos e ovinos, devido a bactéria do
gênero Mycoplasma. Mycoplasmas são considerados os
menores microorganismos auto replicantes conhecidos e
ao contrário das bactérias típicas, não possuem parede
celular. Devido a isso, Mycoplasma agalactiae é um dos
principais causadores da agalaxia contagiosa.³ O agente
causador da agalaxia contagiosa pode estar presente no
ambiente, como solo, água e também nas excreções e
secreções dos animais contaminados, como fezes e leite.
O período de incubação varia de 12 a 18 horas. O distúrbio
ocasionado pela agalaxia contagiosa, gera vários
sintomas no animal, como por exemplo, perda progressiva
de peso, queda na produção de leite, agalaxia total,
poliartrite, ceratoconjuntivite, raramente pneumonia e
aborto.4 Pode haver a necessidade do sacrifício precoce
de animais com artrite crônica e recidivantes para a
enfermidade. No entanto, as infecções sem sinais clínicos
são as mais frequentes, dificultando o controle e a
erradicação dessa afecção.5
Figura 1 - Caprino com mastite devido a agalaxia contagiosa.
Notar aumento de volume e hiperemia do úbere.
Fonte:https://www.google.com/search?q=agalaxia+contagiosa&sxsrf=ALe
Kk01WB7rQEyzEo82kKqX45hgBFjH_g:1587594539521&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj92czEiv3oAhV_IbkGHe1cBjoQ_AUoAXoE
CAwQAw&biw=1440&bih=789#imgrc=J4SBAU3SJO7OuM
A terapia antimicrobiana e a vacinação (vacinas atenuadas
e inativadas) são as principais ferramentas utilizadas para
controle da agalaxia. Entretanto, possuem desvantagens
como o risco de poder induzir sintomas, gerar pouca
resposta imune e, além disso, os micro-organismos podem
continuar a ser disseminados no ambiente. Apesar do
progresso na última década das estratégias terapêuticas e
de prevenção, os efeitos desse controle permanecem
ineficazes.5
CONCLUSÕES
As infecções por bactérias do gênero Mycoplasma tem
chamado a atenção das propriedades de criação de ovinos
e caprinos no mundo. Dessa maneira, podemos concluir
que deveria haver programas sanitárias e melhor controle
do rebanho com vacinações, além de uma melhor
alimentação e higiene do local para prevenir a introdução
e disseminação desses agentes infecciosos, por sua
manifestação ocasionar um impacto econômico muito
significativo na renda dos rebanhos leiteiros não só do
Nordeste brasileiro.
BIBLIOGRAFIAS
1. SANTOS, S. B. dos. Imunoperoxidase e métodos moleculares na
detecção de Mycoplasma spp. (Mollicutes: Mycoplasmataceae) em
conduto auditivo de bovinos e em Raillietia spp. (Gamasida:
Raillietidae). 2009. 76 f. Tese (Doutorado Ciências Veterinárias)-
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2009
2. AZEVEDO, E. O. Aspectos clínicos, microbiológicos, anátomo-
patológicos e epidemiológicos da agalaxia contagiosa dos ovinos e
caprinos (ACOC) no Brasil. 2005. 135 f. Tese (Doutorado em Ciência
Veterinária)-Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife,
2005.
3. BERGEY´S Manual of determinative bacteriology. Michigan: Michigan
State University, 2001. Disponível em: . Acesso em: 14mar. 2014.
4. WOUBIT, S. et al. A PCR for the detection of mycoplasmas belonging
to the Mycoplasma mycoides cluster: Application to the diagnosis of
contagious agalactia. Molecular and Cellular Probes, 21, p. 391-399,
2007.
5. GÓMEZ-MARTÍNA, A. et al. Controlling contagious agalactia in
arti?cial insemination centers for goats and detection of Mycoplasma
mycoides subspecies Capri in semen. Theriogenology, 77, p. 1252-
1256, 2012.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
119
ANEMIA INFECCIOSA EQUINA
Jacqueline Macedo Guerra¹*, Andressa dos Santos Alves1*, Carlos Eduardo Dayrell1, Daniel de Jesus
Pires Silvestre¹, Kamila Mara Batista de Sousa Neves¹, Rafael Noguerino Neto1, Wara Ochoa Kroger de
Alcantara1, Ana Luisa Soares de Miranda2. * [email protected]
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A Anemia Infecciosa Equina (AIE), pode-se ser conhecida
popularmente como Febre do Pântano ou AIDS equina,
sendo uma doença infectocontagiosa ocasionada por vírus e
é uma enfermidade que acarreta grandes perdas e é
considerada uma das principais enfermidades que atingem a
equideocultura1. A doença pode acometer os equídeos em
geral (cavalos, jumentos e muares) em qualquer faixa etária
e não se constitui cura dos animais infectados e sem a
existência de vacina na atualidade1. Os principais sinais
clínicos dos animais enfermos são febre, anemia, fraqueza e
trombocitopenia, porém muitos animais podem não
apresentar sinais clínicos, portadores assintomáticos. A
legislação vigente no Brasil determina que animais positivos
para a doença devem ser eutanásiados1-3. Este colóquio
apresenta-se com objetivo realizar uma revisão de literatura a
respeito da enfermidade, relatando sua etiologia,
epidemiologia, patogenia, sinais clínicos.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de buscas de
artigos nas bases eletrônicas da Scielo e Google Acadêmico.
Os critérios para seleção da bibliografia basearam-se em
documentos atualizados, confiáveis e coerentes com as
informações vistas na grande maioria das literaturas.
Palavras chaves: Anemia, Febre, infecção dos equinos,
microbiologia, AIE.
REVISÃO DE LITERATURA
O agente etiológico da doença é um vírus pertencente à
família Retroviridae, subfamília Orthoretrovirinae gênero
Lentivirus, sendo classificado como um Lentivírus. Ele
apresenta correlação intima com o Vírus da Artite-Encefalite
Caprina, o Vírus Maedi-Visna dos ovinos e os Vírus da
Imunodeficiência Humana e Felina (HIV e FIV)2,4.
A AIE e uma doença cosmopolita com exceção da Islândia e
do continente Antártico, sendo relatados surtos nos
continentes europeu, asiático e americano. No entanto
apresentando-se com maior prevalência nos trópicos, devido
ao ambiente favorecido para população de moscas,
tabanídeos e mosquitos, vindo daí o nome Febre do Pântano,
devido à grande população de artrópodes vetores se
localizarem em áreas pantanosas, onde a alta prevalência da
AIE3,5. Os tabanídeos são os principais e mais importantes
insetos responsáveis pela transmissão e propagação da AIE.
Além da transmissão da AIE ele também transmite uma
grande variedade de patógenos, como Anaplasma marginale,
Tripanossoma evansiie, T. vivax. Ainda existe a transmissão
vertical (intrauterina) e a horizontal (que é causada de forma
iatrogênica por fômites, leite, sêmen, etc.)3. No entanto, as
formas de maior relevância da transmissão e a vetorial e a
iatrogênica, que ocorre pela transfusão de sangue
contaminado ou uso de materiais contaminados (agulhas
descartáveis, instrumental cirúrgico, freios, esporas entre
outros)3. Todos os equídeos podem ser acometidos: cavalos,
pôneis, jumentos, burros/bardotos, independente da raça,
idade e sexo, e os que uma vez infectados são incapazes de
se curarem, se tornando animais portadores do vírus por toda
vida3,5.
Os tecidos- alvos do vírus infectas persistentemente células
da linhagem de monócitos/macrófagos. Sendo que os locais
que encontram maior carga viral são principalmente no
fígado, pulmão, rim e baço, e com níveis mais baixos porem
ainda detectáveis nos linfonodos, medula óssea e monócitos
circulantes. Os sinais clínicos são dependentes da presença
e da replicação viral nesses órgãos, assim determinando a
lesão nos tecidos, sendo observado em especial
hepatomegalia e esplenomegalia4.
Os sinais clínicos nos animais e dependente da forma com
que a doença se apresenta, se ela e aguda, subaguda e
crônica, sendo possível ter uma apresentação e desenvolver
outra apresentação. Por exemplo, um animal sem
manifestações clínicas como em uma infecção crônica, pode
ter a apresentação dos sintomas quando o animal
imunossuprimido, seja por tratamento com
imunossupressores ou por estresse5. Animais com a
enfermidade aguda exibem anemia, hipertermia que cursa
com a viremia, fraqueza e trombocitopenia, que duram de 3 a
5 dias. A fase crônica apresenta episódios de múltiplos e
recorrentes de febre e trombocitopenia. Pode-se observar
outras alterações clínicas como edema ventral, anorexia,
emagrecimento, esplenomegalia e hemorragias. Geralmente
os animais infectados por AIE são subclínicos, inaparente ou
discretos; os animais são assintomáticos, mas permanecem
como portadores do vírus e possuem anticorpos contra ele4,
cinco.
CONCLUSÕES
A Anemia Infecciosa Equina se apresenta como uma
enfermidade de grande relevância para a equideocultura, por
isso a propagação da informação e sua divulgação para a
comunidade com a conscientização do seu potencial danoso
e de grande valia para concretizar medidas de prevenção,
controle e vigilância epidemiológica, assegurando dessa
forma a sanidade dos rebanhos.
BIBLIOGRAFIAS
1. RODRIGUES, Davi dos Santos Relatório do Estágio
Supervisionado Obrigatório (ESO), realizado no Laboratório Federal de Defesa
Agropecuária em Pernambuco, município de Recife - PE, Brasil: Anemia
Infecciosa Equina: Revisão de literatura. – 2019.
2. COSTA, Ana Maria Paes Scott da. ANÁLISE TEMPORAL DA
OCORRÊCIA DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA NO BRASIL NO PERÍODO
DE 2005 A 2016 – Jaboticabal, 2018, 30p.
3. MCVEY, S.; KENNEDY, M; CHENGAPPA, M. M.; Retroviridae. In:
Microbiologia Veterinária. 3ª ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
4. MORAES, Daniella D.A.; GONÇALVES, Vitor S.P., MOTA, Ana
Lourdes A. de A., BORGES, José Renato J.. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EM EQUÍDEOS DE TRAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL. Pesq. Vet. Bras. 37(10):1074-1078, outubro 2017 DOI:
10.1590/S0100-736X2017001000006.
5. RIBEIRO, Taiã Mairon Peixoto & FREIRIA, Lucas Marlon. ANEMIA
INFECCIOSA EQUINA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL NO PERÍODO 2005-
2017. Bol. Mus. Int. de Roraima. ISSN (online): 2317-5206. v 12(1): 17– 23.
2018.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
120
BEM ESTAR DE GALINHAS POEDEIRAS: REVISÃO DE LITERATURA
Mariana Couto1*, Thayla Caldas1, Fernanda Silva¹, Paloma Lima¹, Carla Cristina¹, Gabriel Dutra²
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A avicultura vem crescendo no Brasil, com isso é necessário
atender as exigências, respeitando o bem estar animal.
Ao mesmo tempo que a produção e a demanda aumentam,
consumidores estão cada vez mais preocupados com a
maneira em que o animal é mantido durante a produção.
Esse crescimento vem mudando o perfil de produtores, sendo
assim, investindo em pesquisa e modelos de instalações.1
As necessidades fisiológicas, ambientais, sanitárias,
comportamentais e psicológicas estão relacionadas ao bem
estar gerando consequências positivas na produção animal. ²
Objetiva-se com este trabalho avaliar o bem estar na
avicultura de postura poedeira em relação aos seus sistemas
de criação.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido através de artigos científicos e revistas cientificas. REVISÃO DE LITERATURA
O monitoramento do ambiente em que as aves se encontram
é de extrema importância, pois é através do fator ambiental
que as aves conseguem manter sua homeotermia para
expressarem suas características produtivas. Uma das
principais discussões no setor de avicultura de postura é a
forma como que as aves são criadas, sendo que na maioria
dos países, os sistemas em gaiolas são os mais utilizados,
devido ao fácil manejo na produção de ovos, maior controle
sanitário, entre outros.3
Existem vários métodos de criação utilizados para pequenos
produtores (cage-free, criação caipira, criação intensiva, entre
outros). Dentre os métodos mencionados o caipira e
poedeiras são baseados no programa Cerified Humane o qual
é uma certificação para o sistema de produção caipira, onde
garante ao consumidor que os produtos realmente foram
produzidos atendendo ao bem estar animal. O sistema de
criação caipira geralmente é utilizado por produtores onde
preconiza a construção simples e funcional, a partir dos
recursos naturais disponíveis na propriedade, sendo assim
pode contribuir para a complementação de renda. Dentre os
mencionados o cage-free se destaca pelo modo de criação,
onde não é permito o confinamento das aves dentro de
gaiolas, as aves são criadas soltas e não tem acesso ao
campo, ficando somente dentro dos galpões, respeitando as
condições de bem-estar animal, e respeitando as exigências
estabelecidas na norma que são aplicáveis a todas as fases
de vida das aves, assim conseguem expressar melhor seus
instintos4. Esse tipo de criação é baseado no programa
Certified Humane, dando ao consumidor a garantia que os
ovos que ele consome foram produzidos atendendo o bem
estar das galinhas4. As aves tem acesso a ninhos e poleiros
e a densidade de aves também controlada, assim como
qualidade do ambiente (temperatura, umidade) e
alimentação, respeitando as fases de vida4.
Um dos principais desafios encontrados na avicultura é o
desconforto térmico que pode provocar uma série de
consequências que, por sua vez, estão intimamente ligadas à
queda no consumo de ração, menor taxa de crescimento,
maior consumo de água, aceleração do ritmo cardíaco,
alteração da conversão alimentar, queda na produção de
ovos e maior incidência de ovos com casca mole5. Esse
problema é minimizado na criação caipira cage-free.
Figura 1: Sistema cage-free
Fonte: Avicultura Industrial, 2019.
Figura 1: Sistema caipira
Fonte: Fazenda Experimental da Ressacada, 2011.
CONCLUSÕES
Após a revisão dos artigos relatados nesta revisão conclui-se
que independente do sistema de criação das aves poedeiras,
alguns aspectos básicos para o seu bem-estar são
necessários, mesmo que no sistema de avicultura
familiar/caipira. A combinação dos fatores citados no relato
aumenta o bem-estar das galinhas poedeiras
proporcionalmente uma melhor produção de ovos.
BIBLIOGRAFIAS 1. Barbosa Filho, J. A. D. (2004). Avaliação do bem-estar de aves
poedeiras em diferentes sistemas de produção e condições ambientais. 2. CASTILHO, V. A. R. et al. Bem-estar de galinhas poedeiras em
diferentes densidades de alojamento, v. 9, n. 2, p. 122-131, 2015.
3. Jacqueline Soares, R. (2016) Bem estar no sistemas de produção
de aves poedeiras.
4. DE OLIVEIRA, Roger et al. BEM-ESTAR DAS GALINHAS
POEDEIRAS. Anais Sintagro, v. 11, n. 1, 2019.
5. TRINDADE, Jair L.; NASCIMENTO, José WB; FURTADO,
Dermeval A, v. 11, n. 6, p. 652-657, 2007.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
121
BEM-ESTAR FELINO EM GATIS DE CRIAÇÃO
Anália Alves Gomes Araújo¹,
Arthur Tanure Sérvio¹, Carlos Tadeu Rodrigues dos Reis¹, Helen Myrian Nunes Melo¹, Jayne Moreira
Campos¹, Lucielly Thalita Rodrigues Machado Ferreira¹, Paula Ferreira Varandas¹, Sofia Pessoa Vieira Loiola¹,
Ana Luisa Soares de Miranda²
1 Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O bem-estar animal é o ato de promover fatores para
melhorar o ambiente que o animal está para garantir bem-
estar físico e psicológico a estes1. “As Cinco Liberdades”2
guias para o bem-estar, são animais livres de: fome e sede;
desconforto; dor, ferimento ou doença; para expressar seu
comportamento natural e medo e estresse. Uma maneira de
condicionar, isto é, pelo enriquecimento ambiental, que
permite que o animal tenha comportamentos naturais de sua
espécie, no caso, Felis silvestris catus, o gato doméstico.
O objetivo do trabalho é realizar uma revisão bibliográfica
sobre o bem-estar felino em gatis de criação relacionando
com o enriquecimento ambiental.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido a partir de artigos de revistas e
periódicos, teses de mestrado e doutorado de especialistas
em comportamento felino e etologia felina e a partir da
entrevista descrita no referencial bibliográfico pra a disciplina
de Projeto Interdisciplinar, realizada com a proprietária do
Gatil Libélula Azul, Vânia Rocha, que deu informações sobre
os cuidados que ela tem para manter os gatos em boas
condições de saúde, principalmente por serem da raça Persa.
RESULTADOS DE DISCUSSÃO
Segundo o CFMV3, gatis domiciliares precisam disponibilizar
pelo menos 6m² de espaço para cada animal adulto e pelo
menos 3m² para filhotes acima de 4 meses de idade, além de
ser seguro e livre de riscos para evitar que os animais sejam
lesionados por causa de materiais cortantes ou pontiagudos.
Estes requisitos são seguidos no Gatil Libélula Azul, como
pode ser visto na Figura 1, em um dos espaços destinados a
gatos adultos.
Figura 1: Espaço do gatil destinado a dois gatos adultos,
onde possui local para dormir, caixas de areia e brinquedos
para que eles se exercitem. Fonte: Arquivo pessoal.
Segundo a proprietária, os filhotes ficam junto das mães,
separados dos machos, para evitar novos cruzamentos,
descontrole populacional no gatil e estresse da gata, que
ainda está em processo de amamentação, ou de desmame,
dependendo da idade do filhote (Figura 2).
Um fator importante para o bem-estar é a disponibilidade de
alimento nutritivo e água, principalmente no caso dos felinos,
que podem desenvolver diversas doenças devido a
alimentação incorreta e baixa ingestão de água, como por
exemplo a Doença do Trato Urinário Inferior Felino4.
Figura 2: Local destinado a mãe e ao filhote, durante a fase
de amamentação e introdução alimentar do filhote. Fonte:
Arquivo pessoal
O enriquecimento ambiental também auxilia na manutenção
do estresse causado pelas visitas constantes de possíveis
compradores, já que há brinquedos, esconderijos,
arranhadores e ambientes com locais verticalizados e altos
para que os gatos possam ter controle do ambiente, observar
os arredores e descansar5. Estas estruturas e objetos evitam-
se mudanças fisiológicas, como o aumento de cortisol, um
sintoma clínico que indica estresse nos felinos,
principalmente6.
CONCLUSÕES
O enriquecimento ambiental auxilia no bem-estar dos gatos,
tornando-os mais ativos, saudáveis, além de desenvolver
habilidades naturais da espécie. Os objetivos do trabalho
foram analisar a vida dos animais nos gatis, propor
estratégias para o bem-estar e tornar o gatil um espaço mais
agradável para os gatos, já que é um local com visitas
constantes, o que estressa bastante estes animais, evitando
assim gastos excessivos com tratamentos de possíveis
doenças advindas da rotina do gatil.
BIBLIOGRAFIAS
1. ELLIS, S. Environmental Enrichment Practical Strategies for
Improving Feline Welfare. Journal of Feline Medicine and Surgery, London,
v. 11, n. 11, p. 901-912, Nov. 2009
2. FARM ANIMAL WELFARE COUNCIL. Annual Review 2009-2010.
London, 2010. 17p.
3. CONSELHO FEDERAL DE MEDICNA VETERINÁRIA. Manual de
Boas Práticas na Criação de Animais de Estimação: Cães e Gatos. Goiânia:
2019
4. LAZZAROTTO, J. J. Doença do Trato Urinário Inferior dos Felinos
Associada aos Cristais de Estruvita. Revista da FZVA Uruguaiana, v. 7/8, n.1,
p. 58-64. 2000/2001
5. DAMASCENO, J. Enriquecimento ambiental alimentar para gatos
domésticos (Felis silvestris catus): aplicações para o bem-estar felino. Ribeirão
Preto, 2012.
6. FAM, A. L. P. D., et al. Alterações no leucograma de felinos
domésticos (Felis catus) decorrentes de estresse agudo e crônico. Revista
Acadêmica Ciência Animal, Curitiba, v. 8, n. 3, p. 299- 306, Jul./Set. 2010
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
122
BOAS PRÁTICAS NA FABRICAÇÃO DO QUEIJO MINAS ARTESANAL
Aléxia Figueiredo Scarpelli¹, Ana Flavia da Costa Verly¹, Ana Luísa Carvalho de Vasconcelos¹, Bruna Alves
Jardim¹, Cristiane Rodrigues¹, Isabela Amanda Sousa Quintão¹, Marcela Tiemy Ishihara de Oliveira¹ e Tânia
Maria Leite da Silveira².
1 Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil- [email protected] 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte /MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O queijo artesanal é um dos maiores vínculos de pequenos produtores mineiros com o mercado, principalmente nas regiões de Araxá, Canastra, Campos das Vertentes, Serrado, Serro, Serra do Salitre e Triângulo Mineiro (1), porém os surtos investigados de infecção alimentar relacionados com leite e derivados têm sido associados, principalmente ao consumo de queijos artesanais do tipo Minas frescal, queijo Minas e de queijo Coalho (2).
Os queijos artesanais são elaborados a partir de leite cru, o que contribui para a sua susceptibilidade a contaminações microbianas. Além da qualidade da matéria prima os cuidados com a higiene na manipulação e armazenamento desses produtos também contribuem para a obtenção de queijos seguros (3).
Para a produção artesanal dos queijos, é importante a adoção de boas práticas de fabricação, a fim de atingir uma qualidade microbiológica desejável, garantindo, dessa forma, a segurança do alimento e a saúde do consumidor final. Desta forma o presente trabalho objetivou realizar, uma revisão de literatura, enfatizando a importância das boas práticas de fabricação para a garantia da qualidade microbiológica dos queijos artesanais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a elaboração deste trabalho foi realizada uma pesquisa nos meses de março e abril de 2020, utilizando artigos científicos que abordaram assuntos relacionados ao tema, nas bases de dados: Google Acadêmico, Science Direct e Scielo. REVISÃO DE LITERATURA
Os queijos artesanais de leite cru são muito apreciados pelo consumidor, porém suas práticas de fabricação muitas vezes inadequadas contribuem para impactam diretamente na qualidade e segurança desses produtos (1). Esses produtos são passíveis de contaminação devido à grande manipulação, além de ter como ingrediente principal o leite que é altamente susceptível ao crescimento microbiano devido a sua composição. Aliado a esse fator, os queijos quando processados com leite cru, sem aguardar o tempo mínimo de maturação e principalmente sem o emprego de boas práticas e tecnologias adequadas de fabricação, representam um risco para a saúde do consumidor (4,5). Alguns autores apontam que os queijos do tipo minas frescal comercializados no Brasil apresentam contaminação por patógenos como Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus e Aeromonas (6). Para alcançar produtos ricos nutricionalmente e cada vez seguros ao consumo humano, visando diminuir riscos com intoxicação alimentar, além da prática da inspeção após a sua elaboração é imprescindível que haja padronização de procedimentos necessários em todas as etapas de fabricação para obtenção de queijos livres de contaminação, obedecendo normas de boas práticas de acordo com a legislação vigente (7,8).De acordo com o RIISPOA (2017), as boas práticas de fabricação (BPF) são um conjunto de ações simples e eficazes que incluem instalações físicas adequadas, pessoal treinado e vestuário apropriado, assim como o cuidado na manipulação das matérias primas,
armazenagem, transporte e embalagens, abrangendo ainda recomendações sobre manutenções preventivas, calibração de equipamentos e rastreabilidade do produto (9,10). Tudo isso visando um produto de origem animal de qualidade livre de microrganismos patógenos e seguros para o consumo humano (8). Um estudo realizado por Pinto e colaboradores (10) avaliou a adoção das BPF em queijarias da região do Serro e correlacionaram com a contaminação dos queijos artesanais. Foram avaliadas 33 propriedades e as amostras de queijos produzidos nas mesmas. Os resultados demonstraram que 17 propriedades (57,5%) apresentaram-se inadequadas quanto às condições salubres de fabricação. Foi evidenciada uma correlação positiva entre as propriedades insatisfatórias quanto às BPF e a contaminação microbiológica, As amostras de queijo coletadas nas propriedades em condições insalubres de produção apresentaram maiores contagens de Coliformes a 30ºC, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Segundo os autores, a ausência de boas práticas de higiene pelos manipuladores se correlacionou com a presença de coliformes a 30ºC e S. aureus. CONCLUSÕES
A implantação e cumprimento das boas práticas de fabricação na produção de queijos artesanais são fundamentais para obtenção de um queijo de qualidade e livre de contaminações diminuindo os riscos para a saúde do consumidor. BIBLIOGRAFIAS 1- CAMPAGNOLLO, F. B., MARGALHO, L. P.,KAMIMURA, B. A., FELICIANO, M. D., FREIRE, L., LOPES, L. S.,SANT’ANA, A. S. Selection of indigenous lactic acid bacteria presenting antilisterial activity, and their role in reducing the maturation period and assuring the safety of traditional Brazilian cheeses. Food microbiology. 73, 288-297, 2018. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740002017310717 Acessado em: 14/03/2020.
2- DORES, M. T.; FERREIRA, C. L. L. F. Queijo minas artesanal, tradição centenária: ameaças e desafios. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável. v. 2, n.2., p. 26-34, 2012 Disponível em: https://periodicos.ufv.br/rbas/article/view/2754/1238. Acessado em: 14/03/2020.
3- SILVA, A. P. A. et al. Boas práticas de fabricação artesanal, qualidade microbiológica e rotulagem de queijo minas frescal acrescido de condimentos. Revista Científica do Curso de Medicina Veterinária, v. 4, n. 1, 2017. Disponível em: http://revista.faciplac.edu.br/index.php/Revet/article/view/370 Acessado em: 25/03/2020.
4- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Secretaria de defesa Agropecuária. Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos. Portaria nº 146, de 7 de março de 1996. Disponível em: https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-mapa-146-de-07-03-1996,669.html Acessado em: 27/03/2020.
5- PAULA, J. C. J., CARVALHO, A. F., FURTADO, M. M. Princípios básicos de fabricação de queijo: do histórico à salga. Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, 64(367), 19-25, 2009. Disponível em: https://www.revistadoilct.com.br/rilct/article/view/76/82 Acessado em: 02/04/2020.
8-PERRY, K. S. Queijos: aspectos químicos, bioquímicos e microbiológicos. Química Nova. 27(2), 293-300, 2004. Disponível em: http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=3951 Acessado em: 05/04/2020.
6- PERRY, K. S. Queijos: aspectos químicos, bioquímicos e microbiológicos. Química Nova. 27(2), 293-300, 2004. Disponível em: http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=3951 Acessado em: 05/04/2020.
7- IMA - Estabelece diretrizes para a produção do queijo minas artesanal. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA. Portaria n. 1.305, de 30 de abril de 2013. disponível em: <http://www.ima.mg.gov.br/portarias/doc_details/1159-portaria-no-1305-de-30-deabril- de-2013>. Acessado em: 08/04/2020.
8- MACHADO, R. L. P., MONTEIRO, R. Boas práticas de fabricação (BPF). Embrapa Agroindústria de Alimentos-Capítulo em livro técnico (INFOTECA-E), 2018. Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1110228 Acessado em: 80/04/2020.
9- BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Secretaria de defesa Agropecuária. RIISPOA, Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Brasil: Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Aniamal/MercadoInterno/Requisitos/RegulamentoInspecaoIndustrial.pdf>. Acessado em: 10/03/2020.
10- PINTO, M. S., FERREIRA, C. L. D. L. F., MARTINS, J. M., TEODORO, V. A. M., S, PIRES, A. C., FONTES, L. B. A., VARGAS, P. I. R. Segurança alimentar do queijo minas artesanal do Serro, Minas Gerais, em função da adoção de boas práticas de fabricação. Pesquisa Agropecuária Tropical. 39(4), 342-9347, 2009. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/pat/article/view/4509 Acessado em: 15/04/2020.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
123
CHLAMYDOPHILA PSITTACI: REVISÃO COM ÊNFASE NA RELAÇÃO ENTRE HUMANOS E AVES
Felipe Madureira Chagas1, Lucca Rezende Ferigato¹, Layssa Nathaly Fernandes Pedroso¹, David Soares
Martins¹, Marco Aurélio Alves das Neves¹, Ana Luísa Soares de Miranda2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Chlamydophila psittaci é uma bactéria intracelular
obrigatória1. Pode ser altamente contagiosa, infectando
várias espécies, inclusive humanos2.
O termo clamidiose se refere a enfermidade nas aves e
psitacose, nos humanos. É considerada a principal zoonose
transmitidas por aves silvestres, particularmente por
psitacídeos3. Indivíduos associados à criação de aves para
fim comercial ou de companhia são considerados grupo de
risco para infecção por C. psittaci 4.
Este trabalho tem como objetivo descrever os principais
danos causados por esse agente, assim como ferramentas
de diagnóstico e tratamento da doença nos psitacídeos e
mamíferos (destacando os humanos).
MATERIAIS E MÉTODOS
A fim de discorrer de forma sucinta e objetiva sobre o tema apresentado, esta revisão de literatura foi elaborada com o auxílio de revistas, livros e artigos nacionais e internacionais. O acervo utilizado foi obtido através de bases de dados científicos como Scholar Google, Scielo e PubMed. REVISÃO DE LITERATURA
O primeiro caso da doença em papagaios foi descrito por
Juergensen em 1874 na Europa5, e em humanos por Ritter
em 1879 na Suíça. O primeiro surto infeccioso de grande
importância ocorreu em Paris em 18926. Até esse período,
especulava-se que a origem desses surtos era da criação de
papagaios vindos da américa do sul, pois acreditava-se que a
doença era transmitida somente por psitacídeos. Porém em
1932 foi relatado que a transmissão também ocorria através
de galinhas doentes. Foram descritos também, em 1940,
relatos da doença em pombos e em 1948 em patos
domésticos6.
Após esses registros tomaram a conclusão que a criação
dessas espécies apresentava riscos de infecção aos
humanos. As aves infectadas liberam C. psittaci nas fezes e
descargas nasais. A infecção ocorre pela inalação desses
microrganismos que foram dispersos no ar.
A bactéria se espalha na corrente sanguínea e sistema
mononuclear fagocitário. Os principais órgãos afetados são
os pulmões. Fígado, baço, meninges e sistema nervoso
central também são atingidos. Algumas aves apresentam-se
assintomáticas, mas liberam microrganismo nas excreções7.
Nos humanos as manifestações clínicas são variadas, desde
sintomas leves à pneumonia grave. Os sintomas mais
comuns da psitacose são: mal-estar, dor de cabeça, calafrios,
mialgia, tosse improdutiva, febre e dispneia8.
Na forma aguda as aves apresentam: letargia, anorexia,
penas eriçadas, desidratação, blefarite e conjuntivite. Podem
ocorrer ainda alterações respiratórias (secreção nasal, rinite,
sinusite, dispneia), digestórias (diarreia), urinárias (excreção
de uratos amarelo-esverdeados) e reprodutivas (infertilidade,
mortalidade embrionária). Em estágio avançado percebe-se
alterações neurológicas, como tremores e convulsões9
Nas aves o diagnóstico através do exame clínico nem sempre
é assertivo, fazendo-se necessário a realização exames
laboratoriais para detecção de C. psittaci. Técnicas como:
cultura celular, ELISA e imunofluorescência indireta já foram
utilizadas10. Porém estas apresentam desvantagens na
utilização enquanto métodos diagnósticos8 10. Devido à alta
especificidade, sensibilidade, rapidez e disponibilidade em
laboratórios brasileiros, o uso da PCR apresenta grandes
vantagens sobre os métodos anteriormente citados8 10. Em
humanos, é utilizado teste de imunofluorescência para
detecção de anticorpos contra C. psittaci. O exame de PCR
também é utilizado para distinguir entre C. pneumonia, C.
trachomatis, C. felis e C. psittaci.
Pessoas que apresentem sintomas semelhantes à influenza
ou doenças respiratórias que tiveram contato com aves
infectadas devem procurar atendimento médico.
O tratamento da psitacose em seres humanos geralmente é
feito com doxiciclina por via oral11. Em aves o antibiótico
tetraciclina e rações com clortetraciclina constituem o
tratamento oficialmente aprovado12.
CONCLUSÕES
Através da leitura dos estudos aqui revisados, percebe-se o
potencial patogênico e zoonótico da bactéria C. psittaci e
como esta apresenta grandes impactos na saúde pública e
financeira para os criadores de aves.
Sendo assim, faz-se necessário a adoção de medidas
profiláticas como: atenção à identificação dos sintomas nas
aves, manejo seguro das aves infectadas e reforço da
sanidade no meio de produção.
Importante ressaltar também aos profissionais, veterinários,
tutores e criadores que têm contato direto com aves a
importância de consultar um médico caso percebam sintomas
semelhantes aos aqui descritos.
BIBLIOGRAFIAS 1. HARKINEZHAD, T.; GEENS, T.; VANROMPAY, D. Chlamydophila psittaci
infections in birds: A review with emphasis on zoonotic consequences. Vet.
Microbiol., v.135, p.68-77, 2009. 2. GERLACH, H. Chlamydia. In: Ritchie, B.W., Harrison, G.J., Harrison, L.R.
(Eds.), Avian Medicine: Principles and Application. Wingers, FL, pp. 984–996. 3. REVOLLEDO, L.; FERREIRA, A. J. P. Clamidiose aviária. Patologia Aviaria.
Barueri: Manole. 2009. p. 367 – 373.
4. MILLER, C.D.; SONGER, J.R.; SULLIVAN, J.F. A twenty-five year review of
laboratory-acquired human infections at the National Animal Disease Center.
Am. Ind. Hyg. Assoc. J., v.48, p.271-275, 1987
5. RASO, Tânia de Freitas. Clamidiose. In: CUBAS, Zalmir S.; SILVA, Jean C.
R.; CATÃO-DIAS, J. L. (org.). Tratado de animais selvagens. São Paulo: Roca,
2007. Cap. 67, p. 1497-1509. 6. BEER, Joachim. Doenças infecciosas em animais domésticos. V. 1. São
Paulo: Roca, 1988. p. 390-398.
7. FUDGE, A.M. Avian Chlamydiosis. In: ROSSKOPF, W.J. Diseases of cage
and aviary birds. Baltimore: Willians & Willians, 1997. p.572-585.
8. SMITH K. A. et. al. Compendium of measures to control Chlamydophila
psittaci (formerly Chlamydia psittaci) infection among humans (psittacosis) and
pet birds, 2005. Journal of the American Veterinary Medical Association Vol
226, No. 4, February 15, 2005.
9. ANDRE, J. P. La chlamydiose aviaire à Chlamydia psittaci chez les oiseaux
de cage: revue bibliographique. Rev Méd Vét, v. 145, p. 915929, 1994.)
10. PROENÇA, L.M.; Fagliar J.J.; Raso T.F. 2011. Infecção por C. psittaci: uma
revisão com ênfase em psitacídeos. Ciência Rural. Vol.41, no.5.
11. WEST Aundria, DVM. A Brief Review of Chlamydophila psittaci in Birds and
Humans. Journal of Exotic Pet Medicine, Vol 20, No 1 (January), 2011: pp 18–
20.
12. AMARAL, C. S.; DAMBRÓS, H. P. Psitacose. 2012.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
124
CISTITE AGUDA EM CÃES
Bianca Gouveia Mesquita¹, Daniele Alves Ozório do Nascimento¹, Gabrielle Caroline Cirino¹, Henrique Otero
Diegues Protzner¹, Larissa Ferreira Brito¹, Marcela Tiemy Ishihara de Oliveira¹, Alessandra Silva Dias2,
Bruno Divino Rocha2. 1Graduando em Medicina Veteirnária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A cistite aguda é uma infecção do trato urinário que leva à
inflamação da bexiga, ocorrendo geralmente quando as
bactérias que habitam a região perineal conseguem
penetrar pela uretra e se multiplicar na bexiga. As causas
mais comuns são infecções bacterianas das vias urinárias,
pedras na bexiga, pólipos, tumores e um defeito
anatômico, chamado de divertículo. É uma doença que
acomete cães de qualquer idade, machos ou fêmeas,
porém é mais frequente em cães idosos (JAVARONI,
2015). O sinal clínico mais frequente na cistite é o aumento
da frequência de micção com uma menor quantidade de
urina sendo expulsa, podendo acompanhar, às vezes, um
pouco de sangue, e também uma incontinência. Em casos
específicos, os animais podem apresentar dor ao urinar,
febre e perda de apetite (LOPES, 2016). Para chegar ao
diagnóstico definitivo de cistite aguda, é feito o exame
físico, análise e cultura da urina do animal. Existe também
a possibilidade de se fazer o diagnóstico por imagem,
usando a ultrassonografia, que permite a medição da
espessura da parede da bexiga (RENAL VET, 2020). O
presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de
cistite hemorrágica aguda associada a urolitíase em um
macho, da raça yorkshire, com 2 anos de idade, que foi
diagnosticado com a ajuda da ultrassonografia.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Foi atendido na Clínica Veterinária GRAND VETS, em Belo Horizonte, um cão da raça yorkshire com 2 anos de idade, com relato feito pelo tutor de que o animal urinava sangue há uma semana e meia. Ao exame clínico, observou-se que o animal estava com mucosas hipocoradas, sem reação a dor e parâmetros vitais sem alterações. Foi realizada uma ultrassonografia para a visualização dos órgãos abdominais (Fig. 1). Com esse exame foi possível identificar um cálculo na bexiga de 1cm (Fig. 2) e parede da bexiga espessada, sugerindo inflamação, sem nenhuma outra alteração nos demais órgãos abdominais, fechando o diagnóstico de cistite aguda associada a urolitíase
Figura 1: Bexiga do cão yorkshire com cistite aguda
associada a urolitíase.
Figura 2: Cão yorkshire com cistite aguda associada a
urolitíase evidenciando cálculo de 1cm presente na
bexiga.
Os urólitos (cálculos), quando presentes nas vias urinárias,
provocam uma das doenças mais importantes do trato
urinário nos animais domésticos, a urolitíase (formação de
cálculos). Em cães e gatos, os tipos de urólitos mais
comuns são de estruvita e oxalato, sendo encontrados
também em cães urólitos de purinas (INKELMANN, 2012).
Há muitos fatores predisponentes para a formação desses
cálculos, mas os mais importantes são o ph urinário (ácido
ou alcalino) e a infecção bacteriana do TUI (trato urinário).
Após a formação dos urólitos, ocorre a obstrução do fluxo
urinário, provocando de forma secundária a cistite (SAPIN,
2016). O diagnóstico tem o intuito de controlar a infecção
e trazer um maior conforto ao animal, já que muitos dos
casos de cistite tem associação com a dor ao urinar. No
caso do animal do relato, foi instituído um tratamento via
oral com o Gaviz 10mg durante 7 dias, Flamavet 0,5mg
durante 4 dias e Agemoxi CL 50mg durante 7 dias.
CONCLUSÃO
A cistite canina é uma inflamação na parede da bexiga urinária, acometendo cães de qualquer idade, podendo ser aguda ou crônica. O exame clínico de rotina, incluindo a urinálise, não é apropriado para fechar o diagnóstico da cistite, portanto, exames ultrassonográficos e a urocultura contribuem de modo definitivo para a confirmação do diagnóstico de cães que apresentam ou não sinais clínicos da cistite. BIBLIOGRAFIAS
1. INKELMANN M A. LESÕES DO SISTEMA URINÁRIO EM CÃES, Universidade Federal de Santa Maria, 2012, 19-20p. Tese de doutorado.
2. RENAL VET, Especialidades Veterinárias - Nefrologia/Hemodiálise/Diálise Peritonial – Cistite. Disponível em: <http://renalvet.com.br/especialidades-veterinarias/nefrologia/cistite/>. Acesso em: 23 Mar 2020.
3. SAPIN C F. Patologias do sistema urinário de cães e gatos, Universidade Federal de Pelotas, 2016, 16-25p. Dissertação do Programa de Pós Graduação em Veterinária.
4. JAVARONI, V. Cistite: sintomas, tratamentos e causas. Disponível em: <https://www.minhavida.com.br/saude/temas/cistite>. Acesso em: 23 Mar 2020. 2015.
5. LOPES, V. Cistite em cães – Causas, sintomas e tratamento. Disponível em: < https://www.peritoanimal.com.br/cistite-em-caes-causas-sintomas-e-tratamento-20331.html>. Acesso em: 23 Mar 2020. 2016.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
125
CLAMIDIOSE EM AVES SILVESTRES
Bruna Pimenta Dias de Andrade¹, Gabriella Rocha Franca¹, Giovanna Ferreira Leonel¹, Jéssica Caroline
Almeida de Sousa¹, Lucas Marques dos Santos¹, Nathália de Moura Brito¹, Tássia Melo Faria¹, Ana Luísa
Soares de Miranda² .
1Graduando em Medicina Veteirnária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG - Brasil
INTRODUÇÃO
A clamidiose tem como agente etiológico a Chlamydophila
psittaci e refere-se a uma doença infecciosa. Conhecida como
psitacose, ornitose ou febre dos papagaios, atualmente, o
termo clamidiose é utilizado para denominar a enfermidade
nas aves; e o psitacose, nos seres humanos¹. Os animais
selvagens podem atuar como reservatórios de Chlamydia
psittaci, e o contato com esses animais pode ser um fator de
risco para a transmissão dessa zoonose. A bactéria já foi
relatada em aves, anfíbios, répteis e mamíferos, sendo as
aves consideradas os principais reservatórios². Psitaciformes
de estimação, pombos-correio e pombos de vida livre são as
principais aves que atuam como reservatórios da psitacose3.
A realização de medidas de prevenção e controle são
fundamentais em criatórios, granjas e abatedouros,
objetivando evitar a disseminação do agente, diminuindo,
assim, o impacto da doença à saúde pública e os prejuízos
econômicos para o produtor 1 . O objetivo desse trabalho foi
realizar uma revisão de literatura sobre a clamidiose em
psitacídeos, uma vez que é uma doença que depõe contra a
produção comercial de psitacídeos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão bibliográfica utilizando os termos:
Clamidiose, Psitacose, Zoonose. A seleção dos artigos
obtidos foi baseada na Clamidiose e seu risco à saúde pública
dando-se prioridade para artigos publicados em periódicos
indexados e revisados por pares, a partir do ano de
publicação de 1998.
REVISÃO DE LITERATURA
A Clamidiose tem significado na saúde pública pois há uma
grande popularidade dos psitacídeos como aves de
companhia e por ser considerada uma zoonose que no
homem que pode apresentar um quadro clínico inaparente
até uma doença severa sistêmica4. A transmissão da doença
entre as aves ocorre por inalação ou ingestão do
microrganismo, bem como por contato direto com secreções
e/ou excreções contaminadas. A infecção também pode
ocorrer no ninho, quando os pais regurgitam para os filhotes
alimentos contendo células infectadas5. Pode acometer
também indivíduos que mantêm contato direto com aves e
animais, a exemplo de trabalhadores em abatedouros de
aves, lojas de animais ou proprietários de pássaros e outros
animais domésticos. Os surtos estão associados a locais
onde existam animais confinados, como zoológicos, centros
de triagens e em situações envolvendo transporte de animais 6 . Os estágios da doença são classificados nas formas:
superaguda, em geral, observada em aves jovens,
caracterizada pela ausência de sinais clínicos antes do óbito;
aguda, caracterizada por alterações relacionadas aos
sistemas respiratório, digestivo, genitourinário e nervoso,
sendo comum observar depressão, sonolência, anorexia,
asas pendentes, desidratação, conjuntivite (Fig.1) e tremores;
crônica, com sinais clínicos discretos como emagrecimento
progressivo, conjuntivite ocasional e alterações respiratórias
sutis; inaparente caracterizada pela inexistência de sinais
clínicos, a ave pode eliminar o agente de forma alternada por
vários meses, nestes casos, as aves podem apresentar
alterações como perda de peso, alterações no empenamento,
queda no desempenho reprodutivo e infecções bacterianas
secundárias1 . As tetraciclinas são os antibióticos mais
efetivos contra Chlamydia. As rações com clortetraciclina,
constitui o tratamento oficialmente aprovado mais comum.
Encontram-se comercialmente disponíveis sementes
impregnadas e rações ou pode se preparar uma mistura
cozida com clortetraciclina 1%7 .
Figura 1. Conjuntivite moderada em Nymphicus hollandicus
(calopsita).
Fonte: Setor de Animais Selvagens-Universidade Federal
Fluminense.
CONCLUSÕES
Conclui-se que a Psitacose/Clamidiose é uma doença
infecciosa de fácil contágio, o que demanda aos veterinários
um considerado nível de atenção e cuidado, principalmente
por afetar animais de várias espécies e também os seres
humanos. Ações como isolamento e quarentena de animais
afetados ou com suspeita de infecção são fundamentais.
Ressalta-se como notada a necessidade de mais estudos
aprofundados sobre o patógeno para melhores
esclarecimentos, a fim de obtenção de diagnósticos com mais
facilidade na prática veterinária.
BIBLIOGRAFIAS
1.REVOLLEDO, L.; FERREIRA, A. J. P. Clamidiose aviária. Patologia Aviaria.
Barueri: Manole. 2009. p. 367 – 373.
2.BURNARD, D; POLKINGHORNE, A. Chlamydial infections in wildlife-
conservation threats and/or reservoirs of ‘spill-over' infections?. Veterinary
Microbiology, v. 196, p. 78-84, 2016.
3. BEECKMAN, D. S. A.; VANROMPAY, D. C. G. Zoonotic Chlamydophila
psittaci infections from a clinical perspective. Clinical Microbiology and Infection,
Gante, v. 15, n. 1, p. 11-17, 2009
4.VASCONCELOS, T. C. B.; NOGUEIRA, D. M.; PEREIRA, V. L. A.;
NASCIMENTO, E. R., BRUNO, S. F. Chlamydophila Psittaci Em Aves
Silvestres E Exóticas: Uma Revisão Com Ênfase Em Saúde Pública.
Enciclopédia Biosfera. Goiânia, v.9, p.2463 - 2477, 2013.
5. CAVALCANTE, G. C. e CLAMIDIOSE AVIÁRIA: REVISÃO DE
LITERATURA (Trabalho monográfico de conclusão do curso de Especialização
em Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Selvagens e Exóticos. Brasília, fev.
2008.
6. RASO, T. F. Tratado de animais selvagens. Cap 47 Perissodactyla –
Tapiridae (Antas), 1006, p. 760-767. São Paulo: Roca, 2007
7. BIRCHARD, S.J., SHERDING, R.G. CLINICA DE PEQUENOS ANIMAIS,
Manual Saunders, editora Roca, p.1406-08, 1998.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
126
COLAPSO TRAQUEAL EM CÃES
Fernanda França Reis Paiva¹, Iris Maria Magalhães Soares Souza¹, Jéssica Ferreira de Paula¹, Laura Araújo Fortes Ribeiro¹, Lays Fernandes Guedes Silva¹, Luiza Gonzaga Batista Morato¹, Alessandra Silva Dias²,Bruno
Divino Rocha². 1Graduando em Medicina Veteirnária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
3 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O colapso traqueal é uma patologia recorrente nos casos clínicos de cães de pequeno porte, com etiologia desconhecida pode ser originada através de fatores como genéticos,nutricionais e degeneração da matriz cartilaginosa (FERIAN, 2009). É uma doença de grande destaque quando se refere a cães braquicefálicos, devido ao formato de seu crânio. Essa enfermidade se caracteriza pela diminuição do lúmen do órgão acometido, através de um achatamento dos anéis cartilaginosos presentes em sua estrutura, dificultando a passagem de ar e, consequentemente, alterando a funcionalidade do sistema respiratório. Frequentemente, os animais envolvidos apresentam tosse crônica e intolerância ao exercício, características marcantes da doença (FERIAN, 2009). Pode-se chegar ao diagnóstico de colapso de traqueia através de uma radiografia do tórax, ultrassonografia, fluoroscopia, traqueobroncoscopia e tomografia computadorizada. Sendo essas imagens feitas nas posições laterolateral em decúbito direito (SOUTO et al, 2015). Dependendo do grau da doença, serão indicados diferentes tipos de tratamentos, podendo ser eles: nos três primeiros graus de seriedade da patologia, procederão sendo tratados com medicamentos, e nos casos de maior avanço do colapso (cães com 50% ou mais de redução no diâmetro luminal da traqueia), a medida será indicar o animal à procedimentos cirúrgicos (HOLME, 2014).O trabalho tem como objetivo relatar um caso de colapso de traqueia, o qual faz uma revisão sobre alterações morfológicas, etiologias, prognóstico, diagnóstico e tratamento. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Foi atendido no dia 25/03/19, no Hospital Veterinário do
UNIBH, um cão macho castrado da raça Shih-tzu pesando 11
kg, com escore corporal 5. Tutor relata que o animal faz uso
constantemente de corticoides e apresenta fadiga, dificuldade
respiratória expressando sibilância, poliúria, polidipsia, tosse,
secreção nasal e êmese durante dois dias seguidos. No
exame clinico geral constatou-se uma sensibilidade traqueal.
A partir disso, foram solicitados exames bioquímico, citológico
devido a uma suspeita de dermatopatia, um hemograma para
análise dos níveis de cortisol no sangue. Além disso,
constatou um possível edema pulmonar através do raio-X.
Em 08/04/19 o animal retorna a clinica, apresentando
emagrecimento de 0,4kg, redução da tosse, entrando no
estágio final do desmame de corticoide. Foi feita a coleta de
sangue do paciente. Em seu retorno no dia 15/05/19, foram
feitas análises dos resultados referente aos exames
coletados (hemograma, exame bioquímico e nível de cortisol).
Foi solicitado o check up global de funções (contagem de
componentes sanguíneos, avaliação da função renal e
hepática). No dia 11/06/19, o animal apresentou FC 116bpm,
peso de 9,6kg, uma piora no odor da pele e em seu padrão
respiratório. Foi pedido novamente um raio-x. O animal foi
submetido a um tratamento por meio de medicamentos,
sendo eles: solução enteral de codeína o qual é utilizado para
o alivio das dores e tosse, sendo 1ml a cada 12h , Pneumoflox
que tem a finalidade de tratar infecções do trato respiratório,
sejam elas agudas ou crônicas causadas por
bactérias, Dermocalmante da ibasa que tem como finalidade
auxiliar na restauração de barreira da pele, hidratar e
restaurar juntamente com o condicionamento da pelagem , o
Biamotil-D que é uma solução oftálmica humana indicada
para o tratamento de infecções oculares, e inflamação das
pálpebras, Prednisona que é um anti-inflamatório indicado
para problemas gastro intestinais e problemas respiratórios e
por fim o Clavulanato que é um antibiótico para tratamento de
infecções bacterianas causadas por bactérias sensíveis a ele.
Além desses medicamentos foi recomendado o uso do
umidificador. Durante a radiografia tirada no dia 11/06/19 foi
constatada a patologia de Colapso Traqueal, a qual
demonstra a diminuição do diâmetro dorsoventral do lúmen
traqueal, ocasionado pela protrusão da membrana traqueal
dorsal. Os resultados obtidos com o uso do medicamento
comprovam uma alta eficácia ao tratamento a longo prazo dos
distúrbios cartilaginosos traqueais, permitindo uma melhora
significativa a sua função nos ciclos respiratórios.
Figura 1: Projeção radiográfica lateral direita da região
cervical do cão. Fonte: Braz J vet Res anim Sci, São Paulo,
v. 42, n. 6, p. 414-418, 2005
CONCLUSÕES
O colapso traqueal é uma patologia presente na clinica de
pequenos animais. O tratamento pode resultar numa
melhora dos sintomas e qualidade de vida do animal, sendo
necessário o diagnostico diferencial. Este é de extrema
importância, pois os métodos utilizados podem facilitar a
detecção da patologia e a exatidão em relação à gravidade
da doença. No entanto, para cães que não respondem bem
a terapia ou possuem sinais mais graves, é indicado à
intervenção cirúrgica.
BIBLIOGRAFIAS 1. Godinho,H.Anatomia dos ruminantes domésticos. Pontifícia
Universidade Católica,2006, Belo Horizonte. Livro de anatomia.p201.
2. Souto C, Martín C, Ferrente B, Pinto A. Métodos de diagnóstico
por imagem para avaliação traqueal em pequenos animais. Rev. Acad. Ciênc.
Anim., 13:111-123, 2015. Artigo: Rev. Acad. Ciênc. Anim., 2015, p.112-p.123.
3. Coelho,M.Atualização sobre tosse em cães.2014,Lavras.Revista
Científica de Medicina Veterinária.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
127
CONTAMINAÇÃO DE LINGUIÇAS ARTESANAIS POR SAMONELLA SPP
Camila Vieira, Felipe Azevedo Cicarelli¹, Giuliana Grossi Hofman Braccini¹, Lyara Avelar Portilho¹, Marysa
Gama Ladeira Franco¹, Matheus Henrique¹, Tania Silveira²
1Cursando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil * autor para contato:[email protected] ²Professora do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
De acordo com as pesquisas da confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA), a maioria dos produtores de
alimentos tradicionais e artesanais tem uma grande
dificuldade de cumprir as leis da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) sobre a comercialização dos
produtos, impedindo a expansão no mercado.1 A linguiça
artesanal entra nesse contexto devido ao alto índice de
contaminação por agentes microbiológicos, vindos da matéria
prima não inspecionada ou pelos manipuladores durante a
produção.2 Esta revisão literária teve como objetivo abordar a
prevalência de bactérias do gênero Salmonella em linguiças
artesanais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou-se uma revisão bibliográfica nas bases de dado Scielo e Medline, bem como dados de livros especializados na área. Utilizando como palavras chave: linguiça, contaminação, Salmonella, artesanal. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A manipulação dos alimentos é um fator favorável para o
desenvolvimento de microrganismos, devido ao alto risco de
contaminação pelo o uso dos utensílios e pela falta
higienização dos próprios produtores.3 O processo de abate
dos animais também permite a contaminação da matéria
prima utilizada para a preparação da linguiça por diversos
microrganismos, entre eles estão as bactérias Escherichia
coli, Samonella, Pseudomonas e Achromobacter. Esses
patógenos podem estar presentes no produto final, trazendo
riscos para a saúde do consumidor.4 De acordo com o
Ministério da Saúde a Salmonella é o gênero de maior
relevância na família Enterobacteriaceae, estando em foco
principal para a saúde pública, já que alimentos como as
carnes cruas são importantes veículos dessa bactéria, por
meio da exposição direta durante as operações de abate.5
Dentro do contexto das doenças transmitidas por alimentos,
a Salmonella se destaca (Figura 1), sendo responsável por
34,1% dos surtos de DTA no Brasil entre 2000 e 2017,
seguida da Escherichia Coli com 25%.⁶
Figura 1: Distribuição dos 10 agentes etiológicos mais
identificados em surtos de DTA entre 2000 a 2017.
Fonte: Food Safety 6
A ocorrência dessa bactéria em linguiças produzidas de forma
artesanal no Brasil foi relatada por alguns pesquisadores da
área. Um trabalho realizado no Rio Grande do Sul, com a
avaliação da presença de Salmonella spp em carcaças de
suínos e linguiças frescais produzidas com carne dessas
amostras, demonstrou que em 99 amostras analisadas ouve
prevalência de 93.94%⁸. Os autores correlacionaram a
contaminação das carcaças com a prevalência de Salmonella
nas linguiças artenais. No estado de Santa Catarina, um
estudo realizado com 200 amostras de linguiça suína
artesanal demonstrou uma prevalência de Salmonella spp.
em 27% das amostras.⁷ Outro trabalho realizado com 40
amostras de linguiças frescais artesanais apontou uma
contaminação por bactérias do gênero Salmonella em 30%
das amostras8. Nesse estudo os autores também analisaram
amostras de linguiças frescais inspecionadas, as quais não
apresentaram contaminação por Salmonella evidenciando a
importância da fiscalização no controle da qualidade de
linguiças. De acordo com a legislação brasileira em vigor,
RDC 12/2001 da ANVISA, não é permitida a presença de
bactérias do gênero Salmonella em nenhuma amostra de
produtos alimentícios comercializados no Brasil 10.
CONCLUSÕES
A Salmonella spp tem sido detectada em linguiças artesanais.
O alto índice de contaminação por essa bactéria pode trazer
impactos para o comércio e representa um grande risco para
a saúde pública.
BIBLIOGRAFIAS 1. Gustavo Porpino (RN648 JP). Agro em questão: alimentos artesanais e
tradicionais ganham espaço no mercado –
2. BEZERRA, M. V. P. et al. Avaliação microbiológica e físico-química de
linguiça toscana no município de Mossoró, RN. Arq. Inst. Biol., São Paulo,
v.79, n.2, p.297-300, abr./jun., 2012.
3. GEORGES, S. O. Ecofisiologia microbiana e micro-organismos
contaminantes de linguiça suína e de frango do tipo frescal B.CEPPA, Curitiba,
v. 36, n. 1, jan./jun. 2019.
4. GHAGAS, V. P. S. et al. Investigação de Salmonella spp. em produtos
cárneos de matadouros frigoríficos do estado do Pará no período de 2014-
2015. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v. 11, n. 1, p. 1–7,
jan-mar, 2017.
5. Manual Técnico de Diagnóstico Laboratorial da Salmonella spp. Série A.
Normas e Manuais Técnicos. 2011 Ministério da Saúde. Tiragem: 1ª edição.
Ficha Catalográfica,CDU616-074:613.2.099
6. Food Safety Brasil. Surtos Alimentares no Brasil 26 de fevereiro de 2019.
7. AUGUSTO, D.; RIBEIRO, S. Prevalência, quantificação e resistência a
antimicrobianos de sorovares de Salmonella isolados de lingüiça frescal suína.
Ciênc. Tecnol. Aliment. vol.28 no.4 Campinas Oct./Dec. 2008
8. CASTAGNA S.M.F et al. Prevalência de suínos portadores de Salmonella
sp. ao abate e contaminação de embutidos tipo frescal. Acta Scientiae
Veterinariae, v.32, p.141-147, 2004. 9. SOUZA, M. ET AL. Qualidade higiênico-sanitária e prevalência de sorovares
de Salmonella em linguiças frescais produzidas artesanalmente e
inspecionadas, comercializadas no oeste do Paraná, Brasil⁹. Arq. Inst. Biol.,
São Paulo, v.81, n.2, p. 107-112, 2014.
10. BRASIL. Ministério da Saúde. ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001.
Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. Diário
Oficial da União. Brasília, 2 de janeiro de 2001.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
128
CONTAMINAÇÃO DE LINGUIÇAS CASEIRAS DURANTE AS ETAPAS DE PROCESSAMENTO
Bruna Pereira da Silva1*, Carolina Gabrielle Ferreira Leite¹, João Vitor Milagre Gontijo¹, Milena Aguiar Araújo
Andrade ¹, Sabrynna Aparecida Barreto Balbino ¹, Stella de Paulo Rabelo Duarte Costa¹, Tânia Maria Leite da
Silveira². 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil - [email protected]
² Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
De acordo com a Lei federal nº 13.680, de 14 de junho de
2018 todo produto de origem animal produzido de forma
artesanal deve ser fiscalizado1. Atualmente, a
comercialização de produtos de origem animal produzidos de
forma caseira é uma forma de renda para diversas famílias.
No entanto, as práticas de higiene devem ser cumpridas, visto
que, influencia toda a cadeia de produção do alimento. A
produção artesanal ou industrial, assim como os tipos de
carnes utilizadas na fabricação da linguiça frescal, pode
contribuir para a má qualidade do embutido2. Microrganismos
patogênicos podem estar presentes nesses produtos quando
regras básicas de higiene não são cumpridas.
Em vista do citado, o objetivo deste trabalho foi realizar uma
revisão de literatura abordando dados sobre a contaminação
de linguiças caseiras, por bactérias do grupo coliformes,
durantes as etapas de processamento.
MATERIAIS E MÉTODOS
Realizou-se uma revisão da literatura utilizando artigos
científicos presentes na base de dados das plataformas:
Google Acadêmico, Scielo, Science direct, publicados entre
os anos de 2011 e 2019. As palavras chaves utilizadas foram:
linguiça, qualidade microbiológica, produto artesanal.
REVISÃO DE LITERATURA
De acordo com a legislação brasileira3, linguiça é o produto
cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de
açougue, adicionados ou não de tecidos adiposos, embutido
em envoltório natural ou artificial e submetido ao processo
tecnológico adequado. No decorrer dos processos de
produção até o consumo final, o alimento, principalmente o de
origem artesanal, pode ficar exposto a contaminações, tanto
por substâncias tóxicas, quanto por microrganismos. Durante
a fabricação falhas no processamento, como por
exemplo, falta de controle do binômio tempo e temperatura,
pode fazer com que, os microrganismos, como bactérias
proliferam, contaminando o produto com toxinas que podem
resultar em doenças transmitidas por alimento (DTA)4. É
observado em vários registros, que mesmo já pronta para
consumo, a linguiça caseira pode apresentar níveis de
contaminação por patógenos acima da permitida pelo
controle higiênico sanitário brasileiro. Dentre esses
patógenos destacam-se Escherichia Coli, que indica
contaminação fecal, bactérias mesófilas e psicrófilas, que
sendo detectadas em elevadas quantidades em alimentos
representam risco da presença de bactérias patogênicas
nesses alimentos. Isso evidencia alto risco para saúde dos
consumidores, já que são microrganismos de alta
patogenicidade4. Foi indicado também que o processo de
moagem à qual a carne é processada, favorece a
contaminação por esses patógenos, uma vez que aumenta a
superfície de contato e permite que resíduos de moagens
anteriores sejam agregados ao novo lote de fabricação5. Além
do grupo de microrganismos citados, a carne utilizada como
matéria prima também pode estar fora das condições
higiênicas necessárias5.Possivelmente sem fiscalização e
inspeção veterinária adequada. Um outro fator importante que
se correlaciona com o risco de contaminação das linguiças é
a forma como as mesmas são armazenadas. A linguiça in
natura pode apresentar maior quantidade de microrganismos
do que quando comparada às linguiças que foram
congeladas, refrigeradas e assadas. Um estudo realizado por
Nunes et al. (2019) que teve como objetivo avaliar as
condições higiênicas e sanitárias de linguiças caseiras
apontou diferenças na contaminação desses produtos ao
comparar as diferentes formas de acondicionamento
(Quadro1)4.
Quadro 1 – Resultados bacteriológicos das linguiças caseiras in
natura e após serem refrigeradas, assadas e congeladas.
Análise
bacteriológica
(UFC/g)
In natura
(Controle)
Refriger
ada
(8°C/15
dias)
Assada
(100°C/1
5 min)
Congelada
(-18°C/180
dias)
Coliformes a
37°C
3,60a 3,46a 0,84b 0,19c
Escherichia coli 3,60a 2,20b 0,03c 0,00c
Mesófilos 5,48a 2,38a 2,56c 3,19b
Psicrófilas 4,02a 3,35a 1,69b 0,00c
a, b, c = letras iguais, resultados semelhantes, P<0,05, UFC/g=unidade
formadora de colônias por gramas. Resultados em valores log10(x+1).
Fonte: Nunes et al. (2019).
Os dados do estudo apontam que a refrigeração doméstica
não é tão eficaz contra a proliferação dos microrganismos,
como o congelamento e assadura. Isso reforça ainda mais a
importância de sempre cozinhar e submeter os alimentos a
temperaturas adequadas de cocção antes de consumi-los.
CONCLUSÕES
A qualidade higiênica de linguiças produzidas de modo
artesanal está diretamente relacionada com a forma de
preparo e acondicionamento. Cuidados básicos de higiene
durante as etapas de preparo da linguiça artesanal reduzem
o risco de contaminação.
BIBLIOGRAFIAS
1. BRASIL. Ministério da Agricultura, Lei nº 13.680 de 14 de junho de 2018. Dispõe sobre a fiscalização de produtos artesanais. DOU. 2018.
2. GEORGES, S.O. Qualidade microbiológica de linguiças do tipo frescal e caracterização de isolados de Escherichia coli. Goiânia. Dissertação. Universidade Federal de Goiânia, 2015
3. BRASIL, Lei n.°9.013, de 29 de março de 2017.Institui o código civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n.62, p.3,30 de março de 2017.
4. NUNES, Lourena Paz Soares et al. Microbiologia de Linguiças Caseiras in natura, Refrigeradas, Assadas e Congeladas. Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, v. 23, n. 1, p. 67-69, 2019.
5. BARROS, F. Avaliações bromatológicas e microbiológicas de linguiça colonial suína e light. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso – UNIVATES, Lajeado, 2011.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
129
CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM HAMBÚRGUER ARTESANAL
Naiara Monteiro de Alcantara Siqueira1*, Tânia Maria Leite da Silveira2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil - [email protected]
2 Professor do departamento de Medicina Veterinária - UNIBH- Belo Horizonte – MG - Brasil
INTRODUÇÃO
O hambúrguer é um alimento muito consumido no Brasil,
principalmente pela praticidade do preparo, pelas ótimas
características sensoriais e bom custo benefício. De acordo
com o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Hambúrguer “entende-se por hambúrguer produto cárneo
industrializado, obtido de carne moída dos animais de
açougue, adicionado ou não de tecido adiposo e ingredientes,
moldado e submetido a processo tecnológico adequado.
Trata-se de produto cru, semi-frito, cozido, frito, congelado ou
resfriado”.¹ A inocuidade dos produtos de origem animal para
consumo humano é um elemento de grande importância para
os mercados nacionais e internacionais.² Sendo esses
produtos submetidos à manipulação excessiva sua
contaminação é favorecida, sendo necessária a avaliação da
qualidade higiênico-sanitária microbiológica, garantindo o
consumo de forma segura.³ Objetiva-se então a análise de
dados científicos pré-existentes sobre avaliação
microbiológica em hambúrgueres , a partir de revisão de
literatura. Desta forma será possível definir quais medidas
deverão ser tomadas para atingir o menor nível de
contaminação microbiológica possível.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram revisados artigos científicos das plataformas Scielo e Google Acadêmico com as palavras chaves: hambúguer, qualidade microbiológica e processo artesanal. REVISÃO DE LITERATURA
O hambúrguer teve origem na Alemanha, sendo degustado cru. Apareceu em Washington em 1889 e chegou ao Brasil nos anos 50.4 O avanço no mercado de produtos congelados explica a maior procura por hamburgueres sejam eles de aves ou bovinos. ³ A maioria das doenças transmitidas por alimentos (DTA s) sao decorrente do consumo de alimentos contaminados, especialmente os crus e produtos carneos. A maioria dos casos deve-se: a higiene precária de manipuladores, limpeza incorreta dos utensílios, preparo de alimentos com muita antecedência, aquecimento inadequado do alimento, refrigeração inadequada. Segundo o Ministério da Saúde, de 1999 a 2010, foram notificados 6.971 surtos de toxinfeccao, com registro de 88 óbitos no Brasil.4 O controle higiênico sanitário pós-processamento e fundamental para garantir a qualidade dos alimentos, tornando-se o principal instrumento para evitar os surtos de DTAs.4 Um estudo feito com 12 amostras de hambúrgueres coletadas na cidade de Campo Mourão (PA) analisou a qualidade microbiológica por meio da pesquisa de Coliformes totais, Coliformes termotolerantes, Staphylococcus coagulase positiva e bactérias mesofilicas. Os resultados apontaram que os hambúrgueres não estavam apropriados para o consumo, uma vez que apresentaram contagens de microrganismos acima do padrão estabelecido pela legislação vigente (Tabelas 1 e 2).
Tabela 1 - Contagem de coliformes totais e termotolerantes
em hamburguer comercializados em mercados na Cidade de
Campo Mourao, PR, 2013. Fonte: MENEZES; ALEXANDRINO (2014).
A presenca de coliformes totais e termotolerantes pode
indicar condicoes higiênico-sanitarias deficientes, colocando
em risco a saude dos consumidores.4
Tabela 2 - Mesofilos e Staphylococcus coagulase positiva
em hamburguer comercializados em mercados na Cidade de
Campo Mourao, PR, 2013.
Fonte: MENEZES; ALEXANDRINO (2014).
Todas as amostras analisadas encontravam-se com valores
elevados de contaminacao, ultrapassando os limites
preconizados pela ANVISA, que recomenda o limite de 5x103
UFC/g para Staphylococcus coagulase positiva. Já o número
elevado de bactérias aeróbias mesófilas indica falhas de
higiene durante o processamento desse alimento
representando um risco para a saúde do consumidor, uma
vez que todas as bacterias patogênicas sao mesofilas.4
CONCLUSÕES
Recomenda-se que as instituições estaduais encarregadas
exerçam todo controle e vigilância na produção desse tipo de
alimento, desde a escolha da matéria prima até os processos
de fabricação e manipulação dos hamburgueres.
BIBLIOGRAFIAS 1. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 12, de 02/01/2001. Regulamento
técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. Diário Oficial [da]
República Federativa do Brasil, Brasília, 02/01/2001, p. 1-54.
2. MACEDO, Acácio C; OLIVEIRA, Murilo NB; SOUZA, Stefânia MO.
Análise microbiológica de hambúrguer de frango produzido de forma artesanal.
REVET – Revista Científica de Medicina Veterinária UNICEPLAC, Brasília,
v.5, n.1, p.112-120, outubro, 2019.
3. NASCIMENTO, Maria da Graça F; OLIVEIRA, Carlos ZF;
NASCIMENTO, Elmiro R. Hambúrguer: Evolução comercial e padrões
microbiológicos. B. CEPPA. V.23, n.1, p. 59-74, jan/jun, 2005.
4. MENEZES, Amanda C; ALEXANDRINO, Ana Maria. Análise
Microbiológica de hambúrgueres comercializados em embalagens primárias e
secundárias. SaBios-Revista de Saude e Biologia. V.9, n.3, p. 94-100,
out/dez, 2014.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
130
CUIDADOS COM O LEITE NA PRODUÇÃO DO QUEIJO MINAS ARTESANAL
Bruna Loureiro Machado de Souza1, Deborah Gonçalves de Oliveira¹, Laura Julia Moreira e Silva¹, Marcela
Dantas Cunha¹, Regina Ribeiro Chaves1, Stella Gouthier Mourilha Munduruca1, Tânia Maria Leite da Silveira 2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil. [email protected]
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH - Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A produção de queijo Minas artesanal tem grande apelo
histórico e de tradição no estado de Minas Gerais. Dessa
forma, o modo artesanal da produção do queijo em Minas
Gerais foi tombado pelo Conselho Consultivo do IPHAN em
2008 (1), se tornando um patrimônio cultural imaterial para o
país. Além do poder cultural desse alimento, ele também
possui grande atuação na área econômica, sendo Minas
Gerais o maior produtor de queijo no país, com cerca de 25%
da produção nacional, de acordo com a Associação Brasileira
das Indústrias de Queijo (ABIQ)(2). Entretanto, por ser
produzido com leite cru, o consumo do queijo artesanal pode
representar riscos para a saúde, uma vez que podem estar
contaminados por bactérias patogênicas. Portanto, o
presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de
literatura abordando os principais procedimentos a serem
adotados na obtenção do leite para evitar o risco de
contaminação do queijo Minas artesanal com microrganismos
patogênicos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização do trabalho, foram utilizados artigos
encontrados nas plataformas Google Acadêmico,
ConScientiae Saúde e Scielo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Desde a origem da matéria prima até o processo de embalo
do queijo, é necessário uma higienização adequada, com o
intuito de reduzir a quantidade de microrganismos que
possam alterar a qualidade do queijo de forma negativa. A
qualidade do leite utilizado na fabricação do queijo influencia
nas características do mesmo. Durante a obtenção do leite
vários fatores podem favorecer a contaminação deste
alimento como, a falta de higienização das mãos e dos tetos
da vaca pelo retireiro (profissional responsável por retirar o
leite da vaca), a falta de equipamentos de proteção individual
para os funcionários da fazenda, a higienização incorreta dos
currais e ferramentas de captação do leite, entre outros (3).
Um estudo realizado por Miranda et al. (4) que objetivou
avaliar as boas práticas de fabricação na produção de queijos
artesanais em Teixeiras-MG, concluiu que a qualidade da
matéria prima é um fator importante na obtenção de um queijo
seguro do ponto de vista microbiológico. Nesse estudo os
autores realizaram análises microbiológicas em amostras do
leite cru e dos queijos artesanais produzidos nas
propriedades avaliadas. Foram feitas também análises
microbiológicas das mãos dos ordenhadores e
manipuladores, das caixas de transportes e de ambientes
próximos ao local de produção do queijo. Os resultados
demonstraram que o leite cru estavam com contagens de
bactérias aeróbias mesófilas acima do recomendado pela
legislação brasileira. Já as amostras dos queijos
apresentaram elevadas contagens de coliformes a 35ºC,
Segundo os autores apesar da legislação brasileira não
estabelecer padrões para coliformes a 35ºC, contagens
elevadas indicam condições precárias de produção. O nível
de contaminação das mãos dos ordenadores determinam a
qualidade microbiológica do leite utilizado na produção do
queijo. No estudo relatado acima as mãos dos ordenadores
apresentaram contagens de bactérias mesofílicas superiores
quando comparados com os manipuladores. De acordo com
os autores esses resultados indicaram que um dos maiores
problemas de contaminação, evidenciados no estudo foram
associados à ordenha. Um patógeno que pode estar presente
no leite e que está relacionado com a saúde e cuidados de
higiene com o animal é o Staphylococcus aureus, visto que
sua presença ocorre devido à mastite bovina (5), que é uma
infecção da glândula mamária desse animal. A vaca pode ser
contaminada durante a ordenha realizada com falta de
cuidados na higienização das mãos,, pelas máquinas de
extração do leite mal calibradas e falta de higiene dos
estábulos (6). No caso desse microrganismo ele se encontra
alojado tanto no animal, quanto no leite, que entra em contato
com o teto infectado durante a extração.
CONCLUSÕES
A qualidade do leite influência nas características
microbiológicas queijo artesanal. Desta forma a adoção de
boas práticas de higienização na ordenha para a obtenção de
um leite cru, sem contaminação microbiológica, são de suma
importância para a segurança dos queijos artesanais.
BIBLIOGRAFIAS
1- IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Patrimônio Cultural. Queijo artesanal de Minas vira patrimônio cultural. Disponível em http//: www.portal.iphan. gov.br. 2 – ABIQ. Associação Brasileira das Indústrias de Queijo (Abiq). Peodução
nacional de queijos. Disponível em http//:abiq.com.br.
3 - LIMA, ANABELE AZEVEDO; CARDOSO, ANNA JÚLIA V. Santana.
Qualidade microbiológica de queijo Minas frescal, artesanal, comercializados
em feiras livres do Distrito Federal. Braz. J. of Develop., Curitiba, v. 5, n. 9, p.
sep. 2019.
4- MIRANDA, G. R. et al. Queijos artesanais: qualidade físico-química e microbiológica e avaliação das condições higiênico-sanitárias dos
manipuladores e ambiente de produção. Extensão Rural, DEAR – CCR – UFSM. Santa Maria, v.23, n.1, p. 78-92, jan./mar. 2016.
5 - SANTIAGO, M. C. L. Pesquisa de Staphylococcus Coagulase Positiva
produtor da toxina 1 da síndrome do choque tóxico (tsst-1) em amostras de
queijo minas artesanal. Monografia (especialização) - Universidade Federal de
Minas Gerais, Minas Gerais.
6 - NETO, F. P.; ZAPPA, V. Mastite em vacas leiteiras- revisão de literatura.
Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, Ano IX – Número 16 –
Janeiro de 2011.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
131
DEBICAGEM NA CRIAÇÃO DE GALINHAS POEDEIRAS NO BRASIL
Karen Machado Magalhães1*, Alexandra Alves Fraga1, Jéssica Cordeiro Guedes¹, Maria Luiza Feital Martins¹,
Natalhia Nazaré da Silva¹, Gabriel Almeida Dutra2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
As galinhas poedeiras, até 1920, eram criadas em menor
quantidade e não havia um manejo elaborado. Ao decorrer
dos anos, o aumento das criações foi possível devido ao
desenvolvimento da incubação artificial, controle das doenças
e aos estudos relacionados à nutrição dessas aves. Com este
progresso a densidade das criações aumentou junto com o
tamanho das aves, gerando problemas comportamentais1.
Para reduzir os efeitos prejudiciais causados pela elevada
densidade de alojamento, é utilizada uma técnica chamada
debicagem que consiste na realização do corte do bico,
buscando uma equidade do peso corporal das aves e do
consumo alimentar, além de reduzir a perda de ovos oriunda
da bicagem dos animais e o desperdício da ração2,3. Esse
procedimento é um desafio para os criadores, tendo em vista
que pode causar dor às galinhas poedeiras e gerar estresse
se não for realizado corretamente4. Visando o bem-estar das
aves, em alguns países a prática da debicagem já foi proibida,
como na Finlândia, Noruega e Suécia, enquanto que no Brasil
ainda não possui uma regulamentação adequada, gerando
uma busca por métodos menos agressivos que mostram
benefícios para os animais ao realizar a técnica2,3,5. O objetivo
deste trabalho é mostrar os motivos da debicagem ainda ser
utilizada na criação de galinhas poedeiras no Brasil e quais
os meios para obter uma melhoria no bem-estar das aves.
MATERIAIS E MÉTODOS
As informações utilizadas para a realização da revisão de
literatura foram obtidas por meio de revistas científicas e
artigos científicos.
REVISÃO DE LITERATURA
Na avicultura industrial é comum a realização da debicagem
para que diminua uma série de problemas decorrente da alta
densidade das criações1. A redução desses problemas, como
o canibalismo, bicagem de penas e desperdício de ração,
levam a uma baixa mortalidade e agressividade dos animais,
melhora a conversão alimentar e diminui os ovos bicados
resultando no aumento da taxa de postura das aves4,6. A
prática consiste no corte e na cauterização da parte superior
e inferior do bico através de uma lâmina quente, como pode
ser observado na FIG. 1, e é feita nos horários mais frescos
do dia, como início da manhã e final da tarde, sabendo que
elevadas temperaturas levam os animais à um maior
estresse3. Este procedimento deve ser exercido com precisão
para que haja sucesso, portanto é importante que seja
realizada por uma equipe com experiência4. Quando a técnica
não for empregada adequadamente o animal pode sentir dor
e ficar mais estressado, influenciando na produção das
galinhas poedeiras3,4. Visando o bem-estar das aves, vê-se a
necessidade de desenvolver métodos alternativos que sejam
menos agressivos e mais eficientes, como a debicagem com
lâmina fria que consiste em realizar o corte do bico superior
com uma tesoura afiada, cessando o sangramento logo após
o procedimento; o desgaste natural da ponta do bico, onde o
ponto principal é o bem-estar devido ao fato de que ocorre
naturalmente quando as galinhas ciscam, sem precisar da
amputação, além de facilitar o manejo; com radiação
infravermelha que atua no tecido córneo do bico sem realizar
o corte e após o tratamento a região que foi exposta cai em
até 14 dias; e a laser, cujos aparelhos contêm um sistema de
resfriamento que anestesia o local, além de gerar calor para
que possa fazer o corte do bico em pintinhos com um dia de
vida, entretanto, não impede que o bico volte a crescer2,3,7.
Quando a debicagem é realizada de forma leve utilizando
métodos alternativos, as aves apresentam uma maior taxa de
postura e uma melhoria na conversão alimentar apresentando
maior peso corporal, enquanto na debicagem severa há a
diminuição do consumo de ração, piora na conversão
alimentar e uma menor produção de ovos2,4. Portanto, a
qualidade da prática de debicagem escolhida é importante,
sabendo que interfere na produção de ovos e na conversão
alimentar das galinhas poedeiras4,8.
Figura 1: Debicagem realizada com lâmina quente em
franga e em pintinho.
Fonte: de AVILA, V. S., ROLL, V., & CATALAN, A. D. S.
(2008).
CONCLUSÕES
Apesar da debicagem ser proibida em alguns países, no
Brasil a conduta ainda é realizada sem uma regulamentação
específica. Para que as galinhas tenham um bem-estar
adequado, é importante ter em mente que a prática traz dor e
prejuízo aos animais. Dessa maneira, a escolha de métodos
alternativos é necessária tendo em vista que diminuem o
sofrimento dos animais – visando o bem-estar – e trazem
benefícios para sua produção.
BIBLIOGRAFIAS 1. Craig JV, Swanson JC. Poultry Science, 1994, Jul.73(7); 921-938.
2. Vieira Filho JA et al. Pesquisa agropecuária brasileira, 2016,
Jun.51(6); 759-765. 3. De Avila VS, Roll VFB, Catalan AA da S. Embrapa Suínos e Aves-
Documentos (INFOTECA-E), 2008. 4. Araújo LF et al. Ciência Rural, 2005, Jan.Feb.35(1); 169-173. 5. Kuhn MF. Centro de Ciências Rurais, Universidade Federal de
Santa Maria, 2019, 16p. Dissertação de mestrado.
6. Laganá C, Pizzolante CC, Togashi CK, Kakimoto SK, Saldanha
ESPB, Álvares V. Revista Brasileira de Zootecnica, 2011, Jun.40(6); 1217-
1221. 7. Rooijen J, Haar JW. European Symposium On Poultry Welfare,
1992, Jun.; 141-1412. 8. Cunningham DL. Journal applied Poultry Research, 1992, Mar.1(1);
129-134.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
132
DIAGNÓSTICO DE CISTO INTRAUTERINO ATRAVÉS DE ULTRASSOM EM CADELA
Raphaela Caroliny Nunes de Souza¹, Ana Luiza Mol de Souza¹, Bárbara Cristina Chaves Riggio¹, Emerson
Augusto Crisostomo¹, Gabriela Almeida Dutra¹, Laura Barreto Tavares¹, Laura Ferreira Câmara¹, Alessandra
Silva Dias2, Bruno Divino Rocha2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Diferentes métodos de diagnóstico vêm sendo utilizados na
avaliação de doenças em animais. Dentre esses tipos de
exames a Ultrassonografia, na Medicina Veterinária, destaca-
se na área de imagenologia, devido ao avanço de pesquisas.
Isso possibilitou acessibilidade ao aparelho, bem como
imagens com resoluções em alta qualidade de estruturas e
órgãos em tempo real (FELICIANO et al., 2015). Além disso,
permite a avaliação de diferentes estruturas de modo não
invasivo, inócuo e seguro, tanto para o paciente, quanto para
o operador (SILVA et al., 2012).
Descrita na veterinária pela primeira vez em 1966 por Ivan
Lindahl nos Estados Unidos, essa metodologia de exame
utiliza, por intermédio de radiação não ionizante, obter
informações acerca da arquitetura dos tecidos e órgãos, bem
como suas características e motilidade (FELICIANO et al.,
2015). Com isso, ela pode ser aplicada em diferentes
situações clínicas, como o diagnóstico complementar de
patologias no útero, no qual iremos abordar neste artigo.
Nessa esfera, o presente trabalho busca relatar a história
clínica e o diagnóstico por ultrassonografia de um cisto
intrauterino de uma cadela da raça Poodle.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Em julho de 2019, uma cadela da raça Poodle, 12 anos de
idade, 4,5kg, não castrada, foi atendida em uma Clínica
Veterinária de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na anamnese, o
tutor relatou o surgimento de secreção vaginal de coloração
leitosa e prurido na vulva. Durante o exame clínico não foi
relatado nenhuma alteração fisiológica, porém foi requisitado
a realização de ultrassom abdominal para avaliação do útero
e ovários.
Ao Ultrassom (Figura 1) evidenciou-se presença de estrutura
tubular em topografia de útero de contornos mantidos,
dimensões levemente aumentadas (84,00 mm) e ecotextura
homogênea, com presença de cisto circular com interior
hipoecóico (1,08 cm x 0,85 cm), e com pequena quantidade
de líquido em região intraluminal.
Figura 1: estrutura circular com bordas bem definidas e
interior hipoecóico, sugestivo de cisto intrauterino.
Fonte: Dr. Caio Vieira.
Após a constatação da presença do cisto no útero, foi
recomendada e realizada a exérese uterina total (ovário-
histerectomia), que consiste na remoção total dos ovários e
útero (FOSSUM, 2014). Devido ao aspecto circular e bem
delimitado do cisto, levantou-se como suspeitas a hiperplasia
endometrial cística associada à piometra ou cistos de
inclusão da serosa uterina. Entretanto não foi realizado o
exame histopatológico para a confirmação do diagnóstico.
Um útero normal apresenta-se com uma estrutura
homogênea e hipoecóica, sendo difícil a distinção entre
miométrio e endométrio, enquanto o lúmen não é visto ou
aparece como uma linha ecóica central quando da presença
de muco (SILVA et al., 2012). Em casos de conteúdo
patológico do útero, observa-se a distinção do órgão com
presença de conteúdo luminal de variada ecogenicidade
dependendo do tipo de conteúdo presente (SILVA et al.,
2012).
A paciente ficou internada para observação nas primeiras
horas após o procedimento cirúrgico, sendo liberada no
mesmo dia com a devida prescrição médica: Dipirona
(500mg/ml) para analgesia; Flamavet (0.5mg) com ação anti-
inflamatória; Amoxicilina (250mg/5ml) com ação
antimicrobiana.
O retorno foi realizado 15 dias após o procedimento para
retirada dos pontos e avaliação geral, na qual não foram
observadas alterações dignas de nota ou novas queixas pelo
tutor.
CONCLUSÕES
Como considerações finais pode-se pontuar a importância do
método de Ultrassom para o auxílio do diagnóstico, pois
agilizou a resolução do caso, visto que as suspeitas têm
complicações de rápida evolução.
BIBLIOGRAFIAS
1. Feliciano, M. A. R., Canola J. C., Vicente, W. R. R. Diagnóstico Por Imagem em Cães e Gatos. 1ª Edição. MedVet, 2015.
2. Aguirra, L.R.V.M.; Marsolla, E.H.; Bernal, M.K.M.; Silva, S.K.S.M.; Pereira, W.L.A. Ocorrência e aspectos macro e microscópicos do cisto de inclusão da serosa uterina em cadelas e gatas. Archives of Veterinary Science. v.20, p.62-67, 2015.
3. Viega, G.A.L.; Miziara, R.H.; Angrimani, D.S.R.; Regazzi, F.M.; Silva, L.C.G.; Lúcio, C.F.; Vannucchi, C.I. Abordagem diagnóstica e terapêutica das principais afecções uterinas em cadelas. Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias, 2013.
4. Dlaeck, R.C.; De Nardi, A.B. Oncologia em cães e gatos. 2ª Edição. Rio de Janeiro, Roca, 2016. (Cap. 43; p. 803-805).
5. Fossum, T.W. Cirurgia de pequenos animais. 4ª Edição. Rio de Janeiro, Elsevier, 2014. (Cap. 27; p. 2209.).
6. Silva, L.D.M.; Souza, M.B.; Barbosa, C.C.; Pereira, B.S.; Monteiro,
C.L.B.; Freitas, L.A. Ultrassonografia bidimensional e Doppler
para avaliação do trato reprodutor de pequenos animais.
Ciência Animal, 22(1), 2012.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
133
DISENTERIA SUÍNA: REVISÃO DE LITERATURA
Amanda Oliveira Santos Silva1, Ednéia Vieira1, Gabrielle Lorrayne de Souza Oliveira1, Kivia Roberta da Silva1, Marina Soares Gomes Otero1, Ana Luísa Soares de Miranda2
1Graduandos em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
‘A biosseguranca (ou biosseguridade) em suinocultura se tornou uma tecnologia absolutamente primordial e essencial para a sobrevivência das explorações tecnificadas de suínos. O acentuado crescimento e modernização mundial da indústria suinícola nas últimas duas décadas tornaram clara e evidente a necessidade de uma maior e mais detalhada atenção à saúde dos plantéis.1.As doenças enzoóticas, que também recebem o nome de doenças de rebanho ou endêmicas, “ocorrem em grande parte das granjas tecnificadas de produção de suínos, onde há ampla microbiota de patógenos importantes2.O objetivo desse resumo é revisar a causa das grandes perdas da suinocultura nas instalações tecnificadas. MATERIAIS E MÉTODOS
Foram realizadas pesquisas e estudos através de artigos e revistas de outros estudantes e instituições para o esclarecimento e comprovação de uns dos desafios encontrados nas produções de suinocultura tecnificada. REVISÃO DE LITERATURA
Segundo MENDONÇA, et al 20133, a Disenteria Suína é uma enfermidade bacteriana altamente contagiosa caracterizada por diarréia mucohemorrágica e afeta principalmente leitões nas fases de recria e terminação. A Brachyspira hyodisenteriae, espiroqueta anaeróbia, é considerada o agente primário da disenteria suína. “As rotinas de diagnóstico laboratorial passam normalmente pela sua cultura em meios seletivos tratados com antibióticos, para que haja uma taxa de crescimento favorável para as espiroquetas e uma diminuição do crescimento das outras espécies bacterianas normalmente encontradas nas fezes dos animais” (RODRIGUES, 2015)4.Esta identificação é feita a partir de recursos a Polymerase Chain Reactions específicas para esta espécie que se trata de um método utilizado para amplificar e gerar cópias de fragmentos de DNA. "O uso de medicação profilática antes da fase usual do aparecimento dos sinais clínicos no plantel é também uma prática preventiva importante para o controle e redução das manifestacoes clínicas da doenca” (TAKEUTI, et al. 2013, apud GUEDES et al. BARCELLOS, 2012)5. Figura 1- Instalação tecnificada de produção da Suinocultura.
Fonte: Vaccinar-Nutrição e Saúde Animal
Figura 2 -Fezes suína acompanhada de sangue causada
pela bactéria Brachyspira hyodysenteria.
Fonte: Karine Ludwig Takeuti-Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) -Departamento de Medicina Animal
CONCLUSÕES Nas instalações tecnificadas deve se adotar medidas para reduzir o efeito dos fatores que facilitam a propagação da doença, como implantação do manejo all in all out, ou seja, todos dentro, todos fora, estabelecido para ajudar na desinfecção do ambiente onde ficam os suínos. BIBLIOGRAFIAS 1. BARCELLOS D.E.S.N., MORES T.J., SANTI M. & GHELLER N.B. (2008). Avanços em programas de biosseguridade para a suinocultura. Acta Scientiae Veterinariae. 36 (Supl 1): s33-s46. 2. ZANELLA, J. R. C., MORÉS, N., & BARCELLOS, D. E. S. N. D. (2016).Principais ameaças sanitárias endêmicas da cadeia produtiva de suínos no Brasil. Pesquisa agropecuária brasileira, 51(5), 443-453. 3. PASCOAL, M. L., MATOS, C. P. M., MACHADO, P. I., TRIACCA, P. C., GALDEANO, V. J. (2013). Disenteria Suína: Um Novo Alerta à Suinocultura Goiana.
4. RODRIGUES, R. J. L. (2015). Otimização e implementação de novas metodologias de diagnóstico microbiológico para a produção de vacinas de rebanho (Doctoral dissertation). 5. GUEDES, R. M. C. & BARCELLOS, D. (2012). Disenteria Suína. In:Sobestiansky, J. & Barcellos, D. Doenças dos Suínos. 2ªed.Goiânia: Cânone Editorial. p. 128-134.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
134
ECTOPARASITAS NA PRODUÇÃO DE AVES POEDEIRAS
Gleice Kelly da Silva de Oliveira1, Carine de Souza Magalhães¹, Rafael Alves Teresa¹,
Izabella Miranda Gurgel Lopes¹, Victoria Mayworm¹.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 3 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Os ectoparasitas referem-se a parasitas que vivem
externamente em seus hospedeiros, não necessariamente
estando alojado em seu corpo, seja na pele e/ou nas penas,
em contato para garantir sua sobrevivência. Presentes em
atividades como na avicultura industrial, seja de pequenos ou
grandes produtores, o controle e suas formas de combate,
bem como métodos de impedir a propagação se vê
importante. Visando o bem-estar desses animais, o trabalho
objetiva alternativas viáveis para contenção da disseminação
dos parasitas, além de garantia da qualidade de vida das
aves, a redução da mortalidade e de doenças transmissíveis,
evitando possíveis prejuízos e perdas econômicas para o
produtor. Foram reunidas informações pertinentes ao assunto
de modo a minimizar os impactos sugeridos, realçando
alternativas que possam cooperar com a melhoria nas
prevenções e cuidados no manejo.
MATERIAIS E MÉTODOS
As informações foram coletadas em estudos de caso, livros parasitológicos, sites agronômicos e veterinários, revistas científicas, para efetivar a revisão de literatura. REVISÃO DE LITERATURA
No Brasil, três espécies de ácaros hematófagos são
encontradas parasitando galinhas de postura: Dermanyssus
gallinae e Ornithonyssus sylviarum. Os ácaros hematófagos
são parasitas que realizam repasto sanguíneo necessário
para seu desenvolvimento. As aves que apresentam esses
parasitas apresentam sinais clínicos como anemia, irritação,
perda de peso, diminuição da postura, baixa produção e, em
alguns casos, até o óbito se decorrente a debilidade das aves.
A população do O. sylviarum cresce rapidamente, podendo
ser completada uma geração em cinco dias,
aproximadamente, tendo condição de viver além de seis
semanas na ausência do hospedeiro. Os parasitas formam
colônias no ventre e ao redor da cloaca da ave, deixando as
penas escuras e com aspecto de sujeira. (FIG 1) Pode-se
encontrar também nas fezes dos animais, quando a
manifestação alcança um nível elevado. Além de poder
infestar o cuidador das aves, levando a dermatites e alergias.¹
De acordo com a pesquisadora do Instituto Biológico de São
Paulo, Edna Clara Tucci, os ácaros de aves alimentam-se de
sangue, penas, linfa, restos de derme ou secreções sebáceas
que eles ingerem ao perfurar a pele.
Estes ácaros constituem um sério risco à avicultura, podendo
reduzir em até 50% na produção de ovos, dependendo do tipo
de ectoparasita e do número de aves afetadas, além do
descarte numa quantidade significativa de aves, de acordo
com a gravidade da infecção.²
Se a infestação for por Dermanyssus, é necessário tratar das
aves e também as instalações ou proximidades (FIG 2), pois
o ácaro vive em contato ou não com seu hospedeiro. Quando
a infestação for por Ornitonyssus, as aves devem ser tratadas
duas vezes, em intervalos de 5 a 7 dias.
As medidas viáveis são medidas preventivas de infestações.
Deve-se manter a propriedade devidamente limpa,
obedecendo as regras sanitárias na instalação, delimitando
com telas os ambientes para que não haja contato com outras
aves, lavar e desinfetar equipamentos, bem como observar a
maneira como as aves se portam. Orienta-se que os
trabalhadores diminuam a circulação entre os galpões e
evitem entrada de outras pessoas, uma vez que os ácaros
possam ser transportados nas roupas e na pele humana. É
importante examinar as aves, bem como suas instalações.
A incidência de poucos parasitas indica a necessidade de
conter a infestação, sendo alerta sobre medidas imediatas
para intervenção e cuidado com ambiente e os animais.
Cuidados com ectoparasiticidas devem ser previamente
indicados por um médico veterinário, com instruções
adequadas de manuseio, para evitar a contaminação do
criador e das aves através da água e alimentos. É
fundamental tratamentos por banhos, pulverização e
polvilhamento por parte de profissionais habilitados.
Figura 1: Ácaros da espécie Ornithonyssus sylviarum se
alojam próximo à cloaca, formando colônias nas penas. As
penas na região ficam escurecidas devido ao acúmulo de
sangue seco e excrementos dos ácaros.
Fonte: Revista do AnviSite, nº 51 - ano V
Figura 2: Ácaros da espécie Dermanyssus podem ser vistos
nas instalações, escondidos em frestas, fendas e acúmulo
de sujeira próximo às gaiolas das aves.
Fonte: Revista do AnviSite, nº 51 - ano V
CONCLUSÕES
O estudo ressalta a importância do manejo adequado dos
animais supracitados, bem como do ambiente. Tendo em
vista os impactos causados pelos ectoparasitas, o bem-estar
animal associa-se à produção eficaz nos âmbitos das aves
poedeiras.
BIBLIOGRAFIAS 1. (MATTHYSSE et al.,1974; DE VANEY, 1978; LANCASTER JR;
MEISH.,1986; GUIMARÃES et al., 2001).
2. https://www.avisite.com.br/revista/pdfs/revista_edicao51.pdf
3. http://www.ufrrj.br/rbpv/711998/c7171_78.pdf
%
Subtipo
2013
2014
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
*A exibição das imagens foi autorizada pela tutora
Figura 1.* Topografia ovariana esquerda medindo cerca 2,11cm x 0,89 cm. Com alguns aspectos císticos em permeio.
Figura 2.* Coto uterino. Aumento discreto de volume, medindo aproximadamente de 1 cm de diâmetro.
EMPREGO DA ULTRASSONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DA SOR – RELATO DE CASO Ana Caroline Amorim Teixeira1, Ana Luiza Santos Simplício¹, Estefânia Ribeiro Leal¹, Jessyca Karynne Vieira de Souza¹,
Kaio Lopes Ferreira Silva¹, Paloma Ramos da Cunha¹, Alessandra Silva Dias2, Bruno Divino Rocha2
1Graduando em Medicina Veteirnária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Síndrome do ovário remanescente (SOR) é um quadro
iatrogênico que consiste na presença de ovário funcional
após o procedimento de ovário-salpingo-histerectomia
(OSH). Por não ser uma situação corriqueira, possui três
possíveis causas: técnica cirúrgica inadequada; queda de
uma pequena porção do tecido dentro da cavidade
peritoneal após exérese dos ovários; ou presença de
tecido residual ovariano em um local diferente do de
origem. (Oliveira, 2007).
As fêmeas que possuem essa síndrome apresentam sinais
comuns das fases de estro e proestro, como atração dos
machos, interesse por acasalar e crescimento vulvar
(Oliveira, 2012).
O diagnóstico pode ser feito através de ultrassonografia,
laparotomia exploratória, além da cultura vaginal e das
análises séricas de estradiol e progesterona, que são
exames alternativos para a síndrome.
O presente trabalho tem como objetivo descrever um caso
clínico que mostrar a eficiência do ultrassom no auxílio do
diagnóstico da SOR.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Foi atendida em uma clínica veterinária particular de Belo
Horizonte, em outubro de 2019, uma cadela, sem raça
definida, pesando 17kg, que havia sido castrada no mês
de junho do mesmo ano. Na anamnese, o tutor relatou que
o animal apresentava inapetência, vulva inchada,
receptividade a machos e realizou a cópula. Além disso,
foi declarado pela tutora que o profissional responsável
pela castração do animal, informou que o procedimento
cirúrgico foi mais complicado devido a cachorra ter um
biotipo de falsa magra, apresentando uma maior
quantidade de gordura no abdômen e ao redor dos
ovários.
Ao exame clinico foi constatado que a paciente
apresentava aumento da vulva sem sangramento,
temperatura normal e sem alterações de linfonodo ou
mucosa. Também foi realizada a palpação na região
vulvar, a fim de observar as reações do animal quanto à
receptividade. Após a avaliação de todos os sinais clínicos
que eram indicativos de SOR, o médico veterinário sugeriu
que fossem realizados os seguintes exames: perfil
bioquímico, hemograma e perfil pré-anestésico com o
intuito de recomendar uma laparotomia exploratória para
identificar a localização do ovário remanescente. Nesses
exames foram constatados que o hematócrito e hemácias
estavam abaixo dos níveis normais, por isso a tutora optou
por realizar atendimento em outra clínica a fim de obter
uma segunda opinião, uma vez que a cadela já possuía
histórico de babesiose, e os resultados hematológicos
poderiam indicar uma recidiva.
No mesmo mês, a tutora levou sua cadela para ser
atendida em outra clínica veterinária. O médico veterinário
realizou as avaliações clinicas e solicitou novos exames
laboratoriais e ultrassonografia. Através dos exames
complementares, foram confirmadas ambas as suspeitas
iniciais; os laboratoriais confirmaram babesiose, e o
ultrassonográfico, a SOR (figuras 1 e 2).
A síndrome do ovário remanescente acomete mais gatas
do que cadelas, e o período para aparecimento dos sinais
clínicos variam desde o pós-operatório até anos após a
cirurgia. A SOR ocorre devido as falhas técnicas ou
localização anormal do tecido ovariano, como na união
com a parede abdominal. Esse tecido remanescente se
revasculariza e retoma a produção de hormônios, voltando
a ser funcional (Copat, 2015).
A ultrassonografia para localização do órgão deve ser
realizada nas fêmeas durante o período de estro ou
diestro, pois nessas fases a presença de folículos ou corpo
lúteos apresentando tamanho considerável facilita a sua
avaliação. Dessa forma, o ultrassom se torna uma
ferramenta importante no auxílio do diagnóstico. Contudo,
para o diagnóstico definitivo e o tratamento da SOR, é
necessário a laparotomia exploratória ou a
videolaparotomia (Biscarde, 2009).
CONCLUSÕES
A síndrome do ovário remanescente é um distúrbio que
frequentemente acomete animais de companhia e o
diagnóstico pode ser confirmado através de exames
laboratoriais ou exames de imagem, sendo o ultrassom um
método menos invasivo e preciso para a localização da
fração remanescente.
BIBLIOGRAFIAS 1. Biscarde C.E.A., Maziero R.R.D., Prestes N.C., Mattos M.C.C., Monteiro G.A., Stelmann U.J.P., Araújo G.H.M. & Bicudo S.D. 2009. Peritonite pós-cobertura em cadela Boxer apresentando síndrome de ovário remanescente (SOR) 2.Oliveira, Kellen de Sousa, et al. “Síndrome Do Ovario Remanescente Em Pequenos Animais”. Semina: Ciências Agrarias, vol. 33, no 1, abril de 2012, p. 363–80. www.uel.br 3. Oliveira K.S. 2007. Síndrome do resto ovárico. 4. Schiochet F., Beck C.A.C., Stedile R., Ferreira M.P., Contesini E., Alievi M.M., Santos Júnior E.B. & Breistsameter I. 2007. Ovariectomia laparoscópica em uma gata com ovários remanescentes. 5. B. Copat, R.O. Chaves, J.P.S. Feranti, et al. 2015. Ovariohisterectomia Videolaparoscópica em Cadela com Ovários Remanescentes e Piometra de Cornos Uterinos.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
*A exibição das imagens foi autorizada pela tutora
FATORES QUE PODEM INTERFERIR NA QUALIDADE DE LINGUIÇAS CASEIRAS
Bruna Medeiros1*, Júlia Valentim1, Maria Fernanda1, Natallia Comarella1, Sofia Belezia1, Tânia Silveira 2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil - [email protected]
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Receitas de linguiças caseiras são bastante comuns na
região mineira, principalmente em cidades do interior. No
Brasil, a média de consumo é de 11,97kg por habitante por
ano, com tendência de crescimento para os próximos
anos, sendo que os que mais se destacam são os
embutidos frescais, no qual se encontra a linguiça
artesanal 1. Na produção da linguiça artesanal é possível
encontrar carne de animais como frangos, porcos e
cordeiros, além da gordura, que deve representar 30% da
porção. Temperos ou especiarias como alecrim, tomilho,
pimenta, alho, sal, louro entre outros, são misturadas a
carne2.
A qualidade final da linguiça está diretamente relacionada
com a matéria-prima utilizada na elaboração do produto,
os cuidados com a manipulação e a temperatura de
refrigeração 2.
Desta forma o objetivo do presente trabalho foi fazer um
levantamento bibliográfico sobre os fatores que interferem
na qualidade das linguiças artesanais como: temperatura
e a presença microorganismos.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado através de uma revisão
de literatura em que foram utilizados artigos, pesquisados
na plataforma Google Acadêmico, publicados entre os
anos de 2010 a 2015. As palavras chaves foram: linguiça,
microrganismos e contaminação.
REVISÃO DE LITERATURA
Ao escolher um determinado alimento, o consumidor leva em consideração o preço, aparência e sabor. Porém a presença de substâncias tóxicas e de microrganismos não pode ser detectada apenas pela avaliação sensorial. A qualidade das linguiças depende de fatores importantes, como a matéria prima, condições de processamento, armazenamento e distribuição 2. Durante o processo de produção da linguiça, a matéria-prima é moída, aumentando assim a superfície de exposição para a contaminação e o desenvolvimento de microrganismos. Assim, independente do tipo de carne, a carga microbiana da matéria prima utilizada na fabricação da linguiça contribui para sua contaminação 1. Brito, Alves e Costa avaliaram carcaças de frango in natura comercializadas à temperatura ambiente, e encontraram contaminação por Salmonella spp e Staphylococus coagulase positiva 3. As linguiças preparadas a partir de matérias primas já contaminadas podem apresentar elevadas contagens de microrganismos 4. Alguns autores tem apontado ainda, a utilização de condimentos como fonte de contaminação das linguiças elaboradas de forma artesanal 5 . Outro fator que assume papel importante na qualidade de linguiças artesanais é o processo de manipulação. A falta de cuidados com a higiene são as principais causas de contaminação de produtos elaborados de forma artesanal 6. Um estudo realizado por ABREU, MEDEIROS e SANTOS 7, avaliou a contaminação das mãos de manipuladores de
alimentos e encontraram a presença de Coliformes termotolerantes em 62,5% das amostras analisadas, evidenciando a ausência de práticas adequadas de higienização das mãos. A temperatura de conservação durante a cadeia produtiva das linguiças também interfere na qualidade desse produto. A refrigeração inadequada da matéria prima, assim como do produto final são responsáveis por propiciar o crescimento de microrganismos que podem comprometer a qualidade das linguiças. A influencia da temperatura de armazenamento de linguiças caseiras foi avaliada em um estudo realizado por Nunes et al 8. Os autores relataram que a refrigeração de linguiças a 8ºC não inibiu o crescimento de coliformes, E. coli, mesófilas e psicrófilas. Já o congelamento a -18ºC por 180 dias reduziu significativamente as contagens de coliformes, E.coli e psicrófilas, mas não inibiu as mesófilas.
CONCLUSÕES
Para garantir a qualidade da linguiça caseira, é de extrema importância conhecer todos os processos que estão diretamente ligados a qualidade do produto final. A matéria prima selecionada para elaboração do produto, as condições higiênicas adequadas durante todo o processo de produção, manipulação e a manutenção da cadeia de frio interferem diretamente na presença de microrganismos nas linguiças e devem ser monitorados para garantir um produto de qualidade. BIBLIOGRAFIAS 1- GEORGES, S. O. et al. Ecofisiologia microbiana e micro-organismos contaminantes de linguiça suína e de frango do tipo frescal. B.CEPPA, Curitiba, v. 36, n. 1, jan./jun. 2019, 2- Microbiologia de linguiças caseiras: in- natura, refrigeradas, assadas e congeladas. 3- BRITO, D. A. P.; ALVES, L. M. C.; COSTA, F. N. Detecção de Salmonella Albany, Staphylococcus coagulase positivos e micro-organismos mesófi los em carcaças de frango in natura. Arq Inst Biol, v. 77, p. 149-152, 2010. 4- MARQUES, S.C.; BOARI, C.A.; BRCKO, C.C.; NASCIMENTO, A.R.; PICCOL, R.H. Avaliação higiênico-sanitária de linguiças tipo frescal comercializadas nos municípios de Três Corações e Lavras-MG. Ciência Agrotécnica, Lavras, v.30, n.6, p.1120-1123, 2006. 5- SOUZA, M. et al. Qualidade higiênico-sanitária e prevalência de sorovares de Salmonella em linguiças frescais produzidas artesanalmente e inspecionadas, comercializadas no oeste do Paraná, Brasil. Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.81, n.2, p. 107-112, 2014. 6- SANTOS, C.Y. Diagnóstico de situação da produção de linguiça fresca suína no Município de Rio Verde/GO. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2016. 7- ABREU, E. S.; MEDEIROS, F. S.; SANTOS, D. A. Análise microbiológica de mãos de manipuladores de alimentos do município de Santo André. Revista Univap, São José dos Campos-SP, v. 17, n. 30, dez. 2011. 8- NUNES, L. P. S. et al. Microbiologia de Linguiças Caseiras in natura, Refrigeradas, Assadas e Congeladas. Ensaios e Cienc., v. 23, n. 1, p. 67-69, 2019.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
HAEMOPHILLUS PARAGALLINARUM (GÔGO) Danielle Alves Manasses¹, Elieser Paiva Barreto Neto¹, Gabriel Rodrigues Dias¹, João Victor de Almeida
Carvalho¹, Juliana Gonçalves Vilela¹, Pedro Henrique Martins Pereira¹. Ana Luísa Soares de Miranda² . 1Graduandos em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte / MG – Brasil
²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte / MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A coriza infecciosa, vulgarmente denominada gôgo, é uma doença bacteriana respiratória aguda, subaguda ou crônica, altamente contagiosa e que afeta principalmente, o trato respiratório superior das aves. Causada pela bactéria Haemophilus paragallinarum, tem nas galinhas suas hospedeiras primárias.¹
Muito comum em criações de aves domésticas, comerciais e também de aves exóticas é caracterizada por corrimento nasal, espirros, edema na face (abaixo dos olhos), conjuntivite catarral e barbelas inchadas, especialmente nos machos. Muitas vezes, o sintoma mais visível e, às vezes, único, é a secreção nasal, que em aves com infecção recente é de cor clara, ficando mais consistente e amarelado com a persistência da doença.¹
Sua transmissão ocorre por meio de aerossol, principalmente por contato direto entre aves doentes; por moscas; contato das aves por fômites; ou pela ração e água contaminadas. Sendo as aves infectadas de forma crônica e mesmo as portadoras que não apresentam os sintomas, importantes disseminadoras da bactéria. A transmissão ocorre, normalmente, das aves de idade mais velha para as mais jovens, quando há criação de múltiplas idades em um mesmo local. É muito comum seu surgimento em lugares úmidos, sujeitos a correntes de ventos frios, assim como em abrigos e instalações mal construídas.¹
OBJETIVO
O objetivo do presente trabalho é fazer com que possamos compreender a respeito da coriza infecciosa, suas formas de transmissão, tratamento e cuidados que necessários com os animais. Além disso, iremos mostrar o impacto que essa doença traz para o meio de criação animal e para a economia como um todo.
MATERIAIS E MÉTODOS
O material foi adquirido a partir da leitura de artigos, revistas e pesquisas realizadas em sites especializados no assunto de avicultura. Para isso, foram utilizadas as seguintes palavras chave: coriza infecciosa, gôgo (conhecido mais popularmente por pequenos criadores) e Haemophillus paragallinarum (bactéria causadora da doença). REVISÃO DE LITERATURA
O agente causal da coriza infecciosa é a bactéria Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum, classificada como gram negativa, com requerimentos in vitro de dinucleótideo de nicotinamida e adenina (NAD) ou fator V. A associação com vírus respiratórios (doença de Newcastle, bronquite infecciosa, metapneumovírus, mycoplasma etc), bem como com bactérias oportunistas – (Escherichia coli, Gallibacterium anatis, Ornithobacterium, etc) agrava as manifestações clínicas da coriza infecciosa e afeta severamente os parâmetros produtivos. A coriza infecciosa é uma doença endêmica em países com medidas frágeis de biossegurança e granjas que abrigam aves de idades diferentes.²
• O impacto econômico dessa enfermidade em frangos de corte deve-se principalmente aos confiscos em plantas de processamento.
• Em aves de vida longa, o maior impacto incide na baixa da produção de ovos, que pode oscilar entre 2% e 40%.²
Para ser feito o diagnóstico, recomenda-se enviar o material (galinha viva ou cabeça acondicionada em gelo) para o laboratório. De forma a controlar a doença, devem ser elaborados programas de biossegurança e de vacinação. São feitas de duas a quatro aplicações, com intervalo de três a quatro semanas, via intramuscular na coxa ou no peito (a idade ideal para a primeira vacinação é a quinta semana de idade), o índice de mortalidade pode chegar a 50% das galinhas que contraem a doença.3 Nas galinhas em postura, causa uma perda significativa na produção de ovos, que geralmente varia de 10% a 40%. Em frangos de corte, pode causar uma condição descrita como "cabeça inchada" e ocasionalmente também causar septicemia e morte.4 O tratamento de aves contaminadas, a base de antibióticos, apresenta bons resultados de recuperação.³
CONCLUSÃO
O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou constatar que a coriza infecciosa aviária é uma doença respiratória aguda, grave, altamente contagiosa e que pode espalhar-se não somente pelas aves poedeiras, mas também para outros tipos de aves (domésticas ou não). No entanto, pode ser impedida com vacinação e/ou medicação preventiva. Desta forma, evita-se a disseminação da bactéria e, consequentemente, sua infecção. Além disso, existem cuidados que se tornam necessários no criatório, tais como: - Limpeza dos galpões; - Isolar as aves infectadas; - Permitir maior espaço para as aves transitarem. BIBLIOGRAFIA 1. Centro de Produções Técnicas e Editora Ltda (coriza infecciosa, manejo e tratamento) - 2020. 2. Copyright Grupo de Comunicação AgriNews SL. (Os impactos econômicos da coriza infecciosa) - 2018. 3. Aprenda Fácil Editora Ltda (Diagnósticos da coriza infecciosa) – 2020 4. Blackall, PJ e Terzolo, HR (1995) Coriza infecciosa: revisão de métodos de
diagnóstico e vacinas. Revista Argentina de Microbiologia, 27. pp. 156-174.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
HIGIENE E QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO QUEIJO MINAS ARTESANAL
Alice Magalhães Siqueira1, Gustavo Luidi de Freitas Fernandes¹, Ighor Henrique Oliveira Santos¹, Lídia Patrícia Barbian Fuchs¹, Maria Clara Ferreira Danucalov¹, Mariana Valle de Oliveira Carvalho¹, Tânia Silveira2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil- [email protected] 2 Professora do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O Queijo Minas Artesanal (QMA) é produzido nas regiões de Minas Gerais: Serro, Serra da Canastra, Cerrado, Araxá, Campos das Vertentes, Serra do Salitre e Triângulo Mineiro todos cadastrados no Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e reconhecidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater).1 De acordo com o Decreto 42.645, de 5 de junho de 2002, o queijo Minas Artesanal deve atender padrões microbiológicos como: Coliformes a 30ºC (n=5, c=2, m=1x103, M=5x103); Coliformes a 45ºC (n=5, c=2, m=1x102, M=5x102); Estafilococos coagulase positiva (n=5, c=2, m=1x10², m=1x10³) e Salmonella spp e Listeria monocytogenes (ausência de 25 g).2 Quando esses padrões microbiológicos não são respeitados, o consumo do QMA torna-se um risco para saúde humana. 3 A presença de bactérias como a Salmonella spp e o Estafilococus coagulase positiva pode provocar alterações gastrintestinais como diarreia e vômitos no consumidor. Já a ocorrência de Escherichia coli acima do estabelecido na legislação pode levar a produção de toxinas, além de gastroenterites.3
Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo relatar os principais fatores que podem afetar a qualidade microbiológica dos queijos Minas Artesanal. MATERIAIS E MÉTODOS
A revisão de literatura foi realizada com busca de artigos científicos, cadernos técnicos e matéria de publicação periódica nacionais e internacionais relacionados ao tema. Scielo, Google acadêmico, Locus UFV, Infoteca-e e Science Direct foram as plataformas utilizadas para pesquisa dos artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os produtos lácteos possuem uma microbiota cujas funções auxiliam no desenvolvimento das características sensoriais desses produtos e podem contribuir para a manutenção da saúde humana.4 Os produtores de queijo de massa crua aproveitam a ação dessa microbiota para a fabricação de seus produtos, pois são essas bactérias lácticas especificas que encaminham o queijo à fermentação e a maturação.5 Dentre esses microrganismos que auxiliam a fabricação dos QMA estão as bactérias ácido-láticas (BAL), que contribuem na redução e eliminação de outras bactérias patogênicas.1 Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus e Streptococcus são as principais bactérias desse grupo.1
As BAL competem com as bactérias patogênicas por nutrientes na qual as BAL produzem bacteriocinas e conseguem aumentar a concentração de H+, consequentemente diminui o pH, colaborando com a eliminação dos microrganismos patogênicos.1,5
A utilização das bactérias ácido-láticas é um processo peculiar na fabricação do QMA, pois o método convencional mais utilizado para reduzir a contaminação e eliminação de patógenos do leite é por meio da pasteurização, no entanto, o QMA é produzido com leite cru.1 Além disso, é necessário
o processo de maturação para um aumento da segurança alimentar, posto que os queijos Minas Artesanais que não passam por esse processo possuem inadequação em sua qualidade microbiológica.6 De acordo com o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) que consta no Decreto N° 9.013 de 29 de Março de 2017: “Queijo maturado e o que sofreu as trocas bioquímicas e físicas necessárias e características da sua variedade.”7 Durante a maturação ocorre processos de proteólise, lipólise e fermentação da lactose.5 Fatores como temperatura e tempo de maturação também interferem na qualidade microbiológica do QMA . Quando o queijo ainda em processo de maturação é colocado em temperatura abaixo da ambiente ocorre a inibição da BAL, como resultado a ação dessas são prejudicadas.6 Vale destacar que o RIISPOA exclui a necessidade de pasteurização para aqueles queijos que passaram pelo processo de maturação durante 60 dias ou mais, e em temperaturas acima de 5°C.7 Mostrando assim a importância da maturação na qualidade microbiológica.
Tendo em vista o modo como os queijos Minas artesanais são produzidos são necessários também cuidados rígidos de higiene para que não tenha a presença de microrganismos patogênicos. Esses cuidados iniciam a partir da sanidade animal, por meio de controle de zoonoses (como brucelose e tuberculose), controle de mastite e principalmente higiene e boas práticas no momento da ordenha.5 CONCLUSÕES
A qualidade microbiológica dos queijos Minas Artesanais está correlacionada diretamente com a ação das bactérias ácido láticas e ao correto processo de maturação, assim como a higiene e aplicação de boas praticas no momento da ordenha, que auxiliam na redução de contaminação do leite por bactérias indesejadas.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS
1. OLIVEIRA, Leticia Goulart. Influência do antagonismo por bactérias ácido-láticas e de maturação sobre a viabilidade de mycobacterium bovis BCG em queijo tipo Minas Artesanal.2018.135f. Tese (Doutorado em Ciência Animal) – Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais.
2. MINAS GERAIS. Decreto n° 42.645, de 5 de junho de 2002. Dispõe sobre o processo de produção de Queijo Minas Artesanal. Minas Gerais,2002.
3. FORSYTHE, Stephen J. Microbiologia de Segurança dos Alimentos. 2ª.ed.Porto Alegre: Artmed,2013.607p.ISBN 978-85-363-2706-8.
4. BRUNO, Laura M.; CARVALHO, Juliane D.G. Microbiota lática de queijos artesanais. Embrapa Agroindústria Tropical, 2009. ISSN 1677-1915.
5. ESCOLA DE VETERINARIA DA UFMG. Cadernos técnicos de veterinária e zootecnia: Queijo Minas Artesanal - 2019. Minas Gerais, dez. de 2019. 55p. ISSN 1676-6024
6. DORES, Milene T.; FERREIRA, Célia L.L.F. Queijo Minas Artesanal, tradição centenária: ameaças e desafios. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, v.2,n.2.,p.26-34, dez. 2012.
7. BRASIL. Decreto n°9.013, de 29 de março de 2017. Dispõe sobre o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem anima, que disciplina a fiscalização e a inspeção industrial e sanitária de origem animal. Brasil, 2017.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
IMPACTOS ECONÔMICOS CAUSADOS PELA MOSCAS-DOS-CHIFRES
Amanda do Carmo Gonçalves Pires1, Carolina Fonte-Boa Seuser1, Clara Grichtolik Dias¹, Fernanda Tofalini
Moreira¹, Jessica Micheli Chagas Pereira¹, Larissa Chyara Macclawd Vieira1, Larissa Magalhães Silva1, Laura
Pires Muzzi1, Ana Luisa Soares de Miranda2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A mosca-dos-chifres é um ectoparasita reconhecido como
uma praga de bovinos, tendo como aspecto mais prejudicial
o grande número de picadas dolorosas ao longo do dia sobre
o animal ocasionando-lhe um quadro de irritabilidade e
inquietude1.
O estresse gerado pelo parasita reduz o ganho de peso,
aumenta a mortalidade do rebanho e gera uma queda na
produção de leite, resultando em prejuízos ao produtor2. O
país tem aproximadamente 212,3 milhões de bovinos3, logo,
o parasita representa um grande potencial de impacto
negativo tanto para a atividade pecuária quanto para a
economia atual.
O presente trabalho tem como objetivo ressaltar os principais
impactos econômicos na produção de gado de corte e leite
causados pela mosca-dos-chifres no Brasil, visando
compreender melhor sobre a doença e o quanto ela pode
interferir na economia brasileira.
MATERIAIS E MÉTODOS
O resumo foi desenvolvido a partir da revisão de artigos, livros e trabalhos técnicos descritos ao final do trabalho, objetivando apontar os impactos econômicos causados pela mosca-dos-chifres. REVISÃO DE LITERATURA
O sistema produtivo da pecuária de bovinos no brasil é de
suma importância econômica pois impactam diretamente no
saldo da balança comercial do país. A mosca-dos-chifres
destaca-se dentre os ectoparasitas, de maior importância
econômica à pecuária em diversos países, causando danos
enormes para a bovinocultura, foram estimados em US$2,56
bilhões anuais4.
O rápido ciclo das moscas e as condições climáticas no pais
favorecem as infestações nos animais. Este inseto se
encontra nas partes do animal que ficam fora do alcance do
movimento da cabeça e cauda do animal (cupim, costa,
barriga e pernas). As épocas de maiores infestações nos
animais estão associadas a períodos relativamente quentes e
à ocorrência de chuvas moderadas, coincidentes com o início
e final da estação chuvosa na região Centro-Oeste5. As
mosca-dos-chifres causam prejuízos ao rebanho, reduzindo o
ganho de peso e aumentando o índice de mortalidade2. Outro
prejuízo importante causado por H. irritans estaria
relacionado à qualidade do couro dos animais infestados.
Além disso segundo Winslow6, a irritação provocada pelas
picadas constantes e dolorosas de H. irritans faz com que os
animais percam o interesse em se alimentar e não
descansassem, reduzindo assim, o ganho de peso em até
225 g por dia e a produção leiteira em 20%. É através da
análise econômica que o produtor passa a conhecer cada
atividade da empresa rural, podendo assim concentrar
esforços nos principais pontos de estrangulamento do
processo produtivo7.
Foto 1: Mosca-dos-chifres
Fonte: www.agroveterinariarivoira.com
CONCLUSÕES
A bovinocultura, leiteira e de corte, é afetada negativamente
com a mosca-dos-chifres devido ao alto índice de afecções,
que acomete, além de desconforto animal, perda produtiva
considerável. Além disso, o couro dos animais que são
acometidos a uma quantidade elevada de H. irritans,
geralmente, possui má qualidade, potencializando a perda
econômica relacionada a esse ectoparasita.
BIBLIOGRAFIAS 1. HARRIS, R. L.; CHAMBERLAIN, W. F.; FRAZAR, E.
D. Horn flies and stable flies: free-choice feeding of
methoprene mineral blocks to cattle for control. J. Econ. Entomol. , v.
67, n. 3, p. 384-386, 1974.
2. SOARES, M. A.; FAGUNDES, L. N. M. Benefícios dos coleópteros coprófagos para a pecuária: controle biológico, estrutura, fertilidade e ciclagem de nutrientes do solo. 2010.
3. Instituto Brasileiro Geografia e Estatística [IBGE]. 2014. Diretoria de pesquisas, coordenação de Agropecuária, Pesquisa da Pecuária Municipal. Disponível em: <http://censo2010.ibge.gov.br/noticiascenso.html?view=noticia&id=1&idnoticia=3006&bus ca=1&t=ppm-2014-rebanho-bovino-alcanca-212-3-milhoes-cabecas>.
4. GRISI, L.; LEITE C.R.; MARTINS S.R.J.; BARROS M.T.A.; ANDREOTTI R.; CANÇADO D.H.P.; LEÓN P.A.A.; PEREIRA B.J.; VILLELA S.H. Reassessment of the potential economic impact of cattle parasites in Brazil. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária 23(2): 150-156. 2014.
5. BARROS, A. T. M. Aspectos do controle da mosca-dos-chifres e manejo de resistência. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2005. 23p.
6. WISLOW, R. B. Reguladores de crescimento de insetos e controle da mosca dos chifres. A Hora Vet., v. 11, n. 65, p. 38-40, 1992.
7. Lopes, M.A.; dos Santos, G.; Neto, A.F.; Lopes, L.M.F.; Demeu, F.A.; Resende, B.L. 2012.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
IMPORTÂNCIA DO RAIO X NO DIAGNÓSTICO DE DISPLASIA COXOFEMORAL EM CÃES
Fernanda Carolina Neves Silva¹, Rafaela Espírito Santo Oliveira¹, Elisa Helena Menezes Dalariva¹, Gizele
Cristine Figueiredo Ricardo¹, Júlia Beatriz Pimentel da Silva¹, Rafaela da Silva Coura¹, Raquel de Oliveira
Ferreira¹. Alessandra Silva Dias², Bruno Divino Rocha². 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor(a) do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A displasia coxofemoral é uma enfermidade articular
recorrente em cães de médio e grande porte, sendo mais
comum nas raças Labrador, Golden Retriever, Rottweiler,
Pastor-Alemão, entre outras¹. A DCF tem sido
intensivamente estudada desde a sua primeira descrição em
cães, em 1935 (Banfield et al. 1996). Por ser uma doença
frequente na rotina de clínicas, deve ser considerada de
grande importância veterinária. Este distúrbio ortopédico se
caracteriza devido a uma falha no encaixe da cabeça do
fêmur com a cavidade do acetábulo que se refere à
articulação do quadril, podendo causar, muitas vezes, uma
disfunção uni ou bilateral dos membros inferiores do
indivíduo, prejudicando a sua movimentação e qualidade de
vida². Os animais acometidos nascem com uma
predisposição genética, já que se trata de uma doença
hereditária, mas não congênita. Os fatores externos, como o
ambiente em que o animal vive, alimentação rica em
carboidratos e a falta de atividades físicas, também podem
afetar o desenvolvimento esquelético influenciando no grau
de displasia, podendo ser de uma alteração óssea até o
desgaste total da articulação³. Os principais sinais clínicos
apresentados pelo animal afetado são: diminuição da
atividade do animal, dor nas articulações acometidas,
dificuldade para se movimentar, caminhar e correr,
claudicação e atrofia muscular. O diagnóstico é confirmado
por meio da realização de exames radiográficos da
articulação coxofemoral do animal4. Nesse contexto, o
trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma cadela que
teve como suspeita clínica displasia coxofemoral, utilizando
o raio-X como exame complementar para confirmar o
diagnóstico.
RELATO DE CASO
Foi acompanhado o caso da cadela Bia, da raça Akita, com
nove anos de idade, fêmea, pesando 32 kg, que foi atendida
no dia 06 de janeiro de 2020 na Clínica Veterinária Animália,
em Santa Luzia. O animal apresentava tremores no membro
pélvico esquerdo e dificuldade ao se levantar. No exame
clínico foi feita anamnese, inspeção e exame físico, incluindo
movimentos de Sinal de Ortolani, que consiste em
movimentos estimulados pela palpação do examinador na
região fêmur e pelve e assim sendo possível detectar
precocemente uma frouxidão na articulação coxofemoral. A
médica veterinária indicou que fizesse exames radiográficos
nas projeções ventrodorsal e laterolateral direita com foco na
avaliação da pelve e membros pélvicos, e prescreveu os
medicamentos Dipirona 500mg e Prednisona 20mg para
aliviar a dor. O raio-X foi realizado no dia 07 de janeiro de
2020 e o animal retornou à clínica dia 09 de janeiro de 2020.
No retorno a médica veterinária avaliou os exames
radiográficos e confirmou o diagnóstico de displasia
coxofemoral, de grau leve. Prescreveu um novo
medicamento (Procart 25mg) para uso contínuo e descartou
sessões de fisioterapia. Foi recomentado reexaminar o
animal anualmente. Caso o quadro do animal fosse
considerado grave seria submetido à cirurgia para a
implantação de pino no interior do fêmur para refazer a
ligação da cabeça deste com o acetábulo. Também há a
possibilidade de implantação de uma prótese na articulação
afetada5.
Figura 1: Imagens de raio-X da cadela com suspeita de
DPC.
A. Posicionamento Dorso ventral
B. Posicionamento Laterolateral direito.
CONCLUSÕES
A utilização da radiografia na Medicina Veterinária é de
grande importância, pois serve de auxílio para avaliação de
diversas estruturas anatômicas do paciente. Sem essa
técnica seria difícil o diagnóstico desse animal, e caso não
fosse feito prontamente o quadro poderia ter se agravado
para uma artrose, um diagnóstico irreversível.
BIBLIOGRAFIAS 1. LOPES, Vanessa. 10 raças de cães propõem um deslocamento de
quadril. PeritoAnimal. set./2016. Disponível em:
https://www.peritoanimal.com.br/10-racas-de-caes-propensas-a-displasia-de-
quadril.html. Acesso em: 29 mar. 2020
2. SYNTEC. Displasia coxofemoral em cães – Causas, tratamento e
prevenção! Disponível em: https://syntec.com.br/news/displasia-coxofemoral-
em-caes-causas-tratamento-e-prevencao/. Acesso em: 23 mar. 2020.
3. TORRES, R.C.S.; FERREIRA, P.M. e SILVA, D.C. Frequência e assimetria
da displasia coxofemoral em cães Pastor-Alemão. Arq. Bras. Med. Vet.
Zootec. [online]. 1999, vol.51, n.2, pp.153-156. ISSN 0102-
0935. https://doi.org/10.1590/ . Acesso em: 29 mar. 2020
4. MELO, DG D; LEITE, CA L; NEVES, CDC RADIOGRAFIA E
ULTRASSONOGRAFIA DA DISPLASIA COXOFEMORAL EM CÃES -
REVISÃO DE LITERATURA: REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE
MEDICINA VETERINÁRIA: Periódicos Semestral, n. 19, jul./2012. Disponível
em: http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/pdf. Acesso
em: 29 mar. 2020.
5. AGOSTINHO, I. V.; DUARTE, M. A.; CORRÊA, F. G. Displasia óssea –
Tratamentos e métodos radiográficos na incidência de displasia coxofemoral
em cães.: REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE MEDICINA
VETERINÁRIA: Periódicos Semestral, jul/2010. Acesso em: 18 abr. 2020.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
LEISHMANIOSE E SUA MANIFESTAÇÃO EM ÓRGÃOS INTERNOS
Aline Araújo1, Ana Trigueiro¹, Iara Ribeiro¹, Izabella Caroline¹, Lucas Raidan¹, Natália Paiva¹,
Alessandra Dias², Bruno Divino².
1Graduando em Medicina Veteirnária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A Leishmaniose é uma patologia multifacetada, se
apresentando de forma cutânea ou visceral, é causada por
parasitas do gênero Leishmania, sendo transmitida através
da picada do mosquito palha (Lutzomyia longipalpis) que
ataca o sistema imune do hospedeiro e seus órgãos vitais
internos. É uma zoonose que tem como hospedeiro primário
os canídeos silvestres e domésticos (Rey, 2001; Dietze &
Carvalho, 2003; Michalick & Genaro, 2005). A Leishmaniose
visceral (LV) ou calazar é uma doença infecciosa grave que
ataca as vísceras e que pode ser fatal caso não seja tratada.
Uma vez que o quadro clínico é variável e depende da
resposta imune do cão e da cepa do parasita inoculado
através da picada do vetor, a Leishmania pode se disseminar
pelas células e ir para outros órgãos, como baço e fígado,
causando infecção crônica (Michalick & Genaro, 2005). A
doença é diagnosticada através de exames de sangue,
sorológicos, histopatológico e citologia aspirativa. Não
apresenta uma cura total, apenas uma cura clínica e
epidemiológica que retarda o desenvolvimento do protozoário
no corpo do indivíduo, o que faz dele um não transmissor da
doença. O objetivo do trabalho foi relatar o caso de um cão
atendido em uma clínica com sinais clínicos sugestivos de
leishmaniose.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Na clínica Zoomedica localizada no Bairro Castelo - Belo
Horizonte, foi atendido um cão da raça Dashound,14 anos,
macho de nome Pepe. Durante anamnese, a tutora relatou
sangramento na orelha esquerda há vários dias, na qual
foram testados vários tratamentos, porém sem sucesso;
também foi citado que o animal teria sido vacinado contra
raiva e vermifugado. Durante a avaliação clínica foram
encontrados os seguintes dados: peso de 6,5kg
apresentando escore corporal magro, temperatura corporal
de 39,2°C, mucosas oculares hipocoradas. Na ausculta
cardíaca constatou-se um sopro. À palpação, percebeu-se
aumento das vísceras abdominais e gânglios inflamados. As
extremidades das orelhas exibiam vasculite, sangramentos e
alopercia. Os condutos auditivos estavam normais. Foram
realizados exames laboratoriais e no hemograma, testado
positivo para Babesia; ao exame sorológico de Leishmaniose
(RIFI e ELISA), foi reagente suspeito e a PCR de medula
testou positivo. Realizou-se também um check up no qual foi
avaliada fusão renal, hepática, pancreática e muscular
constatando anemia, TGP aumentado. Foi feito
ultrassonografia abdominal, que mostrou aumento do fígado
(Figura 1) e baço (Figura 2). Devido à intensa perda de
sangue ocasionada pelo câncrio de inoculação na orelha,
efetuou-se a conchectomia (corte da orelha) cessando o
sangramento. Posteriormente, instituiu-se um tratamento de
Leishmaniose com protocolo descrito abaixo: Izzot B12 0,4
ml, repetindo após 14 dias; Ranitidina com suspensão
15mg/ml, 0,8 ml de 12/12 horas durante todo o tratamento;
Doxiciclina de 80 mg, 1 comprimido de 24/24 horas por 30
dias, dado após alimento; suplemento de ferro 1 comprimido
de 24/24 horas por 30 dias; após a Doxiciclina, complexo B,
1 drágea de 24/24 horas por 30 dias; Alopurinol 100mg, dar 1
comprimido de 12/12 horas, uso contínuo; Milteforan, 0,65 ml
de 24/24 horas por 30 dias, dado junto com o alimento.
Indicou-se a utilização de coleiras repelentes de uso continuo.
Após o início da realização do tratamento, o animal
apresentou melhora clínica. A Figura 1 mostra a imagem
ultrassonográfica do fígado, que apresenta moderado
aumento do seu volume e possui diferencial devido ao
processo inflamatório e hepatopatia esteroidal. Na Figura 2,
pode-se verificar a imagem ultrassonográfica do baço, que
apresenta um aumento moderado em seu volume, concluindo
ser uma esplenomegalia moderada. Todas as alterações
observadas no exame são sugestivas a um possível
diagnóstico de Leishmaniose.
Figura 1: Ultrassom de fígado mostrando alteração no tamanho
e áreas de inflamação.
Figura 2: Ultrassom de baço mostrando aumento de volume do
órgão.
CONCLUSÕES
O ultrassom é de extrema importância como ferramenta de
auxílio para o diagnóstico de alteração internas decorrentes
de doenças como a Leishmaniose, possibilitando a avaliação
do grau de evolução da doença, além de auxiliar no modo de
tratamento para sintomas secundários.
BIBLIOGRAFIAS
1. LEISHMANIOSE Visceral: o que é, causas, sintomas, tratamento,
diagnóstico e prevenção. 2015. Disponível em: https://saude.gov.br/saude-de-
a-z/leishmaniose-visceral. Acesso em: 10 abr. 2020
2. MICHALICK, M.S.M; GENARO, O. Leishmaniose Visceral Americana. In:
NEVES, D.P.; MELO, A.L.; LINARDI, P.M.; VITOR, R.W.A. (Ed) Parasitologia
humana. 11º ed., Ed. Atheneu, São Paulo, 2005. p. 56-72.
3. REY, L. Bases da Parasitologia Médica, 2a ed. Ed. Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2001. p. 349p.
4. SILVA, Francinaldo. Patologia e patogênese da leishmaniose visceral
canina. Artigo, [s. l.], 2007.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA E SUA RELEVÂNCIA PARA OS CANIS
Hizadora Arlinda Dias Silva¹, Larissa Carregal Gomes da Cunha¹, Maria Clara Moura Duarte¹, Marina Ribeiro
Gurgel Victor¹, Samira Fátima Chamou Ziviani¹, Lucas Cardoso Azan¹, Bárbara Lemos Miranda do Couto¹,
Lorena Lincoln Meireles Freitas¹, Eduardo Junior de Souza Xavier¹, Ana Luísa Soares de Miranda².
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A leishmaniose visceral (LV) ou calazar é uma zoonose
primariamente de canídeos silvestres e domésticos, causada
por parasitas do gênero Leishmania¹. O agente etiológico o
protozoário Leishmania donovani chagasi que
consequentemente vai transmitir por meio da picada do
mosquito (Lutzomyia longipalpis) que é conhecido
popularmente por mosquito palha. O mosquito que está
contaminado, consequentemente vai contaminar o cão sadio
e assim adquirir a doença. Outro fato importante para se
destacar é que a leishmaniose é uma zoonose e uma doença
reemergente, que caracteriza um nítido processo de transição
epidemiológica, ou seja, era considerada uma doença rural,
mas hoje já é relatada a sua urbanização. Nos dias atuais e
com o crescimento expansivo de animais acometidos pela
leishmaniose, entre eles os animais de canis clandestinos,
vale ressaltar o quanto esses animais estão propícios a ser
reservatório da doença e assim então ser um grande
potencial de disseminação dessa patologia. Com um alto grau
de letalidade, a doença endêmica ocorre em vários
continentes, predominantemente em regiões tropicais e
subtropicais. Segundo o Ministério da Saúde 90% dos casos
da leishmaniose visceral canina na América Latina
acontecem no Brasil². A expansão da doença pode estar
relacionada com a interferência do ser humano no meio
ambiente, que inclui o homem no ciclo de desenvolvimento de
outras doenças também³.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema nas
revistas acadêmicas científicas e livros disponíveis online,
reunindo e comparando os diferentes dados encontrados nas
fontes de consulta e listando os principais fatores que
predispõem a transmissão da leishmaniose visceral canina.
REVISÃO DE LITERATURA
A LV é uma doença infecciosa grave que acomete as vísceras
e que pode ser fatal se não tratada, visto que os hospedeiros
falham em montar uma resposta protetora eficiente contra o
parasita⁴. A leishmaniose visceral é a segunda principal
doença causada por protozoários e se destaca pela alta
incidência e distribuição da doença³. A transmissão da LV
ocorre por meio da picada do inseto flebótomo, que é o vetor,
a fêmea quando infectada pelo protozoário, faz o repasto
sanguíneo atravéz da picada e inocula o parasito nos
mamíferos. Quando introduzida no organismo do hospedeiro,
ocorre fagocitose pelos monócitos atraídos para o local da
picada. Dentro da célula, o parasito se diferencia novamente
e se divide, até que ocorra o rompimento celular, permitindo
a infecção dos macrófagos. O ciclo encerra quando o
flebotomíneo captura os macrófagos infectados durante o
repasto sanguíneo⁵. Por conseguinte, os canis necessitam de
uma maior rigidez no que tange a limpeza do espaço,
vermifugação e as principais vacinas, uma vez que infectados
podem ser oligossintomáticos ou assintomáticos⁴. Infere-se
que cães doentes representam melhor fonte de infecção para
o inseto vetor. No entanto, esse mesmo fato possibilitaria a
infecção intercanina, sem a participação do flebótomo,
através de mordedura, durante brigas, do coito e,
provavelmente também, pela ingestão de carrapatos que
sugaram cães doentes². Faz-se necessário, que nos
criadouros haja a presença de baias separadas, em razão da
facilidade de transmissão da enfermidade, um imbróglio muito
comum dos canis clandestinos, que muitas das vezes
mantém diversos animais por gaiola e apresentam uma
precária higienização, proporcionando um ambiente mais
susceptível para a proliferação dessa patologia.
Originalmente, os mosquitos eram encontrados nas matas,
porém, se adaptaram e agora são visto nas proximidades da
moradia dos cães com mata e vegetação, com isso vai
influênciar no risco de infecção pela LV. Isso ocorre porque
há maior contato desses cães com o vetor, que se desenvolve
em matérias orgânicas presente nesses ambientes³.
Portanto, a leishmaniose visceral canina é uma doença
parasitária com grande potencial zoonótico. Atualmente no
Brasil, a solução para LV é vista como questão científica e de
vigilância sanitária permanente⁵. O Programa de Vigilância e
Controle da Leishmaniose Visceral Canina, no país,
preconiza a adoção de métodos sorológicos para o
diagnóstico da doença, independente da presença de sinais
clínicos nos cães³. O quadro clínico é variável e depende da
resposta imune do cão e da cepa do parasita inoculado pela
picada do inseto vetor⁴. O tratamento de cães não é
recomendado pelo Ministério da Saúde, pois o cão é
reservatório do parasito; os medicamentos utilizados induzem
à remissão temporária dos sinais clínicos e não previne a
recidiva da doença. O controle epidemiológico é feito através
da eliminação de cães soropositivos, uso de inseticidas e
tratamento de humanos³.
CONCLUSÕES
Nota-se a importância da vacinação dos animais contra a
leishmaniose, tendo em vista que é uma patologia que pode
ser fatal e de fácil contágio. Preconiza-se a realização de
testes diagnósticos sempre que necessário, pois os sintomas
podem ser pouco pronunciados ou inexistentes nos cães,
mas eles ainda podem transmitir a doença. Além disso, a
urbanização dessa parasitose é um reflexo do crescimento
das cidades nos últimos anos, tendo em vista que é uma
doença muito presente em animais que vivem em zonas mais
rurais, porém atualmente há um grande número de animais
infectados nos centros urbanos. Em canis, os cuidados com
essa patologia são imprescindíveis e canis clandestinos que
deixam cães em situações precárias contribuem para a
disseminação dessa enfermidade.
BIBLIOGRAFIAS
1. REY, L. BASES DA PARASITOLOGIA MÉDICA. 2ª d. Ed. Guanabara
Koogan. p. 349p. Rio de Janeiro, 2001.
2. MARZOCHI, M.C de A. et al. LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA NO RIO
DE JANEIRO- BRASIL. Cadernos de saúde pública, v. 1, n.4, p. 432-446,
1985.
3. FONTES, S.D.; SILVA, A.S.A. LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA. Anais
III SIMPAC, v.3, n.1, p. 285-290, Viçosa-MG, 2011.
4. SILVA, C.M.H.S.; WINCK, C.A. LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA:
REVISÃO DE LITERATURA. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v.
16, n. 1, p. 1-12, Brasil, 2018.
5. SILVA, F. PATOLOGIA E PATOGÊNESE DA LEISHMANIOSE VISCERAL
CANINA. Revista Tropica – Ciências Agrárias e Biológicas, v.1, n. 1, p. 21-31,
São Luiz-MA, 2007.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
MANEJO NUTRICIONAL DE AVES POEDEIRAS
Geicyara Aparecida Almeida Santos Silva1, Greicineia Fernandes Pereira¹, Nicole Ilario Santos¹, Sarah
Andrade de Souza1, Talita da Silva Santos1, Gabriel Almeida Dutra2
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária - UniBH – Belo Horizonte/MG - Brasil
INTRODUÇÃO
A ingestão de proteínas na dieta de galinhas poedeiras é de
extrema importância, pois influencia na formação do material
da gema e no tamanho do ovo5,6. A introdução de vitamina D
e C na dieta também gera efeitos no desempenho, na
qualidade interna e externa dos ovos, alterações nas
concentrações plasmáticas de cálcio total e iônico, e nas
características ósseas de galinhas poedeiras7. Além disso, a
preparação de ração com base na proteína bruta, apenas,
pode diminuir ou aumentar o nível de aminoácidos, reduzindo
o desempenho dos animais e elevando o custo de produção4.
Sendo assim, vários autores sugerem diminuir o nível de
proteína bruta das rações, suplementando com aminoácidos
sintéticos lisina (L-lisina.HCl)1,2,3. As necessidades de
proteína e aminoácidos costumam variar de acordo com o
peso corporal, a taxa de crescimento e/ou produção de ovos6.
O objetivo desta revisão literária é ressaltar os diferentes
nutrientes que devem compor as rações para atender as
necessidades nutricionais de galinhas poedeiras, embasadas
em estudos feitos por diferentes autores.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para realização desta revisão literária, foram coletadas informações em artigos sobre as exigências diárias de proteínas, aminoácidos, vitaminas C e D para galinhas poedeiras.
REVISÃO DE LITERATURA
Em um estudo sobre a lisina (L-lisina.HCl) realizado no setor
de Avicultura do Departamento de Zootecnia, do Centro de
Ciências Agrárias da Universidade Federal de Viçosa-MG, em
que 576 poedeiras foram alojadas durante o período de
produção e submetidas a rações experimentais, que são
constituídas de ração basal de 14.4% de proteína bruta
formulada a base de milho e farelo de soja, e suplementada
com 76,4% de lisina4. As características avaliadas na
pesquisa supracitada foram a produção de ovos, sua massa
e o peso médio, consumo de ração e conversão alimentar.
Quanto a produção de ovos, foi encontrado influência dos
níveis de lisina sobre a produção de ovos das aves, sendo
constatado efeito quadrático e linear, respectivamente, para
poedeiras leves e semipesadas (produção das poedeiras
leves foi ligeiramente superior quando comparadas as
poedeiras e semipesadas). Verificou-se também que as
poedeiras semipesadas apresentaram maiores pesos dos
ovos que as poedeiras leves. Não foram encontrados
influência dos níveis de lisina sobre o consumo de ração.
Além disso, as poedeiras que não receberam suplementação
de L-lisina na ração apresentaram uma taxa de postura
menos significativa, em comparação com as que obtiveram
uma porção extra de L-lisina e demonstraram efeito
quadrático e linear dos níveis desse aminoácido sobre
conversão alimentar4. Outro estudo analisado no presente
trabalho avaliou os efeitos das vitaminas C e D no manejo
nutricional de aves poedeiras. O estudo em questão, consistiu
no uso de 288 galinhas poedeiras que foram submetidas a
rações experimentais, produzidas a partir de ração basal (a
base de milho moído e farelo de soja), em que foram
adicionados uma pré-mistura de vitamina D (Rovimix D®), na
forma de colecalciferol, combinados com vitamina C (Rovimix
Stay C 35®)7. As características de qualidade externa dos
ovos, como porcentagem de casca, espessura de casca (mm)
e peso específico do ovo foram analisadas. A suplementação
das dietas com 200 ppm de vitamina C e colecalciferol
proporcionou maior percentual de albúmen. Por outro lado, a
utilização do metabólito 25(OH)D3 em associação a 200 ppm
de vitamina C proporcionou maior percentual de gema e
casca. Porém, se aumentar os níveis de vitamina C, na
presença de colecalciferol, a porcentagem e espessura da
casca diminuem. Além disso, as galinhas suplementadas com
a vitamina C (100 ou 200 ppm) junto com o colecalciferol, ou
então utilizando o metabólito 25(OH)D3 sem a vitamina C,
obtiveram uma melhor conversão alimentar7. Por último, um
trabalho realizado, no Setor de Avicultura da FCAV-UNESP,
Jaboticabal, utilizaram 96 poedeiras e forneceram quatro
dietas isocalóricas com níveis decrescentes de proteína
bruta. Foram usados ingredientes com reduzido teor proteico,
como a farinha de mandioca (1,7% PB) e a fécula de
mandioca (0,05% PB)6. Posteriormente, foi elaborada uma
equação que visava determinar a exigência diária de PB
(proteína bruta) para poedeiras leves em fase de produção
(g/ave/dia), a partir dos valores obtidos para exigências de
mantença, de ganho de peso e de produção de ovos6. PB =
1,94.P(peso, em kg)0,75 + 0,481.G(ganho de peso diário, em
g) + 0,301.O(massa de ovos, em g).
CONCLUSÕES
De acordo com todos os artigos relatados nesta revisão
literária, pode-se concluir que o manejo nutricional de
galinhas poedeiras é de extrema importância e está
diretamente relacionado com a qualidade e características
dos ovos. Sendo assim, são necessários mais estudos sobre
proteínas e aminoácidos que possam agregar nas rações
fornecidas às aves poedeiras.
BIBLIOGRAFIAS 1. BLAIR, R., LEE, D.J., FISHER, C. et al. 1976. Response of laying
hens to a low-protein diet supplemented whit essential amino acids, L-glutamic
and/or intact protein. Br. Poult. Sci., 17:427-440. 2. WEERDEN, E. J. V., SCHUTTE, J.B. 1980. Lysine requeriments of
the laying hen. Archieve Geflugelk 3. CARMO, M.B. 1981. Níveis de proteína e de aminoácidos
sulfurosos em rações de galinhas poedeiras sob regime de alta temperatura.
Viçosa, MG:UFV,1981. 104 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) -
Universidade Federal de Viçosa.
4. BARBOSA, B.A.C. Exigência nutricional de lisina para galinhas
poedeiras de ovos brancos e ovos marrons, no segundo ciclo de produção. 2.
características produtivas, Revista Brasileira de Zootecnia, vol.28, no.3,
Viçosa, May/June, 1999.
5. PESTI, G.M. Temperatura ambiente e exigências de proteína e
aminoácidos para poedeiras. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE NÃO
RUMINANTES, 1992, Lavras. Anais. Lavras: Universidade Federal de Lavras,
1992. p.208-219.
6. SAKOMURA, N.K. Modelo para determinar as exigências de
proteína para poedeiras, Revista Brasileira de Zootecnia, vol.31, no.6,
Viçosa, Nov/Dec. 2002.
7. SALVADOR, D. Vitaminas D e C para poedeiras na fase inicial de
produção de ovos, Revista Brasileira de Zootecnia, vol.38, no.5, Viçosa, May,
2009.
8. WEERDEN, E. J. V., SCHUTTE, J.B. 1980. Lysine requeriments of
the laying hen. Archieve Geflugelk, 44(1):36-40.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
MASTITE EM BOVINOS DE LEITE: REVISÃO DE LITERATURA
Ariadny Thais Ramos de Oliveira¹*, Fernanda Franciele Assis¹, Gabriella Stephane Pacheco Drumond¹, Kezia
Lopes Menezes¹, André Luiz Vargas Soares¹, Ana Luisa Soares de Miranda²
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A mastite bovina é uma doença inflamatória e infecciosa da
glândula mamária que pode se apresentar nas formas
clónicas e subclínicas, acarreta a diminuição da produção
láctea e pode levar a uma perda total desta capacidade,
representando um grave problema de saúde pública¹. A
mastite é uma das mais frequentes infecções que acometem
o gado leiteiro, levando a perdas econômicas pela diminuição
na produção e na qualidade do leite, à elevação dos custos
com mão-de-obra, medicamentos e serviços veterinários,
além de descarte precoce de animais. Inúmeros
microrganismos patogênicos podem causar esse tipo de
inflamação no teto do animal, porém estudos revelam que o
principal agente patológico da mastite bovina é o
Staphylococcus aureus. O objetivo do presente trabalho é
realizar uma revisão de literatura acerca do tema mastite
bovina, seus principais agentes e medidas de controle e
prevenção.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado por meio de pesquisas, no período entre os meses de março e abril de 2020, com levantamento de dados através de livros e artigos. A coleta de dados para este trabalho foi realizada no Google Acadêmico e na biblioteca online do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) – MG. Palavras-chave: mastite, bovino, bovinos de leite, mastite contagiosa. REVISÃO DE LITERATURA
Os principais microrganismos causadores de mastite são
convencionalmente agrupados, quanto à sua origem e ao
modo de transmissão, em dois grupos: agentes das mastites
contagiosas e agentes das mastites ambientais3. Os
patógenos ambientais, descritos como invasores oportunistas
da glândula mamária, não estão adaptados à sobrevivência
no hospedeiro e, por isso, normalmente, desencadeiam
infecções clínicas. O grupo de patógenos desse tipo de
mastite é constituído de bactérias que estão presentes em
várias fontes do ambiente da fazenda como água
contaminada, fezes, solo e diversos materiais orgânicos
usados como cama, animal propriamente dito, os
equipamentos de ordenha e o homem². Os microrganismos
contagiosos, adaptados a sobreviverem dentro do
hospedeiro4 e que estão presentes no corpo do animal com
ou sem mastite, são transmitidos principalmente durante a
ordenha, através das mãos dos ordenhadores, de tetos
infectados para outros, por meio do equipamento da ordenha,
bezerro e até pela utilização de panos e esponjas de uso
múltiplo6. Devido às suas características, na maioria das
vezes, determina infecções subclínicas, de longa duração,
resultando em mastites crônicas². Embora muitos outros
microrganismos possuam um acometimento de uma região
intramamária causada por infecção, o Staphylococcus aureus
é o principal agente patológico, responsável principalmente
pela mastite bovina crônica5. Considerado um importante
agente causador de mastite bovina, os estafilococos,
principalmente o S. aureus, destaca-se devido à sua
patogenicidade da mastite ser classificada como contagiosa,
acarretando o isolamento do animal afetado pelo seu
importante significado nas infecções dos tetos mamários. Os
três princípios básicos para o controle da mastite contagiosa
baseiam-se na diminuição da exposição dos tetos aos
patógenos, aumento da resistência imunológica da vaca e
antibioticoterapia, tendo como objetivo a redução do nível de
novas infecções7. Para se obter o controle efetivo da mastite
contagiosa, deve-se diminuir a exposição dos tetos aos
patógenos, por meio de um controle higiênico-sanitário, com
os objetivos de diminuir a taxa de colonização dos tetos e
desinfetar a superfície dos tetos colonizados. No primeiro
caso, a atenção deve estar voltada para o correto manejo de
ordenha, evitar a utilização de panos ou esponjas em mais de
uma vaca, instituir treinamento aos ordenhadores e fazer a
desinfecção das teteiras após a ordenha³. Na desinfecção da
superfície dos tetos, deve-se realizar o pré-dipping e o pós-
dipping, que é a imersão completa dos tetos em solução
desinfetante. O pré-dipping é um método eficaz no controle
da mastite ambiental, embora apresente alguma eficácia no
controle da mastite contagiosa. Para isso, deve-se utilizar a
metade da concentração dos desinfetantes indicados para o
pós- dipping³. Os estudos apontam que essa medida
determina redução de até 50% na taxa de novas infecções da
glândula mamária, causadas por patógenos ambientais.
Deve-se fazer a imersão completa dos tetos com hipoclorito
de sódio de 2% a 4% na concentração final. A necessidade
de se utilizar toalhas descartáveis individuais para cada vaca
advém do fato de que há um risco em potencial bastante
grande de transmissão de bactérias de uma vaca para outra,
quando se utilizam toalhas de uso múltiplo8. A prática isolada
mais importante de controle de novas infecções
intramamárias é a desinfecção dos tetos ao final da ordenha.
Deve-se enfatizar que a imersão dos tetos, “teat dipping”,
deve ser completa, isto é, pelo menos dois terços dos tetos
devem ser imersos completamente na solução desinfetante.
Os compostos desinfetantes: iodo, 0,7% a 1,0%; clorexidina,
0,5% a 1,0% e cloro, 0,3% a 0,5%, são os que apresentam os
melhores resultados3.
CONCLUSÕES
Levando em consideração esses aspectos, é compreendido
que a mastite continua sendo um grave problema na pecuária
atualmente, acarretando má qualidade do alimento e de vida
do animal. Sendo assim o controle efetivo a doença é
essencial e aconselhável para melhora.
BIBLIOGRAFIAS 1. LEITE, R.C. ,BRITO, J.R.F., e FIGUEIREDO, J.B. ALTERAÇÕES DA GLÂNDULA
MAMÁRIA DE VACAS TRATADAS INTENSIVAMENTE VIA MAMÁRIA, COM
PENICILINA EM VEÍCULO AQUOSO. Arq. Esc. Vet., UFMG, v.28, p.27-31. 1976.
2. FONSECA, L.F.L.; SANTOS, M.V. QUALIDADE DO LEITE E CONTROLE DA
MASTITE. São Paulo: Lemos, 2001. 175p.
3 . BRESSAN, M.; MARTINS, C.E.; VILELA, D. SUSTENTABILIDADE DA PECUÁRIA DE
LEITE NO BRASIL. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite; Goiânia: CNPq/Serrana
Nutrição Animal, 2000. 206p.
4 . BRADLEY, A.J. BOVINE MASTITIS: AN EVOLVING DISEASE. Veterinary Journal, Les
Ulis, v.164, p.116-128, 2002.
5. COSTA, E.O.; GARINO JÚNIOR, F.; WATANABE, E.T.; RIBEIRO, A.R.; SILVA, J.A.B.
PROPORÇÃO DE OCORRÊNCIA DE MASTITE CLÍNICA EM RELAÇÃO À SUBCLÍNICA
CORRELACIONADA AOS PRINCIPAIS
5. Agentes Etiológicos. Revista do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Glândula
Mamária e Produção Leiteira, São Paulo, v.4, p.10-13, 2001.
6. BRITO, J. R. F.; BRITO, M. A. V. P. PROGRAMAS DE CONTROLE DAS MASTITES
CAUSADAS POR MICROORGANISMOS CONTAGIOSOS E DO MEIO AMBIENTE.
1.ed. Minas Gerais: Embrapa, 1997, p. 7-25.
7. BLOWEY, R.; EDMONDSON, P. MASTITIS: CAUSAS, EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL.
Zaragoza: Acríbia, 1999. 39p.
8.CHAPAVAL, L.; PIEKARSKI, P.R.B. LEITE DE QUALIDADE: MANEJO REPRODUTIVO,
NUTRICIONAL E SANITÁRIO. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2000. 195p.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
METRITE CONTAGIOSA EQUINA
Giulia Lorrayne Alves1, Isabella Garcia Valadares1, Izabela Mendes Lopes1, Leonardo Junio Silva de Assis1,
Matheus Vinícius Carvalho Almeida1, Thiago Freitas dos Santos1, Vanessa Gonçalves de Almeida 1, Ygor
Vinicius Alves Guerra1, Ana Luísa Soares de Miranda2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor de Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A Metrite contagiosa equina (MCE) é uma infecção venérea
altamente transmissível que acomete os equídeos. É causada
pela bactéria Taylorella equigenitalis, caracterizada como
coco-bacilo gram negativo. A doença é assintomática em
machos porém, em fêmeas, é relatada infecção aguda com
secreção purulenta durante duas a três semanas, pode
causar infertilidade a curto prazo e em casos crônicos pode
acometer a aborto espontâneo. A prevenção da T.
equigenitalis se dá por meio de um manejo sanitário
adequado. 1
O objetivo deste trabalho é relatar sobre os aspectos da
doença, formas de contaminações, manifestações clinicas,
tratamentos e prevenções.
MATERIAIS E MÉTODOS
Esta revisão literária teve como base livros e artigos que discursam sobre a Metrite contagiosa equina e foram abordados os tópicos sobre o conceito da doença, patógeno, transmissão, sinais clínicos, tratamentos e prevenções. REVISÃO DE LITERATURA
A Metrite contagiosa equina é uma enfermidade venérea
causada pelo agente bacteriano Taylorella equigenitalis. A
bactéria inicialmente tem forma de bastão (figura 1) e com a
idade se torna esférica. 2
Apesar dos garanhões portadores da enfermidade serem
assintomáticos, essa bactéria é altamente contagiosa com
grande impacto na fertilidade das éguas. 3-4
A T. equigenitalis, que estão presentes na mucosa dos pênis
infectados, podem ser transmitidas para as éguas durante o
coito, assim como também pelo sêmen infectado durante a
inseminação artificial (IA) ou introduzido no trato genital por
fômites.3-4
Em garanhões não há uma manifestação clínica e nas éguas
ocorre um corrimento vaginal abundante e mucopurulento
(vaginites, cervicites, endometrites) e o local mais propício da
bactéria é na fossa clitoriana. 4
O tratamento da Metrite contagiosa equina não possui
definição de tempo ideal, em alguns casos podem ser
necessárias repetições. Em garanhões afetados a
intervenção se dá pela limpeza completa do pênis estendido
com a esfoliação cirúrgica com clorexidina e aplicação de
pomada de nitrofurazona. As éguas podem ser tratadas
como os garanhões, porém, fazendo a limpeza completa da
área do clitóris bem como a aplicação da pomada. Em
algumas éguas, quando se há infecção crônica, a excisão
cirúrgica dos seios do clitóris pode ser necessária para se
livrar da infecção.4
Após a suspeita ou diagnóstico da doença diretrizes
nacionais e/ou locais devem ser seguidas para que não haja
a importação do agente infeccioso. Os animais infectados
devem ser devidamente tratados e testados antes de serem
introduzidos nas populações. 5
A enfermidade nunca foi registrada no Brasil de acordo com
dados da OIE (Organização Mundial da Saúde Animal)
sendo necessária a comunicação imediata diante de uma
ocorrência quando há suspeita ou confirmação laboratorial
da Taylorella equigenitalis.5
Figura 1: Bactéria Taylorella equigenitalis.
Fonte: Biology, Medicine PLoS one (2012)
CONCLUSÕES
Como demonstrado, a MCE é uma doença sexualmente
transmissível altamente contagiosa. Apesar de ter baixa
gravidade pode acarretar em perdas financeiras, uma vez que
a Metrite contagiosa equina vem a diminuir a qualidade e
quantidade do sêmen dos garanhões, além da infertilidade
temporária nas éguas e abertura para outras endometrites
mais graves. Ademais, a prevenção é uma importante aliada
no controle da Taylorella equigenitalis por meio de testes e
tratamentos adequados nos equinos já acometidos pela
bactéria, visto que a intervenção é acessível com quase 100%
de recuperação a base de limpeza e antimicrobianos.
BIBLIOGRAFIAS 1-TIMONEY, P. J. Horse species symposium: contagious equine metritis: an
insidious threat to the horse breeding industry in the United States. Journal of
animal science, v.
89, n. 5, p. 1552-1560, 2011.
2- MOREL, Mina CG Davies. Equine reproductive physiology, breeding and
stud management. CABI, 2015.
3-Timoney PJ. 2010. Contagious equine metritis: An insidious threat to the
horse breeding industry in the United States. Journal of Animal Science, 89:
1552–1560.
4-Gilbert RO. Contagious equine metritis. In: Kahn CM, Line S, Aiello SE,
editors. The Merck veterinary manual. 10th ed. Whitehouse Station, NJ: Merck
and Co; 2014. Available at:
5- OIE, OM de SA. Código sanitário para os animais terrestres. 2015.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
NEFRÓLITO EM CADELA COM LEISHMANIOSE VISCERAL: RELATO DE CASO
Laryssa Cristhina da Silva Amorim¹, Rafael Bruno Hipólito Ferreira da Silva¹, Carolina de Aguiar Cardoso¹, Estefany Gabrielly Lima Mendes¹, Rhebeca Carmo Ribeiro¹, Natália Soares Moreira Dias¹, Natália Ferreira
Torres Meireles², Alessandra Silva Dias³, Bruno Divino Rocha³. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil.
²Médica Veterinária orientadora - US e RA - ULTRAVET – Belo Horizonte/ MG – Brasil. ³Professor(a) orientador(a) do departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A Leishmaniose Visceral Canina (LVC), é uma doença crônica grave, que acomete diferentes espécies animais, inclusive seres humanos (MOREIRA et al., 2010). Leishmania sp é um protozoário parasita intracelular, introduzido no hospedeiro através da picada de um vetor infectado (TAFURI et al., 2001).
Em alguns dos cães com LVC observa-se nefrolitíase, ou seja, presença ou formação de cálculos em um ou ambos os rins. O diagnóstico final da presença de nefrólitos renais só é possível através de exames de imagem. Na prática diária, a Ultrassonografia (US) é utilizada de modo eficaz na pesquisa de cálculos renais devido às características inerentes a esse método de imagem: caráter não invasivo, disponibilidade e baixo custo (GOMES et al., 2008).
Neste trabalho será relatado o caso clínico de uma cadela diagnosticada anteriormente com Leishmaniose Visceral, que, ao apresentar sinais clínicos sugestivos de Insuficiência Renal e Nefrolitíase foi encaminhada para realização de exame ultrassonográfico para diagnóstico definitivo. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Uma cadela da raça Boxer, com cinco anos de idade, apresentou-se com histórico de anorexia há três dias e oligúria. Diante do quadro, a médica veterinária responsável solicitou exames complementares a fim de obter diagnóstico conclusivo.
O hemograma completo, realizado pelo método automatizado de citometria de fluxo e analisado por microscopia óptica, indicou hemácias macrocíticas, normocrômicas e em equinócitos. Além de leucocitose, neutrofilia, eosinofilia, monocitose e por fim, trombocitopenia. O exame bioquímico, feito pelo método cinético, utilizando-se como material o soro sanguíneo, apresentou níveis séricos elevados de ureia, creatinina e fosfatase alcalina; níveis diminuídos de proteínas totais (albumina e globulina) e de glicose; TGP normal. Segundo Gomes et al. (2008), o comprometimento renal na LVC pode levar à proteinúria, à hematúria e ao aumento sérico de ureia e creatinina. As imagens de ultrassonografia abdominal mostraram as seguintes alterações no rim direito: topografia normal, dimensões aumentadas e superfícies irregulares - medindo aproximadamente 10,18 x 6,15 cm - (FIG.1A), relação córtico medular bastante diminuída. Além disso, na região medular, próximo a pelve renal existe a presença de uma estrutura de superfície irregular e hiperecoica associada ao sombreamento acústico posterior (medindo aproximadamente 3,11 cm) – imagens sugestivas de cálculo renal (FIG.1B). A formação de cristais e cálculos tem como causas primárias a diminuição na frequência urinária (oligúria) associada à supersaturação e mudança no pH da urina (CÂMARA et al., 2017).
Figura 1: Ultrassonografia do rim direito. (A) Dimensões renais. (B) Nefrólito localizado na região medular.
Fonte: imagens cedidas por Natália Meireles - ULTRAVET.
Após a confirmação da nefrolitíase e da medição da sua extensão através das imagens obtidas na ultrassonografia seguiu-se o protocolo para a realização da retirada do órgão acometido, que pode ser visto na figura 2.
Figura 2. Nefrólito removido na nefrectomia direita.
Fonte: imagem cedida por Natália Meireles - ULTRAVET.
CONCLUSÃO
O caso relatado no presente trabalho ilustra a importância da inserção dos exames de imagem, como a ultrassonografia, para o diagnóstico definitivo de cálculos renais. Além disso, os resultados dos exames clínico e laboratorial da paciente confirmaram os dados científicos publicados a respeito da nefrolitíase em cães e da sua relação com a Leishmaniose Visceral Canina. BIBLIOGRAFIA
1. Immune response pattern of the popliteal lymph nodes of dogs with visceral leishmaniasis. MOREIRA, P.R.; VIEIRA, L.M.; DE ANDRADE, M.M.; DE BARROS, B.M.;
MACHADO, G.F.; MUNARI, D.P.; VASCONCELOS, R.O. Parasitology Research, v.107, p.605-613, 2010.
2. Canine visceral leishmaniose: a remarkable histopathological picture of one case reported from Brazil. TAFURI, W.L. et al. Veterinary Parasitology, v.96, p.203-212,
2001.
3. Effects of increasing dietary fiber on digestibility, performance and carcass characteristics. GOMES, J. D. F.; PUTRINO, S. M.; GROSSKLAUS, C.; UTIYAMA, C. E.;
OETTING, L. L.; SOUZA, L. W. de O.; FUKUSHIMA, R. S.; FAGUNDES, A. C. A.; SOBRAL, P. J. do A.; DE LIMA, C. G., 2008.
4. Alterações laboratoriais renais em cães com leishmaniose visceral naturalmente infectados. CÂMARA, C. S., BALTAZAR, P. I., GARCEZ, B. S. PUBVET v.11, n.1,
p.35-39, Jan., 2017.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
O IMPACTO ECONÔMICO DA MASTITE NA PRODUÇÃO LEITEIRA
Beatriz Saramago Garcia1*, Caroline Emanuelle Duarte¹, Cinara Evelyn Teixeira de Souza¹, Gabriella Trindade
Gonçalves Pires¹, Jane Cosenza Campos¹, Nathália Dominick Michalick¹, Paola Batista Barbosa¹, Rhana Lobo
de Menezes Silva¹ , Thaís Ribeiro de Oliveira¹, Ana Luísa Soares de Miranda2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A mastite caracteriza-se por uma inflamação da glândula
mamária, geralmente de caráter infeccioso, podendo ser
classificada como clínica ou subclínica. A mastite clínica
apresenta sinais evidentes, tais como: edema de úbere,
aumento de temperatura, endurecimento, dor na glândula
mamária, grumos, pus e quaisquer outras alterações das
características do leite 1. Os casos clínicos são de
fundamental importância, pois podem levar a altos prejuízos
como: descarte precoce de animais, gastos com
medicamentos, redução na produção, descarte de leite, além
de poder levar o animal a morte. Recomendam como meta
para saúde da glândula mamária, que a incidência de mastite
clínica seja menor que 1% ao mês. Dados experimentais
relacionados ao tema têm apresentado muitas variações em
relação à ocorrência de frequência de casos clínicos em
rebanhos bovinos1. O objetivo do presente trabalho é realizar
uma revisão bibliográfica acerca do tema de bovinocultura de
leite e o impacto causado pela mastite.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os materiais utilizados para realizar o trabalho foram artigos científicos, pesquisa em livros e nos sites de busca, fazendo uma revisão de literatura com embasamento cientifico, sobre o impacto da mastite na produção leiteira. Utilizou-se como palavras-chave: bovino, mastite, leiteira, agentes infecciosos. REVISÃO DE LITERATURA
A infecção da glândula mamária é responsável por grandes
prejuízos econômicos, por causar redução na produção e na
qualidade do leite dos quartos mamários afetados, além de
interferir no processo industrial de laticínios. A perda de
produção pode ser drástica, especialmente quando se
infectam uma porcentagem significativa do rebanho2.
Podendo reduzir em até 50% a produção leiteira, diminui a
vida produtiva da vaca, havendo perda de 15% de leite por
vaca. Os patógenos predominantes nas infecções são
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, seguidos
pelo Corynebacterium bovis, Streptococcus dysgalactiae e
Mycoplasma sp. A mastite ambiental caracteriza-se pelo fato
do reservatório do patógeno estar localizado no próprio
ambiente das vacas leiteiras, sendo os patógenos primários
mais freqüentes bactérias gram negativas como Escherichia
coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Pseudomonas sp. e
Proteus sp3. De acordo com a forma de manifestação da
infecção, as mastites podem ser caracterizadas como clínicas
ou subclínicas, sendo a subclínica a forma mais prevalente da
doença e a causadora da maioria das perdas econômicas,
que variam de 5 a 25% da produção leiteira3.Relatam que a
mastite subclínica apresenta uma maior importância
epidemiológica por alastrar-se silenciosamente pelo rebanho
sem que sejam percebidas alterações macroscópicas à
inspeção do úbere ou de sua secreção. Isso não faz com que
as mastites clínicas não sejam tão importantes, já que,aponta
estas como as causas mais comuns de morte entre vacas
leiteiras adultas e ressalta a sua gravidade nas questões de
bem-estar animal, já que quadros de hiperalgesia estão
vinculados a episódios agudos de mastite clínica3. O sucesso
da infecção depende de fatores ligados ao microrganismo, ao
hospedeiro e ao meio ambiente. Se tratando dos
microrganismos: destaca-se que se multiplicam bem no leite
(são capazes de usar a lactose como fonte de energia), têm
habilidade de se aderir ao epitélio (não sendo eliminados do
organismo pelos jatos de leite) e possuem cápsula (que
dificulta na fagocitose). Quanto ao hospedeiro, estão em
evidência os fatores naturais presentes no teto, que impedem
a penetração e instalação do agente. Tais fatores estão
diretamente relacionados à idade, características do úbere
(tamanho, forma, tamanho dos tetos e tonicidade dos
ligamentos), integridade da oclusão do canal do teto (primeira
barreira contra a penetração de microrganismos), sanidade
do local, além do estado nutricional do animal. Por fim, em
relação ao meio ambiente: as condições ambientais, nutrição
e funcionamento da ordenhadeira mecânica influenciam no
desempenho dos mecanismos de defesa do hospedeiro. O
stress térmico, deficiências em minerais e vitaminas na
alimentação comprometem o bom funcionamento do sistema
imune, enquanto o mal funcionamento da ordenhadeira
mecânica (como por exemplo vácuo elevado combinado com
sobreordenha) afeta a integridade das células que revestem
o canal do teto, diminuindo a eficiência das barreiras físicas e
químicas do teto, o que pode levar à ocorrência de mastites
contagiosas e ambientais4. Segundo o desenvolvimento de
um programa efetivo de controle da mastite no rebanho
implica em algumas medidas importantes, como o tratamento
das vacas no período seco, tratamento dos casos clínicos,
manejo adequado e bom funcionamento do sistema de
ordenha. Para a obtenção de boa quantidade e qualidade de
leite, é indispensável um úbere saudável e, por isto, é
importante tomar o máximo de cuidado no pré e pós-dipping.
Mergulhar os tetos, cobrindo-os por inteiro, com soluções
antissépticas adequadas é fundamental e indispensável para
a redução da mastite contagiosa, pois principalmente melhora
as condições de pele do teto3.
CONCLUSÕES
Conclui-se que a mastite é uma das principais patologias
recorrentes na produção leiteira, causando também
consequências econômicas na propriedade. Sendo assim, é
de extrema importância que se faça, com frequência, os
testes de mastite subclínica, uma vez que a mesma pode se
alastrar pelo rebanho de forma silenciosa. Logo, prevenções
sanitárias também devem ser tomadas, a fim da redução da
disseminação do microrganismo no sistema fisiológico.
BIBLIOGRAFIAS 1. LOPES, M. A. et al. Avaliação do impacto econômico da mastite em
rebanhos bovinos leiteiros. Arquivos do Instituto Biológico, v. 79, n. 4, p.
477-483, 2012.
2. OLIVEIRA, Carlos Magno C. et al. Prevalência e etiologia da mastite
bovina na bacia leiteira de Rondon do Pará, estado do Pará. Pesquisa
Veterinária Brasileira, v. 31, n. 2, p. 104-110, 2011.
3. PEDRINI, S. C. B.; MARGATHO, L. F. F. Sensibilidade de
microrganismos patogênicos isolados de casos de mastite clínica em bovinos
frente a diferentes tipos de desinfetantes. Biológico, São Paulo, v. 70, n. 4, p.
391-395, 2003.
4. DA COSTA, Elizabeth Oliveira. Importância da mastite na produção
leiteira do país. Revista de Educação Continuada em Medicina Veterinária
e Zootecnia do CRMV-SP, v. 1, n. 1, p. 3-9, 1998.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
OBSTRUÇÃO GÁSTRICA POR CORPO ESTRANHO EM CADELA: RELATO DE CASO
Amanda Patrícia do Carmo1*, Ana Luiza Silva Nunes¹, Elisangela Cristina da Silva Graças ¹, Paloma Silva
Caldeira Rocha¹, Thaís Camila Amâncio dos Reis Silva¹,Viviane Luiza de Souza¹, Alessandra Silva Dias 2. 1Graduando em Medicina Veteirnária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Uma das causas mais frequentes na clínica e cirurgia de pequenos animais são corpos estranhos, afetando consideravelmente a espécie canina devido seu comportamento alimentar (BRENTANO, 2010). Ao deglutir um corpo estranho, este irá progredir no trato gastrointestinal até que o seu tamanho ou formato impeça a sua progressão, produzindo diferentes obstruções, podendo causar ulcerações na porção do trato gastrointestinal anteriormente percorrida. Os sinais clínicos são dependentes da região obstruída (FOSSUM, 2005). Em casos de corpos estranhos gástricos, o animal poderá apresentar vômito agudo, dor a palpação. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso de retirada de um corpo estranho do estômago de uma cadela por meio da gastrotomia, técnica bastante comum à rotina veterinária na qual se deseja acessar o interior do estômago através de uma incisão na parede gástrica, indicada segundo (FOSSUM, 2005) quando não há possibilidade de endoscopia. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
O animal da espécie canina, fêmea, raça Poodle, nove anos de idade, com história clínica de inapetência, anúria, desidratação, apatia e ascite, possuía um histórico recente de nodulectomia mamária e estava sendo tratada para gastrite por outro profissional. Ao exame físico foi observada a presença de material firme em região gástrica e, durante a palpação abdominal, animal apresentou dor. Com base na anamnese e no exame físico, foram realizadas radiografias, nas posições laterolateral direita e ventrodorsal, para diagnóstico diferencial de metástase, o que foi descartado após exame. Foi realizada também uma ultrassonografia abdominal (Figura1), que revelou a presença de um corpo estranho ecogênico disforme no estômago.
Figura 1 Tórax – Projeções: laterolateral e ventrodorsal Fonte: Ultraimagem Outros achados ultrassonográficos encontrados incluíram nódulo hiperecóico no fígado, sugestivo de fibrose (diagnósticos diferenciais, para hiperplasia nodular e neoplasia) e gastroenterite moderada. Por conduta terapêutica, foi indicada cirurgia para retirada do corpo estranho.
A paciente foi mantida em fluidoterapia por 48 horas para realização de outros exames e preparação para gastrotomia. Os exames mostraram um quadro adiantado de anemia, seguem dados coletados. Hematócrito (%) 30,2 valor de referência segundo laboratório 37,0 - 55,0 hemoglobinas (g/dL) 9,9 referência 12,0 - 18-0, Hemácias (x 106 /ml) 4,1 referência 5,5 - 8,5 VCM ( fL ) 73,7 referência 60,0 – 77,0 CHCM (g/dL) 32,8 32,0 - 36,0 HCM (pg) 24,1 referência 19,5 - 24,5 Observações: Hemácias discretamente anisocíticas e hipocrômicas. Presença de agregados plaquetários. No Bioquímico mostrou uma azotemia UREIA Cão: 20-56 mg/dl Resultado 115 CREATININA Cão: 0,5-1,5 mg/dl 1,8 Resultado 1,8. De inicio para um melhor tratamento de IRA (insuficiência renal aguda), animal estava recebendo fluido terapia, furosemida e dipirona seguindo contuda veterinária
Após exames foi realizada transfusão sanguínea, não gerando resposta ao quadro anêmico apresentado e posteriormente animal foi submetido à cirurgia.
Figura 2 A.Gastrotomia realiza em cadela com corpo estranho. B. Corpo estranho retirado durante o procedimento cirúrgico.
Fonte: Fernanda Rocha Após o procedimento cirúrgico, a médica veterinária prescreveu: meloxicam, amoxicilina com clavulanato, tramadol, dipirona, omeprazol, ferro, duca durabulim, mercepton e nutralife. CONCLUSÕES Conclui-se que a paciente não apresentou após transfusão sanguínea melhora no seu hemograma sugerindo se assim
uma não resposta medular, indicando possível aplasia. No bioquímico paciente apresentou azotemia, mais a idade avançada do animal, o que possivelmente pode ter dificultado uma melhora do quadro, levando a paciente a óbito alguns dias após. BIBLIOGRAFIAS 1. BRENTANO, L. M. Cirurgia Gástrica em Cães./ Lucas Mathias Brentano. Porto Alegre, UFRGS, 2010. 2. FOSSUM, T. W.; DUPREY, L. P. Cirurgia de Pequenos Animais. 2. ed. São Paulo: Roca, 2005. p. 339-369. APOIO: Clínica veterinária Santa Lôla
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
OSTEOARTRITE TÁRSICA EM POTRA: RELATO DE CASO
Amanda Talia de Castro Pereira1, Alice de Lourdes Pinto Figueiredo¹, Eduarda Lopes do Couto e Silva¹,
Isabela Cristina Pantolfo Gabriel¹, Luisa Braga e Souza 1, Thais Helena Nunes1.
Gabriel Dias Costa³, Alessandra Silva Dias2, Bruno Divino Rocha2
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professores do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
³ Médico Veterinário
INTRODUÇÃO
A Osteoartrite (OA) também conhecida como Doença articular degenerativa (DAD), é a principal responsável por 80% das claudicações em equinos2, pois atinge principalmente a cartilagem articular sinovial além de ossos e tecidos moles das articulações. É uma doença degenerativa lenta e progressiva que ocasiona a perda da função e baixo desempenho ao qual o animal foi destinado. A doença tem natureza insidiosa1, não sendo, comumente, perceptível clinicamente nos estágios iniciais. Cavalos utilizados em atividades esportivas sofram uma sobrecarga mecânica e funcional devido a insistência na prática de movimentos repetitivos, que resultam na perda progressiva da estrutura e função da cartilagem articular bem como as alterações no osso subcondral e sinóvia são componentes da síndrome clínica da osteoartrite1. No seguinte artigo iremos abordar um relato de caso de uma potra da raça Mangalarga Marchador que apresentava osteoartrite társica em que foi utilizado, como método efetivo de diagnóstico das alterações osteoarticulares dessa região, o exame radiográfico.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Foi atendido, no dia 05 de maio de 2019, na cidade de
Ipatinga-MG, uma potra de dois anos e meio, pesando 300
quilos, da raça Mangalarga Marchador que se encontrava
com dificuldade de recuo, evitando o movimento de extensão
da região lombo-sacral e membros posteriores com menor
amplitude de movimento. Foi relatado que desde a compra do
animal, o mesmo apresentava claudicação, que é uma
movimentação atípica. É bastante comum, em cavalos
utilizados em atividades esportivas, como a marcha, uma
sobrecarga mecânica e funcional devido à insistência na
prática de movimentos repetitivos, que resultam na perda das
funções articulares, dando origem a essa doença. Após a
realização do exame radiográfico foi possível visualizar uma
osteoartrite társica bilateral da articulação intertársica
proximal, sendo que, o membro posterior direito (Figura 1B e
1D) apresentava um grau mais evoluído que o membro
esquerdo (Figura 1A e 1C). Como tratamento, foi realizada
infiltração intra-articular com Betametasona. Quando
realizado bloqueio dos nervos tibial e fibular, o animal
apresentou melhora de aproximadamente 40%. Uma
provável causa para a osteoartrite na potra pode ser a
realização de esforço físico intenso quando o animal ainda é
muito jovem.1 Em uma série de casos, o principal fator
predisponente identificado foi o excesso de exercício em
superfícies irregulares.1 Outros fatores como nutrição
e problemas de conformação podem contribuir para o
desenvolvimento dessa disfunção. Mas, sempre é bom
lembrar que independente da natureza multifatorial da
doença, exercício físico em animais jovens, quando não
realizado adequadamente, pode ter graves consequências
para o futuro desempenho atlético, em virtude do excesso de
carga sobre as estruturas ósseas e articulares imaturas.
(A) (B)
(C) (D)
Figura 1: Radiografias de tarso DMPL traseira esquerda (A)
e de tarso DMPL traseira direita (B)
Nas imagens A e B há presença de esparavão na articulação
intertársica proximal.
Nas imagens C e D tem discreta visualização do esparavão.
Fonte: M.V. Gabriel Dias Costa
CONCLUSÕES
Apesar da causa da osteoartrite ser inconclusiva, foi
satisfatório o resultado da infiltração sendo indicada a
realização de artrodese química bilateral. O exame
radiográfico foi o método efetivo para o diagnóstico de
esparavão na articulação intertársica proximal. É possível
observar claramente a alteração presente nas imagens
apresentadas.
BIBLIOGRAFIAS 1. Estudo clínico e radiográfico da osteoartrite társica juvenil em potros da raça
Mangalarga marchador, GARCIA, R. da S. et al. Ciência Animal Brasileira, v.
10, n. 1, p. 254-260, jan./mar. 2009.
2. Relationship between clinical and radiography examination for equine
osteoarthritis diagnosis, Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci., São Paulo, v. 49, n. 1,
p. 73-81, 2012.
3. Osteoartritis en equinos: una revisión bibliográfica, Revista Sinergia 2019,
Edición 6, p. 126-142. ISSN: 2665-1521
4. Intra- articular infiltrative treatment for tarsal osteoarthritis in equino – case
report. NETO, Ademar Moreira Domingues;POLLINI, Caroline Lavocat Nunes
Pollini.
5. Osteoartrites em equinos; ROCHA, Francisco José Martins; Dissertação de
Mestrado; Lisboa; 2008.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
PAPEL DA FISCALIZAÇÃO NA QUALIDADE DE LINGUIÇAS ARTESANAIS
Gabriela Penna Martins Garcia Santos1, Lara Diniz Pereira¹, Maíra Ferreira de Azevedo¹, Matheus Mendes da
Silva1, Sofia Carabolante Ribeiro Simão¹, Yasmin Luana Portelote Chaves1, Tânia Maria Leite da Silveira². 1 Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil. [email protected]
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil.
INTRODUÇÃO
Todo alimento de origem animal deve estar dentro dos
padrões físico-químicos e microbiológicos estabelecidos pela
legislação vigente. O consumo de alimentos dentro das
normas legislativas de fiscalização é um direito do
consumidor e protege os mesmos de possíveis doenças
transmitidas por alimentos 1. O processo de fabricação da
linguiça artesanal até o seu consumo envolve fatores de risco
relacionados às suas características próprias e aos fatores
externos associados ao processo de fabricação, manipulação
do alimento, armazenamento, e forma de comercialização 2.
Desta forma, o objetivo deste trabalho é relatar o papel da
fiscalização na cadeia produtiva de linguiças e sua
importância na qualidade desses produtos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma busca de artigos e legislações relacionados
à produção de linguiças artesanais.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
As etapas de produção da linguiça artesanal necessitam de
austeridade no controle sanitário. A higienização local deve
ser feita com regularidade, os funcionários devem cuidar de
sua higiene pessoal. A qualidade e o armazenamento da
matéria-prima também devem ser observados e controlados,
entre outros elementos que envolvem as ações de Boas
Práticas de Fabricação (BPF) A implantação dessas práticas
são fiscalizadas pela vigilância sanitária, sendo que os
setores de inspeção e fiscalização têm a função de realizar
atividades de orientação e educação sanitária, assegurando
produtos de qualidade, seguros e eficientes3. A produção e
circulação intensivas das linguiças artesanais podem
representar riscos à saúde do consumidor, pelo fato de
existirem grandes chances dos produtos infectados dispostos
no mercado, o prejudicarem. As ações da vigilância têm por
objetivo a proteção e defesa da saúde dos consumidores com
políticas públicas sanitárias voltadas à qualidade de vida 4. A
Lei nº 13.680, de 14 de junho de 2018 dispõe sobre o
processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem
animal produzidos de forma artesanal e estabelece que a
fiscalização desses alimentos deve ser realizada por órgãos
de saúde pública do Estado e do Distrito Federal. Os produtos
devem ser identificado por um selo único com indicação
“ARTE” 5. Todos os produtores de alimento de origem animal
devem ser registrados e possuir o selo em sua embalagem
para comercialização. A presença do selo é importante para
a identificação de produtos que foram fiscalizados e que estão
livres de patógenos 6. A contaminação de linguiças frescais e
artesanais tem sido relatada em estudos desenvolvidos em
diferentes regiões do Brasil. Alguns destes têm demonstrado
a diferença da qualidade microbiológica das linguiças
produzidas por estabelecimentos fiscalizados em relação
àquelas elaboradas de forma artesanal e sem a fiscalização
adequada. A qualidade microbiológica de linguiças frescais e
artesanais comercializadas no estado do Paraná, foi avaliada
por Souza et al.7, os quais analisaram 40 amostras de
linguiças do tipo frescal. De forma que 50% eram
provenientes de produção inspecionada pelo SIE e SIF e a
outra metade das amostras de produção artesanal,
comercializadas em feiras livres, supermercados e padarias.
Os resultados revelaram que 100% das amostras analisadas
apresentaram contaminação por coliformes termotolerantes o
que evidencia as condições higiênico sanitárias inadequadas
desses produtos. Ainda, segundo os autores, apesar de todas
as amostras apresentarem contaminação, a contagem de
microrganismos foram significativamente superior nas
linguiças artesanais produzidas sem fiscalização. Outro
estudo que evidenciou a importância da fiscalização na
produção de linguiças foi realizado por Adami et al.8.
Amostras de linguiça frescal foram analisadas quanto a
presença de Coliformes termotolerantes, Staphylococus
coagulase positiva e Salmonella spp. Todas as amostras
apresentaram contaminação microbiológica acima do padrão
estabelecido pela legislação. Os autores associaram o nível
de contaminação dos produtos com a falta de fiscalização.
CONCLUSÕES
A contaminação de linguiças tem sido relatada em diversas
pesquisas. Com a realização do presente trabalho, foi
possível identificar o papel de fiscais na cadeia produtiva de
linguiças, bem como sua importância e austeridade.
BIBLIOGRAFIAS
1. ALMEIDA, A.S.; GONÇALVES, P.M.R.; FRANCO, R.M. Salmonella em corte
de carne bovina inteiro e moído. Higiene Alimentar, São Paulo, v.16, n.96, p.77-
81, 2002.
2. BELLOLI, O. B. Manual de Boas Práticas de Fabricação Setor de Carnes.
2011. 157 f. TCC (Graduação em Tecnologia em Alimentos). Instituto Federal
de Educação (IEG). 2011.
3. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Instrução
Normativa nº4, de 31 de março de 2000.
4. COSTA, E. A. Vigilância Sanitária e Proteção da Saúde. 2006. Disponível
em: <http://www.saude.ba.gov.br./ >. Acesso em 07 de maio de 2020.
5. BRASIL. Lei nº 13.680, de 14 de junho de 2018. Altera a Lei nº 1.283, de 18
de dezembro de 1950, para dispor sobre o processo de fiscalização de produtos
alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal. DOU. 15 de junho
2018.
6. LANGE, T. N. et al. Ação educativa da vigilância sanitária, como instrumento
de aprimoramento da qualidade dos alimentos. Higiene Alimentar, São Paulo,
v. 22, n. 165, p. 40-45, 2008.
7. SOUZA, M. et al. Qualidade higiênico-sanitária e prevalência de sorovares
de Salmonella em linguiças frescais produzidas artesanalmente e
inspecionadas, comercializadas no oeste do Paraná, Brasil Arq. Inst. Biol., São
Paulo, v.81, n.2, p. 107-112, 2014.
8. ADAMI et al. Avaliação da qualidade microbiológica de linguiças e queijos.
Caderno pedagógico, Lajeado, v. 12, n. 1, p. 46-55, 2015.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
151
PARATUBERCULOSE EM CAPRINOS - REVISÃO DE LITERATURA
Stephanie Thayre1*, Jennifer Estefani Alves de Freitas1, Marina Carvalho de Oliveira¹, Nathalia de Abreu
Bomtempo¹, Taina Pereira de Castro¹, Fernanda Torres¹, Ana Luísa Soares de Miranda 2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A paratuberculose, trata-se de uma doença causada por
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map).¹ A
infecção em ruminantes ocorre, principalmente, pela ingestão
de água e alimentos contaminados ou com fezes, leite e
colostro de animais infectados e a transmissão pela via
intrauterina.2-3 É um bacilo álcool-ácido resistente (BAAR),
que se replica nos macrófagos da lâmina própria do intestino
delgado e grosso causando enterite granulomatosa, crônica e
infecciosa que acomete especialmente ruminantes
domésticos e selvagens.4 O presente trabalho trata-se de
uma revisão de literatura sobre a paratuberculose em
caprinos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Revisão literária conduzida através do estudo de artigos e relatos de caso baseados na paratuberculose caprina. No seguinte trabalho foram analisados e abordados temas referentes a conceitos, sintomatologia, diagnósticos, tratamento e efeitos econômicos que afetam de maneira geral o sistema da caprinocultura. REVISÃO DE LITERATURA
A paratuberculose também conhecida como doença de
Johne, e uma doença sem cura considerada
infectocontagiosa.5 As principais lesões macroscópicas
ocorrem no intestino delgado e caracterizam-se por
acentuado espessamento da mucosa, que assume aspecto
rugoso e megalia dos linfonodos mesentéricos. Os principais
achados histopatológicos consistem em enterite, linfangite e
linfadenite granulomatosas associados ao BAAR em
macrófagos. 2-6 A manifestação clínica em caprinos
costuma ocorrer em animais jovens acima de um ano de
idade e tem como principais sintomas a caquexia (Fig.1),
depressão e dispneia. Na maioria dos casos não ocorre
disenteria, e quando ocorre não e considerada grave,
diferente dos bovinos que tem a diarreia como principal sinal
clínico característico da doença.5 O teste ELISA tem sido o
mais utilizado devido ao seu procedimento laboratorial rápido
e de baixo custo, e com maior eficácia no mercado. Sua
especificidade ocorre pela absorção do soro com outra
micobactina, do Mycobacterium phlei, removendo os
anticorpos não específicos, evitando reações cruzadas contra
antígenos do MAP. 6 A paratuberculose não tem nenhum
tratamento efetivo. Por isso, o controle e a prevenção são
imperativos. No entanto, prevenir a introdução da doença
num efetivo é extremamente difícil.7 Os prejuízos econômicos
causados pela paratuberculose ocorrem, principalmente, em
rebanhos leiteiros e estão relacionados à diminuição da
produção de leite, no ganho de peso, baixa eficiência
reprodutiva, abate prematuro e redução do valor da carcaça
ao abate.8-9 No Brasil não há muitos relatos de casos,
principalmente em caprinos, já que no país a paratuberculose
acomete mais os bovinos. As principais regiões onde se
encontra a doença e no sul e sudeste, e recentemente foi
diagnosticado também na Paraíba e também nos estados do
Pernambuco.6
Figura 1: Cabra com caquexia devido a Paratuberculose.
Fonte: Oliveira et al., (2010)
CONCLUSÕES
A paratuberculose nao possui tratamento efetivo, por isso, o
controle e a prevencao sao considerados etapas importantes.
A vacinacao associada ao manejo adequado sao quais
possuem resultados mais significativos por produzir uma
reducao significativa da incidência clínica e de animais
portadores da patologia. As medidas de controle dependem
do controle da infecao, manejo, de forma a reduzir o risco de
transmissao da infecao nas geracoes seguintes. Os
produtores e os medicos veterinarios precisam estar
informados sobre a doenca, dado que, os medicos
veterinarios desempenham um papel primordial,
assegurando que a sua informacao e adequada para os
produtores, que garantem o correto manuseio dos caprinos.
BIBLIOGRAFIAS 1. Tiwari, A.; Vanleeuwen, J.A.; McKenna, S.L.B.; Keefe, G.P.; Barkema, H.W.
Johne’s disease in Canada. Part I. Clinical symptoms, pathophysiology,
diagnosis, and prevalence in dairy herds. Canadian Veterinary Journal, 47(9):
874-882, 2006.
2. Radostits O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W. & Constable P.T. 2007. Veterinary
Medicine. 10th ed. Saunders Elsevier, Edinburgh, p.1017- 1044.
3. Clarke C.J. & Little D. 1996. The pathology of ovine paratuberculosis: Gross
and histological changes in the intestine and other tissues. J. Comp. Pathol.
114(4):419-437.
4. Chiodini, R.J.; Van Kruiningen, H.J.; Merkal, R.S. Ruminant paratuberculosis
(Johne’s disease): the current status and future prospects. Cornell Veterinarian,
74(3): 218- 262, 1984.
5. Oliveira D.M., Riet-Correa F., Galiza G.J.N., Assis A.C.O., Dantas A.F.M.,
Bandarra P.M. & Garino Jr F. 2010. Paratuberculose em caprinos e ovinos no
Brasil. Pesq. Vet. Bras. 30(1):67-72. 6. KREEGER J.M. (1991) Ruminant paratuberculosis - a century of progress
and frustration. J. Vet Diagn. Invest., 3: 373 -383.
7. Medeiros M. A., Garino-Junior F., Almeida A. P.,Lucena E. A. & Riet-Correa
F. 2012a. Paratuberculose em ovinos e caprinos no estado da Paraíba. Pesq.
Vet. Bras. 32(2):111-115.
8. Navarre, C.B. & Pugh, D.G. (2002). Diseases of the gastrointestinal system.
In: D. G. Pugh (Ed.) Sheep and Goat Medicine (pp. 69-105). Philadelphia: W.
B. Saunders Company
9. Hendrick S.H., Kelton D.F., Leslie K.E., Lissemore K.D., Archambault M. &
Duffield T.F. 2005. Effect of paratuberculosis on culling, milk production, and
milk quality in dairy herds. J. Am. Vet. Med. Assoc. 227(8):1302-1308.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
152
PIOMETRA CANINA
¹Camilla Santana, ¹Gabriel Campos Moreira, ¹ Ana Carolina Siqueira,¹Igor Colodetti Lanna , ²Alessandra Silva
Dias ,³Lucas Fiusa. ¹Graduando em Medicina Veterinária – 2020 – UniBH – Belo Horizonte/MG – Brasil
² Professora do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG - Brasil ³ Médico Veterinário – Hospital Veterinário Animal Center – Belo Horizonte – MG - Brasil
*autor para correspondência: Gabriel Campos Moreira ([email protected])
INTRODUÇÃO
A piometra é uma alteração patológica que acomete o trato reprodutivo de fêmeas, principalmente da espécie canina. Quando as fêmeas não são castradas e possuem idade avançada, podem ser acometidas com mais frequência e a doença é caracterizada pelo acúmulo de conteúdo purulento no lúmen uterino. Esta afecção é considerada grave e necessita de uma abordagem terapêutica imediata e, preferencialmente, precoce, como uma tentativa de amenizar possíveis complicações no quadro clínico do animal(CONRADO, 2009). Quando o tratamento é feito de forma correta e em tempo hábil, pode evitar que endotoxinas bacterianas induzam imunossupressão medular, colestase hepática e lesão renal, que estão relacionadas com os diferentes graus de gravidade da doença (CONRADO, 2009). Com relação aos sinais clínicos e achados laboratoriais, a piometra pode ser classificada como aberta ou fechada dependendo da condição da cérvix, resultando em presença de corrimento vulvar ou não (JITPEAN et al., 2017). RELATO DE CASO
Uma cadela da raça Golden Retriever com 8 anos de idade, pesando 33kg e não castrada, foi atendida no Hospital Veterinário Animal Center, Belo Horizonte-MG, sendo relatado à anamnese que a paciente apresentava histórico de poliúria, polidipsia, inapetência e desconforto. Ao exame físico, foi possível constatar secreção vaginal mucopurulenta, aumento do volume abdominal e todos os parâmetros vitais dentro da normalidade. Foi colhida amostra de sangue para a realização do hemograma, proteinograma e mensuração de ureia e creatinina para a avalição da função renal. Além disso, a paciente foi submetida à fluidoterapia endovenosa. O hemograma demonstrou anemia normocítica normocrômica arregenerativa, leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda e monocitose. O resultado desses exames foi base para a suspeita de piometra de colo aberto e foi solicitado um exame ultrassonográfico, que detectou aumento das dimensões uterinas, paredes finas e ecotextura homogênea, e presença de líquido intraluminal. Sendo este um quadro clinico sugestivo de piometra aberta, foi recomendada a ovariosalpingohisterectomia, associada à intensa antibioticoterapia como medida terapêutica. A intervenção cirúrgica foi realizada com sucesso, sem intercorrência, durante a qual foi observada a presença de secreção purulenta no lúmen uterino, do líquido mucopurulento já antes citado e também o aumento do órgão. Após o procedimento, a paciente permaneceu internada para instituir o tratamento pós-cirúrgico. Piometra é um processo inflamatório do útero, associado à uma infecção bacteriana que pode ocorrer em qualquer fase do ciclo estral, sendo mais comum na fase de diestro CARVALHO et al. (2012). Na cavidade uterina há um acúmulo excessivo de pus, advindo de um aumento tecidual devido à multiplicação das células por decorrente estimulação prolongada de hormônios causando a proliferação das células que o compõem, denominado Hiperplasia Endometrial Cística (HEC) (SILVA, 2009). ¹ A realização da ultrassonografia foi essencial para a conclusão do diagnóstico, ao possibilitar a visualização e constatação principalmente da distensão uterina, além de
este ser um método que poupa desconforto ao paciente e que facilita o direcionamento correto de tratamentos. O diagnóstico de piometra normalmente é realizado facilmente e sem maiores complicações, é emergencial e deve ser imediato.
Figura 1 e 2. Ultrassonografia do útero. Útero apresentando aumento de dimensões, paredes finas, ecotextura homogênea e líquido intraluminal. CONCLUSÃO
A piometra é uma das doenças que mais comumente afeta fêmeas na clínica de pequenos animais. Um diagnóstico preciso e precoce estabelecido por meio da observação atenta e cuidadosa das manifestações clínicas, de um exame físico apurado e com auxílio dos exames complementares associados à uma terapêutica adequada, são cruciais para a reversão da enfermidade e para evitar complicações decorrentes. REFERÊNCIAS CONRADO, Conrado Francisco. Aspectos clínico-patológicos da piometra. Trabalho de conclusão de curso de graduação.Universidade Federal do rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2009. Disponível em https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/22930. TRAUTWEIN, Luiz Guilherme Corsi; SANT’ANNA, Marcos Cesar; JUSTINO Rebeca Cordeiro; MARTINS, Maria Isabel Mello. Guia revisado sobre o diagnóstico e prognóstico da piometra canina. Londrina, Investigação, 17(1): 16-23 2018. Disponível em http://publicacoes.unifran.br/index.php/investigacao/article/view/2043. CARVALHO et al. (2012) PIOMETRA EM CADELAS: REVISÃO DE LITERATURA. Disponível em http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/5xZV3LpkUleJ4UH_2013-6-25-17-59-30.pdf SILVA, Luiz Ricardo Silva Lima. Piometra em cadelas. Monografia apresentada como requisito de avaliação de conclusão de graduação em Medicina Veterinária- FMU. São Paulo, 2009. Disponível em http://arquivo.fmu.br/prodisc/medvet/lrsl.pdf ¹Shop Veterinário. Blog do Mundo Veterinário, c2019. Página inicial. Disponível em: https://www.shopveterinario.com.br/blog/piometra-em-cadelas/. Acesso em: 19 de abril de 2020.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
153
PRESENÇA DE BACTÉRIAS DO GRUPO COLIFORMES EM LINGUIÇAS ARTESANAIS
Lorraine Stuart Torquette1*, Priscilla Menezes de Almeida¹, Luca Santi Engel¹, Marco Antônio Souza Perreira¹, João Victor Bernardi de Freitas Lino¹, Juliana Andrade Bastos¹, Tania Maria Leite da Silveira3.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil *autor: [email protected] 3 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A linguiça artesanal é um alimento que vem se difundindo
muito. Sua popularização se deu a partir da busca por
alimentos caseiros, proporcionando assim maior
aproximação da matéria prima ao consumidor final. A
segurança na sua produção depende de cuidados,
envolvendo todas as etapas do preparo desse produto, sendo
elas: escolha da matéria-prima e condimentos, moagem da
carne moída, escolha do envoltório e seu preparo, e seu
armazenamento¹. Durante o processo de fabricação de
linguiças artesanais pode haver contaminação dos produtos
por microrganismos, dentre eles as bactérias do grupo
coliformes. Desta formo objetivo deste trabalho foi elucidar a
contaminação por bactérias do grupo coliformes em linguiças
produzidas de forma artesanal.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma busca de artigos na base de dados. Foram
utilizadas as palavras chaves: “producao de linguiça caseira,
higiene na produção, analise de alimentos, contaminação de
alimentos de origem artesanal”.
REVISÃO DE LITERATURA
O processo de produção das linguiças artesanais utiliza
carnes de animais de açougue, adicionadas ou não de tecidos
adiposos, e o processamento pode ocorrer em
estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte. Ao
processo, agregam-se aditivos utilizados para melhorar as
características sensoriais do produto (Figura 1)².
Figura 1. Fluxograma da produção de linguiça frescal
Fonte: GEORGES et al. 1.
As linguiças do tipo frescal, bem como os embutidos em geral,
devido ao processamento e características da matéria-prima
são alimentos altamente expostos à contaminação e
representam excelente meio para multiplicação microbiana. ¹
Os coliformes totais sao representados por quatro gêneros da
família Enterobacteriaceae: Escherichia, Enterobacter,
Citrobacter e Klebsiella, sendo a espécie E. coli melhor
indicador de contaminacao fecal do que as outras especies.
Os coliformes termotolerantes, especificamente, englobam a
maioria das culturas de E. coli e algumas linhagens de
Citrobacter e Klebsiella. E. coli compõem a microbiota
intestinal de animais de sangue quente.² ; Os coliformes totais
incluem bactérias na forma de bastonetes Gram-negativos,
capazes de fermentar a lactose com produção de gás, em 24
a 48 horas a 35,0ºC. Já os coliformes termotolerantes se
diferem dos totais apenas pela capacidade de fermentarem a
lactose com produção de gás a 44,5ºC-45,0ºC em 24 horas
(JAY,2005c). Enquanto o índice de coliformes totais avalia as
condições higiênicas, o de coliformes termotolerantes é
empregado como indicador de contaminação fecal.¹ A
avaliação da qualidade microbiológica de um alimento e um
parâmetro importante na determinação da qualidade do
mesmo, uma vez que reflete as condições de processamento.
A presença de bactérias do grupo coliformes em linguiças
produzidas de forma artesanal tem sido demonstrada em
alguns estudos. Um estudo realizado por Silva et al. 3 analisou
amostras de linguiças artesanais elaboradas com carne de
búfalo e encontraram quantidades elevadas de Coliformes
termotolerantes (>1100 ufc/g) em todas as amostras
analisadas. Outros dois estudos realizados em amostras de
linguiças artesanais também revelaram contaminação por
bactérias do grupo coliformes. Souza et al. 4 analisaram 20
amostras e 100% estavam contaminadas com Coliformes
termotolerantes com contagens variando entre 1 x 101 a 5 x
106. Já Merlini et al. 5 encontraram 50% de contaminação por
coliformes nas 40 amostras de linguiças artesanais
analisadas. Segundo os autores considerando que as
bactérias do grupo termotolerantes são indicadoras de
condições higiênico sanitárias de produção as linguiças
artesanais analisadas representam um risco para a saúde do
consumidor.
CONCLUSÕES
As linguiças produzidas de forma artesanal tem apresentado
contaminação por bactérias do grupo coliformes, sendo que a
presença dessas bactérias indicam falhas nas condições
higiênico sanitárias durante as etapas de produção.
BIBLIOGRAFIAS
1 Georges, S. O., Bernardo, L. G., André, M. C. D. P. B., Campos, M. R. H., &
Borges, L. J. ). Ecofisiologia microbiana e micro-organismos contaminantes de
linguiça suína e de frango do tipo frescal. Boletim do Centro de Pesquisa de
Processamento de Alimentos, v.36, n.1, p.1-15, 2019.
2. SILVA, J. M.; COLOMBO, S. G.; BACHINI, T. V.. Modelo de Gestão para
otimização do rendimento de envoltórios naturais na fabricação de linguiça
suína tipo frescal. IV Encontro Nacional da Agroindústria 27 a 30 de Novembro
de 2018 Revista Latino-americana de Inovação e Engenharia de Produção,
v. 4, n. 5, p.124-136, jul. 2016.
3. SILVA, A. P. M. et al. Avaliação microbiológica da linguiça artesanal bubalina
produzida na Ilha do Marajó, Pará, Brasil. Scientia Plena, v.12, n.06, p.9916
(1-6), 2016.
4. SOUZA, M. et al. Qualidade higiênico-sanitária e prevalência de sorovares
de Salmonella em linguiças frescais produzidas artesanalmente e
inspecionadas, comercializadas no oeste do Paraná, Brasil. Arq. Inst. Biol.,
São Paulo, v.81, n.2, p. 107-112, 2014.
5. MERLINNI, L. S. et al. Avaliação higiênico-sanitária de linguiças tipo frescal
produzidas artesanalmente na região noroeste do paraná. Centro Científico
Conhecer, Goiânia, v. 8, n. 15, p. 344-352, 2012.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
154
PRINCIPAIS DOENÇAS DE ALTO IMPACTO NA PRODUÇÃO DE BOVINOS DE CORTE
Fabiany Lorena da Silva1, Gabriel Keiti Ohasi Rodrigues¹, Luana Lima Fonseca Bortolini da Silva¹, Nayara
Moreira de Jesus¹, Rafaela Queiroz da Silva1, Túlio César Sales Moura1, Ana Luisa Soares de Miranda². 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A bovinocultura de corte assume papel de destaque na
economia brasileira e lidera o mercado mundial de carnes há
quase duas décadas. O Brasil é considerado hoje o maior
produtor mundial de carne bovina e possui o maior rebanho
comercial do mundo¹.
Tendo em vista o protagonismo desse segmento, torna-se
relevante o estudo dos principais desafios frequentemente
encontrados pela administração das propriedades rurais, tais
como as dificuldades relacionadas às doenças de alto
impacto na produção. As principais doenças que acometem
os bovinos de corte são de cunho infectocontagioso, e
possuem alto impacto na saúde, produção e mortalidade do
rebanho. Além disso, pelo fato dessas doenças serem de
difícil controle, elas podem acarretar também prejuízos
financeiros, afetando a rentabilidade da propriedade. Outro
agravante é que elas são consideradas zoonoses, ou seja,
podem ser transmitidas para seres humanos caso haja o
consumo de produtos contaminados².
O objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão de
literatura acerca das principais doenças que acometem o
rebanho e impactam na produção, tendo como foco a
Brucelose, a Febre aftosa e a Tuberculose bovinas.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram realizadas pesquisas documentais em diversas fontes, tais como revistas eletrônicas de Medicina Veterinária, artigos científicos e circulares técnicas que abordam sobre o assunto, sendo então reunidas e organizadas as informações pertinentes sobre as doenças escolhidas como tema do trabalho. REVISÃO DE LITERATURA
Dentre as principais infecções que acometem o gado de corte
podemos destacar a Brucelose, a Febre aftosa e a
Tuberculose bovinas. A Brucelose bovina é causada por uma
bactéria denominada Brucella abortus, conhecida como
moléstia de Bang, e é transmitida aos seres humanos através
do contato com sangue ou fezes contaminados. Ela é
caracterizada principalmente por ocasionar aborto em vacas,
principalmente no terço final da gestação, e orquite nos
machos. Após o parto ou ocorrência do aborto, as bactérias
são eliminadas do útero, porém o animal permanece portador
da doença. A incidência dessa doença no rebanho brasileiro
é muito alta, e por esse motivo a vacinação deve ser feita em
todas as fêmeas das espécies bovina e bubalina que estejam
na faixa etária de três a oito meses de idade³.
A febre aftosa é uma enfermidade viral, muito contagiosa, de
evolução aguda, que afeta naturalmente os animais
biungulados domésticos e selvagens: bovinos, bubalinos,
ovinos, caprinos e suínos4. Ela causa febre alta, seguida pelo
aparecimento de aftas localizadas principalmente na boca e
nos pés. Neste caso a taxa de mortalidade em animais
adultos é baixa, mas provoca sérios problemas cardíacos em
animais jovens, que levam ao óbito. É importante lembrar que
a carne e demais produtos derivados que possuam pH acima
de 6 conservam o vírus, e no caso de bovinos vacinados
expostos à doença ou infectados e não abatidos, o vírus
permanece no organismo por trinta dias. O diagnóstico da
febre é feito clinicamente após a observação das feridas e a
confirmação é feita por análises laboratoriais de tecidos
coletados na mucosa como amostras. As principais formas de
prevenção são: a vacinação, o sacrifício de animais
infectados e a destruição de suas carcaças, além de medidas
de quarentena5.
A Tuberculose bovina, doença causada pela bactéria
Mycobacterium bovis, torna-se crônica nos animais,
causando diversas lesões em diferentes órgãos e tecidos,
como pulmões, fígado, baço e carcaças, sendo que nas vacas
podemos encontrar também lesões no úbere. Em algumas
fases da infecção, os animais podem exibir emagrecimento
acentuado e tosse, porém muitas vezes, as alterações da
tuberculose não são perceptíveis aos produtores, por serem
internas, o que pode dificultar seu diagnóstico. Não existe
vacina nem tratamento para a tuberculose bovina, portanto a
prevenção da doença é o meio mais eficaz de controle. Em
caso de suspeita de animais contaminados, o produtor deve
contatar um médico veterinário habilitado para realizar o teste
intradérmico para tuberculose, e caso o resultado seja
positivo, é necessário que o animal seja identificado e
eliminado em um prazo de até 30 dias. É também de suma
importância que o animal com suspeita de contaminação seja
mantido em isolamento6.
CONCLUSÕES
A prevenção das doenças que afetam o rebanho é a melhor
forma de evitar custos excessivos com tratamento e prejuízos
relativos aos animais contaminados, além de proporcionar
uma melhor qualidade de vida aos animais, o que implica em
maior qualidade no produto final ofertado.
BIBLIOGRAFIAS 1. VALLE, Ezequiel Rodrigues do. PEREIRA, Mariana de Aragão.
Histórico e avanços do Programa Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de
Corte (BPA) entre 2003 e 2019. Campo Grande: Embrapa Gado de Corte,
2019.
2. PRATA, Aline Kitamura. Doenças mais comuns em Bovinos. Blog
Perito Animal, 2018. Disponível em <https://www.peritoanimal.com.br/doencas-
mais-comuns-em-bovinos-22500.html>. Acesso em 25/03/2020.
3. NETO, Miguel et al. Brucelose Bovina. Garça: Editora FAEF, 2009.
4. PITUCO, Edviges Maristela. A importância da Febre Aftosa em
Saúde Pública.
5. Blog Canal Rural. Saiba o que é a febre aftosa e como ela age no
organismo dos animais. 2014. Disponível em < https://www.canalrural.com.br/sites-e-especiais/saiba-que-febre-aftosa-como-
ela-age-organismo-dos-animais-7199/>. Acesso em 25/03/2020.
6. ARAÚJO, Fábio Ribeiro de. Sintomas, prejuízos e medidas preventivas sobre tuberculose bovina. Embrapa Gado de Corte, 2014. Disponível em < https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1908535/artigo-sintomas-prejuizos-e-medidas-preventivas-sobre-tuberculose-bovina>. Acesso em 25/03/2020.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
155
PRINCIPAIS RISCOS MICROBIOLÓGICOS NO QUEIJO MINAS FRESCAL
Anna Luiza Santos1, Carolina Martins¹, Gabriela Caldas¹, Gabriele Carvalho¹, Maria Carolina Salviano¹, Thais
Figueiredo¹, Tânia Silveira². 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil - [email protected]
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O queijo é um alimento muito consumido no Brasil, não só por
suas características nutricionais, mas também pelo sabor a
aroma peculiares1.
Apesar do valor nutritivo, o consumo de queijos frescais pode
representar um risco para a saúde do consumidor, quando os
mesmos são elaborados sem os devidos cuidados com as
condições higiênicos sanitários durante sua elaboração.
Nesse contexto alguns grupos de microrganismos são
utilizados como indicadores de contaminação e sua presença
nos alimentos demonstram más condições higiênico
sanitárias de produção. As bactérias do grupo coliformes
(Coliformes a 35ºC e termo tolerantes) representam esse
grupo de microrganismos2.
As bactérias patogênicas como a Salmonella spp e
Staphylococus coagulase positiva também podem estar
presentes em queijos elaborados em condições inadequadas
de higiene e representam um risco para a saúde do
consumidor causando doenças transmitidas por alimentos
(DTA)2.
Diante do exposto o presente trabalho tem como objetivo
fazer um levantamento bibliográfico sobre os principais riscos
microbiológicos nos queijos minas artesanais.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a produção do trabalho, foram feitas buscas de referências científicas na base de dados Google Acadêmico. Foram utilizados os seguintes descritores: “queijo minas artesanal”; ” riscos microbiologicos”. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A presença de bactérias do grupo coliformes e algumas
espécies patogênicas, em amostras de quejio Minas frescal e
artesanais, tem sido relatadas por alguns autores, que
avaliaram a qualidade e segurança desses produtos. Um
estudo realizado por Monteiro e Leandro3 analisou amostras
de queijo Minas frescal produzidos sob inspeção do Serviço
de Inspeção Federal (SIF) e também de queijos artesanais.
Os autores relatam a presença de Coliformes a 35ºC e
termotolerantes em quantidades acima do permitido pela
legislação brasileira nas amostras de queijo artesanal,
indicando condições sanitárias insatisfatórias. A presença de
Staphylococus coagulase positiva também foi detectada nas
amostras de queijo artesanal analisadas, porém as
quantidades encontradas se encontravam dentro dos limites
estabelecidos pela legislação brasileira. Segundo os autores
esses resultados são preocupantes uma vez que o
armazenamento desses queijos em temperaturas elevadas
pode ocorrer crescimento dessas bactérias e representar um
risco para a saúde do consumidor. Amostras de queijo Minas
artesanal, frecais e maturadas, produzidos na região do
Serro, MG foram avaliadas quanto à qualidade
microbiológica4. Os autores coletaram 40 amostras, sendo 20
frescais e 20 maturadas, de queijo nas quais foram
pesquisados. Coliformes a 35 e termotoleraantes,
Staphylococus coagulase positiva e Salmonella spp. Os
dados obtidos nesse estudo apontaram que 37 (92,5%) dos
40 queijos analisados estavam impróprios para o consumo
humano por apresentarem contagens de coliformes
termotolerantes e Staphylococus coagulase positivo acima
dos limites estabelecidos pela legislação brasileira. De acordo
com os autores a presença da bactéria Staphylococus
coagulase positiva representa um risco para saúde do
consumidor uma vez que essa bactéria produz toxina que
responsável por intoxicações alimentares. Freitas5 em 2015
também analisou amostras de queijo Minas artesanal
produzidas no estado de Santa Catarina. Foram pesquisadas
as bactérias do grupo coliformes, Staphylococus aureus e
Salmonella spp. Os resultados demonstraram que os queijos
artesanais analisados representam risco para a saúde do
consumidor por estarem contaminados com as bactérias
Staphylococus aureus e Salmonella spp. Essas bactérias são
responsáveis por surtos alimentares caracterizados por
desconforto abdominal intenso, diarreia e vômitos. As
bactérias do grupo coliformes têm como habitat natural o trato
intestinal do homem e animais de sangue quente, desta forma
a sua presença em queijos artesanais indica ausência de
cuidados de higiene e boas práticas de fabricação durante a
sua produção. Em 2019 18 amostras de queijo Minas
artesanal produzidos no estado de Mato Grosso
apresentaram contagens elevadas de coliformes
termotolerantes 6.
CONCLUSÕES
A presença de bactérias do grupo coliformes e algumas
espécies patogênicas têm sido encontradas em amostras de
queijo Minas frescal e representam um risco para a saúde
do consumidor por estarem associadas a doenças
transmitidas por alimentos.
BIBLIOGRAFIAS
1. MARTINS, E.; MOURA, C. Manual técnico na arte e princípios da fabricação de queijos. 2. ed. Alto Piquiri: Campana,. p. 14-16, 2010. 2. LANDGRAF, M. Microrganismos indicadores. In: FRANCO, B. D. G. de M;LANDGRAF, M. Microbiologia dos alimentos. São Paulo: Atheneu, 2008. cap. 3, p. 27-31. 3. MONTEIRO, Joelma Coelho e LEANDRO, Eliana dos Santos. Avaliação Microbiológica de Queijo Minas Frescal com serviço de inspeção federal e artesanal. Revista e-curriculum, Divinópolis, 30 jul. 2012.Disponível em:<https://cienciadoleite.com.br/noticia/3023/avaliacao-microbiologica-de-queijos-minas-frescal-com-servico-de-inspecao-federal-e-artesanal>. Acesso em: 20 abr. 2020. 4. BRANT, L. M. F.; Fonseca, l.m.; silva, M.C.C.. Avaliação da qualidade microbiológica do queijo-de-minas artesanal do Serro-MG. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.59, n.6, p.1570-1574, 2007. .Disponível em:< https://www.scielo.br/pdf/abmvz/v59n6/33>. Acesso em: 11 mai. 2020. 5. FREITAS, M. P. Avaliação microbiológica de queijos artesanais produzidos na cidade de Taió, Santa Catarina. Saúde Meio Ambient. v. 4, n. 2, p. 103-114, jul./dez. 2015. 6. BATISTELLA, V. M. et al. Avaliação da qualidade microbiológica de queijos artesanais tipo minas frescal em Barra do Bugres – MT. AGRARIAN ACADEMY, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.6, n.11; p. 400-409, 2019.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
156
SÍNDROME DO OSSO NAVICULAR EM EQUINOS
Ana Luiza Cardoso Monteiro1; Júlia Guimarães Diniz1; Júlia Sampaio Gurgel1*; Júlia Ribas Bomtempo1;
Lorena Armond Isoni1; Tatiana Irene de Lima Pinheiro1; Alessandra Silva Dias2.; Bruno Divino Rocha2; Gabriel
Dias Costa³... 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil ³Médico veterinário autônomo– Belo Horizonte – MG – Brasil
*Autor para correspondência [email protected]
INTRODUÇÃO
O aparelho locomotor de equinos é de extrema importância,
pois constitui o sistema de sustentação e de dinâmica
locomotora de maior capacidade, qualificando o animal à
diferentes modalidades como montaria e trabalho. Como
consequência, os animais são exigidos acima de seus limites
e submetidos a enfermidades locomotoras traumáticas (DIAS,
21). Entretanto, é de suma importância ter conhecimento das
alterações patológicas locomotoras dos equinos. Dentre as
várias doenças que acometem o sistema locomotor dos
equinos, a síndrome navicular é uma doença degenerativa
que atinge o osso sesamóide distal, também chamado de
navicular. Equinos com essa síndrome geralmente
apresentam histórico de claudicação de membros anteriores
progressiva, crônica, unilateral ou bilateral (RIBEIRO, 2013).
O presente trabalho tem objetivo de fazer um relato de caso
de um equino, o qual apresentava claudicação evidente ao
passo do membro torácico esquerdo.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Um equino da raça Mangalarga Marchador, macho, de
aproximadamente 5 anos foi atendido pelo Médico Veterinário
responsável. Segundo o proprietário, o animal foi avaliado em
maio de 2017 e apresentava claudicação. Após alguns dias,
novamente foi avaliado e apresentou-se normal, sem nenhum
tipo de claudicação, sendo assim adquirido pelo Haras. No dia
em que o animal chegou ao haras a claudicação começou
novamente. Portanto, foi avaliado pelo Médico Veterinário e
chegou ao diagnóstico de lesão do osso navicular. A
síndrome do osso navicular é uma patologia que afeta o osso
sesamoide distal dos equinos. A claudicação é um fator de
extrema importância para o diagnostico sendo um sinal clinico
recorrente. Estima-se que a síndrome seja responsável por
um terço de todas as claudicações crônicas de membros
anteriores em equinos (STASHAK, 2006). No exame estático,
o animal apresentou efusão intensa da articulação
interfalangeana distal do membro torácico esquerdo,
hipertermia na região da coroa do casco do membro anterior
esquerdo e aumento intenso do pulso das artérias digitais. Já
no exame dinâmico, expôs claudicação evidente ao passo do
membro torácico esquerdo. Assim, na busca do diagnóstico
definitivo, foi feito bloqueio dos nervos digitais do membro
torácico esquerdo e, logo após, observou-se melhora
significativa (90%) da claudicação. Foi feito também o exame
radiológico do membro e observou-se a presença de solução
de continuidade sem reação óssea do osso navicular e
presença de aumento dos canalículos e perda de definição
das bordas vascular e sinovial do osso navicular. Como
muitos equinos com síndrome do navicular são submetidos a
vários tratamentos, é difícil uma avaliação definitiva da
eficácia de um tratamento especifico na recuperação
(STASHAK, 2006). Vários tratamentos são destinados a
reduzir ou interromper a degeneração progressiva do osso
navicular ou fornecer alívio paliativo da dor (SMITH, 2006).
Nesse caso o tratamento indicado pelo médico veterinário foi
repouso completo do animal durante um período e o uso do
anti-inflamatório fenilbutazona durante 5 dias.
Figura 1: Imagem radiográfica do membro torácico
esquerdo do animal com suspeita de síndrome do osso
navicular
A-
B- C- Fotos: arquivo do Médico Veterinário Gabriel Dias Costa.
A- Imagem dorso plantar do membro esquerdo. Não é possível notar alterações.
B- Imagem dorso plantar esquerdo do membro esquerdo. Não é possível notar alterações.
C- Imagem latero lateral esquerdo. Pode-se notar um pequeno esporão ósseo no osso sesamóide distal.
CONCLUSÕES
Apesar dos sinais clínicos comuns na maioria dos casos, só
o exame clínico não resulta em um diagnóstico seguro. Dessa
forma, o veterinário deve fazer exames complementares
como o exame radiológico, para um diagnóstico definitivo. O
tratamento dos sinais clínicos pode variar bastante de acordo
com a necessidade do animal e o Médico Veterinário deve
prescrever o tratamento. Entretanto anti-inflamatórios e
repouso com uma pequena parcela de exercícios
fisioterápicos é sempre indicado.
BIBLIOGRAFIAS 1- GRAMOSA, Weslany Soraya Vieira. "Síndrome do Navicular." (2013).
2- COSTA, Gabriel. Relato do atendimento clínico. (2017).
3- RIBEIRO, Gustavo Henrique Coutinho. “Anatomia, biomecânica e principais
patologias do membro distal de equinos: quartela e casco.” (2013)
4- STASHAK, Ted S. Claudicação em equinos segundo Adams. 5ª ed. São
Paulo: Roca, 2006.
5- SMITH, B.P. Medicina interna de grandes animais. 3ª Ed. Barueri: Manole,
2006.
6- Macedo, Thais Cristina Dias. “Síndrome do Navicular”
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
157
STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM REBANHOS LEITEIROS COM ALTA PREVALÊNCIA DE MASTITE Ana Luiza Azeredo Antunes1, Igor Ferreira Pinto1, João Carlos Victor de Oliveira1, Luiza de Oliveira Alves Andrade1,
Maria Clara Ruas Alvarenga1, Marta Oliveira Barbosa1, Matheus Faria da Silva e Souza1, Nathália Alice Reis Melo1, Ana Luisa S. De Miranda2.
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil 2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
Staphylococcus aureus é uma bactéria da família dos
Staphylococcaceae que atualmente possui 47 espécies e 24
subespécies¹. É uma bactéria que coloniza o epitélio dos tetos
das vacas e penetra na glândula mamária, resultando na
mastite, uma doença que afeta vacas leiteiras. A mastite que
é causada pelo S. aureus é do tipo contagioso e acarreta
diversos efeitos no animal. Além dos danos causados aos
animais, a mastite causada pelo Staphylococcus aureus gera
grandes impactos negativos para os sistemas de produção
leiteira. Inúmeros fatores influenciam no prejuízo que é
provocado por esta doença, pois são gerados diversos gastos
a fim de controlar e impedir a disseminação da mastite em
outros animais². O objetivo do presente trabalho é realizar
uma revisão bibliográfica sobre o tema Staphylococcus
aureus com a finalidade de evitar os prejuízos na produção
leiteira.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema
Staphlococcus aureus em bases de dados públicas, livros e
materiais didáticos, utilizando-se as seguintes palavras
chave: Staphlococcus aureus, Staphylococcaceae,
microrganismos, mastite, mastite bovina, bovino e gado de
leite.
REVISÃO DE LITERATURA
A mastite é causada pela ação de vários microrganismos,
sendo o Staphylococcus aureus o agente infeccioso em 50%
dos casos, que acomete a glândula mamária, afetando na
capacidade produtiva do animal, qualidade do leite e podendo
gerar infecções de longa duração, com tendência a se
tornarem crônica³. No caso do agente S. aureus, a mastite é
classificada em subclínica, que consiste na inflamação em
que não se observa alterações no úbere do animal e no leite
produzido4. Apesar de não apresentar alterações visíveis,
ocorre, porém, a diminuição da produção de leite e são
causadas alterações em sua composição, como níveis de
lactose e gordura, como observado na figura 1. A mastite
causada pelo Staphylococcus aureus é contagiosa, onde sua
disseminação ocorre de um animal para o outro e seus efeitos
são: aumento da destruição tissular; CCS > 500.000
células/ml, demonstrado na tabela 1; formação de
microabscessos; secreção de substância antiquiostáticas e
baixa resposta no uso de antibióticos, levando a recorrência
da doença³. Os efeitos negativos dessa doença são de
grande impacto nos sistemas de produção, pois acarretam
em diversos gastos como: utilização de remédios em casos
clínicos; descarte de leite; morte de animais jovens e
diminuição na produtividade do animal acometido. Para o
controle da doença são instaladas medidas de controle no
manejo do animal, como a devida higienização no processo
de ordenha e medidas de redução de estresse².
Figura 1. Visualização macroscópica das lesões da
glândula mamária em casos crônicos de mastite por
Staphylococcus aureus².
Tabela 1. Interpretação e estimativa da influência do
número de células somáticas na produção de leite de
rebanhos³.
CONCLUSÕES
A mastite é uma doença que gera danos diretamente aos
animais, mas que consequentemente afeta os sistemas de
produção das fazendas leiteiras que necessitam da alta
produtividade das vacas que, enquanto na presença do
agente Staphylococcus aureus em seu organismo, se
encontra baixa e por vezes inexistentes. Essa doença,
quando causada pelo S. aureus, se manifesta de forma
contagiosa, subclínica e podendo se tornar crônica. O
controle da mesma diante de um rebanho leiteiro, depende
totalmente da administração realizada nas técnicas do
manejo animal, pois dessa forma, serão evitados episódios
que podem contribuir com a permanência dessa doença em
meio do rebanho.
BIBLIOGRAFIAS 1. Bastos, Caroline. Detecção, prevalência e expressão de genes de enterotoxinas
clássicas de Staphylococcus aureus isolados de alimentos e surtos. Tese Programa
de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de
Pelotas.
2. Rehagro, blog. Controle de mastite e qualidade de leite. 18 de julho de 2018. Publicado
em site https://rehagro.com.br/blog/controle-de-mastite-e-qualidade-do-leite/
3. Bastos, Luciano. Mastite bovina. Apresentação realizada pela EMBRAPA. Link para
obtenão do material:
https://www.embrapa.br/documents/1354377/1743406/Mastite+Bovina.pdf/a63da9a0-
e6a1-4e57-aa49-4047216b46fe?version=1.0
4. Rehagro, blog. O que é mastite bovina e quais seus inpactos? 18 de março de 2019.
Publicado em site https://rehagro.com.br/blog/o-que-e-mastite-bovina/
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
158
SUINOCULTURA: CUIDADOS SANITÁRIOS NO PERIODO DA PRENHEZ E AMAMENTAÇÃO
Mariana Gomes de SOUZA.1*, Hizzabela Jhennifer Pereira NEVES¹, Ana Carolina de Sousa BOSSIGIA¹, Sarah
Domingues ARAUJO¹, Ana Luísa Soares de MIRANDA²
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ² Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG - Brasil
INTRODUÇÃO
A ocorrência de determinadas doenças na produção animal é
um dos fatores mais importantes para a suinocultura. Uma
limpeza completa nas instalações é necessária para reduzir a
probabilidade de infecções, doenças e óbito dos animais.
Algumas doenças causam grandes impactos para o comercio
e aumentam o custo de produção, a falha na limpeza e
desinfecção, por exemplo, na maternidade resultam em
infecções nos leitões recém-nascidos. É preciso estar atento
nas medidas de biossegurança e aos cuidados necessários
para impedir que determinadas doenças infectem os animais
e causem grandes prejuízos. Animais em ambientes limpos e
desinfetados e com boa resistência tem melhor desempenho
e melhor índice de doenças, o que gera melhores resultados.¹
O objetivo do trabalho é apresentar as enfermidades virais e
bacterianas que acometem as granjas de suinocultura que
não seguem adequadamente as recomendações de higiene.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização do trabalho foram feitos levantamentos de artigos científicos veterinários que abordam o tema de manejo de limpeza e desinfecção das granjas suinícolas. Utilizou-se a palavra chave para busca: manejo, cuidados sanitários, suíno, doenças. REVISÃO DE LITERATURA
Durante toda a cadeia de produção, os princípios de
biosseguridade e bem-estar animal devem ser levados à
risca. A produção dos animais depende das condições
ambientais que são apresentadas a eles e manter a saúde
dos suínos é um dos pilares do bem-estar animal. Muitas
doenças são estabelecidas quando a grande presença de
agentes patogênicos (chamada de pressão de infecção)
ultrapassa os limites da resistência do animal. Então, quando
em um ambiente de baixa higiene, que é potencialmente
contaminado, muitas vezes os animais não têm resistência o
suficiente e adoecem com maior frequência, causando perdas
diretas(mortes) ou indiretas(desuniformidade, perda de peso,
gastos com medicamentos, mão de obra).¹ Para manter o
nível de contaminação ambiental sob controle, é necessária a
realização de um programa de limpeza e desinfecção da
granja.² A limpeza das instalações pode ser dividia em dois
momentos: a rotineira, ou seja, feita todos os dias, e no
intervalo entre os lotes (vazio sanitário). Os procedimentos
são divididos em limpeza seca e limpeza úmida. Depois da
limpeza vem a desinfecção, com o uso de desinfetantes que
agem sobre os micro-organismos patogênico.³
Enfermidades virais: A parvovirose suína é uma importante
virose que somente na espécie suína está relacionada com
transtornos reprodutivos. Quando uma fêmea em gestação é
infectada, o vírus atravessa a placenta e se multiplica
lentamente no útero infectando os embriões. Assim, nesta
enfermidade é comum observar, além do abortamento, fetos
mumificados em vários estágios de gestação. Se a gestação
chega ao término, pode acontecer, ainda, a presença de
mumificados, de leitões vivos normais, de leitegada fraca e de
tamanho reduzido. O controle da parvovirose suína é feito
através da vacinação de todo o plantel reprodutor antes da
cobertura.³ O rotavirus é responsável por severas diarreias,
geralmente de cor amarelada ou esverdeada, com presença
de leite coagulado, principalmente em leitões de 2 a 6
semanas de vida. Em casos de focos, 70 a 80% dos leitões
podem ser afetados. O vírus transmite-se aos leitões,
principalmente através das fezes. Fêmeas adultas podem
também ser portadoras, eliminando o vírus e contaminando a
leitegada. Por se tratar de uma zoonose e por não existir
vacina no mercado, restam como prevenção medidas de
limpeza e higiene.³ Enfermidades bacterianas:
Leptospirose afeta a reprodução dos suínos, podendo neste
caso, além do aborto, causar natimortos, fetos mumificados e
leitegada fraca. Pode ser observada ainda, nos suínos
infectados, uma cor amarelada na pele. O suíno infecta-se
com a leptospira (bactéria) por meio de alimentos e água
contaminados com a urina de outro suíno infectado. O suíno,
no qual a bactéria se multiplica nos rins, é considerado
portador e elimina grande quantidade da bactéria através da
urina por um longo período, podendo contaminar outros
animais e, inclusive, o ser humano. Também podem ser
considerados portadores os roedores e animais silvestres
que, de igual modo, eliminam a bactéria pela urina. Como na
maioria das enfermidades, o controle da leptospirose é feito
através da limpeza, higiene das instalações e um bom manejo
no qual não deve ser esquecido o exame sorológico. É muito
importante que se realize o combate a roedores. Recomenda-
se também o uso de vacinas existentes no mercado.³ A
doença do edema em suínos é causada pela bactéria E. coli
que libera uma substancia tóxica responsável pelo quadro de
morte súbita, desenvolvimento de edema e sinal de
incoordenação motora, mais prevalente em leitões de 4 a 8
semanas de idade, 1 a 2 semanas após o desmame. Os
animais apresentam sintomas neurológicos, tais como
incoordenação motora, decúbito lateral, movimentos de
pedalagem e morte em torno de 12 horas. Geralmente,
observa-se icterícia, edema gelatinoso nas articulações e em
baixo da pele. A prevenção é feita principalmente através da
limpeza do ambiente. Aliás, quando se mantém limpo e seco
o ambiente no qual os suínos são alojados, está se
prevenindo o aparecimento de um grande número de
enfermidades.³
CONCLUSÕES
Os cuidados e a limpeza do local onde o rebanho de suínos
se encontra é de grande importância. Sem a higiene
adequada, as doenças se proliferam e pode ser perdida boa
parte dos animais por causa delas. Para manter os níveis de
contaminação ambiental sob controle são realizados através
de normas rígidas de biosseguridade, programas de limpeza
e desinfecção da granja que evitam a entrada de agentes
infecciosos (vírus, bactérias, fungos e parasitas) e controla
sua disseminação dentro do sistema de produção, além de
proporcionar higiene e saúde, essa atitude garante um
sistema mais eficiente e lucrativo.
BIBLIOGRAFIAS 1. HÉLIO, A. et al. Produção de suínos: teoria e pratica. 1 ed. Brasília: Associação
Brasileira de Criadores de Suínos (ACBS), 2014.
2. CUIDADOS SANITÁRIOS EVITAM DOENÇAS E DIMINUEM CUSTOS DA
SUINOCULTURA. SEBRAE
3. CAMPOS, A. et al. Sanidade suína em agricultura familiar. Instituto Biológico.
n. 30 (agosto 2017)
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
159
UROLITÍASE EM CÃO – RELATO DE CASO
Alice Alvarenga Silva1, Ana Luiza Fontoura de Souza¹, Andressa Kele Moura Carvalho¹, Bianca Viana
Guimarães¹, Fernanda Oliveira Silva¹, Gabriel Salviano Botelho de Morais¹, Lucas Magalhães Roque¹, Maria
Luisa Alvarenga¹, Alessandra Silva Dias², Bruno Divino Rocha².
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A urolitíase é uma patologia que se dá pela formação de precipitados em forma sólida ao longo das vias urinárias. Esses precipitados são cristais ou cálculos, e são denominados de urólitos ou cálculos urinários. Este é um caso frequente na rotina médica veterinária, e é visto majoritariamente nas bexigas de cães machos.² A formação dos urólitos se deve a uma urina supersaturada, com a presença de sais em dissolução, que corroboram para a precipitação e tendência a formarem cristais com tais sais e posteriormente, os cálculos. Em uma urina supersaturada, se encontram os índices de oxalato, ácido úrico, cálcio e cistina elevados, por uma dieta não adequada ou quando o animal apresenta dificuldade de metabolizar algumas substâncias, além da falta de ingestão de água.² Os urólitos são denominados de acordo com o seu conteúdo mineral (estruvita, oxalato de cálcio, urato, silicato, cistina e mistos). A solubilidade dos cristais depende do pH, temperatura, e densidade específica da urina. (DIBARTOLA, 1997; NELSON &COUTO, 2001).4 Os sinais clínicos mais comuns são a polaquiúria (aumento do número de micções), hematúria (presença de eritrócitos na urina), desconforto ao urinar e a eliminação lenta e dolorosa ao urinar, em consequência dos espasmos.³ No presente trabalho, iremos relatar o caso de um animal com cálculo na bexiga, destacando a importância do diagnóstico por imagem no diagnóstico da doença. RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Nosso trabalho será baseado no caso do Max, um
cachorro, macho, castrado, SRD, 1 ano de idade, pesando
25 quilos, que deu entrada na Clínica veterinária Campina
Verde. em Belo Horizonte. Durante a consulta com o
profissional, o animal apresentava temperatura normal, e
foi relatado pela tutora apetite normal e hematúria
frequente.
O animal foi encaminhado para uma ultrassonografia onde
não foi observado obstrução, mas uma leve dilatação da
uretra. No entanto, foi encontrado um cálculo de 1,55 cm,
com a possível presença de outros pequenos cálculos.
Com base no exame de imagem, o paciente foi
encaminhado para o bloco cirúrgico para a retirada dos
cálculos, a fim de evitar a obstrução e complicações.
A figura 1 mostra a imagem ultrassonografia, que sugeria
um cálculo grande, espiculado, que poderia esconder
outros atrás. Em outra imagem (não divulgada), foi
possível ver pequenos cálculos, o que reforçava a ideia do
cálculo maior, de aproximadamente 1,55 cm, ser
espiculado. Por isso, foi indicada a intervenção cirúrgica.
Para diagnostico, são comumente solicitados na clínica veterinária exames como, ultrassonografia, radiografia, exames de urinálise e sanguíneo. Para diferenciar exatamente os cálculos dos demais problemas urinários, é necessário o exame ultrassonográfico ou radiográfico. A radiografia é de extrema importância para a determinação da localização e tamanhos dos urólitos, que podem se apresentar de formas diferentes na imagem, dependo de sua composição, como por exemplo, urólitos de estruvita, de amônia, de fosfato de
cálcio e cistina apresentam formato liso ou arredondado, e os urólitos de oxalato de cálcio podem se apresentar de forma irregular e espiculados, ou lisos pequenos e arredondados. E suas radiopacidades também podem ser diferentes.¹ A ultrassonografia também é um método de diagnostico importante para cálculo na bexiga, levando em consideração que é possível a visualização de qualquer urólito, independente de seu tamanho, composição ou forma. No exame, se formam imagens hiperecogênicas, ou seja, que refletem bem as ondas, formando imagens claras e sombras acústicas.¹
Figura 1: Imagem ultrassonográfica da bexiga, apresentando um
cálculo, apontado pela seta. (Imagens dos exames cedidos pela
clínica e autorizadas pelo tutor.)
CONCLUSÕES
Percebe-se a importância do ultrassom e da radiografia
como meio de diagnostico por imagem, tendo em vista que
é possível a visualização e a localização dos cálculos
independente do seu tamanho e composição, facilitando a
escolha do tratamento a ser feito após o diagnóstico.
BIBLIOGRAFIAS 1. Ariza, Paula Costa; Queiroz, Layla Lívia de; Castro, Luma Tatiana Silva;
Dall’agnol, Mariana; Fioravanti, Maria Clorinda Soares. Tratamento da
Urolitiase em cães e gatos: Abordagens não cirurgicas. Enciclopédia
biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, [S. l.], p. 1-22, 20 jun. 2016.
DOI 10.18677/Enciclopedia_Biosfera_2016_116. Disponível em:
http://www.conhecer.org.br/enciclop/2016a/agrarias/tratamento.pdf.
2. Cálculo renal em cachorros. [S. l.]: George Augusto, 27 dez. 2017.
Disponível em: https://www.portaldodog.com.br/cachorros/saude/calculo-
renal-em-cachorros/.
3. Cálculos urinários – Qual o papel da nutrição na sua prevenção e
tratamento?. [S. l.], 7 jan. 2015. Disponível em:
http://portalvet.royalcanin.com.br/artigo. aspx?id=48.
4. Cálculos urinários – Qual o papel da nutrição na sua prevenção e
tratamento?. [S. l.], 7 jan. 2015. Disponível em:
http://portalvet.royalcanin.com.br/artigo.aspx?id=48.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
160
USO DE GAIOLAS ENRIQUECIDAS NA AVICULTURA POEDEIRA
Daniela Morais1*, Maria Clara Cardoso1, Tiago Manetta¹, Lucas Fonseca¹, Matheus Vaz¹, Gabriel Almeida
Dutra².
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
O mercado alimentício tem se tornado cada vez mais
competitivo, dessa forma os produtores buscam encontrar um
sistema de criação que amplifique a produtividade em um
menor tempo possível. Para isso foi realizados uma série de
estudos para comprovar a viabilidade técnica e econômica
das gaiolas enriquecidas. Alguns desses produtores optaram
também por aumentar o número de aves por gaiola, querendo
aumentar a produção em um mesmo espaço.
MATERIAIS E MÉTODOS
A presente revisão de literatura foi desenvolvida com base na
influência do sistema de criação na qualidade dos ovos das
aves poedeiras e a relevância da avicultura de postura no
contexto brasileiro, por meio de uma coletânea de artigos
acessados através das plataformas Scielo e Google
Acadêmico. Após avaliação dos critérios de inclusão, o
embasamento teórico foi desenvolvido por meio de 3 artigos,
trabalhos e manuais selecionados dentre os 8 encontrados
correlacionados com o foco da pesquisa.
REVISÃO DE LITERATURA
Sabe-se que, em concordância com Fraser (2008), bem-estar
consiste em um animal livre de medo e dor, saudável,
crescimento favorável, boa fisiologia e deve ter o direito de
viver uma "vida natural", isto é, viver o mais próximo de como
se vive na natureza, sem medo e sem dor. Através de dados
obtidos pelo Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos, o Brasil está no sétimo lugar na produção mundial
dos ovos. O modo de criação em gaiolas é a principal forma
de produção de ovos no solo brasileiro, com granjas divididas
em três partes, para criação, recriação e produção. O
sistema convencional de gaiolas ainda é usado no Brasil, os
tamanhos são de 300 a 400 cm2 por animal, onde as
dimensões de uma gaiola são de 0,45 m de comprimento por
0,45 m de largura e 50 cm de comprimento e dessa forma,
pode hospedar até quatro galinhas em cada gaiola. (VAN
HORNE; ACHTERBOSCH, 2008). A União Europeia tomou o
partido da proibição do uso das gaiolas convencionais a partir
de 2012, então existiu um interesse mundial e felizmente,
surgiu outras opções, como as gaiolas enriquecidas,
cagefree, sistemas free range, sistemas aviary e sistemas
barn (Artigo 2 e 3) (APPLEBY, 1993; FLEMING et al., 1994;
VITS et al., 2005; TAUSON, 2005; TACTACAN et al., 2009;
SINGH et al., 2009; LAY JR et al., 2011; SUMNER et al.,
2011; ONBAŞILAR et al., 2015). Em comparacao as gaiolas
convencionais, as enriquecidas possuem poleiro que tem a
largura da gaiola e tamanho suficiente para que todas as aves
possam pousar ao mesmo tempo. (LUESCHER et al.,1982;
TAUSON,1984;HUGHES; APPLEBY, 1989; WEGNER,1990;
APPLEBY,1990; DUNCAN et al., 1992; APPLEBY, 1993;
APPLEBY,1998).
Imagem 1: Gaiola enriquecida.
Imagem 2: Gaiola tradicional.
CONCLUSÕES
Após estudos realizados e comparados no seu desempenho
e bem-estar, conclui-se que não há diferença entre a
qualidade dos ovos entre os sistemas de gaiola convencional
e gaiola enriquecida. A principal diferença está nas gaiolas
que são maiores e mais aconchegantes, promovendo um
melhor desempenho e bem-estar, além de evitar possíveis
fraturas que são recorrentes em gaiolas convencionais. Logo,
as enriquecidas são melhores opções do mercado.
BIBLIOGRAFIAS 1. Camerini, N. L., de Oliveira, D. L., Silva, R. C., Nascimento, J. W. B., &
Furtado, D. A. (2013). Efeito do sistema de criação e do ambiente sobre a
qualidade de ovos de poedeiras comerciais.
2. Oliveira, D. L. D., do Nascimento, J. W., Camerini, N. L., Silva, R. C., Furtado,
D. A., & Araújo, T. G. (2014). Desempenho e qualidade de ovos de galinhas
poedeiras criadas em gaiolas enriquecidas e ambiente controlado. Revista
Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 18(11), 1186-1191. 3 Cabrelon,
M. A. F., & Silva, I. J. O. D. (2016).
Diferentes densidades de gaiola e suas implicações no comportamento de
galinhas poedeiras e na qualidade dos ovos produzidos (Doctoraldissertation,
Dissertação (Mestrado em Zootecnia)–Universidade de São Paulo, SP, Brasil).
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
161
USO SUSTENTÁVEL DA CAMA DE FRANGO NA HORTICULTURA
Luiza Queiroz Soares Brito¹, Julia Correa Araujo¹, Deborah Sthefany Barbosa Barreto¹, Luana Cristina Ribeiro
Oliveira¹, Mariane Eloise Gomes Campos¹, Gabriel Almeida Dutra2
1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil ²Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A cama de frango é um recurso amplamente utilizado por
produtores rurais no agronegócio brasileiro com intuito de
produzir com sustentabilidade, além de proporcionar retorno
financeiro para o produtor. Pode-se utilizar os dejetos de
forma sustentável e rentável de forma a aproveitar melhor
todos os recursos gerados pela produção incluindo aquilo que
seria descartado¹. O presente estudo tem como intuito
mostrar que o pequeno produtor rural pode melhorar seus
resultados introduzindo a cama de frango como adubo
orgânico na produção de hortaliças que podem ser utilizadas
na alimentação alternativa de aves.
MATERIAIS E MÉTODOS
A presente revisão de literatura foi baseada em 5 artigos a respeito do manejo e nutrição de galinhas poedeiras, afim de desenvolver sobre a cama de frango e seus benefícios na horticultura. REVISÃO DE LITERATURA
A criação de galinhas poedeiras requer atenção e cuidado
principalmente nos primeiros meses de vida devido a
necessidade de nutrientes essenciais como cálcio e fósforo,
para que a produção de ovos seja de alta qualidade4. Dessa
maneira, a ração deve atender as necessidades nutricionais
da granja de acordo com a idade dos animais e a estação do
ano. É necessário saber também as condições de produção
para que o alimento seja administrado de forma balanceada
no tempo correto. Uma galinha poedeira consome em média
de 120g de ração ao dia durante seu período produtivo, o que
resultará em cerca de 3,6kg por mês2.
A alimentação saudável pode trazer benefícios e rendimento
constante de ovos de qualidade e a desnutrição pode resultar
em ovos com casca mole, diminuir ou cessar a produção dos
mesmos, acarretando um estresse maior do animal, perda de
penas, desnutrição e em casos severos podendo levar à
morte. A utilização da cama de frango como produto de adubo
do solo cria um ciclo sustentável e renovável na produção de
ovos, além de diminuir os custos de produção4,5.
A cama de frango é composta por excretas, penas, resto de
ração insetos e secreções provenientes dos animais. Sua
composição geralmente apresenta 14% de proteína bruta,
16% de fibra bruta, 13% de matéria mineral e 0,41% de
extrato etéreo, produtos orgânicos que enriquecem o solo e
possibilita o crescimento de bactérias e fungos favoráveis
com a proliferação de microrganismos3 (Fig.1 ).
Os compostos orgânicos presentes são utilizados como
matéria orgânica para a nutrição do solo aumentando a
produtividade e qualidade dos grãos (Fig. 2). Dessa forma, o
solo se enriquece com os nutrientes essenciais e beneficia as
propriedades químicas, físicas e biológicas do solo5.
Figura 1: Cama de frango
Figura 2: Cama de frango sendo utilizada
como adubo
CONCLUSÕES
Portanto, pode-se concluir que a cama de frango é um recurso
sustentável que pode ser utilizado pra melhorar as condições
do solo, ajudar na nutrição adequada da granja e diminuir os
custos de produção do agronegócio.
BIBLIOGRAFIAS 1. SANTOS, Marcos José Batista dos et al. MANEJO E
TRATAMENTO DE CAMA DURANTE A CRIAÇÃO DE AVES. Nutritime, v. 09,
n. 09, p. 1801-1815, Junho 2012.
2. LUDKE, Jorge Vitor; FIGUEIREDO, Elsio Antonio Pereira de;
AVILA, Valdir Silveira de; MAZZUCO, Helenice. Alimentos e Alimentação de
Galinhas Poedeiras em Sistemas Orgânicos de Produção. Circurlar Tecnica,
Concordia, v. 1, n. 01, p. 1-16, set. 2010..
3. DOURADO, D.P; LIMA, F.S.O; MURAISHI, C.T; ARAÚJO, A.S;
PEREIRA, R.A; CARDOSO, R.S. 2012. Efeito da utilização de diferentes doses
de cama de frango na cultura da alface. Horticultura Brasileira 30: S5634-
S5638.
4. PINTO, S.1; BARROS, C. S.; SLOMP, M. N.; LÁZZARO; COSTA,
L. ; BRUNO, L. D. Cálcio e fósforo na dieta de galinhas de postura: uma revisão.
Revista Scientia Agrária Paranaensis, v.11, n.1, p. 5-18, 2012. ISSN 1663-1471
5. PEREIRA, Moisés Edevaldo. Resíduos de cama de frango para
fabricacao de biochar. 2019.73 f. Dissertacao (Mestrado em “Planejamento e
Uso de Recursos Renovaveis”) – Centro de Ciências e Tecnologias para a
Sustentabilidade, Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2019.
V Colóquio Técnico e Científico da Medicina Veterinária do UniBH
162
UTILIZAÇÃO DO ULTRASSOM PARA AUXÍLIO NO DIAGNÓSTICO DE ALTERAÇÕES RENAIS CAUSADAS PELA LEISHMANIOSE
Bárbara Caroline Fernandes Valadares1, Durval José de Santana Rocha1, Guilherme Marques Alves Lopes¹,
Gustavo Caeiro Diniz¹, Lucas Lacerda Teixeira¹, Pedro Henrique de Oliveira Maia1, Renan de Andrade Piuzana
Filho1, Alessandra Silva Dias 2, Bruno Divino Rocha2. 1Graduando em Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte/ MG – Brasil
2 Professor do Departamento de Medicina Veterinária – UniBH – Belo Horizonte – MG – Brasil
INTRODUÇÃO
A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma patologia
causada por um protozoário da espécie Leishmania chagasi.
(COSTA, 2011). No Brasil, a doença é transmitida por um
mosquito cuja principal espécie é a Lutzomyia longipalpis. Os
animais positivos podem ser assintomáticos ou sintomáticos
(CERVENKA, LUIZA), e apresentam uma pré disposição ao
aparecimento da doença renal, que pode ser intensificada
pelo uso do fármaco Alopurinol no tratamento da
Leishmaniose. Com o intuito de identificar possíveis
anormalidades nos órgãos, foi feito o uso de ferramentas
tecnológicas como o ultrassom, para estudar o caso de uma
cadela que estava com dor e dificuldade em urinar, discutindo
assim seu diagnóstico e tratamento.
RELATO DE CASO E DISCUSSÕES
Foi atendida na clínica particular MedVet, situada em Belo
Horizonte, em 2019, uma cadela da raça ChowChow,
pesando 17,8kg, cujo histórico é de leishmaniose positiva em
tratamento continuo com o Alopurinol. A princípio, a tutora
relatou que sua cadela estava em posição de urinar por várias
horas seguidas e sentindo dor. Ao realizar o exame físico de
palpação abdominal, a paciente manifestou reação de dor
novamente e estava com a bexiga dilatada, sugerindo-se uma
sondagem para o esvaziamento da bexiga. Contudo, não foi
possível concluir o procedimento de imediato, sendo indicado
um ultrassom abdominal, com a finalidade de se observar
alguma anormalidade possível. No exame ultrassonográfico,
foram diagnosticadas algumas alterações na bexiga e nos
rins como mostradas na figura 1 e figura 2.
Figura 1: Ultrassom de bexiga com conteúdo hipoecogênico e heterogênico
associado à ao menos três formações hiperecogênicas formadoras de sombra
acústica.
Fonte: Dr. Fernando Henrique
Ao exame utrassonográfico, observou-se uma repleção
liquida alta, com conteúdo hipoecogênico e heterogênico
associado à pelo menos três formações hiperecogênicas
formadoras de sombra acústica, sendo as maiores medindo
1,31 x 1,21 cm e 1,32 x 0,89 cm, indicando urolitíase.
Figura 2: ultrassom dos rins
Imagem A: rim direito
Imagem B: rim esquerdo
Fonte: Dr. Fernando Henrique
Na imagem A, observou-se o órgão de tamanho normal, com
algumas microformações hiperecogênicas formadoras de
sombra acústica em região de recessos renais. Diagnosticado
como mineralização discreta de recessos renais. Já na
imagem B, observou-se o órgão de tamanho normal, com
volume significativo de micro formações hiperecogênicas
formadoras de sombra acústica em região de recessos
renais. Diagnosticado como mineralização de recessos
renais. Com o resultado do ultrassom, o animal foi
encaminhado para o centro cirúrgico, sendo realizada uma
cistotomia e a sondagem para retirada da urina. Durante o
procedimento, foram retirados todos urólitos presentes na
bexiga. A cadela apresentou boa recuperação cirúrgica e
recebeu alta medica, com prescrição de medicamentos para
controle da dor. Sendo assim, a doença renal pode ser a única
manifestação em cães com Leishmaniose, podendo progredir
de leve proteinúria a síndrome nefrótica, até o estágio de falha
renal, causando a morte do animal (Solano-Gallego et al., 2009).
Segundo Lulich et al. (2004), os urólitos podem ser formados em
qualquer órgão do trato urinário dos animais, embora nos
cães a grande maioria seja diagnosticado na bexiga, o que
condiz com o animal do caso relatado, que apresentava
histórico de obstrução uretral associado a urolitiase vesical
CONCLUSÕES
Foi observado neste caso que a cadela ao fazer uso do
Alopurinol parar tratar a leishmaniose teve como efeito
indesejado a urolitiase. Com isso é de suma importância que
se recorra a exames ultrassonográficos de forma periódica
em animais em tratamento, possibilitando assim um
diagnóstico precoce. A cirurgia apresentou-se indicada no
caso descrito, tendo em vista que o animal apresentava
desconforto e dor, além do que a presença de urólitos pode
interromper o fluxo urinário em alguns casos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA LULICH, J.O.; OSBORNE, C.A.; BARTGES, J.W.; LEKCHAROENSUK, C.
Distúrbios do trato urinário inferior dos caninos. In: ETTINGER, S.J.;
FELDMAN, E.C. Tratado de medicina interna MACPHAIL veterinária. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. v.2, p.1841-1877.
Solano-Gallego, L., Koutinas, A., Miró, G., Cardoso, L., Pennisi, M. G., Ferrer,
L., Bourdeau, P., Oliva, G. & Baneth, G. 2009. Directions for the diagnosis,
clinical staging, treatment and prevention of canine leishmaniosis. Veterinary
Parasitology, 165, 1-18