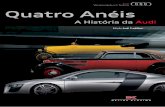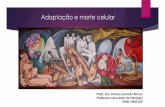Utopia da Verdade: Quatro Elementos Fundamentais da Metodologia das Ciências Sociais (in Revista de...
Transcript of Utopia da Verdade: Quatro Elementos Fundamentais da Metodologia das Ciências Sociais (in Revista de...
FichA TécnicA
TítuloRevista de Estudos Cabo-Verdianos – Número Especial / Atas
PropriedadeUniversidade de Cabo Verde
iSSn2073 – 9419
DirectoraMaria de Fátima Fernandes
conselho EditorialAdriana MendonçaCarlos Belino SacaduraDaniel CostaDaniel MedinaDominika SwolkienEdéwin Pile Manuel Brito-SemedoIolanda ÉvoraJoão Lopes FilhoLeopoldo Amado Lívio SansoneLourenço GomesMaria Adriana Sousa Carvalho
Revisão Arminda Santa Cruz BritoJosé Esteves ReiMaria Goreti Varela Freire SilvaMariana Rodrigues Faria
Coordenação EditorialDSDE - Direcção dos Serviços de Documentação e Edições
PaginaçãoGCI - Gabinete de Comunicação e Imagem
Edições Uni-CVPraça Dr. António LerenoCaixa Postal 379-CPraia, Santiago, Cabo VerdeTel (+238) 260 3851 – Fax (+238) 261 2660E-mail: [email protected]
Praia, Maio de 2014
REVISTA DE ESTUDOS CABO-VERDIANOS
NÚMERO ESPECIAL / ATAS
Apoio
Praia, 5 - 6 junho 2013
J. Esteves Rei, Fátima Fernandes, Mariana Faria (Org.)
UNIVERSIDADE DE CABO VERDE
Dezembro 2013
Comissão Científica
Adalberto Dias de Carvalho, FL, UP/ISCET, Portugal
Amália Melo Lopes, Uni-CV
Ana Cristina Pires Ferreira, Uni-CV
Anabela Sousa Lopes, ESCS, IPL, Portugal
António Tavares de Jesus, Uni-CV
Arlindo Mendes, Uni-CV
Carlos Bellino Sacadura, Uni-CV
Carlos Spínola, Uni-CV
Dora Pires, Uni-CV
Inês Aroso, UTAD / LABCOM, UBI, Portugal
João Lopes Filho, Uni-CV
José Esteves Rei, Uni-CV
Lourenço Gomes, Uni-CV
Luísa Inocêncio, Uni-CV
Maria de Fátima Fernandes, Uni-CV
Pedro Borges Graça, ISCSP, UL, Portugal
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
O currículo e o desenvolvimento curricular nos tempos actuais – lógicas e desafios do processo de globalização - Bartolomeu Lopes Varela ............................................................. 11
CIÊNCIAS SOCIAIS
Utopia da verdade: quatro elementos fundamentais da metodologia das ciências sociais - Pedro Borges Graça ......................................................................................................................... 25
A metáfora de “ajudas da morte” em Santiago rural - Arlindo Mendes ............................33
A solidariedade social e entreajuda como estratégias complementares de sobrevivência das famílias no meio rural - António Tavares de Jesus ................................................................... 43
Caboverdianidade em etno-ciência: cor e raça fora de foco, mas sim, caboverdianos - Artur Monteiro Bento .................................................................................................................................. 54
A pesquisa sobre identidade e construção do Estado-Nação em Cabo Verde: questões metodológicas - João Paulo Madeira ............................................................................................. 63
FILOSOFIA
A investigação filosófica sobre as teorias e as práticas formativas - Carlos Bellino Sacadura ................................................................................................................................................ 73
Arte e educação: da necessidade de uma educação estética na formação do jovem Cabo-verdiano - Elter Manuel Carlos ...................................................................................................... 83
A fundamentalidade da comunicação em Emmanuel Mounier - Nilza Maria Gomes ...95
HISTÓRIA / GESTÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL
Abolição da escravatura em Cabo Verde - João Lopes Filho ............................................... 105
Cabo Verde: lutas partidárias na primeira metade do séc. XIX (1821-1841) - Eduardo Adilson Camilo Pereira ................................................................................................................ 113
JORNALISMO
A imprensa médica em Portugal - Inês Mendes Moreira Aroso ...................................... 125
A memória visual da fotografia como fonte de conhecimento - José Mário Correia, Wlodzimierz Jozef Szymaniak .................................................................................................... 133
LÍNGUAS LITERATURAS E CULTURAS
Novos desafios colocados à língua portuguesa - José Esteves Rei .................................... 146
“Desembrulhar os segredos”: as mulheres nos textos de Mia Couto - Orquídea Ribeiro ...................................................................................................................................154
Tição Abduim: uma entidade negra na obra Tocaia Grande, de Jorge Amado - Dejair Dionísio .............................................................................................................................................. 163
A ABRIR
NOTAS CONCLUSIVAS DO I EIRI
Sessão de Encerramento, 6 de junho de 2013
-------------------------------------------------------------------------------------
Nos dias 5 e 6 de junho de 2013, teve lugar no Auditório e na sala 308 do Campus do Palmarejo da Uni-CV o I Encontro Internacional de Reflexão e Investigação do Departamento de Ciências Sociais e Humanas. De entre os objectivos traçados para o encontro, destacam-se os três seguintes:
1. Criar um espaço de divulgação da investigação: terminada, em curso ou em projecto;
2. Proporcionar o intercâmbio interdepartamental e internacional, de pessoas – investigadores, doutorandos, docentes; e de instâncias da universidade – departamentos, coordenações, centros, núcleos e a lecionação, pós-graduada e graduada;
3. Criar uma publicação, a partir das comunicações do Encontro e da colaboração de colegas de outros centros de investigação.
O programa compreendeu três discursos institucionais: do Presidente da Comissão Organizadora, do Presidente do Departamento de CSH e do Magnífico Reitor, que desenvolveu o seu pensamento sobre a questão da investigação na Uni-CV, procedendo à abertura formal do evento.
Os trabalhos apresentados distribuíram-se por seis painéis, sendo trinta e um os investigadores presentes com comunicação. Destes, dezassete são investigadores seniores ou doutorados e catorze são doutorandos ou mestres. Na sua origem, contamos com quatro instituições portuguesas (Universidade Técnica de Lisboa, ISCSP, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade da Beira Interior e Instituto Politécnico de Lisboa), com cinco investigadores seniores; e com duas instituições cabo-verdianas (Universidade Jean Piaget e Universidade de Cabo Verde), com os restantes investigadores.
As áreas científicas e disciplinares presentes foram seis: Educação, Ciências Sociais com seis, Filosofia, História / Gestão do Património Cultural, Jornalismo e Línguas Literaturas e Culturas.
[………………………………………………………………………………]
Assim, concluímos que:
- Membros do mesmo painel constataram a partilha de preocupações, objetivos e métodos que, doravante, se dispõem a pôr em comum, realizando eventuais
seminários de investigações entre eles;
- O conhecimento daquilo que um colega está a investigar também se cruza com o que outro desenvolve em áreas disciplinares e científicas próximas;
- O espaço de um EIRI, ao lado de resultados de investigação, também, pode ser um lugar de apresentação de projetos em fase inicial ou em realização;
- A adesão elevada de investigadores à divulgação de objectos, métodos ou resultados de percursos de investigação; e de colegas e alunos, para conhecerem o conteúdo do Programa anunciado, é digna de registo;
Outras possibilidades foram abertas, constituindo este I EIRI um testemunho da relevância científica e académica dos temas em investigação, bem como uma oportunidade de reflexão e partilha, a resultar em possibilidades de outras iniciativas explanadas, sugeridas às quais valerá a pena dar corpo.
A adesão que este I EIRI mereceu é para o DCSH uma prova do interesse que ele despertou, interna e externamente. Dele sairá uma publicação com as comunicações feitas sob a forma de artigos a serem sujeito a avaliação cega, para o registo e consulta a quem interesse. Gostaríamos de oferecer e partilhar as boas práticas nele experimentadas e acreditar na garantia de que o mesmo DCSH, no próximo ano, oferecerá à comunidade académica a realização do II IERI / 2014.
Pensámos o conhecimento, concretizámos uma ideia que, para alguns, parecia aquém dos horizontes disponíveis … e deixamos os desafios … a continuar no século XXI.
A COMISSÃO ORGANIZADORA
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
11
O CURRÍCULO E O DESENVOLVIMENTO CURRICULAR NOS TEMPOS ACTUAIS – LÓGICAS E DESAFIOS DO PROCESSO DE
GLObALIzAÇÃO1
Bartolomeu Lopes VarelaUniversidade de Cabo Verde
Resumo
A tendência para a uniformização curricular e a imposição de padrões, no contexto da globalização hegemónica da educação, bem patente nas directivas e prescrições curriculares que enformam, cada vez mais, as políticas educacionais, constitui um severo desafio às instituições educativas, ao pôr seriamente em causa o seu propósito de promover, pela educação, a identidade, a diversidade cultural, a emancipação e o empoderamento das pessoas. Porém, o desenvolvimento curricular, enquanto processo dinâmico e interactivo, não envolve apenas a dimensão instituída, ou seja, a prescrição do currículo a nível macro, havendo, a nível das escolas e ou dos cursos, um espaço de reflexão, recriação e inovação no âmbito da realização do currículo. Por outro lado, é possível contrariar o hegemonismo curricular através de políticas e práxis de globalização solidária da educação, atendendo, assim, às especificidades institucionais, nacionais e locais.
Palavras-chave: educação, currículo, globalização.
Abstract
The tendency for curriculum standardization and imposition of standards, in the context of hegemonic globalization of education, very obvious in policies and in the curriculum requirements, increasingly shaped to the educational policies, is a serious challenge to educational institutions, when seriously test its purpose to promote, through education, identity and cultural diversity, the emancipation and the empowerment of people. However, the development of the curriculum as a dynamic and iterative process not only involves the size established, i.e., the prescription of the curriculum at the macro level, as schools and courses have a specific area for reflection, recreation, innovation and conclusion of curriculum. On the other hand, it is possible to contradict the curricular hegemony through political and praxis of inclusive globalization of the education, attending, therefore, the institutional, national and local particularities.
Keywords: education, curriculum, globalization.
1. Neste volume, encontram-se as duas versões da norma ortográfica, segundo a opção do autor de cada artigo.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
12
1. A centralidade do currículo e as funções da educação escolar
Se, ao longo dos tempos, os professores lidaram sempre com o currículo, mesmo antes de esta palavra ser utilizada na educação, a emergência do currículo como campo de estudos só ocorre no século XX, nos Estados Unidos da América, no contexto da “institucionalização da educação de massas” (Silva, 2000: 17), com o contributo decisivo de J. F. Bobbit, que publica, em 1918, o livro The Curriculum, considerado como o marco referencial no estabelecimento do campo especializado de estudos curriculares.
Pode dizer-se, no entanto, que, de certa forma, todas as teorias pedagógicas e filosofias educacionais, mesmo antes da institucionalização dos estudos curriculares como campo especializado, não deixaram de teorizar ou fazer “especulações sobre o currículo” (Silva, 2000: 17-18), embora não chegassem a ser, estritamente, teorias sobre o currículo, que viriam a desenvolver-se posteriormente, constituindo actualmente um campo vasto e especializado de estudos.
Assume-se, nesta comunicação, que conceptualizar o currículo é, antes de mais, considerar o que se quer que o(a)s aluno(a)s seja(m) ou “em que eles ou elas se devem tornar” durante e depois de um percurso formativo (Silva, 2000: 14), o que implica encará-lo como um projecto, que se realiza no âmbito de um processo de formação, necessariamente interactivo, “que implica unidade, continuidade e interdependência entre o que se decide ao nível do plano normativo, ou oficial, e ao nível do plano real, ou do processo de ensino-aprendizagem“ (Pacheco, 2001: 20).
Sobretudo a partir do século XX, a vinculação, cada vez mais estreita, entre a educação e o progresso económico e social fez com que a questão curricular ganhasse cada vez maior centralidade nas conceptualizações teóricas e nas decisões de política educativa, nem sempre marcadas por convergências, mas antes por divergências e, inclusive, por antagonismos. Tais divergências estão bem patentes nas teorias e políticas curriculares que procuram influenciar as decisões e práticas educacionais – as de cariz tyleriana, tradicional ou tecnocrática, alegadamente neutrais, por um lado, e as de orientação crítica e pós-crítica, de orientação emancipatória, por outro –, propugnando, umas e outras, qual o conhecimento que, por ser importante, válido ou essencial (Silva, 2000), deve ser ensinado, aprendido, experienciado e avaliado, à luz do entendimento sobre que aluno(a)s se quer formar e, em última instância, sobre o tipo de sociedade que se pretende construir.
É assim que, saindo “de um obscuro domínio da política doméstica”, a educação “tem vindo a tornar-se progressivamente um tema central nos debates políticos, a nível nacional e internacional” (Teodoro, 2003: 13), ganhando cada vez mais centralidade nos processos de desenvolvimento humano, para que concorrem as políticas educacionais e curriculares.
Efectivamente, o que está em causa é a concepção que se tem da sociedade e, correlativamente, da educação e do currículo, razão por que importa fazer-se, em seguida, uma breve referência à problemática da função da educação escolar.
Se, no âmbito da filosofia da educação, ainda ecoam as polémicas entre os
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
13
partidários da doutrina empirista ou culturalista, para os quais é necessário que “se eduque (…) para a sociedade, em função dos valores próprios desta”, e os defensores das doutrina naturalista, que perfilham o entendimento de que se deve educar o indivíduo “para lhe permitir desenvolver-se segundo a sua própria natureza” (Reboul, 2000: 22), defendemos uma tese ecléctica, entendendo que as duas perspectivas podem convergir, posto que a educação não deve focalizar-se unicamente no desenvolvimento da natureza do indivíduo mas também na preparação do mesmo para, enquanto ser social, se realizar no seio (e com os demais membros) da sociedade. Deste modo, e ainda que Durkheim coloque mais ênfase na segunda perspectiva, convergimos, em larga medida, com este autor quando sustenta que “muito longe de a educação ter por objectivo único ou principal o indivíduo ou os seus interesses, a educação é antes de mais o meio pelo qual a sociedade renova perpetuamente as condições da sua própria existência”( (Durkheim (1984: 69).
Importa, entretanto, salientar que a função social da educação e do currículo não é encarada de modo pacífico, polarizando-se as discussões, no âmbito das ciências sociais, em torno de duas perspectivas aparentemente dicotómicas, a saber: o papel reprodutor e o papel transformador, ou seja, e respectivamente, a contribuição da educação e do currículo para preservar o status quo ou, ao invés, para mudar a sociedade.
Assim, Enguita (2007: 26) sustenta que as escolas e demais instituições educativas “são ou tendem a ser conservadoras quando a sociedade é estável, estática, e progressistas,
transformadoras, quando a sociedade é dinâmica”. Defendemos, no entanto, que uma visão política conservadora da sociedade não significa, necessariamente, a negação, em absoluto, de mudança social e educacional, nem uma visão progressista a rejeição, na esfera educacional, de algum status quo, incluindo o legado cultural de anteriores gerações. Na verdade, todos os grupos sociais e políticos reconhecem a educação como um meio indispensável para a consecução dos seus propósitos políticos, que podem incluir perspectivas de reprodução ou de transformação social.
Nessa perspectiva, Althusser (1985) enfatiza que a sociedade capitalista mantém-se e reproduz-se através dos mecanismos e instituições que garantam a defesa do status quo, sustentando que a escola, através do currículo, é um dos aparelhos ideológicos de Estado e, como tal, um dos instrumentos de perpetuação da classe dominante.
Por seu turno, ao abordarem a dinâmica da reprodução social, Bourdieu e Passeron (1970) situam-na no âmbito do processo de reprodução cultural, que se verifica através dos mecanismos da dominação simbólica, que propendem no sentido de fazer com que a cultura dominante seja assumida como algo natural, como a cultura, e não como uma das culturas possíveis, sendo um desses mecanismos a educação.
Enfatizando a função das escolas como instituições de preservação e distribuição cultural e económica, através das quais os grupos dominantes tratam de assegurar o controlo social, Apple (1999: 32) defende, contudo, que a função de reprodução não é impeditiva da possibilidade de uma acção concreta no sentido da mudança e da melhoria
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
14
das práticas educativas na perspectiva da obtenção de “ganhos contínuos e progressivos”.
Posicionando-se no campo das teorias críticas, que questionam os pressupostos e opções enformadores das teorias conservadoras ou tecnocráticas do currículo, propugnando a transformação radical, emancipadora e progressista da escola, Santos (1999: 9) sustenta que a educação deve traduzir “um compromisso ético que liga valores universais aos processos de transformação social”.
Ao defender que a escola tem por função promover o acesso dos alunos ao conhecimento poderoso (que não deve confundir-se com o conhecimento dos “poderosos ou da elite dominante”), Young (2010) releva a natureza do conhecimento que deve ter centralidade no currículo escolar: um conhecimento que, indo além do saber de senso comum, quotidiano ou contextual, permite aos indivíduos (aprendentes), ascender a um nível superior. Trata-se do conhecimento científico, que pode e deve ser mobilizado pelos alunos na perspectiva do seu empoderamento, ou seja, para a resolução de problemas e realização de seus projectos de vida.
Em suma, o currículo, enquanto expressão do “conhecimento válido” que deve ser ensinado e “moldar” a formação dos indivíduos, não é neutro, correspondendo a concepções, saberes, valores e atitudes, social e culturalmente construídos.
2. Concepção de desenvolvimento curricular
Em face das reflexões precedentes, assume-se aqui o currículo e o seu
desenvolvimento na sua multi-referencialidade, ou seja, como uma problemática que envolve perspectivas filosóficas, políticas, ideológicas, culturais, económicas e sociais diferenciadas, com os respectivos propósitos educacionais, e se traduz num projecto de formação que, por ser interactivo, envolve agentes situados aos diversos níveis e nas diversas dimensões do processo formativo, como se explicitará a seguir.
Ora, quando se encara o Currículo como um processo interactivo e dinâmico de concepção e realização, está-se a falar de Desenvolvimento Curricular, o qual envolve várias fases, que, a seguir, explicitamos, na esteira de Pacheco (2001: 69-70), sintetizando abordagens feitas por diversos autores.
A primeira fase do processo de desenvolvimento curricular, denominada de currículo prescrito (Gimeno, 1988), currículo oficial (Goodlad, 1979), currículo formal (Perrenoud, 1995) ou currículo escrito (Goodson, 2001), corresponde à adopção da proposta formal de currículo pela instância decisória central.
A segunda fase corresponde à do currículo apresentado (Gimeno, 1988) às escolas e aos professores, através dos mediadores escolares, como os manuais e livros de texto, num momento em que os docentes não lidam ainda directamente com o currículo oficial.
A terceira fase é a do currículo moldado (Gimeno, 1988) ou percebido (Goodlad, 1979) a nível das escolas e dos professores, no âmbito dos instrumentos de planeamento da escola, ou da planificação didáctica, feita, de forma colectiva ou individual, pelos professores na sua acção quotidiana.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
15
Goodlad (1979: 60) utiliza a expressão de currículo percebido, pois, a esse nível, o currículo é uma representação mental: “o que é oficialmente aprovado para a instrução e a aprendizagem não é, necessariamente, o que as várias pessoas e grupos interessados tomam mentalmente como sendo o currículo”.
A quarta fase corresponde à do currículo num contexto concreto do ensino e toma, nomeadamente, as denominações de currículo real (Kelly, 1980; Perrenoud, 1995), currículo em acção (Gimeno, 1988), currículo activo (Goodson, 2001) e currículo operacional (Goodlad, 1979). Segundo este último autor (Ibid., p. 61), o currículo operacional é aquele “que acontece hora a hora, dia após dia, na escola e na sala de aula”, correspondendo também ao currículo percebido, visto que “existe nos olhos de quem o observa”. Do confronto entre o currículo oficial, ou seja, o que está determinado no papel, nomeadamente nos programas, e o currículo real, que denota o que se faz na prática (Kely, 1980), resulta o currículo realizado (Gimeno, 1988) ou o currículo experiencial (Goodlad, 1979), que expressa o resultado da interacção que tem lugar no âmbito do processo de ensino-aprendizagem, traduzindo, por isso, o currículo vivenciado tanto pelos alunos como pelos professores. Na perspectiva de quem o investiga, o currículo vivenciado ou experienciado pelos alunos e professores vem a ser o “currículo observado”, reflectindo “as opiniões dos seus participantes” (Gimeno, Ibid., p. 70). Quando o currículo realizado não corresponde ao prescrito (currículo oficial), tem-se o currículo oculto (Torres, 1995), que toma igualmente as denominações de currículo implícito, latente, não intencional, não ensinado e escondido, expressando, segundo Pacheco (2001:
70), “os processos e os efeitos que, não estando previstos nos programas oficiais, fazem parte da experiência escolar”.
A quinta fase corresponde à do currículo avaliado (Gimeno, 1988). Trata-se aqui de submeter à avaliação não apenas os alunos mas também os textos curriculares (planos curriculares, programas, manuais e livros de texto, circulares e orientações), os professores, a escola, a administração educativa, etc..
Podemos ainda sintetizar o processo de desenvolvimento curricular em três etapas, a saber: a de “concepção do currículo”, em que é adoptado o currículo oficial, através de directivas, normas, planos de estudo, planos curriculares, programas, manuais, etc.); a de “implementação” ou “operacionalização” do currículo prescrito; a de “avaliação do currículo” (Gaspar & Roldão, 2007: 76-99).
Em suma, o Desenvolvimento Curricular, enquanto currículo em acção, é um processo interactivo que envolve uma dimensão prescritiva ou instituída, com o envolvimento dos actores situados ao nível macro na adopção do currículo oficial (planos, normativos, decisões, manuais oficiais), e uma dimensão instituinte, que corresponde à actuação dos agentes intervenientes na realização do currículo, na acção pedagógica.
3. A educação e o currículo no contexto da globalização
No contexto da globalização, as mudanças educacionais preconizadas traduzem-se numa viragem paradigmática, com a introdução
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
16
de reformas ou mutações profundas tendencialmente orientadas para a uniformização das políticas educativas e a sua tradução em currículos uniformes de pronto-a-vestir e tamanho único, a que, há vários anos, se referia Formosinho (1987).
Ao incidirem na esfera educacional, os processos de globalização tendem a influenciar e a alterar profundamente a natureza, os objectivos e as formas de concretização do direito à educação, conduzindo à redefinição das funções dos Estados e à progressiva desresponsabilização do poder central (Morgado, 2007). Tal como assinala Spring (2008: 331-332), “a linguagem da globalização rapidamente entrou nos discursos acerca da escolaridade; os discursos educacionais referem-se ao capital humano, à aprendizagem ao longo da vida, para a melhoria das competências de empregabilidade, e ao desenvolvimento económico”.
De acordo com a lógica mercadológica presente na globalização hegemónica da educação (Santos, 1999), ganham cada vez mais ênfase os discursos sobre a eficácia e excelência educativas, sobre a abordagem por competências associadas aos perfis necessários à inserção competitiva no mundo do trabalho e sobre a prestação de contas, estas últimas obedecendo às políticas de accountability, ainda que marcadas por “oscilações mais ou menos acentuadas, a que não são indiferentes os regimes políticos, a natureza dos governos e os dinamismos emergentes das sociedades civis e transnacionais” (Afonso, 2010: 147).
Ora, com a tendência crescente para se subordinar a educação e o currículo à lógica do mercado (Pacheco (2010), torna-se evidente a tendência para
a secundarização do currículo como campo intelectual de descodificação de discursos e de análise crítica das práticas, com a concomitante valorização de movimentos orientados por uma lógica mercadológica. O que acontece, paradoxalmente, é que a lógica do mercado, orientada para a obtenção de proveitos económicos imediatos, não é necessariamente a da educação, que deve preparar para a vida, numa perspectiva de longo prazo, ainda que sem ignorar as necessidades de curto prazo da economia e da sociedade.
As pressões no sentido de a universidade, em particular, ser assumida como uma empresa e o ensino superior como mercadoria de consumo individual, provenientes do interior e do exterior do sistema de ensino superior (Magalhães (2004), constituem uma séria ameaça à preservação da essência da Universidade, com riscos que podem traduzir-se na privação das próprias empresas de uma entidade capaz de as subsidiar com estudos e referências científicas para o seu próprio desenvolvimento.
4. contra a fatalidade do hegemonismo curricular, uma perspectiva contra-hegemónica de educação
Não obstante as pressões e tendências no sentido da imposição de padrões curriculares uniformes à escala global, na lógica imediatista do mercado, o hegemonismo curricular não é necessariamente uma fatalidade, como sustenta Pinar (2006), pois existem muitas possibilidades de tradução da diversidade e das especificidades locais, sobretudo quando se encara o desenvolvimento curricular como um processo dinâmico que envolve vários
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
17
actores, a diversos níveis, etapas ou dimensões desse mesmo processo, com possibilidades, ainda que diferenciadas, de influenciar a obra educativa.
Efectivamente, as instituições educativas podem contrariar o hegemonismo curricular, em prol de uma educação libertadora e emancipadora, posto que, entre a prescrição curricular, mais ou menos uniforme, a nível da macroestrutura educacional e a realização do currículo, no âmbito dos processos de formação, “existem espaços potenciais de reflexão, recriação e apropriação inovadora do currículo apresentado”, através da pedagogia, que permitem resgatar “o sentido mais profundo da educação, que não visa formar autómatos mas indivíduos autónomos, cientes do seu papel social e capazes de se integrarem na vida activa na perspectiva da sua realização pessoal, profissional e social” (Varela, 2013: 9).
É nesta perspectiva que Leite (2006: 74) defende o imperativo de as instituições educativas escolas e os seus agentes serem reconhecidos como parceiros do desenvolvimento do currículo, criando-se, deste modo, condições “para que sejam mobilizados nos projectos curriculares processos de reflexão que cada instituição faça sobre si e sobre as práticas que institui”.
Com efeito, para serem bem-sucedidas e corresponderem à realidade complexa e dinâmica do processo educativo, as políticas educativas e curriculares não devem restringir-se a uma perspectiva de linearidade política traduzida no papel da administração na sua prescrição, posto que os docentes e outros actores locais do processo de desenvolvimento curricular têm uma margem de autonomia e de liberdade de
actuação que torna possível a realização dessas políticas numa perspectiva interpretativa e menos determinista (Pacheco, 2000).
Eis a razão pela qual, no âmbito do processo curricular, constitui uma necessidade inelutável uma relação de proximidade e de busca de convergência entre os contextos macro (o da administração central), meso (o nível local ou de escola) e micro (o das relações professor-alunos), ainda que o reconhecimento e a aceitação desse imperativo não sejam pacíficos.
De todo o modo, se não é viável, mormente no ensino não superior, uma descentralização da política educativa e curricular à revelia das prescrições da macroestrutura educativa, nenhuma política educativa definida centralmente, numa perspectiva top down, pode ser eficaz sem o concurso dos níveis meso e micro do processo de desenvolvimento do currículo. No contexto do ensino superior, o elevado grau de autonomia científica, curricular e pedagógica de que, em geral, gozam as instituições não torna menos pertinente esta reflexão, posto que, além das tendências de condicionamento curricular e das pressões de uniformização, que se verificam à escala global, continental, regional e do próprio Estado nacional, como é disso exemplo o denominado Processo de Bolonha, nem sempre as prescrições curriculares a nível dos órgãos de cúpula das academias resultam de um envolvimento consequente dos demais intervenientes, incluindo docentes e estudantes.
Assim, a defesa da aproximação entre as dimensões instituída e instituinte do processo curricular é válida para todas as instituições educativas, incluindo as
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
18
Universidades, traduzindo a assunção da educação/formação como um campo em que a diversidade de perspectivas dos intervenientes é susceptível de proporcionar ganhos de qualidade, na linha da abordagem do currículo como conversação complexa, defendida por Pinar (2007).
Nesta perspectiva, no âmbito da gestão e realização do currículo, torna-se-necessário convocar para o primeiro plano a Pedagogia, através da qual é possível promover-se a gestão do processo de ensino-aprendizagem segundo lógicas contra-hegemónicas (Santos, 1999; Varela, 2013), numa perspectiva inclusiva, de diálogo, partilha, inclusão e emancipação.
No contexto universitário, ao propugnar-se um novo paradigma de aprendizagem, baseado na centralidade dos estudantes na construção do saber e na sua própria formação, os docentes são instados a articular adequadamente os aspectos epistemológicos e pedagógicos no desenvolvimento das actividades académicas, superando, gradativamente, os métodos tradicionais de ensino baseados na transmissão docente-alunos.
Quando se defende a relevância da pedagogia no processo de desenvolvimento curricular que ocorre no contexto universitário, não se quer reduzir a importância do conhecimento científico, que é e continua a ser de grande centralidade, mas sim a forma de lidar com esse conhecimento, que, nesse contexto, pode e deve ser produzido por docentes e estudantes, ligando a investigação e o ensino, sendo este doravante encarado numa lógica de participação ou de rede colaborativa, em que os alunos, sob a orientação do professor, também podem
aprender a aprender por si e até mesmo comparticipar no acto de ensinar (co-docência; estudo por pares, etc.).
Como propugna Santos (2008: 43), “a Universidade tem um papel crucial na construção do lugar dum país num mundo polarizado entre globalizações contraditórias”, mantendo a ideia de um projecto nacional concebido de modo “não autárcico” e que, para ter credibilidade, deve “ser sustentado por forças sociais interessadas em protagonizá-lo”. Para tal, o autor propugna alianças internas e externas, mobilizando os interessados numa “globalização alternativa” e numa “reforma progressista” da instituição universitária, incluindo, além da comunidade académica, grupos ou organizações sociais, profissionais ou sindicais, “o Estado nacional”, quando este opta por uma orientação política baseada na “globalização solidária da Universidade ”, os sectores mais dinâmicos do “capital nacional”, nos países periféricos, sempre que reconheçam na universidade a entidade bem posicionada para garantir a produção de conhecimento de excelência de que precisam para fazerem face às exigências no processo de globalização (Santos, 2008: 43-44).
Por seu turno, e insurgindo-se contra a fatalidade do hegemonismo curricular que tende a ser imposto à escala global, Pinar (2006: 5) defende que, em termos conceptuais e no âmbito da pós-reconceptualização, o regresso ao desenvolvimento curricular não pode significar a valorização do instrumentalismo tyleriano, mas tão-só a recuperação da noção de conhecimento como espaço aberto de problematização. Neste caso, sustenta o autor, importa resgatar-se “o conteúdo intelectual do conteúdo escolar”, relevando o seu significado social e subjectivo” (Pinar,
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
19
ibid., p. 5).
Analisando as diversas tendências do processo de internacionalização da educação e do currículo, Moreira (2009) propugna esforços no sentido da criação de “espaços” além-fronteiras nacionais, em que vários estudiosos possam intercambiar as suas produções individuais e participar no desenvolvimento dos estudos curriculares, procurando, assim, construir, a despeito das divergências, que hão-de persistir, contribuições para a melhoria da obra educativa em que se encontram empenhados.
concluindo
A concepção do currículo e do seu desenvolvimento numa perspectiva abrangente, que valorize o papel decisivo dos docentes e alunos, enquanto sujeitos activos, reflexivos e inovadores no processo de operacionalização das opções de política educativa e das prescrições curriculares adoptadas a nível macro, propicia condições para o resgate e a promoção da essência emancipadora da educação, conjugando o conhecimento universal com a valorização consequente da identidade, da cultura e das especificidades nacionais e locais,
De modo a contrariar-se, com sucesso, a lógica do hegemonismo curricular, que se traduz na tentativa de imposição do conhecimento válido mediante a definição de standards e de mecanismos de prestação de contas, estes últimos orientados para a valorização dos resultados prescritos em detrimento dos contextos e processos de desenvolvimento da acção educativa, podem instaurar-se alianças internacionais pautadas por princípios de colaboração, igualdade e
solidariedade na concepção e realização de projectos educacionais.
Como temos defendido (Varela, 2011), o futuro do currículo passa pela construção, de forma participada e em rede colaborativa, de um espaço de aproximação curricular, não apenas nos eventos académicos, mas também mediante o estreitamento da ligação entre o discurso e a prática, entre os teóricos e os práticos do currículo, em especial através de uma actividade de investigação e extensão que permita aprofundar o modo como o currículo (tanto o prescrito, no plano oficial, como o teorizado, a nível do campo científico) é percebido, adoptado, adaptado, transformado, apropriado e, em suma, experienciado pelos docentes e alunos, no quotidiano escolar, conformando uma práxis educativa susceptível de propiciar o aprofundamento da reflexão teórica, com retornos porventura mais positivos às instituições educativas.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
20
Referências bibliográficas
Afonso, A. (2010). Um olhar sociológico em torno da accountability em educação. In Afonso, A.J. & Esteban, M.T. (orgs). Olhares e Interfaces. Reflexões críticas sobre a avaliação (pp. 147-179). São Paulo: Cortez Editora.
Althusser, L. (1985). Aparelhos Ideológicos de Estado (2ª. ed.). Rio de Janeiro: Graal.
Apple, M. (1999). Ideologia e Currículo. Porto: Porto Editora.
Bobbitt, J.F. (2004). O Currículo (Tradução portuguesa e introdução de João Menelau Paraskeva). Lisboa: Didáctica Editora.
Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1970). La reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement. Paris, Éd. de Minuit. (Trad. Portuguesa: A Reprodução. Vega, 1983).
Durkheim, E. (1984), Sociologia, educação e moral. Porto: Rés Editora.
Enguita, M. F. (2007). Educação e Transformação Social. Mangualde, Portugal: Edições Pedago.
Formosinho, J. (1987). O Currículo Uniforme Pronto-a-vestir de Tamanho Único. Mangualde, Portugal: Edições Pedago.
Gaspar, M.I. & Roldão, M.C. (2007). Elementos do Desenvolvimento Curricular.Lisboa: Universidade Aberta.
Gimeno, J. (19988). El curriculum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Morata.
Leite, C. (2006, Julho/Dezembro). Políticas de Currículo em Portugal e (im)possibilidades da escola se assumir como uma instituição curricularmente inteligente. In Currículo sem Fronteiras (Vol. 6, n.2), pp. 67-81.
Goodlad, J. (1979). Curriculum inquiry. The study of curriculum practice. New York: McGraw-Hill.
Goodson, I. (2001). O currículo em mudança. Estudos na construção social do currículo. Porto: Porto Editora.
Kelly, A. (1989). O currículo: teoria e prática. São Paulo: Ed. Harper e Row do Brasil.
Magalhães, A. (2004). A identidade do ensino superior. Política, conhecimento e educação numa época de transição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Moreira, A. F. B. (2009). Estudos do Currículo: avanços e desafios no processo de internacionalização. In Cadernos de Pesquisa, nº 137, Vol. 39, Maio/Junho 2008, pp. 367-381.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
21
Morgado, J. C. (2007). Globalização, Ensino Superior e Currículo. In Pacheco, J.A. Morgado, J. C, & Moreira, A. F (Org.), Globalização e (des)igualdades: desafios contemporâneos (pp.61-72): Porto. Porto Editora.
Pacheco, J. (2005). Estudos curriculares. Para a compreensão crítica da educação. Porto: Porto Editora.
Pacheco, J. (2001). Currículo: teoria e práxis. Porto: Porto Editora
Pacheco, J. (2000). A flexibilização das políticas curriculares. Actas do Seminário O papel dos diversos actores educativos na construção de uma escola democrática (pp. 71-78). Guimarães: Centro de Formação Francisco de Holanda.
Perrenoud, P. (1995). Ofício do aluno e sentido do trabalho escolar. Porto: Porto Editora.
Pinar, W. (2007). O que é a teoria do Currículo? Porto: Porto Editora
Pinar, W. (2006). The Synoptic Text Today and Other Essays. Curriculum Development after Reconceptualization. Switzerland: Peter Lang - International Academic Publishers.
Pires, M.. (2007). Ensino Superior. Da ruptura à inovação. Lisboa: Universidade Católica Editora.
Reboul, O. (2000). Filosofia da educação. Lisboa: Edições 70.
Santos, B. (2008). A Universidade no século XXI: Para uma universidade democrática e emancipadora. In Almeida, N. e Santos, B. (2008). A Universidade no século XXI. Para uma Universidade Nova (pp. 15-78). Coimbra: Almedina.
Santos, B. (1999). Porque é tão difícil construir uma teoria crítica? Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 54, Junho 199, pp. 197-215.
Silva, T. (2000). Teorias do Currículo. Uma introdução. Porto: Porto Editora.
Spring, J. (2008). Research on Globalization and Education. In Review of Educational Research, June 2008, vol 78, nº 2, pp. 330-363.
Teodoro, A. (2003). Globalização e Educação. Políticas educacionais e novos modos de governação. Porto: Edições Afrontamento.
Torres, J. (1995). O curriculum oculto. Porto: Porto Editora.
Young, M. (2007). Para que servem as escolas? In Educação &. Sociedade, Campinas, vol. 28, n.101, Setembro/Dezembro, pp. 1287-1302.
Varela, B. (2013). Tendências internacionais e política do ensino superior em Cabo Verde. Recife: Universidade Federal do Pará. Disponível em http://www.aforges.org/conferencia3/docs_documentos/PAINEIS%20PRINCIPAIS/Comunicacao%20
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
22
Completa/Bartolomeu%20Varela_CV_Tendencias%20internacionais.pdf
Varela, B. (2011). Concepções, Práxis e Tendências de Desenvolvimento Curricular no Ensino Superior Público em Cabo Verde - Um estudo de caso sobre a Universidade de Cabo Verde. Braga: Universidade do Minho.
Referências Documentais
Constituição da República de Cabo Verde - Lei de Revisão Constitucional nº 1/VII/2010, de 3 de Maio.
Decreto-Legislativo nº 2/2010, de 7 de Maio – Revê a Lei de Bases do Sistema Educativo de Cabo Verde.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
25
UTOPIA DA VERDADE: qUATRO ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS
Pedro Borges Graça2
Universidade de LisboaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
[email protected]; [email protected]
Resumo
A Ciência não tem sentido sem a utopia da verdade. O presente trabalho explora o modo como as Ciências Sociais devem operar no sentido de preencherem o sentido da verdade enquanto paradigma da investigação científica. Para isso são aqui seleccionados quatro factores-chave metodológicos que são “ferramentas” fundamentais para a investigação da dinâmica da realidade social e correspondente evolução. De facto, a metodologia é objecto de reflexão constante por parte de cientistas e académicos ao longo da vida. Os jovens investigadores que iniciam a carreira devem interiorizar esta problemática e ultrapassar os obstáculos através do desenvolvimento da pesquisa e da procura de conhecimento avançado no âmbito da metodologia e epistemologia. No domínio da Ciência só consegue personalidade quem estiver com ética honestamente dedicado à procura da verdade.
Abstract
Science makes no sense without the utopia of truth. The present essay therefore explores the way social sciences must work in order to fulfil the meaning of truth as a scientific research paradigm. For that reason, four methodological key-factors are selected here, being fundamental “tools” without which one cannot properly investigate and understand the dynamics of social reality and its course. In fact methodology is a constant matter of reflexion in the activity of scientists and scholars throughout life. Young scholars that are initiating their careers must always interiorize this and surpass the obstacles by developing research and meet advanced knowledge in methodology and epistemology. In the field of Science only get personality those who are devoted with ethics to the cause of searching truth .
Palavras-chave/Keywords: complexidade; metodologia; técnicas de investigação; tempo tríbio / complexity; methodology; research technics; “tempo tríbio”.
2. Um agradecimento especial à Fundação Portugal-África por ter apoiado a minha deslocação a Cabo Verde para participar neste Encontro.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
26
1. Nota prévia: epistemologia, metodologia e método
Comecemos pela definição, operacional para o presente ensaio, de epistemologia, de metodologia e de método, e também pela explicação da sua correlação.
Epistemologia é o nome dado actualmente à abordagem do Conhecimento que no passado recente já teve as qualificações aparentadas de Sociologia do Conhecimento e de Filosofia do Conhecimento. Com efeito, podemos mesmo, num veloz flash-back, observar que na Antiguidade Clássica a reflexão em torno do Conhecimento deu origem à própria Filosofia, mãe de todas as Ciências, ou, se se quiser, da Ciência Humana. Epistemologia pode assim hoje ser entendida como a reflexão contínua do Conhecimento sobre si mesmo e respectivos limites, avanços e recuos. Em termos simples podemos afirmar que a Epistemologia é a Ciência da Ciência no sentido em que os cientistas são inevitavelmente confrontados com teorias – explicações simplificadas da dinâmica da complexidade da realidade social, as quais necessitam recorrentemente de analisar e de testar quanto à sua validade, precisamente no que respeita à veracidade dos factos e argumentos.
A Metodologia, conforme observa o brasileiro Pedro Demo (1987:55), “é uma disciplina instrumental, cujo sentido exclusivo é montar condições mais propícias para a pesquisa social científica (…) onde entram em pauta preocupações de carácter teórico, ou seja, os quadros referenciais de interpretação da realidade”. Com efeito, em diálogo com a Epistemologia, influenciando-se reciprocamente, a Metodologia traduz por regra uma reflexão sobre a
pluralidade de métodos existentes, que desde logo se dividem em quantitativos e qualitativos, e das correspondentes técnicas de investigação relativamente à captação da complexidade e dinâmica da realidade social. Esta captação, se tivermos principalmente em conta a abordagem qualitativa (sobre a qual se debruça em exclusivo este ensaio) não pode deixar de considerar que existe uma dimensão não mensurável da diversidade cultural, configurada pela realidade social, que induz a formulação da seguinte premissa: o investigador deve conciliar razão, intuição e valores na procura da objectividade científica através de um pluralismo metodológico aberto à utilização de todos os “instrumentos” que sirvam à captação e compreensão da realidade social, em particular do objecto de estudo entretanto definido e delimitado. Por outro lado, a reflexão própria da Metodologia não deixa também de ocupar-se da posição do investigador face ao objecto de estudo, no que respeita não só à sua opção de uma abordagem disciplinar ou interdisciplinar, neste caso sujeita a uma explicação da conjugação de perspectivas e conceitos, mas também à sua equação pessoal no sentido da consciência e controlo da subjectividade em benefício da objectividade. Em suma, para os investigadores, para os cientistas sociais, mantém-se paradigmática a seguinte observação de Max Weber (1919: 129): “qualquer trabalho científico tem sempre como pressuposto a validade da Lógica e da Metodologia, que são os fundamentos gerais da nossa orientação no mundo”. A figura abaixo representa o processo genético do método:
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
27
Figura 1 - A fundamentação do método
O Método é assim o resultado da interacção ou influência recíproca entre a Epistemologia e a Metodologia que o investigador apreende no sentido de projectar um caminho que o aproxime da verdade dos factos relativos ao objecto de estudo que entretanto definiu e delimitou, isto é, o seu objectivo, escolhendo também as ferramentas para o auxiliarem a percorrer da melhor forma possível esse mesmo caminho. Com efeito, Método radica no grego Meta + Hodos, que significa literalmente caminho para atingir um objectivo, um fim, uma meta. O discurso metodológico do investigador traduz portanto a fundamentação científica da sua investigação, ou seja, a explicação do modo como se aproxima o mais possível da verdade dos factos, tendo em vista a definição e delimitação do objecto de estudo, pois, como bem observa ainda Pedro Demo (1987:254), “sem a utopia da verdade, a ciência é um processo sem sentido”.
2. A compreensão da complexidade da realidade social
A realidade social é complexa e, ao contrário da realidade física ou dita natural, não é passível de ser encerrada num tubo de ensaio para experimentação ou análise num microscópio. A realidade social é o produto de uma
dinâmica diacrónica e sincrónica de uma multiplicidade tendencialmente infinita e não mensurável de relações entre pessoas, grupos e instituições em dadas condições geográficas, geológicas e ecológicas.
Portanto, o investigador social necessita de recorrer em primeiro lugar a um expediente de confinamento da realidade social no sentido de obter uma visão global e sistémica do seu funcionamento, criando deste modo a ilusão do tubo de ensaio, ou do microscópio que assim se transmuta e adquire a forma de “macroscópio”. Para o efeito utiliza-se a circunferência, dividindo-se o seu círculo em quatro partes iguais, fazendo-as corresponder às quatro dimensões com que podemos cobrir todas as categorias imagináveis de relações sociais: políticas, económicas, sociais e culturais. Nestas cabem todas as variantes e, para as “operações” de análise, cada uma pode ser autonomizada, embora não seja epistemologicamente viável existirem relações políticas sem as económicas ou estas sem as sociais e assim por diante. Por outro lado, é neste âmbito muito útil recorrer aos conceitos de tempo acelerado e tempo demorado, usados por Adriano Moreira (apud Graça.2005:43), acrescentando-os à compreensão da dinâmica daquelas quatro categorias de relações sociais. O pressuposto é o de que à velocidade de ocorrências e de desafios por parte dos factos políticos e económicos corresponde em tempo diferido e mais lento a velocidade de ocorrências e de respostas por parte dos factos sociais e culturais. A figura abaixo ilustra a situação:
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
28
Figura 2 - A complexidade da realidade social
Ora, é sobre esta realidade que se desenrola a actividade dos cientistas sociais, os quais, tendo em vista a “utopia da verdade”, necessitam de problematizar e questionar a sua própria equação pessoal. Isto significa que têm de exercitar previamente o conhecimento de si próprios, dos seus valores e crenças e pré-conceitos relativamente ao objecto de estudo de modo a maximizarem a objectividade em detrimento da subjectividade. “Conhece-te a ti mesmo” é pois a condição sine qua non da objectividade científica a ser alcançada pelos cientistas sociais no processo de obtenção de conhecimento sobre os outros indivíduos, grupos e instituições. Consequentemente, o investigador deve desenvolver uma capacidade de empatia – o que não significa concordância ou alinhamento – relativamente ao objecto de estudo, de maneira a tornar-se “científico” sem sacrificar o “humanístico”.
A abordagem da complexidade da realidade social depende assim primordialmente do nível de compreensão que o investigador tem das diferenças entre Ciência, por um lado, e Opinião por outro lado, não sendo a esta última estranha, frequentemente, a influência da Ideologia e da Emotividade que a radicalizam na deformação da realidade.
3. O tempo tríbio
Não é epistemologicamente viável imaginar a realidade social expurgada da sua dimensão temporal. O vector diacrónico é uma constante de qualquer análise da realidade social e por conseguinte da reflexão metodológica a seu propósito. A percepção comum do tempo cronológico é a de que Passado, Presente e Futuro estão relacionados mas são tempos diferentes: o Passado ficou para trás, o Presente está a acontecer e o Futuro há-de vir. Deste ponto de vista, os factos políticos, económicos, sociais e culturais são somente ciclos sucessivos de causas do Passado que geram consequências no Presente.
Existe todavia uma noção epistemológica do tempo que obriga o investigador a tomar consciência de que este é uma unidade integrada de Passado, Presente e Futuro em qualquer objecto de estudo que possa definir e delimitar sincrónica ou diacronicamente (Graça. 2010:19). Este é o conceito de tempo tríbio, o qual postula que a realidade social existe num dado momento em função da circunstância do Presente, do Passado acontecido até esse momento e do Futuro que está a ser projectado também nesse momento, como pode ser observado na figura abaixo:
Figura 3 - O tempo tríbio
O tempo tríbio é assim parte
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
29
integrante de qualquer indivíduo, grupo, instituição, Estado ou Nação, tanto do ponto de vista sincrónico como diacrónico. A História pode aliás ser vista como uma sucessão de tempos tríbios em quaisquer culturas e civilizações. Se delimitarmos uma qualquer parcela do Passado ou Presente de um Estado ou instituição ou outra das categorias, poderemos analisá-la como uma unidade de tempo tríbio no sentido de identificar e compreender quais os factores-chave intervenientes na configuração da sua circunstância do Presente, em função do correlativo Passado e do Futuro projectado.
4. A definição e delimitação do objecto de estudo
O título de qualquer trabalho de investigação é sempre provisório até esta estar concluída. A razão é que o investigador pode sempre encontrar, no meio da investigação, um novo ou diferente aspecto da realidade investigada que o conduzirá por um caminho não previsto à partida e consequentemente o obrigará a fazer depois alguma alteração no título de modo a adaptá-lo ao sentido do conhecimento entretanto gerado. A definição e delimitação prévia do objecto de estudo é no entanto muito importante porque, tal como um navio no mar, é necessário ter um destino para definir uma rota, sob pena de nos desorientarmos e perdermos o rumo caso isso não suceda.
Por uma razão prática e de organização do pensamento, o título deve reflectir a definição do objecto de estudo, correspondendo à questão de se saber o que é que se vai estudar na realidade social. O subtítulo deve reflectir a delimitação do objecto de
estudo, correspondendo à questão de se saber até onde é que se vai estudar a realidade social, uma vez que esta, como observámos anteriormente, é impossível de ser abordada na sua totalidade. Podemos ilustrar esta questão com as seguintes “equações”:
• Título = Definição do Objecto de Estudo = O Quê?
• Subtítulo = Delimitação do Objecto de Estudo = Até Onde?
Neste momento do processo, é essencial não confundir o objecto de estudo com o objectivo do estudo. Com efeito, esta última expressão refere-se à motivação e à intenção pessoal do investigador na escolha do tema. Por outro lado é necessário reflectir sobre a exequibilidade da investigação relativamente ao acesso à informação pretendida, ao tempo e ao dinheiro, se fôr o caso entre outros que poderão ser ponderados.
Assim, enquanto o título aponta a parcela da realidade social que vai ser estudada, o subtítulo traça a fronteira dessa mesma parcela, que pode ser principalmente repartida por três opções de delimitação: geográfica, temática ou cronológica. Para melhor compreensão, vejamos o seguinte exemplo:
• Título: O Anticolonialismo Africano
• Subtítulo: O Caso de Cabo Verde (opção geográfica)
• Subtítulo: A 1ª Geração de Líderes Nacionalistas (opção temática)
• Subtítulo: Da Conferência de Bandung às Independências (opção cronológica)
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
30
É óbvio que estas três opções de delimitação estão interligadas, e sob determinado ângulo vemos que as suas fronteiras não são nítidas, que se entrecruzam - sendo até possível estarem três opções presentes no mesmo subtítulo - mas também vemos que o pensamento fica assim sistematizado, traçando o rumo que pretendemos seguir.
Outra tarefa a ter presente no âmbito da definição e delimitação do objecto de estudo é a do designado estado da arte que consiste na revisão da literatura científica sobre o assunto a investigar e o nível de conhecimento alcançado sobre o mesmo. A figura abaixo sistematiza esta problemática da formulação do objecto de estudo com três questões:
Figura 4 - Formulação do objecto de estudo
É neste contexto que surge a interacção entre o objecto de estudo e o método no que respeita à questão seguinte: como vou investigar? A resposta, epistemológica e metodologicamente fundamentada, aponta geralmente todas ou algumas das seguintes possibilidades: o tipo de fontes, a opção qualitativa e/ou quantitativa, a pesquisa bibliográfica e documental, o trabalho de campo e as entrevistas, utilizando-se para o efeito cada vez mais o ambiente da internet para aplicação de
novas técnicas de investigação.
5. As novas técnicas de investigação
O desenvolvimento acelerado da internet relativamente ao arquivo e gestão de informação por parte das mais díspares instituições, aliado à capacidade e velocidade dos motores de busca, induziu o aparecimento de novas técnicas de investigação. As possibilidades são imensas quer quanto ao tipo de informação e fontes, quer quanto ao seu acesso por virtude da anulação da distância, da diferença horária ou mesmo linguística. Por outro lado, a credibilidade científica da informação é passível de ser assegurada e controlada pelos investigadores recorrendo aos critérios formais académicos tradicionais. Já é também possível mapear o ciberespaço, produzindo imagens como esta abaixo sobre a co-autoria de livros e artigos científicos no mundo, entre 2005 e 2009, a partir da base de dados do índice académico Scopus :
Figura 5 - Co-autoria científica no mundo
http://www.newscientist.com/blogs/shortsharpscience/2011/01/collaborative-
science-lights-u.html
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
31
Três novas técnicas muito úteis para os investigadores são o text mining, o .pdf e os alertas. Há inúmeros motores de busca, sendo o Google o mais usado actualmente. O text mining traduz-se na possibilidade de efectuar pesquisas colocando aspas na frase/tema escrita no motor de busca de modo a encontrar directamente a informação pretendida.
A figura abaixo mostra como Plataforma Continental de Cabo Verde produz resultados diferentes quando colocada sem aspas e com aspas:
Figura 6 - Text mining
A técnica de fazer uma pesquisa colocando .pdf (ponto pdf) produz substantivamente os melhores resultados de informação académica e científica, incluindo livros completos, artigos científicos e teses de mestrado e doutoramento. A outra técnica consiste em criar na secção do Google para o efeito (http://www.google.pt/alerts) os alertas sobre todos os temas, pessoas e instituições possíveis de imaginar, criando-se assim um mecanismo de monitorização semanal, diária ou mesmo por ocorrência que gera a maior actualização da informação possível.
Outras técnicas existem ainda no Google para explorar, destacando-se a pesquisa na secção das imagens,
através da qual se faz o acesso a mapas, esquemas, organogramas, quadros, fotos e figuras.
6. Nota final
A atitude ética do cientista social no sentido de procurar a verdade dos factos é a melhor garantia de originalidade e sucesso, do mesmo modo que a imaginação, criatividade e intuição são características meliorativas do trabalho científico.
Mas não menos importante, contudo, é reter a ideia de que, num trabalho que almeja ser científico, o investigador não pode perder o controlo da perspectiva da realidade investigada no sentido de esta se transformar numa realidade desejada. É, na verdade, a diferença entre ciência e filosofia na acepção moderna do termo. Ou seja, a abordagem do objecto de estudo deve ser feita na perspectiva do que aconteceu, tem acontecido e está a acontecer, do que foi, tem sido e é (realidade investigada), e não na perspectiva do que deveria ter sido ou do que deve e deverá ser (realidade desejada). Se perder o controlo, o investigador fará uma derrapagem no sentido do défice de objectividade e fragilizará, pois, a objectividade da sua investigação. Com efeito, o défice de objectividade representa uma visão distorcida da realidade, frequentemente induzida por preconceitos de natureza pessoal ou política e ideológica, ou também por informação não credível ou de insuficiente qualidade científica. Na verdade, como observou Max Weber (1919:117), “no campo da ciência só tem personalidade quem está pura e simplesmente ao serviço da causa”.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
32
Referências bibliográficas
Demo, Pedro (1987). Metodologia Científica em Ciências Sociais. São Paulo: Editora Atlas
Graça, Pedro Borges (2005) A Construção da Nação em África. Coimbra: Livraria Almedina
Graça, Pedro Borges (2010) História do Presente e Intelligence nas Relações Internacionais. Luanda: Instituto de Informações e Segurança de Angola
Wallerstein, Immanuel, Keller, Evelyn Fox, Kocka, Jurgen, Lecourt, Dominique, Mudimbe, Valentin Y., Mushakoji, Kinhide, et. al. (1996). Para Abrir as Ciências Sociais. Lisboa: Publicações Europa-América
Weber, Max (1979). O Político e o Cientista. Lisboa: Editorial Presença (trabalho original publicado em 1919)
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
33
A METáFORA DE “AJUDAS DA MORTE” EM SANTIAGO RURAL
Arlindo MendesUni-CV - Universidade de Cabo [email protected]
Resumo
No quadro do ritual da morte, verifica-se que, na sociedade santiaguense em mudança, semelhantemente ao que acontece com outros rituais de passagem nomeadamente o baptismo, casamento, estudos, viagens e outros, existe uma inequívoca preocupação de mobilizar meios não só para enfrentar os custos económicos, sociais e emocionais decorrentes da perda de um ente querido, mas também para proporcionar ao defunto uma partida condigna. As pessoas não estão, normalmente, prevenidas perante a morte de alguém, na família. Assim, com base num amplo gesto de solidariedade social efectiva, os actores sociais adoptam, em tempo recorde, estratégias para garantir ao defunto um enterro humano, à luz da tradição. É, pois, nesta perspectiva, que se propõe trazer ao debate o contributo de “ajuda da morte”. Para além da rede da mutualidade (meeting ou botu), formalmente, instituída e espalhada em Santiago, esta prática vem ganhando terreno dia a dia. Pretende-se, com este artigo, evidenciar a pertinência utilitária e sublinhar o alcance simbólico de que se reveste esta voluntária e espontânea prestação social. Em Santiago, enterro de um ente querido constitui um fardo cujo peso extravasa a capacidade de uma família para se projectar num contexto mais amplo de relações sociais. Os preceitos rituais para com o morto e seus familiares constituem o encargo sagrado dos vivos.
Palavra-chave: Ajudas da morte, bolsas, carteiras, famílias enlutadas e Santiago rural.
Abstract
Under the ritual of death, it appears that in Santiago Society in similarly to what happens to other rituals of passage including baptism, marriage, studies, travels, and so on, there is a clear concern to mobilize resources to meet the economic costs, social and emotional resulting from the loss of a loved one . Death often catches people unprepared. Hence, based on a wide and effective gesture of social solidarity, the social actors adopt, in record time, appropriate strategies to ensure the deceased a decent burial in the light of tradition. From this perspective, it is proposed a debate on “Help of death”. Besides the mutuality (meetin or boto), formally established and spread in Santiago, daily this practice is gaining ground. This article seeks to highlight not only the utilitarian relevance, but also the strong symbolic significance this voluntary and the spontaneous social benefit has. In Santiago, the funeral of a loved one is an economic burden whose weight goes beyond the capacity of an insulated family to project in a broader context of social relations.
Keyword: Help of death, handbags, wallets, bereaved families and rural Santiago.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
34
1. Introdução
Derivado do verbo latino adjutare, a palavra ajuda significa prestar ajuda a; auxiliar; socorrer; favorecer e facilitar. Ajudar é prestar auxílio a quem dele precisar. Procura-se auxiliar pessoas a resolver problemas, que sem a cooperação do próximo não conseguem fazê-lo. A solidariedade social se faz sentir com maior acuidade. Este facto revela-se mais perceptível, no seio da população rural onde as possibilidades de proporcionar ao seu ente um enterro condigno afiguram-se remotas.
A nossa opção pela pesquisa desta prestação decorre do facto de o sistema de meeting ter caído num certo clima de incerteza e desconfiança entre os seus membros. Daí introduzir-se o sistema de ajuda espontânea3 ou informal que vem, progressivamente, ganhando forma no meio rural, por se tratar de uma estratégia cujo controlo efectivo de uma gestão se tem mostrado eficiente.
Com este modesto trabalho de índole etnográfica concernente ao ritual da morte em Santiago rural, pretende-se compreender: a real dimensão da dinâmica solidária que a perda de um elemento da comunidade provoca; as singularidades das “ajudas da morte”; a essência de “ajudas da morte”; a significação sociocultural das “ajudas da morte” e o seu alcance simbólico no seio dos santiaguenses rurais.
Porque é que as acções efectivas de solidariedade social mais se fazem sentir por ocasião da perda de um ente querido do que noutros contextos? Quem são os verdadeiros destinatários destas
3. As formas espontâneas de ajuda na morte apresentam alguma vantagem em relação ao meetin ou boto, uma vez que elas ocorrem num tempo real e numa forma cujo controlo se mostra mais directo.
acções solidárias? De que natureza são estas ajudas? Qual é o alcance prático e simbólico das “ajudas da morte” na tradição santiaguense?
As ajudas da morte destinam-se mais aos vivos do que os mortos; elas são de natureza diversa; os protagonistas desta prática são as camadas mais humildes do santiaguense rural; a dinâmica da expressão de altruísmo que se manifesta por ocasião do ritual da morte contribui para beneficiar os membros da família enlutada a fazer os seus trabalhos de luto, com a maior plenitude e em menor tempo.
A etnografia permite aos investigadores começar a entender o que representa a análise antropológica como forma de conhecimento. A descrição etnográfica caracteriza-se fundamentalmente pela interpretação do fluxo do discurso social que tenta salvar o “dito” num tal discurso da sua possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis (Geertz, 1989).
Vamos privilegiar a observação participante e participação observante, as entrevistas semiabertas e conversas informais e história de vida dos actores sociais. Estas técnicas permitem diagnosticar e analisar o fenómeno no seu ambiente natural, descrevendo-o e interpretando-o no seu respectivo contexto sociocultural.
No quadro da pesquisa sócio-antropológica, se procura exorcizar a morte. “Dans l’absence de documents écrits, on a contraint l’ethnologie à développer des méthodes et des techniques propres à l’étude d’activités qui restent, de ce fait imparfaitement conscientes à tous les niveaux où elles s’expriment (Levi-Strauss, 1974 [1958] :23)».
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
35
Além da introdução e das considerações finais, este trabalho estrutura-se em três eixos fundantes: no primeiro eixo, proceder-se-á às abordagens teóricas sobre ajudas da morte; de seguida, propomos, através das formas de ajuda e sua natureza, realizar a descrição dos materiais empíricos recolhidos e, no último item, faremos as reflexões finais dos tópicos descritos e discutidos ao longo do artigo.
2. Abordagens teóricas sobre ajudas da morte
O consumo na morte enquadra-se no âmbito de trocas simbólicas onde se permutam os dons e os contra-dons, que, para além da sua função prática e utilitária, se revestem de uma forte dimensão metafórica cujos reflexos se fazem sentir a nível social. As diferenças económicas são duplicadas pelas distinções simbólicas na maneira de usufruir estes bens, privilegiando menos o objecto de consumo em proveito na sua função (Bourdieu, 1992:16).
Na perspectiva maussiana, a “circulação dos bens segue a dos homens, das mulheres e das crianças, dos festins, dos ritos, das cerimónias e das danças, até a das piadas e das injúrias não deixa de constituir uma forma de comunicação social”. Diríamos que as trocas são elementos do diálogo, simultaneamente sob a relação, de si e de outrem, e destinadas, por natureza, a passar de um outro (Mauss, 2008: 42-121).
As ajudas, sob a forma de refeições colectivas, permutam-se abertamente com vista a estimular não só a auto-estima da família do morto, mas também a dos seus familiares e da própria comunidade do extinto. Aliás,
para a antropóloga Maria Clara Saraiva postula que: A maior parte de comida é fornecida pela família enlutada, mas quase toda a gente traz qualquer contribuição para ajudar essa família (Saraiva, 1998: 124).
A ajuda da e na morte, subjacente à realidade sociocultural santiaguense, inspira-se na teoria de reciprocidade ancorada na tríade dar, receber e retribuir estudada por Marcel Mauss. A trilogia faz (…) circuler les présents et les bienfaits. Mais aussi les injures, les blessures, les morts, les vengeances, les ensorcelles; les ressentiments, la mort (Caillé, (2007 [2000] ) : 9).
Com efeito, a circulação de bens materiais e simbólicos constitui uma das regras essenciais da convivência social e gestão colectiva. Em Santiago, criou-se o meeting destinado a:
(…) ajudar os seus membros, a caucionar um enterro condigno a um elemento da sua família. A maioria das associações foi criada por elementos da população, devido ao facto de terem assistido às tremendas dificuldades por que passam as pessoas mais humildes, por ocasião do falecimento de um ente querido. A sua criação reflecte a expressão de solidariedade, o sentido prático e a capacidade de resolver os seus problemas (Mendes, 2012:168).
Os santiaguenses organizam estratégias de solidariedade em dois níveis: i) as ajudas espontâneas onde se recolhe, de uma forma imediata, tudo o que contribui para a realização de exéquias dignas de um ente querido e o meetin que é uma associação funerária organizada, destinada a gerir os recursos destinados a financiar as exéquias.
A teoria do dom e contra-dom define-se como “le paradigme du don insiste
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
36
sur l’importance, positive et normative, sociologique, économique, éthique, politique et philosophique de ce type de prestations (Caillé, (2007 [2000]) :124)”.
3. Formas de ajudas da morte
Não é tarefa fácil elencar, identificar, categorizar e dissecar os prolixos gestos, inúmeras práticas, expressões e condutas de solidariedade que se mostram, espontaneamente ou não, por ocasião da morte de familiar ou de um membro da comunidade rural santiaguense. Maria Ramos sublinha que a “perda de um ente querido é algo que mobiliza uma rede de solidariedade única, entre os cabo-verdianos (Ramos, 2008)”.
Das categorias de ajudas inventariadas, temos:
1. Ajuda de prato, que é um modo em que se usa um prato vazio para fazer peditório de moedas, de forma imediata e espontânea, entre as pessoas reunidas no local onde a morte acaba de ocorrer. O montante recolhido, através deste método, destina-se a fazer face aos custos imediatos e inadiáveis.
2. Ajuda de lenço, que é uma estratégia segundo a qual se retiram os lenços que as mulheres usam para amarrar na cabeça para recolher as ajudas, habitualmente, monetárias cujo objectivo é o de apropriar-se dos meios imediatos para resolver problemas cujas soluções não se compadecem com a demora.
3. Ajuda de bolso, como o próprio nome “bolso” sugere são as moedas ou notas bancárias
que as pessoas, normalmente homens, trazem no bolso, para satisfazer outros fins. Parte-se do pressuposto de que, em situações normais, o homem que se preze não sai de casa sem dinheiro.
4. Ajuda de chapéu: é uma prática comummente utilizada para se recorrer a um chapéu de um homem presente, no momento de passamento de alguém, para recolher fundos destinados a realizar as despesas urgentes que não podem ser adiadas por muito tempo. Este método, outrora corriqueiro, encontra-se praticamente em desuso.
5. Mô fitxadu (mão fechada): é uma técnica que, tradicionalmente, se utiliza no quadro da morte em Santiago rural para receber dinheiro destinado a ajudar as famílias do morto a suportar os primeiros gastos da morte. Na ajuda da morte, verifica-se uma certa dose de discrição e cumplicidade entre os envolvidos.
6. Ajuda de bolsas4 ou carteiras: trata-se de um modelo de solidariedade social bastante popularizada no seio das mulheres rurais santiaguenses. Elas recorrem a bolsas de plástico e carteiras para o transporte das ajudas em género.
Utilizam-se bolsas de plástico e carteiras de senhoras, como veículos, no transporte das ajudas à casa do morto. Em Santiago rural, é comum
4. As bolsas utilizadas no transporte das ajudas da morte são de plástico ou de tecido ordinário. Porém, correntemente, utilizam-se carteiras de coiro e/ou de outros materiais nobres pelas mulheres que, no cumprimento das suas obrigações rituais, o fazem com um certo orgulho.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
37
cruzar-se com mulheres transportando volumes debaixo de braço em direcção à residência do morto para cultuar o defunto. As ajudas não só se prolongam por um certo período de tempo, como também implicam certas tarefas imediatas e inadiáveis cuja execução, em tempo adequado, só se faz, contando com ajudas dos vizinhos, amigos e conhecidos. É o caso da necessidade do manuseio de “loro” (cf. fig. infra) ao sol para evitar a deterioração.
Figura n.º 1 – Exposição ao sol de “loro”
Fonte: A. Mendes
A criação de animais (de quatro patas5) em certas localidades do Engenho, concelho de Santa Catarina de Santiago, a título exemplificativo, em termos simbólicos, constitui, potencialmente, a pertença dos membros da colectividade. Sempre que ocorre uma morte nessa localidade, o dono de uma cabra e/ou de um porco oferece imediatamente a família enlutada.
A este propósito, ouçamos o seguinte:
A morte é uma ladra. Por isso, procuro estar sempre vigilante. A mandioca que cultivo, o milho e o feijão que arrecado e os animais que domestico são para fazer face à eventual surpresa desagradável
5. Tradicionalmente, os animais de capoeira não fazem parte da tradição da ajuda da morte.
da morte. Esta precaução é não só para mim. Ela é igualmente válida para ajudar os parentes, amigos e vizinhos, no caso da perda de um ente querido. Moreno
Tudo quer se tem serve para ajudar o vizinho e amigo a enterrar, condignamente, o seu ente querido. Para além de apoio de caráter alimentício como milho, feijão, bolacha, pão, massa (esparguete), água, açúcar, aguardente, cerveja, café, porco gordo, cabra/bode, boi, batata, mandioca, arroz, banana verde, manteiga, leite azeite “doce”, óleo de soja há ajudas de outra natureza, nomeadamente, dinheiro, sal, roupas pretas, folhas de tábua para caixão, petróleo, lençol, panos, panos pretos, tecidos de mortalha, cadeiras, bancos de assento, energia eléctrica, paus e pilões, pacotes de vela, sabão, lenha e entre outros.
A dinâmica das ajudas da morte assentava, basicamente, no consumo de artigos produzidos com ajudas dos parentes e vizinhos. Embora, ultimamente, a realidade se tenha revelado bem diferente porquanto uma parte dos géneros que se consomem no quadro das exéquias fúnebres, nas festas populares e nas próprias actividades quotidianas, são importados do exterior, deixando pouca margem para o consumo dos géneros localmente produzidos.
4. Natureza de ajudas da morte
Em Santiago rural, as possibilidades de poupança familiar para enfrentar os desafios de uma morte são bastante exíguas. De igual modo, a protecção à velhice e a garantia de um funeral condigno estão praticamente, ausentes. Por conseguinte, as pessoas procuram
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
38
adoptar as suas estratégias para suprir esta falta, tentando pôr de pé a solidariedade onde as ajudas e entreajudas interagem dialecticamente.
Um funeral condigno de um ente querido interpela não só as práticas rituais adequadas, mas também exige recursos que extravasam as raias individuais e familiares para se projectar no âmbito do comprometimento colectivo.
Figura n.º 2 – Ajudas da morte recolhidas
Fonte: A. Mendes
Os artigos são recolhidos e guardados, no final do dia, num lugar acessível a fim de poderem ser usados quotidianamente à medida que se vai precisando, evitando a perda de tempo. Este rito se repete ininterruptamente durante sete dias, podendo prolongar-se por um período superior a um mês.
As bolsas6 e carteiras das senhoras utilizadas no transporte das ajudas devem ser bem geridas por uma pessoa idónea que recolhe, deposita e vigia as ajudas. Por isso, não devem ser despejadas, por elas, sob pena de agir em contramão com a tradição. O procedimento sugerível consiste: “Vim buscar a minha bolsa” diz a dona da dádiva. A guardiã responde-lhe: “Qual
6. Sendo bolsas de plástico, as mulheres não fazem questão de as levar de volta para casa.
é sua bolsa”? Ela responde “é aquela”. E esta vigilante7 pega nela, despeja o conteúdo e devolve-a a sua proprietária.
Além das prestações materiais, torna-se imprescindível ainda considerar outras formas de apoio. Alguns vêm-se na obrigação de adiar os seus afazeres ou cancelar os compromissos agendados para poder ficar junto dos membros da família enlutada, dando-lhes força, consolo, cafés, chá e remédios. O bafejo amigo constitui uma mensagem aos enlutados no seu processo da recuperação do trauma.
Ligado à associação da tabanca, procuram-se mobilizar recursos para ajudar a enterrar os seus mortos, colocando a tónica nas refeições em comum. Em Santiago “são ainda activas certas associações mútuas, chamadas tabancas, de auxílios às famílias das pessoas que morrem e para as despesas do funeral: caixão, padre, comidas, bebidas aos hóspedes que assistem ao enterro.” (Galvão, 1962). José Maria Semedo e Maria R. Turano (1997:71) enfatizam que existe uma forte tradição de socorros mútuos nas aldeias, através das associações funerárias.
Fig. n.º 4 – Guardiã de ajudas recolhidas
Fonte: A. Mendes
7. Trata-se de pessoa de confiança que se oferece para recolher os géneros oferecidos.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
39
A disponibilidade de tempo para recolher e arrumar, cuidadosamente, as ajudas é uma forma de apoiar a família enlutada. Aqueles que aceitam esta incumbência obrigam-se a cancelar ou adiar os seus compromissos para se dedicar a estas acções, passando o dia inteiro a recolher as trouxas e zelar para que tudo possa correr bem. As mulheres, ao aproximar-se da casa do morto, entregam as trouxas a uma pessoa destacada8 para o efeito. De seguida, vão rezar, chorar, apresentar pêsames e servir as refeições votivas. A guardiã recebe a bolsa, leva-a para o local onde as dádivas são depositadas.
No regresso, após o cumprimento dos recomendáveis preceitos rituais, as mulheres dirigem-se para a guardião para recuperar as bolsas ou carteiras. Estas só devem ser despejadas na presença das respectivas proprietárias que as identificam, evitando, deste modo, extravios e trocas inadvertidas ou premeditadas9.
Um funeral considerado solene e respeitável constitui um dever cardeal dos familiares e o dever moral da comunidade local do extinto. A solidariedade social é convocada a desempenhar o seu papel na materialização do propósito de proporcionar a um ente uma boa morte e de trazer um certo conforto psicológico aos enlutados.
Eu….eu… eu posso brincar com tudo, menos com a ajuda da morte que não avisa ninguém quando chega. Por mais bens que se tenha acumulado é sempre necessário contar com ajudas de outros.
8. Na falta de uma pessoa indigitada para recolher estas ajudas, as mulheres largam no chão e de imediato, são recolhidas por outro elemento da vizinhança presente.
9. No dia do enterro e do levantar da esteira, há mulheres com carteiras a transportar as ajudas.
Quando o meu pai faleceu, eu pus-me a chorar desesperadamente. O verdadeiro fundamento do meu lamento não era a perda do pai, enquanto tal, mas a falta de meios necessários para arcar com as despesas que me permitissem sepultá-lo, de uma forma merecida e de um modo digno, segundo as nossas tradições. 12-3-211, Zema
A sumptuosidade funeral é encarada como capital social cuja reprodução se faz sentir no seio da família enlutada santiaguense, sobretudo no das tradicionalistas do meio rural. Esta ostentação mostra-se a nível de aquisição de caixão de luxo10 e no fausto organizativo, pomposidade cerimonial e exagero das refeições votivas ritualmente preparadas. Mendes sublinha que:
Dans la société santiaguense, l’exaltation du gaspillage des biens au cours du banquet funèbre représente une occasion particulière pour redistribuer certaines “richesses” accumulées. Ces échanges de biens matériels ont aussi une valeur hautement symbolique (Mendes, 2011 :308) .
As refeições votivas absorvem uma parte das acções de solidariedade e consomem a maior fatia das ajudas arrecadadas pelas famílias do morto. Comer em casa do morto, com os amigos do morto, com os familiares do morto, por causa do morto, na presença do morto constitui uma estratégia de valência simbólica cujo contributo só serve para ajudar os membros da família do morto a mitigar os efeitos da morte e ajudá-la a fazer o luto.
10. A aquisição de caixão comporta uma dimensão económica, tendo em contas que os custos e o alcance simbólico.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
40
Considerações Finais
Este acontecimento de relevância social, a morte de um familiar cria um mercado propício às trocas das dádivas, o que constitui, com base nas emoções fortes, uma mais-valia no estímulo das alianças, promover coesão social e desanuviar tensões.
As ajudas constituem uma ocasião para a distribuição solidária dos excedentes e para a comunhão dos sentimentos e partilha dos recursos escassos. As ajudas da e na morte têm a ver com a procura de honra, uma vez que os familiares do defunto sentem-se prestigiados pelo facto de aproveitarem as ajudas para cumprir as fases dos rituais fúnebres. Isto permitir-lhes-á, seguramente, não só enaltecer a imagem dos familiares, mas também saldar as contingenciais dívidas para com o espírito do defunto, evitando, deste modo, que as ameaças se façam sobre os parentes vivos indiferentes e/ou mal-agradecidos.
Os benefícios materiais efectivos destinam-se às famílias do morto. Há uma carga afectiva fortemente registada, em termos simbólicos. O choro, por exemplo, constitui uma moeda de troca, com grande valência, em todas as fases do processo fúnebre. É neste crítico momento de desgosto, que se trocam outras dimensões da vida humana, designadamente, acusações, rancores, risos, prantos, olhares, tristezas, paixões, falas, abraços, maledicências, odores do corpo e lembranças saudosistas das marcas de um passado ainda presente na memória colectiva.
Salvo a aquisição do caixão cujo montante é bastante mais significativo, o grosso das ajudas destina-se às
refeições votivas preparadas não apenas para saciar a fome das pessoas reunidas à volta do morto, mas também promover o convívio entre os vivos, elevar a auto-estima dos seus familiares e enaltecer a memória do extinto.
Os vivos são os verdadeiros destinatários da generosidade colectiva. Não é por acaso que a solidariedade à volta do cadáver e dos seus familiares constitui o motivo para o estreitamento das relações entre os actores rituais sociais e para o lançamento das bases para uma coabitação pacífica, forte e duradoira entre os diversos actores rituais.
As ajudas são encaradas como fundamento para saciar a ânsia do prestígio no seio de certas famílias enlutadas ao proporcionar um enterro faustoso ao seu ente querido.
Em Santiago rural, se os enlutados não forem adequadamente socorridos por ocasião da perda de um ente, corre o risco de não ter outra oportunidade para o fazer.
A residência do morto é o destino recomendável para aqueles que ajudam o próximo a enterrar o seu morto, de uma forma humana.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
41
Referências bibliográficas
Bárbolo Alves, A. et al. (2010) “Y i árabes de la Tierra de Miranda”. In Revista de Letras, n.º 9, Série II. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Centro de Estudos em Letras.
Bastide, R. (1960). As religiões africanas no Brasil: Contribuição a Uma Sociologia das Interpretações de Civilizações, vol. II. São Paulo: Livraria Editora.
Bourdieu, Pierre. (1989). O Poder simbólico. Lisboa: Difel.
______________ (1992). A Economia de Trocas Simbólicas, 3.ª edição. São Paulo: Editora Perspectiva.
Caillé, A. (2007[2000]). Anthropologie du don. Paris : Édition La Découverte.
Carreira, A. (1968). Panaria Cabo – verdiano- Guinense. Lisboa: J.I.U.
___________. (1983). Cabo Verde: Formação e Extinção da Sociedade Escravocrata (1460-1878), 2.ª Edição. Mem Martins: Publicações Europa-América.
Colleyen, J-P. (2005). Elementos de Antropologia Social e Cultural. Lisboa: Edições 70.
Copans, J. (2005). L’Enquête et ses méthodes. L’enquête ethnographique de terrain. Paris : Armand Colin.
Durand, G. (1964). A imagem simbólica, 6ª edição. Lisboa: Edições 70.
Eliada, M. (2006). O Sagrado e o profano: a essência das religiões. Lisboa: “Livros do Brasil”.
Évora, I. (2009). Djunta-mon em três tempos pós-independência imigração e transnacionalíssimo. Aspectos da experiência associativa cabo-verdiana, Apresentado no X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais Sessão Temática: Desenvolvimento, Políticas Públicas e Terceiro Sector. Bahia (Brasil), edição da autora.
Fernandes, M. (2004). HORA DI BAI: Os Cabo-Verdianos e a Morte- Uma abordagem Antropológica Através da Literatura de Ficção,1.ª ed.. Lisboa: Nova Vega.
Galvão, H. (1961). Império Ultramarino Portuguesa. Lisboa: IICT.
Geertz, C. (1989). A Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar editoras.
Laplantine, F. (2004). A Descrição Etnográfica. São Paulo, Editoração: Sónia Regina Trindade.
Layton, R. (1997). Introdução à Teoria em Antropologia. Lisboa: edições 70.
Leach, E. (1976). Cultura e comunicação. Lisboa: Edições 70, Perspectivas do
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
42
Homem.
Levi-Strauss, C. (1974 [1958]). Antropologie Structurale. Paris : Librairie Plon.
Lopes Filho, João. (1982). Defesa do património sociocultural de Cabo Verde. Lisboa: Ulmeiro.
Malinowski, B. (1976). Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné e Melanésia, 2.ª edição. São Paulo: Editor Victor Civita.
Mauss, Marcel. (2008). Ensaio sobre a Dádiva. Lisboa: Edições 70.
Mendes, Aarlindo. (2011). Rituels funéraires à Santiago aux îles du Cap-Vert. Berlin : Éditions universitaires européennes.
___________ (2012). Viver a morte em Santiago – Uma abordagem etnográfica. Praia: IIPC.
Ramos, Maria da Luz (2008). “À Descoberta de Samcente, terra d’Morabeza”. In Sónia Frias (Org.) etnografia & emoções (pp. 299 -2014. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa.
Reis, J. J. (1991). A Morte é Uma Festa: Ritos Funerários e Revolta Popular no Brasil do XIX, 5.ª Edição. São Paulo: Edições - Companha das Letras.
Sabourin, E. (2011). “Teoria da Reciprocidade e sócio-antropologia do desenvolvimento” . In Sociologias. Porto Alegre ano 13, no 27, mai./ago., pp. 24-51.
Saraiva, M. C. (1998). “Rituais funerários em Cabo Verde: permanência e inovação”. In Revista da faculdade de ciências sociais e humanas (Tempo, temporalidade, durações), n.º 12, Lisboa, Edições Colibri.
Semedo, J. M. e Turano, M. R. (1997). Cabo Verde: O ciclo ritual das Festividades da Tabanca. Praia. Spleen - Edições.
Sperber, D. (1992). O saber dos antropológicos. Lisboa: Edições 70.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
43
A SOLIDARIEDADE SOCIAL E ENTREAJUDA COMO ESTRATéGIAS COMPLEMENTARES DE SObREVIVÊNCIA DAS
FAMÍLIAS NO MEIO RURAL
António Tavares de JesusUniversidade de Cabo Verde
[email protected]; [email protected]
Resumo
O presente texto resulta de uma investigação conduzida entre 2009 e 2012, no âmbito da realização da tese de doutoramento, que teve como palco a ilha de Santo Antão, mais concretamente as localidades de Lagoa, Ribeirão e Cruzinha, orientada pelo método qualitativo e que propõe analisar um conjunto de práticas sociais que emanam das estratégias de sobrevivência das famílias do meio rural cabo-verdiano, para fazer face à perda da autonomia relativa que caracterizava este espaço social no passado. Procura-se, ao longo da explanação, demonstrar que, para além das acções como agricultura, pesca, criação de gado e emprego público, certas práticas sociais como, por exemplo, a solidariedade social e entreajuda expressas pelo sistema de crédito, ajudas, doações, e pensões de reforma, vêm ocupando um papel importante no sistema de estratégias de (re) produção das condições de vida das populações do meio rural.
Palavras-chave: Solidariedade social, estratégias de sobrevivência, meio rural, Santo Antão.
Abstract
This study is the result of an investigation conducted between 2009 and 2012 within the completion of a doctoral thesis, which took place on the island of Santo Antao, specifically in the towns of Lagoa, Ribeirão and Cruzinha. The thesis was guided by a qualitative research method and proposes to analyze a set of social practices that emanate from the survival strategies of households in the Cape Verde rural areas to face the loss of relative autonomy that characterized this social space in the past. Along the explanation, we seek to demonstrate that, in addition to actions such as agriculture, fisheries, livestock and public employment, certain social practices such as social solidarity and mutual support expressed by the credit system, aid, donations, and pensions have occupied an important role in the strategies of (re) production of the conditions of life of populations of the rural areas.
Keywords: Social solidarity, survival strategies, rural area, Santo Antao.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
44
1. Introdução
Hoje, considerando o contexto socioeconómico que se vive, decorrente da hegemonia do capitalismo, em que as relações sociais são profundamente marcadas pelos enigmas do individualismo, pelo conflito e por rupturas sociais, (Giddens, 1995) é muito comum ouvir-se falar em solidariedade como via para combater as desigualdades sociais através da intervenção das organizações da sociedade civil, ou mesmo de partidos políticos, suportados pelos valores da moral, da religião ou da ideologia, sob a forma de caridade ou de políticas públicas. Tem sido igualmente muito frequente, pessoas que vivem ou consideram viver em situações socioeconómicas mais desfavorecidas, clamarem pela solidariedade, ou ainda ouvir-se discursos dos actores sociais centrados na importância da solidariedade social, no combate à pobreza e na promoção de economias locais.
No entanto, parece-nos ser cada vez menos evidente que as características daquilo que Durkheim designa por solidariedade mecânica integram o sistema de interacção social que se estabelece no espaço social rural. Tanto mais que,
as formações sociais comtemporâneas têm-se caracterizado por mutações profundas em suas formas de sociabilidade. Pluralização das identidades, ndividualismo, novas formas de conceber e praticar a solidariedade social, o surgimento de novos movimentos sociais e culturais são os aspectos mais salientes e plenos de sentido que se pode localizar nessa transformação de largo alcance (Domingues, 2006: 9).
Este texto parte precisamente do questionamento sobre quais são as dimensões da solidariedade social e entreajuda no meio rural cabo-verdiano e de que forma integram o sistema de estratégias de sobrevivência das populações, neste espaço social específico, e consubstancia-se no resultado de uma investigação levada a cabo entre 2009 e 2012 no âmbito da realização de uma tese de doutoramento, que teve como palco a ilha de Santo Antão, mais concretamente as localidades de Lagoa, Ribeirão e Cruzinha, conduzida a partir das orientações do método qualitativo, privilegiando a observação directa e realização de entrevistas dirigidas aos actores sociais de desenvolvimento.
2. As Formas de Solidariedade Social e Entreajuda no Meio Rural Santantonense
Os dados empíricos, mobilizados ao longo da investigação acima mencionada, permitem-nos afirmar que a solidariedade como prática social em Santo Antão preenche espaços sociais que transcendem os limites conceptuais da sociabilidade primária. Além de um tipo de solidariedade que não só é assente em pilares como caridade, compaixão e investimento (no sentido em que, por exemplo, uma pessoa presta ajuda hoje para poder ser ajudada amanhã), como se reporta para cooperação, ajuda mútua, reciprocidade de interesses (Goerck, 2009: 42), evidencia-se um outro tipo de solidariedade motivado fundamentalmente pela natureza do sistema democrático vigente, tal como pela lógica de troca de interesses em que o sentido do “eu” domina claramente o do “outro” ou do “nós”. Este segundo tipo de solidariedade verifica-se tendo em conta ganhos concretos que se projectam
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
45
alcançar num futuro imediato ligado aos propósitos eleitorais.
O primeiro tipo de solidariedade dominante no meio rural, aqui considerado como base de relações sociais, reproduz-se no quadro das vivências que são operadas na comunidade e, neste sentido, desencadeia-se tendo em conta aspectos de ordem marcadamente endógena, quanto mais não seja porque é justificada pela relação de vizinhança e companheirismo, familiaridade e amizade.
Estamos perante um tipo de solidariedade bem perceptível, por exemplo, em Lagoa, fundado nos problemas que as populações enfrentam no seu quotidiano, designadamente a carência de água. Neste caso específico evidencia-se, por exemplo, uma notável solidariedade entre as famílias que dispõem de cisternas para com aquelas que não dispõem. Mas há ainda outras dimensões da solidariedade como se pode apreender da opinião de um entrevistado:
Agora imagine que chega uma pessoa que passa por dificuldades económicas e pede-lhe um feixe de lenha para ir vender e comprar um quilo de arroz. Com certeza que lhe dá. Portanto a floresta tem uma grande importância. Aliás, a floresta é para ajudar as pessoas da comunidade. O que um guarda-florestal não pode fazer é, vender lenha.
O tipo de solidariedade em análise evidencia-se em Lagoa, também no papel que a cooperativa de consumo ali existente desempenha no sistema de estratégias de sobrevivência das famílias de Lagoa. Refira-se que esta cooperativa foi criada, segundo nos disse o seu presidente, para dar oportunidade à população de poder adquirir os produtos de primeira necessidade na
própria localidade e possibilitar o acesso aos produtos alimentares através de crédito até um valor de 12 mil escudos.
Esta forma de solidariedade é também visível em Cruzinha, quando por exemplo, o número de vagas para o emprego público aberto por organismos do Estado é reduzido. Nestas circunstâncias uma pessoa aceita com naturalidade ceder o seu posto de trabalho a outra depois de trabalhar durante um certo período, uma modalidade que um entrevistado nosso designa por sistema giratório e que consiste em,
Umas pessoas tiram umas quinzenas, depois ficam em casa e deixam que outras famílias também as tirem e assim possibilitar que todas as famílias possam ter a oportunidade de ganhar algum dinheiro para o seu sustento.
Esta atitude, motivada pelo princípio de igualdade de oportunidades é ainda visível em Cruzinha quando, por exemplo, a embarcação da associação de desenvolvimento comunitário local captura pouca quantidade de peixe, numa situação em que há várias matreiras interessadas em adquiri-la para a revenda. Quando assim é, costuma-se atribuir partes iguais às matreiras interessadas para que todas possam garantir o sustento dos filhos.
Na localidade de Ribeirão, tal como em Lagoa, esta rede de solidariedade abrange múltiplas dimensões da vida social na comunidade. Veja-se, por exemplo, o que foi dito por uma entrevistada:
Esta casa quem nos ajudou a adquiri-la foi o irmão do meu marido. Nós não podíamos comprá-la. Quando a comprámos, ela já tinha mercearia montada (prateleiras). Assim nós
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
46
quizemos manter o negócio. Ele meteu cá um frigorífico e umas grades de cerveja, e fomos andando. Vamos levá-la devagarinho. No dia em que Deus nos der recursos, vamos meter mais coisas, e quem sabe, possamos levar a nossa vida através dela.
Um simples acto de solidariedade permite a uma pessoa, que antes vivia em situação de vulnerabilidade económica, aspirar a uma vida tranquila.
O segundo tipo de solidariedade assume um carácter mais institucional e, assim sendo está assente numa plataforma mais alargada das relações sociais. Este tipo de solidariedade integra, para além dos actores circunscritos na comunidade representados basicamente pelas famílias e associações de desenvolvimento comunitário, outros actores sociais, designadamente Organizações Não Governações (ONG) e Agências de desenvolvimento, autarquias, serviços desconcentrados do Estado, cujas áreas de intervenção são de âmbito local, regional e nacional e daí o seu carácter exógeno.
Trata-se portanto de um tipo de solidariedade que ocorre num contexto em que a lógica de troca e de ganhos recíprocos é muito mais explícita e, além do mais, expressa-se através das várias acções que constituem as dinâmicas de desenvolvimento local, mas fundamentalmente através de crédito, doações, ajudas e pensões sociais, de cuja análise vamos nos ocupar de seguida.
2.1 Do crédito
A palavra crédito tem várias acepções e como tal integra vários domínios de conhecimento. No âmbito da economia, crédito pode ser entendido como:
Relação jurídica baseada na confiança e que consiste na entrega por alguém a outrem de certo bem com a condição de vir a receber o pagamento dentro de certo prazo. Aquele que entrega (credor) fica senhor de um direito (crédito) sobre o que recebe (devedor) a um pagamento acordado (Chorão, 1997: 712).
Segundo o documento em apreço, já numa perspectiva que extravasa o campo económico, crédito pode também ser entendido como “confiança que inspira as boas qualidades de uma pessoa”, “boa fama”, “autoridade”, “prestígio”.
O crédito, visto aqui como uma prática que integra a estratégia de sobrevivência das famílias do meio rural, deve ser visto numa perspectiva diferente, ou seja, numa óptica em que a concessão de alguma coisa a alguém não pode ser redutível inteiramente à perspectiva economicista nem inteiramente anti-utilitarista, mas antes numa simbiose entre uma e outra, isto é, parafraseando Martins (2005), fundada na ambivalência da reciprocidade, ou ainda, evocando Marcel Mauss, assente na ideia de facto social total, no sentido em que abrange as várias dimensões da sociedade, designadamente sociológica, económica e política (Maus, 1988).
Aliás, é este o sentido que conceitos como crédito rural, microfinanças, microcrédito, crédito solidário, entre vários outros, adoptam. Apesar de serem conceitos diferentes, importa contudo dizer que, o princípio fundamental que os norteia é basicamente o de facilitar o acesso dos mais pobres aos recursos públicos, visando a melhoria das suas condições de vida. É assumido em muitos países, particularmente, os do continente africano, como uma via fundamental para o combate à pobreza e, consequentemente, para a promoção
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
47
do desenvolvimento político, económico e social (Martins, 2005).
O conceito de microfinanças do qual emerge o conceito de microcrédito é relativamente recente nas abordagens das ciências sociais, designadamente, economia e sociologia. Globalmente, a origem desses conceitos está associada a Muhammad Yunus, na medida em que foi ele o primeiro a experimentar a modalidade de crédito baseado no princípio acima referido, uma experiência que, aliás, veio dar origem em 1976 ao Grameen Bank em Bangladesh de que Muhammad Yunus foi fundador (Yunus, 2008), com o fito de reduzir o problema de acesso a crédito, enfrentado por uma determinada franja da população.
Em Cabo Verde, pode-se dizer que o sistema de microfinanças começa a ganhar importância com a instituição da Lei nº 16/VII/2007 e com a criação do Novo Banco em 2010 que, por ter como propósito central a densificação do sistema financeiro e o combate à exclusão financeira, é visto pelas autoridades cabo-verdianas como um instrumento importante no combate à pobreza.
Os fundos de financiamento das actividades de microcrédito são constituídos através de financiamentos assegurados basicamente pelos organismos internacionais e pelo Programa Nacional de Luta contra a Pobreza no Meio Rural (PNLPR) e concedidos pela Unidade de Coordenação de Programas ou, em certos casos, pelas Comissões Regionais de Parceiros, estruturas de nível regional/local.
Tavares, na sua dissertação de mestrado realizada em 2010 dá conta de alguns estudos levados a cabo neste domínio em Cabo Verde, referindo-se
aos aspectos característicos do sistema de microfinanças cabo-verdiano. Este autor salienta, por exemplo, que, as Instituições de Micro-finanças (IMF) cabo-verdianas se caracterizam basicamente por serem importantes veículos de distribuição de crédito aos mais desfavorecidos, contudo dado à sua fragilidade em termos técnicos, institucionais e financeiros, bem como a capacidade (autonomia) de mobilização de fundos, não garantem a sustentabilidade deste serviço (Tavares, 2010: 29-31).
Das IMF que laboram em Santo Antão foi-nos possível recolher informações sobre o funcionamento de duas delas. A Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) e a Associação de Apoio à Auto-Promoção da Mulher no Desenvolvimento (MORABI).
Uma primeira constatação a tirar é que, não obstante as limitações que enfrentam do ponto de vista de mobilização dos recursos financeiros, elas desempenham um papel importante no processo de empoderamento das mulheres chefes de famílias e consequentemente na luta contra a pobreza no meio rural da ilha de Santo Antão. Segundo uma responsável da OMCV local,
o sistema de microcrédito com que trabalhamos visa dar condições às pessoas, especialmente as mulheres, para se auto-sustentarem. Para isso, terão que gerar o seu próprio rendimento. Ou seja, têm de andar com os próprios pés.
É de salientar, no entanto que as duas IMF têm actuações fundadas numa base política muito expressiva. Isto tendo em conta não só a história que engendra o percurso de cada uma, mas sobretudo o facto de as personalidades que as dirigem ao mais alto nível e já agora
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
48
também ao nível de Santo Antão, terem ligações fortes aos principais partidos políticos nacionais, designadamente Partido Africano de Independência de Cabo Verde (PAICV) e Movimento para a Democracia (MpD).
Conforme pudemos apurar, são personalidades que participam mais ou menos activamente nas campanhas eleitorais dos respectivos partidos políticos, acções que pressupõem um certo comprometimento e cumplicidade. Aliás, as representantes das duas IMF em análise admitiram que muitas pessoas recorrem ao microcrédito precisamente em períodos pré-eleitorais e é também nesses períodos que muitas delas se declaram incapacitadas para amortizarem o crédito anteriormente recebido.
Mas para uma melhor compreensão da lógica que sustenta o sistema de microcrédito no meio rural podemos usar o exemplo do processo de aquisição de uma embarcação de pesca pela Associação Comunitária Nova Experiência Marítima de Cruzinha. O plano de reembolso concebido no âmbito da concessão de crédito para aquisição dessa embarcação, não teve em consideração um conjunto de aspectos que constituem factores de risco do investimento. Por exemplo, não se considerou que as condições do mar em certos períodos do ano interferem negativamente na produtividade e não se avaliou convenientemente as competências técnicas dos potenciais gestores do projecto, nem as condições objectivas que envolvem toda a actividade piscatória na ilha de Santo Antão e, particularmente, em Cruzinha.
As dinâmicas sustentadas pelas práticas de concessão de microcrédito em Santo Antão estão, na maioria dos
casos, relacionadas com o programa nacional de luta contra a pobreza e, consequentemente, com uma forte vertente institucional, razão porque têm também uma forte carga assistencialista e paternalista. Além do mais, isto também se explica pelo facto de as IMF não disporem de capacidades para responder às demandas, conforme pudemos apurar junto das delegações da OMCV e da MORABI, sediadas na ilha.
2.2 Das “ajudas” e doações
As ajudas e doações são práticas sociais que melhor simbolizam o fenómeno do assistencialismo em Cabo Verde, pelo menos nos termos em que ele é considerado nos discursos reproduzidos no campo da disputa política.
Situando-se para lá dos limites desses discursos, parece pertinente adiantar que o assistencialismo é um modelo económico-social que começou a ser implementado em Cabo Verde muito antes da independência, conforme sugere Silva (2001), como medida para dar respostas aos problemas resultantes da seca, designadamente, a de 1968. Ainda segundo este autor, esse assistencialismo baseia-se na ideia segundo a qual
O Estado, neste contexto, passa a ser, em razão da falência da economia civil, o mecanismo assegurador da reprodução biológica e social da então Província de Cabo Verde. Assiste-se em consequência a um significativo aumento das despesas públicas visando absorver a população “liberta” pela seca. A rigor o estado não se encontra preparado para atender de pronto as novas e urgentes demandas sociais. Por isso os novos encargos vão ser financiados pelas despesas extraordinárias que, na então conjuntura,
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
49
não cessam de aumentar, ganhando peso no conjunto dos gastos públicos (Silva, 2007: 6).
Algumas abordagens sobre o assistencialismo em África vão no sentido de o ligar ao processo de colonização.
Mas, o propósito de analisar as práticas sociais fundadas em ajudas e doações não é o de discutir a natureza do assistencialismo em Cabo Verde, embora tenhamos assumido a ligação entre uma coisa e outra, apenas numa perspectiva de que, esse assistencialismo não decorre de um modelo económico-social explícito pelas estratégias de desenvolvimento assumido pelo Estado, mas antes decorre de uma medida, quiçá espontânea, e que tem servido para cobrir as deficiências do sistema nacional de segurança social e fragilidades das políticas do emprego. As ajudas e doações são mecanismos que alimentam esta medida compensatória, a que as famílias do meio rural recorrem sabiamente no quadro de uma estratégia explícita de sobrevivência.
À vista do exposto importa então dizer que as ajudas vêm de associações de desenvolvimento comunitário (ADC), ONG, Igrejas, Câmaras Municipais, Governo, partidos políticos, etc., abrangendo uma vasta panóplia de acções e cobrindo uma vasta dimensão da (sobre) vivência das famílias do meio rural.
Além de construção e reparação ou reabilitação das habitações e educação e formação profissional dos filhos através de atribuição de bolsas de estudo, as ajudas e doações abrangem ainda subsídios em matéria de alimentação, vestuário, assistência médica e medicamentosa e estendem-se a ligações domiciliárias de água e
energia eléctrica, liquidação de dívidas, pagamento de rendas e até mesmo a obtenção de licença profissional de condução.
A intensidade e a dimensão da solicitação de ajudas ou ofertas de apoios dependem de uma conjuntura eleitoral específica e a lógica que está por detrás dessa variação é a mesma que rodeia a solicitação de microcréditos. Quando se está em períodos eleitorais, essas acções duplicam-se.
No quadro destas acções, as famílias desencadeiam um conjunto de outras estratégias para poderem ter acesso a determinados recursos, designadamente a adesão a uma organização política ou da sociedade civil, pedidos, lamentações, manifestação de preferências partidárias, ou simplesmente abdicar-se de emitir opiniões sobre partidos políticos, associações, pessoas com uma certa notoriedade na localidade, associado ao conjunto de opções e condutas que capitalizam estas estratégias de sobrevivência, está a omissão que alguma vez tenham sido beneficiadas.
Finalmente, pensamos que as práticas que conduzem à obtenção de ajudas e doações são reproduzidas de um lado e doutro, utilizando mecanismos que se encontram no limite de valores que integram a consciência colectiva dos mesmos.
2.3 Das pensões de reforma
É frequente hoje em dia, encontrar-se, no meio rural cabo-verdiano, famílias que beneficiam de uma pensão, seja de reforma por velhice, seja por invalidez, seja ainda de sobrevivência, que provém do Sistema Nacional de Previdência Social ou de instituições
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
50
dos países onde o beneficiário directo foi emigrado, tendo em conta acordos e convenções bilaterais celebrados com países como Portugal, França, Holanda, Luxemburgo e Suécia.
O Sistema Nacional de Previdência Social estabelece como uma das vertentes fundamentais a “Rede de segurança” assente no princípio de solidariedade nacional, isto é, motivado pela existência de situações de falta ou reduzida capacidade de promover auto-sobrevivência ou protecção (LBSPS – BO n.º 2 I Série de 22 de Janeiro). O sistema de pensões de regime não contributivo é o que responde directamente ao desiderato que melhor suporta o princípio de solidariedade nacional. O mesmo consiste em,
garantir a igualdade de tratamento e a integração social através de protecção a grupos mais vulneráveis e, por outro lado, prevenir situações de carências, disfunção, arginalização, evitando, assim, todas as formas de exclusão, desigualdades sociais e assimetrias (LBSPS – BO n.º 2 I Série de 22 de Janeiro).
Este sistema de pensões é abrangido pelo regime de Pensão de Solidariedade Social (PSS) instituído pela primeira vez pelo Decreto-lei nº 122/92 e regime de Pensão Social Mínima (PSM), instituído pela primeira vez em 1995 pelo Decreto-Lei nº 2/95. O primeiro estabelece como beneficiários os antigos trabalhadores das Frentes de Alta Intensidade de Mão-de-Obra (FAIMO), com mais de 60 anos de idade sem quaisquer fontes de rendimento que lhes permita viver com a mínima dignidade humana, designado por pensão social por velhice, bem como pessoas que tenham tido acidente ou contraído doenças decorrentes da participação nas FAIMO e, consequentemente, tenham ficado
incapacitadas, designado por pensão social por invalidez. O diploma fixava como valor dessas pensões 3.000$00 mensais. Já a Pensão Social Mínima decorre de um programa concebido para cobrir a generalidade de famílias que vivem em situação de manifesta carência e que não se encontram veiculadas a qualquer outro programa de protecção social.
Actualmente, o sistema de pensão social de regime não contributivo da segurança social é suportado em termos legais pelo Decreto-lei n.º24/2006 de 6 de Março. De acordo com este Decreto-lei a Pensão Social assume três modalidades ou categorias diferentes, ou seja, ela pode ser pensão social básica, Pensão social por invalidez e Pensão social de sobrevivência. Estas três modalidades ou categorias de pensões sociais sujeitam-se ao mesmo valor, que por sua vez é fixado por decreto regulamentar. Nesta sequência importa então reportar que o valor das pensões sociais em vigor é de 5000$00 fixado pelo Decreto-Regulamentar nº 8/2010, um aumento de 40% desde que foi instituído em 1992.
De acordo com os dados do Centro Nacional de Pensões, o país contava em 2009 com 22.942 beneficiários, dos quais 4527 são da ilha de Santo Antão. E ao longo da nossa investigação pudemos verificar que um número considerável de pessoas idosas residentes nas três localidades em análise, encontra-se abrangido por esta política.
Globalmente os pensionistas revelam-se muito satisfeitos por terem sido beneficiados. Vejamos algumas considerações feitas pelos beneficiários sobre a importância desta política pública.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
51
Recebo uma pensão do estado em cerca de quatro mil e tal escudos. A minha mulher também recebe a mesma quantia. Nós os dois recebemos oito mil, oitocentos e vinte escudos. Na verdade não é muito, mas é importante. Por isso damos graças a Deus.
Tenho uma pensão social. Tenho-a desde 2001. Agora é quatro mil, quatrocentos e qualquer coisa. Esta pensão ajuda muito. Ela é tudo que temos. Para mim é muito importante.
E as famílias que ainda não foram contempladas acham que seria para elas uma grande vantagem conseguir esse apoio.
Ainda não recebo nenhum tipo de pensão, mas o presidente da associação está a tratar-me do assunto. Já lhe entreguei o meu Bilhete de identidade e segundo disse vou ser beneficiada brevemente. Eu não tenho ajuda de ninguém e se eu conseguir vai ser muito bom. Sei que não é muito, mas mesmo assim é um dinheiro que chega regularmente.
Uma análise mais aprofundada da percepção das famílias do meio rural em relação à importância que uma pensão de solidariedade social representa no sistema de estratégias que empregam para garantir a sua sobrevivência, reporta-nos para um aspecto incontornável no quotidiano desses actores. É preciso ver que a vivência do povo cabo-verdiano é profundamente marcada pelas incertezas provocadas pela irregularidade das chuvas e consequentes secas e fomes, um aspecto que parece estar intimamente ligado aos esquemas mentais daqueles que têm, na agricultura e pesca, o seu modo de vida principal.
Ora, perante este facto parece normal
que a certeza e a regularidade com que se possa aceder a uma fonte de rendimento acaba por ser algo fundamental na vida desses actores, quanto mais não seja porque ajuda a minimizar o sentimento de incerteza que os acompanha durante parte substancial da sua vida.
Neste sentido, a importância de auferir uma determinada quantia, a uma data mais ou menos certa, aumenta ainda mais quando têm o sentimento de que a conseguiram por sorte ou pela condescendência, compaixão, amizade de alguém.
Esta é a razão por que as pessoas contestam muito mais o atraso no pagamento que o seu montante.
As duas formas diferenciadas de solidariedade distinguem-se não apenas pela natureza, mas sobretudo pelos propósitos, colectivistas de um lado e individualistas de outro. Contudo, ambas ocorrem numa lógica de troca, apesar de os contextos sociais e políticos que lhes servem de palco serem diferentes. Veja-se que as formas de solidariedade sóciocomunitárias são alimentadas pelas práticas sociais seculares, isto é, que se transferem de geração em geração ao longo de vários séculos e orientadas por normas e valores específicos. Já as formas institucionais de solidariedade são alimentadas por uma lógica de carácter acentuadamente político.
Assim, tendo em conta estes dados podemos estar perante a emergência de uma nova sociabilidade estribada nas condições de pertença a um partido político ou na possibilidade de fazer do campo político, uma saída para se reproduzir as condições elementares de sobrevivência.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
52
3. Conclusão
A abordagem feita ao longo do presente texto insere-se nas mudanças que vêm ocorrendo no meio rural cabo-verdiano nas últimas décadas e pautou-se pela análise de um conjunto de práticas sociais que emanam das estratégias de sobrevivência das famílias do meio rural cabo-verdiano, para fazer face à perda da autonomia relativa que caracterizava este espaço social no passado. Assim, procurámos ao longo da explanação, demonstrar que, para além das acções que integram a tipologia de estratégias primárias de sobrevivência como agricultura, pesca, criação de gados e emprego público (Jesus, 2012), certas práticas sociais (algumas das quais inerentes às novas formas de sociabilidade emergentes neste espaço social) como, por exemplo, a solidariedade social e entreajuda expressas através de acções, como o sistema de crédito, ajudas, doações, e pensões de reforma, vêm ocupando um papel importante no sistema de estratégias de (re) produção das condições de vida das populações do meio rural.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
53
Referências bibliográficas
Chorão, J. B. (dir.) (1997). Grande Dicionário Enciclopédico – Verbo. Lisboa/S. Paulo: Editorial Verbo. I Volume.
Domingues, J. M. (2006) Instituições formais, cidadania e solidariedade complexa. Lua Nova n.º 66, São Paulo, pp. 9-22.
Durkheim, E. (1989). A Divisão Social do Trabalho, 3ª Edição. Lisboa: Editorial Presença, Vol I e II.
Giddens, A. (1991). As consequências da modernidade. Oeiras: Celta Editora.
Goerck, C. (2009). Programa de economia solidária em desenvolvimento: sua contribuição para a viabilidade das experiências coletivas de geração de trabalho e renda no Rio Grande do Sul. Tese de doutoramento, UCRGS.
Jesus, A. T. (2012). Dimensões, sentidos e vicissitudes das dinâmicas dos actores sociais no processo de desenvolvimento local em Cabo Verde: O caso da ilha de Santo Antão. Tese de doutoramento não publicada, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Bélgica.
Martins, P. H. (2005, Dezembro 73) “A sociologia de Marcel Mauss: Dádiva, simbolismo e associação”. Revista Crítica de Ciências Sociais, pp. 45-66.
Mauss, M. (1988). Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão das trocas nas sociedades arcaicas. Lisboa: edições 70.
Silva, António Leão Correia e (2001). O nascimento do Leviatã crioulo. Esboços de uma sociologia política. In Cadernos de Estudos Africanos nº1, Lisboa, Centro de Estudos Africanos / ISCTE, pp.53-68.
Silva, António Leão Correia (2007). Cabo Verde: Desafios Económicos e Estruturação do Estado. Do Estado - Providência (sem contribuintes) ao liberalismo sem empresários. O Ciclo da I República. Comunicação apresentada no VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais: A Questão Social no Novo Milénio, Coimbra.
Tavares, A. C. H. (2010). Descentralização, Microfinanças e Desenvolvimento: Estudo de Caso sobre o Município de São Salvador do Mundo. Dissertação de Mestrado. Universidade de Cabo Verde, Praia.
Yunus, M. (2001). O Banqueiro dos pobres. 4.ed. São Paulo: Editora Ática.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
54
CAbOVERDIANIDADE EM ETNO-CIÊNCIA: COR E RAÇA FORA DE FOCO, MAS, SIM, CAbOVERDIANOS
Artur Monteiro BentoMuseu Nacional, UFRJ, PPGAS, bolsista pós-doc\FAPERJ
Resumo
Aqui se inscreve uma análise das dimensões sociais da caboverdianidade, construída, dialogicamente, através da mestiçagem – centrando-se na linha da história-cultural e política-cultural nas esferas pública e privada, imposta ou comunicativa, consensual ou conflitual. Cria-se, então, uma identidade singular, que se diferencia de suas raízes primordiais para escapar de uma sociedade multiétnica. A análise orientar-se-á pela antropologia comparada, com foco nos termos cor e raça, preconceito de marca e preconceito de origem, na perspectiva brasileira e norte-americana. Alinhando a abordagem teórica à relevância prática, produz-se uma reflexão sobre a caboverdianidade em etno-ciência como teoria social.
Palavras-chave: Caboverdianidade, etno-ciência, raça, cor, história, mestiçagem.
Abstract
Here is an analysis of the social dimensions of caboverdianidade, constructed, dialogicamente, through the mestizaje – focusing on story line-cultural and political-cultural in the public and private spheres, communicative, consensual or enforced or conflictual. Create a unique identity that differs from their primordial roots to escape a multi-ethnic society. The analysis will focus on the comparative anthropology, with a focus in accordance with color and race, prejudice and bias of origin, Brazilian and North American perspective. Aligning the theoretical approach to practical relevance, a reflection on the caboverdianidade in ethno-science as social theory.
Keywords: Caboverdianidade, ethno-science, race, color, history, miscegenation.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
55
1. Os sentidos da caboverdianidade em etno-ciência
Mais do que um conjunto de conhecimentos cientificamente organizado, a caboverdianidade, que é para a sociedade caboverdiana o que a memória é para o indivíduo, é um método de investigação do passado, cujo resultado, processo e produto constituem a identidade caboverdiana.
Conceitualmente, a caboverdianidade apresenta dois sentidos:
- O tradicional, com foco no século XVII, em que os filhos da terra buscam se diferenciar de suas origens etnoraciais, a partir do princípio: “nós” e “eles”, nós “caboverdianos” e eles “estrangeiros”. Em outros termos: “nós”, os nativos das ilhas, os portugueses de cá e “eles”, os vindos do reino, os portugueses de lá, segundo observações do Padre Sebastião Gomes em carta de 1615.
Se deixarmos de lado as afirmações identitárias, seja à moda portuguesa, seja à moda africana, o encontro de povos nas ilhas, sob um governo colonial, associado ao contexto insular, determinou uma recriação de códigos de comportamento e sistemas de crenças, com reflexo na demarcação de uma identidade singular, que se diferencia, em parte, de suas matrizes essenciais.
No contexto do século XVII, observa-se um processo de construção de um cabo-verdiano centro-português, com controle das identidades étnicas. Esse processo se deu sob o Direito do Padroado, o que colocava a premência de formação de padres nativos com vista à propagação do catolicismo no continente africano e, ao mesmo tempo, à inserção das populações coloniais no
interior da cristandade, já que ao longo do século XVII, os africanos e os mestiços transformaram-se no maior contingente populacional da Colônia. O clero nativo constitui um dos mecanismos que assegurou a disseminação da mensagem religiosa aos povos africanos, além de solucionar a escassez de sacerdotes, que era uma reclamação constante das ordens religiosas e também dos bispos e dioceses do ultramar.
Na esteira de uma identidade portuguesa, a ordenação de nativos e a admissão de pretos e mulatos na administração colonial caracterizava-se como um processo de mobilidade social hierarquizada, conjugando os moldes de uma cultura sincrética com traços do Antigo Regime e a naturalização dos filhos da terra. Os privilégios concedidos àqueles que conseguiam a dispensa dos termos “cor e raça”, com o propósito de seguirem o sacerdócio, bem como aqueles que ocupavam serviços públicos, asseguraram o apaziguamento de conflitos etnoraciais, e ao mesmo tempo, a ressignificação da escravidão. E, no pensamento colonial, Cabo Verde é nação portuguesa, o que serve de base para a evitação de africanos na carta de Sebastião. Esse pensamento recriava hierarquias excludentes, reforçando as diferenças entre “nós” e “eles”, nós “caboverdianos” e eles “estrangeiros”. E, baseado nesse princípio, podemos complementar a discussão do Padre, trazendo à tona: “nós”, os nativos das ilhas, os brancos, pretos e mulatos de cá e “eles”, os vindos do Reino e da África, os portugueses e os africanos de lá.
- O moderno, formulado a partir da década de 30 do século XX pela intelectualidade claridosa, em diálogo com o lusotropicalismo do sociólogo brasileiro Gilberto Freyre. Privilegiando a cultura mestiça como
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
56
um dos mecanismos explicativo da antropologia do mestiço, intenta uma compreensão da matriz centro-portuguesa na configuração do homem nacional. E, na década de 1950, Amílcar Cabral, fundador e militante n°1 do PAIGC, introduz a matriz centro-africana, através da desconstrução do sistema de dominação legítima, quais sejam: a dominação racional-legal e a dominação tradicional, como sinônimo de ocultamento da raiz africana, cujo resultado é a exaltação do homem africano.
O tempo, cujo significado assente no trabalho do antropólogo, procura assumir a tarefa de colocar uma determinada ordem na etnografia. Em tudo o que se percebe, o fio condutor para se pensar a caboverdianidade não passa por critérios de cor e raça, e sim, pela cultura fabricada na nova pátria, onde caboverdianos, independentemente da tonalidade de sua cor, carregam um conjunto de heranças culturais que os diferenciam, em parte, de outros grupos sociais e, ao mesmo tempo, os assemelham a muitos outros.
1.1. A caboverdinidade é história, política e ciência
Margaret Mead e Ruth Benedict, expoentes da escola “Cultura e Personalidade”, afirmam que a divisão das populações em raças, com foco em traços físicos, seria um erro e, na verdade, uma velada distinção sócio-econômica. Franz Boas criticou duramente o discurso biológico, sobretudo, na Europa, que atribuía aos negros, índios e judeus um status inferior. Ele questiona a teoria racista que conferia hereditariedade ao comportamento mental e social, na medida em que uma população considerada racialmente pura poderia apresentar traços
genéticos diferenciados, com diferentes personalidades impossíveis de ser alocadas em variedades genéticas. Boas (1911) insistiu na composição mestiça das populações europeias, em séculos de migrações e guerras, num intenso contato com a África e a Ásia, inviabilizando a pureza racial, que conduziu à Segunda Guerra Mundial.
Freyre (1953) demonstrou a impureza racial dos portugueses por meio do princípio de predisposição à miscigenação do colonizador. A mobilidade, característica herdada de um dos elementos que se juntaram para formar a nação portuguesa, os judeus, teria sido um dos segredos de Portugal: um país quase sem gente, insignificante em número, tivesse conseguido “salpicar virilmente do seu resto de sangue e cultura populações tão diversas e a distâncias tão grandes umas das outras: na Ásia, na África, na América, em numerosas ilhas e arquipélagos” (Freyre, 1953: 9). Ele via na miscigenação um aspecto positivo, ao qual denominou democracia racial, em que busca recuperar as contribuições das culturas africanas na formação brasileira. Ao usar a mestiçagem num sentido descritivo e analítico, marcou o nacional como resultado de africanos, indígenas e europeus.
Essa teorização acima elencada introduz uma compreensão da caboverdianidade, com reflexo na construção de uma identidade singular. Como processo, não é aconselhável, pensar o caboverdiano por critérios raciais, na medida em que este povo não constitui uma raça. Conhecemos o que dela pode ser comprovado pelo passado, que esse povo é uma mistura de duas matrizes ou uma mistura de uma variedade de povos, cuja mestiçagem redimensionou para a construção da
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
57
caboverdianidade.
Passar do conceito de raça para o de cultura revela um passo crucial nos estudos da antropologia no século XXI. Encontrar um padrão cultural que recorte o caboverdiano na sua heterogeneidade e homogeneidade abre caminho para a compreensão da gente da terra, com pesquisas e reflexões antropológicas para enfrentar hipótese, identificando a singularidade. Convicto da caboverdianidade, talvez porque a tarefa da intelectualidade hoje, terceira geração, seja exatamente a compreensão da natureza configurativa da identidade caboverdiana – remetemo-nos, agora, à antropologia do século XIX, especialmente, da primeira metade, na qual o recorte na história assume relevância e passa a ocupar o primeiro plano da antropologia mestiça.
Cunha (1977), analisando a identidade africana na África e nos terrenos de Candomblé no Brasil, demonstra que os negros que saíram do Brasil por espontânea vontade, após a abolição da escravidão, em 1888, chegando à Nigéria, assumiram a identidade de brasileiros e católicos, enquanto seus patrícios que permaneceram no Brasil buscaram resgatar a identidade africana e a religião dos Yorubá. A partir disso, a identidade africana passou a ser relativizada e, abriu-se uma enorme ponte para se desnaturalizar as culturas negras.
Damatta (1987), na “Fábula das três Raças”, discute a construção da identidade brasileira através das três raças que compõem o triângulo “branco, índio, negro”, opondo-se, sistematicamente, esse triângulo ao sistema binário norte-americano, que opõe “brancos e negros”, a ponto de o racismo chegar ao extremo com a Lei
Jim Crow (1876-1965), em que o governo passou a negar aos negros, índios, asiáticos e latino-americanos uma série de direitos civis, além de serem submetidos a linchações. O triângulo das raças refere-se à desigualdade natural das pessoas e fala de origens.
Nogueira (1985) descreve um sistema norte-americano, cujo “preconceito é de origem” e outro, Brasil, que tem o “preconceito de marca”. Nos EUA, negro é aquele que tem ancestrais negros, enquanto no Brasil é aquele que tem a pele escura e o cabelo crespo ou o nariz mais largo. Evidencia o quanto à sociedade brasileira e norte-americana se distinguia no que tange à absorção de suas minorias étnicas. A partir do “preconceito racial”, o autor traçou os lineamentos daquilo que chamou de flagrante contraste entre o clima de relações interraciais que predomina nos EUA e o que caracteriza o Brasil.
O preconceito observável num e noutro cenário interracial ou interétnico é caracterizado pela dicotomia aparência/ascendência étnica. A primeira, vigente no Brasil, expressa no preconceito de cor ou de marca; a segunda, manifesta-se nos EUA como preconceito de origem. Quando o preconceito de raça se exerce em relação à aparência, isto é, quando toma por pretexto para as suas manifestações o traço físico do indivíduo, os gestos, o sotaque, diz-se que é de marca; quando basta a suposição de que o indivíduo descende de certo grupo étnico para que sofra as consequências do preconceito, diz-se que é de origem.
Teixeira (1986) descobre um viés mais relativizador e descreve um sistema relacional onde não há “brancos, negros e pretos”, mas “claros e escuros”. Esse gradiente depende da cor daquele que
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
58
classifica. Usa-se claro e escuro para pessoas próximas; brancos e pretos para terceiros distantes. Na década de 1960, Fernandes (1978) focalizou a diferença dos termos das cores nos EUA e no Brasil. Nos EUA, negro denota agressão e desvalorização, mas, black ou preto é usado pelo movimento negro. Enquanto no Brasil, inverte-se; preto é agressivo e negro é respeitoso. Daí surge a seguinte interrogação: será mesmo o termo que é diferente ou o significado a ele atribuído? Em resposta, os termos são diferentes. No Brasil, usa-se o termo negro porque se quer colocar a diferença na cultura, enquanto nos EUA, os blacks querem ser americanos e exigem direitos iguais aos brancos. Lá, o termo preto é usado porque querem comunicar que a diferença é social, enquanto no Brasil se fala de negro porque a diferença está na cultura.
Em Cabo Verde, esses antagonismos foram superados nos primeiros séculos da colonização, com resultados positivos na construção do homem mestiço nacional. Portanto, Cabo Verde é uma cultura hegemónica, na qual as singularidades entre as ilhas não constituem problemas para a unidade nacional. Por isso, o caboverdiano movimenta-se livremente pelo território cabo-verdiano e pelo espaço construído da caboverdianidade, o que corrige a grande insularidade que vive o povo das ilhas. É por isso que cabe à caboverdianidade o papel de manutenção social, o que representa claramente a associação patriotismo e geografia insular, que confere à história a tarefa de inculcar nas gerações de caboverdianos a unidade, o espírito cívico e patriotismo
1.2. A caboverdianidade é uma construção processual: passado,
presente e futuro
A mestiçagem foi focalizada pelos claridosos nas primeiras décadas do século XX, de forma exaustiva e competente. Ainda que distintos em suas análises, a matriz centro-portuguesa se convertia na identidade mestiça, apoiando-se na ausência de preconceito racial, advindo da síntese bem-sucedida das contribuições dos grupos em presença e cruzamento somático de diferentes fenótipos. Tal visão da mestiçagem encontra sua melhor expressão intelectual em Almerindo Lessa, Jacques Ruffiê, Adriano Moreira, Aníbal Lopes da Silva, Daniel Tavares, Baltasar Lopes, Nuno Miranda, Júlio Monteiro, Jorge Dias e Gabriel Mariano, e, no plano político é Salazar quem confere à mestiçagem status de ideologia estatal, de acordo com interesses do Império Ultramarino Colonial.
Lessa e Ruffiê (1960) apresentam o mestiço como o único projeto novo que existe nas raças humanas e de relevância na fixação da civilização europeia fora de Portugal. Consideram a sociedade caboverdiana uma estrutura social que evolui segundo as leis do branqueamento, nas quais os valores são incapazes de se alterar. Admitem as contribuições africanas na formação mestiça numa categoria assimilacionista, com o propósito de a cor preta não determinar o retorno às raízes étnicas. Denominam os caboverdianos de mestiços portugueses, que se constituem de três cores: branco, preto e moreno, não fazendo referência à questão racial. Numa concepção seroantropológica de 1950, os autores reforçam o argumento de que a predominância genética não deve ser vista como algo que vai alterar a realidade de um caboverdiano
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
59
culturalmente ocidentalizado, visto que se trata de “um povo absolutamente integrado na civilização ocidental, e assim se considera absolutamente português pelo pensamento” (Silva, 1960: 95). Ademais reforçam a ideia de que o “povo caboverdiano tem como elemento aristocrata da sua ascendência o português. Orgulham-se de serem filhos ou netos de qualquer português” (Tavares, 1960: 122).
Em geral, os autores não acreditam numa civilização caboverdiana específica, mas sim, de traços regionais, afirmando que se trata de “caracteres regionais, como acontece com o minhoto, com qualquer provinciano da Metrópole” (Lopes, 1960: 117). No que tange ao poder, avançam que os “colonizadores, que eram brancos, detentores da terra e do mando, a pouco e pouco foram perdendo essas terras, e o poder que eles tinham passou cumulativamente, mas com segurança, exatamente para a raça que eles tinham procriado, ou seja, a ascensão do mulato” (Monteiro, 1960: 119).
Com a fundação do PAIGC, Amílcar Cabral introduz a matriz centro-africana, cujo embate com a matriz centro-portuguesa produziu as bases para a matriz centro-caboverdiana. Cabral busca responder à questão: “porque é que os caboverdianos são africanos?” Em resposta, “os caboverdianos negros, mestiços ou de pele branca são africanos de uma colônia africana de Portugal” (Fundação Mário Soares, 2000: 31). Contrariando a posição da elite claridosa, fundamenta que “o povo caboverdiano nunca elegeu os seus dirigentes, que o dirigente supremo de Cabo Verde nunca foi caboverdiano e que toda a vida econômica de Cabo Verde está enfeudada, quer dizer, submetida aos interesses econômicos
de Portugal” (idem).
De qualquer modo, estabeleceu-se em Cabo Verde a demarcação de fronteiras simbólicas, e o que representa a caboverdiandiade. O assunto é de grande relevância e se enquadra num cenário actual, em que se observa um intenso processo de miscigenação entre as ilhas, bem como cruzamentos da gente da terra com povos de nacionalidades outras. Em particular, a caboverdianidade fundamenta a configuração nacional, como também, o pensamento das populações mestiças, que desde a origem se mostram dispostas a se mesclar.
1.3. A caboverdianidade não se reduz à mestiçagem, mas a uma teoria científica
No seu mais amplo significado, a caboverdianidade designa a atitude intelectual do século XXI que confere à nação um altíssimo posto na etno-ciência, a partir de cinco princípios fundamentais:
1. A caboverdianidade se refere ao nascimento dos núcleos da gente da terra, produto dos primeiros cruzamentos interétnicos, compreendendo que os constrangimentos insulares e limitações estruturais, desde cedo, impuseram à gente da terra as mesmas situações, a exemplo da fome, que, até os anos de 1940, dizimava até 50% da população.
2. Não existe um sistema racista, a exemplo dos EUA, que opõe brancos e pretos, nem situação de desigualdade socioracial como verificada no Brasil. O sistema caboverdiano é relacional, marcado pelo fundo mestiço, onde os caboverdianos, independentemente de sua cor, vivem em harmonia, respeitando as diferenças que se apresentam no
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
60
cotidiano das ilhas; a formação social é imediata porque, entre o africano e o europeu, há o caboverdiano.
3. O mestiço, fato que se origina da combinação de grupos étnicos, com insularidade e administração colonial, nem sempre generosa, precisou da contribuição de todos os grupos, não importando suas raízes iniciais, para que a sobrevivência fosse garantida e mantida distante de suas matrizes-centro.
4. Em um contexto insular, os filhos da terra constituem a mão de obra ativa, devendo prestar solidariedade e cooperação para que os idosos, como também, os doentes fossem assistidos, para que todos tenham abrigo, agasalho e comida, sendo preciso desenvolver novos significados simbólicos no contexto das relações amistosas, a exemplo, do compadrio.
5. A caboverdianidade adquire outra dimensão, pois quando se fala do negro, fala-se de África, do branco remete-se para a Europa, de origem, da distância. Pois, o caboverdiano é o resultado da mistura do branco com o negro, daí nem branco, nem negro, mas sim, caboverdiano.
Outra lógica se faz presente e nos leva a trabalhar com um conceito elástico e polissêmico, a admitir que a caboverdianidade esteja delineada a rigor pela mestiçagem, o que inviabiliza não somente questões referentes à cor e à raça, mas também ao preconceito. Cada vez mais, reconhece-se que, nesse sistema relacional, não existe negro e branco, mas sim, claro e escuro, clarinho e escurinho, e isso é usado naturalmente, embora branco e preto possam ser usados, mas em situação contextual. Os caboverdianos valorizam
as diferenças por contiguidade e diluem as oposições binárias por terem um sistema relacional, que se aproxima do triângulo brasileiro.
Preliminarmente, deve ser observado que negro, preto e branco não são usados usualmente quanto se fala de próximos, mas quando se referem a um terceiro distante, sendo usados em situações contextuais. No Brasil, ao usar a oposição “preto” e “branco”, fala-se no lugar social, já em Cabo Verde esses termos não são usados nesta vertente brasileira, haja em vista que a mestiçagem marca o mito de origem. Enquanto no Brasil, preto é agressivo e negro é respeitoso, em Cabo Verde tanto preto quanto negro é agressivo quando se fala do próximo. A princípio, ninguém é negro, pois os indivíduos nascem pretos, brancos ou pardos. As três ordens não se misturam. Tornar-se negro ou branco significa remeter-se à origem, no sentido de resgate de uma raiz étnica, e construir a identidade através dessa origem, explicando a diferença pela escravidão, o que é inviável nas culturas mestiças. Independentemente da liberdade na escolha dos termos cor e raça, existe uma terceira força que atua entre as cores das pessoas, a cultura, que comunica diferenças significativas.
A caboverdianidade, enquanto categoria do pensamento, problematiza o viés irônico e preconceituoso da antropologia racista, sem deixar de observar que a mestiçagem, valorizando as matrizes centro-portuguesa e centro-africana, acciona a convivência harmónica, o respeito à diversidade e ao multiculturalismo. A caboverdianidade passa por um processo narrativo: desde os princípios da ordem e do progresso, até à ideia da convivência harmoniosa das raças, permite construir uma identidade em torno do que seja Cabo
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
61
Verde. De um país colonial a uma nação-estado da qual se orgulhar é um processo lento, no qual muitos significantes foram explorados, em detrimento de outros, de forma a construir um orgulho nacional. Bem mais que o culto a nação, a caboverdianidade deve ser entendido como um dos marco de referência de centro.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
62
Referências bibliográficas
Boas, F. (1911). The mind of primitive man. New York: The McMillan Company.
Carreira, A. (1983). Documentos para a história das ilhas de Cabo Verde e Rios da Guiné séc. XVII e XVIII. Lisboa, ULP.
Cunha, M. C. (1977). Antropologia do Brasil: mito, história, etniticidade. São Paulo: Brasiliense.
Damatta, R. (1987). A casa & a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. Rio de Janeiro: Guanabara.
Fundação Mário Soares. (2000). Amílcar Cabral: sou um simples africano. Lisboa: Fundação Mário Soares.
Freyre, G. (1953). Casa-grande & senzala, formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal. Rio de Janeiro: José Olímpio.
Nogueira, O. (1985). Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem. In: Tanto preto quanto branco. São Paulo: Queiroz.
Rodrigues, N. (1894). As raças humanas e a responsabilidade penal do Brasil. Rio de Janeiro: Companhia Editora Nacional.
Silva, A. L; Lopes, B.; Tavares, D.; Miranda, N.; Monteiro, J; Lessa, A.; et al.. (1960). Seroantropologia das ilhas de Cabo Verde. Lisboa: JIU.
Teixeira, M. (1986). Família e identidade racial. Rio de Janeiro: Museu Nacional.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
63
A PESqUISA SObRE IDENTIDADE E CONSTRUÇÃO DO ESTADO-NAÇÃO EM CAbO VERDE: qUESTõES
METODOLÓGICAS
João Paulo MadeiraUniversidade de Cabo Verde
Resumo
Neste artigo são abordadas algumas questões metodológicas no âmbito das pesquisas sobre a construção da identidade e da formação do Estado-Nação em Cabo Verde e das possíveis linhas de investigação, possibilitando o esclarecimento da problemática. É em torno desta preocupação que o presente texto se centra, nomeadamente no que o conceito da identidade incorpora. Um trabalho desta natureza poderá evidenciar as representações de Cabo Verde e dos cabo-verdianos sobre si próprios e sobre os outros. Poderá ainda revelar o sentido da dinâmica de interculturalidade vivida. Assim, revela-se fundamental reconstruir o caminho histórico de afirmação da ideia de Nação e do Estado em Cabo Verde, de forma a descobrir novas perspectivas sobre a problemática da construção da identidade e do Estado-Nação em Cabo Verde.
Palavras-chaves: Identidade, Estado-Nação e Cultura Cabo-verdiana.
Abstrat
This article discuses the methodological issues regarding research about identity construction and the formation of Cape Verde as a nation-state, focusing on the lines of inquiry that help clarify this issue. This text is concerned namely with the concept of corporate identity. Research of this nature will be able to portray Cape Verde, and Cape Verdeans as they see themselves and how they are seen by others. It will also illustrate the intercultural dynamic experienced. Thus, it is thereby important to reconstruct the historic roads that affirm the idea of Nation and State in Cape Verde in order to discover new perspectives on the on issue of identity and the Cape Verdean Nation-State.
Key words: Identity, Nation-state and Cape Verdean Culture
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
64
1. Notas prévias
Reflectir sobre as questões ligadas à identidade e à construção do Estado-Nação em Cabo Verde exige uma pesquisa que evidencie estarmos perante uma realidade societal que se constituiu na esfera de um regime escravocrata instalado pelos primeiros povoadores. A investigação revela-nos que se trata de uma sociedade cujo passado vigorou desde os primórdios da ocupação das ilhas (1462) até ao início do último quartel do século XIX. Ao analisarmos esse percurso histórico, apercebemo-nos de que essa sociedade teve como condicionantes essenciais da sua formação, a função de entreposto comercial no Atlântico Médio desempenhado pelo Arquipélago de Cabo Verde, com realce para o moderno comércio de escravos, bem como o seu povoamento e a emergência de uma cultura específica, graças ao processo de miscigenação, o que acabou por configurar aquilo que João Lopes Filho enunciou como um importante “laboratório” de língua e de aculturação (Filho, 2003: 81). Estes factores condicionaram o povoamento e a vida económica, social e cultural desse Estado-Nação. “Todo esse ambiente terá proporcionado ao mestiço nascido desse cruzamento, ainda sem uma identidade étnica definida, o confronto entre as diferenças culturais dos seus progenitores” (Brito-Semedo, 2006: 69). A componente “europeia”, a do pai, na perspectiva de Brito-Semedo e a “africana”, da mãe. Neste sentido, vai se criar uma identidade cultural própria, a ‘cultura crioula’, que se caracteriza essencialmente por um sentimento de singularidade.
Cabo Verde é definido como um Estado-Nação, em oposição à situação predominante da heterogeneidade da
maioria dos países africanos, onde a sociedade compreende a existência de inúmeros grupos étnicos ou diferentes religiões e culturas (Graça, 2005). Esta realidade implica que os grupos humanos constituintes da sociedade no Estado-Nação, confinados a um mesmo território, se “reconheçam como pertencentes essencialmente a um poder soberano que deles emana e que os expressa” (Châtelet, Duhamel e Pisierkouchner, 1985: 85). Na concepção de Boaventura Santos (1995: 105-109), o Estado-Nação é o conjunto da sociedade, situado num território, com fronteiras geográficas e politicamente reconhecidas, envolvendo a sociedade civil, enquanto domínio da vida económica, das relações sociais espontâneas orientadas pelos interesses privados, em que a demarcação de fronteiras e, consequentemente, do território representam um quadro institucional e societário através do qual o poder é exercido.
2. O objecto de estudo e sua problemática
O objecto de estudo acerca da construção da identidade e do Estado em Cabo Verde levanta questões importantes quando analisadas à luz da existência de um Estado e de uma nação, sendo aquele uma criação recente.
A questão da homogeneidade em oposição à heterogeneidade identitária persiste na discussão entre os investigadores em torno da demonstração das diferentes possibilidades de compreensão do assunto, aplicado ao caso de Cabo Verde, cujos parâmetros de análise partem da especificidade do arquipélago nas origens da sua formação identitária.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
65
Existe um conjunto de categorias que remetem para a utilização de conceitos diferenciados, relativamente à identidade. Ora incidem na identidade colectiva e social, bem como na essência e no sentimento da sua singularidade, ora recaem na identidade propriamente dita e dizem respeito a grupos sociais, geográficos e étnicos. Estas categorias referem-se a estudos antropológicos que também apontam para a identidade vivida e identidade atribuída, evidenciando a dimensão histórica e relacional de um Estado, sobretudo com outros Estados, particularmente presente nos estudos das Relações Internacionais. A construção da identidade nacional “É precisamente um processo que se leva a cabo em contraste dialógico com os demais, uma operação baseada no jogo de semelhanças e diferenças” (Moreira, 2011: 40).
É em torno dos conceitos da identidade, Estado-Nação e cultura, que o presente estudo se centra, nomeadamente no reconhecimento do que o conceito de identidade incorpora, relativamente às representações de Cabo Verde e dos cabo-verdianos sobre si próprios e sobre os outros sendo, neste sentido, construída numa dinâmica de interculturalidade, na qual intervêm as próprias representações de si e o olhar do outro. Hernandez (2002) detalha, de forma pormenorizada, a construção do Estado-Nação em Cabo Verde, perspectivando um conjunto de elementos que estiveram por detrás da edificação do Estado-Nação e da respectiva importância que a luta contra a opressão da colonização teve neste processo. Como sinal de uma certa autonomia, refere os conceitos de educação, miscigenação e emigração, assim como, o processo da luta e o desenho para a libertação nacional.
A formação da identidade cabo-verdiana e o nascimento do Estado em Cabo Verde decorre de factos históricos e de movimentos culturais, bem como da construção da consciência nacional e da nação e a ideia de ser cabo-verdiano. Cabo Verde é constituído por “ilhas desertas, verdadeiramente achadas pelos portugueses, tudo aqui foi criação subordinada ao princípio da síntese de culturas, porque longe estavam dos seus meios originárias os homens de todas as etnias que vieram fundir no cabo-verdiano português” (Moreira, 1962: 140).
Revela-se fundamental reconstruir o caminho histórico de afirmação da ideia de nação e do Estado em Cabo Verde, de forma a descobrir novas perspectivas sobre a problemática da construção da identidade e do Estado, sendo que o ponto de partida para este estudo se refere ao conjunto de hipóteses frequentes sobre estes assuntos: [1] A noção de Estado-Nação sugere a ideia de uma sociedade, onde os factores homogéneos predominam sobre os factores heterogéneos. Para tal é necessário que sejam contextualizados os processos e as experiências históricas que marcaram a formação deste povo no sentido de descrever, analisar e explicar, diacrónica e sincronicamente, como se processou a formação da identidade e, posteriormente, a construção do Estado em Cabo Verde; [2] O conceito Estado-Nação, mesmo com o peso dos factores heterogéneos, que contribuíram para a formação da sociedade cabo-verdiana, permite considerar Cabo Verde como um Estado-Nação.
Em Cabo Verde, os factores homogéneos predominam sobre os heterogéneos, e os conceitos de identidade e de construção do Estado afiguram-se como centrais, possibilitando uma melhor compreensão
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
66
das especificidades do processo de formação da Nação. Furtado (2009: 14) salienta a hegemonia da identidade mestiça. Centrando-se no campo da luta da imposição de princípios identitários, pressupondo a pertença grupal, identificada como mestiço cabo-verdiano, idealizando o todo como uma nação, apagando as diferenças sociais e étnico-raciais.
Nisto, leva-se em linha de conta um conjunto de elementos socioculturais, geográficos e territoriais singulares que permitirão, de forma clara, caracterizar e descrever os factores relativos à construção da identidade e do Estado em Cabo Verde. Ao referenciar a construção da identidade, com destaque para a identidade colectiva, deveremos considerar duas grandes vias nesta construção, isto é, a singularidade e a autenticidade. Entretanto, “mesmo nas sociedades mais homogéneas, onde os comportamentos individuais fogem menos das normas de conduta estabelecidas pela tradição, nunca se observa uniformidade absoluta” (Dias, 1958: 21).
3. Acerca dos objectivos, quadros conceptuais e incidência da pesquisa
Os objectivos gerais contribuem para o aprofundamento de um estudo sistematizado sobre a construção da identidade, visando verificar como, efectivamente, se processou a formação do Estado-Nação em Cabo Verde, especificamente, tentar descrever os processos de estruturação social e económico cabo-verdiano nos séculos XVI e XVII; analisar as particularidades acerca da construção da identidade em Cabo Verde à luz dos paradigmas históricos e sociológicos
e explicitar os principais elementos culturais estruturantes da identidade cabo-verdiana; caracterizar as etapas do processo de independência como trajectória na edificação do Estado em Cabo Verde e compreender o debate contemporâneo em Cabo Verde sobre o dilema identitário para uns e ajustamentos históricos coerentes, para outros, da relação especial com a Europa e simultaneamente a integração regional em África.
Os quadros conceptuais e metodológicos de análise acerca das questões identitárias devem permitir a adopção de uma tripla linha de análise: histórica, sociológica e política. As linhas metodológicas atrás enunciadas permitirão o alcance de resultados que terão particular interesse servindo as explicações históricas como base para a compreensão da génese da identidade cabo-verdiana. Daí se insistir na pertinência de se examinar como se processou a formação do Estado-Nação em Cabo Verde, tendo em conta a necessidade da sua demonstração empírica, o que torna necessária uma análise crítica, consistente e passível de ser validada do ponto de vista científico.
Um estudo desta natureza privilegia uma incidência predominantemente histórica e sociológica, com um olhar simultaneamente holístico, realçando sobretudo a questão da identidade que o tema levanta, podendo ser enquadrado, por isso, no âmbito dos estudos dos factos sociais, no sentido de possibilitar a capacidade crítica para a compreensão e explicitação dos conceitos em torno da construção da Nação em Cabo Verde.
O conhecimento histórico foi e é compreendido como um processo a partir das relações sociais, sendo que se verifica, por vezes, a inexistência
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
67
de análises de conjunto sobre a configuração identitária cabo-verdiana. Tal situação justifica esta leitura sob diferentes pontos de vista, existindo apenas contribuições parcelares, referindo-se, muitas vezes, a realidades específicas que não permitem uma imagem de síntese.
4. Uma proposta de modelo teórico de análise
Propomos um modelo teórico de interpretação discursiva entre os teóricos, historiadores e intelectuais, no que diz respeito à identificação dos factores homogéneos e heterogéneos, relativamente à construção da identidade e do Estado-Nação em Cabo Verde.
Segundo o modelo teórico que sugerimos, a investigação segue uma linha metodológica, que auxilia na compreensão da problemática em relevo, assentando na pesquisa documental, principalmente de fontes escritas e de memórias literárias, e também baseada na recolha de informações, através de entrevistas a diferentes personalidades, constituindo elementos-chave na elucidação das questões inerentes à construção da identidade e do Estado-Nação em Cabo Verde.
Numa primeira análise, é possível constatar, no debate entre os intelectuais cabo-verdianos, aqueles cujo pensamento tende a se identificar com a raiz africana (nativistas e nacionalistas) e aqueles que se propõem a identificar-se com a matriz europeia (claridosos). Neste sentido, procura-se identificar e descrever as dimensões históricas, sociais, políticas, económicas, culturais e linguísticas, no sentido de analisar os factores homogéneos e
heterogéneos que estão presentes na definição da configuração identitária e do processo de construção do Estado-Nação em Cabo Verde.
O programa identitário sobre a construção da nação, levantado pelos intelectuais cabo-verdianos, nativistas, nacionalistas ou claridosos, centra-se essencialmente na emergência do processo de “mestiçagem”, o qual exige um quadro conceptual próprio. Fernandes (2002:12-13) apresenta uma incursão centrada, principalmente, em torno das disputas em Cabo Verde, nomeadamente entre o “colonizador” e o “colonizado” que, consequentemente, conduziram a tensões, que acabaram por desembocar em outras disputas: por um lado, o etnocentrismo e, por outro, o africanismo. O resultado dessa disputa permitiu que as elites cabo-verdianas formulassem explicações, forjadas a respeito do processo identitário, no processo da organização e formação da “sociedade mestiça”, centrada no debate acerca de pensamentos e estruturas hierárquicas entre o colonizador e o colonizado.
A cultura cabo-verdiana manifesta-se nas diferentes formas de expressão musical, literária, com especial destaque para a poesia, dança, artesanato e gastronomia, que se caracterizam por um cruzamento de elementos europeus e africanos. A este respeito, muito tem sido discutido no sentido de se tentar compreender se Cabo Verde se aproxima mais do continente africano ou europeu. Reconhecendo a raiz da cultura cabo-verdiana, Mariano (1959: 40) vislumbra o carácter singular que a cultura cabo-verdiana conquistou ao longo do tempo. Para o autor, é precisamente nas circunstâncias do “contínuo aumento da mestiçagem, a ascensão económica, a aristocratização intelectual, o prestígio
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
68
social” que foi possível o alastramento a todo o arquipélago, alastramento tanto horizontal como vertical, de expressões de cultura mestiça formadas possivelmente no funco; assim o folclore poético, musical e novelístico; assim a culinária, assim os motivos de recreio; o folclore de adivinhas, dos provérbios, assim os festejos populares; as superstições, os hábitos, os esquemas de comportamento.
Anjos (2003: 581), por seu torno, acrescenta que na multiplicidade das etnias presentes no povoamento do arquipélago de Cabo Verde, a sua consequente diluição teria dado origem a uma nova sociedade e a uma nova cultura. Considera pois que a violência física e simbólica, que destruiu grande parte da memória étnica dos escravizados, tem sido lida pelos intelectuais cabo-verdianos como “fusão cultural de europeus e africanos”.
O processo de identificação do povo cabo-verdiano é constituído por importantes fontes de legitimação dos modelos identitários proferidos pelos intelectuais nativistas, claridosos e nacionalistas. Fernandes (2006), ao revistar a génese da Nação crioula, demarca o surgimento do nacionalismo cabo-verdiano e os contributos das elites intelectuais cabo-verdianos na sua criação e robustecimento, nomeadamente as gerações dos nativistas, dos claridosos e dos africanistas. Acrescenta Brito-Semedo (2006: 194) que, o processo da construção da identidade cabo-verdiana, está associado às características sociais e políticas diferentes, dividindo-se em três etapas distintas: a do sentimento nativista, que vai desde 1856 a 1932; a da consciência regionalista, de 1932 a 1958, e a da afirmação nacionalista, desde 1958 até 1975.
Contudo, numa análise antropossociológica, a identidade cabo-verdiana começa a delinear-se (ou a tomar forma) já no século XV, nos primórdios do povoamento, sobretudo como resultante do contacto entre o colonizador e o colonizado. É no final do século XIX que a identidade cabo-verdiana se afirma, com a subsequente afirmação dos “filhos da terra”, o que “teve um peso preponderante na formação e estruturação da sociedade cabo-verdiana” e que obrigou “a sociedade insular a viver numa introversão ao nível da elite que criou a base do que hoje é a nação cabo-verdiana” (Cabral, 2002: 273).
É possível, através de uma investigação pormenorizada, desconstruir os pensamentos cravados em memórias literárias que, ao longo de algumas décadas, serviram como elementos para a problematização de várias temáticas desenvolvidas no seio da academia e da literatura cabo-verdiana.
A formação dos processos sociais em Cabo Verde não só se inscreve num momento preciso e actual, como permite recuar a décadas para a compreensão da história neste país. Porém, a história necessita de um certo distanciamento crítico, quanto ao seu objecto, sendo, para isso, necessário investigar e interpretar, com uma certa “criticidade”, os acontecimentos, resgatando a memória, e, ampliando, assim, a compreensão do actual processo de configuração identitária cabo-verdiana.
A construção, ou mesmo a formação destes processos sociais, constituem elementos que fundamentam os fenómenos observados, que se encontram em suporte documental
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
69
escrito, e no recurso a memórias literárias, no sentido de se identificar lugares, personagens, costumes, impressões e experiências relatadas pelos seus actores.
Os factos deverão ser analisados de forma aprofundada e consistente, possibilitando a construção de um objecto de conhecimento, e este objecto de conhecimento “nunca está dado por antecipação, não se impõe nunca de uma maneira unívoca: ele é sempre construído.” (Campenhoudt, 2003: 65). Muitas das opiniões, atitudes, comportamentos, realizações e outros factos que podem ser “tema de estudo são objecto de sentimentos poderosos que podem levar a opor vivas reacções à curiosidade exterior” (Barata, 1974: 147-148).
Procura-se, neste caso, explicar todo um conjunto de elementos exteriores ao indivíduo e aplicáveis a toda a sociedade, capazes de condicionar ou, até, de determinar as suas acções e seguir a natureza deste objecto construído. De facto, essa realidade engloba características sociais e históricas relevantes na estruturação e construção do objecto de conhecimento.
Os factos históricos aqui mencionados dizem respeito não somente a acontecimentos que pertencem a um passado mais próximo ou distante, podendo assumir-se de carácter material ou mental, nos quais se apercebem as mudanças ou permanências ocorridas na vida colectiva de uma determinada sociedade, mas também podem constituir-se em acções realizadas pelos seres humanos e pelas suas colectividades, que envolvem diferentes níveis da vida em sociedade. “Um facto denomina-se histórico quando pertence ao passado e deixou vestígios de si mesmo
em documentos. Os factos passados, mas de que se não guarda memoria alguma, são, na prática, factos inexistentes. Não interessam mais à humanidade. Podem porém, construir objecto de investigação e de hipóteses” (Rego, 1951: 9-10). Do ponto de vista metodológico, a História não se (re) constrói apenas com documentos escritos, mas também com a tradição oral cientificamente recolhida e analisada. No caso africano, esta (re) construção confronta-se com uma enorme escassez de estudos documentados. Para ultrapassar esta dificuldade, Jan Vansina, nos anos 50, começa a utilizar o método científico da recolha de informação da tradição oral. “Na verdade, foi um europeu, Jan Vansina, que apetrechou a nova História da África com uma das suas principais bases metodológicas: a recolha e análise da tradição oral” (Graça, 2005: 32).
No contexto cabo-verdiano, procura-se, em muitos casos, recuperar os aspectos da vida quotidiana considerados como bens culturais, como lugares de memória e como património imaterial, numa perspectiva do homem como um ser social e dinâmico. Devemos aqui ressaltar que se pretende proceder a uma leitura explicativa e ao estudo interpretativo dos padrões sociais e culturais, permitindo a reprodução do modelo, no qual se integra a construção da identidade e do Estado-Nação em Cabo Verde. É possível constatar que os intelectuais cabo-verdianos procuram explicar as influências que estiveram na base da sua cultura a partir de duas realidades: a primeira, através da cultura local e regional, e a segunda, através da cultura oriunda do exterior. Tais contactos e simbioses revelam relações e trocas complexas de diferenças, afirmadas e reafirmadas na assimilação, que redunda numa certa “mestiçagem” de influências europeias
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
70
e africanas, num processo dinâmico.
A formulação do problema consiste em mencionar de que maneira, de forma explícita, clara, compreensível e operacional, se pretende identificar, resolver e ultrapassar as dificuldades com as quais nos defrontamos, limitada num campo de pesquisa, consequentemente apresentando as características inerentes (Carvalho, 2002: 109). Isso requer um aprofundamento do campo de investigação, no qual tentamos ultrapassar as dificuldades encontradas e responder às questões anteriormente colocadas.
O caminho de uma “viagem pela memória” procura explicar o significado da identidade cabo-verdiana, sendo ela complexa e dinâmica, marcada, nos dias de hoje, pela adopção de técnicas e padrões de consumo, que têm como ponto de chegada a expressão dos marcos da diversidade dos hábitos sociais e culturais típicos de Cabo Verde.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
71
Referências bibliográficas Anjos, J. C. dos (2003). Elites intelectuais e a conformação da identidade nacional
em Cabo Verde. Estudos Afro-Asiáticos, Ano 25, Nº 3, pp. 579-596.
Barata, O. S. (1974). Introdução às Ciências Sociais. 7ª Edição, vol. I, Amadora: Bertrand Editora.
Brito-Semedo, M. (2006). A Construção da Identidade Nacional. Análise da Imprensa entre 1877 e 1975. Praia: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro.
Cabral, I.M. (2002). Política e Sociedade: Ascensão e queca de uma elite endógena. In M.E.M. Santos (Org.), História Geral de Cabo Verde, volume III, (pp. 235-326). Lisboa/Praia: IICT/IIPC.
Campenhoudt L. V. (2003). Introdução à Analise dos Fenómenos Sociais. 1ª Edição, Lisboa: Gradiva.
Carvalho, E. (2002). Metodologia do Trabalho Científico: “Saber-fazer” da Investigação para Dissertações e Teses. Lisboa: Escolar Editora.
Châtelet, F., Duhamel, O., & Pisierkouchner, E. (1985). História das Idéias Políticas. Rio de Janeiro: Zahar.
Dias, J. (1958). Introdução ao Estudo das Ciências Sociais. In Colóquios Sobre a Metodologia das Ciências Sociais, (pp. 11-27). Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, Centro de Estudo Políticos e Sociais.
Fernandes, G. (2002). A diluição da África: uma interpretação da saga identitária cabo-verdiana no panorama político (pós) colonial. Florianópolis: UFSC.
Fernandes, G. (2006). Em busca da Nação: Notas para uma reinterpretação do Cabo Verde crioulo. Florianópolis: UFSC.
Filho J. L. (2003). Introdução à Cultura Cabo-verdiana. Praia: Editora Instituto Superior de Educação de Cabo Verde.
Furtado, C. (2009) Raça, Classe e Etnia nos Estudos sobre e em Cabo Verde: As marcas do silêncio. Chicago: Universidade de Chicago.
Graça, P. B. (2005). A Construção da Nação em África. Coimbra: Almedina.
Hernandez, L. L. (2002). Os filhos da Terra do Sol: A formação do Estado-Nação em Cabo Verde. São Paulo: Sammus.
Mariano, G. (1959). Do funco ao sobrado ou o “mundo” que o mulato criou. In Colóquios Cabo-verdianos, nº22. Lisboa, Junta de Investigações do Ultramar.
Moreira A. (1962). Partido Português. Lisboa: Livraria Bertrand.
Moreira, C. D. (2011). Identidade e pluralismo. In M. de F. Amante (Coord.). Identidade Nacional: Entre o discurso e a prática, (pp. 37.45). 1ª Edição, Porto: Fronteira da Caos Editores & CEPESE.
Rego, A. da S. (1951). Noções de Metodologia e Critica Históricas. Lisboa: Gabinete de Estudos Ultramarinos – Centro Universitário de Lisboa (MCMLI).
Santos, B. De S. (1995). Pela Mão de Alice: O Social e o Político na Pós-modernidade. São Paulo: Cortez.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
73
A INVESTIGAÇÃO FILOSÓFICA SObRE AS TEORIAS E AS PRáTICAS FORMATIVAS
Carlos Bellino SacaduraUniversidade de Cabo Verde
Resumo
Este estudo incide sobre a problemática da formação, reflectindo sobre as teorias e práticas formativas numa perspectiva filosófica. Em vez de se limitar a formação à aquisição de competências cognitivas e técnicas adequadas à produção e aos mercados, procuram-se os seus fundamentos antropológicos, ontológicos, éticos, axiológicos e sociais.
Palavras-chave: Formação, narrativa, Paideia, Bildung, educação, valores, antropologia, construção, humanismo.
Abstract
This study deals with the problematic of formation, reflecting upon formative theories and practices in a philosophical approach. Instead of a limited view of formation based upon the acquisition of cognitive and technical skills adequate to markets and production needs, we intent to search for its anthropological, ontological, ethical, axiological e social grounds.
Keywords: Formation, narrative, Paideia, bildung, education, values, anthropology, construction, humanism.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
74
1. As metanarrativas legitimadores dos projectos de formação
Este estudo incide sobre as vias para um alargamento do campo da investigação em torno da problemática educacional, que tende actualmente a limitar-se à sua vertente científica e técnica, a outras dimensões como a estética, narrativa, ontológica, ética e axiológica. O seu objetivo é o de passar de um paradigma unidimensional da teoria e prática da educação, ou de um paradigma monológico – uma única visão da racionalidade, tecnocientífica e instrumental – a um paradigma da complexidade e pluralidade de modos de investigar, transmitir e construir o conhecimento, os quais constituem o que poderia designar-se como uma galáxia educacional.
Esta unidimensionalidade, e a tendência actual para a globalização de um paradigma monológico hegemónico, na visão da realidade educacional resulta de um processo que se torna patente com a emergência do modelo positivista de racionalidade e ciência, mas cujas raízes remontam às origens da ciência e filosofia modernas, quando se constituíram os modelos cartesiano e galilaico de racionalidade. A partir destes, os fundamentos da cultura e educação humanista, assentes num modelo retórico-argumentativo do saber e do ensino, são confrontados por uma cultura assente no rigor da demonstração científica e da linguagem matemática, na qual se encontrava, segundo a célebre analogia entre o Universo e um livro, escrito o livro da Natureza. Husserl iria caracterizar a crise do mundo moderno a partir desta separação entre o mundo da vida concreta e qualitativa, no qual decorre a nossa existência, e o mundo
abstracto e quantitativo da ciência, que tinha Galileu como modelo. Embora tenha havido uma evolução no campo científico, esta dicotomia assinalada por Husserl marca também os tempos atuais, com a divisão entre as duas culturas – tecnocientífica e humanística -, afirmando-se uma tendência hegemónica da primeira na construção da teoria e prática educacional.
A pós-modernidade caracteriza-se, segundo Jean-François Lyotard, pelo fim das grandes narrativas (ou metanarrativas) de legitimação do saber, do poder, das instituições, da cultura, da educação, e dos valores vista como algo inédito na história. No campo educacional, da Antiguidade à Modernidade, as mutações civilizacionais assinalaram aquilo que o filósofo e historiador da ciência designaria como mudanças de paradigma, na sequência das quais novas metanarrativas substituíram as anteriores, mantendo-se assim uma tensão essencial entre tradição e inovação. Podemos situar essas narrativas na história, designando-as como antiga (referida à Antiguidade Clássica), medieval e moderna, remetendo a contemporaneidade para um espaço de questionamento da possibilidade de construção de uma ideia, paradigma ou narrativa global da educação.
2. A formação como paideia
Diversamente do campo tecnocientífico, no qual o progresso invalida teorias ou práticas inerentes a um tempo determinado, os saberes de tipo humanístico, como a educação, têm uma relação com o contexto histórico onde se formaram, mas podem também constituir o que Ricouer designa como uma tradição viva, abrindo espaços
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
75
de reflexão no presente. Pode-se começar por referir uma das tradições mais significativas na história da educação, a platónica. Platão, embora inserido no contexto do mundo antigo helénico, desenvolveu uma abordagem da educação à qual atualmente se chamaria de sistémica, não incidindo numa abordagem ligada apenas a um domínio específico, mas a uma visão de conjunto, que ainda hoje distingue a perspetiva filosófica da meramente técnica. A educação envolve uma vertente axiológica, ética, política, estética, ontológica, epistemológica, metodológica, antropológica e, como visão articuladora de todas estas dimensões, filosófica. Nestas vertentes, detectam-se os núcleos das actuais disciplinas, mas a sua inscrição num sistema filosófico global impedia a sua separação.
A educação para os valores é hoje, num tempo onde as referências a uma crise de valores são cada vez mais frequentes, um campo fundamental da teoria e prática educacional. Platão considerava os fins da educação a partir da sua orientação para um conjunto de valores estruturados em Formas, Ideias, Essências ou Arquétipos: as Ideias de Bem, Beleza, Verdade e Justiça, configuradoras da educação ética e estética, da sabedoria e da vida social. No Banquete, o amor (Eros) impulsiona-nos em direcção à beleza como forma inteligível e ao Ser para lá das aparências sensíveis, impelindo-nos a ser mais – expressão usada por Paulo Freire no âmbito da sua Ontologia educacional. A célebre Alegoria da Caverna exprime, metaforicamente, esta ascensão das sombras do mundo sensorial até à luz das Formas.
Outro eixo actual da problemática educacional do qual Platão se
apresenta como precursor é o da cidade educadora, na medida em que a educação só atinge os seus fins numa comunidade orientada pelas ideias de Bem e Justiça, expostos na República. Esta obra constitui também a primeira utopia política, ética e educacional, equacionando a tensão entre o ser e o dever-ser que constitui um horizonte actual de reflexão. Mas o conceito porventura mais importante que a Grécia Antiga legou à história e filosofia da educação é o de Paideia, presente no mundo helénico anteriormente a ele, mas plenamente desenvolvido na sua obra. Para Werner Jaeger, Platão foi “(…) o verdadeiro filósofo da Paideia, (…) o primeiro a encarar a essência da filosofia como formação de um novo tipo de Homem.” (Jaeger, 2006: 441) A actualidade do pensamento de Platão reside nesta ideia de educação como projecto simultaneamente pedagógico, social e antropológico: “O que podemos reter desta herança platónica de um pensamento pedagógico e social reformista é o espírito integrador que o enforma, na circularidade e interacção estabelecida entre uma reforma filosófica, dos métodos e ideias pedagógicos, e da estrutura sociopolítica da cidade.” (Sacadura, 2011: 184-185)
O conceito de Paideia envolve as dimensões da cultura, formação e educação, do pensar e do agir humano, ou seja, da teoria e da praxis, do Logos – razão, ciência, discurso, argumentação, e do Ethos humano. No mundo romano antigo, última expressão da Antiguidade Clássica, este ideal seria retomado no ideal formativo da Humanitas, ligado ao estudo das humanidades clássicas. O que mais se aproxima hoje desta visão inclusiva da Paideia e da Humanitas, é a perspectiva de Edgar Faure sobre os objectivos da educação, visando o saber, o saber-fazer e o saber-
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
76
ser, aos quais juntaria o saber viver em comum, em espaços de partilha, aceitando a diversidade cultural. Inversamente, o aspecto que mais afasta o platonismo do mundo hodierno é o seu essencialismo, apresentando como modelo de inteligibilidade as essências imutáveis e eternas que retomam a visão de Parménides sobre a verdade e o conhecimento como permanência. A modernidade veio trazer o triunfo do devir heracliteano sobre a permanência parmenideana-platónica, e a contemporaneidade viria ainda acentuar mais o movimento, com a aceleração da história e o reinado da velocidade de circulação no espaço físico ou virtual. Também a ideia de educação visando formar uma aristocracia intelectual, desenvolvida na República, está nos antípodas da moderna democratização do conhecimento, e, mais ainda, da tendência actual para a sua massificação. Outra vertente da ruptura entre antigos e modernos é a do primado da theoria (contemplação) nos primeiros, e da praxis (acção) nos segundos – começando a educação a guiar-se, tanto pelo ideal do conhecimento científico, como pela vontade de domínio técnico da Natureza, que tornaria o conhecimento, não apenas numa forma de saber, mas também de poder, de acordo com a formulação de Francis Bacon: Knowledge is power – conhecimento é poder. Pode-se ainda referir a indistinção, nos antigos, entre o indivíduo e o cidadão, sendo no segundo que se realizam todas as potencialidades do primeiro, de acordo com a definição aristotélica do Homem como zoon politikon (animal político), o que conduz todo o processo educativo a ser concebido como uma educação para a cidadania. A liberdade dos antigos desenvolvia-se na comunidade, na Polis, enquanto a dos modernos implica a autonomia individual, levando a uma
educação para a autonomia como ideal pedagógico moderno, e a uma passagem do comunitarismo dos antigos ao liberalismo dos modernos.
Para a interpretação seguida neste estudo, importa sobretudo indicar o modo como o mundo antigo já apresentava uma metanarrativa da educação, na qual esta se assumia como instância formativa do ser humano, enquanto formação orientada por um conjunto harmónico de saberes e valores que mereceriam de Hegel a designação de bela totalidade helénica. A Paideia seria o conceito articulador das múltiplas instâncias envolvidas na educação, da metodológica à antropológica, ontológica, estética e ética. Se o conhecimento construído e transmitido na Universidade actual não for apenas disciplinar-especializado ou técnico-profissional, mas formativo, deverá retomar, em conteúdos e formatos diferentes, este ideal humanístico, constituindo uma forma de Paideia contemporânea, que poderia assumir os contornos da visão transdisciplinar do conhecimento proposta por Edgar Morin: se não podemos hoje conceber uma unidade do saber a partir do sistema de um pensador capaz de reunir em si todo o conhecimento, como Platão ou Aristóteles na Antiguidade, Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino na Idade Média, Marcilio Ficino ou Pico della Mirandola no Renascimento, podemos religar os conhecimentos dispersos sob a forma de uma nova enciclopédia, mais próxima do questionamento, da interrogação e do inacabamento socrático, do que de qualquer pretensão a um Saber Absoluto de tipo hegeliano.
3. A formação como bildung
Perante a emergência da modernidade apercebemo-nos dos limites, mas também do potencial pedagógico do conceito de
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
77
Paideia. Como conceber a educação como formação, num contexto onde o movimento se sobrepõe à estabilidade, as aspirações individuais afirmam-se para lá dos condicionamentos sociais, cresce o reconhecimento da diversidade, e a incerteza questiona os conceitos e referências tradicionais, que pareciam solidamente estabelecidos? O conceito de Bildung pode preencher estas novas condições da formação. O potencial formativo do ser humano, ou a sua educabilidade, seria definido, desde o iluminismo, pelo conceito de perfectibilidade - a afirmação de que o homem só se torna humano através da educação, só por esta o seu potencial se torna real. Na teoria e prática da educação como Bildung, esta perfectibilidade identifica-se com a formabilidade. Implicando um conhecimento enciclopédico, e não apenas especializado, entendendo-se a formação tanto no plano intelectual como ético – características herdadas da Paideia helénica -, mas acentuando a historicidade e singularidade humanas.
O conceito de Bildung permite-nos pensar a razão pedagógica e a experiência educacional de acordo com os paradigmas de investigação mais avançados, porque não as considera como um dado, mas como uma construção pessoal, social e cultural. O construtivismo atravessa toda a era moderna e contemporânea, incidindo desde o âmbito epistemológico, ao pedagógico, social e ético. Com Kant, o conhecimento torna-se num processo, implicando uma vertente receptiva, onde se recebem as sensações, e construtiva, quando estes dados são organizados, primeiro pelo espaço e tempo, depois pelos conceitos e categorias. O construtivismo epistemológico em educação foi desenvolvido por Jean Piaget, integrando as aquisições da
Psicologia e Biologia contemporâneas. A sociedade moderna deixa de obedecer às hierarquias fixas, passando cada um a ter o direito de procurar o seu lugar próprio na estrutura social. A ética torna-se mais pessoal e ligada a um percurso autónomo. A Bildung é um conceito integrador destas instâncias, permitindo conceber tanto a autonomia como a relação, a formação individual como a social, escapando assim tanto ao individualismo como ao colectivismo.
A obra de Kant é um expoente desta concepção da dignidade humana assente no saber e, acima deste, do ser moral. Pode-se fazer uma interpretação das duas Críticas de Kant – a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática - como precursoras de um afastamento entre o saber e o viver, a ciência a ética, o mundo dos fenómenos conhecido através das leis físicas e o mundo moral inscrito numa dimensão numénica ou metafísica. Porém, esses dois mundos são parte de um sistema, uma razão arquitectónica que de algum modo os liga. Quando Kant afirma que há duas coisas que o enchem de espanto e admiração – segundo Aristóteles, os pontos de partida da indagação filosófica –, o céu estrelado acima dele, e a lei moral nele, enuncia o que poderia considerar-se como um projecto de educação através das ciências e da ética, das dimensões teorética e prática da razão, embora sem confundir os respectivos âmbitos. Inversamente, a visão positivista de Comte tendeu a erigir a física, como ciência mais avançada do seu tempo, em modelo para toda a educação, enquanto o neopositivismo prossegue este projecto, embora o seu conceito de ciência e de unidade das ciências passe a adoptar uma forma lógico-matemática e analítica – análise da linguagem e do significado. Esta hegemonia do pensamento científico
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
78
passa hoje a ser ocupada pela educação tecnológica, sendo a relevância da ciência avaliada pela sua aplicabilidade técnica. A dimensão formativa do processo educativo – a educação como Bildung - tende assim a perder-se, assim como a sua dimensão sistémica, a da pluralidade de instâncias formativas, substituída por uma concepção unidimensional e instrumental do ser humano denunciada pelo filósofo Herbert Marcuse.
Alguns projectos filosóficos podem contribuir para o desenvolvimento de uma Bildung contemporânea. Gilles Deleuze é um autor que segue na esteira do processo de formação como construção de si mesmo – através do conhecimento científico, da arte e da filosofia, ou seja, uma educação como construção epistémica, estética e filosófica do ser humano (Cf. Deleuze, 2001). Remonta às origens da filosofia e da ciência, quando os filósofos pré-socráticos procuram compreender a origem do Universo como cosmos (ordem), rompendo com o caos (desordem) inicial. O pensamento afronta o caos ordenando, organizando, estruturando, ou dando forma ao Universo caótico, mas essa ordem nunca é total ou definitiva, e é por isso que a ciência, a arte e a filosofia se identificam com a procura, com um processo nunca acabado. O pensamento não corresponde a uma ordem estável, mas a um movimento, um devir, um dinamismo.
4. Da crítica da razão pedagógica à formação sistémica
Se a filosofia é uma propedêutica do pensamento, ou seja, anteriormente aos tipos de pensamento implicados nas diversas ciências/disciplinas,
ensina a pensar, este ensino é mais uma dinamologia – conceito proposto por Gaston Bachelard – do que um processo de aprendizagem de conceitos já constituídos. Pensar num mundo como o actual, marcado pela instabilidade, pela incerteza, mudança, risco, as formas de pensar e ser exigem de nós uma capacidade construtiva e criativa. Esta capacidade é então um processo de construção do saber, segundo vários níveis de investigação, assim indicados por Pedro Demo: “Um primeiro nível ou interpretação reprodutiva, que implica a capacidade para sintetizar, sistematizar e reproduzir o conhecimento adquirido. Um segundo nível ou interpretação própria, quando se confere ao conhecimento um formato interpretativo pessoal. Um terceiro nível ou reconstrução, no qual a aquisição de conhecimentos é apenas um ponto de partida para os refazer ou reconstruir. O quarto nível ou construção implica tomar o que existe como simples referência e abrir caminhos novos. O quinto nível é o da criação e descoberta, implicando a introdução de novos paradigmas metodológicos, teóricos ou práticos.” (Demo, 1996: 40-41)
Este último nível está ligado tanto ao percurso pessoal do investigador como ao das equipas e instituições que integra, correspondendo ao trabalho das comunidades científicas estudado por Thomas Khun no âmbito das ciências experimentais, mas que se pode alargar ao das diversas comunidades intelectuais, como a filosófica, jurídica ou sociológica. Estas etapas constituem um percurso de construção de si do investigador, mas também do formador e dos objectivos da formação, vistos habitualmente como visando a aquisição de determinadas competências, métodos, conhecimentos e técnicas a transmitir e avaliar. Em vez desta visão passiva do
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
79
conhecimento, os novos paradigmas de formação decorrentes da complexidade do mundo actual introduzem nestes a reflexividade, criticidade e criatividade: “Pesquisar é trabalhar com a dúvida, que é o seu pressuposto básico. (…) Os conhecimentos construídos são sempre provisórios, não há certezas permanentes.” (Cunha, 1997: 83)
A dúvida que nos leva a questionar os conhecimentos e conceitos estabelecidos, estava presente na interrogação socrática e assumiu a sua forma moderna em Descartes, como dúvida metódica. O itinerário cartesiano de questionamento radical das formas de saber vigentes no seu tempo, desde as ligadas ao ensino e aos currículos adoptados, até aos fundamentos das ciências e do conhecimento, tornou-se paradigmático para toda a investigação. Mas o percurso que vai da dúvida à certeza, encerrando o itinerário de procura do conhecimento, tem hoje de ser reformulado e aberto a um questionamento sem fim ou busca inacabada, como a referida numa obra de Karl Popper sobre a sua vida e ideias.
A comunicação é uma dimensão essencial da educação, exercendo-se tanto na investigação como na docência. A publicação de um artigo, a apresentação de uma comunicação num encontro, são modos de ligar a pesquisa e a difusão do conhecimento, para além do ensino. Poderíamos, no entanto, distinguir a comunicação reprodutiva ou transmissiva da construtiva ou formativa. A primeira transmite informação e apela à receptividade do leitor ou do ouvinte, enquanto que a segunda apela ao diálogo, ao pensamento crítico, sendo uma forma de interpelação ao(s) leitor(es)/interlocutor(es), como co-participantes da construção de conhecimento. Neste sentido a reinvenção do paradigma
educacional implica algo comparável à revolução copernicana na teoria Kantiana do conhecimento. Esta operou uma mudança no conhecimento, que passou de receptivo – o conhecimento é determinado pelo objecto, pela experiência, limitando-se o sujeito a receber os dados das sensações experienciadas – a activo, quando é o sujeito que constrói, organiza, estrutura a experiência, tornando-a em conhecimento. Kant comparou esta recentração do conhecimento num sujeito activo, quando antes estava submetido ao objecto, à efectuada por Copérnico na astronomia, ao colocar o Sol no centro e situar a Terra na sua órbita. Na educação, esta revolução paradigmática consiste em os membros da comunidade académica – estudantes, investigadores e docentes – passarem a sujeitos do conhecimento.
Por outro lado, a comunicação não se limita ao âmbito da informação, como se poderia deduzir de uma visão restrita da actual sociedade da informação e comunicação. Em última instância, o que se transmite quando comunicamos são modos de vida, como se afirma nas Investigações Filosóficas de Wittgenstein sobre a linguagem. A comunicação entre mestre e discípulo na Antiguidade, e a relação pedagógica que a adapta às condições do presente, marcaram um certo esvaziamento actual da tradição comunicativa, visando uma conversão do olhar sobre o mundo e a vida, através da aprendizagem formativa. A experiência que se comunica na formação não é a do formador que a possui e transmite ao formando, não é algo prévio ao acto de ensinar e aprender, mas uma experiência que se constrói através de uma relação. Esse tipo de experiência desenvolve-se, por exemplo, na Fenomenologia do Espírito, onde Hegel reflecte sobre
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
80
a experiência da consciência, e as suas figuras ao longo da história. O romance de formação ou aprendizagem apresenta esta experiência como auto-formação, através das vivências do seu protagonista, tanto interiores, como em relação com o mundo em que vive e se vai descobrindo. Pertence tanto à literatura como à filosofia e pedagogia: o Emílio, de Rousseau, é um tratado de educação sob a forma de um romance de formação, onde descreve a aprendizagem de um educando imaginário, as experiências que o formaram. O Chiquinho, de Baltazar Lopes, é um romance de aprendizagem em contexto cabo-verdiano, no qual o personagem principal se forma em relação com o meio, a família, a escola, a sociedade, a amizade e amor. No romance de formação, “(…) a intenção educativa (…) organiza-se segundo um eixo cronológico, marcado pela experiências de uma vida. O Bildungsroman traça um itinerário iniciático onde a formação, a constituição das estruturas do ser, interessa mais do que a informação no sentido estrito do termo.” (Gusdorf, 1993: 850)
O que se articula nesta experiência é o agir, o pensar, o sentir, na pluralidade de dimensões constitutivas do ser humano, identificando-se a experiência formativa com o caminho para um crescimento do ser, um mais ser referido por Paulo Freire como finalidade da pedagogia, e por Mario Gennari como dimensão ontológica, o ser espiritual englobante de todas as sua outra facetas: “Sob o perfil biológico, histórico, social, afectivo, emotivo, psíquico, racional, crítico, cognitivo, moral, religioso, estético, corpóreo, sexual, cívico, poético, lúdico, deontológico, profissional e espiritual. O ser espiritual do sujeito é convocado pela formação a constituir-se como fundamento de uma unidade na
multiformidade e de uma poliedricidade na harmonia.” (Gennari,2006: 4413 [?])
Importa hoje pensar a educação tendo o ser humano e a sua formação humanística como fim, de acordo com o imperativo Kantiano de agir tendo o Homem como fim, e não como meio, como sujeito, e não como objecto. Se queremos dar um sentido e finalidade humana aos meios tecnológicos ao nosso dispor (incluindo as tecnologias de educação), temos de ultrapassar o esquecimento antropológico na educação referido por Oliveira Medeiros como base das formações de âmbito estritamente tecnocientífico (Cf. Medeiros, 2011: 109). Se a filosofia, segundo Deleuze, assume como sua a tarefa de criação de conceitos que nos permitam pensar e agir, hoje essa tarefa assume particular relevância no campo da educação, porque nos situamos – docentes, investigadores, estudantes ou conceptores das políticas e projectos educacionais – num contexto de mudança e transição paradigmática. Para todos esse actores da galáxia educacional, a Filosofia da Educação abre caminhos para “(…) a emergência de mundos, sentidos, valores e finalidades a construir, mediante a elaboração de novos conceitos e práticas educacionais, e da reelaboração do sentido dos que a sua história nos oferece, (…) não como uma herança a simplesmente manter, mas como uma tradição viva a reinterpretar.” (Sacadura, 2010: 44)
Para poder preparar uma mudança nos paradigmas de formação, pela qual se efectue a passagem “(…) do ensino concebido como transmissão de conhecimentos e competências (…) à sua concepção como processo de autodescoberta do potencial crítico, argumentativo e criativo do estudante” (Sacadura, 2012: 22), o nosso olhar sobre a educação tem ele próprio que
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
81
sofrer uma mutação redescobrindo o seu potencial antecipativo, onde se constroem futuros possíveis, para além da sua vertente adaptativa às condições do presente. O Homem é um ser situado no espaço e no tempo, num plano histórico e geográfico, assim como numa cultura e sociedade determinada. Mas também é um ser de projecto, esperança e criação – dimensões que uma educação formativa deve assumir.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
82
Referências bibliográficas
Bachelard, G. (1999). Le nouvel esprit scientifique. Paris: PUF.
Bacon, F. (1998). Ensaios. Lisboa: Guimarães Editores.
Cunha, I. (1997). Aula universitária: educação e pesquisa. Campinas: Papirus.
Deleuze, G. (2001). Qu´est-ce que la Philosophie? Paris: Minuit.
Demo, P. (1996). Educar pela pesquisa. Campinas: Autores Associados.
Freire, P. (2007). Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Gennari, M. (2006). Formazione, in Enciclopedia Filosofica. Milano: Bompiani.
Gusdorf, G. (1993). Le savoir romantique. Paris: Payot.
Jaeger, W. (s.d.). Paideia: a formação do homem grego. Lisboa: Aster.
Kant. I. (1980). Oeuvres philosophiques. Paris: Gallimard.
Khun, T. (2010). The structure of scientific revolutions. Chicago: Chicago University Press.
Lyotard, J. –F. (2008). La condition postmoderne. Paris: Minuit.
Medeiros, E. (2011). A educação como projecto de desenvolvimento integral. In Marcos Lorieri (Coord.), Perspectivas da Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez.
Reboul, O. (2009). La philosophie de l´éducation. Paris:PUF.
Sacadura, C. B. (2010). A dimensão ética da cultura pedagógica. in Adalberto Carvalho (Dir.), Limiares Críticos da Educação. Porto: Afrontamento.
Sacadura, C. B. (2011). Imaginação pedagógica e emancipação social. In Marcos Lorieri (Coord.), Perpectivas da Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez.
Sacadura, C. B. (2012). Itinerários estéticos da filosofia educacional. In Itinerários de Filosofia da Educação. Porto: Afrontamento.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
83
ARTE E EDUCAÇÃO: DA NECESSIDADE DE UMA EDUCAÇÃO ESTéTICA NA FORMAÇÃO DO JOVEM CAbO-VERDIANO
Elter Manuel CarlosUniversidade de Cabo Verde
Resumo
A deficiente educação estética na formação dos povos tem levado a uma deficiente compreensão global do fenómeno artístico. Não é menos verdade que este problema, também, se coloca ao cenário educativo cabo-verdiano. É necessária a presença de uma educação estética preocupada com a formação do gosto e da sensibilidade do cabo-verdiano. Uma educação que explore as potencialidades do sentir e da imaginação criadora das nossas crianças e jovens. E tal problemática merece atenção.
Palavras-chave: Educação estética, Formação, Cabo Verde, Criação artística.
Abstract
The poor aesthetic education in the training of people has led to a poor understanding of the global artistic phenomenon. It is no less true that this problem also takes place in the educational setting of Cape Verde. It is necessary to have the presence of an aesthetic education concerned with the formation of taste and sensitivity of Cape Verdeans. An education that explores the potential of feeling and the creative imagination of our children and youth. And this issue deserves attention.
Keywords: Aesthetic education, training, Cape Verde, artistic creation.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
84
As relações entre a arte e a educação não foram muito saudáveis ao longo dos tempos. Atravessa os tempos esta desconfiança da estética no cenário educativo. Platão condena a poesia e a arte em nome da fundação da sua Cidade ideal. Durkheim, muitos séculos após, e próximo da posição ambivalente de Platão, desconfia da arte na formação humana. É com a estética pós-kantiana, nomeadamente com Schiller e o Romantismo, que se dá o reconhecimento e a valorização da educação estética, embora no século XX (mais do que no século XIX), autores como H. Read venham a pôr em evidência a chamada “educação através da arte”, com vista a uma formação harmónica do ser humano, reconhecendo o valor que os componentes estéticos desempenham na educação. Esta problemática pode ser retomada em Cabo Verde. Pois, o pensamento cabo-verdiano é de matriz poético-literária, sendo uma necessidade vital dinamizar uma educação estética que se traduza numa valorização autêntica dessa razão poético-literária na formação do jovem e da criança cabo-verdiana. Se a presença de uma deficiente educação estética na formação dos povos tem levado a uma deficiente compreensão global do fenómeno artístico, não é menos verdade que este problema também se coloca ao cenário educativo cabo-verdiano. De facto, num momento histórico onde a criação artística é cada vez mais uma realidade visível no nosso país, torna-se urgente a presença de uma educação estética pujante, sob pena dessa criação artística continuar a desenvolver-se sem uma preocupação crescente com a formação do gosto por parte das crianças e jovens cabo-verdianos. Para isso, torna-se irrecusável reflectir sobre a necessidade de uma educação estética no cenário educativo cabo-verdiano, apelando para uma presença
real da arte como instrumento de educação e formação, sobretudo numa contemporaneidade educativa marcada pelo excesso de racionalismo, onde a escola, muitas vezes, acaba por se resumir a uma mera instituição transmissora de conhecimentos, esquecendo-se que o fim da educação é o humano que se encontra em processo de formação, sendo os valores estéticos componente essencial de sua formação.
Ainda que uma reflexão desta natureza parta, naturalmente, da universalidade do problema estético e da educação estética, tentando compreender, por intermédio do pensamento de alguns autores a forma como se desenhou as relações entre a arte e a educação nos vários períodos históricos, ela abarcará, sobretudo, o horizonte de pensar e sentir cabo-verdiano, a partir do “mundo de várias obras”11 que espelham a singularidade do nosso povo. Procuraremos, então, centrar a nossa reflexão mais na qualidade de espectador, do que no processo de criação artística e nas relações do artista com a sociedade cabo-verdiana.
De todo o modo, escrever sobre educação estética implica estar envolvido com o “prazer dos textos”12 e das obras,
11. O conceito de “mundo da obra” é oriundo da filosofia hermenêutica de Paul Ricoeur, presente de forma transversal em toda a sua obra, onde podemos destacar: Du texte à l`action. Essais d` herméneutique II (1986).
12. O Prazer do texto é o título de uma das obras de Roland Barthes, onde retrata a questão do prazer do texto e do texto de prazer, o que pode ser traduzido por uma erótica (de eros) da interpretação. Portanto, se os textos da nossa arte literária foram escritos com prazer estético, então, falar sobre a arte literária ou qualquer outro quadrante das artes, implica que estejamos em sintonia e que vivamos a nossa atitude estética. É nesta óptica que, para escrever um artigo desta natureza, acabamos
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
85
com os sons, as cores, os movimentos, os traços, em suma, com uma confluência de sentires e de sentidos que excitam a imaginação e colocam o investigador no caminho da sua interpretação sobre o tema em estudo. Desta forma, estes aspetos acompanhar-nos-ão no desenho da nossa proposta de investigação, conscientes da nossa parte que esta incursão não passa de um ensaio temático, visando ser o início de uma investigação mais profunda nesta área carente de indagação.
Se, por um lado, é impossível escrever sobre educação estética sem nos referir aos clássicos como Platão, Aristóteles, Kant, Baumgarten, Hegel, Nietzsche, Schiller, H. Read, etc, por outro lado, impossível torna-se escrever sobre educação estética e formação da criança e do jovem cabo-verdiano sem se envolver com “o mundo das obras” criadas pelos nossos escritores, poetas, escultores, pintores, compositores, coreógrafos, em suma, sem se envolver com obras de artistas que, com o seu dom de criação e imaginação criadora, pensaram e sentiram as vivências do cabo-verdiano no mais profundo da sua singularidade. Parece-nos pertinente proceder desta forma, principalmente porque, a cultura cabo-verdiana, sendo híbrida e mestiça, possui características singulares e universais, características fruto da fusão dos horizontes civilizacionais que participaram no processo de formação da nossa sociedade.
Deste modo, para iniciar a nossa reflexão, não deixaríamos, certamente, de alimentar determinados questionamentos sobre a necessidade (ou a presença mais intensa) de uma
por vivenciar, consciente ou inconscientemente, a presença real de todas estas palavras, cores, sons que chegam ao nosso horizonte de pensar e sentir.
educação estética no cenário educativo cabo-verdiano. E surgem, naturalmente, estas inquietações iniciais: que lugar para a educação estética na formação do humano, num mundo marcado pela exacerbação da racionalidade tecnocientífica, onde o excesso de racionalismo tende a sobrepor-se a outras dimensões fundamentais da vida humana? Que lugar para a educação estética na formação do cabo-verdiano, sendo que a arte (referindo-se aqui precisamente a arte literária) desempenhou um lugar fundante na construção da nossa identidade cultural e narrativa, num momento histórico em que o universo das artes ainda não era tão visível? Que lugar para a educação estética numa cultura onde a experiência de criação tem vindo a desenvolver-se num ritmo aceitável, após a Independência Nacional?
Um povo que manifestou espírito inventivo e criativo pela forma como se encarou os condicionantes físico-naturais e político-ideológicos que o impediram de agir (mas não de Criar) no passado histórico, que lugar há para uma educação estética? Que lugar para uma educação estética em Cabo Verde, um país onde a população é maioritariamente jovem e a criatividade é visível a vários níveis?
Poderá ter a educação estética algum lugar na formação da juventude, sobretudo nas sociedades contemporâneas marcadas pela desigualdade e exclusão social?
Que lugar para a educação estética num país (Cabo Verde) onde o simbólico não parece tão valorizado, como deveria ser, sobretudo no cenário educativo? Que lugar para a educação estética numa cultura (a cabo-verdiana) onde as tradições orais sempre funcionaram
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
86
como elemento estruturante da nossa identidade cultural e narrativa?
Uma educação pensada a partir da estética encontrará lugar num mundo marcado pelo materialismo exacerbado? Que utilidade pode trazer a educação estética para a formação do cabo-verdiano?
E, uma vez que não podemos continuar a correr o risco de uma “educação sem símbolos” ou da presença de “símbolos sem educação” (Reboul, 1992) surgem, necessariamente, outras interrogações de fundo: que é isso de educação estética? Que especificidade comporta a educação estética no caso da formação do cabo-verdiano? Será a educação estética o mesmo que educação artística? Se não, que relação existe entre elas?
Como se pode ver pela natureza das indagações, o horizonte de que partimos é o da Filosofia da Educação. Ao dialogar com os diversos saberes acerca da educação, bem como com as várias áreas da filosofia, nomeadamente com a estética, com a hermenêutica, com a antropologia filosófica, a filosofia da educação, pelo seu próprio estatuto identitário13, fornece-nos âncoras de reflexão conducentes ao encontro de caminhos inspiradores que possam iluminar as nossas práticas educativas e quiçá culturais.
E deixamos, assim, bem claro que a nossa pretensão não é uma pedagogia
13. Perante o cenário epistemológico que norteia o conceito de filosofia da educação, manifestamos desde já que, para nós, filosofia da educação é, como diz o nome, filosofia da educação, pelo que, enquanto filosofia, esta área do saber preocupa com uma reflexão geral sobre as condições de possibilidade do objecto educacional no seu conjunto. E, neste sentido, é natural que a reflexão filosófica sobre o cenário da educação estética ou a ausência dela torna-se fundamental.
artística, nem o estudo de métodos para utilização da arte como veículo educacional. Pois, estas são questões mais direcionadas aos artistas e especialistas em arte-educação (Duarte Junior, 1953). E a nossa incursão, já o dissemos, parte do horizonte da filosofia da educação. A filosofia da educação, tendo como função refletir acerca do cenário educativo no seu conjunto, e mesmo não visando respostas e soluções imediatas, cria condições de possibilidade para, em diálogo com os vários saberes que se debruçam sobre o cenário educativo e pedagógico em geral, contribuir para a transformação das nossas práticas educativas.
Portanto, esta reflexão abarcará a importância da arte no processo educativo cabo-verdiano, mas não apelando a uma presença resumida ao mero espaço escolar. É preciso inserir a arte num contexto cultural mais amplo por que ela é produto de uma sociedade. De facto, o artista, ao transformar as inquietações do seu tempo em matéria plástica, estabelece um processo de reconfiguração da realidade, fazendo dela uma realidade outra: uma realidade mais humana. Uma realidade alternativa. Ou então, uma realidade mais inumana devido ao poder da imaginação como “factor divinizante” (Ribeiro, 1956). Os artistas são seres com um outro olhar sobre o mundo e conseguem “fazer de outro modo”, rompendo com o fixismo e a unidimensionalidade da vida quotidiana. Manuel Lopes, o grande escritor cabo-verdiano, em entrevista ao crítico literário Michel Laban, ao afirmar que “a grande virtude do poeta é transcender o homem sem deixar de o ser” (Laban, s/d: 77), reconhece, perfeitamente, esse poder da arte literária em transcender a realidade, reinventando-a. Dizendo-a de outro
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
87
modo. “A poesia – reconhece Zambrano nesta esteira – finge, escapa o ser e abre ao indizível”; e o poeta “não quer salvar-se, vive na condenação […] a poesia é realmente um inferno” (1996: 30-33).
Talvez seja esta dimensão infernal da poesia, e da arte de um modo geral, a razão de ser da perseguição que os artistas sofreram desde o tempo de Platão. O problema está no facto de os artistas conseguirem transpor, pelo poder da imaginação criadora, certos limites que outras formas de conhecer, por exemplo a filosofia e a ciência, não conseguem. De todo o modo, se esta velha querela entre o artista e o filósofo se desembocou numa relação pouco saudável entre a arte e a educação, resta-nos, em termos hermenêuticos, extrair dessa relação algumas lições que sirvam de construção de um espírito vigilante no que se refere a compreensão da educação estética no cenário educativo contemporâneo e cabo-verdiano em particular.
Não deixa de ser curioso o facto de a educação estética ter encontrado o seu início com Platão e, paradoxalmente, ser o próprio Platão quem expulsa os poetas e os artistas da sua “A República”, alimentando uma dimensão ambígua da relação entre a arte e a educação na história do pensamento ocidental. Tendo, então, começado por criticar a literatura, precisamente a poesia e o teatro – estas que são criadoras de ilusões e de fábulas estimuladoras da aparência e não da verdade –, Platão pauta uma certa desvalorização da faculdade de imaginação, comportando esta, em termos epistemológico e ontológico, o grau mais baixo de realidade no seu sistema de pensamento. E isto advém da concepção dualística da realidade em “mundo sensível” e “mundo inteligível” no pensamento platónico, sendo a arte,
para o filósofo, uma cópia do mundo sensível que, por sua vez, é uma cópia da realidade eterna das ideias.
Esta concepção dualista da realidade no sistema de pensamento platónico, assim como acabamos de perceber, traduziu-se num distanciamento entre a formação estética e a formação filosófica, um distanciamento pautado pela superioridade do filósofo, estimulador do conhecimento verdadeiro, em relação ao artista, um cultor da paixão ilimitada. E é por este motivo que, em “A República”, Platão demonstra claramente o seu ataque à poesia (de Homero, dos trágicos e à poesia lírica) em nome da fundação de uma cidade racional baseada na justiça. Nos livros II e III e, principalmente, no livro X de A República, este filósofo condena a poesia: “ – Como explicas isso? – Aqui entre nós? – visto que não ireis denunciar-me aos poetas trágicos e aos outros imitadores – todas as obras deste género arruínam, creio eu, o espírito que as escuta, quando não têm o antídoto, isto é, o conhecimento do que elas são realmente” (Platão, 1998, Livro X). E continua ainda Platão: “Ora aceitaremos como princípio que todos os poetas, a começar por Homero, são simples imitadores das aparências da virtude dos outros assuntos de que tratam, mas que, quanto à verdade, não a atingem […]” (Platão, 1998, Livro X).
Compreende-se que esta desconfiança platónica em relação à poesia e à arte encontra a sua explicação no carácter mimético, pois, elas são imitação de realidades materiais que em si mesmas são imitações da realidade superior das ideias, provocando no sujeito emoções que o limitam na sua progressão para a dialéctica do ser e da verdade. E daí, na sua República, Platão ter desconfiado dos artistas, embora, como dizíamos no
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
88
início, a própria paixão de Platão pela arte tenha desembocado numa profunda condenação da mesma.
Pela reflexão até agora desenhada compreende-se duas visões interessantes e que nos permitem interpretar melhor esta problemática em estudo: que houve sempre uma desconfiança e um controlo da estética ao longo da história do pensamento ocidental, e que nos dias que correm, não faz sentido reproduzirmos qualquer prática que desconfie da estética e da educação para valores estéticos, sob pena de reproduzirmos práticas educativas redutoras no que tange à formação integral do ser humano. Na verdade, o mais importante é estarmos lúcidos e vigilantes que a educação estética não tem encontrado o enquadramento merecido em vários sistemas educativos, inclusive no cabo-verdiano. Ou então, existindo teoricamente, este enquadramento não funciona eficazmente na prática. A própria história da estética é resposta ao que acabamos de referir. Aliás, o conceito de “estética” como teoria do conhecimento sensível só foi inaugurado no século XVIII por Alexander Baumgarten, remetendo, assim, à expressão grega aisthesis, percepção por intermédio dos sentidos ou dos sentimentos. Talvez esta desconfiança em torno da estética se deva, ainda hoje, principalmente ao facto de ela não ser uma realidade explicável por intermédio de leis gerais. E isto, principalmente, nas sociedades contemporâneas, marcadas pela racionalidade tecnocientífica onde uma razão mais sensível parece não encontrar o seu espaço. De todo o modo, é digno de reconhecimento que a estética, mesmo não existindo ainda como ciência antes do século XVIII, não tenha deixado de ser uma presença real desde a Antiguidade, e mesmo na Pré-
história (Bayer, 1979).
Na esteira de Baumgarten, a estética é “teoria do conhecimento sensível”, onde para além das verdades matemática e filosófica, existe também uma verdade que é histórica, retórica e poética (Baumgarten, 1993), (Garchia, 2009). Portanto, a estética como ciência nasce a partir do momento em que a crítica do “gosto”, isto é, as condições que permitem avaliar algo como sendo belo substituí qualquer dogmática ou doutrina metafísica do belo. Já não faz sentido, então, na modernidade, com Kant, Baumgarten entre outros autores que defendem esta posição, conceber o belo como algo fixo e imutável a que tão-somente teríamos que descobrir enquanto sujeitos.
Este preconceito em torno da estética alimentada pela metafísica do belo reside na crença de que a capacidade de apreciar a beleza se dá exclusivamente pelos órgãos dos sentidos e não pela racionalidade e reflexão, negando, portanto, o concurso da inteligência na fruição do belo artístico. Platão não se cansa de afirmar que a arte não tem nada a ver com a verdade: ela é imitação do real (“mimesis”), uma imitação da natureza que, por sua vez, é cópia dos modelos. E, na medida em que a arte é inferior, faz do sujeito que a contempla igualmente um ser inferior.
Com Aristóteles, o problema da estética já não se coloca, evidentemente, da mesma forma. Aristóteles faz uma reinterpretação da “mimesis” platónica, levando-a mais longe. Na sua obra “Poética”, Aristóteles defende que a arte não deixa de ser verdadeira tanto moralmente como epistemologicamente. Ao contrário do seu mestre Platão, o estagirita pensa que a “mimesis” é natural no humano e não faz dele um
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
89
ser menor quer a nível epistemológico quer a nível ontológico. A “mimesis” é, ainda, para o estagirita, imitação de coisas que ainda não tem realidade, mas que poderão vir a ter realidade. A “mimesis” não é, portanto, apenas imitação de coisas existentes. Mais do que reprodução a arte é invenção do real.
Estas considerações alusivas a Aristóteles demostram que a crítica que ele desencadeou ao sistema platónico desembocou numa valorização da arte, embora devamos reconhecer que o que Platão desvaloriza é a forma como a arte é utilizada na educação do seu tempo. De todo o modo, e mesmo com este reconhecimento do valor da arte na educação, Aristóteles parece atribuir a esta (a arte) uma “função edificante” (Feitosa, 2004), função esta que da Antiguidade à Idade Moderna fez com que as obras de arte tivessem a função transmissora de mensagens políticas, ideológicas e religiosas, aspecto este que viria a mudar de configuração no século XX.
Na verdade, no século XX a arte não pretende imitar o real nem transmitir simbolicamente alguma sabedoria ou mesmo provocar satisfação (Feitosa, 2004). No século XX, a estética deixa de ser a ciência da sensibilidade e passa a encarnar um discurso que conjuga racionalidade e afectividade de forma radical, deixando para trás a dicotomia tradicional entre o sensível e o inteligível que, sem margens para dúvida, traduziu-se numa concepção deficiente de formação do pensamento e leitura do mundo. Daí que, conceber o racional e o afectivo mediante um olhar não excludente, mas sim harmonioso, é nobre sinal de ganhos significativos para a educação contemporânea.
De facto, um exemplo deste ganho acontece no século XX, século que ficou marcado pela tentativa de alargar a educação a todas as facetas do ser humano, sem subestimar nenhuma delas. Esforço esse que no século XXI deve ser cada vez mais estimulado, fazendo da educação um projecto de realização da pessoa humana em todas as suas manifestações, sob pena de a educação hodierna ficar presa às amarras da tradicional forma de educar. Acreditamos que já não faz sentido transformar a criança num homem inteligente, sem imperfeições a nível do raciocínio lógico, mas, muito mais humana, contemporaneamente pretende-se uma educação que vá ao encontro do desenvolvimento harmonioso e integral do ser humano. E a arte, uma vez que permite ao humano em processo de formação um contacto com os sentimentos de sua e de outras culturas através dos signos presentes nas várias obras, comporta possibilidades inesgotáveis para tal (Manso, 2008).
Não deixa de ser curioso compreender como esta questão se coloca no pensamento e cenário educativo cabo-verdiano. Esta concepção redutora do estético como se ela fosse inferior ao racional não deve ser reproduzida no cenário educativo cabo-verdiano, sob pena de continuarmos alimentando uma determinante contradição: é que o pensamento cabo-verdiano tem a sua matriz numa razão poético-literária e, simultaneamente, não existe uma educação estética que dê expressão ao sentir e ao imaginar no cenário pedagógico cabo-verdiano. Não podemos continuar vivendo esta contradição, sob pena de continuarmos tendo jovens criativos que, se tivessem tido uma educação estética desde a tenra idade, estariam em melhores condições de
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
90
aprimorarem o seu dom. Logo, justifica-se uma educação estética; pois, o estético e o ético compactuaram-se no desenho de nossa formação como Povo. O talento estético de escritores e poetas cabo-verdianos demonstra de forma nítida que, muito antes de as outras formas de expressar estarem consolidadas, essa razão poético-literária traduziu a singularidade da nossa gente. Em Cabo Verde, a poesia e a literatura dão conta de Quem somos e vamo-nos sendo no curso temporal. Mas no que tange aos outros quadrantes das artes, não deixa de ser pertinente registar a opinião do coreógrafo cabo-verdiano, Manu Preto, pertencente ao grupo de dança contemporânea cabo-verdiana “Raiz di Polon” numa entrevista a “Jornal/Revista Artiletra” (Dezembro 2007/ Janeiro de 2008: XIII): “desde pequeno já estás [os cabo-verdianos] com ritmo. Não é tão linear, é preciso trabalhar o ritmo. É preciso trabalhar o ritmo que o cabo-verdiano tem dentro de si para transformá-lo em algo de qualidade”. Nós somos um povo cheio de ritmo, mas uma das formas mais eficazes de explorar esse ritmo será apostar numa educação estética, numa educação pela arte: uma educação que, via arte, permita ao cabo-verdiano explorar as potencialidades do sentir e do pensar. A literatura, a poesia, a música, as artes plásticas e corporais, bem como outras formas de expressar encontrariam um lugar de destaque na formação estética da criança e do jovem cabo-verdiano.
Ao traduzir a singularidade do povo cabo-verdiano, o escritor e o poeta não se deixaram arrastar pelo apanágio da mentalidade positivista que, como se sabe, ao separar razão e sentimento, cria uma forma deficiente de compreensão e explicação da realidade. Portanto, a mentalidade positivista desencadeia uma leitura cindida e deficiente do real,
não deixando manifestar a experiência estética como experiência integral do humano. E a educação que daí provém, não deixaria de ser uma educação deficiente, uma vez que não pensa a integralidade do humano em todas as suas dimensões.
Percebe-se então que, se o conhecimento estético não deve ser considerado epistemologicamente e ontologicamente menor, como acontece com Platão, ou mesmo muitos séculos após com Durkheim14 na sua visão educacional, menos deve sê-lo em Cabo Verde onde pertencemos a uma cultura fundada na oralidade e numa razão poética e literária que, como se sabe, fundou a nossa Paideia. Paideia essa, hodiernamente, mais rica devido a uma multirreferencilidade de formas artísticas que depois da Independência Nacional vem conquistando ou consolidando o seu espaço, traduzindo a forma peculiar de ser e estar do cabo-verdiano. Na verdade, mais rica tornar-se-á esta Paideia se ela contribuir para a formação da paideia individual de cada sujeito que se encontra fazendo pela educação. E daí a necessidade de uma educação estética na formação do Cabo-verdiano. Uma educação estética onde a arte, tanto do ponto de vista da criação como da apreciação, seja capaz de elevar os espíritos e formar sujeitos criativos, flexíveis e autónomos (Schiller, 1991). Enfim, de formar sujeitos inconformados com qualquer dimensão monolítica de leitura da realidade. A educação pela arte é uma
14. No seu livro “Educação, Sociologia e Moral”, sobretudo no capítulo final, Durkheim demonstra não só o valor da arte, mas também a desconfiança da mesma na educação. Torna-se interessante conferir o capítulo “Lição – A Cultura Estética. O ensinamento Histórico”, onde o autor tem uma posição próxima da de Platão no que tange ao lugar da arte no processo de formação humana.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
91
educação para a (des)centração, para o desdobramento do si nas várias facetas da vida: é uma educação voltada para a condição humana.
Mas, que é isto de educação estética em que, desde o início, temos vindo a insistir? Que sentido para a educação estética na formação do cabo-verdiano? Com Artur Manso (2008), no seu livro “Para uma educação estética”, começamos por conceber indistintamente educação estética e formação artística, pois ambas surgem como desenvolvimento da sensibilidade humana. A educação estética deve ajudar a formar cidadãos completos, íntegros e não apenas artistas. Os artistas, parafraseando Artur Manso (2008), começam por ser indivíduos como os outros e, só posteriormente, tomam consciência dos seus dons e decidem trabalhá-los e aperfeiçoá-los. Para isso, a educação estética deve ter um lugar de charneira no conjunto da política educativa cabo-verdiana, sob pena de muitos indivíduos continuarem a ficar empobrecidos (não descobrindo os seus dons) e outros tantos artistas se hão-de continuar a perder.
É neste sentido que pretendemos criar um ambiente de reflexão sobre a necessidade de uma presença mais activa da educação estética e artística na formação do cabo-verdiano. Não restam dúvidas de que Cabo Verde é um país com uma cultura muito rica, destacando-se a literatura, a música, a dança, o teatro, a pintura, a escultura, sem esquecer de outras formas de expressar e comunicar que, paulatinamente, vão ganhando espaço. No entanto, a presença de uma deficiente educação estética na formação do cabo-verdiano tem levado a uma deficiente compreensão global do fenómeno artístico por parte dos nossos jovens. Isto sem deixar de reconhecer
esforços e boa fé no sentido de fazer da arte uma presença real na educação e de fazer da educação um modo de vida, uma possibilidade de experienciar esteticamente o mundo e a vida.
Um olhar atento sobre esta matéria dir-nos-á, primeiramente, que uma das razões dessa deficiente educação estética não se resume somente a quase ausência de museus e serviços educativos autenticamente programados, mas também devido à necessidade de readaptar os currículos dos vários subsistemas de ensino com vista a tornarem-se mais sensíveis à questão da arte na e pela educação. Para isso, torna-se urgente que a nossa política educativa faça da educação estética uma presença real na educação do cabo-verdiano, de modo a contribuir para a formação do gosto e a sensibilidade dos nossos jovens e crianças15 e, também, de modo a que aqueles com um certo dom artístico o possam aprimorar. Não raras vezes, fomos abordados por alguns estudantes nas aulas de Estética (embora não confundamos aqui estética com educação estética), demostrando, ou simplesmente falando, sobre a sua criatividade, portanto, demonstrando um certo dom para algum quadrante das artes, mas confessando, claramente, que gostariam de ter tido desde a infância esta presença da
15. Segundo João Francisco Duarte Jr. (1994: 111-112), “para a criança, até o princípio da adolescência (por volta dos 12 ou 13 anos), a arte reveste-se de carácter um tanto diverso (…). O ponto fundamental dessa diferença reside no facto de que, para ela, a arte se constitui muito mais uma atividade, num fazer, do que num objeto a ser fruído. A arte tem-lhe importância na medida em que constitui uma ação significativa, ou significante, e não por proporcionar-lhe oportunidades para a experiência estética. A atividade artística, no mundo infantil, adquire características lúdicas, isto é, tem o sentido do jogo, em que a ação em si é mais significante que o produto final conseguido”.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
92
arte na sua formação. Portanto, estes jovens apelam à necessidade de uma educação pela arte, onde pedagogia e arte jamais estariam separadas. A educação estética é uma educação dos sentimentos, uma educação integral da personalidade do sujeito educando, podendo até, dependendo do seu dom e da sua criatividade, desenvolver a expressão artística.
É sabido por todos nós que Cabo Verde é um país de grandes compositores e intérpretes que, sem seguir cânones determinantes, conseguiram livremente manifestar a sua criação artística e fazer da arte uma realidade visível no nosso país. Contemporaneamente, continuamos tendo a presença de jovens com um certo dom em vários quadrantes das artes e têm feito com mestria o seu papel. Talvez, se existisse uma educação estética visível nos currículos escolares cabo-verdianos a criação artística fosse ainda muito mais visível, pois muitos sujeitos descobririam o seu dom desde a tenra idade. E aqueles que não tivessem dom para serem artistas (o que não deixa de ser natural) tornar-se-iam em pessoas melhores, pessoas mais íntegras e equilibradas. Pois, uma educação que não discrimina o Sentir e a emoção cria condições para o sujeito educativo sentir o mundo por dentro da vida. A educação estética não deixa de ser uma educação para o sentir, um sentir proporcionado pelos símbolos estéticos; portanto, uma educação que, também, contribui para a capacidade racional do indivíduo. Pois, o sentimento do estético, ainda que não pareça muito reconhecido nesta sociedade de verdades esgotadas em termos de sentido, é sem dúvida o sentimento mais nobre do homem, o sentido que está em todo humano independentemente do seu nível de desenvolvimento intelectual.
Outro aspecto digno de realce no que tange ao discurso sobre a educação estética é que ela não se resume à educação do gosto, nem tampouco à educação da produção artística, devendo-se ainda preocupar com a função que os componentes estéticos desempenham na aprendizagem e na formação integral do sujeito. Portanto, em toda a actividade realizada nas nossas escolas devia-se levar em consideração os aspectos estéticos, e não reservá-los apenas para certos momentos, como por exemplo, os momentos solenes. A aprendizagem torna-se mais humana quanto mais a criança aprender a sentir: a sentir o mundo por dentro da vida. Através da ficção literária, que é muito rica em Cabo Verde, o sujeito da educação encontra condições de possibilidade para ir lendo16 a sua própria experiência mediante o contacto que vai tendo com personagens de ficção. Personagens que, quando bem construídas, não deixam de ser pessoas com sentimentos, emoções, paixões. O encontro do educando com estas personagens é uma oportunidade única de formação para a consciência estética, histórica e linguística. Sendo anterior ao pensar, «o sentir compreende aspetos percetivos (internos e externos) e aspetos emocionais. Por isso, pode-se afirmar que, antes de ser razão, o homem é emoção» (Duarte Junior, 1994: 16).
A educação estética, como se pode ver pelo exposto, deve ter uma presença mais intensa nos currículos escolares cabo-verdianos, sob pena de as nossas crianças e jovens correrem o risco de não serem educados para a sua identidade cultural e narrativa, isto é, de não
16. Nesta óptica, Cf. o nosso artigo, Palavramundo: a Educação como Criação de Condições para a Leitura e Escrita da Existência, in Carvalho, A. Dias (coord.) (2010), Limiares Críticos da Educação Contemporâne, Edições Afrontamento, Porto, 2010, pp. 55-62.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
93
aprenderem a sentir e a pensar com as obras que retratam a sua cultura, condição indispensável a abertura a outras alteridades. Portanto, é urgente uma presença mais intensa de valores estéticos nos currículos escolares cabo-verdianos, de modo a que os nossos educandos possam desenvolver a sua atitude estética, esta disposição natural para o humano sentir-se estimulado na presença de um objecto estético ou artístico. Caso contrário, a educação dos nossos jovens ficará presa à atitude científica, técnica ou moral, esquecendo a dimensão holística que comporta a atitude estética no cenário pedagógico.
É preciso, portanto, uma presença mais sensível da arte nas nossas práticas educativas, embora, mais importante do que incluir a arte na educação, a questão central é fazer da educação uma actividade estética. Uma actividade estética onde toda a criatividade, sem discriminação, seja condição indispensável a uma formação integral do sujeito cabo-verdiano, assim como almeja a “Lei de bases do sistema educativo cabo-verdiano”.
A Lei de Bases do Sistema Educativo Cabo-verdiano (art. 31) (I Série Número 17, Maio de 2010), contempla a questão da Formação Artística. De todo o modo, parece-nos que é necessária uma educação estética mais abrangente na práxis educativa cabo-verdiana. Torna-se fundamental fazer da educação estética algo concreto na educação escolar, sob pena de a educação das nossas crianças e jovens, que formam a maior parte da população cabo-verdiana, continuarem pobres no que tange a esta dimensão da vida humana. A educação, e a educação cabo-verdiana em particular, deve contribuir para a formação integral do sujeito, e não fazendo deste um meio para se tornar
num agente economicamente produtivo, de modo a responder a lógica do mercado de trabalho. Nem tampouco, fazendo dele um meio de transição da infância para a adolescência. Mais do que forçar a criança e o jovem a crescerem, a serem adultos e a prepararem-se para a futura inserção no mercado competitivo, como se eles fossem partes sem relação com o todo harmónico, devia-se, primeiramente, oferecê-los condições para uma boa aprendizagem do sentir, do imaginar, do experienciar a radical alteridade, a partir da valorização da sua identidade cultural em devir permanente.
Percebe-se, então, que a educação estética e lúdica deve ser uma das componentes essenciais da formação do ser humano, sobretudo em Cabo Verde, onde a criatividade sempre foi visível e onde a razão poético-literária projectou o povo das ilhas na temporalidade das suas acções. Em jeito de conclusão é de salientar que este artigo – dedicado aos nossos alunos de estética dos vários anos lectivos – é o início de uma pesquisa mais profunda a ser desencadeada nesta área carente de atenção. Somos conscientes de que neste artigo não respondemos a todos os questionamentos inicialmente colocados. Aliás, jamais teríamos a pretensão de lhes responder. De todo o modo, se conseguirmos provocar uma maiêutica no espírito do possível leitor, de modo a que ele seja capaz de iniciar o seu próprio pensamento sobre esta problemática, ficaremos, talvez, mais satisfeitos do que ter-lhes respondido, o que significaria ter esgotado o sentido desta problemática.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
94
Referências bifliográficas
Aristóteles (1985). Poética. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
Baumgarten, A. G, (1993). Estética - A lógica da arte e do Poema. RJ: Editora Vozes.
Bayer, R. (1979). História da estética. Lisboa: Editorial Estampa.
Carlos, E. M, (2013). «Ensaio sobre o Sentido Ético-Estético da Literatura e da Educação Literária em Cabo Verde», in Nova Águia – Revista de Cultura para o Século XXI, n.º 11. 1.º Semestre 2013, pp. 169-175, pp. 183-189.
Carlos, E.M, (2012). «A Singularidade da Leitura do Olhar Cabo-Verdiano», in Nova Águia – Revista de Cultura para o Século XXI, n.º 9. 1.º Semestre 2012.
Carlos, E. M, (2010). «Palavramundo: a Educação como Criação de Condições para a Leitura e Escrita da Existência», in Carvalho, A. Dias (coord.) (2010), Limiares Críticos da Educação Contemporânea, Porto, Edições Afrontamento, pp. 55-62.
Duarte Júnior, J. F, (1994). Fundamentos estéticos da educação. SP: Papirus Editora.
Durkheim, E. (1984). Sociologia, educação e moral. Porto: Rés Editora.
Feitosa, C. (2004). Explicando a Filosofia com Arte. RJ: Ediouro.
Garcia, G; D´angelo, P. (2009). Dicionário de estética. Lisboa: Edições 70.
Laban, M. (s/d). Cabo Verde – Encontro com Escritores. Porto: Fundação Engenheiro António de Almeida, Vol. I.
Lei de Bases do Sistema Educativo Cabo-verdiano, I Série Número 17, Sexta-feira, 7 Maio de 2010.
Manso, A. (2008). Para uma Educação Estética. Porto: Marânus.
Platão (1998). A República. Mem Martins: Publicações Europa-América.
Reboul, O. (1992). Les Valeurs de l`Éducation. Paris: PUF.
Read, H. (2013). Educação pela Arte. Lisboa: Edições 70.
Ribeiro, A. (1956). A Razão Animada. Amadora: Livraria Bertrand.
Schiller, F. (1991). Cartas sobre a Educação Estética da Humanidade. São Paulo: EPU.
Zambrano, M. (1996). Filosofía y poesía. México: FCE.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
95
A FUNDAMENTALIDADE DA COMUNICAÇÃO EM EMMANUEL MOUNIER
Nilza Maria GomesUniversidade de Cabo Verde
[email protected]; [email protected]
Resumo
Um dos pontos essenciais da “revolução personalista” de Mounier é considerar que o Ser Humano se concretiza através da Comunicação - consigo próprio, o outro, o mundo e com Deus – objectivo impossível de se realizar quando o individuo está isolado.
O isolamento, voluntário ou involuntário, é uma situação vazia de sentido ontológico e ético e, como tal, desestruturante do conteúdo da “pessoa”.
O conceito de “personalismo” de Mounier, conferindo à “comunicação” a responsabilidade única de levar cada um a ultrapassar a sua natural tendência, física e espiritual, para se refugiar no conforto do individualismo, foi um original contributo para a resolução do clássico problema da alteridade, nomeadamente pela importância dada à dimensão cultural e de cidadania na pessoa humana .
Palavras chave: Mounier; Comunicação; Pessoa; Personalismo; Cultura; Cidadania; Alteridade.
Abstract
One of the main points of Mounier’s “personal revolution” is the idea that the Human Being will be completed by Communication – with himself, with the other, with the world and with God – impossible goal to achieve when the person lives isolated.
The isolation, by free will or not, it’s a situation empty of ontological and ethical meaning and, being so, tending to eliminate the structure of the person substance.
The Mounier’s “personalistic” concept gives “communication” the responsibility of taking each one to overtake his natural trend, physical or spiritual, to hide himself in a confortable individualism, and is a fresh contribution for the resolution of the classic question of otherness, as it enhances the cultural and political dimension of the human being.
Keywords: Mounier; Communication; Person; Personalism; Culture; Citizenship; Otherness.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
96
O tema ora apresentado, a Fundamentalidade da Comunicação em Emmanuel Mounier, enquadra-se no âmbito da minha Comunicação do Primeiro Encontro Internacional de Reflexão e Investigação (EIRI), apresentada na Universidade de Cabo-Verde. Este tema veio à luz, na sequência da minha tese de Mestrado em Filosofia, “Noção de Comunicação no Conceito de Pessoa em Emmanuel Mounier”, apresentada e defendida na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 2010. Nesta tese, dedico um capítulo a este tema e, em todo aquele trabalho académico, a Comunicação é o tema central das minhas reflexões. É de frisar que as aulas ministradas por mim na Universidade de Cabo-Verde, sobretudo a de Antropologia Filosófica, contribuíram para solidificar e reflectir ainda mais sobre o tema proposto, conferindo, assim, a actualidade e pertinência do mesmo.
Emmanuel Mounier, nascido em França, em 1905, e falecido naquele pais em 1950, foi um dos Filósofos com maior influência na evolução do pensamento religioso, político e social da 1ª metade do séc. XX, particularmente na Europa, África, América Latina e, de um modo geral, no denominado mundo Ocidental.
A sua curta vida de 45 anos, que decorre praticamente toda ela a partir da primeira Grande Guerra Mundial (1914/18) e acaba logo ao final da Segunda (1939/45), coincide com um período em que o seu país e toda a Europa foram fortemente abaladas por uma continuada crise que se reflectiu em todas as vertentes, económica, social, política, militar, religiosa, filosófica, atingindo um dramatismo que, a coberto de falsos ideários nacionalistas e políticos, étnicos e religiosos, levou a que milhões de pessoas sentissem que
estava em causa a sua dignidade como seres humanos e grande parte deles pagaram esse estigma com a própria vida.
Como forma de reação a esta situação dramática que tanto preocupava os seus contemporâneos, Mounier, sendo um filósofo da acção não só escreveu textos condenatórios do individualismo egoísta e das correntes colectivistas massificadoras da sociedade, particularmente as comunistas e as nazistas, mas também, como cidadão e patriota, participou nos movimentos da Resistência contra a ocupação da França pela Alemanha, durante a 2ª Guerra Mundial, atitude que o levou à prisão.
Os seus múltiplos escritos estão, maioritariamente, presentes nos quatro volumes de “Oeuvres” e constituíram a grande linha da orientação filosófica da revista “Esprit” que fundou e dirigiu até à morte.
A celebridade de Mounier advém, sobretudo, de ter reflectido profundamente sobre um problema angustiante que se levantava aos seus contemporâneos, levando-o a apresentar as suas teses sobre o que entende por Personalismo, com o qual pretende encontrar solução para resolver um dilema fundamental:
O indivíduo, como ser humano, defensivamente deve optar por viver num isolamento radical, assente na preferência por um forte egoísmo e alheamento do outro, como defendem os adeptos radicais do Individualismo ou, de forma acrítica, deixa-se “objectivar” numericamente no meio de uma sociedade de indivíduos indiferenciados entre si, como advogam os sistemas colectivistas de direita ou de esquerda,
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
97
provocando assim um quase total apagamento de forma de ser e de se exprimir constitutiva do Eu como Pessoa?
Para Mounier, ambas as opções eram vazias de conteúdo ontológico e ético, e como tal destruturantes do conteúdo de Pessoa, o qual só pode ser entendido na sua plenitude e dignidade quando existe a possibilidade real e existencial do Individuo ter Comunicação com o Outro.
No fundo, Mounier retoma a clássica discussão da «alteridade» e reaprecia a positivista noção de altruísmo que tinha sido apresentada por A. Comte, no século XIX.
Não se revendo plenamente em nenhuma das soluções apresentadas, coloca-nos então a sua perspectiva que entende adequada para equacionar este problema, propondo a Comunicação, proporcionada pelo Personalismo, como a única forma de ultrapassar a natural tendência egoísta do indivíduo ou, em movimento contrário, evitar que o ser humano se deixe subjugar pelo colectivismo amorfo.
Para Mounier, reside na Comunicação a única possibilidade de vencer a barreira, física e espiritual, da tentação do individuo se refugiar no ”conforto” da sua intimidade, do individualismo, deixando-se a Pessoa cair num isolamento, voluntário ou involuntário ou, inversamente, ficar amorfa na comodidade de se diluir no meio das grandes massas sociais e de trabalhadores sempre à espera de quem tome decisões por si . Ambas as opções distorcem a Pessoa, ao provocar enormes desvios no sentido da verdadeira realização da vida, que, a não ser corrigido e ultrapassado,
provoca a sua aniquilação.
Para resolver filosófica e socialmente esta situação, Mounier propõe-nos uma terceira via interventiva, radicada na acção prática:
A Comunicação entre Pessoas , baseada em valores verdadeiros, sintonizados pela transcendente convergência e sintonia com Deus, é a grande linha mestra do seu Personalismo Cristão, corrente filosófica centrada na pessoa. Portanto, o Personalismo não é um antropocentrismo, mas a perspectiva da autenticidade da Pessoa, na pureza da relação que ela estabelece consigo própria, com os outros (inter-relação pessoal) e com a natureza.
A razão da minha escolha do tema “Fundamentalidade da Comunicação” reside no facto de eu reconhecer que este problema é estrutural no pensamento de Mounier e teve grande influência na evolução das correntes políticas e sociais, particularmente, as que se agrupam na denominada Democracia Cristã que surgiram na primeira metade do século XX, na Europa.
E como reconhece o Papa João Paulo II, ao declarar ter sido influenciado por este filósofo na formação do seu pensamento humanístico, Emmanuel Mounier foi igualmente importante para a evolução do pensamento religioso, particularmente da Igreja Católica. Sendo Mounier um humanista que se preocupa com a integralidade do corpo e do espírito do Ser Humano e da fundamentalidade da relação de cada indivíduo com o outro, compreende-se porque entende ser a Comunicação a forma mais antiga e nobre de Globalização.
Para este filósofo, reside na Comunicação a condição fundamental
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
98
para que todos os seres humanos, independentemente do sítio onde vivem, raça, língua, religião e povos onde se integram, possam Comunicar entre si. É pela Comunicação baseada na adesão e partilha de valores autênticos - os valores humanos- que se torna possível fazer brotar o entendimento e cordialidade entre as Pessoas e, por extensão, entre os Povos.
Apesar de todas as atrocidades individuais e colectivas que a memória de cada um e, desde “in illo tempore”, a História da Humanidade regista, igualmente sabemos por vivência própria e da história das comunidades humanas, que as pessoas quando estabelecem laços de Comunicação para partilharem entre si, lealmente e sem preconceitos, valores autênticos e dignos são igualmente capazes de terem gestos de grande nobreza.
Por exemplo, perante uma pessoa desconhecida com fome, se outra lhe oferecer algo para comer e a confortar com uma palavra amiga, ter para com ela um gesto de solidariedade, não é só a comida entregue que valoriza humanamente a atitude, é também a mensagem contida nas palavras e nos gestos afectivos que acompanham a dádiva, que encontramos o verdadeiro significado de “l´amour par autrui” na sua totalidade e a representação de uma autêntica e desinteressada forma de relação humana.
Este exemplo de atitude prática de uma Pessoa perante outra da qual desconhece a raça, religião, língua, traduz bem a essência do Personalismo de Mounier, como sinónimo do seu entendimento de solidariedade, altruísmo, respeito pela sua dignidade como Outro a quem reconheço uma individualidade diferente da minha
mas como Pessoa, idêntica a mim, os princípios basilares e fundamentais dos Direitos Humanos.
Sendo, a título individual, uma atitude nobre duma pessoa para com o seu semelhante, uma forma humanizada de Comunicação, que merece ser aprovada por todos, em termos de sociedade implica que o Estado, representando o conjunto das Pessoas de uma comunidade organizada que partilha dos mesmos valores, tenha o dever de zelar com sentido de justiça pelo bem-estar dos Cidadãos, particularmente dos que estão menos protegidos.
É a autenticidade contida na natureza dessa Comunicação entre seres humanos e o reconhecimento de que deve igualmente estar presente nas relações entre o Estado e as Pessoas e, por extensão, entre todos os Estados que, na linha de pensamento de Mounier, nos faz concluir que a sua aplicação universal faz brotar o entendimento e a paz entre os povos.
A Comunicação interpessoal é portanto o fermento da Globalização e que pela própria essência do seu significado considerado na sua máxima amplitude, não pode ficar reduzido a simples relações económicas e financeiras entre pessoas e países.
É muito mais do que isso e, independentemente da linguagem verbal, tecnocrática, de relações de poder, Comunicação é sobretudo transmissão, recepção e aceitação sem preconceitos de valores a serem partilhados com o outro.
Valores que, para serem autênticos, têm de ter conteúdo e significado humano, sendo o mais relevante o amor pelo próximo de forma desinteressada, mas entre os quais Mounier igualmente
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
99
integra a Comunicação e partilha de valores culturais como poesia e arte. O gesto, o silêncio, são igualmente para Mounier sublimes formas de Comunicação e, como defendem os sofistas, a palavra é uma arma que na sua articulação com o corpo, permite que a Pessoa, na sua relação com o outro e com a comunidade, faça coisas de uma beleza inimaginável.
Esta posição reforça o pensamento de Mounier, valorizador da Arte, Literatura, Filosofia na relação com as outras áreas de saber.
Em suma, a pessoa deve interagir com o seu próprio ser e, simultaneamente, ser capaz de Comunicar com o Outro, com a natureza, com o ser Supremo numa simbiose única de corpo e espírito de imanência e de transcendência.
E é na envolvente nuclearidade do Universo Pessoal que Mounier coloca a matriz aglutinadora que possibilita o entrecruzamento das diferentes formas comunicacionais, tema que foi tomado como polo de desenvolvimento do trabalho ora apresentado, “A Fundamentalidade da comunicação em Emmanuel Mounier.”
Nesta agitada forma contemporânea de viver, a comunicação não só tem de estar presente mas deve ser intensa.
A finalidade do Homem, para Mounier é Comunicar:
«On peut même dire que le destin central de l’homme n’est de maîtriser la nature, ni de savourer sa propre vie, mais de réaliser progressivement la Communication des consciences et la compréhension Universelle. C’est pourquoi dès le début nous avons toujours indissolublement associé les termes: Personnalisme et communautaire.»
(Mounier, 1962ª p.45)
A Pessoa Humana realiza-se pela interacção comunicativa que faz com a sua intimidade, com o Outro, com a comunidade e a natureza que o rodeia e, de forma transcendente, com Deus.
Eis o princípio de alteridade, extensível a toda a comunidade humana, apresentado pela “revolução” personalista. Se o indivíduo estiver em situação de isolamento absoluto, ou seja sem Comunicação com o Outro, não é condição suficiente para ser Pessoa, por estar impossibilitada de se realizar e autoconstruir pelo reconhecimento da essência de ser necessário, imperativo, estabelecer a Comunicação com o outro em termos de igualdade de planos – a alteridade.
O isolamento é uma situação vazia de sentido ontológico e ético e, como tal, desestruturante do conteúdo de Pessoa, a qual só pode ser entendida na sua plenitude quando existe a possibilidade real e existencial de comunicação com o Outro e, de forma transcendente, ambos assumindo valores convergentes em Deus.
Só pela comunicação entre as pessoas e as comunidades que as representam haverá uma verdadeira harmonia válida para toda a sociedade.
Vivemos uma época em que, cada vez mais os problemas do homem, mesmo aqueles que se confinam ao microcosmo familiar, emprego, segurança, qualidade ambiental e outros, são resolvidos à escala global, ao estarem integrados e dependentes de grandes articulações e decisões sistémicas.
Mas nós não podemos agir sem ter a consciência de que aquilo que fazemos, o que já somos ou podemos vir a ser,
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
100
deverá ter em conta a realidade do Outro como igual a nós, com a mesma dignidade, porque nos completa, contribui para consciencializar-mos-nos, relativamente às acções que praticamos a título pessoal ou como interventores de um grupo social.
Mas onde encontramos nós a “pedra de toque “ dessa autenticidade?
A comunicação verdadeira fundamenta-se no amor entre as pessoas, espírito esse que deve orientar o agir e o relacionamento entre elas, no reconhecimento da existência da liberdade e da dignidade, como estruturas do universo pessoal.
Só a partir do amor, fruto da comunicação com o Outro, se pode vencer o individualismo egocêntrico.
Mas esta não é uma “batalha” antecipadamente ganha se for unicamente baseada em pressupostos teóricos, se não for traduzida na acção prática. É necessária a passagem do plano cognitivo, ao plano da acção. Agir, sim, mas aderindo aos valores que nos dignificam como pessoa humana.
No sentido personalista que lhe é dado por Emanuel Mounier, somente possível quando a Comunicação é estabelecida entre pessoas que embora dotadas de naturais diferenças intrínsecas a nível de corpo e espírito, reconhecem que estão colocadas no mesmo plano de igualdade e de dignidade, única forma de ultrapassar corretamente a relação “Senhor/escravo”.
Aquela perversa forma de relação, gerada a partir da grande diferença do poder detido pelos senhores perante os escravos, ainda que por razões distintas é contudo aviltante para ambos.
Mas foi um tipo de convivência institucionalizado em anteriores sociedades (e que, infelizmente ainda perdura em algumas embora com outros títulos...), espantosamente com aceitação de pessoas e instituições que tinham o dever e a obrigação de serem os primeiros a rejeitar essas situações.
Na comunicação está implícito - em pleno -o princípio de alteridade:
O Eu precisa do Tu/outro que se fundem no Nós - numa relação íntima à qual a transcendência confere uma dimensão superior, que não permite nem se limita a uma simples ligação entre indivíduos- objectos.
«Accepter autrui, ce n’est pas seulement le tolérer par indifférence, ainsi que font les tempéraments pauvres, amorphes, et apathiques, qui n’ont pas en eux assez d’élan pour dépasser le cercle étroit de l’égocentrisme végétatif» (MOUNIER, Emmanuel, œuvre de Mounier, Tome II, Traité du caractère 1961, Éd. Du Seuil, Paris-p.514).
Mas é uma interligação que tem de se manifestar de forma desinteressada, pura e não egoística, ou então não é verdadeiramente altruísta. Este conceito de altruísmo, no dia-a-dia, é pouco praticado, comentando Mounier que a Comunicação é mesmo frequentemente entendida e aproveitada como a capacidade de que o homem dispõe para dominar o outro, em nome do seu poder económico, social, militar.
O reconhecimento do primado dos interesses individuais, baseado em posições de força e a ausência de diálogo e comunicação entre as pessoas, são posições que retiram todo o valor e a dignidade a quem utiliza esses meios de Comunicação.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
101
É nas experiências genuinamente humanas, libertas de interesses egoísticos e outros, que encontramos a dimensão mais profunda da Comunicação com o Outro, a pureza do significado de “ l’amour par autrui”.
Na dupla condição de professora e Cabo-verdiana, não podia terminar esta reflexão, sem apelar aos meus conterrâneos e à Humanidade em geral, a romper com atitudes despersonalizantes, egoísticas e desmeritórias e carimbarmos as relações humanas com o selo da coerência, da autenticidade. No fundo, Globalizar o amor, ao invés da violência, pelo menos é o que a Universidade de Cabo-Verde pretende ao procurar estabelecer uma relação profícua com o corpo docente e discente.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
102
Referências bibliográficas
Gomes, N. M. (2009). Emmanuel Mounier, Emmanuel, Noção de Comunicação no Conceito de Pessoa. Dissertação de Mestrado, Universidade de Letras, Faculdade Clássica de Lisboa.
Mounier, E. (1961). Œuvres 1931-1939 (T. I). Paris: Éditions. Du Seuil.
Mounier, E. (1962a). Œuvre (T. II). Paris: Éditions. Du Seuil.
Mounier, E. (1962b). Œuvre 1944-1950 (T. III). Paris: Éditions. Du Seuil
Mounier, E. (1962c). Œuvre, Recueils posthumes correspondances, Paris: Paris: Éditions. Du Seuil.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
105
João Lopes FilhoUniversidade de Cabo Verde
[email protected]; [email protected]
Resumo
Tendo o cabo-verdiano uma base essencialmente escravocrata a nossa sociedade só se estabilizou com a abolição da escravatura que se prolongou em Cabo Verde por décadas.
O facto de se localizar distante da antiga metrópole, permitiu que negociantes locais e estrangeiros continuassem o vantajoso negócio por bastante tempo, através do chamado “tráfico clandestino”.
Tendo em conta este pormenor, foi instalada na Boa Vista uma Comissão para julgar os transgressores em toda a área circundante de Cabo Verde.
Com abolição total do “estado da escravidão”, mesmo assim passaram à condição de libertos e sujeitos a trabalhar para o seu antigo senhor, que abusa da situação.
Por isso foi criada a Junta de Protecção de Escravos e Libertos que passou a supervisionar a defesa dos escravos e libertos em Cabo Verde.
Entretanto, a instituição revelava-se difícil de manter, porque a abolição actuou como poderoso agente de desgaste na organização político-económico e desgastava os senhores por necessitarem de escravos para viabilizar o seu sistema económico.
Abstract
Having the Cape Verdean essentially slave base, our society only steadied with the abolition of slavery which has lasted for decades in Cape Verde.
The fact that it is located far from the former colonial power, it has allowed local and foreign businessmen continued advantageous business for a long time, through the so called “smuggling “. Taking into account this feature, in Boa Vista Island was installed on a commission to prosecute offenders in the surrounding area of Cape Verde.
With the total abolition of the “state of slavery” and after they have being changed to the condition of freedmen they were still forced to work for their former lord, who abused from the situation. Therefore, by the time was created the Board for the Protection of Slaves and Freedmen who went on to oversee the defense of slaves and freedmen in Cape Verde.
However the institution proved tough to be taken under control because the abolition acted as a powerful agent of corruption on the political- economic organization and caused damages to the lords because they needed slaves to facilitate their economic system.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
106
Tendo o Cabo-verdiano uma base essencialmente escravocrata, debruçamo-nos sobre este tema com o intuito de fornecer contributos para uma melhor compreensão da nossa evolução sociocultural, considerando que a nossa sociedade só se estabilizou com a abolição da escravatura, ou seja, quando deixou de haver diferença entre “pessoas” e “peças” nas contagens da população.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
107
Embora as ideias abolicionistas se tenham desencadeado nos inícios do século XIX, a abolição da escravatura prolongou-se em Cabo Verde por décadas, na medida em que a luta contra o tráfico comercial foi um processo moroso (subjacente tanto a causas subjectivas, como objectivas).
Ao protagonizarem a abolição do tráfico atlântico, os britânicos se apresentavam como que comprometidos numa cruzada de grande significado humanista (1), mas as suas motivações eram mais materiais do que pareciam querer mostrar. Tenha-se presente que a Inglaterra foi a primeira potência europeia a levar a cabo a revolução industrial, que modificou toda a estrutura económica do velho continente. Com o desenvolvimento do seu parque industrial, os ingleses pretendiam controlar o comércio mundial no sentido de assegurarem a colocação dos seus excedentes sem quaisquer concorrentes.
No entanto, o combate pela abolição do tráfico de escravos prosseguia, enquanto opiniões contrárias imbuíam os plantadores, fabricantes e armadores dos barcos negreiros, pois tinham investido no comércio de escravos e se erguiam em defesa da manutenção da escravatura nas colónias (2).
Portanto, digladiavam-se duas posições face à política abolicionista: por um lado a vertente moralista (visível) que conduzia a um conflito entre os bons e os maus, por outro lado, a vertente materialista (oculta), que balançava entre a necessidade do trabalho escravo na periferia e os interesses macro-económicos no centro.
Contudo, ultrapassando preocupações humanitárias, sobressaiam as questões
económicas, porque ao pretenderem apenas abolir a escravatura a norte do Equador, nada impedia que continuassem a utilizar os escravos nas “culturas de plantações” fornecedoras das matérias-primas que alimentariam as indústrias europeias já mecanizadas.
1. O Processo abolicionista
Portugal não aderiu logo de início à abolição do tráfico de escravos, mas uma vez que aqueles que resistissem ao abolicionismo eram alvo de “um juízo condenatório” por parte da Inglaterra, viu-se na necessidade de se debruçar sobre o assunto, desenvolvendo ideias à volta desse tema, principalmente com o objectivo de preservar a sua imagem perante o concerto das nações.
Para tanto, Portugal começou por assinar com a Inglaterra, em 1810, um tratado em que esta se prontificava a interferir activamente de modo a serem restituídas Olivença e Juromenha, perdidas por Portugal, a favor da Espanha (Promessa que como sempre a Inglaterra não cumpriu), mediante o acordo português de numa primeira fase proibir e mais tarde abolir o tráfico de escravos.
Registe-se que na época a economia de muitos portugueses dependia do comércio escravocrata, motivo porque procuravam mantê-lo pelo máximo de tempo possível. Assim, quando Portugal foi coagido a entrar no processo abolicionista, os legisladores e diplomatas portugueses tentaram iludir a aplicação da abolição, o que conseguiram parcialmente, na medida em que a “abolição formal” continuou adiada até 1836, conquanto a verdadeira abolição só aconteceria efectivamente em 1842, após a atitude de força tomada pelos britânicos através do Palmerston
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
108
Act (3).
A polémica acerca do tráfico de escravos ganhou ênfase e os textos a este respeito dividiam-se em duas correntes: Aquela que João Pedro Marques (4) designa como a filantropia nacionalista, onde é abordada a questão humanitária; e outra defendendo que o tráfico não era verdadeiramente desumano, na medida em que oferecia uma vida mais “civilizada” a seres que na altura eram considerados inferiores.
Porém, mercê do jogo político entre as relações externas e a economia, o abolicionismo em Portugal ficaria marcado por uma posição dúbia, que se posicionava entre algum pioneirismo das medidas legislativas e a inércia na sua aplicação.
2. Tráfico clandestino
Como sua colónia e, portanto, parte integrante de Portugal, todas as fases do seu processo abolicionista se repercutiram em Cabo Verde, mas o facto de o arquipélago se localizar distante de antiga metrópole permitiu que negociantes locais e estrangeiros residentes continuassem o vantajoso negócio ainda por bastante tempo, principalmente através do chamado “trafico clandestino”.
Na realidade, foram estabelecidos acordos diplomáticos muito elaborados, instrumentos para controlar a proibição de negócio esclavagista, mas na prática surgiram estorvos difíceis de ultrapassar, devido aos estratagemas utilizados e a hábitos seculares nada fáceis de extirpar.
Como os negreiros não resistiam à sedução dos generosos lucros, astuciosamente contornaram a situação
com o estratagema do contrabando camuflado sob as bandeiras dos países que melhor escapavam ao controlo marítimo. Convém, todavia, referir que os cabo-verdianos não actuavam sozinhos. Dado não possuírem capital suficiente, constituíram-se em parceria com os espanhóis, beneficiando da premência destes em adquirir mão-de-obra para as suas colónias.
Os negociantes de Cabo Verde tinham um pormenorizado conhecimento dos rios e portos esclavagistas, bem como dos processos de comércio, enquanto os espanhóis arriscavam as suas finanças, correndo os riscos inerentes ao empreendimento, mas ambos acabavam por obter avultados lucros. Este esquema atingiu proporções tais que o governo central português se viu obrigado a intervir, proibindo o embandeiramento de navios estrangeiros em Cabo Verde (5).
Verifica-se, pois, que o tráfico clandestino se mantinha, principalmente porque o poder económico ligado ao grande negócio dominava o poder político e não interessava a nenhuma das partes o desaparecimento desta fonte de rendimentos. Quando a proibição foi decretada, tentaram prolongá-lo em regime de clandestinidade, contando com o apoio de elementos governamentais que nem sempre estavam isentos de culpas.
3. Comissões mistas
Também, com vista a estrangular este comércio foram estabelecidos tratados entre Portugal e Inglaterra no sentido de “vigiar mutuamente os seus vassalos respectivos [para que] não façam o comércio ilícito de escravos”(6). Neste sentido, “para julgar com menos demora e inconvenientes os navios que
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
109
poderão ser detidos como empregados em um comércio ilícito de escravos, se estabelecerão (…) duas Comissões Mistas, compostas de um igual número de indivíduos das duas Nações (…) Bem entendido todavia que uma das duas Comissões deverá sempre residir no Brasil e outra na costa de África”(7).
Tendo em conta este pormenor, a Comissão Mista nos domínios portugueses viu-se confinada à instalação no Brasil, deixando à Inglaterra o poder de decidir onde estabelecer a outra Comissão na extensa costa africana, ficando a descoberto toda a área circundante de Cabo Verde, onde justamente se processava a maior parte do tráfico clandestino.
Essa Comissão Mista ficou instalada na Serra Leoa e apesar de ter sido criada por pressão da Inglaterra com objectivo de diminuir o tráfico clandestino, a verdade é que também os ingleses continuavam a traficar escravos.
Acontece que uma vez apreendidas por transportarem escravos, as embarcações eram encaminhadas para a Serra Leoa. No entanto, não detectamos informações concretas sobre o destino dado a esses escravos depois da captura dos barcos, nem tão pouco se foram vendidos ou mesmo postos em liberdade. Apenas se sabe que pertenciam a quem capturasse o navio, quase sempre a marinha inglesa.
Não obstante, a partir do julgamento de embarcações apreendidas, verificaram a existência de muitas lacunas nos tratados, que eram aproveitadas pelos contrabandistas, situação que abriu caminho ao tratado de 1842 entre Inglaterra e Portugal, tentando acabar definitivamente com o negócio.
Neste contexto, em 1843 foi criada
mais uma Comissão Mista e instalada na ilha da Boa Vista com o objectivo fundamental de travar o tráfico clandestino que ainda se praticava nesta zona estratégica.
4. Junta da protecção dos escravos e libertos
Ainda relacionado com a abolição da escravatura, Portugal criou em 1854, legislação para vigorar nas suas antigas colónias, na qual considera, “o Estado o patrono e tutor natural dos escravos, dos libertos e de seus filhos. O exercício desta tutela é confiado em cada uma das províncias ultramarinas, a uma junta estabelecida nas capitais delas, que será denominada Junta Protectora dos Escravos e Libertos”. (8)
Deste modo, a Junta de Protecção de Escravos e Libertos passou a desempenhar diversas funções, visto ser extensa a lista de suas tarefas em prol da defesa dos escravos e libertos em Cabo Verde.
Contudo, a abolição total do “estado da escravidão em todos os territórios da monarquia portuguesa” (9), apenas foi decretada em 1869, mas, mesmo assim, passaram para a condição de libertos e “sujeitos a todos os deveres concedidos e impostos pelo Decreto de 14 de Dezembro de 1854”(10).
Constata-se, portanto, que apesar de lhes ter sido concedida uma pseudo-liberdade, os escravos prosseguiam sujeitos a trabalhar para o seu antigo senhor, não podendo, por isso, exercer o livre arbítrio de decidir com quem preferiam trabalhar.
Por isso, os senhores recorriam à utilização deste subterfúgio no sentido de continuarem a usufruir de mão-
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
110
de-obra barata, na medida em que praticamente quase não pagavam aos libertos, concluindo-se que os propósitos determinados no referido Decreto de 1854 só se concretizariam plenamente passados vinte anos.
5. Contexto cabo-verdiano
Embora Cabo Verde se tivesse transformado num entreposto de considerável importância, cedo iniciou-se o seu declínio, provocado não só pela desestruturação de monopólios no comércio de escravos, como também pelo corso movido por franceses e ingleses e, ainda, pela concorrência desenfreada de estrangeiros em zonas pertencentes, de direito, a Portugal.
Nas ilhas cabo-verdianas, os proprietários rurais não estavam sensibilizados nem tão pouco preparados para alterar as bases da sua gestão agrária. Assim, assistiu-se a um duro golpe na economia do arquipélago toda ela baseada na mão-de-obra escrava, ao ser decretada a “abolição imediata do referido tráfico em todos os lugares da costa de África ao norte do Equador”, suspendendo não só o lucrativo negócio, como também impedindo a renovação dos contingentes de mão-de-obra destinada à agricultura praticada em Cabo Verde, o que abalou as estruturas agricultoras.
Acresce que a nível interno sucediam-se confrontos entre morgados (e entre estes e as autoridades), a que se juntavam as secas prolongadas, que em conjunto originaram a desarticulação das povoações litorâneas e dispersão da população pelo interior das ilhas.
Igualmente, as frequentes sublevações constituíram um poderoso factor de desestabilização dos utilizadores da
mão-de-obra escrava, necessária para viabilizar o seu aparelho económico, dando, assim, indicações que a escravidão caminhava para a extinção.
A relação morgado-rendeiro também não era pacífica, na medida em que este último se sentia muitas vezes enganado nos quantitativos das rendas. Nos anos de poucas chuvas a tensão entre os dois estratos agudizava-se, porque não colhendo o suficiente para o seu sustento, o rendeiro rogava pelo direito de não pagar a renda e o morgado, por seu lado, exigia receber o valor estipulado.
Acrescente-se que a actuação dos governadores e ouvidores gerais tendiam para a prepotência e abuso do poder, estribando-se no facto de possuírem guarda-costas, recrutados na “fina flor” de marginais e degredados, que eram suportados pela fazenda real.
Outrossim, para fazer frente a possíveis retaliações, a maioria dos morgados detinham um séquito que os protegia quando se deslocavam aos centros urbanos. Vindos do interior, chegavam sempre acolitados por “escravos domésticos”, exibindo as suas armas e atemorizando os próprios governadores e capitães-mores. Portanto, quando o ambiente se tornava tenso assistia-se a demostrações de força de ambos os lados.
A instituição escravocrata revelava-se difícil de manter, porque observava-se um clima de insegurança, um estado de tensão latente durante anos, que actuava como poderoso agente de corrosão na organização político-conómica, desgastando paulatinamente o controlo do pessoal que os senhores necessitavam para viabilizar o seu sistema económico e dando indicações
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
111
claras de que a escravidão caminhava a passos largos para a dissolução.
Referências bibliográficas
1- Almeida, M. C. F. (1993). Migrações, Forjadas e Dinâmica Demográfica. Tese de doutoramento. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, p. 208.
2- “Aperçu Historique sur l’Abolition de le […] Négres ou Portugal et dans ses colonies presenté à la Commission
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
112
d’Experts en Ministière d’Esclavage” de la S. D. N., p. 136.
3- “Palmerston Act” foi a adaptação pelo Parlamento Britânico do Bill proposto pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, Lord Palmerston, através do qual se autorizavam os navios britânicos a capturar as embarcações portuguesas suspeitas de se empregarem no tráfico de escravatura.
4- Marques, J. P. (1995). “O Mito do Abolicionismo Português ”. In Actas do Colóquio “ Construção e Ensino da História de África”. Lisboa, Grupo de Trabalho: Ministério da Educação para as Comemorações Portugueses.
5- AHN, Cabo Verde, SGG, Cx. 73.
6- Art.º. I da “Convenção Adicional de 1817”. Tratados Aplicáveis ao Ultramar, coligidos e anotados por José de Almada, Vol. I, Lisboa, Agência Geral das Colónias, 1942.
7- ”Convenção Adicional de 1817”, Art.º. III. In Almada, J. (col. e org.) Tratados Aplicáveis ao Ultramar, Vol. I. Lisboa: Agencia Geral das Colónias, 1942.
8- Diário do Governo, nº 303, 28/12/1854, Art.º 9 e 10.
9- B.O. Cabo Verde, nº 46, 16/11/1857, Titulo VII, Art.º 27, p. 275.
10 - AHN, Cabo Verde, SGG, Cx. 576, Junho de 1865.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
113
CAbO VERDE: LUTAS PARTIDáRIAS NA PRIMEIRA METADE DO SéC. XIX (1821-1841)
Eduardo Adilson Camilo PereiraUniversidade de Cabo Verde (UniCV)[email protected]
Resumo
Este trabalho tem como principal objetivo fazer uma reflexão sobre as disputas político-partidárias em Cabo Verde, entre os anos de 1821 a 1842, opondo dois partidos: liberais moderados e liberais exaltados. Para tal, procura demonstrar como as elites políticas locais se apropriaram das festas religiosas para mobilizar os rendeiros do interior da ilha de Santiago em torno do partido pró-Brasil. Por outro lado, realça o projecto separatista em relação a Portugal. Propõe compreender as mobilizações políticas tanto em decorrência das reivindicações das elites políticas das ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau para a eleição de um represente junto ao governo geral quanto pela divulgação das listas de eleitores.
Palavras-chave: Cabo-Verde, história, propriedade da terra e mobilizações políticas.
Abstract
This work has as main objective to make a reflection about the party-political disputes in Cape Verde, between the years 1821 to 1842, two opposing parties: the moderate Liberals and liberal hotheads. To this end, it proposes to demonstrate how local political elites appropriated of religious parties to mobilize the tenants of the inner Santiago Island around Pro-Brazil party. On the other hand, the separatist project in relation to Portugal. It is proposed to understand the political mobilization of the claims both as a result of the political elites of the islands of Santo Antão, São Vicente and São Nicolau for the election of a general government represents and the disclosure of lists of voters.
Keywords: Cape Verde, history, land ownership and political mobilizations.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
114
Sabe-se que as elites políticas de Cabo Verde, além da implantação do regime liberal, pretendiam emancipar-se da Coroa portuguesa. Segundo o referido governador, Manoel Antonio Martins deveria ser expulso das ilhas de Cabo Verde a bem do “socego publico”, como também pelos “roubos, e fraudes” contra as alfândegas de Cabo Verde. Pelos autos da devassa, de 30 de maio de 1830, este importante negociante e contratador da urzela, pretendia vender as ilhas de São Vicente e de Sal aos ingleses. Segundo o sargendo mor da ilha de Boa Vista, João Cabral da Cunha Goldofim, as autoridades tiveram conhecimento do projeto quando, no final do mês de fevereiro de 1820 atracou no porto da ilha de Boa Vista uma escuna que transportava um importante negociante inglês de nome Mest Barba que por ter emitido Cartas de recomendação para esse sargento, obteve dele a hospedagem em sua residência. Em conversações com o inglês, soube o sargento que Manoel Antonio Martins tinha negociado a venda das ilhas de São Vicente e do Sal pelo valor de trinta mil libras esterlinas a Mest Watraman e Mest Debes, importantes negociantes ingleses interessados na exploração do sal e da urzela. Por isso, Mest Barba tinha sido convidado por Manoel Antonio Martins a ir estabelecer uma feitoria e sua respectiva governação nas duas ilhas.
Porém, quando soube que o referido negociante não tinha poderes para vender as referidas ilhas, Barba alegou que Martins tinha garantido que possuia autorização da Coroa portuguesa, a qual lhe havia feito doação das referidas ilhas. Estes fatos atestam que Martins, um liberal exaltado, pretendia colocar em execução o mesmo projeto de emancipação do Brasil, concedendo parte das ilhas,
no caso Sal e São Vicente, em que era contratador da urzela, à administração de influentes mercadores ingleses que, por sua vez, tinham interesse na separação das mesmas em relação à Coroa portuguesa. Não é por acaso que uma das primeiras determinações políticas do partido separatista foi a de entregar à administração inglesa e buscar apoios, com o envio de um grupo de deputados ao Rio de Janeiro. Além disso, a leitura desse ofício atesta que os líderes do partido separatista também buscavam apoio e proteção dos ingleses.
Por outro lado, o referido governador demonstrou a dificuldade administrativa do arquipélago em meio a disputas políticas que opunham liberais moderados e exaltados, o que designou chamar de “incêndio revolucionário”. Para este político, nunca tinha sido mais difícil administrar os rendimentos públicos, face ao “fogo revolucionario na Ilha da Boavista (…) por maquinações de João Cabral da Cunha Goldofim e Manoel Antonio Martins”. Goldofim mobilizou-se para exortar ao comandante da vila da Praia “para que se levantassem contra o seu Superior”, reivindicando os novos direitos políticos garantidos pela constituição. Apesar do “horrivel volcão revolucionario”, Pusich não quis ceder a tais “instigações”, pleiteando querer “conciliar o socego publico com a fidelidade devida a V. Mage”. Para demonstrar o seu interesse por uma governação sem prejuizo para a tranquilidade pública e do desmembramento das ilhas que compunham o arquipélago, determinou a convocação do clero, da nobreza e do “Povo” da vila da Praia, Capital do arquipélago.
Segundo este político, o seu governo se esforçou para “conservar” a união política entre as ilhas, abonando
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
115
apenas o juramento de obediência à futura Constituição, no 1º de abril de 1821, sob condição de ser aprovado pelo rei, D. João VI. O mesmo justificou sua resistência contra as iniciativas políticas dos liberais, pleiteando que o Poder Legislativo ainda residia na pessoa do rei, sendo que “tudo aquillo que não he expressa e livremente sancionado por V. Mage., não deve ser adoptado nem obedecido por seus leaes Vassalos”. Discordando das determinações administrativas do governador geral, os “revolucionarios”, compostos principalmente de comandantes militares e da Câmara da vila da Praia, prometeram “odio e amiaças” ao governador.
Por outro lado, a junta do governo constitucional de Cabo Verde não pretendia receber o novo governador nomeado de Lisboa. Segundo Carlos Antonio da Silva, uma das testemunhas ouvidas durante a devassa, o comandante da ilha de São Nicolau tinha chegado a bordo de um navio da vila da Praia, de nome “Bela Ilmor”. O mesmo dera ordem para que não desembarcasse, tendo em vista que “não podião Obedeçer a Ordem da Junta, porque esta estava deleberada a não aceitar o Governo, nem o Menistro não trazendo denheiro”. Tal iniciativa teve lugar, depois do comandante ter conversado com um “inglez de nome Rothque”, que tinha aportado em São Nicolau. A testemunha ainda confirmou que este inglês também havia espalhado a mesma notícia na ilha da Boa Vista. Além disso, reiterou que na ilha de Santiago pôde confirmar as denúncias por intermédio de Joze Joaquim de Souza Senna, o qual salientou que “Os Cabeças Erão huns poucos entrando o Contador Araujo”.17 É crível afirmar que
17. AHU, Cabo Verde, Cx. 72, doc. 43, f. 84-85.
tais mobilizações políticas contaram com a participação dos ingleses, os principais interessados na separação do arquipélago em relação a Coroa portuguesa, o que reforça o projeto das elites locais, segundo o qual pretendiam entregar-se aos ingleses.
Por outro lado, destacou na Carta dirigida à Coroa portuguesa, que cedeu ao “violento procedimento” não só para poder evitar uma “anarquia”, como também para “poupar àquelles Habitantes as desgraças”. O risco de anarquia decorria tanto da diversidade de opiniões quanto da oposição que determinado número de pessoas faziam às inovações introduzidas. Segundo este, apesar de todas as “maquinações” dos “revolucionarios”, muitos habitantes, reconhecendo a “ilegalidade e fraude” de tais iniciativas, não quiseram reconhecer outro governo. Para garantir a tranquilidade pública, decidiu abandonar a ilha de Santiago, fixando residência na ilha do Maio, para que a sua presença “não viesse a servir de alvo aos descontentes” que, por meio de tais “innovações”, poderiam promover ainda mais discórdias. Tal decisão decorria da necessidade de acalmar os ânimos tanto dos liberais moderados como dos exaltados, diante da ameaça que um “conflito d’aquelles partidos, degenariam huma cruel, e sanguinolenta Guerra Civil”.18
Segundo o então governador geral, Antonio Pusich, Manoel Antonio Martins e João Cabral da Cunha Goldofim, respectivamente contratador da urzela e comandante deposto da ilha da Boa Vista, andaram por todas as ilhas de Cabo Verde a divulgar, por meio de “papéis”, as bases da nova Constituição, fazendo com que os seus
18. AHU, CU, Cx. 80, doc. 84, de 27 de Julho de 1825.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
116
habitantes passassem a reivindicar a adoção do mesmo sistema político em Cabo Verde. Segundo os testemunhos prestados por “alguns dos mais poderozos habitantes daquella ilha”, Goldofim liderava um movimento de separação e independência em relação ao governo geral, na vila da Praia, com a adesão à nova forma de governo constitucional implantada em Portugal. Em segundo lugar, pretendia levar aqueles princípios a todas as ilhas de Cabo Verde, principalmente à ilha de Santiago. O governador temia ainda que a capital seguisse o mesmo exemplo das demais ilhas, uma vez que se constatou que Manoel Antonio Martins foi apontado como o principal líder do partido separatista. Para conseguir colocar em prática o projeto, deslocou-se de ilha em ilha, aconselhando e coletando assinaturas dos seus habitantes. Na ilha de Santiago, temendo que a capital seguisse o mesmo exemplo, tendo em vista que os habitantes encontravam-se numa “terrivel anarquia”, o governador geral reuniu-se com as principais autoridades locais, temendo pela “unidade desta Capitania”.19 Foi assim que os mais influentes dentre as populações das ilhas de Santo Antão e São Nicolau, em troca da sua obediência à capital da província, na vila da Praia, exigiram, por meio de um ofício à Coroa portuguesa, de 15 de maio de 1821, que o governo-geral procedesse à eleição de uma Junta provisória, eleita pela “pluralidade de votos das ilhas adjacentes”.
Para tal, tornava-se necessário que os candidatos fossem escolhidos dentre os “cidadãos de conhecida virtude, crente em Deus, amado dos povos e de firme carater”. Primeiramente, o escrivão da Câmara Municipal e o escrivão da
19. AHU, Cabo Verde, Cx. Nº 70, Doc. Nº 52.
Correição deveriam solicitar o nome do “votado”, abrindo a sessão de votação. Encerrada a votação, os mesmos deveriam fazer a contagem dos votos e assinar as atas de votação. Por sua vez, a câmara deveria publicar o edital com os nomes dos seus representantes legais junto da Junta de Governo, “por pluralidade de votos”, na vila da Praia. O resultado da apuração apontou Serrafim Joze de Barros, como vencedor das eleições, com 377 votos válidos, seguido por Antonio Gomes da Fonseca, comandante deposto do cargo, com 24 votos. Os demais candidatos obtiveram quatro votos, num total de 105 votantes.20
Segundo Manoel Nicolau Pacheco, uma das testemunhas ouvidas pelo juiz ouvidor, Nicolau dos Reis Borges, reiterou ter ouvidos dos “representantes” que o tenente Torres havia declarado na loja do Coronel Joaquim Joze Pereira, “q. havia huma facção nesta Ilha (Santiago), q. tem papeis formados, e assinados afim de não ser recebido nesta Provincia o novo Governo, Ministro, e Tropa q. em Portugal foy Despachado”. Os autos ainda permitem sustentar que, além das assinaturas colhidas e do convite formulado ao governo do Rio de Janeiro para que viesse se apoderar da administração das ilhas, os revoltosos “organizaram uma anarquia”, como forma de proteger “o seu sistema político”. É crível ainda reiterar que os membros da Junta do governo constitucional de Cabo Verde, por meio de reuniões secretas organizavam-se para impedir o desembarque do novo governador nomeado de Lisboa. Esta hipótese foi reforçada por Luiz Antonio Basto, uma das testemunhas ouvidas, o tenente Torres tinha dito ter visto “várias nomes de pessoas que querão não
20. AHU, Cabo Verde, Cx. Nº 71, Doc. Nº 6, de 7 de Dezembro de 1821.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
117
entrasse aqui o Governo Constitucional”. Também confirmou que o referido tenente admitiu ter ouvido a conversa diretamente de “hum homem de cazaca” na mesma loja, na presença de “tres homens de Jaqueta”, que depois veio a saber que eram oficiais do exército.21 Os sucessivos governadores mandados para a província eram vistos como sendo “monstros e rattos que vinha os roubando o povo”.22
Sabe-se ainda, pelas declarações prestadas por Francisco Moniz Silva, caixeiro do coronel Joaquim Joze Pereira que um indivíduo “europeo” tinha mostrado um papel, contendo várias assinaturas de pessoas naturais da ilha de Santiago. 23 A estratégia de mobilização utilizada foi proceder à recolha de assinaturas dos rendeiros descontentes e assim poderem constituir uma “Junta da terra” e, consequentemente, eleger os seus deputados. Além disso, pretendiam enviar uma “deputação” ao Rio de Janeiro, a fim de conseguir apoios da Corte.24
Joze Varella e Luis Dias tinham sido chamados à cidade da Ribeira Grande tanto pela Câmara quanto pelo “cabido”25, com a finalidade de preparar os planos da “revolução”, o que confirma o envolvimento de alguns cônegos da mesma cidade.26 Numa carta encontrada por Prospero da Veiga
21. AHU, Cabo Verde, Cx. 72, doc. 43, f. 27-35.22. AHU, Cabo Verde, Cx. Nº 60, Doc. Nº 39.23. Bourdieu, P. (2007). O poder simbólico.
Tradução de Fernando Tomaz. 11ª ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p. 145.
24. Remond, R. (2003). Por uma história política. 2ª ed., Rio de Janeiro: FGV, p. 35-36.
25. Agrupamento de cônegos ou de outros sacerdotes, instituído para assegurar o serviço religioso numa igreja ou catedral.
26. AHU, Cabo Verde, Cx. Nº. 72/ Doc. Nº. 44, de 16 de Maio de 1823.
Albernaz, “chantre”27 da Sé Catedral da Ribeira Grande, enviada para Guiné com o furriel de Cavalaria, Manoel Gomes, foi constatado que este último havia reiterado que: “(...) nos, fomos chamados pello nossos Comandantes para juraramos a Constituição, e assim Como fomos a Conselhados pellos dittos nossos Commandantes para Recuzar-mos o Governo que viese do Reyno, e so cremos o Governo da Terra”.
A indecisão é visível ainda nesta outra correspondência de Manoel da Penha Gomes, morador de João Tevês, interior da ilha de Santiago, datada de 13 de janeiro de 1823, segundo a qual “(...) Estamos aqui atrapalhado com constituição ou como chama, os soldados todos a hirem Cazas de seos Comd.tes jurar a dita (constituição) p.a que asistamos os governadores de nossas terras p.ª q. naõ queremos domar enfim (conforme) vm.e (devidamente) bem sabe atrapalhada de nossa terra (...)”.28
Ao mesmo tempo em que os comandantes militares mobilizavam os soldados da ilha de Santiago, os padres do interior da ilha arregimentavam os devotos durante as principais festas religiosas. Na Igreja de São Salvador do Mundo, Joze Pereira de Carvalho convocou os “povos” para assinarem qual dos governos era de sua preferência, se o de Lisboa ou o do Brasil. Segundo os autos, a maioria posicionou-se a favor do governo de Lisboa. Não deixa de reconhecer que os líderes pretendiam “fazer cabeça” dos habitantes da ilha de Santiago, sede do governo, para não receber o governo nomeado de Lisboa.
Segundo os autos da devassa, tanto
27. Alto dignitário eclesiástico no cabido de uma catedral, que correspondia a diretor do coro.
28. AHU, Cabo Verde, Cx. Nº. 72/ Doc. Nº. 43, de 16 de Maio de 1823, f. 74-75.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
118
o Pastor Calisto quando “huma mulher da freguesia de Santa Catarina” vinham aconselhando os rendeiros a optar pelo governo do Rio de Janeiro. O referido pastor andava pelas ribeiras das freguesias dos órgãos e de Santa Catarina, interior da ilha de Santiago, a convocar rendeiros a resistirem e recusarem o novo governador vindo de Lisboa. Para cumprir as determinações dos cônegos Matheus e Rodrigues, o pastor ameaçava amarrar com corda todos aqueles que não aderissem aos princípios do partido, à semelhança das sanções impostas aos membros da tabanca.
A própria medida preventiva que autorizou o degredo provisório do Major Sanches e do Capitão-mor Carvalho, respectivamente para a ilha do Fogo e da Brava, a bem do “sossego público”, demonstra o receio de uma revolta de todos os rendeiros da ilha de Santiago. Tal decisão foi reforçada pelo fato dos autos do processo os terem acusado de fomentarem “huma revolução”, o que os tornava altamente perigosos. Segundo os autos, “devem ser temporariamente removidos para fora desta Ilha, não so para exemplo, mas porque incumbe á policia desviar em tempo tudo, quanto possa ameaçar, e offender o socego publico”.29
Para o governador geral, Joaquim Pereira Marinho, a subordinação ao domínio português estaria comprometida caso estas famílias não quisessem ser “compatriotas e amigos da Nação – Portugueza”. Não foi por acaso que entre 1831 e 1839, tanto os moderados quanto os exaltados dirigiram inúmeros ofícios à Coroa portuguesa propondo a transferência da sede do governo para as demais ilhas de
29. AHU, Cabo Verde, Cx. 72, doc. 43, f. 11.
barlavento30, como sejam: Santo Antão, São Vicente e São Nicolau. Pelo fato da infantaria ser constituída, na maioria das vezes, por filhos dos rendeiros do interior da ilha de Santiago, gerava certo receio de se utilizar a força militar tendo em vista o risco de deflagração de uma guerra civil na ilha. Marinho foi um dos governadores que mais receio demonstrou em relação a uma possível tomada do poder político por parte das populações do interior da ilha.
À margem das manobras políticas que visavam que a sede do governo colonial fosse mantida na ilha de Santiago, Manoel Antonio Martins, liberal exaltado assumido, apresentava-se como um forte opositor político de Marcellino Costa. Ao ser nomeado como prefeito de Cabo Verde, esforçou-se em incriminá-lo, reiterando que este alienava bens do estado de forma “illegal, e despotica”. Para o referido prefeito, este opositor político utilizava-se do seu cargo e da confiança dos morgados do interior da ilha de Santiago para alienar bens em favor dos seus principais aliados políticos. Por isso, a prefeitura deveria proceder ao “sequestro dos bens” de todos os morgados que tinham adquirido de forma ilegal as terras no interior da ilha. Em 13 de janeiro de 1834, Marcelino Rezende Costa, escrivão e deputado da Junta da Administração e Arrecadação da Fazenda Pública, por meio de um ofício dirigido à rainha Dª. Maria II, acusou o contratador da urzela, Manoel Antonio Martins, de praticar vários desmandos, dentre os quais destacamos: obrigar homens forros (rendeiros) a trabalhar nos domingos e dias santos; de, no momento do pagamento dos insignificantes salários com roupas, os rendeiros serem
30. Conjunto de ilhas ao norte do arquipélago de Cabo Verde.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
119
ameaçados, insultados e presos.31
Os adversários políticos de Martins eram, em grande parte, seguidores de Baptista32, na maioria dos casos formados de liberais exaltados, eram conhecidos em Cabo Verde como grandes defensores e promotores do abolicionismo, divulgando doutrinas religiosas contra a escravidão e o monopólio. Dentre as suas principais vítimas, António Manoel Martins destacou o nome de João Joze Antonio Frederico, ex-tesoureiro da Junta da Fazenda. Em 1831, foi forçado por este segmento político a abandonar a sua casa e a sua família, aonde não regressou até 1834, aquando da instituição dos corpos administrativos da prefeitura da província de Cabo Verde e Guiné. Segundo o mesmo prefeito, tratar-se-ia de “hum dos filhos destas Ilhas, em que se encontra mais illustração, á qual reune conhecimentos locaes da Provª, e que as suas virtudes civicas são geralmente reconhecidas”. Como forma de reparação política, pediu ao prefeito de Cabo Verde o cargo de sub-prefeito da camara da Guiné, somando ao pedido feito também um pelo Coronel Joaquim Antonio de Mattos que, segundo Martins, fez “penozos (…) sacrificios a prol da cauza das Liberdades Patrias”. A estratégia política de Baptista consistia na perseguição e na expulsão do arquipélago de todos aqueles que se opusessem às medidas administrativas tomadas pelo governo-geral.
Segundo o governador e tenente Serrão, na mesma carta dirigida ao coronel governador-militar da ilha de Santiago, Gregório Freire de Andrade,
31. AHN, SGG, Portarias e estudos do Tesouro Público (Fevereiro – Setembro/1835). Originais e cópias manuscritos. Cx. 285.
32. Secretário de D. Duarte, governador geral de Cabo Verde em 1830.
havia reiterado que em 1838 preparava-se para declarar-se uma “revolução em Portugal”, devendo ser alargada a Cabo Verde. Para este, a Carta atesta que o referido tenente fazia parte do grupo de “conspiradores”, tendo em vista que “pertenceo ao partido dos revoltosos”. Por isso mesmo, o governo geral decidiu enviá-lo de volta a Portugal, tendo em vista a sua grande influência sobre as elites políticas da ilha de Santiago. A resistência à dominação pode ser constatada no princípio, segundo a qual “o Pico d´Antónia [cume mais alto da ilha de Santiago] é quem nos tem livrado e há de livrar do demonio dos brancos”.
(…) D´estes principios e de outros que eu não exponho para não alongar mais este officio, deve-se concluir que se os portuguezes são hoje senhores da Ilha de S. Thiago, é porque as familias indigenas do paiz mais influentes são nossas amigas, e querem que a Ilha, esta Provincia toda seja portugueza, por que logo que elles não queserem ser nossos Compatriotas, parece-me que de certo os não podermos obrigar ao dominio portuguez. 33
Segundo o governador, brigadeiro Joaquim Pereira Marinho, Manuel Antonio Martins era um dos principais suspeitos da organização de um projeto de “revolução”, tendo como referência a fazenda de Monte Agarro, numa das “cazas” pertencentes a este influente político. Tal suspeição foi reforçada quando o mesmo governador reiterou que “O Coronel Martins esteve na Villa da Praia desde Setembro até Dezembro (…) sem fim algum conhecido, esperando pelo desinvolvimento desta revolução, e logo que ella foi extincta, retirou-se para Boa Vista”.34 O testemunho deste é
33. AHU, SEMU, Cabo Verde, Cx. Nº 55.34. Marinho, J. P. Memória Official em resposta
às accusações dirigidas A Sua Magestade contra
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
120
igualmente importante, ao demonstrar que o projeto de tomada da ilha de Santiago, com o assassinato de todos os brancos e proprietários, remontava os anos de 1822, com a introdução do liberalismo no arquipélago.
Sabia que os escravos, resolvendo-se um a assassinar seu Senhor no interior, ou a qualquer proprietario, conforme era o plano que tinham, e o que podia acontecer por embriaguez, desordem ou qualquer incidente, que apparecesse, desinvolveriam imediatamente a revolução: o plano reduzia-se, a todos os escravos matarem a seus Senhores, a uma mesma hora, e todos os pobres matarem todos os proprietários; principiando a revolução, desinvolvia-se com a rapidez da luz; os escravos, e pobres tornavam-se Senhores do interior da Ilha de S. Thiago, seguia-se logo a guerra de côr: mata que é branco; então ser-me-hia impossivel rebater a revolução, e acabaria em pouco tempo com a gente, que me fosse fiel.35
Era de tal ordem a organização em torno da organização da revolução que, segundo Marinho, existia um “Club director” em Monte Agarro, tendo por finalidade “assassinar todos os brancos e proprietários”, tendo instruído os seus membros que “no espaço de dezoito legoas (…) todos os escravos deveriam assassinar seus senhores a uma mesma hora dada”. Nem mesmo os proprietários detinham conhecimentos precisos dos projetos da revolução que se pretendiam fazer na ilha de Santiago – “o segredo era tal, que sendo a revolução, geralmente conhecida de todos os pretos pobres, e pretas da mesma ordem, ninguém a tinha denunciado”. A revolução que se pretendia implantar na ilha de
o governador geral da provincia de Cabo Verde, o brigadeiro Joaquim Pereira Marinho. Lisboa: Typografia de A. S. Coelho, 1939, p. 82.
35. Idem, p. 81.
Santiago seria despoletada a partir de “uma guerra civil de côr”. Para Marinho, Martins estava por detrás de todos os projetos para que fosse declarado uma revolução na ilha de Santiago. Para tanto, criou um “Club Conspirador”, preparando os seus escravos para liderarem a tomada do poder político na ilha de Santiago. Também defendeu-se das acusações de Martins, reiterando que “quem a promoveu, e quem andava em procissão á testa dos proprietarios, era Martins”.
Segundo Marinho, todas as precauções políticas deveriam ser adotadas na comunicação com o interior da ilha de Santiago, pois “com os dos interior era perigoso, porque podia ser que os escravos persentissem as communicações, e logo que as persentissem, desinvolvessem a revolução”. Era preciso desenvolver toda uma estratégia política para evitar a eclosão da revolução, pois do contrário “era impossivel evitar que toda a Ilha não fosse perdida”. Era tamanha a influência de Martins sobre a administração de Cabo Verde, que levou Marinho a considerar que “esta província é dominada há muitos annos pela facção martinista … tem feito na mesma provincia, em todas as epochas, tudo quanto tem querido, tem roubado, tem perseguido, tem assassinado, e tudo impunemente … tem dominado todos os governadores”. Todos que não fossem “martinistas” eram perseguidos ou mesmo expulsos do arquipélago.
Para este governador geral, a ser iniciada, a revolução seria um sucesso, tendo em vista que a infantaria colonial era constituída, na sua maioria, de “recrutas pretos, como os escravos, da classe dos vadios dos Campos, e de ladrões, ou ratoneiros”. Destacou ainda duas dificuldades que afetavam toda a estrutura militar no arquipélago.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
121
Primeiro, tendo em vista que os soldados eram amigos dos escravos que pretendiam fazer a revolução. Tal amizade advinha dos rituais em torno da cultura local – “costumados a viver juntamente, e a divertirem-se de continuo com elles nos batuques (…) e habituados a viverem em família”36. Este fala nos possibilita compreender que os habitantes da ilha de Santiago congregavam-se de tal forma em torno do batuco e da tabanca, ao ponto de considerarem-se uma grande família. Segundo, os próprios “cabos” conheciam todo o projeto de revolução a ser declarada na ilha de Santiago, preparando-se inclusive para a apoiar, em caso de concretização. Quando fosse declarada a revolução, os soldados desertariam, fazendo aumentar o número de escravos e rendeiros revoltosos. O grande objetivo dos atores da revolução consistia em se apoderar em das “propriedades, e das mulheres” e nomear como governador geral, o coronel Manoel Antonio Martins.
Por outro lado, os projetos da revolução estavam de tal sorte vincados entre os escravos e rendeiros do interior da ilha de Santiago, que levou Marinho a considerar que “Se eu deixasse então progredir a revolução, e assassinar os meus concidadãos desta Provincia, e me retirasse para onde podesse ficar mais seguro, era certamente réo (…) que não tinha forças para sugeitar os escravos rebeldes”37. O objetivo do governador visava “salvar” os interesses político-económico da Coroa portuguesa presentes nas ilhas de Cabo Verde e não ser responsabilizado pela mesma.
36. Idem, p. 81.37. Idem, p. 85.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
122
Referências bibliográficas
Berstein, S. (2007). “Os partidos”. In: Rémond, R. Por uma história política. Trad. de Dora Rocha. 2ª ed., Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.
Bourdieu, P. (2007). O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 11ª. ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
Duverger, M. (1985). Os grandes sistemas políticos: instituições políticas e Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1985.
Galvão, H. e Selvagem, C. (1951). Império Ultramarino português. Lisboa: Imprensa Nacional de Publicidade, v. I.
Marinho, J. P. (1939). Memória Official em resposta às accusações dirigidas A Sua Magestade contra o governador geral da provincia de Cabo Verde, o brigadeiro Joaquim Pereira Marinho. Lisboa: Typografia de A. S. Coelho.
Pusich, J. A.(182?) . Subsídios para a história da administração pública na Guiné e em Cabo Verde no séc. XIX. In: Coleções da BNL, Cód. 743.
Remond, R. (2003). Por uma história política. 2ª ed.. Rio de Janeiro: FGV.
Manuscritos
Arquivo Histórico de Cabo Verde (A.H.N.) – Secretaria Geral do Governo (S.G.G.).
Caixa: nº 285;
Arquivo Histórico Ultramarino (A.H.U.) – Cabo Verde – Conselho Ultramarino (C.U.). Caixas: 55; 60; 69; 70; 71;72; 80;
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
125
A IMPRENSA MéDICA EM PORTUGAL
Inês Mendes Moreira ArosoUniversidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Labcom/UBI
[email protected]; [email protected]
Resumo
Neste artigo, traçar-se-á a trajetória evolutiva da imprensa médica em Portugal. Inicialmente, descrever-se-ão os marcos mais importantes da História da imprensa científica em geral neste país e, posteriormente, o caso particular da imprensa médica.
Palavras-chave: imprensa científica; imprensa médica; jornalismo médico.
Abstract
In this article, it will be traced the evolutionary trajectory of the medical press in Portugal. Initially, will be described the most important milestones in the history of scientific press in general in this country and, subsequently, the particular case of the medical press.
Keywords: scientific press; medical press; medical journalism.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
126
1. A imprensa científica em Portugal
A Real Academia de Ciências de Lisboa38, fundada em 1779, foi fundamental para divulgar e publicar as obras dos cientistas portugueses. Foi “uma entidade dinamizadora e produtora de publicações periódicas que tinham como nota dominante a divulgação dos trabalhos, e dos estudos científicos, dos seus sócios” (Nunes, 2001: 41). A partir dessa época, as “Memórias da Academia” constituem um elemento essencial de referência para conhecer e avaliar a atividade científica no país (Cf. Santos, 1986: 299). Nesse mesmo ano, surge o “Jornal Encyclopédico”, estando assim lançada em Portugal a matriz dos periódicos de índole enciclopedista (Cf. Nunes, 2001: 56).
No final do século XVIII, “irá nascer um tipo de imprensa periódica (nacional e patriótica, mas não nacionalista) de visão cosmopolita, útil e individualista do papel da ciência, sobretudo das ciências do homem (medicina incluída) e das ciências da natureza” (Nunes, 2001: 45). “Até 1807 cada jornal polarizou um conjunto de verdades e de saberes individualizados, e socialmente prestigiados, pela cientificidade dos seus propósitos” (Nunes, 2001: 45). A junção de questões políticas, científicas e culturais é destacada por Egídio Reis, que testemunha a existência de jornais nos séculos XVIII e XIX em Portugal cujo “papel de divulgação científica é inseparável da sua atuação política e dos seus projetos de transformação política e cultural do país” (Reis, 2004: 13). Porém, “o empenhamento destes periódicos em combinarem habilmente
38. O nome original era: “Real Academia de Sciencias de Lisboa”.
a política, a ciência e a literatura vai desaparecendo à medida que as convulsões políticas e ideológicas se vão agravando em Portugal” (Nunes, 2001: 110). Assim, a partir de certa altura, havia o ideal de “utilizar a informação como mola de desenvolvimento do país, permitindo, a longo prazo, o estabelecimento de um intercâmbio de informação entre Portugal e outros países desenvolvidos” (Reis, 2004: 13).
Por outro lado, “um dos fenómenos mais interessantes a que se assiste nos finais do século XVIII, início dos século XIX, é o desenvolvimento da imprensa especializada” (Tengarrinha, 1965: 52). Deste modo, “depois dos jornais políticos e noticiosos do século XVII, e a par dos de divulgação de conhecimentos gerais, surgem em número cada vez maior periódicos que tratam apenas ou predominantemente de um assunto” (Tengarrinha, 1965: 52).
Passando para dados concretos, “desde início de 1749 até finais de 1807, apareceram no nosso país 11 jornais literários e musicais, 7 científicos, 6 históricos, 3 comerciais, 2 de agricultura e 1 feminino” (Tengarrinha, 1965: 52). Os jornais científicos eram: o “Zodíaco Lusitano” (Porto, 1749), “Semanas Proveitosas ao Vivente Racional” (Lisboa, 1759-1760), “Diário Universal de Medicina Cirurgia e Farmácia” (Lisboa, 1764 e 1772), “Efemérides Náuticas ou diário astronómico calculado para o meridiano de Lisboa”, publicado pela Academia Real das Ciências de Lisboa (Lisboa, 1789-1860), “Ano Médico” (Porto, 1796), “Efemérides Astronómicas” (Coimbra, 1804-1889) e “O Engenheiro Civil Português” (Lisboa, 1804)” (Cf. Tengarrinha, 1965: 52). Entre estas publicações, “os assuntos médicos e astronómicos (por vezes relacionados)
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
127
são os mais focados, sendo também interessante referir o muito elevado número de assinantes do periódico sobre engenharia” (Tengarrinha, 1965: 52).
Ainda no século XIX, “a data simbólica de 24 de Agosto de 1820 alterou a história da imprensa em Portugal, nomeadamente a do periodismo científico, de modo significativo. A instauração do liberalismo entre nós trouxe modificações no modo de (in)formar o público leitor” (Nunes, 2001: 99). Então, “a secundarização da cultura técnica e científica no período vintista é uma explicação plausível para o reduzido número de títulos existentes nestes catorze importantes anos (1820-1834) da vida portuguesa” (Nunes, 2001: 100). Tem como consequência “a secundarização do publicismo científico” (Nunes, 2001: 101).
A mudança aconteceria alguns anos mais tarde, sendo que, “em Portugal, a data de 1834 simboliza a grande revolução imaginária e real em que há aceitação da crença no progresso científico” (Nunes, 2001: 125). Pouco depois, “no final de 1837 aparecia o modelo de periódico publicista que veio revolucionar por completo a história da imprensa periódica portuguesa” (Nunes, 2001: 132). “A entidade privada denominada Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis considerou empresarialmente rentável, e útil, à nação liberal fundar um periódico semelhante aos publicistas ingleses, de grande circulação e de baixo custo integrado num esforço nacional de elevar o grau de instrução de que a nação tanto carecia” (Nunes, 2001: 132). Tendo-se demonstrado o papel da eficácia cultural da imprensa na valorização de cada cidadão, estava descoberta em Portugal a matriz de uma imprensa popular, instrutiva e de
baixos custos (Cf. Nunes, 2001: 132).
Em suma, “os periódicos de divulgação dos conhecimentos científicos inserem-se numa dinâmica mais vasta: a crescente influência das Luzes na opinião pública, traduzidas em utilitárias propostas técnicas e científicas” (Nunes, 2001: 30).
A partir da década de 30 do século XIX:
o jornal deixou de ser olhado como um vínculo cultural individualizado, ou centrado na personalidade forte e quase militante de um diretor ou de um redator; tratava-se agora de um conjunto de colaboradores especializados em várias áreas temáticas, que semanalmente enviavam para as redações o material produzido, compilado, traduzido (Nunes, 2001: 134).
A verdadeira especialização surge apenas na segunda metade do século XIX, quando aparece imprensa especializada, vocacionada para um único ramo do saber, um grupo de leitores muito específico e, portanto, restrito (Cf. Nunes, 2001: 155). Anteriormente, no século XVIII, “os periódicos que, nas suas páginas, contemplam exclusivamente assuntos científicos e técnicos constituem um grupo deveras singular” (Nunes, 2001, p. 65).
2. A imprensa médica
O primeiro jornal médico português, o “Zodíaco Lusitano”, surgiu no Porto, em 1749, pelas mãos do médico Manuel Gomes de Lima Bezerra, que havia criado um ano antes aquela que se viria a tornar dez anos depois a Academia Real Cirúrgica Portuense (Cf. Pina, 1945: 21-22). Este “não era um periódico exclusivamente consagrado a assuntos
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
128
de Medicina” (Cardia, 1965: 13), o que aconteceu com primeiros jornais científicos de um modo geral. É de assinalar que o “Zodíaco Lusitano”, do qual só se publicou um número, dizia-se órgão da Academia dos Escondidos, formada por três médicos, dois cirurgiões e dois boticários, organizados por Manuel Bezerra (Cf. Carvalho, 1932: 7-8). Seguiu-se outro periódico (1764 e 1772) dirigido pelo mesmo médico e do qual saíram três números: o “Diário Universal de Medicina, Cirurgia e Pharmácia” (Carvalho, 1932: 10). Nesse período, também se publicou o “Anno Médico” (1796) e a “Biblioteca de Cirurgia” (1789). Além disso, durante o século XVIII, houve muitos periódicos que, a par de artigos literários, artísticos, noticiosos ou de outras ciências, continham escritos médicos numerosos e importantes, como, por exemplo, “A Gazeta Literária” (1761) (Cf. Carvalho, 1932: 26).
O período de 1778 a 1820 correspondeu a um grande aumento do número de publicações periódicas, em Portugal. Em 1779, surge um dos periódicos mais importantes para a divulgação da informação científica em Portugal: o “Jornal Enciclopedico Dedicado á Rainha N. Senhora”. Este pretendia preencher um espaço, até então vago, no fornecimento regular de informação a um público cada vez mais interessado nesse tipo de informação. Portugal seguia, desta forma, um caminho já traçado por outros países europeus que tinham criado as suas academias científicas e multiplicado o número de periódicos dedicados à informação científica (Cf. Reis, 2004).
Já no século XIX, há quem considere que o tempo entre 1807 e 1828 foi “um período estacionário no respeitante à comunicação médica” (Caeiro, 1979: 5).
No entanto, Eduardo Ricou constata que “antes de 1825 já a imprensa constituía uma preciosa fonte de informação sobre a orientação e trabalhos da Medicina portuguesa” (Ricou, 1987: 1) Na verdade, foi durante este tempo que surgiu o “Jornal de Coimbra”, “escrito em Coimbra e editado em Lisboa, na Impressão Régia, entre 1812 e 1820 (Nunes, 2001: 80). Curiosamente, “este periódico teve como membros fundadores e diretores três lentes da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra – José Feliciano de Castilho, Ângelo Ferreira Diniz e Jeronymo Joaquim de Figueiredo”. O mais pertinente é que “o lugar de destaque dado às notícias da ‘arte de curar’ não se pode atribuir apenas às prioridades científicas dos diretores. Este facto está relacionado com a ideia de fundar um jornal oficial, científico, no âmbito da Medicina que estivesse diretamente ligado à Universidade de Coimbra” (Nunes, 2001: 80). Mais concretamente, “os Governadores do Reino determinaram em Portaria de 24 de Outubro de 1812 a necessidade de dar avanço ao saber da Medicina, dando o mote para um periódico universitário que deveria contribuir para o alargamento, e aperfeiçoamento, do estudo da Medicina entre nós” (Nunes, 2001: 80-81).
Mais tarde, em 1835, edita-se a primeira e mais antiga revista médica que se publica em Portugal e uma das mais antigas no mundo que mantém o título original: o “Jornal das Ciências Médicas de Lisboa”39, órgão da Sociedade com o mesmo nome. Esta publicação, em 1836, passou a designar-se “Jornal da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa” e “tornou-se o principal órgão
39. Atualmente, apenas se publica na Internet, estando disponível em: http://www.scmed.pt/np4/5 (consultado a 15/03/2011) e não há uma versão impressa.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
129
da classe médica portuguesa” (Ricou, 1987: 1-2). Portanto, “a atividade médica de Lisboa tinha nessa Sociedade e, portanto, no respetivo jornal a sua expressão mais direta, e de ali se fazia ouvir pelos poderes públicos” (Ricou, 1987: 2). Entre os seus conteúdos estavam: “observações de casos clínicos, artigos doutrinários, apreciações e discussões” (Ricou, 1987: 2).
Maria de Fátima Nunes realça que “a história da Medicina em Portugal virou uma página da sua existência a partir da década de trinta do século XIX” (Nunes, 2001: 129). Para tal, contribuíram vários fatores endógenos da sociedade portuguesa, e dos seus traços culturais e científicos, que influenciaram o movimento específico da imprensa médica: o espírito de abertura e inovação fomentado pelo regresso dos bolseiros portugueses formados na escola inglesa no meio médico-cirúrgico português; o retorno da intelectualidade de diversas formações académicas e científicas de França e de Inglaterra e, não menos importante, a tradição que a imprensa médica já tinha em Portugal desde o século XVIII (Cf. Nunes, 2001: 129). Neste contexto, é “lícito inserir o aparecimento de duas publicações periódicas médicas, mas sob os auspícios do Estado, concretizando alguns dos planos liberais relativos à saúde pública. Referimo-nos aos “Annaes das Sciencias Medicas” e aos “Annaes do Conselho de Saúde Pública do Reino” (Nunes, 2001: 129). A partir de 1835, surgiram muitos periódicos médicos, isto é:
um vasto universo de produção de leitura ou de leituras médicas, e de ciências acessórias, escritas para um universo restrito: páginas preenchidas com artigos sobre variados casos e doenças de foro clínico, relatórios hospitalares,
informações meteorológicas cruzadas com observações agronómicas, propostas ou relatos das reformas das instituições médicas (Nunes, 2001: 130).
Apesar de tudo, “no último quartel do século XIX a decadência e o atraso das escolas de Medicina em Portugal eram ainda bem evidentes” (Carvalho, 1932: 30). Fazia-se sentir a falta de “uma alta voz desta campanha de reformas e progressos, iniciando uma vida nova que promovesse a assistência, renovasse o ensino e dignificasse a profissão” (Carvalho, 1932: 32). Foi neste âmbito que, em 1883, surgiu “A Medicina Contemporânea”, relevante pela sua importância e durabilidade, já que a publicação só terminou em 1925 (Sacadura, 1945:16-20). Em termos de conteúdos:
não só se publicavam notícias interessantes relativas ao país e ao estrangeiro, contas desenvolvidas de congressos, observações, resumos de artigos doutras revistas, análises de teses, notas biográficas e bibliografias, mas também protestos e reclamações e muitas vezes alvitres sobre questões importantes até então descuradas ou ignoradas (Sacadura 1945: 35).
Estas questões eram, entre outras: “o ensino, associações médicas de classe, do inconveniente de permitir a entrada aos médicos espanhóis, do estado dos hospitais, da defesa sanitária internacional” (Sacadura, 1945: 35).
Conjugando o valor do “Jornal das Ciências Médicas de Lisboa” com a mais-valia do “A Medicina Contemporânea”, Silva Carvalho sustenta: “se todos os livros de Medicina portuguesa se perdessem, salvando-se apenas estas duas publicações, seria possível reconstruir a História da Medicina em Portugal a partir do princípio do século
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
130
XIX” (Cit. Pina, 1945: 31).
Outro fator a ter em conta é que muitos dos jornais existentes na época baseavam-se em “traduções de publicações estrangeiras” (Ricou, 1987: 3). Tal como se verá mais adiante, na atualidade também são muitas as edições portuguesas de publicações estrangeiras à disposição dos médicos, em Portugal.
Em 1884, surgiu a revista “Saúde Pública”, que dizia conter “o espírito do derramamento social da Ciência, pretendendo servir a coletividade humana em geral, e não apenas a comunidade restrita dos médicos” (Gonçalves, 1989: 17). Mais tarde, em 1897, surge uma terceira gazeta, novamente designada “Gazeta Médica do Porto”. A “Gazeta dos Hospitais do Porto”, publicada a 1907, viria a ser o último exemplar do apelidado “gazetismo médico”, dado que, depois da implantação da República, não houve mais alguma nova publicação médica com o título de “gazeta” (Cf. Gonçalves, 1989: 22-23).
É “no século XX que a imprensa periódica vai deparar-se com o trinómio: necessidade de produção em massa, difusão à maior distância e mais rapidamente possível” (Caeiro, 1979: 7). De facto, em 1965, “a moderna imprensa médica portuguesa situa-se num plano de relevo no cenário médico-jornalístico europeu, tendo atingido um nível dos mais elevados, não só do ponto de vista científico, mas também material” (Filho, 1965: 1). Nesta altura, “muitas são as revistas e os jornais, alguns puramente científicos, outros dedicando-se também a assuntos paramédicos” (Filho, 1965: 2).
Uma das publicações que se destaca
no século XX é o “Boletim do Instituto Português de Oncologia” (1934-1974), na medida em que “tinha grande difusão em Portugal, entre médicos, associações e leigos e constituía, sem dúvida, um original instrumento pedagógico, visando a informação e formação do público, relativamente à doença oncológica” (Conde, 1991: 5). Deste modo, o jornal era escrito com objetividade e em linguagem simples e de literatura fluída, qualquer que fosse a matéria, científica ou de divulgação, já quer era destinado quer aos leigos, quer aos profissionais, “numa imprensa rigorosamente médica” (Cf. Conde, 1991: 5).
Deve ser dado um destaque especial ao “Jornal do Médico”, fundado em 1940 pelo médico Mário Cardia, mas que viria a ser dirigido, mais tarde, pelo também médico Armando Pombal, devido a dissidências entre ambos. Mário Cardia, após este problema, fundou outro jornal: “O Médico” (Cf. Conde, 1991: 7). O grande impacto do “Jornal do Médico” deveu-se ao seguinte: “surgiu em plena guerra, tempo durante o qual a informação médica não era facilmente conseguida e o jornal transmitia muito do que se fazia na Medicina fora do país” (Conde, 1991: 7). Em termos de conteúdo, o jornal,
de forma regular, além dos artigos originais e científicos de autores portugueses, sempre publicou traduções de trabalhos estrangeiros sobre assuntos de interesse e âmbito muito prático. Sempre divulgou acontecimentos científicos, novidades e progressos dos diferentes campos da Medicina do Mundo” e também “acolhia artigos de opinião” (Conde, 1991: 9).
Quanto à linha editorial, “desde o seu início, a sua política foi sempre a
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
131
dos interesses e aspirações da classe médica” (Conde, 1991: 10). Em suma, “este jornal, de âmbito nacional, multidisciplinar, ao mesmo tempo científico e informativo, refletia as perspetivas do jornalista médico” (Conde, 1991: 10).
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
132
Referências bibliográficas
Caeiro, B. M. M. (1979, 1428). Da imprensa geral aos periódicos médicos portugueses. In Separata de O Médico.
Cardia, M. (1965, 702-706). Valor da Imprensa Médica na Medicina Contemporânea. Separata de O Médico.
Carvalho, A. S. (1932, 1). O jornalismo médico português e “A Medicina Contemporânea”. In Separata de A Medicina Contemporânea.
Conde, J. (1991, 2409). Dr. Armando Pombal: figura ímpar do jornalismo médico português. In Separata do Jornal do Médico, vol. 130, pp. 677-679.
Delicado, A. (2006, 51). Os Museus e a Promoção da Cultura Científica em Portugal. In: Sociologia, Problemas e Práticas, pp. 53-72.
Filho, A. M. (1965, 739). A moderna Imprensa Médica portuguesa. In Separata de O Médico.
Gonçalves, A. M. (1989, 121). Subsídios para a História do jornalismo médico portuense. In Separata de O Médico.
Nunes, M. F. (2001). Imprensa periódica científica (1772-1852) – leituras de “sciencia agrícola” em Portugal. Lisboa: Estar Editora.
Nunes, M. F. (2004). A imprensa especializada na 2ª Metade do Século XIX em Portugal. In Estudos em Homenagem a Luís António de Oliveira Ramos. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Pina, L. (1945). Isagoge histórica do jornalismo médico. In Separata do Jornal do Médico, vol. 5.
Reis, F. E. (2004). Para a História da Divulgação Científica em Portugal. As ciências nos periódicos portugueses de finais do século XVII e princípios do século XIX. In Actas do II Congresso Ibérico em Ciências da Comunicação na Covilhã. Covilhã: Universidade da Beira Interior.
Sacadura, C. (1945). Facetas do Jornalismo Médico Português. Lisboa: Imprensa Médica.
Saraiva, C. et al. (1978, 1813). Redacção Médica. In Separata do Jornal do Médico, vol. XCVIII, pp. 332-334.
Tengarrinha, J. (1965). História da Imprensa Periódica Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
133
A MEMÓRIA VISUAL DA FOTOGRAFIA COMO FONTE DE CONHECIMENTO
(O fotojornalismo no arquivo da INFORPRESS nos primeiros anos após 1975 em Cabo Verde)
José Mário Correia Inforpress, Universidade Jean Piaget
Wlodzimierz Jozef SzymaniakUniversidade Jean Piaget,
Resumo
A fotografia afirmou-se como fonte de conhecimento, possibilitando a abordagem documental própria do fotojornalismo. Evidenciou-se também no campo da arte visto que possui na sua essência princípios estéticos. Enquanto elemento de cultura, que também traz consigo dados históricos, tem identidade própria e, nesta óptica, retrata a vida real. A sua especificidade, quanto ao enfoque que dá ao retrato da realidade, levou a esta forma de expressão artística a enveredar-se pelo Realismo, uma das correntes estéticas da arte contemporânea.
O artigo comenta o papel da fotografia, enquanto produto de agências noticiosas. Os autores debruçam-se sobre a fotografia como meio noticioso e sobre o arquivo do fotojornalismo, fonte de conhecimento histórico e meio de evidenciação da dimensão estética das coisas. Dá enfase ao percurso do serviço fotográfico na Agência – da Cabopress à Inforpress.
Palavras-chave: Fotografia e conhecimento, foto-jornalismo, serviço fotográfico da Cabopress e da Inforpress.
Resumé
La mémoire visuelle de la photographie comme source de connaissance (le photojournalisme dans les archives de l’Inforpress des premières années après l’indépendance du Cap-Vert)
La photographie s’est déjà affirmée comme source de connaissance ; ce qui rend possible l’approche documentaire au photojournalisme. Sa présence est également incontestable parmi les Beaux-Arts, comme élément de la culture. Elle véhicule les données historiques et mimétise la vie réelle. Sa spécificité comme le “portrait” de la réalité la situe dans le réalisme, une des dominantes de l’art contemporain. L’article commente le rôle de la photographie comme produit d’agences d’information . Les
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
134
auteurs se penchent sur la photographie comme moyen d’information historique et comme forme de production dotée d’ une valeur ajoutée esthétique. L’article commente le parcours de la photographie au sein de l’agence Cabopress-Inforpress.
MOTS-CLEFS: Photograhie et connaissance, photo-journalisme, service photographie de CaboPress à Inforpress
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
135
1. Fotografia como “espelho” da realidade
A fotografia é um meio misterioso que, de alguma maneira, se diferencia de outras formas de representação imagética. Além da sua evidente função indicial (espelho da realidade, embora às vezes torto ou côncavo), destaca-se pela sua propensão na construção de símbolos. Quer dizer, a ausência de sons e a presença facultativa de título, geralmente reduzido à função meramente referencial, geralmente reforçam o caráter simbólico da imagem fotográfica. A presente comunicação resulta, pois, do re-descobrimento do arquivo fotográfico da Inforpress (Agência Noticiosa de Cabo Verde), aliás, uma descoberta previsível (gavetas com negativos desordenados à espera de catalogação, uma verdadeira “arca de tesouro”, dir-se-ia).
No jornalismo, a fotografia não só complementa a informação, fornecendo indícios visuais, mas também pretende credibilizar a mensagem textual. Raras vezes refletimos sobre as relações e os paralelismos existentes entre o trabalho do historiador e o do foto-repórter. Embora os dois retratem a realidade, as preocupações e os objetivos são bem diferentes. O que une esses dois campos de atividade humana é a dependência da realidade, como condicionante de qualquer trabalho jornalístico (ou fotojornalismo) e histórico. No caso do trabalho jornalístico, os padrões de qualidade incluem também a atualidade dos trabalhos produzidos, o que provoca evidentemente um stress e muitas vezes obriga a sacrificar o aprofundamento das questões. O historiador, por seu lado, não é pressionado no trabalho pela deadline quase imediata, se bem que raras vezes dispõe de fontes diretas, ou da possibilidade de observação da
realidade.
De qualquer forma, o jornalismo (e fotojornalismo) como tal, fica em relação de interdependência quer com a literatura, o que já foi suficientemente comentado e estudado, quer com a história. As relações entre o jornalismo e a literatura evocam um amour impossible ou simulam um mariage forcé. Há muitos escritores que se tornaram conhecidos também no campo da imprensa, principalmente no domínio da reportagem. Mais raros são jornalistas cujos trabalhos tenham também valor estético universal. As relações entre o fotojornalismo e a história parecem ser ainda mais problemáticas. Parece também que, quer a literatura quer a história, privilegiam o jornalismo textual, deixando um pouco ao lado os conteúdos visuais. E, talvez pela força da tradição, a imprensa escrita muitas vezes se torna em fonte do conhecimento histórico. Para um jornalista, o conhecimento histórico pode ser útil da mesma forma que qualquer conhecimento enciclopédico, ou talvez deva ocupar um lugar privilegiado na formação jornalística, já que todos os fenómenos sociais e políticos têm sua génese e explicação histórica. Ryszard Kapuscinski (2008) ficou famoso principalmente por causa da redefinição das fontes jornalísticas em três tipos diferentes:
1.º tipo – pessoas implicadas de alguma forma nos eventos apresentados; fonte principal e insubstituível;
2.º tipo – fontes escritas de diversa índole, incluindo mapas, enciclopédias, etc.;
3.º tipo – ambientes, cores, cheiros e toda a panóplia relacionada com a vivência de uma determinada realidade
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
136
e da cultura circundante. Podemos incluir também fatores ideológicos ou religiosos que motivam atos e atitudes. Tendo por base este tipo de fontes, este historiador de formação descreve e escreve a história, só que não se trata de uma história escrita a posteriori, mas no próprio momento, simultânea aos acontecimentos, mesmo no momento de a “poeira cair”. E é a este último tipo de fontes que o fotojornalismo pode oferecer ajuda decisiva.
Para confirmar esta tese podemos apontar um estudo interessante citado por Sousa – “Study of the messages in depression-era photos”, de Paul Hightower (1980). Este estudo veio introduzir um alerta. Debruçando-se sobre o conteúdo a mensagens fotográficas eventualmente patentes nas fotos de Russel Lee [– A era da Depressão, 1929. Lee dedicou muitas das fotografias à documentação da vida dos trabalhadores da apanha do morango, mas também aos agricultores das zonas rurais dos Estados Unidos -]. Paul Hightower concluiu que nem sempre as fotografias que entusiasmaram os nossos pais e avós são as fotografias que nos entusiasmam. É a tal ideia, diz ele, de que “a aventura do olhar é uma aventura evolutiva”. No fundo, Hightower descobriu que pessoas que viveram a Grande Depressão, ou Crise de 1929, não viam uma pobreza tão intensa nessas fotos como aquela que perspetivam os mais novos.
Em algumas fotografias que evidenciaremos, torna-se também difícil para muitos, a tal geração da independência, por exemplo (38 anos, vide foto n.º4) reconhecer as mesmas gentes, a mesma cumplicidade afetivo-política, o mesmo poder dos políticos sobre essas gentes, os mesmos lugares.
Temos aqui o ponto de rutura entre uma imagem de uma determinada realidade recuada no tempo e o ícone da realidade atual, que abre caminho à legitimação da hipótese também colocada por Hightower: a credibilidade das imagens diminui com a passagem do tempo.
Tal como as fotografias de Russel Lee, as fotografias da Cabopress/Inforpress também foram percorrendo, ao longo da história, um caminho de encontros e desencontros, interrelacionando-se com o ecossistema que a rodeava em cada momento e alargando o campo de visão dos seres humanos.
Elementos importantes nas fotografias são as legendas, concretamente a data, o autor e o momento histórico. Esta tríade informativa revela-se incontornável, sobretudo em matéria de fotodocumentário, enquanto elementos facilitadores da redução da polissemia semântica e, naturalmente, da aproximação do ícone à realidade agora em cena. Na ausência desses elementos contextualizadores (devido à ausência de arquivo organizado), estaremos diante de fotografias na sua relação direta com o referente (índice, apenas indiciam, não dão precisão), na sua relação de semelhança com o referente (ícone, se a nossa memória permitir vencer os horizontes brumosos da esfera do passado) e na sua relação convencional (símbolo, aquilo que vai sendo transmitido de geração para geração, num processo de combinação na interação social).
2. O Fotojornalismo de agência
Jorge Pedro Sousa (2000: 26-27) classificou o fotojornalismo das agências
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
137
noticiosas como “pouco criativo” e os fotojornalistas como” funcionários da imagem” e até como “escravos da atualidade quente”. Mas, Cabo Verde é um arquipélago misterioso e as tendências mundiais, embora presentes no país, quase sempre acabam por adquirir algumas características locais. Por analogia pode citar-se os trabalhos de Konstantin Richter (historiador de arte) que afirma que a arte sacra na Cidade Velha, embora obedeça aos padrões da arte colonial portuguesa, muito cedo adquiriu algumas características originais. Da mesma maneira, a convencionalização e a rotinização de fotojornalismo não teve na Inforpress o mesmo impacto que nas grandes agências com a AFP, a AP, a Reuters ou a Lusa. Em consequência, as fotografias do espólio encontrado, algumas vezes, pecam pelo desrespeito pelas convenções da fotografia de imprensa, mas, oferecem um olhar personalizado e, ao mesmo tempo, perspicaz sobre a realidade passada. Outro paradoxo observado está relacionado com 3.ª revolução no fotojornalismo por volta do ano 2000 (Sousa, 2004: 28) que provocou a valorização do arquivo fotográfico (como banco de documentos que podem ser vendidos). Curiosamente, na Inforpress aconteceu exatamente o contrário, o arquivo fotográfico permanece nas gavetas meio esquecido ou, simplesmente, arrecadado.
Ryszard Kapuscinski (2000: 5) comparou a realização de uma fotografia com a escrita de um poema, quer no plano criativo, quer no plano da receção, que pode levar à catarse. As observações críticas de Jorge Pedro Sousa referem-se principalmente às fotografias de tipo spot news (documentação fotográfica de acontecimento com valor notícia), mas nas agências, cada vez mais, ganham
importância as chamadas feature photos, quer dizer fotografias com carga simbólica cujo interesse não está na agenda jornalística, mas no fomento da imaginação do público. O mesmo autor (2000: 162) observou a dificuldade na definição da fotonoticiabilidade, e sublinhou o interesse humano em detrimento do valor noticioso objetivo.
3. Serviço fotográfico na inforpress e no Horizonte
Um olhar genérico sobre as imagens fotográficas em arquivo na Inforpress, muitas das quais relativas aos primeiros anos pós-independência de Cabo Verde (1975), permitem-nos, pois, falar em fotojornalismo. Não só por terem saído das objetivas de jornalistas, mas também por obedecerem, conforme se verá, aos cânones conceptuais defendidos pelos investigadores e fotojornalistas acima mencionados. Digamos que são marcas icónicas daquilo a que estudiosos de imagens fotográficas e iconologistas definem como sendo a “realização de fotografias informativas, interpretativas, documentais ou ‘ilustrativas’ para a imprensa ou [para] outros projectos editoriais ligadas à produção e informação de actualidade” (Sousa, 2004: 11).
Uma distinção sintética entre o fotojornalismo e o fotodocumentalismo permitir-nos-á ver, na linha de Sousa, (Idem, Ibidem) que a atividade do primeiro – o fotojornalismo – caracterizar-se-á mais pela “finalidade, pela intenção”. Se os iconologistas dizem que o seu protagonista raramente sabe o que vai fotografar, desconhece como o poderá fazer e ignora as condições que vai encontrar, nós diríamos que o fotojornalista é um livre caçador de ícones, tem um compromisso solteiro:
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
138
a sua consciência, embora ele acabe controlado pelos valores da ética e da deontologia, em busca permanente do ícone total. É a tal perspetiva fotojornalística mais ocidentalizada, em que floresce a liberdade do disparo no stop.
O fotodocumentalismo – que é do que aqui vamos falar – está dentro do fotojornalismo. Visa “informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, esclarecer ou marcar pontos de vista (…) através da fotografia de acontecimentos e da cobertura de assuntos de interesse jornalístico” (Idem: Ibidem) Um interesse que não tem que ver necessariamente com critérios de noticiabilidade dominantes, esses sim, reservados ao fotojornalismo.
Se o fotojornalismo vale pela finalidade e pela intenção, o fotodocumentalismo cuida da prática e do produto em si.
Conforme se verá – e à luz das teorias fotodocumentalistas – os autores das imagens da Cabopress/Inforpress, os tais fotodocumentalistas, teriam tido conhecimento sempre do que iam encontrar, do que iriam fotografar, como o poderiam e deveriam fazer e das condições em que iram encontrar o objeto fotografável.
É como reza o Modelo desenvolvimentista do jornalismo; é como diz Sousa (2004: 11)
quando inicia um trabalho [fotodocumentalista] tem já um conhecimento prévio do assunto e das condições em que vai desenvolver o plano de abordagem do tema que anteriormente traçou. Este background possibilita-lhe reflectir sobre os diferentes estilos e pontos de vista e abordagem do assunto.
É também, por isso, que aqui
experimentamos uma relativa dificuldade em enquadrar imagens da Cabopress/Inforpress em fotografias de notícias, adiante apresentadas. Não só não vingam pela sua qualificação em spot-news, tais fotografias que valem sobretudo por concentrarem em si todo o potencial informativo (abdicando muitas vezes da própria legenda), como não revelam ter sido de importância momentânea premente e, como tal, sem preocupações de se reportar à atualidade. Uma validade com caráter “quase intemporal”, conforme, de resto, é uma tendência geral do fotodocumentalismo, a tal variante adversa ao discurso do instante.
Das fotografias que a seguir se apresentam, podem perfeitamente falar-se em documentalismo sociopolítico, uma espécie de fotodocumentalismo que acaba por abordar temas estritamente humanos, num mix de sociedade, cultura e política, trazendo ao de cima o significado que o acontecimento associador das partes tem para a mundivivência: para os cabo-verdianos, para Cabo Verde e para o mundo.
Analisando as circunstâncias e o tempo do disparo de algumas delas, não se vislumbram quaisquer tentativas isoladas de influenciar as condições sociais e o seu desenvolvimento. O interesse político parece estar mais presente, e está virgem, com uma forte cumplicidade de quem está por trás da câmara.
Importa, contudo, dizer que todas essas fotografias valem pela não-manipulação negativa, pois, à época, a tentação de objetivos da manipulação não parecia ser uma realidade, não parecia ser o objetivo dos fotógrafos. O modelo de jornalismo em vigor – entre o comunista e o desenvolvimentista
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
139
praticado em Cabo Verde – não abria caminho a essa pretensão, em resultado da cumplicidade entre o fotógrafo e fotografado (Ver fotografia n.º 5).
As teorias académicas e a prática diária indicam que o Modelo Autoritário de jornalismo se dá quando o exercício da atividade de jornalistas e fotojornalistas é controlado pelo executivo do Estado, enquanto proprietário dos meios de comunicação e informação. Não estranha, pois, que nos primeiros anos da independência em Cabo Verde a Censura fosse uma constante e a liberdade de imprensa apenas miragem.
A avaliar-se pelos dispositivos legais em vigor, o exercício do fotojornalismo e fotodocumentalismo não estava posto ao serviço da promoção das mudanças, sendo naturalmente certo que nem o governo, nem os governantes, nem o Estado eram criticados pelo ícone fotográfico.
Porquê?
O Decreto que em 1984 cria a Agência Cabo-verdiana de Notícias diz: “A Cabopress é um serviço personalizado do Estado (…)40”.
Resultará dessa asserção que era prerrogativa natural do Estado cabo-verdiano “Dinamizar e controlar a actividade e os serviços fotojornalísticos, textuais, etc. da Cabopress (…)”41
Era à tutela, exercida pelo membro responsável pela área da Comunicação Social, que competia aprovar os regulamentos internos, onde deveriam constar o organigrama e a definição de funções. Ele exigia ainda que os responsáveis da Cabopress lhe
40. Art. 2.º Cap. I. Decreto-lei n.º 136/8441. Art. 14.º, Cap. III. Estatutos da Cabopress
1990. BO n.º 51 de 22 de Dezembro
fornecessem “todas as informações e documentos” julgados úteis para seguir as suas atividades.
A Lei de Imprensa de 1986/8742 também trazia sinais de um Jornalismo Autoritário. O artigo 11 reforça no seu n.º2 que “são propriedade do Estado (…) os meios de informação e comunicação (…).
Outras características do Modelo Autoritário têm a ver com o poder do Estado em impor multas, sanções económicas, códigos de conduta, etc. a jornalistas, fotógrafos e outros. Essa mesma Lei de Imprensa de 1986/87 avisava, a propósito, que não havia liberdade irresponsável e sem limites.
Estava claramente limitada qualquer liberdade virada para um fotojornalismo ou um fotodocumentalismo sem limites. De modo que se entende perfeitamente essa cumplicidade – se se quiser, forçada – entre o fotodocumentalista e o objeto fotografado.
Partindo-se do princípio de que o Modelo Ocidental de Jornalismo – um bem caro aos países democráticos capitalistas, como o Brasil, Portugal, Estados Unidos e outros – é caracterizado por uma imprensa independente do Estado e dos restantes poderes, não se podia, à época, enquadrar o fotojornalismo praticado pela Cabopress/Inforpress nesse modelo.
Sendo propriedade do Estado/governo, a Cabopress/Inforpress SA só viu os seus estatutos alterados a partir de 1998, com a tutela da Comunicação Social a assegurar, pelo menos do ponto de vista teórico, a independência de jornalistas e fotógrafos a liberdade de expressão e
42. Esta lei substituiu o Decreto-Lei n.º 27495, de Janeiro de 1937.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
140
de fotografia43.
Ainda assim, em nenhum lugar se poderia ler que os fotógrafos, e fotojornalistas, fotodocumentalistas e outros, em particular os da Agência de Notícias, tinham o direito de “fotografar, reportar, comentar, interpretar e criticar as actividades dos agentes do poder, seja através do texto tradicional, seja através da fotografia, sem repressão ou ameaça de repressão” (Sousa, 2006: 198)
Nesse sentido, a Cabopress/Inforpress e os seus jornalistas fotógrafos estavam ainda muito longe de se perfilar como uma espécie de protagonistas de um espaço público, um mercado livre de produção fotográfica, onde se perfilavam, se digladiavam os diferentes géneros fotojornalísticos e diferentes correntes de opinião. O jornalismo fotográfico da Agência estava ainda longe de se configurar numa arena pública.
Importa também dizer que o modelo desenvolvimentista é o modelo que atravessou toda a história da Cabopress/Inforpress – 1984/2013 – com indicações claras nos sucessivos suportes legais, todos eles encorajadores de uma prática fotojornalística virada particularmente para o combate ao analfabetismo e à pobreza, promoção do homem e da mulher, educação cívica, saúde, cultura e luta contra a violência, enfim, para o desenvolvimento humano de Cabo Verde, esta antiga colónia portuguesa44.
43. N.º 4 do Artigo 2.º dos Estatutos da Inforpress, SA, de 1998 inserto na I Série do BO n.º 5, de 9 de Fevereiro de 1998. pág. 51.
44. A teoria dos modelos jornalísticos explica que o Modelo de Jornalismo Desenvolvimentista é (foi) essencialmente praticado nos países em vias de desenvolvimento, na sua maioria com passado colonial. E Cabo Verde foi-o durante 500 anos (1460 a 1975). Neste país, os sucessivos programas de Governo trazem, nos capítulos reservados à Imprensa, indicações viradas
Significa que, na linha do que preconiza este Modelo de Jornalismo, em Cabo Verde também a informação sempre foi tida como propriedade do Estado cabo-verdiano, sendo que, nesse contexto, a própria liberdade de um fotojornalismo de combate pelos valores tendia a perder face aos enormes problemas de pobreza, doença, subdesenvolvimento, analfabetismo, e outros que Cabo Verde enfrentava.
As necessidades de desenvolvimento sobrepunham-se à liberdade fotográfica. Por exemplo, apesar de Cabo Verde não ser um estado multiétnico, a Cabopress incluiu na sua linha de ação, entre outros preceitos de um jornalismo de desenvolvimento, a contribuição em favor da
formação de uma opinião pública nacional esclarecida e responsável (…); formação e a defesa da identidade e da cultura nacional (…); mobilização das populações, visando a sua participação no esforço colectivo de reconstrução nacional; esforço do conhecimento e projecção de Cabo Verde no mundo para o reforço dos laços de solidariedade com as comunidades cabo-verdianas no exterior e o estreitamento das relações com todos os povos45.
É isso que vemos nas nossas fotografias. Mais numa perspetiva de cumplicidade do que numa perspectiva
para um Jornalismo de Desenvolvimento. Ver: Programa do governo da I Legislatura do I Governo Constitucional da II República 1991-1995. Pp. 175-176; Programa do governo da I Legislatura do I Governo Constitucional da II República 1991-1995. P. 136; Programa do Governo para a VI Legislatura 2001-2005. Pp 15-17; Programa do Governo para a VI Legislatura 2001-2005. P. 121.
45. Alíneas b), c), d), e) do artigo V, Cap. I dos Estatutos da Cabopress 1990, inserto no Suplemento ao BO n.º 51, de 22 de Dezembro de 1990. P. 70.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
141
de denúncia, da crítica social, de chamada de atenção.
Este era, de resto, o pensamento político e ideológico das décadas de 70 e 80.
Eis, pois, as marcas do jornalismo e do fotojornalismo com que a Inforpress se permite guiar doravante:
a) ….
b) …
c) Promover a educação cívica e a capacitação para o melhor exercício da cidadania, o auto-conhecimento da História, da cultura (…) a defesa da saúde, a preservação do meio ambiente e a protecção da infância e da juventude;
d) Apoiar a luta contra a droga, o crime e a violência;
e) Promover o reforço constante da unidade nacional, bem como a comunicação e a ligação entre as diversas regiões do país e deste com a diáspora;
f) Promover a difusão do conhecimento, da ciência e das tecnologias modernas e da história universal;
g) Promover os valores positivos da sociedade cabo-verdiana.
N.º2 dos Estatutos da Inforpress, E.P., In: Iª Série BO n.º 5 de 9 de Fevereiro de 1998, pág. 51.
E são negativos deste tipo de fotojornalismo que encontramos (empoeirados) nas gavetas da Inforpress. Vejamos exemplos:
Foto n.º1
Bairros da Praia, autor não identificado.
Reparem nos olhos da velha e do gato. Roland Barthes definiu que uma boa fotografia se baseia no punctum quer dizer numa caraterística, num pormenor misterioso que nos intriga e que nos convida a uma reflexão. Na fotografia (ainda não verificamos o nome de autor) o punctum reside no paralelismo do olhar da velha e do gato. Um olhar atemporal que lembra as pinturas egípcias.
Foto n.º 2
7 de Dezembro, vota no futuro (eleições de 1980), autor não identificado.
Uma possível leitura irónica do pensamento mágico dos políticos (vota no futuro que equivale a vota em nós) que pretende compensar carências do presente. Crianças no meio de bairro de
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
142
lata (literal) parecem colocar a questão acerca do futuro cheio de plantas e flores para já só vêem no cartaz.
Foto n.º3
Fila na mercearia Bom Sossego, autor não identificado.
A peça encaixa mais na categoria de fotodocumentalismo e permite compreender melhor uma realidade política não muito afastada em termos cronológicos (distância de uma geração), mas muito distante relativamente ao estilo de vida. Na economia de mercado não há filas nas mercearias, mas isso não significa que todos vivam em opulência. A fotografia permite-nos não esquecer que a compreensão da história passa também pela reflexão sobre o modus vivendi das populações.
Foto n.º4
Comemoração do 1.º ano da Independência. Sem autor, sem localização espacial
Torna-se, hoje, difícil para muitos, a tal geração da independência, por exemplo (38 anos) reconhecer as mesmas gentes, a mesma cumplicidade afetivo-política, o mesmo poder dos políticos sobre essas gentes, os mesmos lugares.
Fotografia n.º5.
Temporal na ilha Brava. 1982. Sem autor.
Vale aqui, como exemplo, o “Study of the messages in depression-era photos”, de Paul Hightower (1980). Nem sempre as fotografias que entusiasmaram os nossos pais e avós são as fotografias que nos entusiasmam. É a tal ideia, diz Hightower, segundo a qual “a aventura do olhar é uma aventura evolutiva”. (idem)
Foto n.º 5.
1993. Inauguração do Hospital Central de Santa Catarina. Sem autor.
Esta fotografia vale pela não-
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
143
manipulação negativa, pois, à época a tentação de objetivos da manipulação não parecia ser objetivo dos fotógrafos. O modelo de jornalismo em vigor – entre o comunista e o desenvolvimentista – não abria caminho a essa pretensão, em resultado da aparente cumplicidade entre o fotógrafo e fotografado.
Importa dizer que o presente texto pretende ser só um aviso sobre o trabalho de digitalização e a catalogação do arquivo de negativos da Inforpress. Esperamos que brevemente possamos partilhar os resultados deste trabalho na forma de uma exposição ou de livro.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
144
Referências bibliográficas
Barthes, R., (1980). La chambre claire. Paris: Gallimard.
Hightower, P. (1980), Study of the messages in depression-era photos, in: http://connection.ebscohost.com/c/articles/14841830/study-messages-depression-era-photos (data de acesso: 30 de Maio de 2013).
Kapuscinski, R. (2008), Andanças com Heródoto. Porto: Campo das Letras.
Kapuscinski, R. (2000). Z Afryki. Bielsko Biala: Butli.
Sousa, J. P. (2006). Elementos de Teoria e Pesquisa da Comunicação e dos Media, 2ª edição revista e ampliada Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa. Disponível in www.bocc.ubi.pt (data de acesso: 30 de Maio 2013).
Sousa, J. P. (2004) Fotojornalismo. Introdução às técnicas, e a linguagem da fotografia na imprensa. Florianópolis: Letras Contemporâneas.
Sousa, J. P. (2000) Fotojornalismo Performativo. O Serviço de Fotonotícia da Agência Lusa de Informação. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa.
Boletim Oficial n.º 5, de 9 de Fevereiro de 1998 – I Série.
Decreto-Lei n.º 27495, de Janeiro de 1937.
Decreto-lei n.º 136/84.
Estatutos da Cabopress 1990/BO n.º 51 de 22 de Dezembro.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
145
LÍNGUAS LITERATURAS E CULTURAS
NOVOS DESAFIOS COLOCADOS à LÍNGUA PORTUGUESA
José Esteves ReiUniversidade de Cabo [email protected]
Resumo
A sociedade actual coloca novos desafios à língua portuguesa nos diversos espaços onde é falada. Tais desafios centram-se em áreas emergentes que se estão a consolidar nas empresas e organizações e na comunicação social. Por um lado, desenvolvem-se as abordagens da língua nesses espaços, como, por exemplo, na publicidade e na comunicação social. Por outro, todos os cidadãos têm de recorrer a ela no emprego, na família e na sociedade. O tempo das profissões silenciosas, desapareceu. Assim, é importante conhecer o funcionamento da língua nesses novos usos, seus meios e utilizadores.
Palavras-chave: Língua, desafio, publicidade, comunicação, escola.
Resumé
La société d’aujourd’hui pose de nouveaux défis à la langue portugaise dans les différents espaces où elle est parlée. Ces défis portent sur des secteurs émergents qui se consolident dans les entreprises, les organisations et dans les médias. D’une part, se développent les approches de la langue dans ces espaces, par exemple, dans la publicité et dans les médias. Pour d’autres, tous les citoyens ont besoin de recourir à la langue dans l’emploi, dans la famille et dans la société. Le temps de métiers silencieux, a disparu. Ainsi, il est important de connaître le fonctionnement de la langue dans ces nouveaux usages, dans ses moyens et par ses utilisateurs.
Mots-clés : Langue, défi, publicité, communication, école.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
147
Desafios novos ou renovados surgem todos os dias à língua portuguesa, vindos da publicidade à comunicação social, das empresas e organizações, que ocupam a maior parte da população desde, à escola, à família, ao grupos sociais e à relação interpessoal. É necessário conhecê-los, para possuirmos um oportuno conhecimento dos caminhos que a língua vai trilhando.
1. A publicidade
Esta corresponde ao espaço de maior liberdade da língua nos nossos dias. Por ela, a língua consegue manifestar a sua disponibilidade para servir os seus falantes e implantar-se no âmago do que caracteriza o mundo actual, os negócios. Alarga, assim, o pragmatismo que a define e que foi menos claro em períodos anteriores. Nestes as correntes literárias recorreram a ela de forma mais redutora, ao visarem públicos menos universais que os da publicidade.
Surgem os desafios publicitários da voracidade dos criativos, da precaridade dos produtos, da fugacidade dos olhares, por parte dos públicos e, ainda, da instantaneidade da própria comunicação publicitária. A sua natureza é multifacetada, privilegiando ora uma ora outra destas dimensões: lexical ou discursiva, morfológica ou sintáctica, pragmática ou estilística.
Os percursos linguísticos, objecto de reflexão, vão da ambiguidade aos jogos de palavras, da construção e desconstrução de expressões à recursividade e permutas sintácticas, dos paralelismos formais aos ilogismos aparentes, das intervenções sobre “fórmulas fixas” ao uso dos deícticos. Estes desenvolvimentos podem ser observados em estudos de Alexandra Guedes Pinto (1997) e Andreia Galhardo
Rodrigues (2001).
As produções publicitárias, na sua estruturação e nos seus detalhes, manifestam rupturas com a noção e a estrutura de frase. O texto vai buscar a sua força psicagógica e eficácia discursiva a processos de desconstrução da normatividade linguística, de construção de uma outra normatividade ou, ainda, de conquista de novos territórios para a normatividade. Tais processos: 1) afastam-se da gramática escolar; 2) inserem-se numa “nova gramática”; 3) estão ao serviço de estratégias discursivas que visam a eficácia da língua comercial ou artística. Tais procedimentos não estão longe dos seguidos, no século XIX, pela evolução do “período artístico” de Garrett, Herculano e Eça, hoje dominante, libertando-se o período clássico ou do pensamento dos séculos anteriores.
Os novos territórios de normatividade publicitária são: 1) sintácticos, situando-se ao nível da construção da frase e da ligação entre frases; 2) morfológicos, como pela substantivação de adjectivo, p. ex., o “nítido”, os “possíveis educativos”; 3) semânticos, com a sobredeterminação do significante, seja ao nível do lexema, como em “re-construir”, “(im)possíveis” “caro(a) Professor(a)”, seja ao nível do sintagma, como em “vivemos o mundo (no mundo)” ou “Para dar voz às escolas (às pessoas)”, 4) lexicias, criando novas palavras; 5) ou, ao nível dos constituintes da frase, como em “À flor da pele, sentimos as angústias e os paradoxos de uma profissão [...]”.
Os processos linguísticos a que nos vimos referindo acabam por se constituir em “factos de língua” a que Charles Bally – linguista de Genebra, amigo e discípulo de Ferdinand de Saussure – chama “caracteres expressivos” e ainda
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
148
“tipos expressivos”, cujo emprego é função “dos ambientes a que pertencem, das circunstâncias do seu emprego adequado, das intenções que levam à sua escolha em cada caso, e sobretudo dos efeitos que eles produzem sobre a sensibilidade dos sujeitos falantes e seus receptores.” (Bally , 1965: 57-58).
É esclarecedora, e muito actual, a posição do pai da estilística (Bally: 1965: 68), relativamente ao poder criativo de uma «sintaxe afectiva», apesar de, na altura como hoje, ela se encontrar apenas esboçada. Da sua posição consideramos útil destacar, neste momento, os pontos seguintes: 1) um número elevado de estruturas sintácticas brotou da acção do sentimento; 2) é cada vez mais claro que a lógica não explica tudo na língua; 3) é possível caracterizar o papel da emoção na estrutura da frase: os elementos emotivos do pensamento tendem a imobilizar as articulações da frase lógica, quer dizer, analítica; 4) a emoção faz esquecer a condição primordial da comunicação pela linguagem, a saber: a compreensão assenta em processos analíticos - deste modo, quanto mais a expressão é afectiva, mais ela tende para uma forma ou sintética ou deslocada; 5) por fim, nem só o sentimento é responsável pelo esquecimento das relações sintácticas: em inúmeros casos este deve-se a uma tendência para a abstracção - de natureza, portanto, intelectual – resultante de uma mudança de função, isto é, a associação de uma forma (reduzida) com um grupo de palavras sintacticamente elaborado acaba por fazer esquecer a análise das partes do segundo.
2. A comunicação social
Produto do liberalismo político e económico, inicialmente sob a forma
impressa, hoje alargada ao áudio, ao vídeo e a combinações vindas das TICs, aquilo a que chamamos comunicação social foi, provavelmente, o grande espaço de desenvolvimento e divulgação da língua, no século XX. Tal dimensão reporta-se quer à quantidade e diversidade de produtos linguísticos quer ao número de leitores e ouvintes, ou seja, públicos visados, independentemente de formações, domínios ou níveis de língua que possuam.
Esses desafios têm sido de tal monta que intelectuais, políticos e cidadãos, em geral, têm saído a terreiro para defenderem o indefensável: limitar a vitalidade e o dinamismo da língua, em função de uma pureza romântica, maculada pelas novas vias exigidas pela sociedade. Tivemos oportunidade de mostrar “a má consciência escolar do jornal(ismo)” no “I Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Comunicação” (Rei, 2002) – reflexo do modo como os novos desafios colocados à língua iam sendo encarados pela escola secundária e superior. Expressões como as seguintes, revelam a indiferença, ou até a aversão ao novo espaço linguístico conquistado ao longo dos séculos XIX e XX pela comunicação social:
a) “o jornal usurpou ao livro o maior de todos os valores: o jornal absorve o tempo […] pelo menos o que de direito se devia consagrar ao livro. […] Todos os interesses fizeram do jornal uma das mais características feições do nosso tempo” – podia ler-se já no “Dicionário de Educação e Ensino”, de E.M. Campagne (1873), em finais do século XX e traduzido por Camilo Castelo Branco.
b) “Essas folhas impressas chamadas jornais […] concorrem para que se
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
149
aligeirem mais os Juízos ligeiros, se exacerbe a Vaidade, e se endureça mais a Intolerância” – afirma O Professor conimbricense Manuel de Paiva Boléo (1952: 17), na década de 20.
c) Virtudes e Malefícios da Imprensa (Salgado, 1945) – é uma obra que reflecte a dupla valoração atribuída à imprensa, em geral, nos anos quarenta.
Contudo, aparecem pessoas conscientes da outra face da moeda, ou seja, o olhar positivo sobre a comunicação social e, implicitamente, sobre o papel da língua nela:
“O jornal era o livro dos que não possuíam livro e […] porta-voz de todas as ideias altas e novas […], censor de quanta má obra surgia impertinentemente dos domínios da arte […]” – na expressão de João de Araújo Correia (1924: 11).
A natureza dos desafios aí levantados à língua é essencialmente tripla: léxica, frásica e textual. Com efeito, sendo o público massificante, o nível de língua baixa em relação ao público da imprensa literária do século XIX. Em seguida, privilegiando-se a frase curta, construída na ordem directa e inserida numa multidão de parágrafos, como se fosse uma apresentação em versos, naturalmente que se aponta para um outro paradigma frásico. Por último, pela funcionalidade desempenhada pela escrita / oralidade tipologizam-se os textos, revelando funções discursivas novas, e dando origem a uma das mais coerentes tipologias textuais – os textos jornalísticos. Estas realidades linguísticas novas, levam as opiniões a dividirem-se entre o modo de encarar a escrita jornalística como uma deturpação da língua escrita padrão e a forma de a encarar como sendo objecto
de uma nova arte da palavra (Martin-Lagardette, 1998).
Observemos algumas características da escrita jornalística, segundo Martin-Lagardette (1998: 61-64) e Garcia Nuñez, (1985: 26) observáveis por qualquer leitor atento de jornais.
O estilo jornalístico é directo e privilegia a clareza, a precisão e a simplicidade da escrita. Escreve-se com as palavras de todos os dias. A escrita jornalística é muito funcional, mais preocupada com a eficácia da mensagem do que com os efeitos de estilo. Ser original na escolha das expressões é positivo. Porém, o essencial é rigor e justeza da expressão.
Fazer compreender com grande economia de meios é a arte do jornalismo: condensa, elimina o supérfluo e as repetições, liga as informações de forma lógica. O jornalista mostra factos antes de expor problemas: descreve o que vê, ouve e sabe. Os factos falam por si, dão o sentido da informação, dispensando a apreciação do redactor. Em jornalismo, escrever é, em primeiro lugar, descrever.
Para dar vivacidade e agudeza, a escrita jornalística usa recursos como: uso da voz activa em vez da passiva e o presente em vez do passado; evita os termos vagos (coisa, fazer, indivíduo…) preferindo a palavra precisa e sugestiva que dá relevo e veicula o pormenor específico; desconfia do adjectivo e do advérbio, com frequência; usa muitos substantivos e abandona a frase feita e o lugar comum; recorre a imagens, metáforas, palavras concretas, vivas e exactas; parte do princípio de que o leitor não conhece nada do assunto tratado; ao utilizar números muito elevados para as dimensões do dia a dia, traduz por imagens… por exemplo,
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
150
“100 quilómetros de Notas de 1000 dólares” (Reagan); explica os termos técnicos, difíceis ou novos; cuida particularmente da abertura e do final do texto (dependendo do tipo de texto): abertura – inicia com uma frase que surpreenda; personaliza, interpelando ou pondo em jogo o leitor; começa as frases com elementos interessantes; muda de linha muitas vezes; final – este, em geral, corrobora o ângulo geral do artigo, através de – uma reflexão ou, um provérbio, evitando dar uma informação importante no final.
3. As empresas e organizações
A segunda metade do século XX viu desenvolver-se um novo espaço de trabalho humano, o sector dos serviços, cuja ferramenta fundamental é a língua. Teria, naturalmente, tal facto de deixar marcar na mesma língua, a níveis vários que vão, também eles, da palavra à frase e ao texto. Entre nós, tais necessidades surgiram na década de sessenta, quando, particularmente, a banca começa por ela própria a dar formação linguística específica aos seus funcionários que eram confrontados com novas competências textuais que não dominavam.
Como lembra Odete Santos (1988: 18) “é da eficácia desses processos [comunicacionais] que desencadeiam [os trabalhadores do sector terciário] – ouvindo, lendo, falando ou escrevendo, eles agem – que resulta, em princípio, a rendibilidade da sua actividade de mediadores, que, afinal, têm como “instrumento” de trabalho os discursos que compreendem / reproduzem”.
O baixo nível de escolarização da sociedade portuguesa não só não tinha
sido, ainda, debelado pela escolarização como essas novas competências não foram ainda equacionadas, de modo a serem alcançadas em tempo de formação das gerações jovens e mais velhas, já inseridas na vida activa.
Como deixámos indiciado, é léxica, frásica e textual, a natureza dos novos desafios da língua surgidos neste campo. A primeira é essencialmente concreta e situada conforme o sector em que se insere. A segunda é, também ela, de ordem directa e curta, por vezes, elíptica, quanto ao verbo, ou nominal. O texto é eminentemente estruturado, esquemático, por vezes constituído por infindáveis alíneas ou pontos. Não são numerosos os estudos, teóricos ou práticos, sobre este novo uso da língua, sobre o qual fizemos uma tentativa de sistematização no segundo volume do Curso de Redacção. O Texto (Rei, 1995).
Os espaços linguísticos onde se situam os desafios de que vimos falando constituem algo a que as ciências da comunicação vêm chamando comunicação interna e externa, a qual é cada vez mais objecto de atenção por parte das empresas e organizações. Alguém pode ter a sensação de estarmos a falar de realidades completamente novas. Não é verdade. A novidade, como dissemos, tem a ver com a crescente dimensão social e a diversidade de comunicações realizadas. É que o século XVIII, o da epistolografia, assistiu a um esforço grande de fazer corresponder os três géneros de discursos – demonstrativo, judicial e deliberativo – a um número elevado de cartas pelas quais passam várias das funções hoje desempenhadas pelas realizações linguísticas situadas na comunicação empresarial (Freire, 1746). O próprio Cícero terá sentido necessidade de alargar a retórica
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
151
clássica a espaços dela afastados como as exortações, as consolações, as instruções e os avisos (Cicéron, 1848), próximos da comunicação de que falámos.
Nos nossos dias, a verdadeira dimensão textual da comunicação interna e externa das organizações pode ser medida pela tipologia textual a que cada uma delas recorre. Um bom exemplo pode ser aquela que encontramos na Câmara Municipal da cidade do Porto, a partir da análise do seu Boletim Municipal. Esta poderia ser feita a partir do levantamento dos tipos de textos que aí são referidos, desde o seu surgimento nos anos trinta do século XX. A tipologia assim constituída mostrar-nos-ia textos que atravessaram as oito décadas, outros que desapareceram ao longo desse período de tempo e outros, ainda, que surgiram no decurso da sua publicação.
Vejamos os textos que estavam em vigor no momento em que fizemos esse levantamento há uns dez anos. Neles podemos registar um número elevado e diversificado de textos dando conta da diversidade temática para a qual remetem e dos públicos vários que intercomunicam com a instituição: Acórdão, Alvará, Balancete (cofre Municipal), Contrato, Decreto, Decreto-Lei, Despacho, Diário da República, Diploma (portaria, resolução, despacho normativo, declaração de rectificação), Lei, Louvor, Nomeação, Orçamento, Portaria, Processo, Reclamação.
Com esta tipologia, própria de uma instituição, poderíamos, ainda, confrontar os textos que a escola secundária coloca aos seus alunos como objectivo de aprendizagem e que poderíamos denominar de “administrativos”: Acta, Carta, Circular, Comunicado, (Comunicação/Informação,
Nota informativa), Curriculum vitae, Inquérito, Memorando, Nota de serviço, Reclamação (carta de), Regulamento, Relatório, Requerimento.
4. Para uma visão unificadora desses desafios: a retórica comunicativo-funcional
Vimos defendendo, há alguns anos (Rei, 1998), a ideia de que há uma unidade evolutiva entre 1) as necessidades linguísticas e comunicacionais da sociedade no seu devir histórico; 2) a reflexão linguística sob a forma tratadística de retórica(s), gramática(s), livros de estilo ou normas e prescrições para falar e escrever em dados momentos e instituições; e 3) o ensino aprendizagem destes últimos na escola. Constituímos, assim, um instrumento de trabalho, um triângulo retórico ou comunicacional, cujos ângulos são os três pontos enumerados, o qual, aplicado diacronicamente às formas de comunicação, desde a Grécia até aos nossos diais, nos proporcionou chegar à existência de três retóricas. Após o surgimento diacrónico de cada uma delas, tornam-se concomitantes, possuindo cada uma o seu espaço de aplicação, as suas características, as suas funções e os seus temas a abordar.
Os novos desafios da língua portuguesa aqui abordados, integram-se na terceira retórica, por nós denominada comunicativo-funcional, ou da dispositio, cujo território compreende os espaços dos desafios apresentados: a publicidade, os media e as empresas, organizações e instituições. Historicamente situadas, mas mantendo a sua actualidade de sempre, temos as duas primeiras retóricas: a clássica ou da inventio, aplicada no tribunal e surgida na Antiguidade Clássica e a
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
152
retórica literário-cultural ou da elocutio, impondo-se a partir do século XVI e de uso nas repartições públicas do Estado moderno, vindo a consagrar-se no que desde o seculo XVIII, denominamos literatura.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
153
Referências bibliográficas
Bally, C. (1965). Le Langage et la Vie. Genève: Librairie Droz.
Boléo, M., P. (1952). Para um maior rendimento do trabalho intelectual. Coimbra: Edição do Autor.
Campagne, E.M. (1873). Dicionário de Educação e Ensino. Porto e Braga: Liv. Internacional de Ernest Chardon.
Cicéron (1848). De l’Orateur (lib. II-XIII-XVII). In Oeuvres Complètes. Trad. Nisard. Paris: Du Bocholet, Le Chevalier Editeurs.
Correia, J. A. (1924). Educação do Pensar Imaginário e do Pensar Lógico. Coimbra: Imprensa da Universidade.
Freire, F. J. ou Lusitano, C. (1746). O Secretário Português […]. Lisboa: Na Oficina Domingos Gonçalves.
Martin-Lagardette, J-L. (1998). Manual de Escrita Jornalística. Lisboa: Editora Pergaminho.
Nuñez, G. (1985). Como Escribir para la Prensa. Madrid: Ibérica Europea de Ediciones.
Pinto, A. G. (1997). Publicidade: um Discurso de Sedução. Porto: Porto Editora.
Rei, J. E. (1995). Curso de Redacção II. O Texto. Porto: Porto Editora.
Rei, J. E. (1998). A Escola e o Ensino das Línguas. Porto: Porto Editora.
Rei, J. E. (1998). Retórica e Sociedade. Lisboa: I. I. E.
Rei, J. E. (2001). Estudos de Comunicação. O Texto. Porto: Universidade Fernando Pessoa.
Rei, J. E. (2002). Imagem do jornal(ismo) no ensino da língua e da literatura no liceu. In . (J. B. Miranda e J. F. Silveira, org.). As Ciências da Comunicação na Viragem do Século. Actas. Lisboa: Vega
Rodrigues, A. A. G. (2001). A Sedução no Anúncio Publicitário: Expressão Lúdica e Espectacular da Mensagem. Porto: Universidade Fernando Pessoa.
Salgado, J. (1945). Virtudes e Malefícios da Imprensa. Porto: Portucalense Editora.
Santos, O. (1988). O Português na Escola, hoje. Lisboa: Editorial Caminho.
Viana, M. G. (1945). Arte de Escrever. Porto: Livraria Figueirinhas.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
154
“DESEMbRULHAR OS SEGREDOS”: AS MULHERES NOS TEXTOS DE MIA COUTO
Orquídea RibeiroUniversidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal
“Nós, mulheres, estamos sempre sob a sombra da lâmina: impedidas de viver enquanto novas; acusadas de não morrer quando já velhas.” (Mia Couto, A
Varanda do Frangipani, 1996: 82)
Resumo
Nos seus textos ficcionais, Mia Couto apresenta os seus testemunhos da condição feminina em Moçambique, construindo frequentemente personagens femininas marginais, marginalizadas e discriminadas, assinalando a exclusão do género nas comunidades mais tradicionais quer em termos identitários, quer sociais e culturais. As personagens sem nome dos contos “A Saia Almarrotada” e “O Cesto” e a Rosa Caramela do conto com o mesmo nome exemplificam o aniquilamento identitário e o silêncio a que são sujeitas as mulheres pelos homens das/nas suas vidas e pelas comunidades a que pertencem. Nesta incursão textual, pretende-se “desembrulhar os segredos” dessas personagens femininas e resgatar as suas identidades e individualidades desse “impedimento de viver” imposto por uma sociedade ou cultura onde a mulher ainda é uma “mula”.
Palavras-chave: mulheres, Moçambique, Mia Couto, tradição, autoexílio
Abstract
In his fictional texts, Mia Couto presents his testimony of the female condition in Mozambique, portraying often marginal, marginalized and discriminated female characters, noting the exclusion of the female gender in more traditional communities, in identity, social and cultural terms. The nameless characters of the “A Saia Almarrotada” and “O Cesto” and Rosa Caramela, the main character of the tale with the same title, exemplify the identity annihilation and silence suffered by women and imposed by men in their lives or by the community to which they belong. This text incursion intends to unwrap the secrets of these female characters and redeem their identity and individuality of this impediment to live, imposed by a society or culture where women are still considered mules.
Keywords: women, Mozambique, Mia Couto, tradition, self-exile
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
155
1. Introdução
Para o moçambicano Mia Couto, a maioria das mulheres africanas é vítima de opressão e, em Moçambique, a situação não é diferente – as mulheres fazem um percurso entre o mundo da realidade e o mundo do sonho, submetendo-se ao poder masculino, mas mostrando capacidade de autoafirmação em momentos difíceis. A transição da fragilidade para o domínio da situação, para a força total, não é instantânea, mas uma travessia por vezes turbulenta e dolorosa em busca da identidade.
Ketu H. Katrak refere que as mulheres, quer em contexto colonial quer em contexto pós-colonial, experienciam a alienação e até o exílio dos seus corpos quando negoceiam as normas e os papéis tradicionais, sendo as tradições por vezes usadas para controlar a sexualidade feminina. Muito do controlo tradicional do corpo/sexualidade feminina ocorre no seio da família e em ambiente familiar, estendendo-se depois à sociedade. As ideologias que implementam a subordinação das mulheres são apoiadas pela família e perpetuadas no domínio privado e público; confrontar ou quebrar a tradição pode ser fatal para a mulher (Katrak 2006: 157, 159). As protagonistas femininas enfrentam uma rede complicada de relações de poder que interiorizaram e só lhes resta uma saída – obedecer ao código dominante e sobreviver, ainda que isso implique autocensura (Katrak 2006: 160).
Falando sobre A Confissão da Leoa, o autor apresenta uma explicação para a situação da mulher no livro e na sociedade:
Em geral, as sociedades rurais são
muito patriarcais e a mulher vive numa situação em que não tem direito à palavra, não tem direito à presença senão mediatizada por um homem. O que refiro no livro, nesse aspecto, é um retrato da realidade. As jovens rapidamente são tidas como mulheres. Mas só no sentido sexual e da maternidade. Porque não chegam a ser respeitadas como mulheres. As velhas e, sobretudo as viúvas, são olhadas com desconfiança e muitas vezes tratadas como feiticeiras (Couto 2012: s/p).
Nesta mesma linha de pensamento, Anne McClintock considera que a situação das mulheres em Moçambique não pode ser associada só à herança colonial, pois está relacionada com políticas e interesses económicos masculinos que, aliados a questões religiosas, ainda limitam o acesso das mulheres ao poder político e económico e as mantêm em situação de desigualdade no que se refere à educação, apoio à maternidade e a uma alimentação adequada, sem esquecer a violência doméstica e sexual a que são sujeitas (McClintock 1992: 92).
As personagens femininas, para além de características individuais, possuem também características comuns, de grupo, funcionando como um estereótipo. Na verdade, na época retratada, as mulheres foram alvo de “dupla colonização” (Bonnici 2005), o que é frequentemente referido de modo simbólico na literatura pós-colonial e na obra de Mia Couto. Thomas Bonnici explica a continuidade da opressão do género feminino, confirmando a afirmação de Katrak de que textos pós-coloniais desmistificam os papéis tradicionais femininos e apresentam a mulher-esposa como sendo escrava da sua condição (Katrak 2006: 159):
A dupla colonização é a subjugação da mulher nas colónias, objecto do
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
156
poder imperial em geral e da opressão patriarcal colonial e doméstica. O fim do colonialismo e o entrelaçamento deste com o patriarcalismo durante a era colonial não aboliram a opressão da mulher nas ex-colónias. A literatura pós-colonial mostra como as mulheres continuam sendo estereotipadas e marginalizadas até por autores pós-coloniais (Bonnici 2005: 67).
Patrick Chabal vê nos contos e estórias de Mia Couto, para além da expressão do seu mais elevado grau de originalidade literária, a revelação das percepções psicológicas mais apuradas, incluindo-se aqui as personagens femininas (Chabal 203: 106); para André Cristiano José, “longe de (re)criar identidades essencialistas, cristalizadas no tempo e no espaço, Mia Couto é fiel à historicidade, complexidade e dinâmicas que lhe são próprias” (José 2008: 151).
Sabe-se que a opção pelo conto liga Mia Couto à tradição oral africana em que o conto é o meio de transmissão oral por excelência; mais curtos, os contos e as estórias permitem uma aproximação à tradição e à dinâmica cultural das situações retratadas - neste particular, O Fio das Missangas (contos) (2004) é uma das obras do autor em que o universo feminino se destaca, “dando voz” às mulheres condenadas a uma não-existência, ao esquecimento. Apesar de carregarem o peso do mundo às costas, as mulheres são continuamente desconsideradas, marginalizadas, impedidas de falar e acusadas de feitiçaria no seio das próprias comunidades, mas trabalhadoras incansáveis e guardiãs de tradições. Neste texto serão abordados três contos do moçambicano Mia Couto: “A saia almarrotada”, “O cesto” e “Rosa Caramela”.
2. “A Saia Almarrotada”
Este conto, incluído no livro O Fio das Missangas, descreve o percurso de opressão de uma mulher anónima – de criança a mulher adulta – e a sua tentativa de libertação. A protagonista, uma mulher sem nome, é marginalizada pela própria família (pai, tio, irmãos), reprimida na sua feminilidade e silenciada:
As outras moças esperavam pelo domingo para florescer. Eu me guardava bordando, dobrando as costas para que meus seios não desabrochassem. (...) As outras moças queriam viver muito diariamente. Eu envelhecendo, a ruga em briga com a gordura. As meninas saltavam idade e destinavam as ancas para as danças. O meu rabo nunca foi louvado por olhar de macho. Minhas nádegas enviuvavam de assento em assento, em acento circunflexo. (Couto 2004: 33)
A sua existência gira em torno da função de cuidar dos outros, já que foi criada e educada para executar tarefas que anulavam a sua identidade e a desqualificavam como mulher – “Nasci para a cozinha, pano e prato. (…). Belezas eram para as mulheres de fora. Elas desencobriam as pernas para maravilhações. Eu tinha joelhos era para descansar as mãos” (Couto 2004: 31) – e a remetiam para uma exclusão social: “(..) cuidada por meu pai e meu tio. Eles me quiseram casta e guardada. Para tratar deles, segundo a inclinação das suas idades” (Couto 2004: 32). Prazer, culpa e vergonha confundem-se como consequência da sociedade patriarcal em que a menina-jovem-mulher estava inserida.
A ausência de um nome próprio retira-lhe individualidade e intensifica a sensação de inexistência, de aniquilamento que a própria personagem
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
157
reconhece: “Um pouco para a miúda: assim, sem necessidade de nome. Que o meu nome tinha tombado nesse poço escuro em que minha mãe se afundara. (...) Não tendo nome, só faltava não ter corpo”. A narração na primeira pessoa funciona como testemunho da condição feminina, marginal e discriminada, excluída do grupo social, mantida à margem da sociedade e a família, a “miúda” carregava “uma tristeza de nascença [que a] separava do tempo” (Couto 2004: 33, 32). A morte da mãe durante o parto delineou o destino da filha, já que morreu sem enunciar o nome desta.
A revolta contra a inexistência surge quando o pai da protagonista manda-lhe queimar a saia oferecida pelo tio – numa atitude de desespero, a mulher sem nome enterra o “enfeitiçado enfeite” e atira-se à fogueira, mas é salva pelos irmãos. A consciência da “prisão” patriarcal e de que não havia saída está presente no discurso da protagonista: “A mim, quando me deram a saia de rodar, eu me tranquei em casa. Mais que fechada, me apurei invisível, eternamente nocturna.(...) Mais que o dia seguinte, eu esperava pela vida seguinte” (Couto 2004: 31).
O conto termina com a mulher a levar a saia que desenterrara para a fogueira – o pai tinha morrido, mas ela continuava presa à rotina do silêncio e da pressão presente do pai já ausente, talvez porque os mortos permaneçam entre os vivos e não devam ser esquecidos – os antepassados vivem na terra (Knappert 1995: 79). “Acredit[ando] que nada era mais antigo que [s]eu pai”, aguarda ainda a “autorização” da “voz que ainda paira, ordenando a [sua] vez de existir” (Couto 2004: 33, 34).
A expectativa de mudança ou de
libertação desta mulher sem nome falha quando ela própria toma consciência de que não tem força interior para se afirmar identitariamente e libertar-se do silêncio e do poder oculto que a aprisiona, implicando que continuará escrava da rotina que lhe foi imposta desde que nasceu, já que “estava desalojada das vontades” (Couto 2004: 32) e impedida de ser apenas mulher. A ausência de voz, que era a marca da sua submissão, continua após o desaparecimento físico da figura masculina opressora, que permanecia viva na sua memória e aniquilava a sua feminilidade e identidade: “Chega-me ainda a voz do meu velho pai como se ele estivesse vivo. Era essa voz que fazia Deus existir. Que me ordenava que ficasse feia, desviçosa a vida inteira” (Couto 2004: 33). O aniquilamento social em que sempre viveu, como uma estranha no seio da própria família com uma existência limitada a cuidar dos outros, não desaparece com a morte do pai, o obstáculo principal à sua afirmação identitária – não recuperou a autorização para viver e a decisão final de queimar o vestido/saia demonstra a incapacidade de superar a sua inexistência. A saia almarrotada é o espelho da sua “alma rota”, do (auto) exílio a que está condenada.
3. “O Cesto”
O conto “O Cesto”, incluído no livro O Fio das Missangas, relata a vida monótona de uma mulher que vive um casamento infeliz marcado pela rotina da visita diária ao marido que se encontra internado no hospital. Esta mulher revela falta de vontade própria e de autoestima, já que vive para as necessidades do marido desde que casou; antes da doença preocupava-se com a comida que tinha que preparar
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
158
e com a apresentação da mesa, vivendo em função da hora de chegada do marido para a refeição. Com a hospitalização do marido, a vida dela está centralizada na visita diária e na preparação do cesto:
Onde eu vivo não é na sombra. É por detrás do sol, onde toda a luz há muito se pôs. Só tenho um caminho: a rua do hospital. Vivo só para um tempo: a visita. Minha única ocupação é o quotidiano cesto onde embalo os presentes para o meu adoecido esposo (Couto 2004: 24).
A compreensão, a atenção e o carinho, que a mulher sempre dedicou ao marido, nunca lhe são retribuídos, tendo esta consciência da indiferença: “Hoje será como todos os dias: lhe falarei, junto ao leito, mas ele não me escutará. Não será essa a diferença. Ele nunca me escutou” (Couto 2004:23).
Nos últimos dias de vida do marido, surge o silêncio, a ausência da voz do marido, que lhe restaura alguma dignidade: “O silêncio abriu um correio entre mim e o moribundo. Agora, pelo menos, já não sou mais corrigida. Já não recebo enxovalho, ordem de calar, de abafar o riso” (Couto 2004: 24). E sonha em poder escrever o que nunca ousou dizer, desejando a viuvez para começar a viver: “Estou ansiosa que você morra, marido, para estrear este vestido preto”, o vestido que é sinónimo de viuvez, mas também de libertação já que está há vinte e cinco anos no armário e lhe devolve a “antiquíssima vaidade de mulher, essa que nasceu antes de mim e a que eu nunca pude dar brilho” (Couto 2004: 25). O casamento reduziu-a à condição de submissão e servidão.
Mas a morte do marido não a liberta do exílio a que esteve condenada, nem lhe permite recomeçar do zero e reconstruir a vida que lhe é devida.
Apesar de ansiar pela morte do marido, a figura masculina que domina o seu mundo, que a “impediu de viver” (Couto 2004: 24), e que significaria a libertação da lei patriarcal para poder viver sem obedecer às ordens que a anulavam em termos identitários, o resultado não é o esperado – antes, constata que a morte do marido imprimiu um vazio à sua vida, porque a tão esperada liberdade não surge:
Saio do hospital à espera de ser tomada por essa nova mulher que em mim se anunciava. Ao contrário de um alívio, porém, me acontece o desabar do relâmpago sem chão onde tombar. Em lugar do queixo altivo, do passo estudado, eu me desalinho em pranto. (...) Na sala, corrijo o espelho, tapando-o com lençóis, enquanto vou decepando às tiras o vestido escuro. Amanhã, tenho que me lembrar para não preparar o cesto da visita (Couto 2004: 26).
Este é um caso em que, segundo Ketu H. Katrak, a protagonista feminina experiencia o autoexílio, um sentido de não pertença a si própria e particularmente ao seu corpo (feminino) devido à rotina imposta pela tradição e domínio patriarcal (Katrak 2006: 158); a viuvez aumentou a sua solidão e desalento.
4. “Rosa Caramela”
A questão de identidade, a diferença e a discriminação atravessa o conto “Rosa Caramela” do livro Cada Homem é uma raça (1990) de Mia Couto. Este conto apresenta como protagonista uma mulher corcunda que se refugia no seu mundo depois de ter sido abandonada pelo noivo no altar. A sua aparência e o seu comportamento causam estranhamento e levam a que seja excluída socialmente da
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
159
comunidade que a trata com indiferença e desconfiança. Para além de ser portadora de deficiência, Rosa é solteira; para Katrak, nas culturas tradicionais, as mulheres solteiras enfrentam preconceito e, por vezes, ostracismo por parte da comunidade, sendo consideradas anómalas e desprezíveis, dado que não se encaixam na tradição institucional que é o casamento para poderem cumprir o seu destino biológico (Katrak 2006: 187).
O nome da protagonista da história é-lhe dado pelo povo da sua comunidade como é referido logo no primeiro parágrafo do conto. Rosa Caramela é excluída da comunidade por não cumprir com os requisitos de “normalidade”. Inicialmente, era considerada diferente por ser corcunda já que “dela se sabia quase pouco. Se conhecia assim, corcunda-marreca, desde menina” (Couto 1990:15). A exclusão social e cultural a que é sujeita levam-na a “relacionar-se” com as estátuas do jardim, um legado da colonização, uma situação incómoda para a comunidade: “palavrear com as estátuas, isso não, ninguém podia aceitar” (Couto 1990:16).
A exclusão social de Rosa Caramela é agravada pelo facto de ter sido abandonada no altar pelo noivo – a comunidade gozou com esta situação, acreditando que ela tinha inventado o noivo e o casamento. Rosa ficou destroçada e foi internada no hospital para “sarar as ideias”, mas sem receber visitas, sem comunicar com seres humanos, “ela se condizia sozinha, despovoada. Fez-se irmã das pedras, de tanto nelas se encostar.” (Couto 1990: 17). A sua dedicação às estátuas existentes no jardim em frente à casa do narrador, especialmente a uma, “monumento de um colonial” acaba por a levar à cadeia por “venerar um
colonialista” e ser sentenciada, sem lhe ser dada oportunidade de se explicar, por “saudosismo do passado. A loucura da corcunda escondia outras, políticas razões” (Couto 1990:17, 19).
No fim do conto, o leitor é confrontado com o facto de que Rosa é realmente diferente e por isso é marginalizada; diferente por ter sido abandonada pela família, por não ser aceite pela comunidade que estranha a sua deficiência, identificando-a como “mistura das raças todas”, diferente, mas consciente de que as estátuas são de mortos e acreditando que os mortos se tornam estátuas. O episódio que ocorre durante o enterro do enfermeiro é o grito de revolta de Rosa Caramela – esta canta e reza para espanto dos que assistem às exéquias fúnebres, perguntando se lhe é permitido adorar aquele morto.
O conto termina com a partida de Rosa Caramela com o pai do narrador; afinal, o noivo que não tinha sido por a ter abandonado, talvez por preconceito ou receio de discriminação e que, finalmente, cede quando o silêncio de Rosa se quebra e se transforma em lágrimas nas escadas da casa do ex-noivo. Juca, como noivo, tinha recusado Rosa, a figura híbrida com o seu corpo defeituoso, conduzida à loucura pela perda do noivo; o ex-noivo, embora tendo construído uma família, não conseguiu apagar nem esquecer o passado, sendo atormentado pela injustiça cometida e acaba por enfrentar o presente e seguir os passos da suposta louca Rosa Caramela e abandonar a comunidade.
Conclusão
Mia Couto apresenta histórias que refletem um quotidiano complexo, em que a violência ou pressão
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
160
psicológica sobre as mulheres é exposta contextualizadamente, revelando uma imagem perturbadora da sociedade que retrata. As mulheres vivem no silêncio e as suas vidas são compostas por silêncios tão profundos que, quando é possível, não se conseguem libertar, porque esses silêncios opressivos fazem parte da vida que é a rotina delas.
É uma culpa vivida sem razão e sem resgate possível, bem ilustrada em Venenos de Deus, Remédios do Diabo (2009), por uma das personagens femininas, Dona Munda, que se retrai de dizer o que pensa ao marido porque as mulheres carregam o peso da história e são sempre julgadas culpadas, sem a possibilidade de se presumir primeiro a inocência:
O destino das mulheres é serem culpadas. A idade torna-as ainda mais donas de perigosos saberes. Não é preciso prova. Basta que recaia sobre elas a acusação de feitiçaria. A justiça é sumária, sem juízes, sem juízos. O veredicto está facilitado: as mulheres já foram julgadas antes de haver tribunal (Couto 2009: 58-59).
As mulheres, nos textos aqui analisados, são desvalorizadas, anuladas, submetidas ao sofrimento em silêncio, refletindo a sociedade moçambicana, mas também a sociedade africana, em que o homem ocupa o espaço central e a mulher é relegada para um papel tido como inferior – gerar os filhos, cuidar deles e amparar os membros da família que dela dependem ou necessitam. Há um aniquilamento identitário da mulher africana, que aqui se exemplifica, mas que é uma situação recorrentemente exposta por outros autores; os exemplos que marcaram o percurso cultural e literário de diferentes gerações como as das norte-
americanas Zora Neale Hurston, Alice Walker, Toni Morrison, Gayl Jones, ou as de Bessie Head (Botswana) ou Chimamanda Adichie (Nigéria) são bem reveladores de quanto esta temática tem sido objeto de reflexão.
Nos textos aqui referidos, pode estabelecer-se um paralelismo entre algumas personagens femininas e a época do colonialismo – época de silêncios difíceis de ultrapassar; mas, como se comprova, mesmo após a descolonização, as rotinas, os hábitos, precisam de tempo para que as alterações desejadas sejam incorporadas.
É por estas razões que Mia Couto continua a apresentar nos seus textos mulheres que demonstram incapacidade para definirem a sua identidade (já que nunca lhes foi permitido formar uma), tal como acontece com Moçambique, ainda em busca da sua identidade depois de duas grandes guerras que lhes roubaram anos de vida e manteveram a sua população num silêncio forçado.
O bloqueio mental que interfere com a vida das mulheres espelha o bloqueio do país. As mulheres continuam à margem da sociedade, tal como o Moçambique colonizado esteve à margem do centro (Portugal) e, mesmo após a independência, a mentalidade de periferia (colonizada) não desapareceu ainda de entre a população. A transição do colonialismo para o pós-colonialismo conduziu a uma realidade que apresentava diferentes universos e matrizes culturais que não coabitaram nem coabitam pacificamente, mas que mostram o silenciamento e a censura impostos às mulheres por uma sociedade de modelo fortemente patriarcal que ainda perdura.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
161
A missanga, todas a vêem.Ninguém nota o fio que,
em colar vistoso, vai compondo as missangas.
Também assim é a voz do poeta:um fio de silêncio costurando o
tempo.
(Couto 2004)
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
162
Referências bibliográficas
Couto, Mia (1990). Cada homem é uma raça. Estórias. Lisboa: Caminho, 11-24.
--- (2004). O Fio das Missangas. Lisboa: Caminho, 23-26; 31-34.
--- (2012). A Confissão da Leoa. Lisboa: Caminho.
--- (2008). Venenos de Deus, Remédios do Diabo. Lisboa: Caminho.
--- (2012). “Mia Couto fala sobre ‘A confissão da leoa’”, entrevista ao Globo concedida a 10.11.2012. Recuperado a 19 de maio, 2013,
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2012/11/10/mia-couto-fala-sobre-confissao-da-leoa-474310.asp
José, A. C. (2008). “Revolução e Identidades Nacionais em Moçambique: diálogos (in)confessados. In: Ribeiro, M. C. e Meneses, M. P. (orgs.). Moçambique. Das Palavras Escritas. Porto: Edições Afrontamento, 141-159.
Katrak, K. H. (2006). Politics of the Female Body. Postcolonial Women Writers of the Third World. New Brunswick: Rutgers University Press.
Knappert, J. (1995). African Mythology. An Encyclopedia of Myth and Legend. London: Diamond Books.
McClintock, A. (1992). “The Angel of Progress: Pitfalls of the Term ‘Post-Colonialism’”. In: Social Text, No. 31/32, Third World and Post-Colonial Issues: 84-98. Recuperado a 5 de maio 2013, http://www.ffyh.unc.edu.ar/posgrado/cursos/rufer/McClintock.pdf
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
163
TIÇÃO AbDUIM: UMA ENTIDADE NEGRA NA ObRA TOCAIA GRANDE, DE JORGE AMADO
Dejair DionísioUni-Cv/Departamento de Ciências Sociais e Humanas – Divisão de Promoção da
Língua Portuguesa/Leitorado [email protected]
Resumo
Temas abrangentes que inserem o corpo negro, enquanto sujeito, a obra literária de maneira valorativa, têm sido discutidos, antes e principalmente a partir da Lei 10.639/2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases Curriculares no Brasil, tornando obrigatório o ensino da história dos afro-brasileiros e de África para nossos estudantes. Assunto que fere diretamente o corpus literário canônico nacional, alguns autores e autoras voltam a ser lidos e outros (as) foram “re-descobertos” pela crítica. No caso em tela que passaremos a nos debruçar, pensamos ser Jorge Amado um desses autores que foi e continua sendo muito festejado no exterior e que pouco se escreve, cita ou analisa esteticamente na academia brasileira. A análise de Tocaia Grande dentro desse paradigma, trará possivelmente outro olhar para a temática que estamos nos propondo tratar, atualizando algumas leituras e propondo outras, como a de verificação da construção do sujeito masculino na tessitura do romance.
Palavras-chave: Jorge Amado; Tocaia Grande; Tição Abduim; Homem negro na literatura.
Abstract
Embracing themes that insert the black body as a subject in the literature in an evaluative way are being discussed, before and primarily from the Law 10.639/2003, that altered the Lei de Diretrizes e Bases Curriculares no Brasil (Law of Guidelines and Curricular Basis at Brazil), making mandatory the teaching of the history of Africa and it’s descendents at our country. Matter that hurts directly the national canonic body, some male and female authors are read once more, and other are rediscovered by the critics. In the case we are about to address in, we think Jorge Amado to be one of this authors that was and still is much revered overseas and has little written about, quoted or esthetically analyzed at Brazilian academy. The analysis of Tocaia Grande within this paradigm will possibly bring another look to the theme we propose to treat, renewing some perusal and proposing others, as the one about verification of the male subject construction in the novel’s texture.
Keywords: Jorge Amado; Tocaia Grande; Tição Abduim; Black man in brazilian literature.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
164
O Candomblé
Pensando a partir do recorte temático que invoca essa presença valorativa, encontraremos na narrativa algumas pistas, que, buscando entendê-las, analisaremos a partir da leitura e interpretação dos diálogos culturais do Candomblé, construção temático-religiosa de culto a deuses africanos que ganharam notoriedade no Brasil.
O que está ligado e identificado ao Candomblé com o qual alguns autores concordam - como Crisângela Almeida de Assis (2011) -, é que ele é
uma construção ocorrida no Brasil a partir de múltiplas raízes africanas; os Orixás são as divindades apenas dos povos Ioruba, os povos de língua bantu chamavam suas divindades de Inquices e os povos Jêje as nomeavam como Voduns. Esta informação é importante para deixar claro que os africanos vinham de vários lugares, de muitos países e que, apesar de uma identidade continental, eram tão diversos entre si quanto são, por exemplo, os vários povos europeus. (Almeida, 2011: 71)
O modelo que conhecemos hoje e que predominará na narrativa é na verdade um complexo processo de diálogo entre teologias, ritos e mitos que se construiu ao longo de séculos. Alargando outras possíveis definições, encontraremos, segundo Munanga (2006), que as religiões afro-brasileiras se formaram na fusão de diferentes elementos culturais africanos com o catolicismo. A característica politeísta do culto católico possibilitou a construção de relações entre os santos e os deuses cultuados pelos africanos. “É preciso tomar cuidado com julgamentos, principalmente quando falamos em religiões afro-brasileiras. Tais julgamentos podem facilmente
deslizar para o campo do preconceito, da discriminação racial e do racismo”. (Munanga, 2006: 143). Sobre essa questão da discriminação, abordaremos em um capítulo posterior, ao mostrar como se dão os relacionamentoes entre homes negros/mulheres brancas e mulheres negras/homens brancos.
A importância do poder vital - a terra - emana no texto Tocaia Grande. Narrado a partir da dureza de vida dos seus personagens, ela aparecerá como a salvação de gerações familiares, como é o caso dos sergipinos que se deslocam para a nova comunidade em busca de uma nova vida e de melhores condições para o seu clã. Será do mesmo modo invocada pela família extensa de Natário, um grupo de ciganos, justiceiros, prostitutas e de Fadul, um comerciante libanês, além de - para a nossa análise - fundamentalmente Castor Abduim.
Seguidor que é do culto aos orixàs, entendemos que a narrativa busca um foco central e que, o fio condutor – não consideraremos aqui a questão agrária e nem as questões sociais, já abordadas em estudos anteriores por Eduardo Assis Andrade - acaba por ser uma homenagem à própria terra e ao mito das divindades africanas, que encontraram espaço de preservação de seus cultos em Tocaia Grande, conforme perceberemos no personagem Castor Abduim.
Fundamental, o foco narrativo que se desloca para essa personagem, cobrindo-o de proteção das divindades iourubanas, ganha destaque ao longo do enredo e faz com que as imagens quase tomem forma, de tão detalhada e minuciosa, se compararmos com os mitos originários dessas tradições religiosas. O mito de louvação e
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
165
fundação da Terra e da distribuição de poderes que se opera nela advém da tradição religiosa com o aparecimento de alguns dos orixás que são cultuados pelo personagem em diálogo. Vejamos
Onilé era a filha mais recatada e discreta de Olodumare. Vivia trancada em casa do pai e quase ninguém a via. Quase nem se sabia de sua existência. Quando os orisás seus irmãos se reuniam no palácio do grande pai para as grandes audiências em que Olodumare comunicava suas decisões, Onilé fazia um buraco no chão e se escondia, pois sabia que as reuniões sempre terminavam em festa, com muita música e dança ao ritmo dos atabaques. Onilé não se sentia bem no meio dos outros. Um dia, o grande Deus mandou os seus arautos avisarem: haveria uma grande reunião no palácio e os orisás deviam comparecer ricamente vestidos, pois ele iria distribuir entre os filhos as riquezas do mundo e depois haveria muita comida, música e dança. [...] Olodumare pediu silêncio, ainda não havia terminado. Disse que faltava ainda a mais importante das atribuições. Que era preciso dar a um dos filhos o governo da Terra, o mundo no qual os humanos viviam e onde produziam as comidas, bebidas e tudo o mais que deveriam ofertar aos orisás. Disse que dava a Terra a quem se vestia da própria Terra. Quem seria? Perguntavam-se todos? “Onilé”, respondeu Olodumare. “Onilé?” todos se espantaram. Como, se ela nem sequer viera à grande reunião? Nenhum dos presentes a vira até então. Nenhum sequer notara sua ausência. “Pois Onilé está entre nós”, disse Olodumare e mandou que todos olhassem no fundo da cova, onde se abrigava vestida de terra, a discreta e recatada filha. Ali estava Onilé, em sua roupa de terra. Onilé, a que também foi chamada de Ilê, a casa,
o planeta. Olodumare determinou que cada um que habitava a Terra pagasse tributo a Onilé, pois ela era a mãe de todos, o abrigo, a casa. A humanidade não sobreviveria sem Onilé. Afinal, onde ficava cada uma das riquezas que Olodumare partilhara com filhos orisás? “Tudo está na Terra”, disse Olodumare. “O mar e os rios, o ferro e o ouro, Os animais e as plantas, tudo”, continuou. “Até mesmo o ar e o vento, a chuva e o arco-íris, tudo existe porque a Terra existe, assim como as coisas criadas para controlar os homens e os outros seres vivos que habitam o planeta, como a vida, a saúde, a doença e mesmo a morte”. Pois, então, que cada um pagasse tributo a Onilé, foi a sentença final de Olodumare. Onilé, orisá da Terra, receberia mais presentes que os outros, pois deveria ter oferendas dos vivos e dos mortos, pois na Terra também repousam os corpos dos que já não vivem. Onilé, também chamada Aiê, a Terra, deveria ser homenagiada sempre, para que o mundo dos humanos nunca fosse destruído. Todos os presentes aplaudiram as palavras de Olodumare. Todos os orisás aclamaram Onilé. Todos os humanos louvaram a mãe Terra. E então Olodumare retirou-se do mundo para sempre e deixou o governo de tudo por conta de seus filhos orixás. (Prandi, 1987: 69-70)
Note-se que Prandi destaca nessa narração, recolhida em suas pesquisas sobre as tradições que envolvem e/ouque cercam o Candomblé iorubá no Brasil foco da nossa tese para valorizá-lo via estética literária, que foi confundida e mascarada pelo protagonismo do mulato Natário na obra, que Tição, eleito pelos deuses iourubas, fará todo o cerminonial iniciático porque ele mesmo passou quando da estadia com seu tio e que reproduzirá, pelas lendas contidas nos enredos das demais personagens
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
166
femininas com as quais se envolve, trazendo toda a mítica africana de volta.
Portanto, a partir das possibilidades da narrativa, podemos considerar que, como parte da criação do Oorun e do Aiye, Olodumare criou uma infinidade de hierarquias atuantes nos diversos planos do Universo. Dentre eles situam-se os Orixás e Irunmólés - entidades intermediárias responsáveis primordiais pelas funções relacionadas aos diversos reinos da natureza na Terra. Trata-se de seres divinos, facetas emanadas da divindade suprema universal para os iorubás. Os Orixás e Irunmolés atuam de acordo com as funções que lhes são delegadas por Olodumare, inclusive como mediadores entre ele e os seres humanos. A criação da vida na Terra foi delegada ao Orixá Obatalá (o rei do pano branco que esconde a vida e a morte), que com o seu ofurufu (sopro divino da vida ou da morte) permeou várias outras dimensões que ultrpassam a nossa percepção física. Dele emanaram os outros Orixás, com a tarefa de exercer domínio pleno sobre os diversos reinos e elementos da natureza terrestre, porém dentro dos limites e tarefas por ele estabelecidos. Traduzindo esse fazer religioso no Brasil, Kabenguele Munanga dirá que
“[…] a religiosidade negra é rica e variada. No Brasil os nossos ancestrais africanos enriqueceram a nossa cultura com diferentes expressões e formas de se relacionar com o mundo mágico e sobrenatural. [....]Tanto a religiosidade negra como outras expressões religiosas devem ser compreendidas como formas construídas, no interior da cultura, de estabelecimentos de elos com o Criador, com o que está além do que costumamos considerar como mundo racional. (Munanga, 2006: 139/140)
Há um itan (mito) que relata como o corpo de Obatalá foi atingido e partido em mil pedaços. Ao receber a notícia, Olodumare designou Orunmila para recolher todas as partes e trazê-las de volta. Recolheu-as numa grande cabaça, assegurando o seu renascimento no Orun. As restantes foram espalhadas por todo o mundo, fazendo com que de cada um nascesse uma divindade.
Assim, observando o aparecimento do cão Alma Penada em Tocaia Grande, logo nota-se o comprometimento de citar e de dinamizar dentro do contexto literário, o papel do primeiro Orixá cultuado dentro da lógica ritualística religiosa. Aquele a quem os iorubas chamam de Exu, é o mais popular entre os adeptos do Candomblé. Ele é o guardião das portas que separam o mundo dos humanos do mundo dos espíritos. Encontrado nos cruzamentos das estradas, no centro dos mercados, na entrada das cidades, e nas portas das casas, costuma ser venerado enquanto protetor e é frequentemente representado por um monte de terra endurecida e com dois búzios no lugar dos olhos, costume que pode ser evidenciado em regiões da Nigéria e do Benim, principalmente.
Seu sexo é fabricado em madeira, podendo ser visto em dimensões exageradamente grandes nas estatuetas que o saúdam, bem como em símbolos que o mesmo carrega, quando invocado nas cerimônias ritualísticas. Sua amizade pode ser conquistada com oferendas de azeite de palma (dendê) ou galos e galinhas sacrificados, o que o fez ser confundido com uma entidade sanguinária, por outras denominações religiosas. Dentro desse aspecto da liturgia da comida, que é oferecida a esse orixá, Raul Lody (1998) reforça no seu trabalho a ideia dele encarnar
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
167
um sentido amplo e telúrico dentro da lógica africana, que se torna igual e padronizada, logo indivisível. Assim, a lógica de aproximação desse orixá com o dendê e com o mome africano se torna indivisível.
Ao recriar na narrativa essa lógica de relação do homem/orixá/dendê e a história de luta em defesa desse homem africano
e, assim, um ideal do ser africano no Brasil, ele e sem dúvida um agente do dendê. […] Isso reforça um conteúdo terra, chão, podendo-se inclusive, interpretar como pátria, terra de origem – África – como também a fixação dos pólos de manifestações africanas no Brasil. (Lody, 1998: 145)
Poderemos ver que, a força emanada do alimento gerado e que representará a dinâmica de não aceitação da sedução da violência que foi o escravagismo, estará definitivamente atrelada à energia de Exu.
Exú e Castor Abduim
Entre os Fons e os Ewês, Legba – outro dos nomes por que às vezes é chamado pelos iorubas possui também um aspecto eminentemente fálico. Seus iniciados, os Legbasi, transportam os elementos sacros de Legba (assentamento), composto de uma complexa parafernália, em que predominam cabaças e pequenas esculturas fálicas, para onde quer que vão e vestem uma pequena saia de ráfia tingida de roxo, podendo ser também multicolorida com cores vibrantes, vermelha e preta, predominantemente.
Carregam ainda um falo esculpido em madeira (ogó) que, nas festas públicas, gostam de esfregar no nariz dos turistas, costume bastante popular em terras africanas continentais, já que não se
encontram vestígios do culto a Exu ou Legba nos arquipélagos africanos, notadamente nas ilhas de Cabo Verde, onde as possíveis intervenções religiosas de matriz africana se perderam. A descrição da “figura arquetípica de Exu é a de um homem negro, forte, viril, talvez mais diabólico que o próprio diabo, nesta leitura exógena que a igreja conferiu ao dínamo do axé, ao orixá inaugurador por exelência.” (LODY, 1998, p. 147)
Em Tocaia Grande em certo momento mais profundamente e durante toda a narrativa uma constante, Castor Abduim é comparado a esse arquétipo. Ao descrever num dos capítulos que “A pedido de Epifânia, o negro Casto Abduim organiza a festa de São João”, nota-se a aproximação com o orixá em questão. É no mesmo momento em que aparece o cão no vilarejo e que Epifânia diz “- Tou com um quebranto no corpo: tu me enrolou, botou olhado em mim. Tu é Exu Elegbá, tu é o Cão.” Ao que ele responde “- Meu nome é Castor Abduim, as meninas me chamam de Tição, um bom rapaz ou ocê não acha?” (AMADO, p. 171)
Exu ou Legba pode ser encontrado em todos os templos, pois é ele quem abre o caminho para os demais orixás poderem atuar. Guardião dos templos, das aldeias e casas particulares, montado na forma de um montículo de barro, de onde sai um enorme falo ereto, é eminentemente uma entidade coletiva (Agbo-Legba), mas conhece-se ainda um Exu ou Legba feminino - seria a representação estética de Epifânia? - (Assi-Legba ou Legbayonu) que é montado e cultuado para proteger as mulheres e as crianças da comunidade, ainda que a mulher de Legba, segundo os Fons seja Awovi (cujo nome significa “filha do engano” e representa os acidentes), que é representada por uma estatueta de barro de aspecto feminino, sem cabeça e
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
168
com os olhos no lugar dos seios e boca na altura da vagina, normalmente maior do que a representação de Exu. Essa representação estética provavelmente poderá significar a ideia de interação entre o membro exageradamente grande da representação masculina, com essa feminina, mas trata-se somente, de uma hipótese.
A aproximação de Exu com Alma Penada demonstra o comportamento desse Nkisse/Orixá/Vodun. Lody (1998) relembrará o erro da tese colonizadora ao observar que, na tradição oral e visual brasileira desconectada do conhecimento da história e da mitologia africana, principalmente dos seus deuses, logo se perceberá que
Exu é, sem dúvida, um dos orixás mais negros, o mais marginal, mais amoral, mais temido, mais querido, mais necessário, imprescindível ao início de qualquer cerimônia nos terreiros.
Exu é africano, é santo africano, o que marca um lado de meio-escravo para o olhar dominador colonial e que lhe aufere uma relação imediata com o diabo dos católicos. Esta relação confirma o temor do colono diante da oposição cultural africana, cujo personagem fundamental é Exu e tudo o que gira em torno dele. (Lody, 1998: 146)
Notemos que o cão, servo de Castor Abduim, é intenso, não tem parada, e “a fome voraz de Alma Penada que nenhuma comida saciava” (AMADO, p. 244) marca, de certa forma, aspectos de aproximação com as descrições mitológicas comportamentais e identificáveis em Exu.
O fato de o cão ter aparecido misteriosamente no vilarejo em construção e de
como chegara, de onde viera, Castor não
soube responder: de repente manifestara-se ali a quentar fogo. De repente? Epifânia não costuma se espantar: tinha decifração para as coisas mais difíceis de explicar. Nada lhe parecia confuso, ambíguo ou obsucuro; para ela tudo era claro, de fácil entender. Tudo menos o negro Castor Abduim.
- Reinação do Compadre. – referia-se a Exu, o traquinas, o pregador de peças. – Assunte no que lhe digo, junte as pontas e desate o nó. Tu não dá comida pra ele toda segunda-feira? Pra quem é o primeiro gole da ponga que tu bebe? Não é pra ele? E arresponda: quem já viu na terra caçador caçar sem cão? Exu não falta a quem goza de sua estimação. “(Amado, 2008: 169)
Servindo de guardião para a casa de Casto Abduim, acaba de certa forma dando uma dinâmica de mistério, do impenetrável, do inenarrável e apresenta-nos uma perspectiva viva, concreta, visível e dinâmica do próprio Orixá e a exceção da negra Epifânia que era
autoridade em encantados e bruxarias, macumbeira, pessoa alguma soube jamais de onde o cachorro viera e como chegara até aquelas bandas. Não se teve notícia certa nem boato duvidoso. Sequer um pode-ser-que-seja. Ninguém o reconheceu nem o reclamou. Também não foi embora como Tição previra. Se dantes não tivera dono passou a tê-lo. Gostou da casa, reconheceu o amigo e o adotou. (Amado, 2008: 170)
Logo, Exu faz-se presente através de um dos seus interlocutores que - na visão estética presente na obra que se aproxima da realidade social brasileira – como em boa parte do continente africano - tem os cães como os protetores dos seres humanos, confiados que estão a eles suas casas, seus pertences materiais, sua segurança pessoal e seus pontos de passagem, de entrada e saída.
Referências bibliográficas
Almeida, C. B. (2011) O ensino de sociologia e a lei 10.639/03: cultura afro-brasileira no livro didático. in: Nguzu – Ano 1, n. 1, março/julho. Revista do Núcleo de Estudos Afro-Asiáticos (NEAA) da Universidade Estadual de Londrina (UEL).pp. (68-75)
Amado, J. (2008). Tocaia Grande, a face obscura. São Paulo: Companhia das Letras.
Bastide, R. (1971). As religiões africanas no Brasil. Contribuição a Uma Sociologia das Interpentrações de Civilizações. São Paulo: Livraria Pioneira Editora. EDUSP,.
Lody, R. (1998). O rei como quiabo e a rainha como fogo: Temas da Culinária Sagrada no Candomblé. In: Moura, Carlos Eugênio Marcondes de (org.). Leopardo dos olhos de fogo. São Paulo: Ateliê Editorial.
Munanga, K.; Gomes, N L. (2006). O negro no Brasil de hoje. São Paulo: Global, (Coleção Para Entender).
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
170
NOTAS bIOGRáFICAS DE AUTORES
António Tavares de Jesus, Departamento de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Cabo Verde, Assistente graduado, doutoramento pela UCL – Bélgica em 2012.Publicações relevantes: Dimensões, Sentidos e Vicissitudes das Dinâmicas dos Actores Sociais no Processo de Desenvolvimento Local em Cabo Verde: O caso da ilha de Santo Antão – Tese se Doutoramento; As lógicas das dinâmicas dos actores sociais endógenos e a transformação do espaço social rural em Santo Antão; Experiência profissional relevante: Vereador para a área de Desenvolvimento Social e Relações Públicas da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago; Membro organizador do Colóquio Internacional “Ciências Sociais em Cabo Verde: Quem somos e para onde vamos”; Centro de investigação: Universidade de Cabo Verde.
Arlindo Mendes, doutor em Antropologia, pela Universidade Pau et Pays de l’Adour (França), Professor Auxiliar na Uni-CV; Coordenador do Projecto Investigação PIC-Bélgica (Uni-CV); Coordenador do Grupo Nacional do Trabalho do Projecto de Investigação sobre “Medicina Alternativa em Cabo Verde”; financiado pela Codesria; ex-Presidente do Conselho Pedagógico da Uni-CV; ex-Coordenador dos Cursos de Pós-graduação junto do DCSH de Uni-CV. Autor das obras: “RituelsFunéraires à Santiago auxîlesduCap-Vert” e “A morte em santiago: Uma abordagem etnográfica” e de vários artigos sobre a morte.
Artur Monteiro Bento, Museu Nacional – UFRJ, Pesquisador. Doutorado pela Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO), 2005-2009. Investigações de referência: História, migração e cidade: dimensões da política urbana na ilha de SV em CV (1980-2000) In: RILP, Cidade e Metrópoles III, série 23. Lisboa: AULP, 2010; A memória da independência de Cabo Verde em 1975: a construção de um discurso através da proclamação e celebração da independência. In: Congresso Internacional - Fórum Amílcar Cabral, 2013. (a publicar pela AAC; em análise pela Revista de Ciências Sociais e Políticas. Lisboa: ICSP – UNL, 2013.Experiência profissional relevante: Docente (UniCv, UniPiaget, PPGAS – Museu Nacional, UFRJ; Coordenador da área Psicologia UniPiaget. Instituição: Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), PPGAS.
Bartolomeu Lopes Varela - Cátedra Amílcar Cabral; Doutoramento em Ciências da Educação – Especialidade Desenvolvimento Curricular, Universidade do Minho. Publicações de referência: VARELA, Bartolomeu. O Currículo e o Desenvolvimento Curricular: concepções, práxis e tendências. Edições Uni-CV, Colecção Aula Magna, nº 1, Praia, 2013; VARELA, Bartolomeu. A Universidade, o Currículo e o Conhecimento: Da origem aos tempos actuais. Edições Uni-CV, Colecção Aula Magna, nº 2, Praia, 2013; VARELA, Bartolomeu. Evolução do ensino superior público em Cabo Verde: da criação do Curso de Formação de Professores do Ensino Secundário à instalação da Universidade de Cabo Verde. Edições Uni-CV, Colecção Aula Magna, nº 3, Praia, 2013. Experiência profissional relevante (três): Docência em cursos de Licenciatura e Mestrado, com a articulação das atividades de ensino, investigação e extensão; Orientação de monografias, dissertações e teses de doutoramento; Administração geral e gestão académica da Universidade de Cabo Verde.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
171
Carlos Bellino Sacadura, Gabinete de Filosofia da Educação (GFE - UP), Centro de Filosofia das Ciências (CFC-UL); Doutoramento em Filosofia / Filosofia da Ciência, Universidade Católica Portuguesa – Faculdade de Filosofia de Braga, Portugal. Publicações de referência: SACADURA, Carlos Bellino, “Imaginação Pedagógica e Emancipação Social”, in Perspectivas da Filosofia da Educação. S. Paulo: Cortez Editora, 2011, pp.182-199; SACADURA, Carlos Bellino, “Dimensões normativas e solidárias das narrativas educacionais” in Solidão, educação e condição humana. Porto: Edições Afrontamento, 2011, pp. 43-53. Experiência profissional relevante: Director do Mestrado em Filosofia da Educação, Cidadania e Direitos Humanos – UNICV; Professor do Doutoramento em Ciências Sociais – UNICV.
Dejair Dionísio, Leitorado Brasileiro/PPGL-UEL/NEAB-UFES/Uni-CV, Mestre pela UEL-BRASIL em 2010. Publicações relevantes: Literatura afro em construção: A perspectiva da ancestralidade bantu em Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, dissertação de mestrado. Eduel, Londrina, 2010; DIONISIO, D. Eneida Nelly: um novo discurso para um outro olhar para o cânone literário caboverdiano. Revista Literatas, v. 1, p. 21-22, 2012.Experiência profissional relevante: Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da Universidade Estadual de Londrina – Brasil; Universidade Pública de Cabo Verde. Centro de investigação: Programa de Pós-Graduação em Letras, UEL/ Universidade Estadual de Londrina/PR-Brasil.
Eduardo Adilson Camilo Pereira, Pós Doutorado em História social - UFMG; Doutoramento em História Social, Universidade de São Paulo (USP). Publicações de referência: PEREIRA, Eduardo Adilson Camilo. “Cabo Verde: Elites Coloniais e Lutas Partidárias na primeira metade do séc. XIX (1821-1841) ”. In: SANKOFA - Revista de História da África e de Estudos da Diáspora Africana/Núcleo de Estudos de África, Colonialidade e Cultura Política – Número X, Ano VI, Janeiro. São Paulo, NEACP, 2013, p. 129 – 149. Disponível em: https://sites.google.com/site/revistasankofa/sankofa-10; PEREIRA, Eduardo Adilson Camilo. “Cabo Verde: monopólio da terra, disputas partidárias e criação de um centro de civilização em Mindelo (1822-1851)”. In: Desafios: Revista Científica da Cátedra Amílcar Cabral, n.1, Novembro de 2013, p. 217-251. Experiência profissional relevante: Professor regente de História Económica e Social – Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais (2011-2014). Coordenador do Programa Pró-Mobilidade Discente/Docente AULP/CAPES entre a UFMG e a Uni-CV (desde 2013).
Elter Manuel Carlos, Investigador/colaborador em grupos de Investigação Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras, Universidade do Porto (DFFLUP); Universidade De Cabo Verde, Mestre em Filosofia da Educação, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Portugal. Publicações de referência: CARLOS, Elter “Ensaio sobre o Sentido Ético-estético da Literatura e da educação Literária em Cabo Verde.”, in Nova Águia – Revista de Cultura para o Século XXI, nº 11, Zéfiro, Sintra, 1º semestre de 2013; CARLOS, Elter “A Singularidade da Leitura do Olhar Cabo-Verdiano”, in Nova Águia – Revista de Cultura para o Século XXI, nº 9, Zéfiro, Sintra, 2012. Experiência profissional relevante: 2013 – Docente da UNICV; 2009 a 2013 – Docente da UNISANTIAGO e da UNICV.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
172
Inês Mendes Moreira Aroso, Labcom (Universidade da Beira Interior) e UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), Portugal, Integrated PhD (Labcom) e Professora Auxiliar (UTAD),Doutoramento em 2012 pela Universidade da Beira Interior, Covilhã. Publicações de referência: AROSO, Inês (2013). “Os Media como fonte de informação sobre saúde: riscos e oportunidades”, AROSO, Inês (2012). Jornalismo na Imprensa Médica em Portugal – Funções dos Jornais de Informação Médica. Experiência profissional relevante: Docente Universitária desde 2006 no Departamento de Letras, Artes e Comunicação, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal; Jornalista na área da saúde, entre 2000 e 2004, no jornal semanário de informação médica “Tempo Medicina”, com sede em Lisboa, Portugal.
João Lopes Filho, Centro de investigação: Centro de Estudos Africanos: Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa., Unicv, Professor Titular, Doutor pela Universidade Nova de Lisboa, 1991. Publicações de referência: Ilha de S. Nicolau de Cabo Verde – Formação e Evolução da sociedade; Introdução à Antropologia Cultural (10 edições).Experiência profissional: Docente na Universidade Nova de Lisboa; Docente na Universidade de Cadiz – Espanha.
João Paulo Madeira, DCSH, Uni-CV, ISCSP-UTL, Docente – Assistente Graduado e Investigador Colaborador, doutorando na ISCSP-UTL, 2009-2013. Publicações relevantes: Ferreira, A. e Madeira, J. (2010). Tax Havens: Politics, Market and Democracy. Conference proceedings. The 7th Pan-European IR Conference. Estocolmo, 10 de Setembro de 2010. Stockholm City Conference Center. European Consortium for Political Research (ECPR)/Standing Group on International Relations (SGIR); Madeira, J. (2010). Empowerment e Cidadania como veículo para uma maior Responsabilidade Social.Experiência profisional: Docência – Tempo Inteiro DCSH,Uni-CV– 2010-2013; Secretário da Unidade de Investigação Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP-ISCSP-UTL) – 2008-2012. Centro de investigação: Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP), ISCSP-UTL.
José Esteves Rei, Uni-CV, LABCOM, Universidade da Beira Interior e CEL, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Professor Titular. Universidade de Cabo Verde. Doutoramento em Didática das Línguas, UTAD, 1996. Publicações de referência: Retórica e Sociedade, Lisboa, IIE, 1998; A Escola e o Ensino de Línguas, Porto, Porto Editora, 1989; Faça-se Ouvir. Domine o Discurso em Qualquer Situação, Porto, Porto Editora, 2013. Experiência profissional: Presidente do Conselho Pedagógico da UTAD, 2003 – 2009; Diretor de Departamento de Letras, UTAD; Professor das seguintes U Cs: Didática da Literatura, Metodologia do Ensino do Português, Relações Públicas, Comunicação Organizacional, Comunicação Política.
José Mário M. Correia, Universidade Jean Piaget de Cabo Verde / Agência Cabo-verdiana de Notícias, Docente assistente. Mestre pela Universidade de Aveiro (Portugal), 2005. Publicação de referência: “Da Cabopress à Inforpress. Duas Décadas de Jornalismo – Um novo começo… Online”. Experiência profissional relevante: Professor assistente graduado na: Universidade Jean Piaget e na Universidade de Cabo Verde; Director da Rádio e Novas Tecnologias Educativas.
Revista de Estudos Cabo-Verdianos Nº Edição Especial / Atas I EIRI Dez. 2013
173
Nilza Maria Gomes, Universidade de Cabo Verde, Mestre em Filosofia pela Universidade Letras, Faculdade clássica de Lisboa. Publicações de referência: GOMES, Nilza Maria, Noção de Comunicação no conceito de pessoa Emmanuel Mounier. Experiência profissional relevante: Professora na Universidade de Cabo Verde/ Professora de Filosofia na Escola Secundária Pedro Gomes e Coordenadora de Filosofia.
Orquídea Ribeiro, Centro de Estudos em Letras (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) UTAD, Portugal, e Professora Auxiliar (UTAD),Doutoramento em 2006, pela UTAD, Vila Real, Portugal. Publicações de referência: RIBEIRO, Orquídea e MOREIRA, Fernando (Coordenação, organização e introdução) (2011): Encontros com África - Moçambique. Vila Real, CEL/UTAD. RIBEIRO, Orquídea (2012): “Para uma Pedagogia sociocultural em Angola: ‘O Voo do Humbi-Humbi’ (2008)” In: Odair Marques da Silva et al. Animação Sociocultural: um propósito da Pedagogia Social em diferentes culturas. São Paulo: Expressão e Arte Editora. Experiência profissional relevante: Diretora do Departamento de Letras, Artes e Comunicação (2013-2017); Diretora do Mestrado e do Doutoramento em Ciências da Cultura (2009-2013; 2013-2017).
Pedro Borges Graça - Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas(UTL-ISCSP), professor associado. Doutor pela UTL-ISCSP em 2004. Investigações relevantes: Investigador Responsável do Projecto A Extensão da Plataforma Continental: Implicações Estratégicas para a Tomada de Decisão (financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e em parceria com a Marinha Portuguesa e a Esri-Portugal); Mundo Secreto: História do Presente e Intelligence nas Relações Internacionais, Luanda, Instituto de Informações e Segurança de Angola. Experiências profissionais: Coordenador do Doutoramento em Estudos Estratégicos (UTL-ISCSP); Coordenador do Grupo de Investigação em Estratégia e Intelligence do Centro de Administração e Políticas Públicas (UTL-ISCSP).Centro de investigação: Centro de Administração e Políticas Públicas pela (UTL-ISCSP).
Wlodzimierz Josef Szymaniak – Professor associado Universidade Jean Piaget, Doutoramento em Linguística Aplicada pela Universidade de Poznan (Polónia) 1995, Pós-doutoramento em Literatura Hispano-americana pela Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2010. Publicações de referência: Títulos das notícias, Recursos Retórico-Estilísticos. Intencionalidade ou acaso (em co-autoria com Mário Pinto), Minerva Coimbra., 2005. “Forgotten Oceanographic Research on Cape Verde Islands” (em co-autoria com Jorge Sousa Brito) in Anna Januchta-Szostak, Water in Townscape, Poznan, WPP, 2009. Experiência profissional: Diretor do Departamento de Hispánicas da Universidade de Wroclaw, 1996-1998, Professor Visitante Universidade de Valladolid 1991-1992, Professor Associado da Universidade Fernando Pessoa 1998-2002, Presidente do Conselho Científico da UniPiaget 2002-2012, Pró-reitor de Investigação, Desenvolvimento Académico e Inovação UniPiaget-2010-2012. Professor das seguintes U Cs.: Semiologia, Teorias da Comunicação, Técnicas de Negociação, Metodologia do Trabalho Científico.