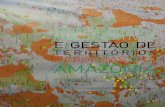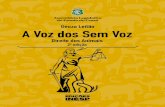UM OLHAR SOBRE OS ASPECTOS CULTURAIS DOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS: QUAIS MUDANÇAS A PARTIR DOS...
Transcript of UM OLHAR SOBRE OS ASPECTOS CULTURAIS DOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS: QUAIS MUDANÇAS A PARTIR DOS...
ÁREA TEMÁTICA: Globalização, Política e Cidadania
UM OLHAR SOBRE OS ASPECTOS CULTURAIS DOS PROCESSOS PARTICIPATIVOS: QUAIS MUDANÇAS A
PARTIR DOS FUNCIONÁRIOS E TÉCNICOS?
FALANGA, Roberto.
Psicólogo
Doutorando em Sociologia, Centro de Estudos Sociais - CES da Universidade de Coimbra
LUIZ, Juliana
Socióloga
Doutoranda em Sociologa, Centro de Estudos Sociais –CES da Universidade de Coimbra
3 de 18
Palavras-chave: processos participativos, técnicos, poderes locais, culturas e área metropolitana de Lisboa.
Keywordds: participatory process, administrative workers, local powers, cultures, Lisbon metropolitan area.
PAP1186
Resumo
Esta comunicação investe em uma reflexão introdutória sobre algumas funções e possibilidades dos
processos participativos e das culturas que os sustentam a partir da perspectiva do trabalho de técnicos e
funcionários envolvidos em políticas nominadas de participação cidadã promovidas por poderes locais.
Orientada pela concepção de cultura enquanto conjunto de percepções colectivas construídas ao longo
do contacto com os processos participativos, a partir de determinados contextos sócio-históricos, a
análise parte da importância de se reconhecer onde, como e quando se constroem culturas da
participação que impactam os processos e que são por estes afectados nas suas vertentes políticas e
organizacional. O objectivo inicial é individuar algumas chaves de leitura complementares para
aprofundar o estudo dos percursos realizados e interrogar o futuro no que tange às experiências
participativas no cenário português. Para isto são consideradas algumas experiéncias em curso na Area
Metropolitana de Lisboa que fomentam a participação sobre alguns temas como o orçamento público
municipal e políticas de regeneração urbana.
Abstract
This contribution aims to introduce new reflections concerning with the study of how functions and
possibilities of participatory processes are culturally supported. The focus chosen in order to argue such
a perspective is referred to civil servants directly engaged with the implementation of local citizens’
participation processes. Conceiving cultures as joints of collective long-term perceptions of the reality,
constructed during the very involvement with participatory processes, it is especially emphasized the
importance of considering socio-historical coordinates of the processes. Such a grounding assumption
allows the development of basic analysis on where, how and when the proper cultures of participation
are mutually constructed and influenced by the processes, in terms of political and organizational
aspects. First goal is then to detect some key-questions capable to both complement and deepen the
study on some experiences and, simultaneously, to start up questioning future scenarios in the
Portuguese context. In this sense, special attention is paid to some citizens’ participation experiences
going on the Urban Area of Lisbon, which are devoted to main city issues, such as municipal budget
and territorial regeneration policies.
5 de 18
Introdução
Desde o final dos anos 1980 algumas mudanças estruturais convergiram a nível global - reformas nas
políticas públicas e sociais orientadas pelo neoliberalismo, a queda do muro de Berlim com consequente
descrédito de certo socialismo burocrático, os movimentos de democratização na América Latina, o
redimensionamento da retórica do new management no vocabulário das administrações públicas e a
percepção da contração dos espaços de participação cidadã. Esta recente história provocou um terreno fértil
no contexto europeu para retomar um debate crítico sobre as implicações emergentes das democracias e, no
entanto, dar início a experiências de participação cidadã, promovidas por poderes locais. A crescente
distancia entre o eleitor e a figura do cidadão politicamente ativo, patente nos fenómenos de abstenção
eleitoral e voto de protesto simultaneamente às crescentes mobilizações coletivas, bem como a criação
contínua e múltipla de identidades e demandas sociais propiciaram a estruturação de instrumentos visados a
sintetizar a opinião pública e otimizar os recursos em projetos políticos distintos. Mais próxima aos cidadãos,
a dimensão local tem-se tornado um interessante laboratório democrático para as inovações concernentes
aos processos de policy making dentro de um cenário global em rápida transformação. Ao mesmo tempo, a
abertura a novas entidades sobrenacionais com influência e investimento nos mercados financeiros e nas
políticas nacionais criam uma tensão cada vez mais visível perante as crises financeiras e políticas que
afetam, em particular, o contexto europeu atual. i
Donatella della Porta (2011) sintetiza eficazmente os desafios que animam este cenário global no que tange
as relações em transformação entre Estado e Mercados, Parlamento e poderes executivos, Nação e arenas
internacionais.ii As dinâmicas da globalização, ao pressionar para a constituição de redes de interdependência
e fluxos comerciais, comunicativos e de conhecimentos criam também novos vínculos e limites. Os Estados
desempenham, portanto, um papel entre a diferenciação – virada para a salvaguarda da unidade nacional sem
cair no “corporativismo” que os deixaria fora dos jogos mundiais – e a difusão nas redes globais. Os dois
sistemas, de fato, parecem conviver, embora tensamente: de um lado a hierarquia do sistema mundial entre
os Estados com suas economias nacionais e suas regras internas do jogo democrático; de outro, os diversos
campos de atividade que complexificam o cenário mundial, quebrando com categorizações predefinidas e,
em alguns casos, apostando para a re-inclusão de partes sociais afastadas e excluídas (Santos, 2007).
Face às crises ligadas às consequências deste contexto é urgente que o debate saiba proporcionar uma
reflexão profunda e fundamentada sobre funções e possibilidades dos processos participativos e das
“culturas” que os sustentam.iii Dessa forma, pretende-se desenvolver nesta comunicação algumas
observações preliminares a partir da análise de processos participativos que despontam como criatividades
que podem ser possíveis em âmbito local, e, no caso, que orientam mudanças a nível das cidades. Refere-se
ao conceito de cultura enquanto conjunto de percepções e idéias construídas ao longo do contacto real com
os processos participativos, a partir de determinadas escalas espaço-temporais do próprio contexto sócio-
historico. A cultura representa, portanto, um fundamento pragmático para acções, escolhas, decisões e serve
como dispositivo concetual de ligação entre a construção social da participação e sua implementação
efectiva. Reconhecendo que os sujeitos constroem e pertencem a culturas e projetos políticos diferentes,
6 de 18
parte-se de um nível teórico que contribui para explicar o âmbito administrativo e o da cidadania envolvida
nos processos de participação, cruzando-o com algumas observações de caráter empírico sobre processos de
natureza diferente. Isto dá-se a partir da constatação de que o âmbito administrativo e o âmbito popular
constroem culturas diferentes com respeito aos processos participativos e em virtude da distinção basilar
entre processos que nascem por vontade política e outros que vão estruturando-se a partir de movimentos
sociais, os autores enfocar-se-ão nos chamados processos top/down, isto é decorrentes de uma vontade
institucional. A partir deste enquadramento, é privilegiado na analise o sujeito técnico imerso na tensa
articulação de funções de back office e front office de recentes processos participativos disseminados por
administrações públicas locais na Área Metropolitana de Lisboa (AML). O enfoque recai sobre esse grupo de
sujeitos por causa da sobre-exposição à transformação do seu papel: desenvolver o projecto político dentro
de uma reconfiguração das suas próprias funções em linha com novas necessidades internas e demandas
sociais. iv
1. Orientações sobre o conceito de cultura no âmbito da administração pública
Para os efeitos mencionados, propõe-se uma sintética retrospectiva sobre o conceito de cultura, decorrente de
um olhar sobre a imensa Literatura produzida. Cultura pode igualmente proporcionar dois tipos de
significados: de um lado a perspectiva sobre o indivíduo, a sua formação e portanto o património de
conhecimento maturado, de outro lado entende-se como cultura o conjunto de saberes, crenças,
comportamentos e convicções que são elaborados e transmitidos de geração em geração orientado assim as
atitudes de membros de grupos sociais. Pelo que se refere ao interesse sobre os aspectos culturais no estudo
das Administrações Publicas, ele parte primariamente do estudo em ambito organizacional em torno dos anos
1970. As razões da emergencia desse campo de estudos (Morgan, 2006) parecem residir numa “reacção” aos
estudos “hard” do funcionamento organizacional (Bonazzi, 2002; Chambel e Curral, 2000). Tal exigencia
não encontrava nas abordagnes clássicas baseadas na perspectiva tayloristica/fordistica no âmbito da
organização do trabalho e em referência com o modelo de administração pública proposto por Weber (1999)
explicaçoes satisfatórias, pois estavam essencialmente baseadas no estudo de hierarquias, campos de
competencias e sistemas de controlo. Assim, escolas de pensamento como a das “Relaçoes Humanas”
lideradas por estudosos como Mayo e Barnard, nos anos 1940 deu um forte impulso para que a dimensão da
subjetividade ficasse no centro do debate cientifico porque são os indivíduos que mantem um background
microsocial e psicologico do qual entende-se o complexo organizacional. Muitos outros estudos têm
contribuído desde então ao aprofundamento da vertente “humana” das orgnizações optando às vezes para um
enfoque nas atitudes individuais, outras vezes acentuando as colectivas. Também foi-se desenvolvendo uma
vertente mais ligada aos processos de decision making dos estudos organizacionais (dentre outros, Crozier e
Friedberg, 1981) que, se concentrando nas estratégias de problem solving, concebem a acção humana como
processo activo que usa instrumentos materiais e culturais a partir de regras do jogo pre-existentes que
estruturam as racionalidades dos individuos. A propria racionalidade acaba por ser questionada enquanto
principio unico, tornando-se um construto social e, logo, cultural.
7 de 18
Pode-se afirmar com Pipan (1996) que a abordagem cultural nas organizações està actualmente dividida
entre diversas perspectivas: a etnografica (com estudosos como Van Maanen, Jones, Kunda); a antropológica
(Czarniawska-Joerges enquanto maior representante); a de estudos sobres os aspectos materiais, intelectuais
e simbólicos; a das análises do conteúdo textual e interpretação das estructuras profundas das organizações.
Um autor particularmente importante ao respeito da vertente simbólica dos estudos culturais é certamente
Weick (1997) que, centrando as suas reflexões nos processos cognitivos referidos ao sensemaking dos
indivíduos em termos de “actuação” (enactment) no contexto, discute as dinamicas de construção,
organização e, inclusive, destruição da propria realidade referindo como os sujeitos não só criam “ordens”
mas também limitações do próprio contexto.
Sociologia, antropologia e estudos organizacionais, mas também a psicologia têm contribuído às reflexões
em âmbito cultural/organizacional. Inicialmente mais próxima da psicologia social (Lewin, 1948) e mais
recentemente às teorias psico-analíticas,v a psicossociologia tem dado um importante impulso ao
aprofundamento desses aspectos. Particularmente activa em França e Itália, refere-se ao conceito de cultura
como a algo que:
nos habita, inspira e estrutura, até construir um estilo; ela é muitas vezes ligada à “tradiçao”, aos
costumes e isso sugere que para a compreender tem que ser especificamente considerado o peso da
duraçao de tempo e memoria (Barus-Michel, 2005, 110).
Baseando as suas reflexões sobre o funcionamento do inconsciente nas actividades humanas quando elas são
produzidas colectivamente, as organizações, bem como as Instituições, tornam-se assim objectos de análise
psicológica (Kaneklin e Manoukian, 2011). A este respeito, Carli e Paniccia (2003) têm apontado a
existencia de uma dimensão “institucional” referida aos processos de simbolização inconsciente ao lado de
uma dimensão organizacional centrada nos mecanismos racionais que estruturam a vida dos indivíduos.
Nesta comunicação entender-se-á cultura como um processo de significação que é produzido pelos actores
sociais sobre o contexto que eles compartilham através da construção constante dos símbolos que constituem
sua realidade.vi Cultura organizacional figura ser, portanto, não sò como processos de aprendizagem, mas
também possibilidades de (re)inventar a cada passo o contexto com base nos tipos de relações construidas
simbolicamente e pragmaticamente.
2. Cultura Política e Cultura burocrática nos Processos participativos
Ao encontro dessas varias abordagens sobre o conceito de cultura, seguem uma miríade de reflexões
desenvolvidas pelas ciências sociais sobre o construto de cultura política. Em conjugação com a noção de
cultura apresentada, articula-se a de projetos políticos a partir da reflexão de Evelina Dagnino (2001) que
reconhece a vinculação indissociável entre cultura e política. A autora lança esta noção para designar os
conjuntos de crenças, interesses e concepções de mundo, de representações do que deve ser a vida em
sociedade que orientam a ação política dos diferentes sujeitos (ibidem: 98). Desde concepções do
pensamento político clássico liberal sobre atitudes e valores que orientavam o comportamento político
relacionado à cidadania nas sociedades consideradas mais avançadas (Marshall, 1967), até as contribuições
8 de 18
que emergem após a segunda metade da década de 1970, que levaram em consideração a reestruturação
produtiva e a globalização econômica (à exemplo de Bauman, 1998; Castel, 1998; Harvey, 1990; Putnam,
1993; Turner, 1993: Santos, 2003, dentre outros. Para mais exemplos ver Azevedo et al. 2009), tem-se
chegado mais recentemente ao conceito de Nova Cultura Política (NCP), que tem orientado análises que vão
além das perscpectivas teóricas culturalistas e institucionalistas (Rocha, 2009). Formulado pelo sociólogo
Terry Clark e, no contexto da sociologia portuguesa defendido por Manuel Villaverde Cabral e Filipe
Carreira da Silva (Cabral e Silva, 2007), ele agregaria alguns elementos-chave. Azevedo, Santos Junior,
Ribeiro (2009), a partir de uma análise sobre a NCP explicam e caracterizam estes elementos, chamando
também a atenção para a necessidade de refletir sobre os limites desta matriz analítica: (1) modificação da
dimensão clássica entre direita e esquerda; (2) explícita separação entre questões sociais e econômico –
fiscais; (3) questões sociais tem crescimento e importância relativamente maiores do que as econômicas; (4)
crescimento concomitante do individualismo de mercado e da responsabilidade social; (5) emergência de
políticas centradas em questões-chave e ampliação da participação cidadã, por uma lado, e declínio das
organizações políticas hierárquicas, por outro; e (6) mais instruídos e os que vivem mais confortavelmente.
Nesta ressalva, eles orientam para a confrontação de dados empíricos com abordagens explicativas que dão
visibilidade às transformações da cultura política, com destaque aos impactos que os processos de
diferenciação, segmentação e segregação socioespacial têm ocasionado na vida social, nos padrões de
interação e na sociabilidade cívica das grandes cidades. Cultura política e processos de participação cidadã
entendidos também na sua vertente administrativa, estão intimamente ligados na análise que se vai
apresentar.
Tomando em conta o arcabouço teórico sinteticamente esboçado, manifesta-se claramente a necessidade de
reconhecer onde, como e quando se constroem culturas da participação que impactam os processos e que são
por estes afectados pelos seus princípios e mecanismos. Isto significa individuar nas culturas dos diversos
actores envolvidos uma chave de leitura para conhecer e entender os percursos realizados e interrogar os
cenários futuros no que tange as experiências de participação cidadã. Referindo-se às burocracias
enquadradas em sistemas de democracia representativa, as Administrações Públicas representam
organizações que por sua própria natureza são implicadas num continuo trabalho de transformação. A
governança do território exerce, consequentemente, implicações institucionais advindas de um corpo social
que muda periodicamente. Enquanto organizações cuja mission è o governo das mudanças, as
Administrações Públicas podem ser consideradas como organizações “anômalas” na medida em que se tenta
balançar tendência a uma estruturação standardizada e “objecto de trabalho” que se transforma de maneira
complexa e continua.vii
A especificidade única dessas organizações que as distingue de qualquer outra
realidade organizacional torna-se enfim o caracter político das suas missions.viii
Pelo que se refere aos
processos participativos, convém então destacar não só a relevância do projecto político em si, mas também
o que acontece no nível da própria estrutura organizacional que sustenta o trabalho administrativo e suas
inovações, sendo que tais processos requerem mudanças operativas e este nível e em relação com a cidadania
política e civil.
9 de 18
3. Os Processos Participativos como laboratório democrático
A dimensão local foi historicamente representada como a mais eficaz em termos de proximidade com os
cidadãos e, consequentemente, mais concebível como “laboratório democrático” para as inovações
concernentes aos modelos políticos e administrativos (como já apontado por Tocqueville e Mills). Para este
efeito, ela tem-se tornado sempre mais um espaço estratégico para a construção de redes que ponham em
comunicação novos conhecimentos e práticas capazes de valorizar os atores sociais nos processos de policy
making. Sobretudo a nível local e regional, os processos participativos (PPs) têm tido duas funções principais
a serem destacadas: de um lado a promoção de um princípio socializador de policy-making, o que significa
também pensar a formas de controle mais amplas do poder público (Foucault, 2004); de outro, repensar em
termos de eficácia, dado um contexto com recursos escassos, as politicas publicas em articulação com a
crescente complexidade das demandas sociais (Beck e Beck, 2001).
Considerando o ‘orçamento’ como tema historicamente tratado no sector público enquanto instrumento de
controlo do Legislativo sobre o Executivo, as teorias económicas clássicas bem como as teorias políticas
democráticas, contribuíram muitas vezes para a robustez dos argumentos que eram apresentados em defesa
do controlo das receitas e despesas públicas. A este respeito, sublinha-se que em geral se pensa o orçamento
em termos financeiros (receita e despesa em dinheiro, resultado em equilíbrio, deficit ou superavit), mesmo
que nada impeça que seja feito para gerir recursos que não se expressem monetariamente (Pires, 2001: 4).
Neste cenario, os contextos locais têm representado espaços permeados por relações “frágeis” cujas
adaptações, tanto no âmbito das estruturas internas das adminsitrações locais como na externalidade de suas
relações politicas e técnicas, têm aportado situações que são particularmente interessantes a serem analisadas
quando o processo participativo se refere ao orçamento público. Navarro (et. al, 2006), por exemplo, analisa
criticamente o papel dos técnicos municipais nos orçamentos participativos no contexto Sevilhano:
(...) os processos têm que adaptar-se a uma estrutura municipal preexistente complexa e diversa,
que se organiza em unidades muito dispares em relação aos objetivos, atividades, organização de
trabalho e relações com a cidadania. Este é um aspecto fundamental para a análise, porque o
estabelecimento e extensão do novo modelo podem impulsionar transformações nas estruturas
municipais, mas também estas podem dificultar e inclusive bloquear a materialização do
processo de democracia participativa. (ibidem: 150).
Os Orçamentos Participativos (OPs) representam então experiências de participação cidadã particularmente
importantes em que são previstas as quantias monetárias públicas que, num período determinado, devem
entrar e sair. Prevendo e autorizando as receitas e as despesas do Estado para um determinado período, eles
são finalizados à realocação dos recursos públicos, através do suposto envolvimento dos sectores deixados
normalmente às margens dos nichos dos poderes constituídos pelo paradigma constituído. Eles representam
portanto uma ferramenta de participação que pode ressignificar culturalmente, socialmente e politicamente
seu sentido, conteúdo, abordagem técnica e trazer a inclusão de temas como cidadania.
As primeiras experiências de OP emergiram num contexto do qual Dagnino (2004) reconhece como âmbito
de uma confluência perversa que conjuga um projeto político democratizante, a participação e o projeto
neoliberal – projetos em simultâneos - na América Latina. Ao fim dos regimes dictatoriais nos anos 1980, a
10 de 18
“proposta politica” que vinha do exterior do continente latino-americano, isto é a forte ligação entre o
modelo de democracia representativa e o modelo economico suportado no capitalismo desregulamentado,
parecia simultaneamente como algo dificilmente conciliável com a situação existente e a unica alternativa
optando, por fim, a uma gradual afirmação deste paradigma.ix De forma semelhante, esse processo envolveu
também outras latitudes do mundo, tal como em alguns países de África e Ásia onde foram adoptados
regimes socialistas e comunistas. E é neste cenario que as formas de democracia participativa inseridas nos
sistemas representativos, em particular no Brasil, têm representado não apenas uma aposta local mas sim a
possibilidade de pensar em modelos alternativos, envolvendo atores sociais provenientes dos movimentos
comunitários cidadãos para a recolocação dos recursos para investimentos compatíveis, significando em
muitos casos pôr em questão uma gramática social e estatal que colocasse ao centro objetivos de inclusão
(Allegretti e Herzberg, 2004; Sintomer e Allegretti, 2009).
As diferentes “lógicas” da transposição respondentes às necessidades e exigências diferentes no próprio
contexto europeu fizeram com que houvesse dificuldades em desenvolver análises unívocas sobre esse
contexto.x A rica Literatura que nos últimos anos tem enfocado inúmeros aspectos desses processos, bem
como envolvido as mais diferentes disciplinas científicas, demonstra-o. A própria terminologia para se referir
ao processo de participação orientada a partir de alguns pressupostos do orçamento participativo variam
neste âmbito. Não se trata somente de uma diferença semântica, mas pode ser reconhecida como
manifestação das diferentes culturas políticas que os atores envolvidos, principalmente a chamada ‘vontade
política’ têm sobre o OP. Esses processos circunscritos no debate amplo sobre o próprio caminho da
democratização possuem um elemento comum, conforme esclarece Santos (2003):
(...) a percepção da possibilidade de inovação entendida como participação ampliada de atores
sociais de diversos tipos em processo de tomada de decisão. Em geral, estes processos implicam a
inclusão de temáticas até então ignoradas pelo sistema político, a redefinição de identidades e
pertenças e o aumento da participação, nomeadamente ao nível local (ibidem: 51).
O OP como fenômeno político social cada vez mais crescente em várias partes do mundo foi assim
emergindo em contextos distintos, com sistemas burocraticos e culturas políticas diferentes. Se bem a
emergência dos processos participativos ligou-se inicialmente às experiências brasileiras, na maioria dos
Países Europeus foi posta particular atenção às instâncias de “modernização administrativa” (Sintomer e
Allegretti, 2009), pois o remarco dos procedimentos da democracia nos marcos do neoliberalismo, junto com
as primeiras criticas levadas à forte retórica do new management que entrava sem muitas dificuldades no
vocabulário das Administrações Públicas, fez com que se retomasse a atenção sobre as “qualidades
democráticas” (Santos, 2003).xi A maioria das experiências de OPs que surgiram na Europa, foi após os anos
2000, tendo em grande parte uma origem top down e preponderância nas discussões a partir de uma
dimensão financeira e orçamental (Sintomer e Ganuza, 2011; Cabannes, 2006). A participação em Europa
parece ter-se caracterizado por exigências de carácter político viradas à solução do crescente abstencionismo
eleitoral, enquanto sinal de um grau de confiança dos cidadãos nas instituições e na classe política em crise,
juntamente a uma sempre maior diminuição da militança e do compromisso civil nas associações políticas. O
tema da participação acompanhada pelos OPs, foi ocupando espaços no debate social e político assim como
11 de 18
na dinâmica pública local, significando promessa de modernização política administrativa nos seus diferentes
âmbitos.
4. As experiências participativas na Área Metropolitana de Lisboa
As orientações conceptuais explicadas anteriormente materializam-se num conjunto de unidades de
observação localizadas em algumas experiéncias na Area Metropolitana de Lisboa. Neste estudo dar-se-á
ênfase às iniciativas impulsionadas pela Administração da Câmara de Lisboa nos últimos 5 anos.
Consideradas como projectos políticos inseridos em algumas unidades administrativas e não necessariamente
sob a mesma coordenação, elas abrangem áreas de serviços públicos e sociais distintos: orçamento,
habitação, território, ambiente e urbanismo, dentre outros de intervenção urbana.
Esse conjunto de iniciativas faz parte de um contexto de emergência do fenómeno participativo em Portugal
que surge a partir de 2006, excepto por algumas experiencias nos anos antecedentes, e que gradualmente se
tem tornado, consoante à cena europeia, um dispositivo tanto político como administrativo sempre mais
relevante.xii
A área de Lisboa tem abrigado unidades de análise pertinentes a esta discussão. A Administração
Local da capital portuguesa tem inserido a vertente da participação cidadã em diversos processos de policy-
making sobre o território da cidade, tanto na escala do municipio como naquela de bairro. Ao mesmo tempo,
tal como observado por autores como Silva (et. al, 2008), há um crescimento de outras formas de
participação política que começa a ganhar relevância face à diminuição da participação politica
convencional. No caso de Lisboa, que está no centro politico também de uma área metropolitana, há um
efeito identificado como efeito-cidade / efeito-metrópole ou seja, um forte impacto que a dimensão do
aglomerado tem sobre a participação politica dos indivíduos (ibidem: 246).
O trabalho etnográfico e de observação participante empreendido dá-se com profissionais vinculados nos
seguintes programas:
- Orçamento Participativo: Actualmente três concelhos da AML desenvolvem algum tipo de OP: Cascais,
Amadora e Lisboa. A capital portuguesa encontra-se na sua 5ª edição e em 2012 apresentou transformações
em seu modelo revelando alto interesse político, quer porque estrutura uma nova metodologia de organização
dos encontros, quer pela estrita referencia operada com a situação de crítica contingéncia devido às medidas
de austeridade tomadas no País.xiii
O OP de Lisboa resulta ser um caso específico no cenario europeu por ser
o único OP desenvolvido por uma capital europeia e por ter experimentado ao longo dos seus anos diferentes
opções metodológicas. Este aspecto vincula-se a um trabalho de reflexão continuo sobre a validade e eficácia
do próprio processo que chama atenção sobre qualidade e capacidade instituinte dos processos (Cabannes,
2006) e portanto a capacidade de acesso aos cidadãos de decidir as “regras do jogo” democrático.
- Agenda 21 Local: processo iniciado este ano pela Câmara de Lisboa com ênfase na sua vertente
experimental tanto pelo que se refere à escolha da área de intervenção (a parte Norte da cidade),xiv
como pela
organização interna do processo em estrita parceria com uma equipa da Universidade Nova de Lisboa.xv
- Simplis: trata-se de um processo de participação com fim simplificar os procedimentos burocráticos. A sua
vertente para o envolvimento dos próprios funcionários e técnicos que trabalham na Administração è clara e
ao mesmo tempo acompanhada por certa tentativa de se abrir às sugestões decorrentes dos munícipes através
de “consultas públicas”.
12 de 18
- Projecto BIP/ZIP: projeto que nasceu há dois anos no alvo das políticas do Programa Local de Habitação
referido ao gabinete da vereadora com o pelouro da Habitação e Ação Social, Helena Roseta. Construída
uma Carta detalhada das zonas e dos bairros de intervenção prioritária, a equipa do BIP/ZIP gere pelo
segundo ano um concurso voltado à implementação de parcerias locais com fim a execução de projetos que
promovam a vida dos territórios interessados.
Por quanto se refere aos três primeiros processos, eles fazem referencia a uma mesma Divisão da Câmara de
Lisboa, a DIOP (Divisão Inovação Organizacional e Participação) que, no quadro da reestruturação das
Autarquias criou a Divisão em Julho 2011,xvi
sem uma Direção Municipal de referencia cujas competências
foram tornadas equivalentes para o Departamento de Modernização e Sistemas de Informação.xvii
Dentro da
equipa os técnicos desempenham funções diferentes interligando assim os processos de participação cidadã e
interna ao controle da qualidade e à comunicação. Os três técnicos ocupados na implementação do OP,
também gerem o processo de Agenda 21 Local (e inclusive o processo de Orçamento Participativo Escolar),
enquanto o processo Simplis é gerido por outra sub-equipa de três técnicos.xviii
Pelo que se refere a equipa do
BIP/ZIP, ela encontra-se organizacionalmente em outra rede de relações e, até geograficamente, encontra-se
deslocada em uma outra sede da Câmara Municipal (que são múltiplas na cidade).
5. Funcionários, técnicos e “o trabalho no terreno”
As experiéncias apresentadas dão-se no terreno do urbano em transformação e ao fato metropolitano como
morfologia social e cultural (Azevedo, Santos Junior, Ribeiro, 2009). O encontro entre técnicos, funcionários
e cidadãos refere-se à participação que, na totalidade das experiéncias, agregam uma heterogeneidade social
que habitam áreas urbanizadas de diferentes estatutos de lugares (sociais, económicos e culturais). A
participação, criando um setting de interlocução onde sujeitos que vêm de contextos diferentes tentam
acordar-se sobre objectivos comuns, ressalta a confluencia de um trabalho sobre o objecto de encontro
tangente a um meta-trabalho de construção do próprio encontro, feito de confrontos, choques, negociações e
possiveis saidas. A participação portanto torna mais visível uma questão central: a definição dos papeis o
que, em outros termos, nos fala da questão da identidade. Considerando particularmente os funcioarios
tecnicos, devido ao recohecimento do lugar por eles ocupado que é tanto exposto às transformações apeladas
pelos PPs como estrategico em termos de resultados eficazes, reconhece-se como haja uma profunda questão
ligada à “identidade” no lugar de trabalho pois torna-se mais visivel quão crucial seja a passagem entre um
modelo standard de funcionamento e as invoaões indicadas pela participação. Novos pedidos e
reponsabilidades de um lado e novas trajectorias e objectivos de outro fazem deste eixo um tema central para
aprofundar o papel da participação não só nos ambitos politicos e sociais, mas também naquele que das
proceduras leva a se concentrar nos aspectos culturais.
Decorrente dos estudos em curso com tais processos, apontam-se assim algumas questões com fim iniciar e
dinamizar uma plataforma de confronto sobre os aspectos culturais implicados na concpeção e gestão
politica e administrativa dos diferentes PPs. Isto é, tomando em conta a variedade de propostas existentes na
área metropolitana de Lisboa, onde o actual Executivo liderado pelo Presidente Antonio Costa, tal como ele
também tem tido ocasião de sublinhar em diversas entrevistas (Costa, 2012), tem realizado uma promoção de
13 de 18
PPs que necessariamente requer certa atenção por parte dos cientistas sociais. Perante tanto investimento
“politico”, que tipo de investimento “administrativo” o corresponde? E enfim, qual é o cenario dos PPs
dentro da Câmara de Lisboa?
A variedade de PPs existentes pode ser considerada uma mais-valia em termos de “vivacidade” politica e
territorial embora, ao mesmo tempo, a multiplicidade não necessariamente corresponde a uma maior eficacia
dos PPs nem a uma maior eficiencia dos recursos administrativos. Pode acontecer, por exemplo, que a
ploriferação de PPs não corresponda a uma real efectividade dos mesmos em termos de envolvimento dos
municipes de um lado e a uma articulação productiva das equipas internas de outro. Ao respeito deste último
ponto é também importante ressaltar que se utiliza o conceito de producção com referencia à possibilidade de
os funcionarios desenvolverem suas proprias competencias em linha com coordenadas claras e sem
desepericios de recursos internos (implementando, por exemplo, contactos inter-funcionarios e redes
internas). Mais ainda, embora não tenham sido mencionadas, existem outras experiencias com vertente
participativa na cidade, tal como os Orçamentos Participativos a nivel de Freguesia e as Reuniões
descentralizadas da Câmara. Os primeiros são implementados por iniciativa das proprias Freguesias, isto é
nem todas o fazem,xix
enquanto as segundas, são reuniões organizadas com o Executivo da Câmara desde
2007 com fim circular nas varias zonas da cidade entrando em directo contacto com queixas e opiniões dos
cidadãos.xx
Perante essa situação, qual é o nivel de “serviço” aos municipes perante um quadro de acções ao mesmo
tempo tão variado e, aos olhos de um cidadão comum, tão semelhante? Quem é o destinatário pensado e qual
o destinatário efectivo em cada processo?xxi
Perguntas que realçam quer a problemática inerente ao tipo de
divulgação e difusão feita nos diferentes PPs (e possibilidade de inducir certa seleção dos participantes), quer
o fenómeno de auto-seleção cidadã. Pensando no âmbito administrativo, torna-se evidente que existe uma
aposta para que a co-presença de vários PPs não custe à Administração: a coordenação dentro e fora das
específicas equipas, isto é dos recursos internos em termos de competências em jogo e dos recursos externos
em termos de trabalho de rede. As competências em jogo, por sua vez, enquadra-se dentro da metodologia
dos singulo PP a ser levado a cabo e que portanto estabelece certa dinamica entre as funções tradicionais e as
novas requeridas para a sua implementação. Pelo que se refere ao trabalho de rede, isto chama a atenção dos
PPs dentro da maquina administrativa e, certo modo, da seu papel desempenhado em relação à logica geral
da Autarquia. Como e em que grau os PPs são objecto de conhecimento e trabalho do pessoal funcioario
empregado na Câmara de Lisboa? Em outros termos: o que os PPs representam para a máquina
administrativa?
Mantendo o olhar sobre os PPs examinados e passando das questões apontadas para algumas considerações
concernentes as possíveis mudanças culturais que se podem ressaltar a partir do trabalho das equipas de
funcionários examinadas, é importante assinalar como a própria dinâmica decorrente entre novos encargos e
aproximação aos “clientes” da Administração Pública possui um potencial de mudança em relação a
transformação do paradigma burocrático. Considerando os processos de mudança como possibilidades para o
desenvolvimento dos contextos que, no caso dos PPs, se têm referido à conjuntura de factores
organizacionais e culturais, destacam-se os seguintes tópicos com base nas experiencias examinadas:
14 de 18
- percepção sobre a relação directa com os cidadãos que, por sua vez, pode influir na gestão de back
office das demandas encameradas com os PPs;
- trabalho de “animação” dos processos enquanto gestão das demandas apresentadas durante as
reuniões presenciais.xxii
A função de animação desempenha então um papel importante com respeito ao
mandato político dos PPs e às demandas que surgem nas proprias Assembleias;
- a aproximação entre a cidadania civil e o corpo político no que tange o conhecimento destes sobre a
heterogeneidade de problemáticas do mundo da vida, através do trabalho de escuta dos técnicos durante
as atividades de participação presencial. Ao mesmo tempo, o processo de aprendizagem mutua sobre o
funcionamento da máquina pública no tratamento de tais demandas;
- mudanças na retórica do debate empreendido pela administração pública sobre projetos de
governança urbana; entra a nomenclatura “processo” – uma idéia de algo em desenvolvimento – “se
aprimorando” – tal como a democracia, um processo sem fim (identifica-se este como um elemento
cultural do “processo instituinte” (Cabannes, 2006);
- há uma conjugação de visões territorializadas com perspectivas “temáticas” sobre a participação.
Tanto técnicos como cidadãos parecem adaptarem-se às formas como irá incidir o exercício da
participação nos diferentes projetos.
6. Considerações Finais
A comunicação aqui apresentada aposta acima de tudo em uma proposta metodológica. O caráter
experimental e o tom reflexivo que se tem usado ao longo desse percurso revela quão multidimensional,
vivaz, problemático e aprofundável é o campo aberto pelos processos de participação cidadã. Diversas
perspectivas podem de facto ser adotadas com fim estudar tais processos. Optou-se, conforme as formações
profissionais dos autores e tentando abranger a multiplicidade de disciplinas que têm referido sobre esse
tema, de concentrar o enfoque sobre as dimensões culturais e suas vertentes no âmbito político e da máquina
burocrática. Reconhecendo como os PPs representem dispositivos únicos na articulação das dimensões
apontadas, escolheu-se como âmbito de pesquisa as equipas de funcionários que estão directamente
envolvidas na implementação dos processos. Enquanto sujeitos particularmente expostos nas transformações
requeridas em termos de funções a serem articuladas entre back office e front office, bem como na tensa
passagem entre um mandato tradicional e uma possível nova configuração do próprio percurso dentro da
Administração, os funcionários desempenham um papel estratégico para os efeitos das reflexões
apresentadas.
Sendo assim, a ênfase foi dada a um específico “laboratório democrático” que é a Área Metropolitana de
Lisboa, cuja promoção de processos participativos tem sido particularmente vivaz nos últimos cinco anos.
Tais experiências, todavia, não parecem ser discutidas o suficiente nos estudos que tratam da participação
cidadã no mundo, sofrendo então certa marginalização no que diz respeito de casos mais conhecidos na
America Latina ou na própria Europa, perdendo, talvez, a possibilidade de conhecer mais a fundo esses
processos instuituintes que tentam certo aprofundamento do exercício democrático. Retomando aos
diferentes PPs tomados em conta, o primeiro objectivo desta comunicação tem sido o de colocar questões
15 de 18
que decorressem do complexo enquadramento teórico proposto. Tal propósito acompanha-se
necessariamente a certo desafio colocado em termos epistemológicos sobre o próprio tema da participação,
abrindo a novas perspectivas de estudo complementares às que até agora têm sido propostas.
Referéncias Bibliográficas
Allegretti,G. e Herzberg,C. (2004),“El ´retorno de las carabelas´: los presupuestos participativos de América
Latina en el contexto europeu”,Transnational Institute y Fundación de investigaciones marxistas.
Amsterdam- Madrid.
Azevedo,Sérgio de; Santos JR., Orlando Alves; Ribeiro, Luiz C. Q.(2009),“Mudanças e Permanências na
Cultura Política dasMetrópoles Brasileiras”,DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 52,
no 3, pp. 691 a 733.
Bauman, Zygmunt (1998), Postmodernity and its discontents. New York: New York University Press
Barus-Michel, J.;Enirquez, E.; Lévy A. (2005) (org.), Dizionario di psicosociologia, trans. it. Vocabulaire de
Psychosociologie: Références et positions (2002), Raffaello Cortina, Milano.
Beck, U.; Beck-Gernsheim E. (2001), Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and
Political Consequences. Sage Publications, London.
Bion, W. (1961), Experiences in group and other papers, Brunner Routledge, New York.
Bobbio, N. (1995), Stato, governo, società, Einaudi, Torino.
Bonazzi, G. (2002), Come studiare le organizzazioni, Il Mulino, Bologna.
Cabannes, Y. (2003); Presupuesto participativo y finanzas locales. Documento Base para a Rede URBAL
N°9, Porto Alegre, PGU-ALC/Comissão Europeia.
Cabannes, Y. (2006), “Participatory budgeting: a significant contribution to participatory democracy”. In
Environment and Urbanization, Vol. 16, No. 1, 27-46.
Cabral, Manuel Villaverde (2008), “Efeito metropolitano e cultura política: novas modalidades de exercício
de cidadania na metrópole de Lisboa”, Cabral, M. Villaverde; Silva, Filipe C.; Saraiva, Tiago (org.) Cidade e
Cidania: Governança urbana e participação cidadã em perspectiva comparada. Lisboa: ICS – Imprensa de
Ciéncias Sociais, pp. 213-242.
Cámara Municipal de Lisboa, http://cm-lisboa.pt.
Cámara Municipal de Cascais, http://cm-cascais.pt.
Cámara Municipal da Amadora, http://cm-amadora.pt.
Carli, R.; Paniccia, R. M. (2003), L’analisi della domanda. Teoria e tecnica dell’intervento in psicologia
clinica, Il Mulino, Bologna.
Carli, R. (2007), “Pulcinella o dell’ambiguità”, Rivista di Psicologia Clinica, 3, 382-396.
Castel, Robert (1998), As metamorfoses da questão social: uma crónica do salário. Petrópolis: Vozes.
Chambel, M. J.; Curral, L. (2000), Psicossociologia das organizações, Texto Editora, Lisboa
Chong, V. K., Eggleton, I. R. C. and Leong, M. K. C. (2006), “The Multiple Roles of Participative Budgeting
on Job Performance” in P. M. J. Reckers, Advances in Accounting, 22, Elsevier Science, 67-95, Oxford.
Costa, A. (2012), Caminhos abertos, Quetzal, Lisboa.
Crozier, M.; Friedberg, E. (1981/1977), L’acteur et le système, Éditions du Seuil, Lonrai.
16 de 18
Dagnino, Evelina (2001), “Sociedade civil, participação e cidadania: do que estamos falando?”, Daniel Mato
(coord.). Políticas de ciudadanya e sociedad civil en tiempos de globalización. Caracas: FACES,
Universidad Central de Venezuela, pp. 95-110.
De Gaulejac, V.; Bonetti, M.; Fraisse, J. (1995), L’ingénerie sociale, Alternatives Sociales Syros, Paris.
Della Porta, D. (2011), Democrazie, Il Mulino, Bologna.
Dias, N. (2008); “Uma outra democracia é possível? As experiências de Orçamento Participativo”, in E-
cadernos CES, 1, 183-205. Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Coimbra .
Enriquez, E. (2003/1992), L’organisation en analyse, Presses Universitaires de France, Paris.
Fishkin, J. (2009), When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation,. OUP, Oxford
Fisher, F. (2003), Reframing public policy: discursive politics and deliberative practices, Oxford University
Press, USA
Foucault, M. (2004/1975), Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris.
Ganuza, E. (2008); Control político y participación en democracia: los presupuestos participativos, Ed.
Fundación Alternativas, Madrid.
Guimarães, R. P. (2008), “Estado, mercado y democrazia: oportunidades y limites de la participacion
ciudadana en el fortalecimiento dela gobernabilidad democratica”, Revista del CLAD Reforma y
Democracia, 40, Caracas.
Harvey, D. (1990), The condition of postmodernity. Oxford: Blackwell.
Harvey, David (2011), O Enigma do capital e as crises do capitalismo, Boitempo, São Paulo.
Kaneklin, C.; Manoukian, F. O. (2011/1990), Conoscere l’organizzazione, Carocci, Roma.
Lewin, K. (1948), Resolving Social Conflicts: selected papers on group dynamics, New York: Harper &
Brothers.
Marshall, T. H. (1967), Cidadania, Classe . Rio de Janeiro: Zahar.
Morgan, G. (2006), Images of organization (Updated Edition), Sage Publications, Thousand Oaks.
Navarro, I. Moreno; Ramírez, J. H.; Manjavacas, J. M.(2006), “El tercer pilar: Los tecnicos municipales en
los presupuestos participativos”, pp. 145-163,Tomas Villasante (org.), La pedagogía de la decisión.
Aportaciones teóricas y prácticas a la construcción de las democracias participativas, CIMAS, Sevila.
Normann, R. (2004/1984), La gestione strategica dei servizi, trans.it Service Management: Strategy and
Leadership in Service Business, Etas, Milano.
Orsenigo, A. (2009), “Senso e valore politico dell'agire nelle organizzazioni”, Spunti, 12, 13-42.
Pagés, M.; De Gaulejac, V.; Bonetti, M.; Descendre, D. (1998), L’emprise de l’organisation, Presses
Universitaires de France, Paris.
Pipan, T. (1996), Il labirinto di servizi. Tradizione e rinnovamento tra i pubblici dipendenti, Raffaello
Cortina Editore, Milano
Pires, V. (2001), Orçamento participativo: O que é, para que serve, como se faz, Manole Barueri, São Paulo.
Putnam, R. D. (1993), “The prosperous community: social capital and public life”, American Prospect, pp. 4-
13.
Rocha, Carlos V. (2009), “Democracia em duas dimensões: cultura e instituições”, Sociedade e Estado,
Brasília, V. 24, n. 3, p. 863-880.
Santos, Boaventura (2006), A gramática do tempo: para uma nova cultura política, Ed. Cortez, São Paulo.
17 de 18
Santos, B. (2003), Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa, Edições
Afrontamento, Porto.
Schein, E. H. (1992/1987), Lezioni di consulenza, trans.it Process consultation, Raffaello Cortina, Milano.
Silva, Filipe C. da; Aboim, Sofia; Saraiva, Tiago (2008), “Participação cívica e vida urbana em Portugal”,
Cabral, M. Villaverde; Silva, Filipe C.; Saraiva, Tiago (org.) Cidade e Cidania: Governança urbana e
participação cidadã em perspectiva comparada. Lisboa: ICS – Imprensa de Ciéncias Sociais, pp. 243-269.
Sintomer, Y. (2010), “Saberes dos cidadãos e saber político”, in Revista Critica de Ciencias Sociais, nº 91,
pp 135–153.
Sintomer, Y.; Ganuza, E. (2011), Democracia participativa y modernizacion de los servicios publicos.
Investigacion sobre las experiencias de presupuesto participativo en Europa.
Sintomer, Y; Herzberg, C.; Allegretti, G. (2009); World Report on Participatory Budgeting, INWENT, Bonn
(Versions in English and German).
Talpin, J. (2011), Schools of Democracy, ECPR Press
Turner, B. (1993), Citizenship and social theory. London: Sage.
Wampler, B. (2007); Participatory Budgeting in Brazil. Contestation, Cooperation, and Accountability, The
Pennsylvania State University, USA.
Weick, K. (1997), Senso e significato dell’organizzazione, trans.it Sensemaking in Organizations (1995),
Raffaello Cortina Editore, Milano.
Weber, Max (1999), Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva, UNB / Imprensa
Oficial do Estado, Brasília / São Paulo.
i Sobre o conceito de crises financeiras e sobre estas ao redor do mundo desde 1973, ver Harvey (2011). ii No primeiro caso, Della Porta (2011) sublinha como a deregulação dos mercados, a redução dos impostos patrimoniais e a
privatização dos serviços públicos são tendências comuns que têm provocado a ilusão de que o “public management” pudesse
resolver os problemas inerentes à natureza diferente das Instituições, de fato obrigadas a se portar como organizações privadas. A
concepção neoliberal de “não-intervenção-estatal” tem produzido um efeito globalizado de novas barreiras de entrada, favorecendo
poucas e poderosas multinacionais. Respeito ao segundo ponto, ela remarca como os fenômenos de personalização e centralização
das decisões em leaderships têm correspondido a um crescimento de abstenção eleitoral. Enfim, por quanto se refere ao papel dos
Estados e das Organizações de marca internacional no cenário da globalização, ela aponta ao crescente poder de injunção através de
cláusulas sobre liberalizações, privatizações e desregulamentação que têm persistido, durante e depois do período do “ajuste
estrutural” liderado pelo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Isso tem significado a imposição de uma nova lex
mercatoria que tem afetado tanto a legitimação dada pela cidadania (pela ineficaz transparência e accountability) como a liberdade
de gerir os orçamentos estatais. iii A etimologia do termo cultura vem do verbo latim “colere”, que indica a acção de mover em círculo, de trabalhar regularmente, de
cuidar. Tal conceito refere-se ao trabalho agrícola e comercial bem como ao “cultivo” do espírito ou seja de aceder a uma vida
“vivida e a viver” (Barus- Michel, 2005). A evolução semântica está ligada à língua francesa que, durante o Iluminismo, apresenta
através o “Dictionnaire de l’Academie Francaise” o termo cultura sempre acompanhado por um adjetivo e só mais tarde é que o
conceito assumirá o status de termo autónomo com sentido de “formação” e “educação” do espírito em oposição ao conceito de
natureza e parcialmente em linha com a concepção positivista de progresso e evolução. iv Enquanto muitos estudos têm sido produzidos em torno das figuras politicas e sociais: envolvimento cidadão, mobilização civil,
“conhecimento compartilhado e horizontal” entre cidadãos (Sintomer, 2010), papel das opiniões em termos de decisões (Fishkin,
2009), medidas sobre confiança nos actores públicos e abstenção eleitoral (Wampler, 2007; Talpin, 2011), pouca atenção tem sido
dada aos técnicos. Poucos estudos existem sobre esse assunto (Chong et al., 2006) e geralmente escassa atenção sobre a
especificidade dos PPs em termos de proposta complexa que tem de sair dos esquemas clássicos puros dos estudos organizacionais
ou politicos, para abranger uma visão híbrida tal como é a natureza das Administrações Locais e tal como é a articulada proposta dos
PPs que jogam entre uma estrutura burocrática fundada no tecnocracismo e um certo experimentalismo procedimental. v Partindo do interesse sobre os grupos com forte referência aos estudos de Bion (1961), para logo expandir seu âmbito de interesse a
toda a complexa estrutura organizacional. vi Como sugere Renzo Carli “as componentes rituais das culturas podem ser entendidas como maneiras de dar, para a ambiguidade,
uma solução que é segura e canalizada pelas linhas de relacionamento normal. As regras do jogo nas relações, os papéis sociais, as
configurações do poder dentro das relações, as categorias de conhecimento do outro são modalidades projetadas para fornecer uma
solução suficientemente estável à ambiguidade emocional, inevitável em qualquer experiência relacional” (Carli, 2007: 383).
18 de 18
vii Através deste processo tem-se caracterizado uma peculiaridade marcante as instituições públicas em reverter a conexão entre
demanda e oferta, ou seja, a interpretação de uma demanda social a ser encaixada numa linguagem técnica que torna a demanda em si
objeto dependente, quer dos meios a disposição, quer, e acima de tudo, da própria definição dos problemas elaboradas pelas
Instituições (de Gaulejac et al., 1995). viii Embora, de certa forma, todas organizações possuem um caracter político intrínseco devido ao facto que as próprias leis internas,
isto é as regras do jogo que constroem os princípios do mercado laboral, são leis políticas porque entram no âmbito do bem comum
(Orsenigo, 2009). ix Tal como sugerido por Roberto Guimarães (2008), o objectivo era o de democratizar a sociedade bem como o próprio Estado. Em
geral portanto em America Latina havia uma profunda necessidade de equilibrar as implicações económicas para uma redistribuição
dos recursos o que, por sua vez, comportava o desvelamento do conflito em vez do seu apagamento através de estratégias de mero
consensus building. Para responder a esse tipo de desafio, o modelo de democracia representativa neoliberal parecia menos capaz de
se adequar a uma diversidade tão profunda que precisava, ao menos, de um debate em torno dos próprios pilares epistemológicos dos
modelos de democracia. x Em Espanha e Portugal esse modelo entrou plenamente em vigor só nos meados dos anos 70, quer dizer logo a queda dos regimes
dictatoriais de Franco e Salazar. Com caracteres diferentes o modelo gradualmente foi imposto também na Europa de Leste. xi A este respeito considere-se que a atenção posta para a New Public Management School tem sido acompanhadas, entre outros
fenómenos, por uma crescente externalização dos serviços públicos, levando muitos autores em se concentrar sobre a área gerencial
(Schein, 1992) ou em reformular o próprio conceito de “serviço” (Normann, 2004). xii Dias (2008) considera que Portugal não ficou alheio a esta dinâmica internacional, tendo o número de experiencias de OP vindo a
crescer de forma significativa nos últimos anos. Trata-se de um conjunto de iniciativas com diferentes graus de estruturação e
consolidação, normalmente pouco comunicantes entre si e com o exterior, e sobre as quais se começa a gora a produzir os primeiros
elementos de conhecimento. xiii As principais mudanças apontadas no modelo 2012 no website oficial da Câmara de Lisboa são: (1) ajustamento do ciclo de
participação com destaque para a colocação do período de reclamação e resposta durante o mês de Setembro e para o alargamento do
período de votação (que passou de 30 para 45 dias); (2) metodologia de votação: o montante global do Orçamento Participativo será
dividido em dois grupos de projetos, sendo atribuído 1,5 milhões de euros para um primeiro conjunto de projetos de valor igual ou
inferior a 150.000 euros, bem como o valor de 1 milhão de euros para um segundo conjunto de projetos de valor igual ou inferior a
500.000 euros que não caibam no grupo anterior. Os cidadãos terão, por isso, direito a dois votos, um por cada conjunto de projetos;
(3) diminuição dos prazos de concretização dos projetos. O prazo máximo de concretização dos projetos eleitos nos anos anteriores
era de 2 anos. Com a nova metodologia, o prazo máximo de concretização dos projetos orçamentados até 150.000 euros passa para
12 meses e o prazo máximo de concretização dos projetos orçamentados até 500.000 euros passa para 18 meses; (4) montante global
altera-se para uma verba global de 2,5 milhões de euros. xiv Do site oficial da Câmara de Lisboa, o processo será implementado por áreas territoriais e de forma faseada, sendo a primeira
Zona constituída por um conjunto de 5 freguesias da Cidade (Ameixoeira, Charneca, Benfica, Carnide e Lumiar). No sentido de
operacionalizar a metodologia às características e especificidades do território o processo prevê três níveis de intervenção: território
(Zona 21); bairros (Bairro 21) e redes de cidadãos (Cidadãos 21). xv Refere-se ao apoio técnico duma equipa da Faculdade de Ciências e Tecnologia liderada pelo Prof. João Farinha. xvi Consulte-se para este efeito o Documento Verde da Reforma da Administração Local emitido pelo Gabinete Ministro Adjunto e
dos Assuntos parlamentares. xvii Em cada processo, os sujeitos envolvidos são diferentes: no OP eles são os cidadãos e, na edição 2012, mais precisamente são
categorias de cidadãos embora, tal como referido, as Assembleias mantenham-se abertas a todo o público; no BIP/ZIP não hà uma
participação directa tal como elaborada no OP, mas sim uma candidatura de parcerias e uma participação indirecta da cidadania na
implementação dos projectos que vem monitorada pela equipa conforme o critério de sustentabilidade dos projectos; no caso da A21
os sujeitos são inicialmente as parcerias entre associações do território e Câmara e logo os cidadãos que votam nos projectos
apresentados; afinal, no Simplis os principais sujeitos participantes são os próprios funcionários da Câmara, embora exista uma
vertente participativa com os munícipes. xviii É preciso esboçar brevemente que os processos são geridos pela sub-equipa em conjugação com uma complexa rede de
interlocuções e colaborações dos serviços da Câmara a diferentes níveis. Enfocando em particular no OP, as interlocuções são de
primeiro e segundo nível: as propostas recebidas através do processo de assembleias e online são enviadas aos interlocutores de
segundo nível (técnicos dos Serviços) que são demandados a aglutinarem, caso haja sobreposição de propostas, ou de as rejeitarem
caso não sejam compatíveis com os critérios apresentados na Carta de Princípios. Tornando as propostas em projectos, eles passam
aos interlocutores de primeiro nível - assessores dos diferentes Gabinetes da Câmara cuja tarefa é de avaliar juntamente com os
Vereadores a viabilidade dos próprios projectos. Tal processo mantem-se em continua interlocução com a DIOP para finalizar a
listagem de projectos que irão a votação pública revisando também as propostas rejeitadas pelos técnicos do segundo nível. xix No ano 2012, os OPs das Freguesias de Lisboa são quatro e têm lugar em: Benfica, São João, São João de Deus e Penha de
França. xx O formato dos encontros prevê cerca de vinte intervenções por parte dos cidadãos perante uma mesa formada pelo Presidente e
Vereadores da Câmara os quais tomam palavra conforme a pertinéncia da própria área com os temas lançados pelos municipes. Por
fim os Presidentes das Juntas de Freguesias, também presentes nas reuniões propõem um resumo final das questões apontadas nas
suas áreas. xxi Embora tal questão seja aqui abordada em termos gerais, existem investigações particulares que apontam sob o tipo de cidadãos
participantes nos diversos PPs. Por exemplo, os autores do presente artigo estão envolvidos em um Projecto de investigação em
curso, sobre os Orçamentos Participativos em Portugal (Projecto OPtar, liderado pelo Centro de Estudo Sociais da Universidade de
Coimbra). xxii Dinâmica que acompanha os processos de participação cidadã que complementam as assembleias ou de encontro directo. Em
detalhe: o OP prevê candidatura de propostas online e presenciais; a A21 decorre como processo online contando em Assembleias
abertas em cada Bairro 21; o Simplis previu um momento de encontro colectivo e apresentação de propostas por parte dos técnicos
previamente enviadas online; o BIP/ZIP recorre a candidaturas online e assembleias sob forma de workshop, bem como encontros
com os proponentes no terreno.