FOUCAULT, Michel, Historia da sexualidade 1- A vontade do saber. Graal- Rio de Janeiro, 1988. 77 p
Sexualidade, Corpo e Gênero Ciberespaço e circuito GLS
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Sexualidade, Corpo e Gênero Ciberespaço e circuito GLS
30º Encontro Anual da ANPOCS
24 a 28 de outubro de 2006
GT22- Sexualidade, Corpo e Gênero
Ciberespaço e circuito GLS: uma etnografia a respeito das relações na
realidade virtual
Carolina Parreiras Silva
Ciberespaço e circuito GLS: uma etnografia a respeito das relações na realidade
virtual
1- Introdução
Estudos recentes na área de antropologia urbana atentam para a ocorrência de
inúmeros deslocamentos, fluxos, movimentos rápidos e contínuos que se desenrolam
nas grandes cidades. Pode-se dizer que uma das grandes preocupações desses estudos é
entender a maneira pela qual os vários espaços são apropriados e significados pelos
sujeitos em movimento.
Em paralelo a esses estudos, desenvolvem-se uma série de trabalhos que
exploram temas relativos às homossexualidades masculina e feminina. Os estudos1
realizados vão desde questões relativas à organização do movimento homossexual até
maneiras de construção das várias identidades, associação entre mercado e movimento
homossexual organizado etc. Chamam a atenção, nessa gama de temas, os trabalhos que
se dedicam a investigar o que se pode chamar de “gueto homossexual”, ou seja, os
locais (públicos - ruas, praças, avenidas - ou privados) de alta freqüência de
homossexuais em busca de outros sujeitos que compartilham com eles uma série de
estilos, preferências e afinidades.
Assim, o que esse texto pretende, dos dois enfoques complementares citados
acima, é articular os estudos de antropologia urbana e os relativos à homossexualidade,
buscando perceber as diferentes maneiras segundo as quais os espaços e territórios são
ocupados e significados. Digo que os pontos de partida são dois enfoques
complementares porque os dados aqui presentes fazem partes de duas pesquisas: a
primeira delas que buscou entender como se dá a apropriação do espaço urbano através
do circuito GLS que se formou na cidade de São Paulo (especialmente a partir da
década de 70) e a segunda, ainda em andamento, que pretende explorar o
estabelecimento de relações entre homossexuais no chamado espaço virtual ou
1 Entre os estudos realizados no Brasil que abordam a temática da homossexualidade, destacam-se: o pioneiro texto de Peter Fry (1982) a respeito das categorias de classificação utilizadas para caracterizar a homossexualidade e o estudo de James Green sobre a construção histórica da homossexualidade masculina no Brasil (1999). Em relação ao surgimento e à organização do movimento homossexual brasileiro (MHB), são marcantes os trabalhos de Edward MacRae (1990) e Regina Facchini (2005). Também vale citar a etnografia realizada por Nestor Perlongher entre os michês paulistanos (1987). Evidentemente (não gosto do obviamente), o número de obras é maior, mas as citadas estão envolvidas de forma mais direta com esse projeto.
ciberespaço. Acredito ser impossível dissociar as duas pesquisas, na medida em que
parto da premissa de que há uma mútua imbricação (o que alguns autores chamariam de
contaminação) entre os espaços presenciais e virtuais, não sendo possível entendê-los
como dissociados.
A primeira pesquisa, que consistiu em uma monografia para a conclusão de
curso, foi realizada entre o final de 2003 e o início de 2005 na cidade de São Paulo,
mais detidamente na região dos Jardins. A pesquisa de campo consistiu em idas a
boates, bares, festas, agências de turismo, bem como na circulação nas ruas que
integram a região dos Jardins. Trabalhei com a idéia de que existe um circuito de
ambientes que recebem o nome de GLS2 (sigla para gays, lésbicas e simpatizantes) ou,
se preferirmos, de ambientes voltados ao público homossexual e também àqueles que
não assumem a identidade homossexual publicamente e são chamados de simpatizantes.
Cabe ressaltar que o que chamo de circuito GLS na cidade de São Paulo (definição que
se baseia em definições dos próprios freqüentadores da região estudada) extravasa as
possíveis fronteiras que essa delimitação do estudo à região dos Jardins poderia suscitar.
A abrangência espacial do circuito GLS é mais ampla, mas, de qualquer modo, nota-se
uma diferenciação e, até mesmo uma classificação 3 dos freqüentadores das várias
regiões da cidade. A realização da pesquisa empírica não abrangeu o sistema como um
todo, mas uma parte reduzida - porém não menos significativa - deste. E não restam
dúvidas de que a ocupação espacial dos territórios paulistanos pelo público GLS não se
deu da mesma maneira em todos os casos, e algumas sutilezas podem ser observadas
nas diversas territorializações, desterritorializações e reterritorializações, que são, em
última instância, o ponto focal de análise da pesquisa.
Assim, a cidade de São Paulo poderia ser dividida em 3 partes ou subcircuitos
GLS (também esta definição está baseada em construções dos freqüentaqdores, podendo
se afirmar que há a segmentação da cidade de São Paulo em espacialidades
homossexuais): a região central, a região dos Jardins e a região de Pinheiros – Zona Sul.
Como o intuito deste paper é apresentar apenas algumas considerações mais gerais, vou
apenas me deter na caracterização do circuito dos Jardins. Esse circuito se formou a
2 A sigla GLS nada mais seria que a apropriação da idéia de gay friendly, adotada nos Estados Unidos e na Europa. 3 Alguns pontos são importantes nessa classificação: classe social, poder aquisitivo, nomenclatura - e aqui me refiro à clássica divisão classificatória, abordada por Peter Fry (1982), em que se determinam os sistemas clássico e moderno ou igualitário).
partir da expansão dos ambientes de freqüência predominantemente homossexual da
região central da cidade para os bairros de classe média e média alta paulistanos. São
notáveis as diferenças, principalmente de classe, entre os freqüentadores dessa região e
os do Centro, sendo que essas diferenças também podem ser percebidas nos tipos de
locais GLS encontrados nos dois locais. A região dos Jardins apresenta uma grande
concentração de bares, boates, saunas e hotéis destinados ao público GLS, sendo que,
comparativamente, são cobrados preços mais elevados do que no centro e o público-
alvo é outro, ou seja, são pessoas com padrão de vida, renda e escolaridade diferentes.
Isso pode ser notado nos hábitos de consumo, nas posturas corporais, nas maneiras de
vestir. Também nessa região surgiu uma linguagem própria, adequada àqueles que ali
estão, chamados de “entendidos” e até mesmo “modernos”.
Um dos conceitos-chave para o entendimento do circuito GLS é a idéia de redes
sociais. Parti, portanto, do raciocínio de que podem ser traçadas linhas ligando as várias
pessoas que freqüentam o circuito GLS. Em vários momentos da pesquisa, descobri que
muitos dos meus informantes, entrevistados separadamente e em locais múltiplos, se
conheciam, sendo que alguns deles já haviam inclusive se relacionado afetiva ou
sexualmente. Em teoria, e seguindo a idéia de que no circuito dos Jardins impera o
sistema classificatório moderno ou igualitário, existiria nessa parte do circuito uma
postura de tolerância e de igualdade. Mas o que a pesquisa de campo apontou em alguns
momentos foi exatamente o oposto. Também no circuito dos Jardins há a proliferação e
a manutenção de discriminações e categorizações. O depoimento de um dos meus
informantes (Roberto) vai nessa direção:
“você ainda não conhece nada desse mundo...você vai entrar em um ambiente sujo, onde as pessoas só valem por sua aparência física e por seu corpo. Se você não segue o padrão jeans estilizado, corpo definido, camiseta com dizeres descolados e tênis de última moda, tudo isso de grife, você está fora”.
Os ambientes destinados ao público homossexual são, muitas vezes, agregados
como compondo o “gueto”. A primeira imagem que essa nomenclatura evoca é a de um
local isolado geograficamente e no qual os comportamentos considerados desviantes
podem se manifestar. Falar de gueto não é nenhuma novidade nos estudos que
pretendem entender a cidade nem nos que tratam da homossexualidade especificamente.
Para tratar dessa noção de gueto recorri à obra de Nestor Perlongher sobre os michês da
cidade de São Paulo e tomo dele a idéia de gueto como um local sem limites
geográficos definidos onde impera uma certa deriva, com sujeitos em constantes
mudanças e deslocamentos. Isso porque, em São Paulo, as características necessárias
para se falar em gueto aparecem apenas parcialmente e só em determinadas áreas.
Existe sim uma grande concentração de ambientes dedicados ao público gay, e também
podemos encontrar áreas onde residem muitos homossexuais (a rua Frei Caneca pode
ser um exemplo nesse caso), mas não é possível falar em áreas isoladas que passaram a
ser ocupadas quase que exclusivamente por homossexuais. Por isso, de certo modo,
pensar nos termos de um circuito GLS e não de um gueto gay talvez seria uma solução
melhor para explicar o contexto paulistano. Mas ainda assim, e como pretendo mostrar
mais à frente, a idéia de circuito também apresenta alguns problemas e defendo que seu
uso seja feito com ressalvas.
O que observei em São Paulo foi a existência de territórios fronteiriços, em
contato com diversas outras áreas que se influenciam mutuamente. O gueto, e isso
dissiparia a carga pejorativa e preconceituosa contida no termo, faria mais sentido se
visto como um território fronteiriço, quase liminar, no qual ocorre uma série de
manifestações importantes para a visibilidade homossexual. O gueto não é, portanto,
como muitos dizem, um local de perversão, de comportamentos desviantes e de
desordem (MacRae, 1983). Além disso, o gueto, para perder seu caráter de preconceito,
deve ser desexotizado, ou seja, não se pode pré-fabricar tipos de homossexuais, criando
estereótipos que só fazem perpetuar os preconceitos e as discriminações.
Durante a realização da pesquisa, encontrei um cenário semelhante ao descrito
por parte da bibliografia que trata do ambiente urbano e das questões de sexualidade e
gênero, especialmente a obra de Perlongher: na região dos Jardins entrei em contato
com diversos sujeitos se deslocando, buscando encontrar um território, mesmo que
transitório, onde possam realizar suas trocas afetivas e estabelecer relações de
socialidade (e nesse ponto são vários os interesses em jogo durante os deslocamentos).
Desse modo, a busca pela territorialidade, por locais determinados onde haja satisfação
das necessidades dos sujeitos cria, na verdade, uma desterritorialização. Com isso quero
dizer que podemos falar em uma territorialidade itinerante que não prevê fixação
espacial, mas conta com inúmeros devires e possíveis derivas. O que pôde ser
observado na pesquisa empírica foi a existência de “sujeitos à deriva”, movidos por uma
constante busca, que, em última instância, é a busca de si mesmo. Essa deriva envolve
sucessivas construções identitárias, adaptadas a cada contexto específico. Pode-se
pensar em termos de uma segmentaridade e, indo mais além, em uma plurilocalidade.
O circuito GLS pode ser perfeitamente localizado, através de seus vários pontos
e “endereços”, mas não pode ser delimitado com fronteiras fixas, já que elas não
existem. O que se tem no meio urbano são áreas de alta freqüência homossexual que
estão em contato constante umas com as outras, entrecruzando-se e sem uma
delimitação, o que significa que esse espaço é nômade e suscetível de ser ampliado
ainda mais (prova disso é que até bem pouco tempo atrás só se falava na região central e
na dos Jardins como locais GLS. Hoje, a região de Pinheiros já é uma extensão, bem
como a Lapa). A criação do espaço se dá, acima de tudo, pelo tipo de redes relacionais
que se desenvolvem. É por meio dos vários relacionamentos que uma área pode ser
caracterizada por uma determinada nomenclatura ou como território de um grupo. No
espaço abrangido pela pesquisa, há, como foi mostrado na descrição do campo, uma
cadeia de relacionamentos homossexuais, o que fornece subsídios suficientes para
adotar a nomenclatura circuito GLS dos Jardins (ou mesmo, mancha GLS dos Jardins),
formado pelas ruas, pelos locais públicos e pelas várias edificações que oferecem algum
tipo de serviço voltado para esse público.
Nessa perspectiva, baseada tanto na pesquisa empírica quanto na análise
bibliográfica, o território deixa de ser um fim em si mesmo, só existindo e tendo sentido
em relação aos indivíduos e aos outros territórios. Então, o peso do território passa a ser
relativizado, sendo que uma das principais preocupações dos atuais estudos é romper
com a noção que relaciona diretamente lugar-estabilidade-identidade (Gupta e Fergusin,
2000). Como as relações são fluidas, o território também se caracteriza por ser flutuante
e mutável, assumindo inúmeras feições em função do contexto em que se situa. A noção
do que é território extrapola a convenção de encará-lo apenas como uma faixa de terra,
algo concreto. Ele pode ser até mesmo virtual, como há o exemplo do ciberespaço. Essa
noção também é importante, visto que a perspectiva que norteou a pesquisa empírica foi
a de que a territorialidade está constantemente se construindo, não sendo possível tomar
as várias situações vivenciadas na pesquisa empírica como um quadro imóvel e fechado
em si mesmo. O importante é a soma dos vários instantes que pode fornecer uma visão
mais próxima da realidade.
Uma questão que gostaria de abordar aqui é a utilização do termo circuito. Em
diversos momentos da pesquisa de campo essa palavra apareceu para nomear a
organização dos ambientes e locais freqüentados pelo público GLS. Também há uma
considerável bibliografia a respeito desse termo, sendo que a principal referência é José
Guilherme Magnani. A nomenclatura circuito serve perfeitamente bem aos intuitos
dessa pesquisa, mas merece, também ela, algumas críticas, principalmente à maneira
como é apresentada por Magnani. Como referencial metodológico, a palavra cabe
perfeitamente bem. Mas não posso deixar de notar que a noção de circuito pode fazer
com que se mantenha o isomorfismo que deixa em associação direta espaço-lugar-
cultura-identidade. Com isso quero dizer que, essa nomenclatura faz com que persista a
idéia de que a identidade é diretamente determinada pelo espaço. Ou seja, se você
freqüenta o circuito GLS dos Jardins você tem uma identidade determinada por esse
fator, sem levar em consideração várias outras variáveis que são importantes para se
pensar em qualquer construção identitária. Acima de tudo, identidade é algo construído
e não dado, determinado. O isomorfismo de que falo é problemático porque oculta a
maneira como vemos o outro e a nós mesmos, sendo que universais precisam ser
problematizados porque não correspondem à realidade. No caso do circuito GLS,
também não se pode construir um tipo universal de freqüentador baseado em categorias
espaciais, porque desse modo a diversidade de tipos humanos ali presente fica
completamente ofuscada.
O que a segunda pesquisa, ainda em andamento, intenta é articular um dos
assuntos mais atuais trabalhados pela antropologia urbana, associado ao entendimento
do chamado espaço virtual4, e os estudos que focam a investigação na
homossexualidade. A associação entre esses temas me pareceu importante a partir de
dados da pesquisa de campo descrita acima. No momento dessa pesquisa, a internet
apareceu como um dos meios utilizados na criação de sociabilidade entre homossexuais.
Para corroborar tal constatação, utilizo também dados de pesquisas realizadas pelo
Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM) durante as
Paradas do Orgulho GLBTT do Rio de Janeiro (2003) e São Paulo (2005), os quais
apontam a internet como meio gerador de relações entre homossexuais.
Um dos objetivos iniciais da pesquisa foi realizar o mapeamento dos locais de
freqüência homossexual no espaço virtual, levando em consideração sites, programas de
conversação em tempo real (Messenger- MSN, por exemplo) e programas de
relacionamento (Orkut e similares). Feito esse levantamento, intento identificar as redes
de relacionamento presentes nos locais mapeados, sendo que o objetivo maior seria o de
4 O que se toma aqui como virtual não está em oposição ao que se chama de real. A idéia é pensar nos termos de uma realidade virtual, sendo que não é o fato de ela ser virtual que a torna menos real que uma realidade presencial ou atual. O virtual e o presencial são planos vivenciados ao mesmo tempo e não podem ser analisados de forma separada, visto que entre eles há uma contaminação ou mútua imbricação. O plano virtual ou de imanência acompanha o plano presencial e permite avanços em relação a ele, visto que é marcado por transformações e reinvenções constantes. Essa idéia está presente em Gibson e Lévy (1999).
perceber de que modo as relações virtuais se expandem para o presencial ou, ao
contrário, já são elas mesmas uma extensão desse presencial. De certo modo, as
performances e as construções identitárias percebidas no ciberespaço são reveladoras de
como a apropriação desse espaço se dá e pode indicar se há, também no ciberespaço, a
formação de locais com fronteiras definidas que excluem uma série de sujeitos do
acesso a elas. Assim, se isso realmente ocorre, pretendo pensar a respeito da validade do
conceito de gueto (tão caro aos estudos de antropologia urbana) para uma nova
realidade que se configura, na qual o que se chama de espaço não é mais algo material,
físico, mas composto por uma imaterialidade expressa em bytes e em uma linguagem
própria que dita a maneira como cada um se situa e se apresenta.
2- Redes sociais, identidades, negociação e performance: a internet e suas muitas interfaces5 Desde o final da década de 80 e começo da década de 90, iniciou-se um
processo, intensificado a partir dos anos 2000, de desenvolvimento e crescimento
contínuo de uma nova realidade, conhecida como espaço virtual ou ciberespaço. Este
processo, sem sombra de dúvidas, tem um peso enorme para entender o contexto
presente e uma série de manifestações que o marcam e caracterizam. Ou seja, o
ciberespaço é, também ele, locus de diversos tipos de organizações, relações,
sociabilidades, transações e negociações entre sujeitos vários, localizados nos mais
diversos países. E todos eles ligados, ou melhor, conectados através de computadores,
fios, processadores, chips, softwares, interfaces, entre uma longa lista de equipamentos
eletrônicos que possibilitam a comunicação virtual e as conseqüentes trocas dela
derivadas.
Quando se fala em ciberespaço, a primeira imagem que vem à mente é a da
internet, meio que se popularizou e vem se popularizando com grande velocidade, sob o
esteio de afirmações do tipo o mundo em sua casa com apenas um clique. Seu uso se
tornou tão difundido que é hoje é possível, inclusive, realizar a conexão com a internet
sem nenhum cabo, fio ou qualquer outro acessório. São as chamadas conexões wireless,
nas quais, se o computador tem a tecnologia necessária, a conexão é feita de qualquer
lugar em que as ondas de conexão estão liberadas. Mas, a expansão da internet, acabou
por banalizar o sentido último daquilo que se entende como ciberespaço, ou seja, seu
5 Mecanismo de interação entre usuário e o sistema computacional, baseado principalmente em sinas visuais e gráficos.
significado e o que ele abarca são muito mais amplos do que pensar apenas na internet
permite supor. Em linhas gerais, apenas para fornecer uma contextualização do que é
um dos focos de análise deste trabalho, o ciberespaço é composto pela internet, pela
realidade virtual e pelas técnicas de simulação em três dimensões (MAYANS, 2002).
É importante deixar claro que aquilo que tomo como virtual não está, de modo
algum, em oposição direta ao real. Em ambos os casos, são situações reais, sendo mais
adequado o uso do termo presencial para nomear as relações que se estabelecem na
materialidade física e fora da internet e do universo dos bytes. Realidade virtual e
realidade presencial são planos em interação e vivenciados ao mesmo tempo. Eles não
podem, portanto, serem analisados separadamente, visto que entre eles há uma
contaminação ou mútua imbricação. O plano virtual ou de imanência acompanha o
plano presencial e permite avanços em relação a ele, sendo que é marcado por
transformações e reinvenções constantes.
Assim, tornaram-se necessários estudos antropológicos que permitam entender o
ciberespaço, seu modo de funcionamento, a identificação dos sujeitos que o utilizam e
de que maneira eles estabelecem suas relações com outros sujeitos, levando em
consideração que há no ciberespaço um rompimento com a necessidade de uma
materialidade física para que relações entre pessoas surjam. O que se tem são novas
formas de interações sociais, novas sociabilidades que trazem em si uma série de
significados e estão diretamente envolvidas nos processos de construção identitária que
passam a se desenvolver, bem como na aparente desagregação das categorias clássicas
de espaços, territórios e lugares. O estudos a que me refiro têm os mais diversos focos: a
noção de tempo e espaço na realidade virtual, as políticas de controle e regulamentação
da internet, os laços sociabilidade nos mais diferentes grupos, as maneiras de
manifestação da corporalidade no ciberespaço.
Como foi colocado na Introdução deste trabalho, o ciberespaço abriu um novo
campo de discussões e debates nas Ciências Sociais, mas os trabalhos dedicados ao
tema, especificamente na Antropologia, ainda são em pequeno número. É inegável que
o ciberespaço se configura como um campo que não pode e nem deve ser
negligenciado, visto que está em relação direta com a realidade presencial,
completando-a e até apresentando avanços, especialmente no que diz respeito à geração
de relações entre sujeitos diversos.
O termo ciberespaço foi criado em 1984 pelo escritor norte-americano William
Gibson, autor do romance Neuromancer 6e. desde então, seu uso foi popularizado e
adotado para especificar o espaço virtual e todas as suas manifestações. Por isso, muitos
autores como Pierre Lévy (2005), insistem em chamar essas manifestações presentes no
espaço virtual de cibercultura, termo que gera muitas controvérsias e debates. O que
Lévy propõe é que a cibercultura cria um universal não totalizável, ou seja, há uma
interconexão generalizada mas que não é mensurável, que é em si mesma, virtual. A
conexão se faz através de uma integração geral, sendo que qualquer pessoa, localizada
em qualquer lugar do mundo tem acesso à mesma linguagem, à mesma escrita (que é
gráfica, textual e até mesmo musical), aos mesmos hipertextos7. Assim,
o ciberespaço se constrói em sistema de sistemas, mas, por esse mesmo fato, é também o sistema do caos. Encarnação máxima da transparência técnica, acolhe, por seu crescimento incontido, todas as opacidades do sentido. Desenha e redesenha várias vezes a figura de um labirinto móvel, em expansão, sem plano possível, universal, um labirinto com o qual o próprio Dédalo não teria sonhado. Essa universalidade desprovida de significado central, esse sistema da desordem, essa transparência labiríntica, chamo-a de “universal sem totalidade”. Constitui a essência paradoxal da cibercultura. (LÉVY, 2005, p. 111)
Quando se fala em internet (World Wide Web- www), a primeira idéia que
ocorre é a de uma grande rede, com alcance mundial e sem fronteiras, cuja expansão
pode ser feita até o infinito ou até onde a mente e a criatividade humanas podem atingir.
Alguns dos instrumentos mais utilizados na internet para comunicação e troca de
informações são os e-mails (correio eletrônico), os sites (endereços virtuais), os grupos
de discussão ou fóruns, os programas de bate-papo ou chat (IRC-Internet Relay Chat),
os programas de relacionamento (como o Orkut e todos os seus similares), os blogs ou
diários virtuais, os fotologs (espécie de diário de fotos), as ferramentas de busca (como
o Google), as homepages (ou páginas pessoais). Para o caso deste trabalho, serão
importantes as informações provenientes de programas de relacionamento, sendo que
uma das questões para observação foram as maneiras como as interfaces- entendidas
como a relação entre o meio virtual propiciado pelo computador e o meio presencial-
foram vivenciadas. Quais foram, então, as performances praticadas? Que mecanismos
6 O romance de Gibson foi a base para a famosa trilogia de filmes Matrix e tem como argumento central o uso das redes digitais, as batalhas por seu controle e o papel dessas redes digitais como fronteiras culturais e tecnológicas. 7 Um hipertexto é uma forma não-linear de apresentar e consultar informações. Isto quer dizer que a informação chega através de vários links, de várias páginas, de forma indireta.
os vários indivíduos mobilizaram para a execução de seus objetivos? E quem são, em
última análise, estes indivíduos, como se identificam e vivenciam esta “vida virtual”?
estas foram algumas das perguntas que nortearam o mapeamento e a observação feitos
nos sites e comunidades já citados.
A internet gera e funciona por meio de redes de relações, que interligam seus
vários usuários. Indo um pouco mais além, percebe-se, no ciberespaço, a criação de
“comunidades” entre pessoas que partilham determinados interesses, preferências,
objetivos, hábitos e valores. De acordo com Bauman (2001), a noção de comunidade
sempre foi importante para a Antropologia e, para ele, passou a ser imprescindível para
entender o atual contexto, visto que esta passou a ser vista como reduto de segurança e
apoio em um mundo de insegurança. O que ele salienta é que o termo comunidade
passou por uma mudança de sentido, perdendo sua conotação territorial e local. A
internet, por exemplo, coloca em contato, em um mesmo espaço e ao mesmo tempo,
comunidades diversificadas, distantes fisicamente e, muitas vezes, antagônicas.
Fala-se muito que um dos principais pontos positivos da internet é acentuar o
rompimento de fronteiras. Mas não seria o próprio agrupamento de pessoas em
comunidades uma prova de que também no ciberespaço são gestados mecanismos de
separação e delimitação de fronteiras? O próprio fundamento do que se chama de
comunidade é a união de indivíduos que partilhem de pelo menos alguma característica
em comum ou mesmo que assumam, em algum momento, uma mesma identificação. A
partir do momento em que uma comunidade se funda pela existência de uma
característica qualquer, ela imediatamente se diferencia de outras comunidades e de
outros agrupamentos.
Quando se fala na comunidade GLS na realidade presencial, é comum o uso do
termo gueto para identificar os espaços e as manifestações homossexuais. A idéia que a
palavra gueto evoca é de um local delimitado, segregado e deixado à margem da
realidade circundante por apresentar determinados comportamentos geralmente
considerados desviantes ou anormais. O que os estudos que enfocam a construção dos
territórios urbanos têm mostrado, no entanto, é que só existe validade em se falar de um
gueto gay em um sentido metafórico (Perlongher, 1987). Do mesmo modo, o conceito
talvez possa ser apropriado para se tratar a realidade virtual. A divisão dos indivíduos
em comunidades poderia ser, em última instância, a criação de vários guetos, de várias
subdivisões dentro de um grupo mais amplo que pode ser denominado de muitos
modos, mas neste trabalho são chamados de GLS. Os próprios gays, lésbicas, bissexuais
e simpatizantes no geral se subdividem dos mais diversos modos, e isto também é um
indício que informa a respeito das construções identitárias presentes e das conseqüentes
performances adotadas para o posicionamento nesse novo e ainda inexplorado espaço.
Assim, e indo na mesma linha de argumentação, as relações estabelecidas entre
os membros das comunidades e na internet em geral baseiam-se na criação de redes
sociais ou redes relacionais. O conceito de rede social não é nenhuma novidade na
Antropologia, e tomo como ponto de partida as questões levantadas por Barnes (1987) e
outros autores da chamada Escola de Manchester, entre eles Gluckman8 e Bott. Esses
teóricos utilizavam o conceito de redes sociais como sendo a descrição das conexões
envolvidas nos processos sociais. Acredito que essa noção continua a ter validade para
os estudos que buscam entender a formação de laços entre diferentes indivíduos na
internet. A partir do momento em que essas redes são traçadas, ficam mais claros quais
são os interesses em jogo e obedecendo a que motivações as pessoas estabelecem
relações. O conceito é eficaz não apenas em termos teóricos, mas também como
metodologia de pesquisa. Com isso quero dizer que além de perceber as redes que ali já
estão e que são percebidas pelos próprios sujeitos da pesquisa como redes, o
pesquisador também pode traçar as suas redes, tentando perceber as possíveis conexões
que não aparecem tão nítidas ou tão evidentes. Não esquecendo, além disso, de que é
pesquisador, mas também internauta, ligado a vários indivíduos e, conseqüentemente,
parte da grande rede, aparentemente infinita, que sustenta o funcionamento da internet
(que traz em seu próprio nome esta idéia: web, net, internet - rede mundial de
computadores).
Trata-se, acima de tudo, de um conceito que permite apreender a dinâmica
interna de um grupo determinado, ou seja, quais são e em que escala ocorrem as
relações entre os vários indivíduos que o compõem. O conjunto das relações que se
estabelecem, o entrecruzamento das várias redes acaba por formar uma malha de
relacionamentos. A criação do espaço virtual se dá, acima de tudo, pelo tipo de redes
relacionais que se desenvolvem. Assim, o território enquanto algo físico e demarcado
por fronteiras fixas deixa de ser um fim em si mesmo e não é mais a referência única
para expressar as relações e como elas se desenvolvem. A relativização do peso do que
se entende por território é importante na medida em que rompe com algumas das noções
8 Esses autores, além de desenvolver o conceito de redes sociais, também lançaram a idéia de snow ball, que pode ser útil para entender de que modo as pessoas estabelecem relações nos vários locais existentes na internet.
tradicionais presentes nos estudos dedicados ao entendimento do ambiente urbano
(sendo que muitos dos conceitos aí utilizados podem ser estendidos ao ciberespaço). O
que ela permite é que se fuja da associação direta, e tantas vezes utilizadas, entre lugar,
estabilidade e identidade. Com isso quero dizer que a identidade não é dada apenas pelo
lugar que o indivíduo ocupa, assim como o pertencimento a um lugar não confere uma
estabilidade identitária total. As identidades são fragmentadas e estão relacionadas a
atos performativos que fazem com que um indivíduo se identifique com um território ou
lugar. Ao fazer parte de uma comunidade, por exemplo, ele tem alguma estabilidade,
mas ela é passível de modificações e, tal como a identidade, fragmentada.
Um internauta possui inúmeras maneiras de se situar no espaço virtual, sendo
que faz escolhas, muda conforme melhor lhe convém e é nesse processo que ele compõe
e negocia variadas faces identitárias. Acima de tudo, podemos dizer, tomando como
base Frangella (2004), que os lugares se criam a partir de disputas identitárias, ou seja,
através de processos de negociação nos quais os sujeitos se adaptam ou modificam a
realidade em que se encontram. Desta afirmação se infere que as identidades são
construídas a partir desses atos de negociação, sendo que é exatamente aí que passam a
ser importantes as performances aplicadas pelos sujeitos. Goofman (1959) apresenta
algumas considerações pontuais para entender e perceber as causas e motivos
envolvidos na execução das variadas performances, e acredito que sua reflexão teórica
se encaixa nos objetivos desse trabalho e também naquilo que foi observado na pesquisa
de campo.
Desse modo, Goofman utiliza o termo performance tomando como base a cena
teatral, a dramaturgia. De maneira geral, o autor tenta entender as diferentes maneiras
como o indivíduo se apresenta na vida cotidiana, isto é, como ele se mostra para os
outros indivíduos que passam, a partir daí, a tecer diferentes tipos de impressões sobre
ele. Sempre que alguém se coloca perante outros indivíduos, o primeiro movimento é o
de ser “vasculhado” em detalhes, algumas vezes inquirido a fim de que estes outros
indivíduos possam formar dele algum tipo de opinião ou imagem. É esse o mecanismo
acionado para a entrada em uma determinada comunidade. O indivíduo só será aceito se
partilhar de alguns conceitos, características, objetivos, valores, etc. comuns aos outros
membros do grupo. Sempre se buscam informações sobre o outro, este com o qual
pretendemos estabelecer ou não algum tipo de relação social. Essa busca envolve a
tentativa de acessar informações a respeito do status social, das atitudes, da
competência, do modo de apresentação do indivíduo. O objetivo não poderia ser mais
claro: conhecer o outro ajuda no estabelecimento da relação e, mais ainda, no
posicionamento a ser adotado quando esses laços se concretizarem.
O processo de conhecimento envolve uma série de expectativas prévias a
respeito de quem é o indivíduo e o que pretende. E, sem dúvida, é um processo
dialético, no qual os dois lados da relação passam a atuar em função de seus objetivos
pessoais, mas também conforme o restante do grupo. Ser aceito significa partilhar um
código e uma série de performances esperadas, que, em última instância, passam a
identificar o indivíduo como parte do grupo. Tudo funciona em uma espécie de “lei da
ação e da reação”: na medida em que pratica uma ação, o indivíduo o faz na esperança
de receber uma resposta dos demais. Nas palavras do próprio Goofman,
the individual will have to act so that he intentionally or unintentionally expresses himself, and the others will have to be impressed in some way by him. (GOOFMAN, 1959, p. 2)
Desta afirmação podemos inferir que tudo se desenvolve a partir do momento em que
um dos lados se expressa com o intuito de impressionar (no sentido de causar uma
impressão) o outro. O movimento expressão-impressão ocorre de ambos os lados, e se
tem eficácia, o objetivo é atingido e uma relação social pode ser estabelecida.
Um ponto importante a ser ressaltado é que no processo descrito acima a parte
realmente visível é muito pequena. Com isto quero dizer que muitas atitudes, crenças,
valores e outras características dos indivíduos só podem ser apreendidas de forma
indireta. Em uma situação social, muito é dito e demonstrado por todos aqueles nela
envolvidos, mas resta ainda uma parte que escapa da demonstração, que permanece
escondida. E isto ocorre devido a uma série de pequenos impedimentos, às vezes
imperceptíveis ao olho, que fazem com o que o indivíduo tenha de se comportar de uma
dada maneira e não de outra. Fazer parte de um grupo, de uma comunidade envolve
uma grande dose de formatação de suas ações a partir do que é esperado como
comportamento daqueles que deles fazem parte. E, por isso, um dos principais
mecanismos utilizados é a inferência, ou seja, a tentativa de entender e observar as
ações do outro de um modo mais amplo, não apenas a partir daquilo que ele declara
verbalmente ou do gestuário que utiliza.
Não se pode esquecer também que as pessoas travam relações visando a alguns
objetivos. Não quero dizer que tudo obedece apenas a interesses dos indivíduos, mas
sim que alguns desejos, em teoria pelo menos, seriam realizados com o estabelecimento
da relação e do pertencimento a um grupo. E é pensando na satisfação desses desejos ou
objetivos que os indivíduos mobilizam uma série de instrumentos que possibilitarão o
processo de expressão-impressão. É necessário que exista, então, o convencimento, uma
espécie de jogo em que informações são passadas e captadas por ambos os lados. Diz-se
que o indivíduo executa performances em sua vida social, isto é, ele tem uma série de
atividades em uma determinada situação social que visam provocar algum tipo de
impressão nos outros indivíduos. Na execução dessa performance é importante até a
existência de algumas características do ambiente, do palco (utilizando os termos
teatrais propostos por Goofman). Isto porque o ambiente é, muitas vezes, fonte de
proteção, sendo que o ideal é que o indivíduo posso encontrar nele uma série de itens
com os quais se identifique. Acredito que essa concepção é de suma importância para
este trabalho, visto que a internet acaba se tornando um reduto de proteção para muitos
homossexuais que vão ali expressar ou adotar algum tipo de comportamento. O
pertencimento não só a um grupo, mas também a um lugar, torna mais fácil o
reconhecimento de um indivíduo por outros. Por isso, a idéia de centrar a pesquisa de
campo nas comunidades do Orkut. Acima de tudo, a partir da mobilização dos
instrumentos que tem em mãos, o indivíduo expressa o seu self , seu ser e, desse modo,
os outros indivíduos e ele próprio podem criar representações sobre esse self e
estabelecerem, conseqüentemente, relações sociais.
Seguindo a mesma linha de análise e refletindo ainda a respeito das
performances, só que especificamente sobre as performances de gênero, são essenciais
as reflexões apresentadas por Judith Butler (2005). A autora se propõe a realizar a
crítica aos estudos feministas e, a partir daí, refletir a respeito das construções
identitárias de gênero. Butler é importante porque promove uma mudança de enfoque
dentro dos estudos de gênero, retomando autores clássicos e discutindo até mesmo o já
estabelecido significado do próprio conceito de gênero. A maior parte de suas reflexões
inserem-se nos debates contemporâneos sobre o feminismo, mas, sem dúvida alguma,
muitas de suas conclusões podem ser estendidas para os estudos que enfocam a
homossexualidade. A pergunta central a que tenta responder é como realizar o
questionamento do sistema epistemológico/ontológico dominante que se baseia na
hierarquia de gêneros e na heterossexualidade compulsória. Em última analise, ela
sustenta a idéia de uma teoria performativa de atos de gênero - teoria esta que romperia
com os conceitos tradicionais de corpo, sexo, gênero e sexualidade, propondo sua re-
significação (tudo isso, como ela mesma diz, de forma subversiva e radical).
A base central de argumentação para chegar a esta teoria performativa de atos
de gênero, que é o que mais interessa aos fins desse trabalho, é o questionamento e a
crítica do conceito de gênero. Fazendo um retrocesso à teoria clássica de gênero, todas
as discussões se iniciam com a proposição de Gayle Rubin, de base marxista, do
chamado sistema sexo/gênero, onde sexo é visto ainda como dado naturalmente e
gênero construído culturalmente. O que Butler e outras reivindicam é que o sexo, e não
apenas o gênero, é culturalmente construído, ou seja, ela não se situa em uma posição
aquém da cultura. Além disso, não se pode pensar gênero como uma categoria
descolada intersecções culturais, sociais e políticas que atuam na construção dos vários
sujeitos mulheres, homens, gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros. A partir dessa
primeira constatação de que categorias identitárias de raça, classe, etnia, sexo e região
têm influência na construção do gênero, Butler toma gênero como a interpretação
múltipla do sexo, como os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado. Acima
de tudo, o gênero é um meio discursivo/cultural através do qual um “sexo natural” se
produz e acaba se estabelecendo como pré-discursivo, como dado incontestável e
anterior à cultura.
Para Butler, o gênero não é um substantivo, mas algo que tem um efeito
substantivo produzido performativamente. Ele não é uma identidade em si, mas atua
como constituinte de uma. Sob a influência de Nietzsche, em A genealogia da moral,
ela acredita que não existe uma identidade de gênero nas expressões de gênero, sendo
que essa identidade se constitui por meio das performances de gênero. Em outras
palavras, não existe um identidade de gênero dada, prévia, mas sim uma construção
identitária contingente, dada pelas performances executadas, as quais estão em relação
direta com outras variáveis, como raça, classe social, entre outras. Do mesmo modo, o
sexo, tomado como verdade absoluta e inquestionável pelas teorias antecedentes, é visto
como uma significação performativamente ordenada (e portanto não “é” pura e
simplesmente), uma significação que, liberta da interioridade e da superfície
naturalizada, pode ocasionar a proliferação parodística e o jogo subversivo dos
significados de gênero. Acredito que as construções de gênero observadas na internet e
especificamente nas comunidades selecionadas para este trabalho inserem-se nesse jogo
subversivo no qual gênero tem inúmeros significados e está atrelado a determinadas
performances, que são exatamente aquilo que tentei perceber. Tentando uma associação
com Goofman, ao perceber esses significados fica mais fácil apreender de que modo
cada indivíduo se posiciona em relação aos outros e quais são os objetivos e escolhas
pretendidos com a atuação de uma maneira ou de outra. Um dos pontos importantes
para isso é tentar perceber quais os discursos adotados, sendo que no caso do
ciberespaço ele é um dos principais instrumentos de transmissão de informações sobre
si (nesse discurso, entra o dito e também o não-dito, inferido a partir do que está ali
escrito e acessível a qualquer usuário do programa).
Em relação aos discursos, Butler, sob influência de Wittig, afirma que todos os
sujeitos são moldados a partir de um discurso que enfatiza a heterossexualidade
presumida e o falocentrismo, sendo que as categorias ditas oprimidas (mulheres,
lésbicas, gays) são oprimidas exatamente porque centram seus discursos no discurso
dominante. Um discurso que se baseia na premissa de que se você não é heterossexual
você não é nada. É como se lésbicas, mulheres e gays não possuíssem voz nesse sistema
e, quando falam, estão agindo performativamente fora do que a ordem espera ou
estabelece. Talvez a internet funcione hoje para os homossexuais, sejam eles homens ou
mulheres, como um reduto onde essa performance discursiva desviante possa se
desenvolver e ser vista ( e esse ser visto facilita o processo de encontrar outros na
mesma situação e que objetivem as mesmas coisas: encontros sexuais, amizade,
relacionamento afetivo, companheiros de festas e afins).
Feitas essas considerações, ainda bastante iniciais, passo à descrição da pesquisa
que realizei na internet, tentando, acima de tudo, relacionar a teoria apresentada com o
arsenal empírico que consegui recolher.
3- Performances de gênero e ciberespaço: o Orkut em cena
Como já disse na Introdução a este trabalho, a pesquisa de campo, ainda em fase
preliminar, foi realizada prioritariamente no Orkut, o programa de relacionamentos mais
popular da internet no momento. Acima de tudo, essa pesquisa serviu como um
laboratório em que pude testar a aplicabilidade de uma metodologia para estudos na
internet e também como uma abertura para a pesquisa mais ampla que resultará em
minha dissertação de mestrado.
Desde o início de meu interesse pelo tema, sabia que deveria rever alguns dos
métodos tradicionais utilizados pela Antropologia nas pesquisas empíricas. Tratar de um
espaço que traz no seu próprio nome a idéia de virtualidade, de separação de uma
realidade física e palpável, exige que algumas de nossas técnicas clássicas de trabalho
sejam repensadas e adaptadas às novas realidades advindas dessa tecnologia. Muitas são
as questões suscitadas no momento de realização de uma etnografia virtual: como tratar
tempo e espaço no ciberespaço (o que se observa em um momento pode não mais estar
ali em um breve período de tempo), como proceder para chegar até os sujeitos que se
pretende estudar (a maioria deles aparece identificado por apelidos e podem dizer o que
melhor lhes convier, não sendo possível dar provas da autenticidade dos relatos), como
separar o que é real do que é virtual, o que é verdade e o que é mentira, o que é
autêntico e o que é fabricado. Falta, nesse caso, a velha máxima da Antropologia em
que o antropólogo vai a campo e vê, presencia as práticas que posteriormente vai
descrever. Esse ver, esse presenciar aparecem de outra maneira, sendo que ele é, agora,
virtual, sem presença física. Virtual este que pode, em algum momento, tornar-se real,
expandir-se para a realidade presencial. Poucas são as referências até o momento de
obras que tratem de metodologias de pesquisa para o ciberespaço, sendo que utilizo
como referência básica Christine Hine.
Para iniciar a descrição de em que consistiu esse meu primeiro esforço de
pesquisa, acredito ser relevante apresentar de modo geral o Orkut, foco central das
observações. O Orkut, como já disse anteriormente, tornou-se o programa de
relacionamentos mais popular da internet, desde o final de 2004. Pode ser definido
como um grande sucesso, especialmente entre os brasileiros, que são hoje cerca de 60%
dos usuários (prova do sucesso é que o programa, originalmente em inglês, ganhou
versão em português). De acordo com os próprios criadores em mantenedores9 do site
no ar, o Orkut é uma comunidade online que conecta pessoas através de uma rede de
amigos confiáveis. Proporcionamos um ponto de encontro online com um ambiente de
confraternização, onde é possível fazer novos amigos e conhecer pessoas que têm os
mesmos interesses. Participe do Orkut para aumentar o diâmetro do seu círculo
social.(Orkut- www.orkut.com ). Essa é a descrição que abre a página do programa e
nela estão claros quais são os propósitos pretendidos: criar uma grande comunidade
virtual de pessoas que se identificam por algum motivo e que querem aumentar seus
contatos sociais. A realidade virtual é vista, então, como um veículo que proporciona
novos contatos e pode aumentar aqueles surgidos na própria realidade presencial.
Para alguém fazer parte do Orkut é necessário que seja convidado por um outro
membro. Feito isso, é só realizar o cadastro e preencher o seu profile, ou perfil. Esse
9 O Orkut é hoje mantido pelo Google, a maior ferramenta de busca da internet. O usuário pode optar por criar um e-mail também pertencente ao Google- o Gmail- o que contribui para popularizar ainda mais a logomarca.
profile contém informações de todo tipo (dados gerais, profissionais e sentimentais),
onde o usuário pode se descrever, colocar sua idade, data de aniversário, orientação
sexual, se fuma ou não, se bebe ou não, com quem mora, se tem filhos, paixões, filmes,
músicas, esportes, MSN, e-mail, além de um álbum de fotos. Depois de preencher o
profile (o usuário pode escolher que informações vai colocar e se vai deixar totalmente
público seu perfil ou não), os usuários começam a adicionar amigos e a entrar nas
comunidades de seu interesse. Quando adiciona alguém como amigo, a pessoa
adicionada pode recusar o convite para essa amizade ou aceitá-lo, sendo que assim
passa a ser gerada sua rede social no Orkut. A grande sensação do Orkut foi a
possibilidade de deixar mensagens públicas para os amigos, os chamados scraps. Isto
porque tornou-se hábito entre os usuários entrar nos scrapbooks das pessoas que
interessavam e descobrir o que se passava na vida delas. A rede de amigos se tornou
uma rede de fofocas e divulgação da intimidade, e os usuários chegaram a criar
comunidades do tipo “Orkut acaba com relacionamentos”, “Eu apago meus scraps”,
entre outras. Hoje, para evitar situações do tipo, o programa conta com uma ferramenta
que permite visualizar quem são as pessoas que entram em sua página. Tornou-se um
pouco mais difícil observar a vida alheia.
As comunidades funcionam de acordo com um princípio simples: são criadas
por um usuário e as pessoas que dela fazem parte podem participar do fórum de
discussões, fórum este que, de acordo com a decisão do usuário moderador, é anônimo
ou identificado. Pode-se dizer que existe comunidade para tudo no Orkut, sendo que
elas são classificadas de acordo com seu conteúdo: música; esportes; gays, lésbicas e bi;
hobbies; artes; escolas e educação; etc. Para esta pesquisa, adotei a seguinte estratégia:
selecionei a opção Gays, Lésbicas e Bi, não apenas em português, e apareceram listadas
todas as comunidades classificadas nesta temática, ao todo mais de 1000. A primeira
reação foi de desespero devido à enorme quantidade, mas resolvi usar como critério de
filtragem a quantidade de membros das comunidades e o enfoque que elas davam para
suas descrições, procurando aquelas que possuíam maior conotação sexual e que
ficaram conhecidas entre muitos usuários como o “submundo do Orkut”. Este
submundo é formado pelos usuários que apresentam profiles com nítido interesse
sexual, com fotos que mostram seus corpos em partes e, inclusive, seus órgãos sexuais
(em ereção ou não). Em geral, esses profiles são conhecidos na rede como fake10, falsos,
10 O atual boato que corre pelas mensagens do Orkut é de que esses profiles fake estão sendo deletados pela administração do programa, mas em minha pesquisa comprovei que isso não é uma
visto que são pessoas com uma segunda identidade no Orkut, sendo que foi criada a
comunidade “Eu tenho uma segunda identidade no Orkut” para agrupar essas pessoas.
Acabei centrando minha observação em duas comunidades que me chamaram a
atenção logo na descrição que apresentavam: “Sem camisa no Orkut = VIADO” e
“Curto homens, não viadinhos”. Acredito que a escolha dessas comunidades foi
bastante influenciada pelo fato de que meu interesse nesse trabalho esteve ligado às
performances e construções identitárias que ocorrem em comunidades classificadas
como GLS no Orkut. As duas comunidades escolhidas diferem em um ponto
fundamental, mas que fornece a possibilidade de comparação. A primeira delas- “Sem
camisa no Orkut = VIADO” - tem como objetivo central apontar supostos gays
encontrados aleatoriamente pelos membros nos vários espaços do Orkut e se baseia no
princípio de que a falta de camisa nas fotos colocadas evidencia a performance, a
postura de gênero dos usuários indicados. A segunda comunidade - “Curto homens, não
viadinhos” - possui um enfoque diferente: é uma comunidade criada por um homem que
assumidamente se relaciona com homens, mas que, assim como os outros membros, faz
uma distinção clara entre aqueles que são relacionáveis sexualmente - os homens - e os
não relacionáveis - chamados pejorativamente de “viadinhos”. Por mais que,
aparentemente, as duas comunidades não possuam pontos em comum, é possível
relacionar a teoria aqui apresentada com essa realidade empírica observada e refletir
acerca das performances adotadas na web, sobre suas várias facetas e possibilidades,
adequadas a cada contexto e a cada situação particular. Faço a ressalva de que, devido
ao pouco tempo disponível para a realização da pesquisa empírica, centrei minhas
análises e descrições apenas na observação detalhada das comunidades, dos profiles de
seus criadores e de alguns membros mais ativos nos fóruns de discussão, tentando
perceber as performances que adotam, os interesses envolvidos neste processo e as
construções identitárias derivadas. Isso me possibilitou elencar as possibilidades de
aproximação dessas pessoas em um momento posterior, através do próprio Orkut ou
mesmo das ferramentas de bate-papo em tempo real (IRC), como o messenger (MSN).
Assim, a comunidade “Sem camisa no Orkut = VIADO” tem como objetivo
denunciar os supostos perfis gays do Orkut, com base no porte ou não de camisa,
especialmente na foto central do profile, pelo usuário denunciado. Fundada por um informação verdadeira. Há alguns meses, existe uma tentativa de eliminar os profiles e comunidades com conteúdo sexual explícito, bem como usuários e comunidades que incitem o preconceito, a discriminação e a homofobia, mas devido à grande quantidade de membros isso fica praticamente impossível e o Orkut underground permanece.
usuário que utiliza o nome de Carlos Gardel, provavelmente mais um dos inúmeros
fakes, a descrição da comunidade não deixa muitas dúvidas a respeito daquilo a que se
propõe:
Você também acha que os caras que usam fotinhas sem camisa, fazendo pose, no perfil do Orkut devem SAIR DO ARMÁRIO e assumir a boiolagem? Então você é muito bem vindo nessa comunidade! Não existem regras de boa conduta aqui, fale o que você pensa e toque o terror! Cutuca a Coruja! Chama a taca! Xamisca ae, porra!!!
Fica clara nessa descrição a postura adotada pelos membros
da comunidade, de uma intolerância extremada daqueles que
por uma característica apresentada nas fotos passa a ser
considerado homossexual, chamado preconceituosamente de
viado. Um ponto que chamou minha atenção durante a pesquisa
é que a foto colocada como identificador da comunidade é
mudada de tempos em tempos pelo moderador (o já citado
Carlos Gardel), de acordo com as indicações dos membros. No
momento da pesquisa, o escolhido era um rapaz identificado
como Erlon - Biba Sado! e o moderador assim o descrevia:
Erlon... com um nome desses, fica difícil zoar, né? Mas eu consigo! A moninha aí adora malhar e diz que morre malhando! Imagino como foi que o Pedrão encontrou esse lixo... Comentem com seus amigos, sua família e vizinhos! E parabenizem o felizardo à vontade!!!
Logo após essa descrição, foi colocado o link para o profile do rapaz escolhido. Nesse
caso, o profile havia sido excluído pelo próprio usuário. Sobre o criador da comunidade,
ele se apresenta como Carlos Gardel e é nitidamente um homofóbico escondido sob um
profile falso, sendo muito provável que tenha uma outra identidade, esta sim oficial, no
Orkut. Alguns indícios me levaram a essa conclusão: a criação de uma comunidade de
cunho preconceituoso e que busca denegrir a imagem de outras pessoas através da
acusação de gays; o fato de ele não possuir nenhum amigo em sua lista, o que pode
indicar que o único objetivo de sua performance como Carlos Gardel é de criar
situações polêmicas e homofóbicas na comunidade em questão; todos os seus scraps
são de pessoas da comunidade pedindo que ele coloque as mais variadas pessoas como
capa da comunidade, com a indicação do link para seus álbuns de fotografias.
Voltando à comunidade em si, o fórum de discussões não é muito diverso e um
mesmo assunto domina as discussões: quem são os candidatos a viados de acordo com
os seus cerca de 21 mil membros, em geral homens, que ostentam em seus perfis a
denominação heterossexual e que abominam claramente qualquer referência à
homossexualidade. E, como homens autênticos, nunca colocam fotos sem camisa ou
que queiram evidenciar seu corpo de alguma forma. Homem que é homem não se
mostra dessa maneira e não faz pose. Nos vários tópicos de discussão do fórum, pude
entrar em contato com os profiles indicados como gays e me chamou a atenção o fato de
que a maioria deles é de homens que também se assumem como heterossexuais. Aqui se
confirma mais uma vez o determinismo simples que rege a comunidade: não importa o
modo como o indivíduo se autonomeia, mas sim uma determinada prática que o coloca
e o caracteriza como homossexual. Sua performance é determinada e vista pelos outros
usuários pura e simplesmente a partir aquilo que mostra em seu perfil. Se está sem
camisa é gay, e não há brechas para qualquer fuga disso. Por mais que atuem
performativamente como heterossexuais, para os outros aparecem com um performance
totalmente diversa e condenável. Essa comunidade representa, em muitos aspectos, uma
inversão total de categorias, sendo que foi criado, inclusive, o termo boila building para
caracterizar esses candidatos a gays expostos ali. Transcrevo um trecho de umas das
discussões11 em que essa categoria, que identifico como performática, aparece:
Anderson nao e’ assim um simples viado. êle é um boiola-building!!! Vcs sabem o que significa ser um boiola-building? Não é pouca merda não. É muita! Tem até Boiola-building que manda tirá a torneirinha cirurgicamente pro tanquinho ficá bem + definido, sem imperfeiçôes e sem penduricalhos inuteis. Tem Boiola-building ate que mija pelo cu. Milagres da ciência. Mas só um boiola-building legítimo tem grana pra isso. (Lug)
Como se pode inferir do depoimento transcrito acima, é criada um categoria totalmente
nova que associa a homossexualidade às modificações corporais, desde aquelas sem
intrusão cirúrgica até as que recorrem a esse tipo de procedimento. São gays em
construção, que querem se expor e mostrar seus dotes em um programa de alcance
incalculável como o Orkut. Tachados dessa forma, não adianta protestarem, já que são
11 A discussão se iniciou quando um dos rapazes que foi chamada do viado protestou contra a existência da comunidade, acusando seus membros de terem inveja daqueles que possuíam um corpo malhado. Em todas as postagens posteriores ele continuou sendo chamado de homossexual e foi incluído entre os boiola building.
reconhecidos publicamente como homossexuais, como machões, como bombados gays
que tomam potenay (Malvado), como morde-fronhas.
Em relação à segunda comunidade, possui uma temática de discussões distinta:
foi criada por um homem que se relaciona afetiva e sexualmente com outros homens,
mas que estabelece uma clara distinção (que não é nova em seu conteúdo) entre os
homens e os viados. Em teoria, todos aqueles que se interessam por homens são
chamados de homossexuais, mas sempre existiu uma categorização interna,
normalmente relacionada à posição adotada nas relações sexuais e à maneira como essas
pessoas se apresentavam. Os mais efeminados são as bichas, bibas, viados, boiolas. Os
mais másculos os gays, os entendidos. No caso da comunidade, essa distinção fica bem
clara: ali estão agrupados homens que querem outros homens tão masculinos quanto
eles. E esse desejo fica evidente em seus profiles, tanto nas fotos como nas descrições
que apresentam. As fotos seguem um padrão: apresentam partes dos corpos dessas
pessoas, geralmente a bunda ou o pênis ereto. Nos álbuns, a mesma lógica: nunca
mostrar o rosto e centrar tudo no corpo em si, em seus dotes. O interesse sexual é
evidente: são homens que demonstram claramente sua escolha e estão em busca de
possíveis parceiros. Tudo é válido, desde que não sejam efeminados. A descrição da
comunidade deixa isso claro:
É uma comunidade para Caras que curtem homens de verdade (machos), que não curtem afeminados, moças e viadinhos. Pois se gostasse de afeminados ficaria com MULHERES de verdade.
A foto que simboliza a comunidade segue a mesma idéia: um homem másculo, sem
rosto, vestido com uma cueca branca que deixa à mostra o volume de seus órgãos
sexuais (é interessante notar que a cueca branca mostrando o pênis ereto aparece ali
como fetiche coletivo).
Sobre o criador da comunidade, ele simboliza a maioria dos que ali estão como
membros: ele declara ser carioca, 27 anos, médico, praticante de uma série de atividades
físicas e bissexual, com clara preferência por homens. Seus amigos (757 no momento
do acesso) são em sua maioria homens, que se enquadram na descrição do que ele
procura: são machões, com corpos malhados e considerados bonitos. No seu álbum,
quatro fotos em que ele mostra seu corpo na praia (de sunga apenas) e uma foto, com o
intuito de ser provocante, deitado na cama só de cueca. A performance que ele é adota
tem o objetivo de fazer com que ele atraia outros homens com os quais possa se
relacionar de alguma maneira. E tudo em seu profile é montado para que esse objetivo
se concretize. Essa é a imagem e a performance que ele resolveu adotar publicamente e
é assim que ele passa a ser reconhecido pelos demais. O caso do moderador é
interessante porque ele chega a colocar uma foto em que seu rosto aparece e não é um
dos vários profiles falsos. A maioria dos cerca de 10 mil membros da comunidade
parece utilizar perfis falsos, as segundas identidades, visto que seu interesse ali é
considerado desviante e não faz parte da parte mainstream do Orkut. Permanecem,
então, no submundo, na espécie de gueto criado dentro do programa para abarcar as
performances de gênero alternativas e discriminadas.
É claro que o que apresento aqui são apenas conclusões preliminares. A pesquisa
agora passará a ser desenvolvida de modo mais sistemático, mas algumas dessas idéias
sem dúvida permanecem. Perceber de que maneira essas performances se processam é
um empreendimento que se revelou de grande valia para o que se pretende para a
dissertação. Fica mais fácil trabalhar programas como o Orkut pensando nesses termos,
sendo que o que fica desse trabalho é a idéia da internet como uma grande vitrine em
que as mais variadas performances se desenvolvem. O grande mistério agora é tentar
entender e identificar essas performances, criando um quadro que permita entender um
pouco melhor as relações sociais geradas via internet e como elas podem, de alguma
maneira, expandir-se para a realidade presencial.
4- Bibliografia de referência ALVES, Giovanni (org). Dialética do Ciberespaço. São Paulo: Praxis, 2002.
ARANTES, Antônio Augusto (org). O espaço da diferença. São Paulo: Papirus, 2000.
BARNES, J.A. Redes Sociais e Processo Políticos. In: FELDMAN-BIANCO, Bela.
Antropologia das sociedades contemporâneas-métodos. São Paulo: Global, 1987.
BAUMAN, Zygmunt. Community- seeking safety in an insecure world. Cambridge:
Polity, 2001.
BENJAMIN, Walter. O flâneur. In: Charles Baudelaire - Um lírico no auge do
capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1989.
BOTT, Elizabeth. Família e Rede Social. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora,
1976.
BUTLER, Judith. Problemas de Gênero. Feminismo e subversão da identidade. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
DELEUZE, Gilles & GUATTARI, Félix. Tratado de Nomadologia: a Máquina de
Guerra. In: Mil Platôs-capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Editora 34, 1997.
FACCHINI, Regina. Sopa de letrinhas? Movimento homossexual e produção de
identidades nos anos 90: um estudo a partir da cidade de São Paulo. Rio de Janeiro:
Garamond, 2005.
FRANGELLA, Simone Miziara. Corpos Urbanos Errantes: uma etnografia da
corporalidade de moradores de rua em São Paulo. Tese de Doutorado. Campinas, março
de 2004.
FRY, Peter. Da hierarquia à igualdade: a construção histórica da homossexualidade no
Brasil. In: Para Inglês Ver: Identidade e política na cultura brasileira. Rio de Janeiro:
Zahar, 1982, p. 87-115.
GREEN, James. Além do Carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil do século
XX. São Paulo: Unesp, 1999.
GOOFMAN, Erving. The presentation of self in everyday life. New York: Doubleday
Anchor Books, 1959.
HALL, Stuart. A questão da identidade cultural. Textos Didáticos-IFCH/ Unicamp,
2003.
HINE, Christine. Virtual Ethnography. Londres: Sage Publications, 2001.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2005, 2ª edição.
MACRAE, Edward. A construção da igualdade: identidade sexual e política no Brasil
da abertura. Campinas: Ed Da Unicamp, 1990.
_________________. Em defesa do gueto. Novos Estudos Cebrap. Nº1, 1983.
MAFFESOLI, Michel. O Tempo das Tribos. Rio de Janeiro: Forense
Universitária,1987.
___________________. Sobre o Nomadismo: vagabundagens pós-modernas. Rio de
Janeiro: Record, 2001.
MAGNANI, José Guilherme. Na Metrópole: textos de antropologia urbana. São Paulo:
Edusp, 1996.
PERLONGHER, Néstor. O negócio do michê: a prostituição viril. São Paulo:
Brasiliense, 1987.
SENNET, Richard. O declínio do homem público-as tiranias da intimidade. São Paulo:
Companhia das Letras, 2002.
SILVA, Daniela Ferreira Araújo. “Do outro lado do espelho: anorexia e bulimia para
além da imagem-uma etnografia virtual”. Dissertação de Mestrado. Campinas,
dezembro de 2004.
ZUKIN, Sharon. The Cultures of cities. Cambridge, MA: Blackwell, 1995.
Sites utilizados:
Orkut: www.orkut.com
http://www.orkut.com/AlbumView.aspx?uid=18106611868764996668
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=17876120142931784425/
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=10079132395335268275/
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6635802296492058812/
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=13749524765707987506/
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=17703267428367566760/
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=10519306948134345464
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11503416741802682805
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1563520123026357448
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=14506395257098421333
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16087677075747781573
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=17654630107199938611
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=9903435843104299335
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=3962129363119995680
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2826607005699024119 Mix Brasil: www.mixbrasil.com.br Google: www.google.com.br






























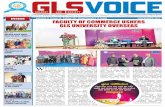





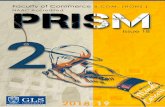








![Poéticas e Políticas da Sexualidade: uma etnografia do circuito da pegação em João Pessoa [Relatório Final de pesquisa]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312233ec32ab5e46f0bd512/poeticas-e-politicas-da-sexualidade-uma-etnografia-do-circuito-da-pegacao-em.jpg)

