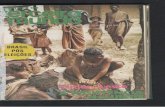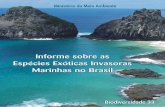TENDÊNCIAS DA PESQUISA EM INFORMAÇÃO: SUBSÍDIOS PARA UMA PRÁTICA CURRICULAR
PROJEÇÕES POPULACIONAIS NO BRASIL: SUBSÍDIOS PARA SEU APRIMORAMENTO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of PROJEÇÕES POPULACIONAIS NO BRASIL: SUBSÍDIOS PARA SEU APRIMORAMENTO
1
PROJEÇÕES POPULACIONAIS NO BRASIL: SUBSÍDIOS PARA SEU APRIMORAMENTO
Andréa da Silva Borges Claudia da Silva Marques
Luana Paula Gentil de Brito Vanessa Regina Lemos da Silva♥
Paulo de Martino Jannuzzi♣
Palavras-chave: projeções populacionais; metodologia; políticas públicas Resumo: O objetivo deste trabalho é trazer subsídios para a agenda de discussão sobre a atividade de elaboração de projeções populacionais no Brasil, a partir da sistematização de bibliografia internacional sobre o assunto e da avaliação das experiências de elaboração de projeções no país. Inicia-se o trabalho resgatando-se a importância da elaboração das projeções demográficas como insumo fundamental para estimação de demandas de serviços públicos e de públicos-alvo de políticas públicas, no contexto de descentralização e focalização de programas sociais no país. discute-se a importância da incorporação de opinião externa para aprimoramento e legitimação do processo de produção de projeções populacionais. Apresenta-se uma avaliação comparativa das projeções populacionais realizadas por diferentes instituições para o Brasil, apontando as diferenças em termos das hipóteses assumidas em cada uma delas. Apresenta-se uma avaliação comparativa das estimativas populacionais de municípios brasileiros segundo dois diferentes métodos de pequenas áreas. Por fim, conclui-se pela necessidade de institucionalizar-se a discussão e elaboração de projeções populacionais em foruns mais amplos.
♥ Alunas do Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da ENCE/IBGE. ♣ Professor associado do Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da ENCE/IBGE e Professor colaborador da PUC-Campinas.
2
PROJEÇÕES POPULACIONAIS NO BRASIL: SUBSÍDIOS PARA SEU APRIMORAMENTO
Andréa da Silva Borges Claudia da Silva Marques
Luana Paula Gentil de Brito Vanessa Regina Lemos da Silva♥
Paulo de Martino Jannuzzi♣
1. Introdução Uma das áreas de atuação da demografia é a de projeções demográficas, isto é, estimar uma determinada população ou o comportamento de uma variável demográfica para o futuro. É uma área de muita importância na medida em que pode servir de ferramenta para o planejamento e análise de políticas públicas, como também para a prospecção de novos padrões de consumo ou novas demandas no setor privado. Através das projeções demográficas pode-se planejar, por exemplo, a necessidade de mais hospitais ou escolas, a partir das projeções por grupo etário (quantidade de crianças), ou o impacto ambiental em determinado local a partir do total populacional previsto para esta localidade em determinado tempo, ou ainda é possível também, ao deparar com uma projeção onde se verifica um quantitativo elevado de idosos, planejar políticas públicas para esse segmento ou repensar o cálculo previdenciário. Em função do exposto, a demanda por projeções é cada vez maior. Os demógrafos inicialmente buscavam um método único que pudesse dar conta de todas as projeções; mas com o decorrer do tempo observaram que não há como generalizar, pois as variáveis que compõem a equação demográfica básica apresentam comportamentos variáveis ao longo do tempo e de acordo com o período e contexto político, econômico e social, devendo então as projeções ser revistas na medida em que novas e relevantes informações surjam. Para tanto, é fundamental que se efetue uma análise do contexto social, político econômico e demográfico atuais afim de que se possa ter uma visão mínima de futuro. Na verdade, o comportamento demográfico de uma população é influenciado por esses contextos, mas também acaba influenciando posteriormente nas mudanças futuras para esse mesmo cenário Além disso, como lida com o futuro, as projeções sempre tem também de lidar com a incerteza, ainda que possuam também informações detalhadas e confiáveis da população em estudo. Como vivemos um período onde tudo parece mutável e muito acelerado em função dos avanços tecnológicos e da medicina, da globalização e internacionalização da economia, torna-se arriscado considerar um fator como irreversível, daí o exagerado conservadorismo de algumas projeções. ♥ Alunas do Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da ENCE/IBGE. ♣ Professor associado do Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da ENCE/IBGE e Professor colaborador da PUC-Campinas.
3
De modo a trazer contribuições na áreas, o objetivo deste trabalho é trazer subsídios para a agenda de discussão sobre a atividade de elaboração de projeções populacionais no Brasil, a partir da sistematização de bibliografia internacional sobre o assunto e da avaliação das experiências de elaboração de projeções no país. Inicia-se o trabalho resgatando-se a importância da elaboração das projeções demográficas como insumo fundamental para estimação de demandas de serviços públicos e de públicos-alvo de políticas públicas, no contexto de descentralização e focalização de programas sociais no país. discute-se a importância da incorporação de opinião externa para aprimoramento e legitimação do processo de produção de projeções populacionais. Apresenta-se uma avaliação comparativa das projeções populacionais realizadas por diferentes instituições para o Brasil, apontando as diferenças em termos das hipóteses assumidas em cada uma delas. Apresenta-se uma avaliação comparativa das estimativas populacionais de municípios brasileiros segundo dois diferentes métodos de pequenas áreas.
2. Transição demográfica, projeções e demandas sociais No Brasil a demanda por informações sociais e demográficas tem sido crescente, em especial na última década (Jannuzzi, 1998). Tais informações tornam-se muito úteis ao planejamento público seja na implementação de políticas públicas específicas, seja na elaboração de planos urbanísticos ou na avaliação de impactos ambientais em função da implantação de um grande projeto. No entanto apesar de sua importância, também tem se observado que tais informações ainda não atendem aos anseios dos que das estatísticas precisam, não só no que diz respeito a sua produção como também em relação a sua disponibilização, principalmente no que diz respeito às informações municipais. Quanto a disponibilização das estatísticas municipais, a maior queixa é de que as mesmas se restringem quase que exclusivamente às informações do censo e com um intervalo muito longo (a cada dez anos). No que diz respeito a sua produção observou-se que os próprios agentes encarregados da tomada de decisões públicas não levam em consideração as descontinuidades das pirâmides etárias quando projetam suas demandas, ou seja, não levam em consideração os condicionantes demográficos nas demandas sociais. Dessa forma, diversos programas sociais acabam não atingindo seu objetivo. Dependendo em que estágio da transição demográfica a população se encontre vai exigir demandas específicas. Daí a importância de se entender a transição demográfica na implementação de políticas públicas. O processo de transição demográfica se caracteriza pelo declínio das taxas de natalidade e mortalidade, compreendendo três etapas: inicialmente há o declínio das taxas de mortalidade enquanto as de natalidade continuam em alta, gerando então, um rápido crescimento populacional. Posteriormente as taxas de natalidade começam a cair lentamente, reduzindo então o ritmo de crescimento da população; só mais tarde ambas as taxas se apresentam baixas, resultando então em um lento crescimento demográfico. O Brasil se encontra atualmente em plena transição demográfica e em função disso as prioridades deveriam ser habitação, educação universitária, qualificação para o trabalho e
4
emprego. Em médio prazo aumenta a demanda por serviços específicos para a terceira idade em função do envelhecimento da população. Segundo Rios-Neto (2005), o componente demográfico mais importante na transição demográfica é a fecundidade, na medida em a fecundidade passada consegue provocar um impacto nas flutuações da estrutura etária e a fecundidade futura determina as mudanças mais imediatas na base da pirâmide. A queda da fecundidade se acentuou no Brasil a partir da década de 70 e segundo Alves (2002) para Merrick e Berquó (1983) o principal fator de aceleração para a transição da fecundidade foi o declínio da fecundidade marital, além dos seguintes aspectos socioeconômicos: redução do analfabetismo e aumento dos níveis de educação, principalmente entre mulheres, aumento da participação feminina no mercado de trabalho e mudanças no padrão de consumo na população, com a inclusão de bens duráveis criando ainda a expectativa de consumo desses bens pelas classes mais pobres. Segundo a PNAD de 2003, a taxa de fecundidade total no Brasil já era de 2,1 filhos por mulher, o que significaria que a transição da fecundidade teria teoricamente se completado, já que essa taxa representa o nível de reposição. No entanto convém destacar que não há indícios de que a taxa de fecundidade total se estabilize nesse valor, ou seja, há a possibilidade de ela continuar a cair, o que resultaria em um padrão de fecundidade abaixo do nível de reposição nas primeiras décadas do século XXI. Convém destacar, no entanto, que embora a fecundidade venha caindo no Brasil, isso não se dá da mesma forma para todos os segmentos sociais e nem em todas as regiões, isto é, os segmentos de extrema pobreza e baixa escolaridade ainda apresentam altas taxas de fecundidade o que resulta em um rejuvenescimento dessa fecundidade, aspecto destacado por Berquó e Cavenaghi (2004). Essa característica pode ser observada pelo decréscimo das taxas específicas de fecundidade em todas as faixas etárias no período de 1980 a 2000, onde só se excetua o grupo etário de 15 a 19 anos, que se representava em 1980 9,2 % da fecundidade total, passou a representar em 1991 13,9% e em 2000 já chegava a representar 19,9%, ou seja, quase 20% de toda a fecundidade brasileira em 2000, se encontra na faixa de 15 a 19 anos. Embora a taxa de fecundidade total venha caindo (TFT), está ocorrendo toda uma mudança na estrutura da pirâmide da fecundidade, com um alargamento, próximo a base que demandará no futuro uma série de políticas públicas específicas para o segmento. No que diz respeito à mortalidade, ela iniciou o seu declínio bem antes do declínio da fecundidade, com uma defasagem de cerca de trinta anos. Enquanto a fecundidade inicia uma queda realmente significativa a partir da década de 70, a mortalidade apresenta queda ainda no início do século XX, sendo bem acentuada já nos anos 30. A melhoria do padrão de vida da população, o desenvolvimento econômico, programas de saúde pública, o acesso ao saneamento e os avanços da medicina são alguns dos fatores que contribuíram para a queda da mortalidade. No entanto, a queda da mortalidade e o conseqüente aumento da esperança de vida não se dão da mesma forma para ambos os sexos e nem em todas as regiões. Segundo o IBGE, a diferença da esperança de vida entre os sexos tem aumentado e isso se daria em função do aumento das mortes no sexo masculino por causas externas (homicídios e acidentes de trânsito principalmente). Além disso, as causas de morte também sofreram significativas
5
alterações, pois se no passado se concentravam nas doenças infecciosas, recentemente passaram a ter maior peso as mortes por doenças circulatórias. Segundo Rios-Neto (2005), a limitação de dados relativos aos fluxos migratórios não permite estimativas totalmente confiáveis, no entanto é fato que a emigração de brasileiros é crescente, ainda que pequena se comparada a população total, porém bastante significativa quando pensamos que o Brasil já é o sexto país da América Latina em remessas financeiras e há ainda toda uma parte das remessa que por ser informal não é mensurada. Além disso, há ainda outros aspectos que precisam ser analisados como a migração de retorno internacional, como também o crescimento da demanda por mão de obra nos países europeus em função dos baixos níveis de fecundidade. As diversas e sucessivas mudanças na estrutura etária da população trazem conseqüências também diversas sobre o crescimento econômico e a estrutura dos gastos públicos. De acordo com o estágio da transição demográfica a ênfase e o conteúdo das políticas sociais serão diferenciados. Dessa forma em um período pré-transicional, que é caracterizado por altas taxas de crescimento populacional, concentração de jovens, por um perfil epidemiológico de óbitos marcado por doenças infecciosas e parasitárias e por baixas taxas de urbanização, as políticas sociais devem estar centradas no atendimento materno-infantil, na educação básica e secundária, na habitação e geração de empregos. Iniciada a transição já se pode perceber uma desaceleração do crescimento populacional, mas ainda uma população majoritariamente jovem e um processo de urbanização intenso que deverá ter como contrapartida políticas sociais voltadas ainda para os mesmos aspectos de um período pré-transicional. Mais a frente, em transição plena, já se pode perceber mais diferenças, como a alta urbanização, a redução da fecundidade, o aumento da população em idade adulta e a mudança do perfil epidemiológico dos óbitos (maior peso das mortes por doenças circulatórias). Neste momento a qualificação profissional, o ensino superior e a saúde da população adulta deveriam ser prioritários.Este seria o momento do bônus demográfico, momento benéfico para a sociedade em termos econômicos, associado às consequências do declínio da fecundidade durante e depois da transição demográfica. Também chamada de "janela de oportunidades", esta potencialidade traduzida por uma grande concentração da população na idade adulta e produtiva e consequentemente uma baixa razão de dependência (menor quantidade de crianças e de idosos), pode ou não ser aproveitada pelos países e tal aproveitamento dependerá de vário aspectos, mas essencialmente das condições econômicas e institucionais do país, como também de uma certa estabilidade do setor financeiro e do comportamento da família com os novos arranjos familiares, não dependendo exclusivamente da composição demográfica embora, como explicitado anteriormente, a composição demográfica influencie e seja também influenciada por todo o contexto. A dinâmica demográfica brasileira oferece uma série de oportunidades e desafios ao planejamento e consecução de políticas públicas para o país nas próximas décadas. O quanto a fecundidade ainda cairá, quais os limites da longevidade, maior esperança de vida com a incapacidade/ ou não, conseqüências na seguridade social, a perda de quadros qualificados de jovens brasileiros para o exterior, etc, são alguns dos muitos desafios que se colocam. Segundo Patarra (1996), todo esse contexto atual requisita projeções mais freqüentes (menores intervalos de tempo), levantamentos mais rápidos e desagregados, visto que a demanda por essas projeções é também muito variada (público ou privado), com diferentes requisitos de desagregação espacial e temporal. Além disso, aponta também para a
6
necessidade de uma constante revisão das hipóteses, em função das constantes mudanças não só de comportamento, mas também de composição das variáveis demográficas.
3. Projeções populacionais e Cenários Prospectivos De acordo com Marinho e Quirino (1995), pode-se dizer que o estudo do futuro, ou das variáveis ou fatores que possam interferir em sua configuração, tornou-se uma atividade sistemática e institucionalizada de muitos países, organizações internacionais e governamentais, assim como empresas privadas. O estudo do futuro tornou-se, também, uma área científico-acadêmica com debates teóricos e metodológicos, cursos universitários de diferentes níveis, periódicos especializados e eventualmente cobertura ampla da mídia internacional e nacional. Sendo assim, o rápido processo de mudanças por que passa o mundo atualmente, não só as de âmbito científico e tecnológico, como também as de âmbito econômico, político e social, inclusive os valores e atitudes humanos, tem levado a um crescente interesse pelo futuro. Provavelmente, o que melhor caracterizaria os estudos do futuro atualmente seria a heterogeneidade tanto no que se refere às premissas filosófico-ideológicas, quanto à escolha dos temas, e ainda aos métodos de estudo. Sabe-se que os estudos do futuro tornaram-se uma disciplina acadêmica, um componente no planejamento das empresas, um departamento de agências governamentais e um elo entre os interesses das nações hegemônicas e os grandes grupos econômicos. Contudo, Marinho e Quirino lembram que:
“O futuro refere-se a um período de tempo que ainda não foi atingido. Portanto, pode-se dizer que o futuro rigorosamente não existe. A partir deste enfoque, quando finalmente é chegado o porvir, chega-se ao presente, e não ao futuro. Sendo assim, o futuro seria uma perspectiva, que só se realizará em termos de presente. Assim, quando se estuda o futuro, na verdade se estudam as idéias a respeito do futuro, e cenários futuros podem se montados em acordo com tais idéias. Como o mundo do futuro não existe, seria certo dizer que o futuro torna-se domínio de nossos sonhos, temores, desejos e interesses, que podem ser plasmados certamente pelas experiências do passado e do presente”.
Marinho e Quirino enfatizam, porém, que estudar o futuro e refletir sobre o que poderá acontecer adiante no tempo é um empreendimento de racionalização. A idéia de futuro, segundo eles, terá tanto mais valor quanto mais ajudar o homem a enfrentar os acontecimentos, a se sobrepor a eles e deles tirar proveito ou, ainda melhor, a provocá-los para que assim possam construir o futuro em seu próprio benefício. Outro autor, Ogilvy (1992), defende um posicionamento que apresenta fundamentos epistemológicos e metodológicos diferentes da abordagem positivista dos estudos do futuro. Ele defende que a melhoria das técnicas de mensuração, observação e análise e mesmo a descoberta de novas leis científicas não seriam suficientes para responder às deficiências do empirismo lógico. Ele propõe, então, uma abordagem de cenários normativos, em que as aspirações da humanidade sejam levadas em consideração para a proposição de objetivos cultural e eticamente ancorados, que possam oferecer substância aos esforços da sociedade para alcançá-os.
7
Pode-se afirmar, portanto que cenários normativos são múltiplas interpretações do presente, cujo sentido depende das possíveis conseqüências no futuro. E segundo essa proposta, em vez de se aplicar leis gerais, deve-se elaborar sínteses narrativas dos detalhes sobre o futuro, de tal modo que façam sentido no presente. Em vez de procurar-se identidades de fenômenos semelhantes, esse novo paradigma buscaria as relações sistemáticas entre fenômenos diversos. Dentro dessa abordagem, a multiplicidade de cenários irá refletir a multiplicidade de significados, e a construção do futuro será legitimada pela participação dos cidadãos em lhe dar sentidos através de transações simbólicas. Cenários normativos irão, portanto, articular a força de valores aceitos a um tempo por grupos pluralísticos, independentemente da justificativa que cada grupo possa ter para aderir a tais valores. Entretanto, Marinho e Quirino ressaltam que mesmo quando se focaliza um aspecto particular, o estudo do futuro não pode deixar de enfrentar o problema da estruturação da vida social, pelo menos em seus aspectos mais abrangentes, tais como a economia, a política, a dinâmica populacional, os aspectos culturais e a divisão social e organização do trabalho. Eles defendem, portanto, que as ciências sociais e suas conquistas teóricas e evidências empíricas seriam o acervo onde buscar tais conhecimentos. E acrescentam que a multiplicidade paradigmática das ciências sociais pode contribuir para o disciplinamento da argumentação, já que um bom estudo sobre o futuro deve, segundo eles, produzir argumentos de deixar claros todos os passos da argumentação. Partindo para um olhar mais focado nas projeções populacionais, Ahlburg e Lutz (1999) acrescentam ao debate que a opinião de peritos ou especialistas é pouco discutida nas previsões populacionais, mas representa um papel crítico em muitos níveis. O julgamento de peritos é usado para selecionar a aproximação geral, para escolher o método específico, e fazer um grande número escolhas entre os parâmetros modelo. A opinião perita é usada também para selecionar as suposições da fecundidade, de mortalidade e de migração em projeções para coortes. Ainda segundo Ahlburg e Lutz, os peritos podem fornecer “inputs” aos modelos da projeção de muitas maneiras, e a maneira como o conhecimento perito será empregado afetará criticamente a sua utilidade. Geralmente, o desafio encontrado pelos peritos deve ser encontrar uma maneira de incorporar o corpo vasto da pesquisa demográfica em suposições previstas sem tornar-se demasiadamente dependente das polarizações e dos sentimentos subjetivos de peritos individuais. A experiência em outras áreas de previsão sugere que as circunstâncias sob as quais se estruturou o conhecimento da opinião perita ou de seu domínio podem melhorar a exatidão da previsão. Muitas vezes peritos acostumados a fazer previsões da população são perguntados somente sobre o argumento mais provável para a fecundidade, mortalidade e imigração. Em conseqüência, tendem a dar as estimativas do “status quo”, que gerando cenários improváveis. Baseado em sua experiência utilizando painéis de interação entre peritos em população, Lutz sugere pedir aos peritos "um valor mais provável", assim como a escala de incerteza que estes percebem.
8
Tanto usuários como aqueles que fazem as previsões gostariam de saber quanto de confiança podem dar a diferentes previsões, mas ainda não há nenhuma aproximação geralmente aceita à apresentação do grau de incerteza. As aproximações que parecem ter a aceitação da maioria são cenários, previsões estocásticas, e combinações entre o julgamento dos peritos e aproximações estatísticas simples. O cenário escolhe uma combinação de fecundidade, mortalidade e imigração, e as suposições são internamente consistentes e representam um trajeto provável do resultado para a população sob determinadas condições sem especificar nenhuma probabilidade. Embora o termo "cenário" seja usado freqüentemente, o "cenário" consistente em suposições sobre a fecundidade, mortalidade e imigração, que fornecem um retrato detalhado de o que o futuro poderá ser. Ahlburg e Lutz concluem, portanto, que vários cenários podem ser escolhidos segundo o mais provável resultado e também menos provável, mas possível resultado sob um particular jogo de escolhas políticas. Desta maneira, os cenários são como simulações, que mostram os efeitos de mudar uma política, controlar uma doença, ou alcançar um determinado alvo de fecundidade. E visto que a aproximação é popular em previsões da população e é improvável que desapareça.
4. Projeções populacionais para o Brasil: comparação entre diferentes fontes Em 03 de março de 2006, noticiou-se que a população mundial superou a marca de seis bilhões e meio de habitantes, segundo estimativa da Divisão de População do U.S. Census Bureau, Instituto Oficial de Estatística dos Estados Unidos. A elaboração dessa estimativa parte de um determinado conjunto de pressupostos relacionados à população e envolve uma série de cálculos, combinando as características e tendências das dimensões da dinâmica populacional no tempo e no espaço. Ao resultado numérico dessa combinação, denomina-se projeção populacional. O interesse de entidades como a Organização das Nações Unidas - ONU - em conhecer qual seria o total da população mundial está intrinsecamente ligado à capacidade do nosso planeta de sustentar sua população, em termos de recursos naturais. Durante a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento em 1994, a ONU traçou um Programa de Ação para o controle do crescimento populacional nos 20 anos subseqüentes, com base em projeções populacionais para os países do mundo. Portanto, as projeções populacionais se constituem em um importante instrumento de planejamento no que concerne às políticas voltadas para o bem-estar social e desenvolvimento econômico. Através da projeção da população para uma determinada área geográfica e em um ponto qualquer no futuro, considerada a viabilidade dos pressupostos estabelecidos para seu cálculo, estabelece-se um suporte para o desenvolvimento de quaisquer ações, especialmente em áreas geográficas menores, onde o impacto dessas ações pode ser imediato e substancial no crescimento populacional. A confiabilidade e a precisão são características de extrema relevância quando se trata de projeções populacionais, tanto para tomada de decisões e elaboração de políticas quanto para a produção de pesquisas de qualidade. Para tal, faz-se necessária não somente uma análise abrangente e interdisciplinar dos cenários passado, presente e futuro da população em
9
questão, como a perfeita adequação do conjunto de métodos empregado no cálculo das projeções aos dados disponíveis da população em questão. Em relação à elaboração de projeções populacionais, destacam-se três órgãos cujas metodologias são consideradas modelo: a Organização das Nações Unidas, o Centro Latino-Americano e Caribenho de Demografia - CELADE, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. O presente estudo tem como objetivo promover uma comparação entre as diferentes metodologias utilizadas por esses órgãos, avaliando a consistência dos pressupostos considerados na elaboração de suas projeções populacionais. Há uma certa complexidade na elaboração de projeções populacionais, em especial por envolver uma análise cuidadosa das variáveis passíveis de interação com a população do espaço geográfico em questão durante o tempo para o qual se projeta esta população. Não obstante, a ocorrência de eventos inesperados causa desvios na trajetória prevista para o crescimento populacional, destacando a necessidade do bom senso na escolha tanto do método de projeção e das hipóteses relacionadas à evolução dos componentes quanto na interpretação de seus resultados. O método utilizado na elaboração das projeções populacionais pela ONU, pelo CELADE e pelo IBGE é o método das componentes demográficas, que incorpora as informações sobre as tendências observadas dos componentes da dinâmica demográfica - fecundidade, mortalidade e migração - para uma determinada área geográfica. Tal método consiste em uma interação entre as variáveis demográficas acompanhando coortes de pessoas ao longo do tempo, expostas às leis de fecundidade, mortalidade e migração, através da produção de estimativas e projeções dos níveis e padrões para cada uma destas componentes. Ressalta-se novamente a importância do bom senso na formulação das hipóteses sobre as componentes da dinâmica demográfica, garantindo coerência entre os parâmetros que descrevem as tendências já observadas e aquelas que resultarão da projeção. (Oliveira e Fernandes, 1996). Cabe observar que o método das componentes demográficas utiliza em seu cálculo informações demográficas que podem ser obtidas através dos levantamentos censitários e das estatísticas vitais. Não obstante, sua utilização não se restringe apenas às projeções da população total; projeções da população por subgrupos demográficos como sexo e idade podem ser realizadas através desse método, que interage com outros métodos de projeções derivadas para grupos populacionais específicos, como população economicamente ativa ou responsável pelo domicílio. Considera-se ainda a incorporação das tendências observadas para a fecundidade, mortalidade e migração de uma determinada área geográfica um dos pontos fortes do método das componentes, pois permite aos Demógrafos obter um conhecimento minucioso do histórico de cada uma dessas componentes da dinâmica demográfica. A demanda por indicadores e projeções demográficas é crescente, pois estes subsídios são fundamentais para criação de políticas públicas, avaliação de programas sociais, investimentos privados etc, em áreas menores. Conseqüentemente, dispomos de diferentes métodos de projeção de acordo com o interesse de estudo do pesquisador e dos dados disponíveis. Algumas técnicas de projeção já estão caindo em desuso, outras estão sendo aprimoradas e novos métodos estão sendo desenvolvidos para atender às necessidades das diferentes populações.
10
É fato que vários países, inclusive o Brasil, enfrentam problemas com os levantamentos Censitários e os Registros Administrativos, principalmente, em níveis geográficos menores. Informações são perdidas, em muitos casos, pelo difícil acesso a determinados lugares. Espera-se que seja dada uma maior atenção para a coleta destes dados, que se busque uma melhoria na qualidade e informatização e um detalhamento geográfico maior, para que possam ser geradas projeções e estimativas populacionais cada vez mais consistentes. Em termos de projeções populacionais e disseminação de seus resultados, a Organização das Nações Unidas desempenha um papel de liderança. A cada dez anos, desde a década de 50, a ONU vem produzindo e disseminando conjuntos de projeções para todos os países e áreas do planeta, com base em dados demográficos mais atualizados de cada país e um alcance cronológico até o ano de 2050, além de revisões da metodologia a cada dois anos. Disponibilizam-se essas projeções em uma publicação intitulada World Population Prospects, cuja última revisão data de 2004. Nessa última revisão, incorporaram-se dados do último censo de população de diversos países do mundo, realizado no ano 2000, assim como resultados de pesquisas especializadas realizadas em países em desenvolvimento para a obtenção de informações demográficas, entre outras. Observa-se na Revisão de 2004 a variedade da dinâmica demográfica atual, onde a população mundial cresce como um todo, porém diferenciada por região: o maior peso se encontra nas regiões menos desenvolvidas, em especial nos 50 países com menor índice de desenvolvimento. Atribui-se a esse crescimento diferenciado por região as distintas tendências das componentes fecundidade e mortalidade. Visando compensar o impacto da incerteza das tendências futuras da fecundidade, mortalidade e migração na precisão de suas projeções, a Organização das Nações Unidas produz variantes de projeção. Na Revisão de 2004, foram elaboradas seis variantes, dentre as quais apenas quatro foram disponibilizadas no sítio dos World Population Prospects, na internet. Estas quatro variantes diferem entre si no que concerne às hipóteses formuladas sobre as tendências de fecundidade: variante baixa, variante média, variante alta e a variante referente à fecundidade constante. Descrevem-se os pressupostos sobre as tendências de fecundidade em termos dos seguintes grupos de países:
Países com Fecundidade Baixa: países com Taxa de Fecundidade Total igual ou inferior ao nível de reposição no período de 2000 a 2005;
Países com Fecundidade Média: países onde a fecundidade está em declínio porém seu nível ainda se mantém acima do nível de reposição no período de 2000 a 2005;
Países com Fecundidade Alta: países que até o ano de 2005 não apresentaram redução na fecundidade ou apenas uma redução inexpressiva.
Definidos os grupos de países segundo o comportamento de suas taxas de fecundidade, apresenta-se a seguir uma melhor descrição das hipóteses referentes a cada uma das variantes mencionadas, segundo a World Population Prospects: The 2004 Revision (ONU, 2004). Cabe observar que os pressupostos das demais variantes são elaborados com base nos pressupostos da variante média. Variante Média
Presume-se que a Taxa de Fecundidade Total em todos os países irá convergir para um nível de 1,85 filho por mulher, embora nem todos os países atingirão esse nível até o ano-final da
11
projeção, isto é, em 2050. Apesar da adoção de um princípio único de projeção da fecundidade para todos os países, os procedimentos dessa projeção diferem conforme a Taxa de Fecundidade Total de cada país se situe abaixo ou acima do nível supramencionado no período de 2000 a 2005. Assume-se que os países com alta e média fecundidade seguirão a tendência derivada dos modelos de redução da fecundidade estabelecidos pela Divisão de População das Nações Unidas, baseada na experiência anterior de países com fecundidade em declínio no período de 1950 a 2005. Se a projeção da Taxa de Fecundidade Total por um modelo para um país qualquer aponte uma queda para o nível de 1,85 filho por mulher antes de 2050, mantém-se a fecundidade constante nesse nível para o restante do horizonte de projeção. Isto significa considerar 1,85 filho por mulher como o valor mínimo que a Taxa de Fecundidade Total dos países com fecundidade média ou alta pode atingir até 2050, embora nem todos os países irão necessariamente atingir esse mínimo. Se o valor projetado for superior a esse mínimo, então tal valor será utilizado na projeção da população daquele país. Cabe ressaltar que os valores projetados pelos modelos estabelecidos pela Divisão de População da ONU são confrontados com as tendências recentes da fecundidade observadas para cada país e, em caso de discrepância, realiza-se nova projeção de forma a contemplar a experiência de fecundidade recente. Em relação aos países com fecundidade baixa, assume-se que as Taxas de Fecundidade Total se manterão abaixo do nível de reposição durante a maior parte do horizonte de projeção, alcançando o mínimo de 1,85 filho por mulher entre 2045 e 2050. Para países cuja fecundidade já se encontrava abaixo desse mínimo, assume-se que nos primeiros cinco ou dez anos do horizonte de projeção a fecundidade irá seguir a tendência observada recentemente naquele país e, após um período de transição, apresentará um ligeiro crescimento à taxa de 0,07 filho/mulher por qüinqüênio. Variante Baixa
A Taxa de Fecundidade Total é projetada para permanecer abaixo daquela da variante média em 0,5 filho por mulher na maior parte do horizonte de projeção, significando que países que atinjam uma fecundidade de 1,85 filho por mulher na variante média terão uma fecundidade de 1,35 filho por mulher na variante baixa no final do período de projeção. Variante Alta
A Taxa de Fecundidade Total é projetada para permanecer acima daquela da variante média em 0,5 filho por mulher na maior parte do horizonte de projeção, significando que países que atinjam uma fecundidade de 1,85 filho por mulher na variante média terão uma fecundidade de 2,35 filhos por mulher na variante baixa no final do período de projeção. Variante de Fecundidade Constante
Para cada país, a Taxa de Fecundidade Total permanece constante no nível estimado para o período de 2000 a 2005.
12
Em relação à mortalidade, esta é projetada com base nos modelos de mudanças na esperança de vida produzidos pela Divisão de População das Nações Unidas. Tais modelos produzem ganhos inversamente proporcionais à esperança de vida, isto é, quanto maior a esperança de vida, menor é o seu ganho. A seleção de um modelo para cada país se baseia nas tendências recentes de esperança de vida por sexo, exceto este país se encontra afetado pela incidência da AIDS. Nesse caso, a estimativa do impacto da AIDS é calculada através da modelagem do comportamento da epidemia e da projeção anual da incidência da síndrome no país em questão. As hipóteses sobre migração internacional são estabelecidas com base em estimações passadas e na política adotada cada país em relação aos futuros fluxos de migração internacional. A Tabela 1 abaixo ilustra as hipóteses consideradas pela ONU em cada variante de projeção por componente demográfica.
Em conformidade com as recomendações da Organização das Nações Unidas, tanto o CELADE quanto o IBGE utilizam o método das componentes para elaborar suas projeções populacionais, diferindo daquele órgão na delineação das hipóteses para os níveis e padrões das componentes demográficas. A metodologia adotada pelo CELADE se aproxima sobremaneira daquela utilizada pela ONU, ao considerar variantes distintas na elaboração das hipóteses da evolução da fecundidade para a projeção das populações dos países da América Latina e do Caribe. Embora a mortalidade tenha sua importância enquanto componente demográfica, alterações em sua tendência resultam apenas em um aumento do contingente populacional na região em questão e pouco influenciam a composição etária dessa população. Cabe à fecundidade desempenhar o papel principal no processo, pois a redução dos níveis de fecundidade em uma população causa um declínio em seu crescimento e traz relevantes mudanças em sua estrutura. Portanto, há uma especial preocupação por parte do CELADE em atualizar de forma permanente as informações sobre fecundidade para cada um dos países para os quais produz projeções populacionais e utilizar diferentes hipóteses na extrapolação da tendência. Portanto, o CELADE desenvolveu três hipóteses de evolução da fecundidade para o período de 1950 a 2050; a hipótese média ou recomendada; a hipótese baixa e a hipótese alta, segundo os critérios estabelecidos pela Divisão de População das Nações Unidas. Para a hipótese média ou recomendada, considerou-se uma Taxa de Fecundidade Total alcançando o nível de reposição em algum momento antes do ano-final da projeção. Na hipótese baixa, a meta é uma Taxa de Fecundidade Total de 1,6 filho por mulher para países abaixo do nível de reposição; e para a hipótese alta, 2,6 filhos por mulher para países acima do nível de reposição.
FECUNDIDADE MORTALIDADEMIGRAÇÃO
INTERNACIONAL
BAIXA baixa normal normalMÉDIA média normal normalALTA alta normal normalFECUNIDADE CONSTANTE constante normal normalMORTALIDADE CONSTANTE média constante normalMIGRAÇÃO ZERO média normal zero
Fonte: ONU, Divisão de População. World Population Prospects 2004.
VARIANTES DE PROJEÇÃO
HIPÓTESES
TABELA 1VARIANTES DE PROJEÇÃO PARA AS COMPONENTES DEMOGRÁFICAS
FECUNDIDADE, MORTALIDADE E MIGRAÇÃO INTERNACIONAL
13
A evolução da fecundidade é realizada com base em dados provenientes dos registros de estatísticas vitais, levantamentos censitários e pesquisas específicas, em especial àquelas voltadas para a coleta tanto de informações demográficas quanto de saúde. Obtém-se, através dessas fontes, estimações diretas ou indiretas com base em perguntas retrospectivas como histórico de nascimentos, totais de filhos nascidos vivos e de filhos tidos nos últimos 12 meses por idade da mãe, ou em retroprojeções da população de crianças recenseadas. A exemplo da ONU, o CELADE disponibiliza em seu sítio na internet as projeções populacionais por país, segundo as hipóteses de evolução da fecundidade e a tábua de vida correspondente, revisando constantemente essas projeções conforme novos elementos são incorporados à base de dados. Segundo a Revisão 2004 da Metodologia e Resultados das Projeções da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período de 1980 a 2050, as projeções populacionais elaboradas pelo IBGE têm como população de partida aquela observada no Censo Demográfico de 1980, escolhida após uma conciliação entre os Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000. Nesse processo de conciliação entre os Censos, concluiu-se que a adoção da população observada no censo de 1980 fez com que o resultado projetado para o ano de 2000 atingisse valores muito próximos daqueles observados no censo, preservando ainda a coerência com sua estrutura etária. Apesar de adotar o modelo de projeção pelo método das componentes demográficas conforme as recomendações das Nações Unidas, o IBGE não considera variantes na elaboração das hipóteses para a fecundidade e sim hipóteses próprias para cada uma das componentes demográficas, ajustando a Taxa de Fecundidade Total pelo método logístico; a evolução da mortalidade vem de uma tábua de vida elaborada pelo próprio IBGE, em parceria com o CELADE; e a influência da migração foi avaliada através de estudos comparativos. Uma análise comparativa entre as projeções populacionais elaboradas pela ONU, pelo CELADE e pelo IBGE requer a limitação da área geográfica ao Brasil e o horizonte de projeção, ao período de 2000 a 2050, de forma a permitir a observação da influência das hipóteses de fecundidade, mortalidade e migração em seu resultado. Utilizaram-se as projeções populacionais elaboradas pelas Nações Unidas para o Brasil segundo as hipóteses das variantes baixa, média e alta da fecundidade. O CELADE considera as seguintes hipóteses nas projeções populacionais do Brasil: variante média da fecundidade, aumento na esperança de vida e migração nula. Cabe destacar aqui, para efeito de comparação, as hipóteses adotadas pelo IBGE na elaboração das projeções populacionais do Brasil: Fecundidade
Em um primeiro momento, aplicou-se diversas metodologias aos dados dos Censos Demográficos de 1960, 1970 e 1980, resultando em um primeiro conjunto de Taxas de Fecundidade Total. A partir da Taxa de Fecundidade Total estabelecida para o qüinqüênio 1975-1980 de 4,21 filhos por mulher, estimou-se um decréscimo na Taxa de Fecundidade Total para 2,91 filhos por mulher no final do século XX, atingindo um mínimo de 2,12 filhos por mulher em 2050. Com a incorporação das informações dos Censos Demográficos de 1991 e 2000 (2,89 e 2,38 filhos por mulher, respectivamente), procedeu-se a um novo ajuste das Taxas de Fecundidade Total, visando uma melhor reprodução da estrutura etária da população brasileira em 2000. Não obstante, alterou-se o nível da fecundidade limite para
14
1,85 filho por mulher, mantendo o padrão bastante jovem, como uma média dos padrões observados em países como Cuba (1990), Hungria (1991), Grécia (1984), Alemanha Oriental (1989), Bulgária (1993) e Eslovênia (1991); Mortalidade
Utilizou-se a tábua de vida elaborada pelo próprio IBGE, em parceria com o CELADE utilizando os dados censitários para os anos de 1980, 1991 e 2000, registrando um aumento na esperança de vida; Migração Internacional
Apesar do conhecimento de que um balanço negativo entre entradas no país e saídas para o exterior poderia afetar residualmente os efetivos populacionais projetados, considerou-se nulo o saldo migratório internacional, justificado pelas possíveis distorções na estrutura etária da população, produzidas pela combinação entre a saída de pessoas por emigração e o efeito da mortalidade nas idades mais avançadas. A comparação entre as projeções populacionais para o período de 2000 a 2050 segundo cada uma das fontes pode ser vista na Tabela 2 a seguir.
Nota-se que, tomando como base a projeção do IBGE, as menores diferenças observadas entre as projeções são em relação ao CELADE e à variante média das Nações Unidas, significando uma convergência entre essas projeções, o que seria esperado devido à semelhança nas hipóteses estabelecidas para as componentes demográficas. Cabe observar que a variante baixa das Nações Unidas projeta um decréscimo na população brasileira a partir de 2040. A evolução populacional segundo cada uma das fontes pesquisadas para o horizonte de projeção, em intervalos qüinqüenais, se encontra ilustrada no Gráfico 1 a seguir.
VARIANTE BAIXA VARIANTE MÉDIA VARIANTE ALTA
2000 171 279 882 174 719 024 173 858 000 173 858 000 173 858 0002005 184 184 264 187 600 886 186 405 000 186 405 000 186 405 0002010 196 834 086 199 991 561 196 546 000 198 497 000 200 436 0002015 208 468 035 211 284 163 204 232 000 209 401 000 214 549 0002020 219 077 729 221 450 331 209 952 000 219 192 000 228 391 0002025 228 873 717 230 516 095 214 407 000 227 930 000 241 425 0002030 237 737 676 238 326 479 217 160 000 235 505 000 253 993 0002035 245 323 136 244 671 005 217 925 000 241 726 000 266 247 0002040 251 418 006 249 758 355 216 953 000 246 766 000 278 366 0002045 256 198 374 253 548 869 214 354 000 250 571 000 290 116 0002050 259 769 964 256 159 659 210 188 000 253 105 000 301 352 000
Fonte: IBGE. Projeção da População do Brasil: 1980-2050. CELADE. Estimaciones e Proyecciones. Disponível em http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm ONU. World Population Prospects: The 2004 Revision Population Database. Disponível em http://esa.un.org/unpp/
TABELA 2COMPARAÇÃO ENTRE AS PROJEÇÕES POPULACIONAIS PARA O BRASIL, SEGUNDO DIVERSAS FONTES
BRASIL - 2000 A 2050
PROJEÇÃO POPULACIONAL SEGUNDO DIVERSAS FONTES
ANO CELADE
NAÇÕES UNIDAS
IBGE
15
GRÁFICO 1 EVOLUÇÃO POPULACIONAL SEGUNDO AS FONTES CONSULTADAS
Fontes: IBGE. Projeção da População do Brasil: 1980-2050. CELADE. Estimaciones e Proyecciones. Disponível em http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm ONU. World Population Prospects: The 2004 Revision Population Database. Disponível em http://esa.un.org/unpp/ O gráfico ilustra de forma mais evidente que as projeções do IBGE, do CELADE e da Variante Média das Nações Unidas parecem convergir ao longo do horizonte de projeção, enquanto que a projeção populacional da Variante Alta das Nações Unidas se destaca, atingindo um valor superior a 300 milhões de habitantes no ano 2050. A tabela 3 a seguir mostra o resultado das projeções populacionais por grupos etários segundo as diferentes fontes, para o ano de 2020. Observa-se, no gráfico acima, que este ano representa o instante temporal no qual as distintas tendências apontadas pelas variantes alta e baixa das Nações Unidas começam a se evidenciar.
150 000 000
170 000 000
190 000 000
210 000 000
230 000 000
250 000 000
270 000 000
290 000 000
310 000 000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
IBGE CELADE
NAÇÕES UNIDAS - VARIANTE BAIXA NAÇÕES UNIDAS - VARIANTE MÉDIA
NAÇÕES UNIDAS - VARIANTE ALTA
16
Observa-se que o impacto das variantes na fecundidade ocorre nas primeiras faixas etárias, onde a maior diferença entre a variante baixa e a variante alta das Nações Unidas se encontra na faixa etária de 0 a 4 anos (64%). Destaca-se ainda uma subenumeração da faixa de 20 a 24 anos na projeção elaborada pelo IBGE em relação às demais, que pode ser atribuída a sobremortalidade masculina por causas violentas, uma realidade brasileira que não passa despercebida pelo Instituto Oficial de Estatística deste país. Nota-se que as estruturas etárias das projeções populacionais segundo o IBGE, o CELADE e a Variante Média das Nações Unidas não apresentam diferenças significativas entre si, portanto optou-se por observar as estruturas etárias entre as variantes das Nações Unidas, através das pirâmides populacionais a seguir .
VARIANTE BAIXA VARIANTE MÉDIA VARIANTE ALTA
TOTAL 219 077 729 221 450 331 209 952 000 219 192 000 228 391 000
0 - 4 17 086 317 17 049 424 12 798 000 16 883 000 20 948 000 5 - 9 17 546 762 17 509 804 14 141 000 17 356 000 20 561 00010 - 14 18 079 105 18 022 283 15 940 000 17 880 000 19 809 00015 - 19 17 824 627 17 980 806 17 836 000 17 836 000 17 836 00020 - 24 16 825 056 17 229 888 17 076 000 17 076 000 17 076 00025 - 29 16 201 254 16 369 390 16 200 000 16 200 000 16 200 00030 - 34 16 980 999 17 032 708 16 836 000 16 836 000 16 836 00035 - 39 17 311 112 17 504 780 17 254 000 17 254 000 17 254 00040 - 44 15 213 816 15 763 379 15 485 000 15 485 000 15 485 00045 - 49 13 514 571 13 751 892 13 458 000 13 458 000 13 458 00050 - 54 12 645 294 12 573 234 12 306 000 12 306 000 12 306 00055 - 59 11 527 015 11 650 763 11 441 000 11 441 000 11 441 00060 - 64 9 197 062 9 375 019 9 246 000 9 246 000 9 246 00065 - 69 6 904 332 7 274 768 7 203 000 7 203 000 7 203 00070 - 74 4 910 943 5 151 469 5 119 000 5 119 000 5 119 00075 - 79 3 303 935 3 365 216 3 349 000 3 349 000 3 349 00080 E MAIS 4 005 529 3 845 508 4 264 000 4 264 000 4 264 000
Fonte: IBGE. Projeção da População do Brasil: 1980-2050. CELADE. Estimaciones e Proyecciones. Disponível em http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm ONU. World Population Prospects: The 2004 Revision Population Database. Disponível em http://esa.un.org/unpp/
PROJEÇÃO POPULACIONAL PARA O ANO 2020
GRUPOS ETÁRIOS
NAÇÕES UNIDAS
IBGE CELADE
TABELA 3COMPARAÇÃO ENTRE AS PROJEÇÕES POPULACIONAIS PARA O BRASIL,
POR TOTAL DA POPULAÇÃO E GRUPOS ETÁRIOS, SEGUNDO DIVERSAS FONTESBRASIL - 2020
17
ESTRUTURA ETÁRIA POR SEXO DA POPULAÇÃO PROJETADA SEGUNDO AS NAÇÕES UNIDASBRASIL - 2020
Fonte: ONU. World Population Prospects: The 2004 Revision Population Database. Disponível em http://esa.un.org/unpp/
VARIANTE BAIXA
15000 10000 5000 0 5000 10000 15000
0 a 4
10 a 14
20 a 24
30 a 34
40 a 44
50 a 54
60 a 64
70 a 74
80 ou mais
HOMENS MULHERES
VARIANTE MÉDIA
15000 10000 5000 0 5000 10000 15000
0 a 4
10 a 14
20 a 24
30 a 34
40 a 44
50 a 54
60 a 64
70 a 74
80 ou mais
HOMENS MULHERES
VARIANTE ALTA
15000 10000 5000 0 5000 10000 15000
0 a 4
10 a 14
20 a 24
30 a 34
40 a 44
50 a 54
60 a 64
70 a 74
80 ou mais
HOMENS MULHERES
18
Através das pirâmides elaboradas a partir das projeções populacionais conforme as variantes utilizadas pelas Nações Unidas, pode-se perceber com maior clareza o efeito de cada variante na estrutura etária da população. Conforme a hipótese de fecundidade a base da pirâmide vai se modificando: se esta se encontra abaixo do nível de reposição, a base sofre uma retração; se a fecundidade está em declínio porém acima do nível de reposição, essa retração é menor; e uma alta fecundidade faz com que a base da pirâmide se expanda, demonstrando que a maior parte da população se encontra nas faixas etárias mais jovens.
5. Projeções populacionais para pequenas áreas: métodos e comparações Há tempos, o crescimento populacional e as mudanças demográficas têm sido motivo de preocupação para o mundo devido às suas conseqüências econômica, social, política e ambiental. Existe a necessidade de se conhecer quais são as perspectivas para futuro, para assim serem tomadas medidas adequadas de planejamento. Por este motivo, muitos países, organizações internacionais, governamentais e até mesmo empresas privadas tornaram a técnica de projeções populacionais uma ferramenta de atividade sistemática e institucionalizada. Segundo as convenções demográficas, projeção populacional é o resultado numérico de um conjunto específico de hipóteses consideradas para tendências futuras da população (Smith, Tayman & Swason, 2001:3). Ou seja, as projeções populacionais mostram o que uma população seria se determinada hipótese ocorresse. Neste contexto, a construção de cenários demográficos se torna um instrumento importante de planejamento, onde serão elaboradas projeções com base em fatos históricos, unido às experiências pelas quais as populações têm passado atualmente e ainda simulações das possíveis tendências da dinâmica demográfica. Um método de projeção tradicional é o Método das Componentes. Este faz uma projeção separadamente para o número de homens e mulheres em cada grupo etário, além disso são possíveis muitas aplicações teóricas do mesmo, pois ele permite o cálculo de variações na estrutura etária da população, resultantes de uma combinação de hipóteses em relação à estrutura etária, à mortalidade, à fecundidade e à migração, considerando que a tendência de crescimento total da população segue um ritmo regular e que as características importantes da composição social e econômica do futuro serão iguais às do passado, ou serão resultado de evolução gradual. Infelizmente, nos deparamos com um problema em relação aos dados estatísticos, que muitas vezes não são detalhados ou precisos o suficiente para que sejam formuladas hipóteses relacionadas a cada componente. Isto causa um obstáculo na aplicação do método das componentes para gerar projeções adequadas. Uma maior consistência no método ocorre quando são feitas hipóteses plausíveis a respeito de cada setor da população, reduzindo bastante o risco de erro no resultado final. Com isso, é possível obter informações úteis quanto às esperadas variações futuras na composição da população. Então, para que a técnica seja aplicada adequadamente é preciso incorporar informações sobre tendências da mortalidade, fecundidade e migração. As variáveis demográficas interagem seguindo a coorte de pessoas ao longo do tempo. Para isto, é necessário obter estimativas dos níveis e padrões de cada uma destas componentes.
19
Quando partimos para o estudo de áreas menores temos que pensar em vários aspectos que englobam os setores públicos e privados. O planejamento de escolas, hospitais, centros comerciais, desenvolvimento de casas, estradas e outros inúmeros projetos, por exemplo, são fortemente afetados pelas perspectivas de crescimento populacional. Sendo assim, as projeções populacionais para pequenas áreas como Unidades da Federação, municípios, bairros etc, vêm se destacando como objeto de estudo de pesquisadores na área de Demografia com o objetivo de fornecer subsídios para projetos e atividades demandados, segundo Jannuzzi, por Prefeituras, concessionárias de serviços de energia, água, saneamento, telefonia, empresas de transportes urbanos, consultorias em planejamento urbano e regional, universidades e empresas do ramo imobiliário e construção civil.
“Em grandes centros urbanos, a definição sobre volume e espacialização dos investimentos em infra-estrutura de serviços urbanos, como a expansão da rede de abastecimento de água e esgotos, da rede de energia elétrica e pavimentação, a decisão sobre a localização de novas escolas e postos de saúde, o planejamento da oferta e roteiro das linhas de ônibus e dos serviços de coleta de lixo são algumas das atividades do planejamento e gestão urbana que requerem um conhecimento circunstanciado da dinâmica de crescimento (ou decrescimento) das distintas zonas, bairros e distritos dos municípios” (Januzzi; 2005:1).
Existem diversas técnicas para a elaboração de projeções de pequenas áreas. Atualmente, os métodos mais conhecidos são: Métodos de extrapolação de funções matemáticas; Modelos de repartição e correlação com base e variáveis sintomáticas; AiBi; Parâmetros demográficos para pequenas áreas; Relação de coortes de Duchesne e o modelo dinämico de projeção ProjPeq. O método de extrapolação de função matemática se baseia na observação contínua de tendências históricas, característica marcante deste método. Por isso, o método se torna limitado se nos depararmos com um tempo de transição, pois as quebras de tendências verificadas ficam incompatíveis com o pressuposto de que se mantém a tendência observada no passado. Normalmente é usado para projetar população total, mas também pode ser usado para projetar um subgrupo populacional ou uma componente de crescimento populacional. Ele se torna útil quando as tendências futuras reproduzem as passadas e quando não há muita informação disponível. O quadro 1 ilustra o cálculo segundo o tipo de função matemática.
QUADRO 1
Métodos de extrapolação de funções matemáticas
População Total
Linear P t+10 = P t + (P t - P t-10)
Geométrica P t+10 = P t * (1 + ((P t / P t-10) 1/10 - 1) 10)
Logística P t+10 = logística (P t, P t-10, P t-20)
Proporção da População (desde que haja projeção para área maior)
Linear ppt+10 = ppt + (ppt - ppt-10)
Geométrica ppt+10 = ppt * (1 + ((ppt / ppt-10) 1/10 - 1) 10)
Logística ppt+10 = logística (ppt , ppt-10, ppt-20)
20
O modelo de repartição e correlação baseado em variáveis sintomáticas gera estimativas populacionais utilizando a variação ou tendência anterior observada de uma variável sintomática - nascimentos, óbitos, matrículas na rede de ensino, eleitores -, aplicando uma correção ou fator de ajuste. Segundo Jardim (2000) , a vantagem de utilização das estimativas populacionais, quando comparadas com os métodos convencionais de projeção, é o fato de se poder detectar mudanças no movimento populacional entre um Censo e outro, através de informações que podem ser consideradas como sinalizadoras da tendência diferenciada do crescimento das regiões especificadas. Para aplicação deste modelo é necessário dispor da população para uma área maior e de uma série histórica para variável sintomática. O cálculo é dado a seguir (quadro 2): O AiBi é um método de tendência de crescimento demográfico que tem como princípio fundamental, a subdivisão de uma área maior, cuja estimativa já se conhece, em n áreas menores de tal forma que seja assegurada ao final das estimativas das áreas menores a reprodução da estimativa, previamente conhecida, da área maior através da soma das estimativas das áreas menores (Madeira e Simões, 1972). É necessária uma projeção pelo método das componentes para a área maior. O ideal é que o modelo não seja utilizado para projeções muito longas, pois pode acontecer uma sobrestimação de crescimento ou de queda. Para municípios, por exemplo, manter as projeções por cinco anos é o suficiente. Deve-se tomar cuidado ao eleger as partes maiores e menores e verificar se as partes pertencem à mesma malha cartográfica. Este método é utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para projetar a população das Grandes Regiões, Unidades da Federação e Municípios a partir da projeção para o Brasil. Seu cálculo é ilustrado a seguir (quadro 3): O método de parâmetros demográficos proporcionais para pequenas áreas é uma adaptação do método das componentes e tem como referência a população projetada para uma área maior. Então, através de uma padronização indireta, estimam-se o total de nascimentos e óbitos para cada uma das áreas menores e, em seguida, são calculadas as taxas líquidas de migração para os municípios. Com base nestes indicadores, faz -se um ajuste das hipóteses de fecundidade, mortalidade e migração da área maior para cada uma das áreas menores,
QUADRO 2
Modelo de repartição e correlação baseado em variáveis sintomáticas
População Total
Pt+10 = Pt * (VS t / VSt-10) * Fa, onde:
Fa = PAM t+10 / Σ (P t * (VS t /VS t-10)); e
VS = variável sintomática
QUADRO 3
Modelo AiBi
P t+10 = P t + (P t - P t-10) / (PAM t - PAM t-10) * (PAM t+10 /PAM t)
21
procedendo-se o método das componentes. Este modelo é utilizado pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) no cálculo das projeções municipais para o Estado de São Paulo (Waldvogel e Capassi 2002). A relação de coortes de Duchesne segue uma lógica demográfica já que é feita uma análise de coortes. Por exemplo: uma coorte não pode dobrar de tamanho quando a força que nela atua é de mortalidade, a não ser que haja uma forte convicção de que ocorrerá alta migração de pessoas pertencentes àquela faixa etária. Então, a partir de uma projeção para a área maior, são calculadas as taxas de crescimento das coortes dessa área maior e aplica-se essa razão, para cada área menor, sobre a população da coorte anterior multiplicada por um fator K, diferencial para cada pequena área, através de levantamentos censitários anteriores (quadro 4).
O modelo dinämico ProjPeq, corresponde a um sistema de equações diferenciais usado em dinâmica populacional de espécies competitivas em Ecologia, um caso específico do modelo mais geral proposto por Lotka em seu estudo seminal sobre Teoria Analítica sobre Populações (Jannuzzi 2005). Na adaptação do modelo geral de Lotka para representar a dinâmica demográfica de pequenas populações inseridas em uma região, as populações das pequenas áreas representam as “espécies”, e a região o habitat, com seus recursos limitados de espaço físico, imóveis, vias públicas, empregos, etc. Assim, a taxa de crescimento populacional de cada bairro, município, microrregião dependerá da sua respectiva taxa de crescimento vegetativo (um função do coeficiente ci ) e de seu grau de atratividade migratória ou residencial (um função do coeficiente di). A resolução recursiva do sistema requer, como um dos insumos, a trajetória dos níveis de natalidade e mortalidade em cada pequena área no horizonte de projeção. A disponibilidade de séries históricas de razoável extensão desses indicadores é, pois, um requerimento para garantir qualidade preditiva do modelo. A solução por algoritmo recursivo requer também um valor inicial para os coeficientes de atratividade residencial, que podem ser estimados a partir do comportamento demográfico na década anterior e da relação dos mesmos com os fatores físico-territoriais mencionados (quadro 5).
QUADRO 4
Modelo de Relação de Coortes de Duchesne
Taxas de crescimento das coortes da área maior:
10CRxt,t+10 = 10Rx+10
t+10 / 10Rxt
Fator K (calculado em Censos anteriores):
10Kx = (10Px+10t / 10Px
t-10)/(10Rx+10t / 10Rx
t-10)
Para cada área menor, aplica-se essa razão sobre a população da coorte anterior, multiplicada
pelo fator K, diferencial para cada pequena área
10Px+10t+10 = 10Kx * 10CRx
t,t+10 * 10Pxt
22
QUADRO 5 Modelo dinämico de equações diferenciais da dinâmica populacional
(dP 1 / dt) = c1 P 1 (t) + d 1 P 1 (t) T(t) (dP 2 /dt) = c2 P 2 (t) + d 2 P 2 (t) T(t) ....... (dP n /dt) = cn P n (t) + d n P n (t) T(t) sujeito a condição de contorno ∑ P i (t) = T(t) i=1..n Onde T(t) : total populacional da região ou grande área no ano t Pi (t) : população da pequena área no ano t ci : fator relacionado à taxa de crescimento vegetativo da população da peq área i di : fator relacionado à atratividade residencial da pequena área i
Cada método de projeção tem suas aplicações, vantagens e limitações. Nem sempre um modelo mais sofisticado pode produzir estimativas melhores, já que pode demandar informações cuja confiabilidade é baixa ou hipóteses de comportamento futuro difíceis de antever. Assim, a escolha da técnica mais adequada para se obter essas estimativas deve se pauta pela disponibilidade de dados adicionais e pelas hipóteses que se faz acerca da dinâmica populacional das pequeníssimas áreas. Em situações em que se dispõe apenas de totais populacionais para as pequeníssimas áreas e em que se imagina que a dinâmica populacional futura está fortemente condiciona pela evolução tendencial passada, o emprego da técnica AiBi parece a mais apropriada.
Para ilustrar as diferenças de estimativas populacionais produzidas para 2004 por
diferentes métodos, apresenta-se em seguida uma comparação entre as projeções elaboradas pelo AiBi, produzidas pelo IBGE e as desenvolvidas no Cenário Tendencial do trabalho que subsidiou o Plano Plurianual Brasileiro para 2004-2007, em que se utilizou um modelo de projeção integrado (método das componentes para Brasil; repartição de coortes por Eixo Nacional de Desenvolvimento; ProjPeq para microrregiões e repartição proporcional para municípios).
TABELA 4
DISTRIBUIÇÃO DAS DIFERENÇAS RELATIVAS DAS PROJEÇÕES MUNICIPAIS ELABORADAS PELO AiBi E PROJPEQ
BRASIL 2004
Intervalo de classe Num % < -10 % 144 2,6 -5 a 10% 581 10,4 -2 a -5% 723 13,0 -1 a -2% 1205 21,7 0 a -1% 1086 19,5 0 a 1% 656 11,8 1 a 2% 350 6,3 2 a 5% 437 7,9
5 a 10 % 212 3,8 > 10% 166 3,0
23
Total 5560 100,0 Como mostram os resultados da comparação das projeções municipais realizadas
pelas duas técnicas guardam grande proximidade (tabela 4). Em geral, as projeções pelo ProjPeq tendem a apresentar estimativas um pouco maiores, decorrentes do total populacional para Brasil ser um pouco maior que a adotada nas projeções municipais do IBGE. Em cerca de 60% dos municípios dos 5560 usados na comparação, as estimativas dos dois métodos estão no intervalo de -2 a 2%. Se o intervalo de classe das diferenças for de -5 a 5 %, estariam incluídos cerca de 80% dos municípios. Esta proximidade entre os dois métodos justifica-se pelo fato de se estar comparando projeções tendenciais nos dois modelos. A proximidade destas estimativas parecem ainda maiores nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, para os quais a qualidade das estatísticas vitais deve ter contribuido para maior confiabilidade nas estimativas dos parâmetros do modelo ProjPeq. Nos estados do Nordeste e Centro-Oeste as diferençass relativas e absolutas parecem mais expressivas, em parte possivelmente pela dificuldade de estimação mais precisa dos parâmetros de crescimento vegetativo e atratividade migratória microrregião do ProjPeq (Tabela 5).
TABELA 5
COMPARAÇÃO ENTRE AS PROJEÇÕES MUNICIPAIS ELABORADAS PELO AiBi E PROJPEQ BRASIL 2004
UF (Sigla)
U.F. (Cód)
Diferença média
(ProjPeq-AiBi)
Diferença média dos módulos
Diferença média
relativa (%)
Diferença média
relativa dos módulos (%)
RO 11 -1436 1936 -5,4 9,0 AC 12 1341 1732 6,4 11,0 AM 13 153 911 2,7 5,2 RR 14 548 803 8,0 9,7 PA 15 145 2741 2,1 6,1 AP 16 1839 1863 4,7 5,4 TO 17 203 363 2,8 4,9 MA 21 -291 935 -0,5 4,4 PI 22 -125 240 -0,4 2,3 CE 23 -611 663 -1,2 1,5 RN 24 -248 287 -1,2 1,9 PB 25 -182 380 -0,5 3,7 PE 26 -584 687 -0,9 1,5 AL 27 -325 620 0,3 3,5 SE 28 -175 232 -0,8 1,2 BA 29 -104 525 0,6 2,5 MG 31 -338 433 -0,7 2,1 ES 32 -772 815 -1,6 1,9 RJ 33 -2840 2873 -1,7 1,9 SP 35 -985 1026 -1,1 1,8 PR 41 -275 492 0,3 2,9 SC 42 -322 467 -0,6 2,5 RS 43 -395 486 -0,6 2,5 MS 50 -4892 6869 -5,7 37,2 MT 51 -2507 4345 -0,9 25,2 GO 52 -1283 2433 -0,1 14,8 DF 53 -29817 29817 1,3 1,3 Geral -391 696 -0,23 2,86
24
DIFERENÇA MÉDIA RELATIVA DAS PROJEÇÕES DAS POPULAÇÕES MUNICIPAIS - 2004PROJPEQ X AiBi
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000
Código dos municípios
5. Conclusões Finais O futuro faz referência a um período de tempo que ainda está por vir, que é apenas uma perspectiva a ser realizada quando o tempo futuro se tornar tempo presente. Desta forma, o estudo do futuro é, na verdade, o estudo de idéias e conjeturas a respeito do futuro, com base nas experiências do passado e do presente. A percepção do futuro leva a sociedade a planejar suas ações e atitudes, e esse planejamento se torna mais complexo de acordo com quão distante esse futuro percebido se encontra do momento presente. O que se deseja, então, é que a imagem projetada do futuro seja o mais próxima possível de sua imagem real. Para o planejamento do futuro, utilizam-se as projeções demográficas, uma combinação das características e tendências das dimensões da dinâmica populacional no tempo e no espaço, que resultam em uma projeção do contingente populacional. A demanda por projeções demográficas apresenta grande diversidade não somente em termos de usuários - instituições governamentais ou não - como também em relação ao tempo e espaço, conforme o fim a que se destinam. Entre tantas demandas, destacam-se aquelas ligadas às políticas sociais, que permitem aos órgãos responsáveis a identificação e detecção das transformações demográficas que se relacionam com as condições de vida da população. Com a projeção da população para uma determinada área geográfica e em um ponto qualquer no futuro, considerada a viabilidade dos pressupostos estabelecidos para seu cálculo, estabelece-se uma referência para o planejamento de políticas públicas. Utilizam-se ainda as projeções populacionais como uma indicação de possíveis cenários futuros, através de diferentes combinações de pressupostos; e para a promoção de agendas, planos de ação governamentais ou mesmo a emissão de alertas, ilustrando quais seriam os acontecimentos futuros mediante a adoção ou não de determinada medida política ou econômica.
25
Face ao exposto, considera-se fundamental para a elaboração de projeções populacionais uma análise cuidadosa tanto do cenário passado e do cenário presente quanto do cenário futuro da população em questão. É importante ressaltar que estudar o futuro requer estudar a inter-relação entre os fenômenos culturais, demográficos, econômicos, sociais e políticos, analisando as influências mútuas. Da mesma forma, elaborar projeções populacionais envolve o entendimento da dinâmica dos processos de mudanças demográficas, científico-tecnológicas, econômicas, culturais, sociais e políticas. Portanto, uma análise abrangente e interdisciplinar permite tornar as projeções populacionais um instrumento tão preciso quanto o necessário para subsidiar o planejamento de ações de uma sociedade. Bibliografia AHLBURG, D. A. & LUTZ, W. Introduction: the need to rethink approaches to population forecasts. In: LUTZ et al. (1999). Frontiers of Population Forecasting, New York: Population Council, 1999, p. 1-14 (suplemento de Population and Development Review n.24, 1998). ALVES, José E.D. A polêmica Malthus versus Condorcet reavaliada a luz da transição demográfica. Rio de Janeiro: ENCE , 2002 (Texto para discussão nº 4). BERQUÓ, Elza e CAVENAGHI, Suzana. Increasing Adolescent and Youth Fertility in Brazil: a new trens or a one-time event?, (paper apresentado no Encontro Anual da Population Association of America), Filadélfia, março-abril, 2005. CELADE. Estimaciones Y Proyecciones. Disponível em http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm CEPAL/CELADE. Boletín Demográfico No. 68. América Latina: Fecundidad 1950-2050. Santiago de Chile, 2001. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Ilustrado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977. IBGE. Projeção da População do Brasil: 1980-2050. IBGE. Revisão 2004 da Metodologia e Resultados das Projeções da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período de 1980 a 2050. Rio de Janeiro, 2004. IPARDES. Paraná – projeção das populações municipais 2000-2010. Curitiba, 2000; JANNUZZI, Paulo Martino. As novas e velhas demandas por informação estatística. São Paulo: SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 2005. JANNUZZI,P. M. Projeções populacionais para pequenas áreas: método e aplicações. Rio de Janeiro: ENCE, 2005 (mimeo).
26
JARDIM, M. L. T. Metodologias de Estimativas e Projeções Populacionais para Áreas Menores: A Experiência do Rio Grande do Sul. In: Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 12., Caxambu. Anais... Caxambu: ABEP. 1CD. 2000. LONGMAN Dictionary of Contemporary English. Third Edition. Harlow, England: Longman Dictionaries. 2001. MARINHO, D. N. C. & QUIRINO, T. R. Considerações sobre o estudo do futuro. Sociedade e Estado, Brasília, 10(1): 13:47, 1995. OLIVEIRA, J.C.; FERNADES, F. Metodologia e considerações acerca da população do Brasil: 1980-2020. Rio de Janeiro: IBGE, 1996 (Texto para discussão nº 93). OLIVEIRA, J; FERNANDES, F. Metodologia e considerações acerca da projeção de população no Brasil: 1980-2020. São Paulo em Perspectiva. São Paulo: Fundação SEADE, v. 10, ano 2, p. 116-123, abr./jun. 1996. Tendências Demográficas: reestruturação produtiva. O'NEILL, B; BALK, D; BRICKMAN, M; EZRA. M. A guide to global population projections. In: Demographic research, vol. 4, art. 8, 13 June 2001, p. 203-288. PATARRA, N. Projeções demográficas : velhos desafios e novas necessidades.São Paulo: SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 10 (2):12-17, 1996. RIOS-NETO, Eduardo L. G. Questões emergentes na demografia brasileira. Belo Horizonte: UFMF, 2005 (Texto para discussão nº 276). SMITH, S.K. et al. State and local population projections: methodology and analysis. New York: Kluwer, 2001, capítulos 1 e 2. UNITED NATIONS POPULATION DIVISION. World Population Prospects: The 2004 Revision. New York, 2004. Disponível em http://esa.un.org/unpp WALDVOGEL, B. & CAPASSI, R. Projeção populacional como instrumento de planejamento regional: O caso do Estado de São Paulo. IX Encontro de Estudos Populacionais da ABEP., 2002.