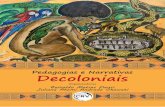PLLG0853-T.pdf - Repositório Institucional da UFSC
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of PLLG0853-T.pdf - Repositório Institucional da UFSC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA
Narjara Oliveira Reis
COMO DAR CERTO EM PORTUGUÊS? A EXPERIÊNCIA DE MÃES IMIGRANTES
APRENDIZES DE PORTUGUÊS EM FLORIANÓPOLIS
Florianópolis
2021
Narjara Oliveira Reis
COMO DAR CERTO EM PORTUGUÊS? A EXPERIÊNCIA DE MÃES IMIGRANTES
APRENDIZES DE PORTUGUÊS EM FLORIANÓPOLIS
Tese submetida ao Programa de Pós-graduação em
Linguística da Universidade Federal de Santa
Catarina para obtenção do título de Doutora em
Linguística.
Orientadora: Profa. Maria Inêz Probst Lucena, Dra.
Coorientador: Prof. Carlos Maroto Guerola, Dr.
Florianópolis
2021
Narjara Oliveira Reis
Como dar certo em português? A experiência de mães imigrantes aprendizes de
português em Florianópolis
O presente trabalho em nível de doutorado foi avaliado e aprovado por banca
examinadora composta pelos seguintes membros:
Profa. Glenda Cristina Valim de Melo, Dra.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Prof. Denilson Lima Santos, Dr.
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira
Profa. Cristine Görski Severo, Dra.
Universidade Federal de Santa Catarina
Prof. Daniel do Nascimento e Silva, Dr.
Universidade Federal de Santa Catarina
Certificamos que esta é a versão original e final do trabalho de conclusão que foi
julgado adequado para obtenção do título de doutora em Linguística pelo Programa de Pós-
Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina.
____________________________
Prof. Valter Pereira Romano, Dr.
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Linguística
____________________________
Profa. Maria Inêz Probst Lucena, Dra.
Orientadora
Florianópolis, 2021
Dedico este trabalho a todas as Claitaines do mundo,
mulheres que se veem compulsoriamente apartadas de
seus filhos em busca de oportunidades de trabalho a
quilômetros de distância de casa sem nenhuma garantia.
AGRADECIMENTOS
Agradeço à Universidade Federal de Santa Catarina, instituição que me permitiu a
realização desta pesquisa;
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pela
bolsa de estudos concedida durante o doutorado, contemplando o período de licença
maternidade e os cinco meses de prorrogação referentes à pandemia do Coronavírus;
Ao Programa de Pós-Graduação em Linguística, que me acolheu enquanto doutoranda
mãe em todos os meus direitos, nas pessoas de meus/minhas professores/professoras e dos/as
secretários/as, coordenadores/as e vice-coordenadores/as do programa;
Aos meus orientadores, Prof.ª Dr.a Maria Inêz Probst Lucena e Prof. Dr. Carlos Maroto
Guerola que, paciente e incansavelmente, conduziram, de modo comprometido e próximo, o
processo de orientação, sempre privilegiando o rigor dos procedimentos etnográficos, a
fidelidade à perspectiva dos participantes da pesquisa e a ética no tratamento analítico dos dados
gerados em campo. Com eles, fui levada a ir muito além do que me imaginava capaz;
Aos membros da banca de qualificação, Prof.a Dr.a Glenda Cristina Valim de Melo e
Prof.a Dr.a Cristine Görski Severo, pelas valiosas contribuições ao trabalho;
Aos membros da banca de defesa, Prof.a Dr.a Glenda Cristina Valim de Melo, Prof.a
Dr.a Cristine Görski Severo, Prof. Dr. Denilson de Lima Santos e Prof. Dr. Daniel do
Nascimento e Silva, pelos encaminhamentos sugeridos às reflexões gestadas na tese.
Ao querido Prof. Dr. Daniel do Nascimento e Silva pela coordenação da experiência
de estágio de docência, pelo exemplo de força, de luta, de serenidade, de altíssima qualificação,
de humildade e de grande professor que é, ensinando-me que o papel do professor é também
afetivo, ao contribuir para que o aluno acredite em si mesmo e caminhe sempre mais;
Ao querido Prof. Dr. Sinfree Makoni, pela possibilidade de interlocução, pelo seu
interesse e entusiasmo com que me sugeriu olhares possíveis para esta pesquisa.
Aos meus colegas de doutorado: Cristian (Cristian Goulart), Dani (Danielle Sousa),
Helô (Heloísa Tramontim), Ana (Elterman), Renata (Ferreira) Carol (Caroline Rodrigues), Lu
(Luiziane Rosa), Aninha (Ana Paula), Ana (Gil), Éderson, Kamilla, Mari (Belando) e vários
outros que me apoiaram mais ou menos diretamente na realização deste projeto, em especial, à
Tayse Marques, que, para além de uma colega, tornou-se uma grande amiga;
Às alunas participantes da pesquisa, Claitaine, Neli, Marlene e Rosario, que
gentilmente aceitaram a proposta, e com as quais tenho aprendido a ser uma pessoa mais forte;
Às participantes voluntárias do Curso de português para mães imigrantes, que se
dispuseram a estar com as crianças realizando atividades aos sábados pela manhã;
Aos funcionários do CRAI-SC e aos voluntários da ONG OPR, por todo o apoio;
Às professoras Dr.a Rosane Silveira e Dr.a Donesca Cristina Puntel Xhafaj,
coordenadoras do projeto PLAM-UFSC, à Laura Viana, à Ana Flávia Marcelino e à Janaína
Santos, pelo apoio ao projeto e por todo o engajamento com os imigrantes em Florianópolis;
À Prof.a Dr.a Cristiane Lazzaroto-Volcão e à amiga de barriga Ania, pela doação de
brinquedos e livros para o espaço destinado às crianças.
A Helena de Sturdze e o Caio Martins, pelas oportunidades de interlocução e atuação
no âmbito do projeto de extensão “Conhecendo a nossa língua: português para estrangeiros” no
IFSC-Florianópolis;
Aos meus pais, que têm sido uma base firme, a partir da qual tenho me mantido em pé
ao longo de todo esse período;
Ao meu marido, pelo paizão que é para Ísis, por todo o apoio;
À Ísis, minha filha, que tem me proporcionado os maiores e melhores desafios da vida,
por ter conseguido suportar com maturidade todas as minhas ausências, enchendo-me de
orgulho, ao projetar ser “estudora” quando crescer;
Aos meus sogros, que ficaram muitos sábados cuidando de Ísis, do almoço, da casa,
para que eu pudesse estar com outras mães ensinando a língua portuguesa ou escrevendo a tese;
Ao querido Prof. Dr. Vidomar Silva Filho, pela parceria e toda a expertise empregada
na leitura e revisão do texto;
Às professoras de Ísis: Amanda, Elizabeth, Marta, Keyla e Camila que, mesmo sem
estarem vacinadas, foram trabalhar durante a pandemia, permitindo que eu e outras/os mães e
pais pudéssemos trabalhar;
Ao Augusto e à Du, pelo carinho e cuidado com que cuidaram de Ísis, para que eu
pudesse me dedicar a este trabalho;
À minha irmã e minhas sobrinhas que sempre acreditaram em mim;
Ao meu cunhado, tio Tuxo (Tiê Pereira), que embalou com bastante jazz os caminhos
desta tese, fazendo muitos almoços, ficando com Ísis e não se importando com a luz acesa
durante a madrugada, facilitando os caminhos quando pôde, para que eu pudesse me dedicar a
esta tese;
À Ana Borges, minha psicóloga, por ter me feito acreditar que eu era capaz de trilhar
este caminho, a despeito de todas as minhas inseguranças;
Às famílias Perez, com Alli, André e Amelie, e Lucena, com Marcela, Daniel, Bia e
Marina, que nos têm lembrado de celebrar as pequenas alegrias da vida;
À Ju e Fê, que tanto amor e carinho destinaram a Ísis, pela amizade;
A tantas outras pessoas que me auxiliaram durante todo este período com palavras ou
gestos de apoio.
RESUMO
Com vistas a compreender de que modo o ensino de língua portuguesa pode ir ao encontro de
necessidades e projetos pautados por mulheres-mães-imigrantes, realizei uma investigação
etnográfica como observadora-participante em um curso de português para esse público. Com
base em pressupostos teórico-metodológicos da etnografia da linguagem (ERICKSON, 1990;
LUCENA, 2015; GARCEZ; SCHULZ, 2015; HELLER; PIETKAINEN; PUJOLAR, 2018),
foram privilegiados os significados construídos pelas participantes da pesquisa para suas ações,
levando em conta as relações entre o micro e o macrocontexto da pesquisa que permearam o
campo. Para a geração de dados, foram utilizadas áudio-gravações dos encontros e um diário
de campo. As análises apontam (1) para a necessidade de desenvolver práticas de linguagem de
enfrentamento em um contexto migratório de hospitalidade seletiva; (2) para as urgências e
esperas das alunas que configuram necessidades de aprendizagem específicas em seus projetos
diaspóricos; (3) para a importância da contestação de discursos racistas cristalizados no
imaginário social, que ferem sujeitos/grupos; (4) para a busca por legitimidade de falantes, a
partir do conhecimento recursos linguísticos da língua portuguesa que possibilitem o acesso a
melhores condições de trabalho e de estudo para essas mulheres e seus filhos. A interpretação
dos dados gerados seguiu preceitos da Linguística Aplicada Indisciplinar (MOITA LOPES,
2006), que preconiza a articulação teórica com outras disciplinas para melhor compreender
aspectos sociais implicados no uso da linguagem. O olhar interpretativo se construiu ao longo
da pesquisa em atenção (1) às experiências diaspóricas das alunas como projetos singulares de
negociação de sentidos e identidades (HALL, 2003; 2006); (2) às suas buscas por legitimidade
de falantes em contextos regulamentados de práticas linguísticas no novo contexto
(SIGNORINI, 2002; 2006); (3) às esferas discursivas para as quais pretendem orientar seus
intuitos discursivos (BAKHTIN, 2003; 2010); (4) às posições sociais interseccionadas que
produzem imagens de controle (COLLINS, 2019) que interferem na busca por legitimidade de
falantes em contextos de hospitalidade seletiva. A análise e interpretação das experiências
diaspóricas dessas mães-imigrantes aprendizes de português mostra a complexidade do
deslocamento geográfico, que também é um deslocamento de sentidos. As necessidades e os
projetos enfocados na pesquisa demandam o domínio de gêneros discursivos para esferas de
atividades específicas, como a do trabalho, da escola, da universidade e outras que se modificam
rapidamente, de acordo com as demandas, as urgências e as esperas que se colocam em suas
vidas. No tocante ao ensino de Português como Língua Adicional (PLA), esta investigação
aponta para a importância de priorizarmos o olhar para a indissociabilidade da língua na vida
dos sujeitos aprendentes, levando em conta necessidades e projetos reais em planejamentos
curriculares de cursos de português para mães imigrantes em contextos similares. Tomando
distância de perspectivas assimilacionistas, esta investigação importa, ainda, para a reflexão
sobre o conceito de português como língua de acolhimento (PLAc), considerando a importância
política do conceito, mas questionando a hospitalidade seletiva do contexto migratório
brasileiro.
Palavras-chave: 1. Etnografia da linguagem 2. Mães imigrantes 3. Português como Língua
Adicional 4. Português como Língua de Acolhimento
ABSTRACT
In order to understand how Portuguese language teaching can meet the needs and projects of
immigrant mothers, I conducted an ethnographic research as a participant observer in a
Portuguese language course for this audience. Based on theoretical and methodological
assumptions of language ethnography (ERICKSON, 1990; LUCENA, 2015; GARCEZ;
SCHULZ, 2015; HELLER; PIETKAINEN; PUJOLAR, 2018), the meanings constructed by
the research participants for their actions were privileged, taking into account the relationships
between the micro and macro-contexts of the research that permeated the field. For data
generation, audio recordings of the meetings and a field diary were used. The anlaysis point to
(1) the need to develop language practices of confrontation in a migratory context of selective
hospitality; (2) the urgencies and expectations that configure specific learning needs in the
diasporic projects of the students; (3) the importance of contesting racist discourses crystallized
in the social imaginary that hurt subjects/groups; (4) the search for legitimacy as speakers, based
on the knowledge of linguistic resources of the Portuguese language that enable access to better
working and studying conditions for those women and their children. Data interpretation
followed the precepts of Indisciplinary Applied Linguistics (MOITA LOPES, 2006), which
advocates the theoretical articulation with other disciplines to better understand the social
aspects involved in the use of language. The interpretative look was built along the research
paying attention (1) to the diasporic experiences of the students as singular projects of
negotiation of meanings and identities (HALL, 2003; 2006); (2) to their searches for legitimacy
as speakers in regulated contexts of linguistic practices in the new context (SIGNORINI, 2002;
2006); (3) to the discursive spheres towards which they intend to orient their discursive intents
(BAKHTIN, 2003; 2010); (4) to the intersecting social positions that produce controlling
images (COLLINS, 2019) that interfere with the search for speaker legitimacy in contexts of
selective hospitality. The analysis and interpretation of the data emerging from the diasporic
experiences of these Portuguese-learner immigrant mothers shows the complexity of
geographical displacement, which is also a displacement of meanings. The needs and projects
focused on in the research demand the mastery of discourse genres for specific spheres of
activity such as work, school, university, and others that change rapidly according to the
demands, urgencies, and expectations that arise in their lives. Regarding the teaching of
Portuguese as an Additional Language (PAL), this research points to the importance of
prioritizing the inseparability of language in the lives of the learners, considering real needs and
projects in curriculum planning of Portuguese courses for immigrant mothers in similar
contexts. Taking distance from assimilationist perspectives, this research is also important to
reflect on the concept of Portuguese as a Host Language (PHL), considering the political
importance of the concept, but questioning the selective hospitality of the Brazilian migratory
context.
Keywords: 1. Language ethnography 2. Immigrant mothers 3. Portuguese as an additional
language 4. Portuguese as a host language
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Cartaz de pré-cadastro para o curso de Português para Mães Haitianas ................. 37
Figura 2 – Cartaz sobre Curso de Português para Mães Imigrantes ......................................... 42
Figura 3 – Mensagem de WhatsApp ...................................................................................... 149
Figura 4 – Mensagem de WhatsApp ...................................................................................... 155
Figura 5 – Mensagem de WhatsApp ...................................................................................... 155
Figura 6 – Troca de mensagens por WhatsApp ...................................................................... 156
Figura 7 – Troca de mensagens por WhatsApp ...................................................................... 157
LISTA DE QUADROS E TABELAS
Quadro 1 – Registro em áudio das aulas dos dois semestres do curso ..................................... 49
Quadro 2 – Informações gerais sobre as alunas participantes da pesquisa .............................. 52
Tabela 1 – Número de vistos de trabalho concedidos a imigrantes no Brasil entre 2011
e 2017, por país de origem ..................................................................................... 81
Tabela 3 – Número de vistos de trabalho concedidos a imigrantes no Brasil entre 2011
e 2017, por sexo...................................................................................................... 82
Tabela 3 – Distribuição relativa , segundo idade, por sexo, dos imigrantes venezuelanos
ingressantes em Boa Vista, RO, em 2017. ............................................................. 85
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ACNUR Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
CEPSH-UFSC Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina
CCE Centro de Comunicação e Expressão
CRAI-SC Centro de Atendimento de Referência a Imigrantes de Santa Catarina
CRAS Centro de Referência de Assistência Social
DIP Departamento de Integração Acadêmica e Profissional
DUDH Declaração Universal dos Direitos Humanos
IFSC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
OIM Organização Internacional para a Migração
ONU Organização das Nações Unidas
OPR Organização Pelos Refugiados
PLAM Português como Língua de Acolhimento a Imigrantes e Refugiados
TICEN Terminal Integrado do Centro
TITRI Terminal Integrado da Trindade
UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina
UFSC Universidade Federal de Santa Catarina
NAIR Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados
NEGRIs Núcleo de Estudos Críticos de Raça e Gênero nas Relações Internacionais e no
Departamento de Integração Acadêmica e Profissional
NUPLE Núcleo de Pesquisa e Ensino de Português Língua Estrangeira
ObMigra Observatório das Migrações
ONU Organização das Nações Unidas
RI Relações Internacionais
RMF Região Metropolitana da Grande Florianópolis
CONVENÇÕES PARA TRANSCRIÇÃO
(baseadas em Bloomaert e Jie, 2010)
(*) fala não compreendida
, pausa breve
(...) pausa longa
// fonema
[] realização fonológica
[] comentário da autora
SUMÁRIO
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS .......................................................................................... 17
1.1 INQUIETAÇÕES PRELIMINARES ................................................................................. 20 1.2 O OLHAR INICIAL DA PESQUISA PARA MÃES HAITIANAS ................................. 22 1.3 DA INVESTIGAÇÃO SOBRE MÃES HAITIANAS À PESQUISA SOBRE MÃES
IMIGRANTES .................................................................................................................... 25
2 UM OLHAR ETNOGRÁFICO .......................................................................................... 28
2.1 O CENÁRIO DA PESQUISA ............................................................................................ 32 2.1.1 A Universidade Federal de Santa Catarina ...................................................................... 32 2.1.2 As salas de aula do curso ................................................................................................. 33 2.1.3 O curso de português para mães imigrantes .................................................................... 34
2.2 A HISTÓRIA NATURAL DA PESQUISA ....................................................................... 45 2.2.1 As questões éticas ............................................................................................................ 45 2.2.2 Diário de campo............................................................................................................... 48 2.2.3 As áudio-gravações.......................................................................................................... 48
2.2.4 A emergência das questões de análise ............................................................................. 50
2.3 AS PARTICIPANTES DA PESQUISA ............................................................................ 52 2.3.1 Claitaine ........................................................................................................................... 54 2.3.2 Neli .................................................................................................................................. 58
2.3.3 Marlene ............................................................................................................................ 60 2.3.4 Rosario ............................................................................................................................. 63
2.3.5 Narjara ............................................................................................................................. 65 2.4 A ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ............................................................ 66
3 A BUSCA PELOS USOS LINGUÍSTICOS LEGÍTIMOS NA DIÁSPORA ................. 70 3.1 A EXPERIÊNCIA DIASPÓRICA ..................................................................................... 73 3.2 A IMIGRAÇÃO DE MULHERES HAITIANAS, VENEZUELANAS E BÚLGARAS .. 80
3.3 IMIGRANTES NO BRASIL: TRAÇOS DE UMA HOSPITALIDADE SELETIVA ...... 89
3.3.1 Imigração em Santa Catarina: A celebração de uma identidade branca e europeia e a
invisibilização dos “outros” ............................................................................................ 93 3.3.2 Imigração em Florianópolis: os imigrantes locais e os haules ........................................ 97 3.4 LÍNGUA DE ACOLHIMENTO: UM CONCEITO SÓCIO-HISTORICAMENTE
SITUADO ......................................................................................................................... 100
3.4.1 O Português como Língua Adicional (PLA) e a Translinguagem................................. 115 3.4.2 A perspectiva de uso da linguagem por Bakhtin ........................................................... 119 3.5 A LEGITIMIDADE NOS USOS LINGUÍSTICOS ......................................................... 125 3.6 RAÇA COMO UM SIGNIFICANTE FLUTUANTE ..................................................... 133
4 “COMO DAR CERTO” EM PORTUGUÊS? ................................................................ 146 4.1 “VAI DEMORAR MUITO... EU NÃO POSSO FICAR SEM TRABALHO”: PRÁTICAS
DE LINGUAGEM DE ENFRENTAMENTO FRENTE ÀS URGÊNCIAS COTIDIANAS
.......................................................................................................................................... 146 4.1.1 “Infelizmente, não podemos fazer nada!”: traços de uma hospitalidade seletiva ......... 147 4.1.2 “Tengo pressa de estudiar el português, muita pressa!”: a relativização das identidades e
das necessidades frente à compressão do espaço-tempo .............................................. 154
5 AS FRONTEIRAS DE SIGNIFICADO ENTRE A TRADIÇÃO E A TRADUÇÃO . 167
5.1 “NEGRO NÃO, MARROM FOFINHO”: AS FRONTEIRAS DE SIGNIFICADO PARA
O TERMO NEGRO .......................................................................................................... 168
5.2 “É MUITO COMPLICADO NÃO FALAR CORRECTAMENTE O PORTUGUÊS”:
BORDAS E FRONTEIRAS NA BUSCA PELA LEGITIMIDADE LINGUÍSTICA ..... 178
6 COMO MULHERES-MÃES-IMIGRANTES FAZEM PARA “DAR CERTO EM
PORTUGUÊS”: CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................. 209
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 214
ANEXO A – FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DE MÃES HAITIANAS PARA O CURSO. . 230 ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MÃES
HAITIANAS ..................................................................................................................... 231 ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MÃES
HAITIANAS EM CRIOULO ........................................................................................... 234
ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA
PROFESSORES ............................................................................................................... 237 ANEXO E – MATERIAL DIDÁTICO “FALANDO DE MIM: PALE DE MWEN”
SEMESTRE 2019/2 – MÓDULO I .................................................................................. 240 ANEXO F – MATERIAL DIDÁTICO “ATIVIDADES DIRECIONADAS: Trabalhando nas
nossas dificuldades” SEMESTRE 2019/2 – MÓDULO II ............................................... 254 ANEXO G – CÓPIAS DE E-MAILS SOBRE PARTICIPAÇÃO DO PROJETO DE ENSINO
AOS REFUGIADOS NO IFSC ........................................................................................ 261
17
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Na última década, testemunhamos um aumento significativo da chegada de
contingentes populacionais no Brasil provenientes de países do Sul Global a provocar uma série
de respostas improvisadas das redes oficiais de recepção de imigrantes da sociedade brasileira
(BAENINGUER, 2016; SILVA, 2017). Noticiados na mídia em alojamentos precários e em
albergues superlotados, como invasores, fugitivos e ilegais no país, esses grupos de imigrantes
têm sido alvo de tensões entre governadores (COGO; SILVA, 2015), de explorações no
mercado de trabalho, de xenofobia e de racismo (SILVA; ROCHA; D’ÁVILA, 2020). Também
têm sido também motivo de debate e de encaminhamentos inéditos nos órgãos relacionados à
imigração, como a concessão do visto humanitário a imigrantes provenientes do Haiti, por
exemplo (BAENINGER et al, 2016).
Como resposta às demandas relativas à chegada desse contingente populacional com
buscas variadas de recursos como trabalho, moradia e escola para seus filhos1, diferentes atores
e instituições da sociedade civil têm-se articulado em ações independentes que visam ao que
denominam de “acolhimento” a esse público. Nesse contexto, a língua portuguesa tem sido
colocada como um desses recursos, associada ao controverso conceito de língua de
acolhimento.
O conceito de língua de acolhimento foi transplantado de Portugal para o Brasil por
investigações comprometidas em questionar a improvisada e ineficiente recepção
governamental a essa demanda (AMADO, 2013). A aplicação do conceito ao contexto
brasileiro tem gerado recentes debates na agenda reflexiva da Linguística Aplicada Indisciplinar
(MOITA LOPES, 2006), a partir de trabalhos como Anunciação (2018), Bizon e Camargo
(2018), Diniz e Neves (2018), Ruano (2019), Lopez (2016; 2020), Anunciação e Camargo
(2020), entre outros. Em atenção às perspectivas epistemológicas das políticas linguísticas em
ações “de acolhimento”, essas/es autoras/es têm apontado ideologias, como a monolíngue, que
orientam o entendimento de “língua” e “de acolhimento” circunscritas a políticas de Estado-
nação que reforçam identidades nacionalistas. Ressignificações do conceito têm sido propostas.
Comprometidos com a problematização do viés assimilacionista de políticas
linguísticas exógenas que levam o conceito de língua de acolhimento como central, esses
1 Frente à ausência de consenso sobre a marcação de gênero que respeite à diversidade, optei, neste trabalho, pela
convenção do gênero masculino como neutro, apesar de concordar que essa forma não seja a mais representativa
da diversidade.
18
estudos lançam ressalvas às ações realizadas no contexto brasileiro. Colocam em questão
procedimentos de regulação de direitos migratórios à língua portuguesa que excluem certos
sujeitos da “partilha” de direitos, a partir da (“falta da”) língua portuguesa (DINIZ, NEVES,
2018), do ensino de língua enquanto cultura e do apagamento da hibridez constituinte das
identidades fluidas, cuja negociação de sentidos e complexidade se intensificam no cenário
diaspórico global (HALL, 2003; 2006). Nessa discussão, a língua majoritária nacional, sob
diferentes olhares epistemológicos em torno do que conta como língua(gem)2, tem sido
colocada como um direito (AMADO, 2013), uma necessidade, uma urgência (SÃO
BERNARDO; BARBOSA, 2018), mas também como um obstáculo para o reconhecimento da
cidadania desses sujeitos na comunidade brasileira (ANUNCIAÇÃO; CAMARGO, 2019;
LOPES, 2020).
Em resposta a este cenário, em que a língua portuguesa é colocada como mais um
tijolo em um muro para esses imigrantes (LOPEZ, 2020), questiono com Lucena
(COMUNICAÇÃO ORAL, 2021): “como, em nossas pesquisas em Linguística Aplicada (LA),
podemos fazer para contribuir, para facilitar o acesso a essa ‘chave de papel’, a essas ‘vidas
nuas’, em meio a uma ‘globalização da indiferença’?3”. “Chave de papel” é uma metáfora para
os documentos que legitimam a presença e permanência de imigrantes e refugiados. Esses três
conceitos, como explicado na fala de Lucena, foram utilizados por Alejo Carpentier, Giogio
Aganbem e pelo Papa Francisco, respectivamente, para referir-se ao imigrante num contexto
global em que cresce a intolerância com o outro, em que identidades culturais reificadas se
fortalecem (HALL, 2006), em que barcos de imigrantes afundam, em que fronteiras se cerram,
em que muros são levantados e em que crianças se veem são apartadas de seus pais quando eles
deixam a casa motivados pelo anseio de melhores condições de vida ou mesmo pela necessidade
premente de buscar meios para sobreviver.
No que tange ao escopo desta investigação, situada na LA Indisciplinar (MOITA
LOPES, 2006), vinculada ao grupo Educação Linguística e Pós-Colonialidade, a proposta é a
construção de um olhar atento às exigências da contemporaneidade envolvendo o uso
linguístico em contextos educacionais (LUCENA, 2015). No caso deste trabalho, os
questionamentos em torno de quais seriam as demandas de aprendizagem linguísticas desses
sujeitos me levaram a investigar necessidades e projetos de mulheres-mães em um curso de
português para imigrantes em Florianópolis, capital de um dos principais estados escolhidos
2 Farei uso da forma língua(gem) quando estiver me referindo, ao mesmo tempo, à língua – enquanto sistema
abstrato de formas – e à linguagem – a língua em uso. 3 Comunicação realizada em palestra (IMIGRAR, 2021).
19
para esses deslocamentos (SILVA; ROCHA; D’AVILA, 2020). Esse olhar situa o trabalho na
interface entre os estudos migratórios e o ensino de língua portuguesa.
No contato com ações de acolhimento voltadas ao ensino da língua portuguesa na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), no Projeto Português como Língua de
Acolhimento (PLAM) 4, chamou minha atenção a presença de mulheres que levavam seus filhos
consigo, por não terem com quem deixá-los enquanto estudassem a língua portuguesa. Seus
relatos envolviam ter que distanciar-se de seus filhos por meses ou anos, até que conseguissem
estabilizar-se no Brasil e reunir a família. Algumas delas, ainda com seus filhos no Haiti,
associavam a necessidade de trabalho à distância dos filhos e da família, em menção a uma
complexa rede transnacional, peculiar em países como o Haiti, país no qual remessas enviadas
pelos familiares no exterior configuram 20% do PIB nacional (MAGALHÃES; BAENINGER,
2016).
Com o intuito de enfocar, especificamente, necessidades de aprendizagem de mulheres
em situações diaspóricas, como a dessas mães-imigrantes que apresentavam buscas específicas,
foi conduzido um curso voltado para o atendimento a essa demanda na UFSC. Esse curso
contou com a ajuda de outros atores sociais, configurando-se o cenário educacional do qual esta
pesquisa é fruto. Desse cenário, outras questões emergiram, tais como: Quais são as
necessidades e os projetos dessas mulheres-mães-imigrantes enquanto aprendizes de
português? Como projetos de ensino de Português como Língua Adicional (PLA) podem ser
conduzidos a partir de suas pautas? Que sentido teria a concepção de língua de acolhimento
nesse cenário educacional? Como essas discussões podem contribuir para a melhor
compreensão de outros cenários que envolvem configurações semelhantes?
Com base na Etnografia da Linguagem (ERICKSON, 1990; LUCENA, 2012; 2014;
2015; 2020; BLOMMAERT; JIE, 2010; MASON, 1996; HELLER; PIETKÄINEN;
PUJOLAR, 2018) e como sugere Geertz (1983), os significados atribuídos pelas participantes
da pesquisa às ações, às instituições e aos conceitos em que se envolvem foram privilegiados.
Com o intuito de acessar esses diferentes significados, a partir do olhar dessas mulheres-mães-
imigrantes, e de refletir sobre o conceito de língua de acolhimento a partir das buscas pautadas
por elas, de modo a contribuir com o desenho de futuros projetos comprometidos com o
4 Trata-se de um projeto de Extensão do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português Língua Estrangeira (NUPLE)
da Universidade Federal de Santa Catarina. Com início em 2016, oferece cursos de língua portuguesa a
estrangeiros com visto humanitário ou de refugiado, além de cursos para a formação de professores, preparação
ao Celpe-Bras e outras atividades. Está vinculado à cátedra Sérgio Vieira de Mello da ACNUR. No projeto, os
cursos de português para imigrantes e refugiados são realizados em duas turmas: uma para o nível básico e outra
para o nível intermediário, aos sábados, das 9h às 12h, no Centro de Comunicação e Expressão da UFSC.
20
atendimento às subjetividades de sujeitos em diáspora5 (HALL, 2003; 2006), foi feita a seguinte
pergunta de pesquisa: De que modo o ensino de língua portuguesa pode ir ao encontro de
necessidades e projetos pautados por mulheres-mães-imigrantes?
Para as participantes desta pesquisa, a língua portuguesa é colocada no âmbito da
necessidade, da urgência, do obstáculo e da obrigatoriedade, mas também, como um projeto,
um desafio, um objetivo e um meio de acessar espaços e outros recursos. Marcando a
indissociabilidade entre a vida e a língua(gem) (BAKHTIN, 1997; 2010), suas buscas por
legitimidade nos usos linguísticos evidenciam as constrições de uma ordem sociocultural e
linguística (SIGNORINI, 2006) excludente, perpassada por imagens de controle (COLLINS,
2019) que dificultam a atribuição de legitimidade aos seus usos linguísticos. A despeito dessas
fronteiras, frente às quais se veem na obrigação de reorientar seus enunciados, para os quais
solicitam ajuda da professora de português, evidencia-se, por outro lado, toda a riqueza de suas
negociações de sentido no novo contexto: a construção de redes de afeto; a importância da
manutenção de seus repertórios tradicionais; a ressignificação de suas identidades profissionais;
o envolvimento com a educação de suas filhas em contexto plurilíngue; o desafio de seguir
carregando suas bagagens subjetivas, apesar dos obstáculos que encontram pelo caminho. A
cada passo, as atividades em que se envolvem nas diferentes esferas discursivas requerem
necessidades de aprendizagem distintas circunscritas em tempos específicos, dividindo-se entre
urgências e esperas.
Com vistas a dimensionar essas questões, esta tese foi dividida em quatro capítulos. O
primeiro destinou-se uma breve introdução; o segundo contextualiza a pesquisa e apresenta a
metodologia empregada; o terceiro apresenta e discute os pressupostos teóricos; o quarto e o
quinto abrangem as análises e discussões oriundas dos dados gerados em campo; o sexto e
último capítulo reúne as considerações finais da pesquisa.
1.1 INQUIETAÇÕES PRELIMINARES
Nesta seção, apresento o que Erickson (1990, p. 170) denomina “história natural da
pesquisa” de investigações etnográficas em contextos educacionais. Trata-se de narrar o
percurso que se origina das inquietações da/o investigadora/or quanto ao seu contexto de
5 Nesta pesquisa, o termo diáspora será utilizado na acepção de Hall (2003, p. 415), que compreende o fenômeno
como um processo subjetivo de deslocamento identitário e negociação entre dois lugares, que coloca em xeque a
sensação de pertencimento. O autor refuta os significados originários do termo no texto bíblico, que abrange
sentidos relativos à “expulsão dos demais e a recuperação de uma terra já habitada por mais de um povo”, na
acepção de uma “limpeza étnica” (HALL, 2003, p. 417).
21
trabalho, quando decide melhor compreender “o que está acontecendo” neste campo específico
e o modo como as questões se modificam conforme a realidade do campo investigado
(ERICKSON, 1990, p. 83).
A atenção a questões do mundo que impactavam o uso da língua(gem) levou-me a
questionar a experiência de imigrantes do Haiti no Brasil, após a intensa notificação midiática
sobre a entrada desse contingente na Região Norte, no começo da década de 2010. A tônica das
reportagens, que enfatizava o deslocamento na perspectiva de uma “fuga” e uma “invasão”6
(COGO; SILVA, 2015; CAVALCANTI; 2019; OLIVEIRA; MACEDO, 2019), salientava a
falta de capacidade da sociedade brasileira de gerir aspectos do acolhimento a esses imigrantes,
como a oferta de trabalho.
Cavalcanti (2019) analisa as estratégias discursivas midiáticas na construção de
narrativas sobre a vinda de imigrantes ao Brasil na última década. A autora enfoca, por um lado,
os “problemas nas políticas públicas” conduzidas por civis, por outro, “o atendimento
governamental”, que recorre à apresentação da questão migratória em números incontroláveis,
justificando a ingerência do Estado (CAVALCANTI, 2019, p. 17). Segundo Cavalcanti (2019,
p. 17), esse “vozeamento” seria “uma estratégia para potencializar o valor da narrativa
construída posicionando a migração como ameaça ao mercado de trabalho no país, com taxa
de desemprego alta, em tempo de crise econômica” (ênfase minha). Em suma, além de fugitivos
e invasores, os imigrantes haitianos têm sido considerados uma ameaça ao mercado de trabalho
local.
Santa Catarina logo passou a figurar como um dos locais para onde esses imigrantes
se deslocaram. A região norte do país era uma porta de entrada (Tabatinga, Brasiléia, Assis
Brasil), mas eles buscavam grandes centros e locais em que pudessem encontrar trabalho, e o
6 O jornal O Globo, ao utilizar o termo “invasão” de maneira reiterada para noticiar o deslocamento, chegou a ser
alvo de processos de entidades de apoio à imigração haitiana no Brasil (cf. COGO; SILVA, 2016). Algumas das
matérias jornalísticas de “O Globo” utilizavam o item lexical no título: “Acre sofre com invasão de imigrantes do
Haiti” (CARVALHO, 2012a, grifo meu), “Invasão de haitianos em Brasileia começou em 2010” (CARVALHO,
2012b, grifo meu); “Acre decreta emergência em Brasileia e Epitaciolândia por ‘invasão’ de imigrantes ilegais:
Estado tem grande concentração de estrangeiros em situação irregular, a maioria haitianos” (KRAKOVICS, 2013,
grifo da autora) e “Invasão de haitianos” (GÓES, 2015). Outras reportagens não traziam o termo no título, mas em
outras partes da reportagem, como no caso da reportagem de O Globo intitulada “Haitianos descobrem que sonho
pode virar pesadelo”, em que o vocábulo é empregado na legenda de uma foto: “Invasão de haitianos pela fronteira
do Brasil com a Bolívia em Brasiléia, no Acre” (O GLOBO, 2012, grifo meu); Além do jornal O Globo, outros
veículos de comunicação fizeram uso do termo no título das reportagens, como em “Refugiados haitianos invadem
a cidade de Brasiléia no Acre e preocupam governo do Estado” (LEMES, 2012, grifo meu), ou no corpo, como no
blog do jornalista Ricardo Azevedo (2014), no texto intitulado “Governo petista do Acre agora quer impedir a
imigração de haitianos. Em 2012, alunos foram obrigados a elogiá-la na autoritária e esquerdopata redação do
Enem”, em que menciona as motivações do governo acreano para, segundo coloca, “conter a invasão de haitianos”
(AZEVEDO, 2014).
22
sul do Brasil parecia contemplar essa procura. Como consequência da presença desses
imigrantes em Santa Catarina, departamentos de línguas nas diferentes universidades e
institutos federais começaram a oferecer cursos de português a eles, procurando responder a
essa “urgente necessidade” de “adaptar-se de forma emergencial aos usos linguísticos
predominantes no país” (SILVA, 2017, p. 48).
Na época, eu atuava como professora de português para estrangeiros do Núcleo de
Pesquisa e Ensino em Português Língua Estrangeira (NUPLE) na UFSC, um projeto de
extensão extracurricular. Era 2014 e recebíamos ligações frequentes à procura de cursos para
imigrantes oriundos de deslocamentos forçados. Essas ocorrências, entre outras, apontavam a
importância da investigação desses cenários.
Assim, a necessidade de compreender o impacto da linguagem na experiência de
sujeitos que emigravam sem condições de pagar por um curso de língua portuguesa em
Florianópolis e em busca de emprego, mostrava-se uma questão relevante para uma
investigação situada. Algumas das perguntas que emergiram em minha prática foram: Quais
seriam os objetivos da aprendizagem de português para os imigrantes haitianos? Quem
solicitava esses cursos? Com que objetivos e reais finalidades esses cursos eram realizados?
Em que situações comunicativas estariam esses imigrantes envolvidos? Quais as relações entre
o mercado de trabalho e a aprendizagem de língua portuguesa? Que gêneros do discurso
ensinar? Sob qual perspectiva teórica o curso deveria ser desenvolvido? Quais condições de
aprendizagem de português eram oferecidas nesses cursos?
Com essas questões em mente, participei de cursos de língua portuguesa para
imigrantes nos quais pude observar como ocorriam os processos de ensino e aprendizagem da
língua portuguesa por sujeitos imigrantes, especificamente por mães imigrantes. Mostro esse
trajeto na subseção seguinte.
1.2 O OLHAR INICIAL DA PESQUISA PARA MÃES HAITIANAS
As reflexões acerca das perguntas elencadas ao final da subseção anterior me levaram,
em primeiro lugar, ao afunilamento do tema da pesquisa para o processo de aprendizagem de
português para mães haitianas. Esse recorte se deu a partir de experiências concretas como
professora auxiliar e voluntária de cursos de português voltados a imigrantes no Instituto
Federal de Santa Catarina (IFSC), Campus Florianópolis, em 2016, e na UFSC, no Projeto
PLAM, em 2017. Esses projetos destinavam-se a atender imigrantes gratuitamente.
23
No IFSC, a iniciativa do projeto partiu de uma funcionária haitiana que solicitou à
coordenação pedagógica a criação de um curso para ela e seus/suas conterrâneos/as, todos/as
trabalhadores/as terceirizados/as da instituição. O curso foi oferecido como um projeto de
extensão e não se limitava a funcionários daquela instituição, nem a uma nacionalidade
específica. Na oportunidade, havia duas turmas, uma para o nível básico e outra para o
intermediário e, para cada uma delas, eram ministradas aulas duas vezes por semana, no período
noturno. Apesar de não haver restrição a uma nacionalidade específica, todos os alunos que
frequentavam o curso eram provenientes do Haiti. O projeto teve duração de um ano.
Na UFSC, o Projeto Português como Língua de Acolhimento (PLAM) está ligado ao
Núcleo de Ensino e Pesquisa de Português Língua Estrangeira (NUPLE/UFSC). O PLAM teve
início em 2016 e desenvolvia dois tipos de ação de extensão: formação de professores e oferta
de cursos de língua portuguesa para imigrantes com visto humanitário ou de refúgio. Os cursos
de língua aconteciam em duas salas divididas por nível (básico e intermediário), até o início do
isolamento social em 18 de março de 2020, por conta da pandemia de Covid-19. Em 2017, a
proporção de alunos haitianos era expressiva, mas não total, como no IFSC. Além de comporem
toda a turma de nível básico, ainda tinham presença na sala de nível intermediário, o que
resultava no atendimento de mais de 50% de alunos dessa nacionalidade. A rotatividade dos
estudantes era alta, mas a participação de mulheres era mínima.
Nesses projetos, tive contato com mulheres que estavam grávidas ou que eram mães.
As histórias dessas alunas nem sempre são conhecidas. A título de exemplo, ilustro brevemente
parte de duas dessas inúmeras experiências de mães imigrantes, contando um pouco da história
de Rosa e de Claitaine7, ambas do Haiti.
Rosa, uma das alunas do projeto PLAM da UFSC, ia às aulas com o marido e a
pequena Natacha, de 4 anos. Contou-me que tinha vindo sem sua filha ao Brasil e que o
desmame da menina havia sido feito de maneira abrupta com sua partida para o Brasil. Natacha,
na época com 11 meses de idade, passou a ficar sob os cuidados da avó materna no Haiti, até
que os pais tiveram condições de trazer a menina. Rosa ficou dois anos sem ver a filha e me
relatou a dor que sentiu com essa separação e com a distância.
No caso de Claitaine, seus dois filhos ficaram aos cuidados da sogra no Haiti. Ela
emigrou do seu país sem garantia de emprego. Em Florianópolis, buscou trabalho por meses
planejando enviar uma parte do salário a seus familiares no Haiti, as denominadas remessas
(MAGALHÃES; BAENINGER, 2016). Quando conseguiu emprego, apenas recebeu por um
7 Pseudônimos escolhidos pelas alunas.
24
dos três meses trabalhados, pois seu empregador deixou de pagar-lhe, impactando seus planos.
Todas as alunas provenientes do Haiti que participaram do curso e que tinham filhos estavam
distantes deles, ainda nesta fase da imigração, após a vinda de seus maridos e antes do
estabelecimento do núcleo familiar no Brasil (MEJIA; CAZAROTTO, 2017).
As histórias dessas mulheres, minhas leituras acerca de questões que evocam a
subalternidade (SPIVAK, 2010) e o contato com problematizações do feminismo negro, que
enfocam a experiência da mulher negra criticamente (RIBEIRO, 2017), levaram-me ao
interesse pelo estudo do processo de ensino-aprendizagem de português pelas mulheres
haitianas em Florianópolis. Busquei então uma abordagem de pesquisa que situasse a
experiência dessas mulheres a partir de um olhar histórico e interseccional (AKOTIRENE,
2018; hooks, 2018; 2019; COLLINS, 2019), considerando os impactos da colonialidade para
as mulheres negras no mundo, principalmente advindas de um país com um histórico singular
de resistência e revolução como o Haiti.
Fui, então, levada ao diálogo com pesquisas em políticas linguísticas familiares que
enfocam a participação de mães como agentes de decisão e controle sobre o repertório
linguístico de seus/suas filhos/as. Uma das principais referências, nesse sentido, foi a pesquisa
de Gabas (2016), que investigou o papel das mulheres nas decisões linguísticas e familiares
feitas na migração, abordando as experiências migratórias de mães sul-coreanas, de status
econômico elevado, em São Paulo.
A leitura de Gabas levou-me a refletir sobre o impacto das diferentes condições
econômicas e sociais de imigração entre as mães haitianas e sul-coreanas, no que diz respeito
aos seus horizontes de escolha no deslocamento. O modo como a língua estava implicada nesse
processo era uma incógnita, e perspectivas do feminismo negro traziam conceitos frutíferos
para contrastar as experiências dos dois grupos (mães sul-coreanas e mães haitianas).
As mães sul-coreanas estudadas por Gabas (2016) emigraram acompanhando o projeto
econômico de seus maridos, trabalhadores de uma grande empresa multinacional. No Brasil,
planejavam as vidas educacionais e linguísticas de seus filhos com aulas particulares de línguas
e inscrições em escolas bilingues. Suas escolhas acompanhavam o valor de mercado que essas
línguas ofereciam, em seu entendimento, para a formação de seus filhos. Estes, segundo a
valoração das mães, voltariam com currículos mais competitivos ao seu país. Essas famílias
tinham uma data certa para voltar e seguiam seus desejos de planejamento tanto sobre os
repertórios linguísticos dos filhos, na visão das mães, quanto das oportunidades de crescimento
financeiro dos pais, em uma estratégia notadamente familiar.
25
Por outro lado, as mães haitianas, quando conseguem emigrar, fazem-no, a princípio,
sem seus filhos, que ficam aos cuidados de parentes no Haiti (sogras e avós), reproduzindo um
tipo de cuidado afrocentrado em que as crianças não são propriedade e responsabilidade de um
núcleo familiar, como nos moldes patriarcais do capitalismo (COLLINS, 2019), mas são
responsabilidade de todos. Assim, também o é o resultado do trabalho na imigração, uma vez
que é compartilhado com outros membros da família no Haiti. Além dessa peculiaridade, o
horizonte de planejamento familiar das mães haitianas está mais aberto às contingências que o
das mães sul-coreanas. Estas podem planejar a duração de seus deslocamentos, considerando
os prazos de contratação de trabalho dos maridos no Brasil, que motivam e dão suporte
financeiro a esses deslocamentos. As mulheres haitianas, por outro lado, convivem com uma
insegurança laboral, fonte de incertezas sobre quais próximos passos serão possíveis.
O esforço de sair em busca de melhores condições de vida tem sido apontado como
um projeto familiar não nuclear, estendido, envolvendo uma rede de parentesco que organiza
as economias para enviar um membro por vez a tentar a vida no exterior (GOMES, 2017). A
prática de envio de remessas transnacionais, também frequente em outros países da América
Latina, envolve redes familiares nos países de origem e de destino e é anterior à última década,
quando o fluxo migratório haitiano para o Brasil começou a tornar-se expressivo
(MAGALHÃES; BENINGER, 2016). Nessa teia, são tecidas complexas estratégias, tanto no
sentido de decidir qual ente familiar emigra primeiro, qual vai depois, quanto no sentido das
táticas de sobrevivência que utilizam no país para o qual emigram (MAGALHÃES;
BAENINGER, 2016).
Com o intuito de contribuir para o debate, sobre a influência das mães nas políticas
linguísticas familiares (GABAS, 2016), decidi inicialmente investigar as mães imigrantes de
nacionalidade haitiana, idealizando um curso de língua portuguesa especificamente para elas
para servir de campo à investigação. Mas as mudanças no campo levaram a pesquisa a outras
paragens.
1.3 DA INVESTIGAÇÃO SOBRE MÃES HAITIANAS À PESQUISA SOBRE
MÃES IMIGRANTES
O curso de português idealizado para mães haitianas, vinculado a esse projeto de
pesquisa, oferecia um espaço com cuidadoras para as crianças. Esse diferencial atraiu
estudantes, como Rosario, pseudônimo de uma das alunas da Venezuela, que considerava a
26
possibilidade de levar sua filha ao curso como uma “oportunidade”, um “atrativo” e uma
“facilidade” (Rosario em transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
Embora tenha havido a participação de alunas haitianas no curso, a procura pela
oportunidade por alunas de outras nacionalidades, como Rosario, reorientou o enfoque do curso
a mães imigrantes de quaisquer nacionalidades, impactando os rumos da pesquisa. Importa
ainda ressaltar que o curso também estava aberto aos pais, familiares e pessoas sem filhos no
grupo.
A procura pelo curso por mães de outras nacionalidades, naquele ano de 2018,
reverberava o fluxo migratório ao Brasil, evidenciando a fluidez desses deslocamentos e o
impacto no campo de pesquisa. No que tange ao planejamento da investigação, a adaptação à
realidade do campo deixa ver que nem sempre encontramos aquilo que planejamos inicialmente
em nossas incursões etnográficas. Nesse sentido, chamo a atenção para a não-linearidade da
relação entre teoria, geração de dados, análises e interpretação, característica central da pesquisa
etnográfica enquanto produtora de conhecimentos informados pela realidade das práticas
sociais (ERICKSON, 1990; BLOMMAERT, JIE, 2010; HELLER, PIETIKËINEN; PUJOLAR,
2018).
Quando o projeto de pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da UFSC (CEPSH-UFSC), a investigação envolvia a aprendizagem de português por
mães haitianas, não por mães imigrantes de diferentes países. A circunscrição a uma
nacionalidade específica refletia o meu engajamento ao PLE, orientação que outros cursos
também têm acompanhado, como relatam Mosele (2016) e Silva (2017) no Rio Grande do Sul,
Colussi, Cuba e Miranda (2017), Soares e Tirloni (2017) e Soares, Trevisan e Flain (2017) em
Santa Catarina e Moura e Costa-Hubes (2017) no Paraná.
Ao longo do curso (de agosto de 2018 a julho de 2019), tive dificuldade de adaptar os
objetivos da pesquisa à realidade do campo e continuava focada em uma nacionalidade apenas.
Por consequência desse foco específico em mães haitianas, realizei apenas uma entrevista com
Claitaine, após o final do primeiro semestre de 2019. A escolha por enfocar a experiência de
mães procedentes do Haiti refletia um olhar que outros trabalhos também têm apontado: a
necessidade de tratar o ensino de língua portuguesa a imigrantes de países subalternizados e
refugiados com um olhar singularizado.
O curso passou a receber alunas de vários países além do Haiti, como a Venezuela e a
Bulgária, países dos quais provêm três entre as quatro alunas participantes da pesquisa. Como
resultado dessa adaptação do curso à demanda real das alunas, houve um redirecionamento das
27
perguntas de pesquisa, de modo a abranger as necessidades e buscas de todas as alunas que
aceitaram participar da pesquisa.
A partir das análises geradas em campo e à luz das discussões que se têm desenvolvido
em torno do conceito de acolhimento, a pergunta de pesquisa foi-se modificando, e a
experiência diaspórica enquanto negociação, suspensão identitária e acomodação frente à
compressão espaço-tempo (HALL, 2006), tornou-se elemento importante para a reflexão sobre
as demandas das alunas.
No que tange à análise da materialidade linguística em específico, ao revelarem as
alunas suas buscas por legitimidade nos usos linguísticos no novo contexto (SIGNORINI,
2006), foram utilizadas as reflexões de Bakhtin (1997; 2010) sobre o funcionamento do
enunciado e dos gêneros discursivos nas distintas esferas da atividade humana. Além do
conceito de interseccionalidade, que conjuga categorias de opressão, o conceito de imagens de
controle de Patricia Hill Collins (2019) serviu para dar visibilidade à cristalização de discursos
e ideologias presentes no imaginário social brasileiro que operam como obstáculos à atribuição
de legitimidade de falantes de português a essas mulheres-mães-imigrantes.
Portanto, suscitaram o interesse de investigação sobre as necessidades de
aprendizagem do português de mulheres-mães-imigrantes as minhas experiências de educadora
e de pesquisadora do ensino de português a sujeitos deslocados de seus locais de origem, o
contato com perspectivas críticas da Linguística Aplicada, na Pós-Graduação em Linguística
da UFSC, bem como conceitos centrais do feminismo negro.
Nesta seção, a “história natural da pesquisa” foi brevemente mapeada, desde os
primeiros passos da concepção do estudo, com as devidas transformações de escopo e de olhar
relativas à organicidade do campo, até a menção dos elementos teóricos que possibilitaram
responder à questão da pesquisa. No próximo capítulo, passo à apresentação da etnografia, em
seus aspectos teórico-metodológicos, da forma como foi conduzida nesta pesquisa.
28
2 UM OLHAR ETNOGRÁFICO
Considerados seus elementos composicionais, o termo etnografia (do grego έθνος,
ethno – nação, tribo, povo e γράφειν, graphein – escrever), cunhado pela antropologia, refere-
se ao registro escrito da descrição de uma tribo, nação ou povo. No entanto, a unidade de análise
da investigação etnográfica não se restringe ao estudo de nações, tribos, povos ou grupos
tomados como linguisticamente homogêneos, podendo abranger quaisquer redes, cujas relações
sociais são reguladas por costumes (ERICKSON, 1984) mais ou menos estáveis. No caso desta
pesquisa, a sala de aula de mães imigrantes é tida como uma unidade social passível de
descrição etnográfica.
A especificidade da descrição etnográfica é a de não partir exclusivamente da
subjetividade do pesquisador, guiada por teorias previamente escolhidas ou hipóteses
conduzidas do início ao fim da pesquisa de modo a testar sua falibilidade ou validade. Evitando
generalizações teóricas provenientes de experiências abstratas que se destinam
aprioristicamente a todo e qualquer espaço, a descrição etnográfica privilegia os “significados
locais” (ERICKSON, 1984). Além disso, tem uma pretensão dialógica, ao almejar construir-se
no entrelugar entre os “esquemas mentais” (ERICKSON, 1990) que o pesquisador leva ao
campo e a responsividade dos atores e das atrizes sociais da pesquisa.
Por sua característica dialógica, é também não-linear, e necessariamente “rizomática”
(HELLER; PIËTKAINEN; PUJOLAR, 2018, p. 12), uma vez que as conexões entre os
elementos do campo (pessoas, discursos e atividades) vão formando relações que se
complexificam e que podem se modificar a cada mirada. Esse processo leva a uma constante
reavaliação das teorias e relações entre os dados gerados, para compor uma interpretação do
cenário investigado. Erickson (1990, p. 78) define etnografia como “uma tentativa de combinar
uma análise pormenorizada de detalhes do comportamento e seu significado nas interações
sociais cotidianas com a análise do contexto social mais amplo”. Trata-se de compreender como
as ações realizadas em um dado contexto refratam questões socais mais amplas da sociedade.
Por meio da análise e interpretação de dados gerados em campo, a partir de diferentes registros
das interações sociais (áudio-gravações, vídeo-gravações, diário de campo), procura-se
compreender e estranhar o familiar, ou seja, as ações rotineiras, já naturalizadas no contexto
educacional.
De caráter indutivo, como é característico da pesquisa etnográfica em educação
(ERICKSON, 1990; BLOOMAERT; JIE, 2010), a Etnografia da Linguagem preconiza a
geração de dados enfatizando os significados das ações dados pelos participantes da pesquisa.
29
O valor das evidências deriva de experiências concretas que podem ser comparadas com outros
cenários similares.
Um dos princípios básicos da etnografia é o estabelecimento de relações de confiança
em que os propósitos engendrados sejam construídos em conjunto na resolução de questões
pertinentes ao campo observado (ERICKSON, 1990; BLOMMAERT, JIE, 2010). O interesse
central está “no significado da vida social e sua elucidação e exposição pelo pesquisador”
(ERICKSON, 1990, p. 78). Deste modo, as pesquisas interpretativas não devem ser
consideradas meramente técnicas ou uma reunião de procedimentos, mas um modo de construir
olhares em que prevaleçam os significados dos interagentes atribuídos às ações em que se
engajam. No entanto, a sistematicidade e os procedimentos rigorosamente técnicos são
elementos centrais para a construção do olhar para a vida social.
A compreensão de Blommaert e Jie (2010, p. 5) vai na direção do entendimento de
Erickson (1990) sobre a etnografia. Para os autores (2010), a etnografia é um paradigma e não
“um complexo conjunto de técnicas de pesquisa de campo” (p. 5). Conforme ressaltam, a
etnografia esteve implicada como abordagem na interpretação de conhecimentos que
impactaram o campo do saber, que colocaram comunidades em mapas e que desvendaram
complexas relações entre todo e parte. Trata-se de uma ciência indutiva, que trabalha a partir
de evidências empíricas em direção à teoria (BLOMMAERT; JIE, 2010, p. 12).
As pesquisas positivistas, de outro modo, partem de uma visão de mundo em que
eventos observados podem ser repetidos. A partir dessa premissa, é aceitável a previsibilidade
de eventos futuros a partir da observação de eventos passados, como se não houvesse
criatividade nas ações humanas e como se elas não fossem dotadas de significados distintos de
um sujeito para o outro, ou até para o mesmo sujeito, em diferentes momentos. A premissa
prescritivista, não se sustenta quando a referência é o mundo social.
Como ressalta Erickson (1990), a contribuição das pesquisas interpretativas, de modo
geral, tem relação com a concepção sobre a natureza humana. Por essa diferença de
entendimento, a assunção da perspectiva interpretativa comporta uma crítica à aplicação
generalizada de sobreposições do universo da natureza ao universo da cultura nos
procedimentos ditos científicos, sem ser essa aplicação informada pelas práticas situadas.
Partindo da premissa de que o prescritivismo científico não é aplicável aos fenômenos sociais,
ou seja, que não é possível prever os eventos futuros a partir de eventos prévios, considera-se
que a subjetividade dos participantes é central para a compreensão do que ocorre em contextos
educacionais. A Etnografia da Linguagem tem buscado compreender como se dá o uso da
30
linguagem em cenários situados, a partir da análise das interações estabelecidas entre os sujeitos
em cenas reais, por meio da análise e da interpretação das ações em campo a partir de suas
regularidades, estranhando práticas naturalizadas em contextos escolares (GARCEZ;
SCHULZ, 2015). Trata-se, assim, de uma análise sistemática, fundamentada na observação de
manifestações da sociabilidade humana.
A premissa central relacionada à concepção sobre a natureza da linguagem, diz
respeito à compreensão sobre a causa dos fenômenos. Segundo Erickson (1990, p. 89), a
capacidade humana de dar sentido para os próprios atos é o aspecto que distingue a existência
material da existência puramente natural. Por esse motivo, segundo o autor “seres humanos
deveriam ser estudados com base nos sentidos que fazem uns dos outros em seus arranjos
sociais”8 (p. 89). Segundo Erickson, para a compreensão dos atos humanos, é necessário
associar ao ato a compreensão que cada sujeito tem da ação em que se envolve e problematizá-
lo junto ao contexto maior em que se insere, desnaturalizando tanto quanto possível o status de
“fato” dos fenômenos que ocorrem no campo. Segundo Erickson (1990),
Uma tarefa central para a pesquisa interpretativa, com observação
participante, é permitir aos pesquisadores serem muito mais específicos nas
suas compreensões sobre a variação inerente de classe para classe. Isso
significa produzir melhores teorias sobre a organização social e cognitiva de
formas particulares de vida em sala de aula como ambientes imediatos para
a aprendizagem dos alunos (ERICKSON, 1990, p. 116, ênfase minha,
tradução minha9).
No caso de alunas que também são mães, imigrantes de diferentes países, em busca de
diferentes objetivos no novo local de inserção, para melhor compreender esse cenário em
particular, importa considerar a especificidade de suas práticas sociais em que a língua(gem)
tem um papel central e os sentidos a elas atribuídos.
O que torna o presente estudo etnográfico são as bases nas quais se assenta a
construção do conhecimento, que são os dados gerados em campo, em conjunto com as alunas
do curso, não a intuição, nem teorias previamente levadas a campo. As regularidades do
comportamento social encontradas em campo são associadas ao contexto macro, são
examinadas características de seus deslocamentos e são consideradas as ideologias que
subjazem suas enunciações e as negociações de sentido com outros sujeitos. De maneira
8 “[...] humans living together must be studied in terms of the sense they make of one another in their social
arrangements” (ERICKSON, 1990, p. 89) 9 Salvo indicação em contrário, as traduções foram feitas por mim.
31
indisciplinar, é preciso recorrer a outros campos do conhecimento para dar conta de interpretar
a complexidade social do que está acontecendo ali (MOITA LOPES, 2006).
Na contemporaneidade, a investigação etnográfica em contextos educacionais
justifica-se pela importância de compreender cenários complexos de uso da linguagem, de
forma situada, interpretando o local como atravessado por questões globais (LUCENA, 2015).
No caso desta pesquisa, o olhar para o social se constrói na premissa do signo ideológico
(BAKHTIN, 2010), na consideração do dialogismo presente na réplica cotidiana (BAKHTIN,
1997) dentro e fora da sala de aula e na singularidade da experiência diaspórica de cada uma
dessas mulheres. Com relação às imagens definidas externamente sobre língua, identidade e
processos de aprendizagem de língua, sobre maternidade e pertencimento, seus percursos são
negociados. Como consequência, os significados que atribuem à língua(gem) estão imbricados
nos processos sociais de que participam.
Uma das características básicas da teoria sociocultural da qual são derivados os
métodos de observação participante é a de nunca ser considerado apenas um nível do sistema
(social de ações) isolado de outros níveis (ERICKSON, 1990). No presente estudo, para
compreender a complexidade que trazem as enunciações das participantes, as alunas-mães-
imigrantes, em torno do significado que atribuem às suas ações, recorro a teóricos que se
debruçam sobre:
a) a questão da diáspora como um fenômeno migratório complexo que envolve
negociação, marcação identitária, refutação e contestação de sentidos na oscilação
entre a tradição e a tradução (HALL, 2003; 2006);
b) o questionamento das práticas linguísticas como pretensamente encerradas em
comunidades linguísticas homogêneas (MAKONI; PENNYCOOK, 2015;
SIGNORINI, 2002; GARCIA; WEI, 2014) para analisar os sentidos conferidos
pelas participantes da pesquisa a seus usos linguísticos (bem como aos usos
linguísticos das suas filhas);
c) raça como uma linguagem, um significante flutuante (HALL, 1995; 2003);
d) a associação entre os marcadores de raça e outros a conjugar opressões de forma
interseccional, produzindo imagens de poder que silenciam e encerram
determinados sujeitos a lugares sociais de subalternidade no imaginário social e na
estrutura de produção e distribuição do conhecimento e de recursos como trabalho
(SPIVAK, 2010; COLLINS, 2018; 2019; hooks, 2018; 2019a; 2019b).
32
e) ideologias linguísticas que associam grupos a formas linguísticas valendo-se de
discursos que operam, com uma pretensão de neutralidade (ideologia da
padronização), a naturalizar diferenças sociais, mapeando zonas de pertencimento
com base em recursos simbólicos considerados de prestígio (MILROY, 2011), que
servem para conferir (i)legitimidade de falantes aos sujeitos (SIGNORINI, 2002;
2006).
f) a importância de compreender o enunciado como uma produção histórica e
socialmente informada, orientada a sujeitos específicos marcados hierarquicamente
em suas posições sociais, conforme apreciações mais ou menos estáveis no
horizonte apreciativo do enunciador que refletem ideologias presentes no
imaginário social (BAKHTIN, 2003; 2010)
Ao buscar uma compreensão sobre como se organizam os sujeitos em sociedade, a
etnografia é tomada como uma epistemologia, ou um modo de conhecer. Não obstante não se
reduzir a um método ou conjunto de procedimentos a serem aplicados a um objeto, em uma
etnografia, a geração de dados precisa ter critérios bem definidos. Após a contextualização do
cenário em que se desenvolveu o curso de português para mães imigrantes, trato de apresentar
os critérios utilizados para a geração de dados de acordo com a pertinência para este estudo nas
seções seguintes.
2.1 O CENÁRIO DA PESQUISA
Com vistas à contextualização do cenário da pesquisa, apresento o local de realização
do curso de português para mães imigrantes, a Universidade Federal de Santa Catarina, e os
procedimentos de construção do campo que envolveu um percurso de contato com vários
sujeitos vinculados a instituições como ONGs, órgãos oficiais de apoio a imigrantes e entidades
religiosas.
2.1.1 A Universidade Federal de Santa Catarina
A sede da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) situa-se no bairro Trindade,
em Florianópolis, capital do estado. Compreendendo a Ilha de Santa Catarina e uma pequena
porção continental, Florianópolis faz parte da Região Metropolitana da Grande Florianópolis
(RMF), formada por mais oito municípios: Águas Mornas, Antônio Carlos, Biguaçu,
33
Governador Celso Ramos, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São José e São Pedro de
Alcântara. Conforme Schreider, quase 90% da população da RMF está concentrada na
conurbação de quatro municípios: Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça (SCHREINER,
2019, p. 6).
O bairro Trindade, em que está localizado o campus Reitor João David Ferreira Lima,
onde foi realizada esta pesquisa, situa-se próximo ao centro da cidade. Localiza-se neste bairro
um dos terminais urbanos e um dos shopping centers da cidade, além de escolas públicas
municipais, escolas estaduais, escolas privadas, estúdios de dança, escolas de idiomas, escolas
de esportes, academias de yoga, entre outros locais de oferta de ensino. No entorno da UFSC
também se encontram muitos bares, padarias, farmácias, cafés, mercados, restaurantes,
hospitais, dentre os quais o Hospital Universitário, configurando o bairro como importante
lugar de circulação de pessoas e de oferta de serviços.
A presença da UFSC no bairro e o interesse pela residência na região propicia o
aumento dos preços de aluguéis durante o ano letivo, por conta da especulação imobiliária, em
contraposição ao aluguel nos bairros situados em praias da Ilha de Santa Catarina, que também
aumentam no período de férias de verão.
Durante a semana, no ano letivo, a região da Universidade é bastante movimentada.
Mas o fluxo de pessoas e veículos diminui consideravelmente aos sábados e nas férias de verão,
quando estudantes de outros municípios e outros estados voltam para casa.
2.1.2 As salas de aula do curso
O curso de português para mães imigrantes foi oferecido nas dependências do bloco A
do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de Santa Catarina
(CCE/UFSC). O CCE é um dos onze centros integrantes do Campus Reitor João David Ferreira
Lima, sede da UFSC. Trata-se da construção mais antiga da instituição (1961) que nessa época
denominava-se Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFSC.
As aulas eram oferecidas em duas salas do CCE. Uma das salas tinha capacidade para
40 alunos e a outra, para 20 alunos. Ambas as salas eram equipadas com um computador com
uma tela fixada à parede, um quadro de vidro, um apagador, uma mesa e um aparelho de
ar-condicionado. No primeiro semestre (2018/2) foram utilizadas duas salas, no segundo
semestre de curso, em 2019/1, como as mães não levaram suas crianças, somente uma das salas
de aula foi utilizada.
34
2.1.3 O curso de português para mães imigrantes
Blommaert e Jie (2010) salientam que os procedimentos anteriores ao campo devem
atender a uma série de requisitos. Dois dos principais dizem respeito a 1) ter um campo e 2) ter
uma questão que “vale a pena investigar” (BLOMMAERT, JIE, 2010, p. 21). A trajetória de
construção do campo de pesquisa – o curso de português para mães imigrantes (a princípio,
destinado a mães haitianas) – deu-se após uma experiência de observação como professora
voluntária no projeto PLAM-UFSC, em 2017/2. Na oportunidade, tive acesso a relatos de
alunas provenientes do Haiti que mencionavam ter que ficar longe de seus filhos para vir em
busca de trabalho no Brasil. A escassez de pesquisas que tratavam da experiência específica
dessas mulheres quanto às necessidades e projetos em relação à aprendizagem de língua
portuguesa fazia desse um tema relevante a ser investigado.
A partir do recorte inicial de pesquisa – mães haitianas – procurei instituições que
trabalhavam no atendimento a imigrantes e refugiados em Florianópolis, como o Grupo de
Apoio a Imigrantes e Refugiados de Florianópolis (GAIRF)10 e o Centro de Referência e
Atendimento a Imigrante de Santa Catarina (CRAI-SC)11, que forneceram, além do apoio de
divulgação do curso, o contato com outros agentes imprescindíveis para a construção do campo.
Ricardo (pseudônimo), funcionário do CRAI-SC, convidou-me para uma reunião em que me
colocou em contato com a ONG Organização pelos Refugiados (OPR12), que, na época, oferecia
cursos no câmpus Florianópolis do IFSC, localizado no Centro da cidade. O CRAI-SC também
me pôs em contato com o padre Mauro, que organiza um curso língua portuguesa no bairro
Agronômica, próximo ao centro da cidade.
Na reunião, em que apresentei o projeto e o interesse em articular ações de ensino em
espaços em que já havia cursos ocorrendo, segui um dos preceitos éticos enfatizados por
Erickson (1990) quanto a evidenciar, desde o primeiro contato, os propósitos da pesquisa.
Frente ao meu interesse na concepção de um curso de português voltado a mães haitianas, padre
10 O GAIRF é composto por diversos atores sociais da sociedade civil e de instituições (Organizações Não
Governamentais – ONGs, igrejas e universidades). Desde 2014, realiza reuniões públicas na Arquidiocese de
Florianópolis em torno de várias ações, dentre elas o processo de reivindicação de um espaço de referência e
atendimento a imigrantes em Santa Catarina. Mais recentemente, por conta da pandemia do coronavírus, tem
realizado reuniões virtuais. 11 No início de 2018, a partir da luta desses vários atores sociais, foi inaugurado o CRAI-SC, que, de fevereiro a
setembro de 2019, realizou 10.159 atendimentos a imigrantes. Entre os serviços prestados pelo CRAI-SC, estavam:
fornecimento de informações sobre legalização para moradia e para o trabalho, elaboração e impressão de
currículos, divulgação e organização de cursos de língua portuguesa, cursos preparatórios, grupos de atendimento
psicológico, entre outros. No final de 2019, no entanto, o CRAI-SC fechou as portas por falta de verba. 12 A Organização pelos Refugiados (OPR) é uma ONG destinada a apoiar os imigrantes em Florianópolis. Entre
as ações que desenvolve, está a oferta de cursos de língua portuguesa.
35
Mauro teceu comentários a respeito da pertinência do projeto, conforme relato abaixo em trecho
do diário de campo:
Quando me apresentei, padre Mauro parecia muito atento ao que eu dizia.
Quando terminei de falar, ele mencionou que “elas [mães imigrantes] não
saem muito de casa” e que isso acabava diminuindo a chance de interagirem
em português. (Trecho do diário de campo elaborado no dia 23/04/2018).
O comentário do padre chamava a atenção para as oportunidades reduzidas de contato
com a língua portuguesa por essas mulheres, cuja vida estava bastante restrita ao ambiente
doméstico. No entanto, essa informação contrastava com uma observação de Luiza, da OPR,
sobre a participação de mulheres haitianas nas aulas fornecidas no IFSC:
Luiza comentou que “os professores dizem que tem alunas que levam os filhos
para a aula”. Segundo relatos dos professores, a presença das crianças em sala,
por vezes dificultava a atenção das mães, de modo que, em algumas situações,
os professores atuavam como cuidadores [nos cursos do IFSC há dois
professores atuando juntos nas salas de aulas do projeto] (Trecho do diário de
campo elaborado no dia 23/04/2018).
Os cursos em questão (tanto o curso organizado pelo padre Mauro quanto o do IFSC)
eram fornecidos em diferentes bairros, ilustrando realidades distintas de participação de
mulheres-mães-haitianas em cursos de português. Aquilo que professores(as) do IFSC
relataram a Luiza condizia com o que eu testemunhara no PLAM-UFSC, em que uma das alunas
levava sua filha para assistir às aulas.
Como resposta a cenários em que alunas-mães-imigrantes, que precisassem levar seus
filhos para aulas de português, pudessem fazê-lo sem prejuízo para a participação nas atividades
propostas, idealizei um curso que pudesse ter um espaço específico para as crianças. Com isso
em mente, demonstrei meu interesse em realizar a pesquisa com parceria da ONG, no IFSC,
com cujos funcionários estive reunida discutindo a proposta. Abaixo, compartilho a troca de
mensagens de e-mail com a OPR.
Olá, Luiza, tudo bem?
Aqui é Narjara, da UFSC, que esteve na reunião com Ricardo e Andreia no
CRAI-SC, na segunda-feira.
Em primeiro lugar, parabéns pela ONG, pelo projeto com os imigrantes e
refugiados e pela maneira que conduz as ações – buscando pessoas
36
especializadas para o refinamento das ações. Em segundo lugar e
objetivamente, gostaria de saber se posso ter a sua permissão, a permissão dos
professores e assistentes e a permissão dos alunos do curso (os que queiram
participar), no seguinte sentido: gostaria de auxiliar ambientes de sala de aula
que tenham mães haitianas, para perceber as necessidades especiais de
aprendizagem desse grupo.
Considero que as mães têm uma natural dificuldade de se envolver de maneira
focada e continuada em seus estudos, principalmente as haitianas (mais ainda
que os homens/pais haitianos que já possuem essa característica descontínua
nos cursos com haitianos que conheço - por questões que você bem sabe quais:
trabalho excessivo, cansaço, desmotivação, depressão e outras).
Para um momento imediato, gostaria de acompanhar os grupos que já existem
no IFSC e, em um momento vindouro – como você falou que poderia haver –
gostaria de auxiliar com as aulas para mães (da maneira que vocês precisarem,
se precisarem e como eu puder).
Tenho interesse em fazer um trabalho de campo sobre o tema em minha pós-
graduação, cujas reflexões advindas dessa experiência de participação em
cursos possam servir de auxílio à elaboração de cursos para esse público em
específico e para a formação de professores de modo geral. Portanto, se você
achar que essa minha participação pode ser frutífera para o projeto de vocês,
gostaria de formalizar a participação de todos os interessados em termos de
compromisso assinados, após a explicação minuciosa de minhas intenções
sobre o projeto para cada um deles, de modo que possamos proceder
eticamente sem gerar riscos desnecessários a nenhum dos envolvidos e não
prejudicar o andamento das aulas – objetivo principal de todos nós. Sabendo
que, em qualquer momento da pesquisa, quaisquer dos participantes pode
decidir não mais participar e do contrário, os que inicialmente não quiseram,
podem mudar de ideia e participar.
Desculpe o e-mail longo, mas eu gostaria de que minhas intenções fossem
logo conhecidas para que não haja nenhum mal-entendido e para que eu
proceda da forma mais ética o possível e, principalmente, para que você não
perca tempo.
Reitero aqui a minha disposição para o que estiver em minhas possibilidades
sobre a elaboração de materiais para os cursos do IFSC e para o CRAI-SC,
consequentemente, como acordado em reunião.
Agradeço e aguardo seu retorno.
Um abraço!
Narjara Reis
(Mensagem de e-mail, 25/04/2018, v. cópia em fac-símile no Anexo G).
Como resposta, no dia 25 de abril de 2018, Luiza me convidou para participar de uma
reunião na ONG, para a qual confirmei presença. No dia da reunião, ocorrida em 28 de abril de
2018, conheci dois outros funcionários da ONG e duas professoras. Como combinado, expus a
37
minha intenção para os outros participantes da pesquisa. As duas turmas em andamento, à
época, ocorriam à noite e os professores atuavam como voluntários. A seleção era feita com
base em conhecimentos de francês, para os que trabalhavam com imigrantes do Haiti, e de
espanhol, para a turma de hispano falantes. As duas professoras eram estudantes da UFSC, uma
em nível de graduação e outra, de pós-graduação.
Sobre a turma de mães haitianas, pensamos em conjunto algumas estratégias para
acolhê-las. Idealizamos ser melhor a utilização de duas salas: uma em que as mães teriam aulas
e outra sala, de preferência bem próxima, que pudesse servir como espaço para as crianças
brincarem e se ocuparem com atividades, aos cuidados de voluntários preparados para tanto.
Nessa divisão de tarefas, compreendemos que seriam necessárias, além de duas pessoas na
função de ensinar a língua, duas outras pessoas para cuidarem das crianças.
Combinamos que, para que uma turma nova fosse aberta, eu teria que sondar a
demanda para garantir a necessidade dessa turma, para que pudessem ajudar como podiam (com
material didático e com um processo de seleção para recrutar uma professora auxiliar para
conduzir as aulas ao meu lado). Assim, realizei um pré-cadastro através de um cartaz de
divulgação online veiculado na rede social Facebook (cf. Figura 1).
Figura 1 – Cartaz de pré-cadastro para o curso de Português para Mães Haitianas
Fonte: Elaborada pela autora
38
Em menos de uma semana, mais de dez pessoas entraram em contato para buscar
informações sobre o curso, por meio de telefonemas ou mensagens de WhatsApp. No entanto,
essa opção não se mostrou eficaz, pois a maioria das alunas interessadas não morava na porção
insular de Florianópolis. Importa registrar que os contatos eram feitos pelos maridos das alunas
ou por pessoas delas conhecidas. Nesses contatos, as pessoas que ligavam destacavam a falta
de recursos financeiros para o deslocamento até o local do curso, o que me leva a concluir que
a realização do curso no local em que estavam os imigrantes teria sido uma alternativa mais
viável para a participação do contingente de mulheres. No entanto, os acordos com a ONG não
me fizeram pensar nessa alternativa e eu segui durante o mês de junho de 2018 realizando o
cadastro de mulheres interessadas. À medida em que os interesses e questionamentos se
intensificaram, comecei a repassar essas informações via e-mail, ao grupo da OPR:
Caros,
Gostaria de lhes informar a quantidade de mães pré-cadastradas no projeto:
Na Ilha de Florianópolis: quatro mães dos bairros Trindade, Agronômica e
Carvoeira.
No Continente: cinco mães - duas de Palhoça e três de São José.
Outras nacionalidades: uma argentina e uma síria.
Além de uma mãe grávida interessada em doações de artigos para o seu bebê
que nascerá em breve.
Como veem, a demanda está maior na parte continental - um dos maridos
perguntou sobre se haveria auxílio transporte.
Gostaria de combinar com vocês uma quantidade máxima de crianças/bebês
para estarem em uma sala. O que pensaram sobre isso?
No próximo domingo, entrarei em contato com mais mães interessadas. [...]
irei no próximo domingo - estou em contato com um haitiano responsável pela
missa.
[...] (Mensagem de e-mail, 11/06/2018, v. cópia em fac-símile no Anexo G).
Sobre a possibilidade de auxílio financeiro para o transporte destinado a quem morava
na região continental da Grande Florianópolis, Andressa, funcionária da OPR, em uma
conversa, disse-me que já haviam tentado, mas que era difícil. Nas palavras dela: era “difícil
39
por que não h[avia] integração entre os terminais. O CRAS13 de Biguaçu só consegue garantir
a passagem até o TICEN” (Trecho do diário de campo elaborado no dia 14/06/2018).
Renata, do CRAI-SC, já havia mencionado uma demanda significativa por cursos de
português na parte continental da cidade, durante a reunião com Ricardo. Na ocasião, Renata
comentou que, embora já houvesse cursos de português em Florianópolis, em certos pontos da
região continental, onde havia comunidades de imigrantes haitianos, tais cursos eram raros e,
portanto, era urgente conceber e oferecer mais cursos. Na busca por demandas próximas ao
IFSC, onde seria idealmente o curso em parceira com a ONG, fui informada por Rosa14 da
realização de cultos em região próxima ao centro da cidade, com cerca de 100 haitianos, nos
domingos pela manhã. No início de junho de 2018, fui conhecer o local, conforme relato na
vinheta abaixo:
Estava deserto, como o centro de Florianópolis no domingo sempre costuma
estar. Do outro lado da rua, avistei o lugar. Algumas poucas pessoas estavam,
ao que parecia, assistindo ao futebol. Achei estranho, me aproximei e
perguntei para um homem escorado na porta se sabia sobre a existência de um
culto para haitianos. Ele percebeu minha aproximação. “Ah! O culto dos
haitianos? É subindo aquela escadinha ali”, disse apontando uma porta estreita
e aberta que eu não tinha percebido. Subi dois degraus, lentamente, tentando
observar tudo. Voltei. Imaginei que se encontrasse alguém que não
compreendesse português, precisaria me apresentar em francês, de modo que
me entendessem. Lembrei do telefone e usei o tradutor do Google e decorei
uma frase de apresentação em francês. Estava nervosa. Podia ouvir o som do
culto em crioulo haitiano. Encontrei um rapaz e me dirigi a ele em francês. “Je
suis Narjara, enseignant...”, ao que ele me respondeu: “pode falar em
português mesmo, eu me chamo Jean Luc”. [...] prossegui, me apresentando
em português e, em seguida, comecei a explicar o projeto e o porquê de eu
estar ali. Ele me disse que achava boa a ideia do curso para mães, porque uma
amiga sua havia reclamado de não conseguir prestar muita atenção às aulas
que cursava por conta de ter que levar o filho e dividir a atenção com ele. Jean
Luc me deu mais um indício de que fazia sentido fazer um curso com essa
estrutura. Ele me deu o número do seu telefone depois de me prometer que
falaria com o responsável pelo culto (Trecho do diário de campo elaborado no
dia 03/06/2018).
13 O CRAS é o Centro de Referência de Atendimento Social “destinado ao trabalho social com famílias”. Entre
seus objetivos está o de “promover seu acesso [acesso das famílias] e usufruto de direitos e contribuir na melhoria
de sua qualidade de vida”. Dentre os usuários aos que se destina, estão: “famílias em situação de vulnerabilidade
social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de
pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos
territórios de abrangência do CRAS, em especial”. Em Florianópolis, tem treze unidades, doze das quais na região
da ilha e uma no bairro Estreito, região continental. Em Biguaçu, conta com duas unidades. (PREFEITURA DE
FLORIANÓPOLIS, 2020). 14 Rosa era aluna da turma avançada de português e residia no Brasil havia quatro anos (2018). Eu a conheci
quando atuei no projeto PLAM, em 2017.
40
Tratava-se da igreja evangélica de origem pentecostal O Brasil para Cristo, localizada
no bairro da Prainha em Florianópolis, onde os imigrantes haitianos conseguiram acesso ao
espaço emprestado para que pudessem seguir seus ritos, importante modo de agregação e
fortalecimento étnico na diáspora.
No Haiti, as religiões protestantes são majoritárias (GRONDIN, 1983). Mézié (2016)
pontua o crescimento das religiões protestantes do Haiti no séc XX, de modo mais acentuado,
após a década de 1960, como consequência de:
[...] uma intensa circulação regional [após o afastamento da religião católica,
tradicional da França] da influência dos Estados Unidos na região e da
reivindicação de uma crescente identidade regional [em que] objetos, práticas
e crenças foram cada vez mais partilhados entre os países da bacia caribenha
(MÉZIÉ, 2016, p. 302).
Mézié (2016) destaca, ainda, o papel das religiões protestantes na diáspora haitiana
nos Estados Unidos e no Canadá, e a estrutura montada com acampamentos que se formaram
em Porto Príncipe e nas periferias com vistas ao acolhimento material e espiritual do povo
haitiano no período após o terremoto de 2010. O que vemos ocorrer em Florianópolis é que as
igrejas protestantes também têm um importante papel de acolhimento a esses sujeitos
imigrantes, reservando a eles um espaço para que possam professar sua fé em suas próprias
línguas, articulando modos de compreender e reformular sua experiência diaspórica junto a
outras famílias em diáspora15.
Duas semanas depois desse primeiro encontro com Jean Luc, ele entrou em contato
comigo e eu tive aprovação do pastor para ir ao culto fazer o convite para o curso de português.
Descrevo abaixo a situação em que pude, finalmente, compartilhar com possíveis pessoas
interessadas, a intenção de realização do curso de português para mães haitianas:
Subi as escadas. Quando alcancei o andar de cima, avistei a impressionante
quantidade de mais de cem pessoas sentadas ouvindo um culto em crioulo
haitiano conduzida por um pastor. Jean Luc me apontou um banco para sentar.
Sentei e esperei o fim da celebração. Durante esse tempo observei. Havia
crianças andando por ali, alguns homens e mulheres de pé acompanhavam
essas crianças de perto. Uma delas, bem pequena, que parecia ter aprendido a
andar recentemente, se aproximou de mim. Eu ri, olhei para a mulher que a
acompanhava, provavelmente, a mãe, eu pensei. Sorri, ela sorriu de volta. A
distribuição do espaço era feita com duas fileiras de bancos com um corredor
15 Segundo dados do IBGE do último censo, de 2010, as duas religiões mais expressivas no Brasil são a Católica
Apostólica Romana (com 123.280.172 fiéis) e as evangélicas, com mais de 104 milhões de adeptos nas diferentes
orientações. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/137#resultado Acesso em: 28 jun. de 2021.
41
no meio. Na fileira de bancos do lado direito, só havia homens sentados. Na
fileira do lado esquerdo, mulheres e crianças. Essa distribuição me chamou
atenção. Ao final do culto, Jean Luc me levou até o pastor que tinha um
microfone nas mãos. As pessoas já estavam todas de pé, conversando e se
preparando para ir embora. O pastor disse algo ao microfone, acredito que
pedindo a atenção das pessoas para algo que eu iria falar. Fiz a apresentação
e o convite em francês e Jean Luc reforçou em crioulo, me auxiliando a
registrar os dados dos interessados no curso em um caderno. Anotei também
o número do telefone do pastor, que também estava interessado no curso para
a sua esposa e para a esposa de um amigo seu. Em dado momento, havia um
grupo de pessoas ao meu redor e eu isso me fazia feliz, pois indicava que o
curso seria possível (Trecho do diário de campo elaborado no dia 17/06/2018).
No dia seguinte a esta visita à igreja, repassei as informações do pré-cadastro para a
ONG (cf. ANEXO A). O documento da pré-inscrição continha dados de mais de 30 alunas. No
entanto, com a confirmação de que as aulas no IFSC-Florianópolis só poderiam ocorrer à noite,
redirecionei o curso à UFSC, uma vez que, por questões pessoais, eu não podia assumir
compromissos à noite. Nesta altura, eu seguia idealizando um espaço escolar – uma sala de aula
tradicional – para a oferta do curso, o que dificultou o atendimento à demanda procurada. No
primeiro dia de aula, as mães que haviam feito cadastro no dia do culto, no Centro, não foram
para a aula na UFSC – questão que salienta a necessidade de que os cursos de línguas e as outras
ações destinadas a imigrantes e refugiados possam ocorrer em locais próximos às suas
moradias. Na UFSC, consegui autorização para utilizar salas de aula do Centro de Comunicação
da UFSC (CCE) local em que foram realizados os dois semestres do curso (2018/2 e 2019/1).
Outro aspecto a ser ressaltado relativamente à idealização do curso diz respeito à falta
de consulta às alunas quanto aos elementos do espaço reservado para as crianças. Apesar de
sempre ter a preocupação de contemplar suas necessidades, não apliquei questionários, nem
perguntei se o espaço oferecido respeitava o que elas entendiam como adequado às suas filhas
e aos seus filhos. No entanto, ao longo desse curso, especificamente, as crianças tinham
liberdade de ir e voltar de uma sala para outra, desde que acompanhadas pelas cuidadoras. Desse
modo, as mães podiam optar por manter seus filhos perto delas ou deixá-los na sala reservada
especificamente para eles.
Após a confirmação de 30 alunas no pré-cadastro, como combinado, a OPR contratou
Anya (pseudônimo), graduanda em Letras-Francês na UFSC, como professora auxiliar, e Lana
(pseudônimo), graduanda em Letras Libras na UFSC, para atender as filhas e filhos das alunas.
Além de Lana, Ísis, doutoranda na Pós-Graduação em Linguística, e Gabriela, graduanda de
pedagogia da UFSC, realizavam atividades com as crianças no primeiro semestre.
42
No primeiro dia de aula, 11 de agosto de 2018, Rosario, da Venezuela, que havia me
contactado um dia antes, compareceu ao curso com sua pequena filha, Penélope, de 4 anos.
Nesse momento, apesar de o curso ser inicialmente reservado a mães haitianas, a procura de
outras mães com filhos, associada à procura de mães haitianas sem filhos, fez com que o projeto
se abrisse para mães imigrantes de quaisquer nacionalidades. A sugestão foi de Andressa, da
OPR, que acompanhou o primeiro dia de aula do curso. Registrei em diário a especificidade
desse dia:
O curso para mães haitianas transformou-se em curso para a mãe
venezuelana. Por sugestão de uma das integrantes da ONG – Andressa – fiz
um novo cartaz modificando o público alvo do grupo – Grupo de Mães
Imigrantes. Começamos uma nova leva de publicidade para conseguir alunas
para o curso que já dispõe do pessoal e de estrutura para recebê-las com seus
filhos (Trecho do diário de campo elaborado no dia 15/08/2018).
Com a confirmação do curso na UFSC e a abertura para mães imigrantes de quaisquer
nacionalidades, novos cartazes foram feitos, dessa vez, com as especificações de horário, dia e
local de realização (cf. Figura 2).
Figura 2 – Cartaz sobre Curso de Português para Mães Imigrantes
Fonte: Elaborada pela autora
43
No segundo dia de aula, dia 18/08/2018, seis (6) alunas compareceram. Três delas
eram haitianas, duas venezuelanas e uma búlgara. A sala de aula refletia o trânsito imigratório
para o país. Anya, a professora de francês auxiliar, idealizou um grupo de WhatsApp para reunir
as alunas e as professoras auxiliares e adicionou os nossos contatos. Duas semanas depois do
início do curso, no entanto, ela nos informou que, por questões de ordem pessoal, teria que
deixar o projeto.
As características singulares do curso de português para mães para imigrantes são
trazidas aqui na intenção de mostrar que, em relação aos outros cursos da ONG, a identidade
de um curso para mulheres imigrantes que precisavam levar seus filhos demandava reflexão e
autonomia pedagógica específicas na condução das ações. De modo distinto dos cursos de
português para imigrantes que já eram realizados pela ONG, no IFSC, o local, a estrutura, o
horário, a carga horária e o vínculo com uma pesquisa científica faziam com que o curso de
português para mães imigrantes precisasse responder a exigências diferentes dos cursos
regulares da OPR.
Com a saída de Anya, que havia sido contratada pela ONG, entendemos (eu e os
representantes da ONG) ser melhor que o curso seguisse sob minha responsabilidade, sem
vínculo com a organização. Após conversas com Andressa e com outros integrantes da OPR,
foi acordado que o curso de português para mães imigrantes, que recebera todo apoio possível
dessa organização até sua concretização, seguiria independente dela. Assim ele foi
desenvolvido nas duas edições (2018/2 e 2019/1). No segundo semestre, no entanto, não houve
necessidade de cuidadoras, uma vez que as alunas que frequentavam o curso não tinham
necessidade de levar consigo seus filhos e filhas e, portanto, o espaço infantil não foi necessário.
Esse percurso, bem representativo de uma pesquisa etnográfica, demonstra a flexibilidade
requerida nesse tipo de investigação.
Em uma comunicação pessoal16 sobre esta pesquisa com o professor Sinfree Makoni,
ele pontuou a importância de nos atermos, na Linguística Aplicada, às questões da vida real. A
aprendizagem de português por mães haitianas era um problema da vida real, dizia respeito a
condições e consequências da linguagem para pessoas reais. Em suas palavras:
16 A comunicação pessoal ocorreu após uma mesa redonda do II Seminário de Políticas Linguísticas Críticas,
realizado de 26 a 30 de novembro de 2018, no Centro de Comunicação e Expressão da Universidade Federal de
Santa Catarina. No evento, houve uma roda de conversa intitulada “Políticas Linguísticas: uma perspectiva
crítica”, em que foram apresentados trabalhos dos grupos de pesquisa “Políticas Linguísticas Críticas”, coordenado
pela Prof.ª Dr.ª Cristine Görski Severo (UFSC), e “Educação Linguística e Pós-Colonialidade”, coordenado pela
Prof.ª Dr.ª Maria Inêz Probst Lucena (UFSC). Na sequência das apresentações dos grupos, houve um debate para
o qual o professor Dr. Sinfree Makoni (Penn State University) foi convidado a contribuir com suas reflexões para
as pesquisas em andamento apresentadas na ocasião.
44
[...] esse [a aprendizagem de português por mães haitianas] é um problema
real. Para mim, teoricamente, os problemas são interessantes se começam por
questões reais, e não por problemas que você cria no seu escritório. Questões
sobre migração, questões sobre mães que deixam seus filhos, questões sobre
mães se adaptando em novos contextos são problemas reais (MAKONI,
2018).
O professor Makoni apontou, na ocasião, a importância de investigar as estratégias, as
condições, as opressões e, principalmente, os sentidos singulares que emergem nos cenários
investigados. As questões em torno de decisões migratórias nos deslocamentos, em
consequência da intensidade dos fluxos na modernidade recente, têm sido apontadas como
importantes lugares de investigação situada a informar o debate acerca de políticas linguísticas.
Como ressaltam pesquisadores que desenvolvem etnografias, mesmo que nos
tenhamos assegurado de todos os detalhes durante o planejamento, é preciso sempre estar
preparado para mudanças ao longo da pesquisa (BLOMMAERT; JIE, 2010; HELLER,
PITKÄINEN, PUJOLAR, 2018). Essas modificações dão novos contornos à investigação e
mostram que, quando nos colocamos a investigar aspectos relacionados ao social e àquilo que
é próprio da vida, pode ser necessário que mudemos nossas perspectivas para ajustá-las ao que
é vivo e que se transforma a todo instante. Esse percurso evidencia também a quantidade de
pessoas envolvidas neste projeto, que me auxiliaram a tornar o curso de português possível para
essas mulheres, sujeitos movidos por uma certeza de que aprender a língua majoritária nacional
era importante para elas. Resta-nos saber, desde o ponto de vista dessas mulheres, qual é a
importância e o resultado desse engajamento.
Nesse sentido, importa investigar as práticas sociais que informam os sentidos que
cada grupo toma como língua(gem), quais questões envolvem suas posições sociais enquanto
mães, alunas, professoras, comunicadoras, estudantes, imigrantes, a partir de seus pontos de
vista. Deste modo, é possível tomar distância de visões homogeneizantes sobre comunidades e
práticas sociais externamente definidas (MAKONI; PENNYCOOK, 2010). Os novos contornos
que tomou a pesquisa não foram menos instigantes, nem menos interessantes e se tornaram
cruciais para compreender como essas mães, que puderam participar do curso, aprendem
português em Florianópolis.
Na próxima seção, passo a detalhar como se deu o trabalho de geração de dados nesta
pesquisa.
45
2.2 A HISTÓRIA NATURAL DA PESQUISA
Após o início da negociação para o desenvolvimento do curso de português para mães
imigrantes, aguardei a aprovação do projeto de pesquisa pelo CEPSH-UFSC para apresentar o
Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) às alunas, discutir com elas o documento
e dar início às áudio-gravações durante as aulas. O trabalho em campo durou dois semestres
(2018/2 e 2019/1), durante os quais participei como professora e pesquisadora do “Curso de
português para mães imigrantes”.
2.2.1 As questões éticas
Segundo orientações do CEPSH-UFSC, foram produzidos dois TCLEs. Um deles foi
dirigido aos professores auxiliares da pesquisa e o outro às alunas mães procedentes do Haiti,
já que, naquele momento, o curso havia sido idealizado somente para mães dessa
nacionalidade17.
Os documentos dirigidos às alunas foram feitos em duas versões: em português e em
crioulo haitiano (cf. ANEXOS B e C). Para a tradução da versão em crioulo haitiano, contactei
Rosa18. A aprovação do projeto foi dada pelo CEPSH-UFSC em setembro de 2018. Somente
após a aprovação, explicação e anuência das alunas, as gravações em áudio começaram a ser
realizadas. Neli, da Bulgária, e Marlene, da Venezuela, fizeram questão de que seus próprios
nomes fossem utilizados na pesquisa. Todas as outras alunas, professoras auxiliares e pessoas
mencionadas tiveram suas identidades preservadas por meio da atribuição de pseudônimos.
A posição de observadora-participante, como professora, proporcionou um contato
próximo com as alunas participantes da pesquisa. Relações de confiança e amizade foram
estabelecidas, e as fronteiras entre as identidades sociais de professora, amiga e pesquisadora
foram colocadas à prova. Marlene, por exemplo, em uma de nossas conversas, mencionou “te
lo digo en intimidad, (...) eu no posso expressar isso diante de la gente” (MARLENE,
20/10/2018), circunscrevendo a um espaço confidencial temáticas pessoais que, por questões
éticas, não foram utilizadas na geração de dados.
17 Não foi elaborado um TCLE específico para as mães de outras nacionalidades. No entanto, houve o
consentimento das alunas mães de outras nacionalidades para a participação neste estudo. 18 Rosa é haitiana, enfermeira com especialização em partos. Além do crioulo, do francês e do português, somava
ainda ao seu repertório conhecimentos em inglês e espanhol.
46
Cavalcanti (2006) ressalta a importância de refletirmos sobre o conceito de “ética”,
uma vez que se trata de um construto hegemônico e, como tal, tende a privilegiar a univocidade
à pluralidade de vozes. No intuito de privilegiar o ponto de vista das participantes da pesquisa,
busquei dar relevo aos significados atribuídos pelas participantes da pesquisa. Não obstante,
importa registrar que nem sempre é possível garantir o acesso total a esses sentidos. Na presente
pesquisa, a montagem e o recorte na geração de dados foi um procedimento conduzido por
mim, enquanto pesquisadora. No entanto, busquei contemplar a perspectiva ética, procurando
dar sentido às perspectivas apontadas pelas denominadas participantes da pesquisa.
No dia 20/10/2018, no início da primeira aula, coloquei-me à disposição para dirimir
dúvidas das alunas sobre a participação na pesquisa. Marlene, sempre atenta, objetou:
Marlene: Uma pergunta que me preocupa, sabe? estava pensando se este é um
projeto para mães haitianas imigrantes e não estão essas madres, se lo van a...
o sea... si el projecto no tiene las madres haitianas... igual te lo van a validar?
Narjara: Como assim, validar?
Marlene: Conferir?
Narjara: Como é uma pesquisa etnográfica, se o campo muda, então eu vou
ter que registrar isso [...]
Marlene: E não cambia el proyecto?
Narjara: Sim, a gente vai ter que mudar, com certeza, vai ser a experiência de
mães imigrantes. Tem que mudar o projeto [...] o título da pesquisa está aquele
porque eu submeti em julho e as aulas ainda não tinham começado... eles [o
Comitê de Ética em pesquisa da UFSC] aprovaram a pesquisa de mães
haitianas... no momento da aprovação do título do projeto, no momento de
aprovar o projeto, eu tinha feito um pré-cadastro com 30 mães e elas não
vieram... eu comecei o pré-cadastro em junho, eu tive que parar de receber [as
inscrições] e dizer que já estava lotada a turma, mas elas não vieram
16:57 Marlene: Yo pregunto por lo siguiente, esté... el nombre del proyecto
tuvo que ver con datos de inmigración, o sea, que usted, como profesora,
determinó de tantos inmigrantes que están llegando ahora a Floripa hay más
madres haitianas que falo que lleva el título del proyecto, sabe? Porque yo,
como investigadora, siempre ando por encima da cuestión, entonces, claro,
cambias, enton, eso cambia cuando tiene una investigación… sorprende,
entonces, mi pregunta al final es va a cambiar el título el proyecto?
Eu: Sim, com certeza.
Marlene: Me senti à vontade com sua resposta (Trecho do diário de campo
elaborado no dia 20/10/2018).
47
A dúvida de Marlene fez com que eu explicitasse questões pertinentes à pesquisa
etnográfica para o grupo de alunas. Foi importante explicar que a pesquisa em campo está
sempre sujeita a modificações e que, apesar da importância de um projeto previamente
elaborado, antes da entrada em campo, nunca se pode garantir o que nele encontraremos
(BLOMMAERT; JIE, 2010). Em suma, apesar de terem assinado um projeto que originalmente
se dirigia a mães haitianas, expliquei para todo o grupo que as experiências de mães imigrantes
provenientes de outras nacionalidades seriam igualmente consideradas para a geração dos
dados, análise e interpretação do campo.
Este caso chama a atenção também pelo compromisso ético burocrático, firmado junto
a um comitê, elaborado com base em procedimentos usuais de pesquisas realizadas na área da
Saúde. Por não cobrirem, em seus procedimentos, as especificidades das Ciências Humanas,
principalmente as que questionam vieses apriorísticos, tais compromissos acabam por enrijecer
os instrumentos de geração de dados. Esse foi o caso do TCLE, que foi elaborado para um
público e, no desenvolvimento da pesquisa, foi aplicado a outro, mais diversificado.
O tempo de submissão e aprovação do projeto, o tempo de mudança do fluxo de
imigrantes e o tempo de investigação se desencontraram nesta pesquisa. O caso exposto acima
importa ser abordado, considerando o impacto que pressupostos desse tipo causam na
vinculação com os participantes da pesquisa, na geração de dados e no andamento da pesquisa.
O acordo feito com o CEPSH-UFSC impediu-me de refazer o documento ou elaborar um que
se ajustasse ao novo cenário, qual seja, a inserção na pesquisa de novas participantes, além de
imigrantes haitianas.
A pressuposição de que um projeto está finalizado e de que os instrumentos estão
acabados quando da submissão ao comitê é própria de um arcabouço positivista, que não serve
aos propósitos desta pesquisa. No entanto, houve avanços e alterações recentes no sistema de
submissão, que visam a orientar pesquisadores das áreas das humanidades quanto ao
preenchimento de lacunas do sistema que usam terminologias e procedimentos alheios a esse
campo de investigação.
Importa destacar a importância das reflexões éticas na pesquisa considerando que os
pressupostos que as subjazem podem estar pautados em visões totalizantes e hegemônicas, por
vezes desfavoráveis aos sujeitos participantes da pesquisa (CAVALCANTI, 2006).
Levando em conta os elementos relatados, passo a apresentar o diário de campo, as
áudio-gravações e os procedimentos utilizados para a interpretação e análise dos dados gerados
em campo nas subseções seguintes.
48
2.2.2 Diário de campo
Um dos importantes instrumentos para a geração de dados na etnografia é o diário de
campo, considerado por Erickson (1990) como mais um dos pontos de vista a partir dos quais
se pode observar um cenário. Blommaert e Jie (2010, p. 30) ressaltam a importância de observar
“em vários níveis, diferentes espaços e lugares” e fazer registros. Como apontam os autores, o
diário de campo deve estar associado à reunião de todo tipo de documento que se possa
encontrar no campo, ao que se referem como garbage (lixo, refugo). A partir dos registros,
várias possibilidades de conexão entre as notas começam a ser feitas como passos para a
resolução de um enigma, qual seja, a busca de respostas para as perguntas de pesquisa.
No caso desta pesquisa, foram registrados no diário de campo momentos em que
participei de reuniões, encontros com funcionários de organizações oficiais e não
governamentais, enunciados, conversas informais e impressões sobre o andamento de todo o
processo, além dos aspectos gerais e pontos possíveis de análise oriundos dos encontros em sala
de aula. Esse instrumento foi importante para reavivar o tom geral dos momentos de interação
e para pontuar algumas das falas das alunas e dos outros participantes envolvidos, mostrando-se
útil para a contextualização e no processo de geração de dados.
O diário de campo mostrou-se particularmente importante quando associado às
transcrições dos áudios. Basear-me apenas nas gravações talvez não tivesse sido suficiente para
captar olhares, posicionamentos corporais e outros sinais que também diziam sobre a cena. Por
essas e outras razões, a busca por vários ângulos foi tão importante nesta etnografia.
Quando citado nesta pesquisa, o diário de campo serviu para mostrar a narrativa geral
e algumas das interpretações e protoanálises realizadas logo após os encontros no curso.
Entre outros recursos utilizados em interação com o diário de campo (documentos,
textos, fotografias), as áudio-gravações foram um dos recursos mais importantes para a geração
de dados, cujas especificidades passo a detalhar na subseção seguinte.
2.2.3 As áudio-gravações
Como já citado, o registro em áudio das aulas teve início somente após a aprovação da
pesquisa pelo CEPSH-UFSC e da anuência das alunas que passaram a participar da pesquisa
após essa provação institucional. Para o registro em áudio, utilizei um celular e um tablet. No
celular, foram escolhidos os aplicativos “Gravador” (de série) e “Gravador HD”. No tablet, o
aplicativo “Voice Notes” foi utilizado.
49
Durante as aulas, o celular, ou o tablet era deixado na mesa da professora ou em uma
carteira próxima das alunas. Os momentos de intervalo também eram registrados. No total do
curso, ao longo dos dois semestres, foram realizadas 20 aulas, das quais gravei 9, totalizando
cerca de 27 horas de gravação em áudio nos três aplicativos.
Quadro 1 – Registro em áudio das aulas dos dois semestres do curso
Ano 2018 2019
Mês AGO SET OUT NOV ABR MAI JUN JUL
Aulas
gravadas 20 10, 24 13 25
01, 08,
15 06
Aulas não
gravadas
11, 18,
28
01, 16,
22, 29 06 04, 11,
18
Fonte: Elaborado pela autora
No quadro acima, estão evidenciadas as aulas em que foram realizadas
audiogravações. O início das gravações ocorreu no dia 20/10/2018. No segundo semestre,
2019/1, para a primeira aula, compareceram Neli, da Bulgária, e Claitaine, do Haiti, que já
haviam assentido participação desde o semestre anterior e, por este motivo, fiz o registro da
aula. A interrupção das audiogravações em maio de 2019, que pode ser observada no quadro
acima, foi devida à presença de alunas que não haviam assentido participar ainda. Após o
assentimento, as audiogravações foram retomadas. Detalho, a seguir, o modo como foram sendo
desenvolvidas nossas conversas-entrevistas, que constituíram valiosas fontes de dados para a
presente pesquisa.
Claitaine, a única aluna com quem fiz uma entrevista oficialmente, foi entrevistada ao
final do primeiro semestre. Encontramo-nos para um café com o propósito definido de realizar
essa conversa. Esse único encontro individual, realizado para esse fim, foi registrado em áudio.
Com Neli, desenvolvi uma conversa, durante uma aula, com foco em suas experiências de
mobilidade, em que ela expôs, entre outros aspectos, os motivos pelos quais veio ao Brasil, o
porquê de a família ter escolhido Florianópolis para viver, entre outras questões. Essa conversa,
em formato de entrevista-aula, registrada em áudio, foi realizada no último encontro do curso
do segundo semestre, momento em que apenas ela compareceu. Rosario, por sua vez, concedeu
uma entrevista a dois alunos do jornalismo interessados em realizarem uma cobertura do curso
de português para mães imigrantes. Essa entrevista, realizada na sala de aula do curso, durante
o intervalo de nossa aula, foi também registrada em áudio e incluída nos dados da pesquisa.
50
Marlene concedeu uma entrevista para os mesmos alunos, porém essa entrevista foi feita em
outra sala e não tive acesso ao material gravado. A matéria jornalística não foi divulgada19.
A referência à entrevista com Claitaine é feita como “entrevista”, e as áudio-gravações,
realizadas nas conversas-entrevistas, são apresentadas como “conversas-entrevista”, ambos os
casos seguidos da data em que foi realizado o registro. A transcrição dos áudios foi feita
manualmente, circunscrita aos limites da minha própria capacidade de reconhecimento
fonético. Para algumas formas, houve momentos de indecisão entre grafar com a ortografia
socialmente construída como português ou como espanhol. A hibridez das produções,
característica de repertórios bilingues e multilíngues tornou complexa a decisão pela grafia de
uma ou outra forma. Na dúvida, busquei registrar aproximadamente o que ouvia, com todas as
limitações do meu repertório linguístico. Utilizei símbolos de transcrição fonética apenas
quando havia uma citação lexical – em exemplos dados pelas alunas ou por mim. Outros sinais
foram utilizados: para indicar pausas, (...); incompreensão, (*). Utilizei recursos de pontuação
como a vírgula, para respeitar as pausas, e a exclamação, para dar a ideia de surpresa.
Na subseção seguinte, passo a apresentar o modo como as áudio-gravações foram
submetidas ao processo de análise orientado pela pergunta de pesquisa.
2.2.4 A emergência das questões de análise
A geração de dados é um processo complexo de articulações entre os dados gerados
em campo, a partir de diferentes instrumentos de pesquisa. Tais articulações, como resultado
analítico e interpretativo, produzem categorias.
Nesta pesquisa, as discussões foram produzidas a partir de recorrências (padrões), de
dissonâncias e de contrastes encontrados nos enunciados que emergiram dos encontros com as
participantes que fizeram parte do cenário da pesquisa. A comparação entre este cenário e
outros cenários investigados foi importante pela contribuição requerida à área a que se dirige o
texto. Ao longo da pesquisa, a pergunta de pesquisa se modificou conforme o que o campo foi
capaz de responder, uma vez que que a realidade vivida na etnografia colocou à prova
pressupostos previamente estabelecidos, como, por exemplo, a idealização de um curso
exclusivamente com mulheres mães provenientes do Haiti. Ao confrontar a realidade do
contexto macro que permeia o campo, no que diz respeito aos fluxos migratórios, a presença de
19 Tratava-se de um exercício para uma disciplina do curso de Jornalismo da UFSC que concorreria a um espaço
no jornal Zero Hora. No entanto, a reportagem dos alunos sobre o curso de mães imigrantes não foi selecionada
e, portanto, não foi divulgada no periódico.
51
mulheres mães de outras nacionalidades colocou o desafio de recontextualização da tese, que
foi sendo refeita para acompanhar a realidade do campo. A experiência de mulheres com
diferentes trajetórias de vida enriquece o propósito de dirigir o olhar para a singularidade, bem
como a intenção de questionar os elementos que sustentam significados atribuídos ao signo
“acolhimento” em contexto de PLA.
A geração de dados foi um processo intenso de ida e volta aos dados na busca por
padrões que se evidenciavam no cenário investigado. Houve, ao longo de toda a pesquisa,
articulação e rearticulação entre dados-teoria, na busca de melhor endereçar as questões que se
evidenciavam em campo. Nesse movimento, foi-se construindo, dialogicamente, o
entrelaçamento teórico que permitiu a análise e a interpretação das questões emergentes do
campo.
No caso desta pesquisa, a pergunta geral, que era originalmente “Como mães
imigrantes aprendem português em Florianópolis?”, foi transformada em “De que modo o
ensino de língua portuguesa pode ir ao encontro de necessidades e projetos pautados por
mulheres-mães-imigrantes?”
Na busca por compreender como as alunas, que eram também eram mães e imigrantes,
aprendiam português em Florianópolis, foram analisados uma série de aspectos destacados em
suas falas, como relações entre mobilidade, maternidade, família, trabalho, estudos, (falta de)
redes de apoio, ou falta de apoio, cursos de língua portuguesa, outras pessoas e instituições,
concepções sobre língua(gem) e aprendizagem de línguas.
No desejo de saber como “dar certo em português” (Rosario em conversa-entrevista
transcrita no dia 20/10/2018), as alunas revelavam a noção de que a língua(gem) está
circunscrita a esferas de atividades específicas, nas quais certos usos linguísticos são requeridos.
Uma das manifestações dessa noção de circunscrição dos usos linguísticos foi observada no
que diz respeito ao repertório linguístico-cultural de suas filhas. Para as mães, importava a
manutenção de traços tradicionais de suas bagagens linguístico-culturais.
Em seus enunciados, as participantes mostravam as necessidades e os projetos de
aprendizagem da língua portuguesa circunscritos a tempos e espaços possíveis, entre urgências
e esperas, encontrando fronteiras de sentido no diálogo com pessoas de seu convívio ou com
estranhos que as orientavam sobre a pragmática da língua(gem) em uso. Em suas enunciações,
emergiram as constrições de suas buscas por legitimidade nos variados usos linguísticos em
que se inscreveram (SIGNORINI, 2006).
52
Dedico a próxima seção a uma discussão da singularidade dos trajetos vividos pelas
alunas que aceitaram participar desta pesquisa. Para isso, apresento-as de modo detalhado.
2.3 AS PARTICIPANTES DA PESQUISA
Claitaine, Marlene, Neli e Rosario foram as alunas que, além de aceitarem participar
da pesquisa, tiveram uma presença mais significativa no curso, seja pelas questões que
colocaram, seja pela assiduidade de sua participação. Neli e Claitaine frequentaram os dois
semestres de curso (2018/2 e 2019/1). Marlene e Rosario, apenas o primeiro (2018/1).
No primeiro semestre, Claitaine teve participações pontuais, o que mudou no segundo
semestre, em que a aluna participou de modo mais contínuo. Neli obteve frequência regular no
primeiro e segundo semestres. Marlene e Rosario só participaram no primeiro semestre. Rosario
deixou de frequentar o curso após outubro de 2018, por ter passado a trabalhar também aos
sábados.
No quadro abaixo, apresento o país de origem, a idade, a quantidade de filhos/as e as
idades dos/as mesmos/as, a data de chegada no Brasil, o bairro em que essas quatro mulheres
moravam na Grande Florianópolis e sua formação, discutindo, em seguida, essas informações.
Quadro 2 – Informações gerais sobre as alunas participantes da pesquisa
Informações Gerais sobre as Alunas Participantes da Pesquisa
Aluna País de
origem Idade1
Qt. Filhos/as
(Idade,
residência)
Chegada em
Florianópolis Bairro Formação
Claitaine Haiti 31
2 filhos (13 e
6 anos, no
Haiti)
março, 2018 Trindade Fundamental
Completo
Marlene Venezuela 60
2 filhas
(adultas, nos
EUA e no
Brasil)
março, 2018 São José Pós-graduação
(Educação)
Neli Bulgária 30
2 filhas (11
meses e 3
anos, no
Brasil)
junho, 2016 Barra da
Lagoa
Superior
incompleto
(Turismo)
Rosario Venezuela 32
1 filha (4
anos, no
Brasil)
janeiro, 2018 José
Mendes
Superior
completo
(Publicidade) 1Idade que tinham as alunas em agosto de 2018 – quando teve início o curso.
Fonte: Elaborado pela autora
No que diz respeito ao país de origem, em primeiro lugar, ressalto a participação de
Neli, proveniente da Bulgária, que parte de uma posição geográfica bastante distante do restante
53
do grupo. Claitaine, Marlene e Rosario provêm de países da América Latina, em condições, no
entanto, não menos singulares. Quanto à faixa etária, Claitaine, Neli e Rosario estão na faixa
dos trinta anos, idade relacionada à participação do mercado laboral no que diz respeito às
migrações internacionais (CAVALCANTI et al., 2018). Marlene tem duas filhas adultas, uma
das quais reside no Brasil e a outra, nos Estados Unidos. Claitaine, Neli e Rosario têm filhos
pequenos. Entre estas, cujos filhos ainda são dependentes, Claitaine é a única que não os têm
junto a si no deslocamento, ao contrário de Neli e Rosario, que vieram com suas filhas para o
País.
Quanto à chegada ao Brasil, a aluna Neli era a que estava há mais tempo em
Florianópolis. As outras três alunas, haviam chegado havia menos tempo, em 2018, no ano de
idealização e realização do curso, evidenciando que a procura das alunas provenientes da
América Latina pelo curso de português se deu poucos meses após sua chegada ao País.
Com relação ao bairro em que moravam, Claitaine e Rosario eram as que moravam
mais próximo ao local do curso de Português. Claitaine residia a 5,4 km e Rosario, a 5,7 km da
UFSC. Neli era a que morava mais longe, a 16 km do local de oferecimento do curso de
Português, e Marlene morava a 14 km dali.
As alunas apresentavam diferentes graus de formação. Claitaine tinha o Ensino
Fundamental completo; Neli, o Ensino Médio; Rosario, o ensino superior, e Marlene, além da
graduação, contava ainda com duas pós-graduações.
Um importante ponto de divergência, no que diz respeito à mobilidade em suas
trajetórias, tem relação com a presença ou não dos filhos no deslocamento. Claitaine deixou
seus dois filhos no Haiti, onde continuavam até o momento da escrita deste texto (junho de
2021), completando-se três anos em que Claitaine segue trabalhando na busca pela reunião
familiar. Neli e Rosario migraram com suas filhas.
No tocante às condições de acessibilidade ao curso ofertado na UFSC, Claitaine fazia
o trajeto a pé. As demais alunas deslocavam-se de ônibus até o local do curso e não fizeram
menção a dificuldades financeiras para realizar o trajeto.
Quanto às experiências prévias de trabalho, Marlene compartilhou uma longa
experiência de trabalho como alfabetizadora e contadora de histórias na educação infantil e na
avaliação de projetos acadêmicos. Rosario, com formação superior em Publicidade, trabalhava
na área de Comunicação em seu país. Claitaine trabalhava com vendas de roupas no Haiti, indo
de sua cidade, Gonaïves, para a capital comprar mercadorias e revender em uma feira em sua
cidade. Neli começou uma graduação em Turismo, mas não concluiu, mencionando o desejo
54
de voltar a estudar depois que as filhas estivessem na escola. Neli trabalhava no Brasil cuidando
das filhas e da sua casa, enquanto o marido trabalhava no Peru para sustentar toda a família.
Rosario morava com sua filha Penélope, e seu marido também trabalhava em outro país, na
Argentina. Rosario mencionou a busca por trabalho no Brasil. Marlene morava com uma de
suas filhas e o genro. Claitaine morava com o marido, que também trabalhava em Florianópolis.
Neli e Rosario, vivendo com suas filhas pequenas em Florianópolis, costumavam ver seus
respectivos maridos esporadicamente. No final de 2019, o marido de Neli foi morar em
Florianópolis, reunindo-se à família nuclear.
Neli e Rosario levavam as filhas para o curso no primeiro semestre (2018/2), onde as
meninas tiveram a oportunidade de socialização. No segundo semestre (2019/1), Neli não
precisou mais levar suas filhas para o curso, pois seu marido passou a ficar com as filhas em
casa enquanto a esposa frequentava as aulas. As características pontuadas sobre a presença
dos/as filhos/as no deslocamento, a possibilidade de atuar em suas áreas de formação, ou a
necessidade de mudar de área de atuação no novo local eram situações que implicavam
envolver-se em diferentes atividades e, portanto, configuravam distintas necessidades de
aprendizagem da língua portuguesa.
Nas seções abaixo, apresento cada uma das participantes da pesquisa, com detalhes
específicos, incluindo ainda informações sobre mim, como também pesquisadora-participante
da pesquisa.
2.3.1 Claitaine
Quando chegou ao Brasil, Claitane tinha 31 anos e seus dois filhos estavam com 13 e
6 anos. Eles ficaram no Haiti, aos cuidados da sogra. Claitaine nasceu em Gonaïves, a 140 km
da capital Porto Príncipe e mora em Florianópolis, em um bairro próximo à UFSC, desde março
de 2018. Ela fala crioulo e francês, além do português. Seu marido, com quem convive há sete
anos, veio antes que ela para o Brasil.
Claitaine completou o ensino fundamental em seu país e trabalhou durante dez anos
com vendas. Ia até à capital Porto Príncipe para comprar produtos e revender em uma feira de
sua cidade, Gonaïves. Nos últimos três anos, antes de vir para Florianópolis, trabalhou como
cozinheira. Quando começou o curso de português, estava desempregada e em busca de
oportunidades de trabalho. Claitaine veio para o Brasil, segundo ela, porque:
55
Claitaine: no meu país não tem trabalho... tem, mas pra quem terminou os
estudos, é difícil lá conseguir trabalho (...) eu vim por meus filhos, pra eu
conseguir um emprego bom, enviar dinheiro pro meu filho ir pra escola
(Claitaine, em entrevista do dia 21/01/2019).
Claitaine complementa que, além de paga, a escola dos filhos “é cara também”. O
dinheiro enviado também se destina ao seu pai, que não pode mais trabalhar por sua condição
física.
Claitaine: Eu quero que meu filho estude, vá para a escola e termine a
universidade. Fazer tudo o que... eu não tive tempo pra fazer... Eu queria
terminar a escola, estudar Medicina para cuidar da minha família, mas eu
acabei engravidando, depois eu não fui mais à escola (Claitaine, em entrevista
do dia 21/12/2019).
Claitaine enfatiza o seu desejo pelos estudos. A aluna tomou conhecimento do curso
de português por meio de uma colega brasileira, que havia feito seu pré-cadastro. No primeiro
dia do curso, Claitaine não foi e justificou sua ausência por conta de um trabalho obtido
recentemente. A colega brasileira havia conseguido uma oportunidade de trabalho pontual para
Claitaine naquele dia (faxina). Claitaine costumava ir a pé para a aula. No primeiro dia em que
foi, ofereci uma carona de volta para ela e para mais duas outras alunas, também do Haiti.
Durante o trajeto até sua casa, ela me falou sobre seus filhos no Haiti e sobre sua busca por
trabalho no Brasil. Em diário, registrei o encontro e a conversa:
Quando saí de carro da UFSC, avistei três alunas voltando para casa. Baixei o
vidro do carro e gritei, oferecendo carona. Elas disseram “sim” ao mesmo
tempo e se animaram para atravessar a rua. Parei o carro, abri a porta de trás
para transferir o material do curso para o porta-malas. No banco de trás, foram
outras duas alunas. Claitaine foi no banco da frente e pude conversar com ela.
No banco de trás, foram as duas outras alunas. Claitaine pediu para eu avisá-la,
se eu soubesse de algum trabalho. Eu respondi “ok!” E perguntei com o que
ela trabalhava. Ela respondeu que podia trabalhar com “limpeza, cozinha,
qualquer coisa”, concluiu. Em seguida, me perguntou se eu tinha uma filha
[provavelmente, por notar uma cadeirinha de bebê no banco de trás do carro].
Eu respondi que sim. Então, começou a falar dos filhos dela. Disse-me que
eles ficaram no Haiti, que um tem 12 anos e o outro, 6. Ia me dizer seus nomes,
mas logo errei o caminho e tive que fazer um retorno para deixá-la perto de
casa. Ela mora em um morro. Lá no alto. Subi com o carro até onde era
possível, parei. Ela me entregou um currículo e me agradeceu, depois fiz a
volta com o carro e ela, que deveria continuar subindo por um caminho que
só pode ser feito a pé, não o fez. Ficou parada, olhando o carro ir embora,
acenando tchau, enquanto o carro se afastava (Trecho do diário de campo
elaborado no dia 18/08/2018).
56
Não era a primeira vez que, em meu contato com mulheres provenientes do Haiti,
estavam relacionados um currículo e a menção à maternidade. No primeiro contato com
Claitaine, a aluna evidenciou a tônica de seu deslocamento ao Brasil: a busca por trabalho. A
necessidade de enviar remessas aos seus filhos e ao pai, no Haiti, Claitaine mencionaria na
entrevista concedida no início de 2019. A possibilidade de frequentar o curso, apesar de residir
perto da universidade, dependia também dos dias em que não trabalhava e da disponibilidade
física que, por vezes, não tinha por conta do trabalho extenuante.
Uma de suas faltas no curso de português foi justificada por conta de intempéries: “oi
professora tudo tem muito chuva Hoje/Eu não vou Hoje” (Claitaine, em mensagem de texto de
WhatsApp do dia 01/09/2018). Em outra ocasião, com voz de cansaço, disse: “Oi, professora,
bom dia. Eu não vou hoje porque eu me sinto mal. Ontem, eu fui trabalhar de noite e terminei
muito tarde. Obrigada. Eu vou no sábado que vem” (Claitaine, em mensagem de voz do
WhatsApp do dia 01/12/2018). Essas situações evidenciavam que a necessidade por trabalho
precisava ser privilegiada em detrimento a outros projetos como a participação no curso de
português aos sábados pela manhã.
Em Florianópolis, nove meses depois de ter chegado ao País, Claitaine conseguiu um
emprego em um restaurante, onde trabalhava à tarde e à noite, até março de 2019. Um dia depois
de empregada, ela comentou com felicidade que este tinha sido o acontecimento mais
importante da sua semana. Ao saber do término do semestre, ela demonstrou interesse em
continuar os estudos, dizendo “vou esperar” [Aqui ela se refere a esperar a confirmação sobre
a data de início do curso no semestre posterior] (Claitaine, em mensagem de texto de WhatsApp
do dia 01/12/2018).
Havíamos combinado de realizar a entrevista em dezembro, mas Claitaine só tinha um
dia de folga por semana. Íamos negociando as datas, sempre adiando para a semana seguinte,
conforme imprevistos aconteciam. Afinal, sábado era o único dia útil que ela tinha para resolver
questões burocráticas relacionadas ao trabalho e eu não queria pressioná-la no final do ano,
logo quando havia, finalmente, conseguido o emprego que tanto queria.
No dia 7 de janeiro, ficamos de confirmar um encontro. Perguntei a ela sobre a
possibilidade de nos encontrarmos naquele dia e ela me enviou um áudio relatando que tinha
passado muitas horas no Centro de Florianópolis tentando desbloquear o seu cartão (das 11h às
16h30). Tratava-se do seu único dia de folga do trabalho daquela semana e ela estava cansada:
Claitaine: Oi, professora, boa tarde, eu acabei chegar na minha casa agora,
porque eu fui lá no Centro desbloquear meu cartão. É muito difícil (*) é muito
57
difícil (*) é muito difícil (*). Eu fui lá no Centro, perguntei, eu acabei descobri
onde era. Eu desbloqueei meu cartão, eu acabei chegar na minha casa agora.
Eu vi tua mensagem no WhatsApp agora. Pode... pode ser na segunda [um
encontro para entrevista] porque hoje já três e trinta! Eu vou fazer comida,
deixou pro meu marido e depois eu vou descansar. Eu saí de casa 11! Cheguei
agora na minha casa. Muito obrigada. Eu vou avisar você, segunda, eu vou
avisar você aquela hora. Eu vou esperar você ali embaixo (Claitaine, em
mensagem de voz de WhatsApp do dia 07/01/2019).
Claitaine: Só... tem um [referia-se ao terminal de ônibus] no Centro e um nos
Ingleses. Só agora uma amiga me falar que tem um lá no... na frente do
Iguatemi também [na região da casa de Claitaine]. Eu não sabia que tinha lá e
fui lá no Centro. Na próxima vez, eu vou lá na Trindade. Eu não sabia que
tinha lá. Eu fui lá no Centro pra desbloquear meu cartão. Ai... Estou muito
cansada professora. Eu vou descansar e, depois, segunda é minha folga
também. Eu vou avisar pra você que horas eu vou esperar você lá embaixo.
Tá bom? Bom descanso pra você também. Um abraço! (Claitaine, em
mensagem de voz de WhatsApp do dia 7/01/2019).
Nessas mensagens, Claitaine evidencia usos linguísticos que precisa realizar e que se
tornam muito difíceis sem as informações adequadas. O desbloqueio de seu cartão de passes de
ônibus, central para que possa se deslocar no trajeto trabalho-casa, é uma ação que precisa
realizar. Mais uma vez, a aluna remete suas necessidades de uso linguístico a ações relacionadas
ao ambiente laboral, foco de seu deslocamento.
Claitaine não dispunha de informações sobre o local mais próximo de sua casa onde
poderia desbloquear seu cartão de transporte de ônibus. A aluna, que morava bastante próximo
a um dos terminais urbanos, onde poderia fazer o procedimento, por falta de orientação
adequada no seu local de trabalho, precisou ir ao Centro de ônibus, gastando oito reais e cinco
horas e meia do seu único dia semanal de folga. A tarefa poderia ter sido realizada em menos
de 40 minutos e sem custos se as informações, relativas ao deslocamento para o trabalho,
tivessem sido fornecidas de maneira compreensível por ela, por exemplo, em sua língua. Uma
amiga foi quem a informou sobre o local mais próximo onde poderia fazer isso, o que evidencia
a importância da rede de contatos no deslocamento.
Sobre a combinação para a entrevista, deixei que Claitaine me sinalizasse quando seria
possível o encontro, e ela o fez. Realizamos o encontro no dia 21 de janeiro. Nessa entrevista,
realizada quase dois meses após o término das aulas, ela pôde escolher seu pseudônimo.
Infelizmente, na ocasião, eu não acenei para ela a possibilidade de usar seu próprio nome.
Perguntei apenas que nome ela gostaria, e ela, ao fazer a escolha, sorriu – um dos poucos traços
de alegria explícita durante todo o encontro. O gesto me levou a perguntar se havia algum
motivo especial para a escolha. Claitaine disse que sim, que esse seria o nome dado a uma filha,
58
se tivesse tido uma. Nesse momento da entrevista, ela já estava distante de seus filhos havia
quase um ano.
Em nova conversa, ao falar-me de seu primo que chegara ao Brasil em dezembro,
comentou que ele já estava empregado. Perguntei sobre seu marido, se era mais fácil para os
homens conseguirem emprego. Ela disse que o marido havia conseguido empregar-se duas
semanas depois de chegar em Florianópolis. O primo trabalha na construção civil. O marido,
em uma marcenaria, mesmo trabalho exercido no Haiti.
A situação de Claitaine, em relação às outras alunas do curso, era diferente. A distância
dos filhos, a urgência do trabalho, as situações de injustiça e desrespeito vividas nele (que
veremos nas análises) davam à sua experiência de aprendizagem da língua uma intranquilidade
que a fazia pensar em voltar ao seu país, mesmo sem condições financeiras para tanto. Sua
experiência era marcada por inseguranças e incertezas sobre a efetividade de seus planos.
No que diz respeito ao planejamento de materiais para o curso de português, alguns
detalhes de sua experiência, como veremos, influenciaram o enfoque dado aos gêneros
trabalhados em sala de aula no segundo semestre o curso (2019/2).
Na subseção seguinte, passo a apresentar Neli, em cujos planos o trabalho não aparece
como prioridade.
2.3.2 Neli
Neli veio da Bulgária em junho de 2016, acompanhada das duas filhas, Sofia Catarina,
de 11 meses e Simona, de três anos. Quanto chegou ao Brasil, tinha 28 anos. Ela morava a
14 km do local do curso. Neli falava inglês, além do búlgaro e do português. Começou uma
graduação em Turismo, na Bulgária, que cursou por dois anos antes de vir ao Brasil.
O marido morava no Peru até 2018 e costumava vir uma vez por mês a Florianópolis
ver a família. Desde 2019, ele passou a viver no Brasil, junto com Neli e as filhas. O motivo
pelo qual escolheram o Brasil para morar foi por conta de um sonho do marido, que, desde que
tomou conhecimento sobre Florianópolis, ainda na Bulgária, desejou passar o resto de sua vida
aqui.
Neli começou a participar do curso a partir do segundo dia de sua abertura e frequentou
as aulas durante os dois semestres. Para chegar no local do curso, Neli utilizava três ônibus,
passando por dois terminais de integração. No primeiro semestre, morava sozinha com as duas
filhas e, juntamente com Marlene, foi uma das alunas mais assíduas. Deslocava-se com as duas
59
meninas de um bairro distante do local do curso e chegava pontualmente na aula. No primeiro
semestre (2018/2), Neli faltou duas vezes, por motivo de doença de uma das filhas. No segundo
semestre (2019/1), ela não precisou mais levar as filhas, pois o marido passou a ficar com elas
aos sábados pela manhã, para que ela pudesse estudar.
Muito dedicada ao curso, ela fazia todos os exercícios propostos em aula. No primeiro
semestre, não expressava muito sua opinião espontaneamente, sem que eu perguntasse a ela
diretamente ou endereçasse a questão a todas as alunas. Mostrou-se mais aberta no segundo
semestre, em que tomava iniciativas quanto a perguntas e participava nas discussões com
enunciados mais longos.
Em seus planos, mencionava a volta aos estudos no campo da Sociologia ou da
Filosofia, o que faria quando sua filha mais nova estivesse um pouco maior. Achava que
trabalhar não era importante para ela porque o que o marido ganhava já era suficiente para
viverem bem. Disse em aula: “Eu tenho muita vontade de trabalhar, mas na meu caso, não é
urgente, não é preciso para sobreviver... eu tenho vontade porque estou cansada de ficar na
casa” (Neli, em transcrição de áudio do dia 15/06/2019). Esse e outros enunciados mencionando
as especificidades estruturais de seu deslocamento, em associação às necessidades e aos
projetos de aprendizagem a que a aluna faz referência, serão utilizados na composição da
discussão relacionada ao tempo, à espera e às urgências que se mostraram específicas para cada
uma das alunas.
Sua filha mais velha, Simona, fez amizade com Penélope, filha de Rosario, . Neli dizia
que Simona passava a semana inteira a perguntar quando seria sábado para ver Penélope. O
interesse na socialização da filha e na busca de mais tempo para si fez com que Neli buscasse
uma creche para a filha em seu bairro. Muitos dos planos da aluna apareciam em seus relatos
condicionados ao crescimento das filhas, ao período em que elas pudessem ir para a creche ou
ao momento em que o marido voltasse do Peru. Nessas ocasiões, revelava também que suas
tarefas principais diziam respeito ao ambiente doméstico, um trabalho que é invisibilizado e
não-remunerado. A falta de uma rede de apoio era mencionada pela aluna, bem como a escassa
oportunidade de conversar em português. Seu círculo de amizades se restringia aos amigos do
marido, que eram argentinos e só falavam espanhol. No entorno onde viviam, as trocas
linguísticas com as vizinhas e os vizinhos, pescadores que “fala só pra peixe”, segundo ela,
frustravam o seu desejo da aluna de envolver-se em interlocuções mais complexas e acendia o
desejo de estudar Sociologia ou Filosofia para trabalhar e “ajudar pesoas com dificuldades”
60
(Neli, em produção escrita do dia 08/06/2019), como escreveu em uma ocasião em que foi
solicitada a compartilhar seus planos futuros.
A proximidade das filhas a levava a ressignificar aspectos da vida adulta para os quais
não dava mais importância: “Eu amo de comonicar com minas filhas, elas me lembra coisas
que como adulta eu perdeo de olhar, sentir e ovir – pequenas coisas na nos dia a dia” (Neli, em
produção escrita do dia 08/06/2019). Neli trazia em seu texto uma ambivalência em sua
condição materna. Por um lado, expressava a sobrecarga que sentia no papel de principal
cuidadora sem rede de apoio familiar, sem tempo para si em seus planos e projetos; por outro,
mostrava-se recompensada pelo carinho que lhes destinavam as filhas, como apresento na
articulação dos dados no capítulo de análises.
A ambivalência na relação com o tempo também foi pontuada por Rosario e Marlene,
participantes que apresento nas seções seguintes.
2.3.3 Marlene
Quando chegou ao Brasil, Marlene tinha 60 anos e duas filhas adultas, Maria e Ana.
Marlene nasceu na Venezuela em 2018 e, desde que chegou em Florianópolis, após uma estadia
no Equador, morava em São José, um dos municípios da Região Metropolitana da Grande
Florianópolis. Maria morava e trabalhava nos Estados Unidos. Marlene morava com a filha
Ana, que trabalhava em uma grande empresa nacional. Foi Ana quem levou Marlene à aula no
primeiro dia.
Marlene é branca, professora aposentada, graduada em Educação, especialista em
pré-escola e pós-graduada em Gestão Educacional. Em seu país, trabalhava na educação infantil
e como assessora de projetos, conforme sua especialização em Metodologia do Ensino. O
motivo pelo qual saiu da Venezuela – dois anos antes de vir morar no Brasil – diz respeito à
situação política e econômica do país. No Equador, primeiro país para o qual emigrou logo que
saiu da Venezuela, trabalhou como orientadora de projetos a graduandos, assessorando na
escrita dos trabalhos acadêmicos. Em Florianópolis, relata passar o tempo em casa, fazendo
trabalhos manuais e passeando com a filha, que a ajuda nas tarefas de português.
Marlene sempre foi muito falante nas aulas, expondo suas opiniões com facilidade e
segurança. Manteve-se assídua durante todo o semestre. Realizava todas as atividades e ia além,
buscando outros materiais. Dizia ter muita pressa de aprender português.
61
Quando as aulas começaram, Marlene estava no Brasil havia poucos meses. A
aprendizagem da língua portuguesa tinha uma conotação afetiva forte para a aluna, que se
emocionava ao falar do quanto estava grata pela oportunidade de morar em Florianópolis,
situação que registrei em diário:
Houve um momento na aula em que Marlene emocionou-se. Anya e eu
havíamos passado uma tarefa para casa em que elas precisariam fazer um
pequeno texto utilizando o conhecimento da aula 2 sobre apresentação. Ao ler
seu texto, Marlene se dizia muito agradecida por estar ali e quando pronunciou
o nome de Deus, ela começou a tremer a voz, muito emocionada (Trecho do
diário de campo elaborado no dia 25/08/2018).
Em situação posterior, Marlene relatou condições de trabalho e de vida insatisfatórias
no Equador. Segundo ela, a exploração lá era grande, pois seus patrões ficavam com 90% do
que cobravam aos clientes pelos seus serviços de orientação de projetos acadêmicos. Além
disso, relatou que, em Quito, sofreu preconceito por ser venezuelana. Em certos momentos,
passou a se apresentar como colombiana para não sofrer discriminações.
Nos intervalos das aulas, em que as conversas se davam de modo mais espontâneo,
Marlene, sempre otimista e falante, compartilhava conosco eventos do seu passado e os projetos
manuais – costuras e crochês – aos quais estava se dedicando no novo contexto. Relatava
compras de tecidos, almoços em restaurantes e passeios com o genro e a filha, que a levavam
onde fossem. Ela se dizia sempre disposta a uma aventura. Também compartilhava
ressignificações de suas experiências de educadora. Ela mostrava o quanto a aprendizagem da
língua portuguesa, autodidaticamente, era nutrida pelos conhecimentos que desenvolvera ao
longo de sua carreira como docente.
As conversas que Neli e Rosario tinham em torno da maternidade suscitavam em
Marlene um encontro com sua própria experiência enquanto mãe, que trazia para compartilhar,
salientando o quanto precisou fazer suas filhas independentes muito cedo, para que pudesse
trabalhar nos três turnos. Relatou o quanto era difícil a volta ao trabalho após a licença
maternidade de seis meses. Para conciliar tudo o que fazia, tratou de incutir o espírito de
independência também nas filhas, desmamando-as e desfraldando-as bem cedo.
Conversávamos, durante o intervalo da aula do dia 20 de outubro de 2018, sobre o desfralde, a
independência das filhas e a relação da maternidade com o trabalho, quando Marlene nos
colocou essas questões:
62
Marlene: meus dos filhas nove meses! [em relação ao desfralde] [...] Eu tinha
três [penicos] em minha casa, em minha sogra, em mi mamãe antes de
completar um año. Es más! Elas entraram baltizarse em las iglesias sin... y
caminando, muy independientes! […] pienso yo la dinámica porque entonce
yo trabajava, estudiava, entonce lo… el poco tiempo que me quedava, yo lo
tenia que aprovechar… al máximo. Entonce no ter el pañal y eso, yo lo tenia
que (*) y lo logró hacerlo. Cuando estaba en cuarto grau, tenía como nueve
años las dos. Ellas ya planchaban y lavavan su ropa. […] Claro, porque yo no
tenía tiempo para eso! Yo trabajava de ocho a doce, de dos a cinco y media, y
de seis de la tarde a once de la noche. Yo trabajava todo el dia. Yo era, primero,
secretaria y, depois, era profesora, entonce trabajava en una escuela. Era una
mañana (*), y lejo! Ai, no! Y el trabajo noturno era (*) nueve de la noche
(Marlene, em transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
O relato de Marlene sobre os desafios de conciliar a maternidade e o trabalho eram
corroborados pela experiência de Rosário, que assim se referiu aos esforços de Marlene para
trabalhar e criar suas filhas: “todas las mães venezuelanas son así” (Rosario, em transcrição do
dia 20/10/2018). Essas posições sociais contrastavam com a situação de Neli, que viera de um
contexto em que a licença maternidade e a licença parental, além de estimulada, é assegurada
nos primeiros dois anos da criança:
Neli: Salimos quarenta e cinco dias antes de dia de ganhar como se diz
Narjara: Licença maternidade?
Rosario: Não, ela fala o dia do parto
Neli: Sí, quarenta e cinco dias antes do parto. Antes, começa tua folga como
se diz?
Narjara: Licença maternidade
Neli: E podes ficar dois anos em casa cuidando do seu filho
Marlene: Dois anos?!
Neli: Sí, licença maternidade é dois anos, e é de antes, no é de asi, só. Já coisas
poco mudam porque mulher tem que voltar rápido ao trabalho, porque não
tem que trabalhar, e se você volta depois de seis meses, vai ganhar seu salário
com 80%. Esse que ganha, se fica na casa, se voltas depois de um año, ganha
seu salário, e também 50% desse que vai ficar
Marlene: Quanto é a licença aqui no Brasil?
Narjara: Seis meses, quatro ou seis
Marlene: Igual
Rosario: Igual
63
Marlene: É, eu chegava a trabalhar luego de seis meses chorando. Pienso que,
como avuela, ya uno tiene una experiência como mamá (Conversa em
transcrição de áudio do dia 20/10/20)
Essas realidades contrastantes implicavam diferentes necessidades de aprendizagem
da língua portuguesa no novo local, por envolverem esferas de atividade específicas. Por esse
motivo, são aqui pontuadas e interessam na concepção de língua(gem) mobilizada a partir das
reflexões de Bakhtin (2003), para o qual a língua é intrínseca à vida e se manifesta de forma
mais ou menos estável no formato de gêneros do discurso, nas diferentes atividades humanas
em que se envolvem essas mulheres.
Marlene era muito politizada e, ao pontuar questões sobre injustiça, xenofobia e
racismo, suscitou discussões importantes, que foram utilizadas para compor questões centrais
da pesquisa, exploradas na análise dos dados gerados em campo.
Como Marlene, Rosario também era da Venezuela. No entanto, as alunas vieram em
condições diferentes. Marlene tinha filhas adultas e independentes. Rosario estava em um
momento de transição que envolvia distanciar-se do marido e ficar com a filha pequena. Os
detalhes sobre sua situação de mobilidade ao Brasil, passo a apresentar na subseção seguinte.
2.3.4 Rosario
Rosário veio da Venezuela para o Brasil em 2018, aos 32 anos, acompanhada da filha
Penélope, de quatro anos. O marido trabalhava na Argentina na época. Rosário tem nível
superior em Publicidade e trabalhava com comunicação na época em que frequentou o curso.
Assim como Marlene, Rosario buscava meios para aprender a língua portuguesa. A
esse respeito, declarou: “eu gosto de pesquisar” (Marlene, em transcrição de áudio do dia
20/10/2018). Tinha nível intermediário de inglês e morava em Florianópolis, em um bairro
próximo à universidade. Para chegar à UFSC, precisava pegar um ônibus. Rosario procurou o
curso um dia antes do início das atividades do primeiro semestre para sondar a possibilidade de
participação:
Rosario: Oí boa tarde. Encontrei este número numa página Web sobre uma
ONG que oferece cursos de Português para mães imigrantes. Eu sou da
Venezuela e gostaria de saber como participar dos cursos (Rosario, em
mensagem de texto do WhatsApp do dia 10/08/2018).
64
Já no primeiro dia de aula, Rosario pediu dicas sobre materiais para o estudo em casa,
pois já vinha estudando o português antes de partir da Venezuela. Rosario era muito ágil na
resolução de suas questões. Muito inteligente e perspicaz, fazia questionamentos precisos
quanto às dúvidas que tinha sobre palavras e expressões que ouvia falar e que não entendia
completamente.
Logo que chegou ao Brasil, matriculou Penélope em uma creche. Segundo Rosario, a
pequena já falava português melhor que ela e, inclusive, ensinava português à mãe, e a corrigia
às vezes. Rosario valorizava a fluência da filha na língua portuguesa, mencionando o quanto
ela às vezes se esquecia de falar o Espanhol. A valorização do repertório da filha e a tentativa
de Rosario de controlá-lo são temas que enfoco nas análises. A agilidade da aluna em matricular
Penélope na creche no mesmo semestre em que chegou ao Brasil pressupunha sua facilidade de
acesso a serviços complexos e de inserção na sociedade brasileira. Matricular a filha na creche
requer uma série de procedimentos que se dão em língua portuguesa, como informar-se sobre
períodos de matrícula e horários de acesso à escola, preencher formulários, tomar conhecimento
de regras de utilização do espaço, participar de reuniões, etc. Evidenciava-se a agilidade da
aluna para resolver questões e, como ela mesma colocaria, “dar certo em português” (Rosario,
em transcrição de áudio do dia 20/10/2018). Neli, por sua vez, dizia-se insegura quanto à
escolha da escola para suas filhas, pois, sem o conhecimento adequado da língua portuguesa,
não saberia identificar a qualidade da escola.
Mesmo sendo o curso inicialmente direcionado a mães haitianas, conforme já
explicado, Rosario o buscou dado o seu interesse por estudar a língua em um contexto formal
de ensino. Ela dizia que a possibilidade de levar Penélope constituía uma “oportunidade”,
considerando a quantidade de coisas que precisava conciliar em sua vida no deslocamento com
a filha, sem o marido e sem uma rede de apoio estável. Nesse aspecto, sua situação
aproximava-a de Neli, cujo marido também estava trabalhando fora do Brasil. Porém,
diferentemente de Neli, Rosario precisava exercer alguma atividade remunerada.
Penélope estudava meio-período em uma creche e Rosario buscava oportunidades de
trabalho em áreas alternativas ao seu campo de atuação, uma vez que a aluna ainda esperava
pela legalização dos documentos comprovatórios de sua formação superior. Dizia-se
preocupada em aprender a língua portuguesa para trabalhar em sua área. Esses e outros aspectos
serão melhor desenvolvidos a partir dos enunciados de Rosario, em contraste com o das outras
alunas, a evidenciarem as constrições de tempo, as necessidades em relação ao trabalho e as
65
buscas por “dar certo em português” nas diferentes esferas de atividades nas quais se inscrevia
na nova realidade sociolinguística.
Os motivos pelos quais Rosário veio ao Brasil com sua filha não ficaram muito
evidentes em sua explicação, porém não tive oportunidade de pedir maiores informações sobre
o assunto para a aluna. Considerando seu desligamento do curso e o enfoque primeiro da
pesquisa na experiência de mães haitianas, não realizei uma entrevista com ela.
Na subseção seguinte, discorro sobre a minha participação enquanto pesquisadora-
-participante.
2.3.5 Narjara
Enquanto participante da pesquisa, importa que eu também me apresente, uma vez que
diferentes posições sociais estão envolvidas quando da produção de enunciados, segundo a
concepção de língua(gem) mobilizada neste trabalho.
Quando o curso teve início, eu tinha 35 anos, e minha filha Ísis, 1 ano e 10 meses. Sou
casada e moro próximo à UFSC. Sou originária de Rio Branco, Acre, e moro em Florianópolis
desde 1999. Sou licenciada e bacharel em Letras Português e mestre em Linguística pela UFSC.
Falo inglês e espanhol. Morei em Tomsk, na Sibéria (Rússia), em 2011, onde trabalhei com o
ensino de inglês para crianças e adolescentes em kindergartens e summercamps. Morei também
em Arequipa, no Peru, em 2013, onde trabalhei com o ensino de língua portuguesa para adultos,
em um centro aplicador do Celpe-Bras. Na ocasião, também tive a oportunidade de participar
como avaliadora desse exame de proficiência. Leciono Português para estrangeiros desde 2011,
quando também teve início meu percurso como pesquisadora. Para a conclusão da minha
graduação, empreendi uma crítica e autocrítica à formação inicial de professores de Português
Língua Estrangeira (PLE). No Mestrado, realizei análise de uma unidade fraseológica
idiomática em um material didático.
Todas essas experiências, apresentadas aqui de modo breve, importam para dizer que
elas contribuíram para o desenvolvimento da sensibilidade quanto ao deslocamento e à
necessidade de conquista dos usos linguísticos considerados legítimos, nos espaços sociais em
que eu transitava. Do mesmo modo, a experiência da maternidade contribuiu para a
sensibilização quanto à necessidade de uma rede de apoio que possa dar suporte à criação de
filhos/as, permitindo a mães imigrantes o engajamento em outras atividades – laborais,
estudantis e outras. Por sua vez, o estudo e a investigação sobre os materiais didáticos
66
disponíveis para ensino de PLE, no início da minha formação, fizeram-me compreender a
importância de aprender a preparar as minhas próprias aulas, desenvolvendo uma
independência na elaboração dos materiais.
O lugar de observadora-participante, apesar de propiciar um ângulo de comparação
melhor em relação a outros cenários de atuação, como aponta Erickson (1990), coloca-nos,
como ressalta Cavalcanti (2006), na posição de ter de lidar com uma variedade de atividades,
ao mesmo tempo em que demanda ajustes à organicidade do campo. Conciliar a posição de
professora e de pesquisadora não foi tarefa fácil, principalmente no que diz respeito à minha
inexperiência de investigação etnográfica e à idealização do campo, que se mostrou um lugar
caótico, desde o início. Como ressaltam os pesquisadores da área, o caos é uma característica
da etnografia e ele está presente a todo momento (BLOMMAERT; JIE, 2010; ERICKSON,
1990; HELLER; PIETKÄINEN; PUJOLAR, 2018).
Na próxima seção, descrevo a construção do material utilizado ao longo do curso
proposto nesta pesquisa. Especifico como o material didático foi pensado e readequado, de
modo a acompanhar as modificações do campo de pesquisa.
2.4 A ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO
Como tem sido sempre minha postura enquanto professora, procurei dar início ao
curso para as mães imigrantes com aulas genéricas sobre apresentação e cumprimentos. Como
a maioria das alunas não tinha muita experiência com a língua portuguesa, procurei, ao longo
do curso, ir adequando o material didático àquela realidade específica, tanto quanto possível,
conforme se revelavam em sala de aula interesses, discussões e dificuldades específicas das
alunas.
No caso do curso de português para mães imigrantes, conduzir um plano de ensino que
se retroalimentasse dos conteúdos solicitados pelas estudantes foi um verdadeiro desafio. A
falta de assiduidade e a flutuação do grupo não permitia traçar uma linearidade com progressão
do conteúdo no primeiro semestre. Essa situação também é vista em outros cenários. Goulart
(2015, p. 83), por exemplo, relata que, durante a realização de um projeto de ensino de
Português a imigrantes haitianos desenvolvido em Florianópolis, através de uma parceria entre
a UFSC e a Secretaria Municipal de Educação de Santa Catarina, notou “a necessidade de
trabalhar com aulas temáticas”, segundo ele por dois motivos:
67
O primeiro diz respeito à irregularidade na frequência dos alunos. Por diversos
motivos, os alunos não frequentavam as aulas regularmente, sem mencionar
o fato de que a cada novo encontro os alunos eram matriculados, o que
dificultou o andamento das aulas. Ao mesmo tempo em que precisamos
avançar com o conteúdo nós também precisamos retroagir para que novos
alunos pudessem acompanhar. Esse movimento de ida e vinda contribuiu para
a evasão de parte dos alunos durante o curso. Salienta-se que esse motivo nos
impossibilitava de iniciar uma atividade em uma aula para que ela fosse
concluída em outra, pois não tínhamos a certeza de que os mesmos alunos que
haviam participado daquela aula estariam na aula seguinte, pelo contrário, a
certeza era a de que na aula seguinte haveria outros alunos que não (ou além)
dos que haviam participado naquela aula;
O segundo [motivo para a escolha das aulas temáticas] diz respeito à
constituição dos alunos como sujeito. A heterogeneidade da turma mostrou-se
um fator muito interessante (GOULART, 2015, p. 84, ênfase minha).
Ruano (2019) também identifica características similares no contexto de ensino do
projeto Português Brasileiro para Migração Humanitária (PBMIH), do Centro de Línguas e
Interculturalidade (CELIN), da Universidade Federal do Paraná (UFPR):
Praticamente todas as semanas, o PBMIH recebe novos alunos e uma parte
deles, por motivos financeiros ou de trabalho, deixa de frequentar o curso ou
segue as aulas com bastante irregularidade. Os professores responsáveis pela
criação do projeto relatam: ‘desde o começo, percebemos que qualquer
abordagem ‘linear’ de aquisição linguística não seria producente ao grupo. A
partir das discussões, chegamos à ideia de que cada aula seria uma tarefa
comunicativa fechada’ (RUANO; GRAHL; PERETI, 2016, p. 298) [...] Dessa
maneira, os alunos mais assíduos não se sentiram desmotivados por constantes
‘retomadas’ de conteúdo. Por outro lado, os novatos não irão depender de
aulas passadas para dar continuidade ao trabalho didático do dia (RUANO,
2019, p. 79).
Para contornar a dificuldade de progressão de conteúdos que a flutuação na presença
dos alunos imigrantes colocava, ambos os projetos utilizaram aulas independentes, com a
duração de um encontro, organizando-se a partir de temas.
Quanto ao curso de português para mães imigrantes, Neli e Claitaine continuaram a
participação no segundo semestre. Foi possível, então, desenvolver um plano de atividades com
progressão temática que abrangia alguns dos interesses de aprendizagem linguística
evidenciados pelas alunas. Em especial, as necessidades apresentadas por Claitaine, que me
procurou com mais frequência, demonstrando urgências no conhecimento de usos linguísticos
relacionados à esfera laboral – como a atualização de currículos e a utilização de recursos
68
digitais para o envio desse documento digitalizado, central para buscas de emprego, poupando
gastos de tempo e dinheiro com impressões.
A necessidade de Claitaine foi associada à de Neli, que buscava ampliar suas
possibilidades de comunicação – interesse relatado no primeiro semestre, em que a aluna se
dizia restrita à esfera doméstica, rodeada por falantes de espanhol e sem muitas oportunidades
de interlocução em língua portuguesa. Com essas duas demandas em mente, em função da
continuidade dessas duas alunas de forma mais assídua, foi desenhado o Módulo “Falando de
Mim” (Pale de Mwen) (ANEXO E), como discutimos em Reis e Lucena (2019):
No Módulo 1, denominado Falando de Mim/Pale de Mwen, foram enfocados
gêneros do discurso primários e secundários como: entrevista de emprego
oral, apresentação formal para completar formulários, apresentação escrita,
concepção de currículos e apresentação em situações de informalidade. Já no
segundo módulo, intitulado Conversas, além de a pesquisadora-professora
discutir questões sobre tópicos gramaticais nos quais as alunas apresentaram
dificuldades, evidenciadas em suas produções escritas, também foram focos
de discussão a leitura, o debate sobre feminismo, divisões de trabalho fora e
dentro de casa, a importância do trabalho e as aspirações individuais das
alunas (REIS; LUCENA, 2019, p. 42, grifos no original).
As produções textuais do Módulo 1 abrangiam narrativas orais sobre motivações para
o trabalho, objetivos e impressões no deslocamento e uma produção textual autobiográfica. No
segundo módulo, elaborado após a produção textual realizada ao final do primeiro módulo,
foram enfocadas as dificuldades reveladas nas produções textuais. Na continuidade, discutimos,
a partir de um texto histórico, a origem do feminismo hegemônico na Inglaterra e na América
do Norte, em uma seção intitulada “Conversas e prática de texto”. Refletimos, na ocasião, sobre
a igualdade de gêneros, sobre a divisão de tarefas domésticas e sobre a categoria mulher e a
categoria homem e as constrições socialmente construídas para quem ocupa esses lugares
imaginados como universais (ANEXO F).
No material didático, as escolhas para compor as imagens de homens e mulheres em
diferentes posições sociais foram feitas de modo a contrariar estereótipos sobre papéis sociais,
socialmente construídos como naturais na sociedade (vide ANEXO F). Assim, quando tratamos
de habilidades, escolhi a imagem de um homem branco para ilustrar habilidades relacionadas à
preparação de alimentos, à limpeza e à organização de ambientes de terceiros. Escolhi imagens
de uma mulher branca para ilustrar a habilidade de “liderança” e de mulheres negras para
ilustrar “habilidades em informática” e “proatividade”. A escolha não foi expressa, mas as
69
imagens causaram efeito, pois uma das alunas sorriu, apontando as escolhas relacionadas ao
homem cozinhando e à mulher na posição de liderança.
O conceito de imagens de controle (COLLINS, 2019), que subjaz a essa investigação,
que orienta as análises e que será melhor apresentado e discutido na seção teórica, diz respeito
a como imagens socialmente construídas sobre o lugar social (gênero-raça-classe) de
determinados sujeitos é naturalizado no imaginário social. Como efeito dessa naturalização,
sujeitos que estão à frente de instituições, quando não percebem essas imagens de controle e
não as contestam, acabam por ecoá-las em suas ações, contribuindo para a manutenção do
racismo e do sexismo fundante e estrutural da sociedade.
Como possibilidade de contestação dessas imagens de controle em sala de aula, em
perspectivas que se queiram críticas e não reprodutoras desse imaginário que tenta encerrar
certos sujeitos em espaços de imobilidade social, importa que outras imagens sobre sujeitos que
sofrem constrições de ordem racial e de gênero (e de nacionalidade, no caso de imigrantes e
refugiados) possam ser elaboradas. No material didático, por exemplo, a contestação dessas
imagens pode ser um elemento importante para desnaturalizar a ocupação desses sujeitos em
posições sociais restritas.
Após apresentar o material didático, as participantes da pesquisa, o processo de
geração de dados, assim como os instrumentos utilizados, a história natural da pesquisa, e os
passos de negociação para o desenvolvimento do curso de português, descrevendo o cenário
micro da pesquisa, passo a discutir, no próximo capítulo, a fundamentação teórica que permitiu
a análise e interpretação das questões emergentes do campo.
70
3 A BUSCA PELOS USOS LINGUÍSTICOS LEGÍTIMOS NA DIÁSPORA
Desde 2010, quando do terremoto que assolou a cidade de Porto Príncipe, a capital do
Haiti, o Brasil tem recebido um expressivo número de imigrantes e refugiados, que vêm ao País
em busca de oportunidades, “invertendo a lógica secular de migração oriunda, principalmente,
do hemisfério norte”, segundo dados do Observatório das Migrações em Brasília, OBMigra
(CAVALCANTI et al., 2018). Tendo o Brasil como lugar de passagem ou de destino, a chegada
desses novos contingentes populacionais, inicialmente do Haiti e, mais recentemente, da
Venezuela, tem revelado a fragilidade das políticas migratórias nacionais.
Villen (2016) observa que os deslocamentos que partem de países periféricos e seguem
na periferia do capital encontram postos de trabalho precarizados, sendo esse o caso brasileiro.
Concentrando-se nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, as
migrações recentes para o país têm como maioria homens haitianos, seguidos pelos
venezuelanos, no mercado laboral, ambos os grupos ocupando o “final da cadeia produtiva do
agronegócio” (CAVALCANTI et al., 2018, p. 3). Entre 2010 e 2017, a presença dos haitianos
(101,9 mil) no mercado de trabalho seguiu-se à de colombianos (48,2 mil), argentinos (40,9
mil) e estadunidenses (39,9 mil) marcando mais fortemente a presença de imigrantes do
Hemisfério Sul (CAVALCANTI et al., 2018). A imigração da Bulgária para o Brasil não é
expressiva em termos numéricos, figurando nos dados da Polícia Federal na categoria “outros
países”, como era o caso da Venezuela antes de 2017 (CAVALCANTI et al., 2018).
No caso dos haitianos, pesquisas têm mostrado a exposição dessas pessoas a processos
de recrutamento desumanos (GOULART; BUTZGE, 2019) e a extenuantes horas de trabalho,
que têm efeitos nocivos à saúde mental (GOMES, 2017) e prejudicam o aproveitamento em
outras atividades, como a participação em cursos de português (COLUSSI; CUBA;
MIRANDA, 2017). De modo semelhante, imigrantes venezuelanos no Brasil também têm
encontrado obstáculos à inserção, tanto no que diz respeito a menor remuneração no mercado
de trabalho quanto à discriminação por conta da nacionalidade (SIMÕES, 2017).
Em Florianópolis, Silva, Rocha e D’Avila (2020), em pesquisa realizada entre 2015 e
2017, observaram que:
[...] grupos de imigrantes e refugiados não-brancos do eixo sul-sul são
invisibilizados e, devido à ausência de políticas públicas estaduais e
municipais de integração e acolhimento, são submetidos a processos
preocupantes de hiper-vulnerabilização (SILVA; ROCHA; D’AVILA, 2020,
p. 1).
71
Os autores ressaltam que, para além das dificuldades linguísticas, o racismo, a xenofobia, a
dificuldade de reconhecimento de currículos e o racismo estrutural do estado catarinense são,
também, reclamações frequentes nos atendimentos (SILVA; ROCHA; DÁVILA, 2020).
A complexidade do deslocamento de mulheres-mães-imigrantes para um contexto de
hospitalidade seletiva, revelada nos enunciados de alunas participantes da pesquisa, coloca o
desafio de compreensão dos elementos em jogo nessas experiências migratórias e diaspóricas
que envolvem a busca pela língua portuguesa. A intensa mobilidade de “pessoas, textos e
línguas” nos desafia a pensar o que temos chamado de “português” na contemporaneidade
(MOITA LOPES, 2013), mas, sobretudo, o que os sujeitos que se deslocam têm compreendido
como “português” em relação às suas buscas. Essas questões reforçam a importância de
conhecermos essas experiências de deslocamento em suas particularidades.
Para a compreensão de necessidades e projetos em que se inscrevem os sujeitos
migrantes e em diáspora, aprendizes da língua portuguesa, que requerem usos linguísticos
específicos em suas práticas, importa considerar a opinião leiga, como sugere Rajagopalan
(2006), dos sujeitos imediatamente implicados nessas práticas sociais. Quanto à compreensão
do que conta como língua em cada contexto específico de práticas, Makoni e Pennycook (2007)
ressaltam a importância de:
[...] repensar os modos pelos quais olhamos para língua e suas relações com
identidade e localização geográfica, para ir além das noções de
territorialização linguística em que língua está ligada a um espaço geográfico
(MAKONI; PENNYCOOK, 2007, p. 3, tradução minha)20.
Como problematizam Pennycook (2006), Signorini (2002), Hall (2003; 2006) e outros, a noção,
própria do projeto modernista, de que a um espaço geográfico vincula-se a uma língua, uma
nação e uma cultura é deslocada na experiência diaspórica e migratória, impactando a
subjetividade desses sujeitos, a construção de sentidos e a constituição identitária no novo
contexto, processos elaborados pela linguagem (BAKHTIN, 2010).
Com o objetivo de discutir como o ensino de língua portuguesa pode ir ao encontro de
necessidades e projetos pautados por mulheres-mães imigrantes, são articulados e discutidos
neste capítulo conceitos que visam à compreensão (1) das experiências migratórias e
diaspóricas que configuram esses deslocamentos, (2) do ensino de português como língua de
20 “[…] rethinking the ways we look at languages and their relation to identity and geographical location, so that
we move beyond notions of linguistic territorialization in which language is linked to a geographical space”.
72
acolhimento, como língua adicional e como traços de seus repertórios em práticas translíngues,
(3) da produção de enunciados como entrelugares de construção de sentido, (4) da busca pela
legitimidade de falantes nos usos linguísticos situados e (5) de raça como um significante
flutuante, sócio-historicamente situado e, portanto, ambivalente.
Na seção 3.1 A experiência diaspórica, discuto a dimensão subjetiva da mobilidade, a
partir de Hall (2003; 2006), que a compreende como um fenômeno capaz de provocar uma
suspensão identitária cuja referência é irredutível a uma localização geográfica precisa. Nessa
suspensão, o sujeito da diáspora não pertence mais ao seu lugar de origem, para o qual o retorno
é impossível, e tampouco encontra a referência de casa no novo contexto. A identidade é
compreendida como um repertório de traços de experiências transculturais não redutíveis a uma
unidade, sensação que Hall (2003; 2006) tenta captar com sua interpretação do conceito de
diáspora e com a observação do movimento de oscilação entre a tradição e tradução nesse
processo de deslocamento geográfico e subjetivo.
Na seção 3.2 A imigração de mulheres haitianas, venezuelanas e búlgaras, pontuo
especificidades dos fluxos migratórios nos países dos quais as participantes da pesquisa
provêm. Para tanto, apresento e discuto dados de pesquisas vinculadas a observatórios de
migração nacionais, internacionais e outras instituições. Nas seções 3.3 Imigrantes no Brasil:
traços de uma hospitalidade seletiva, 3.3.1 Imigração em Santa Catarina: a celebração de uma
identidade branca e europeia e a invisibilização dos outros e 3.3.2 Imigração em
Florianópolis: Os imigrantes locais e os haules, problematizo o contexto imigratório no Brasil,
em Santa Catarina e em Florianópolis, ressaltando diferenças importantes no convívio de
grupos migratórios que compõem a região.
Na seção 3.4 O português como língua de acolhimento: um conceito sócio-
-historicamente situado, situo o conceito de língua de acolhimento, utilizado no âmbito de
ensino de línguas para imigrantes, abordando, na subseção 3.4.1 O português como língua
adicional e a translinguagem, o caráter adicional e a perspectiva de práticas translíngues. Em
3.4.2 A perspectiva de uso da linguagem por Bakhtin, apresento conceitos utilizados para
analisar e interpretar necessidades e projetos das alunas mães-imigrantes no novo contexto,
compreendendo a enunciação como uma ponte entre dois sujeitos, que pressupõe fronteiras e
negociações (BAKHTIN, 2003; 2006). Na subseção 3.5 A legitimidade nos usos linguísticos,
com Signorini (2002; 2006), discuto essas fronteiras que se interpõem à enunciação na busca
pela língua legítima, propondo um olhar para o contexto sociolinguístico onde se situam essas
práticas de linguagem.
73
De modo a pensar nos critérios de legitimidade conferidos aos sujeitos no discurso,
apresento e discuto o conceito de raça na seção 3.6 Raça como um significante flutuante com
Hall (2006), que o compreende como um significante flutuante e ambivalente. No contexto
brasileiro, como observa Munanga (2019), o conceito de raça concorre ora para a marcação
identitária e fortalecimento étnico de grupos subalternizados por processos históricos de
desumanização, ora como categoria utilizada para configurar imagens de controle que tenta
encerrar certos sujeitos em espaços sociais restritos de mobilidade social e econômica.
A proposição de Hall de que raça é um significante flutuante importa para contestar
estereótipos socialmente cristalizados no imaginário social. Tais estereótipos, que Collins
(2019) denomina imagens de controle, são abordados na subseção 3.6.1 Imagens de controle.
Nesta pesquisa, o exame a esses estereótipos, que se sedimentam historicamente no imaginário
social, serve para discutir os cerceamentos à atribuição de legitimidade de falantes das
mulheres-mães-imigrantes participantes da pesquisa, na posição de sujeitos migrantes e
diaspóricos em contexto de hospitalidade seletiva.
A articulação dos conceitos abordados neste capítulo visa a dar inteligibilidade às
questões que emergiram do campo situado, de modo a dimensionar as fronteiras e bordas na
produção/negociação de enunciados nas buscas pela legitimidade nos usos linguísticos de
Claitaine, Marlene, Neli e Rosario e outras mães imigrantes no novo contexto.
3.1 A EXPERIÊNCIA DIASPÓRICA
A reflexão de Hall (2003; 2006) sobre a complexidade da experiência diaspórica
importa para compreender a produção de sentidos identitários nos processos de deslocamentos
geográficos. Nesta pesquisa, alguns conceitos do autor, discutidos nesta seção, foram utilizados
para interpretar necessidades e projetos enunciados pelas alunas participantes da pesquisa e nos
ajudam a compreender como essas mulheres-mães-imigrantes concebem seus repertórios
linguístico-culturais. A aproximação desses processos subjetivos importa para sensibilizar
formuladores de políticas educacionais e linguísticas quanto à complexidade dos processos de
deslocamento identitário pelos quais passam essas mulheres.
Ao refletir sobre as migrações caribenhas na Inglaterra, Hall (2003; 2006) chama a
atenção para a impossibilidade de reduzir esses deslocamentos à ideia de uma tradição comum,
inscrita em um território de pureza cultural, para o qual um retorno seria possível. Para o autor,
a concepção de uma identidade fixa, produzida nos limites dos Estados-nação, com seus mitos
74
fundacionais e idealizações de unidade na diversidade, não se sustentaria como interpretação
identitária desses deslocamentos:
Trata-se de uma concepção fechada de tribo, diáspora e pátria. Possuir uma
identidade cultural nesse sentido é estar primordialmente em contato com um
núcleo imutável e atemporal, ligando ao passado o futuro e o presente numa
linha ininterrupta. Esse cordão umbilical é o que chamamos de ‘tradição’, cujo
teste é o de sua fidelidade às origens, sua presença consciente diante de si
mesma, sua ‘autenticidade’. É claro, um mito – como todo potencial real dos
nossos mitos dominantes de moldar nossos imaginários, influenciar nossas
ações, conferir significado às nossas vidas e dar sentido à nossa história
(HALL, 2003, p. 29).
Frente à dificuldade de reduzir a compreensão de fluxos migratórios oriundos de países
que passaram por experiências coloniais à unidade do amálgama língua-cultura-território, Hall
(2003) propõe a leitura desse tipo de experiência a partir de um entendimento alternativo de
diáspora e tradução:
O conceito fechado de diáspora se apoia sobre uma concepção binária de
diferença. Está fundado sobre a construção de uma fronteira de exclusão e
depende da construção de um Outro e de uma posição rígida entre o dentro e
o fora. Porém, as configurações sincretizadas da identidade cultural caribenha
requerem a noção derridiana de difference – uma diferença que não funciona
através de binarismos, fronteiras veladas que não separam finalmente, mas são
também places de passage, e significados que são posicionais e relacionais,
sempre em deslize ao longo de um espectro sem começo nem fim (HALL,
2003, p. 33).
Segundo Hall (2003; 2006), observa-se permeabilidade entre as identidades locais e as
caribenhas na Inglaterra. Mas existem tensões nessa composição: “não se quer sugerir aqui que
numa formação sincrética, os elementos diferentes estabelecem uma relação de igualdade uns
com os outros” (HALL, 2006, p. 34). Ou seja, não existe uma fusão de sentidos, mas uma
abertura constante à negociação de sentidos. A esse processo, o autor se refere com o termo
tradução.
Como observa Hall (2006), no contexto global, é tentador pensar que a equação
resultante da mobilidade seria uma homogeneização cultural ou que, na oscilação entre “a
“Tradição e a Tradução”, a escolha se daria como uma volta ao passado ou uma abertura total
ao novo (HALL, 2006, p. 88). Como coloca o autor,
75
[n]aquilo que diz respeito às identidades, essa oscilação entre a Tradição e a
Tradução (que foi rapidamente descrita antes, em relação à Grã-Bretanha) [e
a partir da experiência do próprio autor, jamaicano que se desloca ao ambiente
inglês] está se tornando mais evidente num quadro global. Em toda parte, estão
emergindo identidades culturais que não são fixas, mas que estão suspensas,
em transição, entre diferentes posições; que retiram seus recursos, ao mesmo
tempo, de diferentes tradições culturais; e que são o produto desses
complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada vez mais comuns
no mundo globalizado. Pode ser tentador pensar na identidade, na era da
globalização, como estando destinada a acabar num lugar ou noutro: ou
retornando às ‘raízes’ ou desaparecendo através da assimilação e da
homogeneização. Mas esse pode ser um falso dilema. Pois há outra
possibilidade: a da Tradução. (HALL, 2006, p. 88, ênfase no original).
Como salienta o autor, o que ocorre na experiência diaspórica, e que também pude
testemunhar na emergência dos sentidos compartilhados no curso de português para mães
imigrantes, é que essa tradução mais parece uma suspensão de quadros identitários fixos.
Constitui, portanto, um hibridismo, um lá e um cá, um entrelugar entre a tradição e a tradução,
não redutível a uma nem a outra posição geográfica como referência. E Hall (2006) prossegue
a definir no que consiste esse processo tradutório:
Este conceito [Tradução] descreve aquelas formações de identidade que
atravessam e intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que
foram dispersadas para sempre de sua terra natal. Essas pessoas retem fortes
vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem a ilusão de um
retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as novas culturas em
que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder
completamente suas identidades. Elas carregam os traços das culturas, das
tradições, das linguagens e das histórias particulares pelas quais foram
marcadas. A diferença é que elas não são e nunca serão unificadas no velho
sentido, porque elas são, irrevogavelmente, o produto de várias histórias e
culturas interconectadas, pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias ‘casas’
(e não a uma ‘casa’ particular). As pessoas pertencentes a essas culturas
híbridas têm sido obrigadas a renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir
qualquer tipo de pureza cultural ‘perdida’ ou absolutismo étnico (HALL,
2006, p. 88-89, ênfase no original).
Em seus processos de transformação identitária e negociação translinguística e
transcultural, as identidades culturais hibridizam-se:
Eles [os sujeitos em diáspora] são o produto das novas diásporas criadas pelas
migrações pós-coloniais. Eles devem aprender a habitar, no mínimo, duas
identidades, a falar duas linguagens culturais, a traduzir e negociar entre elas.
As culturas híbridas constituem um dos diversos tipos de identidade
distintamente novos produzidos na era da modernidade tardia (HALL, 2006,
p. 89).
76
A diáspora, segundo Hall (2003), é uma questão capaz de lançar luz “sobre as
complexidades, não simplesmente de se construir, mas de se imaginar a nação e a identidade
caribenhas numa era de globalização crescente” (HALL, 2003, p. 26, ênfase minha). O autor
fala da experiência enquanto imigrante jamaicano na Inglaterra. Em sua obra, enfoca a
identidade cultural na contemporaneidade e a questão da diáspora.
Anderson (2008 [1983]) aponta a sensação de pertencimento como o espaço comum
da comunidade imaginada, materializada em fenômenos que manifestam o ideal de “unidade
na diversidade”, que é a língua em relação a uma nação e a uma cultura. A partir desse
entendimento teórico de Anderson a respeito da nacionalidade, Hall (2003) destaca que, dessa
imaginação de uma comunidade deriva-se a imagem de um determinado sujeito nacional:
As nações, segundo sugere Benedict Anderson, não são apenas entidades
políticas soberanas, mas ‘comunidades imaginadas’. Trinta anos após a
independência, como são imaginadas as comunidades caribenhas? Esta
questão é central, não apenas para seus povos, mas para as artes e culturas que
produzem, onde um certo “sujeito imaginado” está sempre em jogo. (HALL,
2003, p. 26).
A acurácia do olhar de Hall para o fenômeno diaspórico coloca em questão dois pontos
principais que importam para este trabalho: a ideia de um “sujeito imaginado”, fruto dessa
manifestação reificada de cultura que emerge da construção subjetiva da nacionalidade, e a
noção de um “pertencimento” do sujeito, que estaria circunscrito a esse espaço de comunhão,
lido na modernidade como nacional, em que coisas como línguas e modos de ser são construídas
discursivamente como naturais (PENNYCOOK, 2006; MAKONI; PENNYCOOK, 2007).
Um dos elementos que atua na ideia originária de nação, segundo Anderson (2008), é
o elemento territorial. A despeito desta marcação, o sentimento de pertencimento transcende
essas fronteiras, sendo captado por um ethos que independe da fixação a um espaço geográfico
específico, manifestando-se nas crenças, na arte, nos ritos, nos símbolos, nas instituições e em
outros elementos aos quais se atribui um dado sentido (GEERTZ, 1983). O exemplo mais
notável da sensação de comunidade imaginada na diáspora, em que ocorre uma descontinuidade
da narrativa vivida com o espaço geográfico é, sem dúvida, a experiência judaica, marcada pela
separação forçada de sua terra natal, de onde surge o conceito mesmo de diáspora (HALL,
2003). No entanto, o autor propõe uma visão alternativa da experiência da diáspora,
compreendendo-a como uma suspensão identitária, em que o sujeito não se sente pertencente
nem unicamente a um território, nem a outro. A identidade é entendida como uma constituição
77
de traços que não se encerram em uma forma unívoca, pura, indivisível, como na idealização
iluminista de formas fixas. Na experiência da diáspora, as identidades se tornam múltiplas.
Junto com os elos que as ligam a uma linha de origem específica, há outras forças centrípetas.
A manifestação do ethos, do sentimento de pertencimento, como lembra Seyferth
(2012), é mais fortemente gerada a partir de uma oposição. Ela pode se dar tanto pela distância
do território natal – como ocorre nos sentimentos de pertencimento expressos pelos imigrantes
europeus em Santa Catarina, a exemplo da “germanidade” – quanto pela marcação de elementos
de diferenciação para contraste com grupos dentro e fora de um mesmo território concebidos
como “outros”. Em um caso ou outro, a “diferença” estaria no cerne da produção do sentimento
étnico.
A partir da experiência dos caribenhos na Inglaterra, 30 anos após seu deslocamento,
Hall (2003) se pergunta quanto às especificidades dos elementos que tornam um grupo
etnicamente diferente frente ao fenômeno diaspórico:
Onde começam e onde terminam suas fronteiras, quando regionalmente cada
uma é cultural e tão próxima de seus vizinhos e tantos vivem a milhares de
quilômetros de casa? Como imaginar sua relação com a terra de origem, a
natureza de seu ‘pertencimento’? E de que forma devemos pensar sobre a
identidade nacional e o ‘pertencimento’ no Caribe à luz dessa experiência de
diáspora (HALL, 2003, p. 26)
O autor prossegue, identificando a família, na perspectiva transnacional como apoio e
lugar da ancestralidade: “Tal qual ocorre comumente nas comunidades transnacionais, a família
ampliada – como rede e local da memória – constitui o canal crucial entre os dois lugares”
(HALL, 2003, p. 26). Marcando a importância da guetização, do grupo, da família, enquanto o
lugar em que o outro é visto como um igual, pertencente a um background comum, Hall nos
traz importantes elementos para compreendermos como as mulheres participantes desta
pesquisa, que são mães e aprendizes de português, organizam seus repertórios simbólicos no
deslocamento.
Hall (2003) afirma que, entre as comunidades caribenhas na Grã-Bretanha, é possível
observar um forte sentimento de ligação com suas culturas originais, “embora os locais de
origem não sejam mais a única fonte de identificação” (HALL, 2003, p. 26). A força do “elo
umbilical”, como ele denomina a conexão com o local de origem, leva a uma série de
aposentados a voltarem à sua terra natal. No entanto, ao retornarem, esses sujeitos não a
78
reconhecem mais, nem são reconhecidos pelos seus conterrâneos, passando até a sentir falta do
ar cosmopolita inglês.
Hall (2006, p. 51) observa a cultura nacional como um discurso, “um modo de
construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos
de nós mesmos”. O autor destaca cinco elementos principais componentes deste discurso: 1. A
narrativa da nação, que é “contada e recontada nas literaturas nacionais, na história oficial, na
mídia e na cultura popular”; 2. A “ênfase nas origens, na continuidade, na tradição”; 3. A
invenção da tradição, em que um conjunto de práticas relativas a normas de conduta é
ficcionalizado como fruto de uma longa história, com o objetivo de naturalizar
comportamentos; 4. O mito fundacional, “uma estória que localiza a origem da nação, do povo
e de seu caráter nacional num passado tão distante que ele se perde nas brumas do tempo” e
5. A ideia de um povo puro, original (HALL, p. 52-56).
O autor questiona se é possível sustentar esse discurso considerando o grau de
supressão da diferença nesses processos de construção de narrativas de culturas nacionais, uma
vez que “a maioria das nações consiste de culturas separadas que só foram unificadas por um
longo processo de conquista violenta – isto é, pela supressão forçada da diferença cultural”
(HALL, 2006, p. 59). E conclui, compreendendo que, para esse discurso “não importa quão
diferentes seus membros possam ser em termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional
busca unificá-los numa identidade cultural” (HALL, 2006, p. 59). Ao questionar-se,
compreende que o processo de imaginação de uma comunidade, elaborada como se fosse
unificada, passa, em realidade, por profundas divisões e diferenças internas. Hall (2006) conclui
pela impossibilidade de pureza e compreende que as nações modernas seriam híbridos culturais,
sendo a ideia de unidade uma ficção.
O processo de globalização, que promoveu uma compressão entre distâncias e tempos,
promoveu o deslocamento de uma série de grupos, reconfigurando cenários e desestabilizando
o discurso da cultura nacional. Nesse cenário, tanto locais quanto imigrantes e sujeitos em
diáspora têm o desafio de ressignificar suas identidades frente o estabelecimento de novas
articulações. Hall (2006) enumera três respostas típicas desses rearranjos narrativos: 1. A
homogeneização cultural, que requer a assimilação do outro ao novo contexto; 2. O
fortalecimento identitário, em que as marcas de diferença são acentuadas através de uma
supervalorização da narrativa da cultura nacional e 3. A hibridização ou tradução cultural, em
que a narrativa da cultura não mais se sustenta como unificada, mas como porosa, permeável a
novas formas de organização, adaptável a novos contextos, sem que se percam os elementos de
79
coesão com os territórios originais – ou seja, essas identidades tornam-se múltiplas e
multifacetadas. Hall (2006) compreende que as identidades são relacionais e, portanto,
processos em constante transformação.
Almeida (2019) salienta que a problemática da identidade como suspensão, na
discussão contemporânea, não pode se limitar à esfera da subjetividade individual, devendo
considerar a estrutura social que tem enquadrado de modo sistemático certos sujeitos/grupos
em posições de subalternidade. No entanto, a leitura de Hall dos efeitos da globalização nas
identidades diaspóricas, apesar de datada, não deixa de ter elementos importantes de reflexão
de algumas tendências que temos observado no cenário atual, principalmente no que diz
respeito ao recrudescimento do fascismo e da celebração de identidades fixas (nacionais e
raciais), como resposta à presença de imigrantes.
Essa discussão interessa ao debate sobre o ensino de português para mães-imigrantes,
porque a forma como professores concebem os deslocamentos territoriais de suas alunas,
impacta na forma como são considerados os repertórios linguístico-culturais dessas aprendizes.
Se a postura do professor é a de buscar uma homogeneização, o impacto para o ensino da língua
portuguesa é de um tipo, assimilacionista. Se o caso é considerar os efeitos da tradução cultural,
perceber as negociações de sentido e respeitar os elementos da bagagem do aprendiz que ele
quer preservar, trata-se de compreender para que contexto específico de vida das aprendizes no
novo local são requeridos conhecimentos da língua portuguesa. Um ponto de partida é perceber
e valorizar como são construídas essas narrativas de cultura no novo local para compreender
necessidades e projetos pautados por mães-imigrantes aprendizes de português.
Como observa Cavalcanti (2006), no contexto de formação de professores indígenas,
e como também observo no âmbito desta pesquisa, as reflexões de Hall sobre as negociações
de sentido em torno de identidades culturais também podem ser utilizadas para refletirmos sobre
as identidades linguísticas e sociais das participantes da pesquisa. Ambos os contextos – o
indígena e o de sujeitos em diáspora – são o que a autora entende como de minorias linguísticas
ou de maiorias tratadas como minorias (CAVALCANTI, 1999, 2006), em referência ao descaso
com que são considerados em políticas oficiais. Trata-se de cenários em que a língua majoritária
nacional, no caso, a língua portuguesa, é inscrita verticalmente por sujeitos à frente de
instituições e nas práticas cotidianas, forçando apagamentos e invisibilizando a riqueza dos
repertórios linguístico-culturais individuais. No entanto, é também com essa língua que
mulheres mães-imigrantes encontram possibilidades de acolher umas às outras no contexto do
curso de português, apesar das diferentes situações sociais em que se encontram.
80
É nesse contexto de suspensão de narrativas de pertencimento e reajuste de estratégias
de adaptação ao novo contexto que somos desafiados a pensar em formas de conceber
programas de ensino de línguas e políticas linguísticas que incorporem pressupostos de respeito
a esses processos translíngues e transculturais. Para a compreensão dos processos de
deslocamento das mulheres-mães-imigrantes participantes da pesquisa, passo a apresentar a
imigração de mulheres dos países dos quais as alunas participantes da pesquisa provêm na seção
seguinte.
3.2 A IMIGRAÇÃO DE MULHERES HAITIANAS, VENEZUELANAS E
BÚLGARAS
As condições sócio-históricas do Haiti marcam-no como um país que tem sofrido
embargos de países hegemônicos e períodos de longas ditaduras, apesar de seus esforços
pioneiros e revolucionários para romper com o processo de colonização (GRONDIN, 1985).
As instabilidades políticas, econômicas e sociais têm feito com que sua população opte pela
emigração como saída para a busca de melhores condições de vida. A princípio, os destinos
eram a vizinha República Dominicana e países do Norte Global. Na última década, o Brasil tem
figurado como um dos destinos escolhidos para essa diáspora – a região Sul do país, de modo
especial (MAGALHÃES, 2016).
Após o terremoto de 2010, que destruiu a capital Porto Príncipe, matando mais de
300.000 pessoas (SEGUY, 2015), constantes intervenções dos órgãos internacionais têm
suscitado críticas sobre a efetividade dessas ações na melhoria de vida do povo haitiano
(BRIEGER, 2019). As más condições estruturais, sociais e econômicas do Haiti, acirradas pelo
fenômeno geológico, fizeram milhares de haitianos migrarem para o Brasil desde 2010. A
imigração haitiana para o Brasil é caracterizada como involuntária, por ser decorrente de
desastres naturais (ROMANO; PIZZINATO, 2019).
Nos primeiros anos, o trajeto do Haiti até o Brasil feito pelos imigrantes caracterizava-
-se pela periculosidade. Para chegar ao Brasil, os haitianos atravessavam fronteiras a partir de
contratos estabelecidos com os denominados ‘coiotes’, pessoas que cobravam consideráveis
quantias de dinheiro para guiar a travessia pela Amazônia (BAENINGER, 2016). Os migrantes
vinham de avião até países como Peru e Bolívia. Em seguida, viajavam para o Brasil por terra,
percorrendo trajetos incertos, convivendo em espaços insalubres e sofrendo violências de todo
tipo (roubos, enganos, subornos, estupros, prisões e até mortes). Ao chegar ao Brasil, ainda
tinham de sofrer com a superlotação em albergues nas cidades brasileiras em que primeiramente
81
entravam. A condição de vida dessas pessoas, em seus processos migratórios, portanto, é
bastante árdua. De todo modo, o vislumbre de uma possibilidade de emprego e de alcance de
cidadania no país que os recebe é uma força propulsora de esperança para os que decidem
realizar o trajeto.
Em 2014, o governo brasileiro, através do Conselho Nacional de Imigração (CNIg),
decidiu criar uma maneira oficial de haitianos legalizarem sua entrada no Brasil a partir de Porto
Príncipe ou de países fronteiriços, através do visto humanitário (FERNANDES; FARIA, 2016).
Apesar de ser uma medida que buscou impedir a entrada ilegal e, por consequência,
desestimular o trajeto que os expunha às violências relatadas, a quantidade limitada de vistos
emitidos, bem como a demora e burocratização do processo não garantiram de todo o desvio da
via ilegal para a oficial. Porém, embora problemático, o visto humanitário permitiu que muitas
dessas pessoas passassem a ter uma via legal e mais rápida de oficializar as condições de entrada
e de trabalho no Brasil.
Segundo Fernandes e Faria (2016), a quase totalidade da população de haitianos que
entrou no país de 2010 a 2012 era composta por homens. A maior parte dos registros de trabalho
e residência foi emitida em 2015 (v. Tabela 1), aproximadamente metade dos quais para
homens.
Tabela 1 – Número de vistos de trabalho concedidos a imigrantes no Brasil entre 2011 e
2017, por país de origem
Fonte: Cavalcanti et al. (2018, p. 47).
82
Nesse mesmo período, conforme informam Cavalcanti et al. (2018) a presença de
mulheres nos registros representava um terço do total (cf. Tabela 2). Dos 95.497 registros
emitidos, 64.628 foram para homens e 30.869 para mulheres (CAVALCANTI et al., 2018, p.
65).
Tabela 2 – Número de vistos de trabalho concedidos a imigrantes no Brasil entre 2011 e
2017, por sexo.
Fonte: Cavalcanti et al. (2018, p. 48).
Sobre a inserção laboral da mulher imigrante haitiana, Ribeiro, Fernandes e
Mota-Santos (2019) afirmam que a média de idade da mulher imigrante haitiana é de 28 anos
e a do homem é 30, o que, segundo o Observatório das Migrações Internacionais – OBMigra –
constituiria uma característica de migração, sobretudo laboral (CAVALCANTI; OLIVEIRA;
MACEDO, 2019, p. 29). Dados revelam que apenas 3% dos imigrantes do Haiti têm acima de
65 anos e 2% abaixo de 20 (CAVALCANTI et al., 2018; CAVALCANTI; OLIVEIRA;
MACEDO, 2019, p. 29).
Ao abordarem o protagonismo feminino na imigração haitiana, Mejía e Cazarotto
(2017) observaram, em uma investigação etnográfica, que o deslocamento é um projeto familiar
que envolve tanto os membros da família que ficaram quanto os que partiram. O Vale do
Taquari, no Rio Grande do Sul, em 2017, situava-se como o terceiro local brasileiro com maior
inserção laboral de imigrantes (CAVALCANTI et al., 2018). Segundo essas autoras, a migração
das mulheres do Haiti para essa região tem seguido três tendências:
1) migram junto com os maridos, o casal faz junto o trajeto Haiti-Vale do
Taquari; 2) migram depois de um período de separação dos maridos, os quais,
uma vez estabelecidos no Brasil poupam dinheiro para financiar a viagem das
companheiras; 3) migram sozinhas e deixam o marido no Haiti ou na
República Dominicana (MEJÍA; CAZAROTTO, 2017, p. 184).
As autoras salientam o papel da mulher haitiana no papel de esposa como
“estruturante”:
83
O papel da esposa é estruturante, quando o casal que migra tem condições
financeiras e traz o filho ou os filhos do Haiti. Conhecemos casos em que os
trouxeram e em outros, não. Em circunstâncias nas quais o processo
migratório dos membros da família não é simultâneo, o marido migra antes da
esposa dos filhos. Geralmente, quando este se instala e adquire estabilidade
financeira traz a mulher e, se tiver recursos, o(s) filho(s) vem (vêm) junto
(MEJÍA; CAZAROTTO, 2017, p. 179).
Ambos os estudos, Cavalcanti et al. (2018) e Mejía e Cazarotto (2017), visibilizam as
condições por que passam essas mulheres em situação de diásporas. Mejía e Cazarotto (2017),
em específico, salientam a importância da presença feminina para a compreensão das famílias
transnacionais haitianas. No Brasil, as estratégias migratórias já utilizadas pelos haitianos em
outros contextos (na imigração para os EUA, por exemplo) são reproduzidas. As tecnologias
da comunicação, apontam as autoras, têm sido recursos utilizados para a manutenção dos
vínculos familiares e da saúde mental nos deslocamentos (MEJÍA; CAZAROTTO, 2017).
Estudos do Observatório das Migrações em Santa Catarina, da Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC), constataram um expressivo aumento da presença de mulheres
haitianas em 2015. Segundo Brigthwell et al (2016):
Em Chapecó e região, já há a maior concentração de imigrantes haitianas no
Brasil. Estas chegam muitas vezes com o apoio de campanhas de empresas e
entidades da região. Registra-se aí também a chegada de e o próprio
nascimento de filhos de imigrantes (Bordingnon and Piovezana, 2015). Essas
crianças colocam questões significativas para o atendimento em creches,
escolas e postos de saúde, pois as mães se deparam com as dificuldades de
comunicação advindas da língua, a maioria não fala português e tem que
aprender a situar-se no nosso sistema de saúde, o que nem sempre é fácil, pois
têm que lidar com a falta de preparo das equipes para atendê-las e, muitas
vezes, com o preconceito (BRIGHTWELL, 2016, p. 493).
No caso desta pesquisa, chama atenção a etapa em que as mães deixam os filhos no
Haiti e esperam pelo resultado do trabalho para reunir a família no Brasil. Três alunas do curso,
provenientes do Haiti, que eram mães antes de partirem para o Brasil, deixaram seus filhos aos
cuidados de parentes em seu país. Claitaine, por exemplo, deslocou-se três anos após seu marido
fixar residência no Brasil. Ela espera, ainda hoje, condições financeiras para trazer seus dois
filhos. Em uma de nossas conversas, ela fala sobre a importância de falar com eles todos os
dias, corroborando o que descrevem Mejía e Cazarotto (2017) sobre o uso das tecnologias para
a manutenção dos vínculos transnacionais.
A imigração venezuelana para o Brasil guarda semelhanças, mas tem suas
especificidades em relação à haitiana. Segundo o relatório da United Nations High Comissioner
84
for Refugees (UNHCR) (2020), dos 79,5 milhões de deslocados forçados no mundo em 2019,
4,5 milhões eram venezuelanos e venezuelanas. Dentre os quais, 93.300 eram refugiados,
794.500 fizeram pedidos de asilo e 3,6 milhões eram emigrantes. No Brasil, em 2019, houve
82.520 solicitações de refúgio de venezuelanas, 65,1% do total de pedidos, frente a 20,1% de
solicitações de haitianos21.
Deslocamentos forçados são os considerados “resultado de perseguição, conflitos,
violência, violação de direitos humanos ou eventos que perturbam seriamente a ordem pública”
(ACNUR, 2020). No caso da Venezuela, entre os motivadores para emigração destacam-se: a
crise econômica (51%), a crise política (25,4%) e a busca por trabalho (12,3%) (SIMÕES, 2017,
p. 25). A fome, consequência da insegurança alimentar na Venezuela, destaca-se como o
principal motivo para o deslocamento entre os indígenas Warao.
Desde 2015, quando um contingente expressivo de venezuelanos se deslocou do seu
país de origem, os destinos procurados, além dos tradicionais Estados Unidos e Espanha, foram
a América Latina e o Caribe (SIMÕES, 2017). Também o Brasil, nos últimos anos, tornou-se
um dos destinos por eles escolhido. A entrada de imigrantes venezuelanos em território
brasileiro aumentou de forma expressiva entre 2015 e 2017. Em 2015, foram registradas 829
solicitações de refúgio, passando para 3.368 em 2016 e 7.600 em 2017 (SIMÕES, 2017). Em
2020, esse número caiu para 202. Segundo dados da ACNUR em parceria com o Banco
Mundial, entre julho de 2017 e outubro de 2020, mais de 260.000 venezuelanos deslocaram-se
para o Brasil (SHAMSUDDIN et al, 2021).
Na pesquisa de Simões (2017), em que foram realizadas 650 entrevistas no município
de Boa Vista, em Roraima, principal porta de entrada desses imigrantes no Brasil, o
deslocamento de venezuelanos se caracterizou como terrestre (eles/elas não vêm de avião) e
laboral (com faixa etária entre 20 e 39 anos), segundo a tabela abaixo:
21 Segundo dados do site oficial da ACNUR: Disponível em: https://www.acnur.org/portugues/dados-sobre-
refugio/dados-sobre-refugio-no-brasil/ Acesso em: 04/06/2021.
85
Tabela 3 – Distribuição relativa , segundo idade, por sexo, dos imigrantes venezuelanos
ingressantes em Boa Vista, RO, em 2017.
Fonte: Simões (2017, p. 23).
Apesar de apresentarem alta escolaridade, 50,4% desses imigrantes ganham menos
que um salário mínimo e apenas 4,8% deles indicaram receber mais de dois salários. Quando
questionados se haviam sofrido alguma hostilidade na inserção social como um todo, relataram
sofrer práticas discriminatórias no trabalho. Do total de respondentes, 34,5% dos homens e
30,5% das mulheres relataram ter sofrido hostilidades relacionadas à nacionalidade, enquanto
2,5% dos homens e 4,5% das mulheres que relataram ter sofrido outros tipos de hostilidades.
Com relação ao conhecimento linguístico, constavam no questionário duas perguntas,
uma das quais em torno do conhecimento individual – “Idiomas que domina além do espanhol”
–, com as seguintes alternativas: “1. Português 2. Inglês. 3. Francês, 4. Nenhum 5. Outro”; e a
outra com relação ao idioma local – “Você acha que o idioma local dificulta a inserção e o
crescimento laboral?” –, oferecendo como alternativas: “1. Sim; 2. Não; 3. Não sabe”
(SIMÕES, 2017, p. 86-87). A língua portuguesa é tomada como o idioma local e seu domínio
é associado ao mercado de trabalho. Não foram feitos questionamentos em torno da importância
do idioma local ou de outros idiomas para a socialização em outras esferas que não a laboral.
Na interpretação dos dados do questionário, o relatório conclui: “mais da metade
(52,9% do total) relatou dificuldades e entende que o idioma dificulta sua inserção laboral,
contra 43% que disseram não ver problemas entre o idioma e sua inserção no mercado de
trabalho” (SIMÕES, 2017, p. 34). Entre os entrevistados, 15,5% disseram participar de cursos
de língua portuguesa, 22,7% afirmam dominar o português e muitos expressam o desejo de
aprender a língua. Sobre a demanda e a oferta de cursos, o relatório pontua:
Há a necessidade também de maior investimento em aulas de português com
professores capacitados e remunerados, tendo em vista o baixo percentual de
indivíduos que dominam o idioma e o alto grau de interessados em aulas. Os
cursos ministrados por voluntários estão com a lotação esgotada, os
professores não possuem conhecimento profissional de português e são, em
86
sua maioria, inexperientes em relação à docência. Há a necessidade de
profissionalizar os serviços e cabe registrar o esforço feito pelos voluntários
até o momento (SIMÕES, 2017, p. 16).
No excerto acima, fica registrada a ausência do Estado e de políticas públicas eficazes
em relação às necessidades apresentadas pelos imigrantes, que, em sua maioria, sentem
necessidade de maiores conhecimentos em relação ao idioma majoritário – a língua portuguesa.
Nas palavras de Simões (2017, p. 47), “uma pequena parcela fala o português, o que demandará
políticas de ensino do idioma, de modo a proporcionar uma mais rápida integração à sociedade
brasileira, apesar da falta do domínio muitos alegaram não estudar”. O desejo dos Warao de
aprender a língua portuguesa para a inserção laboral também é levantado (SIMÕES, 2017,
p. 15).
Entre os que trabalham, aproximadamente 40% dizem já ter sofrido alguma
discriminação por ser estrangeiro. Assim como os haitianos, mais da metade dos imigrantes
venezuelanos relatou enviar remessas para o país de origem (pais, cônjuge, filhos ou irmãos).
Sobre a situação atual de mulheres venezuelanas, Prada (2018) ressalta que a
desigualdade de gênero na Venezuela é uma realidade, pois, a despeito das lutas por
reconhecimento, apenas no século passado elas conquistaram direito ao voto e seguem existindo
estereótipos que desvalorizam e subordinam a mulher. Prada menciona uma série de políticas
e ministérios criados nos últimos anos direcionados à atenção às mulheres venezuelanas,
inclusive com medidas que visam a impedir a veiculação de mensagens sexistas nas cadeias de
rádio e televisão (PRADA, 2018, p. 314). Apesar disso, a autora denuncia que essas medidas
não têm tido impacto na realidade, considerando o aumento das taxas de feminicídio, a maioria
em âmbito doméstico ou provocadas pelo cônjuge ou parceiro. Conforme a autora destaca,
importa ressaltar a condição laboral dessas mulheres:
Muchas se ven obligadas a ejercer labores de cuidados doméstico y otros
empleos informales, mal remunerados y sin protección de ley […] los hombres
ganan aproximadamente un 19% más que las mujeres en América Latina y el
55% de los empleos que encuentran las mujeres está en la economía informal
(PRADA, 2018, p. 315).
A situação das mulheres indígenas venezuelanas é ainda mais precária. Além da
devastação da natureza, causada pela extração de minérios na região, as mulheres e crianças
indígenas são objetificadas em um comércio que as explora sexualmente como moeda de troca,
remontando às violências coloniais infligidas ao corpo das mulheres indígenas (PRADA, 2018).
87
Como aponta a autora, faltam legislações específicas que garantam a essas mulheres seus
direitos de proteção e atenção (PRADA, 2018, p. 319).
Em Roraima, a presença de mulheres indígenas Warao com filhos no colo chama
atenção na paisagem urbana:
Mesmo não representando a maioria da população venezuelana em
deslocamento, afinal, estima-se que por volta de 700 a 800 Warao estejam no
Estado de Roraima, a visibilidade deles nas vias públicas da cidade, muitas
vezes, com mulheres carregando seus filhos pequenos no colo, sob o sol do
meio-dia, acarretou um maior impacto entre os tomadores de decisão do
governo local sobre a necessidade de se destinar um local para abrigar essa
população (SIMÕES, 2018, p. 52).
O Estado de Roraima, em conjunto com a ACNUR, providenciou um abrigo para os
indígenas Warao, no quais se fornecem alimentos e outros serviços, dentre os quais, cursos de
língua portuguesa. Segundo a pesquisa de Simões (2018), feita de modo qualitativo (sem
questionários e com a presença das lideranças), os Warao consideraram que têm uma vida
melhor no Brasil.
Como apresentado, ainda que brevemente, a imigração de mulheres haitianas e
venezuelanas para o Brasil tem sido marcada por desafios, que se somam às demandas locais
já precarizadas no atendimento aos cidadãos nacionais.
Há ainda escassas pesquisas em torno da imigração de mulheres búlgaras para o Brasil.
A Bulgária passou a fazer parte da União Europeia em 2007 e é apontada como um dos países
que melhor atendeu, com nota 90.6, aos oito indicadores para a igualdade de gênero no mercado
de trabalho (WORLD BANK, 2020). Dentre os indicadores do documento, as reformas mais
significativas no mundo têm estado no indicador parentalidade, que diz respeito às licenças
parentais e à proibição de demissão de gestantes. As licenças parentais são concedidas à mãe
ou ao pai após a licença-maternidade ou paternidade, visando a assegurar os direitos trabalhistas
e a promover menor desigualdade nos cuidados com os filhos. Segundo Melo (2019):
No Brasil, a legislação ainda não prevê a concessão de licença parental, mas,
em muitos lugares do mundo, se fortalece a consciência de que o fato de as
responsabilidades familiares recaírem principalmente – e muitas vezes
exclusivamente – sobre a mulher é uma fonte de dificuldades e de
discriminação para sua inserção e manutenção no mercado de trabalho.
Reconhecer o direito e os deveres dos pais em relação à criança e a
necessidade do compartilhamento da responsabilidade de todos na vida
familiar, independentemente do gênero, não apenas gera uma melhoria das
condições das mulheres no mercado de trabalho, mas o enraizamento de uma
88
nova mentalidade social, no sentido da igualdade entre homens e mulheres
(MELO, 2019, p. 13).
Essa igualdade se reflete nos avanços econômicos, como apontam dados do Banco
Mundial, que tem metas para a redução dessa diferença (WORLD BANK, 2020). Os avanços
no indicador de parentalidade, segundo o Banco Mundial, não ocorreram nos países da América
Latina e da região do Caribe. Em relação aos outros indicadores, a parentalidade ainda é o que
menos evoluiu nos últimos cinco anos de reformas.
A Bulgária tem nota 100 (máxima) no indicador parentalidade, a Venezuela e o Brasil
têm nota 80 e o Haiti, nota 20 nesse quesito. Dentre os países de economia desenvolvida, a
Bulgária é um dos que mais benefícios oferece às mães trabalhadoras, que têm direito a 227
dias (32 semanas) de licença-maternidade, remunerados a 90%, 15 dias de licença-paternidade,
remunerados a 100%, e licença parental de 26 semanas (128 dias) para a mãe ou para o pai com
90% de remuneração, oferecida pela Seguridade Social (MELO, 2019, p. 18). Na América
Latina, apenas Cuba e Chile oferecem a licença parental (MELO, 2019).
A emigração da Bulgária é equilibrada entre os sexos. Dos búlgaros que emigraram
em 2019, 19.089 eram homens e 18.840, mulheres. No Brasil, entre 2011 e 2015, houve apenas
15 autorizações de residência concedidas a búlgaros, frente a 51.124 autorizações de residência
e trabalho concedidas para haitianos e 48 para venezuelanos. Portanto, o fluxo de imigração
búlgara para o Brasil não é considerado expressivo.
As questões relacionadas à compulsoriedade do trabalho para as mulheres haitianas e
venezuelanas ganham contornos evidentes no deslocamento para o Brasil, onde se veem
obrigadas a trabalhar para compor a renda familiar. No caso da participante proveniente da
Bulgária, a possibilidade de esperar dois anos para voltar a trabalhar – a idade em que as filhas
vão para a escola – reflete uma estrutura legal do país de origem que se mantém no planejamento
no Brasil. Isso traz à tona uma relação importante entre o contexto de origem e as perspectivas
no país de imigração.
O contraste entre as experiências das alunas provenientes da América-Latina, para as
quais a urgência das demandas laborais é evidente, e o significado que o trabalho tem para a
aluna da Bulgária leva-nos a questionar a aplicabilidade do conceito de acolhimento, na acepção
de uma urgência da língua para inserção laboral no contexto do curso de português. A
especificidade das buscas que se apresentam a partir dos enunciados coconstruídos no campo
de pesquisa dá margem a reflexões sobre o que pode ser considerado como acolhimento, neste
89
contexto específico em que mulheres-mães-imigrantes de diferentes lugares do mundo
procuram o curso de português.
As características diferenciadas dos três fluxos migratórios aqui discutidos encontram
na sociedade receptora dificuldades não menos singulares. O histórico de hospitalidade do
Brasil e do brasileiro, bastante divulgado globalmente (especialmente no início da imigração
haitiana), tem-se revelado um fenômeno seletivo, uma vez que alguns grupos encontram mais
receptividade que outros.
Na seção seguinte, passo a analisar algumas etapas de construção dessa narrativa de
(falta de) acolhimento, em relação à alteridade, relacionando-as com dados que remetem ao
oposto da imagem celebratória da diversidade.
3.3 IMIGRANTES NO BRASIL: TRAÇOS DE UMA HOSPITALIDADE
SELETIVA
A população brasileira formou-se essencialmente a partir dos habitantes autóctones
indígenas e de sucessivas levas imigratórias, que foram casuais (portugueses, a partir do século
XVI), forçadas (africanos, entre os séculos XVI e XIX), ou incentivadas (europeus de vários
países, nos séculos XIX e XX). Ao final do séc. XIX, Machado de Assis atestava uma
incoerência na representação literária brasileira incipiente: os povos denominados indígenas,
apesar de fortemente dizimados, figuravam como protagonistas na literatura brasileira
incipiente. Machado estranhava este “instinto de nacionalidade”, em que a “cor local” era
desproporcionalmente elevada como tema de poesia (ASSIS, 1994 [1873]). Ou seja, a imagem
local construía-se contraditoriamente à realidade de silenciamento desses povos e línguas.
Produzida segundo valores ideológicos europeus, essa imagem ajudou a compor o imaginário
brasileiro em torno de uma cruz que abençoa e registra línguas, povos e saberes em português.
Os cadáveres celebrados a compor o quadro representativo da imagem nacional não
seriam a única contradição na produção artística brasileira. A mestiçagem, ora enaltecida, ora
vista como sinal de degenerescência, também aparece como elemento central a compor o
imaginário sobre povo brasileiro. O discurso da celebração da mestiçagem, da democracia
racial, inventada como sinônimo de hospitalidade do povo, apagava todas as violências,
estupros e assujeitamentos acometidos em nome dessa hibridez pretensamente harmônica.
A intelectualidade brasileira, no final do século XIX e início do século XX, interpretou
a diversidade racial como um problema. A despeito das controvérsias em torno das vantagens
da mestiçagem, que circundavam discursos oriundos das teorias raciais no século XIX e na
90
primeira metade do século XX, a imagem do Brasil é consolidada como a de uma democracia
racial rumo a um futuro branco (SCHWARCZ, 2018). Aplicando-as ao seu contexto e
projetando um futuro possível para aquele povo nascente, a mistura de raças foi compreendida
por intelectuais da época de forma ambivalente, ora como signo de degenerescência, ora como
esperança de que a mestiçagem sucessiva levaria a um gradual branqueamento do povo local
(MUNANGA, 2019). Nos dois casos, o projeto de apagamento da presença negra é evidente.
Começa a ser gestada, paralelamente ao processo de abolição da escravatura, a
substituição da mão de obra africana escravizada pela de imigrantes europeus, em busca de um
branqueamento da população brasileira, como possibilidade de uma “melhoria racial” do povo
brasileiro (SEYFERTH, 1986; 1996; 1995; SCHWARCZ, 2012). Na década de 1930, o Brasil
ainda seguia em busca de uma identidade nacional. No concurso de quem teria a melhor
definição para tanto, ganhou a miscigenação como característica identitária do povo brasileiro,
conforme proposto por Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala (1933). Essa obra
consolidou a ideia da miscigenação das três raças como elemento formador tanto da população
quanto da mentalidade brasileira. Freyre nega que a mistura tenha provocado degenerescência
racial do brasileiro e propõe a miscigenação como fator positivo na formação cultural do País.
Com a miscigenação assim positivada, abre-se a possibilidade de criação de uma
narrativa sobre a identidade brasileira centrada na harmonia entre as três raças (branca, negra e
indígena). Foi este o modelo idealizado de uma democracia racial como identidade brasileira
que vigorou (SCHWARCZ, 2012). É importante ressaltar que só então o elemento negro entra
como composto da matriz formadora brasileira. Invisibilizado nas narrativas brasileiras, o
africano e seus descendentes foram preteridos ao indígena, o elemento nativo, na imaginação
da sociedade brasileira que se construía no século XIX (SCHWARCZ, 2012).
Seyferth (1995) observa que, também como influência da estratégia do
branqueamento, o conceito de pertinência racial ou étnica como índice de moralidade afetou
fortemente o planejamento migratório no Brasil. Os alemães, por exemplo, inicialmente
almejados para a imigração pelo presumido prazer do trabalho, posteriormente foram
preteridos, uma vez que seu senso de nacionalidade e forte identificação étnica não favorecia o
cruzamento com outras etnias. Ao contrário dos portugueses, espanhóis e italianos, os alemães
não se mostravam abertos à miscigenação. Esse grau de fechamento não era adequado ao plano
de branqueamento que se desenhava. Com base na ideia de pureza racial, criou-se um projeto
de nação que previa o branqueamento da população. No século XIX, é o sul do Brasil o local
91
visado para o projeto de branqueamento do país, que previa a supressão dos negros e índios da
população. Quanto aos indígenas, como observa Arend (2001, p. 39):
Na década de 70 [do séc XIX], os bugreiros, conhecidos também como
caçadores de índios ou tropas, entram em cena. Os imigrantes e o governo
provincial optavam pelo uso, de forma sistemática, da violência física e
simbólica contra os ‘bugres’. As fontes não informam com exatidão o número
de silvícolas que foram mortos ou transferidos para a ‘civilização’ ao longo
do século XIX, mas sabe-se que não foram poucos (AREND, 2001, p. 39).
Podemos dizer que a hospitalidade brasileira é seletiva e interessada. Com relação à
presença africana no Brasil, o discurso da colonialidade (CESAIRE, 2006), junto às teorias
raciais (SCHWARCZ, 2018), ajudou na construção dos corpos negros e mestiços como
inadequados ao projeto nascente de identidade nacional. Essas ideologias fizeram-se sentir
juridicamente na proibição das expressões culturais de resistência (a capoeira, por exemplo, foi
criminalizada como vadiagem) e no cerceamento de corpos negros e mestiços dos espaços de
cidadania (a escola, por exemplo, proibia a participação de escravizados) (RIBEIRO, 2019).
A exclusão das práticas sociais de africanos e seus descendentes do espaço “nacional”
não se deu sem a participação ativa da produção intelectual e acadêmica brasileiras. No âmbito
linguístico, como discute Eltermann (2018, p. 22), parte da intelectualidade brasileira “têm
contribuído para a construção de narrativas excludentes e segregadoras sobre as heranças
linguísticas africanas no contexto brasileiro”.
No caso da imigração europeia para o Brasil, fortes interesses econômicos estavam
envolvidos, considerando que a abolição da escravatura levou à necessidade de obter mão de
obra alternativa para a agricultura. Essa configuração de interesses, produziu efeitos
diferenciados no tratamento dado a esses imigrantes.
Um desses efeitos foi a inserção desses grupos de imigrantes em colônias destinadas a
eles, o que contrastava com as políticas de marginalização dos ex-escravizados no período pós-
abolição. Um dos reflexos jurídicos que legitimava esse tratamento como um projeto foi a
mudança legislativa em 1850 sobre a cessão de terras, no mesmo ano em que se assinava a Lei
Eusébio de Queirós, que previa o fim do tráfico negreiro, sinalizando a abolição da escravatura.
Passou-se a obrigar o pagamento de altas quantias pela ocupação de terras devolutas. Assim, a
denominada “Lei de Terras” impossibilitou aos ex-escravizados a aquisição de um lugar próprio
para morar. Segundo Ribeiro (2019, p. 109), “a lei transformou a terra em mercadoria, ao
92
mesmo tempo que facilitou o acesso a antigos latifundiários – embora os imigrantes europeus
tenham recebido concessões, como a criação de colônias”.
Ao longo da história do Brasil, algumas levas de imigrantes têm sido discursivizadas
como bem-vindas enquanto outras são malquistas. O tom racista e interesseiro dos discursos
midiáticos em torno da presença estrangeira no país tem permeado o tratamento dado aos
diferentes grupos que, encerrados em suas nacionalidades, ganham destaque à medida em que
são vistos como úteis ao “progresso nacional”, do ponto de vista das elites empresariais. Na
mídia, imigrantes vindos do Norte Global são frequentemente discursivizados pela mídia como
“cérebros” (CAMPOS, 2015), enquanto os do Sul Global são apresentados como fugitivos,
invasores ou ameaças ao mercado laboral (como já mencionado no capítulo 1). Essa tendência
é evidenciada na pesquisa de Campos (2015), que analisou 200 matérias jornalísticas, em
11.000 edições de periódicos nacionais datados entre 1808 e 2015. Em busca do papel do
imigrante como sujeito social para a imprensa ao longo de nossa História, o pesquisador
conclui:
Racista, autoritária e guiada por profundos interesses econômicos, grande
parte da elite brasileira fez da imprensa um de seus principais instrumentos
para a realização de seu projeto nacional, de caráter fortemente
assimilacionista e seletivamente xenófobo. Os imigrantes não são seres
humanos, mas braços. Não migram, são importados. Devem ser parte de uma
multidão trabalhadora, mas nunca os perturbadores da ordem. Devem ser
morigerados e industriosos mas, se reivindicam direitos são classificados
como agitadores e anarquistas. Devem ser assimiláveis, sob o risco de suas
comunidades se tornarem indesejáveis quistos étnicos. O imigrante é um bode
expiatório muito bem-vindo no Brasil, principalmente se age sobre ele, ainda
mais além, o corte de classe (CAMPOS, 2015, p. 533).
Na última década (2010-2020), quando o mundo testemunha uma aceleração dos
fluxos migratórios e uma inversão no eixo de procura do Norte Global para o Sul Global, o
Brasil, que costumava receber bem os imigrantes do Norte global, tem apresentado uma
hospitalidade seletiva quanto aos que vêm do Sul (VILLEN, 2016). A despeito das imagens de
receptividade, a realidade na recepção de imigrantes do Sul global acumula relatos de
preconceito e discriminação. A imagem de um país hospitaleiro e racialmente democrático, em
que todas as etnias e expressões culturais convivem harmoniosamente, é posta, definitivamente,
em xeque frente aos novos fluxos migratórios.
Em suma, um conjunto complexo de imagens, refletidas em leis, produções
intelectuais, acadêmicas e midiáticas embasadas no discurso colonial (CESAIRE, 2010) e racial
93
(SCHWARCZ, 2018, 2019) têm impactado de diferentes modos a inserção dos imigrantes do
Sul Global na sociedade brasileira. Os efeitos dessas ideologias na inserção social podem ser
vistos nas narrativas de deslocamento de sujeitos do Sul-Global, como é o caso da imigração
haitiana e venezuelana em estudos recentes de observatórios de migração brasileiros (cf.
TORELLY, 2017; SIMÕES, 2017; CAVALCANTI et al., 2018; CAVALCANTI; OLIVEIRA;
MACEDO, 2019).
A região Sul do Brasil, um dos locais escolhidos para concentrar os imigrantes
europeus nesse imenso laboratório de raças que é o Brasil (SCHWARCZ, 2018),
coincidentemente, também é a região mais procurada pelos imigrantes dos novos fluxos, só
perdendo em números para o estado de São Paulo. Pelo enfoque desta pesquisa na região de
Santa Catarina, passo, na próxima subseção, a pontuar algumas das características históricas e
recentes da imigração nesse estado.
3.3.1 Imigração em Santa Catarina: A celebração de uma identidade branca e
europeia e a invisibilização dos “outros”
Ao discutir a dimensão cultural da imigração, Seyferth (2011) aponta para o caráter de
invenção da cultura e da ancestralidade: “[...] povos não possuem apenas culturas ou
ancestralidade compartilhada, eles elaboram as duas coisas para compor uma ideia de
ancestralidade que cerca as definições de grupos ou comunidades (SEYFERTH, 2011, p. 50,
ênfase no original).
Nas narrativas produzidas sobre a região Sul, a ideia de pertencimento a uma
comunidade europeia é celebrada e privilegiada (MACEDO, 2019; LEITE, 1991a; 1991b;
CARDOSO, 2006), silenciando outros povos, culturas, línguas e epistemologias que também
compõem a região (GUEROLA, 2012; 2017). Marcada historicamente pela imigração europeia
no projeto de embranquecimento da nação apoiado pelo governo brasileiro (SEYFERTH,
2011), a região Sul do Brasil tem visto sua paisagem linguística modificar-se com os novos
deslocamentos (MACEDO, 2019).
Seyferth (2011) também enfatiza o papel da língua no fortalecimento dessas
identidades em Santa Catarina, em um estudo sobre a construção da “germanidade” na região
do Vale do Itajaí (SEYFERTH, 2011). Essa invenção de uma tradição é vivida como uma
identidade diferenciada na região que se materializa na arquitetura das casas e construções. As
várias festas da região celebram as comidas e os trajes típicos dos grupos europeus e suas
tradições, amplamente divulgados pela mídia marcam a região como uma “Europa brasileira”.
94
Imaginada como um pedaço da Europa, Santa Catarina protagoniza narrativas
históricas que a identificam como o local em que o projeto de branqueamento teria dado certo
(LEITE, 1991b). Essa imaginação de uma comunidade europeia no Brasil não se deu sem o
apagamento de outros grupos étnicos que a compõem, como os afrodescendentes e os indígenas.
Revisões críticas da história oficial de Santa Catarina têm pontuado a invisibilidade de
africanos e de afrodescendentes no processo de ocupação e desenvolvimento do Estado (LEITE,
1991a; 1991b; CARDOSO, 2006). Os autores apontam que, a despeito da presença em setores
como a agricultura, a pesca da baleia, os serviços domésticos e outros, a dependência do branco
em relação ao africano e de seus descendentes, bem como presença destes, é minimizada frente
à menor importância que teriam tido na economia da região, em comparação com outros lugares
do País (LEITE, 1991a; 1991b; CARDOSO, 2006).
Leite (1991a) afirma que o desenvolvimento catarinense é frequentemente apontado
como uma conquista exclusivamente branca. Entretanto, dados históricos mostram que não é
esse o caso. Segundo registros do Arquivo Histórico de Santa Catarina, a população na
província de Santa Catarina, em 1833, era assim composta: 1.124 brancos, 97 índios, 564
pardos, 422 pretos, totalizando 2.207 sujeitos livres. Os escravos somavam 260 sujeitos, dentre
os quais 78 pardos e 182 negros (MACHADO, 201, p. 18). Essa população se multiplicaria no
século XIX “tanto por crescimento vegetativo como, principalmente, por receber um grande
número de imigrantes de São Paulo, do Paraná e do Rio Grande do Sul, alcançando a Província
no final do século o total de 80 mil habitantes” (MACHADO, 2001, p. 18).
Dados relativos à população escravizada em Lages apontam para a presença de 1.000
sujeitos escravizados em 1840, 1.195 em 1856, 2.012 em 1872 e 1.522 em 1883. Partindo do
pressuposto que a quantidade de negros livres tenha se mantido sempre maior que a de negros
escravos, esse quadro leva o autor a “(...) reavaliar a antiga afirmação dominante na
historiografia catarinense, que sempre considerou o contingente populacional negro pouco
significativo no planalto serrano, baseando essa assertiva unicamente nos censos estritos da
população escrava” (MACHADO, 2001, p. 18).
No contexto histórico-social da Santa Catarina do século XIX, Machado toma a
palavra “livre” como força de expressão, pois a liberdade do trabalhador livre ou liberto não
era senão um eufemismo:
(...) empregamos a palavra livre apenas em contraposição à condição escrava,
uma vez que este homem livre pobre, mestiço, descendente de africanos,
indígenas e mesmo de portugueses, enfim o biriva (tipo de gaúcho serrano), o
95
peão de estância e o morador agregado à grande fazenda encontrava-se
submetido ao poder absoluto dos grandes fazendeiros, enredados por laços de
compadrio22, sujeito a um conjunto de obrigações muito mais complexas que
o trabalhador livre moderno, entendido como aquele que simplesmente vende
a sua força de trabalho (MACHADO, 2001, p. 19)
No tocante às relações interétnicas no contexto do Estado, a depreciação do Outro era
uma narrativa constante. Arend (2001) afirma que uma das estratégias das elites brasileiras para
estimular a vinda de europeus era a “veiculação de um discurso de valorização do imigrante”.
Segundo a autora:
Nesse discurso, os estrangeiros europeus são descritos como laboriosos e
disciplinados, enquanto os afrodescendentes e descendentes de portugueses,
que viviam no Brasil desde o período colonial, são considerados preguiçosos
e sem iniciativa (AREND, 2001, p. 34).
O foco na economia também apaga essa presença, elevando o trabalho do imigrante.
Além de escamotear as diferenças na condição de produção e no direito à terra entre os
afrodescendentes e os europeus, alimentava-se um ideário do branco como moralmente mais
elevado para o trabalho, muitas vezes deixando de pontuar que, enquanto brancos trabalhavam
para si próprios e suas gerações vindouras, afrodescendentes o faziam para o enriquecimento
do outro, mesmo após a dita liberdade. Arend (2001) pontua algumas dessas questões na
seguinte passagem:
As terras da província consideradas devolutas pelo governo imperial e local
tornaram-se propriedade privada e os imigrantes passaram a produzir
mercadorias para o mercado interno regional e, depois, para o nacional. Este
olhar, que centra o foco no econômico deixando de lado as outras dimensões
do social, esteve presente por longa data na historiografia catarinense que
versa sobre o século XIX. Esta visão transforma o imigrante, e em especial o
alemão, no desbravador-empreendedor. Os demais grupos – os
afrodescendentes, os silvícolas, os descendentes de portugueses, e inclusive
os imigrantes alemães que chegaram na província antes de 1950 – que, no
período, não construíram mundos semelhantes são percebidos como
personagens coadjuvantes ou então invisibilizados (AREND, 2001, p. 36,
ênfase minha).
22 O estudo de Ramos (2019) demonstra o paternalismo e a afetividade como estratégia retórica nas expressões “é
de casa” ou “como se fosse da família”, dirigida pelos empregadores aos empregados domésticos no Brasil, em
geral negros, invisibilizando questões de opressão e explorações a que são submetidos/as. A autora salienta, ainda,
o quanto a legislação brasileira legitima essas relações hierárquicas que afetam mais contundentemente as
mulheres negras e pobres, naturalizadas em funções subalternizadas (CARNEIRO, 2019).
96
Silva (2001) aponta processos de apagamento, diferenciação e depreciação do negro
no convívio com o imigrante europeu, apesar do abolicionismo presente como discurso na
cidade de Joinville, afirmando que “se da história dos índios o que prevalece é o silêncio, não
muito difere a presença africana na história da cidade” (SILVA, 2001, p. 56). Em pesquisa com
base na memória de locais, a autora pontua que:
os africanos e africanas quase não aparecem nos relatos sobre Joinville, as
falas são poucas, o que, infelizmente, os torna tão ausentes da historiografia
local. Nas memórias, a presença negra aparece, muitas vezes, marcada por
uma relação harmoniosa [...] todavia, outras falas apontam para a separação
dos alemães em relação aos africanos [...] Aliás, o preconceito estava presente,
ao que tudo indica, sendo escravo ou liberto, pois os negros e negras não eram
bem vistos naquela sociedade [...] apesar de a imprensa ratificar o quanto à
cidade repugnava a escravidão, isso não significava que os negros eram vistos
como ‘iguais’ (SILVA, 2001, p. 57, ênfase minha)
Em suma, o quadro de uma profunda diferenciação nas relações sociais parece ser uma
constante nesses estudos que pontuam fortemente o apagamento na memória, nos registros
oficiais e historiográficos, silêncio que ajuda a compor o imaginário sobre o período. É possível
dizer de um desejo de invisibilidade do elemento negro, indiciado pela falta de tratamento
humano na convivência diária, nos locais de trabalho destinados a esses sujeitos. Mesmo depois
de libertos, os negros seguiam em situações precarizadas. Da mesma forma, invisibilizam-se
suas perspectivas sobre as condições, lutas e resistências que protagonizaram.
Santa Catarina imagina-se e é imaginada como um mito dentro de outro: dentro de
uma pretensa democracia racial (MUNANGA, 2018). O modelo de composição
exclusivamente branca da “Europa brasileira” atesta a falácia do projeto de branqueamento do
país. O resumo dessas relações numa configuração fiel aos fatos seria o seguinte: nem
exclusivamente brancos, nem completamente cordiais.
Essa imaginação de uma comunidade exclusivamente branca e europeia instaura uma
linha divisória entre pertencentes e não pertencentes a ela, com base na nacionalidade,
regionalidade, cor da pele. A cor da pele, segundo Seyferth (1986) é uma das metáforas da
hereditariedade, que tem servido, no Brasil, para configurar o pertencimento racial. Frente aos
novos fluxos migratórios, essas diferenças, que encerram grupos em categorias como raça, são
tratadas de modo seletivo para a composição da diversidade étnica da região. Como discute
Macedo (2019, p. 2),
97
[...] a categoria raça corresponde a uma construção social, política, simbólica,
cultural e mesmo econômica que, geralmente ancorada em argumentos pseudo
biológicos ou culturais, opera com muita força tanto no Brasil quanto em
outros países, e que se revela um importante elemento de seletividade,
exclusão, mobilização e identificação nas migrações de haitianos e
senegaleses em Florianópolis e região (MACEDO, 2019, p. 2, grifo da
autora).
A Ilha de Santa Catarina, que abriga a capital do estado, cognominada “Ilha da Magia”
nos materiais de divulgação turística, guarda suas próprias especificidades. Tendo sido
Florianópolis a cidade na qual o curso de português para mães imigrantes foi oferecido, importa
detalhar esse cenário, o que passo a fazer na subseção seguinte.
3.3.2 Imigração em Florianópolis: os imigrantes locais e os haules
Na Ilha de Santa Catarina, os açorianos foram os primeiros imigrantes a povoarem as
freguesias, bairros hoje considerados tradicionais, em que atividades como a pesca, o artesanato
e a renda de bilro eram características (SIQUEIRA, 2016, p. 44). No que tange aos efeitos da
presença de não-locais no imaginário dos moradores locais em Florianópolis, estudos revelam
que, em Florianópolis, parece haver um fortalecimento de identidades locais como resposta à
modernização (SEVERO; NUNES DE SOUZA, 2015; SIQUEIRA, 2016).
Com a intensa migração de pessoas de outras regiões para a ilha, concomitante a
projetos de modernização da capital e a ameaça ao modo de vida tradicional ilhéu, os não-locais
têm sido vistos pelos locais como agentes dessas modificações danosas à paisagem e ao modo
de vida naturais da ilha. Um exemplo é o comércio de ostras, explorado turisticamente em
pratos de restaurantes sofisticados no Ribeirão da Ilha, uma das freguesias tradicionais. A
introdução de técnicas sofisticadas no cultivo de ostras acabou por descaracterizar a produção
artesanal e afugentar nativos, que se viram obrigados a se deslocar de seus bairros e modos de
vida por consequência da mercantilização do mar (SIQUEIRA, 2016). Uma vez que os projetos
de modernização são, em geral, protagonizados por elites locais e os movimentos de
preservação ambiental de regiões nativas são, muitas vezes, fomentados por não-locais
(SIQUEIRA, 2016), são frequentes as tensões entre locais e não-locais.
Discursivamente, a fala do manezinho é um elemento bastante peculiar, “parte
fundamental da identidade da população da Ilha de Santa Catarina” (SIQUEIRA, 2016, p. 45).
Estudos sobre identidade e linguagem na Sociolinguística reforçam essa importância
(SEVERO; NUNES DE SOUSA, 2015). Segundo apontam Severo e Nunes de Souza (2015), o
98
manezês, o falar do florianopolitano, teria sofrido modificações em sua valoração como traço
de identidade. Anteriormente associado pejorativamente à baixa escolaridade, o manezês
passou a ser um motivo de orgulho próprio. Figurando como temática de diferentes expressões
artísticas e culturais da ilha, do stand-up comedy aos folguedos tradicionais, como a festa do
boi-de-mamão, o falar ilhéu também tem sido explorado como um bem de consumo, na lógica
do capital (SEVERO; NUNES DE SOUZA, 2015; SIQUEIRA, 2016). Na consideração do
outro, o que antes era uma imagem negativa de si, foi tornado um fator positivo, por diferentes
motivos, entre os quais estabelecer um posicionamento territorial, uma distinção entre local x
não-local também por meio da linguagem.
Vale lembrar, no entanto, que a objetificação de identidades étnicas e linguísticas não
deve ser considerada a despeito dos significados que os integrantes desses grupos dão a essa
reificação. O tornar cômico um falar pode ser considerado um modo de depreciar grupos étnicos
e linguísticos pelo uso caricato de sua identidade étnica e linguística para fins comerciais ou de
entretenimento (GARCEZ, 2016). Portanto, importa considerar que os elementos de construção
da narrativa cultural de Florianópolis, como o manezinho, o manezês, e a Ilha da Magia, operam
como ficções identitárias, nem sempre corroboradas e celebradas pelos habitantes locais.
Na paisagem linguística, também há um posicionamento sobre “os outros”. Nas praias
da ilha não é raro ver pichações com mensagens como: “Fora haule”, demonstrando o incômodo
que trazem os não-locais (SIQUEIRA, 2016, p. 46, ênfase no original). Haule, adaptação do
termo havaiano haole (homem branco, estrangeiro), é como ilhéus denominam as pessoas que
vêm de fora. De São Paulo, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai e Paraguai, provém grande
parte do contingente migratório de Florianópolis, que utiliza a capital para veraneio ou como
lugar para morar. A estratégia de demarcação territorial é notável na forma como os turistas
gaúchos e argentinos são, muitas vezes, discursivizados na mídia local (e também nacional),
como “invasores” das praias da região no verão e em feriados23, evidenciando a tensão existente
23 As seguintes publicações referem-se a argentinos e gaúchos como invasores no corpo ou na manchete da
reportagem: (i) “Argentinos invadem as praias de Santa Catarina: em Florianópolis, eles preferem as praias do
norte da ilha. Quase 40% dos ‘hermanos’ que chegam no verão vão para esse estado”. G1. 24 de fev. 2009.
Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1015975-5598,00-
ARGENTINOS+INVADEM+AS+PRAIAS+DE+SANTA+CATARINA.html. Acesso em: 13 de nov. 2019; (ii)
“Litoral catarinense recebeu mais argentinos e gaúchos nesta temporada, diz pesquisa: argentinos representaram
quase um quarto dos visitantes durante a temporada”. NSC Total, 03 de abr. 2018. Disponível em:
https://www.nsctotal.com.br/noticias/litoral-catarinense-recebeu-mais-argentinos-e-gauchos-nesta-temporada-
diz-pesquisa Acesso em: 13 de nov. de 2019. Nessa reportagem, os turistas argentinos também são denominados
hermanos que “invadem o balneário em busca de águas mornas”. (iii) ESCANDIUZZI, F. “Após enchentes,
turistas argentinos invadem SC”. Terra, s/data Brasil. Disponível em:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/apos-enchentes-turistas-argentinos-invadem-
sc,2c0968f40d94b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html Acesso em: 13 de nov. 2019. (iv) “Porque há uma
invasão de turistas argentinos nas praias brasileiras?” As vozes do mundo, 16 de jan. de 2016. Brasil – América
99
entre os grupos de locais e de não-locais que compõem o cenário ilhéu24. Como Siqueira
destaca:
Não é raro encontrar muros pichados em Florianópolis com os dizeres “fora
haules” ou comentários, em reportagens e mídias sociais, sobre o fato de os
problemas da ilha serem resultado da vinda de levas de turistas e imigrantes
de outras cidades catarinenses, de outros estados brasileiros ou mesmo de
outros países, o que gerou inclusive a imagem popular e estereotipada de que
os moradores locais são xenófobos (SIQUEIRA, 2016, p. 46).
A xenofobia, seja como parte do discurso de grupos de extrema direita no poder ou
cenas pontuais de discriminação em grupos locais, foi apontada por algumas das alunas do curso
de Português como um dos obstáculos à sua inserção social em Florianópolis, questão sobre a
qual Silva, Rocha e D’Avila (2020), em investigação recente, ressaltam:
[...] os imigrantes e refugiados dos eixos sul-sul têm sido continuamente
invisibilizados nesta região. Ao desconsiderar essas presenças, as entidades
públicas enviam uma mensagem subliminar de que esses coletivos não são
bem-vindos e nem fazem parte da política florianopolitana, e ao mesmo tempo
se eximem da obrigação de formular políticas públicas estaduais e municipais
de acolhimento e integração. (SILVA; ROCHA; D’AVILA, 2020, p. 3).
A investigação de Silva, Rocha e D’Avila (2020) é oriunda do projeto de pesquisa
“Núcleo de Estudos Críticos de Raça e Gênero nas RI e no DIP” (NEGRIs), cujos dados foram
obtidos junto ao “Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados” (NAIR), um dos projetos de
extensão da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da ACNUR-ONU na UFSC. Ambos os projetos de
pesquisa e de extensão estão vinculados ao Eirenè-UFSC25.
Os dados que informam o estudo são resultado do atendimento à população imigrante
e refugiada em Florianópolis que procuram o NAIR para resolver questões relacionadas,
principalmente, ao trabalho (metade dos atendimentos do período entre 2015 e 2017). A
emissão de currículos, orientações no mercado laboral, procedimentos para a reunião familiar,
Latina. Disponível em: http://br.rfi.fr/brasil/20160116-por-que-ha-uma-invasao-de-turistas-argentinos-nas-
praias-brasileiras. Acesso em: 13 de nov. 2019. 24 Siqueira (2016) apresenta uma leitura do espaço urbano de Florianópolis considerando diferentes grupos
componentes e salientando que a identidade cultural ilhoa não se encerra na busca pela tradição, como volta ao
passado, mas se dá em diálogo com as constantes transformações globais. A autora discute os conflitos entre os
grupos dos manezinhos em oposição aos dos haules e suas estratégias de convivência. 25 O Eirenè-UFSC é o Centro de Pesquisas e Práticas Pós-coloniais e decoloniais aplicadas às Relações
Internacionais e ao Direito Internacional. Mais detalhes sobre as ações do projeto podem ser encontrados no
seguinte endereço eletrônico: https://irene.ufsc.br/.
100
legalização de documentos também configuram as buscas do contingente. Esse trabalho resulta
da cooperação entre setores da UFSC e outras entidades e demonstra a importância da ação
conjunta na construção de políticas imigratórias, bem como o papel da universidade no
atendimento ao público e na reflexão sobre esse contexto.
Outro estudo da coordenadora do Eirenè, (SILVA, 2021) mostra o quanto o racismo e
o sexismo são elementos fundacionais da própria disciplina de Relações Internacionais. A
autora discute a invisibilidade de sujeitos marcados por esses sistemas de opressão (COLLINS,
2019) como um consenso nas produções científicas da área, calcadas por um olhar hegemônico
e hierarquizante que legitima a exclusão de grupos de sujeitos subalternizados. Silva (2021)
sugere a criticidade e a reflexividade como contrapontos a essa prática de marginalização
epistemológica.
Essas e outras questões levantadas nesses estudos permitem compreender alguns dos
aspectos discursivos da convivência na ilha. Como salientam os autores citados, as tensões da
mobilidade no que tange à identidade são complexas e as consequências discursivas são
sentidas fortemente por quem é considerado haule.
Após apresentar e discutir elementos importantes da contextualização do estudo, no
que diz respeito à complexidade da condição diaspórica e ao contexto de imigração no Brasil,
em Santa Catarina e em Florianópolis, passo à seção seguinte, em que enfoco outros elementos
teóricos que norteiam este estudo.
3.4 LÍNGUA DE ACOLHIMENTO: UM CONCEITO SÓCIO-HISTORICAMENTE
SITUADO
Diferentes posicionamentos teórico-metodológicos têm sido utilizados para fazer
referência ao ensino da língua portuguesa a imigrantes no Brasil. As denominações comumente
utilizadas são: português como língua estrangeira (PLE), português como língua adicional
(PLA), português para falantes de outras línguas (PFOL) e uma derivação importante a ser
considerada, português como língua de acolhimento (PLAc). Cada uma dessas acepções tem
implicações em torno do que conta como língua, sobre quem são os sujeitos aprendentes, sobre
qual é o objeto de ensino, sobre como se compreende o processo de ensino-aprendizagem e
sobre as relações que se constroem em sala de aula.
Se concordamos, como têm apontado diversos pesquisadores da linguagem, que “as
concepções sobre o nosso objeto de ensino determinam as ações que desenvolvemos em sala
de aula com e sobre a língua” (MENDES, 2012, p. 11), faz-se necessário refletir sobre os
101
posicionamentos ideológicos subjacentes às práticas conduzidas sob os slogans aos quais nos
vinculamos. Essas escolhas envolvem, sobretudo, ideias apriorísticas sobre as implicações
acima citadas, direcionadas ao público-alvo a que o ensino se destina.
Nesta seção, enfoco a origem portuguesa e a recepção crítica brasileira ao conceito
português como língua de acolhimento, comumente empregado no contexto de ensino a
imigrantes e refugiados (BULLA et al, 2017; RUANO, 2019), concebidos como sujeitos que
precisam, mais do que desejam, conhecer a língua majoritária local (SÃO BERNARDO;
BARBOSA, 2018).
A relação entre migração e ensino de língua portuguesa compreendida como uma
língua de acolhimento é uma das características originárias do conceito PLAc, que emerge no
âmbito do programa Portugal Acolhe (CABETE, 2010). São considerados como a demanda
específica desse ensino em Portugal os chamados “novos públicos” para a língua portuguesa,
constituído por contingentes migratórios provenientes de Cabo-Verde, da Ucrânia e da China,
que, após 1975, o país passa a receber (ANÇÃ, 2008). Chama a atenção que o atendimento a
essa demanda seja colocado na perspectiva de um “acolhimento em língua portuguesa” ao
imigrante.
Na tentativa de compreender que sentidos têm sido atribuídos a “acolhimento” na
relação com língua portuguesa, é importante refletir sobre o significado do termo e sobre as
condições políticas de surgimento e emprego. Importa ainda discutir como pesquisadoras/es
brasileiras/os têm-se apropriado do conceito e como podemos dar um sentido para esse termo
que leve em conta as necessidades e os projetos específicos dos grupos com os quais
trabalhamos, considerando a complexidade da experiência diaspórica que protagonizam.
A entrada “acolhimento” no dicionário Houaiss (2001, p. 61), aparece nas seguintes
acepções: como 1. ato ou efeito de acolher; acolhida, acolho; 1.1 maneira de receber ou de ser
recebido, recepção, consideração; 1.2. abrigo gratuito; hospitalidade; 1.3. local seguro, refúgio,
abrigo. Os sentidos de refúgio, casa e forte estão presentes na associação de português como
língua de acolhimento, segundo Ançã (2008, 2008, p. 84).
A relação entre língua e acolhimento, no caso português, acompanha uma mudança
social, política e migratória do país, que, ao olhar para seus novos hóspedes, concebe a si mesmo
como hospitaleiro e acolhedor. Ou seja, é o status migratório de país de acolhimento que motiva
a concepção de uma língua de acolhimento.
Concebidos enquanto aprendentes da língua majoritária local, essas novas gerações
configuram o público-alvo do PLAc por serem, como colocam Ançã (2008) e Grosso (2010),
102
protagonistas dessa transformação migratória de Portugal que passa de país de emigração a país
de imigração (GROSSO, 2010, p. 65). Segundo a autora:
É ainda nesse período [década de 70] que Portugal, tido como um país
tendencialmente monolíngue e monocultural (apesar da sua diversidade), se
assume e se transfigura em multilingue e multicultural, atenuando-se a
vertente de país de emigração e acentuando-se a de país de acolhimento.
(GROSSO, 2010, p. 70, ênfase minha).
No modo como coloca Grosso (2010), a autoimagem portuguesa de abertura e
aceitação da diferença coincide com a abertura política ocorrida após o fim do período ditatorial
(1933 a 1974). A partir da constatação dessa diferença, o país se assume e se transfigura em
multilíngue e multicultural. Porém, importa olhar essa naturalização da diversidade com
ressalva – tanto no que respeita à associação língua-status de pertencimento à nação, quanto
com relação à assunção multilíngue e multiculturalista, como sugerem Anunciação (2017;
2018) e Anunciação e Camargo (2019), pela simples constatação da presença de uma
diversidade linguístico-cultural.
Quanto ao status migratório na configuração de uma demanda de aprendizagem, é
necessário ter em conta que “[d]istinguir as formas de mobilidade humana não é uma simples
constatação sociológica, mas uma ação cujas consequências políticas impactam em diversos
aspectos, sejam econômicos, demográficos, sanitários ou educacionais (BULLA et al, 2017, p.
2-3).
A relação estabelecida por Ançã (2008) e Grosso (2010), que orienta a configuração
teórico-metodológica a justificar o conceito de PLAc, define os sujeitos aprendizes dos novos
fluxos para Portugal como os “novos” aprendentes da língua majoritária local. Naquele
contexto, a permanência do imigrante no território português é condicionada ao conhecimento
da língua. Segundo Cabete (2010),
[a] criação do programa Portugal Acolhe teria como fim facultar junto da
população imigrante residente em Portugal, que comprovasse não possuir
nacionalidade portuguesa e que apresentasse uma situação devidamente
regularizada, o acesso a um conjunto de conhecimentos indispensáveis a uma
inserção de pleno direito na sociedade portuguesa, promovendo a capacidade
de expressão e compreensão da língua portuguesa e o conhecimento dos
direitos básicos de cidadania, entendidos como componentes essenciais de um
adequado processo de integração dos imigrantes (CABETE, 2010, p. 56).
103
Justifica-se compreender como necessário um redirecionamento do ensino a partir do
status migratório, como o propõem Grosso (2010) e Ançã (2008), ao considerar as necessidades
de aprendizagem linguístico-culturais em função das diferentes atividades em que precisarão
envolver-se esses aprendizes. Porém, o arrolamento da língua portuguesa como um dos
“conhecimentos indispensáveis para o reconhecimento do pleno direito na sociedade
portuguesa”, como é colocado por Cabete (2010, p. 56), direciona o ensino na perspectiva de
um “acolhimento” que em nada aparenta hospitaleiro. Como destacam Bulla et al. (2017, p. 3)
“[o] tipo de enquadramento que um contingente em deslocamento recebe tem imediatas
consequências no acesso dessa população a políticas públicas, ao trabalho ou ao direito de
frequentar uma escola, por exemplo”.
Corre-se riscos ao generalizar imigrantes e refugiados em um único grupo. Por um
lado, creio que seja importante sempre olhar para as especificidades, distanciando-nos das
generalizações que podem incorrer em estereótipos. Por outro lado, essas generalizações são
feitas apenas quando necessário, tomando por base aspectos comuns aos dois tipos de
experiência de deslocamento, como aponta Lopez (2020), por exemplo:
A nosso ver, tais ponderações devem estar na base das discussões sobre PLAc
também, para que não promovamos, enquanto pesquisadore(a)s e
professore(a)s, essa diferenciação, por vezes, pouco prática, entre refugiados
e migrantes, assumindo uma percepção ampla de migrantes de crise (LOPEZ,
2020, p. 125).
As políticas linguísticas para os imigrantes, no contexto português, têm relacionado
fortemente a naturalização do imigrante ao conhecimento da língua portuguesa, tornando a
língua de acolhimento em língua de integração, em perspectiva notadamente monolíngue. Isso
tem gerado debates e distanciamentos críticos quanto à adesão ao conceito de PLAc no Brasil.
A imposição da língua portuguesa como requisito para a cidadania tem gerado ressalvas de
alguns pesquisadores (ANUNCIAÇÃO, 2018; BULLA et al., 2017; RUANO, 2019) à
concepção de língua portuguesa como de acolhimento.
Considerando que, no cenário contemporâneo de intensa mobilidade global, “a sala de
aula [...] de línguas adicionais é um espaço inerentemente plurilíngue e transcultural”
(LUCENA, 2015, p. 82), importa em nossas pesquisas considerar essa heterogeneidade, de
modo sempre situado. Para tanto, é relevante identificar concepções que sustentam processos
de homogeneização no cenário apagando tensões, como na compreensão liberal de
multiculturalismo, que “reforça processos de despossessão e de não reconhecimento ao
104
desconsiderar as relações de poder que constituem as relações entre as culturas, tornando umas
hegemônicas e outras, subalternizadas” (ANUNCIAÇÃO, 2018, p. 52).
Sobre as relações entre as culturas e a perspectiva do “multiculturalismo liberal”,
entendo, com Hall (2003, 2006) e com Street (2003), que língua e cultura não devem ser
compreendidas como objetos autônomos, reificados, identificáveis, mas como processos
fluidos e constantemente negociados. Importa, assim, refletirmos sobre o processo de
construção de sentidos que se dá a partir das diásporas e que se manifesta dentro e fora da sala
de aula. Para os que se deslocam, esses processos não se dão como substituições, em que um
termo do novo contexto suprime um anterior, enquanto assimilação. De modo bem mais
complexo, essa tradução (HALL, 2003) envolve negociação, contestação e mesmo refutação
de significados e conceitos encontrados no novo local (HALL, 2003; 2006).
No capítulo de análises, enfoco e discuto uma parte desse processo na experiência das
aprendentes do curso de português para mães imigrantes, evidenciando, na perspectiva das
aprendentes, a heterogeneidade envolvida nesse processo. Nele, importam discussões quanto
ao que conta como língua, sobre correção e o sobre modo como certas ideologias (a racista, no
caso analisado) estão presentes ou são silenciadas na sociedade brasileira.
Já na perspectiva daqueles que recebem os imigrantes, a chegada de um novo
contingente também causa deslocamentos de sentido, por vezes expressos como um
fortalecimento de identidades concebidas nos moldes iluministas (HALL, 2006), que ativam
comportamentos conservadores e negativos em relação ao outro. Por vezes, há tolerância; por
outras, uma tolerância interessada, como é o caso de empregadores que se aproveitam da
urgência por trabalho dos imigrantes e os exploram em seus direitos, deixando de pagar-lhes as
horas extras. Em casos extremos, até o devido salário deixa de ser pago, como ocorreu a uma
das alunas do curso. Esse caso, que também problematizo nas análises, configura-se um tipo de
recepção nada hospitaleira, dificultando o reconhecimento da sociedade brasileira como
“acolhedora”.
Frente ao descaso do Estado e à inexistência de políticas públicas amplas, específicas
e efetivas ao acolhimento dos imigrantes, são criados projetos que partem da sociedade civil,
em que ONGs, entidades religiosas, universidades e institutos federais assumem a questão
imigratória e o ensino da língua portuguesa. No entanto, na perspectiva da gratuidade, acepção
presente no termo acolhimento, questões como a falta de preparo de profissionais para o ensino
específico a essa demanda e o assistencialismo se interpõem como obstáculos à
responsabilização do Estado, como salientam Bizon e Camargo (2018). Iniciativas que assim
105
se colocam, em geral, têm forte apelo midiático e participação comunitária, o que pode ajudar
no reforço à desresponsabilização do Estado, que deixa de oferecer condições adequadas e
constitucionais ao acolhimento, como o direito ao conhecimento da língua majoritária do país
(LOPEZ, 2020) e o respeito à diversidade linguística desses sujeitos.
A ideia de gratuidade associada à da vulnerabilidade, também leva à concepção de que
os cursos de PLAc precisam oferecer recursos além de aulas de línguas. Em muitos projetos, o
ensino, além de gratuito, é ligado a outras iniciativas de caridade, em geral praticadas de modo
voluntário, que mobilizam ações sociais a compensar a falta de políticas oficiais de inserção
desses sujeitos na sociedade (BIZON, CAMARGO, 2018). Essa perspectiva, chamam atenção
Bizon e Camargo (2018), pode suscitar um reforço na concepção de vulnerabilidade, em que
aqueles que oferecem cursos, roupas, materiais didáticos, colocam-se na posição de quem tudo
tem e aqueles que participam como alunos, na posição de a quem tudo falta, como salientam
Diniz e Neves (2018). Por vezes, as iniciativas, que deveriam ser responsabilidade do Estado,
tornam-se práticas assistencialistas que passam a reproduzir o tratamento da diferença como
uma legitimação da desigualdade. Nessa perspectiva, o ensino não é pautado pelas urgências e
necessidades dos aprendizes, mas por generalizações em torno do que se imagina necessário.
Um exemplo dessa atitude hierarquizante é o estabelecimento de cursos com o objetivo
de “dar voz” a esses alunos, pressupondo uma falta de agentividade dos aprendizes em
contraponto à posição dos que ofertam os cursos, que estariam no lugar de dar a eles “o que
eles precisam”. Esse objetivo parte do pressuposto de que esses sujeitos não têm uma voz
própria, necessitando da boa vontade alheia para se organizarem e se posicionarem. E ainda
correm o risco de prever necessidades que talvez não sejam as mais relevantes para esses
sujeitos.
Assim, na perspectiva de ensino de PLAc, originalmente, parte-se de um status de
estrangeirismo, acentuado pelo viés da vulnerabilidade enquanto falta (DINIZ, NEVES, 2018),
inclusive de recursos pressupostos para a socialização, como a língua na acepção de um sistema
fechado e impermeável. A hierarquia associada a essa concepção de língua(gem) enquanto falta
pode ser prejudicial ao processo de construção do pertencimento e de validação de repertórios
linguísticos e culturais individuais e singulares dentro e fora da sala de aula (ANUNCIAÇÃO,
2018). Assim, parece utópico pensar que, no quadro de relações tão complexas que se colocam
de modo singular em cada cenário, de um dia para o outro, por conta da chegada de imigrantes
a um novo contexto, a abertura ao novo se dá. É o que faz parecer o modo como Grosso (2010)
106
descreve o contexto português, justificando o emprego de um termo que faz referência a um
tipo de recepção tão cuidadosa, como é o caso de “acolhimento”.
Refletindo com Hall (2003) sobre as formas de gerenciar essa “diferença”, é
importante salientar que “multiculturalismo” não é:
[...] uma única doutrina, não caracteriza uma estratégia política e não
representa um estado de coisas alcançado. Não é uma forma disfarçada de
endossar algum estado ideal ou utópico. Descreve uma série de processos e
estratégias políticas sempre inacabadas” (HALL, 2003, p. 52-53, ênfase
minha).
Compreendendo o acolhimento como um processo negociado, é importante levar em
consideração que não é suficiente para o acolhimento à multiculturalidade a simples constatação
dessa diversidade, considerando o caráter inacabado e processual dessa recepção. Uma vez que
o conceito é, em si, vazio, sendo mobilizado a partir das tensões sociais provocadas por essa
“diferença” em cada contexto específico, é preciso pontuar que essa tradução se apresenta de
múltiplas maneiras nos diferentes grupos de interesses em um contexto social específico
(HALL, 2003). Como um significante flutuante, o multiculturalismo é multifacetado, sendo
uma dessas facetas a liberal (HALL, 2003). Segundo Hall, o “multiculturalismo liberal”:
[...] busca integrar os diferentes grupos culturais o mais rápido possível ao
mainstream, ou sociedade majoritária, baseado em uma cidadania individual
universal, tolerando certas práticas culturais particularistas apenas no
domínio privado (HALL, 2003, p. 53, ênfase minha).
Parece ser precisamente este o caso português, em que a palavra “integração” tem um
papel importante como objetivo colocado para os imigrantes e não por eles. Apesar de haver
uma tentativa de amenizar o caráter marcadamente monolíngue do país, que as autoras afirmam
problematizar, a associação entre língua portuguesa e cidadania circunscreve os “novos
públicos” (ANÇÃ, 2008) dentro de um espaço restrito no contexto português, demonstrando
traços do multiculturalismo liberal, em que certas identidades linguístico-sociais são mais
celebradas que outras. É importante considerar, por exemplo, que, para os pertencentes à
Comunidade Europeia (CE), não há obrigatoriedade de apresentação do diploma de certificação
da língua portuguesa para livre trânsito e acesso à cidadania plena em Portugal. Essa
obrigatoriedade foi colocada para os “nacionais de Estados terceiros”, imigrantes oriundos de
países de fora da CE, em Portugal, em 2007 (CABETE, 2010, p. 50), em uma hospitalidade
107
notadamente seletiva. Cabete realça o aspecto contraditório do discurso de acolhimento e da
legislação que se mostra nessa estratégia:
A introdução da exigência do comprovativo da proficiência linguística no
processo de um requerimento de uma estadia não temporária, seja através de
uma autorização de residência permanente, seja através do estatuto de
residente de longa duração poderá estar relacionada com motivos diversos.
Todavia, se esta opção foi tomada a fim de ir ao encontro das necessidades
dos indivíduos que se encontram em processo de integração no país de
acolhimento, a realidade é que as condicionantes legais levantadas pelo
conhecimento da língua são exigidas apenas aos que necessitam deste
enquadramento legal, isto é, aos nacionais dos Estados terceiros, com os quais
a Comunidade Europeia não tenha concluído qualquer acordo de livre
circulação a uma legislação própria (CABETE, 2010, p. 50, ênfase minha).
O aspecto contraditório das políticas portuguesas, em que monolinguismo anda de
mãos dadas com a discursivização da obrigatoriedade da língua portuguesa para os novos fluxos
migratórios, se reflete no trabalho de Ançã (2008):
Esta investigação [que enfoca os denominados “novos públicos”] vem
questionar uma ideia de monoculturalismo e de monolinguismo, cujos
contornos se tornaram mais esbatidos nas últimas décadas. De uma língua (?)
do território, passamos a várias línguas no território. No entanto, nesta
constelação de línguas, culturas, etnias e interacções entre elas, é a LP que
destacamos, e que entendemos de acolhimento, no seu sentido literal (refúgio,
casa, forte) (ANÇÃ, 2008, p. 84, ênfase minha)
Questiona-se o monolinguismo, mas a equação resultante da diversidade é a orientação
à língua única. É o conhecimento da língua portuguesa que a autora destaca como “de
acolhimento”, segundo ela, “no seu sentido literal”. Isso nos leva a interpretar, por oposição
simples, que a diversidade componente no repertório do aprendiz não configuraria mais a sua
“casa”, o seu “refúgio” ou seu o “forte”. Na pressuposição de Ançã (2008), esses sujeitos
devem, além de deixar suas “casas”, “fortes” e “refúgios” no seu sentido literal, também devem
fazê-lo no modo figurado, para poder existir no espaço do Outro. Nas palavras da própria
autora:
Ela [a língua portuguesa como língua de acolhimento] constitui, sem
equívocos, o direito à existência (retomando a expressão de Candide, 2005) e
é a ponte e o acesso a espaços sociais e laborais (ANÇÃ, 2008, p. 84)
108
Nessa equação, língua, cultura e nação aparecem como elementos contínuos,
colaborando para o entendimento de que o acesso à língua majoritária local seria suficiente para
a integração na sociedade em questão. Ou seja, é necessário curvar-se à língua portuguesa
(ANZALDUÁ, 2009) ou não se pode existir ali, “sem equívocos”.
Ançã (2008) revela que essa diversidade serve mais ao âmbito de uma mera
constatação da diferença do que propriamente ao fornecimento de uma resposta acolhedora da
sociedade portuguesa a esses novos hóspedes. Ao apontar o etnocentrismo na cultura dominante
como um problema que persiste e que deve ser endereçado, Grosso (2010) também aponta
obstáculos encontrados na sociedade portuguesa para realizar esse acolhimento:
Além da língua, a partilha e compreensão de comportamentos, atitudes,
costumes e valores exigem um trabalho conjunto de ambas as partes,
abrangendo os que chegam e os que acolhem. O que se revela particularmente
importante, sobremaneira no processo de ensino-aprendizagem, ocorre
geralmente no contexto da cultura dominante, com uma estrutura
etnocêntrica que desconhece as características e a realidade do público-alvo,
o que não raramente contribui para a própria não adaptação desse público no
contexto de acolhimento (GROSSO, 2010, p. 70, ênfase minha).
A autora reconhece que uma não abertura do entorno pode ser prejudicial ao processo
de ensino-aprendizagem e aponta a importância do conhecimento das características e
realidades do público-alvo. No entanto, o diagnóstico dessa realidade é visto a partir de uma
perspectiva reificada de língua, em que os repertórios linguístico-culturais dos imigrantes,
compreendidos como línguas, são quantificados em termos de aproximação ou distância da
língua e cultura portuguesa (ANÇÃ, 2008), na forma de um saber-fazer (GROSSO, 2010).
No cenário brasileiro, quanto à questão do entorno, Maher (2007) salienta, no trabalho
com grupos linguisticamente minoritários em contextos multiculturais:
Sem que o entorno aprenda a respeitar e a conviver com diferentes
manifestações linguísticas e culturais, mesmo que fortalecidos e amparados
legalmente, estou convencida de que grupos que estão à margem do
mainstream não conseguirão exercer, de forma plena, sua cidadania
(MAHER, 2007, p. 258).
É a partir das reflexões de Maher (2007) sobre a educação do entorno, fruto da longa
experiência da pesquisadora com a formação de professores indígenas no Acre, que Anunciação
(2018) problematiza a idealização dessa diferença como um “multiculturalismo liberal” no
emprego do termo língua de acolhimento. A crítica de Anunciação (2018) suscitou as reflexões
109
acima produzidas em torno do conceito de multiculturalismo liberal. O posicionamento da
pesquisadora configura outra das relevantes ressalvas dirigidas ao emprego irrefletido do
conceito no contexto brasileiro:
Considero que a adoção do termo língua de acolhimento deve ser
problematizada, pois, além de ter sido transposto do contexto político-
linguístico português, seus pressupostos se baseiam na ideia de um
multiculturalismo liberal (MAHER, 2007a), o qual reforça processos de
despossessão e de não reconhecimento, ao reificar diferenças e classificar
algumas experiências e vivências culturais como mais autênticas ou superiores
a outras (ANUNCIAÇÃO, 2018, p. 45, ênfase no original).
As palavras da autora são endossadas por Ruano (2019) que completa:
Cabe-nos refletir sobre essas questões em nosso contexto, sobre as nossas
especificidades, com base nas experiências práticas e pesquisas que estamos
realizando no Brasil para pensarmos em políticas brasileiras que necessitam
ser construídas acerca dessa temática. (RUANO, 2019, p. 63)
Ou seja, é necessário considerar os aspectos contextuais, políticos e semânticos na
associação com o PLAc, uma vez que muitas compreensões que não favorecem o/a aprendiz
são colocadas como pressupostos dessas ações (LOPEZ, 2020).
Outra questão importante é a proposição do conceito de língua de acolhimento como
língua de integração (GROSSO, 2010). O intuito discursivo do texto da autora envolve discutir
o quanto esta associação importa dentro do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR),
que serve a um bloco econômico centrado no fortalecimento de uma identidade europeia, para
uma cidadania europeia em que as línguas europeias são um componente fundamental
(GROSSO, 2010, p. 66).
A construção da cidadania europeia só pode erigir-se pela diversidade
linguística e cultural, não só por si, mas também como modelo de abertura ao
mundo. O ideal intercultural europeu terá como corolário o Quadro Europeu
Comum de Referência, que indica a todas as línguas europeias (e não só) um
futuro comum, plurilingue e pluricultural, componente fundamental para uma
identidade europeia (GROSSO, 2010, p. 66, ênfase no original ).
Levando em conta as intenções nacionalistas que envolvem o esforço para marcar o
campo conceitual de língua de acolhimento como língua de integração, é importante considerar
os interesses que se revelam nessas estratégias. O marcador de plurilinguismo parece ser uma
110
reunião de determinadas línguas e não de outras, menos legitimadas, no processo de validações
de pertencimento e estadia nos países da Comunidade Europeia.
Signorini (2017) discute como alianças lusófonas são contemporaneamente
estabelecidas em torno de um discurso de promoção do português como uma língua
pretensamente fraterna a unir experiências de países, cuja identificação se dá pela herança dessa
língua colonial. A despeito da singularidade e heterogeneidade cultural, linguística e política
dos contextos em questão em África, América e Europa, a língua da lusofonia figura como
elemento unificador, alheia às especificidades dos contextos em questão. Os propósitos
mercadológicos silenciam as tensões e produzem objetos vendáveis: identidades lusófonas
tradicionais e contemporâneas, que são discursivizadas como importantes recursos no mercado
global (SIGNORINI, 2017). Ao ressaltar traços mais gerais de uma denominada “globalização
linguística”, Signorini (2013, p. 75) ressalta que a globalização econômico-financeira merece
ser considerada quanto ao caso específico da língua portuguesa, tendo em vista as:
[e]stratégias, de fomento ou gerenciamento de mercado(s) linguístico(s)
transnacionais com vistas à produção e circulação de produtos linguísticos ou
semióticos (‘sociedade da informação’ e ‘sociedade do conhecimento’) e não
linguísticos; sendo que tais mercados estão atrelados à atividade econômica e
cultural das comunidades (não só nacionais) e aos circuitos e/ou espaços
produzidos por processos, fluxos ou redes transnacionais de circulação de
capital, mercadorias e pessoas (SIGNORINI, 2013, p. 76).
É importante questionar, no âmbito do PLAc, o quanto essas estratégias de ver-se
enquanto um país acolhedor ao redor de uma língua majoritária, discursivizada como sendo
tanto de acolhimento quanto de integração, passa por outros interesses para além dos
imediatamente relacionados com o ensino e aprendizagem de língua. Importa ainda nos
questionarmos, em torno do PLAc, sobre o contexto de um multilinguismo liberal, em que
decisões são mais pautadas por agentes verticais do que pelas necessidades e buscas das
horizontalidades (BIZON; CAMARGO, 2019). O que vemos no caso português é que, em sua
concepção, o PLAc parece estar mais destinado a propósitos de fortalecimento de identidades
linguísticas nacionais e continentais e a políticas de regulamentação de espaços de direito dentro
dessas fronteiras do que a servir aos propósitos comunicativos dos sujeitos aprendentes,
objetivo a que, a princípio, se orienta o PLAc e que justifica o conceito.
Na acepção do português como língua de acolhimento, na perspectiva da integração,
como colocada por Grosso (2010), ressalta-se mais a demanda imposta aos imigrantes de um
“dever saber e de um “dever fazer” do que a de um “saber-fazer”, “refugiando-se” ou “estando
111
em casa”, como pretende o viés acolhedor do conceito em discussão. A especificidade do
ensino-aprendizagem, nesse contexto, é colocada na perspectiva de um direito, mas também de
um dever de todo cidadão:
É fundamental o ensino-aprendizagem da língua de acolhimento, direito de
todos os cidadãos [...] pois é ela que permite o acesso mais rápido à cidadania
como um direito, assim como o conhecimento e a promoção do cumprimento
dos deveres que assistem a qualquer cidadão (GROSSO, 2010, p. 71, ênfase
minha)
Grosso (2010, p. 71), ao pautar sua discussão, usando a ideia de movimento identitário
“do imigrante para o cidadão”, pressupõe que o status de cidadania se configura como uma
conquista que se dá por meio do esforço desses aprendizes. Assim, Grosso ressalta o caráter de
“falta” comumente empregado para definir os imigrantes e refugiados público-alvo do PLAc,
como também criticam Diniz e Neves (2018) no contexto brasileiro.
O papel do professor, nesse contexto, seria o de fazer uma integração, idealizada de
modo harmônico por Grosso (2010, p. 66), que coloca a questão na forma de uma urgência:
“seja qual for a razão, quem chega precisa de agir linguisticamente de forma autônoma, num
contexto que não lhe é familiar”. Nesse contexto,
[a] história de vida no passado e no presente abre um leque de hipóteses que
ensinante e aprendente cooperam e aprendem juntos, ultrapassam as questões
do cotidiano, integram-se pelo bem-estar, pela confiança, e isso só pode ser
alcançado pela língua de acolhimento (GROSSO, 2010, p. 71).
A idealização da autora, expressa acima, sugere que o conhecimento da língua
portuguesa seria suficiente, necessário e indispensável para a integração. Contraditoriamente, a
língua portuguesa tomada como via única para a integração na sociedade coloca em xeque as
acepções do próprio conceito de acolhimento que se escolhe para utilizar. Ficam
questionamentos: O propósito é receber, considerar, abrigar gratuitamente, acolher, fazer com
que esses sujeitos se sintam em casa? Pode-se hospedá-los sem que sejam consideradas suas
bagagens linguístico-culturais? Esses são dois dos principais questionamentos aos quais estão
atentos pesquisadores brasileiros que veem com ressalvas as tendências assimilacionistas que
evidenciam as perspectivas de acolhimento transplantadas de Portugal para o Brasil, as quais
pressupõem a aprendizagem da língua majoritária nacional como condição a priori para a
112
cidadania (DINIZ; NEVES, 2018; ANUNCIAÇÃO, 2018; BIZON; CAMARGO, 2018;
LOPEZ, 2020). Segundo Anunciação:
Transplantada ao contexto brasileiro, essa concepção [de língua de
acolhimento], que condiciona o conhecimento de uma determinada língua
como pressuposto de nacionalidade e de adequação social, reforça o mito e a
ideologia de que o Brasil é um país monolíngue e linguisticamente homogêneo
(ANUNCIAÇÃO, 2018, p. 45).
E complementa:
Faz-se necessário investigar, portanto, como os atores envolvidos com o
ensino de PLA em contexto de migração e refúgio o compreendem enquanto
política linguística, considerando as características sócio-históricas e políticas
do Brasil, para discutir o termo língua de acolhimento a partir dos usos
linguísticos dos indivíduos em diferentes contextos. Assim, ao refletir sobre
língua de acolhimento, é indispensável refletir sobre os usos linguísticos de
fato e observar em que medida a língua que acolhe não é a mesma que
silencia. (ANUNCIAÇÃO, 2018, p. 52-53, ênfase no original)
Ruano (2019) corrobora a crítica da autora:
[...] não compactuamos com a ideia de vincular a aprendizagem do idioma
majoritário local a nenhum tipo de condição para a legalização e possibilidade
de permanência na sociedade receptora, prática que temos acompanhado com
pesar em diversos países europeus além de Portugal, como é o caso da França,
Inglaterra, Alemanha, entre outros. Acreditamos que essa ligação direta possa
reforçar uma prática colonizadora e assimilacionista, ao se impor a língua
como uma condição sine qua non à permanência no novo território (RUANO,
2019, p. 63, ênfase minha).
Recentemente, o Brasil passou a exigir o exame de certificação Celpe-Bras para
processos de naturalização de imigrantes e refugiados no País, o que também tem gerado
críticas em estudos (LOPEZ, 2020; ANUNCIAÇÃO; CAMARGO, 2019) que problematizam
fortemente essa política verticalizada que acaba por reforçar “o mito do monolinguismo do
Brasil” (CAVALCANTI, 1999, p. 3):
Importa salientar que a determinação dos Ministérios foi tomada por um
governo reconhecidamente conservador sem a participação da sociedade civil
e sem a consulta a especialistas das áreas de avaliação e de
ensino/aprendizagem de línguas, configurando-se como uma política de
línguas top down. (ANUNCIAÇÃO; CAMARGO, 2019, p. 18.)
113
Levando em conta a complexidade do exame Celpe-Bras, o investimento financeiro e
o tempo destinado a apropriar-se dos conhecimentos requeridos para a sua realização,
Anunciação e Camargo (2019) consideram que essa exigência, pode ser uma espécie de
estratégia de seleção de um determinado perfil de imigrantes que se deseja no País, à exemplo
das políticas migratórias do século XIX (SEYFERTH, 2008). Assim, apesar da acepção de
hospitalidade implícita no termo “acolhimento”, a imposição da língua portuguesa estaria
assumindo significado oposto na realidade dos imigrantes e refugiados.
Frente a esses movimentos de deslegitimação dos falantes de línguas minoritárias no
contexto português e brasileiro, importa perguntar a quem interessa denominar essa língua
portuguesa de “abrigo”, “refúgio” e “forte” quando esse recurso é colocado como mais um
obstáculo a acentuar a condição de subalternidade que já está posta para os sujeitos dos
deslocamentos forçados no mercado global. Nas palavras de Anunciação e Camargo (2019,
p. 19): “condicionar a obtenção da nacionalidade brasileira a um exame que não considera as
especificidades do contexto migratório nada mais é que um tijolo a mais em um muro
delimitador de fronteiras”.
É relevante questionar, ainda, como se pode nominar “acolhimento” a um processo
que pressupõe o apagamento do repertório linguístico-cultural do sujeito imigrante? Em
contextos educacionais que reconhecem a existência de ideologias monolíngues e
monoculturais, bem como a falta de apoio do entorno, como a língua portuguesa pode ser
colocada como um abrigo capaz de hospedar esses sujeitos?
No universo em que esses sujeitos já existem, há inúmeras outras referências
componentes de suas bagagens linguístico-culturais que trazem de seus “abrigos”. No
entendimento que trago a partir das vozes das alunas participantes da pesquisa, é percebendo
as considerações sobre as negociações, refutações e contestações de sentido na legitimação de
seus repertórios, de suas vivências e de seus processos tradutórios em seus processos de
aprendizagem da língua portuguesa que encontro um sentido possível para o acolhimento.
Exatamente porque tiveram que deixar seus “abrigos”, é que uma medida de
acolhimento deve passar pela validação de seus repertórios, de suas bagagens, de suas
subjetividades, de suas narrativas e de suas necessidades e projetos. No caso desta pesquisa:
Consideramos que as vozes dessas mulheres e, consequentemente, os cursos
de português para imigrantes só podem ser dimensionados se nos dispusermos
à escuta, considerando os lugares singulares que elas ocupam. Enfatizamos
que suas vivências devem ser visibilizadas e entendemos que só a partir da
compreensão das singularidades [...] será possível proporcionar melhores
114
condições de inserção social e de experiências de ensino e aprendizagem de
português para imigrantes na comunidade brasileira. (REIS; LUCENA, 2019,
p. 54)
A premissa central é de que as especificidades situadas é que devem nortear as práticas
e as pesquisas em políticas linguísticas educacionais (LUCENA, 2015), tornando-se
imprescindível um olhar crítico para que não reproduzamos modos de subjetivação dos sujeitos
aprendentes que os reduzam a peças dentro de um jogo de delimitar fronteiras em projetos de
hospitalidade seletiva e exploratória. Independentemente dos interesses estratégicos utilizados
para justificar projetos de ensino de Português orientados pelo conceito de PLAc em outros
contextos, é preciso questionar o que nós tomamos como acolhimento, como língua de
acolhimento, e como PLAc em nossas investigações e ações26.
Do ponto de vista de nossas pesquisas, importa enfocar as ações específicas em que os
participantes se envolvem em cada contexto de práticas. Concebendo a sala de aula como um
espaço “plurilíngue e transcultural” por excelência, que requer “paradigmas epistemológicos
que contemplem as exigências da contemporaneidade” (LUCENA, 2015) para análise,
importou considerar os significados emergentes dessas práticas situadas, a partir das
perspectivas dos participantes nelas imediatamente implicados (ERICKSON, 1990). Nesse
processo, além do enfoque na subjetividade dos participantes da pesquisa, dedica-se especial
atenção às relações de poder envolvidas entre os participantes da pesquisa (LUCENA, 2015, p.
80).
Na pesquisa com as alunas participantes do curso de português, as aprendizes acolhem
umas às outras, utilizando o espaço a elas aberto. Em suas ações e falas, evidenciam que
acolhimento é uma construção social que se dá na relação, no compartilhamento de
experiências, na escuta à outra, na abertura para as trocas e no respeito às diferenças. A partir
de posições singulares interseccionadas de nacionalidade, classe e raça, essas mulheres-mães-
imigrantes constroem relações de afeto e de colaboração mediadas pela língua portuguesa. A
maternidade, a diáspora e a busca pela aprendizagem da língua portuguesa revelam-se como
elementos de coesão do grupo e língua de acolhimento ganha uma dimensão afetiva nessa rede
que elas buscam estabelecer. Em seus processos diaspóricos, traços comuns de suas
experiências são apontados, como as urgências e as esperas que se acentuam a cada passo no
novo território, configurando novas necessidades de aprendizagem.
26 Comunicação pessoal de Maria Inêz Probst Lucena e Carlos Maroto Guerola à autora, em 24/11/2020 (Em
reunião de orientação).
115
Dentro e fora da sala de aula, essas mulheres-mães-imigrantes revelaram a busca, a
construção e a reivindicação contínua de espaços de pertencimento e legitimidade através da
língua(gem). Nesse sentido, é possível pensar a da sala de aula de português, na perspectiva do
acolhimento, como um lugar de afeto e compartilhamento, ao abrigar as vivências das
aprendizes migrantes. Que essa sala de aula possa assemelhar-se à imagem de uma esteira capaz
de alocar as bagagens subjetivas que trazem os alunos aprendentes; uma casa que possa
testemunhar o processo de transformação dos itens componentes que se somam a outros na
experiência mais ou menos longa, de tempo indefinido, do deslocamento; um forte que possa
muni-los com ferramentas linguísticas de enfrentamento das fronteiras que se impõem em seus
percursos. Para essa condução, considero importante uma perspectiva adicional de ensino-
aprendizagem de língua adicional (PLA) (GARCEZ; SCHLATTER, 2009), de onde é derivada
o PLAc no Brasil (LOPEZ, 2020). Também considero relevante o conceito de “translinguagem”
(GARGIA, 2009, 2017; GARCIA; WEI, 2014; 2017), emergente nas práticas linguísticas das
alunas participantes da pesquisa, temáticas que passo a enfocar na subseção seguinte.
3.4.1 O Português como Língua Adicional (PLA) e a Translinguagem
A pressuposição de um contexto em que a experiência linguística emerge como natural
acaba por reificar a ideia de língua, de cultura e de sujeito pertencente a uma nação. A
essencialização derivada desse aspecto abre margem para um modus operandi dentro de um
contexto cultural específico do qual a língua seria mera expressão. A alteridade na relação
estrangeiro x nativo passa a figurar como elemento que situa a cultura e a linguagem como
sistemas que funcionam de modo autônomo (STREET, 2003), podendo ser reivindicados,
exportados, mercantilizados (HELLER, 2003). O pertencimento a uma língua-cultura estaria
associado à mera aprendizagem de seu funcionamento no uso. Nessa perspectiva, a língua é
tomada como expressão de uma cultura, de uma nacionalidade e de uma identidade reificadas
e, muitas vezes, objetificadas para o ensino (SEVERO; VIOLA, 2017).
Alternativamente a essa tendência, o PLA parte da perspectiva de ensino de línguas
com ênfase no acréscimo ao repertório do estudante (GARCEZ, SCHLATTER, 2009, p. 131).
Nessa acepção, a diversidade linguística é vista como uma realidade. No caso do Brasil, os
autores chamam atenção para as mais de 200 línguas existentes em território nacional (de
indígenas, quilombolas, surdos e imigrantes). O contato com outras línguas não é compreendido
como um aspecto distante, estranho, estrangeiro, senão como constitutivo das sociedades
116
humanas. Com esse pressuposto, a aula de línguas é imaginada como um convite à troca de
experiências socioculturais em que todos os sujeitos da interação se enriquecem mutuamente
(SCHLATTER; GARCEZ, 2009).
Nessa perspectiva, o mundo não é visto como dividido por línguas como expressões
de nacionalidades. Parte-se do pressuposto de que vivemos em um mundo plural em termos de
línguas e de práticas heterogêneas. A aprendizagem de línguas, nessa perspectiva, dá-se não
como a apropriação de um status de pertencimento ou de um sistema fechado de formas que só
fazem sentido quando encontram formas oriundas do mesmo sistema, mas como aquisição de
recursos que se adicionam ao repertório individual semiótico, já complexo e heterogêneo do
estudante (GARCIA; WEI, 2014). Nesse sentido, a perspectiva de adição distancia-se de
concepções referenciadas em torno de status totais de língua circunscritas em fronteiras fixas
ou em concepções monolíngues – em que língua e nação se associam. A perspectiva da adição
está informada por estudos sobre a interação verbal como realmente ocorre: a depender da
criatividade dos interagentes para mobilizar os recursos do seu repertório em cada uma das
situações comunicativas vivenciadas (MAKONI, 2017).
Signorini (2016, p. 2) aponta esse tipo de perspectiva como característica de estudos
situados recentes em Linguística Aplicada, comprometidos com uma visão de língua mais
distante da “condição de sintoma da falta ou de déficit” e mais próxima de ser tomada como
um “recurso comunicativo integrado a repertórios individuais específicos”. Essa configuração,
que toma a língua portuguesa em uso transnacional, enfatiza a heterogeneidade e a mobilidade,
a hibridez e a negociação nas práticas (SIGNORINI, 2016, p. 2). Nesse sentido, a compreensão
do ensino bilíngue como translinguagem seria um modo de convidar o aprendiz a utilizar todo
o seu conhecimento linguístico e semiótico para a interação e não simplesmente aquele
relacionado a uma dada língua (GARCIA, 2009; 2017; GARCIA; WEI, 2014).
A translinguagem, segundo Garcia (2017) é o modo como bilíngues se comunicam, ou
seja, utilizando “a língua como um sistema unitário de produção de sentidos dos falantes”27
(GARCIA, 2017). A pesquisadora chama a atenção para o repertório comunicativo de cada
sujeito, que envolveria o seu idioleto e que estaria composto também por signos, gestos,
contextos e outros modos de fazer sentido. A comunicação se daria a partir da escolha de traços
escolhidos como pistas que guiam o interlocutor para que ele construa a mensagem (GARCIA,
2017). Translinguagem, portanto, seria “um ato que o levaria a um espaço translíngue de onde
27 “using language as a unitary meaning making system of the speakers”.
117
se depreendem signos do nosso repertório e onde, então, há uma transação entre os
interlocutores”28 (GARCIA, 2017). Conforme Garcia e Wei (2014):
Translinguagem é uma abordagem de uso da língua(gem), de bilinguismo e
de educação de bilíngues que considera que as práticas de linguagem de
bilíngues não como dois sistemas de línguas autônomas, como tem sido
tradicionalmente o caso, mas como um repertório linguístico individual com
traços que foram socialmente construídos como pertencentes a duas línguas
separadas. (GARCIA; WEI, 2014, p. 2).29
Utilizando essa perspectiva, a sala de aula considerada como translíngue, ao levar em
conta o repertório linguístico individual dos usuários e, por consequência dar oportunidades
para que o desenvolvam completamente e não apenas se limitem ao uso de recursos socialmente
construídos como pertencentes à língua particularmente nomeada, valida as práticas
comunitárias bilíngues da comunidade à medida que as sanciona na escola (GARCIA, 2017).
A razão pela qual devemos adotar a translinguagem como ferramenta pedagógica é
por ela se contrapor ao modelo hierárquico que preconiza a língua majoritária como prioritária,
fazendo justiça às línguas minoritárias, bem como aos sujeitos que as utilizam (GARCIA,
2017). Assim, ao testar os sujeitos, estaríamos testando-os em toda a sua capacidade de produzir
sentido e não em menos da metade de seu repertório linguístico, como o faríamos levando em
conta traços pertencentes a apenas uma dada língua, como ocorre nos sistemas educacionais.
A translinguagem, como ferramenta pedagógica, mostra-se alternativa à perspectiva
de ensino assimilacionista, que reforça e limita os usos linguísticos a um ideal comunicativo
que não ocorre na realidade dos usos bilíngues. No entanto, é preciso também colocar que, para
alguns intuitos discursivos, é necessário aprender determinadas formas exigidas para aqueles
contextos específicos. Assim, é preciso levar em consideração quais são as reais necessidades
dos aprendizes, validando conhecimentos que já existem nos repertórios individuais dos
aprendizes.
O desafio é tomar distância de idealizações de ensino-aprendizagem de línguas que
têm como objetivo que os aprendizes alcancem a realização linguística de “falantes nativos”.
Para isso, perspectivas que idealizam objetivos assimilacionistas como a de falar como um
28 “Translanguaging is that act that takes you into a translanguaging space where we deploy the features of our
repertoire and that then there is a transaction between the interlocutors”. 29 “Translanguaging is an approach to the use of language, bilingualism and the education of bilinguals that
considers the language practice of bilinguals not as two autonomous language systems as has been traditionally
the case, but as one linguistic repertoire with features that have been societally constructed as belonging to two
separate languages”.
118
nativo, eliminam elementos como o “sotaque” que, além de não estarem, necessariamente,
associados à compreensão e à desambiguação, são importantes elementos marcadores de
identidade e pertencimento. Assim, levando em conta as posições sociais que ocupam certos
sujeitos e as marcações de poder em torno de certas línguas e não de outras, cabe-nos refletir se
estamos pautando o ensino de línguas em torno de elementos que dizem mais respeito a
apreciações de grupos hegemônicos sobre o que conta como língua legítima em determinado
espaço enunciativo, ou se estão em foco os propósitos comunicativos específicos a que se
destinam (LUCENA; CARDOSO, 2018; TOMASELLI, 2020; LUCENA, 2020).
Ensinar considerando os elementos constitutivos do repertório do aprendiz que dizem
respeito às suas próprias experiências de vida e identidades, constituídas de modo híbrido, é
uma forma de legitimar suas vivências. A consideração de seus repertórios complexos,
múltiplos e em plena transformação é uma alternativa ao tratamento pedagógico da “falta” do
português que têm pontuado iniciativas mais assimilacionistas de PLAc, como discutido por
Diniz e Neves (2017), Bizon e Camargo (2018), Lopez (2020) e outros.
Garcia (2017) apresenta a translinguagem como uma contraposição ao modelo
existente que olha a língua de uma maneira externa, que desconsidera o que realmente acontece
na comunicação bilíngue, em que há agenciamentos no uso linguístico, como mostram Lucena
e Cardoso (2018) ao discutir a translinguagem como um recurso pedagógico. Garcia (2017)
afirma que a perspectiva externa é muito importante, pois está associada ao acesso e à testagem
do repertório linguístico dos sujeitos. A translinguagem figuraria, então, como perspectiva
interna, que se propõe a perceber o que realmente acontece com o trânsito de informações nos
aparatos de comunicação de cada sujeito e a respeitá-lo em seus processos de aprendizagem e
de constituição como sujeito bilíngue. Desse modo, esta visão interna do repertório linguístico
do sujeito bilíngue, a translinguagem, seria mais justa para compreender como se dá a
articulação do conhecimento linguístico do sujeito, de modo sempre situado, a depender das
situações de uso que se colocam, dos propósitos comunicativos e da criatividade dos sujeitos.
Garcia e Wei (2014) justificaram a importância de partir de um ensino bilíngue para
um ensino translíngue por considerarem que a complexidade multilíngue do cenário
contemporâneo pode transformar o ensino monolíngue de línguas estrangeiras e a estrutura de
ensino bilíngue, beneficiando os aprendizes envolvidos. A ampliação de recursos cognitivos
quando da assunção da translinguagem como ferramenta pedagógica é uma das vantagens do
instrumento para a aprendizagem, mas não só. No que tange à construção identitária, a
possibilidade de utilizar as próprias línguas incorre na valorização do repertório linguístico do
119
sujeito aprendente, no aumento de sua autoestima e de seu rendimento escolar (DeGRAFF,
2017; 2019). A translinguagem, ao ser incentivada em salas de aula de línguas pode permitir
ambientes mais criativos, críticos “onde os alunos possam usar a agentividade para escolher
quais recursos de seu repertório linguístico usar” (LUCENA; CARDOSO, 2018, p. 144),
mesmo que o objetivo em questão seja aprender a usar uma dada língua em contextos mais
regulamentados de práticas.
A despeito das concepções norteadoras a que se vinculam os sujeitos envolvidos no
planejamento de cursos e da teorização de abordagens de ensino de línguas, os significados
atribuídos pelas aprendentes aos usos linguísticos são de central importância. Tomando como
base o princípio dialógico da língua(gem) nas interações verbais em sala de aula, em que os
significados são construídos e revelados, importa visibilizar as negociações de sentido rumo a
um quadro estável de significações que buscam os alunos em diálogo com o professor.
Na sala de aula, longe de imperar a perspectiva dominante, “do professor” ou “do
aluno”, do “material didático” ou “da escola”, para que a aula “aconteça”, como ressalta Geraldi
(2010), há que se ter uma comunalidade de interesses ou um encontro de objetivos entre
professores e alunos. Apesar da utopia que emerge de tal idealização, é preciso construir
caminhos para que o diálogo entre perspectivas seja possível, principalmente em ambientes
forjados em enquadres disciplinares e reguladores de práticas como a escola. Como salientam
Garcia e Wei, “a ênfase nos aspectos trans da linguagem e da educação nos habilita a transgredir
as separações categóricas do passado” (2014, p. 2). Os autores referem-se à necessidade de
questionar o construto língua enquanto contínuo de um Estado e uma nação, erigido na
modernidade.
Com o intuito de analisar a materialidade linguística dos diálogos em campo, além da
perspectiva adicional e da translinguagem, foram utilizados conceitos de Bakhtin para
interpretar as questões emergentes do campo, os quais passo a apresentar na subseção seguinte.
3.4.2 A perspectiva de uso da linguagem por Bakhtin
Para as análises e interpretações de questões emergentes do campo que evidenciavam
necessidades e projetos pautados pelas mulheres-mães-imigrantes, participantes desta pesquisa,
foram utilizadas observações de Bakhtin (1997; 2010) sobre o modo como enunciamos nas
diferentes esferas da atividade humana, segundo o autor, a partir de gêneros do discurso. A
aprendizagem de línguas é um processo de apreensão de sentidos dentro de sistemas de
120
significação específicos, que operam sempre em contexto, a partir de uma relação de apreensão
da fala alheia em que subjazem pressupostos ideológicos de certos grupos (BAKHTIN, 2010).
Assim, importa refletirmos como as participantes da pesquisa aprendem português em suas
buscas por fazer sentido de suas experiências na língua em aprendizagem.
A concepção de linguagem mobilizada neste trabalho pressupõe um sujeito
historicamente situado, em uma posição dialógica que se materializa na tensão entre o já-dito e
a irrepetibilidade de seus enunciados (BAKHTIN, 2010). Esse sujeito não adquire línguas como
formas estanques, de significados precisos. Seus enunciados situam-se num entrelugar de
sentidos, o “terreno interindividual” (BAKHTIN, 2010, p. 35), entre aquele que enuncia e
aquele a quem enuncia.
Segundo Bakhtin (2010), desde os primeiros choros, enunciamos. De modo negociado,
dirigimo-nos a interlocutores precisos: à mãe, ao pai ou a outro/a cuidador/a, utilizando nossos
recursos disponíveis, a partir da apreensão da fala alheia. É no processo mesmo de
negociar/comunicar necessidades, anseios e angústias com/para outros sujeitos no mundo, que
tomamos consciência desse mundo, pela linguagem (BAKHTIN, 2010). Nesse movimento, a
diversidade da experiência humana faz com que os signos não veiculem sentidos unívocos, por
refletirem e refratarem múltiplas realidades, variadas, mobilizando horizontes apreciativos
compartilhados por diferentes grupos de sujeitos. Por esta característica, por possuírem
componentes de significado que remetem ao mundo real e não se encerrarem em si mesmos, é
que os signos são considerados por Bakhtin (2010) como ideológicos, por excelência.
Segundo Bakhtin (1997, p. 280), “todas as esferas da atividade humana, por mais
variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua”, sendo o enunciado
que reflete “as condições específicas e as finalidades de cada uma delas”. O enunciado é
individual apenas quando considerado isoladamente. No entanto, quando consideramos as
esferas discursivas em que circulam podemos notar “tipos relativamente estáveis” de
enunciados, a que Bakhtin (1997, p. 280) denomina “gêneros do discurso”.
O autor aponta que esforços para estudar os gêneros literários, retóricos e do cotidiano,
em diferentes períodos da história, acentuaram por hora um ou outro caráter da natureza do
enunciado. Ora os enunciados são “mais definidos pelo ângulo artístico-literário”, ora se dando
“maior ênfase à sua natureza verbal” e a certos princípios constitutivos como “a relação com o
ouvinte e a influência deste sobre o enunciado”, como no estilo retórico (BAKHTIN, 1997, p.
290). E outros momentos, ainda, o enunciado foi definido centrando-se o olhar na réplica do
diálogo cotidiano, que evidenciava a especificidade do discurso oral, sem, no entanto, enfocar
121
enunciados complexos, como foi feito nos estudos behavioristas (BAKHTIN, 1997). Em todos
esses esforços, o autor aponta que alguns aspectos da natureza do enunciado eram solapados,
em favorecimento de outros. Bakhtin atribui essa dificuldade teórico-metodológica “quando se
trata de definir o caráter genérico do enunciado” como consequente da “extrema
heterogeneidade dos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 1997, p. 282).
A única classificação empreendida por Bakhtin (1997) dos gêneros do discurso é a
distinção feita entre gêneros primários (simples) e secundários (complexos). Segundo o autor,
não se tratando de instâncias totalmente separadas, os gêneros secundários, como “o romance,
o teatro, o discurso científico, o discurso ideológico – aparecem em circunstâncias de uma
comunicação cultural mais complexa, principalmente escrita: artística, científica, política”
(BAKHTIN, 1997, p. 281). Já os gêneros do discurso primários – a réplica do diálogo cotidiano
ou a carta, por exemplo – são absorvidos pelos gêneros do discurso secundário. Ao se tornarem
deles componentes, “transformam-se dentro destes e adquirem uma característica particular:
perdem sua relação imediata com a realidade existente e com a realidade dos enunciados
alheios” (BAKHTIN, 1997, p. 281, ênfase minha). Segundo Bakhtin (1997, p. 282):
A inter-relação entre essas duas instâncias – a dos gêneros primários e
secundários –, de um lado, e o processo histórico e formação dos gêneros
secundários, de outro que se configura um importante lugar de investigação
da natureza dos enunciados, acima de tudo, o difícil problema da correlação
entre língua, ideologias e visões de mundo. (BAKHTIN, 1997, p. 282, ênfase
minha).
Essa atenção ao “difícil problema da correlação entre línguas, ideologias e visões de
mundo”, recomendada por Bakhtin, é importante nesta investigação em que foram considerados
gêneros mais e menos estáveis. Por definição, o que caracteriza um gênero do discurso, a partir
de Bakhtin (1997), é seu caráter individual e o contexto em que ocorre.
Os gêneros do discurso definem-se pelo tema, pela composição e pelo estilo. O tema
varia conforme as esferas da comunicação verbal: da vida cotidiana, da vida prática, da vida
militar, etc.; a composição e o estilo variam em função da “expressividade do locutor ante seu
enunciado”. A expressividade abrange as emoções e as apreciações valorativas, estas centrais
neste estudo. Segundo Bakhtin (1997), esses elementos do enunciado (a composição e o estilo)
configuram o caráter responsivo que enquadra e delimita o enunciado, cujas fronteiras são
marcadas pela alternância de sujeitos durante o diálogo.
122
Na discussão sobre a compreensão de uma “fala viva”, a responsividade é um elemento
componente não apenas da posição daquele ao qual foi dirigida uma enunciação. O elemento
de responsividade também é componente da ação enunciativa. No entanto, segundo o autor
coloca:
[...] uma resposta fônica, claro, não sucede infalivelmente o enunciado fônico
que a sucede: a compreensão responsiva ativa do que foi ouvido (por exemplo,
no caso de uma ordem dada), pode realizar-se diretamente como um ato (na
execução da ordem compreendida e acatada), pode permanecer, por certo
lapso de tempo, compreensão responsiva muda [certos gêneros líricos, o autor
exemplifica], mas neste caso trata-se, poderíamos dizer, de uma compreensão
responsiva de uma ação retardada: cedo ou tarde, o que foi ouvido e
compreendido de modo ativo encontrará um eco no discurso ou no
comportamento subsequente do ouvinte. (BAKHTIN, 1997, p. 291, ênfase
minha)
Bakhtin (1997, p. 292) complementa:
[...] o próprio locutor como tal é, em certo grau, um respondente, pois não é o
primeiro locutor, que rompe pela primeira vez o eterno silêncio de um mundo
mudo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que utiliza, mas
também a existência dos enunciados anteriores – emanantes dele mesmo ou
do outro – aos quais seu próprio enunciado está vinculado por algum tipo de
relação. (BAKHTIN, 1997, p. 292)
A premissa da responsividade importa para pensarmos que a sedimentação de
discursos em um dado tempo histórico atua como componente ideológico da enunciação. Sendo
assim, o enunciado seria não somente individual, mas também dotado de um caráter social, a
partir de premissas e valores de grupos junto aos quais enuncia. Daí, deriva a elaboração de
Bakhtin (1997, p. 291) de que “cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa dos
enunciados”.
Outro elemento importante a ser considerado para as análises desta investigação é o
intuito discursivo, ou o querer-dizer do locutor, que pode se refletir mais ou menos no
enunciado, a depender da estabilidade do gênero do discurso. O intuito discursivo é o elemento
subjetivo do enunciado, perceptível a partir do todo, às vezes, a partir das primeiras palavras.
Há gêneros do discurso, no entanto, em que o intuito discursivo é quase inexistente ou nulo,
realizando-se apenas na escolha do gênero. É o caso dos gêneros do discurso relativos à vida
militar (os comandos e as ordens) ou “na vida profissional, em que os gêneros são padronizados
ao máximo”, sem que haja muito espaço para a criatividade (BAKHTIN, 1997, p. 300).
123
Bakhtin ressalta um importante fato no que respeita à fluência na utilização dos
gêneros do discurso. Em sua perspectiva, aprender a comunicar-se é aprender a estruturar
gêneros discursivos em certas esferas de atividade as quais o locutor pode dominar melhor ou
pior. A heterogeneidade a que se refere em relação à comunicação verbal também se mostra
quanto à circulação dos próprios sujeitos nessas distintas atividades:
Não é raro o homem que domina perfeitamente a fala numa esfera da
comunicação cultural, sabe fazer uma explanação, travar uma discussão
científica, intervir a respeito de problemas sociais, calar-se ou então intervir
de uma maneira muito desajeitada numa conversa social. Não é por causa de
uma pobreza de vocabulário ou de estilo (numa acepção abstrata), mas de uma
inexperiência de dominar o repertório de gêneros da conversa social, de uma
falta de conhecimento a respeito do que é o todo do enunciado, que o indivíduo
fica inapto para moldar com facilidade e prontidão sua fala e determinadas
formas estilísticas e composicionais: é por causa de uma inexperiência de
tomar a palavra no momento certo, de começar e de terminar no tempo correto
(nesses gêneros, a composição é muito simples). (BAKHTIN, 1997,
p. 303-304)
O modo como é acima colocada a apropriação dos gêneros discursivos pelo autor
aponta para um processo que se dá ao longo da experiência de vida individual do falante/usuário
da língua. Nele, a articulação do indivíduo nas esferas mais complexas não garante a
desenvoltura nas mais simples. Esse aspecto sociolinguístico de domínio da fala em esferas de
comunicação, ressaltado pelo autor, contraria ideias vigentes em torno da aprendizagem
linguística como uma apreensão de recursos linguísticos de modo reificado e absoluto, que
serve a todos os propósitos.
Conforme Bakhtin (1997, p. 282) coloca: “a língua penetra na vida através dos
enunciados concretos que a realizam e é também através dos enunciados concretos que a vida
penetra na língua”, assim sendo, “a língua, no seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo
ideológico ou relativo à vida” e, portanto, “a palavra está sempre carregada de um conteúdo ou
de um sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN, 2010 [1929], p. 99). Essa relação entre
língua e vida é central na compreensão do ensino de português que se quer pautado pelas
necessidades e projetos de seus aprendentes, como no caso desta pesquisa, em que se
consideram as necessidades e os projetos de mulheres-mães-imigrantes. Com esse objetivo,
buscou-se não perder o fio de conexão entre a vida dessas aprendentes e a língua, para um
mapeamento das práticas sociais em que se vinculam, de modo a refletir sobre as práticas
comunicativas que requerem.
124
Em Marxismo e Filosofia da Linguagem, Bakhtin (2010) lamenta a falta de um campo
conceitual bem assentado em torno do conceito de ideologia. Essa deficiência não impede o
autor de abrigar no centro de suas reflexões a ideia de signo ideológico, compreendendo a
enunciação como um processo que se veste de ideias sedimentadas orientadas a auditórios
sociais bem determinados em um dado tempo histórico.
Enfatizando a duplicidade temporal de cada enunciação, concebe-a enquanto ato
irrepetível, ao mesmo tempo em que é ato histórico. Seria irrepetível, por atualizar-se a cada
novo enunciado pela intenção e pela situação singular de comunicação, e ato histórico por
depender, para o processo de significação, de uma sequência de usos, mais ou menos estáveis,
que permite a construção de sentidos como um continuum do passado (BAKHTIN, 2010).
A metáfora do eco não foi escolhida por acaso para pensarmos sobre a enunciação na
perspectiva de Bakhtin. No eco, o enunciador reconhece sua voz, pois trata-se do mesmo timbre
que ecoa. No entanto, o enunciado a ele não pertence inteiramente, uma vez que se trata também
da apropriação da palavra alheia no curso de seu destino. O enunciado realiza-se sempre
orientado a um outro. Pertence o enunciado ao enunciador quanto ao ineditismo do ato, porém,
ao não poder destituir-se do social para atribuição e negociação de sentidos, o enunciado
situa-se sempre em um entrelugar entre o enunciador e o auditório social para o qual se dirige,
configurando-se como ato individual e coletivo a um só tempo.
Nas palavras de Bakhtin (1997, p. 316), “o enunciado concreto é um elo na cadeia da
comunicação verbal de uma dada esfera, cujas fronteiras determinam-se pela alternância dos
sujeitos falantes”. O enunciado deve ser sempre considerado em seu caráter responsivo a outros
enunciados, por estar “repleto de ecos e lembranças de outros enunciados aos quais está
vinculado no interior de uma esfera comum na comunicação verbal” (BAKHTIN, 1997, p. 316).
O autor ressalta, ainda, que:
O mecanismo desse processo [de apreensão do discurso de outrem] não se
situa na alma individual, mas na sociedade, que escolhe e gramaticaliza – isto
é, associa as estruturas gramaticais da língua – apenas os elementos de
apreensão ativa, apreciativa, da enunciação de outrem que são socialmente
pertinentes e constantes e que, por consequência, têm seu fundamento na
existência econômica de uma comunidade linguística dada (BAKHTIN,
2010, p. 152, ênfase no original).
O processo de significação se encontra no seio de uma comunidade linguística dada
ligada a um tempo anterior e outro presente, de significado móvel, enquanto abertura para o
novo. É sobre essa novidade vestida de passado que tratam as reflexões dirigidas a analisar o
125
que as alunas do curso de português trazem como estranhamentos aos significados que
encontram em suas traduções linguístico-culturais em Florianópolis. Na procura por traduzir o
novo contexto, a questão da legitimidade nos usos linguísticos é colocada pelas mulheres-mães-
imigrantes participantes da pesquisa, questão que passo a enfocar na seção seguinte.
3.5 A LEGITIMIDADE NOS USOS LINGUÍSTICOS
A partir de necessidades e projetos evidenciados por alunas do curso, importou para a
discussão levar em conta o contexto migratório de hospitalidade seletiva. Interpretada, nesta
pesquisa, como um traço da ordem sociocultural e linguística heterogênea, a hospitalidade
seletiva do contexto migratório brasileiro compreende como mais legítimas determinadas
posições sociais e não outras. Por consequência, essa hospitalidade conduz à maior atribuição
de legitimidade aos usos linguísticos de certos grupos do que de outros.
Concernentes à temática da legitimidade nos usos linguísticos, dois aspectos foram
problematizados nesta seção: (1) o pertencimento das mulheres-mães-imigrantes participantes
da pesquisa a culturas de língua padrão (MILROY, 2011) e (2) a busca pela legitimidade
linguística de falantes no novo contexto (SIGNORINI, 2002; 2006). Essas questões importaram
para a discussão dos dados gerados no campo e para a reflexão sobre os modos pelos quais
podemos, em práticas de ensino de língua portuguesa, ir ao encontro de necessidades e projetos
pautados por mulheres-mães-imigrantes.
Signorini (2006) observa que pessoas reais, em interlocuções reais, buscam validar
suas posições sociais reais ou almejadas através do uso linguístico. A autora compreende que
os usos linguísticos se realizam dentro de uma ordem sociocultural e linguística heterogênea
que regula a atribuição de legitimidade, não exatamente aos usos linguísticos reificados, mas
aos sujeitos imediatamente implicados nessas práticas comunicativas (SIGNORINI, 2006). A
concepção da autora remete à ideia de uma ordem do discurso, como a concebe Foucault
(2010), em que o dizer é regulado a partir das posições sociais que ocupam os falantes em cada
contexto sócio-histórico específico. O autor refere essa ordem como um aspecto fantasmagórico
que antecede ao discurso, regulando-o, interditando temáticas e sujeitos a depender do que, a
quem e onde é permitido dizer, em cada contexto sócio-histórico específico.
Signorini (2002, p. 93) propõe essa ordem sociocultural e linguística “enquanto uma
configuração sempre transitória do que no jogo socio-comunicativo e também político e
ideológico das relações sociais, se constrói como divisão, borda ou fronteira nos usos da língua
126
(SIGNORINI, 2002, p. 93). Nessa leitura, os usos linguísticos são concebidos como processos
cerceados por espaços regulamentados de práticas, porém não determinados, uma vez que essa
ordem sociocultural e linguística heterogênea permite novas configurações das fronteiras e
bordas que as regulamentam. A autora propõe uma inversão na análise da legitimidade. Como
ressalta a autora, se quisermos nos ater aos modos pelos quais os sujeitos realmente utilizam a
linguagem, não se trata propriamente de entender quais usos linguísticos são mais legítimos,
mas, de forma inversa, de questionar como e quais sujeitos têm seus usos linguísticos mais
legitimados pelos traços dessa ordem sociocultural e linguística heterogênea:
Interessa-nos a referência às práticas comuns de uso da língua em que a
‘perturbação’ trazida pela variação é o que permite ao falante/escrevente se
constituir enquanto agente que tanto reproduz formas e sentidos, papéis e
identidades, quanto os altera, tensiona, torce, subverte, produz o novo, seja
ele percebido como criativo, revolucionário ou apenas descabido, torto, mal
enjambrado (SIGNORINI, 2002, p. 93, ênfase minha).
Essa proposição, permite que seja ressaltado o olhar investigativo para a negociação com a
ordem – colocada como perturbação pela autora – enfocando a agência dos sujeitos em seus
processos de constituição identitária em diferentes papéis sociais.
Descartando a atenção para a língua legítima como um recurso per se, a autora aponta
como necessária a discussão sobre a “igualdade mínima de condições entre falantes”
(SIGNORINI, 2006, p. 172). Com essa atenção, importa discutir a legitimidade atribuída aos
falantes nas práticas de uso da língua, levando em conta a “legitimidade dos usos linguísticos
[...] em termos socioculturais e políticos e não puramente linguísticos” (SIGNORINI, 2006,
p. 170). Para tanto, importa considerar que a conferência de legitimidade de falante de um
determinado sujeito passa pela apreciação conferida ao próprio sujeito no diálogo. Assim, a
apreciação negativa de um sujeito ou grupo, em um território ou tempo histórico, pode servir
como uma fronteira discursiva. Como evidenciam análises do campo situado, essas fronteiras
discursivas podem, por sua vez, requerer usos linguísticos específicos de enfrentamento a essa
ordem para a conquista da legitimidade, como vemos com as alunas do curso de português para
mães imigrantes.
Para compor sua discussão sobre legitimidade, Signorini (2006) parte de investigações
situadas, como relata a seguir:
Num trabalho anterior, verificamos que o acesso a pequenos proprietários
rurais não ou pouco escolarizados do interior paraibano à disputa eleitoral e
127
também à câmara municipal no início da década de 1990 não trouxe mudanças
significativas, nem para as rotinas institucionais na câmara, nem para os
modos de intervenção de seus membros, nem tampouco para os padrões de
avaliação, pelos grupos urbanos escolarizados, do grau de legitimidade dos
usos da língua pelos recém-chegados à esfera pública, nem de legitimar a
transposição, para essa esfera, de usos tidos como próprios de seu grupo social
de origem. O resultado disso é que mesmo quando eleitos, permaneciam em
estado de permanente invisibilidade e afasia no contexto institucional:
‘Aprovar calado, permanecer sentado’ (SIGNORINI, 1998b: 166)
(SIGNORINI, 2006, p. 177, ênfase minha).
Na elaboração teórica da autora, o conceito de afasia é contraposto ao conceito de
legitimidade, sendo esta atribuída aos denominados “porta-vozes”, ou os sujeitos que fazem
parte da partilha de bens simbólicos naturalizados a sujeitos de uma posição social específica.
É desse modo que, como ressalta Signorini (2006), sujeitos desprestigiados socioculturalmente
são passíveis de sofrer “diferentes graus de invisibilidade e afasia” em contextos institucionais
(SIGNORINI, 2006, p. 177).
As questões que a autora propõe salientam a importância de levarmos em conta a
complexidade das posições sociais de nossos alunos no contexto de aprendizagem de língua
portuguesa para imigrantes. A ilegitimidade atribuída aos usos linguísticos de aprendizes que
têm suas posições sociais desprestigiadas socioculturalmente pode requerer necessidades de
aprendizagem linguística específicas para o enfrentamento a obstáculos que se interpõem em
suas buscas no novo contexto.
No que concerne a contextos multilíngues, em reflexão sobre as tensões que atuam
nessa ordem sociocultural e linguística heterogênea, Signorini (2002, p. 94), aponta para o que
denomina como “jogo monolíngue” e “jogo multilíngue”, ambos derivados da ideia de Estado-
-nação e “promovido[s] pelos planejamentos linguísticos d’a unidade na diversidade’”. A
autora critica o multilinguismo, pois, para ela, o “princípio continua sendo o da normatização e
controle das línguas nacionais, segundo a mesma lógica funcional dos Estados-nação
monolíngues” (SIGNORINI, 2002, p. 94). Nessa lógica funcional monolíngue, ser bilíngue
pressupõe:
a) Não embaralhar as fronteiras misturando os códigos; b) manter separados
os domínios de uso de cada uma delas c) ter o padrão nacional de cada uma
como “a” língua legítima, em detrimento de variedades intermediárias, mistas
ou vernaculares (SIGNORINI, 2002, p. 92).
128
A compreensão das forças que atuam nessa ordem importa para compreender a busca
pela língua legítima no cenário investigado, refletindo o papel de espaços formais de ensino de
línguas no trabalho com os usos linguísticos considerados legítimos per se. Em contrapartida,
analisar os tensionamentos dessa ordem promovidos pelos falantes em suas práticas linguísticas
situadas importa na consideração do campo de possibilidades que se coloca ao falante. Em um
contexto em que normas de uso linguístico estão a regular o que pode e o que não pode ser dito
no jogo enunciativo, “a ação ou o trabalho do falante/escrevente [é] jogar com as coerções e os
recursos daí advindos” (SIGNORINI, 2002, p. 92). É aí que entra a possibilidade de desafiar as
regulamentações das esferas de normatização pautadas por todo um aparato institucional –
estatal, escolar, jurídico, acadêmico –, lugar onde se encontram as formas anteriores à
regulamentação ou, precisamente, o funcionamento mesmo da língua(gem), que não se dá à
priori a partir dos aparatos regulatórios, mas a despeito deles.
Na busca por dirigir a atenção às demandas concretas das práticas comunicativas, que
vivenciaram as aprendizes do curso de português, e em atenção a elas, evidencia-se que a fusão
de línguas e/ou variedades de uma língua que o falante emprega escapa a essa lógica da
normatização e do controle das fronteiras – própria da denominada “problemática do
multilinguismo” (SIGNORINI, 2002, p. 92).
Uma vez que a diversidade é a norma, importa ver quais recursos são utilizados no
jogo enunciativo. Sobretudo, interessa saber 1. quais são os valores simbólicos implicados no
uso dos recursos linguístico-discursivos dos repertórios das mães imigrantes participantes da
pesquisa – na comunicação com as filhas, por exemplo, e 2. quais são os recursos requeridos
pelas aprendizes do curso de português para uso em contextos específicos, principalmente, os
que partem de necessidades concretas, como a que nos traz Marlene: “preciso aprender a brigar
em português”. Esse tipo de necessidade requer a apreensão do funcionamento da língua dentro
daquilo que se considera ser legitimado, enquanto norma, em determinados espaços de práticas
comunicativas.
Para uma contraposição didática alternativa ao que Signorini (2002, p. 63) coloca
como uma “modelização de formas à disposição do falante”, importa refletir o quanto, em
nossas práticas educacionais, temos ecoado as regulamentações do jogo monolíngue. Um dos
traços implicados na atribuição de legitimidade, que serve como borda e fronteira dessa ordem,
é a ideologia da língua padrão. Como observa Milroy (2011):
[...] os historiadores da língua têm sido eminentes no estabelecimento desta
legitimidade [da língua] porque, é claro, é importante que uma língua padrão,
129
sendo a língua de um Estado-nação e, às vezes, de um grande império,
compartilhe da história (gloriosa) deste Estado-nação (MILROY, 2011, p. 76).
O autor chama a atenção para os efeitos do que ele denomina “ideologia da língua
padrão”. Trata-se da “imposição de uniformidade a uma classe de objetos” (MILROY, 2011, p.
51). Uma vez que a padronização é imposta externamente aos objetos, as características que os
unificam não são intrínsecas, mas a eles impostas, pois esses objetos são naturalmente variáveis.
Com a língua, não tem sido diferente: a padronização linguística opera na produção da
invariância ou uniformidade na estrutura da língua (MILROY, 2011, p. 51, ênfase no original).
Trata-se de um processo artificial, portanto. O ideológico, segundo o autor, diz respeito ao valor
de prestígio atribuído a esse objeto ou conjunto de objetos: “o prestígio atribuído às variedades
linguísticas (por metonímia) é indexador e está envolvido na vida social dos falantes”
(MILROY, 2011, p. 57, ênfase no original). Ou seja, assim como problematiza Signorini (2002;
2006), Milroy (2011) chama a atenção para a seguinte questão: são as pessoas que ocupam um
lugar de prestígio e não a língua por elas falada per se, a qual não possui existência fora da vida
social (MILROY, 2011).
Para a compreensão de como o status de falante é considerado a partir da atribuição
conferida aos sujeitos, Milroy (2011) entende que ocorre um processo metonímico em que a
apreciação social de um sujeito conduz à apreciação de sua fala. Nesse movimento, o status de
prestígio do falante é associado à sua variedade. Em uma visão reificada da língua, toma-se a
forma pelo conteúdo, abstraindo-se da enunciação marcadores sociais, como a condição
efêmera de ser “de prestígio”, e tornando-a esvaziada de seu conteúdo situado, para figurar
como forma de prestígio/variedade de prestígio autônomas. Daí, o surgimento de variedades de
prestígio como formas abstratas que presumidamente carregariam o prestígio em si mesmas. O
mesmo efeito pode acontecer no caso de um falante considerado desprestigiado socialmente
por conta de algum marcador (gênero, nacionalidade, classe, raça), ao ter sua fala igualmente
tomada como ilegítima.
Milroy (2011, p. 57) ressalta também que “um efeito extremamente importante da
padronização tem sido o desenvolvimento da consciência, entre os falantes, de uma forma de
língua ‘correta’ ou ‘canônica’”. O autor aponta que esse efeito se dá em falantes que pertencem
ao que ele denomina de “culturas de língua padrão” (p. 49), ou seja, que “acreditam que essas
línguas vivem em formas padronizadas” (p. 57), tais como falantes do inglês, do espanhol e do
francês. Assim, um dos aspectos dessas culturas de língua padrão seria uma “forte crença na
correção” (MILROY, 2011, p. 57, ênfase no original), mas não apenas:
130
Além de ideias de prestígio e correção, as suposições que são condicionadas
pela ideologia são as de que as línguas são uniformes em estrutura, que são
estáveis e que são entidades concluídas. Contudo, essas tampouco são
propriedades de línguas reais, - são propriedades de estados idealizados de
línguas e são, especialmente, propriedades de línguas padronizadas.
(MILROY, 2011, p. 74-73).
Se os efeitos da padronização em falantes de “culturas de língua padrão” são dessa
natureza e são refletidos nas instituições de formação, como a escola (MILROY, 2011), importa
refletirmos sobre as especificidades dos contextos nos quais as alunas do curso de português
para mães imigrantes realizaram suas formações: o Haiti, a Venezuela e a Bulgária.
No caso da Bulgária, o apelo à sua “longa e gloriosa história” (é um dos países mais
antigos da Europa, datando de 681) e a adoção do alfabeto cirílico, padronização que permitiu
a produção literária no vernáculo, tem servido para fortalecer a identidade nacional e a ideia de
comunidade imaginada “que compartilha uma língua, uma nação e uma cultura”30 (NORMAN,
2019, p. 5). A Bulgária, que fez parte da URSS desde 1944 até 1989 e aderiu à União Europeia
em 2007, não se situa nem no centro nem na periferia da economia globalizada. Não podendo
ser visto nem como país colonizador nem como colonizado, a Bulgária se situa em um
“entrelugar”, que, segundo Norman (2019, p. 4), merece ser estudado, por desafiar concepções
estáveis de lugar e sujeito.
Apesar de servir como tônica no debate sobre pertencimento e tradição, a língua
búlgara, ao longo da história do país tem dividido espaço com outras línguas, num contexto
linguisticamente diverso (POLITOV; LOZANOVA, 2015). Norman (2019) identifica, a partir
de uma etnografia com sujeitos búlgaros, performances identitárias que evidenciam duas
tendências: (1) o uso do búlgaro e do alfabeto cirílico como legitimador de uma identidade
búlgara e (2) o uso do inglês e de outras línguas como legitimador de identidades globais. No
caso de Neli, a aluna da Bulgária, como será mostrado nas análises, a posição de um entrelugar
é expressa em sua fala na valorização da língua e da cultura búlgaras, mas também de outras
línguas (espanhol e português) no repertório linguístico-cultural das filhas.
Nos contextos venezuelano e haitiano, é preciso considerar os efeitos de oficialização
da língua colonial na experiência de aprendizagem de língua dos sujeitos oriundos desses
lugares. As ex-colônias espanholas na América Latina, são discursivizadas pela Real Academia
Espanhola como países com línguas levemente diversas (“apenas” no âmbito lexical e
fonológico), ligadas que estariam pela “unidade” do Espanhol peninsular (STANLEY, 2016).
30 “ that shares one nation, one language, and one culture”.
131
A Real Academia Espanhola coloca-se como uma força centralizadora da norma, atuando com
a função de unidade na diversidade”(FANJUL, 2011, p. 308). Essa estratégia é lida como
eminentemente política no cenário global multilíngue (STANLEY, 2016; LAGARES, 2018).
As políticas linguísticas na Espanha encontram mais sentido na reunião de forças a imaginar
uma grande esfera com vários centros, o que, na disputa por normas, em uma estratégia
denominada policêntrica, enfraquece possíveis alianças econômicas (FANJUL, 2011).
Apesar de ser língua materna de mais de 90% da população venezuelana, o espanhol
é apenas uma dentre as várias línguas que coexistem no complexo espaço multilíngue do país,
coexistindo com línguas indígenas e línguas das diásporas estrangeiras (BONDARENKO,
2010). Por sua vez, no Haiti, a língua hegemônica na realidade de uso é o crioulo. Na década
de 1940 foi proposta uma ortografia para o crioulo, que adquiriu um registro ortográfico
semioficial em 1980 (CASSIE, 2012, p. 19-20). Oficializado somente em 1987, o crioulo
haitiano tem sido colocado em posição secundária frente à língua francesa. O francês tem sido,
na realidade haitiana, a língua da escola e das outras instituições desde a independência, em
1804. DeGraff (2017; 2019) chama a atenção para as consequências da desvalorização da língua
do povo haitiano, denominando o processo neocolonial de deslegitimação do crioulo como um
apartheid linguístico, em que os sujeitos foram apartados do direito de usar suas línguas em
espaços como a escola. DeGraff (2019) salienta as consequências negativas para as crianças,
que precisam realizar as práticas escolares em uma língua que não é a de seu conhecimento.
Sobre as escolhas linguísticas oficiais pós-independência na África, Appiah (2018)
ressalta a dificuldade na institucionalização educacional de línguas nas quais não há manuais e
livros didáticos escritos, como é o caso, na América Central, do crioulo haitiano. O autor
também pontua, na decisão de prevalência da língua colonial, uma estratégia de manutenção do
prestígio das elites coloniais. No caso do Haiti, a escola era, em princípio, destinada a uma
pequena parcela da população. Não havia o interesse, então, de que o crioulo fosse uma língua
escolar. A língua francesa no Haiti foi escolhida por uma elite como recurso simbólico de
diferenciação (MARQUES, 2012). Vale lembrar que, ainda hoje, apenas 10% das escolas
haitianas são públicas, em um país em que 80% da população vive com menos de um dólar por
dia (MARQUES, 2012).
Nesses diferentes contextos, na Bulgária, na Venezuela e no Haiti, a despeito de suas
especificidades, é possível afirmar que as alunas participantes desta pesquisa tenham tido
experiências de aprendizagem de língua permeadas por culturas de língua padrão. A partir do
que trazem em suas falas, sobre suas experiências de aprendizagem de língua, são notáveis os
132
efeitos da ideologia da padronização de que trata Miloy (2011), em torno da correção e da
vontade de conhecer a língua “legítima” em português para participarem do novo lugar que
escolheram para viver.
As implicações do engajamento a esses conceitos se dão tanto na produção quanto nas
instâncias de disseminação do conhecimento tido como de mais valor, como a escola. As
consequências se refletem no currículo, que reproduz esses conhecimentos inventados como
simbolicamente mais valiosos (BOURDIEU; PASSERON, 2013), conferindo maior valor às
línguas majoritárias e não aos repertórios individuais dos sujeitos aprendentes. A reprodução e
legitimação pela escola de certos saberes e não de outros também tem implicações para a
subjetividade e para as identidades daqueles grupos que são inscritos “do lado de lá” das
narrativas de tradição (SIGNORINI, 2012; GARCEZ, SCHULZ, 2016; LUCENA, 2020).
Nesse sentido, como sugere Signorini (2006, p. 186) interessa, para o ponto de vista
investigativo do campo aplicado, conduzido nesta pesquisa, abordar:
[...] a língua [como] inextricavelmente enraizada na vida social, nas dinâmicas
de acessibilidade/disponibilidade de padrões sociais e históricos mais gerais,
tais como dispositivos institucionais, protocolos comunicativos, gêneros
discursivos, modelos textuais etc [...] a língua mantida sob controle social,
marcada por bordas e fronteiras, por desigualdades significativas de
repertórios e de possibilidades de acesso, mas também por agenciamentos,
desterritorializações, torções, contaminações e mixagens de todo tipo
(SIGNORINI, 2016, p. 183).
É o que vemos no relato dessas mães que se deslocam de um país para outro, ao
demonstrarem a ambivalência com que atribuem significado para o pertencimento ao grupo, no
novo contexto – principalmente a partir da experiência linguística das filhas, que produzem
sentido utilizando uma mistura de línguas não valorizada pelas mães. Na experiência dessas
mães que emigraram para o Brasil, uma série de questões emerge, tanto em relação aos valores
de línguas e identidades no mercado globalizado que tudo objetifica (SIGNORINI, 2017),
quanto em relação à regulação/construção de um sentido de pertencimento de si e sua prole a
um grupo, em contexto de hospitalidade seletiva.
Para uma reflexão sobre as posições sociais dos sujeitos que concorrem para a
atribuição de legitimidade aos seus usos linguísticos em um dado contexto sócio-histórico
específico, dedico a próxima seção. A partir de dados gerados em campo, são problematizadas
questões concernentes à leitura racial de sujeitos na sociedade brasileira. Trata-se de questões
que influenciam e seguem a influenciar políticas migratórias locais, e que, intersectadas com a
133
leitura de outros marcadores sociais, como as posições de imigrante e de mulher, podem
reforçar estereótipos que regulam o acesso de sujeitos a recursos como empregos, reproduzindo
desigualdades historicamente construídas.
3.6 RAÇA COMO UM SIGNIFICANTE FLUTUANTE
Neste trabalho, a discussão sobre raça se justifica por dois motivos: (1) para a
compreensão de questionamentos de duas participantes da pesquisa sobre os sentidos atribuídos
ao termo negro no contexto sócio-histórico brasileiro e (2) para subsidiar a discussão sobre a
atribuição de legitimidade a sujeitos lidos como pertencentes a certos grupos raciais, em
intersecção com outros marcadores sociais como gênero e nacionalidade.
Nogueira e Maior (2020) observaram, em uma pesquisa com alunos do sétimo ano
fundamental, sobre a constituição identitária negra em uma escola de Maceió, Alagoas, que
alguns alunos se autodenominavam com termos que sugeriam uma tonalidade cromática menor
que a negra. Os autores compreenderam o fenômeno como uma forma de marcar o não
pertencimento ao grupo negro, assumindo identidades de pardo/a ou moreno/a. Nogueira e
Maior (2020) denominaram o procedimento como “branqueamento discursivo”, em referência
à estratégia do branqueamento, que preconizava a mestiçagem como uma possibilidade de
embranquecer a população brasileira (MUNANGA, 2019).
Sales Júnior (2006) pontua que a ideia de uma democracia racial brasileira se manifesta
por meio de um pacto de silêncio entre dominados e dominadores: o não-dito racista. Nesse
acordo implícito, aquele que tematiza o racismo, é, ele próprio, considerado racista, por ousar
ferir a convenção de que as relações raciais se dão harmonicamente. Além do silenciamento,
Sales Júnior (2006) aponta a estigmatização como outra expressão relevante do pacto. Expressa
na linguagem pela reificação do corpo negro, em que, por sinédoque, a parte é tomada pelo
todo. A cor da pele é tomada pelo sujeito negro e este é reduzido a um corpo que, essencializado,
é referenciado como se o atributo cromático lhe conferisse qualidades inerentes. O autor aponta
os pressupostos dessas relações raciais amplamente difundidos na linguagem por meio de
piadas e expressões em que o alvo do chiste é referido em posições desumanizadas, contra as
quais não tem como se defender, uma vez que ataca o princípio mesmo de produção dessa
expressividade: trata-se de uma piada. No entanto, trata-se de uma das formas que indiciam a
lógica de produção de relações desiguais:
134
O não dito é uma técnica de dizer alguma coisa sem, contudo, aceitar a
responsabilidade de tê-la dito, resultando daí a utilização pelo discurso racista
de uma diversidade de recursos tais como implícitos, denegações, discursos
oblíquos, figuras de linguagem, trocadilhos, chistes, frases feitas, provérbios,
piadas e injúria racial, configurando a não intencionalidade da discriminação
racial (SALES JÚNIOR, 2006, p. 257-258, ênfase no original).
O discurso racista se propagaria, assim, de modo velado e justificado no seio das
relações raciais brasileiras. Esse silenciamento, ou não-dito, é caracterizado, também, segundo
o autor, por relações de cordialidade em que a subalternidade dos sujeitos negros é pressuposta
e mascarada por supostas relações afetivas. Essa suposta afetividade aparece, por exemplo, nas
expressões “é de casa”, “é quase da família”, fazendo referência a funcionários cuja
subalternização dos serviços é justificada pela proximidade familiar teatralizada. A cordialidade
estratégica da democracia racial tem no não-dito racista uma saída para escamotear as tensões
raciais e manter a relação de dependência e desigualdade racial. Em relatos de alunas do curso
de português, há um interesse pela apreensão da lógica de funcionamento discursiva e das
relações que a embasam no território brasileiro.
Duas das participantes desta pesquisa, Marlene e Rosario testemunharam correções
que envolviam procedimentos discursivos de invisibilização e de “branqueamento discursivo”.
A Marlene, foi sugerido que o termo negro não fosse utilizado. Já Rosario foi orientada a
substituir o termo por outro que soasse menos ofensivo (foi-lhe proposto usar marrom fofinho
em vez de negro). Considerando o estranhamento das correções sugeridas às alunas, para as
quais o uso do termo negro não se tratava de uma ofensa, importa refletir sobre as cadeias de
conotação que a linguagem de raça ativa, a depender do contexto sócio-histórico em que é
mobilizada.
Segundo Almeida (2018, p. 19), “a noção de raça como referência a distintas
categorias de seres humanos é um fenômeno da modernidade que remonta aos meados do século
XVI”, tendo marcado presença como discurso religioso, depois antropológico e, finalmente,
sociológico (HALL, 1995, p. 6). É somente no século XIX que a noção de raça ganha contornos
deterministas, a partir das aplicações do darwinismo ao campo social (SCHWARCZ, 2012).
Nas palavras da pesquisadora:
Foi só no século XIX que os teóricos do darwinismo racial fizeram dos
atributos externos e fenotípicos elementos essenciais, definidores de
moralidades e do devir dos povos. Vinculados e legitimados pela biologia, a
grande ciência desse século, os modelos darwinistas sociais construíram-se
em instrumentos eficazes para julgar povos e culturas a partir de critérios
135
deterministas e, mais uma vez, o Brasil surgia representado como um grande
exemplo – desta feita, um ‘laboratório racial’. Se o conceito de raça data do
século XVI, as teorias deterministas raciais são ainda mais jovens: surgem em
meados do século XVIII. Além disso, antes de estar vinculado à biologia o
termo compreendia a ideia de ‘grupos ou categorias de pessoas conectadas por
uma origem comum’, não indicando uma reflexão de ordem mais natural
(SCHWARCZ, 2012, p. 20).
Segundo Schwarcz (1994, p. 147-148, ênfase no original), a concepção de sujeito
como “resultado de seu grupo racio-cultural” foi reinserida na Europa do início do século XIX,
“enquanto um princípio de hierarquização em sociedades igualitárias”. A autora destaca o
emprego das pretensas diferenças raciais como pseudoargumento legitimador da desigualdade:
“o dogma racial pode ser de certa forma entendido como um estranho fruto, uma perversão do
Iluminismo humanitarista, que buscava naturalizar a desigualdade em sociedades só
formalmente igualitárias” (SCHWARCZ, 1994, p. 148).
Hall (2003) observa que, na imaginação de uma comunidade, como a concebe
Anderson (2008 [1983]), “um sujeito soberano é sempre imaginado”. Na fantasia iluminista, as
identidades nacionais continuam a ser apresentadas como unificadas (HALL, 2003). Essa
observação importa a esta pesquisa porque, no plano geopolítico de fronteiras cindidas por
regiões, em que a nacionalidade agregaria esse sentido de comunalidade, raça ganha um
substituto cultural – construído discursivamente na forma de um ethos, termo que faz referência
às “características culturais – língua, religião, costume, tradições, sentimento de ‘lugar’, que
são partilhadas por um povo” (HALL, 2006, p. 62). Segundo Hall (2006, p. 63), “essa
substituição [da categoria raça por definições culturais] permite que a raça desempenhe um
papel importante nos discursos sobre nação e identidade nacional”, refletindo-se no modo como
se configuram as relações entre o “nós” e os “outros” dentro de espaços imaginados como
nacionais. Nesse quadro relacional, novos desafios para a constituição identitária são colocados
no encontro com novos fluxos migratórios.
Pensando o funcionamento do conceito de raça enquanto uma categoria discursiva no
contexto diaspórico, Hall (2006, p. 63) entende que a ideia de raça funciona como organizadora
“daqueles sistemas de representação e práticas sociais (discursos) que utilizam um conjunto
frouxo, frequentemente inespecífico, de diferenças em termos de características físicas e
corporais, etc – como marcas simbólicas – a fim de diferenciar um grupo de outro (HALL,
2006, p. 63, ênfase no original). Segundo o autor,
136
[q]uando essas diferenças foram organizadas dentro da linguagem, dentro do
discurso, dentro dos sistemas de sentido, é que podemos dizer que as
diferenças adquiriram sentido e se tornaram fatores da cultura humana e da
regulação de condutas – essa é a natureza do que estou chamando de conceito
discursivo de raça (HALL, 1995, p. 5).
As marcas simbólicas, também denominadas pelo autor de índices visíveis , seriam o
modus operandi da leitura racial, que atua a partir de um quadro de pressupostos que permite a
leitura de um sujeito como integrante de tal ou qual grupo racial (HALL, 1995), ainda que,
como observa o autor, a variação genética no interior dos grupos imaginados como pertencentes
a um determinado grupo racial, é igual, senão maior do que entre grupos presumidamente
distintos (HALL, 2003). O autor ressalta que a organização dessas diferenças é realizada dentro
da linguagem, do discurso, dos sistemas de sentido, ou seja, trata-se de diferenças sócio-
-historicamente situadas e negociadas em cada contexto, tornando-se reguladores de condutas.
Assim, os termos utilizados para caracterizar diferentes grupos raciais não são homogêneos,
nem absolutos.
Para Hall (2003), é preciso considerar que raça é um significante flutuante, por não
possuir um sentido fixo e permitir significações distintas em diferentes contextos sócio-
históricos. O autor cita como exemplo as novas identidades que emergiram na década de 70 ao
redor do significante black no contexto britânico. Essas identidades, atribuídas tanto aos
asiáticos quanto aos africanos, não diziam respeito às comunalidades entre os grupos, mas à
alteridade, servindo para percebê-los como outros, como não-brancos (HALL, 2006). Outro
exemplo que o autor traz para pensar as identidades raciais como sendo relacionais é a
ressignificação do termo negro na Jamaica, com o movimento rastafari, o reggae e Bob Marley.
Toda uma cadeia de conotações negativas, ainda associadas ao período colonial, foi modificada
pela valorização e resgate de elementos africanos, utilizados para compor uma narrativa
identitária em que o termo negro passa a ser considerado como positivo, um índice de
celebração e orgulho. Desse modo, o termo negro funciona “como linguagens que se situam de
formas distintas em diferentes contextos” (HALL, 2003, p. 187).
Considerando o conceito de ideologia como subjacente à enunciação, Hall (2003)
observa a continuidade histórica da ideologia racial:
o ‘pós-colonial’ não sinaliza uma simples sucessão cronológica do tipo
antes/depois. O movimento que vai da colonização aos tempos pós-coloniais
não implica que os problemas do colonialismo foram resolvidos ou sucedidos
por uma época livre de conflitos. Ao contrário, o pós-colonial marca a
passagem de uma configuração ou conjuntura histórica de poder para outra.
137
Problemas de dependência, subdesenvolvimento e marginalização, típicos do
‘alto’ período colonial, persistem no pós-colonial. Contudo, essas relações
são resumidas em uma nova configuração (HALL, 2003, p. 56, ênfase minha).
Partindo do pressuposto de que não há uma supressão estrutural imediata para a
gestação de um quadro de relações inteiramente novo, é possível depreender que as ideologias
que embasam o sistema colonial persistem no pós-colonial:
No passado, eram articuladas como relações desiguais de poder e exploração
entre as sociedades colonizadoras e as colonizadas. Atualmente, essas relações
são deslocadas e reencenadas como lutas entre forças sociais nativas, como
contradições internas e fontes de desestabilização no interior da sociedade
descolonizada, ou entre ela e o sistema global como um todo” (HALL, 2003,
p. 56, ênfase no original).
O que haveria de novo seriam suas vestes. A modificação dos sistemas de produção
não seria por si só capaz de fazer cessar as ideologias que o conformam. Uma vez que a teoria
racial tem destinado a base da pirâmide societal para as populações lidas como negras, importa
perceber quem o termo negro identifica no mundo quando o termo é acionado na linguagem à
luz das relações sociais e econômicas que se estabeleceram/se estabelecem no período que se
quer interpretar.
No período colonial, o termo negro passou a referir-se às populações africanas e
afrodescendentes e conjugava um modo de trabalho e de vida “dependente” e “para o outro”.
A transição do modo de produção escravagista para o trabalho livre no Brasil, ao ter-se se
prolongado por 300 anos, constituiu-se o mais longo sistema de exploração de africanos no
mundo por meio da escravidão. Se a recursividade dos atos é o que forja a noção de cultura
(HALL, 2006), parece sem razão pensar que, passados apenas pouco mais de 100 anos, as
relações sociais e, com elas, os discursos que as fundamentaram tenham se extinguido de todo.
Como observa Schwarcz (2012, p. 37) “a escravidão, em primeiro lugar, legitimou a
inferioridade, que de social tornava-se natural, e, enquanto durou, inibiu qualquer discussão
sobre cidadania”. Afinal, não foi por efeito de uma iluminação e humanização dos
colonizadores brutalizados que a escravatura findou no Brasil, mas por intensa pressão externa
(SCHWARCZ, 2012).
Deste modo, se entendemos raça como um conceito político e econômico que estrutura
as sociedades contemporâneas atravessando todas as suas instituições (ALMEIDA, 2018), é
cabível pensar que o discurso sobre raça se encontra no mesmo eixo de produção dessa
138
configuração social, modificando-se como sistema de significação apenas no tempo, na história
e, como evidencia a suspensão de sentidos providenciados pela experiência diaspórica, também
na geografia (HALL, 2003).
No Brasil atual, os sentidos atribuíveis ao termo negro são ambivalentes. Por um lado,
testemunhamos um uso para atribuição identitária e pertinência a um grupo, ato individual, que
reivindica uma cadeia de conotações positivas para o termo, símbolo de luta e resistência. Por
outro lado, persistem significados negativos associados ao termo que partem tanto do outro,
como dos próprios sujeitos que, assimilados, buscam branquear-se para conquistar lugares
sociais de privilégio (MUNANGA, 2019).
Na Linguística Aplicada brasileira, Nascimento (2019) advoga por uma perspectiva
linguística que compreenda raça como um componente enunciativo:
O sistema perverso de colonialidade, que produziu no Ocidente séculos de
escravidão negreira e dizimação dos povos originários de cada lugar onde se
colonizava, não se deu fora, mas dentro dos sistemas linguísticos. A
capacidade da língua permite ao sujeito muito mais que representar o mundo
[...] se trata também de agir sobre o mundo através dos seus falares
(NASCIMENTO, 2019, p. 44-45, ênfase minha).
Nascimento (2019, p. 11) chama a atenção para a necessidade de problematizar essa
“raça que nos dizem” e essa linguagem que nos racializa, uma vez que a problemática racial é
uma problemática branca, de um grupo que se inventou como neutro a classificar o mundo
como conjuntos de “vários outros”. Nascimento (2019, p. 107) salienta ainda que “a negação
da raça é um produto que passa, variável e invariavelmente, pela língua, quando o negro é
obrigado a se negar, ao menos, discursivamente”.
Melo e Moita Lopes (2015, p. 55) compreendem raça “como uma construção sócio-
-histórica, discursiva e performativa”. Os autores salientam que:
Se considerarmos, por exemplo, a escravidão, veremos que os corpos negros
eram construídos como inferiores aos corpos não negros; já na chamada
democracia racial, a construção discursiva se constituía de atos de fala
performativos de igualdade entre os atores sociais de todas as raças.
Embasados em Foucault (2010), ao tratar dos anormais, podemos dizer que
aquele que menciona o racismo seria considerado o anormal, visto que nos
Discursos sobre a democracia racial, permeiam valores do senso comum de
que o ator social que aborda a questão é compreendido como racista,
problemático ou e/ou portador de alguma condição patológica psicológica.
Por outro lado, na atualidade, tendo em vista os movimentos sociais, negras/os
são também perpassados por Discursos de negritude ou atos de fala
139
performativos de valorização de corpos ébanos (MELO; MOITA LOPES,
2015, p. 57).
Os autores chamam a atenção para a mudança sócio-histórica nos valores atribuídos
aos sujeitos lidos como negros nos discursos raciais no Brasil. Ora permeados por sentidos
pejorativos e negativos, como nos discursos relacionados à escravização, ora relacionados a
sentidos positivos, como nos movimentos sociais afirmativos, também podem ser
invisibilizados, como no discurso da democracia racial do país. No entanto, a despeito da
valorização dos corpos ébanos, Melo e Moita Lopes (2015) pontuam que,
apesar da trajetória de diversos textos sobre a questão racial ao longo dos
séculos, ainda hoje nos deparamos com a precipitação em Discursos locais de
sedimentações sobre, por exemplo, ser negra e morena, em que o primeiro é
construído como ruim [...] a materialidade negra que constitui essas mulheres
seria apagada ou embranquecida para que elas sejam aceitas. Nesse sentido,
tais atos, mascarados de elogios encobertam um racismo e/ou as identificam a
valores que as tornam aceitáveis para uma parte da sociedade (MELO;
MOITA LOPES, 2015, p. 74).
Os autores também apontam para a persistência de discursos raciais que preconizam
procedimentos discursivos de invisibilização e de branqueamento discursivo (NOGUEIRA;
MAIOR, 2020). Melo e Moita Lopes (2015) chamam a atenção para a importância de visibilizar
e compreender “elogios/ofensas que escondem ou escamoteiam preconceitos e racismo” como
processos abertos à ressignificação (MELO; MOITA LOPES, 2015, p. 74). Melo (2015) pontua
a importância de discutir e considerar questões raciais no contexto de ensino de línguas, bem
como de formar professores preparados para lidar com essas questões, considerando discursos
que podem ferir e gerar exclusões.
Melo e Moita Lopes (2015) apontam para a relevância de estudar a questão racial
considerando gênero, sexualidade, classe social etc. Para fazer essa articulação, neste trabalho,
utilizo o conceito de interseccionalidade, a partir de autoras do feminismo negro, atendo-me ao
conceito de imagens de controle.
Collins (2019, p. 460) denomina “imagens de controle” os estereótipos produzidos em
uma matriz de dominação, por ela definida como “a organização geral das relações hierárquicas
de poder em dada sociedade”. Em suas palavras, trata-se de “um arranjo particular de sistemas
interseccionais de opressão, por exemplo, raça, classe social, gênero, sexualidade, situação
migratória, etnia e idade e uma organização particular de seus domínios de poder, por exemplo,
estrutural, disciplinar, hegemônico e interpessoal (COLLINS, 2019, p. 460).
140
A teoria social crítica de Collins (2019) parte do ponto de vista autodefinido de
mulheres negras estadunidenses de todas as classes, intelectuais que produzem conhecimento
como outsiders internas da produção científica dominante. A autora não se limita a nomear os
instrumentos dos quais se vale o pensamento hegemônico para a manutenção das relações
sociais resumidas em uma dada configuração. Ela nomeia também as formas de resistência
desenvolvidas no seio dos grupos de mulheres negras estadunidenses.
As imagens de controle têm servido ao grupo dominante como um instrumento de
coerção a encerrar sujeitos/grupos em posições subalternas na estrutura social a partir do
imaginário sobre esses sujeitos, que se vale dos pressupostos da subjugação colonial como
premissa. No contexto estadunidense, a autora revela:
As imagens de controle surgidas na era da escravidão e ainda hoje aplicadas
às mulheres negras atestam a dimensão ideológica da opressão das
estadunidenses negras. (...) Na cultura estadunidense, as ideologias racista e
sexista permeiam a estrutura social a tal ponto que se tornam hegemônicas, ou
seja, são vistas como naturais, normais, inevitáveis. Nesse contexto, certas
qualidades supostamente relacionadas às mulheres negras são usadas para
justificar a opressão. Desde as mammies, as jezebéis, e as procriadoras do
tempo da escravidão até as sorridentes tias Jemimas das embalagens de massa
para panqueca, passando pelas onipresentes prostitutas negras e pelas mães
que dependem das políticas de assistência social para sobreviver, sempre
presentes na cultura popular contemporânea, os estereótipos negativos
aplicados às afro-americanas têm sido fundamentais para sua opressão.
Tomada em conjunto, a rede supostamente homogênea de economia, política
e ideologia funciona como um sistema altamente eficaz de controle social
destinado a manter as mulheres afro-americanas em um lugar designado e
subordinado. Esse sistema mais amplo de opressão suprime as ideias das
intelectuais negras e protege os interesses e as visões de mundo da elite
masculina branca (COLLINS, 2019, p. 35, ênfase minha).
As imagens de controle que a autora traz à baila para tratar da experiência de mulheres
negras afro-americanas guardam um laço histórico com as produzidas no período colonial. A
autora menciona, como exemplos, as figuras da mulher negra como oposto da mulher universal,
inventada a partir de um ideal branco. A mulher branca seria o sexo frágil, sensível, casta; a
mulher negra seria forte, que tudo aguenta, depravada. Algumas das imagens de controle que
ela enumera são as de dama negra, jezebel, mãe escrava, mammy, prostituta, aberração, animal,
hoochie, matriarca, mula, Tia Jemima, mãe negra superforte e outras (COLLINS, 2019) que se
atualizam como eco colonial.
Ao dar um nome a esse complexo processo de produção de estereótipos e seus efeitos
no imaginário social, Collins (2019) também aborda o modo como as “imagens de controle”
141
são contestadas no interior dos grupos. Por se tratar de definições externas sobre o grupo
subalternizado, produzidas pelo grupo dominante, a autodefinição seria um modo de refutar
essas imagens a partir do “ponto de vista” (standpoint) do próprio grupo. A contestação é uma
chave crítica necessária, e é precisamente a fluidez dos marcadores que permite a modificação
do seu sentido no curso do tempo. Ao analisar os “saberes de resistência” produzidos pelas
mulheres negras estadunidenses como forma de sobrevivência à opressão enquanto grupo pela
análise interseccional que compõe a matriz de opressão naquele país, Collins (2019) abre a
possibilidade de pensar formas de resistência e solidariedade entre outros grupos em outras
configurações sociais e em outras regiões do mundo.
É importante dar visibilidade a imagens de controle que tentam encerrar certos sujeitos
a espaços de subalternidade e indiferença quanto aos direitos humanos; elas precisam ser
discutidas e contestadas. Claitaine teve seus direitos trabalhistas negligenciados em um
contexto que naturaliza a subalternidade e o desrespeito aos direitos trabalhistas de mulheres
negras, limitando o seu acesso à ascensão social (CARNEIRO, 2019). No caso de Claitaine,
por exemplo, apesar de ter sido lesada por um indivíduo, ele agiu dentro de um sistema de
valores que vê os direitos de mulheres negras imigrantes como “naturalmente” menos
relevantes.
É possível uma aproximação epistemológica entre o pensamento de Collins e Hall, que
compartilham a leitura de Gramsci, autor que aponta para outros elementos além da classe
social, como a regionalidade e a nacionalidade, para interpretar a experiência social. Essa
abertura analítica permite considerar raça em relação interseccional com outros marcadores das
experiências humanas na relação com os grupos dominantes. Hall (2003) vê essa fenda na obra
de Gramsci como possibilidade para pensarmos no racismo e no sexismo como ideologias
presentes na diferenciação social. Collins (2019) interpreta esses marcadores como sistemas de
opressão que devem ser analisados e contestados considerando os efeitos de intersecções
mútuas. O conceito de “imagens de controle” de Collins (2019), por sua vez, mostra-se
produtivo para pensarmos na ideia de raça ou no termo “negro” enquanto significantes
flutuantes (HALL, 1995; 2003).
O conceito de interseccionalidade, que permite a reflexão sobre imagens de controle,
foi cunhado no âmbito do direito por Crenshaw (1989) e diz respeito à conjunção de matrizes
de opressão que atuam em conjunto, como classe-raça-gênero. O construto teórico da
interseccionalidade no campo do Direito permite compreender injustiças que não se enquadram
nem somente no âmbito do gênero, nem somente no âmbito racial, mas em posições em que as
142
duas opressões são mutuamente marcadas. A interseccionalidade como crítica social do
feminismo negro está centrada nas experiências de mulheres negras de todas as classes sociais
e nacionalidades, cujos pontos de vista e problemas diferem-se das perspectivas e questões das
mulheres brancas, bem como do feminismo hegemônico (COLLINS, 2019).
Apesar de o conceito ter-se popularizado com as produções de Crenshaw, o construto
teórico é anterior à sua tese. Como colocam Akotirene (2018), Ribeiro (2018; 2019), Collins
(2019), hooks (2019) e outras, o conceito de interseccionalidade remete originariamente a uma
fala de Sojouner Truth intitulada “Não sou eu uma mulher?”, proferida em 1851, em que a
escrava liberta profere o seguinte discurso:
Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa
carruagem, é preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas
devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir
numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar! E não
sou uma mulher? Olhem para mim! Olhem para meu braço! Eu capinei, eu
plantei juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar! E
não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem
– quando tinha o que comer – e também aguentei as chicotadas! E não sou
mulher? Pari cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos.
Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E
não sou uma mulher? (DAVIS, 2018)
Com esse questionamento, Truth abre a possibilidade de questionarmos a posição
universal da categoria “mulher” no feminismo hegemônico, ao colocar em contraste os
pressupostos atribuídos à mulher branca de classe média, que não são válidos para mulheres de
outras posições sociais ou com outras experiências. Esse contraste é fundamental na crítica
feminista negra, uma vez que revela que as lutas das mulheres são variadas e que ganham força
e visibilidade quando são circunscritas a posições marcadas não apenas pelo gênero, mas por
questões de classe, de raça, de sexualidade, etc. (DAVIS, 2016; hooks, 2018; COLLINS, 2019;
RIBEIRO, 2018; 2019; CARNEIRO, 2019; GONZÁLEZ, 1988).
No Brasil, os trabalhos de González (1984) e de Carneiro (2019 [1985]) sobre a
interseccionalidade raça-classe-gênero evidenciam o quanto espaços são socialmente
construídos como naturais para mulheres negras. Baseando-se em dados de acesso e
distribuição de renda, Carneiro (2019 [1985]) traça um histórico na sociedade brasileira,
mostrando que a mulher negra tem ocupado o lugar mais baixo na pirâmide social deste país:
A forte presença das mulheres negras na prestação de serviços ratifica que, tal
como no passado pós-abolicionista, essa continua sendo, para as mulheres
143
negras, a principal modalidade de atividades econômicas a que têm acesso,
apesar de estarmos próximas dos cem anos de Abolição da Escravatura e, no
entanto, nem a ‘tradição’ nem o ‘know-how’ que, historicamente, vimos
acumulando em tais funções são suficientes para que ao menos nessas
ocupações as mulheres negras percebam rendimentos semelhantes aos das
mulheres brancas (CARNEIRO, 2019 [1985], p. 36, ênfase no original).
González (1984), além de problematizar questões relacionadas à assimilação do
colonizador no pensamento e atitudes do negro brasileiro, estabelece uma análise que reconhece
as imagens de controle que encerram a mulher negra em papéis bastante específicos no
imaginário discursivo brasileiro, algumas das quais parecem equivalentes às que problematiza
Collins (2019) sobre as afro-americanas. A mulher hiperssexualizada ou a “jezebel” afro-
americana (COLLINS, 2019) corresponderia, aqui no Brasil, à mulata, termo pejorativo que
tem origem na palavra “mula”. A imagem de controle central para pensarmos a mulher negra
haitiana em sua busca por legitimação enquanto falante de português é a imagem de controle
da mulher forte que tudo aguenta, que por tudo passa e que leva o mundo nas costas, uma
espécie de extensão do imaginário colonial da mulher escravizada, que se ocupa dos serviços
gerais, da cozinha e de outros postos precarizados.
Ribeiro (2018) também problematiza discursos identitários brasileiros que se
constroem em torno da mulher negra e do carnaval, questionando os lugares sociais que se
espera que ocupem essas mulheres na sociedade. Como índices de um discurso sedimentado
nas relações sociais, Melo e Ferreira (2017) apresentam a ideia da mulher negra
hiperssexualizada como uma imagem presente na história brasileira desde a escravidão.
Romano e Pizzinato (2019) ressaltam, em pesquisa documental sobre trabalhos
acadêmicos realizados entre 2007 e 2017, que estudos sobre imigrantes mulheres em diferentes
países têm demonstrado que, de modo geral, as mulheres provenientes do Sul Global “estão
sujeitas a trabalhos comumente associados a mulheres: babá, empregada doméstica, costureira,
etc” (ROMANO; PIZZINATO, 2019, p. 205). Segundo os autores, um olhar intereseccional
seria importante para abarcar os “processos de diferenciação e subjetivação” (p. 211) que faltam
nos trabalhos pesquisados de 2007 a 2017.
Na intersecção com outras forças de opressão no esquema raça, classe, gênero, Collins
(2019) aponta como a nacionalidade pode figurar como um deles. A maternidade, do mesmo
modo, também pode figurar como um marcador importante ao estarem no centro as
experiências idealizadas sobre ser mãe. Em uma perspectiva universal, são produzidas imagens
de controle que reforçam uma idealização em torno da experiência de mulheres brancas
heterossexuais e privilegiadas economicamente (COLLINS, 2019).
144
Collins (2019) discute o quanto a maternidade do ponto de vista das mulheres negras
afro-americanas desafia os pressupostos capitalistas que enxergam o filho como uma extensão
da propriedade privada. Segundo a autora, ao enfatizar o papel das redes de criação de crianças
centradas em mulheres,
[o] ideal tradicional de família delega às mães plena responsabilidade pelas
crianças, avaliando seu desempenho conforme sua capacidade de obter os
benefícios de uma família nuclear. No modelo capitalista de mercado, as
mulheres que ‘conquistam’ maridos de papel passado, que vivem em lares
unificados e são capazes de pagar escola particular e aulas de música para os
filhos são consideradas melhores mães que aquelas que não atingem esse
ideal. As afro-americanas que dão continuidade ao cuidado comunitário das
crianças colocam em xeque um pressuposto fundamental do sistema
capitalista: o de que as crianças são ‘propriedade privada’ e podem ser tratadas
como tal. [...] Quando enxergam a comunidade como responsável pela criança
e atribuem a mães de criação e pessoas de fora do ambiente familiar o ‘direito’
de educar a criança, as afro-americanas que endossam esses valores
questionam as relações de propriedade prevalecentes no capitalismo.
(COLLINS, 2019, p. 304-305, ênfase no original)
Na perspectiva afro-centrada, em que o trabalho das mulheres não era circunscrito à
casa e os filhos as acompanhavam no serviço, o produto do trabalho da mulher era levado à
toda a família (COLLINS, 2019). Com o deslocamento forçado e violento de mulheres para a
escravização de seus corpos e dos seus familiares, o lugar das mães negras nas relações de
produção colonial, como sustentáculos de um modo de vida alheio, as apartou de seus filhos,
de suas casas e de seus maridos (COLLINS, 2019).
Para uma consideração da maternidade no contexto desta pesquisa, é preciso estranhar
pressupostos ocidentais e capitalistas que têm naturalizado as relações no seio familiar. Sobre
as diferenças na concepção familiar entre Europa, Estados Unidos e África, Oyewumi (2000),
salienta, por exemplo, que em grande parte da teoria feminista branca, a sociedade é
representada como uma grande família nuclear, composta por um casal e seus/suas filhos/filhas.
Não há lugar para outros adultos. Para as mulheres, nesta configuração, a identidade social da
mulher enquanto esposa é uma definição; outros relacionamentos seriam, na melhor das
hipóteses, secundários. A extensão do universo feminista é, em sua perspectiva, a família
nuclear. Trata-se de uma imagem de controle (COLLINS, 2019) de maternidade que utiliza
como padrão experiências de mulheres anglófonas e norte-americanas brancas,
desconsiderando as redes familiares estendidas que ocorrem, por exemplo, no caso de
mulheres-mães-imigrantes provenientes do Haiti. A partir de diferentes pontos de vista e
145
lugares sociais, as participantes da pesquisa revelam como a maternidade é vivida de maneira
singular em suas vidas.
No que tange ao ensino de línguas, o comprometimento com uma prática de liberdade
na sala de aula multicultural (hooks, 2017) antirracista envolve atenção à elaboração de
materiais didáticos que não reproduzam imagens de controle (COLLINS, 2019). Além disso,
faz-se necessário o preparo de professores para a abordagem de temas importantes da realidade
social em que vivem. Segundo Ferreira,
[...] ensinar língua inglesa (ou outra língua estrangeira e ou adicional) [é]
colocar as questões que estão pulsando na sociedade como centrais para o
ensino de língua inglesa, [...] aprender e ensinar língua inglesa [é] ouvir as
necessidades dos alunos e, a partir daí, discutir educação linguística crítica
(FERREIRA, 2012, p. 41).
A pesquisadora tem produzido relevante material em torno do tema racial, em
perspectiva crítica e interseccional a conjugar os marcadores raça, gênero, etnia, classe e outros.
No caso específico da formação de professores para o ensino de PLAc, importa problematizar,
na acepção de acolhimento como hospitalidade, que determinadas imagens de controle podem
dificultar a conquista de legitimidade nos usos linguísticos de sujeitos, para além dos obstáculos
da língua, comumente mencionados como principal elemento de dificuldade nos
deslocamentos. Com essas ressalvas, importa deslocar o olhar de generalizações e enfocar a
especificidade de experiências maternas diaspóricas que são, como mostram as alunas
participantes da pesquisa, singulares, delineadas a partir de suas urgências e possibilidades de
esperar ou não para fazer valer suas buscas no novo local.
Tendo apresentado o construto teórico, passo a apresentar, no próximo capítulo, como
a busca por legitimidade de falantes de português se dá, como as fronteiras se colocam nessa
busca, e como, e em que situações, as participantes conseguem “dar certo em português”.
146
4 “COMO DAR CERTO” EM PORTUGUÊS?
Neste capítulo de análises, evidencio as necessidades e os projetos pautados pelas
participantes da pesquisa. Interpreto e discuto como a linguagem está implicada em suas buscas
por legitimidade enquanto falantes de português (SIGNORINI, 2006). Enfoco os significados
que as alunas atribuem ao seu repertório linguístico cultural, evidenciando como o processo de
tradução envolve negociar sentidos, contestar significados, discutir ideologias, identificar
valores comumente associados a formas linguísticas. Todas essas questões contribuem para o
processo de constituição de identidades híbridas (HALL, 2006) e são perpassadas por imagens
de controle (COLLINS, 2019) presentes no imaginário social dos seus interlocutores
(BAKHTIN, 2010).
Com o intuito de evidenciar suas buscas e contribuir para reflexões sobre
“acolhimento” no ensino de língua portuguesa no âmbito da LA, saliento quais significados as
participantes da pesquisa atribuem aos usos linguísticos que almejam e que requerem em suas
práticas sociais cotidianas, bem como as tensões que surgem no processo de aprendizagem.
Esses significados e questões devem ser considerados e enfocados na sala de aula.
4.1 “VAI DEMORAR MUITO... EU NÃO POSSO FICAR SEM TRABALHO”:
PRÁTICAS DE LINGUAGEM DE ENFRENTAMENTO FRENTE ÀS
URGÊNCIAS COTIDIANAS
Nesta seção, apresento duas questões que configuram os projetos das alunas e, por
conseguinte, suas necessidades de aprendizagem linguística de modos distintos: a busca por
legitimidade na reivindicação de seus direitos frente às fronteiras impostas em suas práticas
cotidianas e a relação com o tempo na forma de pressa, espera e dificuldade de divisão,
relacionadas à maternidade, ao trabalho, ao estudo e à rede de apoio em Florianópolis.
Na subseção 4.1.1, discuto os obstáculos para a igualdade mínima de condições entre
os falantes (SIGNORINI, 2006), na forma de imagens de controle (COLLINS, 2019) de
imigrantes como ameaçadores à estabilidade econômica do país (CAVALCANTI, 2019;
COGO; SILVA, 2017), a partir de situações que trazem Claitaine e Marlene. Argumento que
essas imagens de controle se interpõem à atribuição de legitimidade às alunas. Em suas
enunciações, solicitam o desenvolvimento de recursos linguísticos de enfrentamento para
situações cotidianas.
147
Na subseção 4.1.2, enfoco o tempo como outra questão relevante a configurar as
práticas das alunas. Frequentemente citando o tempo como uma constrição em suas buscas, ao
relatarem esforços para dividir o tempo em suas diásporas maternas, a pressa para aprender
português a fim de alcançar outros espaços sociais e a possibilidade ou exigência da espera,
essas mulheres permitem-nos perceber o quanto essa distribuição de atividades no tempo a elas
disponível pressupõe e requer configurações singulares para a aprendizagem que almejam e
necessitam na língua(gem).
4.1.1 “Infelizmente, não podemos fazer nada!”: traços de uma hospitalidade
seletiva
Nesta subseção, enfoco situações vivenciadas por Marlene e Claitiane, cujo intuito
discursivo (BAKHTIN, 1997) é o mesmo: a reivindicação de direitos. A partir de relatos que
me trazem, discuto a sensação de “afasia” das alunas, apontando a importância do
desenvolvimento de recursos linguístico-discursivos de enfrentamento em esferas de circulação
institucionais. Em busca por legitimidade em seus usos situados no novo cenário (SIGNORINI,
2006), no contexto do curso de língua portuguesa, Marlene apresenta uma solução criativa e
contestatória do que interpreto como imagens de controle (COLLINS, 2019) sobre a presença
de imigrantes nesses diferentes espaços, indiciados, dentre outras questões, pelos seus usos
linguísticos: precisam aprender a “brigar em português”.
No excerto abaixo, as aspas não correspondem às palavras literais de Marlene,
considerando que esse é um trecho de diário, apresentado aqui em forma de vinheta. A primeira
das enunciações (BAKHTIN, 1997) que trago é de um relato de Marlene, realizado no dia
29/09/2018 e registrado posteriormente, por mim, em diário de campo:
Marlene contou uma história sobre ter que ir reclamar em uma loja sobre o
defeito de um produto. Ela disse que, ao conversar com o vendedor, entendia
tudo o que a pessoa dizia, mas que quando tentava falar, não saía nada. Como
resposta, a pessoa [vendedor] dizia: “Infelizmente, não podemos fazer nada”.
Marlene disse ter ficado muito frustrada por não saber brigar em português,
ainda que tenha ficado feliz em perceber que conseguia entender tudo o que
ele [o vendedor] dizia (Trecho do diário de campo elaborado no dia
29/09/2018).
Ao enunciar o relato em sala de aula, Marlene encenou a interação, interpretando a si
própria como emudecida em tentativas abortadas de reivindicar o reparo de seu produto. Como
respostas às suas tentativas de dizer algo, imitava o personagem do vendedor, utilizando um
148
tom de voz monótono para articular o enunciado “Infelizmente, não podemos fazer nada”,
repetido várias vezes pela aluna e seguido de gestos de balbucio que ela própria fazia como
resposta ao enunciado limitante.
O enunciado do vendedor “Infelizmente, não podemos fazer nada” não pode ser
interpretado unicamente como fruto de uma intenção individual (BAKHTIN, 1997). Bakhtin
chama atenção para um gama de gêneros discursivos que apresentam formas “tão padronizadas
que o querer-dizer [ou intuito discursivo] individual do locutor quase que só pode manifestar-se
na escolha do gênero, cuja expressividade de entonação não deixa de influir na escolha”
(BAKHTIN, 1997, p. 302, ênfase minha). Trata-se de formas estáveis de enunciados
(BAKHTIN, 1997). Interpreto que “Infelizmente, não podemos fazer nada” pode ser
considerado como um tipo de enunciado de forma padronizada e estável, típica de esferas de
circulação de discursos como o comércio varejista, em que o funcionário pode se valer de um
“nós” corporativo para barrar uma reivindicação. Nesse enunciado, de tipo fixo, responde à
solicitação de Marlene mostrando-se impossibilitado de levar a cabo a ação reivindicada – no
caso, a troca de um dado produto. Ao enunciar, a partir desse “nós” corporativo, o vendedor
posiciona uma fronteira discursiva para Marlene, um ponto final no diálogo. O enunciado
“Infelizmente, não podemos fazer nada” é dirigido à Marlene como uma espécie de escudo
discursivo, usado com o intuito de conter o diálogo reivindicatório.
Marlene se viu “afásica” (SIGNORINI, 2006) frente ao vendedor, por não atender aos
“usos da língua considerados legítimos” naquele contexto em específico (SIGNORINI, 2006,
p. 177). A aluna respondeu ao enunciado do vendedor posteriormente, ao levar o caso em forma
de queixa à sala de aula, quando disse que precisa aprender a “brigar em português” (Trecho
do diário de campo elaborado no dia 29/09/2018). A resposta da aluna toma o caráter de um
diagnóstico preciso das suas necessidades de aprendizagem linguístico-discursivas. Ela se vê
sem o domínio do repertório de gêneros dessa esfera discursiva, na qual brigar pelo atendimento
à reivindicação seria a forma de manifestar seu intuito discursivo.
Com seu diagnóstico, Marlene chama atenção para o caráter nem sempre colaborativo
e pacífico da interlocução, pontuando a necessidade de dominar gêneros discursivos para o
enfrentamento em uma esfera de circulação de enunciados – o comércio varejista – em que nem
sempre a voz da consumidora será levada em consideração. A aluna demanda recursos
linguísticos que a auxiliem a realizar seu intuito discursivo (BAKHTIN, 1997). O diagnóstico
da aluna conclui que, em um ambiente em que seus direitos de cidadã não são atendidos, é
preciso reivindicá-los de modo mais enfático. Marlene sugere alternativas para um trabalho
149
singularizado com a língua(gem) em sala de aula, a partir de suas próprias buscas e entraves na
comunicação em Florianópolis, pontuando intenções comunicativas específicas a partir das
quais pode ser pensado o trabalho com língua(gem) na sala de aula.
O seu caso é semelhante ao de Claitaine, que também encontrou dificuldades para
realizar uma reivindicação em uma instituição em Florianópolis. Claitane entrou em contato
comigo informando que seu empregador não pagava seu salário havia dois meses e que ela
desejava denunciá-lo, reclamando o pagamento de seu salário na justiça. Claitaine já tinha ido
cobrar o patrão duas vezes. Ele prometia pagar-lhe, mas não o fazia. Ela, então, solicitou a
minha ajuda para saber como proceder à denúncia no Ministério do Trabalho. Lá nos
informamos sobre os horários de atendimento. No outro dia pela manhã, bem cedo, Claitaine
foi sozinha à instituição trabalhista. Dias depois, perguntei se ela havia conseguido fazer a
denúncia, conforme mostro na mensagem de aplicativo, reproduzida abaixo:
Figura 3 – Mensagem de WhatsApp
Fonte: Arquivo pessoal
[ÁUDIO] Claitaine: Oi, professora. Não, ele me falou ele não pôs fazer nada
pra mim. Só na sindicá eu possa ir pra ver se ele pôs consegui alguma coisa.
(Claitaine, em mensagem de áudio por WhatsApp do dia 19/03/2019)
Assim como no caso de Marlene, Claitaine relata necessidades de aprendizagem de
gêneros cujos intuitos discursivos também envolvem a reivindicação de direitos. No caso de
Claitaine, direitos trabalhistas. Ao ver-se desrespeitada juridicamente, pede auxílio à professora
150
de português. Em sua solicitação, está implícito que compreende a necessidade de mobilizar
recursos linguísticos específicos para realizar o intuito discursivo (reivindicação) em uma esfera
discursiva específica (justiça institucional), a qual deseja dominar, ainda que não o coloque
nesses termos. É preciso dizer que as necessidades comunicativas dessas alunas estão em tal
grau vinculadas às urgências de suas vidas que suas buscas pela aprendizagem de recursos
linguísticos não se circunscrevem nem se limitam ao espaço-tempo da aula de português.
A importância de dominar essas habilidades linguístico-discursivas, para Claitaine, era
tamanha que a aluna me procurou em março, antes do início do segundo semestre do curso de
português, pois precisava de recursos linguísticos que lhe permitissem materializar seu intuito
discursivo de forma urgente. Era preciso reivindicar o investimento de seu tempo e de sua mão
de obra no trabalho realizado, motivo principal de seu deslocamento ao Brasil. Seu dinheiro,
além de fonte de subsistência para si, deveria ser destinado às remessas que seriam enviadas a
seus filhos e a seu pai no Haiti.
Como pontuam São Bernardo e Barbosa (2018), as necessidades dos aprendizes de
PLAc nem sempre estão de acordo com seus desejos, pois se trata de urgências de
aprendizagem, configurando um ensino em que o domínio de gêneros discursivos em uma
esfera de atividades específica pode fazer uma diferença substancial nas condições básicas de
vida dessas mulheres. Não é uma novidade que usos linguísticos específicos fazem diferença
nas vidas de pessoas. No caso desta pesquisa, importa apontar quais são essas necessidades.
Considerando, com Bakhtin (1997; 2010), o caráter social do enunciado, importa
lembramos que a enunciação se articula no espaço entre dois interagentes, personificados
enquanto auditórios sociais, atravessados por ideologias sustentadas por grupos específicos
(BAKHTIN, 2010). A palavra no seio de uma interação torna-se um signo ideológico por ser
capaz de conferir intenções e valorações a certos grupos sociais, a partir um horizonte de ideias
socialmente sedimentadas sobre eles (BAKHTIN, 2010). Essas ideias podem variar conforme
uma variedade de fatores, como a hierarquia, o gênero, a classe social e – da forma como
compreendo as cenas de Marlene e Claitaine – a nacionalidade do interlocutor, indiciada pela
língua(gem) e pela cor da pele.
Se é certo que “toda enunciação é socialmente dirigida” (BAKHTIN, 2010, p. 118), e
que a materialização da palavra em signo se dá a partir de um horizonte apreciativo de um grupo
social com o qual o interlocutor guarda afinidades, ou seja, um “nós” ideológico, cabe perguntar
que horizontes possíveis de significado impediriam à Marlene-consumidora, uma senhora
latino-americana branca, ter a reivindicação de seu produto defeituoso acolhida pelo atendente
151
como fala legítima. Do mesmo modo, importa discutirmos que, no horizonte apreciativo de
certos grupos, a exploração da força de trabalho de mulheres negras e a consequente
subalternização de seus postos de trabalho foi de tal modo naturalizada, que seus direitos
trabalhistas são frequentemente violados. No caso protagonizado por Claitaine, imagens de
controle de mulheres negras naturalizadas em postos precarizados de trabalho no Brasil
(CARNEIRO, 2018) intensificam a sua força de opressão quando interseccionadas à sua
posição de migrante, considerando que imigrantes de países como o Haiti têm sido, na última
década, seguidamente vozeados como ameaças ao mercado de trabalho, no contexto de uma
crise econômica nacional (CAVALCANTI, 2019). No caso de Claitaine, os marcadores de raça,
gênero, classe e nacionalidade interseccionados podem configurar uma posição social em que
é preciso desenvolver com muita rapidez habilidades de enfrentamento na língua portuguesa.
Interpreto que, nas duas cenas de reivindicação, a falta de acolhimento está associada
a imagens de controle de imigrantes que alimentam o horizonte de apreciação dessas mulheres
como sujeitos não pertencentes à cena local. Marlene e Claitaine podem ter sido lidas como
haules, não pertencentes à partilha dos autorizados à fala, aos direitos dos “porta-vozes”
(SIGNORINI, 2006) e, por isso, talvez, não tenham sido consideradas como cidadãs.
É preciso lembrar que Marlene e Claitaine chegaram ao Brasil, em 2018, um ano
eleitoral no país. Vivia-se uma polarização no debate político brasileiro. A aceleração do fluxo
de pessoas pelo mundo causava tensões no planejamento encerrado em fronteiras nacionais.
Notícias de barcos de imigrantes que afundavam e de artistas plásticos que retratam essas cenas
com esculturas de pessoas no fundo do mar, a representar e homenagear as que não
completaram a travessia, denunciam a recusa de determinados países em receber certos
contingentes populacionais que se deslocavam por distintos motivos. Zonas de xenofobia eram
acionadas na América Latina, em resposta à crise da Venezuela, e sujeitos passavam a ser lidos
e silenciados, a partir de sua nacionalidade. Suas atitudes eram e continuam sendo julgadas
como atitudes de todo o grupo nacional ao qual pertencem.
Não se trata aí de uma questão identitária, mas de como os discursos, organizados de
um dado modo, assumem o papel de significados cristalizados no intervalo de um dado tempo
histórico (BAKHTIN, 2010). A ideia de haver uma inextricabilidade na associação
língua-território-cultura-nação, disseminada no senso comum, marca, ao mesmo tempo, zonas
de pertencimento e zonas de não-pertencimento. Trata-se de perceber o quanto imagens de
controle encerram certos corpos em zonas de subalternidade (COLLINS, 2019), conferindo
status de “afasia” e ilegitimidade linguística (SIGNORINI, 2006) em usos reivindicatórios de
152
direitos, como nos casos das alunas acima, nos papéis de consumidora e trabalhadora,
respectivamente.
O processo metonímico de aplicar a apreciação sobre o status de um sujeito à sua fala
levaria da deslegitimação do sujeito à deslegitimação de sua fala (MILROY, 2011;
SIGNORINI, 2006). Tomo esse procedimento como ponto de partida das enunciações em
análise, em que o status atribuído ao imigrante e refugiado pode estar sendo estendido à
apreciação da sua fala como ilegítima na ordem sociocultural e linguística vigente.
Considerando imagens de controle de imigrantes como invasores, fugitivos (COGO;
SILVA, 2017) e ameaçadores (CAVALCANTI, 2019), interpreto o enunciado “Infelizmente,
eu não posso fazer nada”, junto à paráfrase de Claitaine sobre a nulidade de sua ação no
Ministério Público – “ele não pôs fazer nada pla mim” – como respostas estruturais de parte da
própria sociedade brasileira. Tais respostas estão em consonância com um projeto discursivo
de exclusão que confere o caráter de ilegitimidade aos usos linguísticos a certos grupos de
sujeitos deslocados de seus locais de origem, como metonímia da ilegitimidade conferida aos
próprios sujeitos, emudecendo-os (SIGNORINI, 2006), privando-os de um certo espaço de
cidadania.
Importa salientar que o relato de Marlene não se tratou de um caso isolado em
experiências da aluna fora do seu país. Em outro momento, Marlene compartilhou um relato de
sua experiência no Equador, local da sua primeira migração, para onde a aluna deslocou-se
antes de vir para o Brasil. No Equador, a imagem de venezuelanos era de tal forma negativa,
que Marlene se via compelida a adotar uma camuflagem sob a capa de uma nacionalidade bem
quista aquele espaço, de modo a não sofrer violências. Essa “diferença”, indiciada pela
linguagem oral/verbal, também está relacionada a imagens de controle de venezuelanas e
venezuelanos como invasores no Equador, materializadas em ataques xenófobos e em políticas
de suspensão de fronteira que dificultam a sua entrada no país31.
Compreendo que Marlene e Claitaine tiveram suas falas tomadas como ilegítimas, ao
terem suas posições sociais de falantes interseccionadas por diferentes marcadores associados
a imagens de controle: 1. de imigrantes como invasores, como no caso de Marlene; 2. de
mulheres negras como sujeitos indignos de respeito quanto aos direitos trabalhistas. Como
discute Signorini (2006, p. 177), “diferentes graus de invisibilidade e afasia são conferidos a
31 Cf. JIMENEZ, C.; MURILO, A.; CASTRO, M. Êxodo da Venezuela e Nicarágua provoca surtos xenófobos na
região: a pressão migratória em países em delicado equilíbrio está dando origem a uma situação muito complexa
do ponto de vista da segurança. El País, 20 ago. 2018. Disponível em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/19/internacional/1534701044_585193.html. Acesso em: 29/04/2021.
153
grupos socioculturalmente desprestigiados em contextos institucionais significativos”. É
precisamente o caso que vemos com Claitaine e Marlene.
A partir de conhecimentos desenvolvidos em sua experiência o Equador, a aluna, em
sua perspicácia política, utiliza recursos criativos e específicos em cada um dos países. No
Equador, ela ativa o amálgama língua-cultura-território, que atua em sua autoidentificação
como não-venezuelana, para passar a ser benquista socialmente enquanto colombiana. No
Brasil, Marlene compreende que necessita do domínio de gêneros discursivos em que possa
valer-se de seus intuitos discursivos de enfrentamento na língua majoritária local, conhecimento
que busca no curso de língua portuguesa.
As saídas criativas que a aluna relata, em soluções diferentes para cada contexto,
respondem a diferentes imagens de controle que inventam certos corpos como indesejáveis, a
partir de diferentes marcadores em conjunção com o de pertencimento nacional. No entanto, é
preciso refletir sobre a nacionalidade, não como uma identidade, muito menos como identidade
fixa, mas como um sentido construído socialmente que privilegiou alguns grupos em detrimento
de outros e que, como toda invenção, trata-se de material também contestável (COLLINS,
2019).
Ora, se é a partir de ideias sedimentadas sobre os diferentes grupos que os
subdividimos em nosso imaginário social (BAKHTIN, 2010), é preciso levar em consideração
quais grupos são consideramos legítimos e quais não o são da partilha nacional de bens
simbólicos socialmente prestigiados (SIGNORINI, 2006). Nessa especulação, a classe social,
a raça, a nacionalidade e a língua aparecem interseccionados em imagens de controle de sujeitos
imigrantes como não pertencentes a essa partilha. Essas imagens de controle podem operar
como produtores de ilegitimidade de sujeitos e de suas enunciações, se as ideias sedimentadas
sobre esses grupos quanto ao não pertencimento à partilha da língua e dos direitos estiver no
horizonte apreciativo de um sujeito, como um vendedor ou um empresário em Florianópolis,
ou um cidadão no Equador.
Nesta subseção, apresentei traços de uma ordem sociocultural e linguística excludente
de certos sujeitos da partilha pela legitimidade enunciativa (SIGNORINI, 2006). Discuti essa
atribuição como um reflexo da ilegitimidade atribuída aos sujeitos imigrantes a partir de
imagens de controle sobre seu lugar social (COLLINS, 2019). A partir de necessidades
apresentadas pelas próprias alunas, os intuitos discursivos de enfrentamento, ressaltei a
importância de considerarmos a sugestão de Marlene para o trabalho em português na
154
perspectiva do acolhimento, considerando o ambiente discursivo nem sempre aberto às suas
reivindicações e buscas.
Na próxima subseção, reuni enunciações das alunas que pontuavam outro importante
aspecto a ser considerado no acolhimento às necessidades linguístico-discursivas das alunas
imigrantes: o tempo. Referida no âmbito da espera, da carência (a falta de tempo) ou da
aceleração (a pressa ou urgência), a relação com o tempo tem frequente menção nas buscas das
alunas, configurando necessidades singulares de aprendizagem da língua(gem) no contexto de
suas vidas.
4.1.2 “Tengo pressa de estudiar el português, muita pressa!”: a relativização das
identidades e das necessidades frente à compressão do espaço-tempo
No contexto diaspórico de Marlene, Claitaine, Rosario e Neli, além das reivindicações
que precisam fazer, suas necessidades de aprendizagem são configuradas a partir de outra
característica relevante: a necessidade/dificuldade de “dividir [o] tempo” (Rosario em
transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
Hall (2006, p. 80-81) salienta que “as identidades culturais estão, em toda parte, sendo
relativizadas pelo impacto da compressão espaço-tempo”. Nos relatos dessas mulheres, em suas
articulações nas configurações desse novo tempo-espaço, essa divisão de tempo está
relacionada ao trabalho, aos estudos e à maternidade. Suas esperas e urgências no novo contexto
configuram os recursos linguístico-discursivos necessários para a realização das distintas
atividades que precisam ou que projetam realizar, evidenciando esferas de circulação de
gêneros discursivos específicos (BAKHTIN, 1997), que importam ser considerados na
perspectiva de acolhimento às suas especificidades de aprendizagem. Nesta análise, ressalto
que a intersecção de diferentes marcadores sociais (COLLINS, 2019) coloca algumas das
alunas em situações nas quais a necessidade se interpõe à possibilidade de projetar.
Como vimos na subseção anterior, Marlene solicita a aprendizagem de um recurso
linguístico-discursivo em sala de aula como resposta à negativa do funcionário do Ministério
do Trabalho. De modo diferente a Marlene, Claitaine interpõe a seu intuito reivindicatório o
que a ela era mais urgente: a busca por trabalho. Após tomar conhecimento de que, no
Ministério do Trabalho, Claitaine não poderia reclamar seu dinheiro, verifiquei junto ao
CRAI-SC como proceder. Lá, Ricardo me informou que, nesse caso específico, o Sindicato
para contato seria o de Bares e Restaurantes de Florianópolis e que, se ela precisasse, o
155
CRAI-SC poderia conseguir um advogado para a sua causa trabalhista. Agradeci e encaminhei
as notícias à Claitaine. Porém, ela havia desistido de fazer a denúncia:
Figura 4 – Mensagem de WhatsApp
Fonte: Arquivo pessoal
Figura 5 – Mensagem de WhatsApp
Fonte: Arquivo pessoal
[ÁUDIO] Claitaine: Oi, professora, ... Aí, eu deixou esse assunto. O rapaz que
me atendeu, ele me falou ... posso demorar seis meses, sete meses pra
conseguir dinheiro. Vai demorar muito, porque eu preciso minha carteira de
trabalho. Eu não posso ficar sem trabalho. Mas eu deixar o dinheiro pra ele se
ele não quer me pagar. Eu vou trazer a minha carteira pra que ele abaixe a
minha carteira... Vou deixar... Não tem problema... Eu vou... continuar,
arrumar um outro emprego. Eu vou ver se eu posso arrumar um outro emprego
e trazer minha carteira pra ele desassinar. Vai demorar muito essa
procedimento, vai demorar muito. Eu não posso ficar seis meses sem trabalho,
não posso. Eu preciso arrumar outro emprego. (Claitaine, em mensagem de
áudio por WhatsApp do dia 25/03/2019).
A urgência de Claitaine é tamanha que a aluna desiste de reivindicar seus direitos para,
segundo coloca, continuar sua busca, em suma, arrumar outro emprego. A necessidade de
conseguir um trabalho rapidamente (“eu preciso arrumar outro emprego”) é expressa por meio
da indicação do tempo em seu relato: em locuções verbais seguidas de advérbios de intensidade,
com numerais e a referência a meses que indicam o intervalo desse tempo: “vai demorar”,
“muito”, “seis meses”, “sete meses”. Demora a que ela se opõe, com sua pressa: “eu não posso
ficar seis meses sem trabalho, não posso”. Claitaine não pode esperar.
156
Outro elemento simbólico importante de seu enunciado é a figura divina que a auxilia
a dar significados a esses silenciamentos, aos obstáculos do caminho e à sua espera. Claitaine
encontra conforto em um Deus que, em seu entendimento, fará o papel da justiça: “vou deixar
Deus saber tudo”. No áudio, a voz de Claitaine é calma e pausada. A tranquilidade e a confiança
da aluna, ela atribui ao tempo da justiça divina: “vou deixar tudo com Deus”. Ao justificar o
encaminhamento dado ao seu intuito discursivo reivindicatório, compartilha comigo que esse
seu querer-dizer (BAKHTIN, 1997) teve seu lugar tomado pela sua urgência por trabalho.
A urgência de sua busca reconfigura as necessidades linguístico-discursivas da aluna
que, na mesma conversa, solicita auxílio para envio de seu currículo digitalizado por e-mail:
Figura 6 – Troca de mensagens por WhatsApp
Fonte: Arquivo pessoal
157
Figura 7 – Troca de mensagens por WhatsApp
Fonte: Arquivo pessoal
No entanto, Claitaine não conseguiu enviar o arquivo de seu currículo pelo celular,
evidenciando essa como uma necessidade de aprendizagem importante para a sua busca por
emprego. No papel professora de português, eu me vi na obrigação de acolher essa demanda,
indo ao encontro de Claitaine.
O currículo, gênero do discurso ligado à esfera do trabalho, foi um documento
mencionado em diferentes momentos do curso por Claitaine. Na primeira conversa que tivemos,
no primeiro dia do curso, a aluna me deu uma cópia de seu currículo impresso, relatando a
necessidade de trabalho e a distância dos filhos, que estavam no Haiti. O documento foi
novamente mencionado quando voltávamos do Ministério do Trabalho. Na ocasião, Claitaine
me perguntou sobre a necessidade de atualizar o seu currículo para a busca empregatícia. A
conversa ilustrada acima, diz respeito ao momento em que se vê, novamente, em busca de
trabalho. Para a condução de sua busca por trabalho, o gênero discursivo currículo revelou-se
importante. As frequentes menções de Claitaine e o interesse na esfera do trabalho por outras
mães participantes do curso influenciaram a elaboração do material didático no segundo
semestre (2019/2).
A busca por oportunidades de trabalho marca a presença de Claitaine no Brasil. A
denúncia e a busca por justiça são colocadas no âmbito da espera; a busca por trabalho, no
âmbito da urgência. A urgência e a espera têm significados diferentes para cada uma das alunas
do curso. Diferentemente de Claitaine, para a qual o trabalho é uma urgência, delineando suas
necessidades de aprendizagem, para Neli, o trabalho é almejado enquanto um facilitador da
158
aprendizagem da língua. Não se trata de uma necessidade de subsistência, nem configura o
motivo central de seu deslocamento, trata-se de um projeto:
Neli: eu tem muito vontade de trabalhar, de verdade, mas... na meu caso, não
é urgente, não é preciso para sobreviver. Eu tenho vontade porque estoy
cansada de ficar na casa. Antes, trabalhava muito. (Neli, em transcrição de
áudio do dia 15/06/2019)
Neli coloca seus planos em relação ao trabalho e aos estudos no âmbito de uma espera.
Em seu planejamento, também se configuram necessidades linguístico-discursivas em esferas
de atividades distintas:
Neli: Eu tem que ser mais... se comunicar mais. Já tem que achar um trabalho
para comunicar com pessoa. Meu comunicacione é bem fraca, de verdade
porque não tenho com quem... conversar. Umas coisas: “bom dia”, “tudo
bem”, “que fazer hoje”, bem simples, assim, sabe? (...) Tenho necessidade [de
conversar com as pessoas], só que esperando esses dois [as filhas] entram na
creche [...] eu vá buscar algum trabalho. Assim, vai ser mais efectivo [...] Meu
marido, quando volta, ele vai cuidar elas, para passear, e eu vai ter tiempo para
estudiar [...] Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com comunidade, pessoas
que trabalham na comunidade... Porque minhas vizinhas tá mais ou menos na
casa, não faz nada diferentes ou uma comida, essas coisas, pro seu filho,
muitas coisas para aprender [...] Eles está, como se diz, pescadores, homem
fala só para peixe, não tem muitos interesses diferentes, muitas conversas
diferentes [...] Aprender mais português para estudiar (Neli, em transcrição de
áudio do dia 10/11/2018)
Na espera pela volta do marido, pelo encaminhamento das filhas à creche, pelo
aprimoramento de seus recursos linguístico-discursivos para dar continuidade aos seus estudos,
as necessidades de aprendizagem da língua portuguesa estão dirigidas às esferas discursivas
laboral e universitária, que se opõem à esfera das conversas “bem simples” de seu cotidiano,
como coloca. Neli projeta uma aprendizagem de língua portuguesa que a permita ter “conversas
diferentes”. A aluna pode esperar pelo trabalho.
Na produção textual do dia 08/06/2019, em que foi proposta uma produção textual
escrita autobiográfica, ela menciona o projeto de retomar os estudos acadêmicos na área de
Filosofia ou Sociologia: “Eu tem muita vontage de estudar psihologia ou sociológica e depois
trabalhar e ajudar pesoas com dificuldades” (Neli em produção textual escrita do dia
08/06/2019). Portanto, esse “aprender mais português para estudiar” requer o conhecimento de
gêneros mais relacionados à esfera discursiva universitária. Esse projeto é apresentado em uma
produção textual do final do primeiro módulo, Falando sobre mim/Pale de mwen, já próximo
159
ao término do curso. A impossibilidade de voltar o curso a essa necessidade da aluna já nas
semanas finais de trabalho, sugere a importância de ter sido feito um levantamento de
necessidades das alunas, já no início do semestre do curso, em conversas individuais dirigidas
às suas buscas que delineassem os materiais de forma mais contundente. A irregularidade na
presença em contextos de ensino de português a imigrantes, pontuada por estudos como o de
Goulart (2015), de Andriguetti et al (2017) e de Ruano (2019), pode se mostrar um entrave a
tal planejamento. No entanto, no caso do curso de português para mães imigrantes, Claitane e
Neli foram as duas alunas únicas que participaram dos dois módulos do curso, podendo o ensino
ter sido configurado a partir de suas necessidades e buscas em comum, como foi o caso no que
tange a gêneros discursivos da esfera do trabalho.
No caso de Marlene, a aluna afirma ter “pressa” para estudar a língua portuguesa,
apresentando-se frustrada por não aprender com a rapidez com que gostaria. Compara-se a si
mesma: consegue fazer tantas coisas em espanhol, mas poucas em português. A frustração de
perceber-se aprendiz, frente à sua larga experiência como professora, revela-se no seguinte
enunciado:
Marlene: Pelo tempo que eu moro em Brasil deveria más facilidade y es que
hay que estoy como bloqueada [...] depois do posgrado, uma especialização
em Metodologia... y ahora, tengo pressa de estudiar el português [...] muita
pressa! [rindo] muita pressa de aprender el português. Eu falava com a minha
filha ‘eu sou capaz de realizar... de fazer uma tesis! eu sou capaz de fazer! y
esto! estudiar outra vez!’ (Marlene, em transcrição de áudio do dia
10/11/2018)
Em seu dia a dia, Marlene realiza ações que não se encerram no movimento único de
aprender a língua, que também envolvem o afeto e o compartilhamento de conhecimentos
culturais, ainda que sejam planejados pela aluna como um exercício de aprendizagem:
Eu me obrigo a falar com uma vecina meia hora al día [...] Eu antes no lo
hacia, entonces eu a veces no entendo nada, nada, nada. No entendo porque es
manezinha entonces “lalalalalalalalalalalalala”, entón ‘fala mais de espacio’
[...] devagar, ok, entón, eu lhe voy decir algo, entón voy a computadora, busco
el traductor y le llevo un papelito escrivo… Mira esta cosa [...] porque eu le
dicia em estos dias que estava cocinando no sei que era algo pelo de (*)... era
uma cosa, uma coisa, ela dizia outra y ela no entendia [...] sobre cozinhar, e
eu lhe dizia: ‘estou cozinhando tal cosa, tal coisa’ [...] y ela: “que es esto?” y
yo “ya vá”. Entonces fui, busqué la computadora, escribi, esto [risos] […]
(Marlene, em transcrição de áudio do dia 10/11/2018)
160
Assim como Claitaine, Marlene aponta o papel dos recursos digitais para a
aprendizagem: “voy a computadora, busco el traductor”. O tradutor virtual é utilizado de modo
efetivo, mobilizando os recursos a ela disponíveis para dar cabo ao seu intuito discursivo:
compartilhar uma receita com a vizinha, comunicando-se em português. Além dessa, outras
práticas são mencionadas como uma busca por um convívio mais intenso com a língua
portuguesa, em resposta autodidática à sua “pressa”, uma vez que lamenta estar circundada de
espanhol por todos os lados: “mi filha, y su marido, español, todos los amigos de ella, español”.
Nesse caso, a vizinha, mencionada de modo recorrente, tem um papel importante na
socialização de Marlene, como auxiliar na sua aprendizagem da língua(gem). Além de ser uma
orientadora pragmática, como veremos em seções posteriores, também lhe oportuniza o acesso
a recursos:
Marlene: Outra coisa he sido importante é: la vecina, cerca de casa nos
emprestó um tv, uma televisión, y eu escuto unos, eu veo... olho? [...] eu
assisto unos programas em la noite que son de... com formar palavras
correctas. Entón, gira la roda el participante, entonces, y voy eliminando
[risos] eu juego comigo mesma (Marlene, em transcrição de áudio do dia
10/11/2018).
O jogo, a conversa, a troca de receitas – uma série de empregos de gêneros do discurso
específicos é mencionada pela aluna como práticas nas quais se envolve para aprender a
língua(gem). Ao citá-las, também menciona práticas como a leitura de livros infantis que a faz
rememorar sua experiência de alfabetizadora:
Voy a começar a ler esos libros de prescolar que me encanta! [...] eu, en mi
aula, era cuentacuentos. Era assi: eu contaba el cuento, me lo aprendía,
contaba el libro y elaboraba una técnica antes de contar el libro. Ejemplo – le
estaba el título y le pedía a ellos a adivinar como se llamava a ello, acá, luego,
eu tomaba el libro e sin verlo, iba narrando lo que decía el cuento. Al terminar,
sacaba trinta y ocho estudiantes, trinta y oito libros, entonces, cada niño
manipulaba un libro, entonces, entón, el primero grado, depois el prescolar,
“el sol” entonces, dibujábamos el sol, o formábamos con plastilina el sol, ou
faziamos un juego con pelotitas. Por cada página, donde havia una narración,
un texto y una figura, se hacía una actividad. Se duraba una semana – una
semana con el cuento en aula, verdad? El único idioma que se secciona la
palabra es el español. En latinoamerica: “m”, “a”, “ma”, “m”, “a”, “ma”. Essa
forma é errada para mim! Por que? porque eu enseño la lengua al pequeniño
la letra “m” com la letra “a” sueña “ma”, la “m” com “a” suenã “ma”. El niño
aprende la sílaba “ma-ma”. Para mim, errado! por que? Porque el resto de los
idiomas me ensenãn la palabra completa! Por ejemplo: [Marlene lê o título de
um livro que estava em suas mãos] “tasilinha”, no tar-si-li-nha. Si eu enseño
a Simona, por ejemplo una palabra… por ejemplo esta: “lembra”, tiengo que
161
enseñar, la “l”, la “e”, la “m”, la “b”, la “a”, entonces, luego, yo tiengo
conmigo, “lem-bra” verdad¿ entón, quando eu divido “lem-bra”, tiengo más
tiempo para.. o sea, el pensamiento está na “ma” enquanto, yo enseño la
palabra concreto “lembra” […] el resto de las palabras chegan, por ejemplo, o
sea: “eu amo a mama”, entonces yo le enseño la palabra “yo”, “amo”, “mama”,
três palabras, y luego, él incorpora: “yo amo a mi mamá”, o sea, que el
pensamiento es global, pero si yo le enseño la “m” con “a”, la “m” con la “a”,
lea completo! […] Entonces, enseñando completo las palabras llegan!
(Marlene, em transcrição de áudio do dia 10/11/2018)
No relato acima, Marlene compartilha a importância de valorizar o significado no
trabalho com a linguagem na alfabetização, dando prioridade ao todo e não às partes da palavra,
justificando essa prática com a afirmação “el pensamiento es global”. Marlene nos demonstra
que a densidade de seus conhecimentos serve, tanto para se regozijar pela memória das
experiências vividas enquanto alfabetizadora, quanto para se valer deles para aprender o
português com urgência e autodisciplina. Na sequência do relato sobre como alfabetizava seus
alunos, Marlene menciona ter sido pioneira ao propor o uso do método global para sua escola,
“eu fui precursora en los veinte estados de toda la Venezuela hace muitos anos de esa forma,
de ese método de ensinar [o método global]” (Marlene, em transcrição de áudio do dia
10/11/2018).
Em seu relato, Marlene desafia propostas assimilacionistas de ensino de língua na
perspectiva do acolhimento que preveem a aprendizagem da língua como uma mera inserção
na cultura “de acolhimento”, deixando de levar em conta a bagagem do aprendiz (BIZON;
CAMARGO, 2018; ANUNCIAÇÃO, 2018). Em seu percurso autodidático, resgata sua
identidade de professora para ensinar a si própria, evidenciando como a aprendizagem envolve
processos de suspensão e ancoragem na constituição identitária (HALL, 2006), em que
conhecimentos diversos são mobilizados para fazer valer ações em que a língua(gem) tem uma
centralidade. Como diria Hall (2006, p. 89), trata-se de um hibridismo, no sentido de “aprender
a habitar, no mínimo, em duas identidades, a falar duas linguagens culturais, a traduzir e
negociar entre elas”.
Nessa tradução diaspórica (HALL, 2006), certos significados são apontados como
elementos importantes a serem mantidos em sua bagagem, como o potencial da literatura
infantil e a receita da comida que faz questão de compartilhar com a vizinha, que, associados à
manutenção de um método de alfabetização utilizado em experiências profissionais prévias,
possibilita dar à conversa diária significados tais que não se encerram unicamente enquanto
atividades sociais, mas são interpretadas por Marlene como pretextos para a aprendizagem.
Marlene nos mostra criativamente como o uso da linguagem, que está impregnada do social,
162
sendo relativa a esferas específicas da atividade humana (BAKHTIN, 1997; 2010), pode ser
utilizada em atividades corriqueiras para a aprendizagem, como a troca de receitas mediada por
um tradutor digital durante a feitura de uma comida. Mostra-nos, ainda, que a consideração
dessas distintas práticas em que se envolvem as aprendizes, bem como os significados que têm
para elas, podem contribuir para um melhor direcionamento do ensino em respeito às bagagens
individuais dos sujeitos aprendentes que necessitam, avidamente, aprender essa língua.
Além de Claitaine, Neli e Marlene, Rosario também compartilha o quanto o tempo
afeta sua vida de modo a configurar possibilidades e necessidades específicas de aprendizagem
da língua(gem). Rosario, que trabalha com comunicação, destaca o quanto a maternidade está
associada às suas possibilidades de desenvolver projetos como o estudo autodidático da língua
portuguesa:
Rosario: Quando cheguei, comence a estudar por mi conta, mas quando você
tem filhos, suele muito complicado é... compartillar o dividir tempo para
nossas cosas com criança (Rosario, em transcrição de áudio do dia
20/10/2018).
Com o marido trabalhando no Peru e a filha estudando meio-período em uma creche
em Florianópolis, Rosario vê-se sem uma rede de apoio estável. Como ela relata abaixo, sente
dificuldades para conciliar os estudos em casa, valorizando a estrutura do curso:
Rosario: Como aqui tenho oportunidade de trazer ela, de ficar com ela aqui,
es muito mais fácil (*) a facilidade de poder trazer ela é muito más, é um
atrativo. Acho uma facilidade para todas cosas que nós temos que fazer
(Rosario, em transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
Assim como Rosario, Neli, com o marido trabalhando na Argentina e sem rede de
apoio, também encontra dificuldades para realizar seus projetos:
Neli: Tudo muda quando tem filho, quando não tem outra pessoa, como mãe,
pai, avó, muda tudo. Criança fica 24 horas com você [...] Já é um pouco difícil
porque eu sento fazer exercício e Simona ‘mãe! Eu quero isso’. Sofia, do outro
lado, faz algumas coisas, baguncia, sube, desce, cai, é um pouco difícil. (Neli,
em transcrição de áudio do dia 10/11/2018)
Neli: [...] meus sonhos para trabalhar e estudiar, dar um pouco de atención
para mi [...] Alguém que pode te ajudar pra você aproveitar esse tempo, si, é
mais fácil, mas quando não tem ninguém, 24 horas é difícil. Cansa. (Neli, em
transcrição de áudio do dia 08/06/2019)
163
Ambas as alunas, pontuando as dificuldades para estudar em casa, apontam a
importância de terem um lugar propício, em que possam se concentrar para aprender a língua
portuguesa ou realizar outras atividades – “fazer as suas coisas”, como coloca Rosario;
“trabalhar e estudiar”, nas palavras de Neli. Rosario menciona a dificuldade de “dividir o
tempo” e Neli cita o cansaço da “criança 24 horas com você”. A ambivalência entre a presença
dos filhos e a realização de projetos e sonhos, como coloca Neli, também ocorre na experiência
de quem tem filhos, mas não os tem perto de si. No caso de Claitaine, a distância dos filhos
permite a ela dedicar-se ao trabalho para dar a eles as condições de estudo que ela não tem, por
conta da falta de tempo:
Claitaine: Porque meu país não tem trabalho. Tem, mas por quem que estudou,
terminar estudo (...) É difícil lá conseguir trabalho (...) Eu vem pro meu filho
pra eu conseguir um emprego, mandar dinheiro pro meu filho, pra escola (...)
Eu quer que meu filho estuda, termina a escola, vai pra universidad, université,
fazer tudo o que eu não fez, eu não tem tempo pra fazer. (Claitaine, em
entrevista do dia 21/01/2021).
Claitaine entende que “Só quando filho crescer, a gente tem mais tempo pra nós
[enquanto mães]”. Em uma aula em que discutíamos sobre as mudanças na vida pessoal para a
mulher que tem filhos, a aluna afirma sobre a sua condição: “Eu tenho mais tempo pra mim, ele
tá lá, mas ele tá longe” (Claitaine em transcrição de áudio do dia 08/06/2019), contrapondo,
com uma conjunção adversativa, a relação ambígua que estabelece entre ter tempo para si, mas,
para isso, ter que estar distante dos filhos.
O tempo, para cada uma das alunas, a partir de posições sociais distintas, configura
necessidades e buscas de aprendizagem da língua(gem), por cercear as atividades em que se
envolvem. Os gêneros discursivos que necessitam aprender as alunas para as quais o trabalho é
uma urgência são distintos daqueles necessários às mais circunscritas ao ambiente doméstico,
que vislumbram a possibilidade de estudar no futuro. Os gêneros do discurso pelos quais as
alunas demonstram interesse também é um fator importante a ser considerado na definição do
currículo do curso. No caso de Marlene, a aluna menciona livros infantis, nos quais vê um
potencial para a aprendizagem. Neli também menciona os livros infantis, que fazem parte de
sua rotina semanal de atividades junto à filha:
Neli: Na creche de Simona, cada sexta feira ela leva uma livro pra casa para
ler com mamãe (*)
164
Eu: Que legal.
Neli: Sim.
Eu: Ah, é bem bom assim. Daí, você também lê (*) pra ela. (Conversa com
Neli, em transcrição de áudio do dia 13/04/2019).
A presença das filhas na escola configura o acesso ao livro infantil, um suporte que é
mencionado em um momento de afeto com as filhas, na tônica de uma compensação pelas
dificuldades na divisão do tempo para si e para as filhas:
Eu: Sim, é bem difícil, né, Neli? [sobre 24h com criança]
Neli: Você se acostuma! Esse tempo passa rápido! Ela nasce ontem, já fez
quatro! Um pouco mais, vai fazer 18.
Eu: Você é muito tranquila, Neli! Eu sempre penso em você quando acho que
as coisas estão difíceis.
Neli: Não, tem muitos [momentos] difíceis. Momento na casa, se uma briga,
outra assim, e depois, só. Antes de dormir, elas me abraçam: ‘mãe, te amo’, lê
uns livro (*) (Conversa com Neli, em transcrição de áudio do dia 08/06/2019)
Em outro momento, assim como Marlene fala sobre a importância da televisão, Neli
faz menção a essa tecnologia, referindo-se à importância de ouvir a língua portuguesa, uma vez
que considera que sua aprendizagem é maior quando em contato com gêneros orais:
Neli: Quando chegamos aqui com meu marido, parecia que não precisamos
televisão... Algumas coisas que posso escutar português más, um tipo de
novela, novela tipo, como se chama, Game of Thrones, você sabe? [...] seriado,
si, uma coisa assim, só una coisa, como ‘Cassandra’, que tiene muitos
episódios, todo mundo jovem. [...] outras coisas que tá bom pra escutar. Tem
que escutar mais português [...] eu sou mais fácil quando escuta. Eu adoro
olhar. Cada toda noite eu leio dois, três, quatro livros só no Google no meu
telefone (Neli, em transcrição de áudio do dia 20/10/2018)
Na mesma conversa, Rosario evidencia diferentes habilidades de aprendizagem.
diferentemente de Neli, Rosario prefere os gêneros escritos:
Rosario: eu gosto de ler. Eu queria ler o livro porque é mais complexo. Eu
gosto dessas coisas medievales de guerra, histórias antigas. Gosto muito de
Game of Thrones. Quando cheguei aqui, encontre uma livraria que vende
livros usados. Entón, eu peguei uma série em português,. Entonce, empezé a
ler e a leitura melhorou muito meu português escrito, porque, já eu, sou muito
165
visual. Quando eu já olho várias vezes uma palavra, eu lembro, e já sei como
escrivi. Então, foi muito legal, porque tem outro sentido. O português é outra
visão da história, então foi muito legal (Rosario, em transcrição de áudio do
dia 20/10/2018).
As alunas evidenciam diferentes habilidades de aprendizagem e revelam a importância
de gêneros audiovisuais, como os seriados, como auxiliares para a aprendizagem da
língua(gem). Rosario menciona que a leitura a auxilia a escrever melhor, enquanto Neli afirma
que precisa ouvir mais a língua. Ela revela utilizar o próprio telefone móvel como recurso para
leitura. Assim como a televisão e o computador, o telefone celular aparece nos relatos das
quatro alunas em distintos momentos e com usos diversos, apontando a importância de serem
valorizados enquanto elementos que dão suporte à aprendizagem, principalmente, frente à
urgência de suas necessidades de aprendizagem na língua, como aponta Rosario: “he me
auxiliado muito com Google, pesquisava no mercado, pesquisava os nomes e pegava o que era
o que não era” (Rosario, em transcrição de áudio do dia 20/10/2018). O telefone móvel, a
televisão e o computador evidenciam-se como auxiliares em suas buscas por trabalho através
do e-mail, como o faz Claitaine, como leitura prazerosa na leitura noturna de Neli, como
tradutores em mercados ou na interação com outras pessoas, como indicam Rosario e Marlene,
revelando-se importantes ferramentas auxiliares da aprendizagem da língua portuguesa.
No momento em que vivemos, de aceleração dos processos comunicativos
(GIDDENS, 1991), faz-se importante considerarmos o acesso das aprendizes a recursos
tecnológicos variados, como auxiliares ao ensino. Todas as alunas apresentam-nos usos
distintos e criativos. Claitaine solicita a aprendizagem de uma ação que a ela pode ser muito
importante, considerando sua urgência por trabalho: o envio de um arquivo digital do seu
currículo por e-mail. A dificuldade da aluna chama a atenção para um trabalho pedagógico que
envolva o ensino de recursos digitais.
Enfocamos, nesta segunda subseção, a importância de levarmos em conta, além das
esferas discursivas de reivindicação, as condições provenientes das dificuldades de divisão do
tempo. Suas esperas e urgências configuram as vidas das participantes desta pesquisa, por
conseguinte, suas necessidades e projetos de uso da linguagem. Para um planejamento de cursos
destinados a acolherem mulheres-mães-imigrantes, revela-se importante considerar aspectos
aqui levantados, tais como: a disponibilidade e o acesso a tecnologias (televisão, aparelho
celular, internet), interesses e hábitos de leitura, concepções de aprendizagem e disponibilidade
de tempo para desenvolver atividades.
166
Em suas urgências e divisões de tempo, são apresentadas distintas esferas de circulação
de discursos em que se envolvem e em que projetam se envolver. Nesse processo, suas
identidades sociais e linguísticas vão se construindo e se modificando em um processo de
tradução e tradição (HALL, 2006).
167
5 AS FRONTEIRAS DE SIGNIFICADO ENTRE A TRADIÇÃO E A
TRADUÇÃO
Conhecer os efeitos da língua(gem) e usá-la conscientemente envolve estranhar
costumes, significados e pressupostos culturais. Esse estranhamento faz parte do que Hall
(2003) denomina como processo de tradução cultural na diáspora em que os sistemas de
significado do novo contexto são contestados, não havendo mera assimilação de costumes e
valores.
Vimos como os traços do amálgama língua-território-cultura-nação estão presentes no
imaginário social produzindo zonas de ilegitimidade enunciativa (SIGNORINI, 2006),
considerando que imagens de controle (COLLINS, 2019) de imigrantes estão ativas no
auditório enunciativo local como traços de uma ordem sociolinguística (SIGNORINI, 2006)
que silencia, constrange e exclui, como demonstraram as alunas em seus diálogos com
moradores locais. Suas intenções reivindicatórias foram pontuadas como respostas a essas
imagens de controle, configurando necessidades de aprendizagem específicas. Enquanto espera
ou urgência vinculada ao trabalho, à maternidade e aos estudos, o modo como se organizam na
“divisão do tempo” configura necessidades específicas de aprendizagem da língua(gem).
Enfoco, nesta subseção, questionamentos de Marlene e Rosario sobre as construções
sociais dos significados do termo “negro” e aponto a importância de acolher os estranhamentos
e os processos de tradução das alunas, que tornam a sala de aula um locus privilegiado de trocas
linguístico-culturais. Na discussão, revelo traços de narrativas consolidadas sobre a construção
identitária do Brasil e de Santa Catarina, assim como a condução de um projeto migratório
orientado pela hospitalidade seletiva, que se coloca como um entrave para experiências
diaspóricas de grupos negros e latinos. A relevância da temática racial é tomada a partir da
crítica das próprias alunas a processos de invisibilidade do grupo racial lido como negro,
naturalizados no ambiente escolar e social brasileiro.
Ainda enfocando o processo de tradução, discuto como são privilegiadas as
enunciações apreciativas das alunas sobre a língua(gem), apontando efeitos da regulamentação
linguística (SIGNORINI, 2002; 2006), do pertencimento a culturas de língua padrão
(MILROY, 2011) e do impacto desse pertencimento em suas necessidades e projetos. Enfoco
os processos de tradução linguístico-cultural na diáspora (HALL, 2003; 2006), constituição
identitária colocada em suspensão por esses movimentos e as apreciações das alunas sobre
elementos de seus repertórios linguístico-discursivos individuais (GARCÍA; WEI, 2014), bem
como os de suas filhas, no caso de Rosario e Neli.
168
Por fim, apresento e interpreto considerações das alunas sobre como “dar certo em
português”, enfocando as contribuições das questões emergentes do campo para o conceito de
“acolhimento” em PLAc.
Seguindo o apontamento de suas necessidades e projetos de aprendizagem de
língua(gem), reservo a próxima seção a analisar elementos da tradição e da tradução que se
interpõem em seus projetos de aprendizagem da língua(gem) delineando importantes temas de
reflexão para o conceito de “acolhimento”.
5.1 “NEGRO NÃO, MARROM FOFINHO”: AS FRONTEIRAS DE SIGNIFICADO
PARA O TERMO NEGRO
Nesta seção, recorro às reflexões sobre raça enquanto um discurso, como propõe
Stuart Hall (1995; 2003; 2010) a partir de Bakhtin (2010), para os quais as cadeias de sentido
que organizam as relações sociais são elaboradas e disseminadas na língua(gem) variando local
e historicamente. Tomo como postulados (1) que raça não é uma realidade biológica, e (2) que
a atribuição de um indivíduo/grupo a uma raça está fortemente ligada a imagens de controle.
Rosario e Marlene apresentam dificuldades em sua tentativa tradutória do novo
contexto. A incursão teórica feita a partir de suas dúvidas revelou procedimentos discursivos
naturalizados no imaginário social (MELO; MOITA LOPES, 2015) e reproduzidos em
instituições como a escola (NOGUEIRA; MAIOR, 2020). Em interface com o conhecimento
produzido por historiadoras/es, antropólogas/os e sociólogas/os, tento compreender os
significados mobilizados pelas questões de Marlene e Rosario em torno do uso do termo negro.
Os procedimentos discursivos enfocados revelam aspectos ideológicos de uma sociedade cujas
fronteiras são mais permeáveis a certos grupos que outros, em que as populações lidas como
negras são conduzidas a uma condição de maior vulnerabilidade, uma vez que as dificuldades
enfrentadas são vivenciadas como barreiras para as quais se exige, como vimos anteriormente,
um preparo sociolinguístico para enfrentamentos.
No que tange aos propósitos desta pesquisa, as discussões nesta tese importam por
responderem a perguntas dirigidas pelas alunas que podem configurar necessidades de
aprendizagem em outros cenários, em que as relações raciais aparecem como objeto de
discussão. Dada a invisibilidade do tema raça nas salas de aulas de línguas (MELO, 2015) e a
importância que o debate racial tem ganhado a partir das reivindicações de Movimentos Sociais
para a presença desta discussão no âmbito escolar (GOMES, 2018), importa chamar a atenção
para procedimentos discursivos que naturalizam essa invisibilidade temática, principalmente
169
por terem sido apontados pelas alunas participantes da pesquisa como impactantes em suas
experiências de tradução linguístico-cultural do novo contexto.
Imagens de controle (COLLINS, 2019) de imigrantes enquanto invasores e
ameaçadores à ordem e à estabilidade empregatícia dos moradores locais são textos que
permeiam o imaginário social sobre certos grupos de sujeitos, compondo a base ideológica de
enunciados do senso comum. Nesse cenário, o marcador de raça desempenha um papel
importante, uma vez que esse traço, lido a partir de índices visíveis (HALL, 1995; 2003; 2006)
pode contribuir para a atribuição de ilegitimidade a falantes (SIGNORINI, 2006) cujas posições
sociais intersectam esse a outros marcadores, como os de gênero e classe social e nacionalidade
(COLLINS, 2019), como vimos no caso de Claitaine.
A legitimidade atribuída aos falantes da cena enunciativa, leva em conta aspectos
socioculturais e políticos (SIGNORINI, 2006), tais como as imagens de controle sobre sujeitos
migrantes, mulheres, negras, latino-americanas (COLLINS, 2019). Importa discutir essa
(i)legitimidade, uma vez que ela impacta a experiência de vida dessas pessoas e em suas
necessidades de aprendizagem da língua(gem).
Como aponta Seyferth (1995, 1995), raça é um termo de múltiplos conteúdos que tem
servido para categorizar grupos hierarquicamente. Essa categoria tem sido central para a
configuração da hospitalidade brasileira como seletiva. Considerando raça enquanto
significante flutuante (HALL, 1995), cujo significado pode se modificar em cada contexto
sócio-histórico, observo como a cadeia de significados em torno do termo negro opera no Sul
do Brasil, a partir de construções historiográficas sobre o território negro (LEITE, 1991a;
1991b) e sobre o lugar do negro (CARDOSO, 2007) em Santa Catarina. Creio, com Hall (2003),
que perseguir a construção dos sentidos sobre o que se tem convencionado denominar pelo
termo negro pode ajudar a compreender o tabu que parece haver em torno do uso linguístico do
termo em referência a pessoas ou grupos de pessoas em Florianópolis, como apontam as
interações abaixo apresentadas e discutidas.
Trago um breve resumo do que apontei em diário de campo no intuito de apresentar
como as narrativas suscitaram as falas de Rosario e de Marlene em torno do silenciamento do
termo negro em formato de vinheta:
Daí, falamos de discriminação e de racismo porque Marlene contou que a
vizinha disse a ela que não se deveria falar “negro” ou “preto” no Brasil, pois
isso poderia ser entendido como racismo. Marlene não entendia o porquê, já
que, como dizia, na Venezuela, dizer “negrito” é um elogio. Marlene disse
achar que o que parecia racismo era não poder dizer a palavra “negro” a uma
170
pessoa “negra”. Foi então que Rosario contou uma cena em que a filha a
corrigiu. Quando Rosario comentou “que negrinho lindo!” para uma criança
com a qual a filha brincava em um parquinho, Penélope a corrigiu, dizendo:
“não é negrinho lindo, mãe, é marrom fofinho!” (Trecho do diário de campo
elaborado no dia 22/09/2018).
Marlene, ao se lembrar do interdito vivido na interação relatada, questionou, em sala
de aula, o porquê da acepção pejorativa das palavras negro e preto em português
exemplificando como o uso do termo negro era visto como positivo em sua cultura. Na
Venezuela, relataram ela e Rosário, negrinho e negro seriam formas, respectivamente,
carinhosa e galanteadora de referir-se a alguém. Marlene citou as expressões “que negro!” ou
“que negrito lindo!” dizendo que o apelido do próprio genro é Negro. Depois, explicou-me que,
na forma de um elogio, o termo também significava “sensualidade” e que, enquanto adjetivo,
era atribuível também a pessoas brancas. Ressaltam-se no diálogo os diferentes modos com que
as relações raciais se refletem na linguagem e os diferentes modos com que nos tornamos
racistas em diferentes estratégias discursivas, em diferentes contextos. O apelo à afetividade, à
cordialidade, característica do não-dito racista brasileiro (SALES JÚNIOR, 2006), parece não
ser exclusiva, uma vez que se encontra no uso de “fofinho” junto a “moreno” ou no apelido
“carinhoso” do genro. Assim como a afetividade, também a reificação: trata-se de “um
negrinho” lindo. Não é mais “um menino”, mas é uma cor que ocupa o lugar do corpo inteiro
do menino, na sinédoque que toma a parte pelo todo, objetificando o sujeito, como observa
Sales Júnior (2006).
Considero os questionamentos de Marlene relevantes para a reflexão em torno do papel
do professor não exatamente como um líder, mas como um articulador de “assimetrias
interacionais em sala de aula” e, sobretudo, uma referência de “autoridade textual [...] em
relação à construção social do significado” (MOITA LOPES, 2002, p. 30). Entendo ainda, o
professor como alguém a quem cabe considerar com profundidade o que trazem os próprios
alunos em relação às suas necessidades de aprendizagem, sendo esse um princípio do
acolhimento, enquanto escuta aos questionamentos dos alunos. É o que tento aqui propor na
resposta aos questionamentos de Marlene e Rosario.
As cadeias de sentido mobilizadas pelo uso do termo negro, à primeira vista, parecem
à Marlene distintas na Venezuela e no Brasil. Ela vê como positivação do termo negro sua
associação a sensualidade na Venezuela. Em contraposição, causa-lhe estranhamento aqui a
proposta de apagamento do termo como silenciamento de sentidos negativos. Porém, pretendo
discutir como o caráter de essencialismo e o uso da cor da pele como metáfora da
171
hereditariedade (SEYFERTH, 1986), ou sinédoque (SALES JÚNIOR, 2006), nas duas redes
semânticas, alimentam imagens de controle (COLLINS, 2019) sobre pessoas lidas como
negras.
Nesta seção, a atribuição de raça enquanto um procedimento discursivo (HALL, 1995;
2003; 2006) é enfocada nessas duas imagens de controle que emergem do uso do termo “negro”.
A primeira imagem de controle que discuto é a de uma ausência: o termo negro é invisibilizado
no discurso e proibido no espaço da enunciação, que sofre uma espécie de uma miscigenação
pela linguagem, um branqueamento discursivo (NOGUEIRA; MAIOR, 2020, p. 8). No
entendimento de Melo e Moita Lopes (2015, p. 57), procedimentos como esse resultam dos
“efeitos semânticos de Discursos no contexto brasileiro”, como a Escravidão e a Mestiçagem
(MUNANGA, 2019). A segunda imagem é a de um corpo reduzido às pulsões primitivas,
hiperssexualizado, metonímia dos atributos da sensualidade pretensamente intrínseca a corpos
lidos como negros.
Seguindo o caminho interpretativo da tradução cultural, com Hall (2003), para o qual
a experiência da diáspora dispararia um choque entre sistemas de significação distintos, vemos
que a cadeia de significados que o termo negro aciona no imaginário das alunas difere da cadeia
de sentidos que emerge da aplicação do termo nas interações que têm em Florianópolis. Ora na
advertência da vizinha de Marlene, ora na correção de Penélope, filha de Rosario, o
silenciamento do termo “negro”, paradoxalmente, parece dizer muito a respeito das relações
sociais no País e em Santa Catarina, em específico.
Como Hall (2003) observa, tomando o funcionamento da linguagem conforme sugere
Bakhtin (2010), o alcance de significado de uma palavra tornada signo está de acordo com a
sua tradução ideológica possível em um dado contexto histórico-social (HALL, 2003). A partir
dessa premissa, a tradução de Marlene da palavra negro como um aspecto positivo, relativo a
um atributo físico de sensualidade, não encontra, no novo contexto em que ela aplica a palavra,
correspondente significação, levando a aluna a uma falência na tradução.
Na primeira acepção, presente na interação de Marlene com a vizinha e de Rosario
com a filha, negro figura como termo proibido, indizível, cujo conteúdo não deveria vir à tona.
Frente à falência da transposição de sentidos entre os distintos sistemas de significação que
emergem do termo, a aluna leva suas reflexões sobre a correção sofrida para a aula de português
na tentativa de compreendê-la.
Para responder ao questionamento de Marlene sobre se seria a sociedade brasileira
racista ao propor a proibição do uso do termo, sugiro pensarmos com Almeida (2018), para o
172
qual cada sociedade produz em sua estrutura o racismo de um modo específico, com Munanga
(2019), que aponta o racismo brasileiro como sui generis, fortemente marcado pelo desejo de
branqueamento e com Sales Júnior (2006), para o qual o não-dito racista, a invisibilização
temática do racismo, é constitutiva da suposta democracia racial no Brasil, configurando as
relações raciais.
Marlene aponta, sem o saber, um tema tabu da identidade brasileira, a questão racial.
Apesar de a noção de raça ser central na identidade do povo, inventado como exemplo de
miscigenação racial, o Brasil está longe de refletir na realidade social a atmosfera de harmonia
sugerida em teoria pela ideia universalista de que “somos todos mestiços” (MUNANGA, 2019).
A interlocutora de Marlene, sua vizinha, teria traduzido alguns dos sentidos atribuíveis ao termo
negro em sua sociedade, indicando o apagamento como possibilidade de invisibilizar toda uma
temática, a racial, acionada pelos significados em torno do termo negro.
Tomando o signo como ideológico (BAKHTIN, 2010), interpreto o procedimento de
eliminá-lo da enunciação como uma forma de impedir o debate que informam os sentidos
atribuíveis a ele em um dado tempo histórico. Por outras palavras, a interdição do signo seria
um meio de impedir que emergissem significados ainda difíceis de ressignificar ou de dissociar
de um passado colonial que não passou, que segue presente, reinventando-se na estrutura social
pela linguagem. Uma vez que o conceito sociológico de raça é estruturante no capitalismo
(ALMEIDA, 2018), não haveria um apagamento possível da ideologia racista, senão uma
atualização desse quadro, elaborado pela linguagem.
O apagamento, ou não-dito racista (SALES JÚNIOR, 2006), aparece como um dos
mecanismos discursivos que mantêm o racismo como estrutura velada nas relações sociais
brasileiras. O mito da democracia racial seria o discurso de base a estimular tal apagamento, na
pretensão da harmonia e naturalização das desigualdades sociais, como se deixar de nomear a
opressão e inventar uma fábula de felizes para sempre pudesse fazer com que essa opressão
desaparecesse. Certamente desaparece dos olhos, mas permanece enquanto violência. O mito
da democracia racial passa a ser a intepretação oficial das relações sociais brasileiras, da década
de 30, pelo menos, até a década de 70 do século XX, quando os movimentos raciais começam
a ganhar força (cf. MUNANGA, 2019). A invisibilização de certos grupos, pode-se dizer, é
uma das tônica da ordem discursiva brasileira.
Não à toa é no fenômeno do deslocamento que os sentidos são também deslocados
(BHABHA, 2021). É no enfrentamento do outro, na fronteira, que são levadas a falência redes
de sentido que até então “funcionavam bem”. A experiência do deslocamento geográfico requer
173
novos quadros de sentido, e a sala de aula de português pode ser um espaço importante de
negociação, como sugere Marlene em sua busca pela tradutibilidade de suas experiências, em
sua busca por um quadro de significações que faça sentido para ela no novo contexto.
Na classificação racial tipicamente brasileira, cromática, Marlene pode ser lida como
“branca”. Esse traço não é de menor importância. Na conversa com a vizinha, com a qual
compartilha uma série de trocas, ela é prevenida sobre interações com sujeitos de um grupo
racial presumidamente “outro”. Creio que, em uma perspectiva de língua que leva em conta o
signo como ideológico, importa procurar na historiografia de Santa Catarina as narrativas que
têm permitido a associação do termo negro a sentidos tão terríveis que não podem ser evocados
sem o risco de incomodar a consciência de certos grupos sociais, cuja sombra é mais bem aceita
quando adormecida. Em outras palavras, a ferida aberta, a qual as alunas colocam em pauta, na
sala de aula de português, trata-se da negação de negro do território da enunciação, que trato
como metáfora da negação do próprio negro do território nacional, de modo particular, o
catarinense.
Os questionamentos de Marlene sobre o lugar do negro no discurso remetem a uma
narrativa historiográfica de imaginação da comunidade catarinense que se vale do apagamento
da presença negra, dos africanos e dos afro-brasileiros (AREND, 2001; MACHADO, 2001).
Santa Catarina é o estado imaginado como diferente dos outros pela presumida ausência de
negros, o estado em que o projeto de branqueamento teria vigorado e cujo progresso dependido
exclusivamente do esforço branco (LEITE, 1991a; 1991b). Apesar de o trabalho escravizado
ter sido utilizado no processo de progressão econômica do estado de Santa Catarina, como
evidenciam as investigações de Leite (1991a; 1991b) e de Cardoso (2007), a historiografia
oficial, ao justificar a menor presença em relação a outras regiões, sustenta em seu imaginário
uma história isenta de débitos ao sistema escravocrata. Sobre a presença de africanos e
descendentes não só no estado de Santa Catarina, como na região como um todo, Leite pontua
que “a identidade do sul, se constrói pela negação do negro” (LEITE, 1991a). Essa configuração
fortalece a tônica de uma hospitalidade seletiva interseccionando à posição de imigrantes, a de
pertencentes ao grupo racial negro.
Nesse contexto específico, em que traduções diferentes se mostram, a vontade de
apagamento, de silenciamento e de embranquecimento se manifesta como um apagamento
mesmo da palavra negro da enunciação, como se o apagamento do signo pudesse deixar de vir
à tona uma “narrativa cotidiana depreciativa do Outro”, como coloca Leite (1991a, p. 34). Como
observa Seyferth,
174
não há categoria mais marcada por traços negativos e pejorativos que a do
negro, símbolo de sujeição e inferioridade; nem mais ambígua que a do
mulato, verdadeiro axioma da ideologia [do branqueamento], uma vez que
superou os percalços da cor e ‘escapou de ser negro’ (SEYFERTH, 1986,
p. 56).
Ao apresentar uma fórmula que tenta escapar de ser racista, a vizinha, conselheira
pragmática – orientando o uso da língua para Marlene – opera ao contrário, apontando
justamente que há um sentido corrente que prevê o termo negro como ofensivo, intrinsecamente
negativo. Na correção da vizinha de Marlene e da filha de Rosario, reatualiza-se a invisibilidade
no recurso de diminuição da tonalidade cromática ou branqueamento discursivo: “Negro não,
marrom fofinho”. A substituição de “negro” por “marrom” seria uma estratégia pedagógica de
apresentação do lugar possível para o sujeito de cor da pele negra, rumo a um branqueamento
(MUNANGA, 2019). O eufemismo “marrom fofinho” traz o negro embranquecido, para caber
no campo semântico tolerado naquele sistema de significações.
O desejo de branqueamento, projeto do “laboratório racial” brasileiro (SCHWARCZ,
2012), parece persistir na linguagem, fazendo com que o termo negro seja negado e substituído
pela figura híbrida, mas não menos controversa, do mestiço, “negro não, marrom fofinho”, em
um meio do caminho rumo ao ideal branco (MUNANGA, 2019). Esses pressupostos parecem
ser evocados tanto na interação de Marlene com a vizinha quanto na escola que frequenta a
filha de Rosario, demonstrando a persistência da ideologia racista – que não consegue se
esquivar na linguagem – seja no âmbito cotidiano da conversa entre vizinhas, seja no contexto
institucional da escola brasileira.
A invisibilidade do termo negro nas narrativas traz a marca de um incômodo, de um
passado que retorna, de uma relação mal resolvida com aquele que não teve seu lugar de direito
no território, nem na historiografia, nem na linguagem, sem que carregue um passado de
significações agarrado ao calcanhar. Em suma, as conotações de negro compõem uma imagem
de controle (COLLINS, 2019) do lugar do negro como ausente, silenciado, invisibilizado.
Os relatos que as alunas trazem à sala de aula revelam a persistência dessas imagens
de controle baseadas no paradigma racista biológico, para o qual a “cor da pele” segue sendo
utilizada como “metáfora de hereditariedade” a indiciar o pertencimento a um dado grupo
racial, não apenas Outro, mas presumidamente inferior (SEYFERTH, 1986, p. 57). Seyferth
(1996) aponta para a persistência da ideia de raça como “fator explicativo das diferenças sociais,
[...] arraigada no imaginário popular, [...] manifesta de muitas formas, seja através dos
estereótipos, do anedotário, das simbologias da cor e do sangue associadas à hereditariedade
175
ou, simplesmente, pela discriminação objetiva” (SEYFERTH, 1996, p. 202), largamente
proliferada nos discursos cotidianos. A ideologia racial não estaria presente apenas em Santa
Catarina, lugar de onde a autora colhe uma série de provérbios e ditos que, segundo ela, contêm
o mesmo teor das teorias raciais defendidas por intelectuais e cientistas. Modificadas apenas no
modo de explicação das desigualdades, as teorias racistas encontram-se plenamente presentes
no imaginário social brasileiro como um todo (SEYFERTH, 1986, 1995, 1996).
No entanto, não sugiro que as ações de apagamento do termo negro ou de
branqueamento discursivo nas cenas específicas que trazem Marlene e Rosario devam ser
interpretadas como atos “racistas” ou “não-racistas” em uma perspectiva individual. Se os
processos de significação operam em um quadro social e não individual, importa considerarmos
a ideologia subjacente a esses procedimentos como um importante traço da ordem
sociolinguística brasileira contemporânea. Ou como pontua Sales Júnior (2006), é relevante
apontar como o não-dito racista envolve estratégias de “dizer alguma coisa sem, contudo, ter a
responsabilidade de tê-la dito (...) configurando a não intencionalidade da discriminação racial”.
A partir desse importante registro, é possível dizer que a ideologia racista segue presente, ainda
que haja um esforço para silenciá-la. Sobretudo, importa dizer que se trata de um aprender a
tornar-se racista de um dado modo: de um modo velado. Ao questionarem o modo velado de
fazer referência a sujeitos negros, Marlene e Rosario rejeitam não apenas um modo de dizer,
mas todo o quadro de relações pressuposto a partir dessas enunciações. Esse desconforto se
origina da evidência que trazem as alunas de que essas enunciações não se encontram separadas
das relações sociais imediatas, que não se trata meramente ou absolutamente de um modo de
dizer dissociado da corporeidade dos sujeitos, mas de um modo de dizer que, como observa
Bakhtin (2010) reflete relações sociais, ideologias, hierarquias e estigmatizações que
estruturam as relações sociais em um dado tempo histórico.
Na segunda rede de significados, a partir da defesa que fazem Marlene e Rosario do
uso positivo do termo em seu país, negro é tomado enquanto sinônimo de sensual.
Parafraseando Marlene, é utilizado quando se quer dizer que alguém é sexy. Nesta acepção,
encontramos o eco das teorias raciais fundamentais da Antropologia Física que, a partir de um
aparato pretensamente científico de medições dos corpos, “asseguravam” que as populações
consideradas inferiores estariam mais próximas dos macacos que dos homens brancos e seriam,
portanto, menos civilizadas, “com impulso sexual acentuado e violento”, dotados de grande
força física, mas desprovidos de dotes intelectuais (SEYFERTH, 1996, p. 187). Como observa
a autora: “para o discurso racista, não adianta estabelecer os ditames da inferioridade através
176
de traços fenotípicos; ele é mais eficaz quando uma característica do fenótipo pode pressupor
determinados comportamentos que desqualificam socialmente (SEYFERTH, 1996, p. 186)”.
Hall (2003, p. 70) também observa que “o racismo biológico privilegia marcadores
como a cor da pele” e que “esses significantes têm sido utilizados também, por extensão
discursiva, para conotar diferenças sociais e culturais”. Segundo o autor:
A ‘negritude’ tem funcionado como signo da maior proximidade dos
afro-descendentes com a natureza e, consequentemente, da probabilidade de
que sejam preguiçosos e indolentes, de que lhes faltem capacidades
intelectuais de ordem mais elevada, sejam impulsionados pela emoção e o
sentimento em vez da razão, hiperssexualizados, tenham baixo autocontrole,
tendam à violência, etc. (HALL, 1996, p. 70, ênfase do autor).
Metonimicamente, ao tomar a parte pelo todo, a qualidade exacerbada enquanto
intrínseca a certos grupos sociais orientados que seriam por pulsões primitivas, o próprio
atributo de sensualidade passa a ser sinônimo do termo negro. Essa relação de sinonímia não
pode ser considerada apenas positiva, considerando a redução da experiência de todo um grupo
imaginado de sujeitos à pulsão de vida mais animalesca e instintiva. Novamente, a animalidade
e o primitivismo figuram como adjetivos à negritude, a encerrar existências negras na
sexualidade de seus corpos, marca da objetificação e desumanização, enfim, do exotismo com
que o termo negro é inventado no ocidente (HALL, 2003).
Esse discurso provocou e segue a provocar uma série de violências contra homens e
mulheres negras (RIBEIRO, 2018, COLLINS, 2019). Imagens de controle de mulheres e de
homens negros reduzidos à sua sexualidade, foram centrais no discurso do colonialismo
(FANON, 2008; CESAIRE, 2010). Uma vez que os colonizadores precisavam inventar um
modo de convencer os outros e a si mesmos de que a violência colonial era justificável, tentaram
de todo modo associar os africanos a animais, de modo que pudessem dormir mais tranquilos
se não tivessem que conviver com uma autoimagem de genocidas. Brutalizados, brutalizavam
os outros (CESAIRE, 2010).
As imagens de controle que tomam o termo negro como sinônimo de exacerbação de
sexualidade, facilitaram tanto a demonização do homem negro inventado como ameaça a
mulheres brancas, como Fanon (2008) exemplifica a partir de sua experiência na França, quanto
a naturalização da cultura do estupro às africanas e afro-americanas durante o período da
escravização nos Estados Unidos (DAVIS, 2018 [1981]) e após a abolição, em imagens de
controle de mulheres hipersexualizadas (COLLINS, 2019).
177
No Brasil, a naturalização do estupro no período colonial atualizou a imagem de
controle das mulheres afrodescendentes no período pós-abolicionista a partir do discurso de
“romantização da miscigenação” (RIBEIRO, 2018, p. 117), desenvolvido por intelectuais e
acadêmicos na década de 1930, sob as vestes do mito da democracia racial, com o intuito de
escamotear as violências contra homens e mulheres negras. Ribeiro (2017) coloca que as
mulheres negras brasileiras são, atualmente, mais suscetíveis à violência sexual e doméstica
que as mulheres brancas, uma vez que “seus corpos vêm sendo desumanizados e
ultrassexualizados historicamente” (RIBEIRO, 2018, p. 117). A autora acrescenta que essas
imagens de controle “contribuem ainda para a cultura de violência contra essas mulheres, que
são vistas como lascivas, ‘fáceis’ e indignas de respeito” (RIBEIRO, 2018, p. 117). González
(1984) observou essa atualização do lugar da mulher negra na sociedade brasileira a partir de
imagens de controle antes mesmo que Collins assim nomeasse esse procedimento discursivo.
Vemos, a partir desses aspectos fantasmagóricos do discurso apresentados e
discutidos, como e por que era justificável o temor de Foucault (2010) das consequências da
“proliferação indefinida de discursos”. Segundo relatos que trazem as alunas do curso, discursos
xenófobos e racistas são capazes de ferir e gerar exclusões, configurando intuitos discursivos
de enfrentamento para a reivindicação de direitos básicos. Como discutimos, a ilegitimidade
conferida ao status de falantes por conta de marcadores sociais como os de raça, na intersecção
com outros marcadores, como o de imigrante e o de gênero feminino, pode configurar imagens
de controle (COLLINS, 2019) que limitam o acesso dessas falantes à igualdade na condição
enunciativa (SIGNORINI, 2006) e, portanto, o acesso a direitos concretos.
Enraizado na estrutura social, o discurso colonial se encontra ecoando, não apenas
enquanto discurso proferido ou eufemizado, mas enquanto ordem, nas instituições, nas
entrevistas de emprego, na fila de espera. Seleciona não apenas quem pode falar e o que, quem
ocupa x ou y posições sociais, quem tem suas reivindicações atendidas e quem não tem, quem
ganha mais ou menos. No limite, o discurso colonial coordena as decisões sobre quem tem o
direito à vida e à morte.
No entanto, vemos também que, na contestação de sentidos, na reivindicação do debate
em torno de raça e no exemplo em torno de conotações interpretadas como positivas para a
ocorrência do termo negro, as alunas nos mostram uma saída ao recusarem a conotação
negativa, apontando uma conotação positiva para o termo, evidenciando a não fixidez do
significado. Sua concepção de língua(gem) assemelha-se à de Hall (1995; 2003), na
178
compreensão de que raça é um significante flutuante, móvel, que encontra significado em cada
contexto histórico de modo distinto, produzido pela linguagem.
A experiência de Rosario com a filha Penélope demonstra que, desde cedo, as crianças
já aprendem os elementos de sentido do sistema racial (NOGUEIRA; MAIOR, 2020) no
contexto na escola que frequentam. Assim, torna-se um desafio ético das instituições
educacionais e formativas buscar não reproduzir discursos que ferem (MELO, 2015). Como as
próprias alunas indicam, o primeiro passo é falar sobre a invisibilização do tema e nomeá-lo.
Um segundo passo, que as alunas também mostram, é perceber que, como instância discursiva,
a invisibilização pode ser combatida com o auxílio de contradiscursos, contestatórios das muitas
imagens de controle comumente associadas à negritude e à imigração no Brasil, dando
visibilidade a outros discursos, estes positivos, sobre negritude que também circulam no
imaginário social.
Dando prosseguimento às discussões sobre as necessidades e os projetos das alunas do
curso, que se podem configurar em direcionamentos para uma perspectiva de acolhimento no
ensino de língua portuguesa, sigo pontuando outros traços dessa ordem sociolinguística
heterogênea. Na seção seguinte, enfoco como suas experiências de aprendizagem de línguas
são marcadas por uma regulamentação linguística excessiva (SIGNORINI, 2002; 2006), efeito
do pertencimento das alunas participantes da pesquisa a culturas de língua padrão
(MILROY, 2011).
5.2 “É MUITO COMPLICADO NÃO FALAR CORRECTAMENTE O
PORTUGUÊS”: BORDAS E FRONTEIRAS NA BUSCA PELA LEGITIMIDADE
LINGUÍSTICA
Nesta seção, apresento e discuto os significados que emergem dos usos linguísticos
das alunas. Pontuando suas buscas pela apropriação dos usos da língua portuguesa para acessar
diferentes posições na sociedade e dialogar a partir de diferentes intuitos discursivos, enfoco
algumas das variadas práticas de linguagem em que se envolvem.
Discuti, até aqui, necessidades de aprendizagem de gêneros discursivos de
reivindicação e as imagens de controle que operam na invalidação de zonas de legitimidade de
falantes. Em seguida, a relação com o tempo para a realização de seus projetos foi evidenciada
como um ponto importante a configurar necessidades de aprendizagem na língua(gem). Como
vimos na seção acima, em suas buscas pela “língua legítima”, Marlene e Rosario demandaram
conhecimentos sobre ideologias subjacentes ao uso da linguagem, como a do racismo, por
179
exemplo, que configuram outras imagens de controle a permear o imaginário da sociedade
brasileira. Essas imagens de controle impactam a experiência de sujeitos imigrantes e a
legitimidade conferida aos seus usos linguísticos (SIGNORINI, 2006).
O indício da presença de discursos racistas na escola – na correção de Penélope à sua
mãe, Rosario – incitou o apagamento e, portanto, o silenciamento da temática negra, a partir do
procedimento referido por Nogueira e Maior (2020) como branqueamento discursivo. Sendo o
racismo um tabu em nossa sociedade, inclusive em instâncias de formação de professores, a
relevância do debate sobre racismo foi reforçada por outro dado, desta vez de Marlene, que, ao
ser corrigida pela vizinha, indicou a presença do procedimento discursivo de apagamento no
emprego do termo negro. A presença desse procedimento discursivo é corroborada por estudos
de Nogueira e Maior (2020) e Melo e Moita Lopes (2015), que pontuam a insistência de
discursos que ferem (MELO, 2015) em nossa sociedade. Segundo esses autores, justifica-se a
relevância de que se debata a respeito desses discursos na sala de aula de línguas e na formação
de professores de línguas. No que tange aos propósitos desta pesquisa, o debate importa para a
concepção de cursos que se pretendem de acolhimento, na perspectiva de uma recepção
(HOUAISS, 2001, p. 61) às diferentes experiências migratórias a partir de suas especificidades,
e que considerem os obstáculos postos pela sociedade na conferência de legitimidade às
enunciações dos imigrantes.
Ao enunciar suas buscas pela aprendizagem da língua portuguesa, as alunas do curso
revelam apreciações sobre as línguas que usam e sobre os componentes mais significativos de
suas identidades que, colocadas em suspensão pelo processo de deslocamento, são traduzidas
de diferentes modos por cada uma delas. No novo contexto, as negociações identitárias afetam
a construção dos repertórios linguísticos das alunas e de suas filhas. Os significados que
atribuem aos seus repertórios e aos de suas filhas, em associação a outros elementos de suas
narrativas de pertencimento, importam em uma perspectiva de acolhimento enquanto
“consideração” (HOUAISS, 2001, p. 61) às bagagens das aprendentes imigrantes (BIZON;
CAMARGO, 2018; ANUNCIAÇÃO, 2018), como um processo complexo de negociação e
constituição identitária (HALL, 2003; 2006). Na experiência da “tradução”, as alunas veem-se
“obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem simplesmente serem
assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades” (HALL, 2006, p.88).
Um dos padrões recorrentes nas enunciações de algumas alunas em sala de aula é o
desejo de aprender as formas “corretas” da língua. No entanto, o que o campo nos permite
observar no contexto de ocorrência das práticas em que ações, significados e formações são
180
triangulados e interpretados é que esse “desejo de correção” não é abstrato na enunciação das
alunas. Ao contrário, refere-se a situações enunciativas bastante precisas, servindo a diferentes
propósitos, evidenciando um refinamento na leitura social e sobre língua em uso que cada uma
delas é capaz de mobilizar. Ou seja, o pressuposto de que os sujeitos estariam necessariamente
em busca de um ideal de correção, talvez possa ser uma abstração mais acadêmica que
propriamente uma presença geral no cotidiano das pessoas. Nas observações que Rosario e Neli
fazem sobre a língua em seu funcionamento ordinário, como já apresentado em seções
anteriores e como será abordado nas seções seguintes, os questionamentos que trazem
demonstram concepções de língua enquanto fenômeno inextricavelmente ligado ao social.
Enfoco, de um lado, cerceamentos à enunciação (SIGNORINI, 2006) que afetam suas
buscas na aprendizagem de línguas. Por outro lado, mostro também a relação de afeto que as
alunas têm com suas línguas e que compõe de diferentes modos seus usos linguísticos. Isso é
mais evidente no caso de Neli e de Rosario, que mostram privilegiar a manutenção da própria
língua materna no repertório linguístico das filhas. Apresento uma série de práticas em que se
envolvem de modo criativo a evidenciar como as alunas avaliam o que é certo e o que é errado
e como agem, no cotidiano, em relação às fronteiras impostas por seus interlocutores com os
conhecimentos que produzem localmente.
O pertencimento a culturas de língua padrão (MILROY, 2011) ou de excessiva
regulamentação dos usos linguísticos (SIGNORINI, 2002) parece afetar o modo como as alunas
constroem significados em torno da linguagem: sobre como se aprende línguas, sobre o que se
faz com linguagem, onde e como, e sobre que língua desejam aprender. Em contraposição, a
manutenção da língua materna no seio da família mostra-se também como uma questão de afeto
e marcação identitária no deslocamento. Esse sentimento, que as acolheria na diáspora,
revela-se em suas falas como uma constante busca junto às suas memórias, como o faz Marlene,
ou junto às suas filhas, como demonstram Neli e Rosario.
As mães, por vezes, se frustram ao ver o quanto a língua local penetra seu espaço
familiar na enunciação das filhas. O português é concebido por Rosário como língua mal falada
ou deficiente, como se pode perceber nestas duas falas:
Rosario: Eu acho que o português é como fala espanhol, pero mal (Rosario,
em transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
Rosario: Fiz um exercício de pensar como falasse meu sobrinho [...] ele tem
uma língua muito corta [língua presa], como falasse ele isso, então, lembro
181
como ele falasse, então, falo português e dá certo (Rosario, em transcrição de
áudio do dia 20/10/2018).
Adquirindo rapidamente a língua portuguesa no novo contexto, suas descendentes
deixam, cada vez mais, de falar a língua na qual a mãe apreendeu grande parte da sua visão de
mundo. Isso fica explícito nas quando Rosario afirma que a filha, Penélope cansou de falar
espanhol:
Rosario: [...] cansou de falar espanhol! Cansou! E empezó a falar português,
e ela não se deu conta de que mudou (Rosario, em transcrição de áudio do dia
20/10/2018).
Neli, por sua vez, menciona um modo de estimular a aprendizagem da língua materna:
Neli: Eu falo pra ela [Simona] no búlgaro, ela me responde no português, e,
até ano passado, eu fala com ela só no búlgaro pra ela aprender também junto
com português (Neli, em transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
Lembrando Bakhtin (2010), é através da palavra alheia que nos inscrevemos no
mundo. Não aprendemos simplesmente uma língua(gem); somos constituídos nela a partir da
palavra alheia. Em um diálogo, é a partir de um outro que nos dirige a palavra que nos tornamos
capazes de conceber um mundo e nele incidir, linguisticamente. Para Neli e Rosario, não estar
mais envolta na língua dita materna é não ter a continuidade desse espaço em que se
constituíram sujeitos, antes mesmo de se tornarem mães, ainda que estejam em (re)constituição
constante e que o deslocamento geográfico as desperte para essa fluidez identitária.
Neli e Rosario valorizam a recorrência de gestos que envolvem afeto dentro de uma
cultura dita “tradicional”. Como mães, frustram-se nos momentos em que as filhas não atendem
aos sentimentos maternos por conta do uso de uma língua(gem) outra, o português, no ambiente
doméstico. Evidencia-se, assim, uma componente afetiva e simbólica nos usos linguísticos, que
não são se reduzem apenas a propósitos utilitários. Saliento, nesta discussão, algumas das
concepções de língua que emergem dessas rupturas de sentido que causam estranhamentos no
novo contexto. Por exemplo, em uma das aulas, Neli compartilha com a turma significados
tradicionais em torno de um pão redondo, segundo a aluna, muito comum Bulgária, feito
“quando nasce alguém, quando morre alguém, quando tem festa... Natal essas coisas”. Ao
mostrar as fotos da filha em um rito em que se destaca a importância do pão em sua cultura,
Neli nos revela o quanto a manutenção de elementos tradicionais de seu repertório cultural
182
importa para a construção de sua narrativa identitária, fortemente associado ao “discurso da
cultura nacional” (HALL, 2006).
Neli: Quando criança aprende a andar no nosso país se faz um assim poucas...
algumas coisas... livro... para algumas profissão [...] sim e faz um pão
redonda... Criança tem que ir e descobrir algum... [...] alguma coisa deste...
pintas livros essas coisas para profissão. [...] Esse [mostra fotos no celular]
com queijo se faz assado... Pode fazer a dentro com arroz pode fazer com
espinafre com esse [...] Olha, fizemos para Sofia e aqui tem um livro tablet
essas coisas e tem que fazer. [...] Quando criança ela tem que ir atrás do pão e
descobrir algumas coisas e ela vai crescer e vai trabalhar esso [...] Ela pegou
um... [aponta a criança com um rolo de pão na imagem de seu celular] e
adorou... pra cozinhar, cozinheiro (Neli, em transcrição de áudio do dia
20/10/2018).
A tradição aprendida no seio de sua família e cultura é o que constrói um sentido coeso
para a narrativa que estabelece sobre si e sua filha. O pão aparece como um argumento
identitário a justificar o pertencimento a certa tradição, certa língua, certa cultura. Nessa ação,
lê-se a importância que os ritos e a partilha têm para a aluna, que acabara de descobrir algo
importante sobre o futuro da própria filha. Com alegria, Neli, em geral reservada, contava-nos
sobre o caso. Trago a cena para o debate pelo simbolismo nela contida.
Segundo Geertz (1983), para compreendermos os conceitos a partir dos quais se
movem os sujeitos, é preciso considerar que os sujeitos vivem dentro de um quadro de ações e
significados e visar estas relações. Não se tratava exatamente do pão búlgaro, pois o queijo
daqui não é tão salgado quanto o de lá. Nem na receita do pão da Bulgária, nem da receita de
tequeños de Rosario. A tentativa de “tradução” do pão, na perspectiva diaspórica de que fala
Hall (2003), aparece como uma frustração na fala da aluna, que não consegue atingir a qualidade
do pão búlgaro por não possuir os ingredientes que permitem ter o sabor de sua cultura e precisar
imitá-los com elementos brasileiros:
Neli: Eu fiz issa comida do nosso país por que eu só posso fazer. Se você quer
saber, se você for lá [na Bulgária], vai comer melhor, porque queijo não está
o mesmo. Meu possibi... Minha possibilidade para fazer essas coisas não tá a
mesma. Não pude...
Marlene: Esto lo hiciste tu? como se llama?
Rosario: Como se llama?
Neli: Se chama banitsa
Marlene: Banita?
183
Neli: Banitsa
Eu: Banitsa
Neli: Normalmente faz com queijo branco... Por dentro tem aquele ricota.
Nosso queijo é mais salgado... [leva] manteiga, iogurte e ovo. E outra é mais
aquele que necessita provar. Abrir a massa e tem que estar muito fina, muito
fina, muito fina, se não, pode solar do outro lado.
Eu: Parecem os tequeños, pra ser a massa fina... lembra tequeño?
Rosario: Uhum...
Neli: O que que é tequeño?
Marelene: Parecido.
Eu: Tequeño é o que a Rosario fez. É fino e tem queijo dentro.
Neli: Sim, só esse é queijo branco, não é...
Eu: Ah, é ricota. O outro era mussarella,
Neli: O nosso é mais salgado e...
Rosario: Lleva queijo branco [o tequeño].
Eu: Frescal, a gente fala queijo frescal.
Rosario: Mas aqui eu não encontro queijo que seja similar.
Eu: Ó... não conseguiu um queijo parecido
Rosario: Todos os queijos são...
(Transcrição de áudio do dia 20/10/2018)
A diferença entre o pão imaginado por Neli e o pão que consegue produzir na realidade
brasileira lembra a reflexão de Bakhtin (2010) sobre a diferença entre a fome de um monge e a
fome de um camponês. Os elementos significam pelo significado de que se veste a
materialidade das palavras – no caso das alunas, vestidas de tradição. O pão não se encerra
numa mistura de ingrediente assada em um forno, nem a fome se reduz a uma sensação física.
O pão tem significados diferentes para quem o produz, quem o vende e quem o consome. Da
mesma forma, percebem a fome diferentemente um homem que sabe que uma refeição o
aguarda a horas certas e outro que não sabe se comerá naquele dia. Na perspectiva de Neli, o
pão sairia melhor com o queijo, que ganha o sentido de produto de uma cultura: “nosso queijo”,
diz Neli (Neli, em transcrição de áudio do dia 20/10/2018). Para a aluna, eu só poderei comer
esse pão se eu for lá, na Bulgária.
184
O pão, portanto, torna-se um índice importante de tradição e constituição narrativa
identitária marcada pelos seguintes elementos: “nosso queijo”, “lá”, “não encontro queijo que
seja similar”. É na manutenção da narrativa de tradição, da língua e da cultura que Neli encontra
refúgio. Na feitura do pão, no entanto, atualiza-se um ethos, a sensação de pertencer a um grupo
imaginado que se manifesta sem necessidade de uma geografia comum (SEYFERTH, 1995).
No encerramento da cena, Neli narrou o achado da filha com alegria após descrever o alimento.
Ao longo do relato, também é notável o quanto as alunas acolhem umas às outras em
suas frustrações tradutórias com relação aos ingredientes que encontram para produzir suas
receitas. Rosario, assim como Neli também não encontra um “queijo similar” para seus
tequeños.
Em outros momentos de nossas interações, Neli mostra a importância das tradições de
sua cultura para a criação de suas filhas, realizando ritos que são significativos para sua família.
Em outra aula do mesmo semestre, comenta sobre o registro de origem de sua filha mais nova,
que nasceu em Florianópolis:
Neli: Aqui é muito interessante quem nasce aqui é brasileiro muito simple.
Eu: É... aqui é assim lá não?
Neli: Não... tem que ter pai ou família.
Eu: Não é búlgaro se nasce na Bulgária? Tem que ter pai ou mãe?
Neli: Família.
Eu: Eu não sabia... que engraçado.
Neli: Aqui [na] América Latina, [nos] Estados Unidos criado de imigrantes.
Lá na Europa é um pouco diferente, porque tá a nacionalidade de muito tempo.
Nosso país foi criado ano seiscentos oitenta e um (Conversa em transcrição de
áudio do dia 24/11/2018).
Neli refere-se à linhagem necessária para obter o registro de pertencimento em seu
país, justificando o pertencimento a uma cultura tradicional a partir da longa história do seu
país: “tá a nacionalidade de muito tempo” (Neli, em transcrição de áudio do dia 24/11/2019).
Em sua fala, a referência à longa história da Bulgária emerge como elemento de legitimação do
pertencimento, estratégia sobre a qual fala Anderson (2006) ao discutir as comunidades
imaginadas, Milroy (2011) ao tratar das culturas de língua padrão e Norman (2019) em relação
às ideologias linguísticas na Bulgária contemporânea.
185
Neli batiza a filha de Sofia Catarina para marcar a composição do seu repertório
cultural por meio da combinação do nome da capital da Bulgária (Sófia) e o nome da terra
escolhida pelo pai para estabelecer-se com a família. O ato de nomear a filha, registrada com
referência a um lá e um aqui, faz pensar que nossas inscrições no mundo se dão pela linguagem,
revelando o que valorizamos. Essas inscrições levam a uma suspensão identitária, em que o
“estar” no mundo contemporâneo desafia o “ser” estável das identidades tradicionais na
mobilidade (HALL, 2006; 2003).
A adoção de um nome para a filha, diz de uma continuidade (a tradição) e de uma
agência (o novo), da facilidade de escolher entrar em tal ou qual ordem e seguir com sua
bagagem. É talvez o paradoxo discursivo que se quer apontar nesse tempo, essa tradução
cultural, em que “há fortes vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem a
ilusão de um retorno ao passado” (HALL, 2006, p. 88). Interpreto as estratégias de Neli, no ato
de batizar a filha, como um gesto simbólico de nomear os sentidos de seu deslocamento –
marcando um entrelugar. Nesse espaço, as escolhas de uso das línguas pelas filhas levam a
aluna a se posicionar frente ao que faz sentido para ela: Na falta de um contexto linguístico que
a favoreça marcar o pertencimento à tradição búlgara, essa marcação é feita a partir da sua
interlocução com as filhas, padrão que também notamos com Rosario.
À relativa simplicidade desse movimento, desse aspecto do pertencimento, a essa
facilidade de ser oficialmente daqui, contrapõe-se a dificuldade/complexidade de ser da
Bulgária, de ser de um país que tem uma tradição em oposição a um país que não tem tradição.
Isso é colocado na fala dela, que menciona, como autoridade e direito à tradição, o ano da
fundação do país, em um gesto de apontar a origem, legitimando sua experiência pela citação
da história (MILROY, 2011), “longa e gloriosa”, à qual aderem os búlgaros identificados com
identidades tradicionais (NORMAN, 2019, p. 6) 32. Ao fazer referência ao ano de fundação da
Bulgária, Neli afilia-se discursivamente às narrativas tradicionais que mostram as Américas
como territórios novos, virgens, “descobertos” pelos europeus, o que invisibiliza os muitos
povos indígenas que aqui havia, com suas cosmogonias e calendários próprios. Sua fala lembra
32 Segundo Norman (2019), fazer referência ao ano de fundação do país, como fez Neli, é uma estratégia recorrente
dentre os búlgaros que associam suas identidades a ideologias nacionalistas. Em suas palavras: “Much like the
year 681 CE, Bulgarian’s claim to the Cyrillic alphabet further roots national identity into a long and glorious
history. Appealing to this historical longevity strengthens the nationalist ideology of Bulgarian while standard
language and orthography ties all Bulgarians together into an imagined community that shares one nation, one
language, and one culture” (Da mesma forma que o ano 681 d. C., a reivindicação do alfabeto cirílico pelos
búlgaros enraíza ainda mais a identidade nacional em uma longa e gloriosa história. Apelar para esta longevidade
histórica fortalece a ideologia nacionalista do búlgaro, enquanto a língua e a ortografia padrão unem todos os
búlgaros em uma comunidade imaginária que compartilha uma nação, um idioma e uma cultura) (NORMAN,
2019, p. 6).
186
a ideia de um mito fundacional que, segundo Hall (2006, p. 55), opera no discurso da cultura
nacional, “uma história que localiza a origem da nação, do povo e de seu caráter nacional num
passado tão distante que se perde nas brumas do tempo”.
Além da valoração da língua búlgara, importa mostrar outros elementos rituais que
apontam para a valorização de sua história:
Neli: Desculpa por que falo com ela [a filha Simona] em búlgaro... Ano
passado, no verão, eu falo muito português, eu falo só português, não falava
ninguma palavra no búlgaro... Eu falo pra ela no búlgaro, ela me responde no
português, e até ano passado eu fala com ela só no búlgaro, pra ela aprender
também junto com português.
Eu: E você continua falando com ela em búlgaro só em búlgaro?
Neli: Sim... vai aprender o português não tem como não aprender.
Eu: É... ela tá aqui e a Sofia? Você vai fazer igual?
Neli: Vamos a ver mas parece que sim.
Eu: Você fala com ela em Búlgaro?
Neli: Sim, na casa.
Eu: E o seu marido fala espanhol e português?
Neli: Ele fala espanhol. Desculpa, ele não gosta do português, fala que
português é mau espanhol [enuncia rindo com um pouco de vergonha]
Eu: Ahh, tem um monte de gente que fala isso.
Neli: Não quer aprender português. Ele gosta espanhol (Conversa em
transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
Nesta interação, Neli nos coloca a par das estratégias que utiliza para a filha aprender
a “língua da mãe”, o búlgaro. Considerando que Simona falava muito o português, passa a falar
só em búlgaro para que a filha o aprenda juntamente com o português, língua que, segundo ela,
a filha “não tem como não aprender”. Neli revela a importância que tem a sua bagagem cultural,
tanto nos costumes que procura manter, como os relacionados à celebração em torno do pão,
quanto nas estratégias que utiliza para garantir o ensino de sua língua à sua filha. Quando
menciona a leitura de livros de literatura infantil que a filha traz da escola, relata fazê-lo
primeiro em português e depois em búlgaro, línguas que Neli considera como equiparadas no
repertório linguístico da filha:
187
Neli: Sempre leio primeiro no português, depois traduzindo pro búlgaro
também.
[...]
Eu: E como é que tá o português dela?
Neli: Dela de Simona?
Eu: Sim.
Neli: Mesmo nível do búlgaro (Conversa em transcrição de áudio do dia
13/04/2019).
A repetição dessas ações componentes do repertório cultural da mãe no Brasil – a
feitura do pão, a fala “somente em Búlgaro” e a leitura para a filha de livros em português
seguida de tradução para o búlgaro – traz importantes dados sobre como Neli lida com a
diversidade linguística do seu novo contexto. Em sua experiência, a reiteração dos costumes é
o que produz a sensação de pertencimento a uma cultura, mas estando em outra. No nome que
dá à filha que nasce no Brasil, a experiência de “tradução” ganha nome e sobrenome: Sofia
Catarina.
Nas escolhas das mães, fica evidente o quanto de esforço deliberado há em garantir a
manutenção de uma tradição cultural e linguística a compor o complexo identitário de suas
filhas. A cultura dá-se mais como uma repetição de ações conscientes, uma performance, que
um dado meramente natural ou contextual.
Chamam a atenção as valorações sobre as línguas búlgara e portuguesa que faz Neli.
Ao desculpar-se pela valoração negativa que o marido tem sobre o português, Neli faz lembrar
as relações língua-identidade de que fala Anzalduá (2009), para quem falar mal da sua língua é
o mesmo que falar mal de si própria. Neli projeta no outro a relação de apreço que ela própria
tem com a sua própria língua.
Como Marlene e Rosario nos ensinam, os significados não são estáveis e, quanto à
língua “do colonizador”, também ela é matéria moldável, que podemos recriar com os sentidos
que nos apetecerem, torná-la nossa, profaná-la, utilizá-la com outros ingredientes. Relembro
aqui da pergunta de hooks (2019, p. 226), ao refletir sobre um poema de Adrienne Rich sobre
falar a língua do opressor: “Como descrever o que devem ter sentido os africanos, cujos laços
mais profundos haviam sido sempre forjados no espaço de uma língua comum, mas foram
transportados abruptamente para um mundo onde o próprio som de sua língua materna não
tinha sentido?” (hooks, 2019, p. 226, ênfase minha).
188
A ruptura súbita na vida dos escravizados negros, provocada pela violência de seu
transporte forçado para o Brasil, significou não apenas uma interrupção de línguas, mas também
de narrativas de tradição, que acabaram por ser traduzidas, em solo americano, como narrativas
de resistência. O silenciamento das línguas negras no Brasil é um silêncio fundante e que
necessita evidenciado: diz da dificuldade de encontrar um ethos para o grupo mestiço brasileiro
sem que se caia em uma celebração vazia da diversidade em que a marcação da diferença não
faz diferença nenhuma (HALL, 2003) ao não incidir no desequilíbrio do status quo.
O pedido de desculpas de Neli sobre falar em búlgaro com a filha evidencia que
aprender a língua portuguesa é, para a família, uma fatalidade, uma consequência do
deslocamento: “não tem como não aprender” (Neli em transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
É daí que passa a justificar o esforço preciso para a manutenção da tradição, o treinamento, o
rearranjo de estratégias. A aluna responde, muito atenta, à política linguística educacional
brasileira, que prioriza a língua nacional a despeito do repertório linguístico de seus estudantes,
circunscrevendo as línguas que não contam como português, a espaços cada vez mais restritos
dentro da escola (LUCENA; CARDOSO, 2018).
Em países discursivizados como monolíngues, como o Brasil (CAVALCANTI, 1999),
e no ensino de línguas estrangeiras, de modo geral, está presente a proibição da diversidade no
repertório linguístico dos aprendizes. As aulas de língua, em geral direcionadas a uma língua-
alvo (GARCÍA; WEI, 2013), ao desconsiderar a complexidade dos repertórios, acaba por
motivar atitudes como a de Neli, que pede desculpas por falar em búlgaro com a própria filha.
Isso motiva toda a discussão que aqui apresento em torno do quão significativos são os
elementos de seus repertórios linguístico-culturais para suas experiências de “tradução”, por
consequência, de constituição identitária no novo contexto. A aula de língua portuguesa para
mães imigrantes ganha uma outra dimensão: a de acolher no sentido de receber os significados
para os usos linguísticos que estão em construção por essas mulheres que buscam um lugar de
legitimidade enunciativa (SIGNORINI, 2006).
O controle das línguas passa também por estimular o contato com outras línguas
valorizadas por Neli que começavam a fazer parte do repertório linguístico da filha. Em
momento posterior, diz que Simona parou de estudar o inglês porque “tem que estar búlgaro
melhor”, acrescentando que a filha “vê desenhos em espanhol”. A perda de espaço do inglês
para o espanhol está em consonância com outros posicionamentos, inclusive políticos. É o que
nos revela Neli quando menciona que, apesar de a Inglaterra ser o destino mais procurado pelos
emigrantes da Bulgária, foi a América Latina o destino escolhido pelo marido. O desejo de
189
morar na América Latina acompanha o desejo de que a filha apreenda as línguas valorizadas
por seu pai, no caso, o espanhol.
Ao comentar sobre as estratégias de Neli com a filha para que aprenda a língua
valorizada pela mãe, Rosario entra na conversa e as duas alunas passam a falar sobre como as
filhas “misturam” línguas:
Rosario: Com Penelope também eu fiz igual [falar só em espanhol com a filha]
porque é por ela mistura o espanhol.
Neli: Oh, mistura é normal. Só porque ela no falava nenhuma palavra. Ela
entende, eu sei que entende, porque eu pergunto ela no búlgaro e ela me
responde no português, e ela entende. É só no gostaria falar e fazemos assim
para poder falar (Conversa em transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
Como falantes adultas escolarizadas, que passaram por processos institucionais de
legitimação de “línguas nomeadas” (GARCIA, 2009), a “mistura”, o modo como denominam
a translinguagem de suas filhas, mostra-se como um fenômeno normal por Neli, mas indesejado
por Rosario, que deseja a filha saiba identificar e dividir “os traços socialmente construídos
como pertencentes a duas línguas separadas” (GARCIA; WEI, 2014).
Marlene também comenta o contato das línguas nomeadas “português” e “espanhol”
como uma oportunidade: “tene oportunidade de aprender português e espanhol, verdad?”
(Marlene em transcrição de áudio do dia 20/10/2018). Rosario segue na desaprovação da
“mistura”, na contraposição do entendimento mostrado por Neli que se diz satisfeita de a filha
estar, pelo menos, compreendendo o búlgaro. Em comum, as duas mães revelam esforços de
manutenção de elementos de suas bagagens linguístico-discursivas, ou de suas línguas maternas
nos repertórios das filhas:
Rosario: Agora, a semana passada ela [Penelope] estava falando una coisa da
escola e ela, de repente, ela cansou de falar espanhol! Cansou! E empezó a
falar português, e ela não se deu conta de que mudou, e eu “Penelope, está
falando português”, “ah”, e retomou de novo em espanhol. Pero, agora, ela
muda e não se dá conta. Então estou corrigindo em espanhol porque está
misturando tudo (Conversa em transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
É importante lembrar que, ao contrário de Simona, que entra na escola em 2019,
Penélope já frequenta uma escola no Brasil desde o início de 2018, e, como vimos, é tão exposta
ao português que já se sente competente o suficiente para orientar sua mãe sobre usos
linguísticos que não condizem com o que aprendeu sobre a pragmática da língua.
190
Nessa negociação, ao construir uma linha narrativa de tradição, a mistura é
compreendida como um erro que precisa ser corrigido. A própria noção de língua materna como
aquela na qual nos constituímos no mundo (BAKHTIN, 2010), encontra dificuldade de se
sustentar frente à diversidade linguística em cena. Na mobilidade, preocupam-se em assegurar
que dentro de uma heterogeneidade de usos linguísticos, as fronteiras entre as línguas
portuguesa e espanhola sejam asseguradas (SIGNORINI, 2002). Mostram-se comprometidas
com a ampliação do repertório linguístico de sua prole, para que as filhas também possam
movimentar-se nesse ambiente altamente regulamentador de suas práticas linguístico-
discursivas. Como Rosario coloca em outros momentos, é necessário saber “como dar certo em
português” em esferas laborais que deslegitimam usos híbridos como o trabalho com
comunicação, sua área de especialização, por exemplo. Sobretudo, essas mulheres-mães-
-imigrantes mostram o desejo de não apagamento de suas línguas, das marcações identitárias
que dão a elas o sentido de elo umbilical de que fala Hall (2003) entre seus territórios de origem
e o novo contexto. A importância de seus repertórios linguísticos deve ser considerada em
projetos que se que se queiram acolhedores a esses sujeitos e suas bagagens.
Apesar de ter muito cuidado com as formas linguísticas, isso não quer dizer que
Rosario não valorize o contato da filha com outras línguas. Neli diz que Simona tem contato
com o búlgaro e com o espanhol, ao que Rosario complementa: “quanto mais idiomas, melhor;
quanto menor aprenda, melhor; uma criança de três anos é mais fácil que uma maior” (Rosario,
em transcrição de áudio do dia 20/10/2018), apresentando valores positivos à aprendizagem de
outras línguas pela filha. Revela-se o espanhol, para Rosario, como um importante elemento
simbólico e afetivo de pertencimento.
As falas de Neli e Rosario, alunas que têm suas filhas junto de si no Brasil, revelam
um determinado padrão, o de tentativa de controle do repertório linguístico das filhas. Esse
controle é visto, por exemplo, na escolha de mães sul-coreanas imigrantes no Brasil, que
também demonstram preferência pela interação em língua materna com as filhas para a
manutenção de um valor cultural significativo para elas (GABAS, 2016). Essas mães, tanto as
coreanas quanto Neli e Marlene, mesmo estando em contextos tão diferentes, demonstram que
a diáspora, o elemento comum, pode influenciar a manutenção da língua materna como uma
questão simbólica, afetiva, identitária, que emerge de modo importante na formação do
conhecimento linguístico das suas filhas e filhos.
Levando em consideração que, nas interações face a face, há implícitos que parecem
guiar a forma como as identidades emergem na interação (RIBEIRO, GARCEZ, 2002), ressalto
191
que, desde o início da interação sobre português como mau espanhol, Neli mostra-se
preocupada em não ferir meus sentimentos sobre uma suposta “minha língua”, no pressuposto
língua-identidade mencionado acima. Para isso, desculpa-se e explica-se que não se trata de
não falar português, mas de falar búlgaro com a filha, escusando-se pela estratégia para
manutenção da tradição.
A ideia de um mau português, no entanto, não se reduz a uma impressão individual,
mas articula-se a questões de normatização implicadas no uso linguístico. Rosario e Marlene,
ao relatarem inseguranças quanto ao uso da língua portuguesa, chamam a atenção para os
processos de treinamento envolvidos na conquista do uso legítimo da língua materna, que
precisam ser desconstruídos na aprendizagem da língua portuguesa. Frente ao relato de Marlene
sobre dificuldades na língua portuguesa, Rosario menciona processos de correção para aprender
o espanhol, explicando o porquê de haver uma crença de que falar português significa falar um
mau espanhol, posição com a qual a aluna concorda:
Marlene: A mi me costó “presta”, “me empresta”. [sobre a dificuldade no
emprego do clítico]
Rosario: A gente sente que está falando mal... Porque eu acho que o português
é como fala espanhol, pero mal, porque todas as coisas que você corrige de
criança [em espanhol] você tem que pegar aqui com o português (Conversa
em transcrição de áudio do dia 20/10/2018.
Rosario deixa evidente o quanto sua concepção de língua e a imagem de um português
como um espanhol mau falado tem como origem uma educação ligada à correção de formas.
Ao serem questionadas se era difícil falar português, Rosario justifica:
Rosario: No, no es difícil. Só que é... é muito chocante. Porque você é
ensinado que “no é asi”, “no é asi”, que está mal. Então, quando vem aqui e
tem que escrivir “palavra” com “v” pequena – em espanhol seria com “b”
grande – e as crianças tendem a escrever com “b” pequena, escrivem com “b”
pequena “não é!” “tem que ser com outra”. “Emprestar”, essa é uma palavra
que a gente fala muito quando pequena, quando está aprendendo a falar: “me
presta” “não é, é pres-ta-me”. Então, quando uno... quando as pessoas chegam
então ficam com todas essas palavras que falam você é errado em espanhol,
mas aqui tem que pegar de novo. Entón eu fiz um exercício de pensar como
falasse meu sobrinho [...] ele tem uma língua muito corta [língua muito presa],
como falasse ele isso. Então, lembro como ele falasse, então, falo português e
dá certo e esso é certo (Rosario em transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
192
Na fala de Rosario algumas características linguísticas são pontuadas e chama atenção
a estratégia da aluna para “dar certo” em português: falar como o seu sobrinho. Em outras
palavras, é falar sem treinamento, de modo deficiente, sem regulamentação, sem correção, o
que transformaria o português em espanhol, “dando certo”. As soluções de Rosario para “dar
certo” em português refletem o modo como conquistou sua legitimidade de falante escolarizada
em seu país, graduada em Comunicação: através de treinamento intenso. O choque da aluna, ao
concluir que precisa usar formas “erradas” em espanhol para “dar certo” em português, diz
respeito ao esforço de desaprendizagem de sua língua para falar outra, de desconstrução de seu
percurso de escolarização para conquistar outros espaços de legitimidade, desta vez, na língua
portuguesa. As ideias de Rosario revelam não uma posição pura e simples, independente, mas
um discurso que aciona alguns procedimentos convocados em torno de práticas que regulam as
formas da língua, como a necessidade de correção para a conquista de legitimidade e a
prioridade formal no ensino da língua, em detrimento dos propósitos comunicativos dos
falantes.
Toda essa experiência de aprendizagem da língua, que remete a instituições que
regulam a prática, é usada para compor a valoração que têm de suas línguas e das línguas de
outros, em contraposição à linguagem sem treinamento. Suas concepções são reflexos da
inscrição em “culturas de língua padrão” (MILROY, 2011) complexificados pela experiência
de mobilidade que as leva a saídas singulares para a conquista de legitimidade.
Em suas concepções sobre aprendizagem de línguas, a hibridez, ou mistura de línguas
é colocada como um desafio. Rosario preocupa-se com a mistura de formas. Para ela, a
semelhança entre o português e o espanhol, que está tentando definir, é colocada por Neli como
um possível elemento facilitador. Na visão de Rosario, é, na verdade, causa de frustração e
incertezas na aprendizagem:
Neli: Penso que, pra você é mais fácil aprender [a língua portuguesa] porque
é parecido a língua ou se faz mais difícil?
Rosario: Si, pero a gente não sabe quando divide, quando é una coisa e quando
é outra. Então, issa linha isso é muito dispersa. Então, você não sabe quando
é correto, quando é certo em português o soa espanhol (Conversa em
transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
Para enunciar, segundo Rosario, é preciso “dividir quando é uma coisa e quando é
outra”. O espaço entre as formas é concebido como uma separação sutil, uma “linha” em que
as formas estão “dispersas”. Em sua busca pela definição das bordas e fronteiras entre aquilo
193
que define um espaço legítimo de uso da língua portuguesa e aquele lugar em que “soa”
espanhol, está a lógica da norma, a procura pela língua legítima, um espaço de enunciação per
se (SIGNORINI, 2006). O que parece ser dito nessa confluência de formas que se parecem, mas
que não se sabe o quanto podem ser tomadas uma pela outra, é que a aluna almeja uma
segurança pragmática para assentar no aqui ou no acolá dos sentidos. Interpreto sua fala como
um desejo de saber qual “a forma” adequada, em um sentido de correção e adequação
característicos da ideologia da língua padrão (MILROY, 2011). As linhas de força que atuam
na regulamentação linguística (SIGNORINI, 2002; 2006) impõem-se na procura de Rosario,
que se vê na posição de identificar os diferentes contextos de funcionamento da linguagem em
uso, em suas próprias palavras, identificar essa “linha muito dispersa”.
A frustração de Rosário em não dominar o território da língua(gem) que aprende e
“soar” espanhol remete a uma concepção de língua(gem) como sistema total e idealizado de
línguas e sons. Essa visão idealizada da aluna, que vê a língua(gem) como uma zona
impermeável, que não permite a dispersão de formas, é característica da uniformidade
preconizada pela regulamentação linguística (SIGNORINI, 2002) e influencia sua
aprendizagem de língua. À aluna, interessa identificar com precisão, em seu repertório
linguístico individual os traços “socialmente construídos como pertencentes a duas línguas
separadas” (GARCIA; WEI, 2014, p. 2), para transitar nessas fronteiras de modo seguro.
Após o intervalo da aula do dia 20/10/2018, Rosario concedeu uma entrevista para
dois alunos graduandos em jornalismo que elaboravam uma matéria sobre o curso de português
para mães imigrantes. Enquanto eu preparava os materiais na sala de aula, ao fundo, eles
entrevistavam Rosario. As perguntas a ela dirigidas se direcionavam a entender as contribuições
do curso de português para mães imigrantes para a aprendizagem da língua. Ao responder sobre
quais as maiores dificuldades que tinha antes de fazer o curso “por não falar português”, Rosario
fala sobre como concebe o processo de aprendizagem de língua e o que busca no curso de
línguas:
Rosario: Bom, meu aprendizaje [de português] foi muito (*) Eu comencé a
fazer... pero hay muitas cosas que, muitas dúvidas que ficam que no saiban
como estruturar o como encaixar en as lições. Então, essas dúvidas son que eu
pude tirar ou aprender aqui [no curso] e facilitaron um pouquinho as cosas.
Porque eu, (*) quando llega falando espanhol e misturando todo lo que sabe
com lo que va aprendiendo... – mas no se aprende todo (*) – as veces, é...
termina falando errado, porque mistura uma cosa que acha que puede dar certo
em português mas não dá porque tem outro significado, então isso é... acaba...
(*) no sé como fazer... no sé como falar... é uma obstáculo para a comunicar
com as pessoas (Rosario, em transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
194
Rosario se diz insegura e desejosa de ter controle sobre a pragmática da língua. A aluna
reitera o que já havia dito no primeiro dia de aula, que estudava a língua portuguesa de maneira
autodidática com materiais próprios. Acrescenta de que maneiras o curso a auxilia: a
“estruturar” e “encaixar” partes da língua nas lições. Em sua perspectiva, aprender língua
trata-se de aprender como encaixar partes de uma estrutura, e o papel do professor entra no
auxílio a dúvidas quanto a esses encaixes para “dar certo em português”.
A referência à aprendizagem de um “todo”, explícita em sua resposta como objetivo
de aprendizagem, poderia nos remeter à concepção de língua como um espaço de fronteiras
impermeáveis (MILROY, 2011) – um sistema de signos que só fazem sentido em relação a
outros signos do mesmo sistema. A aprendizagem da língua portuguesa seria tomada como a
de um sistema total, em que para “dar certo em português”, seria preciso ter controle sobre
todos os sentidos possíveis no novo horizonte pragmático. Nesse esquema, para enunciar em
português, além de ser preciso deixar de utilizar formas de outras línguas padronizadas
(MILROY, 2011), no caso do espanhol, seria preciso ter consciência sobre seu uso.
No entanto, apesar de mencionar “o todo”, a aluna não o menciona como se fosse um
sistema abstrato de formas que não dizem respeito ao contexto pragmático de ocorrência. Ao
mencionar esferas distintas em que circulam enunciados e que são mais ou menos permeados
pelos usos regulamentados da língua, ela revela ter uma sensibilidade à “heterogeneidade”
desses usos (BAKHTIN, 1997, p. 280). Pelos usos que menciona fazer da língua (ou que não
se vê capaz de realizar) reforça o entendimento de que “o caráter e os modos” de utilização da
língua são “tão variados como as próprias esferas da atividade humana” (BAKHTIN, 1997).
Rosario concebe a comunicação em Florianópolis como um falar errado: “quando llega
falando espanhol [...] misturando todo lo que sabe com lo que va aprendiendo [...] termina
falando errado” (Rosario, em transcrição de áudio do dia 20/10/2018). Essa forma de aprender
a língua, marcando o lugar de deslocamento geográfico, também deixa ver a fronteira
linguística porosa, misturada, em que formas que vai aprendendo se misturam a outras. Essa
forma de falar em território híbrido é muito bem definida por ela, porém a mistura não é
valorizada em seu olhar, que considera a regulamentação linguística uma realidade que limita
suas possibilidades de realização fora desse território socialmente construído como língua
portuguesa “correta”.
Na sequência da entrevista, Rosario menciona que, para fazer compras e outras coisas
não relacionadas ao âmbito laboral, costuma valer-se de consultas na internet33, apontando um
33 Rosario menciona o Google, referindo-se ao buscador de internet Google Chrome.
195
traço típico da aceleração das sociedades contemporâneas, em que as tecnologias de
comunicação se complexificam. Porém, compreende que, para o trabalho – uma vez que sua
área é precisamente a da comunicação – precisaria falar o português corretamente. O uso da
tecnologia é evidenciado em uma ação pontual em seu cotidiano, demonstrando, por óbvio, que
ela tem acesso a essa tecnologia e que consegue utilizá-la com criatividade:
Rosario: O emprego (*), todo lo que eu sé fazer é com a comunicação. Então,
é: eu sou vendedora... eu tenho... no meu país sou publicitária então a: eu
preciso de me comunicar para poder fazer o meu trabalho, poder encontrar um
emprego que seja com aquel con lo que yo faço... Então, é muito complicado
não falar correctamente o português [...] sobretudo para um emprego e porque
para outras cosas eu he me auxiliado muito com Google, pesquisava no
mercado, pesquisava os nomes e pegava o que era o que não era (*). Tenho
isso de investigar, então (*), coisa difícil en as coisas cotidianas, mais que tudo
acho que é (*) procurando um emprego, sí, faz muita diferença (Rosario, em
transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
Por trabalhar com comunicação, refere-se à necessidade e conscientização que em
determinadas situações de atuação precisará “falar corretamente o português”, e são as formas
corretas do português que complicam sua busca pelo emprego. Pode-se dizer que a aluna
deposita a esperança de que o curso lhe auxilie a chegar nesse português idealizado, padrão,
que sirva para melhorar a comunicação com as pessoas, mas também e, principalmente, auxilie
Rosario a ter competência para trabalhar em sua área.
Em outro momento do curso, ao falar sobre seus planos futuros, ela menciona a atuação
como professora de espanhol como possibilidade. Ao fazê-lo, deixa ver que a distância que está
do ideal de comunicação que estabelece para trabalhar em sua área – em um domínio de formas
corretas exemplarmente executadas por um falante nativo – a leva a mudar de rumos
profissionais:
Rosario: Sim, deixei lá pra que façam apostila [sobre seus documentos
deixados na Venezuela para validação de ensino superior no Brasil]... acho
que vou começar a estudar na universidade daqui. Estudar, uma pessoa me
falou que é muito mais sencillo... muito mais fácil... Fazer educação em
espanhol... professor... ser professor de espanhol. Então, recebendo esse [a
autenticação de seus documentos], vou começar a fazer isso (Rosario em
transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
A identidade espanhola é acionada na fala de Rosário ao decidir “fazer educação em
espanhol, por ser “muito mais sencillo” e “muito mais fácil” de se mover em um contexto em
196
que sua identidade linguística nativa é valorizada. Importa lembrar que a presença de turistas
da fronteira sul, especialmente os argentinos e uruguaios, impacta a paisagem linguística da
Ilha de Santa Catarina, sendo o espanhol uma língua importante no cenário linguístico local,
principalmente na alta temporada de veraneio. A cena mostra o impacto de representações sobre
língua e identidade reificadas no imaginário social a afetarem as escolhas profissionais dos
sujeitos na contemporaneidade (HELLER, 2003). A despeito de suas especializações
profissionais, essas mulheres em trânsito acabam por mudar os rumos de suas vidas por conta
de regulamentações linguísticas que limitam o que conta como português em determinadas
esferas de circulação social (BAKHTIN, 1997).
Outro exemplo do impacto do efeito de regulamentação na construção de uma
expectativa sobre determinadas esferas de circulação da língua portuguesa é o caso de Marlene,
que compartilhou conosco o projeto/desejo de fazer cursos profissionalizantes somente após
terminar o curso de português. Marlene se vê no papel de “afásica” em português, a quem faltam
recursos. A autoimagem da própria aluna enquanto faltante para com a língua portuguesa a faz
isentar-se de participar de um curso de corte e costura:
Marlene: Aí ditan cursos [na Prefeitura de São José, próximo à sua casa], pero
[...], mas eu no manejava el idioma e no me atrevi. Enton, depois que termine
este, que finalize este [o curso de português], voy a ver que cursos oferecen y
voy a fazer algo (Marlene, em transcrição de áudio do dia 10/11/2018).
Marlene diz que não se atreveu a tentar fazer o curso profissional oferecido pela
prefeitura por não lidar com o idioma (o português), revelando insegurança sobre a participação
no curso oferecido gratuitamente pela prefeitura. Conforme relata, fazer o curso sem manejar
“el idioma” seria um atrevimento: “no me atrevi”. Coloca, então, sua confiança no curso de
português como garantia de aprendizagem da língua(gem), recurso que associa ao passaporte
para participação no curso profissionalizante. Novamente, a ideia de formas linguísticas como
parte de um todo e aprendizagem do português como apropriação de um sistema total e
impermeável de formas influencia as decisões da vida cotidiana desta imigrante venezuelana.
Assim como nas falas de Rosario e de Marlene, também Neli evidencia que suas ideias
sobre linguagem impactam suas escolhas sobre a educação das filhas e sobre suas ações
cotidianas. Na aula em que Marlene comenta sobre sua experiência de alfabetizadora, Neli
ressalta que as filhas estão em idade escolar e que a falta do seu conhecimento de língua
portuguesa a impediria de julgar a qualidade da escola:
197
Neli: Elas já entra na pré-escolar [no ano seguinte] e eu, como no posso falar
português certo... no entende muito essas coisas... Como vai ajudar ela e como
vai saber que escola tá boa ou não tá boa? [...] Pra mim, é mais importante
mudar [de bairro, em Florianópolis] onde tem escola boa (Neli, em transcrição
de áudio do dia 10/11/2018).
Na última aula do primeiro semestre do curso de português, as filhas de Neli ainda não
estão na escola. Neli comenta sobre a importância de falar o português certo para ajudar as
filhas nos estudos e para escolher uma escola de qualidade, questão que privilegia para a escolha
do local de moradia. Neli aponta, mais uma vez, a esfera institucional da escola a configurar
necessidades de aprendizagem linguísticas da aluna, enquanto mãe comprometida com a
educação de suas filhas.
Nessa busca pelas formas corretas, Neli leva suas dúvidas à sala de aula para confirmar
ou refutar suas hipóteses. Na segunda aula do segundo semestre de curso (2019/1), em que as
filhas passam a frequentar a escola, Neli comenta comigo sobre Simona usar o pronome “tu” e
não “você”:
Eu: E como é que tá o português dela?
Neli: Dela, de Simona?
Eu: Sim.
Neli: Mesmo nível do búlgaro, só ela usa muito tu, não usa você
Eu: Ah tá, que aqui se usa muito tu, né?
Neli: Na escola, ela (*) tu.
Eu: [...] minha filha também tá falando tu, não usa você. Eu uso você no meu
dialeto. Eu falo você, mas a minha filha fala tu.
Neli: Simona fala tu, ela não usa você (Conversa em transcrição de áudio do
dia 13/04/2019).
Neli menciona o uso de “tu” por sua filha no lugar de “você” como um aspecto
indesejado em seu repertório, o que se revela na entonação do enunciado. Em situações como
essas, a explicação do professor requer um conhecimento que contemple aspectos da
diversidade linguística e social em seus usos heterogêneos. Por exemplo, a alternância
pronominal de segunda pessoa tu e você (e também a senhora / o senhor) no Brasil e em
Florianópolis tem sido amplamente debatida em estudos sincrônicos que revelam que há
variações no uso pronominal de segunda pessoa no que diz respeito a gênero, faixa etária, tipo
198
de relação entre os interlocutores, escolaridade, geografia e apreciação, mostrando-se a
realidade de uso da língua mais bem complexa que a apresentada por mim em sala de aula.
Segundo o estudo de Rocha (2012):
Os resultados mostram que, em Florianópolis, as mulheres usam mais tu que
os homens e os mais jovens usam mais a forma tu do que os mais velhos. Para
dirigir-se ao inferior, a forma mais utilizada pelo superior é tu, enquanto na
relação entre iguais, a forma mais utilizada é tu e, no caso de inferiores se
dirigindo aos superiores, a forma preferida é o senhor, seguida de você. [...]
Os mais escolarizados usam mais a forma tu do que os menos escolarizados.
Os indivíduos das zonas menos urbanas usam mais a forma tu do que os das
zonas mais urbanas. [...] A maioria dos ilhéus avalia positivamente a forma
você e a considera “boa” ou “mais bonita” que as demais formas de segunda
pessoa (tu e o senhor) e, por outro lado, não consideram “feia” ou “ruim”
nenhuma dessas formas, embora uma boa parte deles considere o tu “feio” ou
“ruim” (ROCHA, 2012, p. 11, ênfase minha).
Os resultados do estudo de Rocha (2012, p. 11) corroboram a percepção da aluna de
que a forma “tu” não é bem avaliada em alguns contextos, tendo sido o “tu” considerado por
boa parte dos ilhéus como “feio” ou “ruim”. A preferência de Neli por manter no repertório de
sua filha o uso de “você” e não de “tu” é notadamente uma preocupação que condiz com sua
busca pela melhor escola para as filhas. No entanto, enquanto partícipe de um cenário
linguístico ilhéu em região de pescadores (Neli mora no bairro Barra da Lagoa, situado em uma
região menos urbana de Florianópolis), a aluna percebe que o uso do “tu” é generalizado. Esse
índice a preocupa, levando-a a mencionar que gostaria de ter um melhor conhecimento da
língua (leia-se, de que formas são mais bem avaliadas, para ajudar as filhas, a terem “o melhor
português” possível). Suas buscas desafiam planejamentos de ensino de português a enfocarem
as formas mais bem avaliadas no contexto de uso da linguagem.
A pergunta sobre o uso da forma pronominal abre espaço, na sala de aula, para a
pergunta de Claitaine sobre a pronúncia da palavra “felicidade”, que aparece no texto que
estamos lendo:
Claitaine: Posso fazer uma pergunta, professora?
Eu: Claro!
Claitaine: Por que a gente falar felicidade ou felicidadi? Eu acho que é... pode
ser com /i/ também.
[...]
199
Claitaine: Se eu quer escrever...exemplo [Ela vai ao quadro e escreve “Te
amo”]
Eu: Ah, esse é o clássico né [risos] [tᶴi] amo.
Claitaine: Por que não é [te], é [tᶴi]? (Conversa em transcrição de áudio do dia
13/04/2019).
Para “dar certo” em português, esse tipo de questionamento de Neli e de Claitaine
sobre aspectos pronominais e fonológicos da língua é recorrente na sala de aula. Ambas partem
de observações empíricas da língua. Claitaine evidencia um questionamento sobre as relações
entre letras e fonemas, buscando compreender o que é permitido ou não no sistema da língua e
por quê.
A explicação técnica que forneci às alunas abrangeu os exemplos de /d/ e /t/ seguidos
de /i/ que, segundo as informei, tendem a palatalizar-se em algumas regiões. No caso de
“felicidade”, o /e/ final em posição átona pode ser pronunciado como [e] ou como [i]. Para
Claitaine, explico utilizando exemplos no quadro:
Eu: Muito bem... em muitos momentos, em muitas palavras o /e/, a gente
pronuncia como um [i], principalmente no final, quando ele é fraco. Por
exemplo, tem o t[ᶴ]i e tem o d[ᴣ]i. Essas questões são bem interessantes
Claitaine, eu vou trazer aqui pra ti [...] A gente fala [t]em mas a gente fala
[tᶴ]inha é isso? Mas, assim com... por exemplo, an[t]es [anoto a palavra
“antes” no quadro] an[tᶴi]s é com /e/ mas a gente fala [i]. É muito frequente
quando o /e/ tá no final da palavra, e ele é fraco, não é a sílaba mais forte, o
/e/ vai se transformar em /i/. É muito frequente, quer ver, ó tar[dᴣ]e... sen[tᶴ]e,
tá? E o engraçado é que quando a gente vai pegar essas duas letras, o /t/ e o
/d/, ocorrem modificações no som. Então, [de] se transforma em [dᴣi]. A gente
não fala tar[de], quer dizer tem gente que fala tar[de], [de], mas a maioria das
pessoas fala tard[ᴣi]... A gente faz um processo que chama palatalização,
transforma o [de] em d[ᴣi], como se fosse um d[ᴣi], assim ó [anoto no quadro
as palavras “sente” e “tarde”] sent[ᶴi], a mesma coisa, parece, que a gente faz...
não é sen[te], nem sen[ti], é sent[ᶴi], que nem diferent[ᶴi], também é com /d/.
E, no final, além de diferente, essa é a sílaba mais forte, SENt[ᶴi], essa é a mais
forte, TARd[zi], essa é a mais forte. Então, vai ser um /i/ aqui e, porque tem o
/t/, a gente vai chiar assim ó t[ᶴi]. Então, quando a gente vai colocar as vogais
na frente de cada uma dessas aqui da, de d[ᴣi], do, du, no meu dialeto, pelo
menos, sim. Tem gente que fala [dᴣ], tem gente que fala bom [dia]. Por
exemplo no nordeste você encontra, aqui também, e no interior de Santa
Catarina e em outros lugares do país você vai encontrar, mas a maior parte das
pessoas fala d[ᴣi]. Então você pode encontrar da, de, d[ᴣi], do, du, inclusive,
quando se escreve no final de palavras ou no meio, quando a sílaba é fraca,
você também vai encontrar o d[ᴣ]i, tá bom? (Eu em transcrição de áudio do
dia 13/04/2019).
200
Ao longo da explicação, aponto regiões em que se fala uma e outra forma, de modo
geral. Enfatizo a forma como eu falo dizendo que “a gente não fala” de um ou outro modo.
Modalizo com: “algumas pessoas falam”, e digo que “a maioria das pessoas fala” de tal ou qual
forma. Na sequência de dúvidas das alunas, percebo que há um desejo de saber sobre a forma
mais correta de falar. Neli exemplifica com os falares que costuma ouvir na região em que
mora em Florianópolis. O comentário seguinte de Neli reforça o desejo dessa busca pela forma
correta, pois a aluna diz que treinava para falar de um dado modo que não era mais fácil para
ela: “num tempo eu tava entrenando pra falar ‘bom d[ᴣi]ia’, ‘boa noi[tᶴi]’” (Neli, em transcrição
de áudio do dia 13/03/2019). Falo, então, sobre a diversidade de formas possíveis no país e
comento sobre não haver “um modo mais certo”. Abaixo, trago as falas das alunas:
Neli: Fácil [de], eu ouço mais esse [de] aqui na ilha.
Eu: Você mora ainda na Barra da Lagoa?
Neli: Sim, e lá também fala muito “bom [di]a”, “boa noi[ti]”, e, assim,
felicida[di]. Não fala assim muito [d[ᴣi]ia, noi[tᶴi]]
Eu: Isso! O manezinho, por exemplo, a pessoa que é originária daqui, se ela
vive ainda em regiões mais rurais, e mais afastadas do centro – e, não
necessariamente, porque meu marido é manezinho e não fala assim – mas,
quando ele é mais originário, ele fala assim: [dia], noi[ti]
Neli: A maioria das pessoas com quem falo fala [dia], fala noi[ti].
Eu: E Rio Grande do Sul também. Você tem muitos gaúchos ali na barra?
Pode ser também.
Neli: Aqui na ilha tem muitos gaúchos do Rio Grande.
Eu: Sim, tem muita gente do Rio Grande do Sul que fala assim. (Conversa em
transcrição de áudio do dia 13/04/2019).
Em seguida, na mesma aula, também Claitaine volta a perguntar sobre se é uma forma
ou outra.
Claitaine: É b[õw] dia ou b[õw] dia? [eu não percebi diferença ao escutar
várias vezes o áudio, mas creio que Claitaine se referia à oposição entre b[õ]
e b[õw]]
Eu: qual é a diferença? A gente fala como se fosse assim, ó, [bõw] [escrevo
no quadro uma forma simplificada da transcrição fonética]
[...]
201
Eu: O Brasil, ele é muito grande, então tem vários modos de falar o erre, vários
modos de falar esse /i/ final, esse /e/ final. Como eu te disse, no meu dialeto,
lá no Norte, ó, eu falo nor[tᶴi], eu falo tard[ᴣi], mas aqui os vizinhos da Neli
vão falar tar[di] e tá tudo certo, não tem um modo mais certo
Neli: Eu dou conta de esso, porque tava muito difícil para ler “bom d[ᴣi]a”.
Sempre quando leio, é mais fácil para ler “bom [di]a”. E, num tempo eu tava
entrenando pra falar “bom d[ᴣi]ia”, “boa noi[tᶴi]”, assim
Eu: ah você tava empenhada pra falar assim?
Neli: E quando eu falo “boa noi[tᶴi]” pro meu vizinho, ele me fala “boa noi[ti]”
[rimos] (Conversa em transcrição de áudio do dia 13/04/2019).
Neli aponta aspectos sobre o treinamento para “dar certo” em português. Assim como
Rosario, a aluna busca as formas mais bem avaliadas na língua portuguesa. Comento sobre a
diversidade de formas possíveis para falar em cenários reais e, em seguida, relaciono que a
valoração de formas como únicas ou melhores está relacionada com interesses políticos de
certos grupos em determinar o que conta como língua:
Eu: Não adianta, vai depender da região que você tá. Por exemplo, a minha
irmã também se casou com um manezinho. Então, ela começou a falar como
ele fala. É muito natural que a gente vá... comece a falar da forma que as
pessoas que convivem com a gente falam. É muito comum que isso aconteça.
Vocês podem escolher. Claro que o mais fácil é vocês escolherem aquilo que
tá mais perto da convivência de vocês. Nesses termos, assim, não existe
diferença. Existe diferença, digamos assim, apreciativa do que é considerado
mais perto da norma e mais distante da norma. Nesse sentido, existem
tentativas de dizer que existe uma variedade que é mais... é... digamos assim...
que é melhor. Existe uma tentativa de dizer isso, tanto é que existe por
exemplo, fonoaudiólogos que são profissionais da fala que tentam trabalhar
esses aspectos da oralidade. Por exemplo, no Jornal Nacional, que é um jornal
de ampla divulgação nacional, e existe um discurso que existe... que eles falam
de uma forma que é melhor pra todos entenderem. Então, o William Bonner
vai falar desse jeito, então vocês podem... Vale a pena vocês olharem como o
William Bonner fala e perceber o que que eles estão dizendo que é uma
oralidade mais fácil de ser compreendida, certo? É, e o William Bonner, ele
fala [dᴣi], boa tar[dᴣi], boa noi[tᶴi]. Não estou dizendo que é mais certo falar
assim tá? Estou dizendo que tem gente que diz que oralidade é, sei lá, melhor
ou menos marcada. Só que isso também é uma construção, tá, gente? É uma
ficção, isso serve pra determinados interesses, é uma construção política dizer
que uma língua é melhor que a outra. É uma construção política (Eu, em
transcrição de áudio do dia 13/04/2019).
Na relação que elas trazem, eu recomendo que elas escolham o que está mais próximo
da convivência delas, porém isso não parece ser o que as alunas buscam em termos de
202
aprendizagem de língua portuguesa. Tampouco faz sentido para elas uma visão de construções
melhores ou piores, como sendo ficcionais. Elas querem saber, exatamente, quais formas são
mais prestigiadas e o que significam, para que as possam utilizar em contextos específicos: no
trabalho, como aponta Rosario; na educação da filha, como aponta Neli; na necessidade da
segurança para ações cotidianas, como aponta Claitaine, que quer ter certeza da invariância no
uso das formas. Nesse quadro, a diferença de formas é notada e almejada para usos sociais
específicos.
As experiências de aprendizagem que as alunas tiveram ao longo de suas formações
em seus países de origem estiveram ligadas ao treinamento, inclusive na oralidade da própria
língua. O normativismo subjacente à essa aprendizagem as faz buscar essa diferenciação na
linguagem (SIGNORINI, 2006). Suas concepções sobre língua e aprendizagem são refletidas
nas dúvidas que elas têm quanto às formas da língua em aprendizagem. Nessa tônica, suas
dúvidas não dizem respeito apenas ao interesse por saber que formas são possíveis na língua
em aprendizagem, mas quais formas são as mais legítimas (SIGNORINI, 2006).
Entendendo a importância de problematizar essa busca para “dar certo” em português,
que pressupõe o julgamento de valor de certos falares em detrimento de outros, baseado em
uma pretensa qualidade essencial, ressalto o caráter político e ideológico da construção da
“melhor” forma. Interpreto que a ideologia da padronização está refletida nessa busca por
apreender as formas de prestígio, que darão acesso aos lugares sociais de prestígio, e não as
mais “fáceis” e mais “próximas da convivência” das alunas. Milroy (2011), por exemplo, critica
como idealista a tentativa de certos linguistas e professores/as de convencer os usuários da
língua de que não há diferenças relevantes entre as formas na realidade de uso da língua.
Segundo o autor, os usuários percebem os diferentes efeitos das formas consideradas de
prestígio em relação às estigmatizadas nas interações cotidianas. Heller, Pietkainen e Pujolar
(2018) também consideram que não é por acaso que as pessoas se esforçam para mudar o
sotaque. Há questões de pertencimento, de inclusão e de exclusão envolvidas nesse esforço, que
dizem respeito a acessar certos recursos construídos socialmente como possíveis a partir da
aquisição simbólica de coisas como línguas locais e variedades de prestígio. Nesse quadro de
busca por recursos linguísticos que as assegurem participar de certos espaços sociais, a lógica
de legitimação pelo uso da língua impera, como problematiza Signorini (2002; 2006). Minha
tentativa de lhes explicar que “não passa de uma construção política” dizer que uma variedade
difere da outra, portanto, não é o suficiente para convencer as alunas de que falar qualquer
203
forma é suficiente, precisamente porque, como digo, o valor de uma forma linguística é uma
construção política.
Também para essas mulheres, a linguagem é interpretada social e politicamente, pois
elas buscam fazer coisas no mundo e dar certo “em português”, mas, frente a uma nova língua,
é a variedade de prestígio que pretendem aprender, uma vez que, para elas é importante acessar
lugares de prestígio social, ou status de cidadãs no novo contexto em que vivem: frequentar
cursos profissionalizantes, reivindicar seus direitos, encontrar as melhores escolas para as
filhas, encontrar um emprego, dentre outras necessidades e buscas. A tentativa de dissuadi-las
do propósito de aprender a norma padrão aparece dissociada de seus reais interesses de
aprendizagem.
E, apesar de defender, para as alunas, um posicionamento de arbitrariedade do sistema
em relação ao uso, esse princípio parece não ter direcionado a minha postura como professora.
Nas transcrições, evidenciaram-se constantes correções às falas das alunas em sala de aula.
Relaciono essa atitude à minha formação como professora e pesquisadora (REIS; DURÃO,
2015; 2016), mas não somente. Também associo o enfoque na correção às minhas crenças
enquanto usuária de uma língua colonial. Como observa Fanjul (2011), a padronização, quando
é muito distante da realidade de uso da língua na relação oralidade/escrita, pode levar seus
usuários a produzirem línguas distintas na escrita e na oralidade. Um exemplo na língua
portuguesa seria o da colocação pronominal. Fanjul (2011) classifica esse tipo de padronização
como bipolar, com dois grandes centros (Portugal e Brasil) a referenciar os outros países
lusófonos. Em contraposição ao tipo bipolar, estaria a padronização policêntrica, no caso do
Espanhol, em que a norma peninsular é discursivizada como a central, em torno da qual
orbitariam as normas americanas (FANJUL, 2011).
A discrepância entre a variedade de formas em uso e as registradas nos compêndios
gramaticais, essas últimas ensinadas nos bancos escolares, pode operar no imaginário dos
usuários nativos da língua como se tivéssemos que aprender na escola uma outra língua, que
não nos pertence. Signorini (2012) denomina essa como uma sensação de déficit que o aluno
tem que administrar ao se ver na situação de aprender a própria língua materna na escola. No
caso dessas alunas, no contexto de ensino de português como língua de acolhimento, é preciso
acolher propósitos específicos de aprendizagem das alunas, que aqui conseguem apontar muito
bem. Cabe questionar se os instrumentos que temos utilizado (e como os temos utilizado) ou,
de forma mais geral, as amostras de língua que nós professores selecionamos para abordar em
sala de aula referem-se mais à idealizações ou se respondem à língua em uso, em sua variedade
204
de propósitos e estilos almejados pelos alunos e requeridos para realizar as atividades em que
se envolvem.
Nas interações com as alunas do curso, a correção de formas foi uma constante, tanto
nas falas das alunas quanto nas minhas intervenções. Interrompendo os enunciados das alunas
a todo instante, desempenhei um papel importante enquanto legitimadora da ideologia da
padronização, com forte apelo à correção, apesar de sustentar, por vezes, argumentos contrários
ao que fazia na prática.
Por exemplo, em uma atividade de conversação, que consistia em praticar os tempos
verbais do pretérito (perfeito e imperfeito), a partir de relatos de experiências no Brasil, Neli e
Marlene comentaram sobre o processo de mudança para o Brasil. Após as falas das alunas teci
considerações sobre suas narrativas que não diziam respeito principalmente ao que elas diziam,
mas ao como. Enfatizei o emprego de formas corretas como índice de bom desempenho na
atividade. Ao longo de suas falas, corrigi-as com frequência tal, que a fluidez narrativa chegou
a ser prejudicada (o que constatei ao ouvir as transcrições). Em dado momento, frente às
intervenções, as alunas passavam a não mais enfocar o relato em sua fala, mas o emprego de
formas “corretas”, como mostro a seguir:
Neli: Quando nós chegamos aqui no Brasil, primeiro moramos na
Florianópolis, Continente, São José, bairro Ipiranga, um meses na casa de
amigo de meu marido, depois nós viajamos pouquinho, Minas Gerais, São
Paulo (*), para conhecer, e, quando voltamos aqui na ilha, moramos um mês
na Canasvieiras (*) com criança, essas coisas, procuramos casa e assim (*)
Eu: Vocês moravam em casa? em Canasvieiras?
Neli: Não, não
Eu: Apartamento?
Neli: Apartamento. Esse que dá por temporada na verão e na inverno dá anual.
Eu: Sei, aluguel.
Neli: Si, só tem que ser de dezembro, porque na temporada eles alugam pra...
Eu: Ah, eles alugam pra turista
Neli: Alugam pra turista
Eu: Nossa, daí o preço é difícil... É difícil lá no Norte conseguir uma coisa
anual né? No Norte da ilha?
Neli: Não só no Norte. Qualquer lugar perto de praia é difícil conseguir anual,
porque pessoas no verão trabalham com turista.
205
Eu: Sei, perfeito. E aí, depois de Canasvieiras, vocês já foram pra onde? Vocês
foram pra Barra da Lagoa?
Neli: Sí, nós viajamos por qualquer lugar da ilha procuramos casa, essas coisas
Eu: “Pra todo lugar”
Neli: Pra todo lugar “buscar” ou “procurar”?
Eu: “Procurar”.
Neli: “Procurar”. E assim, achamos a nossa casa.
Eu: Muito bom! Perfeito! Você conjugou todos os verbos no passado de forma
correta. Muito bom! Muito bom mesmo! Bem legal! (Conversa em transcrição
de áudio do dia 10/11/2018)
Na apreciação da narrativa da aluna, privilegiei o feedback em torno da forma ao relato
sobre a busca de moradia – o foco da atividade. Em outra situação, sugeri o uso de formas com
justificativas de desambiguação, omitindo das alunas a estigmatização que havia em torno, por
exemplo, da falta de concordância verbal:
Eu: Vocês devem fazer esforço... Vocês, que têm a língua francesa e haitiana
como referência primeira, vocês devem fazer um esforço pra pronunciar no
final o /s/, no final das palavras no português, porque, senão você [o
interlocutor] não vai saber se é uma pessoa ou se são várias, porque vocês não
pronunciam o final das palavras nem em francês, nem... né? E, no português,
é muito importante que elas sejam pronunciadas, porque senão, não vou saber
se é uma pessoa ou mais, ok? Dako? Então “eles gostariam” (Eu, em
transcrição de áudio do dia 24/11/2018).
Apesar do significado social dessas formas, a explicação que dou às alunas foge à
realidade situada de uso da língua. A justificativa oferecida se assenta em pressupostos
pretensamente intrínsecos à estrutura da língua (desambiguação), retirando o sentido social que
podem produzir essas formas, conhecimento que é requerido pelas alunas.
Em outros momentos, faço uso de separações categóricas, tais como formalidade vs.
informalidade, como se houvesse uma linha nítida entre essas instâncias e como se todas as
situações de uso da língua pudessem ser divididas com base nesses critérios:
Eu: Quando eu falo pra vocês no WhatsApp, eu misturo formalidade com
informalidade, porque a gente tem uma proximidade, né? Nós nos
conhecemos um pouco, mas também porque eu tenho uma postura de
professora de falar português, de dar um exemplo de fala mais formal, e
206
porque eu tô escrevendo um texto (Eu, em transcrição de áudio do dia
24/11/2018).
Em minhas falas, mais do que “misturar formalidade com informalidade”, misturo
concepções de língua(gem) diferentes e que parecem não convencer de todo as alunas. Milroy
(2011) chama a atenção para a desconfiança que uma concepção deslocada da realidade social
sustentada por especialistas pode gerar no usuário da língua(gem). O autor diz que é um risco
desprezar as opiniões públicas, porque são “manifestações de posições e crenças
profundamente enraizadas na sociedade” e “amplamente difundidas na sociedade” (MILROY,
2011, p. 62). Em suas palavras: “se dissermos às pessoas que não são verdadeiras determinadas
coisas sobre a língua em que elas acreditam firmemente, elas desconfiarão de nós e rejeitarão o
que dizemos” (MILROY, 2011, p. 62).
Interpreto algumas das falas de Marlene como uma desconfiança de minha
qualificação enquanto professora “certificada” de língua portuguesa e estudante de
pós-graduação. A aluna, também especialista em metodologia da pesquisa, demonstra dúvidas
sobre minha legitimidade docente e, ao falarmos sobre o projeto do Curso de Português, ela
pergunta se eu “já sou professora”: “Este projecto es para finalização de sus estúdios de
professora ou ya você es professora?” (Marlene, em transcrição de áudio do dia 10/11/2018).
Marlene também questiona a pertinência do projeto: “si el proyecto no tiene las madres
haitianas, igual te lo van a validar34?” (Marlene, em transcrição de áudio do dia 20/10/2018).
Ela vê incoerências no projeto e aciona sua identidade de especialista em metodologia da
pesquisa: “yo, como investigadora, siempre ando por en cima a question, enton eso cambia
cuando tiene una investigación” (Marlene, em transcrição de áudio do dia 20/10/2018). Em sua
fala, também questiona a minha identidade de pesquisadora, chamando a atenção, como coloca
Signorini (2006), que o status de legitimidade de falante não depende apenas da norma, mas de
uma posição social específica.
Para retornar à pergunta base da etnografia, como propõe Erickson (1990), pode-se
dizer que o que está acontecendo no cenário investigado é um confronto de concepções sobre
34 Vale lembrar que Marlene faz esse questionamento em relação ao propósito investigativo inicial da pesquisa,
voltado à experiência de aprendizagem de mães haitianas, constando esse objetivo no termo de compromisso que
as alunas participantes da pesquisa assinaram. Ao longo da investigação, com a mudança do campo pela demanda
de alunas de outras nacionalidades, o curso passou a dirigir-se a mães imigrantes, sem se dirigir a nenhuma
nacionalidade, em específico, o que ocasionou a mudança de enfoque investigativo. Por uma questão burocrática,
a autorização para a realização da pesquisa é feita de modo anterior à entrada em campo. Porém, na epistemologia
utilizada, como bem salienta Marlene, se o campo muda, o objetivo da pesquisa também muda. O compromisso
com essa atualização do campo na pesquisa foi dialogado com as alunas às quais foram explicadas que suas
experiências seriam também enfocadas na pesquisa.
207
língua(gem) permeado/constituído por ideologias, dentre as quais encontra-se a da
padronização. O embate em torno da variedade de prestígio e sua importância e quais formas a
caracterizam é um problema de linguistas, mas também de professores de línguas e sobretudo,
de formadores de professores de línguas. Essas crenças se materializam em políticas e é preciso
atenção elas, como nos coloca Milroy (2011) sobre essa problemática:
Ao selecionar uma variedade uniforme, bem delineada, para a análise, os
teóricos da linguagem podem desejar mostrar que estão preocupados
exclusivamente com as propriedades internas da língua e não com as questões
sociais ou ideológicas, que podem se confundir durante a análise. Mas quando
uma variedade padrão é explicitamente selecionada, ou quando ela paira sobre
os bastidores da análise, parece que suposições sobre questões sociais estão
necessariamente envolvidas, porque, embora a propriedade interna básica de
um padrão seja a uniformidade, ele se caracteriza externamente por numerosos
critérios sociais e ideológicos: é usado na escrita, tem status “culto”, tem
funções literárias, adquiriu “prestígio”. Assim quando a variedade padrão é
selecionada, fica difícil evitar contrabandear para dentro de uma análise
linguística interna um conjunto de suposições não analisadas que são
condicionadas pela ideologia do padrão (MILROY, 2011, p. 73, ênfase
minha).
Em várias das falas das alunas participantes da pesquisa, as “questões sociais que estão
necessariamente envolvidas” são um pressuposto para suas buscas. A partir de suas posições
sociais, elas percebem muito bem que língua precisam acessar em cada situação social.
Enquanto mães, mantêm seus significados tradicionais, dentre eles, suas línguas maternas,
buscam estimular a consciência no uso de formas das filhas, para evitar as “misturas”, pois
entendem (e percebem) que misturas não são bem quistas na sociedade. Rosario, especialista
em comunicação, entende que precisa de um português mais sofisticado para atuar em sua área,
buscando, alternativamente, uma esfera de atividade mais “sencilla, mais fácil”, mais
conveniente aos seus recursos linguísticos: o ensino da língua materna, o espanhol. Marlene
procura aprender português rapidamente para fazer cursos profissionalizantes e Claitaine deseja
autonomia para corrigir seu currículo, para enviar e-mails com seu currículo anexo, dentre
outras várias ações que demandam o conhecimento de formas que permitam acessar esses
vários lugares sociais com o uso da língua(gem).
As necessidades e buscas das alunas do curso de português para mães imigrantes
requerem a aprendizagem de usos linguísticos específicos, relativos a diferentes esferas de
atividades. A análise e interpretação dessas singularidades pode contribuir para um
estranhamento dos trilhos que temos utilizado em nossas práticas educacionais, de modo a
208
considerar alguns dos traços dessa ordem sociocultural e linguística heterogênea. No capítulo
seguinte, de considerações finais, aponto, a partir da discussão e interpretação das questões que
emergiram da pesquisa de campo realizada até aqui, de que modo o ensino pode ser configurado
para considerar as necessidades e buscas de alunas mães imigrantes aprendizes de português.
209
6 COMO MULHERES-MÃES-IMIGRANTES FAZEM PARA “DAR CERTO
EM PORTUGUÊS”: CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o intuito de compreender de que modo o ensino de língua portuguesa pode ir
ao encontro de necessidades e projetos pautados por mulheres-mães-imigrantes, busquei
conhecer que necessidades e projetos se evidenciariam no campo. Assim, durante o
desenvolvimento de um curso de português para mães imigrantes por mim proposto, utilizei um
diário de campo, áudio-gravações de aulas e entrevistas e produções textuais das alunas para
gerar os dados desta pesquisa. Claitaine, Marlene, Neli e Rosario, gentilmente, aceitaram
participar da pesquisa, compartilhando as singularidades de suas experiências diaspóricas.
Conforme princípios da etnografia da linguagem, os significados construídos pelas
participantes da pesquisa foram privilegiados. Como resultado de muitas idas e voltas aos dados
gerados, em diálogo com a teoria, e levando em conta o macro contexto da pesquisa, foram
geradas quatro questões, as quais serviram de arcabouço para a análise e são sumarizadas a
seguir.
A primeira questão emergente do campo, “Infelizmente, não podemos fazer nada!”,
apontou para a necessidade de dominar gêneros discursivos da esfera jurídica, como a
reclamação e a denúncia. Essa necessidade também aparece em outros trabalhos, como em
Ruano (2020) e Bernardo (2015). Ruano (2020) pontua que a exploração no ambiente de
trabalho foi trazida por alunas que denunciaram abusos em seus direitos, a partir dos quais
salienta a importância que tem dado ao tema na orientação aos professores do projeto que
coordena na UFPR: “[...] Nesse sentido, nossa equipe tem apresentado com frequência essas
questões em nossas formações semanais, com o intuito de que os professores incluam em seus
materiais didáticos, sempre que possível, questões trabalhistas, direitos e deveres, práticas
abusivas e outras” (RUANO, 2020, p. 225).
São Bernardo (2015) pontuou a importância de abordar, na preparação do material
didático para um certo grupo, questões relacionadas aos direitos da mulher, frente aos relatos
de abuso de alunas participantes de sua investigação. A importância de desenvolver recursos
linguísticos para o domínio de gêneros do discurso como a denúncia é refletida na Coleção
Vamos Juntos(as)! – Curso de Português como Língua de Acolhimento – Trabalhando e
Estudando (BIZON; DINIZ; CAMARGO, 2020), em pontos temáticos a serem trabalhados
com o aluno. Os autores abordam questões sobre direitos humanos e direitos trabalhistas.
Trago esses outros autores para pontuar que o desrespeito aos direitos humanos não é
uma questão pontual, mas uma realidade do contexto migratório de hospitalidade seletiva
210
brasileiro, que requer um trabalho com a linguagem que leve em conta a realidade de suas
experiências diaspóricas. No caso com Claitaine, por exemplo, vi-me na posição de sair do meu
papel de professora para buscar conhecimentos de que eu não dispunha. O episódio aponta para
a necessidade de que projetos como o curso de português para mães imigrantes sejam
articulados a serviços de assistência providos por outras áreas, como o Direito e da Psicologia.
Portanto, como contribuição para projetos de ensino de português a mães-imigrantes sugiro aos
gestores buscar a articulação com agentes e projetos de outras áreas, uma vez que as
emergências trazidas pelas alunas podem demandar amparo jurídico, psicológico e outros.
Saliento a importância de fazer alianças com grupos que trabalham com Psicologia e Migração,
tanto no que diz respeito ao amparo das estudantes, quanto dos professores que atuam junto a
elas e que se veem, muitas vezes, sem saber como tratar certas temáticas em sala de aula,
considerando a densidade emocional das narrativas.
A segunda questão emergente do campo, “Tengo pressa de estudiar el português,
muita pressa!”, tratou da divisão do tempo para articular suas atividades cotidianas. Entre essas
atividades, foi mencionada a frequência ao curso de língua portuguesa e a possibilidade de
realizar atividades no espaço fora do curso, o que suscitou reflexões em torno do espaço-tempo
da aula. A realização do curso de português aos sábados pela manhã possibilitou a presença das
alunas que trabalhavam durante a semana. A possibilidade de levar os filhos permitiu que as
mães sem rede de apoio estável tivessem um espaço e um tempo para estudar com tranquilidade,
sem as constantes interrupções que crianças pequenas fazem quando próximas às mães –
questão que foi prevista por mim e que foi corroborada pelas alunas.
No que tange à preparação de materiais didáticos que contemplassem necessidades e
projetos provenientes das urgências e esperas dessas mães, como discutido na seção de
materiais didáticos, as necessidades mais salientes e recorrentes estavam relacionadas à esfera
de atividades laborais. No entanto, entendo que teria sido importante considerar outras
demandas, que também foram solicitadas e que, por questões de tempo ou por não serem
comuns a todo o grupo, não puderam ser abordadas. Como exemplo, pontuo necessidades
relacionadas ao uso de recursos digitais, como solicitado por Claitaine, que não se
configuravam buscas de outras participantes da pesquisa. Sendo assim, para um olhar
singularizado, creio necessário desenvolver formas de realizar um atendimento mais
personalizado a cada aluna, reservando-se um tempo por aula para atender a questões mais
pontuais para cada aluna. Essa proposta de atendimento singularizado poderá requerer mais de
um professor por turma de trabalho, a depender da quantidade de alunas. Outra sugestão para o
211
trabalho singularizado seria a abertura de um espaço para solicitações dos alunos, em que
necessidades e projetos pontuais pudessem ser transformados em materiais didáticos
singularizados.
No contexto do curso, a comunicação via mensagens de WhatsApp, por exemplo, foi
um espaço de trocas em que emergiram necessidades e projetos das alunas, por vezes,
relacionadas a urgências da esfera do trabalho. No caso de Claitaine, em mais de uma de suas
solicitações, pude ir ao seu encontro atendê-la. Porém, penso que esse espaço poderia ter ficado
constantemente aberto às outras alunas também, de modo explícito, para que suas demandas
reais fossem enfocadas.
O modo como foi conduzida a pesquisa, sem um questionamento direto sobre quais
seriam as necessidades e projetos das alunas, fez com que as questões surgissem delas próprias.
Não creio que teria sido mais efetivo o uso de entrevistas estruturadas, uma vez que a
investigação teórico-metodológica da etnografia não presume uma identificação pontual de
questões do campo. Ao contrário, requer um olhar reflexivo, analítico e interpretativo ao longo
de todo o tempo em campo, e posterior ao campo, de modo a fazer associações entre o contexto
imediatamente investigado e o contexto mais amplo em que se dão as ações.
Além dos espaços alternativos de troca que possibilitam as esferas digitais, considero
importante que a elaboração didática possa ser flexível, colocando-se sempre aberta a
reformulações advindas das necessidades emergentes das alunas. Mais ainda, creio que seja
possível deixar o convite sempre aberto às sugestões temáticas das alunas sobre desafios e
obstáculos reais por que passam no uso linguístico cotidiano, como proposta conjunta de
elaboração de material didático.
A terceira questão emergente do campo, “Negro não, marrom fofinho”, que traz a
dificuldade de Marlene e Rosario de traduzir culturalmente o termo negro, novamente aponta
para a sedimentação de ideias cristalizadas de intolerância a sujeitos/grupos considerados como
“outros”. No caso em análise, foram enfocados procedimentos discursivos que auxiliam na
manutenção do racismo de um modo velado. As próprias alunas, Marlene e Rosario, em seus
questionamentos, apontam para a importância de falarmos sobre questões raciais em sala de
aula. Suas necessidades de compreensão do uso do termo negro no contexto sócio-histórico
brasileiro atual vão na contramão de discursos que invisibilizam, diminuem e apagam essas
temáticas de ambientes de ensino de línguas.
A partir do debate sobre o procedimento discursivo que apontaram as alunas, o
branqueamento discursivo (NOGUEIRA; MAIOR, 2020), sugeri que falar sobre a temática do
212
racismo pode gerar maior consciência sobre os mitos, as teorias e as experiências históricas que
produziram esses sentidos negativos sobre o negro. Também destaquei a importância de
enfocarmos os sentidos positivos que, como demonstram Rosario e Marlene, constitui a cadeia
de sentidos para o termo negro na Venezuela. Ressaltei a importância do debate sobre o racismo
na sala de aula de línguas por ser esse um discurso que fere (MELO, 2015) e que, portanto,
deve ser combatido. Além disso, justifica-se o debate sobre o racismo pelos indícios de
proliferação desses discursos na escola e na sociedade como um todo (MELO; MOITA LOPES,
2015).
Melo (2015) também aborda uma questão fundamental, a qual corroboro: o
silenciamento sobre raça na formação de professores. Melo e Moita Lopes (2015) destacam
ainda outras temáticas relacionadas à racial, que também são silenciadas na sociedade, como a
escravidão, a ciência da raça, a democracia racial, a negritude e a mestiçagem. Tais temáticas,
por estarem presentes na sociedade, impactam a sala de aula de línguas, devendo ser
consideradas em perspectivas de ensino que não tomam a língua pela língua (MELO, 2015),
mas que a veem como um construto histórico-social que constrói e medeia as relações humanas.
A quarta questão emergente do campo, “É muito complicado não falar correctamente
o português”, diz respeito às buscas por legitimidade de falantes em um ambiente altamente
regulamentado de práticas linguísticas em contraposição à idealização do professor de
português sobre as amostras de língua que escolhe para compor o material de ensino. O desafio
que se coloca ao professor de português para mães-imigrantes é o de levar em conta as
especificidades das buscas das alunas, sem idealizações em torno do que sejam suas
necessidades e projetos. Esta pesquisa evidenciou que as alunas conseguem gerar soluções
criativas para muitos de seus intuitos discursivos. Outras demandas, no entanto, requerem usos
linguísticos bastante específicos, sendo necessária a mediação do professor.
Em seus esforços para “dar certo em português”, as alunas precisaram mudar de
planos, esperar e priorizar outras urgências. Ao compartilharem suas experiências diaspóricas,
evidenciam que suas conquistas e dificuldades não representam apenas uma “tradução” entre
línguas, mas uma parte significativa de suas narrativas de pertencimento, um processo de
marcação identitária complexo e negociado, em que o território exige uma permeabilidade, por
vezes indesejada, de outros conteúdos. Essa complexidade demanda do professor sensibilidade
com o uso pelas alunas de todo o seu repertório linguístico em sala de aula, principalmente no
tocante às línguas que utilizam com seus filhos.
213
No que tange aos objetivos desta pesquisa em específico, para além das características
que outros estudos têm levantado sobre o que conta como acolhimento, língua de acolhimento
e PLAc, as alunas mostram que o acolhimento é também algo que parte das próprias alunas,
que se acolhem protagonizando uma série de trocas em que a escuta tem uma centralidade.
Desse modo, ressalto as subjetividades dos sujeitos, a complexidade e a singularidade de seus
projetos diaspóricos, o respeito aos seus repertórios linguístico-culturais e o lugar devido e
humano no cenário de mobilidade global. Corroborando questões já citadas, entendo a
importância de mudarmos o olhar para esses sujeitos, para que os tomemos pelo que têm e pelo
que são, pelo que trazem, pelo que agregam, pelo que movem e transformam, pelo que lutam e
pelo que buscam.
Importa ressaltar que esta tese foi escrita durante a pandemia de coronavírus, momento
em que o descaso e a ingerência com que foi tratada a crise sanitária no país acentuaram a
desproteção a grupos já precarizados por processos históricos e sociais, como os/as negros/as,
os/as imigrantes e as mulheres, principalmente as que têm crianças pequenas sob sua
responsabilidade. Nesse momento, ressalto a importância da ferramenta analítica da
interseccionalidade para a melhor compreensão da forma como as forças estruturantes da
sociedade precarizam mais as vidas de certos sujeitos/grupos que as de outros.
214
REFERÊNCIAS
AKOTIRENE, C. O que é interseccionalidade. Belo-Horizonte: Letramento, 2018.
ALMEIDA, S. O que é racismo estrutural? Coleção Feminismos Plurais. Belo Horizonte:
Letramento, 2018.
ALMEIDA, S. Prefácio. In: HAIDER, A. Armadilha da Identidade: raça e classe nos dias de
hoje. São Paulo: Veneta, 2019. p. 7-19.
AMADO, R.S. O ensino de português como língua de acolhimento para refugiados. Revista
da SIPLE, Brasília, ano 4, n. 2, out 2013.
ANDERSON, B. Comunidades imaginadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
ANDRADE, R. S. Ensino-aprendizagem de português língua-estrangeira na perspectiva do
letramento crítico: os imigrantes haitianos em Cuiabá-MT. Dissertação de Mestrado
Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem – Instituto de Linguagens da
Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá, MT, 2016.
ANDRIGHETTI, G.; PERNA, C.; PORTO, M. Português como língua de acolhimento na
Lomba do Pinheiro: relatos de práticas pedagógicas. Brazilian English Teaching Journal.
Porto Alegre, v. 8, n. 2, p. 191-208, July-December, 2017.
ANUNCIAÇÃO, R. F. M. A língua que acolhe pode silenciar? reflexões sobre o conceito de
“Português como Língua de Acolhimento”. Revista X, Curitiba, vol. 13, n. 1, p. 35-56, 2018.
ANZALDUÁ, G. Como domar uma língua selvagem. Tradução por Joana Plaza Pinto e Karla
Cristina dos Santos. Caderno de Letras da UFF – Dossiê Difusão da Língua Portuguesa. n. 39,
2009, p. 297-309.
APPIAH, K. A. Na casa de meu pai. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.
ARCE, A. M. O bolivarianismo na Venezuela da era Chavez (1999-2013). Doutorado em
HISTÓRIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS, 2017. 281f.
AREND, S. M. F. Relações interétnicas na província de Santa Catarina (1850-1890). In.:
BRANCHER, A.; AREND, S. M. (Orgs.) História de Santa Catarina no século XIX.
Florianópolis: Ed. UFSC. 2001. pp. 31-52.
ASSIS, M. Notícia atual da literatura brasileira. Instinto de nacionalidade. Obra
Completa de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, vol. III, 1994. Publicado
originalmente em O Novo Mundo, 24/03/1873.
AZEVEDO, R. Governo petista do Acre agora quer impedir a imigração de haitianos. Em
2012, alunos foram obrigados a elogiá-la na autoritária e esquerdopata redação do Enem.
Revista Veja. 16 de jan. de 2014. Disponível em:
https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/governo-petista-do-acre-agora-quer-impedir-a-
imigracao-de-haitianos-em-2012-alunos-foram-obrigados-a-elogia-la-na-autoritaria-e-
esquerdopata-redacao-do-enem/ Acesso em: 03 nov. 2020.
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 2a ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997
215
BAHKTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 14ª ed. São Paulo: Hucitec, 2010.
BAENINGER, R. G. Imigração e gênero: as mulheres haitianas no Brasil. In: Imigração
haitiana no Brasil. Jundiaí: Paco, 2016. p. 267-286.
BAENINGER, R. G. et al. Imigração haitiana no Brasil. Jundiaí, Paco, 2016.
BAENINGER et al. Migrações Sul-Sul. 2. ed. Campinas: Núcleo de Estudos de População
“Elza Berquó” – Nepo/Unicamp, 2018.
BAENINGUER, R.; PERES, R. Migração de crise: a migração de crise para o Brasil. Rev.
Bras. Estud. Popul. [online]. vol.34, n.1, pp.119-143, 2017.
BERMAN, Marshall. Baudelaire: o modernismo nas ruas. In: ______. Tudo o que é sólido
desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. cap.
3, p. 127-165.
BHABHA, H. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998
BIZON, A. C. C. Narrando o exame Celpe-Bras e o convênio PEC-G: a construção de
territorialidades em tempos de internacionalização. Tese de doutorado. (Doutorado em
Linguística Aplicada- Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de
Campinas). Campinas: Unicamp, 2013, 445f.
BIZON, A. C. C.; CAMARGO, H. R. E. Acolhimento e Ensino da Língua Portuguesa à
População [...] In: BAENINGER, R. (org). Migrações Sul-Sul. 2. ed. Campinas: Núcleo de
Estudos de População “Elza Berquó” – Nepo/Unicamp, 2018. p. 712-726.
BIZON, A. C. C.; DINIZ, L R. A..; CAMARGO, R. H. E. (Orgs.). Curso de Português como
Língua de Acolhimento: Trabalhando e estudando. Livro do(a) estudante. Coleção Vamos
Juntos(as)! Campinas, SP: Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” – Nepo/Unicamp,
2020. Disponível em:
https://www.iel.unicamp.br/sites/default/files/trabalhando_estudando%20%281%29.pdf
Acesso em: 12 julho 2021.
BLOMMAERT, J.; JIE, D. Ethnographic fieldwork: a beginner’s guide. Ontario, Multilingual
Language Matters, 2010.
BOURDIEU, P.; PASSERON, J. Os Herdeiros: os estudantes e a cultura. Trad. Ione Ribeiro
Valle e Nilton Valle. Florianópolis: Editora da UFSC, 2014.
BONDARENKO, N. Lenguas minoritárias de Venezuela: consideraciones desde la
perspectiva ecolingüística. Filología y Lingüística. N. 36, v. 1, pp. 175-189, 2010.
BRASIL. Visões do Contexto Migratório do Brasil: política de migração do Brasil
consolidada. Brasília: Organização Internacional para as Migrações, 2017.
BRIEGER, P. Camille Chalmers, intelectual y dirigente social haitiano: “La situación es de
absoluta ingobernabilidad”. Nodal – Notícias de America Latina y el Caribe. 7 marzo 2019.
Disponível em: https://www.nodal.am/2019/03/camille-chalmers-intelectual-y-dirigente-
social-haitiano-la-situacion-es-de-absoluta-ingobernabilidad/ Acesso em: 22 ago. 2019.
BRIGHTWELL, M. G. S. L. et al., Haitianos em Santa Catarina: trabalho, inclusão social e
acolhimento. In: BAENINGER, R. G. et al. Imigração haitiana no Brasil. Jundiaí, Paco,
2016.
216
BULLA, G. S.; SILVA, R. L., LUCENA, J. C.; SILVA, L. P. Imigração, refúgio e políticas
linguísticas no Brasil: reflexões sobre a escola plurilíngue e formação de professores a partir
de uma prática educacional com estudantes haitianos. Organon. Porto Alegre, RS. Vol. 32, n.
62 (2017), [14 p.]
CAMERON, D. Verbal hygiene: the politics of language. London and New York: Routledge,
1995.
CAMPOS, G. B. Dois séculos de imigração no Brasil: a construção da imagem e papel social
dos estrangeiros pela imprensa entre 1808 e 2015. 2015. 544 f. Tese (Doutorado em
Comunicação e Cultura) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Comunicação,
Rio de Janeiro, 2015.
CARNEIRO, S. Escritos de uma vida. São Paulo: Pólen Livros, 2019.
CARDOSO, Paulino de Jesus Francisco. Em busca de um fantasma: as populações de origem
africana em Desterro, Florianópolis, de 1860 a 1888. PADÊ: estudos em filosofia, raça,
gênero e direitos humanos. UniCEUB, vol.2, n.1, 2007. Disponível em:
https://publicacoesacademicas.uniceub.br/pade/article/view/143Acesso em: 24/02/2021
CARUSO, D. S. Decifrando a revolução bolivariana: Estado e luta de classes na Venezuela.
Doutorado em HISTÓRIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINENSE, 2017. 500 f.
CARVALHO, C. “Acre sofre com invasão de imigrantes do Haiti”. Jornal O Globo, online,
01 jan. 2012a. Seção Brasil. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/acre-sofre-com-
invasao-de-imigrantes-do-haiti-3549381 Acesso em: 03 nov. 2020.
CARVALHO, C. “Invasão de haitianos em Brasileia começou em 2010”. Jornal O Globo,
online, 07 jan. 2012b. Seção Brasil. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/invasao-
de-haitianos-em-brasileia-comecou-em-2010-3593903 Acesso em: 03 nov. 2020.
CASSIE, P. T. A vitalidade política dos crioulos do Haiti e da Luisiana. Dissertação de
Mestrado. (Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp – Mestrado em Linguística). 2012,
89f.
CAVALCANTI, L. et al. Relatório Anual 2018: Migrações e mercado de trabalho no Brasil.
Observatório das Migrações Internacionais; Ministério do Trabalho/Conselho Nacional de
Imigração e Coordenação Geral de Imigração. Brasília, DF: OBMigra, 2018.
CAVALCANTI, L; OLIVEIRA, T; MACEDO, M. A imigração haitiana no Brasil:
características sócio-demográficas e laborais na região Sul e no Distrito Federal. Ministério do
Trabalho/Conselho Nacional de Imigração e Coordenação Geral de Imigração. Brasília, DF:
OBMigra, 2019.
CAVALCANTI, M. C. Estudos sobre Educação Bilíngue e Escolarização em Contextos de
Minorias Linguísticas no Brasil. D.E.L.T.A. vol. 15, edição especial, São Paulo, 1999.
CAVALCANTI, M. C. Um olhar metateórico e metametodológico em pesquisa em
Linguística Aplicada: implicações éticas e políticas. In.: MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por
uma Lingüística Aplicada Indisciplinar. São Paulo, Parábola Editorial, 2006. p. 233-252.
217
CAVALCANTI, M. C. O pós-ápice da migração haitiana no país em notícia recortada em
portal de notícias: algumas notas sobre escolhas metodológicas. D.E.L.T.A. vol. 35, n. 1, São
Paulo, 2019.
CESAIRE, A. Discurso sobre o colonialismo. Florianópolis/SC: Letras Contemporâneas.
2010. 84p.
CHIARELLI, S. No meio do mar, em meio às terras: representações da migração
contemporânea nos filmes Bem-vindo e Terra Firme. REVELL, v. 2, n. 25, agosto de 2020. p.
355-369.
COLLINS, P. H. Epistemologia feminista negra. In.: BERNARDINO-COSTA, J.;
MALDONADO-TORRES, N.; GROSFOGUEL, R. Decolonialidade e pensamento
afrodiaspórico. Belo Horizonte: Autêntica, 2018. p. 139-170.
COLLINS, P. H. Pensamento feminista negro. São Paulo: Boitempo, 2019.
COLUSSI, L.; CUBA, R.; MIRANDA, H. P. O desafio do ensino do português como língua
estrangeira a haitianos. Anais do 35º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul –
Área Temática: Educação. 2017. pp. 150-155. Disponível em:
https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/3680?show=full Acesso em: 22 fev. 2020.
COGO, D.; SILVA, T. Entre a fuga e a invação: alteridade e cidadania da imigração haitiana
na mídia brasileira. Revista Famecos. Porto Alegre, v. 23 n.1, jan-abril, 2015
CONTIGUIBA; M. L. P.; CONTIGUIBA; G. C.; PEREIRA, W. G. Ensino de português
brasileiro na perspectiva língua-cultura: vivências na Amazônia brasileira e no Haiti. In:
FERREIRA, L. C. et al. Língua de acolhimento: experiências no Brasil e no mundo. Belo
Horizonte: Mosaico, 2019. p. 171-187.
CRENSHAW, K. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: a black feminist critique
of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago
Legal Forum. Vol, 1989. Iss. 1, Article 8. p. 139-167.
CRENSHAW, K. A intersecionalidade na discriminação de raça e gênero. In: VV. AA.
Cruzamento raça e gênero. Brasília: Unifem, 2004. p. 7-16. Disponível em:
<http://generoeeducacao.org.br/wp-content/uploads/2015/11/A-Intersecionalidade-na-
Discrimina%C3%A7%C3%A3o-de-Ra%C3%A7a-e-G%C3%AAnero-Kimberle-
Crenshaw.pdf> Acesso em: 31 janeiro 2019.
DAVIS, A. Mulheres, Raça e Classe. São Paulo: Boitempo, 2016.
DeGRAFF, M. ‘Haiti´s ‘Linguistic Apartheid’ violates children´s rights and hampers
development’. Open Global Rights. 31 January 2017. Disponível em:
https://www.openglobalrights.org/haiti-s-linguistic-apartheid-violates-children-s-rights-and-
hampers-/ Acesso em: 01/10/2019.
DeGRAFF, M. Against apartheid in education and in linguistics: the case of Haitian creole in
neo-colonial Haiti. In.: MACEDO, D (Ed.). Decolonizing Foreign Language Education: the
misteaching of English and other colonial languages. Routledge, 2019.
Dell’ISOLA, R. P.; SCARAMUCCI, M. V. R.; SCHLATTER, M.; JÚDICE, N. A avaliação
de proficiência em português língua estrangeira: CELPE-Bras. Revista Brasileira de
Linguística Aplicada, v. 3, n. 1, p. 153-184, 2003.
218
DINIZ, L. R. A.; NEVES, A. O.; Políticas Linguísticas de (in)visibilização de estudantes
imigrantes e refugiados no ensino básico brasileiro. REVISTA X, Curitiba, v. 13, n. 1, p. 87-
110, 2018.
ERICKSON, F. What makes school ethnograph ‘ethnographic’? Antropology and Education
Quarterly, vol. 15, p. 51-66. 1984.
ERICKSON, F. Qualitative Methods. In: LINN, Robert L.; ERICKSON, Frederick. Research
in Teaching and Learning. New York: Macmilliam Publishing Company, v. 2, 1990. p. 77-
187.
ELTERMANN, A. C. F. O lugar das línguas africanas nos discursos sobre a brasilidade
linguística. 2018. 175 f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade Federal de
Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão, Programa de Pós-Graduação em
Linguística, Florianópolis, 2018.
FABIAN, J. Entrevista: a prática etnográfica como compartilhamento do tempo e como
objetivação. MANA. n.12, v.12, p. 503-520, 2006.
FANON, F. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: Edufba, 2008.
FERNANDES; D.; FARIA, A. V. A Diáspora haitiana no Brasil: processo de entrada,
características e perfil. In.: BAENINGER, Rosana et al. (Org.). Imigração haitiana no Brasil.
Jundiaí: Paco, 2016. p. 95-111.
FERREIRA, A. J. Educação linguística Crítica e identidades sociais de raça. In: PESSOA; R.
R; SILVESTRE, V. P. V. MONTE MÓR, W. Perspectivas críticas de educação linguística.
São Paulo: Pá de palavra, 2018. P. 39-46
FOUCAULT, M. A ordem do discurso: aula inaugural no College de France, pronunciada em
2 de dezembro de 1970. 17ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008.
NASCIMENTO, G. Um racismo que se esconde nas palavras. [Entrevista concedida a] Bruna
Fontes. Revista Fleury. ed. 42, mar./abr./mai., 2020, p. 26-29 Disponível em:
https://cdn.cosmicjs.com/fe360890-7fdf-11ea-9110-97f67485d25d-Fleury42.pdf Acesso em:
13 out 2020.
FANJUL, A. P. “Policêntrico” e “pan-hispânico”: deslocamentos na vida política da língua
espanhola. In: LAGARES, X; BAGNO, M. Políticas da norma e conflitos linguísticos. São
Paulo: Parábola Editorial, 2011. 299-331
FERREIRA, A. J. Educação linguística crítica e identidades sociais de raça. In: PESSOA, R.
R.; SILVESTRE, V. P. V.; MONTE MÓR, W. Perspectivas críticas de educação linguística no
Brasil: trajetórias e práticas de professoras/es universitárias/os de inglês. São Paulo: Pá de
Palavra, 2018. P. 39-46.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
GABAS, T. M. O valor das línguas no mercado linguístico familiar: políticas e ideologias
linguísticas em famílias sul-coreanas transplantadas. 2016. 147 f. Dissertação (Mestrado em
Linguística Aplicada) – Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp, Campinas, 2016.
219
GARCEZ, P. Airing ethnic and linguistic identities through public media comic
performances: challenging and reinscribing normative ideologies. Revista da Anpoll, n. 40, p.
90-100. Florianópolis, Jan-Jun, 2016.
GARCEZ, P. M.; SCHULZ, L. Olhares circunstanciados: etnografia da linguagem e pesquisa
em Linguística Aplicada no Brasil. D.E.L.T.A., n. 31, p. 1-34, 2015.
GARCÍA, Ofelia. Bilingual Education in the 21st Century: a global perspective. London:
Wiley-Blackwell, 2009.
GARCÍA, Ofelia. Ofélia Garcia – Translanguaging. 2017. Youtube. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=5l1CcrRrck0. Acesso em: 01 nov. 2020.
GARCÍA, Ofelia; WEI, Li. Translanguaging: language, bilingualism and education. London:
Palgrave, 2014.
GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LCT, 1989
GERRTZ, C. Local Knowledge: Further essays in interpretive Anthropology. New York:
Basic Books, 1983.
GIDDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: Ed. Unesp, 1991.
GÓES, A. Invasão de haitianos. Jornal O Globo. 17 de jul. de 2015. Seção Blogs. Disponível
em: https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/invasao-de-haitianos-425122.html Acesso
em: 03 nov. 2020.
GOMES, M. A. Os Impactos Subjetivos dos Fluxos Migratórios: Haitianos em Florianópolis.
Psicologia & Sociedade, n. 29. 1-11. 2017.
GOMES, N. L. Apresentação à quinta edição. In: MUNANGA, K. Rediscutindo a
mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte:
Autêntica, 2019.
GONZÁLEZ, L. Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Revista Ciências Hoje, Anpocs,
1984, p. 223-244.
GONZÁLEZ, L. A categoria político-cultural da amefricanidade. In: Tempo Brasileiro. Rio
de Janeiro, n. 92/93 (jan/jun). 1988, p. 69-82.
GOULART, C. E. Haitianos – uma nova história no Brasil e um novo recomeço em SC!
Elaboração de um projeto de PLE. 2015. 105f. Monografia (Bacharelado em Letras
Português). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.
GOULART, C. G.; BUTZGE, C. A. Performance binária de refugiado em rede social virtual
do ACNUR. Letra Magna, vol. 15, n. 24. Edição especial, 2019. pp. 289-304.
GREUEL, I. C. “[...] Falar é bom, mas entender, entender o que a professora tá falando (.)
daí é outra coisa”: um estudo etnográfico sobre práticas de linguagem dos imigrantes
haitianos em uma escola pública no município de Blumenau – SC. Dissertação. 178f.
(Mestrado em Linguística) - Programa de Pós Graduação da Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2018.
GRONDIN, M. Haiti: cultura, poder e desenvolvimento. São Paulo: Brasiliense, 1985.
220
GUEROLA, C. “Às vezes tem pessoas que não querem nem ouvir, que não dão direito de
falar pro indígena”: a reconstrução intercultural dos direitos humanos linguísticos na escola
Itaty da Aldeia Guarani do Morro dos Cavalos. 2012. Dissertação (Mestrado pelo Programa
de Pós-Graduação em Linguística da UFSC) Universidade Federal de Santa Catarina.
Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/100529 Acesso em: 28
março 2020.
GUEROLA, C. “Se nós não fosse guerreiro, nós não existia mais aqui”: ensino-
aprendizagem de línguas para fortalecimento da luta Guarani; Kaingang e Laklãno-Xokleng.
2017. 441 f. Tese (Doutorado em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em
Linguística da UFSC) Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em:
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/177785 Acesso em: 29 de março 2020.
GÜNTER, H. F.; MEYER, B. Controle externo e políticas públicas de mobilidade urbana: o
caso da região metropolitana da grande Florianópolis. RGO - Revista Gestão Organizacional,
Chapecó, v. 12, n. 4, p. 43-62, set./dez. 2019.
HAITIANOS descobrem que sonho pode virar pesadelo. O Globo. 8 jan. 2012 Disponível em:
https://oglobo.globo.com/brasil/haitianos-descobrem-que-sonho-pode-virar-pesadelo-3595360
Acesso em: 03 nov. 2020.
HALPIN, Z. T. Scientific objectivity and the concept of “the other”. Women´s Studies
International Forum, v. 12, n. 3, 1989. pp. 258-94.
HALL, S. Raça: o significante flutuante. (Tradução de Liv Sovik, em colaboração com Katia
Santos). Conferência. Goldsmiths College, London, Media Education Foundation. 2005
[1995].
HALL, S. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2003.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 10ª ed. Rio de janeiro: dp&a, 2006.
HANDERSON, J.; JOSEPH, R. As relações de gênero, de classe e de raça: mulheres
migrantes haitianas na França e no Brasil. Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas,
Brasília, v. 9, n. 2, p. 1-33, 2015.
HELLER, M. Globalization, the new economy, and the commodification of language and
identity. Journal of Sociolinguistics 7/4, 2003: 473-492.
HELLER, M. Gumperz e justiça social. Tradução Por Daniel do Nascimento e Silva. (no
prelo). Original: Gumperz and Social Justice. Journal of Linguistic Anthropology 23(3): 2014,
192-198.
HELLER, M; McELHINNY, B. Language, capitalism, colonialism: toward a critical history.
Toronto: University of Toronto Press, 2017.
HELLER, M.; PIETIKÄINEN, S.; PUJOLAR, J. Critical Sociolinguistic Research Methods:
studying language issues that matter. New York and London: Routledge, 2018.
hooks,b. Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade. 2ª ed., Martins
Fontes, 2017.
221
hooks, b. O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. Rio de Janeiro: Rosa dos
Tempos, 2018.
hooks, b. Erguer a voz: pensar como feminista, pensar como negra. São Paulo: Elefante,
2019a.
hooks, b. E eu não sou uma mulher? mulheres negras e feminismo. Rio de Janeiro: Rosa dos
Tempos, 2019b.
HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2001.
HYMES, D. What is Ethnography? In ___. Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality:
toward an understanding of voice. (Critical Perspectives on Literacy and Education series)
London, UK and Bristol, PA: Taylor and Francis, 2004.
IMIGRAR e reexistir: acolhimento linguístico-cultural e inserção sociolaboral para quem?
Palestrante: Lúcia Maria Barbosa. Mediação: Maria Inêz Probst Lucena.
Brasília/Florianópolis: ALAB, 2021. 1 vídeo (137 min). Transmitido ao vivo em: 28 de abril
de 2021 pelo Canal da ALAB – Associação de Linguística Aplicada do Brasil. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=qQZ6DOvpcco Acesso em: 18 jun. 2021.
JUNG, N. Identidades sociais na escola: gênero, etnicidade, língua e as práticas de letramento
em uma comunidade rural multilíngue. Tese de doutorado. (Doutorado em em Linguística –
Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 2003.
309f.
JUNG, N. M.; SILVA, R. C. M.; SANTOS, M. E. P. Etnografia da Linguagem como políticas
em ação. Caleidoscópio, n. 17, v. 1, jan-abril, 2019. p. 145-162.
KLEIMAN, A. B. “Modelos de letramento e as práticas de alfabetização na escola”. In:
KLEIMAN, A. B. Os significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social
da escrita. Campinas: Mercado de Letras, 1995. p. 15-61.
KRAKOVICS, F. “Acre decreta emergência em Brasileia e Epitaciolândia por ‘invasão’ de
imigrantes ilegais: Estado tem grande concentração de estrangeiros em situação irregular, a
maioria haitianos”. Jornal O Globo. 09 de abr. de 2013. Disponível em:
https://oglobo.globo.com/brasil/acre-decreta-emergencia-em-brasileia-epitaciolandia-por-
invasao-de-imigrantes-ilegais-8068856 Acesso em: 03 nov. 2020.
LAGARES, X. Ensino do Espanhol no Brasil: uma (complexa) questão de política linguística.
In.: NICOLAIDES et al. Política e Políticas Linguísticas. Campinas: Pontes, 2013. p. 181-
198.
LAGARES, X. Qual política linguística: desafios glotopolíticos contemporâneos. São Paulo:
Parábola Editorial, 2019. p. 49-119.
LEITE, I. B. Descendentes de africanos em Santa Catarina: invisibilidade histórica e
segregação. Textos e Debates. UFSC, Ano 1, n. 1, 1991a, p. 5-42.
LEITE, I. B. Territórios de negros em áreas rurais e urbanas: algumas questões. Textos e
Debates. UFSC, Ano 1, n. 1, 1991b, p. 39-48.
LEMES, C. Refugiados haitianos invadem a cidade de Brasiléia no Acre e preocupa governo
do Estado. Jornal Redecol. 01 de jan. de 2012. Disponível em:
222
https://www.redecol.com.br/2012/01/haitianos-invadem-cidade-de-brasileia.html Acesso em:
03/11/2020.
LOPEZ, A. P. A. Subsídios para o planejamento de cursos de português como língua de
acolhimento para imigrantes deslocados forçados no Brasil. 2016. 260f. Dissertação
(Mestrado em Linguística Aplicada) - Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de
Letras, Belo Horizonte, MG.
LOPEZ, A. P. A. Algumas considerações sobre o termo português como língua de
acolhimento. In.: MARTORELLI, A. B. P.; SOUZA, S. C. T.; VIRGULINO, C. G. C. Vidas
em movimento: ações e reflexões sobre o acolhimento de pessoas em situação de refúgio.
2020. p. 120-144.
LUCENA, M. I. P. Razões e realidades no modo como as professoras de inglês como língua
estrangeira de escola pública avaliam seus alunos. Tese de doutorado (Doutorado em
Linguística – Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul). 2006. 228 f.
LUCENA, M. I. P. O Papel da Pesquisa de Cunho Etnográfico na Discussão das Políticas
Educacionais de Línguas. In: FRITZEN, M. P.; LUCENA, M. I. P. (Org.). O olhar da
etnografia em contextos educacionais: interpretando práticas de linguagem. Blumenau:
Edifurb, 2012, v.1, p. 119-213.
LUCENA, M. I. P. A pesquisa de cunho etnográfico na Linguística Aplicada: investigando a
aquisição e uso da linguagem a partir de práticas situadas. In: TORQUATO, C. P.; LUCENA,
M. I. P. (Orgs.). Estudos italianistas: ensino e aprendizagem da língua italiana no Brasil.
Chapecó: Argos, 2014, p. 41-70.
LUCENA, M. I. P. Práticas de linguagem na realidade da sala de aula: contribuições da
pesquisa de cunho etnográfico em Linguística Aplicada. D.E.L.T.A. 31-especial, 2015. pp. 67-
95.
LUCENA, M. I. P. Sobre desregulamentação linguística, translinguagem e políticas de ensino
de línguas. In: FUZA, A. F.; PEREIRA, R. A.; RODRIGUES, R. H (Orgs.). Pesquisas em
Linguística Aplicada e práticas de linguagem. Brasília: Pontes, 2020 p. 67-90.
MACEDO, J. S. Migrantes haitianos e senegaleses na Grande Florianópolis (SC):
experiências, narrativas e performances poéticas e políticas. Grupo de Trabalho 53:
Etnografias das práticas políticas em contextos de mobilidade humana transnacional. XIII
Reunião de Antropologia do Mercosul 22 a 25 de julho de 2019, Porto Alegre (RS). p. 1-20.
MACHADO, V. Honra e conduta: em busca da construção de um modelo burguês de
masculinidade em Desterro (1850-1894). In: BRANCHER, A.; AREND, S. M. F. (Orgs.).
História de Santa Catarina no século XIX, Florianópolis: Ed. UFSC, 2001, p. 85-104.
MAGALHÃES; L. F. A; BAENINGER; R. A imigração haitiana em Santa Catarina: fases e
contradições da inserção laboral. XI Seminário de pesquisa em Ciências Humanas – SEPECH
– Humanidades, Estados e desafios didático-científicos, Londrina, 27-29 de julho de 2016.
pp. 348-558.
223
MAGALHÃES; L. F. A.; BAENINGER, R. Imigração haitiana no brasil e remessas para o
Haiti. In: BAENINGER, et al. (org.). A imigração haitiana no Brasil. Jundiaí: Paco Editorial:
2016. p. 229-252.
MAGALHÃES, L. F. A. Imigração haitiana no estado de Santa Catarina: contradições e
inserção laboral. In: BAENINGER, et al. (org.). A imigração haitiana no Brasil. Jundiaí:
Paco Editorial: 2016. p. 505-524.
MAHER, T. M. Ser professor sendo índio: questões de língua(gem) e identidade. Tese de
doutorado. (Doutorado em Linguística – Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade
Estadual de Campinas). Campinas: Unicamp, 1996, 262f.
MAHER, T. M. Sendo Índio em Português. In: Signorini, I. (org.) Língua(gem) e Identidade:
Elementos para uma Discussão no Campo Aplicado. Campinas: Editora Mercado das Letras,
1998, p. 115-138.
MAHER, T. M. A educação do entorno para a interculturalidade e o plurilingüismo. In:
KLEIMAN, A. B.; CAVALCANTI, M. C. (orgs.) Lingüística Aplicada: suas faces e
interfaces. Campinas: Mercado de Letras, 2007, pp. 255-270.
MAKONI, S. From human linguistics to ‘System D’ and spontaneous orders: an approach to
the emergence of indigenous African languages. In: FUENTES-CALLE, A (coord.).
LinguaPax Review 2017: World language diversity: old frontiers, new scenarios/Diversitait
linguüistica mundial: velles fronteres, nous escenaris. p. 39-79. 2017. p. 39-79. Disponível
em: http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2018/11/LinguapaxReview2017_web-
1.pdf Acesso em: 31 dez 2019.
MAKONI, S.; PENNYCOOK, A. Desinventando e (re)construindo línguas. [Tradução por]
Cristine Görski Severo. Working Papers. v. 16, n. 2, p. 9-34, Florianópolis, ago-dez, 2015.
MARQUES, A. C. S.; TERRIER, D. Imigração de mulheres haitianas em Belo
Horizonte/Brasil: identidades femininas, relatos de si e autonomia. Panorama, v. 7, n. 2, p.
03-09, ago-dez. 2017.
MARQUES, P. M. Outras estórias haitianas: educação, resistência e esperança no mais
desconhecido dos países latino-americanos. Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos,
Florianópolis, v. 2, n. 1, p. 99-112, jun. 2012.
MASON, J. Qualitative reseaching. London: Sage Publications, 1996.
MEJÍA, M. R. G.; CAZAROTTO, R. T. O papel das mulheres imigrantes na família
transnacional que mobiliza a migração haitiana no Brasil. Repocs, v. 14, n. 27, jan/jun, 2017.
p. 171-190
MELO, G. V. O lugar da raça na sala de aula de inglês. In.: Revista da ABPN, v. 7, n. 17, jul-
out. 2015, p. 65-81.
MELO, C. V. B. Proteção à maternidade e licença parental no mundo. Brasília: Câmara dos
Deputados, 2019.
224
MELO, G. C. V.; FERREIRA, J. T. R. As ordens de indexicalidade de gênero, de raça e de
nacionalidade em dois objetos de consumo em tempos de Copa do Mundo 2014. RBLA, Belo
Horizonte, v. 17, n.3, p. 405-426, 2017.
MELO, G. V.; MOITA LOPES, L. P. “Você é uma morena muito bonita”: a trajetória textual
de um elogio que fere. Trab. Ling. Aplic., Campinas, n(54.1): jan/jun, 2015, p. 1-26.
MELO, G. C. V.; PAULA, L. Apresentação. Dossiê Discursos Gênero, Sexualidade e Raça.
Cadernos Discursivos, Catalão-GO, v.1 p. 1-7, 2019.
MÉZIÉ, N. Emergência e ascensão dos protestantismos no Haiti: um panorama histórico.
Debates do NER. Porto Alegre, ano 17, n. 29, jan-jun, 2016. p. 289-327.
MILLS, C. W. A imaginação sociológica. Zahar Editores, 1975.
MILROY, J. Ideologias linguísticas e as consequências da padronização. In.: LAGARES, X.
C.; BAGNO, M. Políticas da Norma e conflitos linguísticos, São Paulo: Parábola editorial,
2011, pp. 49-88.
MOITA LOPES, L. P.; MELO, G. C. V. Ordens de indexicalidade mobilizadas nas
performances discursivas de um garoto de programa: ser negro e homoerótico. Linguagem em
(Dis)curso – LemD, Tubarão, SC, v. 14, n. 3, p. 653-673, set./dez. 2014.
MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por uma Lingüística Aplicada Indisciplinar. São Paulo,
Parábola Editorial, 2006.
MOITA LOPES, L. P. Da aplicação da Linguística à Linguística Aplicada indisciplinar. In:
PEREIRA, R. C. e ROCA, P. Linguística Aplicada: um caminho com diferentes acessos. São
Paulo: Contexto, 2011. p. 11-24.
MOITA LOPES, L. P. Identidades Fragmentadas: a Construção Discursiva de Raça, Gênero
e Sexualidade em Sala de Aula. Campinas. S.P: Mercado das Letras, 2002.
MOSELE, F. Elaboração de Propostas Didáticas para o Ensino de Português para
Imigrantes Haitianos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso em Letras Português - Inglês na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2016. 43 f.
MOURA, M. L.; COSTA-HUBES, T. C. Processo de ensino da Língua Portuguesa para
imigrantes haitianos. RELAcult – Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e
Sociedade. V. 03, ed. especial, dez., 2017.
MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade
negra. 3ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
NASCIMENTO, G. Racismo Linguístico: os subterrâneos da linguagem e do racismo. Belo
Horizonte: Letramento, 2019.
NOGUEIRA, N. A. M; MAIOR, R. C. S. Análise discursiva das afrovivências de uma turma
de sétimo ano do ensino fundamental II: identidade e negritude. In.: Anais do CONEDU – VII
Congresso Nacional de Educação. Educação como (re)existência: mudanças, conscientização
e conhecimentos, Maceió, AL, 2020, p. 1-12.
NORMAN, C. Linguistic ideologies in the performance of Bulgarian identity. Purdue
Linguistics, Literature and Second Language Studies Conference. Pp. 2-21, 2019.
225
OLIVEIRA, G. Divisão de tarefas domésticas ainda é desigual no Brasil. Senado Notícias.
05 agosto 2018. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-
cidadania/divisao-de-tarefas-domesticas-ainda-e-desigual-no-brasil/divisao-de-tarefas-
domesticas-ainda-e-desigual-no-brasil Acesso em: 28 fev. 2020.
OLIVEIRA, M. M.; SILVA, E. O. Migração haitiana na Amazônia à luz dos estudos de
gênero. In: BAENINGER, R. et al. (Org.). Imigração haitiana no Brasil. Jundiaí: Paco, 2016.
pp. 287-315.
PERES, R.G. Imigração e gênero: as mulheres haitianas no Brasil. In.: BAENINGER, R. et
al. (Org.). Imigração haitiana no Brasil. Jundiaí: Paco, 2016. pp. 267-286.
PINTO, J. Os Deslocamentos Forçados de Haitianos e suas Implicações. São Paulo:
LumenJuris, 2018. 152p.
POLITOV, A.; LOZANOVA, D. Multilingualism in Sofia: LUCIDE report. Sofia: LSE
Academic Publishing, 2015.
PRADA, A. V. La situación actual de la mujer venezolana: avances y retos. Summa Luris. N.
6, v. 2 pp. 308-322, jul-dic. 2018
PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS, Secretaria Municipal de Assistência Social – CRAS:
O que é?. Disponível em:
http://www.pmf.sc.gov.br/servicos/index.php?pagina=servpagina&acao=open&id=4597
Acesso em: 18/04/2020.
RAJAGOPALAN, K. Por uma Linguística Crítica: linguagem, identidade e a questão ética.
São Paulo: Parábola, 2003.
RAJAGOPALAN, K. Política Linguística: do que é que se trata, afinal? In.: NICOLAIDES,
C.; SILVA, K. A.; TILIO, R.; ROCHA, C. H. (Orgs.) Política e políticas linguísticas.
Brasília: Pontes Editores, 2013, p. 19-42.
RAMPTON, B. Continuidade e mudança nas visões de sociedade em linguística aplicada.
109-128. In.: MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por uma Lingüística Aplicada Indisciplinar. São
Paulo, Parábola Editorial, 2006.
RAMOS, G. B. P. “Como se fosse da família”: o trabalho doméstico na Assembleia Nacional
Constituinte de 1987/1988. Dissertação de Mestrado. 170f. – Programa de Pós-graduação em
Direito da Universidade Federal da Bahia. 2019.
REIS, N. O.; DURÃO, A. B. A. B. Ressignificação de prática pedagógica a partir de uma
análise de avaliações orais de alunos hispano-falantes de Português como Língua Estrangeira.
In: SILVEIRA, Rosane; EMMEL, Ina. Um Retrato do Português como Segunda Língua:
ensino, aprendizagem e avaliação. Campinas: Pontes Editores, 2015.
REIS, N. O. Unidades Fraseológicas Idiomáticas a dar com pau no livro didático
“Panorama Brasil”. 178f. Dissertação (Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em
Linguística da UFSC), 2016.
REIS, N. O.; LUCENA, M. I. P. Vozes silenciadas: sobre trabalho, gênero e ensino-
aprendizagem de português na vivência de mães procedentes do Haiti no Sul do Brasil.
Polifonia. Cuiabá-MT, v. 26, n.44, p. 36-56, out-dez., 2019.
226
REPUBLIC OF BULGARIA. NACIONAL STATISTICAL INSTITUTE. Statistical Data.
Disponível em: https://www.nsi.bg/en Acesso em: 08/10/2020.
RIBEIRO, B. T.; GARCEZ, P. M. Sociolinguística Interacional. São Paulo: Loyola, 2002.
RIBEIRO, C.; FERNANDES, D.; MOTA-SANTOS, C. Inserção no Mercado de Trabalho
Brasileiro por Haitianos: Uma Perspectiva de Gênero. Revista Latino-Americana de
Geografia e Gênero, v. 10, n. 1, p. 126145, 2019.
RIBEIRO, D. Quem tem medo do feminismo negro? São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
RIBEIRO, D. O que é lugar de fala. São Paulo: Pólen Livros, 2017.
RIBEIRO, D. Pequeno manual antirracista. São Paulo: Companhia das Letras, 2019b.
ROCHA, P. G. O sistema de tratamento do português de Florianópolis: um estudo sincrônico.
336f. Tese (doutorado) Centro de Comunicação e Expressão. Programa de Pós-Graduação em
Linguística. Florianópolis, SC, 2012.
ROSA, R. M. Xenofobização da mulher negra migrante no processo de construção do
feminino em emigração: a migração feminina haitiana em Santo Domingo. REMHU – Revista
Interdisciplinar da Mobilidade Humana, vol. 15, n. 29, 2007, pp. 71-85.
ROMANO, A. Q. T.; PIZZINATO, A. Migração involuntária de mulheres para o Brasil:
intersecções de gênero, raça/etnia e classe. Trabajo Social n. 21 v. 2, pp. 197-213. Bogotá:
Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de
Colombia.
RUANO, B. P.; CURSINO, C. Multiletramento e Second Space no ensino-aprendizagem de
PLAC: da teoria à prática. In.: FERREIRA et al. Língua de acolhimento: experiências no
Brasil e no mundo. Belo Horizonte: Mosaico Editorial, 2019. pp. 41-62.
SALES JÚNIOR, R. Democracia racial: o não-dito racista. Tempo Social, v. 18, n. 2, São
Paulo, 2006, pp, 229-258.
SÃO BERNARDO, M. A.; BARBOSA; L. M. Ensino de português como língua de
acolhimento: experiência de um curso de português para imigrantes e refugiados(as) no
Brasil. Fólio Revista de Letras. Vitória da Conquista, n. 1, vol. 10, p. 475-493, jan/jun 2018.
SCARAMUCCI, M. V. R. Efeito retroativo da avaliação no ensino/aprendizagem de línguas:
o estado da arte. Trabalhos em Linguística Aplicada. Campinas, n. 43, v. 2 p. 203-226 jul-dez,
2004.
SHAMSUDDIN,M; ACOSTA, P. A.; BATTAGLIN SCHWENGBER,R.; FIX, J. R.;
PIRANI, N. Integration of Venezuelan Refugees and Migrants in Brazil (English). Policy
Research working paper; no. WPS 9605 Washington, D.C. : World Bank Group. 2021.
Disponível em:
http://documents.worldbank.org/curated/en/498351617118028819/Integration-of-Venezuelan-
Refugees-and-Migrants-in-Brazil Acesso em: 07 jun 2021.
227
SCHUCMAN, L. V. Entre o “encardido”, o “branco” e o “branquíssimo”: raça, hierarquia
e poder na construção da branquitude paulistana. Tese. 122f. (Doutorado em Psicologia
Social) – Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012.
SCHWARCZ, L. M. Dos males da medida. Psicologia USP [online]. 1997, v. 8, n. 1, pp. 33-
45. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-65641997000100003>. Epub 25 Nov
1998. ISSN 1678-5177. https://doi.org/10.1590/S0103-65641997000100003. Acesso em: 7
Julho 2021.
SCHWARCZ, L. M. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na sociabilidade
brasileira. Claro Enigma, 2012.
SCHLATTER, M.; GARCEZ, P. Referenciais curriculares para o ensino de língua
espanhola e língua inglesa. Porto Alegre, RS: Secretaria de Educano de língua Institut
Disponível em: https://servicos.educacao.rs.gov.br/dados/refer_curric_vol1.pdf Acesso em:
04 de abril de 2020.
SCHREINER, T.; KRETZER, G.; PESSATO, R. L. M. D.; KRAUS JUNIOR, W.; MEYER,
B. O processo de integração do transporte coletivo em regiões metropolitanas: o caso da
grande Florianópolis. 33º Congresso de Pesquisa e Ensino em Transporte da ANPET,
Balneário Camboriú, 10-14 de novembro de 2019.
SENE, L. S. Objetivos e materialidades do ensino de Português como língua de acolhimento:
um estudo de caso, 2017. 206f. Dissertação de Mestrado - Universidade de Brasília, Brasília,
2017.
SEVERO, C.G.; NUNES DE SOUZA, C. Identidade e língua na ilha de Santa Catarina: sobre
a relação entre o manezinho e o manezês. In.: SAVEDRA, M. M.; MARTINS, M. A.; DA
HORA, D. (Org.) Identidade social e contato linguístico no português brasileiro. Rio de
Janeiro: EdUERJ/FAPERJ, 2015. pp. 13-36.
SEVERO, C. G.; VIOLA, D. Entre o português como língua estrangeira e as práticas
interculturais comunicativas: estudo de caso em uma universidade colombiana. Horizontes de
Linguística Aplicada, ano 16, n. 1, 2017.
SEYFERTH, G. A estratégia do branqueamento. Ciência Hoje, vol. 5, n. 5, 1986. Pp. 54-56
SEYFERTH, G. A invenção das raças e o poder discricionário dos estereótipos. Anuário
Antropológico Brasileiro/93. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. Pp. 175-203.
SEYFERTH, G. Construindo a nação: hierarquias raciais e o papel do racismo na política de
imigração e colonização. In.: MAIO, M. C.; SANTOS, R. V. Raça, ciência e sociedade. Rio
de Janeiro: editora FIOCRUZ, 1996, pp. 41-58.
SEYFERTH, G. Memória coletiva, identidade e colonização: representações da diferença
cultural no Sul do Brasil. MÉTIS: história e cultura, v. 11, n. 22, p. 13-39, jul/dez. 2012
SIGNORINI, I. Por uma teoria da desregulamentação linguística. In.: BAGNO, M. (org.)
Lingüística da norma, São Paulo: Eduções Loyola, 2002, p. 93-125.
SIGNORINI, I. Invertendo a lógica do projeto escolar de esclarecer o ignorante em matéria de
língua. In: MAGALHÃES, Izabel. Discursos e Práticas de Letramento: pesquisa etnográfica
e formação de professores. Campinas: Mercado de Letras, 2012.
228
SIGNORINI, I. O que se tem compreendido por pesquisa de ponta no campo aplicado dos
estudos da língua(gem). XXXI Encontro Nacional da Anpoll (Pesquisa de ponta na área de
Letras e Linguística – Mesa II – Centro de Convenções da UNICAMP). 2016.
SIGNORINI, I. A questão da língua legítima na sociedade democrática: um desafio para a
linguística aplicada contemporânea. In.: MOITA LOPES, L. P. (Org.). Por uma Lingüística
Aplicada Indisciplinar. São Paulo, Parábola Editorial, 2006. p. 169-190.
SILVA, D. N. Pragmática da Violência: o Nordeste na mídia brasileira. Rio de Janeiro:
7Letras: FAPERJ, 2012.
SILVA, D. N. O que é feminismo? Brasil Escola. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-feminismo.htm. Acesso em: 15 jun.
2019.
SILVA, J. G. Saudades, expectativas, realizações e ausências: histórias de mulheres em
Joinville (1851-1900). In: BRANCHER, A.; AREND, S. M. F. (Orgs.). História de Santa
Catarina no século XIX, Florianópolis: Ed. UFSC, 2001, p. 53-84.
SILVA, S. A. Imigração e redes de acolhimento: o caso dos haitianos no Brasil. Revista
Brasileira de Estudos Populacionais, Belo Horizonte, v. 34, n. 1, p. 99-117, jan-abr, 2017.
SILVA, S. M. Aprendizagem do português por imigrantes haitianos: percepção das
consoantes líquidas em /L/ e /ɾ/. Ilha do Desterro. v. 70, nº 3, p. 047-062, Florianópolis,
set/dez 2017.
SILVA, K. S.; ROCHA, C. M. N. C.; D’ÁVILA, L. Invisibilizados na ilha do Desterro: os
novos fluxos de imigrantes e refugiados em Florianópolis. Revista Eletrônica do Curso de
Direito da UFSM. V. 15, n. 1, 2020.
SIMÕES, G. F (Org.). Perfil sociodemográfico e laboral da imigração venezuelana para o
Brasil. Curitiba: CRV, 2017.
SIQUEIRA, M. T. Entre manezinhos e haules: velhos e novos conflitos na identidade
socioespacial em Florianópolis. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. Recife,
v. 18, n. 1, p. 40-56, jan-abr, 2016.
SOARES, L. F.; TIRLONE, L. P. Rakonte mwen: um projeto de ensino do português
brasileiro a imigrantes haitianos a partir da literatura popular. Revista X, Curitiba, v. 12, p.
192-216-1, 2017.
SOARES, L. F.; TREVISAN, C. ; FLAIN, A. L. G. Curso de português para imigrantes
haitianos: desenvolvimento cronológico, mudanças e reflexões. Mandinga, v. 1, n.1, pp. 89-
101, 2017.
SEGUY, F. Racismo e Desumanização no Haiti. Educere et Educare. Vol.10. N. 20, jul/dez,
2015. Disponível em: http://e-
revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/view/12594 Acesso em: 30 janeiro
2019.
SOUZA, A. L. S. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música. São Paulo: Parábola,
2011.
229
STANLEY, S. P. El problema de las variedades del español americano en la quinta zona
lingüística según la clasificación de Henríquez Ureña. Dissertação de Mestrado em Língua e
Cultura (Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura do Instituto de Letras da
Universidade Federal da Bahia). Salvador, 2016. 116 f.
SPIVAK, G. C. Pode o Subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
TIBURI, M. Feminismo em comum: para todas, todes e todos. Rio de Janeiro: Rosa dos
Tempos. 2018. 126p.
TOMASELLI, C. K. A escrita do relatório de projeto integrador na educação técnica de nível
médio no IFSC: um estudo etnográfico sobre letramento na educação profissional. 227 f. Tese
de Doutorado – Programa de Pós-graduação em Linguística da UFSC, 2020.
TORELLY, M; KHOURY, A.; VEDOVATO, R.; GONÇALVES, V. K. (Org.). Visões do
contexto migratório no Brasil. Brasil: Organização Internacional para as migrações, Agência
das Nações Unidas para as migrações, 2017.
TORQUATO, C. P. Migrantes haitianos no sul do Brasil: ideologias linguísticas numa aula de
Português Língua Adicional. Letras & Letras. v. 35, n. especial, p. 200-220, 23 out. 2019.
UNHCR - United Nations High Comissioner for Refugees. Global Trends 2019. Denmark,
2020. Disponível em: https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ Acesso em: 05 out 2020.
VILLEN, P. Periféricos na Periferia. In.: BAENINGER, R. et al. (Org.) Imigração haitiana
no Brasil. Jundiaí: Paco Editorial, 2016. p. 45-64.
WORLD BANK. Women, business and the law 2020. Washington, DC: World Bank, 2020.
230
ANEXO A – FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DE MÃES HAITIANAS PARA O CURSO.
CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA MÃES HAITIANAS
A Organização pelos Refugiados (OPR), organização não-governamental (ONG) que tem por principal objetivo buscar melhores condições de vida para os refugiados, irá oferecer um curso de Língua Portuguesa destinado a mães haitianas. O Curso de Língua Portuguesa para Mães Haitianas será voltado, preferencialmente, a mães que precisem levar seus filhos consigo para as aulas. Detalhamento do curso: Facilidades para as participantes:
• Contaremos com o auxílio de uma ou mais pedagogas - a depender da demanda - para cuidar dos bebês e das crianças enquanto as mães têm aulas;
• O material didático e de apoio (canetas, cadernos etc), bem como um lanche serão a elas oferecidos.
Requisitos:
• Ser mãe, ter seus filhos consigo no Brasil ou não. Proficiência:
• As mães podem ter qualquer nível de proficiência na língua. Local:
• A princípio, as aulas ocorrerão no Instituto Federal de Santa Catarina – Av. Mauro Ramos, 950 – Centro – Florianópolis - SC.
Caso seja do seu interesse, peço que nos forneça os seguintes dados: Nome da mãe: ___________________________________________________ E-mail: _________________________________________________________ Telefone (Whats App?): ____________________________________________ A mãe tem trabalho fixo? Em que turno? _______________________________ Quantidade de filhos: ________ Idades dos filhos: _______________________ Nomes dos filhos: _________________________________________________ As crianças/os bebês frequentam creche/escola? ________________________ Precisam ir para a aula com a mãe? ___________________________________ Melhor turno para as aulas: manhã, tarde ou tanto faz? ____________________ Nome da mãe: ___________________________________________________ E-mail: _________________________________________________________ Telefone (Whats App?): ____________________________________________ A mãe tem trabalho fixo? Em que turno? _______________________________ Quantidade de filhos: ________ Idades dos filhos: _______________________
231
ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MÃES
HAITIANAS
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Olá!
Meu nome é Narjara Oliveira Reis, sou estudante e pesquisadora da Pós-graduação em
Linguística na Universidade Federal de Santa Catarina, e gostaria de convidá-la para participar
de minha pesquisa. O título, ainda provisório, é “Subalternidade e Ideologia: práticas de
linguagem de mães haitianas em um curso de Língua Portuguesa em Florianópolis”.
O objetivo do estudo é mostrar como você lida com a aprendizagem da língua
portuguesa, sendo imigrante e mãe em Florianópolis. Como participante, você poderá contribuir
para o desenvolvimento de cursos de língua portuguesa que melhor atendam as necessidades
de imigrantes e refugiados/as, especialmente as necessidades de mães haitianas.
Para realizar a pesquisa, registrarei as aulas de Língua Portuguesa em áudio, vídeo e por
meio de fotografias para que fiquem gravadas todas as situações que acontecem na sala. Além
disso, farei uma ou mais conversa(s) com você.
O que você acha? Para participar da pesquisa é importante que saiba que:
a) nenhum material será divulgado ou utilizado na pesquisa com seu nome ou sua imagem;
b) por se tratar de uma pesquisa colaborativa, você poderá me auxiliar a selecionar os materiais
para reflexão, desde que se sinta à vontade para isso;
c) em qualquer momento da pesquisa você poderá pedir maiores informações sobre o estudo;
d) você poderá desistir de participar em qualquer momento da pesquisa, mesmo já tendo
assinado este documento;
e) todas as informações geradas em campo serão mantidas em sigilo, tanto as obtidas em nossas
interações cotidianas, quanto aquelas registradas em áudio e vídeo, e serão usadas somente com
a sua aprovação;
f) será utilizado um nome fictício para a sua identificação no texto da pesquisa e esse nome
poderá ser escolhido por você;
g) os dados serão transcritos quando necessário for inclui-los no texto da tese;
Projeto de Pesquisa
SUBALTERNIDADE E IDEOLOGIA: PRÁTICAS DE LINGUAGEM DE
MÃES HAITIANAS EM UM CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM
FLORIANÓPOLIS
Pesquisadora: Narjara Oliveira Reis (PPGLin/UFSC)
232
h) para apresentação em congressos e eventos, a imagem do seu rosto será borrada dos vídeos
liberados por você para exibição e será mantido, igualmente, o sigilo da sua identidade;
i) à princípio, você não precisará arcar com nenhuma despesa, mas, se porventura, em algum
momento, precisar haver alguma necessidade financeira para deslocamento, lanche ou outro
fim, em função de algum dos procedimentos investigativos, eu mesma arcarei com as despesas.
j) caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, você tem
assegurado o direito à indenização.
É necessário que saiba que existe o risco de você sentir algum desconforto emocional
ao falar sobre experiências que possam trazer lembranças simples. É preciso que saiba que você
sempre terá a opção de não responder o que não quiser, se achar que vai se sentir de alguma
forma incomodada com algum assunto da conversa.
Uma cópia deste documento ficará com você e é importante que a guarde bem para que
possa assegurar seus direitos de proteção de imagem, identidade e outros garantidos pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina (CEPSH/UFSC).
Este projeto tem aprovação do CEPSH/UFSC e, como pesquisadora, comprometo-me a
conduzir esta pesquisa de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) de 12/06/2012 e suas complementares, que visam a garantir a condução ética e a proteção
aos participantes da pesquisa. Caso precise de maiores informações sobre a pesquisa, você
poderá solicitar a mim, à minha orientadora, também responsável por este projeto Profa Maria
Inêz Probst Lucena ou ao CEPSH/UFSC, através dos contatos abaixo:
Narjara Oliveira Reis – Pesquisadora em campo – Fone: (48) 99984-5084
E-mail: [email protected] Endereço: Rua Folhas Verdes, 50, Córrego Grande
CEP: 88037-540
Profa. Dra. Maria Inêz Probst Lucerna – Pesquisadora responsável – Telefone: (48) 9962.1305 –
E-mail: [email protected] – Endereço profissional: Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de
Comunicação e Expressão (CCE) – Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGLg), 3º andar – Campus
Universitário – Trindade, Florianópolis.
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa/UFSC
Reitoria II, 4º andar, Sala 401
Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Trindade
Telefone: 3721-6094
E-mail: [email protected]
Atenciosamente,
_______________________________ _________________________________ Profa.
Dra. Maria Inêz Probst Lucena Narjara Oliveira Reis
Orientadora PPGLg/UFSC Pesquisadora em campo PPGLg/UFSC
Se concordar em participar, por favor, preencher com seus dados abaixo:
233
Eu, _______________________________________________________, portadora do
documento de identidade _________________________________ fui informada dos objetivos
e procedimentos da pesquisa “Subalternidade e Ideologia: práticas de linguagem de mães
haitianas em um curso de Língua Portuguesa em Florianópolis”, de maneira clara e
detalhada. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha
decisão de participar se assim o desejar. Nessas condições, declaro que concordo em participar
desta investigação. Recebi uma via original deste TCLE e me foi dada a oportunidade de ler e
esclarecer as minhas dúvidas.
__________________________________ __________________________________
Assinatura do(a) participante da pesquisa Assinatura do pesquisador responsável
Florianópolis, ____ de ______________ de 2018.
234
ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MÃES
HAITIANAS EM CRIOULO
BASE SOU KONSANTMAN AVEK LIBITE (BKL)
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Bonjou,
Non mwen se Narjara Oliveira Reis, mwen se etidyan e chechèz an doktora nan lang
nan Inivèrsite Federal de Santa Catarina, e mwen ta renmen invite ou a patisipe nan rechèch
mwen: “Subaltènite e ideyoloji: kou pratik sou lang pòtigè pou tout fanm Ayisyèn ki gen
pitit nan Florianopolis”.
Objektif kou a se pou mwen montre ou koman ou ka fè. pou ou aprann pale potigè, menn
lè ou se imigran e manman pitit depi ou ap viv nan Florianopolis. Kòm patisipan ou gen dwa
pou ou patisipe nan kou potigè a .tout imigran ou refigyè en general e plis espesyal tout fanm
ayisyèn ki gen pitit.
Pou m ka realize pwojè a mwen ap anregistre kou potigè m'ap fè video ap gen voz e ap
gen imaj tankou foto. Pou m ka anregistre tout sa ki pase nan sal la mwen ap fè yon ti
konvèsasyon ou plis avèk ou.
Kisa ou panse? Pou ou Patisipe nan rechèch la li enpòtan pou on konnen ke:
a) Anyen pap divilge ou itilize nan Rechèch la avek non ou ni foto ou;
b) Kom se yon rechèch koletif, ou ka ede’m chwazi materyèl ki pèmèt reflexsyon depi ou santi
ou alèz pou ou fè sa;
c) Nan nenpòt moman ou ka mande m explikasyon sou etid la;
d) Ou ka sispann patisipe nan rechèch la nan nenpòt moman, menm lè on te siyèn yon papye;
e) Tout enfomasyon ke mwen kolekte ap retè sekrè kit sa mwen fè anregistreman kit sa ki pale
pandan ti chita pale, e mwen ka itilize yo selman si ou dàko;
f) Ou ka itilize yon fò non pou idantifyè w nan text rechèch la, ke ou menm kapab chwazi;
g) Done ou yo mwen ap tradwi yo sou fòm ekri si mwen ta vle itilize yo pou téz mwen an;
h) Pou yon presentasyon nan yon kongrè ou yon reyinyon, foto figi ou pap parèt nan vidèo ki
libere a si ou otorize, pou difisyon an l’ap rete an sekrè menm jan ak idantite ou;
Pwojè rechèche
SUBALTÈNITE E IDEYOLOJI: KOU PRATIK SOU LANG POTIGÈ POU
TOUT FANM AYISYÈN KI GEN PITIT NAN FLORIANOPOLIS
Chèchè: Narjara Oliveira Reis (PPGLin/UFSC)
235
i) An Princip ou pap bezwen fè ankenn depanse men si pa malè ou itilize kòb ou pou ou achte
manje maten oubyen peye machin ou yon lòt bagay ki gen rapò ak kou a mwen ap kouvri
depanse yo ak kòb mwen ou ranbouse ou li;
j) Si an ka ou idantifyè ou konprove yon inkonvenyan nan rechèch la, ou gen dwa avek asurans
e dwa pou yo dedonaj ou.
Li enpòtan pou ou konnen si gen risk pou ou santi ou wònt lè ou ap pale de experyans
ou nan aprann lang nan ki ka fè ou sonje move moman ou te pase. Li enpòtan pou ou konnen
ke w’ap toujou gen opsyon pou pa reponn sa ou pa vle oubyen sa ka fè ou santi ou mal.
Yon nan kopi dokiman sa ap pou ou e ou dwe konsève li byen paske se li ki pral ba ou
dwa sou proteksyon sou foto w, idantite w e anpil lòt garanti sou Komite Etik nan Rechèch nan
Inivèsite Federal Santa Catarina - KESH/UFSC (CEPSH/UFSC).
Pwojè sa gen otorizasyon CEPSH/UFSC e kom chèchez mwen pwomèt ke map kondwi
rechèch la selon la lwa 466/12 Konsèy Nasyonal Sante (KNS) de 12/06/2012 ki base sou bòn
kondwit ak etik ki garanti pwoteksyon pou chak patisipan nan rechèch la.
Si ou ta bezwen plis enfòmasyon sou rechèch la ou kapab mande mwen oubyen pwofesè
mwen an e ki responsab pwojè a, Maria Inêz Probns Lucena, oubyen nan CEPSH/UFSC nan
kontak ki anba:
Narjara Oliveira Reis – Chèchez sou teren – Telefone: (48) 99984-5084
nan e-mail: [email protected] Adrès: Ri Folhas Verdes, Córrego Grande, nimewo 50,
ZIP: 88037-540
Profa. Dra. Maria Inêz Probst Lucerna – Chèche responsab – telefone: (48) 9962.1305 –
nan e-mail: [email protected] – Adrès pwofesyonal: Inivèrsite Federal de Santa Catarina, Sant
kominikasyon e Expresyon (SKE) (CCE) Pwogwam de Licens e Doktora na Lenguistik (PPGLg)
3º etaj – Kampus Inivèrsitè – Trindade, Florianopolis.
CEP – KEP - Komitê de Etik nan Rechèch/UFSC
Reitoria II, 4º etaj, sala 401
Adrès: Ri Desembargador Vitor Lima, nº 222, Trindade
Telefone: (48) 3721-6094
Nan e-mail: [email protected]
Afektyez,
_______________________________ _________________________________ Profa.
Dra. Maria Inêz Probst Lucena Narjara Oliveira Reis
Supèvisè PPGLg/UFSC Chèchez sou teren PPGLg/UFSC
Si ou dako pou patisipe, silvouplè renpli pati ki vid anba:
Mwen, _______________________________________________________, idantifyè nan
dokuman nimewo _________________________________ mwen gen infòmasyon sou
objektif e pwosesus sou rechèch ki gen kom tit “Subaltènite e ideyoloji: kou pratik sou lang
236
pòtigè pou tout fanm Ayisyèn ki gen pitit nan Florianopolis” nan kontext klè e detayè. Mwen
konnen nan nenpòt moman mwen ka bezwen enfomasyon nouvo e mwen ka chanje davi si
mwen vle patisipe ou pa. Nan kondisyon sa mwen deklare ke mwen dako pou mwen patisipe
nan ankèt la. Mwen resevwa yon kopi original de dokiman BKL (TCLE), e mwen te jwen
posibilite pou mwen li e poze keksyon sou dout mwen yo.
__________________________________ __________________________________
Siyati patisipant nan rechèch Siyati chèche responsab
Florianopolis, ____ de ______________ de 2018.
237
ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA
PROFESSORES
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Cara professora,
Eu, Narjara Oliveira Reis, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística
da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGL-UFSC), gostaria de convidá-la a participar
como voluntária da investigação previamente intitulada “Subalternidade e Ideologia:
práticas de linguagem de mães haitianas em um curso de Língua Portuguesa em
Florianópolis”.
Nesta pesquisa, pretendo compreender as práticas de linguagem de mães haitianas
aprendizes de Português, participantes de cursos de Língua Portuguesa voltados a imigrantes
haitianos. O objetivo é discutir e problematizar as necessidades específicas de mães haitianas
em seus processos de aprendizagem de português à luz de suas trajetórias linguísticas. Esse
estudo se justifica pela importância de se conhecer as condições necessárias para que mães
haitianas sejam verdadeiramente acolhidas em nossa sociedade de modo que possam
efetivamente aprender a língua portuguesa. Ao examinarmos com proximidade o andamento de
um curso para haitianas poderemos observar aspectos que contribuem para a assiduidade, o
engajamento e aproveitamento das mães como participantes desses cursos. Objetivamos, assim,
oferecer subsídios ao aprimoramento e à elaboração de futuros cursos de Língua Portuguesa
que tenham mães haitianas como participantes.
Os procedimentos metodológicos envolvem a minha participação das aulas como
observadora-participante, ministrando aulas e planejando as atividades didático-pedagógicas
em colaboração com você. Envolvem ainda, a elaboração de diários de campo, de entrevistas
com as professoras e com as mães haitianas, participantes do projeto e a realização de gravações
de áudio, de vídeo e de imagens fotográficas, de modo a conhecer a estrutura do ambiente em
que são ministradas as aulas e a qualidade das interações que ali ocorrem. Assim, em diversos
momentos, terei conversas informais com você, farei anotações de falas, diálogos e de
acontecimentos relacionados às interações comunicativas.
No caso de você aceitar participar da pesquisa, é importante que saiba que:
a) em qualquer momento, você pode solicitar que imagens e gravações sejam suprimidas da
pesquisa;
Projeto de Pesquisa
SUBALTERNIDADE E IDEOLOGIA: PRÁTICAS DE LINGUAGEM DE
MÃES HAITIANAS EM UM CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM
FLORIANÓPOLIS
Pesquisadora: Narjara Oliveira Reis (PPGLin/UFSC)
238
b) nenhum material será divulgado ou utilizado na pesquisa sem o seu consentimento e todas
as imagens por ventura publicadas no estudo, terão as faces borradas de todos os sujeitos
participantes ou não da pesquisa para evitar identificação;
c) por se tratar de uma pesquisa colaborativa, você poderá me auxiliar a selecionar os materiais
para reflexão, desde que se sinta à vontade para isso;
d) em qualquer momento da pesquisa você poderá pedir esclarecimentos sobre os
procedimentos de investigação;
e) você poderá desistir de participar em qualquer momento da pesquisa, mesmo já tendo
assinado este documento, sem que sofra nenhum prejuízo por conta disso;
f) todas as suas informações coletadas em campo serão mantidas em sigilo, salvo para o grupo
de pesquisa da pesquisadora, tanto as obtidas por meio das interações quanto através dos
registros em áudio e vídeo, até a sua aprovação;
g) será utilizado um nome fictício para a sua identificação no texto da pesquisa, que poderá ser
escolhido por você;
h) a análise e a apresentação de dados na pesquisa serão transcritos para inserção textual na
tese;
i) para apresentação em congressos e eventos, a imagem do seu rosto será borrada dos vídeos
liberados para exibição e será mantido, igualmente, o sigilo da sua identidade;
j) à princípio, você não precisará arcar com nenhuma despesa, mas, se porventura, em algum
momento, precisar haver algum ônus financeiro para deslocamento, lanche ou outro em função
de algum dos procedimentos investigativos, você será ressarcida por mim;
k) caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, você tem
assegurado o direito à indenização.
Os riscos envolvidos na participação da pesquisa estão associados à influência da
pesquisadora nas atividades didático-pedagógicas do curso, tanto pelo caráter da pesquisa,
quanto pelo uso das tecnologias para o registro (aparelhos para registro de som e de imagem
estática e em movimento), além de possíveis desacordos metodológicos no caso de ações que
partem de epistemologias distintas. Apesar disso, consideramos que o plano de ensino é um
documento flexível, sempre aberto a alterações convenientes pelos condutores no andamento
dos cursos e que pode se beneficiar da participação de outros interlocutores interessados no
bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizado, portanto, como benefícios é possível
que você possa vir a considerar positivo o contato com outras formas de ensinar línguas
estrangeiras, assim como o contato próximo com a pesquisa em sala de aula.
Este documento foi elaborado em duas vias, que deverão ser rubricadas e assinadas por
você e pela pesquisadora, ficando uma com você e outra com a pesquisadora. É recomendável
que mantenha em segurança a sua cópia, uma vez que ela lhe garante direitos em relação à
pesquisa.
Este projeto tem aprovação do CEPSH/UFSC e, como pesquisadora, comprometo-me a
conduzir esta pesquisa de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) de 12/06/2012 e suas complementares, que visam a garantir a condução ética e a proteção
aos participantes da pesquisa. Mais esclarecimentos sobre os princípios éticos que conduzem a
pesquisa, poderão ser solicitados a mim, pesquisadora, à orientadora dessa pesquisa e
pesquisadora responsável, Profa Maria Inêz Probst Lucena, ou ao Comitê de Ética em Pesquisa,
através dos contatos abaixo:
Narjara Oliveira Reis – Pesquisadora em campo – Fone: (48) 99984-5084
E-mail: [email protected] Endereço: Rua Folhas Verdes, 50, Córrego Grande, CEP: 88037-540
239
Profa. Dra. Maria Inêz Probst Lucerna – Pesquisadora responsável – Telefone: (48) 9962.1305 –
E-mail: [email protected] – Endereço profissional: Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de
Comunicação e Expressão (CCE) – Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGLg), 3º andar – Campus
Universitário – Trindade, Florianópolis.
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa/UFSC
Reitoria II, 4º andar, Sala 401
Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Trindade
Telefone: 3721-6094
E-mail: [email protected]
Atenciosamente,
_______________________________ _________________________________ Profa.
Dra. Maria Inêz Probst Lucena Narjara Oliveira Reis
Orientadora PPGLg/UFSC Pesquisadora em campo PPGLg/UFSC
No caso de estar de acordo com os termos anteriores, preencher os respectivos campos:
Eu, _______________________________________________________, portadora do
documento de identidade _________________________________ fui informada dos objetivos
e procedimentos da pesquisa “Subalternidade e Ideologia: práticas de linguagem de mães
haitianas em um curso de Língua Portuguesa em Florianópolis”, de maneira clara e
detalhada. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha
decisão de participar se assim o desejar. Nessas condições, declaro que concordo em participar
desta investigação. Recebi uma via original deste TCLE e me foi dada a oportunidade de ler e
esclarecer as minhas dúvidas.
__________________________________ __________________________________
Assinatura do(a) participante da pesquisa Assinatura do pesquisador responsável
Florianópolis, ____ de ______________ de 2018.
254
ANEXO F – MATERIAL DIDÁTICO “ATIVIDADES DIRECIONADAS: Trabalhando nas
nossas dificuldades” SEMESTRE 2019/2 – MÓDULO II