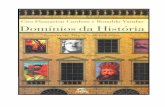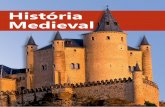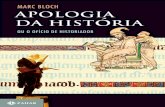Comunidade história e subjetividade a história de vida de Nedir
Património e História Local
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Património e História Local
Página 1
Património e História Local
Francisco Messias Trindade Ferreira
Quando me propuseram a apresentação a este encontro de uma comunica-
ção subordinada a um tema tão vasto como o património e História Local, fiquei com dúvidas sobre a matéria a abordar. Se, por um lado, me atraía tratar um caso con-creto sobre património, por outro também me seduzia desenvolver um estudo de História Local. Mas a sedução também se aplicava ao campo teórico, por forma a transmitir aquilo que de momento se faz em termos de História das Populações e História Local e o processo de articulação entre ambas. Eram três trabalhos, e a ideia era apresentar apenas um. Decidi elaborar esta comunicação de forma a abranger todos estes assuntos. Espero conseguir este desiderato.
Quando se fala em património é-se facilmente levado a pensar em patrimó-
nio edificado numa associação imediata à monumentalidade. Rapidamente se rotula uma cidade que não possui grandiosidade monumental como uma cidade sem pa-trimónio. Tal associação, sendo corrente entre o comum do cidadão, não o deveria ser entre os dirigentes políticos ou cidadãos com um nível cultural mais elevado; no entanto, nem sempre tal se verifica. Fala-se e faz-se muito barulho por um imóvel (se calhar de valor duvidoso) “ir abaixo”, mas desprezam-se outros tipos de patrimó-nio tão ou mais valiosos que o monumental. São exemplo, os espólios de colecciona-dores particulares, a memória dos mais idosos, as tradições e a cultura das popula-ções, os conjuntos urbanísticos (constantemente desvirtuados por intervenções sem nexo), o património ambiental, etc.
Deixei propositadamente de lado um outro tipo de património, mais resguar-dado dos olhares do cidadão anónimo, não menos importante, e também não me-nos incólume à depredação e à destruição: o património arquivístico seja ele público ou particular. São frequentes os casos de destruição de arquivos (por exemplo de empresas), de abandono e desleixo (o caso de arquivos municipais, de casas parti-culares, organismos estatais), e, mesmo a nível da própria Igreja, as coisas estão to-talmente como deveriam estar.
Poderia citar inúmeros exemplos, mas corria o risco de me alongar demasi-ado. Mas não posso deixar de vincar o seguinte aspecto, extremamente pertinente: esses tais “papéis velhos” contêm uma riqueza de dados, maior e muito mais rele-vante que meia dúzia de grandes monumentos. Eles encerram informação respei-tante àquilo que de mais importante existe: as pessoas.
Texto apresentado nas jornadas de Património e História Local, Aveiro.
Página 2
As pessoas que ergueram tais monumentos, do arquitecto ao servente de pedreiro, as pessoas “anónimas e sem história”, mas quantas delas com grande ri-queza de vida, que nos falam de como viviam, de como sentiam, e manifestavam a dor e a alegria, em suma, de como enfrentavam a vida e a morte. Pergunto mesmo: será que podemos conhecer e avaliar um monumento, por mais singelo ou grandi-oso que seja, se não conhecermos as pessoas que o edificaram? A resposta fica a cargo de cada um de vós.
Citando Pierre Chaunu1, podemos dizer que “Toda a ciência humana sem
uma poderosa base demográfica não é outra coisa que um castelo de cartas; toda a história que não recorra à demografia priva-se do melhor instrumento de análise.” Não existe, de facto, economia onde não houver população, não existe sociedade onde não existirem pessoas, não existe mentalidade, cultura, política, religião onde o Homem estiver ausente. Parece uma verdade de La Palisse, mas, então, porque tem sido esta constatação tão desprezada e ignorada? Tudo é obra do Homem, ser indi-vidual e simultaneamente colectivo. No entanto, fizeram-se grandes obras de histó-ria económica que deixaram de lado o aspecto demográfico; fez-se história social que só olhou para o lado económico; fez-se história das mentalidades olhando ape-nas para as elites.
Aceitando o que disse Lucien Febvre - a história é filha de seu tempo - é possível compreender o que se passou em termos de historiografia no nosso século. O movimento dos Annales, surgido no início da década de 30 deste século, procurou sobretudo romper com os quadros tradicionais da historiografia então vigente, que colocava o enfoque das questões nos aspectos políticos, desprezando tudo o que se colocava para além dele. Era a típica história événementielle ou a história factual. Este tipo de história já não correspondia às realidades do seu tempo. Viviam-se tem-pos conturbados no mundo com crises, convulsões e rupturas para as quais a Histó-ria tradicional não conseguia encontrar uma explicação satisfatória. Era preciso des-bravar novos caminhos, procurar novas explicações, criar uma história mais abran-gente e totalizante. Foi ao que se propuseram Lucien Febvre e Marc Bloch, aos quais se juntaram outros nomes sonantes (ou a partir deles se criaram). Viveu-se, então, na historiografia o tempo das grandes estruturas e dos grandes momentos e movi-mentos conjunturais.
No entanto, e apesar de projectos ambiciosos, o grupo dos Annales acabou por se transformar num grupo monolítico, com uma prática historiográfica uniforme, quantitativa em relação ao método, determinista nas suas concepções, indiferente para não dizer mesmo hostil à política e aos eventos. Concretizando um pouco me-lhor, é possível dizer que com o movimento dos Annales, fez-se depender larga-mente a análise histórica do factor económico, sendo tudo visto em função deste.
1 Pierre Chaunu, Historia, Ciencia Social – La duración, el espacio y el hombre en la epoca moderna, Ediciones Encuentro, S.A., Madrid, 1985, pág. 401.
Página 3
Trata-se no fundo da concepção marxista da História, que a todos contagiou (marxis-tas e não marxistas) e que, afirmando-se dialéctica como no seu cerne o é, foi sub-vertida pelos seus utentes, que acabaram por a transformar num mecanicismo redu-cionista, que, exageradamente, tudo fez depender do elemento económico.
No dizer de J. Dûpaquier, “Interessante é que esta concepção mecanicista pa-rece ser compartilhada por inúmeros historiadores não-marxistas: a história social que eles tentam escrever é sempre concebida como um anexo do estudo das condi-ções da vida material”2.
Mais adiante e de forma lapidar continua: “Afogada na história económica, cortada da análise demográfica, prisioneira dos confrontos ideológicos, a história so-cial perde pois a sua especificidade. Torna-se um objecto desnaturado que os autores de manuais podem recortar e apresentar em fatias, conforme as velhas receitas: “relações de produção”; “divisão da sociedade em classes antagónicas”; “condições da vida material”; “revoltas populares e movimentos sociais”; etc.3
Não deixa de ser curioso o próprio percurso da corrente dos Annales. Serve para ilustrar a “natural” dialéctica do processo histórico que defendiam e um certo princípio cíclico das coisas: de rebeldes iniciais, transformaram-se em “esta-blishment” quando alcançaram o poder, contra quem novos rebeldes se ergueram na busca, sempre incessante, da perfeição.
É dentro deste contexto da revitalização da própria História, e mantendo a ideia de uma História não feita por figuras, mas pela gente anónima, que se começou por romper com o quadro já passível de ser designado por tradicional e a procurar novos caminhos, a abrir novos campos de investigação. Parafraseando Maria Luiza Marcílio “Não se trata mais do estudo restrito, limitado das grandes figuras, dos he-róis ou das camadas dominantes e donas do poder, das cabeças coroadas ou dos sangues enobrecidos. Foram, sobretudo, as massas silenciosas, dominadas a maior parte das vezes, não letradas, que a Demografia Histórica teve por objecto.”4
Depois da história dos preços ter sido a grande conquista da abordagem quantitativa, será a história da população e mais precisamente a Demografia Histó-rica e a História Demográfica quem vai preencher de forma maioritária o aspecto quantitativo.
Foi do cruzamento de duas disciplinas marcadamente distintas, a História e a Demografia, que surgiu em época recente (finais dos anos cinquenta) esta nova área do saber que se consubstanciou numa nova ciência baptizada de Demografia Histó-rica. Tal união, se bem que feliz, não é fruto de um mero acaso ou da vontade de uma meia dúzia de investigadores. Surge dentro de um contexto bem marcado da própria evolução da História neste século, numa fase em que as transformações ope- 2 Jacques Dûpaquier, Demografia Histórica e História Social, in Maria Luiza Marcílio (org.), População e Sociedade – Evolução das Sociedades Pré-Industriais, Editora Vozes, Petrópolis, 1984, pág. 26. 3 J. Dûpaquier, op. cit., pág. 27 4 Maria Luiza MARCÍLIO, (org.), Introdução, in Maria Luiza MARCÍLIO, (org.), População e Sociedade: evolução das sociedades pré-industriais, Petrópolis, Vozes, 1984, pág. 11.
Página 4
radas pelo movimento dos Annales começavam a atingir os seus limites e a euforia inicial se esfumava e em que os problemas que se punham ao mundo já eram subs-tancialmente diferentes daqueles do início da década de trinta.
A grande originalidade da Demografia Histórica vai assentar em quatro carac-terísticas que lhe são únicas e a tornam sui generis. Enunciando-as, e sem intenção de atribuir qualquer ordem de prioridade:
a) Não dispõe de estatísticas feitas, mas tem de as construir a partir de fontes específicas;
b) Essas fontes não foram criadas com um fim de conhecimento científico, mas para permitirem um controlo da população pelas autoridades políticas, administrativas, militares, religiosas ou fiscais;
c) O tratamento dessas fontes exigiu a elaboração de metodolo-gias e técnicas completamente novas, que permaneceram em contínua evo-lução e aperfeiçoamento;
d) Criou-se uma nova Demografia assente na análise longitudinal por oposição à típica análise transversal da Demografia. Foi um dos grandes contributos da História, ao introduzir a perspectiva da longa duração; dei-xamos de ver as populações como uma fotografia tipo “retrato de família”, para termos uma “longa-metragem” de toda uma população. Inaugurou-se, desta forma, um novo campo do saber que abriu perspectivas
aliciantes à investigação e descongestionou, por assim dizer, a temática da história económica introduzida pelos Annales, que começava a conduzir a becos sem saída.
Será em França nos finais da década de cinquenta, e um pouco paradoxal-mente com um demógrafo (Louis Henry) e um arquivista (Michel Fléury), que a De-mografia Histórica ganha o seu estatuto de ciência autónoma e edificada, pela cons-trução de um método específico para a exploração dos registos paroquiais. Em Ingla-terra ter-se-á de esperar pelo aparecimento do designado grupo de Cambridge (1964) de Peter Laslett e E-A. Wrigley para que se resolvam os problemas epistemo-lógicos levantados pela especificidade dos registos paroquiais ingleses, nomeada-mente a pobreza dos dados fornecidos pela Igreja Anglicana no que respeita aos ac-tos vitais. Com este grupo criou-se a metodologia agregativa de exploração dos registos paroquiais, que tem a particularidade de poder ser utilizada com qualquer tipo de registo e ser de uma rapidez de execução acima da média, apesar de menos rico na obtenção de resultados.
A partir de então, a Demografia Histórica expande-se com grande facilidade e maior ou menor rapidez a todos os países, quer no continente europeu quer no americano. As duas metodologias fundamentais (o método de Henry e o método agregativo) conhecem um elevado nível de refinamento e, simultaneamente, de di-vulgação, o que os torna indispensáveis a qualquer investigação no ramo da Demo-grafia Histórica.
Página 5
Não posso deixar de fazer aqui um parêntesis em relação a Portugal. Só tardi-amente a Demografia Histórica começou a interessar os investigadores, apesar de alguns trabalhos pioneiros que procuraram utilizar a metodologia de L. Henry. Nesta linha encontra-se o trabalho de Maria de Lourdes Akola Neto5 pela sua proximidade temporal com a divulgação da metodologia de reconstituição de famílias; no en-tanto, a metodologia de Henry, não se coadunava cabalmente com o tipo de registos paroquiais portugueses, e daí o facto de não ter conseguido ganhar grande número de adeptos. Caberá a Norberta Amorim6, nos inícios de setenta, encontrar a solução para o problema. Esta autora assume desta forma particular importância, por ter sido a criadora de uma metodologia de trabalho7 que, sendo derivada da metodolo-gia de Henry, se encontra muito melhor adaptada às especificidades das fontes por-tuguesas8, sem de forma alguma perder a riqueza de informação possível de obter9. Bem pelo contrário, alarga substancialmente as possibilidades de adicionar mais in-formação pelo cruzamento de fontes, enriquecendo o conhecimento dos indivíduos, e permitindo, com o recurso à informática, a possibilidade de lhes seguir o trajecto de vida e, como tal, poder trabalhar aquela variável, sempre problemática, que é a mobilidade.
O sucesso da Demografia Histórica estava então assegurado: não só dispunha de todo um instrumental de técnicas de análise herdadas da Demografia tradicional, como ainda dispunha de um reservatório enorme de fontes até então não explo-rado, ou apenas muito liminarmente explorado, pelos genealogistas, e que eram os registos paroquiais. A adesão de antigos e novos historiadores foi fulgurante; os tra-balhos multiplicaram-se como cogumelos depois de um dia de chuva outonal; mas as primeiras críticas e os primeiros problemas sérios também não tardaram.
Hollingsworth é dos primeiros a apontar as lacunas existentes: “Poucos são os trabalhos sobre métodos e fontes e estes não têm sido capazes de dar à disciplina
5 Maria de Lourdes Akola Neto, A Freguesia de Santa Catarina de Lisboa no 1º quartel do século XVIII, Centro de Estudos Demográficos do INED, 1959. 6 Maria Norberta de Simas Bettencourt Amorim, Rebordãos e a sua População nos séculos XVII e XVIII, Imprensa Nacional, Lisboa, 1973. 7 Trata-se da Metodologia de Reconstituição de Paróquias exposta em: Norberta Amorim, Método de exploração dos livros de registo paroquiais e Cardanha e a sua população de 1573 a 1980, Lisboa, C.E.D., do Instituto Nacional de Estatística, 1980; Norberta Amorim, Demografia Histórica – fontes e métodos manuais de reconstituição de famílias in Revista do C.E.D. do Instituto Nacional de Estatística, 1981; Norberta Amorim, Método de Exploração dos Livros de Registos Paroquiais e Reconstituição de Famílias, Guimarães, 1982, edição do autor. 8 Sobretudo pela inconstância dos nomes de família que não se transmitem quer de uma forma linear ou regular, realçando ainda a extrema “volubilidade” dos apelidos do sexo feminino. 9 O estudo prático comparativo efectuado sobre a mesma paróquia (S. Tiago de Ronfe) empregando as duas metodologias, foi efectuado por Ana Sílvia Volpi Scott, Reconstituição de Famílias e Reconstituição de Paróquias – Uma comparação metodológica, in David Reher (coord.), Reconstituição de Famílias e outros Métodos Microanalíticos para a História das Populações – Estado Actual e Perspectivas para o Futuro, Actas do III Congresso da ADEH (Associação Ibérica de Demografia Histórica), vol. I, Edições Afrontamento, Porto, 1995.
Página 6
qualquer forma definida.”10 E quando concretiza com mais clareza: “Dificilmente al-guém tem procurado definir os temas em si e esboçar as suas ramificações, suas re-lações com outros temas, seus propósitos, objectivos, ou valores”11, está precisa-mente a colocar o dedo numa das chagas, a seu ver, mais graves da disciplina. Refre-ando a euforia pela Demografia Histórica, e sem poupar a crítica, afirma mais adi-ante: “É praticamente inexistente uma orientação geral da pesquisa realizada e mui-tas monografias quase não se relacionam com as demais… Ao rápido crescimento de uma disciplina não se seguem inevitavelmente, linhas caóticas de desenvolvi-mento.”12Concluindo, a ideia remata, quase passando um atestado de menoridade: “Em essência, a Demografia permanece ainda, em larga escala, uma ciência empí-rica; possuindo já um considerável número de conceitos úteis, são ainda limitadas as amplas teorias.”13
Até então, passou-se uma época em que se procurava testar e aperfeiçoar a metodologia face aos problemas metodológicos que eram postos passo a passo, e levar a técnica ao mais elevado grau de refinamento, a ponto de nada ser deixado ao acaso ou ao sabor de um imprevisto.
Chegou-se mesmo a criar um segundo tipo de Demografia Histórica – a De-mografia Histórica qualitativa, onde se notava a influência de outras ciências, para se começar a responder às questões levantadas pelos números da parte quantitativa. No entanto, o enfoque acabava por conduzir a cada vez mais números, e menos ex-plicações.
Não era portanto de admirar que novas críticas surgissem, e algumas delas mesmo muito sérias, como esta de A. Burguière: “A Demografia Histórica é uma ci-ência jovem, com cerca de trinta anos, mas conhece já as doenças da velhice: os tra-balhos recentes tomam o carácter repetitivo e dão a impressão de cair nas mesmas antinomias. Não se trata de verificar um fracasso, mas o preço exigido por uma for-tuna demasiado rápida. Ao contrário de quase todas as outras disciplinas históricas que tiveram de recolher um enorme “stock” de informações e, pouco a pouco, famili-arizar-se com as suas fontes antes de poder aperfeiçoar os seus métodos de análise, a Demografia Histórica encontrou quase ao mesmo tempo o filão que devia assegu-rar o seu sucesso e um método rigoroso para o explorar.14(…) Qualquer resultado é portador de uma significação considerável, donde o inesgotável atractivo das mono-grafias; mas, ao mesmo tempo, não significa nada só por si. É preciso combinar entre si taxas de fecundidade, espaçamentos entre os nascimentos, idade na altura do ca-
10 T.H. Hollingsworth, Uma conceituação de Demografia Histórica e as diferentes fontes utilizadas em seu estudo, in Maria Luiza Marcílio e H. Charbonneau (org.), Demografia Histórica, Enio Matheus Guazzelli & Cia, S. Paulo, 1977, pág. 23 11 Idem. 12 Ibidem. 13 Idem, pág. 25. 14 André Burguière, A Demografia, in Jacques Le Goff, e Pierre Nora (org.), Fazer História, Bertrand Editora, Venda Nova, 1989, vol. II, pág. 87.
Página 7
samento e taxas de mortalidade para se construir um modelo, isto é, um comporta-mento simulado. Mas o modelo, por si mesmo, fornece a chave do fenómeno? Por-que estas combinações são variáveis, elas fornecem não um mas vários modelos, que nos deixam a todos na fronteira de uma realidade cultural ambígua. A polisémia das estatísticas demográficas nunca é tão evidente como neste terreno ambicioso em que a colocaram os registos paroquiais.15”
Outros se lhes seguiram, como foi o caso de G. Leti que colocou a questão da representatividade das famílias reconstituídas segundo a metodologia de Henry, face ao conjunto das famílias de uma paróquia, numa dupla perspectiva: em primeiro lu-gar, aponta para o fraco rendimento da reconstituição de famílias pela metodologia de Henry; por outro, realça o facto de as pesquisas serem efectuadas quase que por sondagem, realçando a inexistência de um plano global de trabalho16. Mesmo Pierre Chanu e Pierre Goubert, corroboram estas críticas, realçando o dogmatismo em que se estava a cair face à metodologia de Henry.17Como exemplo desse dogmatismo, podem apontar-se as muitas centenas de monografias realizadas que funcionavam como diapasão pelo qual todos os resultados das novas monografias tinham de afi-nar. Qualquer resultado discrepante era liminarmente interpretado como fruto de uma errada aplicação da metodologia.
Outras críticas pertinentes: de fora ficaram, quase por sistema, os meios ur-banos, onde a mobilidade é grande e a metodologia de Henry se mostra pouco à vontade. A. Burguière18 realçou ainda o facto de os limites colocados serem pura-mente artificiais em termos geográficos ou temporais. Os primeiros levam a que não se tome em consideração as relações de vizinhança, e por consequência, a mobili-dade dos noivos, por exemplo19 (a mobilidade das populações parece ser inimigo nú-mero um da metodologia de Henry). Se os emigrantes (no caso de uma zona de re-pulsão populacional) deixam problemas, os imigrantes (na situação de estarmos pe-rante uma região de atracção) trazem consigo uma montanha de questões. No caso dos limites temporais, as datas extremas da observação conduzem, fatalmente, a que uma fatia significativa das observações fique incompleta, ou porque faltam as datas de nascimento dos intervenientes na parte inicial, ou porque falta o elemento que permite o fecho de observação no outro extremo.
Marcel Lachivier e Dûpaquier20 questionam mesmo a validade dos dados obtidos, já que dizem apenas respeito a famílias fechadas, a comportamentos famili-
15 Idem, pág. 90. 16 Apud Jacques Dûpaquier, Pour la Demographie Historique, op. Cit., pág. 92. 17 Idem, pág. 93. 18 A. Burguière, op. Cit. Pág. 90. 19 Homem ou mulher solteiro que casem na freguesia do cônjuge e regressem à freguesia inicial, em duas monografias dessas freguesias aparecem ou como casal sem filhos a quem se perdeu o rasto, e portanto inútil para quaisquer cálculos de fecundidade, ou como casal de quem se ignora a data de casamento. Isto para não falar em situações mais complicadas que frequentemente surgem a cada passo. 20 J. Dûpaquier, Pour la Demographie Historique, op. Cit. Pág. 117.
Página 8
ares diferenciados, que impedem, na maior parte dos casos responder a questões simples de âmbito sociológico, como por exemplo: existe ou não a restrição voluntá-ria de nascimentos? Caiu-se, no entender destes autores, em estereótipos de análise como, por exemplo, calcular a fecundidade legítima em função da idade ao casa-mento e os anos de duração do matrimónio; o número de filhos nascidos em 5 anos de vida conjugal (se o casamento termina antes dos cinco anos pela morte de um dos cônjuges é automaticamente excluído); os intervalos intergenésicos e protoge-nésico; as idades das mães ao último nascimento, etc.
No fundo, tomaram-se por iguais famílias que são diferentes; diferentes por-que provêm de meios sociais diversificados, porque têm meios económicos diferen-ciados, porque o substrato cultural não é o mesmo, ou porque o nível de alfabetiza-ção também é variável, etc.
São estes os problemas mais marcantes que se podem colocar à Demografia Histórica, e que lançam sobre ela uma nuvem de algum cepticismo, que lhe poderia ser pernicioso. Foi o feedback necessário à avaliação dos resultados iniciais, sempre imprescindível não só para a validação dos mesmos, como ainda para a consolidação de métodos e ideias.
A superação destas e doutras questões leva, no fundo, a que a Demografia Histórica acabe por ganhar maior dimensão e se transforme em pedra basilar de uma nova construção histórica. Era preciso repensar toda a problemática, para se não cair nos erros anteriores.
Também não tardaram as alternativas para a superação das dificuldades: O alargamento do campo documental com o recurso a novas fontes, para
além dos registos paroquiais, nomeadamente actos administrativos, listas de impos-tos, recenseamentos militares, inventários orfanológicos, etc., e o seu cruzamento; tal procedimento permite a recuperação de dados, seguir percursos de vida, por ou-tras palavras, enriquece a informação disponível, permitindo, a posteriori, caminhar para outros campos de análise.
O alargamento do espaço físico e temporal da observação significa não só procurar trabalhar ao nível de paróquia, mas ao nível de região, ainda que para tal se tenha de recorrer ao trabalho em equipa. A aposta no estudo do meio urbano, utili-zando também os mais variados tipos de fontes, incluindo as hospitalares, e outras, possibilitará um conhecimento mais aproximado da realidade. Fica um destaque muito especial e uma chamada de atenção para a questão da mobilidade. Quando se fala tanto da existência de um êxodo rural em direcção ao mundo citadino, poucos têm sido os trabalhos a abordar essa temática. Mais ainda, existe toda a conveniên-cia em prolongar o mais possível o tempo de observação, não criando barreiras arti-ficiais que não as da própria documentação. Se existe possibilidade de trabalhar a partir do século XVI, pois que se comece daí e se chegue o mais longe que se conse-guir, mesmo entrando em pleno século XX.
Página 9
O reforço dos contactos interdisciplinares, pode-se dizer que de início ape-nas a Biologia e a História Económica tocavam de perto a História das Populações; agora, o alargamento impõe-se numa escala mais vasta, nomeadamente à Genética, à História Social e à Sociologia, à Genealogia (após um divórcio mais ou menos pro-longado infundadamente justificado), à Antropologia Física e Cultural (dando, de uma certa forma, corpo a uma Antropologia Histórica – vide a obra de J.-L. Flandrin), à própria Psicologia, à Medicina. De certa forma, dá-se origem a novas histórias – da família, da criança, da sexualidade, da condição feminina, da sociabilidade, etc.21
A reconciliação com a genealogia aporta novas perspectivas de sucesso para a Demografia Histórica, fundamentalmente, para a resolução do problema da mobi-lidade geográfica de indivíduos e famílias, mas também para a questão da mobili-dade social, fornecendo assim um contributo para o melhor conhecimento da socie-dade, dos homens e, mesmo, da economia e da cultura. J. Dûpaquier resumiu em poucas linhas o importante contributo que pode ser dado pela genealogia: “As técni-cas genealógicas permitirão dois progressos fundamentais: estudar grupos sociais bem delimitados (a nobreza por exemplo, mas porque não os pastores ou os carnicei-ros?); analisar a mobilidade geográfica e social do decorrer do tempo...”22 Noutro ar-tigo23, o mesmo autor afirma: “Sob a condição de serem completas e de abrangerem um meio definido, as genealogias constituem-se em excelente material para a cons-trução da história social. Poder-se-ia mesmo esperar ainda mais se os genealogistas estivessem dispostos a adoptar os rigorosos métodos da Demografia Histórica, parti-cularmente a sua preocupação com a representatividade e a crítica sistemática dos dados.”
A necessidade de uma renovação metodológica é ponto assente; não se trata de abandonar ou mesmo reformular a metodologia de Henry ou de Norberta Amo-rim, mas tão só de a adequar ao momento presente. Quando foram concebidas, a informática dava os primeiros passos, por isso o recurso ao sistema de fichas de car-tolina foi a solução mais prática e menos dispendiosa encontrada. A informática era
21 Ficam nesta nota alguns autores e títulos que se tornam exemplos práticos do que se acaba de afirmar e que de alguma forma representam as novas tendências: J.-L. Flandrin, Les amours paysannes. Amour et sexualité dans les campagnes de l’ancienne France (XVI-XIX siècle), Éditions Gallimard/Julliard, Paris, 1975; Idem, Famílias, parentesco, casa e sexualidade na sociedade antiga, Editorial Estampa, Lisboa, 1991. José Andrés-Gallego, História da Gente Pouco Importante, Editorial Estampa, Lisboa, 1993. Elisabeth Badinter, O Amor Incerto – história do amor maternal do século XVII ao século XX, Relógio d’Água, Lisboa, s.d. Georges Vigarello, O Limpo e o Sujo – a Higiene do corpo desde a Idade Média, Editorial Fragmentos, Lisboa, 1988. Edward Shorter, A Formação da Família Moderna, Terramar, Lisboa, s.d. Georges Duby e Michelle Perrot (org.), História das Mulheres, Circulo de Leitores, Lisboa, 1993 Philippe Ariès e Georges Duby (dir.), História da Vida Privada, Edições Afrontamento, Lisboa, 1989. Angus McLaren, História da Contracepção. Da antiguidade à actualidade. Terramar, Lisboa, 1997. 22 J. Dûpaquier, Pour La Demographie, pág. 160. 23 Jacques Dûpaquier, Demografia Histórica e História Social, in Maria Luiza Marcílio (org.), População e Sociedade – Evolução das Sociedades Pré-Industriais, pág. 29
Página 10
uma coisa difícil, extremamente dispendiosa e reservada em exclusivo a especialis-tas. Hoje, democratizou-se, embarateceu e simplificou-se. As ferramentas postas à disposição do utilizador permitem-lhe uma elevada rentabilidade na execução do trabalho, da mesma forma que lhe possibilitam o tratamento de grandes quantida-des de informação em tempo recorde, ao contrário da forma tradicional de trata-mento manual que levaria meses ou anos. Curiosamente foram os genealogistas quem mais depressa se apercebeu das possibilidades do mundo informático e mais rápida e eficazmente o adoptaram como meio de trabalho.
A partir de uma base de Demografia Histórica e da necessidade por ela sen-tida de reformulação, acabou por se lançar as sementes de um novo campo de tra-balho – A História das Populações, e, por arrastamento, de uma nova História Social. Diz Jacques Dûpaquier24:“Esta futura história social só será feita se os historiadores demógrafos consentirem em sair do seu estreito recinto, para alargar o seu campo de observações. Já vimos a riqueza que podemos extrair do levantamento e explora-ção dos registos civis, passando de uma demografia geral de comunidades, para uma demografia social diferencial. (…) Assim, torna-se indispensável completar as in-formações extraídas dos registos civis, se quisermos evitar aparências enganadoras, buscando todo o tipo de fonte de história social que sirva a estes objectivos.”
O estímulo para o trabalho do investigador decorre de algumas vertentes no-vas e interessantes, só agora possíveis: por um lado, e da parte respeitante à micro-análise, com toda a carga de trabalho que consiste a recolha de dados; por outro, da curiosidade (e necessidade) de comparar os dados obtidos, e da facilidade com que se efectua essa comparação dada a homogeneidade das fontes, dos instrumentos de trabalho comuns, e da metodologia pré-definida; a possibilidade de cruzamento de dados do mesmo tipo é uma realidade que alarga e amplia o espaço de observação e estimula o trabalho em equipa. A análise dos resultados e a busca de respostas para as questões levantadas, “empurram” o historiador a saltar para outros domínios, do âmbito intra e interdisciplinar que o levam a recorrer aos serviços de outras discipli-nas, sejam elas do quadro das ciências humanas ou exactas. Não o fazer significa au-tocondenar-se à esterilidade dos números.
A História das Populações, sendo o prolongamento natural da Demografia Histórica, consiste no fundo, na abrangência das contribuições de todas as ciências que ao Homem digam respeito, tendo por base um sólido conhecimento da reali-dade humana.
A História Local, finalmente reabilitada, enquadra-se perfeitamente nestes parâmetros. O conhecimento da realidade local e das suas variações é condição ne-cessária para o avanço nas análises de regiões mais vastas. A título de exemplo, numa zona rural é possível que as famílias dedicadas à agricultura possuam uma
24 Jacques Dûpaquier, Demografia Histórica e História Social, in Maria Luiza Marcílio (org.), População e Sociedade – Evolução das Sociedades Pré-Industriais, Editora Vozes, Petrópolis, 1984, pág. 41-42.
Página 11
prole bastante numerosa, mas noutra zona não muito distante e com as mesmas ca-racterísticas de actividade económica, a prole pode ser bem mais reduzida. Como explicar então estes comportamentos diferenciados? A explicação não se obtém pelos números, é preciso conhecer mais. A chave pode estar, por exemplo, no sis-tema de heranças (que não era nem uniforme nem igual em todo o lado). Uma pos-sibilidade de explicação para o reduzido número de filhos podia, portanto, ser en-contrada na existência de um direito patrimonial igualitário.
A História Local foi durante largo tempo considerada marginal e rotulada de valor científico duvidoso, confinada apenas aos amantes de coisas antigas e das ve-lharias, produzida por aqueles que alimentavam bairrismos, que trabalhavam sem método nem regra, que desenterravam curiosidades por vezes interessantes mas sem projecção maior que o espaço estritamente local. A justificação para esta ati-tude marginalizadora tinha a sua origem no facto de os “historiadores locais” não produzirem grandes análises nem perseguirem as grandes estruturas; como não al-mejavam os grandes quadros macroeconómicos e sociais, foram rapidamente des-prezados e pejorativamente considerados “ratos de arquivo”, ávidos da curiosidade mesquinha e da intriga aviltante. Curiosamente, e num pequeno parêntesis, o mesmo se passou com os genealogistas, apenas porque se dedicavam ao individual em detrimento do colectivo. Era o peso do movimento do Annales a fazer-se sentir.
Mas, será a partir da década de 60, graças ao desenvolvimento da Demogra-fia Histórica e, posteriormente, com a História das Populações, que se conseguiu in-verter a visão negativa com que a História Local era encarada pelos homens dos An-nales. Com o surgimento deste vasto campo que foi a História das Populações, a va-lorização daquilo que se designou por micro-história tornou-se um facto. Criou-se uma nova forma de encarar o fazer História, mas não se colocaram de lado as gran-des análises, apenas se modificou a forma de as construir e se abriram portas a no-vos caminhos, que de outra forma seria impossível trilhar. As novas sínteses surgirão das múltiplas realidades locais e de acordo com elas, e não o inverso, isto é, não será a História Local a ter de se encaixar nos quadros macro, mas estes a ser construídos a partir das micro-realidades locais.
Os contributos dados pela historiografia local começam já a dar os seus frutos de uma forma que abala os velhos conceitos e, quiçá, mesmo generalizações apres-sadas ou pouco consistentes. Vou dar apenas alguns exemplos e apenas respeitantes ao caso português, que impõem, a médio prazo, a reformulação de muito daquilo que foi escrito. Comecemos por estes casos:
1º - Tinha-se a ideia de que as famílias de proprietários no mundo rural se-riam, na sua generalidade bastante numerosas dada a necessidade de avultado nú-mero de braços para a realização de trabalhos agrícolas; tal é apenas parcialmente verdade; existem, como já disse, zonas onde o regime sucessório era inspirado no di-reito patrimonial igualitário mesmo antes de ser assim consignado por força de lei, pela publicação do Código Civil de 1867. Nestes casos, o número de filhos dos pro-
Página 12
prietários agrícolas era reduzido. Onde vigorava o direito preferencial, e ao contrário do que se pensa, muitas das vezes não era o primogénito varão o escolhido, sendo o número de filhos bem mais numeroso, já que o sistema de compensações pelas chamadas “tornas” aparentemente mostrava-se eficaz.
2º - Outro caso: a emigração – criou-se o estereótipo de que os emigrantes eram, na sua maioria, os desfavorecidos, aqueles que viviam em condições económi-cas difíceis… enfim, os pobrezinhos. Já foi demonstrado por vários estudos que assim não era. Os emigrantes de finais do século XVII a meados do século XIX, são em grande parte filhos de famílias abastadas de proprietários ou comerciantes, e herdei-ros preferenciais que procuram no Ultramar, nomeadamente no Brasil ampliar o ca-pital financeiro e, com ele, prestígio, tendo em vista a ascensão social na terra onde eram naturais;
3º - O século XVIII e mesmo o XIX, que têm sido encarados como séculos de prosperidade, onde as crises de mortalidade desaparecem e dão lugar a um rápido crescimento da população, marcando o fim do antigo regime demográfico, têm-se genericamente revelado, meros continuadores do século XVII, que não parece ter sido tão mau como o pintaram;
4º - Outro exemplo ainda e a propósito de mortalidade: em Portugal, na re-gião litoral e, pelo menos, nos Açores, não se verificam no Antigo Regime as mesmas taxas de mortalidade que se observam, por exemplo, em França ou Inglaterra e que com facilidade atingem 400‰; em Portugal, nestes locais, raramente atingem os 200‰, para além de as crises não serem tão frequentes.
5º - É ideia preconcebida a existência do luto como um período prolongado de recolhimento. Tal preconceito teve a sua origem, por certo no romantismo. Os números extraídos dos registos paroquiais não o confirmam, e podem mesmo che-gar a por em causa se existia período de luto. Uma primeira conclusão é que se ele existia era muito curto e cumprido mais pelas mulheres que pelos homens. No caso destes últimos, se não optavam por um resto de vida de celibatários, ao fim de 3-4 meses em média estavam casados, tendo eu próprio encontrado um significativo número de casos cuja viuvez durava entre 2 a 3 semanas. No caso das mulheres, sendo natural que muitas optassem pelo estado de viuvez definitiva, especialmente se já tinham ultrapassado a idade de procriar, permaneciam viúvas entre 6 meses a 1 ano, embora tenha encontrado casos (ainda que raros) em que o defunto marido ainda não tinha arrefecido e já elas “davam o nó”.
6º - Fala-se e escreveu-se que, em especial no século XVIII, a quantidade de ilegítimos era enorme, assim como o abandono de crianças. Mais uma vez, os núme-ros contradizem: as taxas de ilegitimidade e abandonos para os séculos XVII e XVIII (até 1783) raramente ultrapassam os 6%, o que é muito pouco dada a “enormidade” apregoada. Mesmo assim, ainda temos de considerar que grande parte destes ilegí-timos, acabavam, a curto prazo, por adquirir a legitimidade com o casamento dos pais.
Página 13
7º - Referi a data de 1783, altura em que Pina Manique instituiu o serviço da Roda em Portugal, através do qual procurava resolver o problema dos expostos, com a criação de uma instituição de apoio à criança abandonada. Desapareceram, então, quase por completo, os ilegítimos e disparou o número de abandonos. Quando em 1867, se decretou a extinção da Roda, após forte polémica acerca da sua eficiência, o número de expostos caiu drasticamente e aumentou ligeiramente o número de ilegí-timos.
Muitos mais casos e situações poderiam ser apresentados, mas não me alon-garei em demasia. Quero mais uma vez realçar, e os exemplos anteriores serviram também para isso, que é graças a este novo tipo de História Local, que se reequacio-nam velhas e novas questões a que não se tinha dado importância por ser conside-radas demasiado pequenas e limitadas. No entanto, a realidade acaba e acabará por demonstrar que estas pequenas questões exploradas pela História Local trazem con-sigo a obrigatoriedade de reescrever uma nova História Social.
O trabalho de todos aqueles que se debruçaram e debruçam sobre a temática da História Local com seriedade, isenção e espírito crítico é de um valor incalculável. Muito do trabalho até hoje feito tornou-se já, sem dúvida, material de fonte primária pois aquilo que lhe esteve na origem em muitos casos, já não existe.
Termino regressando ao tema com que iniciei – o património. Aveiro tem, neste campo, um valor invejável, que muitos gostariam de possuir; é a revista “O Ar-quivo do Distrito de Aveiro”. É uma obra de grande qualidade e consulta obrigatória para todos aqueles que precisem de trabalhar qualquer temática que envolva o dis-trito. As contribuições nelas inseridas revelam uma qualidade e seriedade que não se encontram em qualquer lugar. Pena é que a sua divulgação seja tão limitada e pou-cos exemplares estejam disponíveis. Já é tempo, e a obra merece, que alguém faça alguma coisa por ela.