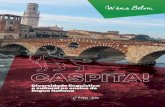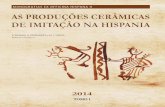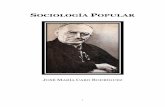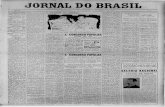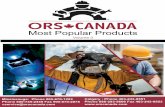Os cantares polifónicos a S. João na tradição popular minhota
Transcript of Os cantares polifónicos a S. João na tradição popular minhota
1
Os cantares polifónicos a S. João na tradição popular minhota *
Manuel Pedro Ferreira
CESEM - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa
No cenário arcaico duma velha eira [...] vibram nos ares estalidos secos de espadelos; a poeira argêntea do linho flutua ao luar e prateia os trajes coloridos das camponesas poisadas em semi-círculo, hieráticas, frente aos espadelos. Um coro sobe nos ares, a princípio lento, que depois cresce, heróico, como abrindo grandes asas, pairando: — e finda, brusco, cortante, enquanto uma só voz, cristalina e aguda, persiste no ar vibrando, muito longa, como eco agonizante do coro extinto [...] Num vasto milheiral tostado de sol [...] a espaços brilha no ar um coro apoteótico, longo, morrendo em ecos longínquos; e o esquadrão de canas doiradas de sol recua sob o ataque das foucinhas que avançam [...] A tarde morre, lenta, com mantos violáceos [...] — e as ceifeiras em fila [...] regressam em passo lento, fazendo vibrar nos ares apoteóticos as modelações solenes dum coro que vibra em todo o vale, majestático, e finda em ecos longos, moribundos, nos montes à distância. Abel Salazar, Recordações do Minho Arcaico, Porto: Livraria Civilização, 1939, pp. 5-6, 150-151
147 A polifonia vocal, ou seja, o canto que envolve pelo menos duas linhas
melódicas independentes, é um fenómeno conhecido na Europa há mais de mil
anos, ao nível da música erudita, e pelo menos desde o século XII, mas
possivelmente muito antes, ao nível das práticas populares. Foi na Europa que
ganhou uma expressão cultural de carácter internacional, através da codificação
* Publicado in Clara Saraiva, Jean-Yves Durand e João Alpoim Botelho (coordenação), Caminhos e Diálogos de Antropologia Portuguesa. Homenagem a Benjamim Pereira, Viana do Castelo, Câmara Municipal de Viana do Castelo, 2014 [ISBN: 978-972-588-244-3], pp. 147-154.
2
escrita e desenvolvimento de diferentes técnicas artísticas, que marcaram quer a
música dos profissionais, quer a de diversas tradições regionais1.
No contexto europeu, Portugal é um país comparativamente rico em tradições
rurais de carácter polifónico, tradições essas que, com a excepção do caso
alentejano, devido às drásticas transformações económicas e sociais ocorridas no
último meio-século, estão praticamente à beira da extinção, ou encontram,
quando muito, como via de sobrevivência, transplantações ou adaptações que
traem a influência da música urbana.
Essas tradições, sobretudo as do norte, encontram-se mal documentadas, não têm
merecido o estudo atento que merecem e têm sido afectadas por
descontinuidades geracionais. Tomemos o exemplo do Minho: há nessa região
práticas polifónicas suficientemente disseminadas e típicas para serem
reconhecidas como uma tradição própria, apesar da sua diferenciação geográfica
ou comunitária, da juxtaposição de materiais e estilos musicais de diversas épocas
e origens, e das mudanças que, ao longo do último século, têm afectado a
execução do repertório. Ora, o que sabemos desta tradição, através dos
contributos de Gonçalo Sampaio e de Armando Leça, na primeira metade do
século XX, ou de Ana Maria Azevedo, no final /148 do século, é, na verdade, muito
pouco2; e mesmo esse pouco resvala facilmente para o esquecimento.
Relembremos, pois, alguns dados sobre o cantar polifónico minhoto, a que
tradicionalmente se chama «moda de terno» ou «moda de lote».
A «moda de terno» minhota
Este tipo de «moda» deve o seu nome aos pequenos grupos («ternos» ou
«lotes») de quatro a seis mulheres — a que por vezes se juntava um homem —
1 Sublinhar a centralidade da polifonia na construção de uma identidade musical europeia não impede o reconhecimento da importância ou centralidade da polifonia em certas culturas africanas: vejam-se, por exemplo, os ensaios recolhidos em MEYER 1993. 2 SAMPAIO 1940 (2ª edição, 1944); cito pela edição original. LEÇA, s. d: 129-59. Ana Maria Lemos Pinto de Azevedo MENDES, «Os cantares polifónicos das mulheres do Baixo Minho e a problemática da sua transformação» (Dissertação de Mestrado, Universidade Nova de Lisboa - Dep. Estudos Portugueses da F.C.S.H., 1990). Este último trabalho será citado com base no livro resultante —AZEVEDO, 1997 — colocando-se no final, entre parênteses rectos, os números das páginas correspondentes na tese original.
3
outrora existentes em muitas aldeias, organizados para cantar a várias vozes.
De acordo com Gonçalo Sampaio, em textos escritos em 1929 e 1933,
«as vozes graves que fazem ouvir a melodia [contraltos] chamam-se baixos, e são elas que iniciam o canto; mas um dêstes, que toma o nome de baixão, desdobra às vezes, em função de contrabaixo, para a nota inferior de certos acordes [...]. Depois da primeira ou primeiras frases dos baixos, entra o meio, a que nalgumas localidades [Arcos de Valdevez] chamam desquadro [meio-soprano], acompanhando superiormente a melodia em 3ªs e algumas vezes em 4ªs. Nas semicadências é que geralmente começa o guincho [soprano], denominado também desencontro, ou requinta, ou 2º meio, conforme as terras, harmonizando por via de regra em 5ªs e 6ªs dos baixos. É na última frase ou na última nota do canto que se levanta o sobreguincho ou fim [sopranino], executando a réplica [oitava superior] aos baixos [...] Deve-se observar que a parte inferior pode ser cantada simultâneamente por dois ou três contraltos, não sendo permitido, porém, mais do que um meio, um guincho e um sobreguincho, no conjunto» (Sampaio 1940: xx, xxix).
Armando Leça (s. d.: 130) e Ana Maria Azevedo (1997: 59 [105]) documentam a
nomenclatura, variável consoante o local, usada para designar as vozes (o
quadro exclui as aldeias de Lago, por dificuldade de interpretação tipográfica, e
Balazar, no Douro-Litoral, por faltar a designação da quarta voz):
Amares baixão meio fim sobrefim Braga baixo meio guincho sobre Bucos baixo meio guincho sobreguincho Forjães baixo primeira falsete guincho ou
requinta Vila Chã grosso delgado ou meão grosso alto ou
«aurto» guincho, descante ou arrebique
Covide baixo meio cima guincho Seramil baixo meio cima guincho Goães baixo meio cima fim S. M. Oleiros baixo meio cima fim Tebosa baixo cima volta fim Vilela baixo cima por cima de cima fim Parada de Gatim baixo cima desencontro fim Palmeira 1ª voz 2ª voz desencontro fim
Figura 1: Designações locais das quatro vozes polifónicas
4
149 Quanto ao estilo usado, geralmente lento e austero, Gonçalo Sampaio observa
que
«as notas do acorde final [...] são extremamente prolongadas [...] o movimento das vozes [por graus conjuntos ou próximos] é sempre directo, e em algumas passagens oblíquo, produzindo-se sequências de 5ªs [...] além dos intervalos consoantes, as hábeis cantadeiras minhotas empregam também dissonâncias, por pedal, antecipação ou retardo», e ainda «quartos de tono, em certas passagens» (Sampaio 1940: xx-xxi).
O autor identifica melodias na tonalidade de fá maior (ou «escala lídia») e ré
menor sem sensível (ou «escala dórica»), mas já Ana Maria Azevedo, sem negar a
existência de corais em modo menor, recolhe-os só em modo maior (alguns deles
harmonicamente ambíguos), para além de identificar quatro cantares em «modo
de sol» e um em «modo de mi». Veremos de seguida que as melodias em que se
baseiam as modas de terno são estilisticamente muito díspares (incluindo
estruturas já existentes em época remota, ao lado de toadas recentes) e que o seu
revestimento polifónico tem provavelmente as suas raízes em práticas
improvisatórias pré-modernas. Segundo Ana Maria Azevedo, o uso de
portamentos é habitual; os espécimes com ornamentação melismática são
normalmente os que apresentam menor regularidade métrica e que exibem
intervalos menos usuais (segundas, sétimas, quartas e quintas paralelas). Verifica-
se que a tradição entrou em acentuado declínio a partir da década de 1960, sendo
os cantares, em finais do século XX, raramente executados, e frequentemente só a
duas ou três vozes, num registo mais grave e menos lento do que era comum até
meados do século (Azevedo, 1997: 71-81, 91-92 [122-33, 149-151]).
Modernidade e arcaísmo
O nosso conhecimento da tradição minhota — tal como da nossa música
tradicional em geral — tem sido vítima quer da inexistência ou escassez de
especialistas em tradições musicais rurais, quer da incapacidade nacional de
promover a recuperação, edição e estudo de muitas recolhas sonoras da tradição
oral, efectuadas a partir dos anos trinta. Mas, contrariamente a outras vertentes da
nossa música popular, a do Minho, que normalmente se associa a contextos
5
festivos e de dança, tem sido igualmente vítima dos preconceitos estéticos do
modernismo, que desvalorizou os espécimes musicais com características
harmónicas tidas como recentes.
Estas características podem já observar-se na canção «Ó meu Sam João da ponte»,
transcrita em meados do século XIX por Gomes d'Azevedo, para oferta ao rei
consorte D. Fernando de Saxe-Coburgo. A letra refere-se ao arraial da ponte de
Guimarães, em Braga, onde, pelo S. João, havia três dias de feira-franca, muito
frequentada pelo povo do norte3. Na forma como se apresenta em manuscrito,
adequado a uma apresentação pública de salão, a canção é anunciada em Allegro
pelo piano; o instrumento acompanha de seguida uma versão para três vozes da
mesma canção, inscrevendo-se uma das vozes no registo masculino médio, de
barítono, enquanto as duas restantes ocupam o registo de meio-soprano (Fig. 2).
As vozes superiores, após o uníssono inicial, mantêm-se à distância de terceira; a
voz masculina dobra quase sempre, à oitava inferior, uma das outras. O
vocabulário harmónico restringe-se a acordes perfeitos sobre a tónica, a sobre-
tónica e a dominante de Sol maior4.
150 Curiosamente, o repertório polifónico minhoto foi um dos primeiros
repertórios populares a merecer, de forma selectiva, a adjectivação de «arcaico».
Contudo, os raros autores que se debruçaram sobre esta tradição, a começar por
Gonçalo Sampaio, nem sempre foram explícitos ou convincentes quanto às
características definidoras desse alegado arcaísmo. Sendo corrente, embora
errónea, a convicção de que o paralelismo em terceiras é um fenómeno moderno5,
e sendo conhecida a afeição minhota por melodias reconduzíveis ao sistema tonal
3 Para descrições sumárias desta festa em meados do século XX, veja-se «O São João de Braga», in ROCHA, 1951: 55-65; e «O S. João de Braga», in CRESPO, s. d.: 65-70. 4 Lisboa, Biblioteca da Ajuda, Ms. 54/XII/177, nº 13. Inclui uma folha de rosto com dedicatória, seguida de quatro páginas de música e texto. Depois da segunda quadra, o texto inclui secções cuja métrica parece incompatível com a repetição da melodia transcrita com a quadra inicial. O Ms. 54/XII/177, nº 14 faz parte da mesmo documento; corresponde à melodia da dança do «Rei David», apresentada como um Allegro para piano; compreende uma folha de rosto e duas páginas de música. 5 O paralelismo em terceiras está documentado na música europeia a partir do século XI, tendo ganho aceitação geral só na época do Renascimento: cf. FERREIRA, 2001-2002: 298-301; versão portuguesa in FERREIRA, 2010: 212-54 [241-43]. Há contudo razões para crer que o fenómeno é, na tradição oral, muito mais antigo. Veja-se SCHNEIDER, 1957: 22; e COLLAER, 1960: 61.
7
vigente nos séculos XVIII e XIX, é compreensível a dificuldade em desenhar uma
imagem arcaizante da polifonia do noroeste.
Talvez em consequência disso, Fernando Lopes-Graça, cuja influência no estudo
da canção popular portuguesa é inegável, não se tenha mostrado sensível a essa
polifonia: a sua confessa desafeição estética pela música minhota incluiu, em
geral, os cantares polifónicos, que por isso praticamente não aparecem nas suas
antologias6.
É verdade que no Minho, a execução polifónica de cariz tradicional é aplicada
indiferentemente a melodias convencionais (em tonalidade maior, e submetidas a
quadratura métrica) e a melodias menos vulgares; mas a autonomia do
revestimento harmónico não obsta a que possamos, em certas peças, reconhecer
aspectos (horizontais ou verticais) inegavelmente arcaicos, que muitas vezes se
revelam típicos do género, ou então, típicos de um sub-grupo desse género.
151 Um caso exemplar
Na ilustração sonora transcrita na figura 3, com perto de dois minutos de
duração, podem observar-se algumas características típicas dos cantares
considerados mais veneráveis pelas próprias cantoras minhotas. Trata-se de um
«São João» (ou melhor, de uma adaptação de um canto de São João à festa de São
Pedro, que ocorre dias depois); foi recolhido em Correlhã (Ponte de Lima) por
José Alberto Sardinha no âmbito das actividades do grupo Almanaque, no
decurso de uma campanha realizada em 1979. Esta gravação foi posteriormente
publicada em disco pelo mesmo, com a assistência de Vítor Reino (Recolhas
musicais, 1982, LP; Portugal — raízes musicais, 1997, CD ).
Na transcrição aqui exibida, feita em 1990, e que se quis o mais detalhada
possível, foram tidas em conta particularidades relativas à entoação das notas,
nomeadamente, o Mi rebaixado um quarto de tom e a elevação gradual do
diapasão na segunda parte do canto. Estas características foram controladas a
posteriori através de um programa informático de análise acústica. Tais
6 Fernando Lopes-GRAÇA, «Sobre o Cancioneiro Minhoto de Gonçalo Sampaio» (texto de 1945), in GRAÇA, 1989: 139-47; GRAÇA, 1974 (1ª ed., 1954); e GIACOMETTI, 1981.
8
particularidades não são exclusivas desta versão, antes parecem ter sido correntes
no Minho até meados do século. A extensão de práticas semelhantes é porém
difícil de avaliar a partir das transcrições publicadas, embora Gonçalo Sampaio,
Fig.3: Transcrição musical de «São João era bom santo» (feita pelo autor em 1990, a partir
de uma gravação realizada em 1979 por José Alberto Sardinha)
9
musicalmente formado como violinista, tenha procurado notar a ocorrência de
quartos de tom nas suas transcrições.
A afinação não-temperada, com recurso a intervalos não-diatónicos, é uma
característica de músicas pré-modernas; a elevação progressiva do diapasão,
fenómeno cujas origens remontam à Antiguidade e que se encontra em diversas
culturas, da cantilação cristã ao canto budista japonês, foi interpretada por
Solange Corbin (1961) como sinalizando uma estilização solene típica de
repertórios hieráticos. Uma vez descontinuada a transmissão oral deste estilo, é
legítimo duvidar que tais características possam ser espontaneamente
recuperadas na recriação, em clave patrimonial, do correspondente repertório,
por agentes auditivamente formados pela música dos últimos três séculos.
De facto, há neste exemplo numerosos indícios de arcaísmo, comuns a outros
cantares polifónicos minhotos; estes indícios abarcam a construção melódica, a
tipologia rítmica e a textura polifónica.
Temos, em primeiro lugar, o recitativo inicial sobre dó e o papel axial do ré na
frase seguinte; a este esqueleto baseado em cordas de recitação, sobrepõe-se uma
estrutura melódica circunscrita por dois tetracordes conjuntos (do grave para o
agudo, Sol - Dó / Dó - Fá), sendo o tetracorde grave defectivo, pois lhe falta o Lá;
para mais, em cada frase, o âmbito permanece muito circunscrito, pois fica
compreendido entre uma terceira maior e uma quinta perfeita, e só
ocasionalmente excede os limites de um só tetracorde.
Do ponto de vista rítmico, a liberdade métrica associada a uma pulsação regular,
mas de tempo lento e elástico; as pausas para respiração no meio das palavras; e
os finais de frase extremamente prolongados, são outros tantos sintomas de
arcaísmo estilístico.
Finalmente, a conjugação do paralelismo polifónico com algum movimento
oblíquo e a construção harmónica por sobreposição sucessiva, com
predominância de terceiras e sextas e sonoridade final de terceira, quinta e oitava,
remetem-nos para um universo sonoro claramente anterior à afirmação do baixo
contínuo, ocorrida durante o século XVII.
10
152 Enquadramento musical
Haverá que ter em conta que a melodia principal (na voz mais grave) existe ou
existiu em diferentes versões, com letras sempre associadas a São João, em várias
localidades ou regiões minhotas: Vieira, Ribeira do Homem, Ponte-de-Lima,
Braga e Tebosa (pelo menos)7. A festa de São João Baptista, que ocorre a 24 de
Junho, conta-se entre as mais populares no norte do País desde há séculos;
celebrada com especial solenidade pela Igreja, constitui também um momento
festivo de grande sincretismo cultural, dado que veio coincidir com as antigas
celebrações pagãs ligadas ao solstício de Verão8. Entre as peças polifónicas a que
as próprias cantoras atribuem maior antiguidade, contam-se várias dedicadas a
São João9. A análise musical revela, aliás, que os arcaísmos são especialmente
numerosos neste sub-grupo de cantares.
A comparação do exemplo dado com outras versões ou outros cantares a São João
é-nos útil, porque revela certas variantes que, interpretadas à luz das mutações
recentemente ocorridas na prática polifónica, recomendam alguma prudência
analítica. Assim, por exemplo, a nota final da primeira frase do cantar acima
analisado, um Sol, aparece também na versão de Vieira, enquanto as versões de
Braga e Tebosa têm um Si (ou nota equivalente), e as de Ribeira-do-Homem e
Ponte-de-Lima, um Si acompanhado de um Sol grave confiado ao «baixão».
Sendo o «baixão» uma voz que, desdobrando pontualmente o «baixo» ou «ronco»
em situação cadencial, caíu em desuso nas últimas décadas, seja por não haver já
cantoras que a desempenhem, seja por entretanto ter desaparecido a prática coral
com vozes mistas, e com ela os homens que poderiam cantá-la10, fica a dúvida se a
composição primitiva não teria um Si final sustentado harmonicamente pelo Sol
do «baixão», sendo o Si substituído melodicamente pelo Sol apenas em virtude do
desaparecimento deste apoio harmónico. Assim sendo, a terceira frase poderia ser
7 SAMPAIO, 1940: 5, 8, 20, 112; AZEVEDO, 1997: 152 [246]. A canção de Tebosa não refere literalmente S. João, mas a sua associação ao santo foi preservada na memória colectiva local. 8 António A. Rocha PEIXOTO, «O S. João», in PEIXOTO, 1990: 57-64; VASCONCELLOS, 1980-1982, VII: 527-35, VIII: 285, 378-425; Ernesto Veiga de OLIVEIRA, «O S. João em Portugal», in OLIVEIRA, 1995: 119-69. 9 AZEVEDO, 1997: 103, 144, 152 [196, 240, 246].
11
interpretada como uma expansão da primeira através do recurso a um prefixo
melódico e ao alargamento dos valores rítmicos. Por outro lado, a ausência de
«baixão» poderá porventura explicar também a ocorrência de sonoridades finais
anómalas, com intervalo de quarta entre as vozes mais graves, verificadas em
duas versões do mesmo velho cantar a São João recolhidas há poucos anos em
Goães e Seramil por Ana Maria Azevedo (1997: 140, 144 [237, 240]).
Interpretação histórica: estilo e contexto
Reconhecidos alguns arcaísmos, põe-se a questão da antiguidade da sua matriz.
As melodias alicerçadas numa estrutura tetracordal, em que cada frase se apoia
num intervalo igual ou inferior a uma quarta, relevam de uma matriz estilística
antiquíssima, já conhecida e praticada pelos gregos da época clássica (West, 1992:
172-77); a fortuna posterior deste tipo de pensamento musical, que influencia
ainda o canto gregoriano, não ultrapassa certamente o século IX11. Isto coexiste,
no plano /153 da execução, com a ocorrência de pausa no interior de uma palavra,
com a irregularidade métrica e com a flutuação do tempo musical, práticas estas
que começam a ser evitadas no final da Idade Média. O prolongamento dos finais
de frase é típico dos períodos medieval e renascentista, enquanto a construção
harmónica por sobreposição sucessiva, com a melodia na voz mais grave
sustentada por vários cantores, encontra alguns paralelos (aproximativos) na
mesma época. A conjugação do paralelismo polifónico com algum movimento
oblíquo, formando tipicamente terceiras (ou, pontualmente, quartas), a que se
vêm sobrepôr quintas ou sextas, e as sonoridades finais de terceira, quinta e
oitava (com eventuais duplicações), pode ser posta em relação com as práticas
semi-improvisatórias generalizadas a partir do século XV, nomeadamente o
cantar super librum (harmonização vocal improvisada a partir de um livro de
10 SAMPAIO, 1940: xx, xxxvii, 8, 11, 17, 20, 27, 29, 36, 99; AZEVEDO, 1997: 52-54, 59-60 [97, 99, 105, 107]. 11 Assumir a sobrevivência regional de traços estilísticos vigentes durante mais de um milénio no Europa do sul, mormente através da música religiosa, é diferente de supôr uma derivação directa da Grécia Antiga, hipótese avançada por Gonçalo Sampaio em 1925 (SAMPAIO 1940: xxvi-xxxii), posta em causa por Fernando Lopes-Graça (GRAÇA 1989: 141) e liminarmente refutada, sem atender a detalhes importantes, por Bettencourt da Câmara (CÂMARA, 2001: 32-33, 82-83).
12
cantochão) descrito e musicalmente ilustrado por Tinctoris no seu Liber de arte
contrapuncti (de 1477)12. Diga-se de passagem que as dissonâncias pontuais de
segunda e sétima, e os paralelismos de quinta, oitava e mesmo de quarta,
observados em alguns espécimes musicais do Minho, podem ser vistos como
resíduos de práticas improvisatórias ainda mais antigas.
Não é de excluir aqui uma influência directa da prática eclesiástica sobre o canto
popular, influência já vagamente suspeitada por Gonçalo Sampaio, Lopes-Graça,
Armando Leça e Manuel Faria13. Note-se que o recurso a uma corda de recitação,
encontrado no início de certos cantares minhotos, mantém-se como princípio
activo na música litúrgica cristã desde os primeiros séculos até quase à
actualidade, o que sugere afinidade com o ambiente eclesiástico. Ora, não
faltaram certamente ocasiões para uma interpenetração musical entre tradições
rurais e clericais numa região em que a referência central é Braga, que
desempenhou nos séculos V a VII, e de finais do século XI em diante, um papel
fundamental na irradiação da cultura cristã. Lembre-se que, segundo Gonçalo
Sampaio, houve em quase todas as freguesias minhotas, desde época
indeterminada até ao início do século XX, um terno organizado, isto é, um grupo
de mulheres cantoras composto, pelo menos, por um ou dois «baixos», um
«meio», um «guincho» e um «sobreguincho», que actuava no decorrer das
funções religiosas executando peças de origem maioritariamente clerical14. A
convivência, em tempos antigos, de cantares profanos e religiosos no interior do
templo está amplamente documentada nas resoluções do Sínodo de 1477
convocado pelo arcebispo bracarense D. Luís Pires, e não deixou de ser ocorrência
normal nos séculos seguintes15.
Vimos acima que os cantos velhos a São João correspondem a um estrato dos
mais primitivos do repertório minhoto; ora, contrariamente ao repertório
executado no campo e pelos caminhos, estes cantos requerem imobilidade e
disposição circular (Azevedo, 1997: 51-52 [95-96]) e têm um carácter hierático e
austero, sublinhado pela elevação do diapasão, que está longe de representar a
12 Edição moderna: TINCTORIS, 1975. 13 SAMPAIO, 1940: xxxix-xl; GRAÇA, 1989: 146; LEÇA, s. d. : 129; FARIA, 1950: 160 ss. 14 SAMPAIO, 1940: xxxviii. Veja-se também AZEVEDO, 1997: 61 [108]. 15 ALEGRIA, 1958; SILVA, 1990.
13
euforia, o ritualismo pagão e a exuberância dos divertimentos populares típicos
da quadra, pelo que o ambiente mais provável para o seu surgimento é um
contexto para-litúrgico, favorável à influência clerical.
A este propósito, é bom lembrar que a mais antiga confraria religiosa conhecida
em Portugal é a confraria de S. João do Souto, em Braga, cuja existência aparece
documentada já em 1253. S. João Baptista era simultaneamente padroeiro da
confraria e da igreja paroquial onde aquela se reunia. Nesta igreja, a festa a S. João
revestia já no século XV certo esplendor litúrgico, incluindo uma procissão que
es-/154 tava a cargo da confraria (Marques, 1983: 123-25, 133-39); é também do
século XV que data a promoção litúrgica da festividade, no calendário da Sé de
Braga, a festa solene, o que parece traduzir o reconhecimento pela hierarquia da
importância que assumia já então o culto local a S. João.
Conclusões
Quaisquer que sejam, porém, os precedentes históricos remotos e as influências
prováveis sofridas pela prática polifónica cultivada no Minho, o que é certo é que
aí coexistem matrizes estilísticas de épocas diversas mas que, no caso dos cantares
mais arcaicos, remontam, o mais tardar, à época do Renascimento, o que torna
plausível a opinião de Gonçalo Sampaio de que essa prática não seria posterior ao
século XVI, altura em que aparecem as primeiras referências documentais a
cantos a vozes entoados por mulheres minhotas (Sampaio, 1940: xxx). Por outro
lado, o facto de a Galiza, região culturalmente irmã, desconhecer completamente
práticas polifónicas congéneres, reforça a ideia de que o estilo polifónico minhoto
tem as suas raízes em época posterior à consolidação da nacionalidade. Já os
conteúdos melódicos dos cantares de terno se afiguram estilisticamente muito
díspares, englobando quer estruturas similares às da época greco-romana, quer
contornos claramente dependentes das práticas harmónicas dos séculos XVIII e
XIX.
As nossas conclusões são necessariamente provisórias, já que grande parte das
gravações relevantes efectuadas em meados do século XX continua inédita, e o
seu estudo comparativo não passou ainda de uma fase preliminar. Sirva este
14
trabalho para encorajar a publicação desses documentos sonoros e apelar ao
aprofundamento do seu estudo, sem que nele se olvide a utilidade de transcrições
criteriosas (atentas aos sistemas de entoação) e análises bem fundadas,
indispensáveis à compreensão e à revalorização do nosso património musical.
Bibliografia
ALEGRIA, José Augusto, 1958, «A atitude popular nas igrejas e a legislação canónica portuguesa». Lumen 22: 31-39. AZEVEDO, Ana Maria, 1997, Os cantares polifónicos do Baixo Minho. Gaia, Estratégias Criativas. CÂMARA, José Bettencourt da, 2001, O essencial sobre a música portuguesa tradicional. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda. COLLAER, Paul, 1960, «Polyphonies de tradition populaire en Europe méditerranéenne», Acta musicologica 32: 51-66. CORBIN, Solange, 1961, «La cantillation des rituels chrétiens», Revue de musicologie, 47: 3-36. CRESPO, José, s. d., O Minho, região de beleza eterna, 3ª ed. Barcelos, s. n. FARIA, Manuel, 1950, «O arcaísmo no canto popular minhoto», Bracara Augusta, 2: 155-63. FERREIRA, Manuel Pedro, 2010, Aspectos da Música Peninsular no Ocidente Medieval, vol. 2: Música eclesiástica. Lisboa, Imprensa Nacional / Fundação C. Gulbenkian. FERREIRA, Manuel Pedro, 2001-2002, «Early Cistercian Polyphony: A Newly-Discovered Source», Lusitania Sacra, 2ª série, 13-14: 267-313. GIACOMETTI, Michel (com Fernando Lopes-GRAÇA), 1981, Cancioneiro Popular Português. Lisboa, Círculo de Leitores. LEÇA, Armando, s. d., Música Popular Portuguesa. Porto, Domingos Barreira. MARQUES, José, 1983, Ensaios I: Braga Medieval. Braga, s. n. MEYER, Christian (ed.), 1993, Polyphonies de tradition orale: histoire et traditions vivantes. Paris, Créaphis . GRAÇA, Fernando Lopes, 1989, A música portuguesa e os seus problemas, II. Lisboa, Caminho. GRAÇA, Fernando Lopes, 1974, A canção popular portuguesa, 2ª edição. Lisboa, Europa-América. OLIVEIRA, Ernesto Veiga de, 1995, Festividades cíclicas em Portugal. Lisboa, Dom Quixote. PEIXOTO, António A. Rocha, 1990, Etnografia Portuguesa (Obra etnográfica completa). Lisboa, Dom Quixote. Portugal — raízes musicais, I: Minho e Douro Litoral, 1997, CD. S. l., Jornal de Notícias /BMG Portugal (Portugaliae Harmonia Mundi — Ethnos), 1997. Recolhas musicais da tradição oral portuguesa, vol. 1: Beira Baixa/ Minho, 1982, LP. S. l., ed. Contralto.
15
ROCHA, Hugo, 1951, Elogio de Braga e do seu Termo. Braga, Edição «Bracara Augusta». SAMPAIO, Gonçalo, 1940, Cancioneiro Minhoto. Porto, Livraria Educação Nacional. SCHNEIDER, Marius, 1957, «Primitive Music», The New Oxford History of Music, vol. I, Londres, pp. 1-82. SILVA, Maria João Marques da, 1990, «Norma e desvio: comportamentos e atitudes face ao sagrado na diocese bracarense (séculos VI-XVI)», IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga. Actas do Congresso Internacional, Braga, Universidade Católica Portuguesa, vol. II/2, pp. 119-46. TINCTORIS, Johannis, 1975, Opera theoretica, II [C.S.M. 22], ed. Albert Seay, s. l., American Institute of Musicology. VASCONCELLOS, José Leite de, 1980-1982, Etnografia Portuguesa, vols. VII-VIII, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda. WEST, Martin L., 1992, Ancient Greek Music, Oxford, Clarendon Press.