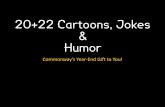O HUMOR NA LEITURA DA CHARGE: UMA ANÁLISE DAS “CHARGES QUE MARCARAM ÉPOCA” N’O PASQUIM 21
Transcript of O HUMOR NA LEITURA DA CHARGE: UMA ANÁLISE DAS “CHARGES QUE MARCARAM ÉPOCA” N’O PASQUIM 21
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS
CENTRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO
O HUMOR NA LEITURA DA CHARGE
UMA ANÁLISE DAS “CHARGES QUE MARCARAM ÉPOCA” N’O PASQUIM 21
LEONARDO POGLIA VIDAL
São Leopoldo 2009
LEONARDO POGLIA VIDAL
O HUMOR NA LEITURA DA CHARGE
UMA ANÁLISE DAS “CHARGES QUE MARCARAM ÉPOCA” N’O PASQUIM 21
Monografia apresentada à Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo. Orientador: Eduardo Veras
São Leopoldo 2009
O humor pode ser dissecado, mas, a exemplo
de uma rã, a coisa morre no processo e suas
tripas são repulsivas, exceto para a mente
puramente científica.
E.B.White
RESUMO
O presente trabalho objetiva analisar a validade da incorporação do estudo das características do estímulo humorístico à leitura da charge. Para tanto, confronta-se definições de diversos autores sobre as características do tipo textual. Estabelecidas definição e características da charge, procede-se uma análise de ensaio baseada na identificação dessas características (humor, hibridismo de linguagem, opinião e temporalidade) nos textos selecionados. Os textos foram escolhidos com base em uma seleção temática realizada pelo jornal O Pasquim 21 nº44, considerada representativa dos anos de 2002/2003.
Palavras-chave: charge, leitura da charge, opinião, linguagem, humor, contexto,
Pasquim 21.
ABSTRACT
This study aims to examine the validity of incorporating the study of the characteristics of the humorous stimulus in the reading of the charge1. To do so, it was necessary to procede the confrontation of the definitions of several authors concerning the characteristics of the textual type. Having established definition and characteristics of the charge, an analysis based on the identification of these characteristics (humor, hybridism of language, mind and temporality) in the selected texts was performed. The texts were chosen between a thematic selection of texts conducted by the newspaper The Pasquim 21, issue 44, considered representative of the years 2002/2003, and were separated by subject.
Keywords: charge, reading the charge, opinion, language, humor, context, Pasquim
21.
1 Since it’s derived from French, the term does not have a proper translation to english, though it may bear a relation to the type of text known as “political cartoon”.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 8 1 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA CHARGE ..................................................... 14 1.1 DEFININDO A CHARGE ............................................................................................ 17 1.2 CARACTERÍSTICAS DA CHARGE ........................................................................... 22 1.2.1 O Humor .................................................................................................................... 22 1.2.2 A linguagem da charge ............................................................................................... 31 1.2.3 A opinião na charge .................................................................................................... 50 1.2.4 O contexto na leitura da charge ................................................................................... 56 2 LENDO A CHARGE ....................................................................................................... 61 2.1 O PASQUIM 21 E A ESCOLHA DOS TEXTOS PARA ANÁLISE ............................. 65 2.2 ANÁLISE DOS TEXTOS ............................................................................................. 67 2.2.1 A dengue no Rio de Janeiro em 2002 .......................................................................... 67 2.2.1.1 Charge 01 ................................................................................................................ 68 2.2.1.2 Charge 02 ................................................................................................................ 71 2.2.1.3 Charge 03 ................................................................................................................ 74 2.2.1.4 Charge 04 ................................................................................................................ 76 2.2.2 Pedofilia na Igreja Católica ......................................................................................... 79 2.2.2.1 Charge 01 ................................................................................................................ 80 2.2.2.2 Charge 02 ................................................................................................................ 84 2.2.3 Guerras no Afeganistão e no Iraque ............................................................................ 86 2.2.3.1 Charge 01 ................................................................................................................ 87 2.2.3.2 Charge 02 ................................................................................................................ 89 2.2.3.3 Charge 03 ................................................................................................................ 91 2.2.3.4 Charge 04 ................................................................................................................ 94 2.2.3.5 Charge 05 ................................................................................................................ 96 2.2.3.6 Charge 06 ................................................................................................................ 98 2.2.4 A santa da janela ...................................................................................................... 102 2.2.4.1 Charge 01 .............................................................................................................. 103 2.2.4.2 Charge 02 .............................................................................................................. 106 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 109 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 113
LISTA DE FIGURAS
Fig. 1 - Evolução das linguagens verbal e não-verbal ........................................................... 39 Fig. 2 – Semelhança entre escrita pictórica e sua relação (possível) com quadrinhos. ........... 40 Fig. 3 – Representação da gramática da arte seqüencial ....................................................... 41 Fig. 4. – Exemplos de Estereótipos ..................................................................................... 42 Fig. 5 – Representação gráfica dos balões ............................................................................ 42 Fig. 6 – Uma medida de tempo ............................................................................................ 43 Fig. 7 – Imagens e escrita começam a separar-se ................................................................. 44 Fig. 8 - Sobre a cartunização ............................................................................................... 44 Fig. 9 – Representações do tempo em um quadro. ............................................................... 45 Fig. 10 – Representações de movimento .............................................................................. 46 Fig. 11 – A linha e seus significados .................................................................................... 46 Fig. 12 – Balões e onomatopéias ........................................................................................ 47 Fig. 13 – Caricatura ............................................................................................................. 48 Fig 14 – Efeitos do Cartum .................................................................................................. 49 Fig. 15 – A dengue no Rio, charge 01 ................................................................................... 68 Fig. 16 – A dengue no Rio, charge 02 .................................................................................. 71 Fig. 17 - Leonardo da Vinci ................................................................................................. 73 Fig. 18 – A dengue no Rio, charge 03 .................................................................................. 74 Fig. 19 – A dengue no Rio, charge 04 .................................................................................. 76
9 Fig. 20 – Pedofilia na Igreja, charge 01 ............................................................................... 80 Fig. 21 – Pedofilia na Igreja, charge 02 ............................................................................... 84 Fig. 22 – Conflitos no Oriente Médio, charge 01 ................................................................. 87 Fig. 23 – Conflitos no Oriente Médio, charge 02 ................................................................. 89 Fig. 24 – Conflitos no Oriente Médio, charge 03 ................................................................. 91 Fig. 25 – Logo do Pasquim. ................................................................................................. 89 Fig. 26 – Conflitos no Oriente Médio, charge 04 ................................................................. 94 Fig. 27 – Conflitos no Oriente Médio, charge 05 ................................................................. 96 Fig. 28 – Conflitos no Oriente Médio, charge 06 ................................................................. 98 Fig. 29 – Divisão que corta o quadro pela metade. ............................................................... 95 Fig. 30 – A Santa da Janela, charge 01 .............................................................................. 103 Fig. 31 – A Santa da Janela, charge 02 .............................................................................. 106 Fig. 32 – Logo do Vídeo Show. ......................................................................................... 106
8
INTRODUÇÃO
O presente trabalho nasceu de um buraco metafórico e de uma necessidade muito real
no tocante à leitura das charges. O buraco refere-se à expressão popular que, quando da
discussão de determinado assunto, dita que na realidade “o buraco é mais embaixo”. Não se
realizou um trabalho de investigação buscando descobrir a origem da expressão; o que
importa é o seu significado. Dizer que o buraco é mais embaixo implica em sugerir que há
mais no assunto em pauta do que o que foi posto em discussão, que as coisas não são tão
simples quanto parecem.
A necessidade muito real refere-se a agregar o estudo das características do humor à
leitura das charges normalmente feita em faculdades de Comunicação. Desde há muito tempo,
a charge tem sido analisada enquanto texto opinativo e enquanto linguagem híbrida
(iconográfica) em seu conteúdo e forma. O campo da Psicologia, olhando para o humor, vê o
objeto de forma diversa: interessa-se pelo riso, efeito do humor, e de que forma esse é criado.
Para tanto, também presta atenção ao conteúdo do texto humorístico, mas o vê como
secundário. Temos, então, dois pontos de vista, duas teorias baseadas em fontes diversas,
olhando para o mesmo objeto de estudo por perspectivas diferentes e chegando a conclusões
também diferentes, embora não inconciliáveis.
É como a história dos três cegos a quem é dado conhecer um elefante. O primeiro
cego, tocando a tromba, pensa ser o elefante como uma cobra; o segundo, tocando uma pata,
imagina o elefante como semelhante a um tronco de árvore, enquanto o terceiro, tateando o
corpo, pensa o elefante como uma parede. A razão que faz com que os cegos cheguem a
conclusões diferentes em relação ao objeto de estudo é terem tocado diferentes partes do
objeto para análise. E são esforços válidos, pois têm uma relação de semelhança em relação
ao objeto: a tromba de um elefante não difere, estruturalmente, de uma cobra, nem a pata de
um tronco, nem o corpo, tateado por um ser humano, de uma parede. No entanto nenhum dos
cegos, sem discutir com os outros dois, poderia chegar a uma idéia do que se parece um
elefante como um todo.
No caso do estudo das charges, o importante para o campo da Comunicação é que a
charge, além de um texto opinativo e de linguagem híbrida, é também um estímulo
9 humorístico. E os estímulos humorísticos são diferentes. São curiosos por natureza, porque
despertam o riso. Mas têm conseqüências psicológicas que os caracterizam, e que são
ignoradas ou vistas superficialmente em estudos dirigidos das charges. E é aí que entra o
buraco metafórico no estudo das charges: é necessário que se compreenda que, embora uma
leitura dirigida pareça direta e simples, resta a questão do humor, e com o humor as coisas
nunca são o que parecem. Com o humor, o buraco é sempre mais embaixo. E a ignorância a
respeito da localidade do buraco geralmente implica em uma queda, por mais infame que o
chiste possa parecer.
Temos, portanto, o objetivo de checar uma possível leitura da charge, incorporando
tanto os temas da linguagem e da opinião quanto o tema do humor: quando lemos uma charge
é necessário sabermos dizer não apenas qual a opinião emitida no texto, mas também onde
está a graça do texto; por que há humor. Sem o que dificilmente se pode dizer com justeza ter-
se realmente lido o texto, uma vez que uma de suas características fundamentais foi deixada
de fora.
Para a análise proposta, foram escolhidas algumas das charges propostas na edição nº
44 do jornal O Pasquim 21 como sendo representativas dos anos de 2002/2003. Trata-se aqui
das páginas 12 e 13 da referida edição, que se propõe a ser “uma rápida seleção dos cartuns
que marcaram época”2. São 60 textos, entre cartuns e caricaturas, reunidos por tema e
selecionados como sendo representativos dos anos de 2002/2003. Por razões de tempo e
espaço, reduziu-se o estudo a quatro dos assuntos apresentados: a dengue no Rio, o escândalo
da pedofilia na Igreja Católica, os conflitos no Oriente Médio e a Santa da Janela. Todos os
textos enquadravam-se na definição de charge a ser proposta a seguir neste trabalho.
Já de início se deparou com um problema em relação ao objeto de estudo, uma vez que
os textos, seleção de charges publicadas ao longo de dois anos, não poderiam ser lidos em
seus contextos originais, uma vez que a pesquisa seria impraticável, não havendo indicação no
jornal de onde poderiam ser encontrados. Esse detalhe é importante porque grande parte das
definições atuais de charge propõe a necessidade de uma contextualização para uma leitura
precisa. Em última instância, a temporalidade e a necessidade de contextualização são o que
difere uma charge de um cartum. Alguns autores chegam a pensar a charge como
indissociável do contexto, como necessariamente vinculada à notícia do dia. Uma pesquisa
2 Conforme texto apresentado na página 65.
10 mais aprofundada, portanto, poderia se fazer necessária em relação ao contexto de emissão do
texto chárgico para uma compreensão do texto, porém isso apenas acresce ao interesse do
estudo, uma vez que poderá servir como teste da afirmação de que o contexto é necessário à
leitura da charge. Antes, porém, é necessário definir a charge.
Ao invés de assumir a definição de um autor, calcificando a base referencial teórica e
assumindo incondicionalmente o ponto de vista do autor citado, preferiu-se neste trabalho
buscar uma definição através da revisão bibliográfica tanto de diferentes autores como
também de dicionários, objetivando identificar as principais características do texto, levando
em consideração o maior número possível de fontes, não apenas pela visão mais ampla e
embasada – e, espera-se, mais amplamente aceita – como também pela possibilidade de
omissão de características do texto que se apresentassem irrelevantes para a investigação
realizada por um único autor, com um único ponto de vista. A primeira parte deste trabalho é,
portanto, um esforço para definir a charge, partindo de uma definição e fazendo o caminho
contrário, descontruindo o conceito e fazendo referência aos autores que contribuíram para
sua elaboração. Começar pela definição e depois proceder à revisão das fontes que a
permitiram é uma malandragem estilística que objetiva tornar mais interessante a leitura, sem
prejuízo do rigor teórico.
Através da comparação de conceitos de autores diversos, como Joaquim da Fonseca
(1999), Onici Flôres (2000), Edson Carlos Romualdo (2000), Inês Olinda Baraldi Vedovatto
(2000) e Maria Inês Ghilardi (1995/96), buscou-se isolar através da definição as principais
características do gênero textual, para depois analisá-las em separado, uma a uma, em revisão
bibliográfica buscando verificar as teorias existentes e a maneira como se relacionam.
Levando em consideração que diferentes autores podem ter visões semelhantes do mesmo
objeto, deve-se pedir ao leitor coragem e determinação para enfrentar as partes que porventura
se mostrem semelhantes a um coro de vozes diferentes repetindo os mesmos pontos; a
intenção não é tornar a leitura maçante, mas sim embasar a visão apresentada com o ponto de
vista do maior número possível de autores a tratarem do tema.
As características encontradas referem-se às suas qualidades como estímulo
humorístico, às particularidades de sua linguagem híbrida, o caráter opinativo do texto
chárgico e, finalmente, a relação da charge com seu contexto de enunciação. O estudo dessas
características e a análise dos textos do Pasquim 21 deverá também, por conseguinte, servir
11 como teste da definição proposta, além de testar se a análise do humor no texto chárgico pode
acrescer à leitura.
Na análise do humor na charge, leva-se em consideração as características do estímulo
humorístico em geral, conforme proposto por Freud em seus dois escritos sobre o tema, O
Humor e O chiste e sua relação com o inconsciente3 e conforme desenvolvido por outros
autores, como Arthur Koestler4 e os “Bernards”, Jablonski e Rangé (1984). Embora haja
centenas de estudos em relação ao humor, boa parte deles refere-se a teorias dirigidas para
outros campos de conhecimento, como Ciências da Saúde, nos efeitos do humor na
recuperação de pacientes e outros temas afins, ou então a classificações dos tipos de humor ou
do riso. Não é interessante para este trabalho delimitar o tipo de riso que cada texto busca
incitar, mas sim a forma como o humor age para estimular este riso, sua lógica e os efeitos de
sua leitura no leitor. Foram preferidos, portanto, autores que realizaram revisões
bibliográficas sobre o tema e buscaram trazer sentido ao humor através da comparação de
teorias existentes. Uma vez mais, este trabalho mostra-se a favor de um ponto de vista mais
holístico sobre o tema tratado, preferindo o geral às particularidades.
O ponto de convergência entre as várias teorias sobre o humor parece ser, conforme a
revisão executada adiante e de acordo com a teoria de Koestler, a expiação da tensão
relacionada ao fato comentado pelo texto humorístico, que implica em uma redução do tema a
um tamanho manejável através da exposição de suas falhas ou do tratamento ridículo.
A linguagem da charge, iconográfica e com elementos de caricatura e cartunização, é
desenvolvida e analisada através de autores como Scott McCloud e Will Eisner, profissionais
dos quadrinhos a se aventurarem no campo teórico e amplamente conhecidos por seus
trabalhos sobre a linguagem deste meio, assim como da revisão de teóricos como Romualdo
(2000), que trouxe a visão de texto em sentido lato, indispensável para a realização deste
estudo, e Onici Flôres, que emprestou uma visão sígnica ao processo de construção de
significados durante a leitura do texto chárgico e às relações metafóricas estabelecidas pelo
tipo textual. Os diferentes elementos icônicos e verbais da charge são nesta parte classificados
de acordo com Cagnin (1975) segundo as análises realizadas por Vedovatto (2000) e
Romualdo (2000). Mas o mais importante para a análise do texto em sua linguagem é o
conceito de texto trazido por Romualdo e que encontra amparo em praticamente todos os
3 Obras Completas de Sigmund Freud, Ed. Delta S.A., vol. 5 e 6. 4 KOESTLER, Arthur. Jano. São Paulo: ed. Melhoramentos, 1981.
12 autores a tratarem do assunto, permitindo uma leitura direta e prática, sem que seja necessário
deter-se em cada detalhe ou cada linha.
A opinião na charge, a noção de que a charge é um texto opinativo por natureza,
parece ser uma unanimidade entre os autores, estando mesmo na origem etimológica da
palavra charge. Portanto – e coerentemente com a proposta de avaliar o maior número
possível de fontes – a parte deste trabalho a tratar da opinião na charge detém-se em mostrar
de que maneira diversos autores explicam de diferentes maneiras a razão por que consideram
a charge a mesma coisa: um texto opinativo. Entre os principais autores citados nesta parte,
estão Rozinaldo Antonio Miani, autor de “Charge, uma prática discursiva e ideológica”
(2001), e José Marques de Melo (1994). Mesmo assim, recupera-se diversos dos autores
tomados anteriormente, apresentando seus pontos de vista em relação ao tema, uma vez mais
objetivando colher o maior número possível de fontes a amparar a visão apresentada. Um
“samba de uma nota só”, mas em diversas oitavas. O que, se não prima pela originalidade dos
argumentos, pode ao menos ser interessante pelo alcance.
A seguir, trata-se dos autores a estudarem o real na charge, a relação da charge com
seu contexto de enunciação. Novamente se retoma os autores em seus pontos de vista quanto
ao tema apresentado, introduzindo-se teóricos a tratarem especificamente desta qualidade da
charge, como Edilaine Gonçalves Ferreira (2006), que vincula a charge com o real
explicitando sua relação parodística, e Glória Dias Soares Vitorino (2007), que analisa a
necessidade de o leitor ser capaz de decodificar as diversas referências apresentadas no texto
chárgico como fator determinante da leitura apropriada do texto.
Determinada a base teórica sobre a qual a análise será erigida, propõe-se então o
método de leitura da charge a ser aplicado na análise dos textos escolhidos para a realização
deste trabalho. Consistente com a revisão bibliográfica apresentada, que se preocupou em
encontrar consistência para as qualidades do texto defendidas por autores diversos, a análise a
ser realizada objetiva identificar na charge a opinião, o fato ou situação referidos, e buscar
compreender o processo emocional de leitura que torna o texto um estímulo humorístico, e
não apenas uma peça opinativa em geral.
Espera-se que, ao fim deste trabalho, se tenha não apenas uma resposta relativa à
propriedade ou não da inclusão do humor no estudo da charge jornalística – ou seja, uma
avaliação a respeito de se o estudo do humor na charge permite ou não uma leitura
13 diferenciada e/ou mais completa – mas também a propriedade (ou impropriedade) do conceito
de charge apresentado e desenvolvido através de comparação de diversas definições.
14 1 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA CHARGE
1.1 DEFININDO A CHARGE
A charge pode ser definida como um estímulo humorístico iconográfico que comenta
opinativamente determinado fato, pessoa ou evento, utilizando-se dos recursos da caricatura.
É uma definição própria, criada para este trabalho, e visa destacar aspectos que são
importantes para a leitura dessa forma textual, mas que comumente não aparecem unidos em
trabalhos científicos devido à visão especializada dos autores, que, embora possa ser
necessária em alguns casos, tende a ressaltar as características mais relevantes a diferentes
áreas de especialização, comentando brevemente outras características que, apesar de
importantes, não dizem respeito a seus estudos, ou até mesmo não as comentando em
absoluto.
Definições são capciosas. A charge também pode ser definida como o ramo da
caricatura que expressa uma crítica a um personagem ou acontecimento temporalmente
situado ou, mais simplesmente, as piadas com políticos na seção de opinião do jornal. São
definições válidas, dependendo do contexto em que são emitidas. Mas incompletas. E o que
torna capciosa uma definição é o fato de haver N diferentes maneiras de definir um objeto:
basta torná-lo identificável apresentando uma ou mais de suas características. Estando este
trabalho limitado pelas regras da produção científica (e não pelas da Federação Internacional
de Boxe), torna-se necessário explicitar os motivos que levaram a preferir essa definição em
particular às anteriormente mencionadas, e mesmo em detrimento de outras apresentadas em
trabalhos científicos sobre objetos de estudo semelhantes.
Necessitando-se de uma definição, busca-se logo um dicionário. Neste começo de
trabalho, adotaremos as definições e a seleção de dicionários realizada pela professora Onici
Flôres, em seu livro A leitura da charge (2002, p.10), mudando apenas a versão do dicionário
Aurélio por um mais atualizado. Tal seleção é considerada adequada para este esforço inicial
em encontrar uma definição de charge por contemplar tanto a palavra quanto sua origem (do
francês), bem como usar de um dos dicionários mais vendidos no país. Segundo a versão
eletrônica do Dicionário Aurélio – Século XXI, a charge é uma: “representação pictórica, de
caráter burlesco e caricatural, em que se satiriza um fato específico, em geral de caráter
político e que é do conhecimento público”.
15
Nessa definição, notamos a ênfase dada ao caráter temporal da charge, que necessita de
um conhecimento do fato satirizado por parte do leitor, assim como a característica pictórica e
caricatural da linguagem.
O Dicionário de francês-Português da Empresa Literária Fluminense, de Lisboa, traz o
seguinte sobre charge: “Charge[sarz], 1) s.f. a) carga; b) cargo; c) fardo, carregamento; d)
culpa; e) ataque, assalto (de cavalaria); f) imposto; g) mec. Cilindrada; h) crítica alegre,
caricatura, etc”.
A definição de charge como um ataque, um assalto de cavalaria, podendo significar ao
mesmo tempo uma crítica alegre ou caricatura nos diz mais sobre a natureza do texto chárgico
do que a incoerência inicial sugere: a origem da palavra charge é francesa, sendo seu uso
original o de “ataque”, que seria traduzido como uma carga de cavalaria. Denominar um texto
icônico-verbal opinativo com base em uma palavra que significa ataque nos leva à conclusão
de que o texto chárgico é um ataque, uma crítica feita através da caricatura.
Segundo o DELP (Dicionário Essencial da Língua Portuguesa), charge é “o desenho ou
caricatura que satiriza um fato específico, em geral político, que é de conhecimento público”.
Agregando os três conceitos oferecidos, temos em destaque o formato do texto, que é
icônico-verbal, a intenção humorística (representada pela sátira, termo comum às três
definições), sua ligação com um determinado fato, freqüentemente político, situado no
espaço e no tempo, que precisa ser de conhecimento público. A nota dissonante é dada pelo
dicionário de francês-português, que ressalta o caráter opinativo e mordaz da charge, mais por
sua ligação com o original em francês do que por discordar das definições anteriores. Todas
as definições (à exceção da do termo em francês) fazem referência ao uso da imagem na
composição do texto chárgico. Acrescendo a pesquisa feita por Flôres, o dicionário Houaiss
Eletrônico, versão 1.0.5, define charge como:
[...] desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, ger. veiculado pela imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual, que comporta crítica e focaliza, por meio de caricatura, uma ou mais personagens envolvidas; caricatura, cartum.
Pela definição oferecida, podemos notar que, amparando as anteriores, desenvolve o
conceito de temporalidade na charge e (como o dicionário DELP e o Aurélio) faz referência
16 ao uso da caricatura, chegando a considerá-la um sinônimo de caricatura e cartum. Também
faz menção à linguagem da charge, que pode ou não conter o elemento do verbal.
Essa interpretação encontra ressonância em Joaquim da Fonseca. Em seu livro
Caricatura: a imagem gráfica do humor, a Charge é conceituada da seguinte forma:
O termo charge é francês, vem de charger, carregar, exagerar e até mesmo atacar violentamente (uma carga de cavalaria). Significa aqui uma representação de caráter burlesco e caricatural. É um Cartum em que se satiriza um fato específico, tal como uma idéia, um acontecimento ou pessoa, em geral de caráter político, que seja do conhecimento público. Seu caráter é temporal, pois trata do fato do dia. (FONSECA, 1999, p.26)
O autor acrescenta que o termo charge entrou em desuso, até mesmo na França, embora
o conceito permaneça. O desuso referido, no entanto, não se fez sentir durante a realização da
revisão bibliográfica que deu origem a este trabalho. O termo continua sendo usado para
definir o cartum político em trabalhos científicos, especialmente na área da Comunicação, e
vários trabalhos atuais adotam a terminologia.
Edson Carlos Romualdo, em seu livro Charge jornalística: intertextualidade e
polifonia, também usa a palavra originada no francês para diferenciar a charge do cartum,
como comumente entendido:
Texto Visual humorístico que critica uma personagem, fato ou acontecimento político específico. Por focalizar uma realidade específica, ela se prende mais ao momento, tendo, portanto, uma limitação temporal. Como Cartum, entenderemos todo desenho humorístico no qual o autor realiza a crítica de costumes. Por focalizar uma realidade genérica, ao contrário da charge, o Cartum é atemporal, desconhece os limites de tempo que a crítica a personagens, fatos e acontecimentos políticos impõe. A caricatura será compreendida como o desenho que exagera propositalmente as características marcantes de um indivíduo. (ROMUALDO, 2000, p.21)
Romualdo diferencia, portanto, cartum de charge pela característica temporal da charge,
que se prende a um acontecimento ou pessoa. Por essa definição, o cartum de conteúdo
político continua sendo diferenciado da charge; se não por sua temática essencial (política),
pela característica de temporalidade que lhe é própria. José Marques de Melo também utiliza-
se desta diferenciação em seu Jornalismo Opinativo (1994), separando a charge do cartoon
(sic) em consideração a seu caráter temporal. Na verdade, considera o caráter temporal tão
definitivo que vincula a charge diretamente a uma notícia do jornal. Para ele, charge é uma:
17
Crítica Humorística de um fato ou acontecimento específico. Reprodução gráfica de uma notícia já conhecida do público, segundo a ótica do desenhista. Tanto pode se apresentar através de imagens quanto combinando imagem e texto (título, diálogos). (MELO, 1994, p. 168).
Esse vínculo com uma das notícias do dia também é salientado por Edson Carlos
Romualdo. Ele nota que a ilustração, acompanhada pelo texto, se torna comum graças
também às tecnologias que permitiram que se reproduzisse desenhos com maior facilidade
(Romualdo, 2000, pg 14). Romualdo cita também em seu texto o autor Juarez Bahia, em
Jornal, História e Técnica (SP, Martinz Editora, 1967), que salienta que a ilustração,
combinada com o texto, dá “leveza, atração e originalidade” ao texto, além de acrescentar
interesse.
Embora seja patente que as charges acompanhem um fato específico que comumente
aparece nas manchetes do dia, neste trabalho essa característica será considerada apenas em
segundo plano, para ressaltar seu caráter temporal. Isso porque, embora via de regra a charge
se ligue com a notícia do jornal, isso não acontece sempre, e a charge pode também se referir
a um fato notório, mas que não ocupe espaço no jornal no dia de sua publicação. É inegável
que, para uma leitura correta da charge, se deve conhecer o fato que gerou o comentário, nem
é por outra razão que tantos autores se preocupam em destacar seu caráter temporal e o fato de
satirizar uma pessoa ou acontecimento. Mas a charge, em si, apesar de tratar de uma
atualidade, não tem necessariamente uma relação direta com as manchetes do dia no
periódico. Sendo o objetivo deste trabalho uma análise da charge per se, sua relação com as
notícias do jornal de publicação é relegada a uma constatação de seu aspecto temporal, que é,
em última instância, o que a diferencia do cartum puro.
FLÔRES (2002, p. 10) destaca na introdução à sua Leitura da charge a linguagem
híbrida do texto, em que os signos e imagens que consistem a mensagem, juntos, informam e
persuadem. Também comenta como a multitude de signos (sociolinguísticos, culturais,
ideológicos e psicológicos) convivem ao mesmo tempo nesse gênero textual. Para Flôres, a
charge não é apenas importante por ser um documento histórico que comenta o embate
ideológico do momento de sua produção, mas também como um espelho que reflete a época,
versões e ideologias correntes. Embora a autora avise o leitor sobre a “alta temperatura
ideológica” desse tipo de texto (idem, p. 11), comenta que sua leitura é exigente, pois requer
do leitor um conhecimento que qualifica como considerável. Também para Flôres a charge
tem um forte componente opinativo, que ajuda a ler não os fatos, mas as versões dos fatos
18 ocorridos. Sua característica temporal lhe confere importância histórica, e sua forte carga
sígnica a torna um texto exigente.
Concatenando as características citadas acima, poderíamos definir a charge como um
texto humorístico que se utiliza dos recursos da caricatura e realiza uma crítica de um fato ou
de um acontecimento específico. Alguns ressaltam que esse acontecimento deve ser notório,
ou seja, conhecido pelo leitor. Essa sua característica é básica para a compreensão do texto.
Sendo a charge uma opinião, um comentário, não pode surtir efeito quando o leitor não tem
conhecimento do comentado.
Segundo o teórico Arthur Koestler, filósofo e escritor europeu que estudava os
processos motores da criatividade e da arte, e suas ligações com a emoção (responsável pelo
artigo correspondente ao tópico “Humor” na Enciclopédia Britânica), o cartum político:
É, na melhor das hipóteses, a tradução visual de um comentário chistoso sobre um tópico; na pior das hipóteses, uma manipulação de símbolos – John Bull, o Tio Sam, o urso Russo – que, uma vez cômicos, degeneraram-se em clichês visuais. Os símbolos engatilham memórias e expectativas; o conteúdo narrativo do Cartum é recebido por esquadrinhamento visual, possivelmente com efeito retardado devido ao tempo requerido para se ´ver a piada`. (KOESTLER, 1964, p. 70)
E emenda: “a análise de tais formas mistas é um assunto extenso.”
Paradoxalmente, no parágrafo seguinte, trata do retrato caricatural como um artifício
que “baseia seus efeitos em meios puramente visuais”, comparando as distorções criadas
pelos caricaturistas com o efeito de espelhos distorcidos dos parques de diversão. Para o
autor,
O produto das distorções astutas do caricaturista é algo fisiologicamente impossível, embora visualmente convincente – o artista sobrepõe sua percepção sobre a nossa. Pois uma caricatura é cômica apenas se sabemos algo a respeito da vítima, se temos uma imagem mental, por vaga que seja, da pessoa, ou tipo de pessoa, que é o alvo – mesmo que seja um esquimó, um homem das cavernas ou um robô marciano. O desconhecido não pode ser distorcido ou mal representado. A caricatura em sua forma mais feroz é a violação de uma imagem, um desengano ótico da vítima; em sua forma mais gentil, um chute semi-amigável no calcanhar de Aquiles. (KOESTLER, 1964, p. 70).
Assim, o autor destaca a necessidade de uma referência em relação ao tema tratado, na
caricatura, e evita considerações mais profundas sobre o que chama de “Cartum político”,
19 considerando-o ou um comentário chistoso ou uma manipulação de símbolos. A razão do
tratamento do Cartum político e da caricatura como duas formas diversas de humor parece
originar-se no fato de o autor se preocupar eminentemente com o assunto do humor no
capítulo referido, e também no de que as características que levam à compreensão dos
diferentes textos são diversas: enquanto o Tio Sam hipotético é reconhecido por ter se tornado
um clichê que representa os Estados Unidos, a caricatura tem uma relação mais direta e
reconhecível com a chamada “vítima”.
Embora essa diferenciação seja significativa em seu contexto original, onde o autor trata
da criatividade, ela impede uma compreensão mais completa do que a charge, como entendida
neste trabalho, significaria para o autor. Assim, uma vez que a charge usa recursos tanto do
que é referido como caricatura quanto tem aspectos políticos, será aqui considerada, por suas
características, um híbrido entre as duas definições oferecidas por Koestler.
Quanto ao cartum político, o autor ressalta sua natureza visual, sugerindo uma rápida
apreensão textual com um retardo do efeito humorístico até que se “veja a piada”. Tratando da
caricatura, o autor ressalta a natureza agressiva (em sua forma mais gentil, um chute no
calcanhar de Aquiles) e a simplificação e exagero comuns à caricatura, vistos como uma
superimposição de um padrão de percepção do caricaturista sobre o do leitor (denotando a
característica opinativa).
Mas a maior contribuição deste autor no estudo da charge são seus conceitos sobre o
estímulo humorístico em geral, assim como suas causas e efeitos. Para ele, o humor é um
estímulo que visa despertar o reflexo do riso (Jano, 1981). As peças humorísticas tornam-se,
assim, estímulos ao riso, adquirindo as características desses estímulos. As conseqüências
dessa mudança sutil, na busca de uma definição do que é a charge, vão além da mera
semântica, acrescendo a esses estímulos algumas qualidades próprias que não devem ser
desconsideradas no estudo dessas peças. E essa é uma das razões fundamentais deste trabalho:
acrescer alguns conceitos básicos aos estudos da charge normalmente realizados em trabalhos
de cursos de Comunicação.
GHILARDI (1995/1996) define a charge como “discurso humorístico que valoriza a
ilustração, a caricatura e coloca em dúvida questões de ideologia, poder, sentimentos,
personalidade, enquanto ri da própria dúvida” (p. 92), ressaltando o valor do texto como um
elemento opinativo e formador de opinião ao observar que o mesmo pode incentivar à
20 reflexão sobre temas da atualidade, podendo o estudo da charge até mesmo servir como um
“retrato, mesmo que não completo e detalhado, da época e do mundo atual”( idem.) Ao
mesmo tempo, ressalta que o texto pode ser lido (e investigado) “tanto no âmbito do discurso
jornalístico quanto humorístico” (ibidem.)
VEDOVATTO (2000) ressalta que o texto chárgico tem a característica de unir
informação e o ato lúdico de ler uma peça humorística, que pode ser responsável por sua
popularidade nos dias modernos, em que a rapidez e a necessidade crescente de informações
aumentam a relevância da imagem como meio informacional. A autora ressalta, porém, que
essa leitura do texto requer competências discursivas especiais e também uma cumplicidade,
por parte tanto do produtor quanto do leitor, para uma leitura efetiva. Para tanto, também deve
tratar de fatos do conhecimento público (e, em especial, do leitor) para que este possa ser
capaz de compreender o tema tratado. Vedovatto não vê o texto apenas como uma peça de
opinião jornalística, mas acredita que suas características especiais, que aliam humor, opinião
e o hibridismo da linguagem merecem também um olhar mais aprofundado. (VEDOVATTO,
2000, p. 02-05).
Assim, agregando à charge a qualidade de estímulo humorístico, temos completas suas
características essenciais: a temporalidade, seu caráter opinativo, seus recursos e retórica
(enquanto texto). A definição proposta busca ser um amálgama dessas características gerais,
consideradas aqui importantes para um conhecimento efetivo do objeto do estudo. A
necessidade referida por alguns autores do conhecimento do leitor a respeito do assunto
tratado é um efeito direto e lógico da característica temporal da charge – o fato de ela se
referir a determinado fato, pessoa ou evento. Se tal evento é desconhecido do leitor, a charge,
logicamente, não pode ser compreendida. Uma analogia possível seria com a conhecida piada
na qual, indo João e José visitar o Vaticano, José era conhecido de todos os que passavam na
rua. Surpreso com isso, João pergunta a José como isso se dá, e José apenas provê a resposta
vaga de que conhece todo mundo no Vaticano. Quando estão indo para uma praça, onde o
papa fará uma aparição, José some. João se preocupa, mas vai ver o papa de qualquer forma.
Quando o papa aparece, para surpresa de João, José está abraçado a ele. Já aceitando o fato de
que José conhece mesmo todo mundo no Vaticano, João decide por um último teste e
pergunta a uma senhora a seu lado se conhece o homem no palanque, a que a mulher
responde: “Não, nunca vi aquele homem de chapéu branco que o José está abraçando”. Para o
homem que não conhece a hierarquia da Igreja Católica, o papa será sempre o homem de
21 chapéu branco. A magnitude do ato de José abraçar o papa só pode ser entendida por quem
sabe o que é um papa. Logo... a necessidade do conhecimento prévio do leitor sobre o assunto
tratado deriva da temporalidade da charge, não sendo por si uma característica desse tipo de
texto. A importância de classificar a charge também como um estímulo humorístico deriva
das propriedades desses estímulos, e pode ser importante para a compreensão da charge e seu
efeito sobre os leitores. A seguir, veremos em que consistem essas características,
isoladamente.
22 1.2 CARACTERÍSTICAS DA CHARGE
1.2.1 O Humor
Em se tratando de humor, é mais fácil fazer do que falar a respeito. O contrasenso nesse
comentário – que se opõe à expressão popular que dita ser “mais fácil falar do que fazer” –
deve-se às múltiplas facetas do estímulo humorístico e, ao contrário do que comumente se
acredita, à multiplicidade de estudos sobre o tema.
Pastecca já nos avisa, no início de seu livro Dibujando chistes, que “muitos filósofos e
pensadores têm tentado (definir a charge) sem êxito” (PASTECCA, 1969, p. 11), porque
talvez o humor não aceite as meadas de uma definição por amar demais a liberdade. O fato é
que, apesar de se abster de procurar uma definição exata, o autor busca algumas respostas,
características que podem dar pistas do objeto de seu estudo. Para Pastecca, a psicanálise tem
algumas coisas interessantes a falar do humor e do riso. Esse objeto de estudo, mesmo tão
arisco a definições, seria uma “forma de comunicação humana, uma liberação de tendências
agressivas”(idem), podendo ser usado para mitigar a dor, o sofrimento. É a liberdade –
daqueles que estão indefesos – para atacar de volta os que não podem ser atacados. O autor
celebra o humor como uma liberação, uma descarga emocional que associa à liberdade.
Vedovatto (2000, pg. 137-142), ao tecer considerações sobre o tema, amparada em
autores como Travaglia, Ziraldo e Herman Lima, destaca o papel político e social
desempenhado pelo humor na sociedade, usado como uma arma para pensar criticamente a
realidade, e até reagir contra o status quo, sempre em busca da verdade. O humor é
intimamente ligado à natureza do homem, e também a seus pontos de vista. Por exemplo, o
fato da oposição entre humor e passionalidade. Ninguém ri do que é importante para si.
Temos, aí, o humor como um recurso de opinião, de expressão, profundamente imerso em e
constituinte da sociedade e dos agrupamentos humanos. Ataca seu objeto expondo suas falhas
e/ou incongruências; faz isso através de recursos lógicos, com um forte componente
emocional.
Parece inevitável que os estudiosos do humor usem também o objeto de estudo também
em suas obras, ao menos ao iniciarem suas considerações e revisões bibliográficas e
descobrirem quão amplo é o assunto escolhido como tema de suas pesquisas. Como
23 observaram (comicamente) os autores Bernard Jablonski e Bernard Rangé em seu artigo “O
Humor é só-riso? Algumas considerações sobre os estudos em Humor”:
Quando começamos a nos interessar pelo assunto, achamos que bastante rapidamente (sic) estaríamos a par da literatura existente, uma vez que poucos autores teriam se pronunciado a respeito. Ingenuamente, acreditávamos que, afora os filósofos e pensadores mais conhecidos na área – Aristóteles, Hobbes, Bergson, Kant, Spencer e evidentemente S. Freud – não seria difícil compilar – e ler – as outras contribuições existentes. Mas, a uma carta de A. Chapman, co-editor do respeitável Humor and laughter: theory, research and applications, que incluía uma lista de artigos diretamente ligado aos humor, e publicados até o ano de 1976, nos fez mudar de idéia: continha tal lista mais de mil referências! Por pura vingança e para não ver nossa auto-estima jogada no chão, esperamos que vocês também tenham compartilhado do mesmo espanto que nós. (JABLONSKI & RANGE, 1984)
Vemos, portanto, que o tema é amplo e, como tal, amplamente explorado. Este trabalho
não tem por função esgotar o assunto – nenhum trabalho sério teria – mas sim apresentar as
facetas do tema concernentes a uma análise mais aprofundada e precisa no tocante a estudos
da Comunicação. No entanto, é necessário observar as linhas gerais de algumas das principais
teorias relativas ao assunto. Um trabalho mais detalhado sobre o tema seria – como
demonstrado com inusitado bom humor por Jablonski e Rangé – impraticável. Após se
lamentarem a respeito da extensão do estudo que seria necessário para atingirem a meta a que
se propuseram, os autores analisam vários conceitos de outros autores que escreveram sobre o
tema, afunilando-os até chegar em quatro grupos de fatores: incongruência, surpresa,
superioridade e alívio de tensão, este último tratado como sendo mais “um efeito do humor”
(p. 135) do que uma característica propriamente dita.
Ainda segundo os autores, a incongruência depende de um elemento inconsistente ou de
um inusitado estímulo. Tal elemento, porém, não é bastante para definir o humor, dado que
incongruência poderia também levar a outras reações, como curiosidade, tensão e medo. A
surpresa poderia ser considerada um subproduto da incongruência, uma vez que a inserção de
um elemento incongruente em uma trama humorística sempre suscita surpresa.
J&B5 consideram a superioridade também uma condição necessária, mas insuficiente
para a existência do humor. Destacam o papel agressivo do humor, a maneira como ele ataca,
expõe fraquezas ou exagera as características marcantes do objeto do humor para conseguir
5 Maneira de abreviar os nomes dos autores (Bernard Jablonski e Bernard Rangé) sem tornar o texto repetitivo, nenhuma relação com a marca de uísque.
24 seus efeitos. Argumentam que a característica geraria um sentimento de superioridade no
leitor, ao tornar possível a redução de um problema (geralmente o objeto) ameaçador a um
nível controlável, risível. “Somente quando isso é possível é que se dá o humor; senão
experienciamos medo, angústia existencial, ansiedade, crises de pânico, etc.” (p. 135).
Os autores creditam a essa fragilização do elemento perturbador (o tema do texto
humorístico) a expiação da tensão causada por esse elemento. Assim, numa equação
simplista, humor = alívio de tensão.
O maior mérito do estudo realizado por J&B, no tocante a este trabalho, consiste na
tentativa de compilar diversos estudos relacionados ao tema e compará-los, salientando as
semelhanças e diferenças entre eles e chegando à proposta de um estudo mais amplo, embora
menos detalhado, do tema do humor em si. Os autores destacam que “o maior problema a
nosso ver entre todas as teorias do riso é o de que freqüentemente cada um dos seus
defensores tende a eleger um tema como o dominante, passando a encarar todos os demais
como insignificantes” (p.136) e criticam as posturas dos pesquisadores mais recentes, que
tendem a preterir visões mais amplas sobre o tema e concentrar-se em miniteorias, esperando
que, do mosaico formado pelos fragmentos entendidos por completo, se possa adquirir uma
visão completa do tema.
Destacam também os aspectos sociais do humor, que é por eles entendido como uma
forma utilizada por grupos sociais para tratar de temas sérios, grandiosos ou insolúveis, e
assim lidar com eles, expondo as idiossincrasias de suas lógicas e eliminando, assim, o
sentimento de impotência diante de tais temas e das tensões inerentes a eles.
Koestler propõe uma visão mais reduzida do assunto, dividindo o riso e o humor em
seus aspectos lógicos, fisiológicos e emocionais. Destaca o paradoxo do riso, efeito do humor
em que um estímulo de alto nível de complexidade, como uma piada, um jogo de palavras ou
uma caricatura, é capaz de despertar uma reação em nível fisiológico. Pois o riso, com suas
contrações, respiração alterada, não é outra coisa.
O riso espontâneo (não forçado) é, ainda segundo Koestler, um reflexo motor em que
15 músculos faciais se contraem, em um padrão determinado, acompanhado por alteração
25 respiratória. Neste reflexo, há a estimulação elétrica do principal músculo de elevação do
lábio superior pelo músculo zigomático maior em correntes de variável intensidade, o que
produz expressões faciais que podem, dependendo da natureza do estímulo humorístico,
variar do sorriso tênue à gargalhada convulsiva.
Uma vez que se entende o riso como um reflexo involuntário6 instauram-se alguns
paradoxos que não podem ser contornados facilmente. O primeiro deles diz respeito à
utilidade biológica do riso. Não há, a rigor, motivo biológico compreensível para as pessoas
rirem. O segundo paradoxo relacionado ao riso vem da discrepância entre a natureza do
estímulo e a da resposta. Quando a pupila se contrai ao ser exposta à luz ou a perna se eleva
para cima num chute quando acertada no ponto nevrálgico abaixo da rótula, estímulo e
resposta se acham no mesmo patamar fisiológico primitivo. Mas é incrível que uma atividade
mental complexa (Koestler descreve o exemplo de um rapaz lendo uma história cômica) possa
originar um reflexo.
A explicação para isso se dá, ainda segundo o autor, porque as emoções humanas têm
uma inércia e persistência maiores que as do pensamento. Ao contrário desse, as emoções não
podem mudar de um momento para outro por causa de uma percepção repentina, como a
quebra de desenrolar lógico contida em uma piada. As emoções operam por meio do
complexo sistema nervoso simpático, juntamente com hormônios que se espalham por todo o
corpo e cujo efeito não se dissipa de imediato, ao passo em que o pensamento é confinado ao
neurocórtex, na parte de cima do cérebro7. As pessoas são literalmente envenenadas por seus
humores adrenais8.
6 Trata-se aqui do riso originado pelo estímulo humorístico. O riso voluntário, ou simulado, tem uma função social ou de simpatia que não condiz com as características básicas do efeito humorístico, segundo afirma Bergson,“O riso é acompanhado de insensibilidade”.( BERGSON, 1980). 7 SPENCER, Herbert. Encontrado no artigo “The Physiology of Laughter, Essays on Education and Kindred Subjects” (1910, reprinted 1977) – tradução livre do original. 8 Esse ponto de vista é amparado pelo psicólogo Anthony Storr em seu livro A Agressão Humana. Segundo ele, as pessoas vivem sob a constante influência de instintos que não cabem mais na vida moderna, mas não deixam de ser sentidos: “Como os outros animais, o homem também reage com maldade à superaglomeração. Embora, na civilização adiantada, o amontoamento de gente nas cidades não leve, forçosamente, à escassez de alimentos, talvez existam traços de agressividade que outrora serviam para espaçar tanto os indivíduos como os grupos de homens. Aqueles dentre nós que vivem em cidades aprendem a se acomodar, em certo grau, ao tipo de congestionamento que parece ser uma conseqüência inevitável da urbanização; mas quanto mais acomodados ficamos, tanto maior a facilidade com que tendemos ao ressentimento mútuo. Talvez seja por isso que muita gente ache irritante e exaustiva a vida nas cidades, porquanto é obrigada a controlar os impulsos agressivos que surgem unicamente como resultado da superaglomeração.”( STORR, 1976)
26
O riso é o meio encontrado para expiar essas emoções que se tornam redundantes ou
desnecessárias no momento em que são descartadas pelo pensamento. Seu objetivo é o alívio
da tensão emocional gerada por um sistema glandular não completamente adaptado à atual
realidade humana. Enquanto que a humanidade evoluiu tecnológica e culturalmente nos
últimos séculos mais do que em toda a História, essa evolução não se deu também em termos
biológicos. Um exemplo clássico da resposta instintiva tornada desnecessária pelo ato de
pensar e expiada em riso é citado por Koestler: as pessoas riem quando lhes fazem cócegas.
Como Darwin foi o primeiro a apontar, a reação inata às cócegas é se contrair e remexer para livrar a parte ameaçada – uma reação de defesa criada para escapar de ataques a áreas vulneráveis como as solas dos pés, embaixo dos braços, pescoço e barriga. Se uma mosca senta na barriga de um cavalo, ela causa um tremores de contrações musculares através da pele – o equivalente ao desvencilhar da criança em que se fazem cócegas. Mas o cavalo não ri se lhe fizerem cócegas, e a criança, nem sempre. A criança vai rir apenas se perceber as cócegas como um ataque falso – uma carícia em um disfarce agressivo. Pela mesma razão as pessoas riem apenas quando outros lhes fazem cócegas, não quando elas mesmas se coçam. (Koestler, 1981).
Mas os estudos do doutor Norman Cousin, de acordo com Jéssica Miles Davis,
apontam para outras possíveis funções do riso: segundo uma pesquisa realizada pelo médico,
dez minutos diários de riso nos pacientes tinham um efeito descrito como “anestésico”.
Cousin chega a afirmar que a esses dez minutos corresponderiam “duas horas de sono livre de
dor”, o que possibilitava dispensar analgésicos, aspirinas, codeína e pílulas para dormir. Além
disso, também observou uma queda da taxa de sedimentação – medida da extensão de uma
infecção ou inflamação na corrente sangüínea – causada pelo riso “de coração, alegre”9. Os
efeitos do riso estariam envolvidos com os sistemas nervosos simpático e parassimpático, a
atividade hormonal e com a química do cérebro, assim como com o metabolismo muscular, a
taxa de batimentos cardíacos e a pressão sangüínea.
Segundo Davis, o riso “é uma ferramenta útil, utilizada para difusão de tensão, atacar
uma vítima impopular, reafirmar a identidade de grupo, diminuir uma ameaça, e até mesmo
para incrementar o aprendizado”10. Com tantas aplicações e particularidades, o riso é também
uma maneira de expressar o posicionamento político e denunciar as contradições existentes
em uma sociedade. Por este motivo é necessário que o conhecimento a respeito da matéria
seja aprofundado e democratizado: trata-se de um dos meios de comunicação mais efetivos e
poderosos em uso na atualidade, sendo também uma necessidade fisiológica humana.
9 DAVIS, Jessica Miles. Taking Humor and Laughter Seriously. Australian Jounal of Comedy, vol.2, nº 1, 1996. 10 Idem à nota anterior.
27
Koestler credita essa reação fisiológica diante do estímulo humorístico à expiação de
tensão, usando como exemplo o modelo hidráulico, comparando o riso ao vapor que escapa
de uma panela de pressão, aliviando as tensões crescentes dentro da panela.
Essas tensões podem ser de origens diversas: tensão sexual, agressividade, sentimento
de inferioridade, etc. Assim, a escalada das tensões e emoções do humor é dissipada pelo riso,
um reflexo que, segundo o autor, tem essa finalidade. Quanto aos aspectos lógicos, Koestler
exemplifica através de piadas que o humor geralmente deriva de dois desenvolvimentos
lógicos válidos, mas mutuamente incompatíveis. A quebra do raciocínio lógico, o “passe”
humorístico de um campo de lógica para outro, é o “gatilho” que desencadeia a explosão do
riso.
Impossível esclarecer sem exemplificar o conceito. Aderindo à mania internacional de
exaltar o ator Chuck Norris (ator conhecido por seus filmes de ação em que, geralmente,
protagoniza um soldado ou guerreiro virtualmente invencível) com feitos sobre-humanos, será
aqui realizada uma análise de alguns desses chistes, recolhidos ao acaso, para ilustração.
1 – Chuck Norris contou até o infinito. Duas vezes.
2 – Chuck Norris sabe o valor exato de Pi.
3 – Chuck Norris atende o telefone dizendo “fala”. Ele não tem viva-voz nem levanta o
fone do gancho.
No primeiro exemplo, o problema lógico é evidente: o infinito é inalcançável,
impossível contar até o infinito. Que dirá duas vezes. Mas é próprio de Chuck Norris, em seus
filmes, fazer coisas que ninguém mais poderia. Logo... são dois axiomas distintos: “Chuck
Norris pode tudo” – uma colocação satírica baseada na filmografia do ator e amplamente
difundida, tanto pela Internet quanto verbalmente – e “o infinito é inalcançável”. A colisão
entre esses axiomas causa a tensão lógica. Na verdade, Chuck Norris não seria um elemento
necessário. Bastaria dizer que alguém contou até o infinito duas vezes para “quebrar”
totalmente a lógica da frase. A tensão é expiada em riso, ou sorriso, dependendo do
interlocutor.
O segundo exemplo é semelhante. Pi é uma constante matemática que não tem fim,
todos os cálculos realizados com esse número são feitos por aproximação. É impossível que
alguém saiba o valor exato de Pi. Logo...
28
O terceiro exemplo também rompe a lógica comum. Telefones não falam, não
respondem conscientemente. Sem um artifício como viva-voz, secretária eletrônica ou
simplesmente levantar o fone do gancho seria impossível falar ao telefone. Mas Chuck Norris
é Chuck Norris, e há tanta coisa impossível em sua filmografia que não seria exatamente
estranho que um telefone se sentisse intimidado a ponto de responder por si a uma ordem
direta. Esse exemplo envolve uma necessidade de abstração por parte do interlocutor, e até
mesmo um esforço consciente de personificação para compreender a piada. Também é
importante para o leitor conhecer o “mito” de Chuck Norris, estar familiarizado com o
personagem. Uma vez mais a lógica se rompe, ao assumir o fato como verdade literal, e a
quebra do desenrolar lógico gera a tensão que se torna o riso.
Koestler analisa a geração da tensão no desenrolar da história e considera em seus
estudos sua presença em vários tipos de piada ou chiste. Embora tenha sido citado por
Jablonski e Rangé como um dos teóricos que trate apenas de “parte do problema” do humor, é
importante notar que, separando os efeitos emocionais, fisiológicos e lógicos das causas do
humor, o autor desenvolve uma visão mais holística do tema, englobando o desenvolvimento
de um sentimento de superioridade, a incongruência e a surpresa (citados por J&B) em um
único fator, que é a escala da tensão emocional, e separando a lógica e a fisiologia do
processo em campos separados.
A visão holística acima referida deriva de uma teoria ainda mais abrangente (Koestler é
um estudioso da criatividade em geral, não apenas do humor): a de que a evolução do cérebro
humano se deu através da superimposição de uma estrutura lógica (que chama de neocórtex)
sobre o cérebro “animal”11.
Portanto, não é de surpreender que Koestler tenha um ponto de vista semelhante ao de
Freud, no tocante à psicologia do humor (Freud via o humor como um mecanismo de defesa
que agiria através de uma economia de sentimento, onde a tensão causada por certa situação
ou sugestão causadora de desprazer seria converter o desprazer em prazer, através do ato de
descarregá-lo12, reduzindo asim a tensão), concentrando sua análise e analisando cada caso a
partir da tensão causada no sujeito. Suas teorias podem ser consideradas uma base fisiológica
para a teoria freudiana do inconsciente.
11 KOESTLER, Arthur. O Fantasma da Máquina. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1969, cap. XVI, p. 309/339. 12 FREUD, Sigmund. O Chiste e Sua Relação Com o Inconsciente. Obras Completas de Sigmund Freud, Ed. Delta S.A. Vol.5, p. 239.
29
Não obstante, a tentativa de J&B de unificar características presentes na maioria dos
teóricos do humor permanece válida e é condizente com o espírito deste trabalho. Embora sua
classificação seja aqui preterida em relação à elaborada por Koestler – por ser essa última
mais completa – a ilustração dos elementos componentes da criação da tensão a ser expiada
pelo riso foi realizada de maneira mais complexa e direcionada para os teóricos da atualidade,
enquanto Koestler se dedicou aos principais teóricos a tratarem do tema desde Aristóteles,
deixando lacunas em relação aos mais atuais. Apesar de o ponto de chegada ter resultado
semelhante (considerando-se o conceito de tensão utilizado por Koestler, que engloba os
aspectos do humor considerados por J&B), o caminho foi diferente.
Temos, portanto, o conceito de humor como um estímulo ao reflexo do riso, causado
pelo choque entre dois sistemas lógicos incompatíveis (geralmente causando surpresa), e cuja
principal função parece ser o alívio da tensão causada pelo objeto do texto humorístico. A
“superioridade” sugerida por J&B deriva da característica agressiva do humor, que ataca os
pontos frágeis, as idiossincrasias de seu objeto, e, conforme visto, é também uma forma de
expiar a tensão de se sentir impotente ou ameaçado (por exemplo, o sujeito sente-se melhor ao
ler uma charge ou ouvir/contar uma piada atacando uma lei prejudicial a si mesmo; não é
apenas “dar o troco”, uma maneira de agredir um conceito, uma lei, uma personalidade; é
também uma maneira de se sentir superior ao salientar as fraquezas do objeto. E, assim,
expiar o sentimento de tensão causado pelo tema).
Importante notar que, enquanto estudos dirigidos se concentram na linguagem,
características textuais, no humor em si ou na psicologia ou fonte do prazer humorístico, todas
essas características do humor estão presentes em qualquer manifestação do fenômeno, e
analisá-las em separado pode gerar omissões, como, por exemplo, a falta de menção da fonte
do prazer humorístico na análise de conteúdo de um texto chárgico, que significa fragilizar o
tema da charge, adquirir magicamente um senso de superioridade sobre o tema (segundo
demonstrado anteriormente), e, com isso, “reduzir” a tensão, o incômodo, que o tema
provoca. O efeito de tal omissão seria destacar as características opinativas da charge, realizar
uma análise de conteúdo e olvidar os efeitos emocionais humorísticos, que tenderiam a
diminuir a importância do tema para o leitor.
O fato de o humor ser um estímulo lógico para um reflexo (quase um paradoxo), que
repercute emocionalmente no leitor, torna impossível uma análise completa de um texto
humorístico sem considerar também os efeitos emocionais do humor, brevemente citados
30 acima. Isso porque a relação do texto com o leitor deixa de ser apenas a de ler um texto
opinativo cuja leitura é agradável porque desperta o riso, e se torna a de ler um texto que
propositalmente enfoque algo perturbador o suficiente para criar uma tensão de difícil manejo
e lhe exponha as falhas, detonando um mecanismo de defesa que faz com que essa tensão que
se tornou redundante seja expiada através de contrações musculares involuntárias. Visão,
essa, que também explica a razão por que não se ri ao ver humoristicamente tratado algo em
que se acredita, ou que é caro ao leitor da peça humorística. Não é apenas a opinião
envolvida, mas sim ver algo que lhe era caro diminuído, sem que essa diminuição traga
qualquer alívio. A diferença entre essas duas visões do humor é como a diferença entre passar
mal após tomar leite estragado e refletir se joga fora a garrafa de leite ou se dá um tiro na
vaca.
Talvez estudos posteriores possam desenvolver mais o quanto o alívio da tensão
emocional resultante do ato de reduzir o objeto do humor a um tamanho manejável interfere
na percepção emocional do tema tratado no estímulo humorístico. Porque, de certa maneira, a
mera menção desse efeito desconcertante torna a charge – que, lembremos, vem do francês
para ‘ataque’ – em um instrumento que diminui a tensão agressiva dirigida pelo leitor ao
sujeito do humor, reduzindo sua importância. O que é ironicamente oposto a um ataque.
O próprio Freud alerta para essa característica do humor. Em seu artigo, “O humor” não
reside na pilhéria realizada, mas sim na intenção principal desta pilhéria, que seria reduzir o
objeto a um jogo de crianças, o que antes preocupava visto apenas como algo “digno de uma
pilhéria”13. Resulta que o prazer humorístico provém sempre de uma economia, uma forma de
reconquistar um prazer infantil que as preocupações cotidianas e as dimensões que o mundo
assume a nossos olhos não nos permitem, e completa, nostálgico e amargo, que esse prazer
deriva da recuperação do estado de ânimo infantil. Neste sentido complementa Freud (1905,
p. 242) argumentando em que não conhecíamos o cômico, não éramos capazes do chiste e não
necessitávamos do humor para nos sentirmos felizes na vida.
Paradoxos e ironias, ao que parece, são uma constante ao se tratar do tema do humor.
Não é de espantar que o próprio humor se utilize desses recursos.
13 Freud, Sigmund. O Humor. Obras Completas de Sigmund Freud, Ed. Delta S.A., vol. 6. p. 194.
31 1.2.2 A Linguagem da Charge
A linguagem da charge é o que pode ser chamado de unanimidade em que a maioria
dos autores discorda entre si. Unanimidade, porque a totalidade dos autores acaba analisando
o texto da mesma forma, embora os caminhos que usem para chegar a tal prospecto de análise
sejam diferentes. Alguns, como Vedovatto e Romualdo, têm fontes em comum (no caso,
Cagnin), sem que suas análises coincidam por completo. Outros, como Flôres, trilham um
caminho diverso (no caso, um caminho semiótico) para chegar a uma proposta de análise do
texto chárgico. Uns, como McCloud e Eisner, trazem uma proposta de análise de tais
linguagens híbridas adquirida através da prática, outros (como Arbach) trazem um ponto de
vista histórico a respeito. Este capítulo propõe-se a discutir essas diversas visões sobre as
propriedades dos textos iconográficos e a buscar um fundamento para o que aparenta ser um
consenso na comunidade científica: a charge deve ser lida como um todo, um texto maior, não
como a agremiação de dois tipos de linguagem que competem em um único texto.
Um passo largo nessa direção seria a citação do autor Edson Carlos Romualdo (2000,
p. 16), que, ao apresentar ao leitor as características do que chama de “o texto chárgico”, parte
da definição de texto apresentada por FÁVERO & KOCH (1988:25), em que o sentido lato da
palavra é usado para designar
[...] toda e qualquer manifestação da capacidade textual do ser humano (quer se trate de um poema, quer de uma música, uma pintura, um filme, uma escultura, etc.), isto é, qualquer tipo de comunicação realizado através de um sistema de signos. (ROMUALDO, 2000, p. 16 apud FÁVERO & KOCH 1988, p. 25).
Romualdo apóia a definição com conceitos de BEAUGRANDE & DRESSLER
(1981), que enumeram sete fatores responsáveis pela textualidade, que seriam a coerência
(principal fator, responsável pelo sentido do texto, concernente à forma pela qual os
elementos presentes em um texto se unem em uma configuração acessível e relevante) e a
coesão (manifestação lingüística da coerência), mais elementos centrados no usuário do texto,
como intencionalidade (atitude do produtor de criar o texto), aceitabilidade (por parte do
receptor, que deve adquirir conhecimentos ou cooperar com o produtor, na leitura),
informatividade (deve-se à expectativa e os conhecimentos do receptor, que pode ser mais ou
menos informado durante a leitura do texto; o autor salienta ainda que o receptor pode rejeitar
um texto pela dificuldade em compreende-lo), situacionalidade (fatores que fazem ou não
com que um texto seja relevante em relação à situação em que ocorre), e a intertextualidade
32 (fatores que fazem com que a utilização ou leitura de um texto dependa de outros textos).
Ora, quando um autor baseia seu conceito de texto em um outro autor,
necessariamente deve expressar as razões para tal. Romualdo, assim, prossegue sua análise na
tarefa de malhar com retórica as arestas do texto chárgico, com fins de encaixá-lo nos moldes
propostos por Beaugrande e Dressler, como manda a etiqueta. Para tanto, considera as charges
como:
[...] textos coerentes e coesos, pois formam um todo de sentido que é transmitido pelas relações entre os diversos elementos gráficos que compõe as figuras de um quadrinho. Nas charges de mais de um quadrinho, a coerência se dá pela relação de sentido estabelecida entre a leitura dos elementos gráficos do primeiro quadro e dos quadros seqüentes. (ROMUALDO, 2000, p. 18).
Além de ter coerência e coesão, a charge também é informacional, pois transmite
informações pictoricamente, ou sincreticamente, através dos sistemas pictórico e verbal; as
opiniões e críticas dos chargistas estão presentes no texto, configurando a intencionalidade; a
aceitabilidade é configurada pela interpretação da charge por parte do leitor, e esses
conhecimentos, que podem fazer parte do repertório do leitor ou adquiridos através da leitura
do próprio jornal, configuram sua intertextualidade.
O caráter de intertextualidade e a multiplicidade das vozes na leitura das charges são
os objetos de estudo do autor. Embora este trabalho não ambicione tanto, apenas um olhar um
pouco mais amplo à charge como comumente estudada, essa definição de charge enquanto
texto em sentido lato é pertinente, por permitir a análise conjunta das linguagens verbal e
pictórica usadas nas charges em geral. O resultado da visão de texto proveniente da definição
usada por Fávero e Koch, e Romualdo depois deles, é permitir a análise da charge como um
todo, sem ter necessariamente que decompor o texto em suas linguagens componentes para
uma análise de seu significado. Isso deixa de ser uma exigência a partir do momento em que
consideramos a charge um texto coerente e coeso, em que o pictórico ou (sincreticamente) o
pictórico e o verbal formam um todo de sentido. Isso pode parecer fútil, mas é um detalhe
importante para o desenvolvimento deste trabalho. No entanto, não desobriga uma análise
mais detalhada dos elementos constitutivos da charge, uma vez que é necessário conhecer e
dar a conhecer os elementos a serem apontados nas leituras das charges analisadas.
Em relação à linguagem da charge, Romualdo prossegue analisando seu caráter visual.
Destaca que a linguagem visual é composta, no caso, de três dimensões: altura, largura e
33 profundidade, estando a última implícita, pois não é uma dimensão real no texto, mas sim
uma idéia transmitida ao leitor através da técnica da perspectiva. Ora, sendo um texto visual
desenhado, a charge deve ter características comuns a todos os desenhos. Romualdo (2000, p.
22-23) destaca que os elementos componentes da imagem desenhada podem ser reduzidos até
elementos básicos, como o ponto, as massas e as linhas. A linha pode ser vertical, horizontal,
curva, sinuosa, regular e irregular, quebrada e mista – que pode agrupar característica de mais
de uma das anteriormente citadas. As massas podem ser escuras ou hachuradas e assumir as
formas mais diversas.
Ainda segundo o autor, esses elementos básicos não devem ser lidos separadamente,
mas sim combinados. Sua significação só pode ser dada pelo contexto em que estão inseridos,
pois é através desse contexto que o leitor pode ler com propriedade os significados presentes
no texto. Uma linha sozinha, por exemplo, não quer dizer nada, mas em um quadrinho, pela
simplificação, uma linha pode ser uma corda, uma parece, ou até mesmo (se lida junto com
outras) parte do braço de um personagem. As charges podem ser constituídas de um ou mais
quadros, que, sendo em número maior de um, devem ser lidos da esquerda para a direita, de
cima para baixo.
Romualdo menciona a caricatura, representando seu objeto através da simplificação e
o exagero, como um dos elementos constituintes da charge, depois passa para a análise do
texto verbal nas charges, destacando que seguem as mesmas formas das histórias em
quadrinhos, onde as falas das personagens aparecem dentro de balões, as representações
diferentes para diferentes tipos de ruídos, e ainda aparecendo nas legendas e em figuras do
quadro. A grossura do traço e o tamanho podem indicar volume de voz, ou emoção. Assim, o
texto verbal nas charges deve ser lido em conjunto com o pictórico na forma de sua
apresentação, pois pode apresentar alterações de sentido se lido em separado. Romualdo se
conforma à análise de CAGNIN (1975), que divide as falas apresentadas na charge em balão-
fala (fala normal) e balão-pensamento (pensamento; contorno de bolhas), textos fechados em
volumes delimitados por linhas contínuas. Também cita outros exemplos como balão-
cochicho (fala em voz baixa; pontilhado), balão-berro (grito; contorno formado por arcos),
balão-trêmulo (medo; contorno em linhas tremidas) e balão-de-linhas-quebradas (falas de
aparelhos elétricos ou eletrônicos; linhas quebradas). O autor ressalta que CAGNIN (1975)
coloca mais balões em sua análise: balão-vibrado, balão-glacial, balão-uníssono, balões
duplos e intercalados. Essas qualidades de balões não fazem parte do universo de análise de
34 Romualdo e serão desenvolvidos subseqüentemente neste trabalho. Como a leitura dos
quadros, ou de um texto, a leitura dos balões é da esquerda para a direita, de cima para baixo.
Essa ordem permite uma temporalidade, uma ordem de leitura. Até mesmo pausas dramáticas
(como no exemplo de um quadrinho estático, sem ação, após uma revelação inesperada). Há
autores que optam por não usar balões. Nesses casos, o apêndice (seta ou guia desenhada que
liga o balão à boca do falante, permitindo ao leitor saber qual personagem está dizendo a
frase) se torna um traço saindo da boca do personagem. Além de todos os balões vistos, ainda
há outros tipos, como os balões com desenhos representando palavrões, uma lâmpada
representando uma idéia, etc.
A seguir, o autor trata de onomatopéias e da representação dos sons, e os reduz (apud
CARVALHO, 1967) a três fenômenos diferentes: sons imitativos, que são sons do mundo real
imitados por indivíduos, onomatopéias propriamente ditas, transcrição verbal de sons, muitas
vezes com desenhos diferenciados, e palavras onomatopaicas, que são as que se originaram,
historicamente, em onomatopéias. Bons exemplos seriam “miar”, “uivar” “zumbir”. Todos
esses elementos podem ser usados pelo artista para compor o quadro, integrando-os à
totalidade do desenho (2000, p. 32-35).
Romualdo indica ainda que o elemento verbal pode aparecer nos quadrinhos como
legenda – que, segundo CAGNIN (1975) pode ser caracterizada de acordo com sua forma,
posição ou conteúdo – e como figuras componentes do quadro, propagandas, cartazes,
indicações, etc. Mas, nesses casos, “desempenha apenas a função de informar ou caracterizar
um elemento da situação, sem as especificidades dos demais usos já mostrados”, razão pela
qual não se detém nessa forma de uso do verbal.
VEDOVATTO (2000, p. 20), em sua análise do verbal na charge, identifica mais
elementos. Segundo a autora, os elementos constitutivos verbais podem ser a identificação do
chargista, o título que identifica a temática da composição, a fala entre personagens, marcada
no discurso direto da seqüência narrativa, denominações verbais, usadas na identificação de
objetos, onomatopéias, assinatura, por vezes reiterada à identificação do chargista, e-mail do
chargista e outros recursos lingüísticos.
A autora também usa CAGNIN (1975) para classificar as falas dos personagens,
acrescentando a eles o balão-vibrado (uma vibração ou voz tremida; representada por balões
sobrepostos), o balão-glacial (denota frieza; balão com estalactites estilizadas pendendo da
35 forma), o balão-uníssono, que é um balão do qual saem várias setas, denotando a fala de
vários personagens juntos e os balões duplos e intercalados, que podem indicar pausas no
diálogo, e mesmo conversas intercaladas.
Vedovatto é mais detalhista também nos elementos constituintes do não-verbal na
charge. Adotando um ponto de vista definido a partir de leituras de Gasca&Rubem e Aucione
Torres Agostinho, divide os componentes do não-verbal de uma charge em: linha, técnicas de
ilustração, espaço, perspectiva central, planos, ponto de enfoque, escorço, fundo, iluminação
e movimento. (VEDOVATTO, 2000, p. 28).
A linha tem a função de definir formas como elementos de representação, e pode ser
classificada quanto à espessura (fina, média, grossa), quanto à direção no espaço (vertical,
horizontal e inclinada) e quanto ao tipo (reta, curva, quebrada, vibrante e mista).
Técnicas de ilustração são os meios usados pelo chargista para elaborar a charge.
Podem ser técnicas linear (é simples e objetiva, usando linhas e buscando a
tridimensionalidade e relevo, elaborando detalhes com traços leves), pontilhada (pontos para
delimitar áreas mais e menos escuras e formar figuras mais complexas, é pouco empregada na
charge da atualidade), com retícula (que incorpora texturas decalcadas sobre o desenho) e
hachurada (consiste no uso de hachuras para delimitar e acenturar as diferenças entre áreas
clara e escura). Também há outras técnicas, como a aguada e o contraste.
O espaço mais comumente encontrado na charge é o fechado, emoldurado pelo painel.
Na charge, porém, o limite para o espaço é a imaginação do chargista, que pode ousar e
adaptá-lo às suas necessidades.
A perspectiva central é a técnica pela qual um desenho pode adquirir a ilusão de
profundidade.
Planos referem-se à distância do observador ao horizonte, dada pelo enquadramento e
pela representação dos objetos na charge. Um objeto mais distante aparece menor ao
observador, por exemplo. Os planos variam entre primeiríssimo plano (ou close-up) e plano
geral à longa distância, ou panorâmico.
Ponto de enfoque, como o plano, é relacionado ao observador da cena, mas enquanto o
plano diz a distância do observador, o ponto de enfoque seria referente à posição do
36 observador em relação à cena.
Escorço é um desenho que representa um objeto tridimensional deformado de acordo
com a perspectiva. A mão de um personagem apontando diretamente para o leitor, por
exemplo, pareceria maior que o natural, em relação ao corpo.
Fundo é a parte de trás da imagem, e pode ser usado de acordo com a intenção do
chargista (ou suas limitações). Fundos alegóricos trazem apenas detalhes, enquanto fundos
trabalhados são mais sofisticados.
A iluminação é a orientação da “luz” em uma charge, que pode ser notada pelo jogo
de claro-escuro e é comumente usada para denotar sensações.
Movimento incluiria as representações gráficas do movimento, que pode ser sugerido
de várias formas, com pequenos traços paralelos às linhas de uma figura que se move ou com
pequenos traços que saem dessa figura, respeitando a trajetória do objeto em movimento e
apagando-se gradualmente no espaço, por gradiente de tamanho – figuras que parecem se
distanciar pela diferenciação no tamanho dos elementos, mudanças nas massas de um corpo
em relação à linha de força (um retângulo em movimento, por exempo, poderia ser mostrado
como um paralelograma, de lados inclinados) e pela sucessão de figuras ou planos se
afastando na profundidade do espaço.
Esses elementos, segundo a autora, em unicidade, buscam reproduzir
iconograficamente um fato ou acontecimento de acordo com o ponto de vista do chargista,
representando "com ludicidade" o real.
Ambas as visões têm sua origem na classificação proposta por CAGNIN (1975) dos
elementos gráficos. VEDOVATTO (2000), no entanto, é mais completa em relação tanto aos
elementos visuais (por adotar visão semelhante a Cagnin, não descartando elementos que
Romualdo considerou redundantes em sua análise) quanto aos elementos verbais passíveis de
aparecer em uma charge, isolada ou concomitantemente. Embora a leitura de uma charge não
obrigue, necessariamente, a estabelecer a existência (ou inexistência) e forma de atuação de
cada um dos elementos identificados, é importante o conhecimento desses elementos da
linguagem iconográfica, para que sejam passíveis de identificação quando sua presença ou
forma for importante para a leitura mais precisa do texto da charge. No entanto, os elementos
supracitados não são os únicos elementos importantes, assim como nem todos os autores
37 vêem da mesma forma a leitura desse tipo de texto.
Bebendo de fonte diferente (mas de gosto comum), a professora Onici Flôres, em seu
livro A leitura da charge, enfatiza a leitura do texto chárgico em suas instâncias enunciativas
e na produção de sentidos em sua investigação, salientando que na charge a escrita e a
ilustração se mesclam de tal modo que tornam impossível a leitura que não considere ambos
os códigos complementarmente, formando com o contexto dado um interdiscurso, que orienta
o leitor rumo a um sentido.
Flôres observa uma hierarquia em relação ao texto apresentado ao leitor pelo narrador,
em que a fala direta do narrador (icônica) seria complementada pela fala dos personagens
(verbal, que ilustra o comportamento explicitado nas personagens criadas pelo narrador da
charge). Também observa que a fala direta verbal do narrador (quando essa ocorre) é em geral
separada da fala dos personagens.
O narrador seria o responsável pelo “jogo”: as relações narrador/leitor/personagens,
que podem apresentar maior ou menor verossimilhança, o que dependeria dos enunciados
atribuídos a elas pelo narrador. O autor da charge se manifesta apenas através de sua rubrica e
do espaço, e lhe cabe pôr em cena o narrador, determinando a maneira pela qual este fará uso
dos recursos do texto chárgico.
Enquanto a função narrativa é exercida priorizando a iconicidade, as intervenções
feitas pelo narrador comumente têm o propósito de esclarecer o contexto de produção textual,
buscando fornecer ao leitor informações necessárias à leitura do texto em questão. Em geral, o
discurso crítico, comentário, opinião, pode ser emitido verbalmente (através de balões de fala)
pelas personagens, em uma transferência da função narrativa para o que seriam objetos da
narrativa. Tais enunciados (proferidos pelos personagens da charge) são vinculados ao
narrador. A iconicidade dos textos carrega seus códigos específicos, podendo ser lida e
interpretada através de códigos de percepção e reconhecimento. O uso da iconicidade dá
fluidez à narrativa da charge, que, de resto, utiliza também o verbal, principalmente em uma
função de contextualização. Para Flôres, o contexto é muito importante na leitura do texto
chárgico, e os autores tentam, usando os recursos próprios do tipo textual, situar o leitor a
respeito do tema tratado. (FLÔRES, 2000, p. 14-35).
38
Temos, portanto um tipo textual em que o icônico e o verbal se complementam, e cuja
leitura em separado seria “difícil, se não impossível” (Flôres, 2000, p. 14), que brinca com
metáforas e significados, transgredindo para causar seu efeito, buscando criar novas
associações e, através destas, novos conceitos do objeto tratado (p. 21-22). Mais: um texto
que tem forte relação com o objeto tratado e que busca dar o leitor suficientes elementos para
o estabelecimento dessa relação. A aproximação diferenciada do texto chárgico realizada pela
autora é valiosa, pois acresce elementos para a compreensão desse tipo de texto. A
hierarquização do texto verbal, por exemplo, é um dado valioso para uma leitura correta do
tipo textual, assim como o é a capacidade de identificar as diversas relações estabelecidas
entre narrador/leitor/personagens quando essas forem importantes para a leitura.
Mais que isso, Flôres pensa a imagem na charge em termos de signos e em suas
relações de iconicidade e indexicalidade. A linguagem iconográfica própria do tipo textual
estudado poderia, então, supostamente, ser lida sem que fosse necessário decompô-la em
partes menores. Coisa que, segundo a autora, talvez até atrapalhasse a leitura. Afinal, a charge
tem sua linguagem própria, e, como é ressaltado,
[...] Por se referir ao mundo, a linguagem tem um compromisso com a realidade ou com a verossimilhança, além de ter a ver com as condições de aceitabilidade da referência aos seus próprios signos e ao ato de enunciação. (FLÔRES, 2000, p. 26).
Já o autor Jorge Arbach pensa haver um raciocínio gráfico, especifico para elaboração
de imagens, da mesma maneira que um raciocínio mental que capacita o pensante a elaborar
idéias. Também se aventura em supor um raciocínio matemático, ou musical. Diferentes
raciocínios para diferentes materializações expressivas, onde o entendimento de imagens
dependeria apenas do meio visual, sendo subjetivo e demandando a presença do receptor.
Segundo o autor, “comparar é o impulso primordial que é acionado para interpretar qualquer
imagem. Portanto, ver remete a comparações predominantemente analógicas” (ARBACH,
2007, p. 232).
A palavra, sendo simbólica e não analógica, é interpretada de acordo com a
imaginação, é permeável à imaginação. Já a imagem só será interpretada dessa maneira se for
uma metáfora visual, caso em que a expectativa da analogia a que remete o desenho viria à
tona. Metáforas visuais fariam com que a leitura da imagem fosse lida inconscientemente, não
através do raciocínio lógico, agindo no sujeito mais diretamente que a palavra, por esta
necessitar o filtro de um código conhecido de antemão.
39
Arbach sustenta que a escrita, em seu processo de formação, deixou para trás a linha
figurativa, por ser essa insuficiente como modo de representação de idéias. No começo a
escrita humana era pictográfica, depois, com a invenção do alfabeto, escrita e imagens se
separaram. Ambas (escrita e imagem) caminham juntas por vários séculos, muitas vezes
representadas com os mesmos recursos técnicos. Depois foram separadas, e assim
permaneceram por quatro séculos: a palavra para explicitar idéias e o desenho o pensamento.
Com o avanço da tipografia, livros, folhetos e jornais ficaram mais fáceis de difundir. As
idéias passaram a ser transmitidas pela palavra impressa sem que, porém, a imagem as
acompanhasse regularmente.
No entanto, para o autor, “a reaproximação das linguagens, verbal e não-verbal, está
ocorrendo em nossos dias com o advento do processo de gravação de matrizes através da luz
(fotogravura) e mais aceleradamente ainda com as novas tecnologias digitais.” (p.236). Os
recursos eletrônicos fazem com que os processos de produção e os processos do pensamento
se aproximem, derrubando as barreiras que impediam a reaproximação do discurso, seja ele
verbal ou não-verbal. E isso, segundo Arbach, “viabilizou a junção das 3 linguagens
(texto/foto/ilustração)” (p.236).
Arbach chega a criar um gráfico mostrando a evolução das linguagens verbal e não-
verbal, reproduzido a seguir:
Fig. 1 - evolução das linguagens verbal e não-verbal. Fonte: ARBACH, 2007, p. 236.
40
Scott McCloud e Will Eisner, ambos criadores de quadrinhos, sendo curiosos e
realizando leituras próprias, acabaram por desenvolver também suas próprias visões
especializadas da leitura de produções iconográficas como a charge. Embora sua produção
seja inventiva e ricamente ilustrada (os livros de McCloud sobre quadrinhos, por exemplo,
são desenhados como quadrinhos), são confessamente dirigidos a suas próprias formas de
expressão, que Eisner denomina Arte Seqüencial (e que McCloud define como “imagens
pictóricas e outras justapostas em seqüência deliberada destinadas a transmitir informações
e/ou a produzir uma resposta no espectador”14). Essa seqüência, como visto anteriormente
neste trabalho, não é regra no que se trata da charge. Seria, antes, a exceção à regra. Mas,
embora a seqüência seja de suma importância para os quadrinhos – e, portanto, extensamente
tratada nas obras em questão –, também há conceitos interessantes em relação à leitura e
linguagem de textos iconográficos.
McCloud concorda com Eisner em propor uma origem comum à escrita e ao desenho.
Em uma visão muito semelhante à de Arbach, para ambos os autores a separação entre as
linguagens verbal e visual se deu devido à necessidade de expressar idéias mais abstratas. Em
seu Quadrinhos e arte seqüencial15, Eisner liga ambas as linguagens sustentando que, uma
vez que palavras são feitas de letras e letras são “símbolos elaborados a partir de imagens que
têm origens em formas comuns, objetos, posturas e outros fenômenos reconhecíveis”
(EISNER, 1999, p. 14), o artista seqüencial poderia optar por tratar as letras como imagens ao
desenvolver sua arte. E essa visão permeia a obra. Um exemplo da semelhança entre escrita
pictórica e sua relação (possível) com quadrinhos:
Fig. 2 – Semelhança entre escrita pictórica e sua relação (possível) com quadrinhos.
14 MCCLOUD, Scott. Desvendando os Quadrinhos. São Paulo: Makron Books, 1995, p. 09. 15 EISNER, Will. Quadrinhos e Arte Seqüencial. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
41
Fonte: EISNER, 1999, p.15.
Eisner sustenta que a linguagem híbrida do quadrinho (e, por analogia, da charge)
força o leitor a uma interpretação tanto visual quanto verbal, em que as regras comumente
aplicadas à literatura (como a gramática, ou a sintaxe) e à arte (como a perspectiva e a
composição) se superpõe, tornando a leitura ao mesmo tempo “um ato de percepção estética e
de esforço intelectual” (EISNER, 1999, p. 08).
Para o autor, o fato de os quadrinhos empregarem imagens repetitivas e símbolos
reconhecíveis, de forma a expressarem idéias similares, faz com que se tornem uma
linguagem. E sua aplicação disciplinada e recorrente constituiria uma “gramática” da arte
seqüencial. De acordo com Eisner, “os processos psicológicos envolvidos na compreensão de
uma palavra e de uma imagem são análogos. As estruturas da ilustração de da prosa são
similares” (EISNER, 1999, p. 08).
Fig. 3 – Representação da gramática da arte seqüencial.
Fonte: EISNER, 2005, p. 19.
É através da experiência, portanto, que o leitor vai reconhecer o que é representado
pela imagem. Tanto experiência de vida quando experiência com leituras anteriores do mesmo
tipo de texto, através do uso convencionado de recursos que Eisner relaciona a uma
“gramática” que orienta a leitura dos quadrinhos.
42
Fig. 4. – Exemplos de Estereótipos. Fonte: EISNER, 2005, p. 22).
Essa gramática referida pelo autor vem da necessidade de representar graficamente
elementos como tempo, emoção, som, etc. e conta com recursos como os balões de fala,
efeitos de perspectiva, de luminosidade e estereotipagem para atingir seus objetivos. Os
balões de fala, por exemplo, evoluíram de forma a acrescer significados à fala, e acrescer a
qualidade do som à narrativa:
Fig. 5 – Representação gráfica dos balões. Fonte: EISNER, 1999, p. 27.
O tempo seria dado pela leitura dos quadros e por elementos dentro dos quadros, como
a duração de uma fala, ou uma ação representada no quadro. Ao mesmo tempo, há recursos
para representar sons, como as onomatopéias.
43
Fig. 6 – Representação gráfica dos balões. Fonte: EISNER, 1999, p. 28.
O autor, em seus livros (tanto Quadrinhos e arte seqüencial quanto Narrativas
gráficas) nota que deve haver um entendimento prévio entre o leitor e o narrador, quanto ao
código utilizado nos quadrinhos, e não busca tanto uma classificação dos elementos da
linguagem, se detendo mais na forma em que pode ser usado em diversas situações. Uma vez
que se assumiu que a linguagem iconográfica utilizada nos quadrinhos é um fenômeno
conhecido do leitor, cumpre comentar seu uso, não sendo mais necessário buscar uma
definição e a identificação de seus componentes básicos. Eisner busca mostrar ao leitor as
regras gerais do “jogo” da leitura dos quadrinhos, e não uma visão detalhada. De certa
maneira, essa visão das imagens assemelha-se à apresentada por Flôres.
Scott McCloud delineia visão semelhante em seu Desvendando os quadrinhos16.
Partindo da definição de quadrinhos previamente apresentada17, começa a analisar suas
características, sob um ponto de vista bastante semelhante a Eisner e Arbach (mas também
sem pressupor a existência de um raciocínio gráfico específico para a imagem, e sim
creditando a leitura da imagem ao leitor, que tira de seus sentidos e experiência um
significado para o texto icônico). McCloud também considera que textos verbais e visuais
começaram unidos e separaram-se com o tempo. E agora, em sua opinião, tornam a flertar
com uma reaproximação (p. 58).
16 MCCLOUD, Scott. Desvendando os Quadrinhos. São Paulo: Makron Books, 1995. 17 “Imagem pictórica justaposta e outras em sequência deliberada” (MCCLOUD, 1995, p. 09)
44
Fig. 7 – Os quadrinhos começam a separar-se. Fonte: McCloud, 1995, p. 131.
McCloud separa os ícones em pictóricos e não-pictóricos. Ícones pictóricos difeririam
da realidade em graus variados, enquanto as palavras seriam ícones totalmente abstratos. A
relação das figuras com a realidade seria variável de acordo com seu grau de correspondência
ou simplificação. Para McCloud, o ato de reduzir uma figura às suas linhas básicas (uma
figura de cartum, segundo o autor) é um processo de ampliação, pois o ato de simplificar uma
figura permite ao leitor completar os detalhes que faltam, envolvendo-se mais com o texto
representado (p. 27-37).
Fig. 8 - Sobre os ícones em pictóricos e não-pictóricos.
45
Fonte: MCCLOUD, 1995, p. 30.
Assim como Eisner, McCloud traz à tona a experiência do leitor, que completa as
lacunas do texto com sua imaginação. Dessa maneira, uma representação de som se torna um
som na mente do leitor, dois quadros estáticos se tornam uma seqüência que acontece em
determinado espaço de tempo e linhas saindo da figura passam a significar movimento.
O tempo pode ser representado de várias formas; através da transição entre duas
molduras (a diferença entre as imagens pode conter pistas que levem o leitor a inferir o tempo
decorrido, como um relógio marcando horas diferentes), o tempo imaginado para a fala dos
personagens ou a ação demonstrada, uma legenda indicando o tempo decorrido e até meios
mais sutis, como o comprimento dos quadros estáticos (p. 94-107).
Fig. 9 – Representação dos tempos. Fonte: McCloud, 1995, p. 96.
Como no mundo real, o tempo e o movimento estão associados. Da mesma forma que
um único quadro pode representar um intervalo de tempo transcorrido através de uma fala,
também o pode fazer através do movimento. Os recursos usados para representar movimento
nos quadrinhos são, segundo o autor, linhas de movimento, imagens múltiplas e formas
sugeridas através da incorporação de efeitos fotográficos (p.110-115).
46
Fig. 10 – Representação dos tempos Fonte: McCloud, 1995, p. 110.
McCloud propõe que cada linha de uma imagem traz consigo um potencial expressivo
(p. 124), e que as figuras podem representar mesmo elementos invisíveis, como emoções,
através de suas linhas, modo de representação e metáforas visuais. Essas metáforas visuais,
caindo no conhecimento de todos, se tornariam símbolos capazes de serem lidos em diversos
contextos, constituindo uma linguagem própria dos quadrinhos (p. 124-131).
Fig. 11 – A linha e seus simbolos Fonte: McCloud, 1995, p. 125.
Por sua vez, os sons podem ser representados de diversas formas, como balões de fala
(com falas ou símbolos), até variações de letra, dentro e fora de balões.
47
Fig. 12 – Formas de representações dentro e fora dos balões
Fonte: McCloud, 995, p. 134.
O objetivo do quadrinho, segundo McCloud, é representar a realidade de uma forma
puramente visual, usando os elementos de que dispõe para isso (verbal e não-verbal) da
melhor forma possível. O autor não dá receitas, e, como Eisner, não se estende muito em um
único aspecto, preferindo ver as diferentes facetas do quadrinho (e, por analogia, da charge)
como parte de um todo, em que as diversas técnicas de representação coexistem no texto.
Embora não analise detidamente um único aspecto do texto iconográfico, traz pontos de vista
valiosos para esta investigação, como a leitura envolvente do cartum, por exemplo.
Como se nota, diferentes leituras sobre o mesmo objeto trouxeram várias facetas
diferentes, sem, no entanto, discordarem entre si. Uma unanimidade em que apenas o ângulo
do olhar investigativo muda, mas que acabam lendo o texto da mesma maneira: um texto em
que o visual e o verbal coexistem, complementando-se e criando uma nova forma de texto,
que busca representar graficamente a complexidade do mundo real. Essa forma textual tem
sua linguagem própria, e seus recursos constituem um certo vocabulário que necessita da
experiência do leitor para ser lido corretamente.
No caso específico da charge, essa busca pela representação do real tem ainda uma
faceta que já foi tratada (de raspão) por McCloud, mas em que se evitou tocar até agora, por
merecer um tratamento em separado. Trata-se da caricatura.
A caricatura é um dos pontos onipresentes – sempre que um autor se põe a analisar o
48 texto chárgico, tem de tratar da caricatura. E não é pra menos. De certa forma, pode-se dizer
que a charge é um texto em que uma caricatura é colocada em um determinado contexto para
trabalhar como sátira. É através da caricatura que o chargista vai representar as personagens
envolvidas no comentário do assunto tratado. Isso ou tratar caricaturalmente um fato ou
evento.
Fig. 13 – Caricatura Fonte: McCloud, 1995, p. 126.
Caricaturar é representar o objeto através do exagero e da simplificação. De acordo
com Eisner (p. 148), a caricatura é uma espécie de impressionismo que nega os detalhes,
aproximando o objeto representado da visão do leitor sobre esse mesmo objeto. McCloud tem
visão parecida, a respeito do que chama de “cartum”.
De acordo com Melo (1994), a caricatura é um “Retrato humano ou de objetos que
exagera ou simplifica traços, acentuando detalhes ou ressaltando defeitos. Sua finalidade é
suscitar risos, ironia. Trata-se de um retrato isolado.” (p. 167).
Joaquim da Fonseca, em seu livro Caricatura: a imagem gráfica do humor, define a
caricatura como uma:
Representação plástica ou gráfica de uma pessoa, tipo, ação ou idéia interpretada voluntariamente de forma distorcida sob seu aspecto ridículo ou grotesco. É um desenho que, pelo traço, pela seleção criteriosa de detalhes, acentua ou revela certos aspectos ridículos de uma pessoa ou de um fato. (FONSECA, 1999, p. 17).
Nessa definição podemos encontrar um traço da estreita relação da caricatura com o
humor, que, em uma perspectiva freudiana (e koestleriana), reduz, expõe o ridículo de seu
49 objeto para torná-lo manejável.
O fato de a caricatura usar a simplificação aliada a um personagem conhecido pode
significar que o objeto tratado seja assimilado mais prontamente e com mais empatia pelo
leitor. Segundo McCloud, esse é um efeito comum do cartum:
Fig 14 – Efeitos do cartum Fonte: McCloud, 1995, p. 41.
Portanto, de acordo com o autor, o fato de o leitor preencher com sua imaginação os
detalhes de acordo com sua experiência levaria a uma leitura mais profunda e simpática por
parte do leitor.
Melo (1994) comenta um efeito semelhante da caricatura no mundo político: “Se, por
um lado, a caricatura tem essa peculiaridade de estigmatizar certos personagens da vida
pública, por outro lado, contribui também para humanizá-los, popularizá-los” (p.166). O autor
exemplifica com a popularidade de Pedro II, fartamente caricaturado, acenando com a
possibilidade de que Lula e Maluf seriam evidências mais próximas do presente.
A caricatura, assim como a charge em geral, e o humor antes desta, pode ser lida em
várias camadas de significados. Como uma cebola. Com a vantagem de ter gosto agradável.
50 1.2.3 A Opinião na Charge
Muito embora a opinião seja uma ferramenta dos estímulos humorísticos já por
definição, uma vez que o humor é, como visto, criado como uma defesa contra um sistema
lógico, político ou ideológico propiciador de tensão, este capítulo objetiva tratar das
características opinativas da charge em si. A própria origem da palavra charge é um ataque,
uma “carga” contra um determinado objeto. Então, por um lado, é um assunto importante, que
não pode deixar de ser tratado, já que muitos o vêem como uma das principais características
do texto chárgico. Por outro lado, a mera investigação bibliográfica de autores que tratam do
assunto da charge mostra ser um esforço semelhante ao da expressão de forte calor nacional
“enfeitar o pavão”: a opinião está fortemente marcada como característica to texto, e se
alongar a esse respeito, mesmo que buscando um necessário embasamento, é submeter-se ao
risco de tocar um “samba de uma nota só”. Portanto, como Tom Jobim, que, introduzindo seu
samba ao ouvinte, avisa “Eis aqui este sambinha feito numa nota só./ Outras notas vão
entrar, mas a base é uma só.”, cumpre avisar que esta parte do estudo tem uma estrutura
semelhante: embora haja diversos autores tratando da natureza opinativa do texto chárgico, a
base é a mesma.
Para Andréia de Araújo Nogueira, a charge se desprende da função de apenas ilustrar
o cotidiano: funciona como uma síntese dos acontecimentos, filtrados pelo olhar de seus
produtores. Com a utilização de recursos visuais e lingüisticos, a charge transforma a intenção
artística, nem sempre objetivando o riso – embora o tenha como atrativo – em uma prática
política, como uma forma de resistência aos acontecimentos18. A observação da autora, de que
a charge nem sempre objetiva o riso, embora possa tê-lo como atrativo, parece derivar do fato
de que nem todo humor propicia o riso. Não obstante, todo estímulo humorístico o tem como
objetivo.
Rozinaldo Antonio Miani, em seu texto Charge, uma prática discursiva e ideológica
(2001), cujo título em si já é bastante sugestivo, trata da charge como um instrumento de
persuasão, que intervém no processo de formação de definições políticas e ideológicas do que
chama “receptor”. Para tanto, usaria da sedução do humor, “criando um sentimento de adesão
que pode culminar com um processo de mobilização” (MIANI, 2001).
18 NOGUEIRA, Andréa de Araújo. A charge. Função Social e Paradigma Cultural. INTERCOM – XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003.
51
Para Miani, a charge é um texto dissertativo, com a finalidade de expor uma idéia.
Ainda que o texto chárgico esteja ligado a um fato ou acontecimento e seja uma forma de
representação desse tema, a preocupação do chargista não é tanto o acontecimento em si, mas
mormente o conceito que o chargista tem desse acontecimento, normalmente traduzido como
uma crítica ou denúncia do fato, buscando às vezes inclusive a aliciação do leitor para seu
ponto de vista19. Para tanto, se apóia em Cagnin: caberia à charge:
[...] expor uma idéia, dissertar sobre um tema. Ainda que esteja ligada a um fato ou acontecimento e o represente de alguma forma, sua preocupação ou a do chargista, não é o acontecimento, mas o conceito que faz dele, ou mais comumente a crítica, a denúncia do fato, quando não procura aliciar o leitor para os seus arrazoados, princípios, programas ou ideologia. (CAGNIN, s/d, apud ROMUALDO, 2000).
O autor José Marques de Melo entende a charge como uma ramificação da caricatura,
contendo a crítica humorística de um fato ou acontecimento específico. Para Melo, a charge é
a reprodução de uma notícia de acordo com a visão do desenhista, e salienta que a linguagem
tanto pode ser icônica como iconográfica. (MELO, p. 167) Antes, ele comenta que “a
imagem, na imprensa, motiva de tal modo o leitor e produz uma percepção tão rápida na
opinião que se torna instrumento eficaz de persuasão” (Idem, p. 166). Temos, então a
caricatura – e, por conseguinte, a charge – entendida como um dos ramos do jornalismo
opinativo, e, mais que isso, um instrumento eficaz de persuasão por ser de rápida apreensão.
Ao realizar sua classificação da caricatura entre caricatura propriamente dita, charge,
cartoon e comic, Melo salienta que as últimas duas formas não fazem parte do universo
jornalístico, embora possam ser parte do jornal – o que aconteceria por não terem relação
direta com a realidade. Já a caricatura – para o autor, um “retrato isolado” (p. 166) – e a
charge têm a intenção de representar o real, seja através da imagem dos personagens da cena
noticiosa ou através da opinião sobre determinado acontecimento (charge).
Melo acrescenta ainda que:
Os caricaturistas atuam como se fossem a consciência crítica da sociedade, revelando uma tendência que Jacques Lethève chama de “oposicionista”. As imagens que desenham fazem o resgate cotidiano daquele “espírito do contra” que não é senão o conjunto das contradições inerentes às sociedades contemporâneas,
19 MIANI, Rozinaldo Antonio. Charge: Uma Prática Discursiva e Ideológica. INTERCOM – Sociedade Brasileiro de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, XXIV Congresso Brasileiro da Comunicação, Campo Grande, MS, setembro de 2001.
52
cujas opiniões políticas sufocam os cidadãos. A caricatura capta esse sufoco e o exprime cotidianamente. (MELO, 1994, p. 168).
Embora as definições do autor sejam centradas nas qualidades opinativas e
jornalísticas da produção iconográfica para jornais, Melo vê na charge e na caricatura uma
característica forte de opinião, chegando a considerá-las como instrumento de persuasão.
Para Ghilardi, “Além de transmitir informações de forma rápida e suscinta, com
criatividade e uma imprescindível dose de humor, a charge revela uma leitura crítica do
mundo atual e se adequa aos leitores de hoje que, cada vez mais, passam a ler a imagem
associada à palavra.” (GHILARDI, 1995/1996, p. 87). Acrescenta também que a charge é um
discurso humorístico, valorizando a ilustração, a caricatura e questionando ideologias, poder,
sentimentos, personalidades.
Edson Carlos Romualdo pondera que as características de polifonia, ambivalência e
humor da charge fazem com que ela “afirme e negue, eleve e rebaixe ao mesmo tempo”,
tomando assim uma posição que obriga o leitor a refletir sobre o tema da charge, comumente
fatos e/ou personagens do mundo político. O autor conclui que, além de um instrumento de
reflexão, “a charge se mostra como um poderoso instrumento de crítica, devendo ter um lugar
privilegiado nas instituições jornalísticas que defendem o discurso pluralista”.
(ROMUALDO, Edson Carlos, 2000, p. 197).
O estudo do autor se baseia na visão da charge sob a ótica da carnavalização da
BAKHTIN (1981), e entende a charge como sendo uma alegoria, um ritual semelhante à
“coroação bufa” de BAKHTIN, onde um rei do carnaval (um escravo ou um bobo) é erguido
ao trono, e, depois, destronado. Segundo ROMUALDO, “pela paródia das ações políticas,
pela caricatura, pelo ridículo e pelo próprio riso, o texto chárgico destrona os poderosos e
apresenta outras perspectivas para leitura de suas ações.” (2000, p. 53).
Inez Vedovatto entende a questão opinativa como uma característica do humor em si,
não da charge em particular. Salientando que o humor é quase “uma defesa de tese”, por
reduzir seu objeto através da exposição e exagero de suas características e contradições, a
autora encara o humorístico como um desvelador da verdade, servindo à opinião do
humorista. E destaca que o envolvimento com o tema é fator determinante para o efeito, pois
“estar envolvido” com o tema tratado pode influenciar no efeito do humor sobre o leitor (p.
140).
53
Koestler explicaria essa característica como um fator necessário para a própria
denominação da peça como “humor”. Ao classificar o riso como a expiação de uma tensão
que se tornou redundante ou desnecessária, é necessário que o leitor perceba o “passe” da
peça humorística, que faz com que a tensão criada seja, efetivamente, desnecessária. Uma
pessoa envolvida profundamente com um tema pode interpretá-lo como um ataque a suas
crenças, o que faz com que ela prepare um sistema de defesa, o que vem a validar a tensão
sentida. Portanto, não há riso.
Para Vedovatto, isso se dá porque o compromisso do humor é mais com a verdade que
com o riso, sendo o humor “uma forma criativa de se analisar criticamente a realidade, de
descobrir e de revelar o homem e a vida” (p. 141). E o impacto da verdade revelada pela obra
humorística pode ser maior que o efeito causado pelo caminho para expô-la. E o efeito (riso)
vai depender do comprometimento do leitor20 com a opinião explícita no texto da charge.
Waldomiro Vergueiro e Gêisa Fernandes D’Oliveira, no artigo “Se Maomé não vai à
montanha... charge e crítica social no limiar do século XXI”21, concluem que a charge não
serve apenas como ilustração de determinada situação, mas também pode “servir a diferentes
práticas sociais, gerando resultados diversos e inesperados”, uma vez que o humor gráfico
“desempenhou importante papel de crítica e conscientização social”. Segundo os autores, que
mencionam como exemplo introdutório a Inglaterra do século XVIII, as críticas à realeza,
políticos e condições sociais realizaram uma “verdadeira radiografia da sociedade em que
viviam e colocando a nu suas imperfeições”. Vê-se portanto, uma forte carga de opinião.
Da mesma forma, Gilberto Maringoni, autor do artigo Humor da Charge Política no
Jornal22, sustém que, embora o próprio ato de escrever uma notícia esteja necessariamente
associado a escolhas, que são influenciadas pela opinião do redator, na charge essa opinião é
mais presente, mais contundente, justamente por sua característica opinativa, que delimita a
possibilidade do uso de maneirismos estilísticos. Não se dá versões opostas do fato em uma
charge. Segundo Maringoni, “a charge é contra ou a favor. É porrada ou não.”
20 VEDOVATTO, Inez Olinda Baraldi. A Charge na Mídia Impressa: articulação e efeitos de sentido. São Leopoldo: 2000. 21 PUC-Rio, Revista Alceu, v.7 n.14 jan./jun. 2007, p. 86 a 95. 22 São Paulo: Comunicação & Educação, (7): 85 a 91, set./dez. 1996.
54
Nogueira23, ao analisar o texto chárgico, destaca que este não se restringe apenas à
função de ilustração do cotidiano, mas trata-se de uma prática política, em que o autor
sintetiza acontecimentos e neles imprime sua visão, sua opinião, “nem sempre objetivano o
riso – embora o tenha como atrativo” (NOGUEIRA, 2003, p. 03). Segundo ela, o texto
chárgico passa a se desprender de seus fins meramente artísticos e a constituir uma prática
política.
Cavalcanti, em sua tese24, acaba por concluir que a “charge, à primeira vista, um texto
engraçado e inocente que às vezes até lembra uma HQ com seus balões e desenhos, é o
próprio lobo em pele de carneiro” (2008, p. 106). Segundo ela, o texto chárgico é um gênero
que critica com precisão, usando do jocoso e da ironia em sua linguagem. A charge une o
humor e a opinião em sua linguagem, que é usada para criticar personagens ou eventos
políticos, esportivos ou sociais. Por ser um texto que condensa muita informação, exige muita
informação do leitor para cumprir seu objetivo, que seria “estabelecer uma opinião crítica e
assim persuadir, influenciar ideologicamente o imaginário do interlocutor.” (p.106).
Como se nota, os autores são unânimes em considerar a charge como um texto
opinativo, pensem eles na charge como em um discurso humorístico, uma subdivisão da
caricatura ou uma defesa de tese. Afirma-se mais na opinião que um editorial comum
(segundo Maringoni) por não admitir em sua estrutura textual grande espaço para mais de
uma visão do assunto tratado, e comunica rápida e eficazmente seu conteúdo. Pode-se pensar
a sua reputada efetividade na transmissão de informações e mesmo seu poder de persuasão
(de acordo com Melo) como características de seu formato, uma vez que a linguagem
iconográfica é de leitura rápida e o texto em si, por natureza, suscinto e explícito. De acordo
com Melo:
Enquanto gênero jornalístico, a caricatura cumpre uma função social mais profunda que a emissão rotineira da opinião nos veículos de comunicação coletiva. É que a imagem, na imprensa, motiva de tal modo o leitor e produz uma percepção tão rápida da opinião que se torna instrumento eficaz de persuasão. Por isso a caricatura incomoda mais os donos do poder que o editorial e o artigo. (MELO, 1994, p. 166).
23 NOGUEIRA, Andréa de Araújo. A charge: função social e paradigma cultural. In: INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003. 24 CAVALCANTI, Maria Clara Catanho. Multimodalidade e Argumentação na Charge. Diss. Mestr. Universidade Federal de Pernambuco. CAC. Letras, Recife, 2008.
55
Enquanto Melo chega mesmo a vincular a charge a um editorial em seu livro Gêneros
jornalísticos, Eliseu Delamari25 sugere em seu trabalho de conclusão que a charge pode servir
não apenas para a leitura da opinião do chargista, mas também para que se possa conhecer a
opinião do jornal em que é veiculada (p. 23).
Talvez a importância do texto chárgico enquanto opinião seja não apenas pela rapidez
de sua leitura, característica útil nos tempos modernos, mas também seja dado pelas
qualidades humorísticas, que são fonte de prazer para o leitor. Mas inferir isso como uma
realidade seria entrar no vasto e pantanoso terreno da especulação, enquanto um trabalho
prudente deveria buscar restringir-se ao sólido terreno já trilhado por outros teóricos, até
descobrir por tentativa uma touceira familiar em que assentar-se.
No entanto, como observado anteriormente, é difícil tratar de tema tão fascinante e
cheio de facetas sem a tentação de assimilar algumas de suas características. Em um capítulo
em que houve pouco mais que oitavas diferentes da mesma nota, emitidas por diversos
autores com visões semelhantes a respeito do objeto de investigação (a opinião na charge),
nada mais apropriado que dar-lhe um fechamento coerente com seu início, que foi um aviso e
um trecho de samba, ponderando que o que se viu foi o anunciado; embora se possa
diversificar a bibliografia sobre o assunto, expondo diversas facetas do objeto, sua visão geral
acaba a mesma. Um caminho sensato seria, então, seguir o conselho de Jobim: “E quem quer
todas as notas: ré, mi, fá, sol, lá, si, dó./Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só”.
(Trecho final do Samba de uma nota só, de Tom Jobim.).
25 DELAMARI, Eliseu. O supremo Tribunal da Mídia Impressa – Um Estudo sobre as charges de Chico Caruso, Angeli e Marco Aurélio. São Leopoldo, 2006.
56 1.2.4 O Contexto na Leitura da Charge
Em última análise, charge e cartum podem ser diferenciados pelo vínculo da charge
com determinado fato ou personagem, enquanto que o cartum é atemporal, podendo ser lido
sem um conhecimento prévio do assunto tratado. Nem todos os teóricos e humoristas
concordam com essa diferenciação, porque um cartum atemporal também pode tratar de um
assunto do momento. A diferença seria que esse não tem a característica efêmera da charge,
que comumente acompanha o texto jornalístico opinativo e cujo entendimento pode ser
prejudicado caso não se conheça o assunto a que faz menção.
É difícil tratar de uma das características do texto chárgico em isolado, já que
nenhuma dessas características existe em separado das outras. O que é motivo e proposta
deste trabalho. Para referir o vínculo da charge com o mundo real, por exemplo, é necessário
citar novamente a caricatura: um texto baseado no mundo real, mas que deforma e exagera
características do caricaturado para efeito humorístico. É uma das “armas” básicas do texto
chárgico para conseguir o efeito desejado: o riso.
Segundo Joaquim da Fonseca, autor do livro Caricatura, a imagem gráfica do humor
(Artes e Ofícios, 1999), a caricatura é a “representação plástica ou gráfica de uma pessoa,
tipo, ação ou idéia interpretada voluntariamente de forma distorcida sob seu aspecto ridículo
ou grotesto”26. A intenção é acentuar ou revelar aspectos ridículos de uma pessoa ou fato.
Fonseca acrescenta ainda que “a caricatura é (geralmente) produzida tendo em vista a
publicação e com destino a um público para quem o modelo original, pessoa ou
acontecimento, é conhecido”27.
Temos, portanto, já na primeira das ferramentas utilizadas pela charge a necessidade
de um vínculo com uma pessoa (ou acontecimento) para uma leitura apropriada. Ler uma
caricatura sem conhecer o objeto caricaturizado é perder o termo de comparação e a
referência; simplesmente não é possível.
O mesmo se dá com o texto chárgico: como vimos no capítulo anterior, Melo
considera a charge e a caricatura como sendo vinculadas ao mundo real, por representá-lo de
26 FONSECA, 1999, p. 17 27 Idem.
57 alguma forma. Ghilardi, em seu artigo28, concorda, destacando que para a compreensão do
texto é necessário um conhecimento prévio sobre o assunto, uma vez que a charge jornalística
vincula-se a um acontecimento, e opina ser preciso que a charge contenha suficientes
elementos reconhecíveis de forma a proporcionar uma vinculação com esse acontecimento.
A isso, Romualdo acrescenta que “caso o leitor não possua em seu repertório cultural
os elementos capazes de levá-lo à identificação do caricaturado, buscá-los-á nas manchetes e
artigos publicados pelo jornal”29. O que, segundo o autor, evidenciaria também a
intertextualidade entre a charge e as notícias. O autor vai mais longe em destacar a
temporalidade e espacialidade do texto chárgico ao relacionar as relações de intertextualidade
entre as charges jornalísticas e outros textos do jornal A Folha de S. Paulo, inferindo que o
discurso do jornal em si abrange não apenas os textos e as charges, mas a leitura intertextual e
complementar de todas as formas. Romualdo vincula, assim, a charge a acontecimentos do
dia, e compreende-a como um comentário opinativo, normalmente sobre um tema apresentado
na primeira página, mas não necessariamente30.
O autor destaca ainda que, graças ao vínculo da charge com fatos, personagens e
acontecimentos políticos atuais, o teor crítico e o efeito humorístico da charge tendem a se
desgastar rapidamente:
Com o passar dos anos, devido às transformações constantes, o contexto social e político se modifica, e, por isso, não compreendemos muitas vezes a intenção e o humor de velhas charges. Nesse caso, as relações intertextuais da charge com os textos publicados no próprio jornal permitem o reestabelecimento dos fatos políticos e o reconhecimento das personagens neles envolvidas. Juntamente com a reconstrução, por meio das relações intertextuais dos textos jornalísticos, do contexto político no qual foi produzida determinada charge, ressurgem o humor e o riso. (ROMUALDO, 2000, p. 196).
Assim, a vinculação temporal e espacial da charge é tamanha que não pode ser
compreendida em retrospecto, salvo por memória ou permanência do contexto em que foi
escrita, sem a pesquisa auxiliar do contexto em que foi produzida. Ao passo em que comenta
em sua conclusão o efeito direto de uma das características da charge, o autor ao mesmo
tempo oferece o método para a recuperação e o entendimento de antigas charges, conforme se
28 GHILARDI, Maria Inês. O Humor na Charge Jornalística. R. Comunicarte v.12, nº20, pg Puccamp, Campinas, p. 87-93, 1995/1996. 29 ROMUALDO, Edson Carlos. Charge Jornalística: Intertextualidade e Polifonia. Maringá: Eduem, 2000. Cap. 1 p. 28. 30 ROMUALDO, op. cit. p. 85-88.
58 verá a seguir. Cumpre ainda investigar a validade da argumentação do autor sobre o
ressurgimento do humor e do riso.
FERREIRA31 entende que, pelas características da charge, que incluem ironia e a
crítica da realidade, o texto tem estreita relação com a paródia, sendo, portanto, um texto que
só faz sentido se lido por determinado público, em determinado contexto, em condição
“temporal contemporânea, caricatural e parodística.” (2006, p. 09).
Visto por essa perspectiva, a charge continua sendo um texto rico em significados,
embora esses significados possam ou não ser percebidos pelo leitor. Esse deve,
necessariamente, ter contato prévio com o tema tratado, uma vez que a crítica apresentada no
texto geralmente é baseada em contexto real. Por isso o tratamento da charge como paródia,
uma vez que a paródia “deforma o texto original subvertendo sua estrutura ou sentido”
(SANT’ANNA, 2001, apud FERREIRA, 2006, p.12).
Na análise da autora, o ato de analisar o texto chárgico como paródia é justificado
apenas pelo fato de esse se basear na realidade, deformando-a ou subvertendo-a para fins
humorísticos. Esse embasamento na realidade, obviamente, requer o conhecimento do leitor,
pois sem saber do fato, dificilmente será capaz de entender a deformação que configura a
paródia.
Flôres32, nas observações finais de seu livro A leitura da charge, alerta que, segundo a
leitura realizada:
[...] parece-nos indispensável destacar a importância decisiva da incorporação do exterior no interior do texto através da enunciação para a leitura e interpretação da charge. Caso o leitor não consiga recriar o contexto, reconstruí-lo, a compreensão fica – numa proporção maior do que na de outros tipos de texto – comprometida e até inviabilizada. O discurso polêmico da charge o exige porque envolve, busca comprometer, age sobre o leitor de um modo peculiar e por isso consideramos mais do que justificada a análise das estratégias de produção nele utilizadas. (FLÔRES, 2002, p. 84).
Ou seja, para Flôres, além da leitura da charge variar de acordo com a experiência do
leitor, a leitura também varia de acordo com o conhecimento do texto tratado, sua ligação com
31 FERREIRA, Edilaine Gonçalves. Charge: uma abordagem parodística da realidade. 2006. (Dissertação – Mestrado em Linguagem, Cultura e Discurso). Universidade Vale do Rio Verde – UNINCOR – Três Corações – MG. 32 FLÔRES, Onici. A Leitura da Charge. Canoas: ULBRA, 2002.
59 o real, característica que Ferreira considera essencial para o elemento parodístico que encontra
no texto chárgico.
Eliseu Delamari apresenta uma visão coerente com as anteriormente apresentadas,
sustentando que a charge “utiliza-se da caricatura para evidenciar seus personagens reais, que
participaram do fato que estão retratados(sic); representa o real, um acontecimento, sob um
olhar crítico por natureza” (DELAMARI, 2006, p. 22). Segundo ele, a charge adquire sentido
no universo jornalístico através do uso de elementos de conhecimento do público leitor,
símbolos e valores que estão em constante transformação. Delamari vê o texto como exigente
ao leitor, embora “estimulante e rico”. As charges “representam o universo imediato da
sociedade”, revezando-se diariamente e com grande sucesso entre os leitores (p. 06).
VITORINO, em seu trabalho que leva o sugestivo título de Contextualização: fator
determinante na constituição da crítica, da ironia e do humor em charges33, defende a
importância do reconhecimento tanto de elementos lingüísticos quanto extralingüísticos no
processo de leitura da charge, utilizando em sua análise das charges não apenas índices de
contextualização contextuais (talvez uma redundância necessária... a expressão refere-se aos
enunciados icônicos e verbais da charge), como também “elementos do contexto situacional,
institucional e sócio-histórico” (VITORINO, 2007, p. 05).
Assim, a autora conclui que:
[...] a charge se sustenta em jáditos bem recentes. Tal fato propõe uma espécie de pacto desse gênero discursivo com a relação temporalidade/atualidade, a tal ponto de podermos dizer que a charge tende a ‘envelhecer’. Ressalta-se, assim, o caráter dialógico desse gênero e a natureza heterogênea do sujeito que insere outras vozes em seu discurso e delas se utiliza para defender seu ponto de vista.” (VITORINO, 2007, p. 08).
A multiplicidade de vozes e o diálogo com outros textos, não apenas do jornal como
de outros meios, faz da charge um estilo perecível cuja atualidade tende a dissipar-se assim
como acontece com uma notícia comum de jornal. Assim, pode-se dizer que charge e cartum
são membros da mesma família, embora a charge esteja para o cartum como a caricatura está
para o desenho: há no texto chárgico um elemento opinativo dirigido, e seu objeto está
limitado a um tempo, a uma situação ou personagem. Essa diferença será importante na parte
33 VITORINO, Glória Dias Soares. Contextualização: fator determinante na constituição da crítica, da ironia e do humor em charges. In: 16 Congresso de Leitura do Brasil -COLE, 2007, Campinas. VII Seminário "Mídia, Educação e Leitura”. Campinas : SM Edições, 2007.
60 seguinte deste trabalho, onde se delimitará o objeto de estudo e se separará o joio do trigo, as
charges dos cartuns para a realização de uma leitura dos textos escolhidos.
61 2 LENDO A CHARGE
Dispondo da revisão bibliográfica necessária para a análise dos diversos aspectos do
texto chárgico, pode-se aventurar a uma proposta de leitura coerente com os pressupostos
teóricos vistos anteriormente: o texto no sentido lato, que permite uma visão mais livre do
objeto de estudo, e a charge como um estímulo humorístico, característica que parece
interessar muito a estudantes da área de Psicologia mas muito pouco a estudantes de
Comunicação.
O primeiro passo para a leitura de uma charge é a descrição do texto chárgico,
formalidade universalmente cumprida e que se prova necessária na prática da leitura, uma vez
que é a identificação dos elementos reconhecíveis em uma charge que permitirá que tais
elementos sejam analisados. Os elementos da charge, como visto, devem ser reconhecíveis ao
leitor, uma vez que apenas esse reconhecimento poderia levá-lo (o leitor) a estabelecer o
vínculo com a realidade presente no texto, e que será comentado opinativamente. Como alerta
Vitorino:
Um dos fatores determinantes para que o leitor chegue à singularidade de uma charge pode ser a compreensão do processo de contextualização que se evidencia nesse gênero discursivo. Isso porque as relações dialógicas (intertextualidade, interdiscursividade, por exemplo), quando evidenciadas pelo sujeito-leitor no processo de contextualização do texto chárgico, podem se constituir no elemento-chave para a constituição dos efeitos de sentido desse gênero, no qual pode emergir um enunciado (VITORINO, 2007, p. 01).
Assim, temos que não é apenas necessário que o vínculo com a realidade exista, mas
também que este seja compreendido pelo leitor, através da contextualização. O próprio leitor
deve estabelecer esse vínculo. Portanto, deve ter conhecimento suficiente do contexto para
uma leitura apropriada – ou ser capaz de adquiri-lo com uma pesquisa, como é o caso deste
trabalho, uma vez que os textos a serem analisados foram considerados representativos dos
anos de 2002/2003 pelos profissionais do jornal de humor semanal O PASQUIM 21. Assim, o
processo de leitura abarca também uma investigação interessante, que determinará se é
possível identificar um fato comentado opinativamente por uma charge, buscando a
contextualização necessária através da pesquisa, uma vez que as datas da publicação original
do material foram omitidas nas páginas do jornal carioca. Longe de ser um empecilho, é um
detalhe instigante e um teste para a validade do processo de leitura aqui sugerido como um
62 método simples, mas completo, para a leitura efetiva da charge enquanto texto opinativo,
iconográfico e humorístico.
O humor na charge pode ser lido através de seus efeitos de sentido: o que o narrador
apresenta, o que quer dizer realmente e como isso leva o leitor ao riso. Nota-se aqui uma
aproximação quase indissociável do humor com a opinião, o que não é mais do que coerente
com os conceitos anteriormente tratados: o humor é um ataque, é uma opinião que utiliza de
recursos lógicos e/ou lingüísticos para atacar seu objeto, expondo suas falhas e modificando o
ponto de vista do leitor, que passa a percebê-lo (o objeto) de forma diversa de modo a tornar
redundante a tensão que envolvia o tema: rir é, em certa medida, opinar. A recíproca é que
pode não ser verdadeira.
O processo de compreensão do humor na charge é, portanto, o mesmo processo de
compreensão da opinião contida na charge, e se dá através da leitura do texto e de sua
contextualização com a realidade: uma vez que a charge comenta um fato, analisa-se o fato
em comparação com a charge. Assim se pode conhecer a opinião do narrador, como está
explicitada e de que forma diminui o tema tratado, lembrando que esse é um dos
componentes-chave dos estímulos humorísticos.
Uma outra dificuldade que pode ou não se impor é também relacionada à
contextualização: mesmo sendo a charge por sua natureza um texto exigente, nem sempre os
recursos estão claramente explicitados34. Se é verdade que o narrador deve buscar colocar na
charge elementos suficientes para o reconhecimento do leitor, também foi visto que a charge
dialoga com vários outros textos, podendo fazer menção a uma determinada reportagem do
jornal ou da TV. Esse reconhecimento pode ser ou não necessário para a leitura do texto, mas
o tema se torna capcioso quando se pensa na diferença entre caricatura e cartum. Uma vez que
o cenário político nacional está em constante transformação, a popularidade dos protagonistas
também varia, e é possível que a caricatura de um personagem possa não ser reconhecida
como tal. Nesse tipo de situação, sem a citação verbal de um nome, é difícil saber quando
uma charge precisa de mais uma pesquisa que identifique o personagem ali caricaturado ou se
o que está retratado é apenas um estereótipo, um popular, um cartum.
Talvez uma ferramenta para resolver esse tipo de impasse esteja nas noções de Eisner
e McCloud de cartum, em oposição ao que Fonseca considera caricatura: os primeiros
34 FLÔRES, op. cit. p. 84.
63 atribuem ao cartum uma simplificação com elementos reconhecíveis, quase a constituir uma
“gramática” visual, que é internalizada no leitor pela experiência com a leitura de textos
semelhantes, e na observação cotidiana, enquanto o segundo delimita a caricatura pelo
exagero que usa na reconstituição das características visuais da personagem caricaturada.
Assim, o caricaturado tem elementos exagerados, a se sobressaírem e a se
diferenciarem do traço geral do autor (que pode ou não ser familiar ao leitor, mas cujo nível
de exagero pode ser perceptível), cujo estilo pode ser compreendido pelo nível de
detalhamento e de exagero nos traços e proporções, enquanto que o cartum, o estereótipo,
deve apresentar traços mais uniformes, sem características que se evidenciem.
Uma outra característica que pode evidenciar a leitura defeituosa de um personagem
ou da charge em geral é simplesmente ler o texto e buscar identificar o humor, a piada na
situação apresentada: sendo a charge um texto de rápida leitura e apreensão, a falha em tal
leitura pode servir como indício da contextualização falha, o que implicaria na necessidade de
uma pesquisa mais aprofundada do conteúdo do texto. Porque um texto, compreendida a
palavra no sentido lato ou não, deve ser compreensível, deve fazer sentido para o leitor. A
falha em estabelecer esse sentido será, neste trabalho, indício de uma falta de contextualização
e da necessidade de aprofundamento da pesquisa.
Da mesma forma, buscando uma compreensão mais direta do texto, não parece ser
necessária uma longa descrição do uso da linguagem iconográfica nas charges em questão, em
especial os elementos que não estão de alguma forma destacados na apresentação do texto.
Apesar disso, como anteriormente comentado, o conhecimento desses elementos permite o
reconhecimento do recurso utilizado, e a identificação de sua utilização permite uma leitura
mais aprofundada das intenções do narrador. O conhecimento de recursos como os diferentes
balões de textos, o uso de ícones e símbolos e as constantes referências a elementos que fazem
parte da gramática da charge e dos cartuns é importante para a realização deste trabalho da
mesma forma que um preservativo é importante para prevenção de DST’s e de concepção:
tem-se por perto porque pode ser útil, usa-se quando necessário.
De resto, McCloud alerta, em seu livro Desvendando os quadrinhos, que todo o
potencial de recursos do cinema, da pintura e da palavra escrita pode ser utilizado nos
64 quadrinhos através dos recursos gráficos35, e as formas de seu uso evoluem diariamente. Nem
sempre uma leitura apropriada é a que se fixa nos moldes estabelecidos, uma vez que os
chargistas não estão restritos por meadas teóricas e a linguagem da charge, como toda
linguagem, é plástica e flexível.
A leitura proposta se dará, por tudo visto neste capítulo e nos anteriores, então, por
meio da elaboração de um comentário a respeito do texto chárgico, que contenha:
1. Descrição da charge, abarcando seus elementos identificáveis, bem como
quaisquer outros que, pela coerência do texto, pareçam se destacar.
2. Contextualização, buscando, através de pesquisa, o fato, evento ou situação a que a
charge remete.
3. Com base na comparação entre ambas as situações, identificar o discurso do
chargista, o que ele está querendo dizer, qual a opinião mostrada e “onde está a
piada”, ou seja, identificar o ataque que expõe a contradição ou a quebra da
estrutura lógica que tornam a charge engraçada.
Satisfeitas essas premissas, se considerará a leitura da charge como realizada com
sucesso.
Dessa forma, a base deste trabalho, que pareceu erguer-se como um vagalhão teórico,
chega à praia como uma suave (mas completa) leitura. Tal não se dá apenas à força de retórica
ou do malabarismo de conceitos, em que uma definição de texto permite a falta de rigor por
parte do pesquisador, mas deriva do entendimento de que os muitos elementos consituintes do
texto chárgico, se lidos em separado, não propiciam uma leitura completa do texto – moto
principal da atitude de associar as duas leituras comumente feitas em separado e incluir
também o humor como parte integrante da análise. A ironia de que, até agora neste trabalho,
se quebrou o objeto de estudo em suas várias partes constituintes para, ao fim, defender a
beleza do todo também parece ser apropriada ao tema de estudo.
35 MCCLOUD, op. cit. p. 212.
65 2.1 O PASQUIM 21 E A ESCOLHA DOS TEXTOS PARA ANÁLISE
O Pasquim 21 foi fruto da terceira tentativa do humorista e escritor Ziraldo Alves
Pinto (juntamente com seu irmão Zélio Alves Pinto) de emplacar um jornal de humor no país,
que repetisse o sucesso do extinto O Pasquim, tablóide que circulou entre 1968 e 1982, tendo
se tornado um ícone na resistência contra a ditadura militar e um dos jornais mais influentes
do país, deixando de circular com a abertura.
Antes da publicação do O Pasquim 21, as revistas Bundas e Palavra haviam sido
produzidas em tentativas anteriores de Ziraldo de estabelecer uma publicação humorística.
Lançado com uma tiragem de 100.000 exemplares, o periódico, ao fim de sua existência,
vendia apenas de 10 a 15 mil exemplares em bancas.
O jornal circulou entre 2002 e 2004. Durou dois anos e seis meses e fechou com um
saldo de 117 edições. O jornal tinha tamanho standart, era todo colorido por dentro e referido
como uma “Revista Semanal”. O contexto político da atuação do periódico foi de março de
2002, época da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e os dois primeiros anos de seu
governo36.
Uma das características mais marcantes do periódico era o enorme número de
colaboradores: embora o staff oficial fosse de apenas 18 profissionais, agregados ao jornal
haviam mais de 300 nomes. O número 44 do periódico publicou em suas páginas 12 e 13 uma
seleção de cartuns e charges anunciados como sendo os “cartuns que marcaram época” em
2002/2003, e abarcavam o período da Copa e a campanha presidencial, bem como os
primeiros tempos do governo Lula.
Pareceu, portanto, interessante para a realização deste trabalho que a seleção do
material fosse realizada não apenas pelo pesquisador, mas também por profissionais
experienciados e reconhecidos no exercício da profissão, como o eram os integrantes da
redação d`O Pasquim 21. No entanto, embora uma análise completa fosse um fruto mais
desejável desta pesquisa, a seleção realizada não foi possível por razões de espaço e tempo.
Não seria possível analisar as charges apresentadas, mesmo descontando-se os cartuns, uma
vez que as duas páginas contém 60 peças humorísticas. Realizou-se, portanto, uma segunda
36 Informações encontradas em: Almeida, Adriana Aparecida de. OPASQUIM e OPasquim21 : práticas discursivas jornalísticas de resistência; Campinas, SP : [s.n.] 2006.
66 seleção entre os cartuns considerados como tendo “marcado época” nos anos de 2002/2003.
Essa seleção se deu orientada por tema, visto essa orientação ser coerente com a disposição
dos textos nas páginas (que também estavam, não surpreendentemente, agrupados por temas).
Os temas escolhidos para análise foram a dengue no Rio, o escândalo da pedofilia na Igreja
Católica, os conflitos no Oriente Médio e a Santa da Janela.
Ao todo, foram analisadas 14 charges, buscando identificar o tratamento dos temas em
relação ao uso da linguagem, significado e opinião mostradas no texto, bem como a origem do
humor no texto.
67 2.2 ANÁLISE DOS TEXTOS
2.2.1 A dengue no Rio de Janeiro em 200237
No ano de 2002, o Estado do Rio de Janeiro concentrou a maioria dos casos de dengue
do país, abrigando cerca de 34% das notificações, 79,6% dos casos de dengue hemorrágica e
65% dos óbitos (dados até 10/2002).
Para combater a epidemia da doença no Rio, a FUNASA (Fundação Nacional de
Saúde) criou uma força-tarefa composta por mil agentes sanitários de saúde de todo o país,
que começaram a agir a partir de fevereiro de 2002. Além dessas providências, o Ministério
da Saúde solicitou às Forças Armadas ajuda para conter a crise. Marinha e Exército
destacaram 1,3 mil homens para treinamento pela Funasa, objetivando a ampliação da
cobertura dos focos da doença. O treinamento desses homens foi concluído a 5 de março.
A 9 de março do mesmo ano se promoveu o chamado dia D, uma mobilização
nacional de combate à dengue que contou com a participação de 745 mil pessoas38, em 89 dos
92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, com a intenção de eliminar os focos do mosquito
Aedes Aegypti. De acordo com estimativa da Funasa, as ações contra a dengue realizadas no
dia D envolveram 14,6 milhões de pessoas, envolvendo a vistoria de 4,2 milhões de
domicílios. Após a campanha no Rio, o Ministério da Saúde realizou outros dias D nos
estados de São Paulo, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso do Sul e Alagoas.
A 24 de julho do mesmo ano, foi lançada o 24 de julho deste ano, o Programa
Nacional de Controle da Dengue (PNCD), que buscava uma operação em conjunto com as
secretarias estaduais e municipais de saúde, investindo mais de R$ 1 bilhão na prevenção da
doença. O plano incluiu a realização de um dia D nacional, que ocorreu a 23 de novembro,
mobilizando boa parte da nação.
As charges que se seguem foram produzidas nesse contexto e têm a dengue como
principal tema tratado.
37 Brasil. Ministério da Saúde. A Sociedade contra a Dengue / Ministério da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 24 p.: il. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). Texto encontrado na web a 14/04/09, no site: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sociedade_dengue.pdf 38 Segundo estimativa do Ministério da Saúde.
68
2.2.1.1 Charge 01
Fig. 15 – A dengue no Rio, charge 01
A charge mostra um cenário com montes e água, sol brilhando, prédios e um mosquito
cartunizado de asas abertas, na distância, dominando a paisagem. Não há discurso verbal,
excetuando-se a assinatura do chargista, embaixo à direita. O mosquito parece gigantesco em
comparação com os prédios, que são mostrados como retângulos brancos em perspectiva,
criando no leitor a sensação de profundidade e distância da imagem mostrada na charge. A
apresentação de uma figura com braços (ou asas) abertas, dominando uma cidade ensolarada
próxima do mar traz a referência à imagem da cidade do Rio de Janeiro, com o Cristo
Redentor no Morro do Corcovado. A figura do mosquito também pode ser associada a outra
das características que, tristemente, se tornaram uma das facetas da cidade: a dengue.
Não é difícil pesquisar uma referência de contextualização para o texto: a própria
internet traz a versão online de artigo tirado da Revista da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical 37, de julho/agosto de 2004, intitulado A epidemia de dengue/dengue hemorrágico
no município do Rio de Janeiro, 2001/200239 (portanto dentro do período pertinente a esta
pesquisa), em que os autores sustentam que: “O município do Rio de Janeiro vem sofrendo
sucessivas epidemias de dengue desde 1986, predominantemente no período de verão. Em
2001/2002 ocorreu a maior e mais grave delas”. (CASALI et al., p. 299).
39 CASALI, Clarice Guimarães et al., P. 296-299. Artigo disponível em arquivo eletrônico formato PDF no site: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/kitdengue2/epidemiologia/textos/Den_RJ_2002_Medronho.pdf> Acesso em: 14 Abr. 2009.
69
A classificação da epidemia do período como a pior deriva de fatores como elevado
número de óbitos e a alta incidência de dengue hemorrágica.
A lógica do narrador é impecável: ao trocar por um mosquito da dengue o símbolo do
Rio de Janeiro, sugere que agora quem domina a paisagem da cidade é o mosquito; o Cristo
Redentor foi destronado de seu papel de símbolo da cidade, dando lugar a outra referência
mais mórbida, que é aquela pela qual a cidade passou a ser conhecida e comentada. A
subversão é semelhante à carnavalização bakhtiana conforme apresentada por Romualdo
(2000), em que há a “coroação bufa”, seguida do subseqüente e necessário destronamento. O
Cristo é substituído pelo mosquito; o símbolo do Rio se torna diverso, e o Rio, de repente,
deixa de ser a Cidade Maravilhosa e se torna a Capital da Dengue. A denúncia presente no
texto é a denúncia da situação, da imagem distorcida da cidade, que sofre profundos
problemas em meio a uma epidemia, e é semelhante, num sentido social, à denúncia de
políticos sugerida por Romualdo, em que: “Pela paródia das ações políticas, pela caricatura,
pelo ridículo e pelo próprio riso, o texto chárgico destrona os poderosos e apresenta outras
perspectivas para a leitura de suas ações”. (ROMUALDO, 2000, p. 53).
A diferença consiste em ser uma visão do Rio a ser destronada, não “os poderosos”.
Embora se possa argumentar que o conceito de carnavalização bakhtiano se aplique também
aos discursos, uma vez que o discurso destronado é o do Rio como cidade paradisíaca. Nada
mais apropriado, aliás, que a carnavalização em um comentário opinativo sobre o Rio de
Janeiro. Afinal, além de ser a Cidade Maravilhosa o Rio também tem estreita ligação com o
Carnaval.
Ao mesmo tempo a inversão de papéis é humorística, uma vez que subverte a
expectativa do leitor, substituindo por um mosquito caricato o Cristo Redentor e levando-o (o
leitor, não o Cristo) a perceber a situação da epidemia de outra maneira, que o possibilita a
encará-la de maneira diversa, como algo risível, o que torna desnecessária a tensão emocional
de tratar de uma situação de epidemia da qual não se encontra nada que rir. É a súbita
percepção da tensão emocional (um mecanismo natural de defesa) como redundante que
possibilita o riso.
A ligação do texto analisado com a epidemia de 2001/2002 é o suficiente para
classificá-lo como uma charge, segundo a definição proposta, uma vez que comenta
opinativamente um fato. No entanto, a pergunta surge naturalmente: poderia o texto também
70 estar ligado a outra das epidemias de dengue citadas, a ocorrerem no Rio desde 1986? E a
ligação se dá necessariamente com o Rio de Janeiro, uma vez que há apenas uma alusão à
imagem da cidade? A resposta para a última pergunta: sim. O fato de haver a subversão da
imagem do Cristo Redentor é determinante para a “piada”, é o que torna (como visto) o texto
humorístico. Portanto, a própria leitura do texto como uma peça de humor informa o leitor de
que deve haver uma lógica deturpada, uma analogia escondida nas entrelinhas, mesmo que a
princípio não associe a imagem ao Rio de Janeiro. É uma das qualidades do humor, a
subversão dos sentidos comumente aceitos para que uma realidade diferente possa emergir na
mente do leitor. De acordo com Koestler40, o próprio ato de pensar criativamente está
relacionado à combinação de duas matrizes cognitivas não relacionadas, até que uma nova
matriz surja que contenha ambas as anteriores, e uma relação seja estabelecida41. No humor,
no entanto, contextos lógicos incongruentes são escolhidos quando “o humorista (...) escolhe
deliberadamente códigos de conduta ou universos de explanação discordantes, a fim de expor
suas incongruências ocultas no embate resultante” (KOESTLER, 1969, p. 222).
Portanto, sabedor de que há um significado escondido no texto, aparentemente uma
paisagem comum, o leitor pode buscar associações até chegar à conclusão de que o texto
deve-se referir ao Rio de Janeiro, para então poder ver a “piada”, a substituição do Cristo pelo
Mosquito. A ligação da charge com seu contexto de origem, no entanto, trata-se de um tema
mais delicado. Ghilardi propõe que, estando a charge ligada a determinado fato ou
acontecimento, ambos – chargista e leitor – devem estar “sintonizados” e conhecer o tema de
que trata a charge42. No entanto, embora autores como Romualdo43 e Vitorino44 considerem
que a crítica e o humor na charge são coisas que se desgastam rapidamente, no presente caso,
em que há uma situação cíclica, com epidemias anteriores bem registradas, o mesmo não se
dá. A leitura do texto pode ser realizada associando-o com qualquer dos surtos epidêmicos. A
única ligação do texto chárgico com o fato que o define como tal parece ser o fato de estar
inserido como um dos textos do gênero (charge e cartum) a “marcarem época” em 2002/2003
na seleção analisada.
40 KOESTLER, Arthur, O Fantasma da Máquina, Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1969. 41 KOESTLER, op. cit. p. 219. 42 GHILARDI, op. cit. p. 91/92. 43 ROMUALDO, op. cit., p. 196. 44 VITORINO, op. cit, p. 08.
71 2.2.1.2 Charge 02
Fig. 16 – A dengue no Rio, charge 02
O texto mostra duas figuras diante de uma tela em um cavalete, armada para pintura.
As duas figuras estão vestidas com roupas de época, aparentemente do período da Renascença
na Europa, enquanto que uma das figuras segura uma paleta e um pincel (o mais velho, de
barba, reforçando a imagem renascentista do “mestre artesão” e pintor, especialmente pelo
estilo das vestimentas, que evoca a imagem de Leonardo da Vinci, embora isso não esteja
explícito em suas feições). Na tela, uma pequena mancha sugere a imagem de um mosquito,
enquanto que diante da mesma tela, local comumente ocupado pelo modelo da pintura sendo
executada, está um mosquito cartunizado enorme (pela comparação com as figuras humanas),
de traços ameaçadores, reconhecível como mosquito pelas antenas peludas características,
ferrão, asas e o numero de patas, além das seções em que o torso se divide. A personagem à
esquerda está enunciando através do balão a frase “Perdão, mas a dengue não é como
pintam”. A fala é dirigida à personagem de barba (o mestre artesão), pois a figura que enuncia
a frase está voltada para ele (de perfil e com a figura do velho diretamente à sua frente).
Evidentemente a frase é uma crítica à pintura feita com o mosquito enorme como modelo,
pois é recebida com uma expressão aborrecida. Embaixo, à direita, há também a assinatura do
chargista.
A charge apresenta um singular problema; ao se analisar o conteúdo da charge sem dar
importância aos materiais utilizados ou mesmo ao fato de ter sido produzida para uma
publicação moderna, poderia-se supor, pela retórica visual dos personagens apresentados, que
se trata de uma charge criada para referir uma epidemia de dengue ocorrida por volta da
Renascença. O que seria mais ou menos como supor que Pero Vaz de Caminha tenha usado
uma esferográfica, uma vez que o primeiro relato conhecido da doença no Brasil data de
72 1916, segundo site oficial45. Constando ela como uma charge produzida para representar os
anos de 2002/2003, podemos concluir que se refere a epidemia de dengue no país – sem haver
citação específica ao Rio de Janeiro, embora esse tenha sido o estado com mais ocorrências e
óbitos relacionados à doença. Uma vez mais, o fato de o periódico situar o texto como sendo
representativo de um período é definitivo para a compreensão do texto como tal, uma vez que
este poderia aplicar-se a qualquer epidemia ou surto de dengue, e até mesmo como aviso
preventivo, sem que casos da doença fossem necessários para sua compreensão.
O aparente paradoxo da vestimenta dos personagens encontra sua explicação ao
pensarmos o enunciado do “crítico” da pintura, que comenta que “a dengue não é como
pintam”. Há uma expressão de cunho popular que dita que “o diabo não é tão feio como
pintam”. Significa que há um juízo exagerado em relação a certa pessoa ou situação, quando a
realidade não condiz com essa interpretação. O uso de expressões populares de conhecimento
geral, nas charges, deve-se à necessidade implícita à forma textual, em que o chargista dispõe
de um espaço limitado para tratar do tema comentado, necessitando situar o leitor e colocá-lo
em posição de compreender o texto e relacioná-lo ao contexto. Romualdo, na conclusão de
seu trabalho Charge Jornalística: intertextualidade e polifonia, pondera que, na charge46:
O humor surge do traço, do gag, da contraposição entre os códigos verbal e visual. No entanto, o trabalho com os elementos verbais e visuais traz, muitas vezes, implícitos e pressupostos, que são recuperados pelo leitor. Assim, uma charge de um único quadro pode estar muito mais “carregada de informações” do que as compostas por mais de um. (ROMUALDO, 2000, p. 194).
O personagem se encontra vestido como um pintor renascentista porque essa imagem,
na opinião do chargista, é de cunho popular, e o personagem desenhado dessa forma é
identificável pelo leitor como sendo um pintor. Em seu livro Narrativas gráficas47, Eisner
trata do tema do estereótipo nos seguintes termos:
A arte dos quadrinhos lida com reproduções facilmente reconhecíveis da conduta humana. Seus desenhos são o reflexo do espelho, e dependem de experiências armazenadas na memória do leitor para que ele consiga visualizar ou processar
45< http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=22207> Acesso em: 17 Abr. 2009. 46 Aqui o autor trata da charge de um único quadro, comentando como a linguagem suscinta pode conter significados diversos e demanda do leitor não apenas o reconhecimento de pressupostos e subentendidos, mas também do conhecimento do contexto de emissão e das relações intertextuais que a charge estabelece. Não obstante, a observação é válida para a leitura da charge como um todo, não se limitando à charge de quadro único. 47 EISNER, op. cit. 2005.
73
rapidamente uma idéia. Isso torna necessária a simplificação de imagens transformando-as em símbolos que se repetem. (EISNER, 2005, p. 21).
Usar um estereótipo na charge, portanto, é um recurso semelhante ao de fazer uma
personagem enunciar um ditado ou expressão que pertença, parodie ou remeta à cultura
popular: primeiro, coloca o leitor em terreno familiar, depois empresta novos sentidos à
leitura do texto. Não é estranho que o personagem se vista como um pintor renascentista, uma
vez que a veste remete à retórica visual de pintores famosos e conhecidos, como Rafael
Sanzio, Michelangelo e o popular Leonardo da Vinci.
Fig. 27 - Leonardo da Vinci
O que o narrador sugere é que a imagem apresentada da dengue (representada pela
pintura feita na tela, pequena a ponto de ser indiscernível) não corresponde à realidade, muito
maior e mais ameaçadora (o mosquito monstruoso à direita). O esforço do pintor em diminuir
o modelo em sua representação é ridículo, porque exagerado em sua desproporção. Assim,
por associação, o narrador sugere que as declarações oficiais e a dimensão que a epidemia
ocupa na mídia são tão ridículas quanto a comparação entre os dois mosquitos – o da pintura,
quase invisível, e o modelo, que domina a cena inteira. O tratamento humorístico do tema (a
desproporção entre a realidade e a realidade apresentada pela mídia) torna aparente suas
contradições, reduzindo-a ao olhar do leitor e assim provocando o efeito humorístico.
74 2.2.1.3 Charge 03
Fig. 18 – A dengue no Rio, charge 03
A charge mostra o desenho de um tanque de guerra, dirigido por um soldado, com um
mata-moscas no lugar que, em um tanque normal, seria ocupado por um canhão. Não há texto
além da assinatura do chargista. À direita, escapando do quadro, podemos ver uma linha de
movimento oscilante e um inseto escapando do mata-moscas. À primeira vista a imagem
parece carecer de sentido. Porém, de acordo com Flôres (2002), as metáforas podem ser
compreendidas como valores substitutivos, sendo que para a compreensão da metáfora basta
encontrar o termo correspondente ao substituído48. A imagem, aparentemente sem sentido à
primeira vista, trata-se de uma metáfora visual, em que o tanque simboliza o exército como
um todo, e o mata-moscas no lugar do canhão é um indício do propósito dessa movimentação.
A assumpção lógica é a de que o exército está se movimentando para lidar com uma epidemia
(uma de suas funções subsidiárias, segundo site do Exército Brasileiro49).
Baseado nessas considerações (e – mais uma vez – não apenas no texto chárgico),
pode-se inferir que o fato comentado pela charge é a movimentação do exército contra a
epidemia da dengue, uma vez que a epidemia foi a pior da história do Rio, como
anteriormente visto, e se deu à época abarcada pelas charges e cartuns publicados.
Realizando-se uma pesquisa que abarcasse o período em questão, o resultado provável
encontrado sugere que o texto deve provavelmente referir-se à inclusão do exército na luta
contra a dengue no início de março de 2002, com um contingente de 1,3 mil soldados, ou a
notícias sobre o fato que possam tê-lo antecedido.
48 FLÔRES, op. cit. p. 21. 49 http://www.exercito.gov.br/
75
A charge joga com significados: a “adaptação” do tanque de arma de guerra para
simples mata-moscas simboliza o uso do Exército para algo tão prosaico como matar
mosquitos, ao mesmo tempo em que ridiculariza a instituição e torna a luta contra a dengue
em uma comédia de proporções homéricas no imaginário do leitor, uma luta em que soldados
armados utilizam seu equipamento de guerra contra reles mosquitos. Mais uma vez, é a
quebra entre a realidade e a ridicularização desta realidade que vai fazer com que o leitor
perceba o assunto tratado como risível, diminua a importância da situação a um tamanho
manejável, de acordo com a teoria de Freud50. O prazer resultante da percepção viria de uma
“economia de sentimento”, e conduziria ao riso, descrito por Koestler como um “reflexo de
luxo” que tem a finalidade de aliviar a tensão “provocada por atividades importantes”51. Ou,
no caso, temas importantes.
50 Freud, Sigmund. O Humor. Obras Completas de Sigmund Freud, Ed. Delta S.A., vol. 6. p. 194. 51 Koestler, Arthur. Jano. São Paulo: Melhoramentos, 1981, p. 124.
76 2.2.1.4 Charge 04
Fig. 19 – A dengue no Rio, charge 04
Na charge acima, há um tratamento diferente do mesmo tema da charge anterior: o
exército versus o mosquito, sendo que a primeira coisa a destacar é o título da charge,
enunciado pelo narrador para contextualização do leitor. De acordo com a leitura do texto
chárgico proposta por Vedovatto (2000, p. 20), o verbal nas charges aparece integrado à ação,
com a função de “ministrar alguma informação aos personagens da narração e ao leitor”,
complementando o enunciado pictórico no texto. Já Flôres (2002) observa uma hierarquia
entre o discurso icônico do narrador e o verbal das personagens, em que o verbal é
introduzido no icônico visando a complementação, a ilustração e o comentário. Para a autora,
“ao narrador cabe estabelecer vínculos entre texto e contexto”, chegando a pensar a charge
como sendo “totalmente dependente da publicação da matéria” (FLÔRES, 2002, p.14). O
enunciado é, portanto, ponto de contextualização, um esforço narrativo buscando fazer com
que o leitor vincule o contexto ao texto, tornando-o passível de compreensão. E, portanto,
fundamental para a leitura. No caso específico da charge aqui analisada, o enunciado “...e o
exército entra na guerra contra a dengue”, começa por reticências, sugerindo que há algo
anterior à frase, que o tema é decorrente do desenvolvimento de um estado de coisas anterior
à ação comentada na charge. Dessa maneira, não há uma necessidade de pesquisa contextual
mais aprofundada: o chargista cuidou disso pelo leitor. A charge refere-se à entrada do
Exército na luta contra a dengue, no início de março de 2002 (novamente, uma assunção feita
com base no período referido pelo periódico). Ao mesmo tempo, as reticências dão ao evento
um caráter anti-épico, trazendo à mente o título do filme ...E o Vento Levou. Com essa base,
77 há o tratamento ridículo da batalha do Exército com o Mosquito como um épico, algo
grandioso, mas apenas para acentuar o ridículo da disparidade entre os dois contendedores.
Vemos na charge um mosquito cercado por armas e soldados (reconhecíveis pelo
uniforme padrão e pelos capacetes, quase uma retórica visual universal) apontando rifles e
canhões, adotando uma composição cuidadosa em que todas as linhas (leia-se “canos das
armas”) dirigem a atenção do leitor para o alvo, que é o próprio mosquito cartunizado,
raquítico, que voa enquanto olha para os soldados, desafiador, e enuncia em um balão de fala:
“Que foi, meu? Vai encará!!!”
O discurso do mosquito imita o discurso falado, em que “encarar” se torna “encará” e
o “meu” funciona como um substituto para o interlocutor. É na linguagem informal que a
maioria das situações semelhantes podem ser encontradas: dificilmente uma pessoa usaria a
formalidade da linguagem escrita (oralmente) para enunciar um desafio comum sem parecer
um Cyrano de Bergerac deslocado do poema. O que a fala do mosquito (a fala da rua) faz é
enfatizar que a “batalha” ocorre nas ruas do Rio, que toma lugar na realidade e não apenas nas
páginas de jornais ou em noticiários.
O tratamento dado ao tema da charge em questão é semelhante ao da charge anterior,
em que o narrador joga com a enorme disparidade entre o maquinário da guerra (comumente
usado pelo exército) e o “oponente” em questão para ridicularizar o combate, diminuindo-o
até um tamanho manejável e fazendo com que o alívio da tensão causada no leitor pelo tema
original seja percebido como prazer humorístico. Ao mesmo tempo, o desafio expresso pelo
mosquito pode levar o leitor a entender uma bravata, o que acentuaria o patético da situação,
ou um comentário sobre o resultado do embate não ser tão certo como o desenho sugere.
Qualquer que seja a interpretação, porém, há a piada. A enorme desproporção entre os
contendedores caracteriza o uso humorístico da situação, satirizando o embate.
Koestler52 refere situação semelhante em seu Jano, salientando que a sátira é a
apresentação de uma imagem deliberadamente distorcida do tema tratado, em que recursos
comumente usados na caricatura, como o exagero e a simplificação, são dispostos de forma a
salientar as contradições e expor seu objeto ao ridículo. De acordo com o autor:
O resultado é uma justaposição, na mente do leitor, de sua imagem habitual do mundo em que vive e o absurdo reflexo desse mundo no espelho deformante do
52 Koestler, Arthur. Jano op. cit. p. 136.
78
satirista. O leitor é assim levado a reconhecer os detalhes familiares no absurdo e a absurdidade no familiar. Sem essa dupla visão, a sátira não teria humor. (KOESTLER, 1981, p.136).
Assim, a desproporção proposital ressaltada pelo chargista leva o leitor a perceber a
cena real de forma distinta (bem como a reconhecer o real na caricatura, e esse
reconhecimento do contexto é que o levará a realizar uma leitura apropriada da charge,
podendo compreender de que forma a realidade é comentada). O processo descrito por
Koestler é semelhante à leitura metafórica proposta por Flôres, em que a razão de a metáfora
ser uma ferramenta comum de humoristas reside no papel heurístico da metáfora, que
desencadeia mudanças conceituais, sugerindo novas possibilidades para a percepção do
mundo53. Para a autora, entre o conceito de origem da metáfora e o conceito de chegada (ao
entendermos uma coisa em termos de outra) há um conceito intermediário, em que ambos
coexistem54.
53 FLÔRES, op. cit. p. 22. 54 Idem.
79 2.2.2 Pedofilia na Igreja Católica
De acordo com o resumo das notícias selecionado pela versão eletrônica do jornal The
Boston Globe55, o escândalo dos padres pedófilos de 2002 estourou com a denúncia, a 6 de
Janeiro, de indícios de que a conduta pedófila do ex-padre católico John J. Geoghan, era do
conhecimento do cardeal Bernard F. Law desde 1984, através de relatos de mais de 130
pessoas. Mesmo com forte evidência do comportamento do padre Geoghan, o cardeal Law
teria aprovado sua transferência para a paróquia de St. Julia, em Weston.
O escândalo nos EUA foi tamanho que o Papa João Paulo II teve de se manifestar
sobre o assunto, condenando o acontecido. O papa reuniu-se com os cardeais americanos e,
posteriormente, também com o presidente dos EUA, G.W. Bush. A repercussão internacional
exigiu que providências fossem tomadas.
A Igreja acabou por adotar uma política prevendo um processo especial para a
expulsão de padres em caso de abuso sexual “notório” e “em série” de menores. Em
dezembro de 2002 um plano, que previa afastamento imediato de padres que molestassem
menores, foi aprovado. A Igreja também teve de negociar o pagamento de indenizações às
vítimas de abuso sexual. Desde o escândalo a Igreja tem reforçado a vigilância sobre o tema
do abuso sexual.
Em fevereiro de 2004 a Conferência dos Bispos Católicos dos EUA fez um
levantamento dos casos de pedofilia no país envolvendo padres católicos desde 1950,
revelando que 4.450 padres (4% do total de padres em paróquias americanas) já haviam sido
denunciados, e havia mais de 11.000 acusações registradas, só nos EUA56.
A cobertura foi ampla no país. As charges seguintes referem-se a esse caso.
55 Encontrado em http://www.boston.com/globe/spotlight/abuse/chronological.htm a 15/04/09. 56 Dados do site da revista Veja (Veja.com), retirados a 15/04/2009 do endereço: http://veja.abril.com.br/em-dia/pedofilia-igreja-303140.shtml
80 2.2.2.1 Charge 01
Fig. 20 – Pedofilia na Igreja, charge 01
A charge apresenta dois quadros. No primeiro, vemos o pai de família estereotípico,
lendo o jornal sentado no sofá. Atrás deles, mais dois personagens, crianças a julgar pelo
tamanho e proporção apresentados (em relação ao pai). Uma menina (vestido e cabelo
comprido) e um menino (calções). O menino dirige-se ao pai de família, apontando para a
menina atrás de si. Pela ordem de leitura dos balões de fala, pode-se ler o seguinte diálogo:
MENINO – Seu Figueira, posso brincar de médico com a sua filha?
PAI (Figueira) – Claro.
MENINO – E de padre?
O segundo quadro apresenta a mesma composição, com a posição dos personagens
apenas levemente modificada, o que leva o leitor a sentir que um espaço de tempo bem
pequeno se passou entre um quadro e outro, necessário apenas para o “deslocamento”
mostrado acontecer. Agora o seu Figueira está com o menino firmemente agarrado pelo
pescoço sem deixar de segurar o jornal (o que acentua a impressão de movimento rápido no
leitor). Tão firmemente que o menino está suspenso pelo pescoço, sendo estrangulado,
batendo os pés (estão separados, em posição de corrida) e olhos arregalados e expressão séria,
denotando surpresa. A menina (filha do seu Figueira) está com os olhos também arregalados,
levando as mãos à boca, gesto que também denota surpresa, bem como horror à cena que está
81 presenciando. Figueira responde à questão anterior do menino, enunciando, com cara fechada
e esgar de raiva:
FIGUEIRA – Não se atreva, moleque!!!
Após, embaixo à direita, a assinatura do chargista.
A contextualização, nesse caso, é mais problemática, uma vez que não há uma
caricatura de uma pessoa ou fato específico, mas sim personagens estereotados representando
uma cena cotidiana, passível de reconhecimento em qualquer época (posterior à invenção do
jornal... e do sofá), uma vez que as roupas não são representativas de qualquer período
reconhecível e o alto grau de cartunização dos personagens não permite reconhecimento mais
apurado. Os únicos elementos a fornecerem pistas para o real significado da charge são a
expressão “brincar de médico” e “padre”.
O texto faz, novamente, alusão a um tema popular, que é a expressão “brincar de
médico”. Expressões idiomáticas, cunhadas pela cultura popular, são de uso freqüente não
apenas nas charges, mas também nas produções humorísticas em geral. Se é verdade que o
chargista dispõe de um meio tão rico quando o iconográfico em que se expressar, também é
verdade que a economia é uma marca do tipo textual, uma vez que se deve comunicar o
sentido do texto de forma compreensível ao leitor, em geral no espaço de um quadro. De
acordo com Ghilardi (1995/96, p. 88), cabe ao chargista, com poucos traços,
[...] dar conta dos dados fundamentais fornecidos pela matéria jornalística, da crítica aos fatos e do humor gerado pela crítica, ainda que este seja apenas o reflexo do pensamento que o leitor gostaria de exprimir. Fazer charge, portanto, é associar a síntese dos acontecimentos da sociedade, a agudez da crítica feita aos episódios noticiados e o humor brotado pela maneira como os fatos são tratados à precisão e segurança do traço. (GHILARDI, 1995/96, p. 88).
Dessa forma, o chargista, em sua produção humorística, deve buscar no repertório
popular elementos do conhecimento do leitor para que deles possa extrair novos significados,
subvertendo-os intencionalmente a fim de levar ao leitor outra percepção. De acordo com
Flôres, comentando a linguagem da charge, “do ponto de vista linguístico, repetem-se
ritualisticamente as relações normalizadas, as possibilidades combinatórias são previsíveis e
as substitutivas, possíveis. O modo de articulação entre os dois eixos, contudo, subverte-se
com demasiada freqüência para que possamos ignorar as transgressões da partilha ordinária”
82 (FLÔRES, 2002, p.16). Dessa forma, através da modificação de frases e chavões conhecidos,
o chargista pode emprestar-lhes novos significados.
Um exemplo: a frase “a esperança é a última que morde” não é apenas,
intencionalmente distorcida, um erro de digitação, mas traz em si a transgressão da frase
popularmente conhecida “a esperança é a última que morre”, mudando-lhe o significado de
forma a tornar evidente que a esperança, mesmo sendo a última a restar, acaba desapontando
no final. A frase traz também uma relação intertextual com outra pérola da cultura popular,
que é a expressão “morder a mão que alimenta”57. Assim, mesmo que um leitor mais cínico
pudesse argumentar que na frase “a esperança é a última que morre” a esperança acaba
morrendo, no final, a frase modificada carrega um novo sentido, divergindo da forma como a
frase original é popularmente usada. Desse choque de conceitos nasce o efeito humorístico da
frase.
Romualdo, ao tratar do humor na charge jornalística, sugere que não apenas o
humorista se utiliza de um repertório próprio, mas que também que há no ato humorístico um
contrato, uma cumplicidade entre autor e leitor, e que essa cumplicidade envolve não apenas a
um contexto sócio-cultural como também deriva da experiência, características e contexto em
que leitores e autor estão imersos. De acordo com o autor, “a decodificação e a compreensão
da charge dependerão dos vários contextos, incluindo o ‘extra-icônico’” (ROMUALDO,
2000, p. 40-41). De modo que toda a gama de recursos divididos entre o chargista e os
leitores, desde que apreensíveis e de conhecimento geral, não só podem ser utilizados pelo
chargista, como também são esperados nas produções humorísticas, em forma original ou
intencionalmente deturpada.
“Brincar de médico” se tornou, popularmente, uma expressão que significa um jogo
sexual, uma brincadeira com cunho erótico em que um dos protagonistas faz o papel de um
médico a analisar um paciente, apalpando como faria em uma consulta médica para atestar o
estado do paciente e gradualmente passando à erotização, pedindo que o “paciente” tire a
roupa, e assim por diante. Por divertido que possa parecer alongar-se nesse assunto, o fato
principal para a leitura da charge em questão é a associação do “brincar de médico” com
“sexo”. Assim, temos a alusão a padres e sexo em uma charge envolvendo crianças. Quando o
menino pede a seu Figueira permissão para brincar de médico, o jogo erótico imediatamente
57 Expressão que significa desapontar ou trair a pessoa que o sustém ou ampara de alguma forma.
83 aparece na mente do leitor por associação. Mas é quando o menino pede permissão para
brincar de padre que a piada se dá, uma vez que a reação de seu Figueira à palavra “padre” é a
que sugere a associação com o sexo (ele reprime a possibilidade da brincadeira de “padre”,
partindo em defesa da filha).
Para seu Figueira (que está lendo o jornal), padres têm mais conotação sexual do que o
“brincar de médico” porque representam uma fala cotidiana no momento da enunciação (ou
publicação) da charge. E é dessa forma que podemos encontrar o contexto e a situação a que a
charge se refere, ligando-a ao escândalo envolvendo sexo e padres católicos da época
representada pelo texto. Da mesma maneira, explica-se o humor do texto: enquanto que o
“brincar de padre” deveria ser tido como uma brincadeira inocente (uma vez que padres
supostamente não teriam nenhuma ligação com sexo), “brincar de médico” é um jogo sexual.
O desenvolvimento do texto chárgico apresenta dois momentos distintos: no primeiro quadro
instaura-se a “quebra de sentido”, quando o sr. Figueira, ao contrário da expectativa geral
(criada pelo reconhecimento da expressão “brincar de médico” como uma expressão que
designa o jogo sexual), permite ao menino brincar de médico com a filha há o rompimento da
lógica do desenvolvimento da história na perspectiva do leitor. A seguir, com a reação
inesperada do pai ao ser sugerido o “brincar de padre”, instaura-se o impacto, a quebra de
sentido que leva o leitor a buscar uma relação entre o “brincar de médico” e o “brincar de
padre”, associando-os, de acordo com os preceitos de Koestler:
Quando um comediante conta uma história, dramatiza deliberadamente, para criar em seus ouvintes alguma tensão, que aumenta à proporção que a narrativa progride. Mas a tensão jamais atinge seu clímax esperado. A frase decisiva, ou o impacto, atua como uma guilhotina verbal que corta o desenvolvimento lógico da história; ela desilude nossas expectativas dramáticas. (KOESTLER, 1981, p. 128).
No caso da charge analisada, há a “guilhotina” servindo ao mesmo propósito: o de
cortar o desenvolvimento na narrativa com a reação inesperada do sr. Figueira, tendo o leitor
sido preparado com a “quebra” lógica apresentada no primeiro quadro (o fato de o pai aceitar
que a filha brinque de médico com o menino). A lógica de inversão que leva o leitor (e seu
Figueira) a perceberem um com o olhar que normalmente dirigiria ao outro é o que causa o
efeito humorístico na charge58, uma vez que a tensão causada pelo tema da pedofilia se torna
redundante ao se ridicularizar o tema causador dessa tensão, tornando-o risível.
58 Ainda segundo Koestler: “a percepção de uma situação ou idéia em dois autoconsistentes, mas mutuamente incompatíveis, sistemas de referência” é a causadora do efeito humorístico. (KOESTLER, 1981, p. 128)
84
2.2.2.2 Charge 02
Fig. 21 – Pedofilia na Igreja, charge 02
Novamente, a charge se divide em dois quadros. Dessa vez, encimada pelo título
bastante revelador “Moléstia à parte”. O título pode ser mais que uma simples referência do
narrador à pedofilia na Igreja, podendo também ser pensado como tendo o significado de
“falando de outra coisa que não seja a moléstia”. Para compreender esse chiste de múltiplas
faces é preciso lembrar que o Brasil estava sofrendo uma epidemia de dengue, como visto na
análise das charges anteriores. De acordo com o Michaelis, dicionário da língua portuguesa
online59, moléstia tanto pode significar uma doença, achaque ou enfermidade quanto uma
incomodação física ou moral. Assim, serve tanto para uma quanto para outra, e pode ser
indício do diálogo do narrador com mais de um referencial.
No primeiro quadro60 vemos duas personagens cartunizadas, interagindo, balões de
fala indicando uma conversa. A primeira personagem está séria, com um dos olhos meio
fechados, o que sugere desinteresse, enquanto comunica à segunda figura (referida como
“padre”) que o bispo ordenou a troca de ajudantes. A segunda figura está sorridente, com um
pingo estilizado saindo da boca e os olhos arregalados, o que geralmente indica desejo ou
59 http://michaelis.uol.com.br/ 60 Por assim dizer... não há “quadros” no texto, por não haver linha delimitadora de espécie alguma, estando claro que se trata de dois momentos separados no tempo apenas pela coloração de fundo (que não se nota aqui) e pela repetição dos personagens.
85 fome. No caso, desejo, uma vez que, segundo a seqüência normal dos balões de fala, o padre
pergunta: “Teremos novos coroinhas?”
O segundo quadro mostra as personagens de corpo inteiro. O primeiro personagem
está apontando, sorridente, dois querubins que voam de encontro à dupla, vindos da esquerda,
enquanto o padre observa com um olhar de tristeza (cantos da boca e olhos caídos) ao ouvir a
resposta: “Coroinhas sem sexo!!”
Mais uma vez, há a ligação entre padres e sexo referindo o escândalo dos EUA, e,
onde anteriormente havia crianças, há querubins, que são anjos vindos da tradição judaica,
comumente representados na arquitetura e na pintura (especialmente medievais) na forma de
crianças com asas, freqüentemente nus. Dessa forma, publicada no contexto analisado, a
charge trata dos casos de pedofilia envolvendo padres católicos que fazem parte do caso
mencionado anteriormente, sem se ater a um fato em particular.
Há ainda mais uma brincadeira de sentido por parte do chargista, envolvendo uma
frase da sabedoria popular, que é “o sexo dos anjos”. A expressão “discutir o sexo dos anjos”
é equivalente a falar bobagens, fazer longas preleções sobre um tema fantasioso, perder tempo
com discussões inúteis. Esse sentido deriva do fato de não haver conclusão possível quanto ao
sexo dos anjos, uma vez que este não é citado em lugar algum nas doutrinas religiosas e,
tratando-se de um ser sobrenatural, não haver verificação científica imparcial possível61.
Assim, designando como coroinhas dois querubins, cria-se dois querubins sem sexo,
frustrando as expectativas do padre. Mais uma vez, dois contextos lógicos mutuamente
incompatíveis são usados para incitar o riso62. E, através do ridículo, o humor que diminui o
padre, frustrado em suas expectativas, resulta da tensão tornada redundante.
61 Trata-se aqui de dois mitos: o do anjo e o da investigação científica imparcial. 62 Koestler, op. cit. p. 128.
86 2.2.3 Guerras no Afeganistão e no Iraque63
Em resposta aos ataques terroristas aos prédios do World Trade Center, a 11 de
setembro de 2001, o governo norte-americano desencadeou uma ofensiva armada contra a al-
Qaeda, facção política que assumiu a autoria dos atentados. Unindo-se à OTAN e à Aliança
do Norte, formada por grupos políticos hostis ao Talibã, os Estados Unidos da América
(EUA) invadiram o Afeganistão a 7 de outubro, com o objetivo de desmantelar a al-Qaeda e
capturar seu líder, Osama Bin Laden. Não conseguindo capturar Bin Laden e tendo
conseguido um largo aumento nos recursos militares (370 bilhões de dólares), os americanos
gradualmente voltaram sua atenção a outros países potencialmente inimigos dos EUA –
chamados pelo presidente de “Eixo do Mal”, que compreenderia o Irã, a Coréia do Norte e o
Iraque.
A 19 de março de 2003, o presidente dos Estados Unidos da América, George W.
Bush, anunciou o ataque das tropas americanas ao Iraque, sob o pretexto de haver indícios da
construção de armas de destruição em massa sob poder do então ditador iraquiano Saddam
Hussein. No dia seguinte, forças dos EUA – apoiadas pelo Reino Unido, Espanha, Itália,
Polônia e Austrália – atacaram o país.
Dada a desigualdade de forças, as forças da coalisão avançaram rapidamente. Em abril
de 2003, tomaram Bagdá, a capital. Saddam não foi encontrado. Quase imediatamente,
rebeldes começaram a realizar ataques contra soldados americanos e civis, ocasionando
milhares de mortes. Em dezembro do mesmo ano, Saddam Hussein foi capturado em um
esconderijo subterrâneo. Quase dois anos depois, julgado por crimes contra a humanidade,
condenado à morte e enforcado. As armas de destruição em massa nunca foram encontradas.
As charges a seguir tratam dos acontecimentos reunidos no texto acima, que abrange
os principais acontecimentos até o fim do ano de 2003, embora desdobramentos da guerra
ainda estejam acontecendo.
63 As informações foram retiradas do resumo da Folha Online, a 17/04/09, no endereço eletrônico: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u383788.shtml, e também do artigo de Rainer Souza publicado no site: http://www.guerras.brasilescola.com/seculo-xxi/guerra-iraque.htm.
87
2.2.3.1 Charge 01
Fig. 22 – Conflitos no Oriente Médio, charge 01
A charge representa a bandeira norte-americana (conhecida como Stars and Stripes –
Estrelas e Listas), de uma forma inusitada. Sobre um fundo azul, como sói ser de bom tom a
bandeiras nacionais, as listas acabam se tornando rastros de calor de mísseis. É uma charge
sem componentes verbais, excetuando-se a assinatura do chargista, desta vez situada abaixo à
esquerda.
A bem da verdade, poderia significar qualquer coisa relacionada a mísseis e à América
do Norte, não fosse o contexto em que o texto foi publicado. E (é triste dizer) talvez o texto
não fosse sequer propriamente classificado como charge, não fosse esse contexto, uma vez
que a América do Norte parece sempre estar envolvida em um conflito ou outro, e é o cartum,
não a charge, que trata de temas universais. Mas, devido aos anos que deve representar
(2002/2003), provavelmente relaciona-se ao conflito do Iraque. Não a um fato em específico,
salvo se a publicação original tenha sido no início das hostilidades, mas serve como
comentário do conflito como um todo.
A produção de sentidos (e, por conseqüência, do humor) nesta charge deve-se à fusão
de duas imagens diferentes, que nos fazem passar a entender a imagem comentada (no caso, a
bandeira americana) de forma diversa do que entendíamos antes. E isso é a essência do
humor: mudar a visão do objeto através do comentário. A diferença reside no fato de que o
comentário é realizado sem a ajuda do verbal, sendo a fusão das listas vermelhas com o rastro
de calor dos mísseis voando contra o céu azul o fator de associação que leva a ver a bandeira
de forma diferente. Novamente de acordo com Flôres:
88
Na charge, evidencia-se bem a característica funcamental da linguagem metafórica: a transmutação de uma coisa em outra sem que a primeira, que lhe deu origem, se dilua automaticamente na segunda. Os dois conceitos acham-se disponíveis e se apresentam à percepção. (FLÔRES, 2000, p. 25).
Uma faixa vermelha na bandeira de um país tão belicoso só poderia significar um
rastro de míssil. Claro, a bandeira representa o país. E essa analogia, a que o leitor é levado
pelo narrador, acaba por se tornar em prazer humorístico, destituindo de parte da importância
o tema tratado por torná-lo risível.
89 2.2.3.2 Charge 02
Fig. 23 – Conflitos no Oriente Médio, charge 02
Nesta charge, pode-se identificar a primeira caricatura a ser observada no decorrer
desta análise. Após dedicar um comentário especial a esse aspecto da linguagem da charge
seria constrangedor que, no material recolhido para análise, nenhum dos textos apresentasse
esse recurso. Fogos e aplausos à parte, o personagem mostrado espirrando, levando um lenço
à boca e com mísseis saindo juntamente com os perdigotos pode ser identificado como uma
caricatura devido aos traços que o diferenciam de um personagem normal, sem traços
exagerados, seguindo o estilo do autor. Esses personagens tendem a ser desenhados de forma
simples, sem deformações e exageros e de acordo com um estilo constante. Na imagem
acima, vemos um esforço consciente do chargista em destacar o nariz torto da personagem. O
cabelo tem um tratamento diferente, sendo apresentado em duas cores, e as orelhas parecem
desproporcionalmente grandes, chamando a atenção. Note-se que, enquanto a caricatura é a
arte do exagero, segundo Fonseca64, a arte do cartum é a arte da simplificação65. Portanto, a
caricatura pode ser identificada pelo esmero ou o traço conscientemente puxado, pelas linhas
em que o autor escapa da saída mais fácil (para uma orelha, por exemplo, o comum é
desenhá-la redonda) em busca de uma semelhança.
Juntando às características observadas os malares salientes, o formato da cabeça (e do
penteado) e as sobrancelhas peculiarmente erguidas, pode-se ver uma semelhança razoável
com o ex-presidente norte-americano George W. Bush. Claro, ninguém identifica uma
caricatura dessa maneira. O sujeito que descreve mentalmente a imagem para depois notar a
discrepância de alguns traços, daí decidir que é uma caricatura e começar a anotar cada um
64 FONSECA, op. cit. p. 17. 65 MCCLOUD, op. cit. p. 30.
90 dos exageros até chegar a uma conclusão sobre a quem a caricatura se refere é um caso digno
de estudo científico. A associação da caricatura com o caricaturado vai depender da
familiaridade do leitor com a retórica visual do caricaturado. Mesmo assim, o que faz de uma
caricatura uma caricatura e como poderíamos identificá-la desconhecendo o caricaturado foi
um assunto que passou batido na maioria dos trabalhos examinados durante a revisão
bibliográfica realizada para a elaboração deste estudo, e que, no entanto, é um assunto digno
de nota. A caricatura pode, em teoria, trazer um esmero e um exagero identificáveis em meio
ao traço fácil do cartum. E a identificação do caricaturado dependeria de uma pesquisa mais
detalhada.
Digressões à parte, temos George W. Bush espirrando (parece desnecessário
mencionar o “A-A... ATCHÔÔ!!” como uma onomatopéia para o espirro, talvez, mas sem sua
presença na charge o leitor poderia interpretar a ação de Bush como uma tosse) mísseis junto
aos perdigotos. As cores do terno, camisa e gravata remetem às cores da bandeira americana.
Bush, além de si mesmo, representa os EUA. Quanto à contextualização, esse é um caso
(exceção no que, mesmo neste ponto da análise, parecia estar surgindo como uma regra geral)
em que o contexto em que a charge está inserida não parece ser determinante na compreensão
de seu significado; a charge, por se ligar a Bush, permite que uma análise de sua biografia
pudesse levar a conclusão semelhante, ainda que a leitura fosse feita sem o conhecimento de
que a charge se limita aos anos de 2002/2003. A guerra em que Bush esteve envolvido é a do
Iraque, portanto a charge deve-se referir a esses eventos. Em um exame do histórico da
guerra66, vemos que durante um período o presidente americano fez constantes declarações da
existência de armas de destruição em massa no Iraque, depois ameaças de invadir o país.
Antes disso havia declarado uma guerra ao terrorismo devido aos ataque de 11 de setembro de
2001 (como visto).
Uma das leituras possíveis da charge é a de que George W. Bush fala tanto em armas
de destruição em massa que até quando espirra saem misseizinhos de sua boca. Ou a de que
Bush está tão ansioso para disparar mísseis que até espirrando eles podem sair. Nota-se uma
identificação do presidente com o país em ambas as possibilidades. A graça da charge está na
associação: falar em mísseis não os leva a sair da boca, assim como mísseis não são
disparados por presidentes, e sim por países. Essa substituição vem expor o lado ridículo do
discurso, diminuindo o assunto e causando o prazer humorístico.
66 Um bom pode ser encontrado em: http://www.guerras.brasilescola.com/seculo-xxi/guerra-iraque.htm.
91
2.2.3.3 Charge 03
Fig. 24 – Conflitos no Oriente Médio, charge 03
A charge acima, constituída de uma bandeira norte-americana com um extintor preso
ao poste em que está hasteada, traz um título curioso: “O pôster dos pobres (lembram?)” O
título evidencia a necessidade de pesquisa, pois é um indício dado pelo narrador de que o
texto chárgico apresenta um diálogo com outro texto de título ou conteúdo semelhante. Não
há mais informação, a não ser a assinatura do chargista. No entanto, levando-se em
consideração as palavras de Flôres, que alertam que é necessária uma “relação” entre
humorista e o leitor67, temos que o chargista deve buscar incluir elementos que permitam a
leitura do texto, pois deve estabelecer o vínculo com o leitor. O “pôster dos pobres”, portanto,
deve ser uma referência para o leitor do texto, que, com a ajuda da provocação do narrador (o
“lembram?”) deveria ser capaz de identificar o chiste, a referência do chargista. A conclusão
lógica é a de que o “pôster dos pobres” é público e notório, se não para todos os leitores, ao
menos para os leitores do Pasquim 21.
67 A autora considera decisiva a incorporação do real na leitura do texto chárgico, pois “caso o leitor não consiga recriar o contexto, reconstituí-lo, a compreensão fica – numa proporção maior que na de outros tipos de texto – comprometida e inviabilizada” (FLÔRES, 2002, p. 84)
92
Uma pesquisa rápida na Internet leva a vários resultados que associam o texto a uma
prática d’O Pasquim, que era a de usar as duas páginas centrais como espaço para um único
cartum, que poderia ser colado na parede. Portanto, um “pôster dos pobres”, já que servia
como pôster sem custar adicional algum ao leitor. Uma vez mais se faz necessário, porém,
adequar as informações deste trabalho com as regras da produção científica e não fazer
concessões ao caos colorido e enganoso que constitui boa parte das informações encontradas
na Internet. Pisando em terreno um pouco mais sólido – embora venha da mesma fonte –
pode-se encontrar as palavras de Angélica Lorini Najar que, em uma rápida análise d’O
Pasquim, comenta que “os cartuns, com ou sem personagens permanentes, proliferam. Millôr
cria um cartunzão tomando duas páginas centrais, chamado de o Pôster dos Pobres”.
(NAJAR, 2006, p. 37).
Além disso, a fonte em que as palavras “o pôster dos pobres” aparece assemelha-se à
letra em que aparecia o nome do jornal original. São fontes da mesma família, semelhantes e
– no caso – intertextuais, uma vez que a leitura da charge remete ao texto conhecido.
Fig. 25 – Logo do Pasquim.
Temos, portanto, uma referência direta ao O Pasquim antigo, embora reste a dúvida se
o texto foi publicado originalmente em duas páginas ou não. Não se trata tanto da
intertextualidade quanto de um diálogo – quase saudosista – com o leitor, em que o narrador
recupera um aspecto da publicação anterior atiçando a memória do leitor. O sentido da
charge, no presente caso, só pode ser apreendido caso se mantenha o contexto de emissão em
mente. Trata-se de um comentário sobre a tensão nos EUA e sobre a eclosão da Guerra do
Iraque. Mas o texto é passível de diferentes interpretações em diferentes momentos. O que o
liga ao contexto estudado é, mais uma vez, o fato de ter sido apontado como um dos textos a
“marcarem época”.
Quanto à leitura da charge, o elemento deslocado (o extintor, que não teria lugar em
um poste de bandeira) conduz o leitor ao sentido do texto. Extintores são necessários onde há
perigo de incêndio. Sua mera presença na charge leva o leitor a imaginar uma combustão. O
que o chargista está anunciando é que a coisa vai pegar fogo. Ou, em outras palavras, que a
guerra é iminente. Mais uma vez, o prazer humorístico da leitura da charge deriva do jogo de
93 símbolos que faz com que o leitor veja o objeto de maneira diversa, diminuindo a tensão a ele
associada. O interessante é que aqui se trata de uma charge cujo tema é a tensão nos Estados
Unidos. Ou seja, a tensão é originária de um comentário sobre a tensão, e a idéia de apagá-la
com um extintor é o elemento de ridículo que detona o processo humorístico.
94 2.2.3.4 Charge 04
Fig. 26 – Conflitos no Oriente Médio, charge 04
O texto mostra uma pomba cartunizada com olhos escurecidos e expressão dura, com
um ramo na boca, uma granada pendurada no pescoço e um cinto de bombas, comumente
associado a homens-bomba suicidas em atentados terroristas. Ao fundo, distante (o que é
indicado pelo tamanho), uma cidade com colunas de fumaça erguendo-se no céu. A paisagem
é deserta e não há o uso do verbal fora a assinatura do chargista.
O pássaro é reconhecível como uma pomba por ser branco e pelo formato do bico,
mas não é uma pomba qualquer: trata-se da Pomba da Paz, uma vez que traz um ramo à boca.
Apesar do alto grau de estilização do texto e de não haver um botânico presente, pode-se
inferir que o ramo é de oliveira, uma vez que a Pomba da Paz é inspirada na história bíblica
do dilúvio, representando a pomba que Noé solta da arca para encontrar terra e que retorna
com um ramo de oliveira no bico. O fato da pomba ser entendida como a Paz é mais um dos
itens do vocabulário de símbolos sugerido por McCloud68, definido pelo uso até tornar-se
identificável. A pomba é a Paz. Um ícone representando a Paz. Temos, então, a Paz usando
um colete-bomba e uma granada no pescoço, enquanto uma cidade queima ao fundo (uma vez
que colunas de fumaça, mesmo desenhadas, são indício de fogo).
Uma vez mais, a contextualização é necessária: não fosse o período delimitado, o texto
poderia servir para ilustrar a situação corrente no Oriente Médio. Temos que a charge refere-
se, então, à onda de ataques terroristas enfrentada por civis e soldados da coalisão logo após a
tomada de Bagdá, como visto anteriormente. Situação que se estendeu por anos desde a
68 MCCLOUD, op. cit. p. 130-131.
95 primeira onda de atentados e dura até hoje, contabilizando milhares de mortos. De modo que a
charge é a apresentação dessa situação, a denúncia desse contexto. É o comentário de uma
situação se apresentando ao mundo pela primeira vez – ao menos nas proporções em que se
apresentou.
O que o narrador mostra ao leitor, no entanto, não é apenas a Pomba da Paz usando
um colete de homem-bomba; o chargista indica, pelo uso da Pomba da Paz, através da
associação de idéias (na linguagem escrita denominada metonímia), que o povo iraquiano,
antes pacífico, estava preparado para resistir como pudesse à dominação estrangeira. Estava
se preparando para se vingar dos que bombardearam as suas cidades. Ou mesmo o discurso
segundo o qual a coalizão invadiu o Iraque para restabelecer a Paz na região, usando da
violência para isso. É, também, a denúncia da Guerra para acabar todas as Guerras, a Guerra
para estabelecer a Paz.
Nessa charge o uso do símbolo da pomba da paz é essencial para criar o efeito
humorístico: a sugestão de que a própria paz poderia vestir um colete de bombas e partir para
a guerra é o gatilho, a quebra da seqüência lógica, que leva à percepção da incoerência
proposital do texto, que torna a tensão da leitura relacionada ao assunto como redundante.
Tensão essa que, expiada, gera o prazer humorístico.
96 2.2.3.5 Charge 05
Fig. 27 – Conflitos no Oriente Médio, charge 05
O texto acima, diferentemente dos vistos até agora, apresenta vários componentes
verbais. De acordo com classificação proposta por Vedovatto69, podemos notar o título da
obra, que identifica a temática da composição, e o que a autora classifica como “outros
recursos lingüísticos”70, no caso o uso metalingüístico do subtítulo como um cartaz letreirado,
passível de leitura como parte do desenho e também como orientação para o leitor.
Assim, pode-se notar o título que anuncia o tema a ser tratado (uma “escola de
terroristas do Afeganistão”), e um subtítulo, na forma de um cartaz que especifica ainda mais
o local em que acontece a ação mostrada na charge, no caso um “curso de homem-bomba”. O
cartaz insere-se no pictórico, como parte do desenho. De acordo com Eisner (1999, p. 10), “o
letreiramento, tratado ‘graficamente’ e a serviço da história, funciona como uma extensão da
imagem”. Na tira analisada, o cartaz exerce uma função de contextualização, indicando o tipo
de ação executado no quadro:
Um “Curso de homem-bomba”, um ambiente geral em que homens-bomba aprendem
como desempenhar suas atividades. Junto do cartaz há um homem com um cinto de bombas,
segurando um detonador (mão prestes a apertar um botão ligado ao cinto de explosivos por
um fio). A roupa larga, sandálias, turbante e barba, características visuais normalmente
69 VEDOVATTO, Inez Olinda Baraldi. A Charge na Mídia Impressa: Articulação e Efeitos de Sentido. São Leopoldo: 2000, p. 20. 70 Idem, p. 21.
97 associadas aos habitantes do Oriente Médio71 (e juntamente com a contextualização oferecida
pelo autor), levam a supor que se trate de um afegão. Mais que isso, o cinto de explosivos
sugere ser ele próprio um homem-bomba. O personagem está com o dedo erguido, falando
para mais três figuras vestidas da mesma maneira. Considerando-se que estão em um “curso”,
pode-se concluir daí que o homem mostrado é o professor do “curso de homem-bomba”. O
professor, então, está falando aos três outros afegãos: “Presta atenção, porque eu só vou fazer
uma vez, hein?!”
O narrador encarregou-se de contextualizar para o leitor a situação comentada no
texto: trata-se da resistência afegã preparando novos membros para ataques terroristas. Uma
vez mais, não é um fato ou acontecimento o comentado na charge, mas sim uma situação, um
comentário geral do panorama político, passível de leitura em diferentes épocas de contexto
político semelhante. Não fosse o enunciado, seria impossível estabelecer se o texto se refere a
ataques terroristas causados por afegãos ou por iraquianos, uma vez que o período 2002/2003
apresentou o mesmo tipo de ataque com agressores de ambos os países invadidos pelos EUA
durante as ações de 2001 contra o Afeganistão e de 2003 contra o Iraque.
O alvo do humor do chargista são os terroristas. Na charge o professor se prepara para
demonstrar a atuação de um homem-bomba na prática, o que o mataria. Daí o uso do discurso
“Presta atenção, que eu só vou fazer uma vez”, tão comumente ouvido nas escolas para
chamar a atenção dos alunos. A diferença é que o professor não poderia fazer mais de uma
vez mesmo que o quisesse, salvo por falha do dispositivo. A associação dos terroristas com
uma simples escola dá um tratamento ridículo à situação. Na verdade, o que está em jogo na
charge é a lógica do terrorismo em si. De acordo com a própria análise morfológica da
palavra, terrorismo é um modo de proceder que tem como objetivo incutir terror. O terrorismo
para fins políticos usa de violência contra civis e militares para forçar o olhar e discussões
sobre determinados temas. O tratamento dos terroristas como crianças que necessitam ir à
escola para o aprendizado de seu ofício é jogar com os conceitos, expondo a própria atividade
de homem-bomba ao ridículo. E, no choque dos dois campos lógicos mutuamente
incompatíveis (terroristas são treinados; uma maneira de ensinar é mostrar como se faz na
prática, mas isso é impossível para um homem-bomba, assim como seria praticar sua
atividade antes de exercê-la em campo), a tensão encontra uma válvula de escape que permite
o alívio humorístico. 71 De acordo com o conceito de estereótipo proposto por Eisner em sua obra Narrativas Gráficas (EISNER, 2005, p.22).
98 2.2.3.6 Charge 06
Fig. 28 – Conflitos no Oriente Médio, charge 06
O texto acima é, felizmente (para a realização deste trabalho), prolífico em caricaturas,
uma vez que o artigo parece estar em falta no material selecionado, especificamente nos temas
escolhidos. Como nunca foi intenção durante a realização da presente análise fugir aos
problemas, e sim enfrentá-los como uma parte fundamental do processo de encontrar
respostas, o texto em questão é mais do que exemplar: é bem-vindo. Cai como um remendo
sobre a parte omissa deste trabalho, propiciando a apreciação e estruturação da análise de
várias caricaturas, estilo de representar graficamente considerado tão importante para as
charges que consta da definição proposta para o tipo textual, inclusive merecendo comentário
separado no tópico relativo à linguagem da charge. E que, até o momento, não havia dado as
caras senão uma vez durante a realização da investigação propriamente dita.
A charge mostra seis figuras humanas à esquerda, a maioria delas levando as mãos ao
rosto ou à nuca (expressões de constrangimento), enquanto que, à direita da imagem, há mais
duas figuras, uma delas, sorrindo de pé em uma escada, se ocupa em pregar a outra figura –
sobre uma estrela de seis presumíveis pontas desenhada em uma bandeira – em uma parede de
tijolos. A personagem que está sendo crucificada usa turbante. À primeira vista pode-se
identificar os traços das figuras como caricaturas, mesmo que não se esteja familiarizado com
as retóricas visuais dos caricaturados, pois o estilo difere bastante da simplificação
99 cartunística proposta por McCloud72. Na charge em questão, os traços afastam-se do
“caminho simples” de criar personagens simplificados e/ou estereotípicos73 e concentra-se em
detalhes fisionômicos, detalhando diferentes tipos de cabelos e penteados, formatos de óculos
e mesmo roupas (como, por exemplo, no caso do Einstein caricaturado, que apresenta um
jaleco branco). Embaixo à direita, seguindo a linha da parede, a identificação do chargista.
A composição da charge sugere dois momentos distintos: um em que o personagem é
crucificado e outro em que várias pessoas ficam embaraçadas com o fato. De acordo com
Newton Cesar, no livro Direção de arte em propaganda74, a composição de uma imagem
consiste na análise e consideração dos elementos:
A composição nada mais é do que dispor, ainda que mentalmente, as formas, as linhas, os pesos, os tons, as cores e a importância das coisas. Ao analisar a composição fotográfica é preciso fazer certas perguntas: o tema principal está definido? Existe um ponto de atração, algo que os olhos percebam primeiro? O que está em segundo plano faz sentido? Não existem detalhes que desviem a atenção? O enquadramento permite que os olhos fiquem na área de maior interesse da foto? O peso das imagens na foto está em proporções aceitáveis? Existe equilíbrio ou a imagem ‘pesa’ mais para um lado do que para o outro? (CESAR, 2006, p. 203).
Ainda que o autor se refira à composição fotográfica, na charge em questão se pode
perceber uma divisão que corta o quadro pela metade, conforme mostra a figura abaixo:
Fig. 29 – Divisão que corta o quadro pela metade.
Na parte identificada como sendo o centro de atenção da charge, por centrar o olhar do
leitor, situam-se os personagens que executam a ação opinativamente comentada pelos
personagens agrupados na parte 02 – inferior esquerda. A opinião dos personagens – que
desaprovam a crucificação – pode ser compreendida pelo gestual, em que desviam os olhos ou
levam as mãos à face, demonstrando embaraço. As personagens, portanto, são importantes
72 McCloud, Scott. Desvendando os Quadrinhos. São Paulo: Makron Books, 1995, p. 28-29. 73 EISNER, op. cit. p. 22. 74 CESAR, Newton. Direção de Arte em Propaganda, SENAC Distrito Federal, DF, 2006.
100 para a compreensão do texto, assim como o é a identificação dos caricaturados e demais
elementos reconhecíveis no texto.
Na parte 01 da charge, temos um homem de terno ocupado em crucificar, sobre uma
estrela de seis pontas (uma estrela de Davi, símbolo do judaísmo), um homem de turbante. A
bandeira com a estrela é, logicamente, a bandeira de Israel. Ambas as personagens são
caricaturadas, o que pode ser inferido pelo traço que escapa às simplificações para buscar uma
semelhança, conforme mencionado anteriormente. Pode-se compreender os personagens
como sendo representativos do conflito entre árabes e palestinos no Oriente Médio (o
pesadelo diplomático que são as relações entre árabes e palestinos no Oriente Médio tem sido
uma presença constante nos noticiários devido a conflitos – locais ou não – desde muito antes
da criação do Estado de Israel em 1948). Tendo isso em mente, e a época supostamente
representada pelas charges selecionadas, não é difícil identificar os caricaturados como sendo
Ariel Sharon, o “crucificador”, primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, presidente da
Autoridade Palestina. A identificação de ambos os protagonistas da charge (os demais
personagens estão ali para comentar opinativamente a ação desses ditos protagonistas)
permite uma contextualização maior sobre o assunto comentado.
Sendo a charge uma das representativas dos anos de 2002/2003, e considerando-se a
biografia dos caricaturados, pode-se inferir que a charge refere-se à ofensiva contra a
Palestina realizada por Israel, sob o comando de Ariel Sharon em 2001. Na época, por
considerar Arafat o pivô da onda de atentados suicidas (que pareciam ser a “onda” no Oriente
Médio, de acordo com as charges analisadas até aqui) contra Israel, Sharon comandou ataques
que chegaram a isolar o líder palestino em seu quartel-general em Ramallah, na Cisjordânia.
A parte 02 da charge, referente ao julgamento realizado pelas personagens ali
caricaturadas, é de mais fácil leitura, pois trata-se de figuras cuja retórica visual é conhecida:
são eles, da direita para a esquerda: Ben Gurion, líder sionista e o primeiro premiê de Israel,
Golda Meir, ativista política e ex primeira-ministra de Israel, Woody Allen, cômico, diretor e
escritor norte-americano, Albert Einstein, físico, ganhador do Nobel e autor da Teoria da
Relatividade, Sigmund Freud, o pai da Psicanálise, e, finalmente, Karl Marx, autor de O
Capital. Todos os personagens são de conhecimento geral e importância histórica, sendo
101 também judeus. A charge mostra, portanto75, o povo judeu olhando, envergonhado (ou seja:
desaprovando), a atitude de Sharon ao crucificar Arafat.
Embora a opinião implícita nesse julgamento seja a principal opinião representada na
charge, esse não é o único efeito de sentido utilizado pelo chargista. E nem poderia ser de
maneira diferente, quando tratando de assunto tão polêmico: a simples menção de um muro
nesse contexto traz à memória o Muro das Lamentações, sagrado para o povo judeu por ser o
único vestígio restante do Templo de Herodes, erigido no lugar do Templo de Jerusalém
inicial e destruído por Tito em 70 D.C., ainda que não haja referência mais específica a esse
respeito. A analogia entre Arafat e Cristo, ambos crucificados (Cristo em uma cruz; Arafat,
jocosamente, sobre a Estrela de Davi da bandeira de Israel) é evidente e pode conter uma
sugestão de que ambos, Arafat e Cristo, foram condenados pelos pecados dos outros – uma
vez que Arafat alegava não ter participação nos atentados suicidas. Além disso há uma alusão
à idéia de que os judeus mataram Jesus Cristo, popularizada pela Igreja Católica séculos atrás
e assimilada pela cultura popular de forma jocosa; muito embora o assunto seja espinhoso – e
talvez por isso mesmo – presta-se a um tratamento humorístico. De certa forma, o que o
chargista está dizendo ao leitor é “Olhem só, eles fizeram de novo”, e o humor é gerado pela
associação mental da frase com os judeus e de Arafat com Cristo, representando uma
“quebra” lógica tanto de Arafat (que foi um soldado) quanto de Cristo. O comentário
irreverente, usando da idéia, que é de conhecimento geral, reduz o conflito a objeto de riso.
Daí o humor.
75 E de acordo com o uso da metáfora proposto por Flôres, como “pensar uma coisa em termos de outra, disso resultando uma forma de conhecimento obtido interativamente.” (FLÔRES, 2002, p. 25)
102 2.2.4 A Santa da Janela76
A imagem de uma santa teria aparecido na janela da casa de Antônio José da Rosa, em
Ferraz de Vasconcelos, Grande São Paulo, no dia 14/07/2002. A Santa da Janela teria sido
avistada primeira por Alan José da Rosa, de 8 anos. A casa agraciada com a visita da santa
passou a ser visitada por moradores da localidade, e logo se tornou uma febre nacional,
aparecendo com freqüência nos noticiários.
A casa foi visitada por dezenas de milhares de pessoas, mesmo que a diocese local e
autoridades em manifestações do tipo, como o popular Padre Quevedo, tenham se
manifestado contrários à validade do fenômeno. Finalmente, um laudo técnico obtido um mês
depois relatou ser a imagem uma mancha de umidade77.
A Santa da Janela desapareceu dos noticiários, mas sua presença foi notória na mídia
em geral, particularmente em seções de Cotidiano de vários jornais de cobertura nacional. Sua
aparição é o tema das charges seguintes.
76 <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u55045.shtml>, acessado em 15/05/09. 77< http://www.geocities.com/paraciencia/simulacrum.html>, acessado em 15/05/2009.
103 2.2.4.1 Charge 01
Fig. 30 – A Santa da Janela, charge 01
A charge mostra o interior de uma igreja, em que o padre e o coroinha observam
enquanto os fiéis têm sua atenção voltada para as janelas. O traço é bem cartunizado. O padre
se encontra à esquerda, ao lado do coroinha. Os cantos da boca voltados para baixo
demonstram desgosto em relação à situação, os braços caídos ao longo do corpo podem ser
lidos como sinal de impotência diante do fato comentado. O coroinha ou auxiliar do padre
(pode ser um diácono... a associação com o padre está sugerida pelo fato de ambos estarem
próximos ao altar e usarem a cruz em suas roupas, além de usar um corte de cabelo típico)
está falando algo ao padre. À direita da imagem, os fiéis se reúnem diante das janelas,
deixando os bancos da igreja vazios. Um deles ergue os braços, como se rezasse. Uma velha
tem as mãos em posição de reza (com os dedos entrecruzados), e uma criança aponta para o
vidro. O autor joga com as cores78, de forma a chamar a atenção para as personagens do padre
e do auxiliar. O verbal no texto está representado por um título (“A Santa da Janela”), a
enunciação do auxiliar do padre (“Não fique assim, padre, logo tudo volta ao normal...”) e
pela assinatura do chargista, abaixo, à direita.
De acordo com a classificação do verbal na charge proposta por Vedovatto79, o título
da charge identifica a temática da composição. A charge, portanto, trata da Santa da Janela,
que apareceu em São Paulo a 14/07/2002 e acabou atraindo milhares de fiéis até o local da
78 Apenas o padre e seu auxiliar estão coloridos... o resto da charge é monocromático. Mais um ato de fé requerido da parte do leitor. 79 VEDOVATTO, op. cit. p. 20.
104 suposta manifestação80. O ajudante do padre está dizendo ao padre que “Não fique assim”, do
que o leitor pode apreender que está dizendo ao padre que não fique triste (uma vez que é o
que o padre aparenta estar), e que “Logo tudo volta ao normal...”, ou seja, tudo voltará ao
estado de coisas anterior à Santa da Janela.
Interessante que, uma vez que a piada (os fiéis prestando atenção e rezando para a
janela) é visual, o chargista usou de várias expressões popularmente conhecidas81 que contém
um apelo visual para a compreensão: “Não fique assim” dirige o olhar do leitor ao icônico,
para que possa compreender o que é “assim”, da mesma forma que o “tudo” que “volta ao
normal” (o estado das coisas mostrado na charge reverterá para um estado anterior) necessita
da investigação do estado de coisas mostrado na charge para que possa ser compreendido.
Assim, o chargista convoca o leitor ao tipo de leitura necessária para a compreensão da
charge.
Os fiéis, olhando e rezando para a janela, representam não apenas os fiéis do país, que
passaram a prestar atenção ao fenômeno da Santa da Janela, mas também o público em geral,
que parou suas atividades normais para prestar atenção em algo tão trivial quanto uma janela,
simplesmente porque uma criança de 8 anos acreditou ter visto nela uma imagem de santa. A
charge, mais uma vez, busca reproduzir através de uma alegoria um assunto corrente na época
da produção do texto. Conforme a visão de charge proposta por FERREIRA82:
Por seu caráter crítico e irônico, a charge constitui poderoso veículo lingüístico, com alguns traços literários que se estruturam a partir da paródia de uma realidade. A charge, portanto, tem a peculiaridade de ser um texto que só faz sentido para determinado contexto e público, com marcações temporal contemporânea, caricatural e parodística. (FERREIRA, 2006, p. 9).
Assim, mais que o comentário de um simples fato, evento ou acontecimento, o
chargista exprime seu comentário dirigido a um assunto que repetitivamente aparece
comentado no cotidiano do país, chamando a atenção popular. Para tanto, sugere que,
havendo tamanha espetacularização em torno da imagem da Santa da Janela, os fiéis
passariam a rezar para a janela da Igreja, então, dispensando o intermediário (o padre). E é 80 Informações encontradas em http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u55073.shtml, acesso em 11/05/09. 81 “Não fique assim.” e “Tudo volta ao normal” não são, à primeira vista, ditos populares, mas são expressões conhecidas e usadas cotidianamente, passíveis de reconhecimento e decodificação sem muito esforço. 82 FERREIRA , Edilaine Gonçalves. Charge: uma abordagem parodística da realidade. Dissertação de Mestrado em Linguagem, Cultura e Discurso. Universidade Vale do Rio Verde – UNINCOR – Três Corações – MG, 2006.
105 essa “quebra” na lógica do cerimonial de uma missa com o fenômeno da aparição de uma
imagem que faz com que a comicidade possa emergir, ridicularizando a situação. Pelo
ridículo se dá a redução do assunto, que deixa de ser algo capaz de mobilizar milhares de fiéis
para se tornar algo risível, e a tensão é tornada redundante, o que causa o prazer humorístico.
106 2.2.4.2 Charge 02
Fig. 31 – A Santa da Janela, charge 02
A charge mostra várias personagens paradas diante de uma TV, que tem na tela a
imagem de uma santa. À esquerda, o último personagem (o último a chegar) é informado do
que está acontecendo, o que serve também para contextualizar o leitor. O texto novamente
apresenta título (“Vidro Show”), um enunciado (“Agora apareceu uma imagem da santa no
vidro da TV!!”) e a assinatura do chargista, abaixo à direita.
Se seguirmos a ordem de leitura sugerida por Flôres83, temos o título da charge como a
intervenção direta do narrador para contextualização do leitor. No entanto, o título também foi
feito de forma a fazer parte da imagem e comunicar sentidos: a forma como as letras foram
desenhadas pelo chargista cria um trocadilho, em que o “vidro show” proposto remete ao
“Vídeo Show”, programa transmitido de segunda a sexta-feira pela Rede Globo para o país
inteiro, sendo, portanto, amplamente conhecido.
83 FLÔRES, op. cit. p. 14.
107
Fig. 32 – Vídeo Show.
Assim, conforme a teoria de Eisner, o narrador trata as letras como imagens, de
forma a comunicar sentidos e orientar o leitor na leitura do texto chárgico: “É isso, afinal, a
arte da narração gráfica. A codificação, nas mãos do artista, transforma-se num alfabeto que
servirá para expressar um contexto, tecendo toda uma trama de interação emocional”
(EISNER, 1999, p. 16).
No caso, embora o narrador não tenha se servido das letras como imagens para
acrescer a emoção contida na charge e sim para estabelecer uma relação metafórica, usando
de um trocadilho, é inegável que guia o leitor em direção a um sentido de leitura.
A seguir, a fala do personagem explica: “Agora apareceu uma imagem da santa no
vidro da TV!!”. Como os olhares das outras personagens se encontram completamente
centrados na tela (os olhos apresentam círculos concêntricos, indicando que estão absorvidos,
em estado de transe pelo que é mostrado na TV) e a personagem mais distante da TV está
recebendo informação a respeito da ação mostrada na charge (informando o leitor por tabela),
pode-se inferir que foi a última a chegar e busca se informar sobre o que está acontecendo. No
contexto de emissão da charge, as palavras “santa” e “vidro” deveriam fazer com que o leitor
associasse a ação da charge à Santa da Janela, contextualização necessária ao sentido do texto.
Uma vez que o leitor realiza a associação, a paródia faz efeito: a santa que apareceu
no vidro, captando a atenção de uma nação inteira, se torna o Vidro Show. O trocadilho agora
pode ser compreendido como associação, instaurando a relação metafórica. O caso da Santa
da Janela, é percebido como espetáculo, como um “show” que capta a atenção de todos. Ao
mesmo tempo pode-se inferir a idéia de que a Santa poderia aparecer agora na TV pelo meio
ser mais apropriado à espetacularização do que uma simples janela. Há também a leitura
possível de que a Santa da Janela já estava na TV, uma vez que a imagem foi divulgada pelo
meio de comunicação, e a contradição de personagens olhando para o vidro da TV, em vez de
através do vidro para a imagem transmitida. No entanto, é a ridicularização do episódio,
derivada do fato de a charge mostrar as personagens dirigindo toda sua atenção para um
simples vidro que cria o efeito humorístico, forçando o leitor a estabelecer uma relação com o
contexto da Santa da Janela e ver na realidade não um fenômeno que atraiu a atenção de
milhares, mas sim milhares de pessoas olhando um vidro: é um Vidro Show.
108
Com a denúncia da relação entre os sentidos mostrados no desenho e na realidade,
instaura-se o ridículo, que trata o assunto como risível. É esse tratamento que diminui o
assunto na mente do leitor, tornando a tensão derivada da leitura do texto redundante. E é a
tensão redundante que pode ser expiada pelo riso.
109
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises realizadas mostraram-se consistentes com os objetivos deste trabalho, de
incorporar a investigação do humor à leitura da charge. Entende-se que, compreendendo as
qualidades do estímulo humorístico como um todo, se pode ter uma idéia mais ampla não
apenas do conteúdo do texto, mas também, e principalmente, de como as características do
humor influem no leitor; ou seja: uma vez que o humor se dá com a redução da tensão
associada ao assunto tratado, daí derivando seu prazer humorístico, há também uma mudança
na percepção do assunto, seja pelo leitor passar a compreendê-lo de forma diversa, devido a
uma associação com outro tema, ou pelo ridículo a que o assunto foi exposto. O que faz com
que a charge se torne um discurso que morde e dá um beijinho para sarar ao mesmo tempo,
jogando com a opinião (ou o ataque) enunciada e aliviando a tensão a ele relacionada.
Essas características da charge – como estímulo humorístico – se encontram alijadas
da maioria das graduações em Jornalismo, mas poderiam se mostrar valiosas na investigação
da formação da opinião pelo discurso opinativo humorístico em geral e da charge em
particular. É importante fazer menção ao fato de esse aspecto do humor relacionado à
formação da opinião – englobando, necessariamente, conceitos normalmente associados à
psicologia – só poderia ser pensado tendo como base uma aproximação que considerasse as
características de ambos os estímulos, semelhante à adotada na realização deste trabalho.
Certos problemas só podem ser percebidos adotando-se o referencial teórico apropriado:
como se uma teoria dissesse no ouvido esquerdo do pesquisador a frase “Há um tigre” ao
mesmo tempo que a outra dissesse no direito “atrás de você” e a única maneira de o
pesquisador compreender que precisa cuidar de assuntos urgentes em qualquer outro lugar
fosse associar ambas em uma ordem de leitura que fizesse sentido.
O problema da contextualização pôde ser resolvido sem grandes problemas, mesmo
sem a identificação específica do fato comentado pela charge. Isso foi devido mais ao fato de
as charges selecionadas se referirem predominantemente a questões gerais em detrimento do
comentário de fatos específicos. Muito embora o fato tenha sido incidental – e talvez devido à
seleção realizada pelo jornal ser mais direcionada a charges representativas da época
mencionada do que a comentários de notícias do dia; talvez a seleção tenha sido
propositalmente direcionada nessa direção – uma característica (possível) da charge que não
110 havia se mostrado em nenhuma das definições analisadas na revisão bibliográfica deu as caras
e se mostrou coerente com o objeto de estudo, que é a possibilidade de a charge não comentar
opinativamente apenas um determinado fato, pessoa ou evento, como enunciado pela
definição proposta no início do trabalho, mas também para comentar um estado de coisas,
uma situação.
A observação dessa qualidade nas charges analisadas foi notada constantemente
durante a realização do trabalho, podendo ter chegado a ser considerada tediosa pelo leitor por
se fazer presente em diversos pontos da análise. Seja por escolha na seleção do material
original ou uma qualidade mais presente nas charges publicadas na imprensa, as charges
puderam ser lidas, em sua maioria, sem uma contextualização mais aprofundada, de forma
que foi possível extrair sentido dos textos mesmo sem ligá-los a acontecimentos específicos.
Como foi salientado, algumas das charges até poderiam ser relativas a eventos cíclicos sem
que a qualidade humorística dos objetos fosse necessariamente comprometida. Mais: em
diversos momentos do trabalho a contextualização foi possível apenas pelo conhecimento
prévio da época que as charges deveriam representar. O que pode indicar que a linha entre
charge e cartum é talvez mais elusiva que as teorias comuns parecem sugerir.
Não obstante, uma característica relacionada à contextualização se mostrou constante
na análise dos textos, que é a base da opinião emitida e também do humor no texto: trata-se do
tratamento humorístico do tema através do uso metafórico, que faz com que o leitor perceba o
tema tratado de maneira diversa, e essa percepção diversa é que vai possibilitar a leitura do
texto, bem como o alívio humorístico que este proporciona. Para que essa leitura se realize é
necessário estabelecer a relação metafórica, ou, como já visto, de acordo com Flôres, perceber
uma coisa em função de outra84. Essa relação, sim, só é possível com o conhecimento de
ambos os conceitos ou visões do tema a serem associados na percepção da metáfora e pode
ser de auxílio na compreensão da ligação da charge com seu contexto de enunciação original.
O que resulta da constatação dessa idiossincrasia da análise realizada em relação às
teorias e conceitos vistos durante a revisão bibliográfica é a consciência da inapropriação da
definição utilizada (o que exige uma adaptação, mas disso se tratará mais tarde) de charge.
Além disso, parece ser necessário um estudo mais aprofundado em relação à contextualização
na leitura do texto chárgico, sendo que a leitura realizada no presente trabalho indica que o
84 FLÔRES, op. cit. p. 22.
111 estabelecimento da metáfora e a diferenciação entre os conceitos de cartum e caricatura pode
trazer pistas úteis para que se desvende essa relação.
Essa diferenciação (mencionada no parágrafo anterior) é talvez o ponto mais
interessante em que se tocou durante a realização desta análise: enquanto o cartum usa da
simplificação das linhas e do tratamento estereotípico para transmitir seus significados de
forma rápida e facilmente reconhecíveis ao leitor, a caricatura apresenta o exagero de traços
característicos em detrimento da simplicidade dos traços (embora seja conciliável com a
simplificação, sacrifica-a pela semelhança), características que podem ajudar a diferenciar as
duas técnicas mesmo que não se conheça a retórica visual do caricaturado.
Outro aspecto que não passou despercebido foi o fato de que, apesar de se ter
considerado a charge um estímulo humorístico antes de mais nada (o que talvez tenha sido
uma concessão inconsciente ao objetivo deste trabalho, sendo este o de incorporar o estudo
das qualidades do humor ao estudo das charges), para uma leitura do texto chárgico em
primeiro lugar foi necessário encontrar um conceito que englobasse a leitura da linguagem
híbrida que compõe esse texto em primeiro lugar. Na opinião dos realizadores desta pesquisa,
tal fato torna incoerente a definição apresentada: a charge é um estímulo humorístico, com
certeza, mas também – e isso foi indispensável à realização desta análise – um texto, palavra
aqui considerada em sentido lato, de acordo com a definição de Fávero & Koch (1988),
conforme apresentado por Romualdo (2000). Retomando, a charge foi vista como um texto,
no sentido de manifestação textual humana, comunicação executada através de um sistema
sígnico. Essa definição foi preciosa não apenas para ajudar a leitura, mas também para
impedir que a leitura de um simples texto se tornasse uma quimera, em que cada linha poderia
carregar significados tanto na forma de expressão em isolado quanto considerada em conjunto
com outras linhas. Portanto, parece adequado não definir a charge como um estímulo
humorístico, mas sim um texto humorístico.
Mais uma vez, portanto, pode-se atestar a inadequação da definição utilizada, que,
embora tenha buscado unir os elementos comuns a várias definições correntes e analisá-los de
forma separada, não sobreviveu ilesa à revisão das teorias a respeito do tema, que
acrescentaram conceitos úteis e – como se viu durante a análise – necessários à leitura do
texto. Portanto, seria importante que, após a realização desta análise, se fizesse um esforço
final para se consertar as premissas que se mostraram enganosas, mesmo que, assim
procedendo, se retorne ao princípio do trabalho. Que pode parecer um ponto de chegada
112 patético após uma jornada proveitosa entre conceitos e leituras, mas deve-se ter em mente que
toda jornada em que se viaja diligentemente, não se desviando do caminho, acaba chegando
ao ponto de partida, ocasionalmente. Afinal, o mundo é redondo. No entanto, mesmo que o
ponto de chegada seja o mesmo de que se partiu, o viajante já não é o mesmo: tem o
conhecimento e a experiência da jornada realizada, e é essa a contribuição – a da experiência
conquistada – que se espera acrescer ao conceito inicial.
Portanto, considerando a definição de charge tomada no início deste trabalho85 e
juntando a ela os conceitos apreendidos, pode-se tentar uma nova definição da charge como
sento o texto humorístico iconográfico que usa dos recursos do cartum e da caricatura para
comentar opinativamente determinado acontecimento, pessoa, fato ou situação. Nesse
conceito deve-se entender (como visto) a palavra texto em seu sentido lato e considerar as
características do estímulo humorístico para que haja uma compreensão geral das
características necessárias a uma leitura apropriada e completa da charge.
85 Lembrando: “estímulo humorístico iconográfico que comenta opinativamente determinado fato, pessoa ou evento, utilizando-se dos recursos da caricatura”.
113
BIBLIOGRAFIA
ARBACH, Jorge Mtanios Iskandar. O Fato Gráfico: o humor gráfico como gênero
jornalístico. Tese de doutorado, USP, 2007. Disponível no formato PDF em: <
http://poseca.incubadora.fapesp.br/portal/bdtd/2007/2007-do-arbach_jorge.pdf>. Acesso em
27 Mai. 2009.
CASTRO, Ruy. O melhor do Mau Humor. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
CAVALCANTI, Maria Clara Catanho. Multimodalidade e Argumentação na Charge.
Diss. Mestr. Universidade Federal de Pernambuco. CAC. Letras, Recife, 2008.
CESAR, Newton. Direção de Arte em Propaganda. Distrito Federal: Ed. SENAC, 2006.
DAVIS, Jessica Miles. Taking Humor and Laughter Seriously. Australian Jounal of
Comedy, vol.2, nº 1, 1996.
DELAMARI, Eliseu. O supremo Tribunal da Mídia Impressa – Um Estudo sobre as
charges de Chico Caruso, Angeli e Marco Aurélio. São Leopoldo, 2006.
EISNER, Will. Narativas Gráficas. 3a ed. São Paulo: ed. Devir, 2005.
___________. Quadrinhos e Arte Sequencial. 3a ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
FERREIRA , Edilaine Gonçalves. Charge: uma abordagem parodística da realidade.
2006. (Dissertação – Mestrado em Linguagem, Cultura e Discurso). Universidade Vale do
Rio Verde – UNINCOR – Três Corações – MG. Documento digital em formato PDF
disponível em
<http://www.unincor.br/pos/cursos/MestreLetras/arquivos/dissertacoes/EDILAINE%20GON
%C3%87ALVES%20FERREIRA.pdf>. Acesso em: 12 Mar. 2009.
FLÔRES, Onici. A Leitura da Charge. Canoas: Ed. da ULBRA, 2002.
FONSECA, Joaquim da. Caricatura – A Imagem Gráfica do Humor. Porto Alegre: Ed.
Artes e Ofícios, 1999.
114 FREUD, Sigmund. O Chiste e Sua Relação Com o Inconsciente. Obras Completas de
Sigmund Freud, Ed. Delta S.A., vol. 5.
_______________. O Humor. Obras Completas de Sigmund Freud, Ed. Delta S.A., vol. 6.
GHILARDI, Maria Inês. O Humor na Charge Jornalística. Comunicarte (Puccamp)
Campinas: v.12, nº20, 1995/1996, p. 87-93.
KOESTLER, Arthur. Jano. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1981.
_________________. O Fantasma da Máquina. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1969.
_________________. The Act of Creation. New York: Dell Publishing Co., 1964.
MARINGONI, Gilberto. Humor da charge política no jornal. Comunicação &
Educação, Vol. 3, No 7, 1996. Documento digital em formato PDF disponível em
<http://revcom.portcom.intercom.org.br/index.php/Comedu/article/view/4316/4046 >. Acesso
em: 27 Mai. 2009.
MCCLOUD, Scott. Desenhando Quadrinhos. São Paulo: M. Books do Brasil Editora Ltda.,
2008.
_______________. Desvendando os Quadrinhos. São Paulo: Makron Books, 1995.
MELO, José Marques de. A opinião no jornalismo brasileiro. 2ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes,
1994.
MIANI, Rozinaldo Antonio. Charge: Uma Prática Discursiva e Ideológica. INTERCOM –
XXIV Congresso Brasileiro da Comunicação – Campo Grande /MS – setembro 2001.
Disponível no endereço eletrônico:
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2001/papers/NP16MIANI.PDF. Acesso em 12
Mar. 2009.
NOGUEIRA, Andréa de Araújo. A charge, Função Social e Paradigma Cultural.
INTERCOM – XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – BH/MG – 2 a 6
Set 2003. Disponível em formato PDF no endereço eletrônico: <
115 http://intercom.org.br/papers/nacionais/2003/www/pdf/2003_NP16_nogueira.pdf>. Acesso
em 27 Mai. 2009.
OLIVEIRA e VERGUEIRO. “Se Maomé não vai à montanha... charge e crítica social no
limiar do século XXI”. Revista Alceu (PUC-Rio), Rio de Janeiro, v.7 n.14 jan./jun. 2007, p.
86-95. Documento digital em formato PDF disponível em <http://publique.rdc.puc-
rio.br/revistaalceu/media/Alceu_n14_Oliveira%20e%20Vergueiro.pdf>. Acesso em: 12 Mar.
2009.
JABLONSKI & RANGE. O Humor é Só-Riso? Algumas considerações sobre os estudos em
humor. Arquivos Brasileiros de Psicologia, Rio de Janeiro, 36(3):133-140 jul/set 1984.
ROCHA, José Antonio Meira da. Modelo de monografia e Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC). Documento digital do programa MS Word disponível em
<http://www.meiradarocha.jor.br/ news/ wp-content/ uploads/ 2007/ 09/ modelo_tcc-2006-09-
11b.zip>. Acesso em: 17 maio 2009.
ROMUALDO, Edson Carlos. Charge Jornalística: Intertextualidade e Polifonia. Maringá:
ed. Eduem, 2000.
SPENCER, Herbert. "The Physiology of Laughter," Essays on Education and Kindred
Subjects. Documento digital em formato HTML disponível em
<http://www.t.hosei.ac.jp/~hhirano/academia/laughter.htm>. Acesso em: 27 Mai. 2009.
VEDOVATTO, Inez Olinda Baraldi, A Charge na Mídia Impressa: Articulação e Efeitos
de Sentido, São Leopoldo, 2000.
VITORINO, Glória Dias Soares Contextualização: fator determinante na constituição da
crítica, da ironia e do humor em charges In: 16 Congresso de Leitura do Brasil -COLE,
2007, Campinas. VII Seminário "Mídia, Educação e Leitura. Campinas : SM Edições, 2007.
Documento digital em formato PDF disponível em:
<http://www.alb.com.br/anais16/sem05pdf/sm05ss08_03.pdf>. Acesso em: 12 Mar. 2009.