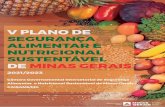O dever fundamental de produção agrária com sustentabilidade e segurança alimentar
Transcript of O dever fundamental de produção agrária com sustentabilidade e segurança alimentar
O DEVER FUNDAMENTAL DE PRODUÇÃO AGRÁRIA COMSUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR
Revista dos Tribunais Sul | vol. 6/2014 | p. 13 - 46 | Jul - Ago / 2014Revista dos Tribunais Sul | vol. 7/2014 | p. 13 - 46 | Set - Out / 2014Revista dos Tribunais Sul | vol. 8/2014 | p. 13 - 46 | Nov - Dez / 2014
DTR\2014\21381
Joaquim BassoMestre em Direito Agroambiental pela UFMT. Pós-graduado lato sensu em Direito Ambiental pelaUniversidade Católica Dom Bosco (UCDB). Graduado em Agronomia pela Universidade para oDesenvolvimento da Região e do Estado do Pantanal (Uniderp). Advogado.
Área do Direito: Constitucional; AmbientalResumo: O momento histórico é propício para o resgate da disciplina dos deveres fundamentais,essencial ao Estatuto Constitucional do indivíduo, ao lado dos direitos fundamentais. O estudo buscatrazer os fundamentos gerais e o regime jurídico dos deveres fundamentais, com o objetivo deverificar se existe um dever fundamental de produção agrária no ordenamento brasileiro e, se há,qual o seu conteúdo. Verificou-se que o art. 185, II, da CF, traz de forma implícita esse deverfundamental e que seu conteúdo deve ser preenchido de forma a não colidir com outros direitos edeveres fundamentais e princípios constitucionais. Para que isso ocorra, o único conteúdo admissíveldesse dever fundamental é aquele em que se verifica a sustentabilidade dos meios de produção e asegurança alimentar como fim último e precípuo da atividade agrária.
Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana - Deveres jurídicos - Propriedade produtiva - Meioambiente - Direito à alimentação.Abstract: The historical moment is right for the rescue of the discipline of fundamental duties,essential to the constitutional statute of the human being, along with the fundamental rights. Thestudy aims to bring the general grounds and the legal regime of the fundamental duties in order toverify the existence of a fundamental duty of agrarian production in the Brazilian legal system and, ifso, what is its content. It was found that art. 185, II, of the Brazilian Constitution, implicitly brings thisfundamental duty and that its contents should be filled so as not to conflict with other fundamentalrights and duties and constitutional principles. For this to occur, the only permissible content of thisfundamental duty is that in which there is sustainability of the means of production and food securityas the primary purpose of agrarian activity.
Keywords: Human person dignity - Legal duties - Productive property - Environment - Right to food.Sumário:
1.Introdução - 2.Os deveres fundamentais e seu regime jurídico - 3.O dever fundamental deprodução agrária com sustentabilidade e segurança alimentar - 4.Conclusões - 5.Referências
1. Introdução
Os sistemas jurídicos em geral costumam conferir maior ênfase aos direitos do que aos deveres, nãoobstante estes sempre estarem presentes no outro extremo das relações jurídicas estabelecidas poraqueles. Sob uma ótica mais contemporânea, contudo, os deveres jurídicos podem ser tratados deforma autônoma, de maneira a conferir maior destaque às obrigações dos indivíduos para com acoletividade, o que havia sido deixado em segundo plano na teoria do direito.
Associado a esse mais recente direcionamento, está o surgimento de disciplinas e realidades quepassam a ser objeto do direito, de que é exemplo mais proeminente o ramo jurídico que lida com omeio ambiente. É inolvidável que, nas últimas décadas, a partir, principalmente, da chamada“Declaração de Estocolmo”, de 1972, o meio ambiente e sua proteção contra a degradaçãoocasionada pelas atividades humanas têm estado, de forma recorrente, nas pautas da sociedadeglobal. Não é estranho que isso também tenha repercutido no direito, que passa a se amoldar a essenovo objeto, com um corpo diferenciado de regras e princípios.
Não é diferente o que ocorre com o ramo do direito que busca regular as atividades agrárias, isto é, odireito agrário, visto que também se relaciona com o meio ambiente (já que o agrário está
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 1
intimamente vinculado com fatores biológicos, climáticos etc.) e, em acréscimo, a uma realidadesocial (caracterizada pela presença de grupos e indivíduos com ampla vulnerabilidade) atrelada àprópria origem desse ramo autônomo, que implica a fixação de deveres jurídicos tanto ao proprietárioagrário, como a todos os sujeitos que se relacionam com as atividades que dependem de certo cicloe risco biológico.1
Essas atividades enfrentam desafios que exigem a conjugação de esforços das mais diversasciências, das quais não escapa a jurídica, necessária à racionalização das regras criadas natentativa de superação de tais desafios. Entre estes, está a sustentabilidade, que opera um cortetransversal no conhecimento humano, assim como ocorre com o desafio da segurança alimentar,que diz respeito, de maneira muito próxima, à sobrevivência humana, em seu sentido mais cru eessencial. É dizer, não há qualquer sentido em atender qualquer tipo de objetivo da humanidade semque antes o mais elementar deles seja alcançado: todos os seres humanos devem ter efetivo acessoao alimento necessário ao seu sustento, na quantidade e qualidade adequadas a uma vida digna.2
Para a transposição desses desafios, de sustentabilidade e segurança alimentar, o direito precisa deinstrumentos efetivamente aptos a aplicar deveres jurídicos, a fim de que possa alterarcomportamentos e ajustar as finalidades das condutas humanas.
Surge desse contexto a relevância do estudo dos deveres fundamentais, como são aquelesestabelecidos na Constituição e que têm como destinatários o indivíduo. Esse estudo deve sevincular àqueles que estão entre os maiores desafios da contemporaneidade, isto é, asustentabilidade e a segurança alimentar, eis que estes resumem os fins precípuos de qualquersociedade: a sobrevivência humana e a possibilidade de que essas condições de sobrevivênciaperdurem indefinidamente.
O tema dos deveres fundamentais, ligados a esses desafios, é ainda mais crucial quando se tem emfoco as atividades agrárias, que são, em última instância, aquelas nas quais o primeiro passo rumo àsolução desses desafios deve ser dado.
O presente estudo busca esse resgate da disciplina dos deveres fundamentais de maneira acorrelacioná-la com a sustentabilidade e a segurança alimentar no âmbito da atividade agrária, que éessencial ao fornecimento de alimentos e que não pode mais desenvolver-se de forma a inviabilizara continuidade desse fornecimento para todos, no presente e no futuro.
Para estabelecer essa relação teórica, o estudo, baseado em pesquisa de obras e artigosespecíficos sobre cada tema, está dividido em duas partes: na primeira, a noção geral de deveresfundamentais é resgatada e esmiuçada; e na segunda, é averiguada a existência de um deverfundamental de produção agrária e o seu conteúdo, diante da ordem constitucional brasileira.
Com esse itinerário, o objetivo do artigo é verifica se há um dever fundamental relacionado àprodução agrária na ordem constitucional brasileira e, se sim, estabelecer qual o seu conteúdo.2. Os deveres fundamentais e seu regime jurídico
Inicialmente, cabe aqui apresentar uma disciplina geral dos deveres fundamentais, o que será feitoem dois subtópicos. No primeiro, são apresentadas as razões para o estudo e resgate da disciplinados deveres fundamentais; no segundo, é discutido o regime jurídico daqueles deveres.2.1 Fundamentos para o resgate da disciplina dos deveres fundamentais
O Título II da Constituição Federal brasileira de 1988 é denominado “Dos Direitos e GarantiasFundamentais”, sendo que seu primeiro capítulo é intitulado “Dos Direitos e Deveres Individuais eColetivos” (grifo nosso). Esse capítulo, contudo, que abrange apenas o art. 5.º da Carta, conhecidocomo o “rol de direitos fundamentais”, não traz os deveres enunciados no seu título, limitando-se aenunciar os direitos.3 O nome desse capítulo advém de uma tradição constitucionalista que remontaà Constituição de Weimar, de 1919, que trazia um título nominado “Direitos e Deveres Fundamentaisdos Alemães” (Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen). Essa tradição, no entanto, nemmesmo na própria Alemanha persistiu, depois da derrocada do regime nacional-socialista, no qual,como em outros regimes totalitários, havia uma predominância quase absoluta das situaçõesjurídicas passivas (sujeições, deveres, obrigações etc.).4
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 2
É compreensível o déficit da atenção dedicada aos deveres, em detrimento dos direitos, eis que,entre outras razões, a história dos direitos fundamentais, ao menos em parte, coincide com a históriada limitação do poder, sendo que as primeiras Constituições escritas que reconheceram aquelesdireitos são produto do pensamento liberal-burguês do século XVIII, instituídos como uma forma deproteção do indivíduo frente ao Estado.5 Isso levou a uma primazia quase absoluta dos direitos emdetrimento dos deveres.6 Com o Estado Social, esse desequilíbrio teve de ser combatido, pois oindividualismo exacerbado tomado pela posição liberal tornava o cidadão pouco comprometido coma sociedade, o que é avesso à necessidade de estabelecimento de direitos sociais, que implicam aobservância de deveres e não um simples non facere estatal.7
A implantação de Estados totalitários, contudo, na primeira metade do século XX, amainou essatendência de fixar deveres, como dito, uma vez que os abusos daqueles vinham acompanhados poruma forte imposição de deveres, como são exemplos as Constituições da extinta União Soviética.8
Em decorrência disso, após a reimplantação da democracia em grande parte dos Estados ocidentais,tentou-se por todas as vias proteger o cidadão de novas investidas totalitárias, o que seria feito,novamente, pelo estabelecimento de direitos, deixando em segundo plano os deveres.9 A tradiçãoliberal-capitalista que dominou o pós-Segunda Guerra Mundial afastou a aplicação de deveresfundamentais, sob a alegação de que a fixação de deveres seria redundância, pois estesdecorreriam dos direitos, entre outros argumentos que sustentavam a inutilidade dessa previsão.10
Hoje, com a superação dessa “sombra” do totalitarismo, renova-se a ideia de tratar de deveresfundamentais, em contraposição àquela primazia absoluta de direitos. Segundo José Canotilho, ostempos estão maduros para voltarmos a falar em deveres fundamentais.11
José Casalta Nabais, em obra que é referência, no idioma português, sobre o tema dos deveresfundamentais, considera que duas posições extremas e opostas sobre estes devem ser afastadas.12
A primeira é a daqueles que identificam a liberdade dos indivíduos como algo ilimitado e os Poderesdo Estado para intervir como algo limitado, colocando a sociedade e o estado como duas coisasestanques e completamente distintas.13 Essa concepção, apesar de fundamental para a defesa deum Estado de Direito, não é suficiente para justificar outras formas de limitação aos direitos dosindivíduos além daquelas decorrentes dos direitos subjetivos de outrem.14
A posição oposta sugere que os direitos fundamentais estariam todos dissolvidos nos deveres,sendo estes expressão da soberania estatal, como ocorre nas teorias funcionalizantes dos direitosfundamentais. Essa concepção, para José Nabais, também deve ser rechaçada, já que subordina osdireitos aos deveres, em posição típica dos estados totalitários.15
A primeira posição não pode ser aceita, pois há exigências decorrentes da ordem constitucional queexcedem àquelas limitações impostas pelo exercício dos direitos de outrem, como são as imposiçõesque se fundamentam na moral, na ordem pública, no bem-estar em uma sociedade democrática. Sãoessas exigências que dão suporte aos deveres fundamentais.16 Assim, os deveres fundamentaisencontram fundamento jurídico na solidariedade, que decorre da necessidade de o ser humano serreconhecido como responsável pela comunidade à sua volta, eis que a sociedade pressupõe umrespeito mútuo entre os indivíduos, sem o qual se inviabiliza qualquer convívio.17
Importante pontuar que esses deveres são jurídicos e não apenas éticos (não obstante tenhamsurgido no âmbito da ética e da religião) e, no âmbito das categorias jurídicas, não são meros limitesa direitos fundamentais, da mesma maneira que não são reflexos individuais dos Poderes Estatais.18
Não obstante, não deixam de se relacionar com os direitos fundamentais, ainda que de formaautônoma, pois compõem o Estatuto Constitucional do indivíduo, participando da realização dadignidade da pessoa humana, que não se limita ao estabelecimento daqueles direitos, mas tambéminclui determinações lastreadas em certos valores comunitários, que, justamente, são os deveresfundamentais.19
Consoante José Nabais, os primeiros deveres fundamentais, considerados em seu devido sentido(como autônomos e representativos da realização da dignidade da pessoa humana), previstos nasprimeiras Constituições liberais, foram o de defesa da pátria e o de pagar impostos, previstos desdea Declaração francesa de Direitos do Homem e do Cidadão (art. 13).20 Posteriormente, surgiu odever de votar (advindo da universalização do direito ao voto) e, então, vieram os deveres sociais,como os de escolaridade obrigatória, de educação dos filhos pelos pais, de cultivo e exploração dosolo, entre outros, capitaneados pela Constituição do México de 1917 e de Weimar, de 1919.21 Por
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 3
fim, com uma terceira geração de direitos fundamentais, também advieram deveres fundamentaisassociados ao patrimônio cultural e ao meio ambiente, que estão de tal forma relacionados comdireitos (cujos destinatários são os próprios indivíduos, que têm deveres perante eles mesmos), quepodem ser chamados de direito circulares, direitos “boomerang ”, direitos poligonais, ou direitos desolidariedade.22 Ainda, há os deveres para com outros entes, que não os indivíduos, como são osanimais, as plantas e até elementos abióticos, como os rios e mares, da mesma forma que se podefalar de deveres para com indivíduos que sequer existem no presente, como são as futurasgerações.23
Diante dessas notas, é possível apontar que a categoria jurídica dos deveres fundamentais éelementar na realização da dignidade da pessoa humana, que não se contenta com o atendimentode direitos fundamentais, oponíveis perante o Estado. Os indivíduos, para que sejam dotados de suaintrínseca dignidade, também precisam cumprir deveres para com o próprio corpo social, eis que asolidariedade é uma das facetas daquela dignidade, que só se realiza completamente em umasociedade dotada de certo compromisso comunitário. A dignidade da pessoa humana afigura-se,então, como fundamento e como limite na instituição de deveres funamentais.24
2.2 Regime jurídico dos deveres fundamentais
É nesse contexto que cumpre sejam estudados os deveres fundamentais, definindo-se um regimegeral em que se pode compreendê-los mais adequadamente, a fim de possibilitar sua devidaaplicação.
De início, é importante afastar a concepção pela qual os deveres fundamentais seriam mero “reflexono espelho” dos direitos fundamentais, ou seja, que aqueles seriam mera decorrência destes, comoera afirmado pelos autores que negavam a utilidade em prever deveres fundamentais.25 JoséCanotilho aponta para essa desvinculação entre os direitos e deveres, denominando-a deassinalagmaticidade ou assimetria.26 Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins também afirmam que hádeveres fundamentais autônomos, isto é, que não constituem simples reflexo de direitosfundamentais.27 Na classificação desses autores, enquadram-se como deveres autônomos dosparticulares o dever da família de educar (art. 205 da CF), o dever de prestar serviço militar (art.143), o dever de segurança pública como responsabilidade de todos (art. 144), o dever depreservação do meio ambiente (art. 225), entre outros.28 Os mesmos autores trazem outrainteressante categoria que denominam de “direitos fundamentais que são acompanhados de deveresdo titular”. Para um desses autores (Dimitri Dimoulis), o direito de propriedade é um desses queatribui a seu titular, juntamente com o direito, um dever fundamental, que é a função social dapropriedade.29 Ingo Sarlet, que aborda o assunto dos deveres fundamentais em uma concepção maisampla, abrangente de deveres de proteção estatal, classifica os deveres em conexos (ou correlatos)e autônomos. Os primeiros, para esse autor, seriam os direitos-deveres, isto é, direitos que, aomesmo tempo, carregam consigo um dever correlato, como ocorre com a saúde (que é direito detodos e dever do Estado, conforme o art. 196, da CF) e com o meio ambiente (que é direito e deverde todos, consoante o art. 225). Já entre os deveres autônomos, para o autor, estão o de pagarimpostos, de colaborar com a administração eleitoral, de prestar serviço militar, entre outros.30 Emsentido semelhante, José Nabais coloca os deveres autônomos como aqueles em relação deexclusão ou delimitação de direitos, ao passo que os “não autônomos” estariam em uma relação deintegração com os direitos.31
Nesse ponto, estamos com José Nabais, que assevera que a tese de uma completa assimetria entredireitos e deveres fundamentais é equivocada, assim como aquela que sustenta uma sobreposiçãocompleta entre ambas categorias. O que existe é uma assimetria parcial, que implica dizer que hácerta dependência, eis que não existem direitos sem deveres e nem o contrário, que decorre do fatode ambos – direitos e deveres fundamentais – perfazerem o Estatuto Constitucional do indivíduo e,como tal, submeterem-se a um mesmo regime geral.32 Assim, por exemplo, os deveres fundamentaissão aplicáveis a residentes nacionais e estrangeiros, da mesma maneira que os direitosfundamentais. O mesmo vale para o princípio geral da proporcionalidade33 ou a proibição doexcesso, entre outros, que devem ser aplicados tanto aos direitos como aos deveres fundamentais.Estes não são totalmente independentes daqueles, pois lhes implicam limitações (o dever de pagarimpostos e de cultivo da terra, por exemplo, limitam o direito de propriedade), da mesma maneiraque os direitos implicam limitações aos deveres, tanto pelo fato de que sua concretização não podeviolar o núcleo essencial dos direitos, como no caso de direitos que servem especificamente àlimitação de deveres (tal como o direito de objeção de consciência perante o dever de prestar serviço
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 4
militar obrigatório – art. 143, § 1.º, da CF).34
Outro aspecto discutido sobre os deveres fundamentais é sobre se sua conceituação deve ser feitapor um critério formal ou material. Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins adotam o primeiro, isto é, paraeles, é dever fundamental aquele previsto na Constituição, independentemente de seu conteúdo.Preferem esse critério por sua segurança, já que o critério material estaria sujeito a uma indesejávelsubjetividade.35 José Canotilho, em sentido semelhante, afirma haver uma reserva de Constituiçãoquanto aos deveres fundamentais, inexistindo abertura material, nos moldes que há para os direitos.Ou seja, somente a Constituição, para esse autor, pode prever deveres fundamentais.36 José Nabais,por sua vez, coloca que os deveres fundamentais precisam estar previstos na Constituição, de formaexpressa ou implícita,37 sustentando que se submetem a um princípio da tipicidade ou do numerusclausus.38 Apesar de esse autor apontar que a jusfundamentalidade desses deveres advém do fatode que são aplicação da dignidade da pessoa humana, ou seja, há um critério substancial nadefinição de tais deveres, há aparente contradição nas suas conclusões, eis que considera que osdeveres legais, ainda que substancialmente fundamentais, não podem ser entendidos como tais,posto que não são constitucionais, afirmação que indica a tendência do autos para adotar umaconceituação formal dos deveres fundamentais.39 Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, contudo,posicionam-se em sentido oposto, rechaçando a posição de que os deveres fundamentaisobedeceriam ao princípio da tipicidade, o que fazem fundamentados na extensão da aberturamaterial dos direitos fundamentais (art. 5.º, § 2.º, da CF) de forma a aplicá-la também aos deveres.40
A nosso ver, em coerência com o exposto até o momento, os deveres fundamentais somente podemser conceituados por um critério substancial, isto é, como expressão do Estatuto Constitucional dosindivíduos e como corolário da dignidade da pessoa humana. Daí se dizer que são fundamentais, noque diferem dos deveres meramente constitucionais que não dizem respeito à dignidade humana.41
No entanto, não se pode afastar a necessária previsão, explícita ou implícita, no Texto Constitucional, eis que todos os deveres fundamentais, como visto, implicam limitações aos direitos fundamentais ejamais um dever meramente legal poderia restringir esses direitos, sob pena de incorrer em violaçãode cláusula pétrea e, por conseguinte, ser considerado inconstitucional (art. 60, § 4.º, IV, da CF).
Também é discutida a necessidade de regulamentação dos deveres fundamentais, ou seja, se estesteriam eficácia imediata, tal qual ocorre com os direitos fundamentais (ante a expressa disposição doart. 5.º, § 1.º, da CF). Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins sustentam que os deveres fundamentaispossuem uma estrutura bifásica, devendo a Constituição enunciá-los e a lei concretizá-los.Acrescentam os autores que dizer o contrário seria de pouco valor prático, pois os vagos termos quea Constituição comumente emprega para definir esses deveres não poderiam vincular alguém deforma concreta, sendo difícil exigir esses deveres sem que tenham sido regulamentados.42 Nomesmo sentido, José Canotilho nota a baixa densidade dos deveres fundamentais, o que tornajustificada a exigência de regulamentação, a qual, conforme o autor, pode ser excepcionada, pois hácasos em que se verifica a aplicabilidade imediata desses deveres (como no dever de obediênciadas leis e no de respeito ao direito dos outros, consoante exemplos do mesmo autor).43 José Nabaistambém afirma, na mesma orientação, que, contrariamente aos direitos fundamentais, os deveresnão são diretamente aplicáveis, mormente no que diz respeito às sanções, imprescindíveis àefetividade daqueles. O autor apenas excepciona os raros eventuais casos em que a própriaConstituição estabeleça uma sanção para o dever, ainda que, mesmo nesses casos, será muitoprovável que a haja necessidade de regulamentação para adequada aplicação da sançãoconstitucional.44
Em sentido diverso, mas com parcimônia, Ingo Sarlet alega que os deveres fundamentais podem tereficácia e aplicabilidade imediatas, mas isso deve ser verificado de modo distinto do que ocorre comos direitos fundamentais, pois há necessidade, em alguns casos, de ser verificado o princípio dalegalidade (como ocorre nas sanções penais, administrativas e econômicas impostas pelaConstituição).45 Esse mesmo autor reconhece, contudo, que prevalece a orientação de que osdeveres fundamentais são apenas indireta ou mediatamente aplicáveis.46 Fábio Konder Comparato,por sua vez, assumindo como premissa a bilateralidade entre direitos e deveres (para cada direitohaveria um respectivo dever), afirma que a Constituição, ao estabelecer aplicabilidade imediata aosdireitos fundamentais, também reconheceu, implicitamente, o mesmo quanto aos respectivosdeveres.47
A esse respeito, nossa conclusão é de que a estrutura bifásica não é da essência do deverfundamental, não obstante seja conveniente e mais adequado que haja uma especificação legal. É
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 5
dizer, não se pode descartar completamente a possibilidade de que um dever fundamental sejainteiramente regulamentado na própria Constituição. Todavia, é raro que esta o faça, razão pela qualo normal é que haja necessidade de regulamentação infraconstitucional para devida aplicação dodever. Não se concorda, contudo, com a posição de Ingo Sarlet a respeito do princípio da legalidade,eis que este se mostrará adequadamente cumprido se for a própria Constituição que estabelecer asanção, ainda com maior razão do que nos casos em que tal sanção é estabelecida em mero nívelinfraconstitucional.
É representativo, na Constituição brasileira, o exemplo do art. 184, que estabelece a sanção dedesapropriação para fins de reforma agrária para o proprietário que descumprir a função social dapropriedade. Seria possível sustentar que esse dever é autoaplicável no que tange aos imóveisrurais, eis que o art. 184 é minucioso sobre as condições de aplicação da sanção. Entretanto, omesmo dispositivo, no § 3.º, delega à lei complementar o procedimento de aplicação dessa sanção,estabelecendo uma estrutura bifásica, que, não fosse essa disposição, poder-se-ia entender se tratarde dever fundamental de aplicabilidade imediata.
Quanto à rigidez dos deveres fundamentais, Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer sustentam que, porsua condição material de fundamentalidade, aqueles estão protegidos contra reformas que esvaziemseu conteúdo – isto é, são, em regra, cláusulas pétreas.48 No mesmo sentido, José Nabais, seguindodoutrina alemã na mesma linha, defende que há uma intangibilidade dos deveres fundamentais, sejaporque estão associados a direitos fundamentais (e, por essa razão, revestem-se da mesmaimutabilidade destes), seja porque, nos demais casos, são expressão da dignidade da pessoahumana e, por isso, restringi-los seria violá-la, o que não pode ser admitido.49
Diante do ordenamento constitucional brasileiro, o assunto toma diversos matizes, que escapariamaos limites do presente artigo, a exemplo da discussão do que seriam as cláusulas pétreas para ospróprios direitos fundamentais – visto que o art. 60, § 4.º, IV, da CF, é restritivo quanto a “direitos egarantias individuais”. No entanto, sem aprofundar o tema, já é possível definir, com sentidosemelhante ao de José Nabais, que, baseado em um conceito substancial de deveres fundamentais,como aqueles que expressam o Estatuto Constitucional do indivíduo, decorrente da dignidade dapessoa, seria inadmissível que deveres necessários ao alcance dessa dignidade fossem suprimidospor via de lei ou mesmo emenda constitucional. Alguns deveres encontram óbices implícitos nascláusulas pétreas do art. 60, § 4.º, da CF, como sucede com o dever de participação nas eleições,que decorre da cláusula de “voto direto, secreto, universal e periódico” constante da alínea b daqueledispositivo. Não obstante, pode-se vislumbrar que sejam suprimidos deveres que deixem de serconsiderados fundamentais, pois não mais sejam essenciais à dignidade humana. Assim, porexemplo, o dever fundamental de produção agrária poderia deixar de ser considerado fundamentalem uma realidade socioeconômica em que essa produção deixa de ser essencial à dignidadehumana.50
Assim como os direitos fundamentais, os deveres podem apresentar conteúdo de natureza defensiva(impõem um comportamento negativo) ou prestacional (impõem um comportamento positivo),podendo haver deveres complexos que apresentem ambas as naturezas.51 José Nabais apontacomo exemplos dessa classificação, o dever negativo de isenção político-partidária das ForçasArmadas (correspondente ao art. 142, § 3.º, V, da CF brasileira) e o dever positivo de pagar impostose de prestação de serviço militar.52 Sobre os deveres que são simultaneamente positivos e negativos,exemplifica aquele autor com o de promoção da saúde, defesa do meio ambiente e do patrimôniocultural.53
Interessante e esclarecedora classificação que é trazida por José Nabais é a relativa aos titularesdos deveres fundamentais. Por esse prisma, esses deveres podem: (a) vincular os cidadãos aoEstado, como fazem os deveres políticos; (b) vincular indivíduos com a coletividade em geral, comosão os de caráter econômico, social ou cultural, entre os quais se inclui o de produção agrária; (c)vincular indivíduos a outros indivíduos, como faz o dever dos pais de educar os filhos; e (d) obrigar odestinatário a um dever consigo próprio, como é o dever de promover a saúde própria.54
Importante, no entanto, distinguir os deveres fundamentais da eficácia horizontal dos direitosfundamentais. Enquanto aqueles são normas que impõem um comportamento diretamente previstona Constituição, a eficácia horizontal é um efeito da titularidade de um direito fundamental, pelo qualum terceiro (alheio à relação entre o Estado, que estabelece o direito, e o seu titular) pode serobrigado a tomar uma atitude para assegurar esse direito titularizado por outro indivíduo. A eficácia
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 6
horizontal (Drittwirkung) é uma modalidade de vinculação dos particulares aos direitos fundamentais,55 ao passo que os deveres fundamentais são decorrência de normas diretamente impositivas aosindivíduos, sem a necessidade de que haja um direito fundamental conexo para que isso seja válido.Esclarece, a esse respeito, José Nabais que até os deveres fundamentais para consigo mesmo oupara outros indivíduos são sempre exigíveis pelo Estado ou pela coletividade, diferentemente do queocorre na Drittwirkung, em que é o próprio indivíduo, titular de um direito fundamental violado poroutro indivíduo, que deve reclamar o que lhe fizer jus.56
Evidencia ainda mais a diferença entre deveres fundamentais e eficácia horizontal de direitosfundamentais a constatação de que é possível se falar em eficáfica horizontal de deveresfundamentais (ou seja, uma Drittwirkung de deveres fundamentais). José Canotilho faz afirmaçãonesse sentido, mencionando que poderia ser possível falar-se em deveres fundamentais entrecidadãos.57 José Nabais, de forma mais aguda, cita duas formas de eficácia de deveresfundamentais perante terceiros: uma que decorreria daqueles deveres conexos a direitos, que nãoseria propriamente uma eficácia decorrente do dever, mas sim do direito fundamental; e outra queseria propriamente a eficácia externa de deveres fundamentais autônomos. Os exemplos desta,segundo o autor, são muito restritos, apontando, na Constituição portuguesa, a eficácia externa doserviço militar obrigatório, que compele a outros indivíduos o dever de não prejudicar “na suacolocação, nos seus benefícios sociais ou no seu emprego permanente por virtude do cumprimentodo serviço militar” (art. 276, 7, da Constituição portuguesa).58
Algumas notas finais ainda devem ser feitas, no que tange à relação entre os deveres fundamentaisentre si e entre os princípios constitucionais. Quanto a estes, José Nabais aponta que, tal comoacontece com os direitos fundamentais, eles também (1) servem de suporte para os deveresfundamentais, bem como (2) se colocam como um condicionamento recíproco em relação a essesdeveres. Como suporte de deveres fundamentais (1), os princípios constitucionais fundamentam eexplicam os deveres, como acontece, por exemplo, com o princípio democrático, que dá suporte aosdeveres políticos. Os princípios constitucionais, além disso, (2) condicionam reciprocamente osdeveres, o que significa que, de um lado, estes são condicionados pelos princípios (como ocorre noscasos, já mencionados, de aplicação do princípio da proporcionalidade, ou outros limites decorrentesda dignidade da pessoa humana), e de outro, esses princípios é que são limitados por deveresfundamentais (como ocorre, por exemplo, na limitação do princípio da igualdade, quando do deverfundamental de prestar serviço militar são excepcionados as mulheres e aqueles que aleguemimperativo de consciência).59
O último aspecto interessante a ser considerado, com pertinência para o presente estudo, é arelação dos deveres fundamentais entre si, em especial a situação de conflito ou colisão de deveresfundamentais. Esse conflito é possível, porém muito mais raro do que no caso de direitosfundamentais, eis que os deveres demandam, como visto, uma regulamentação e, se o conflitooperar-se apenas no nível legal, não será propriamente um conflito de deveres fundamentais, masde meros deveres legais.60 No entanto, é possível imaginar um conflito próprio de deveresfundamentais na hipótese, pertinente ao presente estudo, do dever de defesa e proteção do meioambiente (art. 225 da CF) e o dever de produção agrária (art. 185, II, da CF). Em princípio, asmesmas soluções para a colisão de direitos fundamentais são aqui aplicáveis (critério deproporcionalidade, interpretação sistemática da Constituição, ponderação etc.),61 sendo importanteverificar se o caso é de conflito aparente (em que apenas o conteúdo aparente de um dever érestringido por outro dever) ou real (em que o conteúdo real do dever é violado por outro dever, casoem que um dos deveres deve ser restringido pelas vias ordinárias, ou mesmo por revisãoconstitucional, para sua adequada solução).62
Em suma, pode-se concluir que os deveres fundamentais fazem parte do Estatuto Constitucional doindivíduo, submetendo-se, em geral, aos mesmos princípios aplicáveis aos direitos fundamentais, eisque sua assimetria com estes é apenas parcial. São conceituados de forma substancial, poismaterializam o cumprimento da dignidade da pessoa humana, mas devem estar previstos, implícitaou explicitamente, no Texto Constitucional. São autoaplicáveis, se vierem inteiramente dispostos noTexto Constitucional, inclusive com a sanção e procedimento para sua aplicação – o que é raro,tornando, para fins práticos, os deveres fundamentais como apenas mediatamente aplicáveis. Osdeveres fundamentais, enquanto assim forem considerados, são insuscetíveis de restrição pelopoder constituinte derivado (são cláusulas pétreas). Ainda, podem ser positivos ou negativos (ouambos), podendo apresentar eficácia externa (Drittwirkung), limitar princípios constitucionais e serpor eles limitados. Por fim, os deveres fundamentais estão sujeitos a colisão entre si, caso em que se
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 7
deve valer, em princípio, das teorias sobre colisão de direitos fundamentais.3. O dever fundamental de produção agrária com sustentabilidade e segurança alimentar
Colocado esse regime geral dos deveres fundamentais, para cumprir o objetivo proposto com opresente artigo, é necessário verificar, em um primeiro passo, se é possível identificar um deverfundamental de produção agrária no ordenamento jurídico brasileiro e, se positiva essa constatação,em um segundo momento, será necessário definir o conteúdo desse tal dever.3.1 A afirmação do dever fundamental de produção agrária no ordenamento brasileiro
Incumbe perquirir a existência de um dever fundamental relacionado com a produção agrária, o queserá feito pela investigação da existência de um dever jurídico em sentido genérico dessa produçãoe, depois, apontando-se para o sentido próprio do dever fundamental em questão.
O dever de cultivar a terra não é exclusividade dos tempos modernos. Sempre houve algum tipo depreocupação dos seres humanos com a terra e com os produtos que dela poderiam ser extraídos, jáque é da terra que sempre se retirou o sustento da espécie humana.63
Na Mesopotâmia,64 por exemplo, o Código de Hamurabi, uma das mais antigas codificações de quese tem notícia, já regulava com minúcias o arrendamento de casas e terrenos de cultura,65 comdisposições semelhantes à atual usucapião pro labore, sobre irrigação e servidão de passagem66 esobre a agricultura, retratando a prosperidade dos jardins da Babilônia,67 bem como a existência depropriedade individual da terra.68
Na Índia, antes mesmo do Código de Manu, havia normas cogentes quanto à divisão das terras, quedeterminavam qual atividade deveria ser realizada (agricultura, pastagem etc.) em cada parcela.69 NaGrécia antiga, segundo Luis Ballestero Hernandez, foi implementada a maior reforma agrária de todaa história antiga, obra do ateniense Sólon.70
É no direito romano, contudo, que o direito de propriedade é consolidado, com base em regras queaté hoje são repetidas nas leis de vários países.71 Primeiramente, a propriedade aparece em Romacomo uma instituição religiosa (de onde provém a ideia de absolutismo desse direito); depois,assume um caráter aristocrático; e, por último, transforma-se na propriedade privada ou individual.72
A Lei das XII Tábuas, promulgada por volta de 450 a.C., é que intensifica o direito de propriedadesobre a terra, conferindo ao seu titular amplas faculdades.73 Os romanos eram originalmente povosque dedicavam atenção quase que exclusiva à agricultura e à criação de animais.74
A preocupação com a produção agrária já era externada, no direito romano, pela existência de leisagrárias, que buscavam a limitação dos latifundia (grandes propriedades), como, por exemplo, emuma lei de 367 a.C. que proibia que mais de 330 acres de terras públicas fossem atribuídas a uma sópessoa.75 Não obstante, isso não impediu a acumulação de riquezas e a concentração fundiária,levando a que, em 133 a. C., Tibério Graco, membro da nobreza e tribuno da plebe, propusesse umareforma agrária e combatesse a escravidão dos povos conquistados por Roma.76 De fato, aprodução, no auge do domínio de Roma, era em grande parte conduzida por escravos, isto é, ospovos dominados pelo poderio romano, que perdiam suas terras, mas não a obrigação de produzir eentregar sua produção a Roma.77
Segundo Hans Peter, alguns fatos da tardia antiguidade de Roma podem ser identificados, hoje,como característicos de um direito agrário, entre os quais cabe aqui destacar os seguintes: ainstituição de uma obrigação de direito público a que os proprietários cultivassem suas terras, sobpena de, por exemplo, no final da República, ter seus direitos políticos e militares restringidos, ou, noImpério, ter agravada a imposição de tributos; e o instituto da epibolé , pelo qual um terreno nãocultivado ou não apto ao cultivo era adjudicado a outro cultivável e útil vizinho, ficando este últimoresponsável por seus impostos.78
Mais modernamente, é possível identificar o dever de cultivo da terra com as origens do direitoagrário, que tem como um de seus fatores uma ruptura na unidade do direito privado. Essa rupturaocorre, porque o direito civil e o comercial mostravam-se insuficientes para lidar com os problemasagrários, tanto sob a perspectiva da propriedade da terra (afeta até então ao direito civil) como daatividade agrária (afeta ao direito da empresa), na medida em que estas (propriedade e atividade) ea produção agrária não interessam somente ao indivíduo, mas a toda a sociedade.79 Esse interesse
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 8
social redunda em uma publicização dos direitos civis, a qual leva, por sua vez, a uma flexibilizaçãodos dogmas da “sacralidade” e inviolabilidade da propriedade privada que até então vigiam. Apropriedade não mais é absoluta, plena e exclusiva, mas o proprietário da terra é obrigado a nelaproduzir – regra essa que não poderia ser sustentada no regime privado que até então abarcava apropriedade. Com isso, conforme Ricardo Zeledón, surge o direito agrário com um de seus principaisinstitutos: a propriedade agrária, que em muito se diferencia da propriedade civil.80
Segundo Alberto Ballarín Marcial, é o dever de cultivar e melhorar o solo que modifica a estruturajurídica da propriedade, pois no sistema civil não havia deveres positivos do proprietário, mas apenasnegativos, como o de não fazer, de não danificar, ou de tolerar, suportar etc.81 Da mesma forma,consoante aquele autor, a compreensão de empresa foi modificada pelo dever de cultivo, fazendosurgir a empresa agrária – em contraposição à empresa do direito comercial.82 No mesmo sentido,Jean Megret, no estudo do direito agrário francês, observa que o proprietário é livre para escolher aatividade que irá desempenhar, mas não é livre para deixar inexplorada a propriedade.83
Assim, a propriedade agrária é justamente uma adaptação do direito civil para incluir aquele dever decultivo da terra no plexo de relações jurídicas decorrentes do instituto da propriedade civil. É com odever de cultivo, imposto ao proprietário, que se opera uma ruptura no direito privado, de modo a seevidenciar certa autonomia do direito agrário.
Com o Estado Social,84 insere-se nos Textos Constitucionais, a começar pela Constituição mexicanade 1917, em seu art. 27, a necessidade de que a propriedade privada obedeça ao interesse público,principalmente com o adequado aproveitamento dos elementos naturais e a distribuição equitativa deriquezas.85 Na mesma orientação, a Constituição da República de Weimar, de 1919, passa aestabelecer que a propriedade obriga e seu uso deve servir também ao bem comum86 e que o cultivoe a exploração da terra é um dever do proprietário para com a sociedade.87 Essas disposiçõesconstitucionais foram somente o início de um movimento que foi seguido por diversos outros TextosConstitucionais da Europa e das Américas.88
Mais recentemente, observou-se uma tendência, iniciada na década de 1960, em que os paíseslatino-americanos passaram a regulamentar um dever legal de produção agrária, de formageneralizada. É o que ocorreu, primeiramente, na Venezuela com uma Lei de 05.03.1960, quetratava da reforma agrária naquele país e foi tomada como referência para todos os posterioresdiplomas legais sobre a matéria na América Latina.89 Essa Lei trouxe disposições que consolidaramalgumas expressões relacionadas com a produção agrária, sendo um dos mais importantes o art. 19,que define os requisitos da função social da propriedade.90 O parágrafo único do art. 20 estabeleciaainda que as terras não cultivadas ou ociosas e as cultivadas indiretamente sofreriam tributaçãoprogressiva; o art. 23 dizia que incentivos deveriam ser estabelecidos aos cumpridores da funçãosocial; o art. 26 declarava inexpropriáveis as terras que cumprissem sua função social; e o art. 22, aoreverso, declarava afetas à reforma agrária aquelas terras que descumpriam qualquer dos requisitosdecorrentes da função social da propriedade.
Seguindo a linha da Lei venezuelana, na Costa Rica, a Lei de Terras e Colonização, de n. 2.825, de14.10.1961, no art. 144, estabeleceu como objeto prioritário para a expropriação dos imóveis quenão cumpram com a função social da propriedade as terras não cultivadas e, entre elas, as de maiorextensão, além das terras exploradas indiretamente (por arrendamento, ou por ocupantes diversos) eaquelas não cultivadas nos cinco anos anteriores à expropriação.91 Na Colômbia, a Lei 135, de13.12.1961, que regulamentava a “reforma social agrária”, dispunha sobre a “extinção do domíniodas terras não cultivadas”. No Panamá, o então Código Agrário (Lei 37, de 21.09.1962)92 já fixava anecessidade de cumprimento da função social da propriedade (art. 3.º), voltando-se precipuamentepara a exploração total do território da República do Panamá, com isso significando que todas asterras deviam ser destinadas à produção (art. 4.º), sem deixar de tratar da “conservação e utilizaçãoracional” dos recursos naturais (art. 5.º). No Paraguai, o Estatuto Agrário, promulgado em 29.03.1963(Lei 854/1963), definia que a função socioeconômica da propriedade privada imobiliária rural eracumprida quando se ajustasse a dois requisitos essenciais: a exploração eficiente da terra e seuaproveitamento racional; e a observância das disposições sobre conservação e reposição dosrecursos naturais renováveis. No Peru, o Dec.-lei 17.716, de 24.06.1969, estabeleceu a reversão das“terras abandonadas” ao domínio público, e a “afetação” das terras ociosas e as deficientementeexploradas.
No Brasil, influenciado por esse movimento legislativo que ocorria na América Latina, a obrigação de
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 9
cultivo da terra torna-se expressa no Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 30.11.1964), que, desde suaredação original, já obrigava o proprietário a “manter níveis satisfatórios de produtividade” (art. 2.º, §1.º, b), sob pena de o imóvel rural ser considerado área prioritária de reforma agrária (art. 20, I, c/cart. 4.º, V, b).
Com a Constituição de 1988, um novo instituto jus agrário foi inserido no art. 185, que apresentaduas hipóteses em que o imóvel rural não é suscetível à desapropriação-sanção do art. 184. Essashipóteses são consideradas imunidades a essa desapropriação, considerando que, por estaremprevistas no Texto Constitucional, não podem ser modificadas pela lei – em oposição às hipótesesde isenção de desapropriação estabelecidas em nível legal apenas.93
Uma das hipóteses de imunidade à desapropriação agrária é a propriedade produtiva. O parágrafoúnico do art. 185 coloca que a lei deverá garantir tratamento especial para essa espécie depropriedade e estabelecer normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.
“Produtivo”, literalmente, significa “que produz; produtor, producente, frutífero”, ao passo que“produzir”, entre seus diversos sentidos, é definido como “dar origem a, ser fértil; gerar, dar, fornecer;criar (bens ou utilidades) para satisfazer as necessidades humanas; fabricar, manufaturar; dar comoproveito ou rendimento; render”.94 Giangastone Bolla, um dos responsáveis pela autonomizaçãocientífica do direito agrário, definia “produzir” como o ato de encontrar uma utilidade permutável e a“produção”, como o conjunto de procedimentos humanos com os quais se cria essa utilidade.95
Uma propriedade produtiva, portanto, é aquela que dá frutos, gera rendimentos e cria utilidades.Trata-se de um conceito aplicável de forma muito direta à atividade agrícola, à produçãoagropecuária, a rendimentos econômicos. Não é à toa que o art. 185 está colocado no capítulo daPolítica agrícola e fundiária. É com a atenção voltada para esse tema que a expressão constitucional“propriedade produtiva” deve ser compreendida.
Observa-se, então, que a Constituição de 1988, ao instituir a propriedade produtiva como imune àdesapropriação agrária, a contrario sensu, dispõe que o proprietário rural tem um dever de produzir,sob pena de que sua propriedade seja considerada suscetível da máxima sanção administrativa,qual seja, a desapropriação-sanção (em que parte da indenização é paga em títulos da dívidaagrária, conforme o caput do art. 184).
O art. 185, II, da CF, nessa linha, não traz apenas hipótese de imunidade à desapropriação agrária,mas também prevê um dever fundamental, na medida em que impõe um dever que passa a comporo Estatuto Constitucional do indivíduo, no caso, o proprietário rural. O instituto da “propriedadeprodutiva” na Constituição de 1988, então, elevou a obrigação de produção agrária ao patamar denorma constitucional e, com isso, estabeleceu um dever fundamental, antes inexistente nasConstituições anteriores.96
Pelo fato de a Constituição de 1988 conter essa norma em seu bojo, cumpriu-se o requisito formalnecessário à disposição de um dever fundamental, como visto na primeira parte. O dever deprodução agrária é um dos deveres que constituem o Estatuto Constitucional do indivíduo,submetendo-se, em geral, aos mesmos princípios aplicáveis aos direitos fundamentais,fundamentando-se na própria dignidade da pessoa humana, eis que sem o cultivo da terra não sepodem conseguir os mais essenciais bens à sobrevivência humana, que são os alimentos. É espéciede dever fundamental implícito, eis que não há uma disposição expressa na Constituição,estabelecendo o dever de produção agrária, mas isso decorre da sanção de desapropriação agráriaa que estão sujeitos os imóveis rurais improdutivos. Como dever fundamental, é insuscetível derestrição pelo poder constituinte derivado (é cláusula pétrea), pois perfaz o Estatuto Constitucional doindivíduo. É dever ao mesmo tempo positivo e negativo, pois exige comportamento ativo dosdestinatários (os produtores rurais) de modo a realizar as atividades produtivas e também que seabstenham de cumprir esse dever em conflito com outros direitos e deveres, como os direitostrabalhistas (art. 7.º da CF) e os de proteção ao meio ambiente (previsto no art. 225 da CF). Ainda,como dever fundamental, implica possível eficácia externa, pois pode resultar que outros indivíduostambém se vinculem ao dever do destinatário direto, como decorre dos deveres de política agrícola,de fornecimento de crédito rural (pelas instituições financeiras), de incentivo à pesquisa (pelosvariados órgãos de pesquisa), de assistência técnica e de extensão rural etc. (art. 187 e incisos daCF). O dever fundamental de produção agrária também pode limitar princípios constitucionais, comoo de livre iniciativa (art. 170, caput, da CF), assim como pode ser limitado por outros princípios, como
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 10
a função social da propriedade (art. 170, III, da CF) e direitos fundamentais, como o direito ao meioambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF) e o direito à alimentação (art. 6.º, caput, daCF). Como dever fundamental, por fim, está sujeito a colisão com outros deveres, notadamente como dever de defender e preservar o meio ambiente (art. 225 da CF), devendo ser solucionado oconflito pela restrição do conteúdo daquele dever, em uma interpretação sistemática, de maneira aque não inviabilize este último.3.2 O conteúdo do dever fundamental de produção agrária
Afirmada a existência de um dever fundamental de produção agrária, observando-se que a ele seaplica o regime geral dos deveres fundamentais exposto na primeira parte, é imperioso agora, paracumprir os objetivos propostos com o presente artigo, que se defina, de forma específica, o conteúdodesse dever fundamental, de modo a precisar seus limites e estabelecer quais condutas cumprem oudescumprem seu mandamento.
O primeiro elemento que deve ser definido nesse dever fundamental é o seu objeto: afinal, o que éproduzir, para a Constituição? Para Gilberto Bercovici, “[a] produtividade protegida pelo TextoConstitucional não é apenas a produtividade econômica, mas esta no que significa de socialmenteútil, no que contribui para a coletividade, em suma, no que efetivamente cumpre de sua funçãosocial”.97
Consoante Joseph Sax, a terra não é uma entidade passiva, aguardando para ser explorada por seuproprietário, mas, ao contrário, já está em funcionamento, executando importantes serviços, mesmoem seu estado inalterado. Exemplifica o autor que as florestas regulam o clima global e asgramíneas do cerrado mantêm o solo no lugar.98
De fato, a Política Agrícola Comum da União Europeia incorporou essa constatação, ao instituir umregime de pagamentos aos proprietários que, simplesmente, mantiverem suas terras em boascondições agrícolas e ambientais, mesmo que não delas não extraia produção alguma. Isso ocorreucom a constatação de que a produção europeia era maior do que o que era absorvido por seupróprio mercado, tornando-se desejável uma diminuição da produção. É o que foi implantado pormeio do Regulamento n. 1.782, de 29.09.2003, do Conselho da União Europeia.99 Ou seja, atémesmo aquele que nada cultiva em sua propriedade, no âmbito da União Europeia, terá retornoeconômico apenas pelo fato de não deixar abandonado seu imóvel. É importante observar, contudo,que a manutenção das boas condições agrícolas e ambientais é diversa do completo abandono dosolo.100 Fala-se, então, em uma “economia rural não agrícola”, eis que o meio rural precisadiversificar sua economia, não mais a restringindo à produção de alimentos e à tradicionalagricultura.101
Também são considerados, atualmente, os serviços ambientais prestados pela propriedade. É o quese vê, por exemplo, no atual Estatuto Agrário do Paraguai (Lei 1.863, de 30.01.2002), em que asuperfície agrológicamente útil é definida com exclusão das áreas destinadas a serviços ambientais,assim declaradas pela autoridade competente (art. 5.º, e).102
Também o chamado “sequestro de carbono” pode ser considerado um serviço ambiental, na medidaem que o cultivo de certos vegetais implica na absorção de gás carbônico, um dos causadores doefeito estufa, considerada uma medida de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. É nessalinha que o Código Rural francês (Code Rural et de la pêche maritime), com redação modificada em2010, estabeleceu expressamente, entre seus objetivos, o de manter e desenvolver a produçãoagrícola, que deve coexistir com as atividades não agrícolas e integrar-se com as funções sociais eambientais dessas atividades, especialmente na luta contra o efeito estufa, com a valorização dabiomassa, o sequestro de carbono e o controle das emissões de gases do efeito estufa.103
No Brasil, fala-se na agricultura do baixo carbono, em que a atividade agrária seria exercida com acumulação de medidas mitigadoras das emissões de gases de efeito estufa, como são exemplos osistema de plantio direto, a integração lavoura-pecuária-floresta, a recuperação de áreas degradadase o florestamento. Em decorrência da política de mudança climática, o Governo Federal brasileirodisponibiliza linhas de crédito específicas para essa agricultura de baixo carbono.104
Observa-se, então, que a produção agrária não mais se restringe a uma única função, dondeexsurge a noção da multifuncionalidade da agricultura, que se baseia na valorização de outrasfinalidades do ambiente rural, como o turismo,105 o valor paisagístico, a ausência de contaminação, o
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 11
desenvolvimento da população e dos empregos locais, a função educativa etc.106 Na Costa Rica, porexemplo, a Lei 9.036, de 29.05.2012, instituiu novos princípios no âmbito rural, incluindo-se,expressamente, a multifuncionalidade da produtividade rural. Ademais, na questão do combate àdesertificação, também a multifuncionalidade da agricultura já foi objeto de conferência das NaçõesUnidas, a Conferência sobre o Caráter Multifuncional da Agricultura e da Terra, realizada emsetembro de 1999, em Maastricht, na Holanda, pela Organização das Nações Unidas para aAlimentação e a Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO).107
A atividade de produção agrária, então, contemporaneamente, deve considerar diversas formas decriação de utilidades (e não somente utilidades direcionadas à satisfação de necessidades humanas,mas de todas as formas de vida), em uma realidade na qual a agricultura não é mais unifuncional,mas multifuncional ou, ainda, multidimensional.
O segundo aspecto do conteúdo do dever fundamental de produzir é sua finalidade: para que sedeve produzir? O que deve ser produzido? Para responder a essa questão, dois desdobramentossão necessários. O primeiro é relativo à quantidade da produção; o segundo, à qualidade.
Quanto à quantidade, o aumento da produtividade é desejado. Primeiro, porque o aumento daprodução indica um incremento na disponibilidade de alimentos e outros produtos agrários, cada vezmais necessários em um mundo com população mundial crescente. Segundo, porque o aumento daeficiência dos insumos (produtividade) implica uma menor necessidade de expansão da áreaagricultável, o que colabora com a necessidade de preservação do meio ambiente, da biodiversidadee, na realidade brasileira, com a diminuição do desmatamento.108
É possível aumentar drasticamente a produção agrária brasileira sem que se aumente a áreacultivada, simplesmente com a recuperação de áreas degradadas109 e com o emprego de tecnologiasmais adequadas, ao invés de técnicas já obsoletas.110 Com isso, também há um benefício social,pois é contida a expansão das fronteiras agrícolas, diminuindo a pressão sobre áreas deconservação ambiental e também sobre as terras indígenas, que têm sofrido intensamente com a“invasão” do agronegócio.
Postos esses fatores positivos, é preciso observar que esse aumento quantitativo da produção deveocorrer dentro de certos limites, eis que algumas atividades, apesar de aparentemente levarem aoaumento da produção, na realidade não o fazem. Por exemplo, a atividade agrária realizada emáreas desmatadas da Amazônia, segundo estudo recente, pode não ser vantajosa economicamente,já que esse desmatamento implica redução nos regimes pluviométricos e, assim sendo, menorprodutividade.111 Da mesma forma, o aumento de produtividade conquistado à custa dabiodiversidade também não pode ser aceito, pois a perda dessa diversidade, conforme foi alertadono Painel Intergovernamental de Biodiversidade realizado em maio de 2013, também leva à reduçãoda produtividade, o que se torna ainda mais grave pelo fato de que inúmeras variedades de altodesempenho foram extintas no último século, em decorrência dessa perda de biodiversidade.112
Nessa linha, a quantidade da produção não pode aumentar sem qualidade. Não se pode medir oaumento da produtividade apenas pelo aumento na quantidade produzida, eis que também deve serconsiderado o seu potencial de diminuição da pobreza e fome, o seu potencial nutritivo. Daí porque aFAO cunhou o conceito de intensificação sustentável, traduzido na ideia de produzir mais de umamesma área, enquanto se reduzem os impactos ambientais negativos, aumentando-se o capitalnatural e o fluxo de serviços ambientais, em oposição à ideia de mero crescimento da produção.113
Essa intensificação implica uma revolução de paradigma em relação ao modelo até aquipreponderante, baseado na chamada “Revolução Verde”, que, com a mecanização e o intenso usode agroquímicos, foi útil para superar o desafio do crescimento populacional da segunda metade doséculo XX.114 Porém, esse modelo deixa muitos reveses, ao passo que prejudica, de formapermanente, as possibilidades de que essa produtividade se mantenha no futuro.115 A intensificaçãosustentável segue uma abordagem ecossistêmica em que se busca o crescimento da produção como aumento da proteção ambiental, mediante o uso de técnicas como o manejo integrado de pragas ea agricultura de conservação. Baseia-se em três grupos de princípios científicos: princípiosambientais, com uma abordagem ecossistêmica ao longo de toda cadeia produtiva de alimentos;princípios institucionais, uma vez que as práticas sustentáveis somente serão adotadas se asinstituições incentivarem-nas amplamente, informando, educando, concedendo crédito aosprodutores etc.; e princípios sociais, eis que a intensificação sustentável é um processo deaprendizado social, que depende de extensão rural, com melhoria das condições de trabalho e com
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 12
inclusão da mulher no processo produtivo.116
Também no aspecto qualitativo da produção insere-se a temática da segurança alimentar, tanto noaspecto da disponibilidade de alimentos para todos (que corresponde à ideia de food security ouErnährungssicherheit, traduzida por alguns como “soberania alimentar”)117 como no aspecto dasanidade alimentar e o equilíbrio nutricional (o que é conhecido como food safety ouLebensmittelsicherheit), afinal não basta a existência de reservas de alimentos e o poder decomprá-los, se esses alimentos não são saudáveis e não preenchem as necessidades nutricionaisde seus consumidores.118
A produção agrária posiciona-se na origem desse tema. De fato, foi a preocupação, expressada aofinal da Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de aumento da disponibilidade de alimentosque levou, por um lado, à busca de tecnologias que aumentassem a produção, tal qual a utilizaçãode agrotóxicos e fertilizantes químicos.119 A introdução desses agroquímicos no sistema produtivoelevou a produtividade, proporcionando aumento na disponibilidade de alimentos (food security),mas, contraditoriamente, implicou maiores riscos nos alimentos, que são impregnados de produtostóxicos, muitas vezes extremamente lesivos à saúde humana.120 Ou seja, as mesmas tecnologiasque implicaram aumento da food security (soberania alimentar) acabaram por comprometer a foodsafety (segurança dos alimentos).
O postulado da segurança alimentar modifica o modal de aumento quantitativo da produção agrária.Esse aumento, num contexto de segurança alimentar, nada significa se não há preocupação com aqualidade dos produtos. Segundo María Adriana Victoria, a qualidade da produção agroalimentar nãomais é uma variável do processo produtivo, mas se reveste de caráter substancial a esse processo,por ser condição imprescindível à aceitabilidade e conformidade das exigências dos mercados.121
Dessa maneira, a finalidade do dever fundamental de produzir é fornecer alimentos em quantidadecada vez maior, para acompanhar o crescimento populacional, mas também com qualidade, isto é,alimentos saudáveis e nutritivos, livres de contaminação química e biológica, atingindo os objetivosda segurança alimentar (food security e food safety). Esse crescimento qualitativo da produção, porsua vez, só poderá ocorrer com uma intensificação sustentável, baseada em uma revolução deparadigmas e o abandono de práticas não mais aceitáveis em um contexto de preservação dosrecursos naturais para o futuro.
Por fim, o último elemento do conteúdo do dever fundamental de produzir é o modo: como deve serrealizada essa produção?122 Essa resposta já foi parcialmente fornecida pela noção de intensificaçãosustentável, porém mais pode ser dito.
Os modos de produção devem ser voltados para a qualidade do produto e essa qualidade deve sermensurada pelo atendimento das necessidades do consumidor final, que tem de ser incluído noequacionamento das operações que envolvem o processo produtivo.123 A realidade rural é dinâmicae está em mutação, passando a não comportar apenas as atividades que visam ao ganhoeconômico, mas valorizando a multifuncionalidade da economia rural.124 Essa modificação deparadigma pode ser muito bem instrumentalizada pelos princípios ambientais, institucionais e sociaisda intensificação sustentável da produção.125
Porém, não há receitas prontas. A agricultura orgânica, por exemplo, regulamentada na Lei 10.831,de 23.12.2003, que seria aquela que incorpora todos os objetivos de intensificação sustentável atéagora comentados,126 nem sempre pode ser tido como a mais desejada, pois por vezes mostra-semenos produtiva.127 Assim, na hipótese de o mundo inteiro converter seus modos de produção paraos métodos de cultivo orgânico, poderia haver escassez de alimentos e o aumento da necessidadede ampliação da área cultivável, resultando em mais desmatamento e perda de biodiversidade.
O caminho é a diversificação, como vem sendo ressaltado desde a Agenda 21.128 Não há modo deprodução, mas modos, métodos variados, para produtos diversificados e para consumidoresculturalmente diferentes.129
Nesse sentido, o art. 5.º, h e i, da Lei da Costa Rica de n. 9.036/2012, traz uma esclarecedora noção,ao estabelecer que o Estado deverá estimular a “produtividade e a produção para assegurar umaalimentação saudável, nutritiva e culturalmente apropriada, respeitando a diversidade existente emtodos os territórios rurais, sob o princípio da solidariedade, cooperação e complementariedade” (trad.livre) e, mais ainda, o Estado costarriquenho também deverá “impulsionar a diversificação produtiva
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 13
do meio rural, tomando em conta sua multifuncionalidade e suas potencialidades produtivas, e suacontribuição à preservação da biodiversidade, a prestação de serviços ambientais à sociedade, omelhoramento dos espaços e paisagens rurais e a proteção do patrimônio cultural” (art. 5.º, i – trad.livre).
Outro diploma legal estrangeiro que se mostra consonante com tudo o que até agora foi exposto é aLey de Desarrollo Rural Sustentable do México, de 2001, com modificações posteriores, que trazdois capítulos intitulados, respectivamente “De la Sustentabilidad de la Producción Rural ” e “De laSeguridad y Soberanía Alimentaria”. Nesses dois capítulos, que abrangem os arts. 164 a 183 da Lei,encontra-se expresso que a sustentabilidade será o critério orientador no fomento às atividadesprodutivas (art. 164) e que a busca pela segurança alimentar deve mobilizar os produtores e todosaqueles envolvidos na cadeia produtiva (art. 182).
No Brasil, a Lei 12.805, de 29.04.2013, regulamentadora da integração lavoura-pecuária-floresta, falanão em aumento da produtividade, mas na sua melhoria, com terminologia inteiramente nova para osistema jurídico brasileiro.
É nesse sentido, portanto, que deve ser compreendido o dever fundamental de produção agrária: umdever que somente pode ser cumprido se houver sustentabilidade nos meios e segurança alimentarnos fins.
Conclui-se, pois, que o art. 185, II, da CF, estabeleceu um dever fundamental de produzir comsustentabilidade e segurança alimentar, dever esse que deve ser cumprido por todos os proprietáriosrurais, por meio de uma variedade de atividades, ante a multifuncionalidade da agricultura nos diasatuais; desde que não comprometa a finalidade de fornecer, de forma crescente, alimentos àsociedade, e que esses alimentos sejam de qualidade, produzidos mediante métodos conformescom a intensificação sustentável. O dever de produção agrária, nesse sentido, deve ser exercido demaneira a possibilitar uma intensificação sustentável e sempre estar voltado para seu fim precípuo,que é a satisfação das necessidades humanas de alimentação, sem comprometer que as futurasgerações também desfrutem dessas possibilidades.4. Conclusões
É chegado o momento de se resgatar a doutrina dos deveres fundamentais, eis que o EstatutoConstitucional do indivíduo e a realização da dignidade da pessoa humana não estão completos coma mera garantia de posições jurídicas ativas.
Fundamentado na dignidade da pessoa humana, é possível delinear um regime jurídico geral dosdeveres fundamentais: devem estar previstos no Texto Constitucional, de forma implícita ou explícita;podem ser autoaplicáveis (apesar de que, em regra, demandarão regulamentação para que tenhamseu integral conteúdo delineado); são cláusulas pétreas, enquanto forem consideradosfundamentais; sujeitam-se a limites perante outros deveres fundamentais, direitos fundamentais eprincípios constitucionais, e, por outro lado, também impõem limitações a esses direitos e princípios.
No ordenamento jurídico brasileiro, é possível afirmar a existência de um implícito dever fundamentalde produção agrária, com base no que dispõe o art. 185, II, da CF. A esse dever aplica-se todo oregime geral dos deveres fundamentais exposto.
O conteúdo desse dever fundamental, de forma a conformar-se com outros deveres e direitosfundamentais, somente pode ser aquele que se fundamenta em uma produção agrária diversificadae multifuncional nos meios, de modo a garantir a sustentabilidade da atividade, e, quanto aos fins,impõe a busca pela segurança alimentar, eis que a finalidade precípua da produção agrária é adisponibilização de alimentos, com qualidade e quantidade suficiente para todos.5. Referências
ALBUQUERQUE, Marcos Prado de; BASSO, Joaquim. Abertura material do ordenamento jurídicobrasileiro e o aprimoramento da produção agrária. In: MENEZES, Wagner; MOSCHEN, ValeskaRaizer Borges (orgs.). Direito internacional: organização Conpedi/Uninove. Florianópolis: Funjab,2013.
ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3. ed. SãoPaulo/Rio de Janeiro: Expressão popular/AS-PTA, 2012.
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 14
ANGULO, Mónica Ibáñez. Desarollo sostenible: un enfoque sistémico. In: FUENZALIDA, CarlosVattier (dir.); PÉREZ, Raquel de Román (coord.). El desarrollo rural en la política agrícola común2014-2020. Pamplona/España: Aranzadi, 2012.
ARANHA, Adriana Veiga. Fome Zero: a experiência brasileira de combate à fome. Pontes. vol. 9. n.7. p. 9-11. Geneva, ago. 2013.
BERCOVICI, Gilberto. A ordem econômica no espaço reforma urbana e reforma agrária naConstituição de 1988. Revista dos Tribunais. vol. 910. p. 91. São Paulo: Ed. RT, ago. 2011.
BERTAN, José Neure. Propriedade privada e função social. Curitiba: Juruá, 2009.
BETHEL, Tom. The noblest triumph: property and prosperity through the ages. New York: St. Matrin’sGriffin, 1999.
BOLLA, Giangastone. Scritti di diritto agrario. Milano: Dott. A. Giufrè, 1963.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra:Almedina, 2003.
CARRERA, Rodolfo Ricardo. El derecho agrario en las leyes de reforma agraria de America Latina.Revista de Estudios Agrosociales. n. 48. p. 131-169. 1964.
CARROZZA, Antonio. Agricoltura e diritto agrario. In: ______. Lezioni de diritto agrario: elementi diteoria generale. Milano: Giuffrè, 1988. vol. I.
CARVALHO, Fernando P. Agriculture, pesticides, food security and food safety. Environmentalscience & policy. vol. 9. p. 685-692. 2006.
COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. In:STROZAKE, Juvelino José (org.). A questão agrária e a Justiça. São Paulo: Ed. RT, 2000.
CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL. Agricultura de baixo carbono: porque investir? Brasília: CNA, 2012.
CONWAY, Gordon R.; BARBIER, Edward B. After Green Revolution: sustainable agriculture fordevelopment. New York: Earthscan, 2009. Natural Resource Management Collection, vol. 8.
COSTA, Dilvanir José da. Direito real. Revista dos Tribunais. vol. 782. p. 727. São Paulo: Ed. RT,dez. 2000.
______. Trajetória da Codificação Civil. Revista dos Tribunais. vol. 825. p. 729. São Paulo: Ed. RT,jul. 2004.
DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Deveres fundamentais. In: LEITE, George Salomão;SARLET, Ingo Wolfgang; CARBONELL, Miguel (coords.). Direitos, deveres e garantias fundamentais. Salvador: JusPodvium, 2011.
______; ______. Teoria geral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Ed. RT,2011.
FOLEY, Jonathan A. et al. Solutions for a cultivated planet. Nature. vol. 478. p. 337-342. 20.10.2011.
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Issues paper: themultifunctional character of agriculture and land. Netherlands Conference. Maastricht: FAO, 12 a17.09.1999.
______. Save and grow: a policymaker’s guide to the sustainable intensification of smallholder cropproduction. Rome: FAO, 2011.
FRANÇA, R. Limongi. Do objeto do direito obrigacional. Revista dos Tribunais. vol. 422. p. 38. SãoPaulo: Ed. RT, dez. 1970.
GRASSI NETO, Roberto. Segurança alimentar: da produção agrária à proteção do consumidor. São
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 15
Paulo: Saraiva, 2013.
HERNANDEZ, Luis Martin Ballestero. Derecho agrario: estudios para una introducción. Zaragoza:Neo, 1990.
HOUAISS, Antônio et al. (eds.). Dicionário eletrônico Houaiss de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:Objetiva, 2009.
INTERGOVERNMENTAL SCIENCE-POLICY PLATFORM ON BIODIVERSITY AND ECOSYSTEMSERVICES. Even farmed plant, animal diversity in decline as accelerating wild species loss threatenshumanity. Press release. 27.05.2013. Disponível em:[www.eurekalert.org/pub_releases/2013-05/ispo-efa052313.php]. Acesso em: 30.06.2014.
JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica.Trad. Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto/PUC, 2006.
LAVRATTI, Paula; TEJEIRO, Guillermo (orgs.). Pagamento por serviços ambientais: fundamentos eprincipais aspectos jurídicos. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2013. Direito emudanças climáticas, n. 6.
LEE, David R. Agricultural sustainability and technology adoption: issues and policies for developingcountries. American Journal of Agricultural Economics. vol. 87. n. 5. p. 1325-1334. 2005.
LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito agrário. 2. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar,1997.
MACRAE, Rod. Not just what, but how: Creating agricultural sustainability and food security bychanging Canada’s agricultural policy making process. Agriculture and Human Values. vol. 16. n. 2.p. 187-201. 1999.
MANIGLIA, Elisabete. Atividades agrárias, turísticas e ambientais no dia a dia do cidadão. CongressoNacional do Conselho de Pós-graduação de Direito, XIV, 2005, Fortaleza. Anais. Florianópolis:Fundação Boiteux, 2006.
MARCIAL, Alberto Ballarín. El deber de cultivar y mejorar. Rivista di Diritto Agrario. n. 1. ano LV. p.82-96. gen.-mar. 1976.
MARÉS, Carlos Frederico. A função social da terra. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2003.
MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. A history of world agriculture: from the Neolithic age tocurrent crisis. Trad. do francês para o inglês por James H. Membrez. London: Earthscan, 2006.
MEDAETS, Jean Pierre; FONSECA, Maria Fernanda de A. C. Produção orgânica: regulamentaçãonacional e internacional. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário/Nead, 2005.
MEDAGLIA, Jorge Cabrera; CHACÓN, Enrique Ulate. El impacto del desarrollo sostenible en elderecho agrario costarricense. Congresso Mundial de Direito Agrário, 5. 19-22 maio 1998, PortoAlegre. Direito agrário e desenvolvimento sustentável. Porto Alegre: União Mundial dos AgraristasUniversitários, 1999.
MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio ambiente: direito e dever fundamental. Porto Alegre:Livraria do Advogado, 2004.
MEGRET, Jean. Droit Agraire. Paris: Librairies Techniques, 1973. t. II.
MONREAL, Eduardo Novoa. El derecho de propriedad privada. Bogotá: Temis Librería, 1979.
MORAIS, Jose Luis Bolzan de. O Brasil pós-1988 do/para o Estado Constitucional. In: SCAFF,Fernando Facury (org.). Constitucionalizando direitos: 15 anos da Constituição brasileira de 1988.Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003.
MOZOS, José Luis de los. La aparición del derecho agrario. Rivista di Diritto Agrario. n. 2. ano LVII.p. 285-296. apr.-giu. 1978.
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 16
NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: contributo para a compreensãoconstitucional do Estado Fiscal Contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2004.
NOBRE JR., Edilson Pereira. Desapropriação para fins de reforma agrária. 3. ed. rev. atual. Curitiba:Juruá, 2006.
OLIVEIRA, Leydimere J. C. et al. Large-scale expansion of agriculture in Amazonia may be a no-winscenario. Environmental Research Letters. vol. 8. n. 2. apr.-jun. 2013.
PETER, Hans. Il diritto agrário del tardo Imperio Romano. Rivista di Diritto Agrario. n. 4. ano XXXIII.p. 421-436, ott.-dic. 1954.
POZO, Luis Fernández del. A publicidade imobiliária no direito mesopotâmico antigo. Revista deDireito Imobiliário. vol. 50, p. 278. São Paulo: Ed. RT, jan. 2001.
SÁENZ, José María de la Cuesta. La nueva PAC, las ayudas directas a los agricultores y eldesarrollo sostenible del medio rural. In: FUENZALIDA, Carlos Vattier (dir.); PÉREZ, Raquel deRomán (coord.). El desarrollo rural en la política agrícola común 2014-2020. Pamplona/España:Aranzadi, 2012.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitosfundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do advogado,2012.
______; FENSTERSEIFER, Tiago. Deveres fundamentais e proteção do ambiente. In: ______;______. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos fundamentais e proteção do ambiente.2. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. RT, 2012.
SARMENTO, Daniel. A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais: o debate teórico e ajurisprudência do STF. In: LEITE, George Salomão; SARLET, Ingo Wolfgang; CARBONELL, Miguel(coords.). Direitos, deveres e garantias fundamentais. Salvador: JusPodvium, 2011.
SAX, Joseph L. Property rights and the economy of nature: understanding Lucas v. South CarolinaCoastal Council. Stanford Law Review. vol. 45. p. 1433-1455. mar. 1993.
SCAFF, Fernando Campos. Direito agrário: origens, evolução e biotecnologia. São Paulo: Atlas,2012.
SEUFERT, Verena; RAMANKUTTY, Navin; FOLEY, Jonathan A. Comparing the yields of organic andconventional agriculture. Nature. vol. 485. p. 229-232. 10.05.2012.
STEPHENSON, Andrew. Public Lands and Agrarian Laws of the Roman Republic. Teddington: TheEcho Library, 2006.
TILMAN, David et al. Global food demand and the sustainable intensification of agriculture.Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. vol. 108. n. 50.13.12.2011.
TRENTINI, Flavia. Teoria geral do direito agrário contemporâneo. São Paulo: Atlas, 2012.
UBACH, Andrés Miguel Cosialls. Régimen jurídico de la propiedad agraria sujeta a la nueva PAC.Trabajo para optar al grado de Doctor, Departament de Dret Privat, Universitat de Lleida, 2008.
UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT & DEVELOPMENT. Agenda 21. Rio deJaneiro, 1992. Disponível em:[http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf]. Acesso em: 30.06.2014.
UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBAT DESERTIFICATION. Preliminary conference report:the synthesis and recommendations. Second Scientific Conference. version 15.04.2013. Bonn, 09 a12.04.2013.
VICTORIA, María Adriana. Seguridad alimentaria como derecho y deber. Revista de Direito Agrário,Ambiental e da Alimentação. n. 1. ano 1. p. 225-244. Rio de Janeiro, jul. 2004 a jun. 2005.
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 17
VILELA, Melina Lemos. Contratos agrários. Revista de Direito Imobiliário. vol. 73. p. 307. São Paulo:Ed. RT, jul. 2012.
ZELEDÓN, Ricardo Zeledón. Origen normativo del derecho agrario. In: CARROZZA, Antonio;ZELEDÓN, Ricardo Zeledón. Teoría general e institutos de derecho agrario. Buenos Aires: Astra deAlfredo y Ricardo Depalma, 1990.
1 Pela “teoria agrobiológica da agrariedade”, é essa a definição de atividade agrária, emconformidade com as lições de Antonio Carrozza (CARROZZA, Antonio. Agricoltura e diritto agrario.In: ______. Lezioni de diritto agrario: elementi di teoria generale. Milano: Giuffrè, 1988. vol. I, p. 1-18,Capitolo I, p. 10).
2 Em sentido semelhante, pelo viés da ética, é a observação de Hans Jonas: “O problema de comoalimentar a crescente população mundial vem naturalmente em primeiro lugar, pois dele dependetudo o mais” (JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilizaçãotecnológica. Trad. Marijane Lisboa e Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto/PUC, 2006. p.302).
3 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Deveres fundamentais. In: LEITE, George Salomão;SARLET, Ingo Wolfgang; Carbonell, Miguel (coords.). Direitos, deveres e garantias fundamentais.Salvador: JusPodvium, 2011. p. 327.
4 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: contributo para a compreensãoconstitucional do Estado Fiscal Contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2004. p. 15-19.
5 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitosfundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado,2012. p. 36, 46-47.
6 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Deveres fundamentais e proteção doambiente. In: ______; ______. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos fundamentais eproteção do ambiente. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. RT, 2012. p. 136-137.
7 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 228.
8 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Op. cit., p. 340-341.
9 MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio ambiente: direito e dever fundamental. PortoAlegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 99.
10 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 24-25; DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Op. cit., p.325-327.
11 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed.Coimbra: Almedina, 2003. p. 531.
12 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 28-29. Não há unanimidade sobre a extensão do conceito de“deveres fundamentais”, havendo autores que o consideram numa acepção mais ampla, queabrange deveres de proteção estatal e deveres organizatórios dos Estados, como aponta Ingo Sarlet(SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 228). A acepção adotada no presente artigo é mais restrita,como se verá.
13 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 28-29.
14 Idem, p. 30-31.
15 Idem, p. 32-35.
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 18
16 Idem, p. 31.
17 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 138.
18 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 35-36 e 41-42.
19 Idem, p. 38-40.
20 Idem, p. 48.
21 Idem, p. 51-52.
22 Idem, p. 52-53.
23 Idem, p. 53-54.
24 No mesmo sentido, discutindo outros possíveis fundamentos para os deveres fundamentais, cf.NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 54-60.
25 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Op. cit., p. 325-327.
26 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 533.
27 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Op. cit., p. 329.
28 Idem, p. 329-331.
29 Os autores daquela obra divergem entre eles próprios quanto a esse aspecto, eis que LeonardoMartins compreende a função social da propriedade como um limite constitucional especial aoexercício da propriedade – e não um dever do proprietário (DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo.Op. cit., p. 334).
30 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 229.
31 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 113-114.
32 Idem, p. 117-122.
33 Nesse sentido, cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 232.
34 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 122-125.
35 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Op. cit., p. 335-336.
36 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 534.
37 Exemplo de dever fundamental implícito é o de pagar impostos: não obstante não haja uma regraexpressa que estabeleça tal dever, este decorre do regime constitucional e das competênciastributárias fixadas no Texto Maior.
38 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 87.
39 Idem, p. 61-63. A confusão fica ainda mais patente quando o autor afirma que “todos os deverespor ela [a Constituição] consagrados se devem presumir (materialmente) fundamentais”, fazendocrer, então, que a forma basta para criar a substância do conceito (NABAIS, José Casalta. Op. cit., p.73).
40 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 150.
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 19
41 Para ilustrar, poder-se-ia citar o dever de a pesquisa tecnológica voltar-se para problemasbrasileiros preponderantemente e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional,previsto no art. 218, § 2.º, da CF. Apesar de se tratar de um dever constitucional, pois previsto naConstituição, não se pode dizer que está ligado à dignidade da pessoa humana, ou que seudescumprimento acarretaria violação desta, daí porque não se trata de dever fundamental.
42 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Op. cit., p. 335.
43 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 535.
44 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 113.
45 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 230-231.
46 Idem, p. 231.
47 COMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. In:STROZAKE, Juvelino José (org.). A questão agrária e a Justiça. São Paulo: Ed. RT, 2000. p.142-143.
48 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Op. cit., p. 153.
49 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 174-181.
50 É o que se deu, aliás, no âmbito da União Europeia, conforme será apresentado mais adiante.
51 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 229-30.
52 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 112.
53 Ibidem. No mesmo sentido, SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit., p. 229-230.
54 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 115.
55 Para mais detalhes sobre a eficácia horizontal, cf. SARMENTO, Daniel. A vinculação dosparticulares aos direitos fundamentais: o debate teórico e a jurisprudência do STF. In: LEITE, GeorgeSalomão; SARLET, Ingo Wolfgang; CARBONELL, Miguel (coords.). Direitos, deveres e garantiasfundamentais. Salvador: JusPodvium, 2011. p. 285-323.
56 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 115-116.
57 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 536.
58 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 99-100.
59 Idem, p. 127-131.
60 Idem,, p. 133-134.
61 Sobre a colisão de direitos fundamentais, cf. DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoriageral dos direitos fundamentais. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 160-162.
62 NABAIS, José Casalta. Op. cit., p. 25-26.
63 MARÉS, Carlos Frederico. A função social da terra. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed.,2003. p. 11.
64 Para amplo estudo sobre a propriedade no direito mesopotâmico, cf. POZO, Luis Fernández del.A publicidade imobiliária no direito mesopotâmico antigo. RDI 50/278.
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 20
65 FRANÇA, R. Limongi. Do objeto do direito obrigacional. RT 422/38.
66 LIMA, Rafael Augusto de Mendonça. Direito agrário. 2. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar,1997. p. 74-75.
67 COSTA, Dilvanir José da. Trajetória da Codificação Civil. RT 825/729.
68 COSTA, Dilvanir José da. Direito real. RT 782/727; VILELA, Melina Lemos. Contratos agrários.RDI 73/307.
69 HERNANDEZ, Luis Martin Ballestero. Derecho agrario: estudios para una introducción. Zaragoza:Neo, 1990. p. 64-65.
70 Idem, p. 68.
71 Sobre a legislação agrária da Roma antiga, cf. HERNANDEZ, Luis Martin Ballestero. Op. cit., p.70-77.
72 MONREAL, Eduardo Novoa. El derecho de propriedad privada. Bogotá: Temis Librería, 1979. p.7.
73 Idem, p. 8.
74 STEPHENSON, Andrew. Public Lands and Agrarian Laws of the Roman Republic. Teddington:The Echo Library, 2006. p. 1.
75 BETHEL, Tom. The noblest triumph: property and prosperity through the ages. New York: St.Matrin’s Griffin, 1999. p. 70; BERTAN, José Neure. Propriedade privada e função social. Curitiba:Juruá, 2009. p. 23-24.
76 BETHEL, Tom. Op. cit., p. 70-71. Para maiores detalhes, cf. também MAZOYER, Marcel;ROUDART, Laurence. A history of world agriculture: from the Neolithic age to current crisis. Trad. dofrancês para o inglês por James H. Membrez. London: Earthscan, 2006. p. 252-253.
77 STEPHENSON, Andrew. Op. cit., p. 7.
78 PETER, Hans. Il diritto agrário del tardo Imperio Romano. Rivista di Diritto Agrario, n. 4, anoXXXIII, p. 422-424.
79 ZELEDÓN, Ricardo Zeledón. Origen normativo del derecho agrario. In: CARROZZA, Antonio;ZELEDÓN, Ricardo Zeledón. Teoría general e institutos de derecho agrario. Buenos Aires: Astra deAlfredo y Ricardo Depalma, 1990. Cap. I, p. 13-16. No mesmo sentido, cf. MOZOS, José Luis de los.La aparición del derecho agrario. Rivista di Diritto Agrario, n. 2, ano LVII, p. 285-296.
80 Idem, p. 13-16.
81 MARCIAL, Alberto Ballarín. El deber de cultivar y mejorar. Rivista di Diritto Agrario, n. 1, ano LV,p. 83-84.
82 Idem, p. 90-91.
83 MEGRET, Jean. Droit agraire. Paris: Librairies Techniques, 1973. t. II, p. 27-28.
84 Diferentemente do Estado Liberal, em que o Estado tem a mínima atuação possível, deixandolivre a atividade dos particulares, o Estado Social é aquele que acrescenta à “juridicidade liberal umconteúdo social, conectando aquela restrição à atividade estatal a prestações implementadas peloEstado” (MORAIS, Jose Luis Bolzan de. O Brasil pós-1988 do/para o Estado Constitucional. In:SCAFF, Fernando Facury (org.). Constitucionalizando direitos: 15 anos da Constituição brasileira de1988. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003. p. 107).
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 21
85 Art. 27, caput, da Constituição mexicana: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidasdentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual, hatenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo lapropiedad privada. (…) La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedadprivada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento delos elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de lariqueza pública y para cuidar de su conservación”. O texto, assim como a Constituição de 1917,mantém-se vigente até hoje no México, ainda que uma importante reforma tenha acrescentadodiversos parágrafos a esse dispositivo.
86 O art. 153, no seu terceiro parágrafo, da Constituição de Weimar, dizia: “Eigentum verpflichtet.Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das Gemeine Best”. O texto mantém-se até hoje, compequenas alterações, no art. 14, 2, da Constituição alemã.
87 Art. 155, parágrafo terceiro, primeira parte: “Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist einePflicht des Grundbesitzers gegenüber der Gemeinschaft”. Esse dispositivo não encontracorrespondente no Texto Constitucional alemão hoje vigente.
88 ZELEDÓN, Ricardo Zeledón. Op. cit., p. 19-21.
89 CARRERA, Rodolfo Ricardo. El derecho agrario en las leyes de reforma agraria de AmericaLatina. Revista de Estudios Agrosociales 48/153.
90 Art. 19 da Lei de Reforma Agrária de 1960, da Venezuela: “A los fines de la Reforma Agraria, lapropiedad privada de la tierra cumple con su función social cuando se ajusta a todos los elementosesenciales siguientes: a) la explotación eficiente de la tierra y su aprovechamiento apreciable, enforma tal que los factores de producción se apliquen eficazmente en ella de acuerdo con la zonadonde se encuentra y con sus propias características; b) el trabajo y dirección personal y laresponsabilidad financiera de la empresa agrícola por el propietario de la tierra, salvo en los casos deexplotación indirecta eventual por causa justificada; c) el cumplimiento de las disposiciones sobreconservación de recursos naturales renovables; d) el acatamiento a las normas jurídicas que regulanel trabajo asalariado, las demás relaciones de trabajo en el campo y los contratos agrícolas en lascondiciones que señala esta ley; e) la inscripción del predio rústico en la Oficina Nacional de Catastrode Tierras y Aguas de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes”.
91 Sobre o direito agrário costarriquenho, cf. MEDAGLIA, Jorge Cabrera; CHACÓN, Enrique Ulate.El impacto del desarrollo sostenible en el derecho agrario costarricense. In: CONGRESSO MUNDIALDE DIREITO AGRÁRIO, 5. 19-22 maio 1998, Porto Alegre. Direito agrário e desenvolvimentosustentável. Porto Alegre: União Mundial dos Agraristas Universitários, 1999. p. 173-199.
92 A Lei 55, de 25.05.2011, modificou, no seu art. 260, o título daquele antigo Código Agrário,designando-o como lei “que regula a reforma agrária”. Aquela Lei 55/2011, passou, então, aconstituir o novo Código Agrário panamenho.
93 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Desapropriação para fins de reforma agrária. 3. ed. rev. atual.Curitiba: Juruá, 2006. p. 135, 144-147.
94 HOUAISS, Antônio et al (ed.). Dicionário eletrônico Houaiss de Língua Portuguesa. Rio deJaneiro: Objetiva, 2009.
95 BOLLA, Giangastone. Scritti di diritto agrario. Milano: Dott. A. Giufrè, 1963. p. 365-366.
96 A partir da EC 10/1964, as Constituições brasileiras trouxeram a hipótese de desapropriação parafins de reforma agrária, mas nunca norma alguma que especificasse qualquer tipo de dever deproduzir. Apenas se dispunha que o latifúndio poderia ser indenizado com títulos da dívida pública eque a desapropriação agrária seria realizada em zonas prioritárias (art. 147, §§ 1.º e 3.º, daConstituição de 1946, com redação dada pela EC 10/1964).
97 BERCOVICI, Gilberto. A ordem econômica no espaço reforma urbana e reforma agrária naConstituição de 1988. RT 910/91.
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 22
98 SAX, Joseph L. Property rights and the economy of nature: understanding Lucas v. South CarolinaCoastal Council. Stanford Law Review 45/1442.
99 Sobre o assunto, cf. SÁENZ, José María de la Cuesta. La nueva PAC, las ayudas directas a losagricultores y el desarrollo sostenible del medio rural. In: FUENZALIDA, Carlos Vattier (dir.); PÉREZ,Raquel de Román (coord.). El desarrollo rural en la política agrícola común 2014-2020.Pamplona/España: Aranzadi, 2012. p. 53-72. Cf., também, ALBUQUERQUE, Marcos Prado de;BASSO, Joaquim. Abertura material do ordenamento jurídico brasileiro e o aprimoramento daprodução agrária. In: MENEZES, Wagner; MOSCHEN, Valeska Raizer Borges (org.). Direitointernacional: organização Conpedi/Uninove. Florianópolis: Funjab, 2013. p. 54-83.
100 Para um estudo aprofundado do assunto, cf. UBACH, Andrés Miguel Cosialls. Régimen jurídicode la propiedad agraria sujeta a la nueva PAC. Trabajo para optar al grado de Doctor, Departamentde Dret Privat, Universitat de Lleida, 2008.
101 ANGULO, Mónica Ibáñez. Desarollo sostenible: un enfoque sistémico. In: FUENZALIDA, CarlosVattier (dir.); PÉREZ, Raquel de Román (coord.). El desarrollo rural en la política agrícola común2014-2020. Pamplona/España: Aranzadi, 2012. p. 264-265.
102 Sobre o pagamento por serviços ambientais, cf. LAVRATTI, Paula; TEJEIRO, Guillermo (orgs.).Pagamento por serviços ambientais: fundamentos e principais aspectos jurídicos. São Paulo:Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2013. Direito e mudanças climáticas, n. 6.
103 Art. L111-2 do Code Rural et de la Pêche Maritime: “Pour parvenir à la réalisation des objectifsdéfinis en ce domaine par le présent titre, la politique d’aménagement rural devra notamment: (…) 3.ºMaintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistenceavec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de cesactivités, notamment dans la lutte contre l’effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, austockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre”.
104 CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL. Agricultura de baixo carbono:por que investir? Brasília: CNA, 2012.
105 Sobre o turismo rural como alternativa econômica à produção agrária, cf. MANIGLIA, Elisabete.Atividades agrárias, turísticas e ambientais no dia a dia do cidadão. Congresso Nacional doConselho de Pós-graduação de Direito, XIV, 2005, Fortaleza. Anais. Florianópolis: FundaçãoBoiteux, 2006; HERNANDEZ, Luis Martin Ballestero. Op. cit., p. 237-242.
106 Para mais detalhes, cf. TRENTINI, Flavia. Teoria geral do direito agrário contemporâneo. SãoPaulo: Atlas, 2012. p. 45-46.
107 Com detalhes, cf. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS.Issues paper: the multifunctional character of agriculture and land. Netherlands Conference.Maastricht: FAO, 12 a 17.09.1999.
108 Sobre a relação do aumento do desmatamento com a expansão da área cultivada, cf. ALTIERI,Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. 3. ed. São Paulo/Rio deJaneiro: Expressão Popular/AS-PTA, 2012. p. 46.
109 A segunda conferência científica da Convenção das Nações Unidas sobre o Combate àDesertificação, realizada em abril de 2013, fez justamente o alerta de que as áreas degradadasestão reduzindo a produtividade da terra: UNITED NATIONS CONVENTION TO COMBATDESERTIFICATION. Preliminary conference report: the synthesis and recommendations. SecondScientific Conference. version 15 apr. 2013. Bonn, 9-12 apr. 2013. p. 15-16.
110 Sobre a necessidade de adoção de tecnologias para uma agricultura sustentável e aproblemática das políticas necessárias a essa adoção, cf. LEE, David R. Agricultural sustainabilityand technology adoption: issues and policies for developing countries. American Journal ofAgricultural Economics, vol. 87, n. 5, p. 1325-1334. Sobre as técnicas biotecnológicas e sua
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 23
influência no direito agrário, cf. SCAFF, Fernando Campos. Direito agrário: origens, evolução ebiotecnologia. São Paulo: Atlas, 2012. Passim.
111 OLIVEIRA, Leydimere J. C. et al. Large-scale expansion of agriculture in Amazonia may be ano-win scenario. Environmental Research Letters, vol. 8, n. 2.
112 INTERGOVERNMENTAL SCIENCE-POLICY PLATFORM ON BIODIVERSITY ANDECOSYSTEM SERVICES. Even farmed plant, animal diversity in decline as accelerating wild speciesloss threatens humanity. Press release. 27.05.2013. Disponível em:[www.eurekalert.org/pub_releases/2013-05/ispo-efa052313.php]. Acesso em: 30.06.2014.
113 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Save and grow: Apolicymaker’s guide to the sustainable intensification of smallholder crop production. Rome: FAO,2011. p. 9.
114 CONWAY, Gordon R.; BARBIER, Edward B. After Green Revolution: sustainable agriculture fordevelopment. New York: Earthscan, 2009. Natural Resource Management Collection, vol. 8, p. 11.
115 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Op. cit., p. 3-5; Conway, Gordon R.;Barbier, Edward B. Op. cit., p. 20.
116 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Op. cit., p. 11-12.
117 GRASSI NETO, Roberto. Segurança alimentar: da produção agrária à proteção do consumidor.São Paulo: Saraiva, 2013. p. 47. Alguns autores tratam “soberania alimentar” como conceito diversono sentido de “um direito dos povos de definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveisde produção, comercialização e consumo dos alimentos, respeitando-se as múltiplas característicasculturais” (ARANHA, Adriana Veiga. Fome Zero: a experiência brasileira de combate à fome. Pontes,vol. 9, n. 7, p. 9).
118 GRASSI NETO, Roberto. Op. cit., p. 65.
119 CARVALHO, Fernando P.. Agriculture, pesticides, food security and food safety. Environmentalscience & policy 9/685-692.
120 CONWAY, Gordon R.; BARBIER, Edward B. Op. cit., p. 32-33.
121 VICTORIA, María Adriana. Seguridad alimentaria como derecho y deber. Revista de DireitoAgrário, Ambiental e da Alimentação, n. 1, ano 1, p. 236.
122 Sustentando que a produtividade agrária, encarada como sua eficiência econômica, já não maisé relevante, mas sim “como” deve ocorrer essa produção, cf. MACRAE, Rod. Not just what, but how:Creating agricultural sustainability and food security by changing Canada’s agricultural policy makingprocess. Agriculture and Human Values, vol. 16, n. 2, p. 187-201.
123 GRASSI NETO, Roberto. Op. cit., p. 70-79.
124 ANGULO, Mónica Ibáñez. Desarrollo sostenible: un enfoque sistémico. In: FUENZALIDA, CarlosVattier (dir.); PÉREZ, Raquel de Román (coord.). El desarrollo rural en la Política Agrícola Común2014-2020. Pamplona/España: Aranzadi, 2012. p. 264.
125 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Op. cit., p. 11-12.Com soluções técnico-científicas para a intensificação sustentável da agricultura, cf. TILMAN, Davidet al. Global food demand and the sustainable intensification of agriculture. Proceedings of theNational Academy of Sciences of the United States of America, vol. 108, n. 50.
126 Esse tipo de agricultura é desenvolvido em um sistema de produção diferenciado, que, noconceito do art. 1.º Lei 10.831/2003, envolve técnicas específicas que vão muito além da eliminaçãode agrotóxicos do processo de cultivo, o que, por si só, já representa uma revolução de paradigma,com benefícios ambientais, sociais e também econômicos. Nesse sentido, cf. MEDAETS, Jean
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 24
Pierre; FONSECA, Maria Fernanda de A. C. Produção orgânica: regulamentação nacional einternacional. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário/NEAD, 2005. p. 10.
127 SEUFERT, Verena; RAMANKUTTY, Navin; FOLEY, Jonathan A. Comparing the yields of organicand conventional agriculture. Nature 485/229-232.
128 UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT & DEVELOPMENT. Agenda 21. Rio deJaneiro, 1992. Disponível em:[http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf]. Acesso em: 30.06.2014.Item 14.25 da Seção II.
129 Apontando a necessidade de diversificação, bem como inúmeras práticas que podem alcançar odesejável aumento de produção com sustentabilidade e segurança alimentar, cf. FOLEY, JonathanA. et al. Solutions for a cultivated planet. Nature 478/337-342.
O dever fundamental de produção agrária comsustentabilidade e segurança alimentar
Página 25