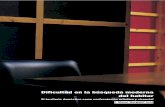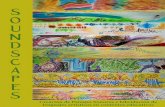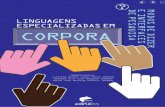Construir, habitar, proyectar. Claves para una idea romántica de arquitectura
Modelos de Habitar: duas linguagens faladas em seis idiomas
Transcript of Modelos de Habitar: duas linguagens faladas em seis idiomas
1
FREITAS, Maria João – Modelos de Habitar : Duas linguagens faladas em seis idiomas. In
PEDRO, J. Branco; BOUERI, J. Jorge (Coord.) – Qualidade espacial e funcional da
habitação. Cadernos Edifícios n.º 7. Lisboa: LNEC, 2012. pp. 7-30 (24).
Modelos de Habitar: Duas linguagens faladas em seis idiomas
Housing use models: Two languages spoken in six idioms
Maria João Freitas
Doutora em Sociologia pelo ISCTE, Investigadora Auxiliar do LNEC, [email protected]
Resumo
Neste artigo os modelos de habitar são analisados enquanto práticas de uso e apropriação dos
espaços domésticos e residenciais no campo de ação coletiva de construção identitária de referência
enquanto manifestação de autonomias e dependências na expressão de poderes e estratégias de
posicionamento e mobilidade no sistema de ação social. Só se poderá compreender
verdadeiramente o sentido e a força constituinte dos domínios de uso e apropriação dos espaços
domésticos no desenvolvimento das identidades individuais e sociais dos seus atores se se entender
o seu significado social, as relações que estes domínios privados dos atores estabelecem com as
esferas públicas que lhes são adjacentes, e a afirmação e legitimação das suas estratégias individuais
e de posicionamento social relativo. Neste sentido, são identificadas duas grandes linguagens e seis
idiomas que sustentam o sistema identitário de comunicação e o jogo de posicionamento e
mobilidade social dos atores.
Abstract
This paper presents the housing use models as practices of use and appropriation of domestic and
residential spaces framed in the collective action of identity building up. Housing use models are so
presented as a manifestation of autonomies and dependencies in social power expressions and in
social action positions establishment and mobility strategies by social actors. It is stated that
housing scenarios use and appropriation role in individual and social identities development gain
deep understanding by exploring their social meaning and the relationship between their private and
public spheres and frontiers, and by the social affirmation and recognition of individual strategies in
a relative social positioning system. In that sense, two main languages and six idioms are presented
sustaining an identity building up system of communication, social positioning and social mobility
development by social actors.
2
"A Imagem é uma meditação extremamente complexa sobre o sentido"
(Barthes in Toussand s/d, p. 53)
"Habiter, ce n’est pas s’abriter. (...) l’homme n’est pas seulement soumis aux besoins. C’est pourquoi les problémes
posés par la construction de son habitat ne se réduisent pas à des simples questions de logement. (...) ‘avoir un chez-
soi’ exprime tout de même bien autre chose, on le sent bien, qu’ ’occuper un logement’. (...) Chacun éprouve cepandant
ce qui, au delà des mots et des images, se laisse entendre quand on dit ‘rentrer chez-soi’."
(Salignon, s/d, pp. 11-12)
1. Introdução
Adotar como objeto de estudo a identificação de perfis de Modelos de Habitar através das práticas
de uso e apropriação dos espaços domésticos e residenciais remete, necessariamente, a sua
discussão e desenvolvimento para o foro privado e mais íntimo de expressão e desenvolvimento
das identidades individuais dos seus protagonistas, mas também para o campo de ação coletiva de
construção identitária de referência enquanto manifestação de autonomias e dependências na
expressão de poderes e estratégias de posicionamento e mobilidade no sistema de ação social.
Intermuros, os cenários domésticos aninham e acolhem o que de mais íntimo pode existir: o
domínio privado de quem entre eles habita. Mas se o uso e apropriação dos espaços domésticos
podem e devem ser debatidos enquanto domínios privados privilegiados dos atores, só se poderá
compreender verdadeiramente o seu sentido e a força constituinte destes domínios no
desenvolvimento das identidades individuais e sociais dos seus atores se se entender o seu
significado social. Ou seja, se se considerarem as relações que estes domínios privados dos atores
estabelecem com as esferas públicas que lhes são adjacentes, pelo que estas representam para a
afirmação e legitimação das suas estratégias individuais.
Sabe-se que a perceção e avaliação da qualidade da habitação, por parte dos residentes, não se
confina ao alojamento (enquanto objeto de referência), mas que se estende aos espaços em que os
indivíduos se posicionam, se movem, e se fazem representar num complexo campo relacional de
expressão coletiva, estendendo-se à "cidade" enquanto cenário de relação coletiva onde as coisas e os
indivíduos ganham e constróem os seus valores no posicionamento relativo que ocupam e
conquistam. O bem-estar desenvolve-se num sistema subjetivo e coletivo de atribuição de sentidos,
encontrando-se dependente de um processo constitutivo das perceções subjetivas. O valor de uso
do habitat é socialmente definido, reconhecido e positivamente ou negativamente cotado.
As formações avaliativas dos espaços residenciais emergem como construções sociais e coletivas de
um sistema relacional em que o que se discute e debate são posições relativas, dos sujeitos e das
coisas, na determinação do seu valor.
3
Ao inscrever-se num sistema relacional de representações, o habitat não é redutível à sua função
residencial, e inscreve-se num campo de ação coletiva de construção identitária. É neste contexto
que o habitat se apresenta e constitui, também, como protagonista dos cenários de exercício e
desenvolvimento de uma cidadania, em que a função habitacional e residencial, para além de exigir
uma leitura processual da sua expressão, deverá ser entendida como uma participação, entre outras,
em jogo na sua constituição.
As barreiras físicas e simbólicas, na separação entre o público e o privado, desempenham, assim,
uma função fronteiriça nos cenários domésticos em tudo o que esta função pode significar de
delimitação de territórios e consequentes domínios de exercício de poderes (por parte dos seus
protagonistas mais diretos, ou seja dos seus ocupantes). Elas representam também as exigências de
passaportes que viabilizam a passagem entre ambos os lados (o privado e o público) no que estes
separam e unem. Como qualquer espaço de fronteira, estes permitem gerir graus de abertura e
permeabilidade da vivência privada e pública, apresentando-se como os cenários privilegiados da
expressão de vontades e opções vivenciais diversas.
Os cenários domésticos podem, assim, ser entendidos como territórios de excelência onde os
indivíduos definem os limites da construção e preservação das suas identidades idiossincráticas e
sociais, e do exercício do seu poder de afirmação individual e coletiva. É através destes cenários que
o exercício de poder e afirmação individual se posiciona e se confronta com o coletivo que acolhe
os indivíduos e de que estes fazem parte. É nas transações de importação e exportação de valores,
regras e códigos que fazem com esse coletivo que os atores se suportam na construção e
consolidação dos seus posicionamentos sociais relativos.
Neste sentido os cenários domésticos não são somente territórios definidos pelo uso e apropriação
que deles fazem os seus protagonistas. Eles são também linguagens, códigos de expressão, com
regras, significados, significantes e referentes que existem e são utilizados num sistema estratégico
mais vasto de comunicação.
Como qualquer sistema comunicacional, este só faz sentido (e se atualiza) se para além de emissores
existirem recetores, regidos pelo pressuposto da retroatividade da sua relação. Na troca das
mensagens acionam-se códigos específicos, utilizam-se canais de circulação e observam-se ruídos
vários, quer provocados pela falta de equidade dos interlocutores no domínio dos códigos
acionados, quer pelo funcionamento dos canais escolhidos para a circulação das mensagens.
Olhar para os cenários de habitar implica, nesta perspetiva, compreender os sentidos atribuídos à(s)
linguagem(ens) que lhes está(ão) subjacente(s). No uso destas linguagens os seus protagonistas
definem os territórios da sua identidade individual e coletiva, o exercício do seu poder e atualizam
as suas estratégias de inserção e de pertença social. O sucesso no uso desta linguagem na
comunicação que pretendem estabelecer, sejam quais forem os seus propósitos, apenas pode ser
assegurado, também, se esta linguagem for igualmente do domínio mais público, e o seu sistema de
códigos for legitimado pelo coletivo que o suporta.
4
Enquanto linguagens ao serviço de uma estratégia comunicacional instrumental, a leitura dos
cenários domésticos convida a que se atente à sua organização interna e às suas qualidades
intrínsecas, mas também ao seu significado para a definição, construção e desenvolvimento do
posicionamento relativo dos diferentes atores individuais e coletivos no jogo de ação social.
Importa, assim, estar atento ao convite de leitura exterior que estes cenários possam suscitar por
parte de outros atores ou grupos de atores, que não apenas os seus protagonistas. É através desta
leitura que as manifestações dos seus protagonistas passam a ganhar sentido no conjunto dos
sistemas de ação em que se inscrevem.
Os cenários domésticos apresentam-se, assim, enquanto territórios físicos ou simbólicos utilizados
na demarcação de fronteiras ou limites entre os domínios privados e públicos admissíveis pelos seus
protagonistas e como linguagens utilizadas na afirmação da autonomia e de uma estratégia
comunicacional instrumental na construção do posicionamento social dos atores.
Este entendimento implica, necessariamente, o alargamento da sua discussão aos domínios
relacionais de construção das diferentes identidades sociais no tempo, e das representações sociais e
dos estereótipos que se encontram inerentes à legitimação e reconhecimento dessas mesmas
estratégias num contexto alargado de atores.
2. Modelos de habitar – linguagens e idiomas
Uma das malhas estruturantes e transversais ao conjunto de modelos e linguagens de habitar
encontra-se nas expressões territoriais das fronteiras entre o público e o privado através do uso e
apropriação dos cenários domésticos, da sua relação simbólica de forças e das regras que orientam
o seu funcionamento, qualquer que seja, ou venha a ser, o seu grau de abertura e permeabilidade.
Esta relação assume as formas significantes mais variadas na construção de ideais, manifestação de
preferências, ou exercícios de uso e apropriação dos cenários domésticos e vivência quotidiana que
lhes são associados.
2.1 Dois eixos paradigmáticos – duas linguagens: entre o côncavo e o convexo
Dois eixos paradigmáticos podem ser identificados na forma como a relação entre as esferas
privadas e públicas comunicam entre si nas formas e expressões de uso e apropriação dos espaços
domésticos, estruturando duas linguagens distintas que denominaremos de Social (Eixo Convexo) e
Individual (Eixo Côncavo), passíveis de serem "faladas" em vários idiomas.
A estrutura destes sistemas linguísticos pode ser analisada ao nível:
dos valores ou grandes sistemas de estruturação destes paradigmas (regras axiomáticas);
5
das preferências relativas à organização espacial (que acabam por ser suportadas pelas
escolhas e opções de localização e das estruturas morfológicas e tipológicas dos espaços
domésticos);
das vivências de uso e apropriação dos espaços (sistemas de sinais);
da sintaxe de pormenorização apresentada para os cenários domésticos (significantes); e
dos significados que lhe são atribuídos.
2.2 Eixo convexo ou linguagem social
No Eixo Convexo, os espaços domésticos apresentam-se como espaços finalizantes de proteção e
representação dos indivíduos face aos diversos sistemas envolventes com que estes confinam.
Como fim em si mesmo do desenvolvimento das identidades individuais, os espaços domésticos
desempenham neste processo uma função de refúgio e proteção, ao mesmo tempo que se
constituem como o centro vital onde todas as sínteses de comutação com o mundo exterior se
processam.
Neste eixo, os espaços domésticos desempenham predominantemente um papel de representação,
e assumem um estatuto de embaixadores face ao mundo que lhe é exterior, nas funções de
mediação que lhe são acometidas pelos seus protagonistas. Na sua mala diplomática transportam os
segredos e os respetivos códigos que certificam a relação dos indivíduos a determinados mundos a
que pertencem ou aspiram pertencer. Neste sentido, são espaços privilegiados e guardiães do Eu, de
Memórias, de estórias pessoais ou familiares, ao mesmo tempo que são tradutores de percursos e
processos de projeção social que certificam a sua pertença social, na forma como nas suas
credenciais se apresentam.
A primeira regra que predomina neste eixo é, então, uma regra relacional em que os espaços
domésticos se configuram como espaços centrais de gestão das transações estabelecidas entre os
indivíduos e os sistemas sociais em que se inscrevem e se relacionam. Estes espaços são o
passaporte eleito que viabiliza e permite o controle dessas relações, ao mesmo tempo que as
certifica e legitima a pertença dos indivíduos a esses mesmos sistemas coletivos.
Neste sentido, e dada a importância que os espaços domésticos acabam por assumir neste sistema
relacional, a segunda regra que caracteriza este eixo é uma regra de controlo quer das fronteiras que
unem e separam os mundos privados e coletivos destes sistemas relacionais, quer dos canais de
comunicação estabelecidos e/ou admitidos para a sua atualização, quer ainda das suas normas de
conduta e de funcionamento.
Pontos de chegada do Mundo, os cenários domésticos dele importam regras e padrões de referência
que os seus protagonistas utilizam e gerem no desenvolvimento das suas identidades próprias, mas
sobretudo na viabilização da comunicação que com esse mundo estabelecem.
6
Esta viabilização acaba por ser conseguida sobretudo:
pelo controle dos meios de circulação de mensagens acionados (normalmente restritos e/ou
criados expressamente para o efeito);
pelo desenvolvimento de uma linguagem comum a esse mundo, ou seja, através da adoção
de um sistema de signos que elegem como consensuais e normalizados e que são suscetíveis
de merecerem uma legitimidade e descodificação externa;
pela adoção de normativas de expressão uniformes cujo controle é assegurado por uma certa
rigidez na sua aplicação.
A certificação de pertença dos indivíduos ao mundo – bem como a viabilização das relações que
neste sentido com ele estabelecem através da finalidade que atribuem aos seus espaços domésticos
– processa-se, então, pela forma como controlam as importações que dele fazem em termos de
regras e valores, e pelas garantias que adquirem do sucesso da legitimação da sua pertença social
pela forma como as devolvem. Ou seja, trata-se sobretudo de estratégias encetadas na incorporação
de conteúdos e de regras dessas importações e são estas que acabam por fundamentar as suas
respostas e a eleição dos circuitos de visibilidade para a sua expressão.
E este processo pode ser aqui equacionado como sendo a terceira regra que orienta este eixo
paradigmático de expressão e organização do uso e apropriação dos espaços domésticos, e que
consiste na regra da dependência (elevada) que este sistema relacional apresenta face à leitura que os
seus gestores fazem das expectativas do desempenho dos seus papéis. Estas são essenciais ao
desenvolvimento dos seus processos de afiliação social e na sua manifestação para o exterior
sobretudo através de comportamentos, isto é, de ações e formas manifestas de identificação social
no uso e apropriação escolhidos para os seus espaços.
A aplicação destas regras no uso e apropriação dos espaços domésticos redunda no que pode ser
denominado de efeito de concha ou de fechamento destes espaços sobre si próprios. Estes
apresentam-se sobretudo como os centros finalizantes de acolhimento, desenvolvimento e
expressão do sistema relacional entre o que é público e privado.
Enquanto tal, estes espaços acabam por exercer a dupla função de acolhimento do que é público e
de proteção do privado, funcionando como um telhado que delimita e protege as fronteiras
estabelecidas entre estas duas esferas, e que acaba por ordenar, harmonizar e permitir o controlo do
desenvolvimento das relações estabelecidas entre ambas as partes.
Do ponto de vista da expressão destas regras em termos de organização do espaço, este eixo
caracteriza-se sobretudo:
a) Por uma distinção e delimitação clara dos espaços sociais e dos espaços privados geralmente
conseguida através de barreiras físicas ou simbolicamente introduzidas com esse propósito.
Esta separação física delimita também os espaços de fronteira e o seu controle, na medida
em que é sobretudo nos espaços sociais que se localizam os canais de comunicação com o
7
exterior. Eles são as janelas que permitem olhar para o mundo exterior, que melhor
traduzem esse olhar, e onde acaba por estar delimitado o campo de visão do mundo exterior
face ao mundo privado que os espaços domésticos protegem. Interessante verificar, por
exemplo, a atribuição de funções sociais aos espaços intersticiais – jardins, por exemplo – ou
a importância dada às aberturas – janelas, portas – no desempenho desta função fronteiriça e
do seu controle.
b) Pela predominância de uma lógica de composição ordenada quer entre os diferentes
espaços/funções do fogo quer dos seus elementos decorativos.
Esta composição ordenada apresenta-se como um fim em si mesma, sobrepondo-se e
acabando por determinar a vivência do indivíduo no seu seio, criando como que uma ordem
referencial em que a diferença individual pode ser mais ou menos exercitada, mas por ela
sempre balizada. Ela traduz-se, por exemplo, pela preferência de um somatório de espaços
funcionais e pelo efeito de conjunto e de composição na consolidação do sentimento de
conforto e desenvolvimento estético.
c) Por uma apropriação em simultâneo de todos os planos e pelo desempenho de uma função
passiva por parte do espaço no acolhimento de funções ou de elementos de composição
necessários ao desenho estético subjacente à criação de conforto.
Todos os planos (chão, paredes, tetos) são assumidos como cenários de ação e expressão de
vivência, ou seja, como espaços a preencher.
O conforto é assegurado pelo conjunto das combinatórias que o espaço é suscetível de
albergar, por oposição, por exemplo, a uma perceção de conforto retida de uma função ativa
do próprio espaço no desenho estético enquanto um elemento constituinte do fogo. Neste
sentido a espaciosidade é sobretudo avaliada e conseguida pela capacidade que esses espaços
apresentam do acolhimento das diferentes funções (em número de divisões) e das suas
demarcações distintivas (espaços de circulação bem demarcados, por exemplo). Os espaços
são avaliados sobretudo pela sua grandiosidade e capacidade de preenchimento nos planos
horizontais inferiores (que aliás a iluminação fixada nos planos horizontais superiores
normalmente ajuda a valorizar em extensão e difusão).
Em termos de apropriação e do uso atribuídos a estes espaços prevalece, assim, uma certa
rigidez, decorrente quer da adoção de um referencial estético baseado numa lógica de
composições ordenadas, quer dos processos de importação de um padrão único e bem
definido de referência identitária que lhe estão subjacentes.
Assim, neste eixo, acabam por predominar elementos de composição e regras de uso que buscam a
"ordem" e tentam "fixá-la". A título exemplificativo poderão ser citados:
a utilização de elementos de composição consensuais (i.e. que assegurem uma leitura fácil
quer de projeção identitária quer do seu reconhecimento e legitimação externa);
8
a busca de uma coerência de conjunto (i.e. pela busca de equilíbrios quase estáticos, sem
ruturas provocadas pela utilização de muitos tipos de materiais, de diferentes estilos de
mobiliário ou de decoração, ou de composição cromática);
a definição clara de regras de uso na indexação das diferentes funções aos diferentes espaços
ou na intolerância à "desordem" ou "aspeto desarrumado" dos mesmos.
Esta rigidez no uso e apropriação acaba por se constituir ela mesma como uma barreira de
demarcação e preservação do privado nas suas expressões ou exposições mais públicas – as
manifestações idiossincráticas acabam por não se sobrepor ou suscitar ruturas com a ordem
estabelecida e conseguida pela composição do seu conjunto.
Este eixo paradigmático que apelidamos de convexo – pela orientação das suas regras e pela
expressão visual e física que resulta da sua aplicação – fundamenta e estrutura uma linguagem
coerente e instrumental na comunicação interpares.
Esta linguagem é uma linguagem "social" pelo facto de se orientar por, e para, um sistema relacional
de representação e afiliação social que viabiliza a construção e uma troca de mensagens em que o
investimento afetivo dos interlocutores que a utilizam se sobrepõe a um investimento meramente
instrumental.
Esta linguagem orienta-se por, e viabiliza, sentimentos de pertença e paridade no seu uso. Poderá
ser considerada uma linguagem "amigável" pelas regras, pelos sinais, pelos referentes, ou ainda pela
capacidade de descodificação que utiliza e viabiliza em utilização, mesmo por parte de quem não a
adota como sua. É uma linguagem que apela aos sentidos, quer pelo que mostra, quer pelo que
esconde, e através deles é suscetível de ser interpretada. É uma linguagem que se orienta e é
orientada pela necessidade de viabilizar o sistema relacional que serve, ou seja, pela necessidade que
desenvolve em assegurar a retroatividade entre emissores e recetores, na sua leitura e expressão,
porque dela depende o sucesso de afiliação social dos seus interlocutores, o seu reconhecimento e a
legitimação das suas estratégias individuais.
2.3 Eixo côncavo ou linguagem individual
O Eixo Côncavo distingue-se do Eixo Convexo desde logo ao nível dos valores que são atribuídos
aos espaços domésticos no jogo de relações que os seus protagonistas estabelecem entre os
diferentes sistemas sócio-espaciais em que se inscrevem.
Neste eixo, os espaços domésticos apresentam-se não como elementos finalizantes e sintetizadores
das teias de relações estabelecidas entre o que é público e privado, mas antes como um, entre
muitos outros meios ou pontos de partida, que são acionados na gestão desta relação.
Os espaços domésticos, neste eixo, competem equitativamente com outros cenários de
desenvolvimento da vivência quotidiana dos seus atores, assumindo-se como espaços de referência
9
equitativamente posicionados a outros, que funcionam na sua continuidade. Trata-se de um
prolongamento de um espaço de vivência que se lhe não confina, e que, na sua latitude, é composto
por outras dimensões que não se cingem, nem se concentram, nem sustentam a sua centralidade
nos espaços domésticos.
Neste sentido, mais do que espaços de representação dos indivíduos face aos diferentes sistemas
sociais em que se inscrevem, os espaços domésticos, neste eixo, são espaços de abertura, de
desenvolvimento e manifestação da individualidade e da afirmação das diferenças idiossincráticas
do "EU" face aos diferentes "NÓS" em que os seus protagonistas se inscrevem.
Estes espaços, no conjunto de outros, são sobretudo assumidos como meios de afirmação (e não
como fins de representação) e desenvolvimento de estratégias de relacionamento com o coletivo,
sobretudo autocentradas em valores que se sustentam por uma orientação prioritária para o bem-
estar individual.
É esta centralidade no Indivíduo, no seu bem-estar, nas suas necessidades de afirmação e
desenvolvimento das suas autonomias face aos sistemas em que se inscreve, que marca a diferença
deste eixo face ao eixo convexo. Na assunção e desenvolvimento da regra relacional que não deixa
de estar aqui também presente, esta perde, no entanto, o seu estatuto de prioridade e centralidade
que assume no eixo convexo, para assumir sobretudo um perfil de comutação regido por regras
muito menos rígidas e menos heterocentradas.
Assim, os espaços domésticos perdem também, neste eixo, o estatuto de embaixadores e de
certificação da pertença social dos seus protagonistas face a uma dada estrutura social, para
assumirem sobretudo o papel de embaixadores ativos da expressão individual, idiossincrática e
diferencial dos indivíduos face a essa mesma estrutura.
Assim, a primeira regra deste eixo é uma regra de comutação centrada nos indivíduos, enquanto ponto
de partida para o Mundo. Nela, os cenários domésticos assumem um estatuto de veículo de criação
e exportação de novas regras e a afirmação de padrões idiossincráticos. Estes, mais do que
enfileirarem nos sistemas de comunicação estabelecidos ou os assumirem como balizadores ao seu
desenvolvimento, desafiam-nos pela sua diferença ou pela sobreposição da satisfação das
necessidades individuais face a outras de representação no coletivo.
Com esta primeira regra de comutação bem firmada na estruturação deste eixo, a segunda regra por
que acaba por se reger deixa de ter sentido centrar-se no controle das fronteiras entre o que separa
as esferas públicas e privadas dos sistemas de vivência e desenvolvimento identitário dos seus
protagonistas. Este controle é substituído por uma regra de abertura fundamentada em valores de
funcionalidade ao serviço do bem-estar individual e de incentivo à sua externalização, numa
perspetiva de abertura do próprio sistema de ação em que se inscrevem. Esta abertura é traduzida
quer pela afirmação de projetos individuais, quer pelo entrosamento que se estabelece entre as
restantes dimensões com que os espaços domésticos partilham funções na afirmação e
desenvolvimento das individualidades de cada um dos atores.
10
As fronteiras, neste caso, para além de não serem controladas, assumem mesmo uma abertura que
quase as neutraliza nessa função, num contínuo amplo de transações interdependentes que mais do
que separa, unifica esferas públicas e privadas do desenvolvimento das identidades individuais e
sociais dos indivíduos.
A certificação de pertença dos indivíduos no mundo, bem como a viabilização das relações que
com ele estabelecem, baseia-se neste eixo em estratégias de gestão da conquista, afirmação e
desenvolvimento de novas linguagens comunicativas. Alheias à utilização de normas instituídas ou
consensuais, ou de leituras externas que a legitimem num pacto de conformidade, estas estratégias
são sobretudo tradutoras de uma atitude generalizada de afirmação de diferenças idiossincráticas e
de gestão da flexibilidade complexa que lhe são inerentes.
A amplitude de abertura deste eixo – na forma como rege a estruturação do uso e apropriação dos
espaços domésticos, e no estatuto que acaba por atribuir a estes espaços num sistema mais amplo
de desenvolvimento e afirmação das identidades individuais e sociais dos seus protagonistas –
sugere sobretudo a localização dos espaços domésticos numa estrutura mais complexa de gestão de
estratégias de afirmação individual e social.
Os espaços domésticos são, assim, partes de um tronco estruturante, onde são instrumentalizados
nas comutações estabelecidas entre os seus vários ramos constituintes. Mais do que uma função
predominantemente protetora do privado face ao público ou ao coletivo, estes assumem,
sobretudo, uma função de viabilização da comutação entre estas esferas por que se rege,
produzindo um efeito de "splash" que expande, ao mesmo tempo que une, mais do que separa ou
delimita, os efeitos desta intrusão mútua.
Sem ancoragem na viabilização e controle de uma ordem reguladora das suas relações, e por
oposição ao eixo convexo, a sua harmonia acaba por ser buscada e encontrada sobretudo através do
desenvolvimento de estratégias de gestão do "caos" que provoca e com que desafia os sistemas em
que se enquadram.
Do ponto de vista da expressão destas regras em termos de organização do espaço, este eixo
caracteriza-se sobretudo:
a) Por uma tendência para a criação de continuidades entre os espaços sociais e os espaços
privados geralmente traduzida por uma atribuição polifuncional aos espaços de habitar
Embora o eixo côncavo seja permeável à introdução de uma distinção entre diferentes zonas
funcionais, estas são muito mais ténues do que no eixo convexo. No eixo côncavo regista-se
uma maior amplitude de abertura do que é privado ao olhar externo ou público, traduzível
numa organização espacial simultaneamente privada e pública extensível à globalidade do
espaço doméstico. Este é transformado em janelas através das quais o mundo é convidado a
olhar para a individualidade de cada um dos seus protagonistas.
11
b) Pela predominância de uma lógica de funcionalidade, que se sobrepõe a uma lógica de
composição
É esta lógica de funcionalidade que rege a indexação dos diferentes espaços às funções
identificadas como necessárias à vivência quotidiana dos seus ocupantes, traduzida, por
exemplo, numa distribuição dos espaços regida por necessidades/tempo de uso. É também
ela que rege ainda a escolha dos seus elementos decorativos, traduzida, por exemplo, por
uma secundarização do efeito de composição face ao efeito de "utilidade" ou "proximidade ao
uso" na consolidação do sentimento de conforto e desenvolvimento estético.
É a vivência do indivíduo que determina a ocupação do espaço, assumindo este um papel de
"servidor" instrumental à satisfação das suas necessidades. Neste sentido predomina, neste
eixo, a exaltação da diferenciação individual dos seus ocupantes, onde a ordem pode ser mais
ou menos exercitada, mas sempre subordinada às necessidades dos protagonistas destes
espaços.
c) Por uma apropriação progressiva dos planos (chão, paredes, tetos), a partir dos planos
inferiores, onde o próprio espaço desempenha um papel elementar, a par com outros
elementos utilizados na utilização do fogo
A aplicação da regra da funcionalidade e da "proximidade ao uso" quase elimina os planos
superiores (verticais ou horizontais) como espaços de ocupação, sendo-lhes reservada uma
função elementar constituinte do painel das necessidades, ou apenas complementar ou
secundariamente alternativa ao uso dos planos horizontais. Assim, por exemplo, mesmo os
elementos decorativos desempenham uma função concorrente ao bem-estar produzido,
situando-se em planos atingíveis pelo olhar. A lógica de utilização dos planos é, também ela,
sobretudo uma extensão do indivíduo (tendo em conta, por exemplo, também a mobilidade
das crianças nesses espaços), traduzindo o próprio efeito côncavo com que se apelidou este
eixo.
d) Pelo desempenho de uma função ativa, por parte do espaço, no desenho estético, através da
sua utilização como elemento constituinte do fogo
O espaço não se apresenta como um recetáculo, mas antes como parte integrante do
movimento induzido aos espaços domésticos, como estratégia básica de maior
adequabilidade e moldagem da sua utilização às flutuações que a vida quotidiana pode
assumir, ou às diversas necessidades dos elementos constituintes de um agregado doméstico.
Neste sentido a espaciosidade é sobretudo avaliada pela sua mais-valia enquanto tal e pelas
potencialidades que a sua flexibilidade deixa em aberto face às necessidades presentes ou
futuras, estruturais ou conjunturais do seu uso. A iluminação normalmente fixada nos planos
horizontais inferiores, ou diluída estrategicamente quando utiliza outros planos, sustenta uma
abertura e valorização do espaço enquanto tal, a par com preocupações explícitas de "não
ocupação" ou de integração de "espaços livres" nas opções decorativas. Estes "espaços livres"
12
acabam por ter uma leitura de integração estética e de fonte e desenvolvimento de bem-estar
neste eixo, mas que, por exemplo, o eixo convexo amiúde lê como "espaços vazios" ou "frios".
Em termos de apropriação e do uso atribuídos a estes espaços prevalece, assim, uma racionalidade
funcional, mais ou menos permeável à aceitação de elementos afetivos, e que, apesar de poder
assumir formas de extrema rigidez, não é por ela que se rege.
Mais do que uma adoção de referenciais estéticos importados de modelos pré-fixados, assiste-se,
neste eixo, à construção de soluções de uso e apropriação cujo valor estético não é balizado por
uma resposta a padrões de referência normalizados e generalizados, mas antes por uma afirmação e
demarcação das individualidades e das idiossincrasias dos seus atores. Assim, neste eixo, a existência
de eventuais elementos de composição ou de expressões de "ordem" acaba por ser mais uma
consequência das opções de uso do que uma baliza orientadora da sua estruturação.
Pelo contrário, em sequência do exercício de uma demarcação identitária no uso e apropriação dos
espaços, e pela adoção de respostas flexíveis suscetíveis de satisfazerem exigências e necessidades
flutuantes, a regra predominante à construção e leitura destes espaços é a do movimento que eles
acabam por apresentar, por oposição ao eixo convexo orientado sobretudo pela "fixação de uma
ordem".
Não se registam neste eixo, portanto, preocupações de busca de consensualidades ou legitimações
externas das opções individuais. Pelo contrário, trata-se de escolhas individuais que se afirmam na
permissividade que consentem à capacidade inventiva e afirmativa com que os seus protagonistas
manipulam e otimizam os espaços de uso e as soluções propostas para a sua ocupação. Por
exemplo, é frequente o uso de "opostos" na conjugação de materiais, de diferentes estilos de
mobiliário ou de composição cromática, como soluções decorrentes das necessidades que lhe são
apostas. Tão forte como a regra de racionalidade funcional nas formas de uso e apropriação dos espaços
domésticos, emerge, assim, uma outra regra – a regra da manifestação de liberdades individuais – que
orienta e sustenta a eleição destes espaços como contextos complementares e integrados no
conjunto sistémico ao seu exercício e manifestação.
Este eixo paradigmático que apelidamos de côncavo – porque apresenta os espaços domésticos
como que extensões naturais dos projetos e estratégias de afirmação e desenvolvimento das
identidades individuais idiossincráticas dos seus protagonistas e das suas escolhas partindo através
delas em busca de uma identidade social – permite que se apresente a linguagem que está subjacente
à sua consolidação e expressão como uma linguagem "individual".
Mais centrada na criação de espaços de liberdade de expressão idiossincrática, a linguagem que neles
é falada nem sempre assegura uma descodificação consensual e/ou tipificada, manifestando-se
sobretudo como uma linguagem polifónica e poligráfica pela flexibilidade e movimento que lhe é
inerente.
13
Ao contrário da linguagem que caracteriza o eixo convexo, esta linguagem é normalmente, também,
uma linguagem seletiva e/ou restrita, quer se adote, nesta atribuição, o ponto de vista dos seus
emissores, quer o da sua receção e descodificação. Ela apresenta-se normalmente apenas "entendível"
interpares, ou seja, por quem também a adota como sua. Por isso também é uma linguagem que
não teme alguma publicidade (no sentido de se tornar pública) dos domínios mais privados que
manifesta. A seletividade que induz e requisita na sua descodificação acaba por ser também um
instrumento manipulado nas estratégias de afirmação e desenvolvimento das identidades individuais
e sociais dos seus protagonistas. Ela viabiliza a abertura e a intercomunicabilidade entre os vários
sistemas de que necessita para o seu desenvolvimento que, como foi referido, não encontra uma
centralidade finalizante privilegiada nos cenários domésticos, nem deles depende em exclusividade
na construção das suas estratégias de afirmação individual e afiliação social.
3. Idiomas e falas – modelos de referência e/ou estratégias de expressão
Uma e outra linguagem, ao serem utilizadas numa estratégia comunicacional, ou seja, ao serem
utilizadas na produção de mensagens que são trocadas entre emissores e recetores, produzem falas,
expressões, que se regem por estratégias específicas no jogo comunicacional e fazem recurso de
uma panóplia bastante alargada de signos quer verbais, quer não verbais.
A forma como estes signos são manipulados na estratégia comunicacional atribui vida a estas
linguagens e, em última instância, deixa em aberto o número de combinatórias possíveis de se
produzirem e encontrarem, na exata proporcionalidade em que torna estas linguagens permeáveis a
uma permanente "inovação" através das condições que oferece ao aparecimento de novos signos ou
regras para a sua utilização.
Porém, não obstante a liberdade deixada aos utilizadores destas linguagens nas suas falas, foi
possível identificar seis variantes idiomáticas à expressão e uso destas linguagens, a saber: a "ordem
profusa" (A1); a "ordem rígida" (A2) e a "ordem personalizada" (A3), no Eixo Convexo; e a "funcionalidade
em construção" (F4), a "funcionalidade em exercício" (F5) e a "funcionalidade estética" (F6), no Eixo Côncavo.
Enquanto expressões idiomáticas implicam, por um lado, a partilha de códigos específicos que
viabilizam a sua manipulação e a sua descodificação por um coletivo que lhes confere distintividade
face a outros sistemas idiomáticos; e, por outro lado, a existência de uma massa crítica suficiente
(mas não necessariamente homogénea, do ponto de vista sociológico) da sua utilização.
A identificação destas seis expressões idiomáticas, ao nível dos usos e apropriação dos espaços
domésticos, não implica, por exemplo, que não seja possível encontrar situações plurilingues. Pelo
contrário, estas situações podem ser (e são-no) mais comuns do que se possa pensar, sobretudo se
se atentar ao facto do uso destes idiomas se inscrever em estratégias comunicacionais, instrumentais
14
para a definição e desenvolvimento do posicionamento dos diferentes atores individuais e coletivos
no jogo de ação social.
Isso significa, portanto, que, apesar de normalmente o uso de um dos idiomas predominar nas
escolhas estratégicas dos atores na construção e desenvolvimento das suas relações com o sistema
de ação, o conhecimento de outras estruturas idiomáticas não seja impossível. Ele torna-se mesmo
indispensável, por exemplo, para reforçar as suas escolhas individuais e/ou a construção das suas
identidades (individuais e coletivas); reforçar o seu posicionamento relativo nos sistemas de ação;
desenvolver percursos de mobilidade; ou ainda encetar processos inovadores ou de mudança para
esses sistemas.
Neste sentido, tanto o uso de um idioma, como o domínio ou representação de outros idiomas,
tornam-se dois elementos fundamentais para a compreensão e interpretação das diferentes "falas"
apresentadas. São estes dois elementos usados em paralelo que vão permitir o funcionamento do
processo comunicativo e garantir a sua retroatividade, independentemente da existência de ruídos
ou da orientação da emotividade (adesão ou repulsa) que lhe possa estar subjacente. São eles
também que vão permitir aos indivíduos organizar as suas escolhas, as suas opções, as suas "falas"
(quanto menor o domínio de idiomas, menor se torna o campo de hipóteses de escolha e
construção de opções), e sobretudo, determinar o seu poder de uso e participação nesses sistemas
de ação (quanto menor o domínio dos idiomas que o constituem, menor é a margem de
movimentação e de comunicação conseguida, e maior o risco de acantonamento no seio desses
sistemas).
3.1 O idioma da ordem profusa (modelo A1)
Tratando-se de um idioma inscrito no Eixo Convexo, o modelo da "Ordem Profusa" (Figura 1)
partilha da generalidade dos seus atributos, distinguindo-se, no entanto, por praticar uma "ordem"
que recorre:
a uma ocupação do espaço em que a "espaciosidade" é sobretudo procurada pelo recurso a
pequenas volumetrias ou a materiais que, pela cor (lacados no mobiliário; cores fortes
normalmente em jogo de contrastes, nos tecidos e elementos decorativos) ou pela sua
natureza (vidros, madeiras novas, ferro), acabam por conferir alguma "transparência" ou "leveza
moderna" à ordem por que se regem;
a uma distinção entre zonas funcionais procurada por uma demarcação clara dos espaços de
circulação (criando zonas de circuito) e/ou pela disposição relativa entre os elementos
(evitando disposições lineares, privilegiam o aproveitamento das interseções dos planos ou
produzem simulações de "esquinas e cantos" pela forma como ordenam os diferentes
elementos de mobiliário e de decoração);
15
a uma valorização e profusão dos elementos decorativos "móveis" face, por exemplo, ao
mobiliário ou elementos de decoração "fixos" ou de maior "rigidez" em termos de mobilidade
no espaço ou troca, exteriorizando e viabilizando vontades e capacidades de
acompanhamento da "moda";
a uma consequente proliferação e profusão de elementos nas combinatórias que apresenta,
decorrentes de uma estratégia de construção e reencontro progressivos dessa ordem;
a uma vontade de atribuir uma tónica de "atualidade" na filiação que prossegue e intenta
afirmar nas regras que regem o eixo convexo, perante alguma dificuldade numa aposta
imediata na qualidade dos materiais. Esta tónica de "atualidade" sai ainda reforçada pela
importância atribuída aos equipamentos audiovisuais, em que se regista um investimento
prioritário, quer em termos de espaço (normalmente omnipresentes e ocupando lugares de
grande centralidade e determinação na composição), quer em qualidade (conjuntos
completos, de elevada potência ou complexidade, e normalmente de última geração) e
quantidade de elementos (reproduzidos em vários espaços, desde os de utilização mais
funcional, como as cozinhas, aos mais privados, como os diferentes quartos).
Figura 1: Exemplos estereotipados do modelo da ordem profusa
Sendo um modelo prosseguido sobretudo por casais jovens, aposta num investimento em
referentes padronizados a que atribuem significados de clarificação de alicerces para o
desenvolvimento de projetos de afirmação social relativa, com temporalidades definidas, mas
alargadas. A sua inscrição como referência encontra valorização sobretudo pela tónica de
modernidade ou juventude que encontra no conjunto do eixo convexo, sendo por isso sobretudo
apresentado como ou ponto de partida ou decorrência de uma aposta mais atual da ordem e rigidez
de representação que marca este eixo.
A vontade de uma adesão bem firmada e prioritária na afiliação do eixo convexo é complementada
por uma dificuldade de leitura do eixo côncavo (com o qual não se regista identificação) e uma
rejeição generalizada das suas expressões (a que atribuem sobretudo a existência de "desordem", "falta
16
de coerência de estilo", "vazio desconfortável", ou mesmo "dificuldades económicas" para a viabilização de
soluções "mais compostas").
3.2 O idioma da ordem rígida (modelo A2)
O modelo da "Ordem Rígida" (Figura 2) é a expressão do eixo convexo que mais fiel se apresenta na
prática da regra da ordem que o caracteriza. Podendo assumir expressões mais clássicas ou atuais na
sua formalização, este modelo distingue-se precisamente pela rigidez com que prossegue o
cumprimento e a atualização das regras que definem a linguagem social, caracterizando-se por:
Uma necessidade de espaços "grandes" para a viabilização do acolhimento de múltiplas
funções e da demarcação nítida dos diferentes espaços/funções, normalmente procurada
através de uma atribuição monofuncional dos mesmos. A "espaciosidade" é, neste modelo,
sobretudo procurada pela capacidade de acolhimento de funções, e o mesmo será dizer, pela
capacidade de ocupação que os espaços oferecem.
Uma necessidade de acolhimento e reprodução de micro-composições funcionais
padronizadas (atribuição de espaços bem demarcados fisicamente e por composições ou
cores distintas às diferentes funções), que funcionam como um todo a mobilizar numa
macro-composição ordenada dos espaços domésticos. Estas micro-composições seguem
privilegiadamente uma lógica de organização linear, simétrica e fechada sobre sí mesma (no
máximo abrindo um dos lados dos seus quadrantes), que apenas criam espaços de circulação
que servem à sua demarcação, quando coabitam o mesmo espaço com outras micro-
composições funcionais.
Uma preferência por grandes volumetrias e por conjuntos completos de mobiliário, onde a
qualidade bem como a coerência interna às micro-composições, e entre elas, são distintivas e
sobrepõem-se a outros elementos decorativos. Estes são introduzidos num respeito
profundo por uma continuidade e coerência de conjunto reproduzindo a lógica de simetria e
monocromática que ordena os conjuntos.
Uma valorização de uma localização fixa (fixidez) dos elementos de composição face ao seu
resultado de conjunto, que exterioriza, neste caso, sobretudo a capacidade provada, ao longo
do tempo, de concretização do projeto/padrão adotado, podendo este projeto/padrão
concretizar-se através de opções mais clássicas ou modernas.
17
Figura 2: Exemplos estereotipados do modelo da ordem rígida
A adoção deste modelo é transversal do ponto de vista etário, se bem que tenda a recolher mais
preferências na sua prática e enquanto modelo referencial junto de indivíduos mais velhos.
Também a sua prática pode ser independente dos recursos financeiros dos seus agregados ou de
género. Quando a sua referência num registo mais atual é preferida, normalmente ela sustenta-se
numa tradução mais "moderna" das regras que ditam as suas expressões mais clássicas, sendo na
expressão mais moderna sobretudo apreciada por mulheres. A adoção e a capacidade de
operacionalização das regras formais de uma linguagem social neste modelo sustentam, no entanto,
a realização pessoal e o encontro com o conforto de acolhimento e representação finalizante e
estabilizante procurada nos espaços domésticos.
A referência de uma busca de ordem securizante e estabilizante de um uso e apropriação dos
espaços domésticos dificulta aos seus protagonistas a leitura e simpatia por quase todas as
expressões idiomáticas em que esta linguagem não seja utilizada e mesmo das que, inscrevendo-se
no mesmo eixo, não partilham da sua rigorosa fidelidade. Neste sentido, são sobretudo atributos
como os de "desordem", "falta de coerência" e "profusão de elementos discordantes" que são generalizáveis na
leitura de quase todos as restantes expressões, de que acaba, apenas, por ser valorizado o "capital
cultural, social e económico" que nelas possa eventualmente ser encontrado.
3.3 O idioma da ordem personalizada (modelo A3)
O modelo da "Ordem Personalizada" (Figura 3) é a expressão do eixo convexo que, elegendo a ordem
como valor estruturante ao uso e apropriação dos espaços domésticos, mais flexibilidade atribui na
sua permeabilidade à manifestação e presença da história individual dos seus ocupantes.
Normalizado por uma comunhão de gosto que lhe assegura uma coerência de continuidade e uma
leitura que o valoriza como referencial, este modelo distingue-se por:
Uma ocupação do espaço onde a continuidade histórica das memórias familiares, quer em
termos de organização espacial, quer em termos dos elementos que o preenchem, é
18
determinante do equilíbrio que busca. Espaços de memórias e sentidos, os ambientes
domésticos acolhem e reproduzem, em continuidade, um legado de ordem a não romper,
que se herda de um passado, mas que se destina também a acolher a vivência e as traduções
que dessa história pode ser feita pelas gerações posteriores. Tratando-se de um projeto de
continuidade histórica e memorial, encontra a sua coerência na forma como vai conjugando
os vários elementos em função dessa narrativa.
A harmonia da ordem das suas combinatórias é procurada, e encontra-se, então, na
flexibilização com que joga com diferentes elementos, normalmente carregados de valor
simbólico, e nos laços que estabelece com referentes de uma vivência mais atual na
continuidade dessa narrativa. Este modelo não se caracteriza, assim, por padrões
normalizados de combinatórias de elementos, mas por apresentar padrões narrativos que,
sendo estruturalmente semelhantes do ponto de vista sociológico, são passíveis de
distintividade nas histórias que apresentam.
Uma menor rigidez ao fechamento dos espaços, embora proteja os espaços de vivência
familiar mais privada. Como espaços narradores de histórias, a atribuição de funções a estes
espaços é sobretudo condicionada pela natureza dessas narrativas e pelo que delas se
pretende externalizar ou preservar. Não obstante o carregado valor simbólico que
comportam as suas combinatórias preservam sempre domínios restritos aos seus
significados, para além das leituras que possam suscitar. Ou seja, para além do valor externo
que lhe possa ser reconhecido ou atribuído na generalidade, são sempre suscetíveis de
leituras mais especializadas e restritivas, pela aprendizagem de descodificação ou partilha na
construção dessas narrativas que implicam.
Um recurso a pormenores distintivos, mas significantes. Estes pormenores jogam-se quer em
termos:
- de volumetrias (onde o jogo de continuidade progressiva ou de contraste busca
equilíbrios que asseguram a valorização de cada elemento constituinte das composições –
valorização de cada referente e do seu valor simbólico);
- de composição (onde a coerência geral e a ordem por que se rege não necessita de
recorrer a excessos de simetria, monocromacia, ou distribuição espacial);
- da qualidade dos materiais (que viabilizando a eventualidade de combinação de materiais,
busca na sua genuinidade a valorização das suas qualidades intrínsecas e a rejeição de
situações híbridas ou de imitação); e, sobretudo,
- da flexibilidade com que garantem originalidade às suas narrativas (numa bricolagem
personalizada entre o antigo e o modernista; o velho e o novo, o passado e o futuro, na
ancoragem de uma estética de qualidade e culturalmente distintiva).
19
Figura 3: Exemplos estereotipados do modelo da ordem personalizada
Neste modelo, a idade tende a ser um fator distintivo à sua prática, muito embora, tratando-se de
uma expressão seletiva na sua estruturação de continuidade memorial que visa e se abre ao seu
prolongamento no tempo, possa assumir-se como modelo também vivido por pessoas mais novas.
A sua adoção vê-se, assim, mais condicionada pela existência de uma narrativa a continuar, pela
partilha de um capital cultural que permite a sua leitura e exige o seu desenvolvimento, e pela
capacidade e vontade dos seus protagonistas em lhes conferir continuidade. Enquanto herança e
opção, a adoção deste modelo assume assim um significado social seletivo no posicionamento
relativo que assegura aos seus protagonistas no jogo de atores, que acaba por ser reforçado pela
capacidade de leitura que, no entanto, apresentam das restantes expressões idiomáticas, dentro e
fora desta linguagem social.
3.4 O idioma da funcionalidade em construção (modelo F4)
O modelo da "Funcionalidade em Construção" (Figura 4) é uma expressão que se distingue das restantes
expressões sobretudo por dois motivos:
por se apresentar sobretudo como uma prática, e não como referente balizador de um ideal a
prosseguir e a desenvolver,
por traduzir sobretudo uma expressão de transição, expectante de um desenvolvimento
noutras expressões, conjunturalmente condicionada pelo recurso das regras do eixo côncavo
e da linguagem individual, sem que nela se note uma predominância de uma escolha face, por
exemplo, a uma necessidade contingencial de recurso na sua adoção.
20
Figura 4: Exemplos estereotipados do modelo de funcionalidade em construção
Inscrita no Eixo Côncavo, são sobretudo as regras de "funcionalidade" e do recurso ao "basicamente
necessário" que são acionadas nas suas falas, distinguindo-as das restantes pelo "improviso" que nelas
domina como recurso de uma prática de uso e apropriação dos espaços domésticos. Não se
regendo por qualquer regra de composição ou de ordem, nem por qualquer preocupação explícita
de inscrição numa linguagem socialmente referenciada, padronizada ou referenciável
estatutariamente, também não se pode considerar que a prevalência de manifestações
idiossincráticas dos indivíduos que lhe está subjacente seja uma opção. Antes, esta apresenta-se
como uma contingência de manifestação individual de resposta às necessidades básicas de habitar,
assumida como um recurso instrumental de angariação de um posicionamento relativo dos
indivíduos face aos sistemas em que se inscrevem que, mais do que o vincular numa estratégia
comunicacional definida, viabiliza apenas a afirmação da sua condição existencial.
Neste sentido, os espaços domésticos apresentam-se sobretudo como espaços "expectantes", cuja
desocupação e nudez não revela exatamente uma opção intencional.
Também o "improviso" dos elementos que utiliza no cumprimento de funções normalmente básicas
e bem definidas nem sempre expressa, ou pode ser exatamente lido, como uma expressão
intencional de uma vontade e/ou gosto idiossincrático de afirmação de autonomias individuais.
Será o exemplo do recurso a elementos de composição avulsos, mais ou menos adaptados, mais ou
menos "escondidos" pelo recurso sistemático de materiais têxteis, ou animados por pormenores
contrastantes que traduzem vivências recentes de afirmação existencial dos seus ocupantes tais
como recordações de viagens ou familiares ou elementos em que foi viabilizada a ousadia de um
maior investimento.
Como expressão "transitória" e "contingencial", quase de "sobrevivência", é sobretudo acompanhada por
uma leitura à distância das outras expressões, que funcionando como "ideais" mais ou menos
distantes, acabam por merecer uma interpretação cautelosa, embora seja nesta que os seus
protagonistas sobretudo tendem a construir e definir as suas opções por uma ou outra linguagem
em projetos de uso e ocupação a desenvolver num futuro.
21
3.5 O idioma da funcionalidade em exercício (modelo F5)
O Modelo da "Funcionalidade em Exercício" (Figura 5) é a expressão do Eixo Côncavo que mais fiel se
apresenta à flexibilidade e à mediatização dos espaços domésticos ao serviço das necessidades de
uso e desenvolvimento de identidades individuais e bem-estar dos seus protagonistas.
Neste sentido distingue-se por:
Uma organização espacial pensada e operacionalizada em função das necessidades de uso e
manifestação das idiossincrasias individuais. O espaço é um objeto de uso, sendo a sua
apropriação guiada por esse valor utilitário e pelo seu condicionamento à satisfação das
necessidades de organização e vivência quotidiana dos seus protagonistas. Estando "ao
serviço" dessas necessidades, a sua organização e ocupação não se rege por combinatórias
padronizadas, mas como extensões dos percursos e rotinas individuais, familiares e
domésticas, e a sua ocupação e apropriação é pensada sobretudo como "facilitadora" da
satisfação dessas necessidades ou rotinas. Mais do que efeitos de composição de elementos,
dominam assim, o "estar à mão e o "não estorvar" de movimentos, que une espaço, elementos e
indivíduos num todo composicional que acaba por desafiar e se impor a eventuais
formalidades socialmente referenciadas.
Fazer prevalecer os critérios de bem-estar individual ou familiar sobre qualquer outro
critério. Estes critérios de bem-estar vão desde a satisfação de necessidades básicas ao
desenvolvimento de autoestimas e de afirmação individual, à "criação" de um conforto
sobretudo ego-centrado, que é encontrado quer através da adequação do espaço ao uso, quer
através das necessidades estéticas a que alargam a operacionalização desse conforto. A
iluminação exerce também um papel funcional na criação de ambientes, encontrando-se
sobretudo associada a atividades específicas da vivência doméstica. Qualquer ordem derivada
desta estratégia acaba por ser apenas uma consequência, e não uma busca intencional.
Por uma manifestação de contrastes, quer em termos de organização espacial quer na gestão
dos elementos de uso ou dos elementos estéticos, onde predominam assimetrias como
resultado de uma personalização do espaço e da flexibilização atribuída ao seu uso, cores
"quentes" e o recurso a materiais simples mas "revalorizados" na sua originalidade de uso e
combinatórias.
22
Figura 5: Exemplos estereotipados do modelo de funcionalidade em exercício
Este modelo apresenta-se sobretudo como uma escolha, decorrente não raras vezes de ruturas
explícitas com as expressões do Eixo Convexo, relativamente às quais não se registam
genericamente dificuldades de leitura. Estas ruturas são, no entanto, acompanhadas por uma
rejeição sobretudo baseada em experiências residenciais com as quais se intentam a demarcação de
uma diferenciação e a afirmação de um processo de autonomização. Trata-se, no entanto de uma
expressão idiomática da vivência e referência residencial em construção no âmbito de uma abertura
a outros domínios de atualização e vivência quotidiana, donde seja sobretudo procurada e praticada
por indivíduos ou agregados apostados nesse alargamento.
3.6 O idioma da funcionalidade estética (modelo F6)
O modelo da "Funcionalidade Estética" (Figura 6) corresponde à expressão purista das consequências
levadas ao extremo da lógica da personalização associada à funcionalidade "minimalista" e às
necessidades estéticas do uso dos espaços domésticos, distinguindo-se e caracterizando-se por:
Uma ocupação minimalista do espaço, que acaba por se manifestar o elemento
preponderante e a valorizar quer ao nível da organização espacial (o espaço assume um valor
de absoluto a preservar e enaltecer), quer na forma como é feita a integração dos elementos
de uso (estes quase se diluem na continuidade que estabelecem entre o seu uso funcional e o
valor estético, e na relação que medeiam entre os ocupantes do fogo e o seu espaço).
Por uma certa rigidez na forma como é gerido este equilíbrio relacional entre os indivíduos e
os cenários domésticos, na medida em que, tratando-se como que de um "pacto intimista"
entre ambos, acaba por assumir uma solenidade silenciosa quase "intocável", "inviolável", quase
"mágica" (ver, por exemplo, o depuramento de formas que são utilizadas ou a função que a
iluminação do tipo "ghost-light" exerce no enaltecimento do espaço, na diluição dos restantes
elementos na relação que com ele estabelecem, e na criação de ambientes quase "sagrados" de
comunhão que estabelecem com os seus protagonistas). Esta solenidade que marca
23
sobretudo a intensidade deste equilíbrio relacional torna-se assim absolutamente resistente à
introdução de elementos adicionais ou disturbantes dessa ordem que se revela como
resultado dessa síntese relacional intimista dos espaços com os seus protagonistas.
Pelo uso de uma linguagem "elitista" na escolha e uso dos elementos utilizados nessa relação,
que apenas servem os propósitos das intencionalidades e necessidades dos seus
protagonistas, e nesse sentido as preservam de uma leitura para além desse seu valor
instrumental e mediador. Os referentes utilizados apenas revelam a intenção de afirmação
dessa relação, mas deixam absolutamente escondidos os significados que acabam por assumir
na sua mediação ao uso, que passa a ser matéria exclusivamente privada aos seus
protagonistas. Os referentes estão normalmente inseridos em sistemas mais alargados de
desenvolvimento das necessidades de bem-estar dos indivíduos que os protagonizam.
Figura 6: Exemplos estereotipados do modelo de funcionalidade estética
Este modelo é aquele que distingue os seus protagonistas por uma vontade vanguardista de
diferenciação e afirmação da sua individualidade e idiossincrasias na adoção de uma linguagem
funcional, criando como que um movimento "elitista" e percursor de novas tendências.
Normalmente acompanhando o conhecimento das restantes expressões, desenvolve-se na sua
negação e por oposição a tudo quanto elas possam privilegiar, como é exemplo o depuramento que
actualmente cria com as restantes expressões, e a eleição de valores hedonistas ligados à estética
como eleição máxima das necessidades individuais a satisfazer.
4. Notas finais
O "Eu" e o "Outro" encontram nestes cenários diferentes "Nós" cujo sentido de pertença acaba por
ser balizado pelo domínio e uso de uma linguagem comum, mas que acaba por se reforçar, também,
no confronto dos diversos sistemas de linguagens que uns e outros são capazes de criar, legitimar e
desenvolver através das interacções vividas ou simbolicamente representadas que realizam.
24
Os cenários domésticos apresentam-se, neste sentido, como cenários privilegiados para a análise de
movimentos de mudança e transformação social decorrentes dos reposicionamentos viabilizados ou
traduzidos pelos diferentes actores nos sistemas sociais em que se inscrevem. Concorrem também
para o entendimento de movimentos de reposição dos equilíbrios necessários ao funcionamento
destes sistemas, através das suas respostas aos movimentos mais caóticos que possam vir a ser
provocados através de processos encetados pelos seus protagonistas.
Identificar Modelos de Habitar é, então, identificar os diferentes sistemas de códigos e regras, bem
como os significados e os significantes que constituem estas linguagens. São estes que são
adoptados na construção de preferências e opções no uso e apropriação dos espaços domésticos e
residenciais, numa estratégia comunicacional instrumental aceite e praticada entre diferentes actores
ou grupo de actores sociais, na afirmação e definição dos seus territórios e fronteiras identitárias
bem como das regras de comutatividade de transações entre eles.
As opções, escolhas e preferências, passíveis de se identificarem num tempo presente e sensíveis às
variações da moda que o possam marcar, encontram, no entanto, raízes em processos e em
percursos de afirmação social que acabam por determinar o seu desenvolvimento nas projecções
simbólicas que lhe estão subjacentes.
A identificação de modelos de habitar não pode, assim, ser reduzida às suas manifestações mais
imediatas dos cenários domésticos e residenciais isolados num tempo sincrónico. Nestes cenários,
os diferentes protagonistas do sistema social encontram a expressão, o prolongamento e a
afirmação de projectos e percursos de afirmações individuais e sociais decorrentes de processos que
se desenvolvem no tempo diacrónico e na generatividade que o caracteriza. E são estes processos
que sugerem uma leitura dos enquadramentos de promoção e mudança social que oferecem.
Fonte
O presente texto foi adaptado da Dissertação de Doutoramento da autora "Habitação e Cidadania –
No trilho da complexidade de processos relacionais generativos" (ISCTE/LNEC, 2001) e reporta a um estudo
elaborado no âmbito do Projecto PRAXIS XXI "Habitação a Custo Controlado com Qualidade – Sistema
informático para a exploração de soluções e desenvolvimento de projectos" pelo Núcleo de Arquitetura e pelo
Grupo de Ecologia Social do LNEC. Este estudo foi financiado pela FCT, em 2000, com o
objetivo de identificar e caracterizar modelos de habitar a partir do uso e apropriação dos espaços
domésticos e contextualizar os mecanismos de formação e desenvolvimento desses modelos em
função de grupos de pertença sociológica e de trajetos de mobilidade residencial e social. O estudo
baseou-se em metodologias qualitativas e em 40 casos de estudo, objeto de três fases de entrevista
intensiva que comportaram reconstruções de histórias de vida residenciais, caracterização gráfica e
25
fotográfica de contextos habitacionais e residenciais vividos, e testagem dos modelos apurados de
referência.
Bibliografia
ALTMAN, I.; GAUVAIN, M. – A cross-cultural and dialectic analysis of homes. In LIBEN, L. S.,
PATTERSON, A.H.; NEWCOMBE, N. (Edts.) – Spatial Representations and behavior across the life span.
London: Academic Press, 1981.
AMMATURO, E.; COSTAGLIOLA, S.; RAGONE, G. – Furnishing and Status Attributes - A
Sociological Study of the Living Room. In Environment and Behavior. Vol. 19, n.º 2 (March 1987).
BACHELAR, G. – La Poétique de l’Espace. 12.ª ed. Paris: PUF, 1984. (1ª edição de 1957).
BONNES, M.; GIULLIANI, M. V.; AMONI, F.; BERNARD, Y. – Cross-Cultural Rules for the
Optimization of the Living Room. In Environment and Behavior. Vol. 19, n.º 2 (March 1987).
BUTTIMER, A.; SEAMON, D. (Edts.) – The Human Experience of Space and Place. London: Croom
Helm Publ., 1980.
COSTA PINTO, T. – Modelos de Habitar, modos de habitar: o caso da construção clandestina do
habitat. In Sociedade e Território. Lisboa. N.º 25/26 (1998) pp. 32-44.
DUNCAN, J. S. – The House as symbol of social structure – notes on the language of objects
among collectivistic groups. In ALTMAN, I.; WERNER C. M. (Edts.) – Home Environments.
London: Plenum Press, 1985. pp. 133-151. (col. Human Behavior and Environment: Advances in
Theory and Practice; vol. 8).
FONSECA FERREIRA, A.; GUERRA, I.; COSTA PINTO, T. – L’usage et l’appropriation du
logement à Telheiras. In Sociedade e Território. Lisboa. N.º 5 (1990) pp. 43-51.
FREITAS, M. J. – Habitação e Cidadania – No trilho da complexidade de territórios e processos generativos.
Lisboa: ISCTE, 2001. Tese de Doutoramento.
GIULIANI, M. V. – Naming the Rooms – Implications of a Change in the Home Model. In
Environment and Behavior. Vol. 19, n.º 2 (março 1987).
GUERRA, I. – Grupos Sociais, formas de habitat e estrutura do modo de vida. In Sociedade e
Território. Lisboa. N.º 25/26 (1998) pp. 118-128.
KOROSEC-SERFATY, P. – Experiences and use of the dwelling. In I. ALTMAN, I.; WERNER
C. M. (Edts.) – Home Environments. London: Plenum Press, 1985. pp. 65-86. (col. Human Behavior
and Environment: Advances in Theory and Practice; vol. 8).
LAWRENCE, J. R. – What makes a house a home. In Environment and Behavior. Vol. 19, n.º 2
(March 1987).
26
LAWRENCE, R. J. – Housing, Dwellings and Homes – Design theory, research and practice. 1st ed. Great
Britain: Ed. John Wiley and Sons, 1987.
PALMADE, J. – Le Système de l'Habiter. In Annales des Ponts et Chaussées. Paris. (4.º Trimestre de
1981).
RAPOPORT, A. –The Ecology of Housing. In Eristics. Vol. 213 (August 1973).
RAPOPORT, A. – The Meaning of the Built Environment – a nonverbal communication approach. California:
Sage Publications, 1982.
RAVEN, J. – Sociological evidence on housing: 1. Space in the home. In Architect. N.º 142 (1968)
pp. 70-72.
CABRITA, A. R. – O Homem e a Casa – definição individual e social da qualidade da habitação. Lisboa:
LNEC, 1995. (Col. Edifícios; vol. 2).
RULLO, G. – People and Home Interiors – A Bibliographie of Recent Psychological Research. In
Environment and Behavior. Vol. 19, n.º 2 (março 1987).
SALIGNON, B. – Qu’est-ce qu’Habiter?. Paris/Nice: CSTB, Z’Editions, 1985.
STRUMPEL, B. (Dir.) – Éléments subjectifs du bien-être. Paris: OCDE, 1976.
VALENTE PEREIRA, L.; CORRÊA GAGO, M. A. – O Uso do Espaço na Habitação. Lisboa:
LNEC, 1983. (ICT, DEA 2).
WERNER, C. M. – Home Interiors – A Time and Place for Interpersonal Relationships. In
Environment and Behavior. Vol. 19, n.º 2 (March 1987).
WERNER, C.M., ALTMAN, I. e OXLEY, D. – Temporal Aspects of Homes – A Transactional
Perspective. In ALTMAN, I.; WERNER C. M. (Edts.) – Home Environments. London: Plenum Press,
1985. pp. 1-32. (col. Human Behavior and Environment: Advances in Theory and Practice; vol. 8).