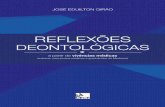Estudantes estrangeiros no Brasil: reflexões sobre questões ...
MADRINHA É PARENTE? REFLEXÕES ANTROPOLÓGICAS SOBRE O “APADRINHAMENTO” EM DIFERENTES...
Transcript of MADRINHA É PARENTE? REFLEXÕES ANTROPOLÓGICAS SOBRE O “APADRINHAMENTO” EM DIFERENTES...
IX Reunião de Antropologia do Mercosul
10 a 13 de julho de 2011 - Curitiba, PR
GT38 - Famílias, Afetos e Patrimônio
MADRINHA É PARENTE? REFLEXÕES ANTROPOLÓGICAS SOBRE O
“APADRINHAMENTO” EM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES
Luísa Maria Silva Dantas - Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Brasil
A maioria dos estudos clássicos antropológicos relaciona o parentesco à
descendência ou à aliança, correspondendo aos direitos e deveres direcionados a
cada posição e status que as pessoas adquiriam com o nascimento e/ou o
casamento.
Contudo, estudos históricos e antropológicos mais contemporâneos,
sobretudo após a Revolução Industrial, identificam o “afeto” e a “escolha” enquanto
categorias fundamentais na constituição do parentesco (Schneider 1985, Strathern
1992); indicando, muitas vezes, que os comportamentos e as obrigações
relacionados à descendência e à aliança são produzidos e utilizados em diretrizes
hegemônicas relacionadas ao modelo da família nuclear, constituída por um casal
heterossexual e seus filhos biológicos. Mas, na prática, as pessoas resignificam
esses papéis e, ao que parece, substituem e /ou complementam valores de “sangue”
pela centralidade do “afeto” construído e vivenciado no dia-a-dia.
Seguindo este referencial bibliográfico1, práticas até então não-estudadas,
como arranjos que não se assemelham a modelos clássicos de parentesco
começaram a ser visibilizados; por exemplo, famílias chefiadas apenas pela mãe,
irmãos que criam seus filhos juntos, casais homoafetivos que adotam crianças, filhos
de “criação” que convivem ou não com filhos biológicos de seus pais adotivos,
casais que adotam filhos, etc.
O historiador francês, Ariès (1981) trata de um assunto de particular interesse
à nossa discussão ao descrever a evolução do que chama “a família moderna”.
Vemos ao longo dos últimos séculos dois movimentos simultâneos: um crescente
imperativo de igualdade no tratamento das crianças da casa, e uma expulsão dos
elementos desiguais do seio familiar. Aos poucos, ficou inaceitável reservar a
herança familiar para apenas um dos filhos (em geral, o primogênito), condenando
seus irmãos menores ao sacerdócio ou à servidão.
1 Ariès, 1981; MacFarlane, 1986; Segalen, 1995;Singly, 2000; Stacey, 1992;
O mesmo movimento que, no século XX, culmina nos direitos iguais para
filhos nascidos dentro e fora do matrimônio, filhos adotivos, etc. Ao aspecto material
da herança igualitária, inscrito na lei, acompanha o imperativo emocional – cada vez
mais presente nos manuais de educadores, moralistas e médicos – de amar os
filhos da mesma maneira. Por outro lado, continua Ariès, nesse mesmo período, a
família “burguesa” se retraiu da “sociabilidade da rua”, e condenou a promiscuidade
de classes dentro de casa. Com um sentimento crescente de “privacidade” ligado à
idéia do “doce lar”.
Empregadas domésticas começaram a ser confinadas a determinados
espaços e tempos da convivência familiar. Mais uma vez, trata-se de um movimento
presente no século XX resultando na gradativa preferência por diaristas ou mesmo
horistas em detrimento às empregadas domésticas que moram nas casas de seus
patrões. No bojo dessas mudanças, a figura das pequenas "criadas” – as jovens
geralmente de origem modesta que viviam com famílias mais abastadas em troca de
serviços domésticos e acompanhamento2 apresentam uma trajetória de particular
interesse. Sua presença na “família moderna” fere dois princípios de a) igualdade
entre as crianças da casa e b) intolerância de desigualdades de classe.
Nos parágrafos a seguir, tentamos traçar algo dessa “evolução” de
sentimentos familiares ao comparar dois casos bastante diferentes de pessoas
“apadrinhadas” – o primeiro de uma senhora idosa, que desde sua juventude foi “cria
de casa” nas famílias abastadas de Belém de Pará, o segundo uma jovem de 24
anos que cresceu em abrigos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Os dois
contextos são muito diferentes, assim como as trajetórias das personagens, mas a
justaposição dos dois casos serve para levantar algumas hipóteses sobre os vários
sentidos de infância e família.
AS PERSONAGENS EM MEUS TRAJETOS
Minha trajetória acadêmica se iniciou em 2008, sob orientação da prof. Dra.
Maria Angelica Motta-Maués, no curso de graduação em Ciências Sociais da
Universidade Federal do Pará, com um estudo sobre as “crias de família”, em sua
maioria meninas advindas dos interiores do estado do Pará, que vinham para a
capital Belém para “melhorar de vida”. O grupo de mulheres que participou do
trabalho (apenas um homem), ora eram consideradas e sentiam-se enquanto
2 Ver DANTAS, 2008; LEINAWEAVER, 2009, MOTTA-MAUÉS, 2006, 2007, 2008.
“parentes” das famílias que as recebiam em suas casas na capital e ora em
desigualdade em relação àqueles ligados pelo “sangue”.
Na tentativa de analisar as nuances que tal configuração apontava, a
pesquisa solicitou o estudo da literatura antropológica sobre parentesco, circulação
de crianças, gênero, geração e “cor”, pois em seus discursos em alguns momentos
elas nomeavam os donos das casas enquanto seus “padrinhos” e em outros
enquanto “velhos”; muitas vezes, circulavam em diferentes casas de membros de
uma mesma família, passavam a maior parte de sua trajetória de vida convivendo
com várias gerações de uma mesma família e também, muitas vezes, várias
gerações da família de uma “cria” também se inseriam na casa da mesma família da
capital e as mulheres eram na maioria negras.
Nesse contexto, fazia sentido formular a análise em termos da circulação de
crianças, fenômeno caracterizado pela presença de diferentes tutores responsáveis
pelo cuidado de crianças e pela grande mobilidade dessas em suas trajetórias de
vida; bastante presente nas classes populares3, mas que também pode ser
encontrado nas camadas médias e altas, ainda que em diferentes bases4.
Em 2009, ao iniciar o mestrado em Antropologia Social no Programa de Pós-
Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, fui
instada por minha orientadora, Claudia Fonseca, a estudar um programa de
“Apadrinhamento Afetivo”, desenvolvido desde 2002, pela ONG Instituto Amigos de
Lucas, situada na cidade de Porto Alegre/ RS, que visa instituir “madrinhas” e/ou
“padrinhos” a crianças e adolescentes residentes em abrigos situados na cidade,
com baixas probabilidades de serem adotados5. O programa me chamou atenção
justamente pela denominação, pois no caso das “crias de família”, estudadas por
mim em Belém, muitas passavam a chamar os donos das casas de “padrinhos”
como uma maneira de salientar que a relação entre eles não era estritamente
empregatícia6, portanto uma maneira de efetivar um “parentesco fictício”.
Já no caso do programa “Apadrinhamento Afetivo”, diferente das “crias”
ambientadas numa esfera íntima e doméstica, é uma política pública elaborada pela
3 Fonseca, 1995;
4 Motta-Maués, 2004;
5 Isto porque são crianças com 6 anos ou mais, em sua maioria meninos, negros, com algum tipo de
necessidade especial e/ou soropositivos. 6 As “crias” estudadas por mim nunca assinaram a carteira de trabalho, apenas recebendo alguma
renda dos donos das casas em Belém de maneira “informal”. Além disso, no início de sua estadia, geralmente brincavam com alguma criança “da casa”, mas em dado momento assumiam também todo o serviço doméstico.
ONG “Instituto Amigos de Lucas” em 2002; mas que se utiliza do termo
“apadrinhamento”, nesse momento com a possibilidade de estar sendo utilizado no
sentido de “humanizar” a linguagem dos “direitos”, como já sugeria Mauss (1925):
A sociedade quer reencontrar a célula social. Ela procura, cerca o indivíduo, num curioso estado de espírito, no qual se misturam o sentimento dos direitos que ele possui e outros sentimentos mais puros – de caridade, de „serviço social‟, de solidariedade (MAUSS, 1925: 298).
De fato, classicamente, o apadrinhamento apesar de tomar como modelo uma
relação familiar (por isso, era chamado por analistas de “pseudo-parentesco”), tinha
muitos outros significados além de “criar parentesco”7. Assim, busco entender
distintos significados que essa relação de compadrio pode encerrar em diferentes
situações que experenciei (observei, vivi) nas minhas pesquisas de campo.
“CIRCULANDO” NAS CASAS DE BELÉM/PA: EDWIGES
Edwiges nasceu em 1927, portanto atualmente possui 83 anos, no Município
Cachoeira do Arari, que está inserido na Ilha do Marajó8. Pode ser classificada
socialmente enquanto negra, no entanto, ao ser questionada a respeito de sua auto-
identificação, não fez menção à sua raça e/ou cor9. É uma senhora robusta e muito
simpática que, ao conversarmos na varanda de sua casa pude perceber sua
popularidade na vizinhança.
7 Ao investigarmos os estudos sobre o “compadrio” seja sob uma abordagem antropológica, seja a
partir de campos afins, encontramos vários trabalhos que poderiam ser classificados em relação a duas perspectivas: Na primeira, encontramos análises históricas, fundamentadas em certidões de batismo, se remetendo ao final do século XVIII e à sociedade escravocrata negra e/ou indígena (BRUGGER, 2004; MEIRA, 2008). Na segunda, não em oposição à primeira, mas a complementando, a ênfase é colocada nas relações políticas decorrentes das diferenciações de poder entre padrinhos e afilhados, onde o compadrio atua no estabelecimento de uma relação patrão-cliente (LANDÉ, 1977; LOMNITZ, 1994, WOLF, 2003). 8 “A ilha de Marajó é uma ilha brasileira do estado do Pará localizada na foz do rio Amazonas.
Destaca-se pelos montes artificiais, nomeados „tesos‟, construídos ainda em seu passado pré-colombiano pelos índios locais. De acordo com relato de Sir Walter Raleigh, no século XVI a ilha era também chamada de Marinatambal pelos indígenas. Em tempos coloniais foi denominada como Ilha Grande de Joannes. Com uma área de aproximadamente 40 100 km², é a maior ilha fluviomarinha do mundo. A cidade de Belém situa-se a Sudeste do canal que separa a ilha do continente; ela é composta pelos seguintes Municípios do Estado do Pará: Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, S. Sebastião da Boa Vista e Soure” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_Maraj%C3%B3, em 21/06/2008 às 11h34). 9 Isto pode ser um indicativo de que este fator não é considerado importante pela entrevistada, que ela não tenha comentado porque não se aceita enquanto tal ou ainda por não ter entendido o propósito da pergunta. Apesar do trabalho não objetivar tratar especificamente das relações raciais, em uma sociedade de base escravista como a brasileira, e ainda mais, sobre o arranjo familiar a que estamos nos propondo a discutir, em que se constituem as “crias de famílias”, o fator cor da pele torna-se um dado relevante e fundamental (SALLES, 1971; ALMADA, 1987). Que, assim, não pode deixar de ser lembrado.
Sua infância se deu no município onde nasceu morando com uma tia
materna e dois primos; já que, sua mãe “ia e vinha”, pois morava em Belém.
Primeira casa: Depois de certo tempo, “ainda menina”, – pois não consegue
lembrar a idade exata –, Edwiges veio “mandada” pela avó materna para Belém.
Ficou na casa de uma senhora em que sua tia (outra irmã da mãe de Edwiges) fora
criada desde os cinco anos. Sobre o trajeto de vinda desta tia, diz que foi por
intermédio da mesma avó de Edwiges, no caso da tia, através da mãe, que pediu
que essa senhora a “criasse”.
Edwiges continua: “Lá (na casa onde fora criada) ela (sua tia) ficou, nunca
casou; lá as moças não casavam, ficavam tudo lá, era só trabalhar e rezar”. Com
pouco tempo, Edwiges é encaminhada pela senhora que criou a tia para uma “casa
de família” 10. Então, Edwiges vem para Belém, aprende com a tia e a família que a
criou como deveria portar-se e todas as atividades necessárias ao “destino certo”.
Que, às vezes, com “sorte”, também pode significar, um casamento, ter sua “própria”
família.
Segunda casa: Edwiges foi morar na casa de uma família que era composta
por três senhoras idosas e solteiras, um sobrinho delas, a esposa dele e mais três
filhos ainda crianças. Edwiges diz que existiam outras “moças”, que dividiam as
atividades domésticas com ela. Seus afazeres eram levar as crianças à escola e
“ajudar” na casa, “não era trabalho assim pesado”. Desde que chegou à Belém,
Edwiges continuou tendo contato com a sua mãe. Com 16 anos, quando “arranjou”
um namorado, disse para a família com que estava morando que ia visitar a mãe,
mas foi encontrar-se com o rapaz. Uma das senhoras desconfiou, foi à casa da mãe
de Edwiges e descobriu a mentira. Assim, “fiquei um bocado de tempo lá”, no
entanto, após o ocorrido foi morar com a mãe.
Terceira casa: Edwiges morou um tempo com a mãe em Belém, depois elas
e o padrasto foram para Soure (outro município da Ilha do Marajó). Ao voltarem,
Edwiges já ficou na casa de uma senhora. Chegou nesta casa através de “... uma
senhora que se dava com a minha mãe, ela disse: „olha eu tenho uma amiga, ela
queria uma pessoa de confiança pra tomar conta do menino, aí eu fui”. Edwiges
10
Termo comumente usado, ainda, hoje, em Belém, no Pará, para falar das famílias criadoras dessas meninas (as “crias”), ou mesmo para referir as mulheres que (como empregadas domésticas, trabalham em “casa de família”). O que, evidentemente, impõe uma hierarquizada e assimétrica diferença entre a casa (“de família”) dos patrões ou das “donas” ou “madrinhas” e o lugar - não se fala em casa, muito menos em família – de onde vêm as “crias” ou as “domésticas”.
“tomava conta” 11 do único filho do casal com quem morava. Ela explica que a casa
era pequena e, portanto, “não tinha muito trabalho”. Comentário que evidencia a
figura de Edwiges enquanto responsável, pelo menos pela maioria das atividades
domésticas. Depois, o marido da senhora foi transferido e a família mudou-se para
outra cidade e Edwiges ficou: “pra ir pra fora eu não queria ir com ninguém!”.
Quarta casa: Sem lembrar mais por intermédio de quem, após a viagem da
família com quem morava, Edwiges foi para a casa de Dona Isaura, a sua “quase
madrinha”, com quem viveu por mais de 15 anos. Ela morou com D. Isaura primeiro
em uma casa, onde o filho de Edwiges nasceu e ela tinha 22 anos. Depois, moraram
em uma casa em um bairro central e, após o falecimento do companheiro de Isaura
foram morar em uma casa no bairro vizinho. Na casa de Isaura, Edwiges “tomava
conta” das três filhas da senhora e aprendeu a aplicar injeções. Isaura e suas filhas
foram depois morar no Rio de Janeiro.
Quinta casa: Neste mesmo período, a irmã de Isaura adoeceu, morava no
Bairro Nazaré, e Edwiges foi morar com ela, mas, por pouco tempo. Quando essa
senhora viajou para Portugal com o marido, Edwiges foi morar na casa de Marina.
Sexta casa: Na casa de Marina, Edwiges permaneceu por 11 anos. Isaura a
convidou para morar no Rio de Janeiro com ela, mas esta se negou a ir. Desde que
Isaura se mudou, Edwiges passou a desempenhar várias atividades, inclusive na
casa de amigos da vizinhança. Morava com Marina, mas “quem precisava de mim
pra fazer alguma coisa eu ia, eu tinha várias amigas”. Como bem identifica
Figueiredo (2006), na Belém das primeiras décadas do século XX,
... havia um largo espaço de sociabilidade que era partilhado entre todos e que, mesmo não anulando de forma alguma as diferenças sociais, abria um vasto campo de convivência entre todos os moradores da rua ou quarteirão – fosse uma festa santa, um aniversário do primogênito ou um enterro de ente querido (FIGUEIREDO, 2006:329).
Edwiges foi babá de Lúcia, a filha mais nova de Marina; chegou a casa antes
de Marina a ter. Quando ela nasceu, segundo Edwiges: “Marina não tinha mais
trabalho nenhum, era eu é que fazia mingau, fazia tudo”. Marina morava a um
quarteirão da última casa em que Edwiges morou com Isaura comprovando que “Era
como se existisse um „sutil parentesco entre todos os moradores de uma mesma
rua‟” (FIGUEIREDO: 2006 328).
11
O que significa ser responsável pela alimentação, higiene e segurança do menino na ausência ou não dos pais biológicos.
Sétima casa: Esta etapa é considerada como sendo apenas uma casa,
porque a partir daqui, Edwiges mora na “sua” casa, ou seja, com o filho e o
companheiro. Mas, eles ainda passaram, como se diz, por três casas em que a
terceira e última é a casa em que Edwiges mora até hoje, com seus 83 anos de
idade. A primeira casa era alugada e apenas moraram Edwiges e o filho; a segunda,
que era na Marambaia (bairro da periferia da cidade de Belém), já foram os três,
“tinha 3 quartos, ficou um quarto pra mim, um quarto pro meu filho, ainda sobrava
um quarto pra botar garrafa, essas coisas, a casa era tão bonitinha!”. Então,
Armando, companheiro de Edwiges se aposentou da ENASA (Empresa de
Navegação da Amazônia S/A – que substituiu o SNAPP12) e comprou a casa atual,
no centro da cidade e, portanto, no mesmo bairro onde Edwiges passou a maior
parte de sua vida, nas casas de Isaura e Marina.
Apesar de Edwiges ter morado em todas essas casas, sempre manteve
contato com a mãe, até o seu falecimento. Viajavam juntas para Soure em vários
meses de julho (mês das férias escolares). Dentre todas as famílias com quem
conviveu, Edwiges possui um vínculo afetivo maior com as de Isaura e Marina, até
mesmo porque as outras se mudaram da cidade, ela perdeu o contato e a primeira,
em suas palavras, “já morreu tudo”.
Isaura a tratava “como se fosse” uma filha. Edwiges exemplifica que tinha
liberdade, fazia o que queria e tinha o que desejava. Isaura também patrocinava o
que o filho de Edwiges necessitava. No relato de Edwiges existiram acontecimentos
muito importantes que fizeram com que a relação entre as duas “estreitasse” ainda
mais: Primeiro, Edwiges teve seu filho na casa de Isaura, com todo o seu apoio;
segundo, estava com Isaura quando a mãe e o companheiro da mesma faleceram e
terceiro, mesmo depois que Isaura foi morar no Rio de Janeiro e vendeu sua casa,
com o pagamento dividido em parcelas, era Edwiges que, todos os meses, recebia o
dinheiro e lhe enviava. Além disso, o filho de Edwiges morou um ano no Rio de
Janeiro com Isaura e, hoje, uma das filhas de Isaura, que Edwiges “tomava conta”
colocou na filha o nome: Edwiges – para esta, selando (para sempre) o vínculo com
uma significativa homenagem. Em relação ao que não precisaria lembrar a
importância do gesto, considerando o sistema de nominação das pessoas (dos
bebês) no Brasil.
12
Serviço de Navegação da Amazônia e Administração do Porto do Pará.
Sua relação com Marina abarca o nascimento de Lúcia, a filha mais nova de
Marina, que Edwiges “tomou conta” até os 11 anos e a morte do marido de Marina
que “quando morreu, morreu, bem dizer, nos meus braços, que deu um infarto
nele...”, quando ela passa a ser “babá” de Marina e acompanhá-la em todos os
momentos. Nesta fase, Marina começa a ter problemas financeiros, tendo que
dispensar todos os seus empregados, mas Edwiges continuou com ela.
A trajetória de vida de Edwiges é marcada por grande mobilidade,
característica que foge a concepção da “cria” como alguém apenas no interior das
casas13. Edwiges permaneceu muitos anos em duas casas e, por isso, nesses
espaços possuia um status diferente, hierarquicamente superior em relação aos
outros empregados dessas casas; ela não era tratada como uma “mera empregada”.
Além disso, quando os maridos de Isaura e Marina faleceram, as duas
começaram a ter problemas econômicos e, pelo que pude identificar, é nesses
momentos que Edwiges circulou mais, realizando pequenos serviços pela
vizinhança, para garantir, não apenas o seu sustento, mas o das “Donas”. Estas que
eram ou complementando sua posição de patroas, também “madrinhas” e,
sobretudo, “amigas”.
Edwiges nunca teve emprego com salário fixo; “ajudava” quem precisava de
seus serviços e geralmente era agraciada: “eu nunca comprei uma roupa pra mim,
tudo é só que me dão, presente, sapato, tudo, eu não compro nada!”. Interessante
ressaltar que nesta fala há certo “orgulho” de Edwiges por ter muitos “amigos” e que
em sua concepção, devido esta estabelecer com eles uma relação afetiva, o
pagamento de um salário – que seria algo impessoal e formal – ou a falta deste não
é vista como “exploração” ou algo parecido e sim como um “favor” (dar) que ela
realizava para os amigos, eles lhe davam presentes em agradecimento (receber) e
ela sempre estava à disposição caso eles precisassem (retribuição). Hoje, ela vive
da pensão do companheiro.
Lazer, Edwiges diz que sempre foi “danada”, gostava muito de ir a festas e
ao cinema. Quando era criança vivia correndo pelo quintal das casas. Mas,
especificamente, apenas relata a casa de Isaura, que possuía uma casa de veraneio
13
No entanto, Edwiges é um caso à parte, pois a maioria das “crias” estudadas por mim consta a permanência em apenas uma casa. O que é confirmado em Lamarão (2008) e Motta-Maués (2004; 2007).
em Icoaraci14, onde elas passavam a maioria das datas comemorativas, como o
Natal.
Edwiges conheceu Armando, seu companheiro a quem se refere apenas
pelo nome pessoal, quando morava na casa de Marina, “ele morava próximo e aí, de
passar pra lá, passar pra cá, começou o romance”. Nunca casaram porque ele
queria “morrer solteiro” 15. Moraram juntos por 17 anos até ele falecer. Edwiges, não
seguiu o modelo da sua “tia”, ela constitui sua “própria” família. Teve apenas um
filho, Pedro, que foi gerado a partir de um relacionamento de Edwiges com um
militar que não “reconheceu” o filho. Armando quis ter um filho de Edwiges, mas ela
não engravidou mais e nunca quis “criar” ninguém, “já ajudei a criar os filhos dos
outros, tá bom!”. Seu filho Pedro faleceu aos 50 anos, o que significa a segunda
perda na família constituída, particularmente, pela própria Edwiges.
Após passar anos morando em casas diferentes, Edwiges esclarece que
quando foi morar com seu filho e o companheiro em um bairro periférico, “Quando
era cinco e meia, seis horas, eu ia me embora, era difícil eu passar um dia lá! Eu
não gostava de ficar. Os vizinhos eram ótimos, mas não havia jeito de eu me
acostumar”; ela apenas voltava à noite para a casa. Isto porque Edwiges passou a
maior parte da sua vida com famílias que moravam no centro da cidade, às vezes
até vizinhas (Isaura e Marina) e estranhava o cotidiano do outro bairro. “Os vizinhos
eram ótimos”, mas Edwiges já possuía seus “amigos”. Por mais que não tivesse o
estatuto igual ao da maioria deles, fazia parte da vida de todos, entrava nas suas
casas “com a maior intimidade” e participava do dia-a-dia deles.
Ao analisar sua experiência de vida, Edwiges “não percebia nada de ruim.
(...) É por isso que eu me dou bem com todo mundo, sabes, porque pra mim tá bom,
né, todo mundo é legal, não me maltratando, pelo o que eu perceba, assim”. Depo is
deste comentário, concluiu o assunto. Não percebia (ou parecia não perceber)
nenhuma diferenciação entre ela e os membros das famílias, porque sempre teve a
mãe por perto, logo nunca pretendeu ser “igual”16. Entretanto, anteriormente
14 “Icoaraci é um distrito de Belém, capital do estado do Pará, distante aproximadamente 20km, possui cerca de 300 mil habitantes” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Icoaraci, 23/07/08). 15
“Predomina no Brasil a idéia de que os homens não sentem o desejo de casar” (WAGLEY: 1977 174). 16
Em relação a esta “igualdade”, o romance “A Distância entre Nós” da indiana Thrity Umrigar (2006) ilustra bem as nuances de nossas personagens, pois Bina (a narradora da história) é criada de abastada casa e compara as diferentes e desiguais vidas de sua filha e da filha da patroa, com quem viveu, por longos anos, a mesma dedicação e proximidade ambígua, tal qual, os nossos entrevistados.
mencionada, a “madrinha” existiu e segundo a mesma Edwiges “ela me
considerava”; ou seja, a desigualdade é interpretada por Edwiges como algo
“natural”, ou, melhor dito, “naturalizado”. O modo de se comportar, suas limitações e
deveres estão indissociados do papel e status social ambíguo, indefinido que
Edwiges possuía dentro das casas, “mas não era uma mera empregada”.
Na concepção de família almejada por Edwiges, a união é o elemento mais
importante, “Família não é algo espalhado, que a gente não sabe nem um do outro,
uma família unida, com os filhos, aí já vem os netos, isso eu acho maravilhoso! Muito
bom mesmo!”. Ela possui dois netos, filhos de Pedro.
SOMANDO „CASINHAS‟: O CASO DE CÍNTIA DE PORTO ALEGRE/RS
Cíntia me enviou uma mensagem se identificando como: “Eu sou negra, com
cabelo cheio de tranças” e eu a avistei, uma moça alta e muito bonita. Sentamos na
praça de alimentação de um shopping no centro de Porto Alegre, conversamos um
pouco e ela foi logo se apresentando. Disse ter 24 anos, nascido em Porto Alegre e
morado nas “casinhas” dos 2 aos 18 anos. Possui nove irmãos, mas conviveu mais
intensamente com três deles (Cláudio, Raquel e André) que moraram com ela nas
“casinhas”.
De fala muito bem articulada, explica que suas duas irmãs mais velhas
também moraram nas “casinhas”, termo que emprega para indicar as casas da
extinta FEBEM17, mas que fugiram. Hoje uma está casada e a outra separada. Seus
três irmãos mais novos, que são filhos do mesmo pai que Cíntia e André
permanecem com os pais.
As “Casinhas”: Cíntia morou nas “casinhas” da FEBEM dos 2 aos 18 anos
passando a maior parte de sua vida no abrigo residencial (AR)-15 na companhia de
seus 3 irmãos. Ela explica que se não fosse a madrinha Cibele, que conheceu em
2002, já com 16 anos, ter dito que era melhor ela se desligar, estaria lá até agora.
Ao falar de sua trajetória nas casas, percebe-se grande mobilidade, pois da AR-15
ela foi transferida junto com seu irmão Cláudio para a AR-7, depois voltou para a
AR-15, então para a AR-8, retornando para a AR-15. Cíntia justifica essas
transferências devido ao fechamento da AR-15 pela vigilância sanitária e outro
motivo que poderia causar transferência era a aproximação de uma criança com um
17
Fundo Estadual para o Bem-Estar do Menor inaugurada em 1969 e desde 2000 dividida em diferentes órgãos estaduais e municipais sob orientação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).
monitor, que gerava suspeitas de relação sexual, provocando a mudança de casa da
criança. Mas não explicitou se essa foi a causa de sua transferência.
No AR-15 trabalhava o “tio Zeca”, que Mônica considerava como um pai, já
que o monitor passava grande parte do tempo com eles. Esclarece que em cada
casa tinham em média 15 crianças e em cada turno trabalhava um casal de
monitores. “Tio Zeca” trabalhava normalmente no turno da noite, mas também nos
outros, já que pegava vários “plantões”. Diz que o “tio” a tratava como filha, ainda
que a colocasse de castigo quando estava errada. Menciona um aniversário de 15
anos, “ele foi me buscar meia noite em ponto, aí que horror! Eu me escondia guria!
Ainda ele buzinava bem feliz! Mas foi bom isso, me deu limites!”. Comenta que
diferente das outras casas, AR-15 tinha muitas regras, “porque o tio Zeca é antigo,
pra ele guria tem que tá dentro de casa era sete horas de noite!”. Em relação às
outras casas, Cíntia comenta que na AR-7 os monitores queriam que ela se vestisse
como “menina” e na AR-8 eles tinham muita liberdade, mas em compensação
apanhavam bastante, portanto as regras variavam a cada casa.
ARs: A primeira casa em que Cíntia e os irmãos moravam se situava no bairro
Belém Novo na zona sul de Porto Alegre e era coordenada por uma freira que
separava em diferentes mesas nas refeições os grupos de irmãos, “a casa era
separada pelos Silvas, que eram nós; os Teixeras e os Oliveiras”, já nas outras
casas não havia essa separação. Também reconhece que nas “casinhas” existiam
abusos e espancamentos:
... da gente ver o cara mandando a menina sentar no colo dele, fazer carinho que não tem nada a ver, comentário... Tinha um monitor e tinha uma menina, Dinah, ela era linda de corpo, na adolescência, linda! Então ele tinha sempre a mania de esperar a guria tomar banho, porque ele sabia que ela fazia todo aquele ritual de adolescente, tomar banho, passar creme, aquela coisa toda. Ele sempre esperava ela tomar banho pra entrar no quarto, então a gente vê esse tipo que coisa. Teve um monitor uma vez que bateu, espancou uma menina, afú, só porque ela chamou ele de chato, só por isso! Ele puxou o cabelo da guria, deu tapa na cara dela, deu tapa no corpo dela, chutou, fez um monte! Depois sabe o que que ele fez? Ele simplesmente olhou pra ela porque viu que fez errado, e perguntou se ela queria um chá, se queria olhar a TV... Sabe, uma coisa nada a ver! O tio Zeca também era muito de bater, eu já, muitas vezes, briguei com ele, disse, „pô, tu tá aqui pra proteger e tá espancando?‟.
Ela diz que apenas apanhou uma vez, porque roubou dez reais de uma
monitora e que nunca tomou remédios, mas que também acontecia, “eles
(monitores) dopavam pra criança ficar o dia inteiro dormindo e ficar olhando
televisão”. Apesar dessas situações, Cíntia argumenta que fez curso de informática
o que lhe propiciou o emprego que tem hoje, apesar de ter tido muita dificuldade ao
sair do abrigo por nunca ter precisado trabalhar para pagar suas contas. Alega
também que,
O bom das casinha é que tu quebrava um braço, tu passava na frente de todo mundo, era tão bom ver a cara dos outros, sabe, brabo, 3 horas na fila e tu passar na frente deles, era bom! Eles fechavam os parques, o dia inteiro, só pra nós! Ninguém podia entrar, a não ser das „casinha‟; até o Iguatemi, eu me lembro uma vez, umas pessoas ricas, sei lá o que fizeram, pagaram promessa, não sei, fecharam uma parte do Iguatemi só pra nós, passamos uma tarde inteira só descansando e as pessoas acham que as casinhas são horríveis!
Enfatizando os benefícios que as crianças abrigadas possuíam, Cíntia se
ressente dos estigmas de “prostitutas” e “drogados” direcionados a eles por “serem
da FEBEM”, explicando que por existirem casos em que isso realmente ocorre, a
sociedade os generaliza e entende que o futuro de todos estará condicionado por
esses destinos. Como no caso em que uma vizinha de sua casa disse que ela ficava
na porta o dia inteiro para falar com os bombeiros, quando na verdade era uma
amiga sua que ficava. Ao questionar a mulher obteve como resposta, “é que sabe,
quando a gente fala uma, é vocês todas”; e em outro momento, quando estava
voltando da aula no ônibus e uma senhora lhe perguntou o que ela teria feito para
estar na FEBEM e ela disse que matado uma mulher por ter feito a mesma pergunta.
Em relação ao preconceito, Cíntia salienta que os monitores também
contribuem para a baixa auto-estima dos jovens, orientando-os para que não
fizessem curso de informática, pois não trabalhariam com computador, já que suas
únicas opções seriam como empregadas domésticas, manicures, garis e
trabalhadores da construção civil.
Pensionato: Ao completar 18 anos e depois de ter morado em inúmeras
“casinhas” Cíntia foi morar em um pensionato de mulheres, que era dividido em três
andares, marcando as diferentes classes sociais que o habitavam e Cíntia reclama
que no sumiço de uma roupa de uma menina do terceiro piso, apenas seu andar foi
revistado (o primeiro), sendo que encontraram a peça no mesmo andar da menina
que tinha sido furtada. Também menciona as regras dos horários de ingresso no
pensionato que limitavam sua mobilidade. Exceto esses aspectos, ela diz que sente
saudades desse período, que tinha amigas também egressas de abrigos e que sua
irmã também foi encaminhada para lá ao completar 18 anos.
Casa espírita: Uma dessas amigas era Sandra e sua madrinha conseguiu
uma casa espírita desativada para que as três (Cíntia, Sandra e Raquel) morassem
até que encontrassem outro lugar.
Apartamento financiado pela madrinha de Raquel: Após essa experiência,
foram morar em um apartamento que a madrinha de Raquel patrocinava. Cíntia teve
seu primeiro emprego como operadora de telemarketing do “baú”18 e o segundo
como secretária de um escritório de advocacia, o qual permanece há 4 anos, até
hoje.
Ela e a irmã moraram um ano no apartamento que a madrinha da irmã
pagava e que sua madrinha Cibele mobiliou, que era só para as duas,
mas eu tenho o coração muito mole, aí uma amiga, „ah, eu não tenho onde morar, deixa passar um tempinho aí?‟ Eu deixava; daí quando a Nara (madrinha de Raquel) ia lá eu escondia ela; depois foi meu irmão, assim foi indo.
Casa da sogra e de Cíntia: Após esse período, Cíntia engravidou, morou um
tempo na casa da mãe do namorado, até se mudar para a sua casa, onde continua
morando.
Cíntia conheceu o namorado voltando de uma festa e primeiramente ele teve
um relacionamento com sua amiga Sandra que morava no apartamento com Cíntia
e Raquel. Quando a amiga descobriu o romance queria bater em Cíntia que a
expulsou de casa, “sim, porque eu que mantinha a casa, o meu salário era só pra
comprar comida e pagar conta de luz, nunca vi como come aquelas criaturas!”.
Então, outra amiga, Kendra, passou a morar com as irmãs, mas por pouco tempo,
porque Cíntia descobriu que ela alimentava calúnias entre ela e Sandra, expulsou
Kendra de casa e reatou a amizade com Sandra. Quando descobriu que estava
grávida tentou abortar duas vezes, mas sem êxito, decidiu com o namorado que
teriam o filho.
Ela foi morar na casa da sogra, Raquel foi pra casa de uma irmã, Cristina e
André após se envolver com drogas e passar por várias clínicas de reabilitação está
preso no presídio central por tráfico de drogas. Ele morou no apartamento que a
madrinha de Raquel pagava durante um tempo, mas ao voltar a usar drogas,
roubava dinheiro e roupas das irmãs, então Cíntia o expulsou de casa. Quando se
reencontraram, ele disse a Cíntia, “não mana, eu sei que tu tava certa, eu errei”, “ele
18
Programa de sorteio de prêmios.
é um guri legal, ruim é das drogas, né, detona geral”. Claudio mora com a
companheira em um apartamento.
Apadrinhamento: Em 2002 os monitores do abrigo de Cíntia falaram que
selecionariam crianças para participar do “Apadrinhamento Afetivo”. Segundo Cíntia,
para ela tanto fazia ir ou não, mas foi. No primeiro encontro, começou a conversar
com Cibele, que colocou seu número de telefone atrás do crachá (que todas as
crianças tinham) de Cíntia. Ela diz que não esperava conseguir uma madrinha,
porque já tinha 16 anos e acreditava que os padrinhos estavam procurando crianças
menores. Mas que no segundo encontro, para a efetivação do apadrinhamento,
percebeu que a madrinha “não tem muita paciência pra criança não!”.
Casa da Madrinha: Começou a freqüentar a casa da madrinha, “conversava,
via televisão e comia bastante!”. Ainda que nos primeiros encontros tivesse muita
vergonha. Também viajou com a madrinha, ganhava roupas que não davam mais na
filha dela, presentes e perfumes, mas salienta que Cibele sempre enfatizou o caráter
afetivo do apadrinhamento, sempre foi sincera em dizer que não ajudaria
financeiramente Cíntia, mas todas as vezes que ela precisasse conversar, a
madrinha estaria à sua disposição. A afilhada diz que a relação entre as duas
sempre foi muito boa e concorda com a postura de Cibele, já que sempre recebeu
“tudo” do abrigo, foi bom ter ido atrás de seu emprego sozinha para que não
dependesse sempre de alguém para conquistar as coisas. Em relação ao
aprendizado no apadrinhamento, ela fala:
Ela ia me buscar, eu ficava na casa dela, eu dormia lá, era bem legal! A gente conversava bastante, sabe, essa coisa de olhar no olho, é uma das coisas que eu aprendi, porque antigamente era só assim, catando moeda, olhando pro chão, pra não olhar pra ela, ela dizia, olha pra mim! Antes eu ficava três horas pra perguntar uma coisa, sabe, era horrível! A Cibele me ensinou, o máximo que a pessoa vai te dizer é sim ou não, não tem outro termo, foi bem legal!
Cibele tem duas filhas, uma mais nova e uma mais velha que Cíntia. A
afilhada explica que a relação entre elas nunca foi além de “oi” e “tchau”, isso porque
viviam realidades muito distintas e Cíntia relata,
eu me sentia um ET, porque elas tinham tudo e eu não tinha nada, elas tinham roupa de marca, tênis de marca, tinham tudo de marca e eu não tinha, o meu era ali do „shopping chão‟, entende, roupa tudo igual dos outros (...) eu achava os amigos delas melhor do que os meus, isso eu achava realmente! Elas tinham telefone celular, elas tinham bicicleta, elas tinham TV, TV a cabo no quarto, uma tinha computador e eu já não tinha nada disso.
Além disso, a mais velha já estava na pós-graduação, a mais nova
terminando o ensino médio e Cíntia interrompeu os estudos no ensino fundamental;
por isso, justifica que elas não tinham assuntos em comum. Já com Renato, marido
de Cibele, sua relação era ótima, ela conversava muito com ele, “tirando que ele é
colorado19, ele era um amor!”. Após a gravidez de Cíntia ela e a madrinha se
distanciaram, mas conversam por telefone e às vezes almoçam juntas.
Em relação ao funcionamento do programa “Apadrinhamento Afetivo”, Cíntia
diz que ele deveria ter um melhor acompanhamento, pois sabe casos de colegas em
que a madrinha apenas tratava mal, então não há motivos para ter madrinha se
acontecer dessa forma. Além disso, os padrinhos deveriam ser mais bem
selecionados para que não abandonem as crianças após a primeira dificuldade, “tipo
aquelas mulheres metida a riquinha, só pra ter um fantoche do lado, „ah, eu peguei
uma neguinha da FEBEM...‟ Sabe, pra dizer „eu faço caridade‟”.
Para a jovem, os padrinhos devem esclarecer desde o início que não serão
pais, mas amigos e conselheiros de seus afilhados e não podem cobrar respostas às
suas próprias expectativas. Mas alega que o programa propiciou uma oportunidade
para que ela fosse uma pessoa melhor do que já era, “porque eu melhorei muito
depois que eu conheci eles!”.
A afilhada teve muitas dificuldades em se adaptar fora do abrigo, pois nas
“casinhas” não cozinhava, não lavava roupa e não limpava a casa, porque tinham
funcionários que executavam tais tarefas,
aí tu imagina a cabeça de uma criança que fica desde que nasce, da infância até os 18 anos, com essas regalias... Não precisa trabalhar pra comer, pra pagar conta de luz, pra pagar aluguel, pra pagar nada, e de uma hora pra outra sair e ter que conseguir... Horrível!
Diz que sempre teve contato com a mãe, que ela os visitava nas “casinhas”.
Explica que o Claudio é mais velho que ela e hoje tem 27 anos, a Raquel, 22, e
André 20. Sua mãe passou dois anos sem os ver, depois reapareceu, mas Cíntia
enfatiza que sempre para pedir dinheiro20.
Cíntia alega que durante muitos anos sofreu morando nas “casinhas”, se
perguntando o porquê de estar lá, porquê sua mãe a tinha “largado” e porquê a mãe
havia criado outros e ela não, já que a mãe ficou com os três mais novos.
19
Adjetivo referente os torcedores do time Internacional de Porto Alegre. 20
Cíntia participou de um programa onde ganhava uma „bolsa‟ todos os meses. Desde que a mãe soube disso, ao visitar a filha, requisitava certa “ajuda” financeira.
Entretanto, explica que a partir de mais ou menos 13 anos se conscientizou e que
“mataria ela se ela não tivesse me deixado nas „casinhas‟”. Salienta que uma época
que a mãe até queria que ela voltasse para a casa, mas atualmente Cíntia não se
arrepende de não ter ido,
porque eu tenho um irmão de 17, outro de 18, um tá na primeira série, o outro tá na terceira, então tu imagina o futuro que ela ia me dar, eu imagino que eu taria grávida, com no mínimo uns 5 pirralinho ranhento, entendeu, sei lá de quem, porque é a realidade.
Complementa que quando os irmãos a visitavam iam com muita fome, pois
não tinha comida na casa deles e que “moram num lugar onde os ratos são maiores
que os cachorros, apanham quase todo dia do pai deles, e a minha mãe acha tudo
normal!”. Critica muito a mãe por ter tido tantos filhos e pelo fato dela a ter “largado”
para visitar seu pai, deixando sua irmã de 7 anos e ela com menos de dois anos
sozinhas no centro da cidade.
Questionada a respeito do pai, Cíntia explica que sua irmã Cristina tem um,
Janaína outro, Claudio outro e Raquel outro, já ela, André, e os três mais novos são
do “maldito” José, mas que ele apenas teria registrado os três mais novos. Diz que
quer distância e deseja que ele “morra”, justificando que recentemente Raquel
passou quatro dias na casa da mãe e que ele
... ameaçou duas vezes bater nela, também de passar a mão na bunda da guria, e a minha mãe olhou pra ele e disse, „ah, tu pode passar a mão na bunda dela, que tu não vai comer ela igual‟. Então, qual é a mãe que vai dizer pra passar a mão na bunda da filha? Eu não sei em que mundo ela vive, mas tá louco, completamente pirada! Ela é louca! Eu não sei como eles vivem com esse homem.
Questiona o comodismo da mãe, pois o fato de estar há 20 anos não poderia
ser justificativa para ela não se separar de José, pois ele bate nela e espanca os
filhos.
Mesmo tendo convivido com o estigma de “prostituta”, “drogada”, muitas
vezes, sem o apoio dos monitores para que concluísse seu curso de informática e
“sentia raiva, me sentia abandonada, um ET”, Cíntia sente muita saudade da sua
família de 15 irmãos e diz que aprendeu a ter limites, um ofício, além de valores,
como “que família é em primeiro lugar”.
Para Cíntia sua família é a “FEBEM” e seu filho. Considera um dos monitores,
o “tio” Zeca, com quem teve contato desde que foi abrigada, como pai, “ele não é
meu pai de sangue, mas eu considero ele meu pai”. Diz que ele possui defeitos, mas
que sempre a tratou como filha. Os amigos que fez ao longo da vivência na
instituição, também considera como irmãos, explicando que, muitas vezes, seu
marido não entende porque ela os coloca como prioridade em relação a ele, “ele não
entende, ele não viveu”.
O ideal de família para a afilhada é uma bem grande, “igual como eu tinha nas
casinha” e diz que se tivesse dinheiro teria no mínimo sete filhos, “um meu, porque
eu não quero engordar de novo, né, e o resto tudo adotado, tudo adotado!”. Justifica
que seu ideal não é o de uma “família margarina”, com pai, mãe e dois filhos, porque
nunca viveu essa realidade, mas sim, pai, mãe e uma “penca” de filhos.
ENTRE A MADRINHA E A AMIGA
Distanciadas por práticas geracionais, geográficas e culturais as duas
personagens, cujos relatos de vida são descritos neste artigo ajudam a pensar a
complexidade e a variabilidade do apadrinhamento. Dentre inúmeros aspectos que
podemos discutir em torno delas, a prática do apadrinhamento enquanto
possibilidade de se criar “parentesco” torna-se evidente.
Pensar o parentesco no mundo contemporâneo, no âmbito da sociedade
brasileira e, mais especificamente, em torno de uma prática freqüente na cidade de
Belém como é o caso das “crias de família” e de um programa de apadrinhamento
na cidade de Porto Alegre, requer o conceito de “relatedness” (conexão) elaborado
por Janet Carsten (2000) que propõe o estudo dos símbolos que sugerem uma
“substância compartilhada” (shared substance) responsável por estabelecer uma
relação profunda e duradoura, através de “códigos substanciais” (substancial
codings), que manifestam noções contemporâneas de conexão, portanto
parentesco.
Refletindo sobre “símbolos-chaves”, que também poderiam ser a “sustância
compartilhada” de Carsten (2000), que formam parentesco em situações de
acolhimento familiar, Jessaca Leinaweaver (2008) identifica que o “residir e o comer
juntos” aparecem com freqüência na literatura transcultural. Em seu trabalho nos
Andes, a circulação de crianças é tida como conseqüência da vulnerabilidade social
causada pela pobreza e quando não existe vínculo consangüíneo entre os
envolvidos, uma das alternativas para se produzir o parentesco é via compadrio.
Para tanto, em suas análises, a autora introduz o conceito de “acostumar-se” para o
entendimento do processo relativo à produção da família. Esse é constituído pelo
tempo, onde se constroem subjetividades, que não são apenas sentidas, mas
também discutidas no cotidiano das pessoas envolvidas.
Esse é o caso de Edwiges que mesmo conhecendo sua mãe biológica e
mantendo relações com consangüíneos, estabelece relações de parentesco com
pessoas das duas casas que permaneceu por mais tempo. Principalmente com
Isaura, sua “quase madrinha”, mas que a tratava “como se fosse”, pois a acolheu em
sua casa durante 15 anos, lhe apoiou quando engravidou de seu filho Pedro e
proporcionou várias viagens à Edwiges para o Rio de Janeiro, depois que se mudou
para lá. No caso de Cíntia essa “conexão” se dá com monitores e amigos das
“casinhas” onde morou a maior parte de sua vida. Mesmo tendo uma madrinha, não
conviveram de forma intensa e após a gravidez de Cíntia, houve certo afastamento
entre as duas, culminando com uma relação de “amizade”, que em sua análise não
chega a ser “parentesco”, que seria uma relação mais próxima.
A diferença geracional entre Edwiges e Cíntia pode ser uma das principais
responsáveis pelas diferenças demarcadas em seus relatos de vida. A primeira
começa a circular em várias casas “ainda menina”, realizando serviços domésticos
e/ou “tomando conta” de crianças. Ao que parece, a circulação de Cíntia também se
dá devido à “impossibilidade” da mãe em criá-la; contudo, a menina é abrigada. As
diferenças históricas e culturais entre Belém e Porto Alegre podem contribuir na
constituição dos diferentes trajetos das meninas, mas o Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990), que as coloca enquanto “sujeitos de direitos” (Schuch, 2009)
interfere contundentemente em práticas mais “tradicionais”, como a vivenciada por
Edwiges, proibindo, por exemplo, qualquer modalidade de trabalho infantil. Assim,
Edwiges circula por “casas de família”, enquanto Cíntia por “abrigos residenciais”,
ainda que mesmo adultas essas mulheres continuem tendo grande mobilidade.
O apadrinhamento de Edwiges pode ser entendido como a consagração de
um “parentesco fictício” perpetuado pelo tempo de convívio entre ela e a madrinha,
que ultrapassa a gravidez de Edwiges, a mudança de residência de Isaura e parece
se perpetuar com a homenagem que recebe, quando uma das filhas de Isaura
coloca o nome Edwiges em sua filha. Já Cíntia, participante do programa
“Apadrinhamento Afetivo” mediado por uma ONG e que visa criar “referências
familiares” para crianças e adolescentes com baixas probabilidades de serem
adotados, apesar de conviver certo tempo na residência e companhia de sua
madrinha, marido e filhas, ao engravidar, se distância dos mesmos dando
continuidade apenas a encontros esporádicos com a madrinha.
Uma com 83 anos, a outra com 24, Edwiges e Cíntia são mulheres negras
que tiveram um filho e vivenciaram diferentes práticas de apadrinhamento no
decorrer de suas vidas. A idade de 18 anos é um marcador importante na vida de
Cíntia, pois foi o momento em que teve que se desligar do abrigo e iniciar uma vida
“autônoma”, nesse momento o apoio de sua madrinha para que fosse encaminhada
a um pensionato foi fundamental. Podemos associar esse acontecimento à gravidez
de Edwiges, quando engravidou e não tendo renda para se manter, contou com a
moradia e o apoio da madrinha. Nesse contexto, o serviço doméstico, atividade
“naturalizada” por Edwiges, pois sempre desempenhou esse tipo de trabalho na
casa da tia e nas outras por onde passou, no caso de Cíntia se dá como um
aprendizado, pois inserida na rede de atendimento do abrigo, antes dos 18 anos não
teve necessidade de acioná-los.
As duas interromperam os estudos no ensino fundamental, mas para Cíntia
foi dada a oportunidade de realizar um curso de computação necessário ao trabalho
de secretária que desempenha atualmente. Contudo, Edwiges se sustenta com a
pensão e casa que o marido lhe deixou, já Cíntia mantém a casa, pois seu marido
não trabalha. Essas considerações não têm o intuito de elaborar uma abordagem
estritamente comparativa, e sim salientar as nuances das diferentes trajetórias de
vida das personagens em meio aos marcadores de cor, classe, gênero e geração,
os quais estão envoltas.
O afeto e o dinheiro são dois aspectos bastante relevantes nos distintos
apadrinhamentos de Edwiges e Cíntia. A primeira enfatiza que nunca recebeu
salário em nenhuma das casas em que morou e nas “ajudas” aos amigos, mas que
também nunca precisou comprar nada para si, pois sempre ganhou o que precisava
dessas pessoas.
Cíntia também explica que sua madrinha sempre destacou o caráter afetivo
do apadrinhamento, que recebia presentes da madrinha, mas que ela enfatizou que
não possuía compromissos financeiros com a afilhada e sim de afeto, portanto
quando Cíntia sentisse necessidade de conversar, Cibele estaria à sua disposição. É
como se o apadrinhamento estivesse relacionado estritamente à esfera afetiva,
ainda que na prática não seja isso que observamos. Nos discursos dos envolvidos é
como se o dinheiro não pudesse fazer parte da esfera afetiva e sim relacionado
apenas a relações impessoais e de trabalho.
Viviana Zelizer (2009) no artigo intitulado “Dualidades Perigosas” discute os
limites das abordagens que colocam transações econômicas e relações pessoais
em “esferas separadas” ou enquanto “mundos hostis”, como se a co-existência
dessas práticas “contaminassem” a finalidade de cada uma. A autora explica que
esse tipo de dicotomia imprime “... distinções morais na paisagem social” (p.237).
Ao citar exemplos de produção de moedas locais, ela defende que esse é um
mecanismo para justamente elaborar meios de negociação, símbolos e práticas
econômicas entre pessoas que mantém relações pessoais. Além disso, ao abordar a
“economia dos cuidados”, Zelizer salienta a complexidade que ocorre no pagamento
de cuidados pessoais, geralmente exercidos por grupos de parentes e amigos.
Defendendo a complementaridade entre transações econômicas e afetivas, a
autora especifica que diferentes tipos de relações interpessoais geram também
distintas maneiras de se relacionar economicamente, portanto cada situação deve
ser entendida em sua particularidade. Essa discussão é muito pertinente em relação
aos casos discutidos neste artigo, pois no caso de Edwiges, a esfera econômica não
é colocada em evidência, no entanto realizando serviços domésticos, cuidando de
crianças e realizando favores para amigos, ela é paga na forma de presentes como
roupas, sapatos e artigos de higiene; portanto, evidenciando que mesmo na
ausência de um salário fixo, as transações econômicas são fundamentais para sua
sobrevivência.
Em relação ao “Apadrinhamento Afetivo”, nossa análise segue outros termos,
pois este se constitui em uma política pública que visa instituir madrinhas e
padrinhos a crianças com baixas probabilidades de serem adotadas; isso significa
crianças com idade avançada, que provavelmente já desenvolveram relações
afetivas com várias pessoas. A ênfase no caráter afetivo do programa é para
salientar que o que se espera desses padrinhos é a presença dos mesmos na vida
de seus afilhados e não apenas uma ajuda financeira. Contudo, isso não exclui o
apoio requisitado aos afilhados quando completam 18 anos e precisam sair dos
abrigos, quando os padrinhos tornam-se o principal meio de encaminhamento
desses jovens a uma nova moradia e manutenção dos “cuidados” necessários aos
seus afilhados.
Afinal, a comparação dos dois casos nos leva a pensar que a “evolução” dos
sentimentos familiares não é tão linear quanto Ariès tinha imaginado. As relações
de desigualdade no que tange a cor, classe e geração estão constantemente
reatualizadas dentro de novas configurações de sentido. Edwiges se adaptou a uma
relação claramente hierárquica de convivência familiar para construir seu projeto
individual de vida. Cíntia se queixa mais, e sentiu mais fortemente a situação
desigual na casa da madrinha. Podemos imaginar que já estava imbuída de um
ideário em que tal desigualdade parecia uma grande injustiça. Entretanto, sua
madrinha teimou em incluí-la nas atividades familiares, permitindo esse “elemento
estranho” na sua intimidade familiar, e Cíntia reconhece a criação em longo prazo de
um vínculo difuso e duradouro, tal como no parentesco (apesar de sem a
intensidade dos primeiros anos).
REFERÊNCIAS
ALMADA, Paulo Daniel Souza. A infância desvalida: menores do Pará entre a Lei do Ventre Livre e a abolição. Monografia de conclusão do Curso de História. UFPA, 1987, Belém. ARIES, Philippe. História social da criança e da família. SP. Zahar, 1981. BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Compadrio e Escravidão: uma análise do apadrinhamento de cativos de São João del Rei, 1730-1850. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIONAIS. n.14, Caxambú, MG, 2004. Disponível em: <http://www.abep.nepo.unicamp.br/site_eventos_abep/PDF/ABEP2004_119.pdf>. Acesso em: 15 out. 2009. CARSTEN, Janet. Cultures of relateness: new approaches to the study of kinship. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. CECÍLIA, Maria. Uma casa chamada 14. Belém: IAP, 2003. FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. “Memórias da infância na Amazônia”. In: Mary Lucy Murray Del Priore (org.). História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2006. FONSECA, Claudia. Caminhos da adoção. São Paulo: Cortez editora, 1995. 152p. ________________. Olhares antropológicos sobre a família contemporânea. In: Conceito de entidade familiar e seguridade social. Porto Alegre: TRF – 4ª Região, 2007 (Currículo Permanente. Caderno de Direito Previdenciário: módulo 3). Caderno de Direito Previdenciário, 2007, p. 8-22. Icoaraci. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Icoaraci>. Acesso em: 23 de julho de 2008.
Ilha do Marajó. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_do_maraj%C3%B3>. Acesso em: 21 de junho de 2008. LAMARÃO, Maria Luiza Nobre. A constituição das relações sociais de poder no trabalho infanto-juvenil doméstico: estudo sobre estigma e subalternidade. Dissertação de Mestrado em Serviço Social. UFPA, 2008, Belém. LANDÉ, Carl H. “Introduction. The dyadic basis of clientelism”. In: SCHIMIDT, Steffen W. et alii. Friends, followers and factions: a reader. Berkeley, University of Carlifornia Press, 1977, p. XIII-XXXVII LEINAWEAVER, Jessaca B. Desplazando Niños: Las implicaciones sociales de la circulación infantil en los Andes. Tradução de Jessica Herrera. CEPAL - Serie Seminarios y conferencias, no 52, Santiago de Chile, abril de 2008. LOMNITZ, Larissa. El compadrazgo, reciprocidad de favores em la clase media urbana de Chile e Redes informales de intercambio em sistemas formales: un modelo teórico. In: Redes Sociales, Cultura e Poder: ensayos de antropologia latinoamericana. Mexico: Flacso, 1994. MACFARLANE, Alan. História do casamento e do amor: Inglaterra, 1300-1840. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva – Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA. São Paulo: COSACNAIFY, 2003, 536 p. MEIRA, Heloisa. Batismo e compadrio de índios: um balanço bibliográfico e um estudo de fontes batismais do aldeamento do Rio Pomba e Peixes (MG), 1767-1787. BOLETIM DE HISTÓRIA DEMOGRÁFICA, ano XIV, no. 46. julho de 2007. MOTTA-MAUES, Maria Angélica. “Na „casa da mãe‟, na „casa do pai‟ – Anotações (de uma antropóloga e avó) em torno da circulação de crianças”. Revista de Antropologia, São Paulo, v.47. nº2, 2004. ______________________________ “Uma vez „cria‟ sempre „cria‟ (?): Adoção, gênero e geração na Amazônia”. Trabalho apresentado no 13° CISO – Encontro de Ciências Sociais Norte e Nordeste, UFAL – Maceió (AL), 03 a 06 de Setembro de 2007. SALLES, Vicente. O Negro no Pará. Belém: Graficentro/Cejup, 1971. SCHNEIDER, David M. A critique of the study of Kinship. Ann Arbor: the university of Michigan Press, 1984. SCHUCH, Patrice. Práticas de justiça – Antropologia dos modos de governo da infância e da juventude no contexto pós-ECA. Porto Alegre, Editora da UFRGS, 2009, 296 p.
SEGALEN, Martine."Introduction". In: GULLESTAD, Marianne; SEGALEN, Martine (Orgs.). La famille en Europe: parenté et perpétuation familiale. Editions: La Découverte, 1995. SINGLY, François de.“O nascimento do „indivíduo individualizado‟ e seus efeitos na vida conjugal e familiar”. In: PEIXOTO, Carice E.; SINGLY, F.; CICCHELLI, V. (Orgs). Família e individualização Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000. STACEY, Judith.“Backward toward the postmodern family: reflections on gender, kinship, and class in the Silicon Valley”. In: THORNE, B.; YALOM, M. Rethinking the family: some feminist questions. Boston: Northeastern University Press, 1992. STRATHERN, Marilyn. "Enterprising kinship? consumer choice and the new reproductive technologies. IN Reproducing the future: anthropology, kinship and the new reproductive technologies. New York: Routledge, 1992. UMRIGAR, Thrity. A Distância Entre Nós. São Paulo: Nova Fronteira, 2006. WAGLEY, Charles. Uma comunidade Amazônica: estudo do homem nos trópicos. São Paulo: Nacional (Brasiliana, 290), [1956] 1977. WOLF, Eric. Parentesco, amizade e relações patrono-cliente em sociedades complexas. In: Antropologia e Poder. Contribuições de Eric Wolf. FELDMAN e LINS RIBEIRO (Orgs.). São Paulo: UNB e UNICAMP, 2003. ZELIZER, Viviana, A. Dualidades perigosas. In:Mana [online]. vol.15, n.1, pp. 237-256, 2009.