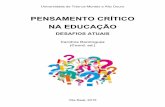INSTITUIÇÕES E ELITES NO BRASIL (1930-1945): UMA NOVA ABORDAGEM
Transcript of INSTITUIÇÕES E ELITES NO BRASIL (1930-1945): UMA NOVA ABORDAGEM
1
Grupo de Trabalho: 14
INSTITUIÇÕES E ELITES NO BRASIL (1930-1945): UMA NOVA ABORDAGEM
Matheus Piccoli – UFSCar
2
INSTITUIÇÕES E ELITES NO BRASIL (1930-1945): UMA NOVA ABORDAGEM
Matheus Piccoli1
A transformação institucional no Brasil em 1930 e 1940 são o alvo deste artigo. Observa-se a relação entre a
elite política paulista, estado com maior organização social, com o surgimento de Vargas. Assim, pode-se
recortar o período em três: (1) mostra-se as instabilidades sociais após a queda da República e a instauração do
Governo Provisório até a Revolução de 1932; (2) as alterações institucionais após este fenômeno; (3) e a análise
da construção do Estado Novo. A hipótese central parte da fragmentação da elite política paulista e o avanço da
política gaúcha com o abalo do pacto paulista e mineiro, desconstruindo um arranjo institucional federalista que
os favorecia. Vargas, por sua vez, almeja um estado centralizado, mas com a falta de consenso político só o
efetue em 1937, quando incorpora as elites estaduais na máquina pública da União. O método utilizado para
análise é o institucionalismo individual, permitindo o estudo tanto no escopo institucional quanto a ação
individual.
Palavras-Chave: Estado de São Paulo, Elites políticas, Getúlio Vargas, Institucionalismo.
1. Introdução
É conhecida a vocação da década de 1920 no Brasil como a década voltada para as
revoltas sociais, como pode se verificar na literatura histórica do período (FAUSTO, 1972a;
FERREIRA & PINTO, 2006; FERREIRA, 1993; FERREIRA & GOMES, 1989, FRITSCH
1993, WOODARD, 2013). Não sem razão, pois foi nesta década que a sociedade brasileira
perpassou por momentos de instabilidade social que desembocaram em uma modificação
institucional na dinâmica política do país com a Revolução de Outubro de 1930.
A temática revolucionária era fruto não só da situação social vivida no Brasil, mas
também em outros países, como comprovam os movimentos revolucionários na Rússia, Itália,
Espanha, Portugal e Alemanha, todos possuindo em comum um processo de transição de
formas sociais tradicionais para a sociedade moderna, tendo o sistema político sofrido
alterações profundas.
O coronelismo (LEAL, 1975; QUEIROZ, 2006) , sistema político informal adotado no
Brasil nas práticas político-eleitorais, já enviava sinais de desgastes quanto aos resultados da
eleição de 1922, conhecida como a Reação Republicana, ter sido competitiva. O sistema da
Política dos Estados preconizado por Campos Salles demonstrava não suportar a presença de
uma oposição organizada as grandes oligarquias e pronta para disputar o poder.
1 Mestre pelo PPGPOL-UFSCar, UFSCar.
3
Caso aparecesse, a instabilidade política era gerada, perturbando o domínio
hegemônico das oligarquias mais fortes como as de São Paulo e Minas Gerais. Em 1922,
como forma de combater os avanços da Reação Republicana após as eleições, o presidente
eleito Arthur Bernardes passa o seu mandato sob um estado de sítio.
A violência e a coerção física, suprimi nesses quatro anos (1922-1926) movimentos
sociais como os tenentes, anarquistas e comunistas, conseguindo chegar ao final do governo
em tons de aparente tranquilidade. Porém, com a eleição de Washington Luís em 1927, é
instaurado o Decreto nº 5.221 conhecido como Lei Celerada, que aumenta a censura a
imprensa e a organizações como sindicatos e partidos, entre eles o Partido Comunista do
Brasil (PCB). Aliada a essa faceta mais autoritária está também a revisão da Constituição de
1891 feita no ano de 1926, aumentando os poderes da presidência da República.
É neste cenário de severa instabilidade social que ocorre as eleições para a presidência
em 1930. As eleições ocorrem do mesmo modo como as anteriores, com o candidato
escolhido pela presidência vencendo o pleito. Mas o cenário político e social no Brasil de
1930 se difere drasticamente dos processos eleitorais anteriores, por diversos fatores como:
(1) o surgimento de uma oposição organizada em São Paulo (PRADO, 1986;
FAUSTO, 1972a),
(2) o rompimento do pacto político entre as elites paulista e mineira (AMARAL, 1930;
LIMA-SOBRINHO, 1975),
(3) a reorganização política no Rio Grande do Sul tendo a frente Getúlio Vargas
(FAUSTO, 1972a), e por fim,
(4) as escolhas político-administrativas tomadas por Washington Luís no meio deste
processo impar (VIEIRA, 1960; DEBES, 2002).
Todo esse novo arranjo político faz com que o sistema republicano oligárquico, não
preparado para suportar eleições competitivas e partidos oposicionistas; além de não
possibilitar um canal de escoamento de divergências por parte da falta de partidos nacionais
para mediar essas insatisfações, entre em colapso e se desintegre.
Vargas assume o poder com a prerrogativa de extirpar o regime oligárquico e construir
um novo sistema político derivado de maior centralização e prerrogativas para a União. O
mundo ao qual Vargas está inserido repercute um momento de crise mundial, com a Grande
4
Depressão afetando incisivamente a produção agrícola brasileira, a qual dependia ferozmente.
Há também cada vez mais presentes novos atores sociais que necessitam ser ouvidos,
através do desenvolvimento social ao qual o país passa na década de 1930, criando as bases
para o seu posterior crescimento industrial. É nesta sociedade que se começa a se passar a
transição política de um regime pautado no domínio das oligarquias e do poder local do
coronel, para a criação de uma burocracia estatal especializada e "apolítica", baseada nos
grandes centros e capitais.
2. A transformação político-institucional
O objetivo principal deste artigo é trabalhar a mudança institucional existente no
Brasil com o marco político ocorrido com a revolução de 1930, relacionando a esta transição
a importância das elites estaduais neste arranjo político instável, priorizando o caso da elite
paulista neste contexto. Entretanto, busca-se aqui explanar um novo enfoque metodológico
para efetuar este tipo de estudo, trazendo assim novas perspectivas de estudo para a história
política brasileira.
Para entender este momento delicado, utiliza-se um esquema baseado em Camargo
(p.16-7, 1983), dividindo o fenômeno social em três períodos principais:
1º período: 1930-1932;
2º período: 1932-1937;
3º período: 1937-1945.
A explicação a esta divisão cronológica se dá pelos fatores políticos e institucionais
envolvidos em cada período proposto. Volta-se primeiramente ao ano de 1922, data na qual se
define a primeira eleição competitiva na Primeira República. Esta eleição é uma prévia do que
ocorreria novamente na corrida presidencial de 1930, na qual há uma ruptura entre as elites
hegemônicas que enfraqueceria o sistema político, levando a sua desintegração.
A partir deste episódio incomum na política brasileira republicana, uma série de
conturbações sociais ocorrem ao longo da década de 1920 evidenciando o caráter exaurido a
que se encontrava as instituições republicanas. Dentre estas instabilidades pode-se citar a
Revolta de 1922 em Copacabana, a Revolta paulista de 1924, a Coluna Prestes-Costa, entre
5
outros acontecimentos que favoreceram uma maior centralização do poder no Governo
Central, através da Reforma Constitucional de 1926.
Assim, diferentemente das décadas passadas, a presidência da República tornava a ser
mais desejada pela suas prerrogativas de autoridade que passou a possuir, limitando assim a
independência dos estados e suas elites.
O 2º período evidenciado perpassa pelo momento de ruptura institucional em 1930 e a
formação ainda que prematura de um novo arranjo político no país, que só se concretizará
realmente no final do período, em 1937, com um novo golpe de Estado. Neste 2º período é
interessante observar as relações entre a elite paulista que aderiu aos revolucionários
outubristas e a Vargas, em dois momentos distintos; o primeiro de aproximação com o novo
governo, e o segundo de confrontamento explícito caracterizado objetivamente pela eclosão
da Revolução Constitucionalista de 1932.
Derrotados na disputa militar, os paulistas porém vencem na arena política e
conseguem a proclamação de novas eleições para uma Assembleia Constituinte. Esta elege
Getúlio Vargas como presidente constitucional, ao mesmo tempo que este não se anima com a
nova Carta de 1934. Inicia-se novamente um clima de instabilidade devido ao fortalecimento
de vários movimentos sociais, dentre eles os comunistas e integralistas, perturbando a ainda
frágil democracia. As elites estaduais ainda são importantes nesse cenário, dividindo o poder
legítimo com a figura de Getúlio Vargas, até a concretização do golpe de Estado em 1937.
Finalmente chega-se ao 3º período, caracterizado por um governo autoritário e
centralizador, nomeando-se como o Estado Novo. Neste novo regime, há a aproximação da
elite paulista com o ideal getulista, indicando novamente uma rotatividade de interesses e
ideologia, transformando-se a cada momento dos períodos elencados.
Esta divisão facilita a compreensão da relação entre as elites estaduais, tendo a paulista
como principal foco, e a União. Assim, é possível elaborar de forma mais clara a hipótese
central, perpassando por estes três momentos distintos para entender finalmente a transição
política ocorrida no Brasil desde a década de 1920 até 1945.
A hipótese parte do seguinte ponto, a fragmentação política ocorrida na elite paulista
em 1926 com a fundação do Partido Democrático (PD), a união existente entre os partidos
estaduais gaúchos e a quebra do pacto oligárquico entre Minas Gerais e São Paulo, abalou
toda a estrutura que dava o suporte para o modelo político vigente. Ruindo a Primeira
6
República, surge um vácuo institucional, no qual é mais fácil para os novos atores tentarem
moldar novas instituições, devido ao fator de não haver resistência por parte das elites
políticas derrotadas.
Porém, ao chegar ao poder, Vargas não possuía total legitimidade para construir seu
próprio arranjo político derivado de suas ideias antiliberais e positivistas, dependendo de
muitos grupos políticos que davam suporte a sua posição, formados por diversas matizes
ideológicas. Assim, ainda havia margem para as elites estaduais buscarem suas prerrogativas
políticas, como o fez a elite paulista na Revolução Constitucionalista de 1932.
Concluída essa questão com a derrota militar, o último suspiro para as elites estaduais
foram as eleições para a Assembleia Legislativa de 1933, gerando a Constituição de 1934, e
que desde sua publicação passaria a ser desprestigiada por Vargas.
Ao ser impossibilitado de ser candidato em 1937, Vargas então utiliza de métodos de
confrontamento entre as regiões, revivendo o período republicano, mas agora de forma para
enterrar de vez o sistema oligárquico que ainda persistia em existir nas relações políticas.
Desse modo, chega-se ao poder com um golpe de Estado, e neutraliza as elites estaduais
definitivamente, reconfigurando-as para o uso interno da máquina pública.
Cabe nesta altura explicitar os motivos da escolha de priorizar a elite política paulista
para análise da transformação ocorrida socialmente no Brasil nos anos de 1930. Apesar de
possuir diferenças regionais gritantes entre as formações políticas estaduais na Primeira
República, não podendo se apegar ao caso paulista como representativo de toda sociedade
brasileira da época, São Paulo era o estado mais importante do arranjo institucional na
república.
Em segundo lugar, foi o único estado no qual se rebelou desde o início contra o
governo de Vargas, ao passo que fortalece ainda mais seu poderio econômico ao longo da
década. Assim, a transformação social que perpassa o Brasil no momento, está, no limite,
transbordando na sociedade paulista da época, por esta estar inteiramente conectada seja com
o campo político, seja com o econômico.
Em conjunto a este hipótese central, podemos sub-dividir esse esforço intelectual e
complementá-lo com as propostas colocadas por Lamounier (1994) acerca da construção do
Estado Nacional brasileiro e consequentemente de um ambiente institucional democrático.
Para isso, Lamounier (p.11-12; 19-20; 20-21, 1994) utiliza uma série de dispositivos
7
empíricos e verificáveis, criando um modelo para administrar as transformações ocorridas nas
sociedades políticas modernas. Com o conceito de construção do Estado, Lamounier (p.14,
1994) busca ligá-lo com a noção da construção de uma estrutura institucional que consiga
abarcar posições políticas distintas nos campos ideológicos sem se fragmentar ou entrar em
uma instabilidade crítica, absorvendo assim as divergências no sistema.
Consoante a esse conceito, estão interligadas três características necessárias para a
construção ou instauração da democracia:
a) espaço eleitoral, para que as lutas sejam direcionadas em uma arena específica e que
permita o debate de ideias entre os grupos políticos;
b) reconhecimento da legitimidade dos grupos;
c) um Estado que ainda tenha um caráter burocrático-administrativo sobre as regiões e
territórios do país, absorvendo assim os confrontos políticos, regionais e partidários.
E como afirma Lamounier (p.19, 1994), a instauração da democracia em países recém
saídos de um sistema ditatorial, necessita-se também de três ações básicas:
d) recomposição da representatividade política mediante anistia e reintegração de
líderes antes proscritos ao debate político;
e) legitimação do arcabouço institucional, ou por reforma constitucional ou por
convocação de uma Assembleia Constituinte;
f) realizações de eleições livres para as esferas do poder político, tanto para o
Legislativo quanto para o Executivo.
Pode-se utilizar este recurso, ao meu ver, também para regimes de oligarquias
competitivas exemplificados através do quadro 1 explicativo feito por Lamounier (p.10,
1994), pois estes regimes apesar de não serem regimes autoritários ou ditatoriais, não
permitem que os atores sociais possam participar livremente do processo político partidário,
se elegendo para cargos públicos.
8
Quadro 1 - O processo de consolidação democrática: desconcentração econômica e
fortalecimento do sistema representativo
Fonte: Lamounier (p. 10, 1994).
Assim, após a explicitação deste modelo, surge a pergunta: Toda essa configuração
política para a construção de instituições e da democracia ocorreu no Brasil após a Revolução
de 1930? Em um primeiro momento, creio que não. Dos seis itens citados, nenhum foi
executado ou proposto por Getúlio Vargas espontaneamente logo a sua chegada ao poder em
1930. Deste modo, com esta pesquisa busca-se esclarecer esse cenário político institucional
brasileiro do período.
3. Reconstrução bibliográfica da metodologia do estudo
A literatura acadêmica sobre a teoria das elites é extensa, como demonstra Grynszpan
(1996). Em sua revisão da bibliografia, que é acompanhada brevemente também por Blondel
& Müller-Rommel (p. 820-1, 2007), ela vai do final do século XIX até meados da década de
1970 do século XX.
9
Perpassa-se assim pelos três teóricos clássicos do tema e suas obras, Mosca (2004),
Pareto (1933) e Michels (1982); analisa as obras posteriores do elitismo a partir do final da
década de 1940 com os debates entre a perspectiva de unidade ou monismo da elite de Mills
(1982) e o pluralismo de Dahl (1961), chegando até as teses neo-elitistas que emergiram na
década de 1970, com autores como Walker (1966). A revisão proposta por Grynszpan (p.35,
1996), como é explicitado pelo autor, busca apenas caracterizar os estudos efetuados no
exterior, não englobando assim a produção voltada para os temas nacionais.
Ao se deslocar o referencial da análise para o Brasil, observa-se a produção acadêmica
concentrada em determinados pontos específicos. Os estudos preconizados por Love (1982;
2006), Wirth (1982; 2006) e Levine (1980; 2006) acerca das elites estaduais na Primeira
República, juntamente, com os dois estudos de Carvalho (1996) sobre a elite política no
período imperial, procuram esquematizar quem são as elites e como se encontram na
sociedade brasileira, seja no Império ou na Primeira República.
Love (2011) em outro artigo faz uma análise da contribuição da Primeira República
para as instituições brasileiras, observando se essa passagem do Império para a República foi
benéfica para o Brasil; Diniz (1986) faz um balanço da transição política ao qual o país estava
vivendo no final do regime militar; e, finalmente, Wells (2010) busca fazer uma análise do
desenvolvimento democrático e a relação das elites brasileiras no período pós-ditadura
militar.
Em relação especificadamente com o tema proposto por este artigo, pode-se observar
três estudos próximos, dentre eles o de Love (1983), Camargo (1983) e Pandolfi & Grynszpan
(1987). Love utiliza-se de ferramentas computacionais para avaliar a elite política do período
entre 1889-1937, complementado sua pesquisa sobre a elite política de São Paulo de 1982.
Camargo (p.17, 1983), após construir um breve esquema para o estudo da transição
política a que o Brasil viveu em 1930, foca sua análise apenas no primeiro momento, as
origens do processo revolucionário que vão de 1920 até 1930 destacando-se em sua exposição
a tese da substituição das elites.
Pandolfi & Grynszpan (p.3, 1987), por sua vez, indicam um processo de depuração
das elites no período de 1930 a 1937, tendo utilizado como evidência para isso a vitória dos
atores que assumiram o poder em 1930 serem marginalizados do mesmo no regime anterior.
10
Ambas as proposições de Pandolfi & Grynszpan e Camargo são criticadas por Codato
(p. 147, 2014), pois os dados da chefia do Departamento Administrativo do Estado de São
Paulo (DAESP) demonstram a reabilitação dos políticos do Partido Republicano Paulista
(PRP) e a extirpação dos membros do Partido Democrático, chamando a atenção justamente o
fato de todos os membros diretores serem homens ligados a política paulista.
Entretanto, o esgotamento das proposições teóricas elitistas para as explicações dos
fenômenos sociais e políticos parece patente com a desacelaração da produção acadêmica
partindo desse campo teórico nos anos 1970 do século XX, como demonstra Marenco (p.5,
2008). Um dos problemas enfrentados na utilização dos mesmos métodos passados é a
verificação quase certa da relação entre uma posição social relevante com os membros da
elite, e a partir disso analisar como elites monistas pode propor políticas distintas
(MARENCO, p. 11, 2008).
Neste ponto, podemos ver um conversão de análise entre Marenco (p.11, 2008) e
Codato (p. 152, 2014), não utilizando-se mais como centro da análise a categoria social em
que veio os personagens da elite, mas sim como esta categoria domina o quadro político-
administrativo através desta sua formação específica.
Enfim, na realidade, o que se evidencia não é a perda do poder explicativo da teoria
das elites, mas sim a necessidade de um redirecionamento da questão chave a pensar nestes
moldes. Foi de grande importância as formulações da primeira geração elitista que priorizava
observar se as minorias tinham mesmo influência no sistema democrático; ou a segunda
geração que buscava entender se essas minorias eram homogêneas ou não (MARENCO, p. 6,
2008).
Deste modo, neste estágio do conhecimento científico, essas indagações ficaram
saturadas pela exaustiva pesquisa acadêmica acerca das elites políticas. Assim, para continuar
a efetuar inovações e entendermos ainda mais as dinâmicas sociais, há de que se fazer ajustes
finos na teoria para se colher resultados diferenciados e inovadores. Portanto, este é o
momento de priorizar outras relações que podem ser analisadas, dentre elas a relação entre as
elites e as mudanças institucionais, particularmente proposto como o foco deste artigo.
Na bibliografia específica levantada, há uma gama de estudos que priorizaram outras
questões mais fundamentais na construção do pensamento elitista ao longo de sua execução,
já evidenciado neste espaço. Estudos relacionados com a abordagem identificada com o aqui
11
proposto já estão em curso, demonstrando uma nova possibilidade de ampliação da análise
elitista para os fenômenos de transformação social e mudança institucional.
Percebe-se assim nas pesquisas de Codato (2008; 2014) a materialização da
transformação da ideologia da elite paulista no cerne do Estado Novo, na qual antes de aderir
ao governo autoritário tinha grandes ressalvas políticas, que foram deixadas para trás após
terem sido incorporadas pelo regime através da sua burocracia. Em conjunto ao estudo de
Love (1982) que mapeia a elite paulista de 1889 até 1937, Codato (2014) faz um
levantamento similar em relação ao Departamento Administrativo do Estado de São Paulo
(DAESP), órgão da burocracia pública criada por Vargas.
É no DAESP que está concentrada a elite estratégica do estado, ou seja, a elite que era
recrutada pelo seu conhecimento técnico, e não por suas relações sociais ou econômicas. É
neste órgão público que se verifica a transformação ocorrida da elite, passando de coronéis
com o domínio do poder local para bacharéis alocados nas capitais. Surgem então novos
rumos a serem estudados se utilizadas outras metodologias de pesquisa, revelando diversa
relação social presente nos arranjos institucionais brasileiros.
Cabe aqui ressaltar também algumas críticas levantadas por Soares (2014) acerca dos
estudos relacionados entre a transição política para uma democracia sólida e o papel das elites
neste contexto. Preocupado com outro período histórico vivido no Brasil, a redemocratização
após o regime militar de 1964 , Soares (p.58, 2014) enumera algumas críticas metodológicas
possíveis para não só a análise de um determinado período em si, mas sim para a temática
como um todo:
1) falta de definição de conceitos;
2) não há pesquisa empírica;
3) casos distintos utilizados como exemplo de acordo entre elites;
4) polarização do mundo entre elites e massa.
Essa reconstrução das transformações vividas pelas elites políticas do país possibilitam
entender melhor como foi formado o Estado moderno brasileiro e sua sociedade política, se
levada as devidas considerações estipuladas acima. Por ter sido um dos rompimentos
institucionais mais severos na sociedade brasileira, ele ainda reverbera nos costumes sociais
contemporâneos, visto a grande influência de Vargas para a política nacional.
12
4. O institucionalismo individual como método e seus desafios
O método utilizado para se estudar as ciências sociais, como afirma Putnam (p.27,
2006), exige uma variação de técnicas de pesquisa que em seu conjunto possibilitam uma
melhor verificação dos resultados científicos, diminuindo as deficiências inerentes a cada uma
delas. Pensando nestes termos, utiliza-se nesta pesquisa uma abordagem metodológica aliada
a uma técnica de pesquisa, com o intuito de melhor observar os fenômenos sociais propostos,
tanto a transição e a construção das instituições no Brasil da década de 1930, quanto a
participação das elites e atores individuais neste processo.
Para o melhor trabalho da hipótese central de pesquisa, creio ser necessário um
método institucional que leve em consideração principalmente as ações individuais, não se
esquecendo porém das interferências as quais as instituições produzem no campo de ação
individual. Deste modo, seria interessante um meio termo entre os autores do
institucionalismo histórico e os institucionalismo da escolha racional, que se encontra na
corrente de pensamento do individualismo institucional (AGASSI, 1975, 1987; UDEHN,
2001, 2002; FERREIRA, 2008).
Inserido dentro da tradição de pensamento do individualismo metodológico, o
institucionalismo individual porém incorpora outros termos de análise. De acordo com a
versão original do individualismo metodológico, as instituições não pertencem a situação, elas
não são concebidas como pertencentes a uma realidade autônoma "acima" dos indivíduos,
capaz de atuar sobre eles.
Já pela corrente do individualismo metodológico austríaco, as instituições devem ser
analisadas e explicadas como o resultado das ações dos indivíduos, mas não como uma causa
de uma ação humana. Segundo o institucionalismo individual, no entanto, a ação humana é,
pelo menos em parte, causada por instituições sociais (UDEHN, p.209, 2001).
Pode-se, portanto, através da figura 1 formulada por Udehn (p.227, 2001), observar
como se dá o esquema formal da relação entre a sociedade e o ator individual:
13
Figura 1 - Individualismo Institucional
Fonte: Udehn (p.227, 2001).
Com este esquema, é possível responder as duas questões fundamentais propostas
pelos estudos institucionalistas, que são:
(1) qual a relação entre as instituições e comportamentos individuais?
(2) como ocorre o processo de formação e transformação das instituições? (THÉRET,
p.227, 2003).
O ator individual age construindo instituições que moldam suas novas ações, num
processo contínuo. Em conjunto com o método do institucionalismo individual, utiliza-se para
o entendimento das transformações ocorridas no Brasil de 1930 técnicas de pesquisa em torno
das elites políticas da época.
O campo de pesquisa das elites pode ser dividido em 4 substantivas áreas de acordo
com Hoffman-Lange (p.911-2, 2007):
(1) Estudos de origem social: São feitos através de dados coletados das origens
familiares (tanto a importância econômica quanto a social); origens regionais; afiliações
religiosas; e educacionais;
(2) Análise das carreiras: Como são as estruturas disponíveis para o eventual avanço
as lideranças no interior das elites;
(3) Padrões e valores: torna possível estudar as atividades, valores e atitudes e revelar
padrões de conflito e consenso entre os diferentes grupos de elite;
14
(4) Interações entre elites e a disputa do poder: a pesquisa de informações cruciais
sobre o acesso dos diversos grupos de elite, bem como de não-elites aos decisores políticos
centrais, bem como sobre o nível global de integração elite.
Dentre esses campos, o método de análise para a identificação das elites se divide em
três, representado por:
(1) Reputacional: são efetuadas perguntas para um determinado grupo de pessoas
sobre quem são os indivíduos mais importantes do local estudado; é um método melhor
utilizado para estudos de casos menores;
(2) Decisional: Estuda elites através da identificação delas com os processos de
decisões em importantes políticas públicas (também melhor utilizado em um estudo local);
(3) Posicional: usado para estudo de elites nacionais, é baseado na ligação dos poderes
e influências presentes nos donos de cargos de instituições públicas e privadas das sociedades
modernas.
Dadas essas características, a tarefa de definir uma técnica de pesquisa se torna mais
acurada, priorizando portanto determinadas bases de dados já construídas por pesquisadores
anteriores. Assim, a pesquisa se baseia no levantamento efetuado por Love (1980, 1983), no
qual se utiliza de um método posicional para a identificação das elites em São Paulo, técnica
mais apropriada para o estudo de elites nacionais; ao mesmo tempo que prioriza o campo das
interações entre as elites e a disputa pelo poder.
5. Conclusão
Foi possível observar na estruturação do artigo três preocupações fundamentais. Em
primeiro lugar, recorre-se ao tema estudado, recapitulando os fenômenos sociais ocorridos ao
longo das décadas de 1920, 1930 e 1940 como forma de delimitar o foco do estudo. Com o
tema claro, foi possível levantar hipóteses de pesquisa com o caráter de investigação futura.
Tendo essa perspectiva concluída, parte-se para um segundo momento em que se
delineia as dificuldades e os avanços teóricos existentes na literatura da área conexa,
reconstituindo sua bibliografia básica. Com os avanços obtidos através dos estudos sobre as
elites, sejam eles nacionais ou internacionais, busca-se uma nova forma de observar o
15
fenômeno histórico brasileiro, com o uso de uma nova corrente teórica. A partir disso, pensa-
se um modo de buscar uma metodologia e técnica de pesquisa que permita equacionar os
desafios levantados pelos próprios estudos anteriores, e aos quais em determinado momento
se esgotaram em suas formulações propositivas.
Assim, surge como parâmetro de análise uma corrente teórica ainda pouco utilizada na
ciência social brasileira, o institucionalismo individual. Esta corrente permite elucidar com
um outro enfoque as hipóteses expostas. Ao invés da análise se basear apenas na ação dos
atores sociais, ou no estudo da ação institucional, procura-se entender a ação dos indivíduos
inseridos neste arcabouço institucional o qual também os afeta, mas não é o determinante
principal de suas ações.
Em um momento de extrema instabilidade política, como foi a década de 1930 no
Brasil, esta teoria traz novas perspectivas de análise para o estudo do fenômeno. Portanto,
mais do que responder as questões levantadas, este artigo é construído para a fomentar novas
indagações a respeito da temática, assim como introduzir este método ainda pouco difundido
no Brasil.
6. Referências
AGASSI, Joseph, Institutional Individualism, The British Journal of Sociology, Vol. 26,
No. 2. (Jun., 1975), pp. 144-155.
_______, Joseph, , Methodological Individualism and Institutional Individualism in
AGASSI, Joseph; JARVIE, Ian Charles (org), Rationality: The critical view, Martinus
Nijhoff Publishers, 1987.
AMARAL, Rubens, A campanha liberal, Sociedade Impressora Paulista, 1930.
BLONDEL, Jean & MULLER-ROMMEL, Ferdinand, Political Elites in DALTON, Russel. J;
KLINGEMANN, Hans-Dieter, The Oxford Handbook of Political Behavior, Oxford
University Press, 2007.
CAMARGO, Aspásia, A revolução das elites: conflitos regionais e centralização política, in
A Revolução de 1930: seminário internacional, Brasília: Editora UnB, 1983.
.
, Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996.
CODATO, Adriano, Classe política e regime autoritário - Os advogados do Estado Novo em
São Paulo, REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS, v. 29, n. 84, 2014.
16
________, Adriano, Parâmetros para uma análise empírica da relação entre idéias, elites e
instituições, Politica & Sociedade, v. 7, n. 12, p. 23-48, 2008.
DAHL, Robert, Who Governs? Democracy and Power in an American City, New Haven:
Yale University Press, 1961.
DEBES, Célio, Washington Luís 1925-1930, São Paulo: Imprensa Oficial, 2002.
DINIZ, Eli, A Transição política no Brasil: Perspectivas para a Democracia in Reunião
do GT - Elites políticas da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências
Sociais; X Encontro Anual; 20 e 24 de outubro de 1986, Campos do Jordão, São Paulo.
FAUSTO, Boris, A Crise dos Anos Vinte, Caderno CEBRAP 10 - Pequenos Ensaios de
História da República 1889-1945, CEBRAP, São Paulo, 1972a.
_______, Boris, A Revolução de 1930, Caderno CEBRAP 10 - Pequenos Ensaios de
História da República 1889-1945, CEBRAP, São Paulo, 1972b.
FERREIRA, Marieta de Moraes; PINTO, Surama Conde Sá. A Crise dos anos 20 e a
Revolução de Trinta, CPDOC, Rio de Janeiro, 2006. 26f.
_________, Marieta de Moraes, A Reação Republicana e a Crise Política dos anos 20,
Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.6, nº 11, 1993, p.9-23.
_________, Marieta de Moraes; GOMES, Ângela de Castro. Primeira República: Um balanço
historiográfico, Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n.º 4, 1989, p. 244-280.
FRITSCH, Winston, 1922: A Crise econômica, Revista Estudos Histórico, Rio de Janeiro,
vol. 6, n.º 11, 1993
GRYNSZPAN, Mario, A teoria das elites e sua genealogia consagrada, BIB, São Paulo, nº
41, 1996.
HOFFMAN-LANGUE, Ursula, Methods of Elite Research in DALTON, Russel. J;
KLINGEMANN, Hans-Dieter, The Oxford Handbook of Political Behavior, Oxford
University Press, 2007.
LAMOUNIER, Bolívar, E no Entanto se Move: Formação e Evolução do Estado
Democrático Brasileiro, 1930-94 in 50 anos de Brasil, Rio de Janeiro: FGV, 1994.
LEAL, Victor Nunes, Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo
no Brasil. São Paulo: Alfa/Ômega, 1975.
LEVINE, Robert, Pernambuco e a Federação Brasileira, 1889-1937 in FAUSTO, Boris
(Org.). História Geral da Civilização Brasileira, Tomo III: O Brasil Republicano, volume
8, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.
_______, Robert, A Velha Usina, Pernambuco na Federação Brasileira 1889-1937, Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1980.
17
LIMA SOBRINHO, Barbosa, A Verdade sobre a Revolução de Outubro de 1930, São
Paulo: Editora Alfa Omega, 1975.
LOVE, Joseph., A Locomotiva: São Paulo na federação brasileira 1889-1937, Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1982, 469p.
_____ , Joseph, The Brazilian federal state in the old republic (1889-1930): Did regime
change make a difference?, Lemann Institute, University of Illinois, 2011. Disponível em: <
http://www.clacs.illinois.edu/lemann/resources/documents/workingpaper2Love.pdf>
_____, Joseph, Um segmento da elite política brasileira em perspectiva comparada in A
Revolução de 1930: seminário internacional, Brasília: Editora UnB, 1983.
_____, Joseph L, . Autonomia Interdependência: São Paulo e a Federação Brasileira 1889-
1937 in FAUSTO, Boris (Org.). História Geral da Civilização Brasileira, Tomo III: O
Brasil Republicano, volume 8, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.
MARENCO, André, Estudos de Elites Políticas Explicam como Instituições Tomam-se
Instituições?, BIB, São Paulo, n° 65, 1º semestre de 2008, pp. 5-26.
MICHELS, Robert, Sociologia dos Partidos Políticos, Brasília: Editora da Universidade de
Brasília, 1982.
MILLS, Charles Wright, A Elite do Poder, Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
MOSCA, Gaetano, A Classe Política in CRUZ, M. Braga da, Teorias sociológicas – os
fundadores e os clássicos (antologia de textos) Volume I, Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 4ª ed, 2004, p. 405-419.
PANDOLFI, Dulce Chaves; GRYNSZPAN, Mario, Da Revolução de 30 ao golpe de 37: a
depuração das elites, Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil, 1987, 48p.
PARETO, Vilfredo, Traité de Sociologie Générale, Paris: Payot, 2 vols, 1933.
PRADO, Maria Lígia Coelho, A Democracia Ilustrada (O Partido Democrático de São
Paulo, 1926-1934), São Paulo: Editora Ática, 1986.
PUTNAM, Robert, Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna, com
Robert Leonardi e Raffaella Y. Nanetti; tradução Luiz Alberto Monjardim., 5 ed, Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2006.
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de, O Coronelismo numa Interpretação Sociológica, in B.
Fausto (org.), História Geral da Civilização Brasileira, Tomo III, volume 8, Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, p.172-212, 2006.
18
SOARES, Glaucio, O papel das elites nas transições democráticas, Em Debate, Belo
Horizonte, v.6, n.1, p.55-60, Mar. 2014.
THÉRET, Bruno. As instituições entre as estruturas e as ações. Lua nova, v. 58, p. 225-254,
2003.
UDEHN, Lars, The changing face of methodological individualism, Annual Review of
Sociology, p. 479-507, 2002.
______, Lars, Methodological Individualism - Background, history and meaning, New
York: Routledge, 2001.
VIEIRA, Francisca Isabel Schurig, O pensamento político-administrativo e a política
financeira de Washington Luís, Revista de História USP, São Paulo, nº41, 1º trimestre de
1960.
WALKER, Jack, A Critique of the Elitist Theory of Democracy, The American Political
Science Review, vol. 60, n.° 2, pp. 285-95, 1966.
WELLS, Stephen Coakley, The importance of being earners: the democratic, institutional and
socio-political influence of Brazil's elite, Cadernos EBAPE. BR, v. 8, n. 4, p. 661-675, 2010.
WIRTH, John, Minas Gerais na Federação Brasileira 1889-1937 - O fiel da
balança, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.
______, John, Minas e a Nação. Um estudo de poder e dependência regional, 1889-1937 In:
FAUSTO, Boris (Org.). História Geral da Civilização Brasileira, Tomo III: O Brasil
Republicano, volume 8, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. p. 84 a 111.
WOODARD, James, Regionalismo paulista e política partidária nos anos 20, Revista de
História USP, nº 150 (1º - 2004), p. 41-56.