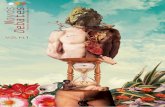Identidades Formadoras em Enfermagem: Novos académicos em novos ambientes do Ensino Superior.
Transcript of Identidades Formadoras em Enfermagem: Novos académicos em novos ambientes do Ensino Superior.
Identidades Formadoras em Enfermagem: Novos académicos em
novos ambientes do Ensino Superior1
Amélia Lopes, Ilda Lima, Fátima Pereira, Leanete Thomas Dotta, Elisabete Ferreira e
Rita Sousa
Introdução
Nos últimos anos, com o desenvolvimento da sociedade e do conhecimento, e
nomeadamente com o impacto desses desenvolvimentos nas universidades e no ensino
superior em geral, tornou-se cada vez menos aceitável a insensibilidade da formação
inicial de profissionais ao mundo da prática profissional.
Esta mudança de perspetiva sobre o significado da qualidade do ensino superior
pode trazer vantagens especiais para se pensar a formação inerente às ditas “profissões
práticas”, ou seja, aquelas sobre as quais se diz, mesmo quando a formação inicial existe,
que só a prática é efetivamente formadora, e também aquelas em que reiteradamente se
fala de “choque da realidade” no período de inserção profissional efetiva.
Não é por acaso que estas “profissões práticas” são também aquelas em que a
capacidade profissional está especialmente dependente de caraterísticas pessoais de
diversa índole, ou seja, de um tipo de saber que, numa larga extensão, não corresponde
ao saber académico tradicional. São normalmente profissões centradas na interação
humana e em que a capacidade profissional depende em grande parte, mas não só, da
competência interacional, enquanto parte integrante do “conhecimento profissional”.
Entre estas profissões, as profissões de ajuda, do cuidado ou sociais –
nomeadamente a enfermagem, o ensino e o serviço social – fazem desafios especiais aos
profissionais e seus formadores, entre outros, porque, nelas, os problemas persistentes
das estruturas sociais e as relações sociais de poder (Hugman, 2005) se cruzam, a maior
parte das vezes, com expetativas e motivações pessoais idealizadas e pouco elaboradas
(Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 2007).
A fragilidade destas expectativas e motivações, ou a sua fragilização progressiva
no decurso da socialização profissional, decorre, em grande parte, de um processo
1 Citar como: Lopes, A., Lima, I., Pereira, F., Thomas Dotta, L., Ferreira, E. & Sousa, R. (2013).
Identidades Formadoras em Enfermagem: Novos académicos em novos ambientes do Ensino Superior. In
V. Fartes, T. Caria & A. Lopes, Saber e formação no trabalho profissional relaciona, (pp. 165-186).
Salvador/BA: EDUFBA
histórico, ainda patente nas estruturas de ação, que resultou intencionalmente na sua
subordinação, através da divisão do trabalho, em termos sociais, sexuais e científicos.
As transformações sociais, e suas novas exigências, e a evolução sofrida na
compreensão dos processos de profissionalização colocaram algumas destas profissões
num fortíssimo processo de profissionalização – como são os casos do ensino e da
enfermagem, nomeadamente em Portugal - através de um discurso centrado em modelos
profissionais de formação, ou seja, tendentes a valorizar os campos da ação e os
profissionais.
A progressiva elevação dos graus académicos conferidos pela formação inicial,
nomeadamente a passagem de bacharelato (3 anos em escolas não superiores) a
licenciatura (4 anos em escolas superiores), foi um dos passos mais visíveis nesse
processo, a que se associam novas perspetivas sobre a formação profissional enquanto
primeira etapa do desenvolvimento profissional e enquanto fundadora da primeira
identidade profissional.
O centro do debate sobre a formação de profissionais de ajuda coloca-se, a partir
daí, na junção destes dois movimentos, a que corresponde um esforço de melhoria,
simultaneamente, da dimensão científica e da dimensão profissional (ou vocacional) da
formação. Os desafios recentes lançados ao Ensino Superior, não apenas no que
concerne à componente pedagógica do processo de Bolonha, mas também no que
respeita ao seu ordenamento jurídico, fizeram com que este núcleo central do debate
tivesse uma tradução mais nítida na carreira dos formadores, que devem agora conciliar
de forma mais clara o esforço formativo com a produção e publicação de conhecimento
no seu campo de atividade.
O interesse do estudo das identidades dos formadores em contextos de formação
inicial de professores ou de enfermeiros encontra aqui a sua razão de ser e vê-se
aumentado se tivermos em conta que a questão que lhe está subjacente assume
claramente o lugar de caso exemplar em relação a todas as transformações a ocorrerem
no ensino superior, e portanto também em relação à construção de alternativas fortes ao
discurso hegemónico da mudança e respetiva fabricação de “identidades oficiais” (Lawn,
2001).
O projeto “Formação inicial de profissionais de ajuda e identidades dos
formadores: o caso do ensino e da enfermagem”2, que se desenvolve como um estudo
multicasos, pretende contribuir para essa construção comparando os dois casos e
identificando, para cada um, dispositivos de formação e de desenvolvimento
profissional que respondam ao desafio que a problematização apresentada coloca. Ao
mesmo tempo produz-se conhecimento sobre as profissões de ajuda e identificam-se
particularidades da experiência portuguesa por relação com a produção científica
internacional sobre as identidades dos formadores.
Neste texto apresentam-se e discutem-se dados exploratórios relativos às
identidades dos formadores em Enfermagem, recolhidos com o objetivo de informar
uma recolha de dados posterior mais abrangente, mas também de inserir, de início, a
experiência portuguesa no debate da produção científica internacional, permitindo
identificar eixos centrais de análise.
O texto que se segue organiza-se em quatro partes, relativas ao quadro teórico,
ao contexto e à metodologia, à análise dos dados e à discussão dos resultados.
Quadro teórico-concetual
O que se quer dizer quando se diz identidades dos formadores? Uma revisão da
literatura relativa às identidades dos formadores em Enfermagem permite-nos
identificar questões em análise e, de forma associada, conceitos e teorias capazes de ler,
e heuristicamente abrir soluções para, essas questões. Duas das questões mais abordadas
referem-se à passagem de uma identidade clínica (prática) a uma identidade
formadora/investigadora (por exemplo, Boyd, 2010; Andrew & Robb, 2011; Janhonena
& Sarjab, 2005), e às relações estabelecidas entre os diversos tipos de formadores
(professores, tutores, etc.) que integram o espaço formativo (por exemplo, Conway e
Elwin, 2006; Janhonena & Sarjab, 2005; Pinho, 2010). Estas questões permitem, desde
logo, considerar, na problematização da identidade dos formadores em enfermagem,
uma dimensão biográfica (a primeira) e uma dimensão relacional (a segunda), sendo a
formação da identidade de formador fruto da conjugação das duas.
São exatamente estas as duas dimensões abordadas por Claude Dubar (1997,
2006) quando define a construção da identidade profissional como “dupla transação”.
Dupla porque congrega duas transações: a subjetiva ou biográfica, do indivíduo consigo
2 Projeto financiado pela FCT/FEDER/COMPETE
próprio, entre o que tem sido e o que vai ser ou quer ser; e a relacional ou objetiva entre
o que ele é e quer ser e aquilo de que o contexto (definido sobretudo em termos
relacionais e semânticos) dispõe, ou não, para “oferecer” ao indivíduo. Wenger (1998),
autor mais frequentemente referido nos estudos sobre as identidades dos formadores em
Enfermagem, vai ao encontro desta perspetiva quando afirma que a construção da
identidade de uma pessoa é um processo que traduz a importância das experiências
adquiridas como membro de diferentes comunidades sociais.
A experiência vivida nas diferentes comunidades pode realizar-se de forma que
os desejos e as representações individuais vão ao encontro das possibilidades e desafios
dos sistemas relacionais dos contextos, ou pelo contrário. Se no primeiro caso o
processo identitário se dá por soluções de continuidade, no segundo ele implica rupturas,
mesmo que de forma transitória.
Também para Wenger (ibid.) como para Claude Dubar (ibid.), a identidade (já
não como processo, mas como produto) diz respeito ao modo como os indivíduos se
definem a si próprios em termos de diferença e similaridade, ou seja, em termos de
identificação e diferenciação, através da transação relacional, ou seja, nas relações com
os outros.
As identificações e diferenciações estabelecem-se, a um primeiro nível, através
das interações concretas estabilizadas num determinado lugar, preenchido de práticas,
interpretações e relações, no qual o indivíduo se posiciona de forma situada, tendo em
conta autoatribuições e heteroatribuições. A identidade situada, nos termos de Hewitt
(1991) e de Wiley e Alexander (1987), refere-se ao modo como a identidade pessoal e
as diferentes identidades sociais da pessoa se organizam em função de uma situação
concreta, recheada de parceiros concretos, provocando identificações e diferenciações,
confirmações ou novos desafios.
Entretanto, nenhuma situação - suas práticas, interpretações e desafios - é
independente dos contextos mais latos em que se insere. Daí que a identidade
profissional, e a construção da identidade profissional, não seja independente, do ponto
de vista sincrónico, mas também do ponto de vista diacrónico, dos modelos culturais,
das políticas específicas para campo, das estruturas sociais que se relacionam com a
atividade profissional ou a qualificação para ela e das outras identidades sociais da
pessoa (origem social, género e outros papéis).
A identidade profissional e a construção da identidade profissional são, por isso,
constructos ecológicos (Lopes, 2008, 2009). Ao dizer-se ecológico, faz-se efetivamente
referência à ecologia do desenvolvimento humano de Urie Bronfenbrenner (1979), quer
no que respeita à constituição, quer no que respeita à dinâmica (interacional, intra e
entre subssistemas) do sistema ecológico e ao papel dos cenários e do indivíduo. Daqui
que as transições ecológicas, sejam também transições de identidade.
Metodologia
O estudo empírico exploratório foi realizado em Portugal, numa Escola Superior
de Saúde (ESS) integrada num Instituto Superior Politécnico e incidiu no Curso de
Licenciatura em Enfermagem (CLE).
Com o objetivo de informar uma recolha de dados posterior mais abrangente, mas
também de inserir, de início, a experiência portuguesa no debate da produção científica
internacional, permitindo identificar eixos centrais de indagação a serem elaborados,
foram recolhidos dados através de entrevistas a informantes chave - Presidente do
Conselho Pedagógico, Diretor de Curso, Diretor de Escola, Presidente da Comissão
Técnico-Científica e Presidente da Associação de Estudantes - e de três grupos focais –
dois com formadores e outro com estudantes dos diferentes anos do CLE.
As entrevistas foram desenvolvidas como entrevistas semi diretivas e tinham por
objetivo específico permitir que o informante desse conta das suas
perspectivas/sentimentos sobre o curso/escola/instituto em função das funções/cargo
que exercia. O guião da entrevista foi organizado em cinco blocos temáticos:
Tema inicial - A pessoa no cargo: sentimentos iniciais, percurso e visões
Perspectivas sobre o curso/escola: forças, fragilidades, constrangimentos e
oportunidades
Caracterização do ambiente da formação: em geral, os estudantes e as suas
relações; os formadores e as suas relações; a relação formadores estudantes
Visões sobre a relação entre a teoria e a prática, entre a escola e os contextos de
trabalho (seus responsáveis e formadores), e sobre a formação nas práticas
Perspectivas sobre o trabalho dos formadores entre a formação e a investigação:
exigências atuais, efeitos na formação, impacto no quotidiano dos professores.
O grupo focal é um meio de investigação que teve a sua origem nos estudos de
marketing (Morgan, 1988), assumiu depois grande importância na área da saúde e, nas
últimas décadas, ganhou grande relevo nas ciências sociais e humanas (Gatti, 2005).
Podendo ser também um meio de intervenção, na medida em que se centra na interação
e na conversação, ou seja, na medida em que as perspetivas individuais e de grupo se
tornam explícitas (e se podem transformar) através da discussão, o grupo focal foi aqui
usado como meio de investigação. O facto de o grupo focal se centrar na discussão e
interação a propósito de temas partilhados, de uma forma ou de outra, pelos
participantes, pesou grandemente na escolha da sua utilização como meio de recolha de
dados exploratórios sobre as identidades em formação. Como afirmam Leclerc,
Bourassa, Picard e Courcy (2011) a facilitação de trocas espontâneas e a criação de um
espaço de intersubjetividade são duas das vantagens do uso dos grupos focais na
investigação em ciências sociais e humanas. Possuir discursos produzidos em
conversação permitiria atingir alguns dos eixos centrais através dos quais podem variar
as atribuições de identidade no contexto em estudo.
A realização de grupos focais com formadores, por um lado, e com estudantes, por
outro, quando é de identidades de formadores que se trata, pretende exatamente captar a
perceção dos estudantes sobre os formadores, as suas relações, a formação e as
instituições em que ela tem lugar.
Nos grupos focais de formadores participaram, num total de 7 elementos em cada
um, professores regentes de unidade curricular (enfermeiros e não enfermeiros; com
contrato a tempo parcial ou integral), gestores pedagógicos (assistentes enfermeiros
contratados a tempo inteiro e contratados a tempo parcial) com funções mais destinadas
para a orientação do estudante no practicum, e enfermeiros tutores do contexto
profissional, que prestam cuidados às pessoas sãs ou doentes e, simultaneamente,
orientam os estudantes no ensino prático.
O grupo focal de estudantes contou com 8 elementos a frequentarem os 1º, 2º, 3º e
4º anos do Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE).
Nos três casos, o desenvolvimento do grupo focal, que contou com a presença do
moderador e de um assessor do moderador, obedeceu ao mesmo guião, organizado nos
seguintes eixos de discussão:
Tema inicial: o melhor e o pior do curso
Ambiente de trabalho entre professores, entre professores e estudantes e entre
estudantes
Relações teoria e prática no quadro geral das características do ensino e da
aprendizagem.
Para o terceiro eixo de discussão, usou-se a técnica “The Wall” (Korthagen, 1992), tendo os
participantes sido confrontados com as seguintes frases, sobre as quais lhes foi solicitado que
escolhessem a mais importante para si e/ou acrescentassem outras.
Um bom aluno é um bom enfermeiro
Dominar os aspectos teóricos é fundamental
Só na prática se aprende a ser enfermeiro
Para formar enfermeiros(as), é fundamental ter sido enfermeiro
É nas actividades de ensino clínico/simulação que os estudantes se formam para
o exercício profissional
Para ensinar necessito de investigar
Os futuros profissionais devem aprender a investigar
Formar enfermeiros é uma oportunidade para salvar vidas
Análise de dados
O tratamento dos dados obedeceu à “análise em discurso” (Lopes & Pereira,
2012) e realizou-se com apoio do Software NVivo9. A “análise em discurso” é um tipo
de análise que tecnicamente corresponde à análise de conteúdo, mas em que, para
decisões de codificação e interpretação, os enunciados são tomados como discursos, ou
seja, como inseridos em, e expressivos de, relações sociais e interpessoais.
Para tratamento e análise, os dados foram tomados na sua globalidade, ou seja,
independentemente da fonte que lhes deu origem e também do tipo de formação em
estudo. Assim, tinha-se por objetivo construir indutivamente um sistema de codificação
passível de enquadrar todos os enunciados produzidos, permitindo identificar por
comparação, dimensões presentes e ausentes nos discursos produzidos no âmbito de um
ou outro tipo de formação ou por um tipo ou outro de sujeitos dentro de cada tipo de
formação.
A indagação sobre as identidades teve por base essa possibilidade e obedeceu às
seguintes questões de pesquisa: Quem fala, ou não, numa dada categoria? O que diz?
Como se relacionam os discursos dos diversos participantes?
A codificação incluiu, por isso, as caraterísticas de partida do autor de um
determinado enunciado - formador (regente, tutor e gestor pedagógico), estudante,
ocupante de cargo dirigente e tipo de cargo - mas também outras variáveis que tinham
aparecido com probabilidade de relevância na leitura flutuante: qualificação académica,
tipo de regência (por exemplo, da área da enfermagem ou das ciências sociais), no caso
dos regentes; tipo de vínculo à escola (externo, interno, percentagem de tempo de
dedicação), idade e sexo. No caso dos estudantes considerou-se o ano de frequência do
curso e o sexo.
Na Figura 1 apresenta-se o sistema de codificação emergente da análise.
Figura 1 – Sistema de codificação
A dimensão “profissão” descreve as “visões sobre a profissão de enfermagem” e
as “visões sobre as condições atuais do exercício da profissão”. A dimensão
“instituição” descreve as perspetivas sobre a instituição (Escola ou Instituto) salientando
os “modos de liderança”, as “políticas de formação”, a “garantia da qualidade” e as
“mais valias e os constrangimentos institucionais”. A dimensão “currículo” inclui as
perceções sobre a “organização do currículo”, o “desenvolvimento do currículo”, as
“componentes teórica, prática e sua articulação” e, também, sobre a “avaliação”. A
dimensão “formadores” carateriza as qualidade dos formadores e integra as suas
“caraterísticas” e as suas “relações”. O mesmo acontece com a dimensão”estudantes”.
Finalmente, a dimensão “formação” descreve o modelo de formação, enfatizando as
“relações de formação” nos diferentes espaços de ensino e aprendizagem e os principais
“princípios orientadores”.
Descrição qualitativa
Na dimensão “profissão”, os sujeitos sublinham tanto mais a importância da
enfermagem como profissão quanto mais próximos estão da instituição de formação (os
regentes valorizam-na mais), quanto mais elevada é a sua qualificação e quanto mais os
cargos que ocupam implicam a componente científica. Os regentes e os estudantes (de
maneiras diferentes) sublinham a importância de, na formação, se terem em conta as
especificidades da profissão como profissão. Os tutores referem-se mais à
profissionalidade ou ao trabalho enfermeiro e menos à profissão.
As condições atuais do exercício da profissão são sublinhadas sobretudo por
dirigentes, tutores e estudantes. Os dirigentes e os estudantes estão preocupados com o
desemprego, a flexibilidade do emprego e a necessidade de formar para o
empreendedorismo. Os tutores e gestores pedagógicos e os dirigentes estão preocupados
com o aumento do rácio enfermeiro / utente nos locais de trabalho, que retira
disponibilidade para orientar adequadamente os estudantes, e falam de novos mercados
e novas áreas privilegiadas da enfermagem.
Na dimensão “instituição” pronunciam-se sobretudo dirigentes, estudantes e
práticos. A escola, dizem os dirigentes e os práticos, tem por política investir na
formação avançada dos seus docentes, apostar nas parcerias com os contextos práticos e
numa formação que sublinha o desenvolvimento cognitivo, técnico e sócio-relacional.
A visão da escola é muito positiva: todos os formadores sublinham a qualidade
da formação (nomeadamente a importância dada ao desenvolvimento relacional) que é
reconhecida a nível nacional e internacional. O número de docentes doutorados, a
proximidade dos contextos da prática, a boa relação entre docentes, funcionários,
estudantes e dirigentes e a excelência dos serviços académicos são mais-valias da escola
identificadas sobretudo por dirigentes mas também por estudantes. O maior
constrangimento, identificado por dirigentes, estudantes e práticos, diz respeito à
intensificação do trabalho e respetiva falta de tempo ou sobrecarga. Os dirigentes
referem-se ainda ao facto de a formação não estar integrada na universidade e à
ausência de um centro de investigação próprio em que os seus formadores se integrem.
Em geral dirigentes e práticos enfatizam a qualidade da componente prática do
currículo na sua vertente reflexiva, crítica, de adequação à vida real e de planeamento.
Quando apontados, os aspetos negativos da componente prática dizem sempre respeito à
necessidade de mais prática ou a uma melhor organização da componente prática do
currículo. A dialetica entre a teoria e a prática ocupa os quadrantes positivos, sendo
sublinhada por dirigentes e práticos. A avaliação, de pendor sumativo e tradicional
ocupa os quadrantes negativos, sendo referida por dirigentes e estudantes.
Os estudantes referem-se negativamente aos horários, aos lugares de estágio
(dispersão), ao excesso de trabalho exigido em algumas disciplinas e ao número elevado
de estudantes nas aulas teóricas.
No que respeita à “organização do currículo” o debate centra-se na duração e
adequação do plano de estudos, umas vezes considerado ajustado (formadores mais
velhos) e outras desajustado, relevando-se o excesso de carga horária (dirigentes) e a
duração demasiado curta (estudantes).
A dimensão “formação” é aquela em que os enunciados dos diversos tipos de
participantes são mais consensuais. Os dirigentes acreditam que o modelo de formação
da escola é adequado, pertinente e ajustado e que promove uma formação credível,
holística e com qualidade reconhecida. Acreditam que o corpo docente é de qualidade,
demonstra competências pedagógicas, é dedicado e está motivado. Referem que as
relações estabelecidas são boas e promovem a aprendizagem, demonstrando
preocupação com um certo paternalismo que por vezes se evidencia e que pode inibir a
autonomia dos estudantes,
Os práticos referem que o modelo de formação da escola é adequado, pertinente
e ajustado e que promove uma formação credível, holística e com qualidade
reconhecida. Valorizam e entendem como mais-valias da formação promovida na escola
que o ensino seja feito por docentes enfermeiros. No corpo docente, realçam a
responsabilidade no ensino, a preocupação e o compromisso com a aprendizagem, a
acessibilidade e a disponibilidade para o acompanhamento e apoio aos estudantes.
Referem também a existência de excesso de paternalismo que inibe a autonomia, e a
falta de tempo para acompanhamento dos estudantes.
Os estudantes valorizam a formação prestada pela escola, referindo como mais
valias a dimensão do ‘cuidar’, a preocupação com uma formação integral, com a
aquisição de todos os tipos de competências (conhecimentos, habilidades técnicas e
atitudes), a promoção da reflexividade e do pensamento crítico e do espírito de grupo.
Reconhecem que efetuam mais aprendizagem para além das do currículo e que se
promovem suficientes oportunidades práticas. Relativamente ao corpo docente, são
bastante positivos: referem que os docentes são dedicados, atenciosos e prestáveis, que
se preocupam com os estudantes, demonstram interesse pelo seu desenvolvimento e
seus problemas, que têm disponibilidade e são acessíveis. Valorizam o facto de o ensino
ocorrer com docentes enfermeiros, pois os professores enfermeiros têm maior noção das
reais necessidades de formação e estabelecem melhor a ligação da teoria à prática.
Referem ainda que existe um ambiente propício à criação de boas relações e que as
relações entre os professores e os estudantes são de proximidade, embora possam existir
conflitos. Referem também o excesso de paternalismo.
São sobretudo os dirigentes e os estudantes que caraterizam os “formadores”, ou
seja, falam sobre os formadores aqueles que o não são. Os dirigentes insistem na
existência de um corpo docente qualificado e empenhado na melhoria (científica) e na
imagem exterior da escola. Os estudantes incidem em aspetos com impacto na
qualidade da sua formação: a articulação entre disciplinas, a carga de trabalho exigida
em cada uma, a existência de dois grupos de docentes: um aberto a novas ideias e
metodologias e mais próximo da prática e outro mais conservador a que chamam “a
velha escola”. Já sobre as relações entre formadores são sobretudo os próprios
formadores que se pronunciam. Os aspetos negativos referem-se à falta de
disponibilidade uns para os outros devido à intensificação do trabalho, à existência de
competição e à falta de parceria entre pares. De resto, a diferença entre os discursos dos
diversos formadores é paralela à sua progressiva distância em relação à escola de
enfermagem, discursos marcados pela posição ocupada no modelo de formação. O
discurso sobre os formadores é, então, atravessado por questões associadas à gestão da
prática, à vivência do trabalho (intensificado) e à articulação entre disciplinas.
Na dimensão “estudantes”, verifica-se que todos os participantes produziram
enunciados que caracterizam os estudantes e as suas relações. Os práticos valorizam a
sua bagagem, a sua capacidade relacional e autonomia. As caraterísticas negativas são
apontadas também por regentes e são relativas a desmotivação, imaturidade, falta de
competências relacionais e competição. Os dirigentes falam da mudança dos perfis do
estudante da escola e da sua heterogeneidade. Referem-se à existência de dificuldades
dos estudantes na transição para o ensino superior, mas também às suas capacidades
reflexivas, à sua maturidade face à avaliação e à sua capacidade de participação na
escola. Os estudantes valorizam a sua capacidade de entreajuda e lamentam a falta de
cultura de autonomia e participação entre os estudantes. Quando se trata de caraterizar
as relações entre os estudantes, as referências positivas (de dirigentes, formadores e
estudantes enfatizam a cooperação, a entreajuda e a solidariedade. As de caráter
negativo falam de competição, intriga e conflito, sobretudo por relação com a avaliação.
Discussão
O cruzamento da descrição realizada para cada uma das dimensões em análise, a
sua articulação com aspetos nucleares da investigação atual sobre a identidade dos
formadores e os objetivos da pesquisa mais abrangente em que este estudo se situa
permitem, de entre os diversos aspetos pertinentes, eleger os seguintes: a identidade da
formação em enfermagem; políticas neoliberais e a identidade da formação em
enfermagem; a identidade da formação em enfermagem e as identidades dos formadores.
Identidade da formação em enfermagem
No cruzamento dos discursos de todos os participantes, a formação oferecida na
ESS em estudo emerge consensualmente reconhecida como sendo de grande qualidade,
o que aliás vai ao encontro de informações objetivas obtidas sobre a instituição, que
possui efetivamente uma excelente reputação aos níveis nacional e internacional. Os
dirigentes e os formadores em geral definem essa qualidade recorrendo aos termos
“formação holística e credível”.
Os elementos sublinhados por todos os participantes como representativos da
qualidade da formação provêm de quase todas as dimensões, mas sobretudo das
dimensões “formação”, “currículo” e “instituição”, e podem ser explicitados do seguinte
modo: o bom número de regentes doutorados e, na maioria, enfermeiros; a dedicação e
acessibilidade destes; a proximidade dos contextos da prática; e as boas relações em
geral (entre docentes, funcionários, estudantes e dirigentes). No núcleo destas
apreciações estão o carater reflexivo, crítico, bem planificado e concreto da formação
prática e a boa dialética entre a teoria e a prática.
Em geral, trata-se de uma formação marcada por práticas orientadas para os
estudantes, aspeto também encontrado e sublinhado por Kantek e Baykal (2009) num
estudo de clima organizacional realizado em sete escolas de enfermagem do ensino
universitário na Turquia.
Assim sendo, poder-se-á considerar que se alguns destes aspetos caraterizam
especificamente a formação nesta ESS (no que diz respeito ao alto nível da qualidade),
também poderão caraterizar a identidade da formação em enfermagem.
Ao aludir-se a esta questão pretende-se trazer para este debate o conceito de “cultura
epistémica”. Numa clara alusão aos etnométodos, Cetina (1999, 2007) refere-se às
culturas epistémicas como “maquinarias do conhecimento”, inserindo-a, entre outros, a
um conjunto de práticas, regras e mecanismos ligados pela necessidade, afinidade e
coincidência histórica numa certa área de especialidade profissional. Guile (2008) é um
dos poucos autores que trazem o conceito de cultura epistémica para o campo da
educação. Discutindo as conexões que podem ser estabelecidas entre duas diferentes
concepções de conhecimento – teórico e tácito – através do conceito de culturas
epistémicas e suas implicações para a educação, Guile (2008) critica o uso distinto e
separado dos dois tipos de conhecimento e a não compreensão da conexão entre
conhecimento e cultura.
Se esta questão, a da conexão, em estruturas concretas de formação, entre dois
tipos de conhecimento e sua inserção na cultura, é importante e se coloca para a
formação em todas as profissões e situações em que a lógica da aplicação não só não é
suficiente como traz problemas graves ao campo da formação e da profissão, no caso da
enfermagem ela parece ter por centro um outro aspeto, entrevisto no modo como todos
os formadores (incluindo dirigentes, que também o são) convergem no termo “formação
credível” para dar conta da qualidade da formação na ESS. A questão da “credibilidade
clínica”, identificada por Andrew e Robb (2010) como central à identidade dos
formadores de enfermagem, parece aparecer, portanto, também como central à
credibilidade da própria formação, enquanto parte integrante das culturas profissionais
enquanto culturas epistémicas.
O caráter heurístico desta perspetiva fica mais claro se, comparando como o
campo do ensino, tivermos em conta que a “credibilidade clínica” parece ocupar o lugar
do “domínio do conhecimento” no caso dos formadores de professores, conhecimento
que é geralmente entendido como “conhecimento de conteúdo”, se usarmos a tipologia
de Shulman (1986).
Políticas neoliberais e a identidade da formação em enfermagem
O impacto das políticas de inspiração neoliberal na formação, nomeadamente na
área dos serviços públicos da educação e da saúde, é discutido por diversos autores.
Interessa trazer esta questão para esta discussão, pois muitos dos discursos captados no
estudo exploratório fazem alusão a mudanças a verificarem-se na formação e nos
contextos de trabalho, resultantes da “nova gestão pública” – na dimensão “profissão”
(desemprego, a flexibilidade do emprego e a necessidade de formar para o
empreendedorismo; e o aumento do rácio enfermeiro / utente nos locais de trabalho); na
dimensão “instituição” (intensificação do trabalho e respetiva falta de tempo ou
sobrecarga); e na dimensão “formadores” (falta de disponibilidade uns para os outros
devido à intensificação do trabalho, à existência de competição e à falta de parceria
entre pares)
Segundo Judith Sachs (2003, p. 20-22) são três as palavras-chave da “nova
gestão pública”: eficácia (gerir melhor a mudança), eficiência (focalizar os resultados) e
economia (fazer mais com menos). O seu referencial pode ser resumido nas seguintes
asserções: as estruturas, os procedimentos e os serviços públicos tradicionais são
ineficientes; há um conjunto de competências de “gestão” e as abordagens à gestão das
empresas privadas são melhores que quaisquer outras; as reformas estruturais
gerencialistas permitem mudar as práticas e assim aumentar a produtividade; os serviços
podem ser quantificados com vista à prestação de contas. Em geral, presume-se que a
aplicação da teoria do mercado e dos princípios e procedimentos do sector privado ao
sector público resultam em melhoria da qualidade do serviço.
O impacto nos quotidianos institucionais é enorme, nomeadamente: o movimento
dos standards - com virtualidades, enquanto ponto de partida objectivo para o debate e a
articulação das práticas - traduz-se antes na estandardização das práticas; os indicadores
de desempenho e os pareceres e avaliações das inspecções estabelecem as fronteiras da
profissionalidade; a competição entre escolas e entre professores substitui os apelos à
colaboração; e a autonomia e a independência diminuem, assim como o sentido de
pertença e a solidariedade.
Os discursos dos participantes são um exemplo claro, não só de como uma
formação de grande qualidade pode ser altamente prejudicada pelas decisões e
implementações inerentes ao discurso da “qualidade”, mas também de como estes
mesmos participantes “lutam” no quotidiano para dar sentido ao seu projeto de
formação. Reencontramos desta forma a interessante análise presente em Stronach,
Corbin, McNamara, Stark e Warne (2002), num esforço de recolocar a questão do
profissionalismo nas tradicionais semi-profissões (no caso, o ensino e a enfermagem),
na qual distinguem entre “economia da performance” e “ecologia da prática”, para
elaborar as formas da sua articulação que fogem ao mangerialismo. Na sua análise, os
autores concluem assim:
A nossa hipótese otimista é a de que os decisores políticos, em particular,
precisam de entender a performance profissional de forma muito diferente. Talvez
tenhamos que lhes dizer que a metáfora do profissionalismo é “pulsar” e não
“empurrar”. A teleologia do self profissional utópico e a ontologia do ser humano
orientado profissionalmente operam pulsando. Cada performance profissional –
bem ou mal sucedida – articula uma versão desse “pulsar”. (Stronach, et al., 2002:
131)
A identidade da formação em enfermagem e as identidades dos formadores
Maandag, et al. (2007: 168), analisando a formação de professores em diferentes
países da Europa, afirmam: “enquanto em França, na Alemanha e na Suécia a ênfase é
posta na formação académica, na Inglaterra e na Holanda a ênfase é posta no ensino
prático. Em cada um dos países analisados verificamos existir uma luta entre, por um
lado, o apelo para formar professores com um elevado nível académico e, por outro,
para organizar satisfatoriamente as relações entre a teoria e a prática”. O estudo não foi
realizado em Portugal, mas, se o tivesse sido, Portugal estaria entre aqueles que
enfatizam a formação académica. Não se passa o mesmo na formação em enfermagem.
Efetivamente, como acontece por exemplo em Inglaterra quer na formação de
professores quer na formação de enfermeiros (ver, Boyd, 2010), a formação em
enfermagem em Portugal, e como também indicam os resultados acima discutidos,
insere-se na segunda possibilidade referida.
Nestes casos, o debate sobre a construção da identidade dos formadores – com
vista à promoção da qualidade da formação e dos serviços de saúde - tem por centro a
questão de como manter a “credibilidade clínica” e simultaneamente assumir uma
“identidade académica”, traduzida mais precisamente na realização de investigação
(Boyd, 2010; Andrew & Robb, 2010), sabendo-se que a maior parte das vezes os
enfermeiros na transição para o papel de formadores sofrem um processo de
culpabilização ou de luto, devido ao receio de distanciação da prática.
A análise dos dados dá conta de como a adesão à investigação é um forte desafio
para os formadores participantes através da dimensão “profissão” - na ênfase dada à
profissão e à qualificação do corpo docente na reflexão sobre a formação - da dimensão
“instituição” - ao referir-se o grau académico de doutoramento da maioria dos
professores como sinal de qualidade – e da dimensão “formação”, sendo referidas de
novo as qualificações do corpo docente, mas também a importância da existência de um
centro de investigação. A análise de dados dá ainda conta da relação estabelecida entre
os diversos tipos de formadores na dimensão “formadores”, indiciando uma relação de
admiração mútua e complementaridade, mas também alguma assimetria ou dependência
dos “práticos” em relação aos “teóricos”.
A elaboração a este propósito situa-se portanto em dois patamares, que já
identificámos ao dar conta do quadro teórico concetual desta pesquisa: o da passagem
de uma identidade clínica (prática) a uma identidade formadora/investigadora; e o das
relações estabelecidas entre os diversos tipos de formadores (professores, tutores, etc.)
que integram o espaço formativo, mas também o espaço profissional (Conway & Elwin,
2006; Janhonena & Sarjab, 2005; Pinho, 2010).
No primeiro caso, por razões ligadas quer à identidade da formação em
enfermagem quer à identidade do formador em enfermagem, está em causa a definição
de um tipo de académico adequado a uma disciplina baseada na prática e, portanto, que
se mantenha próximo da prática, a que uns chamam “novos académicos” e outros
“académicos contemporâneos” (Boyd, 2010; Andrew & Robb, 2010; Janhonena &
Sarjab, 2005). A questão colocar-se-ia de forma especialmente “urgente” nas
“profissões de ajuda”, mas referir-se-ia a todos os académicos dados os novos desafios
do ensino superior que incidem na articulação entre ensino e investigação e inovação
(Ramsden, 2008; Harris, 2005).
Através de uma pesquisa empírica, Andrew e Robb (2010) propõem o “modelo
de trabalho próximo da prática” que se apresenta na Figura 2 para dar conta dos
“académicos para o século XXI”.
.
Fig. 2 Modelo de trabalho próximo da prática (in Andrew & Robb, 2010, adaptado de
Cook, 2005)
Como se verifica, o modelo integra, entre outros, quer a construção da
identidade académica, quer as relações entre os diversos formadores no que é
denominado ambiente de aprendizagem sustentável. Conway e Elwin (2006)
focalizando as relações intraprofissionais e a identidade do formador clínico, concluem
que os papéis dos diversos formadores se relacionam, mas devem também ser
clarificados na sua contribuição particular e que os formadores clínicos (práticos) são
capazes de integrar a capacidade prática e formativa quando estão inseridos em
ambientes consistentes de formação.
O debate sobre a identidade dos formadores surge, então, inseparável dos
ambientes (climas) de formação. Ou seja, o desenvolvimento de novas identidades
académicas é tanto uma questão pessoal como uma questão organizacional (e societal).
Identificar os dispositivos e dinâmicas das estruturas de formação que confluem para a
emergência dessas novas identidades académicas é o grande desafio para o ensino
superior em geral e para a formação de profissionais de ajuda em particular.
Referências
Andrew, N. & Robb, Y. (2010). The duality of professional practice in nursing:
academics for the 21st century. Nurse Education Today. 31, 429-433.
Boyd, P. (2010). Academic induction for professional educators: supporting the
workplace learning of newly appointed lecturers in teacher and nurse education.
International Journal for Academic Development, 15(2), 155-165.
Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by
nature and design. Cambridge, M.A: Harvard University Press.
Cetina, K. K. (1999). Epistemic Cultures: How the sciences make knowledge.
Cambridge/London: Harvard University Press.
Cetina, K.K. (2007). Culture in global knowledge societies: knowledge cultures and
epistemic cultures. Interdisciplinary Science Reviews, 32(4), pp. 361-375. DOI:
10.1179/030801807X163571
Conway, J. & Elwin, C. (2007). Mistaken, misshapen and mythical images of nurse
education: Creating a shared identity for clinical nurse educator practice. Nurse
Education in Practice. 7, 187-194.
Dubar, C. (1997). A socialização: construção das identidades sociais e profissionais.
Porto: Porto Editora.
Dubar, C. (2006). A Crise das Identidades. A interpretação de uma mutação. Porto:
Edições Afrontamento.
Gatti, B.A. (2005). Formação de grupos de redes de intercâmbio em pesquisa
educacional: dialogia e qualidade. Revista Brasileira de Educação, 30, pp. 124-132.
Guile, D. (2008). O que distingue a economia do conhecimento? Implicações para a
educação. Cadernos de Pesquisa, 38(135).
Harris, S. (2005). Rethinking academic identities in neo-liberal times. Teaching in
Higher Education, 10(4), 421-433.
Hewitt, J. P. (1991). Self and society: a symbolic interactionist social psychology.
Boston: Allyn and Bacon.
Hugman, R. (2005). New Approaches en Ethics for the caring Professions. Basingstoke:
Palgrave Macmillan
Janhonena, S. & Sarjab, A. (2005). Emerging identity of Finnish nurse teachers: Student
teachers’ narratives in a group exam. Nurse Education Today, 25, 550–555.
Kantek, F. & Baykal, U. (2009) Organizational culture in nursing schools in Turkey:
Faculty members’ perspectives. International Nursing Review. 56, 306–312
Korthagen, F. (1992). Techniques for stimulating reflection in teacher education
seminars. Teaching and Teacher Education, 8(3), 265-274.
Lawn, M. (2001). Os Professores e a fabricação de identidades. Currículo sem
Fronteiras, 1(2), pp. 117-130.
Leclerc, C., Bourassa, B., Picard, F. & Courcy, F. (2011). Du groupe focalisé à la
recherche collaborative: avantages, défis et stratégies. Recherches Qualitatives, 29(3),
145-167.
Lopes, A. & Pereira, F. (2012). Everyday life and everyday learning: The ways in which
pre-service teacher education curriculum can encourage personal dimensions of teacher
identity. European Journal of Teacher Education, 35(1), 17-38.
Lopes, A. (2008). Vale la pena formar profesores. Currículos de formación inicial y
identidades profesionales de base. In M. B. Pardo, M.C. Galzerani & A. Lopes (Dirs.).
Una ‘nueva’ cultura para la formación de maestros: ¿es posible? (pp. 85-110). Lisboa:
Legis Editora/UNESCO/AMSE-AMCE-WAER.
Lopes, A. (2009). Teachers as Professionals and Teachers’ Identity Construction as an
Ecological Construct – an agenda for research and training drawing upon a biographical
research process. European Educational Research Journal, 8(3), 461-475.
Maandag, D. W., Deinum, J. F., Hofman, A. & Buitink, J. (2007). Teacher education in
schools: an international comparison. European Journal of Teacher Education, 30(2),
151–173.
Morgan, D.L. (1988). Focus Groups as Qualitative Research. London: Sage
Pinho, M. (2010). Identidade e identidades dos formadores de enfermeiros, em contexto
de formação inicial. Porto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação.
(Dissertação de Mestrado)
Ramsden, P. (2008). The future of higher education. Teaching and the student
experience. Higher Education Academy. York, UK. https://frontdoor.spa.gla.ac.uk/
Sachs, J. (2003). The activist teaching profession. Buckingham: Open University Press.
Shulman, L. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching.
Educational Researcher, 17(1) 4-14.
Sommers-Flanagan, R. & Sommers-Flanagan, J. (2007). Becoming an ethical helping
professional. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Stronach, I., Corbin, B., McNamara, O., Stark, S. & Warne, T. (2002). Towards an
uncertain politics of professionalism: teacher and nurse identities in flux. Journal of
Educational Policy, 17(1), 109–138.
Wenger, E. (1998). Communities of Practice – learning, meaning and identity.
Cambridge: Cambridge University Press.
Wiley, M.G. & Alexander, C. N. (1987). From situated activity to Self-attribution: the
impact of social structural schemata, In K. Yardley & T. Honess (Ed.), Self and identity:
Psychosocial perspectives (pp. 105-117). Chichester: John Wiley and Sons.




















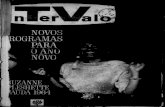



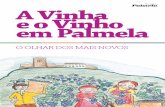



![Novos estudos criticos [microform] : (Machado de Assis ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63380e326ffdba4e070a59c8/novos-estudos-criticos-microform-machado-de-assis-.jpg)