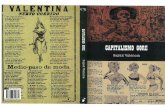Espaço e Reprodução Social No Capitalismo Tardio
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Espaço e Reprodução Social No Capitalismo Tardio
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Instituto de Geociências
Departamento de Geografia
Espaço e Reprodução Social No Capitalismo Tardio
A ASMARE Nos Meandros Da (Pobreza Da) “Vida Reciclada”
Luiz Antônio Evangelista de Andrade
Belo Horizonte
Junho de 2007
2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Instituto de Geociências
Departamento de Geografia
Luiz Antônio Evangelista de Andrade
Espaço e Reprodução Social No Capitalismo Tardio
A ASMARE Nos Meandros Da (Pobreza Da) “Vida Reciclada”
Trabalho apresentado na disciplina Geografia Aplicada A do Curso de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação da Profª Doralice Barros Pereira e avaliada pelos Professores Sérgio Martins e José Geraldo Pedrosa.
Belo Horizonte
Junho de 2007
3
AGRADECIMENTOS
À minha querida mãe, Ephigênia. Que ela fique sempre bem, esteja onde estiver.
Aos meus queridos tios Expedito e Alzira, pelo grande apoio que me deram durante toda a
minha vida, culminando na minha trajetória vitoriosa até aqui.
À minha orientadora, Profª Doralice Barros Pereira que tornou possível a realização desta
pesquisa.
Aos professores Sérgio Martins e José Geraldo Pedrosa, que se disponibilizaram a participar
de minha banca avaliadora.
À minha amada namorada Priscilla, pessoa sempre cuidadosa, compreensiva e companheira.
Aos “Sete Cavaleiros do Apocalipse” (João Henrique, Glauco Cézar, Renato Goulart, Marcelo
Apolônio, Raphael Madureira, “Max” Weberson Januário e Rogério Espinha), e aos demais amigos(as)
e companheiros(as) da “Lama”. Nossas deliciosas e intermináveis prosas e ensinamentos mútuos
deram-me fôlego para a realização dessa pesquisa.
Aos colegas do Grupo de Estudos “(Im)possiblidades do Urbano na Metrópole”, pela sempre
fecunda troca de idéias na construção conjunta do pensamento geográfico.
4
Muita vez (sic), ao rubor de um revérbero e ao vento, Que à chama sempre é um golpe e ao cristal um tormento,
Num antigo arrabalde, amargo labirinto De humanidade a arder em fermentos e instintos
Há o trapeiro que vem movendo a fronte inquieta, Nos muros a apoiar-se à imitação de um poeta,
E sem se incomodar com os policiais desdenhosos, Abre seu coração em projetos gloriosos.
Ei-lo posto a jurar, ditando lei sublime,
Exaltando a virtude, abominando o crime, E sob o firmamento – um pálio de esplendor –
Embriaga-se da luz de seu próprio valor.
Estes, que a vida em casa enche de desenganos, Roídos pelo trabalho e as tormentas dos anos,
Derreados sob montões de detritos hostis, Confuso material que vomita Paris,
Voltam, cheios de odor de pipas e barrancos,
Acompanhados dos que a vida tornou brancos,
Bigodes a tombar como velhos pendões (...);1
Isso é o que dá viver catando lixo Que falta de educação, mané Que tal criar vergonha, quem já viu ser transportadora de bicho-de-pé. Na secretaria há um enorme preocupação com a nova epidemia que ameaça a população pois o infeliz parece um mutante Quando ele anda, o que se vê segundo a secretária, faz dó O pobre é uma malha rodoviária ambulante Sua excelência o prefeito, homem de coração Se declarou perplexo e horrorizado Tanto que já mandou tomar providências Todo o lixão será protegido por vigilantes armados
que vão entregar cartilhas aos pés inchados.2
1 Trecho do poema “O vinho dos trapeiros”, do livro “As flores do mal”, de Charles Baudelaire. 2 “Édipo, o homem que virou veículo”, música do grupo pernambucano “Mundo Livre S/A”.
5
SUMÁRIO PÁGINAS
INTRODUÇÃO 09
CAPÍTULO 1. DA CRISE DO FORDISMO-KEYNESIANISMO AO CAPITALISMO
FLEXÍVEL-NEOLIBERAL: NOVAS EXIGÊNCIAS AO TRABALHO E AOS
PROCESSOS PRODUTIVOS
1.1. A saída capitalista da crise: a emergência do modelo flexível-neoliberal
1.2. A revalorização do trabalho no capitalismo tardio: velhos discursos, novas
práticas e estratégias
1.2.1. Apontamentos gerais sobre o “modelo de competência e suas repercussões
na ASMARE
1.2.2. De como a “qualificação profissional” torna ainda mais ilusório o
desenvolvimento das forças produtivas como redenção do trabalho sob o
capitalismo
23
24 32 36 43
CAPÍTULO 2. CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA “SOCIEDADE
ADMINISTRADA”: O ESPETÁCULO COMO MOBILIZAÇÃO DE SEUS SENTIDOS
DESMOBILIZADORES
2.1. Os encontros e desencontros da construção do ideário e da prática dos
direitos de cidadania no Ocidente
2.2. Breves apontamentos acerca dos (des)caminhos da cidadania e da
participação social: a especificidade brasileira
2.3. A ASMARE no pano de fundo contextual dos (des)caminhos da cidadania e da
participação social no Brasil
53 55 59 63
CAPÍTULO 3. EXCLUSÃO SOCIAL, CRISE ECOLÓGICA E AS SAÍDAS
CONSERVADORAS DA VEZ: O “PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA”, A
COLETA SELETIVA E A RECICLAGEM NOS (DES)CAMINHOS DA ASMARE
3.1. O debate teórico sobre a “exclusão social”
3.2. Crise ecológica e desenvolvimento sustentável: a irrupção do novo ofuscada
pela redefinição conservadora do existente
3.3. O “Projeto de Coleta Seletiva” em Belo Horizonte em sua constituição e sua
74 75 82 92
6
atualidade: prática sócio-ambiental ou suporte do circuito econômico da
reciclagem?
3.4. O “Programa de Inclusão Produtiva” no campo das “políticas sociais” em
Belo Horizonte: “incluir” quem e para quê?
3.4.1. O poder público, as parcerias e a otimização da precarização do fazer social
3.4.2. O “Programa de Inclusão Produtiva” e o “Programa de Coleta Seletiva” a ele
associado e suas ressonâncias no projeto ASMARE
103 104 108
CAPÍTULO 4. DA “PANHA” À CATAÇÃO INSTITUCIONALIZADA: HOMENS E
MULHERES CATADORES(AS) DE PAPEL DA ASMARE EM FACE DA PRODUÇÃO
DE SUA COTIDIANIDADE
4.1. Homens e mulheres catadores(as) de papel: quem são estas pessoas?
4.2. A representação social do pobre na sociedade burguesa: de “caso de polícia”
a “sujeito de direitos”?
4.3. A ação dos agentes de Pastoral: quais são os conteúdos de sua prática?
CONSIDERAÇÕES FINAIS
112
114 132 137 147
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
157
ANEXOS
165
7
ÍNDICE DE FIGURAS: PÁGINAS
Figura 1: Evolução na Taxa de Desemprego Total, por tipo: RMBH 1996 – 2006 38
Figura 2: Taxa de Desemprego Total Por Regiões Metropolitanas (%) 38
ÍNDICE DE TABELAS:
Tabela 1: Montante de materiais recicláveis coletados em Belo Horizonte no ano de
2006 e nos dois primeiros meses de 2007
96
Tabela 2: Comparativo anual de resíduos destinados 97
Tabela 3: Produção e Consumo de Papel no Brasil em 2006 e Projeção para 2007 102
ÍNDICE DE FOTOS:
Foto 1: Fachada da Sede da ASMARE, com seu lema “Reciclando a Vida” 43
Foto 2: Catadora realizando a triagem de materiais no galpão da Av. do Contorno 47
Foto 3: Área interna do depósito de triagem da ASMARE 48
Foto 4: Exposição de artesanato com produtos reciclados
Foto 5: Depósito de materiais recicláveis localizado à Av. do Contorno
Foto 6: Fachada frontal do “Reciclo 1”
Foto 7: Fachada frontal do “Reciclo 2”
Foto 8: Box interno do galpão da ASMARE, localizado à Av. do Contorno
Foto 9: Antiga área da RFFSA, antes ocupada pelas malocas dos catadores
“autônomos”
91
100
127
128 130 142
8
RESUMO
Partindo da constatação de que a consolidação da Associação dos Catadores de Papel,
Papelão e Material Reaproveitável (ASMARE) trouxe a institucionalização da atividade da catação em
Belo Horizonte, procuramos interrogar os sentidos e os significados deste processo. Para tanto, faz-se
necessário pensá-lo no movimento mais geral das reestruturações político-econômicas, técnico-
produtivas, laborais e sócio-culturais do capitalismo, sobretudo a partir do último quartel do século XX.
Questões vindas à tona a partir do momento em que a temática da pobreza passa a ganhar
importância nos debates envolvendo instituições governamentais e privadas, universidades e outros
centros de conhecimento no Brasil são também cruciais na perspectiva de entendimento a que
propomos trazer. Tais questões estão respaldadas por noções como “inclusão social”, “cidadania”,
“participação social” e a chamada “problemática ambiental”. Esta pesquisa volta-se também para as
preocupações em se dar voz aos homens e mulheres catadores(as) de papel, procurando compreendê-
los e compreender os significados que eles dão à sua atividade e à sua vida cotidiana. Neste sentido é
nossa intenção situar sua prática e suas vivências no movimento das representações do espaço e dos
espaços de representação concebidos, vividos e percebidos por essas pessoas na sua condição de
migrantes ou seus filhos, de pessoas que tendem a viver (ou mesmo vivem) a metrópole aquém das
suas possibilidades enquanto uso.
9
INTRODUÇÃO
O conhecimento se alimenta de ironia e de contestação (Henri Lefebvre, 1968, p.32).
Têm sido na contemporaneidade bastante recorrentes e controversos os debates sobre a
denominada "pobreza urbana". Em verdade, o "como lidar com a pobreza?" nunca esteve fora do
âmbito das preocupações e estratégias políticas e institucionais, culminando nas mais diferentes
modalidades da ação de Estado (e nos dias de hoje mobilizando o chamado “terceiro setor”) e
canalizando boa parte de seus esforços ao longo da formação histórica e social brasileira. E não
poderia ser diferente, quando se pensa na necessidade de se manter o frágil vínculo social tão caro ao
status quo. Apresentar de modo inautêntico a realidade social, invertendo-a e ocultando-a por meio da
ideologia (CHAUÍ, 1981) para tornar obscuras suas contradições: eis aí uma prática recorrente da
sociedade burguesa. Não é à toa que nos últimos 15 anos a "pobreza urbana" passa a receber um
olhar mais "acurado" das "autoridades competentes" para fazê-lo, sendo "objeto" de diferentes estudos
acadêmicos e de organismos de nível internacional e tema de inumeráveis seminários, conferências e
fóruns. No nosso entender, todo este campo de preocupações reside na necessidade de recompor as
aludidas estratégias de Estado, tendo em vista que a magnitude das transformações e reestruturações
em curso no modo de produção capitalista põe a nu os claros sinais de uma pobreza crônica e das
tensões sociais dela decorrentes.
No seio destes debates, emergem diferentes concepções e fabricam-se representações em
ampla medida divorciadas daquilo que se constitui de fato a realidade. No Brasil, prega-se a idéia de
uma “revisão crítica” da questão dos direitos sociais, trazidos ao primeiro plano das políticas públicas
voltadas à assistência social no País por um governo de “esquerda”, ao mesmo tempo em que é claro o
abandono destas por parte do Estado brasileiro, que em boa parte do século XX foi o seu principal
preceptor. Fala-se muito na construção de uma cidadania efetiva, representada pela viabilização de
melhores condições de vida a amplas parcelas sociais outrora (e ainda) destituídas dos direitos mais
elementares. Como afirma o próprio governo Lula: “Todos sabem que o Brasil tem uma pesada
herança histórica de exclusão social a enfrentar. A novidade hoje é que, pela primeira vez, o governo
federal deu prioridade absoluta às políticas de combate à fome e à pobreza”3, através do acesso das
“populações excluídas” aos programas sociais do governo, garantindo assim uma “verdadeira”
“inclusão social”. Fala-se, ainda, na ampliação sem precedentes da participação social para grupos
historicamente inviabilizados de ouvir e se fazerem ouvidos, pois: “Este é o momento, também, para
3 Trecho do discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura da última reunião ministerial, na Granja do Torto, 10 de dezembro de 2004.
10
celebrar a plena vigência da democracia e das liberdades públicas no País. A sociedade tem podido
expressar-se da forma mais livre possível (...). Nunca a sociedade foi tão ouvida...”4. Decerto uma
enorme gama de espaços públicos de participação e de expressão estão nos dias de hoje
potencialmente abertos à sociedade como um todo. Por outro lado, as possibilidades de realização da
política num terreno de atuação verdadeiramente alargado vêem-se embotadas pelos próprios
mecanismos que a perfazem ou mesmo pela falta de condições objetivas para a participação – entre as
quais, a imposição à nossa vida de tempos e espaços abstratos nos parece decisiva. Numa palavra:
nas atuais circunstâncias, a política vem se inscrevendo na contemporaneidade como a sua própria
negação. Todo este cenário não se deve ao fato do “espírito da época”, não obstante estar gerando
uma inquietante preocupação, vir se mostrando assustadoramente afeito à passividade contestatória,
corroborando a antipolítica?
Na mesma medida, vive-se num período mundialmente marcado pelo peculiar retrocesso das
conquistas obtidas pelas classes trabalhadoras, iniciadas no século XIX e consolidadas ao longo de
boa parte do século XX. A deterioração das condições mínimamente dignas de trabalho, associadas à
precarização ou mesmo ao desaparecimento de qualquer regulação sobre os empregadores no
concernente ao cumprimento da legislação trabalhista, não deixa de rivalizar com o aumento
sobremaneira dos níveis de produtividade por trabalhador e do crescimento positivo do comércio
exterior (HARVEY, 2004). São inúmeros os exemplos da estreita combinação da organização dos
processos produtivos e de controle do trabalho no capitalismo contemporâneo com formas até então
consideradas pré-modernas de relações de trabalho. Veja-se a atual geografia da acumulação
capitalista capitulando o deslocamento de linhas de produção ou por redes de subcontratação ligadas a
grandes grupos transnacionais (Nike, Lévis-Strauss, Reebok etc) para países do Sudeste asiático,
obrigando os trabalhadores lá instalados a trabalharem sob regimes extremamente desumanos. Há
nesse mesmo turbilhão a restauração das fábricas de fundo de quintal com sua produção operando-se
sob o regime familiar – onde direitos trabalhistas e proteção social são palavras desconhecidas – e os
contratos temporários e toda a situação de insegurança e incerteza que daí se gera. Há também, no
limite, a “economia subterrânea” (trabalhos informais diversos e mesmo o tráfico de drogas) e o
desemprego crônico, cujo seu “detentor”, no caso de apresentar ou possuir traços de uma
personalidade avessa ao controle social, tem grandes chances de ser confinado em uma prisão
(BAUMAN, 1999).
No entanto, querem nos fazer crer que a “realidade” sob a qual vivemos é outra! Neste cenário
espetacular pululam expressões afirmativas acerca dos mercados de trabalho no Brasil, apontados, de
4 Ibdem.
11
maneira “segura” pelos “entendidos do assunto”, como termômetros de um ambiente econômico
positivo e promissor. Os “níveis de emprego” estariam aumentando e oferecendo oportunidades para
parcelas cada vez maiores da população. Simultaneamente, a “revalorização do trabalho” aparece
como ratificação de relações mais “justas” e “dignas” estabelecidas em empresas a cada dia mais
“preocupadas” com a “qualidade de vida” de seus quadros profissionais. Mesmo nos segmentos sociais
mais desprotegidos, muitos deles trabalhando em condições abjetas nas tais atividades consideradas
“subterrâneas”, como é o caso da catação, a palavra de ordem é frear a agravamento da “exclusão”
com medidas de “inclusão social” pelo trabalho e o “resgate” dessas pessoas para a “convivência” em
sociedade.
A despeito destas representações um tanto pictóricas de mundo e sua insistência em tapar os
nossos olhos, não há mais como deixar de visualizar o aumento das doses de desespero e a falta de
perspectivas acometendo grupos sociais inteiros. Sejam as sublevações de imigrantes de origem árabe
e da África Subsaariana que vivem nos subúrbios empobrecidos de Paris, os imigrantes latinos nos
Estados Unidos que reivindicam para si a “cidadania estadunidense” ou as hostes de imigrantes
provenientes do norte de Minas e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri que vêm tentar melhorar de
vida em “Belzonte”, o cenário desenhado para ela nos parece especialmente aterrador. Valores,
referências, identidades e modos de ser e de viver parecem devotados a perder o sentido diante dos
valores invertidos e carentes de substancialidade presentes no ordenamento social vigente e
espacializados não mais somente nas grandes metrópoles, mas onde quer que cheguem as imagens
produzidas pela “fábrica de sonhos”. Alain Bihr (1991), chamando a atenção para o “non-sens
generalizado” que paira sobre as sociedades capitalistas desenvolvidas, nos faz pensar no mesmo
processo já há algum tempo se abalando sobre a sociedade brasileira. Do crescente e inquietante
desamparo, chegando à sensação de impotência, combinado com a necessidade de se dar sentido à
vida, decorre:
...uma busca enlouquecida, em todas as direções e a qualquer preço, do sentido perdido. E, uma vez que nenhum sentido global é mais proposto ou imposto pelas sociedades capitalistas e que cada um é, a partir de então, abandonado a si próprio para dar sentido à sua existência e livre para lhe dar o sentido que quiser, disso resulta a surpreendente feira de sentidos, que se desenrola aos nossos olhos (BIHR, 1991, p.172).
A busca individual para tentar sanar as angústias e insatisfações que nos assaltam e nos
cercam por todos os lados, tendendo a sugar nossas últimas energias ainda presentes não se resolve
nela mesma, apenas se exacerba através dos rompantes diários de impaciência com a falta de
sensibilidade e as atitudes violentas – tomadas aqui numa noção mais alargada – praticadas por muitos
“cidadãos”. A multiplicação dos espaços privatizados como manifestação da multiplicidade de
12
instâncias da vida igualmente privatizadas, acompanhadas do empobrecimento dos sentidos do público
– que pode ser demonstrado pelo esvaziamento das ruas e sua entrega à circulação do automóvel –, é
sintomática para designar o mal-estar latente nas pessoas quando se aponta a necessidade da
coletividade organizada, e evidenciada quando das reações e intolerâncias individuais.
Ganham expressiva notoriedade as contendas relacionadas à crise ecológica, em meio as
quais emerge a chamada "problemática ambiental". Sendo tal crise resultado do modelo de relação
com a natureza histórica e socialmente estabelecido pela civilização ocidental, em meio à qual o projeto
iluminista emerge como fornecedor das bases para a instauração da sociedade burguesa, as saídas
delineadas para ela não se assentam numa efetiva discussão sobre seus próprios fundamentos. Ao
contrário, eles não são tocados e, mais ainda, reiterados em seus conteúdos por "mudanças" apenas
no campo do aparente, privilegiando as formas. Isso significa submeter a natureza e toda a reprodução
social aos imperativos da reprodução do capital, retroalimentando o papel da ciência e da técnica na
linha de frente dessas redefinições conservadoras. O “desenvolvimento sustentável”, matriz teórico-
prática originada no seio das referidas contendas, aos poucos vai sendo esvaziada de seus sentidos
porque capturada e tornada ideologia assentada ao campo de interesses dos agentes detentores do
poder (PORTO-GONÇALVES, 2006).
Henri Lefebvre (2003, p.32) na década de 1970 assinalava para a redução das reflexões sobre
a natureza “...como simples matéria do conhecimento e (...) objeto das técnicas” ou por dentro de um
sentido nostálgico, tentando alcançar uma natureza que não existe mais. Convive-se então com a
produção de verdadeiros museus cuja atração é a “natureza natural do mundo” “recuperada” e
“preservada”. Na mesma medida, provém daí outras saídas conservadoras para esta relação de
distanciamento e dominação: seus fundamentos não são questionados – e muito menos atacados –,
apenas reproduzidos na forma da recuperação da natureza na forma de “refúgio” à vida insuportável,
mas (aparentemente) inexorável da metrópole poluída, suja e violenta. Numa sociedade em que tudo e
todos são capturados pelas tramas do universo mercantil, a natureza definitivamente se incorpora a
esse esquema.
Os objetivos de nossa pesquisa situam-se neste complexo emaranhado, passando pelas
questões contempladas anteriormente sem, no entanto, explorar mais detidamente algumas delas. O
primeiro deles propõe uma reflexão sobre a reprodução social no mundo moderno e sua qualidade de
resultado e ao mesmo tempo condição das determinações mais gerais da reprodução capitalista da
riqueza, sendo que esta se faz mediante um forte acento na produção e reprodução do espaço. Para
ajudar na compreensão deste intricado empreendimento, surge nosso segundo objetivo: direcionarmos
nosso olhar sobre o movimento que se realiza no âmbito dessas determinações e sua incidência na
espacialidade que dá corpo à Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável
13
– ASMARE. Algumas noções, as quais vem sendo tomadas de assalto por uma verdadeira desordem
semântica assumem grande importância na efetivação, até o momento, presente apenas nas nossas
pretensões, senão vejamos: “inclusão social”, “trabalho”, “participação social” e “cidadania”, as quais
vêm orientando o discurso e a prática levada a cabo pelos diferentes agentes envolvidos com “a causa
do catador”.
Atentos ao nada animador contexto histórico e social presente, a preocupação que nos povoou
durante toda esta pesquisa foi incursionar mais fundamente sobre um fenômeno que ganha ares de
uma explicação que se dá por si mesma: o alardeado sucesso do empreendimento ASMARE. Pode-se
dizer que nossa preocupação não se solidificou apenas no momento em que éramos já detentores de
questionamentos mais elaborados. Ela esteve presente ainda no germe da idéia, como uma questão
ainda tímida, mas inquietante. Seu combustível eram as desconfianças trazidas por mim e por meus
amigos estudantes de geografia, sempre transformadas em discussões um tanto acaloradas sobre o
desenvolvimento sustentável, muito embora elas não apresentassem ainda um conteúdo teórico de
maior fôlego. Ao visitarmos uma pequena indústria processadora de flake (produto obtido por meio da
trituração do plástico PET) e uma cooperativa de catadores de recicláveis no Barreiro de Cima, durante
um trabalho de campo das disciplinas de "Geografia do Comércio e Circulação" e "Geografia da
Energia e Indústria" (oferecidas à época no 5º período do curso noturno de geografia), veio-me a
vontade de discutir de maneira mais abrangente a questão da reciclagem desenvolvida no Brasil e o
seu ascendente mercado. A partir de então me pus a escrever um projeto de pesquisa que seria
posteriormente mostrado para a professora Doralice Barros Pereira. Ela viria a ser minha orientadora
mediante o deferimento de um pedido de bolsa de pesquisa obtido após o envio feito por nós do projeto
mencionado para o CNPq. Entre agosto de 2004 e agosto de 2006 ocupei-me do entendimento da
questão da reciclagem e de muitas outras temáticas com as quais eu me deparei, chegando até o
estudo que ora apresento, já no nível de uma monografia de final de curso.
A construção de nossa reflexão sobre questões tão diversas e complexas norteou-se por aquilo
que considerávamos portador de certo exagero e apresentado como fato dado e acabado: a idéia
propalada de que a ASMARE vem sendo considerada “modelo nacional” e “pedra de toque” das
políticas sociais e ambientais da municipalidade belohorizontina, “uma experiência bem sucedida na
política social do município”. Cabe então trazermos rapidamente um pouco do que foi a gênese da
ASMARE, com a finalidade de situar o leitor no eixo das discussões a serem desenvolvidas ao longo
dessa pesquisa.
Quem primeiro decidiu realizar um trabalho mais abrangente com os homens e mulheres
catadores(as) de papel na capital foi a Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, um grupo
inicialmente formado por duas irmãs beneditinas em conjunto com outras 10 pessoas recém-chegadas
14
da capital Paulista. Elas se valiam da experiência vivida num trabalho sócio-pedagógico com a
população de rua daquela cidade. Tal experiência desembocaria numa ação pioneira no trato com essa
população: a organização da Cooperativa de Catadores de Papel Autônomos – COOPAMARE, no ano
de 1989.
Trabalhar de maneira semelhante em Belo Horizonte significaria utilizar outro tipo de
metodologia no trato com aquelas pessoas, que há muito já vinham sendo vitimadas pela repressão
aberta e direta do poder público. Sua concepção estaria calcada na substituição do assistencialismo
direto (doação de comida, roupas etc) para o estabelecimento de laços entre eles, base para uma
confiança mútua. Sônia Maria Dias (2002), tendo escrevido sua dissertação de mestrado sobre o
projeto de coleta seletiva na capital mineira e sua parceria com a ASMARE, define a metodologia da
Pastoral como sendo pautada:
...pelos princípios da educação popular que reconhece os catadores e a população de rua como sujeitos de sua própria história. O objetivo da ação pastoral é o de se uma presença solidária e evangélica junta a essa população historicamente excluída, fortalecendo o surgimento de novos sujeitos e valores (Dias, 2002, p.57).
A Pastoral de Rua apostava na possibilidade de que os homens e mulheres catadores(as)
pudessem exercer o seu trabalho fora da condição marginalizada de mendigo, detendo o
reconhecimento social e institucional como categoria profissional e também podendo se organizar em
cooperativas e associações. Ainda nas palavras de Dias (2002, p.58): “...realizar, em condições dignas,
a coleta seletiva da cidade, passo inicial que viabiliza a reciclagem”. Acreditava-se que uma iniciativa
dessa natureza, baseada no reconhecimento individual e social pelo trabalho representaria o resgate
da dignidade e da cidadania daquelas pessoas. A catação constituiria-se numa atividade econômica
que garantiria a reprodução individual dos catadores(as) e, já pincelada pelo discurso ecológico, traria a
componente ambiental para esta mesma atividade como fator de visibilidade e legitimação da mesma.
Quanto à Superintência de Limpeza Urbana – SLU, órgão municipal homônimo ao serviço por
ele executado, ela necessitava se colocar de maneira eficiente nas suas atribuições para a população
belorizontina, concorrendo para que a ação direta sobre as pessoas dos catadores fosse cada vez mais
violenta. Caracterizavam-se nessa ação as “operações limpeza”, realizadas conjuntamente ora pela
SLU e a Polícia Militar, ora pela Defesa Civil e esta última, cujos objetivos eram confiscar os materiais
provinientes da catação e queimá-los, além de expulsar do terreno localizado à Avenida do Contorno e
conhecido como “malocas”, utilizado por aquelas pessoas para refúgio e “moradia”. Todo o acontecido
foi relatado por meio de uma “Carta Aberta à Cidade de Belo Horizonte”, elaborada no dia 22 de agosto
de 1988 pelos(as) catadores(as) expulsos das “malocas” juntamente com a Pastoral de Rua: ”...a
Prefeitura chegou no dia 22 de agosto com a PM e a Defesa Civil às quatro horas da manhã jogando
15
os barracos para o chão com as coisas e todos nós dentro. A gente não teve tempo para tirar as
coisas. Perdemos tudo que tínhamos: cobertores, documentos (...), também o papel, a sucata, (...),
ferro que tínhamos para vender”5.
A mobilização dos homens e mulheres catadores(as), mediada pelos agentes da pastoral, foi
se fortalecendo a partir de diversas reuniões, culminando “...com a fundação da Associação dos
Catadores de Papel, Papelão e material Reciclável – ASMARE –, em assembléia de fundação no dia
27 de abril de 1990, com 10 associados” (DIAS, 2002, p.59).
A partir do ano de 1993, com a posse da Frente BH Popular na Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, as relações entre poder público e população de rua, sobretudo na forma de intervenção
daquele sobre esta, modifica-se significativamente. Os programas criados pautavam-se na adoção de
alternativas de trabalho e renda como via da “conquista da cidadania” por estes grupos marginalizados,
como foi o caso da, à época, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, lançando o “programa
da população de rua”. Já na SLU, “...inicia-se a implementação de um modelo de gestão que se
enquadra no marco de um sistema de gerenciamento integrado de resíduos sólidos que vê na
reciclagem um instrumento de participação e inclusão social” (DIAS, 2002, p.63).
Desde então a ASMARE adquiriu ampla visibilidade nacional e até internacional, com a
conquista de prêmios concedida por organismos internacionais. Em 1999, a ASMARE, juntamente com
técnicos da Pastoral iniciou nos municípios de Brumadinho e Ibirité a prestação de consultorias pelo
“Programa Lixo e Cidadania” do UNICEF, cujo objetivo é a erradicação do trabalho infantil nos lixões
através do incentivo à formação pelas famílias assistidas de cooperativas e associações. A atuação
dessa consultoria, de acordo com Dias (2002, p. 166), no ano de 2000 “...já havia se ampliado para 14
municípios e para 33, no final de 2001”. Vejamos abaixo algumas das alusões positivas que vêm sendo
feitas à ASMARE e disseminadas para a sociedade:
“Uma experiência ousada que permitiu a transformação do desperdício atual em matéria-prima para o
trabalho digno de centenas de famílias. Hoje, os catadores de Belo Horizonte são respeitados por sua
organização e colaboração com a melhoria do ambiente urbano”6.
“Dentro dos galpões da ASMARE, o trabalho é dividido em comissões, favorecendo o espírito da
coletividade (...). Ao adotar os princípios da coogestão, a Associação, também, proporciona aos
5 Trecho retirado da dissertação de mestrado “Construindo a Cidadania: Avanços e Limites do Projeto de Coleta Seletiva em Parceria com a ASMARE”, de autoria de Sônia Maria Dias (2002). 6 Folder produzido pela ASMARE (sem data).
16
catadores de papel o exercício da democracia”7.
“De excluídos a donos de um grande empreendimento”8.
Ao projetarem para a sociedade a imagem de uma associação voltada para a promoção do
“trabalho digno”, o estímulo à “coletividade” e ao exercício da “democracia”, fazendo dos catadores(as),
outrora “excluídos”, a “donos de um grande empreendimento”, a administração e os demais agentes de
mediação ligados à ASMARE deixam na escuridão seus problemas e contradições cruciais, para,
quando muito, ocuparem-se de questões elementares. Não queremos dizer que elas não sejam
importantes e que delas não devam se ocupar. Entretanto, devem ser tomadas como manifestações do
todo, o qual deve ser interrogado e, no limite, combatido. Mas o que estamos chamando de “todo”?
Ora, ele nada mais é do que o movimento geral de reprodução social, determinante e determinado na e
pela reprodução capitalista da riqueza.
A análise, ao se processar como separação entre o fenômeno e sua essência sem a
preocupação de recuperá-los nela mesma, destituindo de complementaridade o que também é
contraditório, perde-se no encobrimento do que deve ser efetivamente compreendido. Com efeito, não
pensar os problemas que nos acometem como parte da “...totalidade de relações complexas que
formam a natureza” (LEFEBVRE, 1979, p.185), inserindo-os numa relação abstrata e geral, contida
num mundo então entendido como “sistema fechado”, é privar de sentido o próprio movimento do real,
ferindo de morte o pensamento. Realizar a separação entre fenômeno e essência, portanto, não
envolve conferir-lhes o estatuto de oposições estanques, tampouco inseri-los numa espécie de
hierarquia de importância. Cumpre destacar que compreender a realidade é um exercício exigente da
sua decomposição a partir da apreensão dos fenômenos em separado, para em seguida reuni-los na
totalidade, no movimento do real.
Assim, deslocar os fenômenos tanto de suas conexões internas como as de ordem geral,
significa torná-los incompreensíveis na sua totalidade. Propiciar esta incompreensão, redefinir suas
condicionantes e a opacidade de seus véus tem sido o esforço histórico daqueles que por meio da
violência, o terror e a opressão tomaram para si a capacidade de determinar as condições sociais de
existência dos demais. Seus resultados catastróficos não são novidade para ninguém: guerras,
totalitarismos políticos e religiosos e toda sorte de injustiças sociais grassam sobre a humanidade,
inclusive, nos dias de hoje, na forma dos espetáculos midiáticos. O que se fez pairar sobre os
7 Idem. 8 Trecho retirado de: ASMARE – Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável. ASMARE: há dez anos reciclando vidas. Belo Horizonte, [2000?]. Edição especial comemorativa, n.p.
17
indivíduos é a exacerbação da sua incapacidade de ir além das formas fenomênicas e munir a
denúncia com as armas da transformação do existente, como realização dos possíveis históricos.
Advém daí o conceito de “pseudoconcreticidade”, cunhado por Karel Kosik (1976). A aparente
regularidade, acompanhada de uma suposta imediaticidade e evidência propiciada pelos fenômenos na
vida cotidiana, conservam em si mesmas o aspecto de “coisas” que se dão por si mesmas, “naturais”
porque “independentes” da vontade dos homens. O autor mencionado aduz que a realidade cotidiana
manifesta-se à consciência na forma dos múltiplos fenômenos, sendo projetada como “realidade
mesma”, percebida como “independente” e “espontânea”, embora esteja carregada pelo conteúdo
histórico e social, sendo esse contaminado pelas ideologias que fetichizam essa mesma realidade
(KOSIK, 1976). Ademais, numa sociedade como a nossa, cujos mecanismos sumamente complexos
utilizados para tornar ilusória a realidade, não mais advém somente dos grupos hegemônicos, mas são
ampliadamente reproduzidos pelos próprios indivíduos sobre os quais essa hegemonia pesa, penetrar
nas inúmeras camadas de representações fetichizantes e trazer à tona o real antes soterrado é algo
urgente.
Dizendo de outro modo, ao nos depararmos com dizeres evocando a ASMARE como
“experiência bem sucedida” e o poder público como promotor de “parcerias de sucesso”, alusões
localizadas apenas no plano do imediato, faz-se necessário querer mais: “O conhecimento (a razão que
quer conhecer) não pode parar nesse imediato (nas sensações, nas primeiras impressões), com o qual
se satisfaz freqüentemente o senso comum” (LEFEBVRE, 1979, p.216). Cabe ao conhecimento que se
faz conduzido pela crítica radical tomar a mera constatação dos supostos fatos (o imediato) avançando
na sua composição interna e buscando encontrar aquilo que se dissimula e simultaneamente pode se
evidenciar, a saber, a essência do que vem sendo dito, expresso e propalado quando o assunto é a
ASMARE: suas implicações e imbricamentos com o geral, com o todo.
A escolha deste caminho envolve uma questão de método e, por sua vez, os procedimentos
metodológicos com os quais trabalharemos no sentido de fornecer-lhe suporte, coerência e rigor
analítico. Provém daí nossa escolha pela perspectiva dialética de análise, a qual dá corpo à abordagem
calcada no materialismo histórico-geográfico. Harvey (2004, p.30), em seu livro “Espaços de
esperança”, ao optar por tal abordagem justifica-se pelo tratamento difícil com a “...questão da relação
entre ‘particularidade’ e ‘universalidade’ na construção do conhecimento (...). [Não há a separação]
entre particularidade e universalidade em nosso modo de pensar e nossa argumentação”. Em relação a
esse materialismo, ele é dialético porque está assentado num "...pensamento crítico que se propõe a
compreender a 'coisa em si' e sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão
da realidade" (KOSIK, 1976, p.16). Não se contenta em encerrar o pensamento nas "adjacências" do
imediato, como se esse procedimento em si mesmo já fosse capaz de desvendá-lo e desvendar suas
18
conexões mais profundas. Além do mais, a realidade não é um conjunto de relações e representações
que sob as quais pesam apenas determinações, fixando essa realidade no espaço e no tempo como
parte de uma submissão à “transcendentalidade” de leis naturais e imutáveis. Refutar tais premissas,
em busca de verdades outras em relação àquelas cotidiana e ilusoriamente a nós “oferecidas”, como
bem nos diz Kosik (1976, p.19), consiste em perceber que “...a verdade não é nem inatingível, nem
alcançável de uma vez para sempre, mas que ela se faz; logo, se desenvolve e se realiza”.
Quanto aos procedimentos metodológicos nosso principal intento consiste em dar voz aos
homens e mulheres catadores(as) de papel. Pois conhecendo mais de perto a compreensão que eles
têm de si mesmos e do mundo do qual fazem parte e ajudam a construir – e a partir daí efetuam suas
escolhas (com maior ou menor margem para fazê-las) – nos municiaremos dos subsídios para
percebermos de que forma o aparecer social, ao se introjetar nas consciências como realidade mesma,
sob diversos aspectos passa a confundi-las ao invés de viabilizar qualquer esclarecimento. Tudo isso
se dá na medida em que o conjunto de abstrações e representações hegemônicas concretizam-se na
vida social reivindicando para si o estatuto dessa realidade mesma.
Desde o início da pesquisa, achamos por bem realizar saídas a campo que focassem os
homens e mulheres catadores(as) de papel, sem uma distinção entre associados à ASMARE e
aqueles(as) que prestam seus serviços junto aos depósitos particulares. Julgamos importante tomar
contato com essas pessoas primeiramente, transferindo outras observações de caráter empírico, como
visitas à Superintendência de Limpeza Urbana – SLU – ou a Pastoral de Rua para um momento
posterior. Teríamos assim a chance de reunir observações iniciais que confrontassem a aparência (a
imagem redentora da “conquista” da “cidadania” pelos catadores(as) associados veiculada para a
sociedade) e a essência (os processos gerais abarcando e compondo o cerne da vida social e os
tornando “pessoas”). Procuramos privilegiar as impressões acerca da relação que aquelas pessoas têm
com o seu trabalho, com a espacialidade da metrópole, com seus companheiros e com o lixo,
associando estes elementos às práticas espaciais experimentadas por elas e o embotamento de seus
sentidos vigorosos (porque atribuídos ao uso), sob os auspícios da sociedade burguesa.
Com isso, pensávamos na abertura de caminhos que tornassem possível uma aproximação
mais consistente junto aos homens e mulheres catadores(as) de papel. Nossa intenção era permitir a
utilização da “observação participante” (SELLTIZ, et al., 1987) conjugada com a obtenção de seus
relatos e suas histórias de vida, mais uma vez tomando o cuidado de ultrapassar o fenômeno em si,
como se seu conteúdo abarcasse tão somente a trajetória de vida dos entrevistados, estando ela
desconectada das mediações/determinações sociais.
E era a área central de Belo Horizonte, compreendendo a região do viaduto Castelo Branco e
adjacências, o principal espaço-tempo a ser investigado, visto ser ali que se desenrolava parte da
19
cotidianidade a ser apreendida em nossa pesquisa, sobretudo pela concentração de depósitos e
localização da sede da ASMARE. Esta incursão nos proporcionou um universo riquíssimo, recheado de
histórias de vida que não podiam passar incólumes à nossa observação. Pudemos perceber algo da
intricada rede de relações estabelecidas entre catadores(as) e depósitos, entre catadores(as)
“informais” e associados(as) e cooperados(as) e algumas das modalidades de espacialização do poder
público, na forma das instituições “corretoras” (o Centro de Referência da População de Rua, por
exemplo). Pode-se dizer que aquela aproximação foi fecunda na medida em que viria mais tarde a
“servir” como uma espécie de comparativo com a situação mais geral dos catadores(as) associados à
ASMARE.
Não resta dúvida que foi (e é) uma tarefa bastante difícil a aproximação junto a esse grupo
social. São pessoas desconfiadas, arredias, criando a necessidade de que nosso contato tivesse de ser
feito sem pressa, numa busca imbuída da criação de um vínculo de amizade, procurando de alguma
maneira diminuir o abismo que se colocava entre nós. E não poderia ser diferente. Como pensar outro
tipo de reação de pessoas cujas representações sociais advindas de grande parte da população são as
piores possíveis, onde não raro são vistos como “mendigos”, “marginais”, “excrescências” etc.? A vida
colocada para eles, muitas vezes forjada como consciência cotidiana de uma situação “justificável” e
até “merecida”, os deixa fragilizados e melindrosos em relação às pessoas que ali chegam e se põem a
conversar, ainda que “despretensiosamente”.
Deu-se então, com o passar dos meses, nossa aproximação junto aos associados(as) à
ASMARE. Fazíamos visitas quase diárias ao galpão da Avenida do Contorno, iniciativa deveras
necessária para sacramentar a conquista de confiança, tanto de nossa parte quanto dos catadores(as).
Aproveitando nossa observação atenta à rotina diária por eles desempenhada, aproveitávamos para
estabelecer conversas mais alongadas ou mesmo “bate-papos” em diferentes momentos, nos quais
não necessariamente tocávamos em assuntos associados ao seu trabalho. Concomitantemente,
surgiam laços de amizade mais firmes, ilustrados por convites que nos foram feitos por diferentes
catadores(as) para fazermos visitas às suas residências. Fomos mais de uma vez a três delas, onde
sempre nos receberam muito bem. Foram-nos proporcionadas longas e despreocupadas conversas,
todas elas entremeadas por um gostoso café ou o almoço simples, mas feito com carinho e satisfação.
Assuntos como família, filhos, alegrias, angústias, desejos, política e tantos outros deram o tom dos
encontros dominicais que tivemos, único dia possível para a recepção das visitas devido à semana
sempre árdua de trabalho reservada a cada um deles.
O resultado dessas visitas e conversas foram vastos e impressionantes depoimentos, um
precioso material para nossa pesquisa. Cinco “catadores históricos” foram escolhidos para fornecê-los.
Tal denominação é dada àqueles catadores e catadoras que participaram diretamente de todo o
20
processo de constituição da ASMARE, desde as primeiras reuniões, mobilizações, passeatas e
ocupações até o acordo com o poder público municipal, o qual desde então foi tido inexoravelmente
como “imprescindível” na viabilização daquela associação.
Por questões de privacidade e preservação da identidade, decidimos garantir o anonimato de
cada um deles nos valendo de nomes fictícios.
Esta pesquisa, além de sua introdução, considerações finais, referências bibliográficas e
anexo, está estruturada em quatro diferentes capítulos, a saber. O capítulo 1 versa sobre a crise e as
reestruturações do capitalismo no tocante ao modelo de acumulação, nos rearranjos de seus padrões
produtivos e na reorganização da gestão e do controle dos processos de trabalho. A idéia central nesse
capítulo é trazer à tona o debate e a reflexão sobre um paradoxal e contraditório movimento: as
mencionadas reestruturações verificadas no trabalho, solapando globalmente conquistas e direitos
trabalhistas – cujo fenômeno tem sido denominado “precarização do trabalho” (Antunes, 1999; Bihr,
1991, entre outros) – e a matriz discursiva apregoada pelo empresariado e por vários teóricos,
sobretudo na sociologia do trabalho, chamada de “revalorização do trabalho”. Trata-se também de
pensar esses processos em curso a partir de sua ressonância na ASMARE, empreendimento que,
como vimos acima, tem sido objeto da patente exaltação do “resgate da dignidade” e da “conquista da
cidadania” dos homens e mulheres catadores(as) de papel por meio do “direito ao trabalho”.
O capítulo 2 se apóia em duas frentes principais de análise. A primeira delas consiste em
realizar uma costura entre as concepções de cidadania e participação social no ocidente (com suas
repercussões no cenário e na especificidade brasileira) oriundas das lutas sociais empreendidas pelos
diversos movimentos que estiveram de uma forma ou de outra envolvidos na conquista de e também
na aquisição de novos direitos. Na segunda frente procuramos descrever e analisar a ascensão e o
retrocesso de tais lutas no cenário histórico-social recente brasileiro – aquele que se deu a partir do
processo de redemocratização e que chega aos dias de hoje. Esta espécie de “divisor de águas” deu
subsídios para pensarmos aquilo que chamamos de desordem semântica das noções de cidadania e
participação social, próprias de um momento que, contraditória e paradoxalmente, emerge como a “Era
dos Direitos”. Tais frentes de análise propiciam a verificação de toda a trama produzida como pano de
fundo da redemocratização e a sua realização no “Projeto ASMARE”. O que nos permitirá ratificar tudo
aquilo que vem sendo propalado acerca da Associação ou deixar claro seus (des)caminhos cada vez
mais evidentes, caracterizado pelo abandono da sua postura inicialmente fundada no enfrentamento
para outra, de reaparelhamento consentido aos desígnios hegemônicos representados pela via da
institucionalização das lutas.
Já no capítulo 3, a análise toma diferentes caminhos. No primeiro deles trazemos à baila o
debate teórico sobre a “exclusão social”. Nosso principal argumento neste momento é que, ao se trazer
21
o fenômeno da “exclusão” (tomada como categoria analítica) ao primeiro nível de análise da realidade
social, geram-se insuficiências no tocante à sua compreensão mais efetiva, muito mais ocultando do
que desvelando suas contradições. Nossa reflexão baseia-se na constatação de que grande parte dos
agentes de mediação partem do pressuposto da necessidade de realizar um “movimento” que faça o
“excluído” “alcançar” o universo da “inclusão” por meio de políticas sociais e do trabalho profícuo
daqueles que vêm se ocupando da “causa do catador” – sobretudo a Pastoral de Rua.
O segundo momento do referido capítulo procura tratar da crise ecológica e dos debates que
entremearam e deram corpo à “problemática ambiental”, da qual o conceito de “desenvolvimento
sustentável” emerge como “novo paradigma” econômico, político, social e ambiental. Nossa intenção foi
estabelecer um nexo entre a relação homem/natureza (com o primeiro se levantando de sua
animalidade e se voltando contra sua própria natureza e a natureza externa) inscrita teórica e
praticamente no processo civilizatório moderno-burguês (rapidamente pontuada na pesquisa) e o
modelo político-econômico e cultural fornecedor de sustentação ao desenvolvimento sustentável.
Imbuídos deste objetivo, mobilizamos a Agenda 21, tomada apenas na temática dos resíduos sólidos, e
suas repercussões no programa de coleta seletiva em Belo Horizonte. Este percurso nos leva ao
terreno das relações envolvendo poder público, grandes aparistas de papel e indústria da reciclagem,
permitindo a compreensão dos porquês da viabilidade do mercado dos recicláveis.
No terceiro e último momento, discutimos a “questão institucional”, as formas pelas quais se
dão as intervenções do poder público municipal no âmbito das relações tecidas entre este e a
ASMARE. Trata-se aqui de investigar o que hoje vem sendo chamado de “parcerias”, estabelecidas
entre esse poder público e as entidades civis (organizações não-governamentais, fundações etc) com
vistas a promover as ações de assistência social em Belo Horizonte. A conjugação entre este e o
primeiro momento propicia uma melhor compreensão da realização dos modelos de “assistência” e
“inclusão” (sendo o “Programa de Inclusão Produtiva” aquele sobre o qual nos debruçaremos) sociais
junto às populações em “vulnerabilidade social”, como é o caso dos homens e mulheres catadores(as)
de papel. Para tanto, recorremos às informações e dados adquiridos na Superintendência de Limpeza
Urbana – SLU – e na Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social – SMAAS –, de modo a
entender a maneira pela qual tais parcerias vêm ensejando a ação institucional.
Por fim, no capítulo 4 procuramos dar voz e vez aos homens e mulheres que realizam a
catação nas ruas de Belo Horizonte. Nossa intenção é situá-los na condição de pessoas, antes de
serem catadores. Ao deixá-los se exporem, estamos contribuindo para trazer à tona a fala do migrante,
do “agente ambiental” da área central que também é morador da periferia, daquele que tece relações
diversas em sua vida cotidiana, mas que também carrega o fardo cada vez mais pesado de uma vida
que insiste em lhe escapar.
22
Uma de nossas precauções é a de não situar essas pessoas numa categorização abstrata,
enclausurando-as na órbita socioeconômica porque reduzidas a meros trabalhadores. Igualmente, não
estamos dispostos a inscrevê-las numa fenomenologia que as transforma em “sujeitos” no vir-a-ser de
sua vida imediata, vivida como “dinâmica” descolada do processo geral e contraditório de reprodução
social sob o capitalismo.
23
CAPÍTULO 1
DA CRISE DO FORDISMO-KEYNESIANISMO AO CAPITALISMO FLEXÍVEL-
NEOLIBERAL: NOVAS EXIGÊNCIAS AO TRABALHO E AOS PROCESSOS
PRODUTIVOS
Para entendermos parte do porquê das substanciais mudanças ocorridas no trabalho na
contemporaneidade, achamos necessário apresentarmos um expedito exame das igualmente
substanciais redefinições e reestruturações do capitalismo tardio9. Não é nosso objetivo aqui realizar
um mergulho aprofundado no processo histórico-social no qual tais redefinições e reestruturações se
localizam e ao mesmo tempo ajudaram a construir. Por isso, não nos deteremos esmeradamente na
descrição e análise desse largo processo10, não deixando, contudo, de situá-lo no âmbito dos desafios
que foram colocados à reprodução do capital, dimensões substanciais das formas e conteúdos
conformadores da sociedade contemporânea. É preciso, pois, repisar o terreno das formulações
teóricas através das quais diversos autores procuraram se debruçar, pondo a nu o esfacelamento do
modelo fordista de acumulação e suas ressonâncias no modelo de regulação social-democrata
europeu. É neste esteio que o capitalismo, enquanto formação econômico-social, procura retomar as
taxas de lucro em níveis satisfatórios, atingindo um novo patamar de acumulação, a qual esses
mesmos autores vão denominar flexível, por dentro da “onda neoliberal”.
A nosso ver, a supracitada menção de tais pontos constitui-se na chave para uma melhor
compreensão do significado do imperativo colocado à necessidade de se tornar efetiva a reorganização
dos processos produtivos e da gestão e controle do trabalho. Toda essa reorganização tem acento na
introdução das novas tecnologias informacionais, a robótica, a gestão estratégica da informação, do
conhecimento e dos “recursos humanos”, para não mencionar outros processos em curso no campo
das “reengenharias” no interior das fábricas e empresas. Vem daí a problemática da “revalorização do
trabalho”, implicada na mudança das noções de qualificação profissional e de competência, sendo seus
modelos levados a cabo junto aos trabalhadores e desempregados, sobretudo, mas não deixando de
ter algum tipo de influência nas novas estratégias das políticas de assistência social para se lidar com
os grupos tidos como estando em “vulnerabilidade social”.
9 A adjetivação “tardio” feita por nós ao capitalismo está referida em Adorno (1994, p.63), quando este afirma que o modo de produção, devido ao imenso desenvolvimento técnico da sua forma reprodutiva, “...as relações de produção [a ele concernentes] se revelaram mais elásticas do que Marx imaginara”. 10 Nesse caso, teríamos como ponto de partida o modelo acumulativo-regulatório fordista-keynesiano para chegarmos ao seu gradual remodelamento e substituição por outro modelo, que aqui chamaremos de flexível-neoliberal.
24
1.1. A saída capitalista da crise: a emergência do modelo flexível-neoliberal
A grande crise sistêmica que atingiu o capitalismo global já em meados da década de 1960, em
larga medida é resultado da debilidade dos arcabouços econômicos, técnico-produtivos e político-
institucionais que lhe serviram de pilares no longo período de crescimento econômico do pós-guerra.
Tais arcabouços interferiam direta e indiretamente na regulação e na viabilização do processo de
acumulação e conferiam o fôlego necessário à manutenção das condições gerais de reprodução do
capital. Assim, durante quase trinta anos o capitalismo pôde experimentar momentos de grande
crescimento econômico, garantindo nos países centrais relativo controle político e social, muito embora
tensões dessa mesma ordem tenham se expressado pela ação de diversas frações dos movimentos
sociais, como o operário, que no final da década de 1960 chegou a questionar um dos centros
nervosos da sociabilidade do capital: o controle social da produção (ANTUNES, 1999).
Vale dizer que somos conscientes da necessidade de análise da crise no tocante à
incorporação da dinâmica e os processos em torno dos quais ela se dá. Entretanto, deixamos claro que
não nos deteremos neste empreendimento11. Mesmo assim, não estamos desatentos aos
“combustíveis” ensejadores da ciclicidade que envolve a umbilical relação entre crise e prosperidade
econômica sob o capitalismo. Afinal de contas, para orientar sua reprodução incessante, o modo de
produção vigente necessita lidar com as contradições a que se vê exposto, destruindo para logo em
seguida (re)criar, no sentido lato, suas relações fundamentais.
Para que o modelo fordista de acumulação pudesse ser viável, consistente e, sobretudo,
eficiente na manutenção das altas taxas de lucro (o telos da reprodução do capital), fizeram-se
necessárias, entre outras circunstâncias favoráveis, um amplo pacto interinstitucional envolvendo a
tríade Estado-capital-trabalho. Alguns fatores – em boa medida recorrentes no histórico do processo de
acumulação – tornados conhecidos pela literatura especializada, contribuíram decisivamente para a
debilidade e a criação de sérios entraves para a manutenção deste pacto. Até então funcionando como
“mola-mestra” da acumulação numa conjuntura em demasia favorável, são as suas próprias estruturas
viabilizadoras as “vilãs” a serem combatidas. Antes de expor o cerne explicativo da “saída capitalista da
crise” nas linhas a seguir, comungamos com a linha de análise de Georges Benko (2002), segundo a
qual o movimento de ruptura com as ditas estruturas anteriores primordialmente está ligado a uma
“...modalidade de aprofundamento das relações capitalistas” (BENKO, 2002, p.20), cuja necessidade é,
por assim dizer, vital à sobrevivência do modo de produção.
11 Para um maior contato mais com a dinâmica e os processos condicionantes e ao mesmo tempo resultantes das crises, sugerimos os trabalhos de Harvey (1996) e Antunes (1999).
25
Se durante o período mencionado os países centrais puderam conviver com índices crescentes
de produtividade – ajudando a sustentar seu vertiginoso crescimento econômico –, na sua curva
descendente tais índices conheceram bruscas e continuadas quedas. A generalização dos padrões
produtivos fordistas a uma miríade de setores industriais em busca da ampliação dos circuitos
econômicos existentes – condição fundamental para a criação de novas frentes de acumulação –
acabou revelando-se ineficiente quando observada sua trajetória de produção na fábrica12 – o que, em
última instância, prolongaria o tempo de giro da mercadoria e do próprio capital. Sua ineficiência
também está referida ao desengajamento – e até à negação virulenta – dos trabalhadores de um modo
geral aos “apertos” proporcionados pela intensificação dos métodos de exploração e controle dos
processos de trabalho. A fábrica passa a ser palco constante do “...absenteísmo, do turn over, da
dilapidação, da sabotagem, das greves, etc.” (BIHR, 1991, p.70), cuja contenção já não se dava com o
aumento de salários e gratificações, significando, com isso, aumento dos custos da força de trabalho
por dentro do círculo vicioso da diminuição dos ganhos de produtividade.
O modo de produção capitalista vem debatendo-se ao longo de sua formação econômico-
social com uma inquietante contradição: a imperiosa necessidade de aumentar os níveis de
produtividade com vistas a obter o progresso contínuo da acumulação. Para tanto, faz-se igualmente
necessário investimentos crescentes em capital fixo (máquinas, equipamentos, etc.) visando tais
aumentos. O que revela a tendência à elevação da composição técnica do capital (relação entre a
quantidade de trabalho morto e o trabalho vivo por ele mobilizado) podendo igualmente produzir a
elevação de sua composição orgânica (relação entre o capital que é consumido no processo produtivo
em geral e o valor criado pelo trabalho vivo) (BIHR, 1991). O aumento do capital fixo põe em risco as
frentes de extração da mais-valia e, conseqüentemente, a produção e obtenção do valor de sua fonte
fundamental: o trabalho vivo. Esses fatores, por sua vez, põem em xeque a continuidade de obtenção
de taxas satisfatórias de lucro, golpeando com firmeza a natureza da reprodução do capital.
O modelo fordista de acumulação deveria, obviamente, lidar com as contradições acima
mencionadas. Deveria, também, construir instrumentos que fornecessem paliativos à queda da taxa de
lucro. Portanto, simultaneamente aos amplos investimentos em capital fixo para sustentar uma
produção em massa que por sua vez impulsionasse o consumo de massa, no nível do regime de
acumulação como um todo, era necessário:
...de um lado, a desvalorização de elementos do capital constante (e particularmente de sua parte fixa: os equipamentos produtivos), graças aos ganhos de produtividade realizados na
12 Bihr (1991, p.70) afirma que tal generalização foi decisiva para que o sistema de produção se tornasse “contraprodutivo”, pois limitava a “...fluidez (multiplicação dos tempos mortos, prolongamento do tempo de circulação dos produtos entre os diferentes postos de trabalho, estocagem no final da cadeia) e a flexibilidade (grande vulnerabilidade ao menor incidente: pane, quebra de estoque, mudança de produção, greve parcial, etc.) do processo de trabalho”.
26
produção desses elementos, mas também graças à sua obsolescência acelerada e planificada; de outro, a generalização do trabalho por turnos (trabalho em equipes), que permite ao mesmo tempo diminuir a composição orgânica do capital e acelerar a rotação do capital fixo (BIHR, 1991, p.71).
No correr dos anos da “Era da Felicidade” foi o consumo privado de bens duráveis (mormente
automóveis, residências e eletrodomésticos) que não só alavancou, mas em ampla medida garantiu a
efetividade positiva da relação produção/consumo nos países centrais, possibilitando a ascendência da
valorização e da conseqüente reprodução do capital. Contudo, quando a demanda por estes produtos
revelou seus limites, “...levando a uma contração das perspectivas de venda para as indústrias em
ascensão” (BIHR, 1991, p.71) novos e complicados entraves à continuidade dos níveis satisfatórios de
produtividade voltaram a assombrar os capitalistas. Além disso, a organização produtiva da fábrica
fordista não estava adaptada às novas circunstâncias presentes no ambiente dos mercados de
consumo naquele momento. Ou seja, uma característica de demanda que exigiria, por exemplo, uma
reconfiguração dos níveis de produção no sentido de absorver suas flutuações. Ao contrário, como dito
acima, a fábrica fordista se baseava na produção em massa de produtos padronizados cujo sentido
último era obter economias de escala com vistas a efetuar com o menor tempo possível o giro da
mercadoria. Era necessário realizar mudanças drásticas nos padrões produtivos e de consumo
vigentes. Isso será explicado mais adiante, inclusive nos ajudando a perceber que tais padrões, ao lado
do que chamamos “padrão financeiro de acumulação”, acham-se sumamente associados à produção
de legitimidade das diretrizes orientadoras do desenvolvimento sustentável – desembocando nas
práticas sociais mediadas pela “consciência” ecológica: coleta seletiva, reciclagem etc.
Na esfera do consumo coletivo, a norma era horizontalizar ao máximo a disponibilidade de
serviços públicos, assistência social e equipamentos coletivos pelo Estado de bem-estar. Este vigoroso
fundo público foi propiciado pela massa crescente de recursos estatais direcionados a atender a
acumulação do capital (OLIVEIRA, 1998b). Todavia, esse mesmo fundo público passava a ser oneroso
para o Estado num ambiente de crise, em que o estacionamento dos ganhos de produtividade, do
arrefecimento da demanda efetiva, da diminuição da arrecadação pública (e, conseqüentemente, a
geração de déficits orçamentários) tornava-se algo patente. O aumento crescente dos custos de
fornecimento de tais benefícios estaria relacionado ao imbricamento de três fatores: a) o encarecimento
dos custos da reprodução da força de trabalho (por exemplo, o número cada vez maior de
aposentadorias); b) o deslocamento do exercício do consumo privado para a dimensão coletiva deste
(saúde, educação, habitação, etc. fora do âmbito de mercado); e c) a não adaptação do fordismo ao
fornecimento em amplo grau dos meios sociais de consumo, fato esse que circunscrevia a produção ao
nível do consumo privado (BIHR, 1991).
27
O desenvolvimento do trabalho improdutivo, mormente daquele “...que garantia a circulação do
capital (gestão, comercialização, bancos e seguros)...”, somado ao “...conjunto das condições sociais,
institucionais e ideológicas da reprodução do capital (principalmente concentrado nos aparelhos de
Estado)” (BIHR, 1991, p.73), foi outro elemento contraditório e fator de entrave à continuidade do
regime fordista de acumulação. Esse entrave explica-se, por um lado, pela tendência à subordinação
da vida social ao conjunto de mediações estatais e de mercado; por outro lado, “...a produtividade do
trabalho improdutivo aumentou muito menos que a do trabalho produtivo” (BIHR, 1991, p.73). Além
disso, a manutenção de uma gigantesca e imprescindível estrutura estatal traduzia-se em aumento das
despesas para a sua manutenção e o travamento de uma efetiva valorização do capital (incidindo
diretamente na sua reprodução ampliada) por ele provocadas ajudaram a agravar o esfacelamento do
fordismo. O trabalho improdutivo cresceu em todos os países capitalistas avançados.
Naquele período de crise, que, como já dissemos, anunciava a urgência do capital em
combater a deterioração dos mecanismos do modelo acumulativo que lhe garantia a reprodução
ampliada, significava em larga medida “dinamizar” suas estruturas produtivas, técnicas e institucionais.
Os compromissos firmados com a classe trabalhadora para garantir o sucesso fordista-keynesiano
tornaram-se elementos criadores de severas dificuldades para sua mobilidade. Harvey (1994) chama a
essas dificuldades de rigidez:
Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas de produção em massa que impediam muita flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável em mercados de consumo invariantes. Havia problemas de rigidez nos mercados, na alocação e nos contratos de trabalho (especialmente no chamado setor ‘monopolista’) (HARVEY, 1994, p.135).
A idéia de rigidez trazida por David Harvey nos permite verificar alguns aspectos das
dificuldades do setor produtivo em modificar e reconfigurar suas estruturas de produção. O primeiro
deles relaciona-se à natureza operacional presente na estrutura corporativa como um todo, cujo quadro
de ineficiência apresentado pelos mecanismos do planejamento produtivo não propiciava mudanças
bruscas na rota de aquisição de capital fixo, monitoração dos preços dos produtos no mercado
internacional, preços de matérias-primas etc. O segundo aspecto diz respeito aos contratos sociais
rígidos praticados nos países centrais, associados a uma voraz fiscalização por parte da classe
trabalhadora desses países. Por fim, o terceiro aspecto chama a atenção para o descompasso entre as
atribuições sociais por parte do Estado e os problemas de arrecadação (desencadeado pelo alto preço
político e econômico de novos aumentos de impostos), combinados com a necessidade de ampliação
das benesses sociais objetivadas a partir dos compromissos interinstitucionais firmados no pós-guerra.
O que se percebe, é que o período áureo de crescimento verificado nos países centrais havia
28
gerado uma liquidez de fundos enorme, contraposta à impossibilidade por parte dos grupos
econômicos de se buscar novos nichos de mercado através da diversificação de produtos e alavancar
a capacidade produtiva ociosa, garantindo, assim, níveis contínuos de demanda efetiva. As políticas
monetárias, ao invés de ajudarem a tomar as rédeas da estabilidade econômica, estavam, ao contrário,
contribuindo para uma pressão inflacionária cada vez maior, gerando um círculo vicioso que tornava a
vida das principais instituições financeiras ainda mais difícil.
Na perspectiva microeconômica, diante da supracitada recuperação econômica da Europa
Ocidental e do Japão, houve um considerável aumento da competitividade entre as corporações
estadunidenses e suas rivais do Atlântico e do Pacífico. Destaca-se também o surgimento de sistemas
regionais periféricos de produção em massa em condições sólidas de competitividade, resultantes das
próprias necessidades do capital de destruir, reconfigurar e criar novos espaços de acumulação.
Paralelas a tal imperativo foram as fugas de capitais e o estabelecimento das grandes corporações em
paragens onde a força de trabalho fosse mais barata e mais dócil, onde o sistema jurídico-legislativo
fosse menos rígido etc. – notadamente no Sudeste asiático e países como Coréia, México e o próprio
Brasil. Este aumento da competitividade corporativa incidiu sobre os preços dos produtos finais,
fazendo com que estes decaíssem, comprometendo ainda mais as taxas de lucro (HARVEY, 1994).
Associada às dificuldades explicitadas, a crise energética desencadeia-se em 1973, quando a
OPEP ordenou um aumento a níveis estratosféricos do barril do petróleo – contribuindo para um
substancial aclive dos preços dos insumos energéticos dele derivados –, prejudicando sobremaneira as
economias centrais, amplamente dependentes desse combustível para viabilizar o crescimento de sua
produção industrial. Esse fator acabou levando “todos os seguimentos da economia a buscarem modos
de economizar energia através da mudança tecnológica e organizacional”, além de trazer à tona o
“problema da reciclagem dos petrodólares excedentes, problema que exacerbou a já forte instabilidade
dos mercados financeiros mundiais” (HARVEY, 1994, p.137).
Foi neste cenário que o modo de produção por inteiro, para retomar sua dinâmica de
manutenção, necessitava realizar uma ampla reconfiguração de suas estruturas produtivas no esteio
de não menos amplas redefinições nas suas dimensões econômicas, políticas, institucionais,
societárias, culturais e ambientais. Entretanto, tais definições se deram mediante a relutante conclusão
dos capitalistas de que as estruturas de valorização e acumulação fordistas não mais conseguiam
assegurar a navegação tranqüila pelas águas sempre revoltas da reprodução do capital (BIHR, 1991).
Este viés teórico nos ajuda na compreensão dos processos ensejadores do declínio do fordismo e a
emergência de estratégias e ações no sentido de reorientar a regulação político-institucional e os
termos da acumulação do capital.
Conforme mencionado, o alicerce político-institucional e técnico-produtivo que havia sustentado
29
o modelo fordista de acumulação até então, foi se mostrando ineficiente e, em alguns momentos,
representando um entrave à reprodução do capital. Contudo, as tarefas a serem desempenhadas numa
empreitada de retomada de taxas de lucro favoráveis pressupunham o reordenamento do amplo pacto
social anteriormente realizado, além das estruturas de produção e reprodução econômica, em sua boa
parte, solidamente constituídas. Mudanças dessa envergadura não se dariam sem grandes efeitos
colaterais. Para explicá-los, estarei amparado por Harvey (1994), utilizando assim o conceito de
“Acumulação Flexível” para designar o processo ora em curso.
A acumulação flexível, segundo Harvey:
...é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado ‘setor de serviços’, bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas... (HARVEY, 1994, p.140).
Ora, uma reestruturação sistêmica como esta necessariamente supõe um reaparelhamento
das forças sociais que formaram o pacto fordista do pós-guerra. Nesse sentido, o compromisso
trabalhista firmado na esteira do pacto interinstitucional de outrora, tornava-se um estorvo em um
ambiente mercantil altamente competitivo, marcado pela incerteza e avesso a uma disciplina contratual
que favorecesse o trabalhador. Ainda assim, não seria fácil criar um embate direto pela recuperação
das concessões anteriormente feitas à classe trabalhadora, se as condições econômicas gerais do
capitalismo não estivessem em meio a uma curva descendente da acumulação. Afinal de contas, a
força de trabalho encontrava-se no torvelinho de um mundo capitalista assolado “...por dois surtos
selvagens de deflação...”, fazendo o “...desemprego aumentar nos países capitalistas (...) (salvo talvez
no Japão) para níveis sem precedentes no pós-guerra” (HARVEY, 1994, p.140), o que fortalecia o
discurso contemporizador do patronato.
Com isso, o que se nota, ainda em relação aos processos de trabalho, é uma crescente erosão
dos contratos sociais e dos direitos trabalhistas, características marcantes do Estado de Bem-Estar
Social. Os sintomas da precarização das condições de trabalho e da subproletarização vivenciada
pelos trabalhadores (ANTUNES, 1995) confirmam-se pela diminuição do emprego formal como um
todo. Em meio aos regimes flexíveis de contratação grassam a imposição de contratos temporários –
feitos geralmente na época de picos de demanda – mediante a utilização do regime de
subcontratações, a instituição do trabalho em regime parcial e da prática do estágio, além de
crescentes camadas sociais jogadas na instabilidade e na economia subterrânea (BIHR, 1991).
30
Conforme sabemos, tais contratos temporários são formulados, não raro, sem nenhum tipo de proteção
social, já que se torna uma “...tendência dos mercados de trabalho (...) reduzir o número de
trabalhadores ‘centrais’ e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é
demitida sem custos” (HARVEY, 1994, p.144). Um claro exemplo dessa tendência na Europa é o
debate francês sobre a possibilidade do empregador contratar um jovem e mantê-lo num período de
“experiência” de até 2 anos, podendo demiti-lo sem ônus caso o mesmo não satisfaça as
“necessidades” da empresa contratante.
Disseminam-se sobremaneira formas resignificadas de trabalhos domiciliares ancoradas em
um regime paternalista e familiar que, devido à própria natureza de sua organização – o modo pelo
qual são organizadas e divididas as tarefas, tipologias de solidariedades etc. –, acabam por se mostrar
impermeáveis a uma ação e mobilização articuladas aos sindicatos. No Brasil, vários segmentos
empresariais e industriais vêm utilizando este tipo de subcontratação de mão-de-obra, entre eles as
indústrias têxtil e calçadista – por meio das chamadas “facções” – e até algumas grandes redes de
supermercados – requisitando pessoas para carimbar e etiquetar cartas de cobrança. As baixíssimas
remunerações baseiam-se na produção individual e não há qualquer tipo de direito trabalhista ou
proteção social para os contratados.
Outro aspecto a ser assinalado na organização dos processos de trabalho é o aumento gradual
da carga horária de trabalho – chegando algumas empresas a fornecerem telefones celulares para
seus funcionários e assim “solicitarem” seus serviços a qualquer tempo – não obstante a maior
utilização de capital fixo nos processos produtivos. Este movimento reativo do capital – através de
formas ampliadas de controle no chão da fábrica ou do escritório e de repressão política por parte do
Estado – se propaga não só por toda a Europa Ocidental e demais países centrais, mas também na
grande maioria dos países periféricos. Simultaneamente, tem sido evidente a regressão do poder
combativo dos sindicatos, capitaneado por sucessivas derrotas nas mesas de negociação e a uma
diminuição da massa sindicalizada naquele primeiro grupo de países (ANTUNES, 1999), onde há uma
tradição dos movimentos organizados de trabalhadores, chegando à inexistência em alguns países do
segundo grupo.
Na esteira da competitividade empresarial, na qual a incerteza, a volatibilidade dos mercados e
a necessidade da inovação são enormes, a introdução (que não raro chegava às raias da imposição)
de programas de “qualidade total” ganham uma proeminência sem precedentes. Tais programas
surgem a partir das necessidades de se implantar novas bases tecnológicas e novas políticas e
princípios organizativos e gerenciais. No arcabouço de sua implantação, empresas e indústrias são
compelidas à busca de incrementos de qualidade para seus produtos e/ou serviços (a implantação dos
“controles de qualidade” mostra-se como prova cabal), da diminuição dos custos de produção, ao
31
aumento dos investimentos na qualificação profissional, especialmente no corpo principal de
funcionários das empresas. Essa especialização encerrará uma redefinição da divisão do trabalho no
interior da fábrica, onde o trabalhador passa a exercer um conjunto maior de funções – a chamada
“polivalência” (ANTUNES, 1999). Combinam-se também uma série de estratégias empresariais mais
opacas de coerção e docilização do trabalhador, entre elas a de fazê-lo internalizar o “espírito da
empresa”, haja vista a suposição de que cabe a ele “vestir a camisa” e contribuir para o crescimento do
seu local de trabalho e, logo, do seu “crescimento” individual.
No que tange aos mercados de trabalho, as redefinições de suas divisões internacional e
territorial contribuem para o seu surgimento como conseqüência de novos e rentáveis circuitos
econômicos. Entre eles, vale sublinhar a “indústria” do entretenimento – tendo no turismo uma fonte já
bastante promissora – e o setor da biotecnologia, já açambarcada pela geopolítica ambiental dos
países centrais e de seus grupos empresariais ao estabelecerem novas relações de poder sobre os
países periféricos. Tais circuitos econômicos e os respectivos mercados de trabalho a partir deles
formados, são garantidos pela reestruturação dos processos produtivos, pelas inovações tecnológicas
e organizacionais e pela produção de novos espaços, condicionantes e resultantes do espraiamento
dos mercados a todos os recônditos do globo.
Verifica-se também um substancial aumento do setor de serviços da economia em diversos
países em face da diminuição do emprego industrial – não obstante essa tendência já vir se delineando
anteriormente através do incremento das atividades comerciais e das dificuldades da indústria como
um todo trazer para si a organização e a prestação de serviços. Este processo, controverso em sua
natureza, é explicado em duas vertentes principais. A primeira se refere à disseminação das
consultorias e das empresas prestadoras de serviços sob a forma da já mencionada subcontratação,
que passam a operar serviços (publicidade, marketing, auditoria etc.) antes circunscritos às próprias
empresas manufatureiras. A segunda estaria associada às necessidades de se aumentar o tempo de
giro do consumo através do fornecimento de serviços que, ao contrário dos bens duráveis produzidos
na indústria, seriam consumidos de imediato, como “a produção de eventos (como espetáculos, que
têm um tempo de giro quase instantâneo)” (HARVEY, 1994, p.149).
Acompanhando as novas técnicas de gestão e administração empresarial, surgem eficientes e
diversificadas estratégias produtivas, municiadas por um formidável arsenal tecnológico-organizacional,
visando atender às demandas das organizações. A produção em massa, dentre outras motivações
visando as economias de escala no fordismo, a partir da emergência dos sistemas produtivos flexíveis
acaba sendo gradualmente substituída pela “manufatura de uma variedade de bens e preços baixos
em pequenos lotes” (HARVEY, 1994, p.148), chamadas de “economias de escopo”. Há que se ressaltar
que alguns ramos da produção não adotaram de imediato esses modelos flexíveis, ou mesmo os
32
combinaram com nuances produtivas fordistas, de acordo com as necessidades surgidas no âmbito da
produção e do mercado. Tais economias de escopo garantiam a possibilidade de controlar os estoques
aliando-os às condições de demanda – mudanças no “gosto”, por exemplo –, a realização de um menor
tempo de giro da mercadoria através do avanço da automação e do sistema de gerenciamento de
estoques just in time “...que corta dramaticamente a quantidade de material necessária para manter a
produção fluindo” (HARVEY, 1994, p.148). Além disso, esses novos modelos de organização do
processo produtivo permitiram a inserção de um ritmo de inovação do produto mais acelerado, de
acordo com as necessidades do mercado.
1.2. A revalorização do trabalho no capitalismo tardio: velhos discursos, novas práticas
e estratégias
Nosso intento nessa sessão é realizar um rápido diálogo com algumas questões conformadas
no bojo daquilo que se convencionou chamar de tese da revalorização do trabalho. Seu corpus ganha
relevo no amplo movimento das anteriormente analisadas reestruturações político-institucionais e
econômico-produtivas do capitalismo global, com vigorosa ressonância no trabalho e suas dimensões
concernentes.
Argumentamos que o entendimento da matriz discursiva permeadora da tese da revalorização
do trabalho será de suma importância no nosso trato posterior com as experiências programáticas
levadas a efeito pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais – SMPS – e suas Secretarias Adjuntas,
como a de Assistência Social, ao lado da Pastoral de Rua e outras entidades parceiras nas “lutas” pela
“inclusão social” e pela “construção da cidadania” dos homens e mulheres catadores(as) de papel.
Adiantamos que o período de atuação dessas secretarias a ser analisado dá-se a partir do ano de
2001, na criação do “Programa de Inclusão produtiva” pela antiga Secretaria Municipal de Assistência
Social – SMAS. Quanto à sua contextualização e a maneira através da qual tais secretarias ajudam a
reconfigurar as relações e as práticas sociais, o faremos no capítulo 3 desta pesquisa, numa sessão
dedicada às políticas públicas municipais de assistência social e suas repercussões na ASMARE.
Apoiados em Pedrosa, podemos dizer que é no mesmo movimento através do qual entra em
cena a “...tese do fim da centralidade do trabalho, [que] emerge o discurso ou o problema da
revalorização do trabalho, seja através da ideologia da ‘competência’ ou dos estudos sobre a
‘qualificação profissional’” (PEDROSA, 2003, p.148)13. Dito de outra maneira, nesse mesmo turbilhão
13 A título de esclarecimento, não nos deteremos nesse trabalho nas contendas envolvendo o fim da centralidade do trabalho ou a sua revalorização. Apenas aproveitaremos, retirando do âmbito analítico dessa última tese, as questões ligadas à qualificação profissional e do modelo de competência. Para o entendimento de tais contendas, é interessante ver
33
chamado trabalho convivem, na forma de contradição, a sua intensa precarização sob a batuta da
especialização flexível e o discurso da sua suposta valorização – entoada como resgate da
subjetividade do trabalho e a humanização das práticas no chão da fábrica ou no do escritório. Tal
contradição será posta à mesa e discutida nos seus termos mais gerais. Para isso, observaremos mais
de perto a tese da revalorização do trabalho partindo de um pressuposto fundamental: o seu
ancoramento a partir de uma “...concepção limitada e a-histórica do trabalho como atividade humana
ou como atividade embrionária da práxis” (PEDROSA, 2003, p.166).
Segundo esse mesmo autor, hodiernamente a revalorização do trabalho vem se fazendo
fortemente presente nas matrizes discursivas empresarial e governamental de um lado, e, do outro, nos
estudos acadêmicos, sob os mais diferentes matizes (PEDROSA, 2003).
A prática correspondente aos termos do discurso empresarial vem a reboque das mudanças
estruturais no modo de produção capitalista analisadas na sessão anterior. Ao ensejar a emergência de
novas modalidades de sistemas produtivos e de organização, gestão e controle do processo de
trabalho, a racionalidade capitalista cria novos ambientes, os quais passam a concorrer para o
redimensionamento instrumental e objetivo da pessoa do trabalhador. É aí que as novas determinações
passam a pesar sobre ele, sendo-lhe exigidos novos atributos, ao mesmo tempo em que a sua própria
vivência objetiva do processo retroalimenta tais determinações. Já no caso do discurso governamental,
sua materialização faz-se presente no terreno delineado pelo conjunto da ação do Estado no âmbito
das necessidades imperativas da reprodução do capital, cabendo-lhe formular novas políticas públicas
estabelecidas, direcionadas e articuladas de acordo com os interesses hegemônicos. Nessa “clausura”
acham-se – dentro de suas respectivas especificidades – tais políticas públicas, as quais envolvem,
desde o primeiro mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), as três diferentes
esferas de governo no Brasil. Vale dizer que o assoalho ideológico presente nos discursos empresarial
e governamental imbrica-se com a noção de “competência”, questão essa a ser discutida mais adiante.
Quanto aos estudos acadêmicos, a revalorização do trabalho aparece na seara promovida
pelas contendas envolvendo a chamada requalificação profissional. Seu recrudescimento dá-se já nos
idos da década de 1980, após o arrefecimento da “bravermania”14, com a emergência de diversos
os trabalhos de Gorz (1987) e Pedrosa (2003). 14 Harry Braverman ficou conhecido, não só no âmbito da Sociologia do Trabalho, mas também fora dela, por sua tese envolvendo a relação entre o desenvolvimento das forças produtivas e o processo de trabalho sob o capitalismo. Assim, “...quanto mais tecnologia fosse introduzida ao processo de trabalho mais este se apresentaria como desqualificado, uma vez que essa tecnologia significava o aprimoramento dos mecanismos de divisão e controle” (PEDROSA, 2003, p.160). Num estudo que serviu de mote para uma série de trabalhos posteriores adotando sua mesma linha aqui no Brasil, aduzia em torno da “desqualificação inelutável, gradual, progressiva como conseqüência do aprofundamento da divisão do trabalho no capitalismo...” (HIRATA, 2000, p.131). Isso conduziria à “polarização das qualificações” por nós mencionada, fenômeno esse que criaria um sem-número de trabalhadores desqualificados ao lado de outros dotados de uma pujante qualificação afeita aos propósitos mais gerais do processo produtivo do capitalismo contemporâneo. Se por um lado Braverman
34
trabalhos – tanto de natureza pontual, por meio de estudos de caso, quanto de teses que se
debruçavam sobre o problema da qualificação de maneira mais abrangente.
Constata-se a umbilical relação, mediada pela tese da revalorização do trabalho, entre a
“requalificação profissional”, o “modelo de competência” e os seus significados na dinâmica régia
norteadora das relações sociais de produção sob o capitalismo. Nesse horizonte, recuperamos as
palavras de Oder José dos Santos (2004), quando o mesmo aduz que a necessidade de se formar um
novo trabalhador se dá justamente porque: “Mudaram-se as formas de acumulação de capital;
mudaram-se os parâmetros de integração e coordenação do sistema econômico; mudaram-se, ainda,
as formas de exploração e controle da força de trabalho” (SANTOS, 2004, p.85). Uma primeira
depreensão acerca da tese da revalorização do trabalho, no seu ínterim, pode ser feita. Tomada como
alicerce sobre o qual se assentam os fundamentos das ditas – e exaltadas – transformações positivas
dessa atividade no interior das organizações, essa concepção a-histórica e aparentemente desprovida
de ideologia acaba por ratificar e dissimular o trabalho desidentificador e precário. Isso daria aos seus
significados um direcionamento redutor ao apregoar esse supracitado (e suposto) resgate de uma
subjetividade relegada ao limbo nos paradigmas produtivos taylorista e fordista. Seu discurso exalta a
maior autonomia para o pensamento e para a iniciativa individual por parte do trabalhador, além, nesse
caso, da abertura de sua possibilidade de poder participar ativamente do processo produtivo. As
prescrições, presentes na organização e controle do processo de trabalho mudam de foco, segundo
Santos, justamente porque:
...a reorganização capitalista assumiu a forma de recuperação e aproveitamento das capacidades demonstradas pelos trabalhadores em seus processos de lutas (...). Nesse processo conseguiram inaugurar outro patamar de complexidade do trabalho passando a explorar as aptidões intelectuais dos trabalhadores (SANTOS, 2004, p.85).
Desse modo, notamos as estratégias do empresariado, cujo fim último é legitimar a própria
tese da revalorização do trabalho mediante um discurso que apregoa a superação do conflito entre
capital e trabalho, o qual colocaria em xeque, por extensão, todos os estatutos teóricos cujo cerne
aponta para a sobredeterminação do segundo pelo primeiro. Esse discurso estaria ancorado em dois
pontos principais. O primeiro deles refere-se à alteração da organização hierárquica no interior da
fábrica ou da empresa, devido às próprias exigências aumentadas de qualidade e competitividade. Isso
possibilitou pensar a forma pela qual as relações de produção no capitalismo relegam o trabalho e o trabalhador a meros apêndices de seus desígnios, por outro, “...a relevância analítica da temática da qualificação estava sacrificada uma vez que o resultado de todas as investigações já estava garantido a priori (...). Deste ponto de vista, estudar a qualificação significava acumular cada vez mais relatos sobre formas sumamente mais despóticas de controle do capital sobre o trabalho” (PEDROSA, 2003, p.160). Assim, essa análise unilateral feita por Braverman onerou outras possibilidades onde as contradições advindas da relação capital-trabalho (como as diversas modalidades de resistência às coerções e opressões impostas pelo primeiro ao segundo) pudessem ser vistas mais de perto (PEDROSA, 2003).
35
exigiria mudanças nos termos da relação entre “comandantes” e “comandados” no seu interior. O
segundo ponto remete-se à afirmação de que a gestão do capital variável nos paradigmas produtivos
taylorista e fordista estava centrada na redução de custos, “ficando a adição de valores na dependência
dos recursos tecnológicos” (PEDROSA, 2003, p.161). Já no paradigma da especialização flexível, o
binômio produtividade/competitividade assenta-se no incremento (adição de valor) dos recursos
humanos em oposição aos custos.
Este seria, pois, segundo Pedrosa, o sentido fundamental da revalorização do trabalho:
“ampliar a capacidade intelectual humana na produção industrial e nos serviços” (PEDROSA, 2003,
p.161). Ora, é imperioso para o processo de valorização e acumulação do capital – entre outras
maneiras, através da extração, circulação e consumo, na forma de mais-valia, do capital variável –
formar na contemporaneidade um trabalhador polivalente e flexível, apto a se “inserir” e realizar aquilo
que hoje vem se chamando trabalho complexo. No restrito âmbito estabelecido pela valorização e a
acumulação, as possibilidades de se poder pensar além da constante des-identificação pela qual passa
o trabalhador na sociedade que vive do trabalho15, isto é, um outro modo que não aquele da obsessão
em se garantir os aumentos de produtividade na produção de mercadorias por meio da desumanização
do trabalhador, consolida-se como algo insensato – para não dizer “irresponsável”.
Com efeito, a estratégia de tornar o trabalhador elemento ativo nas diferentes fases do
processo produtivo (sem, contudo, ter o poder de determinar o seu sentido e a sua finalidade) mostra-
se em boa medida eficaz nos aumentos de produtividade. O seu corolário são as novas e mais sutis
formas de exercício do controle, da divisão e da coerção que, embora não sejam impermeáveis à
contestação por parte daqueles que estão no chão onde se dá o trabalho, têm se mostrado bastante
eficientes. Nas palavras de Santos:
Os mecanismos de controle modificaram-se. Poder-se-ia afirmar que, hoje, preocupam, especialmente, em obter a cooperação dos trabalhadores, incentivando-os à maior liberdade de ações e à participação na vida da empresa. Tudo isso em prol dos objetivos da organização. Mas a decisão dos fins a serem alcançados é centralizada e tomada pelos gestores (SANTOS, 2004, p.86).
Torna-se importante dizer que esse processo nada mais é do que os meios e fins do trabalho
sendo confundidos e escamoteados no interior do mesmo cenário que anuncia sua revalorização. A
suposta autonomia sem precedentes conquistada a partir da “mútua valorização” e não mais da relação
de contradição entre capital e trabalho, é, na verdade, o aperto do cinto imposto pelo primeiro ao
segundo. Ou seja, o que parece ser o novo fim a que se encaminha o trabalho, trata-se, nas
entrelinhas, da redefinição dos meios com vistas a fins definidos de antemão. A isso Pedrosa chama de
15 Tomamos emprestada a denominação cunhada por Antunes (1999).
36
“nova pedagogia do capital: formar trabalhadores capazes de gerirem com autonomia sua própria
heteronomia” (PEDROSA, 2003, p.180).
Outro momento da matriz discursiva presente na tese da revalorização do trabalho, no nosso
entender dotado muito mais de pirotecnia do que propriamente de uma mudança efetiva nas relações
fundamentais que lhe dão sentido, é a argumentação em torno da democratização das práticas e das
relações no interior das organizações. Podemos incluir aí também os novos espaços-tempos de
produção, embora antigos, hoje presentes com grande relevância no novo cenário produtivo capitalista.
Sobressai-se nesse “novo cenário” o trabalhador como “sujeito ativo” na concepção, na implementação
e efetivação do processo produtivo e da gestão do trabalho, características essas que reforçariam a
tese em torno de seu papel enquanto “cidadão”, inserido em uma “democracia” organizacional
(SARAIVA, 2003). Discutiremos esta questão mais a fundo na próxima sessão.
1.2.1. Apontamentos gerais sobre o “modelo de competência” e suas repercussões na
ASMARE
Faz-se então relevante situarmos o chamado “modelo de competência”, constructo de ordem
ideológica e orientador da revalorização do trabalho cuja disseminação, conforme dito por Pedrosa,
torna-se presente “...via ministérios da Educação e do Trabalho e os empresários” (PEDROSA, 2003,
p.175). O caminho que temos percorrido, embora seja semelhante ao do supracitado autor sob
diversos aspectos, não toma a direção das relações entre trabalho e educação, empreendimento esse
um tanto exigente quanto ao seu esmero, além de fugir um pouco ao nosso raio de análise. Apenas
ressaltamos que tal relação, num nível mais geral da reprodução social, permeia todo o campo sobre o
qual decidimos incursionar.
Pode-se dizer que o discurso do modelo de competência tem sido proferido e se tornado
instrumento para a sua própria aplicação prática num momento cujas contradições do capitalismo se
avolumam e tornam as ideologias que lhe servem de sustentáculo crescentemente mais frágeis
(PEDROSA, 2003). Nasce então como uma espécie de antídoto, isto é, como instrumento ideológico-
prático para viabilizar sua lida com tais contradições.
Uma primeira faceta presente no discurso do modelo da competência acena para a idéia de
que “... o atual estádio de desenvolvimento das forças produtivas sinaliza para um novo tipo de relação
entre capital e trabalho, não mais uma relação de contradição, mas de mútua valorização!” (PEDROSA,
2003, p.179). As novas formas de coerção e de docilização na moldagem do ser social às
necessidades da produção e, por conseqüência, da valorização e reprodução do capital, impõem “... a
necessidade de envolver não mais apenas o corpo, mas o espírito do trabalhador, sua subjetividade,
37
sua criatividade e seu empenho” (PEDROSA, 2003, p.179). Os saberes trazidos pelos trabalhadores,
fruto de sua vivência no chão da fábrica ou do escritório, ao serem mobilizados como potencial
catalizador do processo produtivo, permitiriam, não só a elasticidade das relações de produção com
vistas à dita valorização do capital, mas também a introjeção por esse mesmo trabalhador da atual
arquitetura moral norteadora do modus operandi do capital.
Sendo, pois, a revalorização do trabalho a estratégia de tornar menos claros os objetivos do
capital – tendo à mão novos dispositivos para determinar de cima os modos e os ritmos do processo
produtivo e a utilização e o controle da força de trabalho –, as dissonâncias entre discurso e prática não
deixam de vir à tona. Com relação ao discurso, mostra-se interessante situar o debate a partir dele
suscitado reportando-nos às observações feitas por Helena Hirata (2000) acerca do declínio teórico da
noção de qualificação e a concomitante emergência da noção de competência, o que, segundo ela,
mostra-nos a insuficiência teórica e conceitual dessa segunda:
A competência é uma noção oriunda do discurso empresarial nos últimos dez anos e retomada em seguida por economistas e sociólogos na França (...). Noção ainda bastante imprecisa, se comparada ao conceito de qualificação [grifos meus], um dos conceitos-chave da sociologia do trabalho francesa desde os seus primórdios (...); noção marcada política e ideologicamente por sua origem, e da qual está totalmente ausente a idéia de relação social, que define o conceito de qualificação... (HIRATA, 2000, p.132).
Essa noção de competência também se traduz, como afirma Pedrosa (2003), numa redefinição
da conexão intrínseca entre as noções de trabalho e educação. Aqui “...o sistema educacional deve
formar (...) visando potencializar a capacidade de ‘desenvolvimento’” pela via da obtenção das novas e
imprescindíveis qualidades por parte do trabalhador, como a “...iniciativa, responsabilidade, autonomia,
espírito de equipe” (PEDROSA, 2003, p.177).
Pois é dando munição aos seus questionamentos que o autor mencionado traz para sua
discussão as “Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional de Nível Técnico” e procura
demonstrar que, diante das atuais circunstâncias verificadas no mundo do trabalho, a “noção de
emprego é substituída pela de labor e, conseqüentemente, o conceito de empregabilidade pelo de
laboralidade” (PEDROSA, 2003, p.177). A laboralidade seria entendida como possibilidade, por parte
do trabalhador, de se apresentar em condições para a entrada ou a recondução no interior do processo
produtivo, garantindo assim a sua subsistência dentro de uma realidade social marcada pela incerteza
e a insegurança. Tais sensações passam a conviver e, em grande medida, a prescrever o ser e o viver
dos indivíduos em meio às abruptas e constantes transformações no mercado – refletidas, por
exemplo, nas vertiginosas redefinições (e até extinção) dos atributos ligados às profissões.
Ao mesmo tempo, conforme visto anteriormente, o círculo do mercado de trabalho vai se
38
fechando ao trabalhador num ritmo sem precedente, em que pese o fato das estatísticas do
desemprego demonstrarem sua redução tanto em Belo Horizonte, quanto nas principais Regiões
Metropolitanas Brasileiras (Ver figuras 1 e 2), sem, no entanto, mencionar a qualidade dos empregos
que vêm sendo gerados.. É “pegar ou largar”, se se quer garantir o mínimo para a (parca) reprodução
individual. Emergindo no seio do estado de coisas acima descrito, a ASMARE apresenta-se para a
sociedade (e, logo, para os homens e mulheres catadores(as) de papel a ela associado) como
oportunidade segura, devido às suas características de “associação formal”, em face da insegurança
presente do “lado de fora” de seus portões.
Figura 1: Evolução na Taxa de Desemprego Total, por tipo
Região Metropolitana de Belo Horizonte – 1996 – 2006
Figura 2: Taxa de Desemprego Total Por Regiões Metropolitanas (%)
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte (PED/RMBH). Convênio FJP/DIEESE/SEADE/SINE-MG.
0
5
10
15
20
25
30
Bel
o Hor
izon
te
Distri
to F
eder
al
Por
to A
legr
e
Reci
fe
Salva
dor
São
Pau
lo
Total
%
abr/06
abr/07
Fonte: DIEESE. Adaptado de: Jornal “O Tempo”, Belo Horizonte, 31 de maio de 2007.
39
Com efeito, é a dinâmica do capital, sempre calcada no aumento de produtividade com vistas à
sua valorização e reprodução ampliadas, o imperativo orientador da substituição do trabalho vivo
“...numa escala cada vez mais ampliada pelo trabalho pretérito, o que significa que o trabalhador
assalariado, produtor de descartáveis, torna-se ele mesmo descartável” (PEDROSA, 2003, p.178).
Diante de tais imperativos, as pressões e opressões sobre as pessoas que trabalham na catação, não
raro diluídas (mas nem por isso menos insidiosas) pelas pressões de um mercado tido como “cada vez
mais exigente e competitivo”, operadas em meio a uma realidade “externa” e “contingente”, conclamam
esses trabalhadores a serem mais dinâmicos e produtivos, tendo de alcançar uma produtividade
individual semanal de 2,5 toneladas. Quando este montante não é obtido pelo catador, este recebe um
número menor de vales-transportes, ficando sua normalização condicionada ao aumento da
produtividade. Além disso, há uma pressão exercida pelos próprios associados sobre aquele “menos
produtivo”, muitas vezes taxado de “preguiçoso” ou que “não contribui para o crescimento de todos”. No
plano geral, tais pressões adquirem maior intensidade na medida em que a administração da ASMARE,
no intento de fazer os associados internalizarem uma culpabilidade pelos eventuais insucessos em
suas negociações com os compradores intermediários, repassa a exigência feita por eles quanto ao
controle de qualidade do material – o cumprimento com rigor das metas ao volume catado, por
exemplo. Torna-se bastante ilustrativo um pequeno trecho de uma das “assembléias” mensais
realizadas pela ASMARE, quando o então gerente de negociação, após apresentar o balanço de
“entradas” e “saídas” de recursos, fala aos homens e mulheres catadores(as) sobre as dificuldades
encontradas em negociar o material:
“Acho que vocês estão sabendo, a discussão aqui vai ser séria. A ASMARE tem tentado arrumar bons
compradores e não tem conseguido. Por quê? O pessoal fala assim: ‘o volume do seu material é
excelente, é 340 toneladas’. Ou seja, qualquer um quer comprar. Mas, em contrapartida, não tem
qualidade, o material vem sujo, entendeu? Eu fiz questão de mostrar esse pacote aqui pra vocês... lixo
puro! Esse material foi encontrado no meio do papelão... plástico, absorvente... Olha, nós estamos
numa preocupação danada! Se não melhorar não tem dinheiro! Estamos passando a bola pra vocês
pra ver se ajuda a gente. Se não tiver comprador o que vamos fazer? Separa o material direitinho
senão não dá!” (10/05/2006).
Conforme se percebe, o ritmo, a intensidade e a “forma correta” do trabalho e da produção na
Associação há muito tempo estão sendo reguladas pela tal “realidade externa”. Ela é tida como sendo
“natural” porque parece fugir a qualquer possibilidade de controle social que não se submeta sem
reservas aos imperativos do mercado. Maneiras outras de se trabalhar e produzir são reduzidas
40
naquela cotidianidade a meras utopias abstratas, pois como diz o próprio gerente, “são bonitas no
papel, mas não condizem com a realidade”.
O exposto no trecho acima é apresentado pelos técnicos que assessoram a ASMARE como
“dificuldade” de muitos dos associados de assimilarem os princípios da racionalidade produtiva e
empresarial, além de ser enfatizado pelos “estudiosos críticos do assunto” como questões de ordem
“técnica” e/ou “organizacional”. Sem adentrarmos na discussão acerca da economia solidária16,
percebemos tal ênfase, por exemplo, em Lima (2003), quando este, ao realizar um estudo de caso dos
empreendimentos ligados aos resíduos sólidos, afirma ser necessário tocar nos seus diferentes
“...problemas de organização...” fundados, em suas premissas, “...sobretudo no que diz respeito à
capacitação em gestão...” (LIMA, 2003, p.121). Assim, as críticas e as proposições envolvendo novos
modos de organização aos “empreendimentos solidários” passam pela criação de ferramentas que
melhor desenvolvam a capacidade de gestão daqueles que estão à frente do negócio. Este
direcionamento possibilitaria aos envolvidos construir sua autonomia individual e a autonomia do
próprio negócio. Diante de problemas como os resultados insuficientes dos programas de formação
profissional, desaguando nas dificuldades de sua manutenção no mercado (LIMA, 2003), o enfoque a
ser dado residiria na aplicação de “...modelos pedagógicos centrados na realidade cotidiana desses
empreendimentos, a fim de aumentar a eficácia das ações que pretendem desenvolver a capacidade
empreendedora...” (LIMA, 2003, p.121) dos seus quadros. Além disso, num cenário onde é vedado às
empresas serem “auto-suficientes”, as vantagens competitivas dos “empreendimentos solidários”
deveriam ser obtidas por meio de parcerias com centros de pesquisa, fornecedores e redes de
distribuição, além de terem em conta as necessidades dos clientes e usuários e a diversificação da
produção com vistas a ampliar as competências do empreendimento. Para tal, o autor argumenta em
favor do desenvolvimento de uma:
...engenharia de produção solidária [que] preenche uma lacuna ao centrar sua ação na criação de ferramentas e na capacitação em gestão, tratando-se, aqui, de competências concretas e específicas para a organização e gestão de empresas da economia solidária (LIMA, 2003, p. 120).
Reconhecemos que a engenharia de produção poderia, sim, ser um poderoso instrumento para
se proporcionar a eficácia da gestão e do controle da produção e dos processos de trabalho. Porém,
ela só teria uma finalidade emancipatória se se inscrevesse na viabilização da real perspectiva de
redução da jornada e do tempo de trabalho socialmente necessário à produção, além do
16 Para se entender a concepção de Economia Popular Solidária, recomenda-se aqui Paul Singer (2002) como sendo a principal referência.
41
redirecionamento do sentido e da finalidade da mesma para caminhos outros que não a acumulação do
capital. Concomitantemente, a formação de uma consciência crítica dos homens e mulheres
trabalhadores(as) da catação (articulando-se a outros trabalhadores(as), formais ou não) acerca do
papel do exercido pelo Estado no capitalismo forneceria as bases para pressioná-lo, por exemplo, a
reconduzir suas políticas públicas para a regulação dos preços dos recicláveis no mercado. É claro que
muitos desses preços são regulados internacionalmente. Porém, o Estado poderia conferir poder por
meio da sua soberania praticando uma heterodoxia que, não obstante o caráter reformista a ela
associado, pode abrir flancos interessantes por fora da tirania de livre mercado.
Quanto aos empreendimentos constituídos no seio da economia solidária, fica patente que
estes só teriam vida longa sendo uma espécie de “simbiose” entre os princípios adotados pelas
empresas capitalistas “formais” e aqueles oriundos da “economia subterrânea”, marcados pela
informalidade e a precarização decorrentes dos efeitos da reprodução capitalista. Para tanto, deveriam
trabalhar com “técnicas de gestão”, de “inovação” e agregar continuamente novas “competências” de
modo a acompanhar a forte competitividade do mercado. Simultaneamente, as relações de trabalho
sem nenhum respaldo da legislação e a baixa composição orgânica do capital aparecem como linhas
mestras de controle das “externalidades” tão caras à sua manutenção no mercado. Isto nada mais é do
que submeter a autogestão às amarras do estatuto geral da racionalidade instrumental capitalista,
seguindo à risca o modelo de competência, visto que neste ambiente seus quadros necessariamente
devem possuir os cabedais técnicos e organizacionais visando à gestão do empreendimento. Nada
melhor para o promissor circuito econômico da reciclagem operar a máxima valorização de seus
capitais tendo como “satélites” os “empreendimentos solidários”, os quais fornecem seus produtos e
serviços aos grandes recicladores e ainda percorrem a rota das ações de horizontalização desses
últimos, viabilizando, entre outros, a redução dos seus custos com matéria-prima e capital variável.
Retomando a questão já exposta, ao lado da busca pelas garantias de crescente produtividade,
o modo de produção capitalista, tem sua sobrevivência condicionada à existência de consumidores.
Isso faz com que as estratégias do capital para lidar com essas vorazes contradições, voltem-se no
sentido de “...salvar o consumidor, a despeito da redução do emprego formal, [além] (...) do verdadeiro
significado da substituição no discurso oficial, orientado pelo ‘modelo de competência’, de trabalho por
labor” (PEDROSA, 2003, p.179). Ser competente, então, é estar preparado para os malabarismos
diários na busca pela sobrevivência, e, logo, para o consumo – dentro, é claro, da lógica imposta pelos
seus mecanismos de segmentação.
Percebemos a introjeção desses valores nos(as) catadores(as) de papel da ASMARE quando
estes têm como fruto da “natureza das coisas” a idéia de que é preciso “matar um leão por dia”,
projetando no bem de consumo a ser adquirido – “quando o dinheiro der” – a qualidade simbólica de
42
“troféu”17. São encontros e desencontros de sentimentos e desejos das pessoas num mundo cujas
possibilidades há muito deixaram de serem oferecidas através do “canto da sereia” do capital para se
tornarem o pífio dolorosamente buscado. Eis, portanto, o novo sentido das prescrições e opressões
impostas ao indivíduo pela lógica da produção e do consumo, através das quais “as ordenações
práticas da vida, que se apresentam como se favorecessem ao homem, concorrem, na economia do
lucro, para atrofiar o que é humano” (ADORNO, 1993, p.34).
O “modelo de competência” olha a realidade tomando-a como um fato desprovido de história e
ideologia – cujo inexorável é a lei; caminha de mãos dadas com as mudanças presentes, seja no
mundo do trabalho ou na esfera produtiva. De acordo com Pedrosa, a competência “passa a ser
entendida como uma capacidade do sujeito e não como um desempenho a ser definido objetivamente,
em termos operacionais” (PEDROSA, 2003, p.152). Cabe aqui ratificar a idéia de que, se a
competência apresenta-se como uma “capacidade do sujeito”, por extensão passa também a ser dele a
responsabilidade pela sua constante melhoria, superando sua condição individual de “estorvo” e
passando a contribuir para o “desenvolvimento” da sociedade. É ele quem deve buscar e ter
criatividade e iniciativa18 para agregar os saberes necessários e exigidos pelo mercado de trabalho, se
não quer carregar o pesado fardo do “fracasso individual”. Competência, portanto, seria um saber
“dinâmico, operativo e flexível” (PEDROSA, 2003, p.152), que dotaria o novo trabalhador do
instrumental necessário para que ele se reproduza numa sociedade marcada pela flexibilidade, pela
inconstância e pela incerteza povoando o ritmo das mudanças. Ademais, o modelo de competência
também requer capacidade de abstração, mobilidade, formação continuada, iniciativa e pensamento
crítico (PEDROSA, 2003).
De fato, a apreensão das novas formas de dominação e controle social dos pobres tornou-se
bastante melindrosa porque os sentidos e os significados do trabalho em nossa sociedade, quase que
a despeito da sua redução à faina heterônoma de todos os dias, estranhada e precarizada, ainda
denotam uma atividade fornecedora de dignidade ao indivíduo. E mesmo que o trabalho seja somente
17 Neste contexto, trazemos à baila a emblemática fala da catadora “Regina”. Primeiramente ela expressou para mim seu desejo de adquirir uma câmera de vídeo para filmar o crescimento de seus filhos, de ter uma espécie de “prova viva” de que ela pôde criá-los de uma forma “mais digna” do que aquela em que fora criada. A seqüência de sua fala vem acompanhada pelo “estalar de dedos” que a faz atinar para o volume de dinheiro a ser empregado na aquisição de tal produto, por um lado trazendo um sentimento de dificuldade pelo fato de “ganhar uma mixaria”, mas, simultaneamente, impregnando-a de uma anestesiante volúpia pelo consumo. Nota-se, também que a demonstração que ela quer dar a si mesma no seu desejo de mãe e de pessoa de bem, inconscientemente é produzido pela mediação da mercadoria, reduzindo a condição de mãe a algo já fora do âmbito do uso e do espontâneo. 18 Esta necessidade leva vários catadores a transcenderem a atividade da catação em si mesma. Isso se torna patente na reportagem “Catadores de olho no dólar para vender latinhas e papel”, veiculada pelo jornal “Hoje em dia”, de 13 de junho de 2005. Entrevistado pela reportagem, o catador “Renato” avalia que: “O dólar influencia em todos os setores da economia. A gente tem de ficar em dia com o que acontece. Se o dólar sobe bem, o preço da latinha, por exemplo, também aumenta e o catador fica incentivado a catar mais”.
43
estranhamento e heteronomia, ele é a única mercadoria passível de ser vendida por este mesmo
indivíduo – quando há quem a queira comprar. Neste cenário, práticas à primeira vista de cunho
alternativo – e, dito por vozes mais apressadas, “anticapitalistas” – ao problema do desemprego,
capitaneadas por “empreendimentos solidários” como a ASMARE, são vistas e exaltadas sem maiores
questionamentos pela sociedade. Pelo lado do poder público municipal, tais práticas são
institucionalizadas e fragmentadas, passando a ser denominadas “políticas sociais” e de
“desenvolvimento local”, garantindo a exaltação de sua imagem de administração “preocupada” com a
pobreza e a marginalidade social (ver foto 1).
Foto 1: Fachada da Sede da ASMARE com seu lema “Reciclando a Vida”, denotando aí a idéia de “construção da cidadania” a partir da “inclusão social” do(da) catador(a). Note-se também a logomarca da Petrobrás como patrocinadora da reforma do galpão. Autor: Luiz Antônio E. de Andrade. Foto tirada em 05/06/07.
1.2.2. De como a “qualificação profissional” torna ainda mais ilusório o desenvolvimento
das forças produtivas como redenção do trabalho sob o capitalismo
A noção de qualificação profissional aparece, primeiramente, nos esforços investigativos
levados a cabo por diversas ciências parcelares, partindo principalmente da Sociologia do Trabalho, da
Economia, da Administração e da Educação (PEDROSA, 2003). Tais esforços se empreenderam no
sentido de retomar análises outrora deixadas de lado devido ao suposto esclarecimento e o
conseqüente esgotamento de algumas problemáticas, como o “...progresso das forças produtivas e
seus efeitos sobre a qualificação das situações de trabalho, notadamente a qualificação profissional”
(PEDROSA, 2003, p.159). Não é nosso objetivo enveredar aqui pela discussão acerca dessa
44
retomada, mas percebê-la nos marcos da necessidade de reprodução da força de trabalho exigida pelo
capitalismo e levada a efeito por meio dos novos processos produtivos flexíveis. Este percurso nos
permite revelar a estreita relação entre a qualificação profissional e o modelo de competência
atualmente presentes em tais processos. Dá, também, elementos para pensarmos a prática da catação
sendo atravessada pelos eufemismos envernizadores, e, portanto, apresentada ao grande público – e
para os(as) catadores(as) que a exercem – como profissão19, como atividade exercida, não por
“elementos perniciosos” à ordem social, mas por pessoas engajadas na limpeza pública e na
preservação ambiental em Belo Horizonte.
Independentemente da terminologia utilizada para designar as exigências do perfil do
trabalhador que se quer no processo produtivo capitalista na contemporaneidade – se qualificação
profissional ou modelo de competência –, não se pode deixar de apontar seus limites teóricos e
práticos. Por não conseguirem superar as contradições intrínsecas à formação econômico-social em
tela, mas sim acirrá-las, tentam a duras penas nelas colocar um precário envoltório ideológico –
embora junto às massas ele seja em boa medida eficiente.
Com relação a esta constatação, apoiados em Adorno (1993 e 1994) e Pedrosa (2003),
julgamos pertinente fazermos alguns apontamentos acerca da situação de desentendimento criada por
vários teóricos marxistas20 com relação à qualificação profissional. Na tentativa de explicar seus novos
significados e a sua suposta consonância com a revalorização do trabalho, no sentido desta estar
propiciando a emergência daquela, esses teóricos, inadvertida ou deliberadamente, acabaram por não
alcançar as novas contradições surgidas no seio das reestruturações técnico-produtivas do capitalismo
e sua relação com essa questionável revalorização. Destarte, a não observância de tais contradições
descambou na construção de matrizes teóricas vazias de análises proponentes da superação das
determinações fundamentais através das quais o capitalismo se reproduz, contribuindo, assim, para
reiterá-las teoricamente – desta feita sob uma argumentação dotada de novas nuanças.
Para Pedrosa (2003), a primeira insuficiência apresentada nesse corpo teórico refere-se à
criação de obstáculos ao entendimento de que a resignificação das relações de poder e dominação no
âmbito da reprodução social sob o capitalismo passa pelo movimento da “...dialética entre as forças
produtivas e relações de produção...” (PEDROSA, 2003, p.182). Outra insuficiência está ligada à
precariedade da formulação conceitual envolvendo “...trabalho, a divisão do trabalho, e suas relações
com a propriedade e a dominação...” (PEDROSA, 2003, p.182). Ao atentarmos para a ampliação do
estatuto da propriedade privada na sociedade capitalista – não entendida tão somente como
19 Sua formalização se deu no Código Brasileiro de Ocupações – CBO, no ano de 2005. O CBO é o documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos e descreve as características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. 20 Pedrosa (2003) dirige sua crítica, sobretudo, a autores como Philippe Zarifian (2003) e Helena Hirata (2000).
45
propriedade dos meios materiais e imateriais de produção, mas, outrossim, através de uma
avassaladora privatização dos mais longínquos recônditos da vida, das relações sociais e das
sociabilidades – não podemos deixar de interrogar o trabalho e a divisão do trabalho, além de suas
variantes contemporâneas. Senão vejamos.
O movimento que preside o estágio atual do modo de produção capitalista, assim como em
outros momentos do seu processo reprodutivo, tem na chamada “terceira revolução tecnológica” um de
seus principais suportes. Ora, e isso, por assim dizer, seria imanente à sua dinâmica: o progresso das
forças produtivas, ao lado de suas demais estratégias, estaria plasmado na criação das condições
gerais para a acumulação por meio de taxas de lucro satisfatórias, viabilizando o capital em sua
reprodução ampliada. Nesse vertiginoso percurso do progresso das forças produtivas, as ditas matrizes
teóricas, pretensamente amparadas no “materialismo histórico”, apontam para a possibilidade, de
acordo com Pedrosa, de que, a partir dos novos “...reflexos nas relações de poder que se estabelecem
no cotidiano da gestão empresarial e que, em decorrência da demanda por novas qualificações
profissionais, um novo tipo de sujeito individual e coletivo possa emergir” (PEDROSA, 2003, p.182).
Desse modo, a dialética envolvendo as forças produtivas e as relações de produção perde seu
vigor, pois torna-se mecânica. Suas tensões e contradições, na qualidade de combustível do seu
processo, ao não serem levadas em consideração dentro da totalidade social, mumificam a reflexão e
tornam ineficaz a crítica. Como então deixar de buscar o cerne das contradições de classe, elemento
tensionador desse movimento, deixar que desapareçam da análise mesmo estando presentes na sua
essência? É preciso fazê-las assumirem papel central na constituição e na dinâmica das relações
fundamentais do capitalismo, pois nele “...as relações de produção, apenas para a sua
autoconservação, continuaram [e continuam] a submeter a si as forças produtivas deixadas à solta”
(ADORNO, 1993, p.70).
Assim sendo, o progresso das forças produtivas estaria desvinculado de seu mote indutor, qual
seja, o das relações de produção orientadas pelo e para o processo de valorização e concomitante
acumulação do capital. Ao ganharem essa espécie de autonomia desestruturadora nas supracitadas
análises, as forças produtivas sobressaem-se como materialização de uma noção de progresso linear e
infinito, cuja ideologia, tão cara à manutenção de todo um status quo, apregoa a sua chegada aos
redutos mais diversos onde o trabalho enquanto atividade heterônoma está presente. Nesse caso,
progresso significaria o resgate da dita subjetividade do trabalho, sinônimo de maior bem-estar, tanto
nas relações de trabalho quanto na atividade em si mesma.
Tomemos como ilustrativo de tal ilusão a gênese e a consolidação da ASMARE, no que
concerne à órbita da constituição do novo corpo de representações que passaram a dar respaldo social
aos homens e mulheres catadores(as) de papel e sua atividade. Os princípios que ancoraram os
46
Agentes de Pastoral nas suas intervenções e estratégias, primeiro de aproximação e depois de
organização e mobilização dessas pessoas, valeram-se da constituição de uma identidade de “sujeito”
não mais “revirador de lixo”, e sim “agente ambiental” e “trabalhador”. Noutros termos, temos a
relativização do estigma anterior carregado por estes homens e mulheres em relação à sociedade, por
meio da dotação de subjetividade a uma atividade que entra numa rota de estranhamento e reificação.
A real desqualificação da catação mimetiza-se, aos olhos de vários, como ilusória valorização.
Estes artifícios não se dão ao acaso. Torna-se importante produzir determinado tipo de força
de trabalho (envolta num manto de “valorização”: é aí que se localiza a tal construção de uma
identidade de sujeito!) para garantir, num sentido lato, o crescimento de um promissor circuito de
valorização como é o mercado da reciclagem. Já num nível mais estrito – no âmbito da ASMARE –
deve-se produzir e direcionar à sociedade (e aos próprios catadores) uma imagem positiva de
associação que fornece “dignidade” aos seus associados pela via do trabalho (precário) como fator
cabal de “mudança de vida”. Paralela a esta lógica se dá a manifestação do projeto ASMARE na
cotidianidade destes homens e mulheres. Ora, o processo de “produção” dos materiais recicláveis
adequados às exigências do mercado (limpo, seco, enfardado e em grandes quantidades) envolve a
utilização do corpo e da subjetividade do trabalhador sob diferentes formas, a partir das várias fases do
mesmo processo. Como nos diz Harvey (2004, p.146), representa-se aqui “O hiato entre aquilo que o
trabalhador como pessoa pode desejar e aquilo que é exigido da mercadoria força de trabalho extraída
de seu corpo é o nexo da alienação”.
Vejamos como o corpo, reduzido no capitalismo a mero fator de produção, é mobilizado nos
dois tipos de serviço realizados por um(a) catador(a) de rua. Primeiramente, tem-se a catação
propriamente dita, por meio do carrinho, em horários geralmente definidos pelo doador (o fim de tarde,
por exemplo). Em seguida, é feita a triagem do material coletado (ver fotos 2 e 3), a qual se realiza
geralmente durante parte do dia ou no início da noite, pelo(a) próprio(a) catador(a) e membros da
família ou, ainda, por pessoas “contratadas” por ele. Seu trabalho, portanto, possui horários e ritmos
flexíveis, de acordo com as necessidades da “produção”. Todavia, em outro momento ele pode conter
uma orientação muito próxima dos modelos taylorista e fordista de organização do processo de
trabalho, sobretudo nos momentos da triagem. Emblemático nesse caso foi acompanhamento que
fizemos durante o ano de 2006 do trabalho das mulheres encarregadas da triagem das garrafas PET e
PP-5. Elas o exercem a partir das regras da produtividade, ou seja, com seus ganhos calculados de
acordo com a quantidade de material triado – cada quilo equivale a 01 centavo21! Já a atividade da
21 Desde o mês de fevereiro de 2007 a triagem de todos os materiais recicláveis com os quais a ASMARE trabalha (notadamente o papel e plástico PET) está sendo feita no galpão da rua Ituiutaba, no Bairro Prado. Os valores pagos aos catadores(as) correspondem a 50% do preço de mercado do material. Vale dizer que os valores aumentaram, mas as
47
triagem em si consiste, em termos gerais, na retirada do rótulo e o anel que acompanha as tampas das
garrafas, passando-as, de um local para outro, já devidamente limpas. Trata-se de um trabalho que
guarda muitas semelhanças com o taylorismo, pois os movimentos são extremamente repetitivos e a
coerção do tempo vem da exigência de produtividade implícita nos baixíssimos ganhos. Conversando
com algumas mulheres que trabalhavam na triagem de PET, ouvimos a revelação de quão dolorosa se
torna uma atividade praticada exclusivamente pela falta de opções de ganhos no trabalho de hoje. Ao
chegar ao galpão e cumprimentá-las, a catadora de nome “Cinthia” nos pareceu bastante transtornada
com seu serviço, chegando a dizer “...que isso aqui [o serviço da triagem] é um ‘inferno’, isso não é
serviço de gente” .
Foto 02: Catadora realizando o trabalho de triagem de materiais no galpão da Avenida do Contorno. Autor: Luiz Antônio E. de Andrade. Foto tirada em 19/04/06.
queixas acerca da jornada extenuante continuam, sendo que as dores pelo corpo (principalmente de coluna) são as mais recorrentes. Alguns catadores(as) têm se queixado da ausência de direitos trabalhistas e o medo de acidentes de trabalho.
48
Foto 3: Área interna do depósito de triagem da ASMARE localizado à Rua Ituiutaba, no Bairro Prado. Autor: Luiz Antônio E. de Andrade. Foto tirada em 07/06/07.
Destarte, é na confusão arquitetada pelo discurso hegemônico, através do qual a precarização
e a exploração do trabalho pelo capital são acobertadas pela “valorização” e pela “justiça” feita por este
em relação a aquele, toda a lógica de dominação que se assenhora dos corpos trabalhadores é
ocultada e ganha uma inversão espetacular. A precarização do trabalho é ilustrada pela retirada
gradativa de direitos (e concessões) conquistados e pela aceleração desmedida dos ritmos exigidos no
trabalho em nome do produtivismo cego – a despeito da formidável automação hoje verificada. O
aumento das coerções, prescrições e opressões no chão da fábrica ou da empresa, é destilado como
“mal necessário” e, no limite, como “medida benéfica” à manutenção e/ou geração dos poucos
empregos existentes. Eis aí o aumento da coisificação e do estranhamento do trabalho contribuindo
para o alastramento da vida danificada. Sustentamos, com o apoio em Adorno (1993), que não é
possível clarificar o entendimento dos sentidos últimos do progresso das forças produtivas sem
perceber o seu imbricamento com os irracionalismos da racionalidade que povoa a manutenção das
relações sociais de produção no capitalismo. Afinal, “...contrastar simplesmente entre si forças
produtivas e relações de produção de um modo polarizado, não ficaria nada bem para uma teoria
dialética (ADORNO, 1993, p.71).
Quanto aos estudos que relacionam progresso das forças produtivas e revalorização do
trabalho, estes advogam em torno do “...potencial formativo [deste último] (...) no contexto das tais
novas tecnologias de base microeletrônica” (PEDROSA, 2003, p.184). Premissa associada à crença na
libertação dos indivíduos no interior de uma sociedade em que tais tecnologias assumem o caminho
49
contrário: encarcerar o homem na prisão do trabalho estranhado e repressivo – porque tomado de um
produtivismo insano – no sentido de alastrar para os confins do sadismo a subordinação total do valor
de uso ao valor de troca, alimentando assim a manutenção aumentada das taxas de lucro.
Esse motor ao qual a sociedade está vinculada move a estratégia de ratificação da tendência à
busca pelo aniquilamento de qualquer pensamento e ação que não esteja dentro de seus imperativos
lógico-instrumentais. Isso é confirmado pelo discurso ancorador da sutil imposição do vale-tudo de
mercado. Ora, há mais coisas do que se imagina por detrás do cenário de crescente liberdade
disponibilizado para o trabalhador exercitar sua criatividade e subjetividade – combinadas com seu
savoir-faire –, resultado da “diluição” das hierarquias no interior das organizações num momento em
que nela “pululam” gestos de “efervescência democrática”. Nesse vão escuro escondem-se as
estratégias de canalização e subsunção do pensamento reflexivo, do dinamismo e da iniciativa – na
forma das competências hoje requeridas – para fins direta e objetivamente ligados à imposição da
melhor performance no trabalho e, logo, para garantir a máxima performance dos capitais (leia-se
valorização) empregados no processo produtivo como um todo. Este direcionamento, agora sob o véu
opaco de seu anteparo ideológico, no limite, só corrobora a vontade obsessiva de controle como
afirmação do pensamento único, embotando “a simples capacidade de imaginar concretamente o
mundo de um modo diverso de como ele dominadoramente se apresenta àqueles pelos quais é
construído” (ADORNO, 1994, p.70).
Qualificar-se, então, nada mais seria do que adquirir “conhecimentos” e “competências” cuja
utilização estaria localizada num universo inquietantemente mais restrito para as possibilidades da vida:
produzir e consumir. Concomitantemente (e paradoxalmente), a qualificação impõe-se como importante
necessidade para o trabalhador num mundo onde as relações sociais acham-se cada vez mais
embalsamadas pelo produtivismo exigido pelo movimento da reprodução ampliada do capital.
Constatação, portanto, mais do que cabal da vida reduzida a meio de vida (ADORNO, 1993). Eis aí o
pulo do gato da concretização transcendente da qualificação, não percebida no seio das relações
fundamentais determinantes de sua causalidade complexa, e que Pedrosa (2003), dentro dessa
mesma linha de pensamento, procura chamar a atenção que o trabalho poderia:
...de fato estar dando por atingido seu telos, e, portanto revelando a sua positividade, somente se o atual estádio de desenvolvimento das forças produtivas estivesse facultando a sua supressão, de forma a possibilitar um outro tipo de vida e de relações sociais, não mais estagnadas no reino da necessidade, mas no sentido daquele reino da liberdade pensado por Marx: momento em que a história seria efetivamente iniciada (PEDROSA, 2003, p.185).
Essa afirmativa de Pedrosa (2003) remete-se, mais uma vez, à sua crítica aos autores
“marxistas” Philippe Zafirian (2003) e Helena Hirata (2000) em seus estudos sobre a qualificação
50
profissional. Para ele, tais estudos possuem ainda dois equívocos derivados da dialética mecanicista
que lhes serve de método. Desembocam daí, dois sentidos: atribuem “...um valor-em-si ao trabalho e
não entende[m] a reciprocidade na determinação entre capital e trabalho” (PEDROSA, 2003, p.185).
Perdendo-se de vista essas condicionantes, no interior do seu conseqüente equívoco abre-se caminho
para se admitir a revalorização do trabalho mesmo em meio ao seu retorno aos obscuros primórdios
das relações capitalistas.
Deriva daí a nossa resistência em chamarmos de revalorização as transformações verificadas
no trabalho sob a égide do capitalismo, marcado pela impossibilidade de dar àquele um adjetivo
auspicioso, posto que contaminado pela ideologia burguesa, da qual, paradoxalmente, advém sua
representação positiva. Seria, portanto, coerente se pensar a crítica radical podendo assumir um
sentido diferente daquele que procura desvelar a lógica “...cada vez mais irracional e que impõe cada
vez mais sacrifícios aos indivíduos, embora as possibilidades objetivas para uma vida livre e feliz sejam
cada vez mais próximas” (PEDROSA, 2003, p.186)?
Pois é a crítica falsa, proveniente da não-reflexão sobre o verdadeiro significado
hegemonicamente dado (e imposto) às condições de existência social em nossa sociedade, que traz a
dimensão implícita da qualificação profissional já bafejada pela trama ideológica dada às noções de
“cidadania” e “inclusão social” na atualidade. Conforme veremos nos próximos capítulos, essas noções
estão desvinculadas de uma concepção vigorosa, tanto do seu significado próprio, quanto de uma
concepção de política. Entendemos que seu afastamento da condição de ebulidora dos imobilismos a
leva a uma outra, de ratificadora do marasmo reivindicatório, de prática dotada do poder de
desalienação dos corpos a produtora de uma vil passividade estrategicamente alimentadora do
existente. Talvez uma de suas conseqüências mais deletérias seja a perigosa validação da tendência a
que os homens sejam “...obrigados até mesmo em suas mais íntimas emoções a se submeterem ao
mecanismo social como portadores de papéis, tendo de se modelar sem reservas de acordo com ele”
(ADORNO, 1994, p.68).
Retomando o diálogo com as análises de Pedrosa, sérias dificuldades impõem-se ao
entendimento ampliado da qualificação profissional, do entendimento do processo de trabalho na sua
totalidade e, logo, de suas diversas conexões com os marcos gerais da reprodução social na sociedade
contemporânea. No seu entender, elas se originam da compreensão equivocada do “...verdadeiro
sentido da natureza na perspectiva marxiana, a condição de sujeito da natureza e a condição do
homem enquanto ser que se forma na natureza” (PEDROSA, 2003, p.187). Ao desqualificarem a
natureza, retiram dela sua qualidade de sujeito, relegando-lhe a mera condição subalterna. Na mesma
medida, erigem o trabalho à condição de atividade em si, ausente de sentido porque pesa sobre os
homens numa intensidade funesta, sem, todavia, compreenderem que, na perspectiva marxiana, “...o
51
telos do trabalho, tal como pensado em Marx e por Engels é a sua própria supressão” (PEDROSA,
2003, p.187). Destarte, o trabalho na sociedade burguesa, ao reduzir a natureza a objeto objetualiza
também o homem, transformando-o em simulacro de sujeito pelo simples fato de dirigir-se de fora a
essa natureza-objeto. O resultado dessa inversão é a natureza como mercadoria, condenada a possuir
um valor meramente “fora-de-si”. A natureza por ela mesma deixa de ser a subjetividade-objetividade
da qual o homem também pertence para ser abstração-concreta utilitária ao mercado. O preocupante
corolário – confirmador do que foi dito acima – daí advindo se expressa nas palavras de Pedrosa:
A ausência do conceito de natureza – do em-si da natureza – é significativo porque ela compromete o entendimento do sentido marxiano da alienação, porque não entende o verdadeiro sentido da propriedade privada burguesa. Assim, o conceito de divisão do trabalho é igualmente empobrecido porque ele se limita ao seu conteúdo técnico, isto é, a divisão do trabalho é destituída de sua condição social e se torna um conceito sem substância, meramente operacional... (PEDROSA, 2003, p.192).
Ainda segundo o autor aludido, outro equívoco dos estudos sobre qualificação profissional é
tomar o trabalho como categoria que pode ser compartimentada em análises estilhaçadas, isto é,
podendo ser pensada tão somente como categoria sócio-econômica e, absurdamente, localizada fora
da reprodução social desse mundo. Suas palavras corroboram tal afirmação:
Na verdade seu objeto de trabalho não é o trabalho propriamente e nem mesmo a divisão do trabalho em sua dimensão social, mas divisão técnica do trabalho: como se fosse possível separar trabalho de divisão do trabalho, como se também fosse possível pensar a divisão técnica do trabalho fora de sua dimensão social, desconectada do conceito de propriedade privada, a verdadeira origem da alienação segundo Marx (PEDROSA, 2003, p.187).
Aproximamo-nos novamente do mito da democracia organizacional, cujos princípios, em tese,
foram implementados e hoje são seguidos “religiosamente” na ASMARE por meio de assembléias,
reuniões periódicas, e eleições regulares da diretoria colegiada22, produzindo uma imagem de
coletividade e transparência nas suas decisões internas. Baseado no que vimos anteriormente, a
margem de autonomia do trabalhador, embora alargada em relação à organização do processo de
trabalho no taylorismo e no fordismo, continua circunscrita à esfera decisória de caráter eminentemente
técnica do cargo por ele ocupado (SARAIVA, 2001). A divisão técnica, não obstante diluída dentro da
necessidade de polivalência das funções no interior da fábrica ou da empresa, está intrinsecamente
atrelada aos mecanismos norteadores da divisão social do trabalho, a qual não se desconecta da
22 Ao conversarmos com diversos(as) catadores(as) e freqüentarmos algumas assembléias realizadas durante nossa pesquisa, percebemos o quanto as mesmas conformam-se para a grande maioria destes homens e mulheres como “encontros” ausentes de sentido. Em primeiro lugar, porque, nas palavras da catadora “Cinthia”, as assembléias são sempre a mesma coisa: “...cobrança, cobrança, cobrança”. Parece que eles lá [a administração] não sabe elogiar, é só cobrar. Melhorar a vida do catador eles num pensam não”. As “cobranças” a que se refere a catadora residem na já questionada necessidade posta pela administração de se ter a observância rigorosa da produção dos catadores e na qualidade do
52
propriedade privada, sustentáculo maior da formação econômico-social historicamente engendradora
do modo de produção capitalista.
Essa participação aumentada nas decisões mediante “os trabalhos em equipes, os círculos de
controle, as sugestões oriundas do chão da fábrica...” (ANTUNES, 2005, p.131) carecem de uma
análise mais acurada. Ela pode ser feita em duas frentes. Primeiramente, se no modo de produção
capitalista o seu fim último é o processo de valorização com vistas à reprodução do capital – não
importando os artifícios utilizados para tal –, as unidades de produção de mercadorias materiais ou
imateriais se orientam imperativamente para essa mesma realização num nível individual e imediato. O
envolvimento do trabalhador no processo produtivo, portanto, visa à maximização da obtenção do valor
num momento em que se individualiza o atendimento ao consumidor, entre outras formas, primando
pela qualidade do produto ou serviço. Em segundo lugar, o estranhamento, tal qual exposto por Marx,
não desaparece. São as modalidades de sua dissimulação que se complexificam, criando, sobretudo
entre as parcelas de trabalhadores mais qualificadas presentes nas atividades intelectuais de ponta,
formas um pouco mais abrandadas desse estranhamento (ANTUNES, 2005). Contudo, se esse
fenômeno se mostra presente em doses menos cavalares nessas parcelas “mais inseridas” da classe
trabalhadora, a situação nos seus estratos mais precarizados é aterradora porque ainda mais intensa,
pois são eles “...que vivenciam as condições mais desprovidas de direitos e em situação de
instabilidade cotidiana, dada pelo trabalho part-time, temporário, etc” (ANTUNES, 2005, p.132).
material catado (devendo estar seco, limpo e não misturado com detritos).
53
CAPÍTULO 2
CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA “SOCIEDADE ADMINISTRADA”: O
ESPETÁCULO COMO MOBILIZAÇÃO DE SEUS SENTIDOS DES-MOBILIZADORES
Advertimos desde já que nosso objetivo neste capítulo não passa pela preocupação em
apresentar os encontros e desencontros do devir democrático e o processo histórico-social que
orientou as diferentes concepções de cidadania e participação social no mundo ocidental, e que,
guardadas as devidas especificidades, transpuseram-se à formação política brasileira. Afinal de contas,
já há uma literatura sobejamente conhecida que tematiza as vertentes clássicas norteadoras de tais
concepções23. Por ora, julgamos importante iluminar a atual efusividade com que vários dos
“formadores de opinião” proclamam em torno das noções de cidadania e participação social, aquilo que
Evelina Dagnino (2004) vem chamando de “deslocamentos de significado”. Estes, por sua vez têm
concorrido para embotar os sentidos vigorosos de tais noções, postas, portanto, numa concepção
reduzida (e redutora) de bem-público. Concomitantemente, fragiliza-se a percepção do possível, do
caráter emancipatório das ações historicamente constituídas pela conquista dos direitos de cidadania e
da abertura de verdadeiros espaços públicos à participação social. Doravante, colocamos em tela uma
e outra noção como construídas pela e construtoras da radicalidade da prática política e social na
vontade de liberdade de amplas frações de classe outrora e ainda hoje alijadas das conquistas do
gênero humano.
No nosso entender, o rebarbativo privilégio que vem sendo dado aos significados dessas
noções, ao invés de tonificar o exercício democrático e a realização da vida na e pela Política, lança-
nos, inadvertida e inexoravelmente, rumo ao perigoso e obscuro caminho das novas feições do
totalitarismo e da antiliberdade. Em meio a essas “qualidades”, emergem excrescências paradoxais e
imbricadas: a consolidação de um “Estado mínimo” e de instituições políticas submissos aos desígnios
econômico-financeiros da vez, cujo “fazer social” se dá de acordo com as orientações desses últimos; a
delegação (ou seria o simples ato de relegar?) aos homens e mulheres contemporâneos a
“possibilidade” de “participar” da construção daquilo que hoje se chama de “políticas públicas” sob a
restrita autorização de pisar no terreno do “político” apenas dentro do designado de antemão, ou seja,
pela influência direta e indireta dos agentes hegemônicos.
Ao nos orientarmos pelas referências do supracitado embotamento trazido à baila por Evelina
Dagnino (2004) e no que dissemos acima, obtemos subsídios para a análise dos sentidos últimos do
23 Para conhecer mais a fundo tais concepções ver Carvalho (2000).
54
que tem sido o corpo do debate e também o mote sobre o qual vêm se apoiando a atuação do Estado
brasileiro, figurada nos diferentes governos dos últimos anos – sobretudo aqueles instalados sob os
auspícios da “Nova República”. Atuação essa notabilizada pela adequação fiel ao dado e definido por
forças de mercado que deveriam ser, no mínimo, submetidas à restrição eficaz de seus meios de ação.
Faz então sentido pensar um e outro efeito (Estado mínimo em consonância com o livre mercado)
incidindo sobre as concepções mais amplas que têm norteado o “projeto ASMARE”. Projeto que, como
vimos, assenta-se numa propalada “visão inovadora” das políticas de “inclusão produtiva” e
“reintegração social” da Prefeitura de Belo Horizonte. Tais políticas se apóiam numa matriz discursiva
que as coloca como pedra de toque de um suposto movimento de busca de uma “cidadania ativa”
como condição sine qua non para a (também supostas) “inclusão” e “participação” sociais alargadas de
grupos outrora destituídos da possibilidade mais elementar de ouvir e se fazerem ouvidos – como é o
caso das populações de ou em situação de rua. Seria o dito movimento uma “inflexão” ou “opção
institucional” visando pagar uma “dívida social histórica”? Em nossa pesquisa, conforme já aludido,
verticalizaremos a análise sobre os homens e mulheres catadores(as) de papel associados à ASMARE.
Partimos da seguinte hipótese: aquilo que se denomina nos dias de hoje como sendo uma
ampla e radical democratização dos processos participativos com vistas à formação de sujeitos sociais
dentro de um campo de construção e ampliação de direitos, ao que parece, perde terreno
vertiginosamente no espaço-tempo da ASMARE. Tudo isso, na medida em que a dita associação
penetra desmedidamente pelas cercanias da lógica mercantil, compelindo-a a se efetivar como
organização empresarial capitalista típica, tendendo, portanto, a redefinir internamente as noções que
orientaram suas premissas iniciais.
Torna-se pertinente resgatar sucintamente o que foram as noções de cidadania e participação
social que acompanharam as lutas de determinadas frações daqueles que, por assim dizer, são
protagonistas do processo contraditório de construção de uma nação cuja pujança econômica é
notável, mas que ficaram de fora da distribuição equânime da riqueza socialmente produzida nestas
paragens. Essa é a história da árdua construção do caminho possível para a realização de um ideal
democrático e cidadão brasileiro fundado numa verdadeira esfera pública, o qual decorreu, “...quase
que por inteiro, da ação das classes dominadas” (OLIVEIRA, 1999, p.60).
E isso, no embate com uma forte tradição de privatização das relações sociais, baseadas em
altas doses de cultura autoritária posta a ferro e fogo pelas elites deste país, gerando a “...obliteração
de um sentido de responsabilidade pública e obrigação social” (TELLES, 1997 p.226). Mas são os
conflitos, as lutas e os embates decorrentes da relação diametralmente oposta entre um projeto
“modernizante” de sociedade avassalador, despótico e negador do humano levado a efeito pelas
nossas elites, e aquele – não sem contradições – trazido como reivindicação da “parcela dos sem
55
parcela” (RANCIÈRE, 1996a) os ensejadores da exigência de novos termos para o que sempre foi
posto como “fato consumado”. Foram bandeiras de luta empunhadas por vários seguimentos sociais
populares ao longo da formação histórico-social brasileira que, à sua maneira, punham à mesa os
absurdos contidos na falácia verborrágica e unilateral do discurso desenvolvimentista burguês.
Contudo, nossos apontamentos não passam pela complexa contenda do processo no e pelo
qual forjou-se a formação política e econômica brasileira – donde encontram-se importantes pistas para
entendermos que tipo de cidadania e democracia temos por aqui. Entretanto, daremos alguns passos
no terreno histórico-social de fins da década de 1970, “quando novos personagens entram em cena”24.
Naquele momento constituíam-se movimentos sociais e reivindicativos25 advindos das classes
populares que intentavam demandar para si o direito a participar ativamente, por exemplo, da
deliberação daquilo que sempre lhes fora negado no interior do processo de urbanização brasileiro.
Processo esse costurado pela produção de um espaço heterônomo e constrangedor porque tornado
mercadoria e suporte da acumulação de capital. Tais movimentos não deixaram de trazer a força de
uma sociedade civil que buscava se fazer reivindicativa, combativa, mas também propositiva frente ao
Estado – não mais entendido como, por excelência, o eixo preferencial por onde passam as discussões
de caráter público – na busca por maior justiça e equidade sociais, mesmo por dentro da sociedade de
classes.
Tal empreendimento nos permitirá formar o assoalho teórico para a discussão nos capítulos
posteriores dessa pesquisa daquilo que vem se tratando como “inclusão social” pelo poder público
municipal e sua incidência no projeto ASMARE. Permitirá-nos, também, refletir sobre como os homens
e mulheres catadores(as) de papel associados se colocam em face dos mecanismos institucionais de
“inclusão”, o modo pelo qual a concebem.
2.1. Os encontros e desencontros da construção do ideário e da prática dos direitos de
cidadania no Ocidente
As definições clássicas da tradição democrática do Ocidente trazem a noção de cidadania
pensada a partir de diferentes vertentes, como a liberal, o humanismo cívico e a vertente comunitária
(CARVALHO, 2000). Contudo, as feições modernas da cidadania acabam por apresentar traços dessas
24 Frase alusiva ao título do arguto trabalho empreendido por Eder Sader (1995), utilizado em nosso estudo. 25 Azevedo & Mares Guia (2001) nos apresentam uma distinção sobre o caráter social ou reivindicatório de um movimento popular. Ele é social se suas perspectivas vão além da causa imediata que carregam em suas bandeiras de luta, isto é, alçando, a partir daquele foco momentâneo, vôos mais altos, rumo à transformação social. Já o caráter reivindicativo de um movimento popular se dará no caso daqueles grupos que buscam apenas a satisfação de uma necessidade ou de uma reivindicação imediata, diluindo-se quando esta ou parte dela é obtida.
56
três vertentes, associadas a um quadro desenhado pela titularidade de direitos nas suas esferas civil,
política e social como condição primordial para a existência de justiça social e construção das
identidades coletivas. Pode-se dizer que a formação da cultura cidadã não se descola de uma cultura
política constituída e constituidora das lutas contra a condição de desigualdades sociais surgidas e, em
maior ou menor medida reiteradas, no próprio seio da formação econômico-social capitalista. Se por
um lado, os grupos hegemônicos admitiam e consentiam a necessidade de “se fazer a revolução antes
que o povo a fizesse”, outorgando, aos poucos, direitos e concessões às classes trabalhadoras, por
outro, não se pode negar as pressões sociais que se fizeram presentes, acabando por provocar a
aparente mudança de mentalidade do caráter burguês. Destarte, seria leviano dizer que, no caso
europeu, a aquisição de direitos não tenha sido pleiteada e conquistada mediante as lutas
empreendidas nos séculos XVIII e XIX, obtendo os direitos civis e políticos, respectivamente, e,
sobretudo, no século XX, com a universalização dos direitos sociais (MARSHALL, 1967).
Essa universalização dos direitos estava plasmada no quadro de tais pressões e exigências,
encampadas, mormente, pelo movimento operário, visando à redefinição dos termos através dos quais
a riqueza socialmente produzida era repartida – e, em vários momentos, chegando à luta pela
redefinição dos termos da organização do trabalho e da produção e até das formas em que se dava a
reprodução social. Em suma, foram lutas que traziam no seu bojo reivindicações elaboradas em
contrário do até então concretizado: as terríveis desigualdades tributárias da apropriação privada de tal
riqueza como negação das possibilidades trazidas pelas conquistas reais do projeto civilizatório
burguês. Entremeada nessa seara, podemos nos arriscar a dizer, apoiados nas concepções de
cidadania de Marshall (1967), que esta nasceu e passou a conviver conflituosamente, numa tensão
irredutível, com o crescimento do capitalismo como modo de produção intrinsecamente produtor e
reprodutor de desigualdades.
O próprio Estado de Bem-Estar Social será, no entender de Marshall (1967), uma construção
possível para a realização de um nada desprezível projeto de justiça social, equidade e formação de
identidades coletivas. Se entendermos esse Estado de Bem-Estar, em última instância, como um
conjunto de arranjos envolvendo também as esferas do Capital e do Trabalho no sentido de garantir os
processos mais gerais do capitalismo por meio da reprodução da força de trabalho e do fôlego
necessário à acumulação de capital (OLIVEIRA, 1998a), talvez a própria cidadania seja um suporte
desses mesmos processos. Afinal de contas, a ampliação da esfera do financiamento público – por
exemplo, a partir da já mencionada universalização dos direitos sociais – abria frentes consideráveis à
reprodução do capital, principalmente na medida em que o valor não mais consistia no fator primordial
desse processo (OLIVEIRA, 1998a).
A cidadania então soergueu-se como prática que também revelava modos de se lidar com as
57
contradições oriundas da reprodução do capital. Entrementes, é importante ressaltar que, ao contrário
de sua fase concorrencial, quando o financiamento público dava-se de modo pontual, no capitalismo
contemporâneo sua provisão passa a ser sistemática e abrangente, além de estabelecer regras para o
funcionamento dos mercados, tudo isso firmado a partir de um consentimento que envolvia diferentes
setores sociais e políticos (OLIVEIRA, 1998a). Poderíamos então entender a cidadania, sem colocá-la
numa órbita traçada por uma mera relação de causa e efeito ou de causações estruturais, como
modelo traçado pelas classes dirigentes no sentido de ceder anéis para não ceder os dedos? Segundo
Marshall, ao referir-se aos direitos civis, afirma o fato destes “...serem indispensáveis a uma economia
de mercado competitivo” (MARSHALL, 1967, p.79), numa sociedade marcada pela diferença de classe
como algo proposital, tendo em vista que “...oferece o incentivo ao esforço e determina a distribuição
do poder” (MARSHALL, 1967, p.77). São formas e conteúdos impregnados no processo de reprodução
das relações sociais de produção que se objetivaram no ciclo de crescimento do capitalismo presente
em boa parte do século XX.
Herbert Marcuse (1982) tendo produzido sua obra “Ideologia da Sociedade Industrial: o homem
unidimensional” ainda na fase dos “anos de ouro” do capitalismo mundial, nos fornece um comentário
interessante e perceptivo do anúncio das mudanças a respeito:
Os direitos e liberdades que foram fatores assaz vitais nas origens e fases iniciais da sociedade industrial renderam-se a uma etapa mais avançada dessa sociedade: estão perdendo o seu sentido lógico e conteúdo tradicionais. Liberdade de pensamento, liberdade de palavra e liberdade de consciência foram – assim como o livre empreendimento, que elas ajudaram a promover e proteger – idéias essencialmente críticas destinadas a substituir uma cultura material e intelectual obsoleta por outra mais produtiva e racional. Uma vez institucionalizados, esses direitos e liberdades compartilharam do destino da sociedade da qual se haviam tornado parte integral. A realização cancela as premissas (MARCUSE, 1982, p.23).
Este era o apontamento para uma direção de coexistência possível e de reprodução ampliada
das bases econômico-político-culturais do modo de produção permeada por uma constelação de
interesses de classe. Isso num cenário de relações marcadas por antagonismos e complementaridades
envolvendo capital e trabalho, em meio aos quais captura e distensão, irrupção e reiteração de
práticas, pensamentos e ações eram suas marcas. Tem-se aí, o complexo reprodutivo num grau
ampliado da sociedade, efetivamente sobressaindo-se a reificação, o estranhamento e a desrealização
da vida como significâncias das relações de propriedade e de produção.
Talvez o Estado de Bem-Estar Social europeu seja seu exemplo mais cabal. Todavia, essa
processualidade ancora-se no momento em que a ampliação dos direitos entrava em conflito com os
princípios de classe inerentes à formação econômico-social tipicamente capitalista. Por isso, e ao
mesmo tempo, enquanto princípios opostos, eles cresceram e floresceram no mesmo lugar
58
(MARSHALL, 1967).
Francisco de Oliveira (1999), quando caracteriza o “movimento neoliberal”, marcado pela volta
ao indivíduo, à prevalência do privado nas relações sociais, articuladas ao desmantelamento do Estado
e das suas instituições políticas correspondentes, chama a atenção para a necessidade de analisá-lo
tanto nos fundamentos do processo de acumulação quanto no processo de “institucionalização do
Estado de Bem-Estar” (OLIVEIRA, 1999, p.56). O autor nos fala da experiência social-democrata, a
qual contribuiu para a sua “naturalização”, acompanhada do esgotamento das “energias utópicas” –
visto que a política passava a ser apenas um epifenômeno da sua própria prática, já que o Estado, por
dentro das suas atribuições, tomava para si o fazer social como totalidade. É como se esse mesmo
fazer social não tivesse condições de se efetivar plenamente fora dos auspícios de uma racionalidade
técnico-burocrática e abstrata, supostamente descolada de qualquer caráter de classe. Alcançava-se o
perigoso patamar da redução do político a uma prática embotada porque afastada do homem em sua
universalidade. Ou seja, grande parte do movimento operário acabou por se contentar com
concessões26 advindas das políticas de Estado no sentido de ampliar uma esfera de direitos composta,
entre outros, pela previdência social e a garantia (que há muito tempo já deixou de sê-la) do pleno
emprego.
Alain Bihr (1991), caminhando numa esteira de análise semelhante, reforça a crítica à
orientação teórica e prática do movimento operário europeu de tradição social-democrata. Ao
vislumbrar como projeto de emancipação a tomada para si do poder de Estado, as forças sociais que o
encamparam acabaram por deixar de fora uma perspectiva mais alargada de transformação social,
pois o poder político não seria superado, haja vista que sua circunscrição não se dá tão somente na
órbita do Estado. Não obstante esta instância de mediação e regulação, no caso da sociedade
capitalista ser, como diz o autor, “...na melhor das hipóteses, a principal...”, existem outras mediações,
como as “...relações mercantis e monetárias...” (BIHR, 1991, p.159) que vão muito além dela,
canalizando em seu favor a reprodução social por inteiro. Destarte, uma verdadeira transformação
social iria além do Estado, chegando “...ao poder do capital em toda a sua extensão e em toda a
profundidade da práxis social...” (BIHR, 1991, p.159), colocando o movimento operário – e, no sentido
lato, toda a sociedade – à frente da definição das condições sociais de sua existência, “...tanto dentro
do trabalho como fora dele” (BIHR, 1991, p.159).
Antes de nos direcionarmos especificamente à problemática da cidadania no Brasil,
26 O que chamamos de concessão neste momento caminha ao lado do alerta feito por Alain Bihr (1991) ao movimento operário europeu de tradição social-democrata: “O proletariado não pode mais se contentar em procurar obter por meio da negociação e/ou arrancar pela luta as melhores condições exploração de sua força de trabalho (ou, pelo menos, as menos ruins)” (BIHR, 1991, p.158), fato que contribuiu para o arrefecimento da radicalidade das lutas contra a hegemonia do capital na regulação da vida social.
59
comungamos com Eder Sader (1995) as preocupações tornadas questões de sua pesquisa sobre as
experiências e lutas dos trabalhadores da grande São Paulo, nas décadas de 1970 e 1980. De acordo
com esse autor, muito do que se produziu acerca dos movimentos e construção de práticas sociais
irruptivas desses trabalhadores, quando produzidas, as apresentavam apenas como “expressão das
contradições geradas no capitalismo” (SADER, 1995, p.38). Situavam tais movimentos e suas práticas
na estreiteza das determinações estruturais orientadas por condições objetivas dadas – materializadas
como resposta a um padrão de desenvolvimento excludente. Este viés, ainda segundo Eder Sader, por
si só não dá conta da complexidade presente nos marcos de ação desses mesmos movimentos, posto
que não são poucas as suas especificidades e singularidades – embora, não raro, elas sejam
consideradas apenas “traços conjunturais” (SADER, 1995, p.39). Trazemos essa questão à baila,
desejosos de que não sejamos mal interpretados na nossa expedita busca pelo entendimento das lutas
pela cidadania empreendidas pelos movimentos sociais de fins do século XIX e início do século XX.
Sejam estes, de base operário-sindical, seja o movimento dos(as) catadores(as) de papel de Belo
Horizonte, cada qual compartilha de desejos e inquietudes em alguma medida semelhantes, embora
particularizadas pelas diferenças históricas e as especificidades sociais. Voltaremos a essa questão.
2.2. Breves apontamentos acerca dos (des)caminhos da cidadania e da participação
social: a especificidade brasileira
No Brasil, o modelo de cidadania inicialmente instaurado não trazia em seu bojo os direitos
políticos e civis na qualidade de componentes primordiais de seus fundamentos. De acordo com Vera
Telles (1993), o que se definia como direitos sociais encontrava no Estado tutor e depositário da
“proteção social” sua linha mestra. Tais direitos nasceram sumamente atrelados aos vínculos
trabalhistas formais, que conheceram sua disseminação, sobretudo, a partir do início do Estado
Varguista. Nos dizeres da autora:
Trata-se de um peculiar modelo de cidadania, dissociado dos direitos políticos e também das regras da equivalência jurídica, tendo sido definida estritamente nos termos de um igual direito à proteção do Estado, através dos direitos sociais, como recompensa ao cumprimento com o dever do trabalho (TELLES, 1993, p.11).
Este arranjo que então se instituíra encerrava uma dissonância: o Estado reivindicava para si a
qualidade intrínseca de garantidor do “dever da justiça”, mas, ao mesmo tempo, o seu fazer social
tornava a equalização dos direitos e a materialização de seus efeitos apenas caricaturas, pois o que se
repunha à esfera social eram apenas “...desigualdades, hierarquias e exclusões” (TELLES, 1993, p.11).
A formação da cidadania no Brasil caminhava a passos largos para se estabelecer como instrumento
60
regulador e criador de diferenças, tendo no ato ou efeito de ser “trabalhador” – donde a carteira de
trabalho para o pobre significava, inclusive durante as batidas policiais “de rotina”, a demonstração da
sua condição de “indivíduo que trabalha” – o seu mote primordial27.
Essas foram (e são) aberrações encontradas no interior de uma sociedade cuja formação se
deu sob o signo da violência brutal, do autoritarismo social e das práticas escusas e arbitrárias por
parte de nossas elites para viabilizarem a sanha de seu interesse de classe pela manutenção de suas
hegemonias econômica, política e cultural. Nesse sentido, o público – cujos arranjos interpenetram-se
numa noção ampliada de direitos – posto como “público” calcado nas restrições im-postas pelas
concessões, dissimula-se revestido pelo seu simulacro: quando examinado um pouco mais de perto, o
que resta é apenas o público privatizado:
Trata-se de uma privatização das relações sociais, permitida dialeticamente pelo lugar do Estado na formação social brasileira. Um lugar proeminente, que reverte no fetiche da igualdade social: o máximo de Estado para o mínimo de esfera pública, ou o máximo de aparência de Estado para o máximo de privatização da relação social (OLIVEIRA, 1994, p.43).
Tudo isso por dentro de um amplo projeto de nação a partir do qual o chamado
“desenvolvimento”, levado a efeito mediante o crescimento econômico (alavancado pelo esforço de
industrialização) tornado fim em si mesmo, e, portanto, como totalidade última do processo histórico e
social. O Estado aqui se põe como “Astro Rei”, elo maior por onde devem passar todas as dimensões
27 Sem a intenção de procedermos à discussão realizando transposições simples dos processos europeus na relação entre cidadania e trabalho, arriscamo-nos a pensar o recuo do trabalho frente ao capital na Europa de certa forma semelhante ao Brasil. Embora não tenhamos convivido com um verdadeiro Estado de Bem-Estar Social, donde os ventos da cidadania sopraram por aqui na forma da regulação a partir do trabalho (abstrato), algumas conexões podem ser feitas. Primeiramente, vemos a inserção formal do indivíduo a partir do trabalho (abstrato) – garantida pelas Leis Trabalhistas (sumamente baseadas na Carta Del Lavoro implementada na Itália de Benito Mussolini) –, mote primordial para se estender os direitos de cidadania aos brasileiros sob a forma da tutela (o atrelamento aos vínculos com o trabalho formal dão uma pista a respeito), ser substituída pela regressão, precarização e a eliminação crescentes desse e de outros direitos na era neoliberal do início da década de 1990, dando, assim, um duro golpe nessa cidadania forjada na Era Vargas. Em segundo lugar, tem-se aí a chave para entendermos o deslocamento das noções que dão corpo a essa cidadania e, conseqüentemente, a sua “construção” se dando a partir de outros meios, outras estratégias. Em suma: os meios pelos quais se disseminam as modalidades que compõem tal cidadania se deslocam da esfera política consagrada pela regulação estatal, para irem se refugiar e ao mesmo tempo estabelecer, sob os ditames do reino do privado, numa busca individualista dos “sujeitos econômicos” livres, embora desigualmente equipados, pela sua “conquista”. No caso da ASMARE é interessante pensarmos o trabalho (ainda abstrato e acrescido das características dos “novos tempos”, isto é, precarizado sob todas as formas) como condição sine qua non para a conquista da cidadania pelo catador como um deslocamento de significado e concomitantemente uma reafirmação de sua estrutura reguladora e docilizadora destes homens e mulheres. Outrossim, ainda que o trabalho na sociedade burguesa tenha se forjado como elemento formal e civil na cesta de direitos de cidadania na maior parte do mundo em fins da primeira metade do século XX, nos tempos bafejados pelas reestruturações diversas no modo de produção capitalista, a noção de direito ao trabalho, para não irmos muito longe, deslocou-se do campo dos direitos para transformar-se em dever. Trocando em miúdos, a colocação no famigerado mercado de trabalho reveste-se da condição de algo muito mais a ser alcançado individualmente do que algo socialmente fornecido. Nossa afirmação pode ser revelada naquilo que foi por nós dito anteriormente em relação à emergência como discurso e como concretude da ação política e econômica da noção de “empregabilidade” ou “laboralidade” (PEDROSA, 2003) como cabedais necessários ao “mercado de trabalho” e não como garantia imediata de emprego.
61
da prática social. O mais impressionante é que tal noção, paradoxalmente, nega essa mesma
historicidade nas suas mais diferentes manifestações na realidade da qual também é produto. A
simbiose do progresso com a categoria desenvolvimento, não raro efetivada, nos dizeres de Theodor
Adorno (1995a), pela “teoria do conhecimento”, ao invés de desvelar as intransparências da realidade,
de viabilizar a fluidez do movimento do pensamento, acabou por bloquear suas possibilidades:
“...insiste[-se] na exatidão ali onde a impossibilidade de um saber é inerente à coisa mesma,
desencontra-se com esta, sabota a intelecção e serve à conservação do ruim” (ADORNO, 1995a,
p.37).
Não obstante nossa formação social reprodutora de um projeto modernizante caracterizado
pela heteronomia e pelo embotamento das possibilidades do humano, da torpe tentativa de se ceifar a
mínima contestação da ordem vigente, essa trajetória não se traduz como linearidade. Ela é
movimento, campo fabricante de tensões, de conflitos e de contradições, engendradas nas e
engendradoras das determinações do processo histórico e social. São as diferentes modalidades de
lutas surgidas em meio à agudização das diferenças e das dificuldades encontradas pelos destituídos
da apropriação da riqueza que eles mesmos ajudaram a construir, mas que, numa sociedade de
classes como a nossa, parecem ter de se contentar com os despojos do privado. É no seio dessa
corrosão da possibilidade de universalização dos direitos como prática comum na sociedade burguesa
que se originam tais lutas e, com elas, a constatação de que: “o fosso social é tão imenso que parece
obstruir a possibilidade mesma de uma linguagem comum e, portanto, do convívio social, interlocução
e debate comum em torno de questões pertinentes” (TELLES, 1994, p.228). Este é o momento quando
se tenta “virar a mesa”, irromper contra o mais do mesmo desprovido do salto qualitativo possível: as
contradições materializam-se nos embates.
Cabe, todavia, uma importante ressalva acompanhada de duas questões: qual é a linha que
separa direitos de concessões e, mais ainda, transformação social de reformismo? São questões
importantes se quisermos levar em conta quais as formas que se insinuam em meio aos conteúdos dos
movimentos surgidos no Brasil, interessando-nos ainda mais por aqueles de fins da década de 1970.
Da mesma maneira, tais questões nos permitem refletir em torno dos meandros da trajetória dos
homens e mulheres catadores(as) de papel na metrópole belohorizontina, culminando na fundação da
ASMARE. Afinal de contas, a reivindicação “da parcela dos sem parcela” (RANCIÈRE, 1996b) pode
indicar e ratificar o seu contrário: não se pôr e se forjar como consciência e exigência de libertação; ao
contrário, apenas reafirmar (inocentemente ou não) os meios pelos quais o vigente se reproduz.
Esses são sintomas claros da política recuada em favor do avanço do Estado, e não o seu
contrário, como libertação qualificada. Nesses termos, Herbert Marcuse (1982) quando discute o que
pode vir a ser a “liberdade”, se por dentro ou por fora da lógica que preside a sociedade burguesa, nos
62
dá uma pista para nossas questões: “Sob o jugo de um todo repressivo, a liberdade pode ser
transformada em poderoso instrumento de dominação” (MARCUSE, 1982, p.28). Esse autor elaborou a
obra citada num período cujo debate político experimentava um desgringolamento, efetivando-se como
prática tributária de uma esfera pública, até então e em boa medida, capitaneada pelo proletariado
europeu. A efervescência outrora demonstrada por esses sujeitos, conforme dissemos anteriormente,
desgasta-se no torvelinho da naturalização do “todo-poderoso” Estado de Bem-Estar Social, que aos
poucos tomava para si as rédeas de comando das esferas social, política e econômica.
Em nossa contemporaneidade, o exercício da liberdade negativa, praticada para além das
amarras das instâncias do institucional, imbricada à Política, cujos atributos verdadeiramente
democráticos manifestam-se, no entender de Zygmunt Bauman (2000, p.12), como “...a arte de
desmontar os limites à liberdade dos cidadãos” sofre um alto revés. Verificamos o quanto Marcuse
(1982) se mostra atual quando percebemos que os mecanismos de coerção/limitação/organização e
doutrinamento/moralização presentes na sociedade burguesa, ao invés de terem sido paulatinamente
superados, são redimensionados pelas exigências de uma história que parece ter se acabado. Essa
liberdade transformada em instrumento de dominação se confirma quando os indivíduos são
transformados de sujeitos políticos em meros consumidores com sua “capacidade de escolha”
sobredeterminada por um conjunto sem precedentes de mediações articuladas pelos mecanismos de
mercado. E mais ainda: quando os indivíduos vivem a anti-liberdade travestida mais “...sob a forma de
uma ‘oferta que não se pode recusar’ do que de uma ordem” (BAUMAN, 2000, p.84).
Em meio a esse processo mais amplo, avassalador e degradante, talvez pudéssemos trazer
algo fugido da inconformação tácita e “engolidora de sapos”, situado na busca de meios de ação
transcendentes da resignação e da inércia28. O cenário do crepúsculo da década de 1970, no calor do
clima de insatisfação cada vez mais presente devido à situação vivida no país, opera-se, por assim
dizer, como irrupção nas cenas política e social brasileiras de “novos atores sociais”, sobressaídos de
diferentes frações da sociedade. São inegáveis os seus gestos de clara coragem para se
desvencilharem da camisa de força que havia lhes sido imposta no transcurso da ditadura militar. De
acordo com Sader (1995), um momento que talvez possa ser considerado paradigmático seja a
contumaz eclosão do “…movimento grevista, que, iniciado em meio à região do ABC paulista,
28 Optamos por relativizar nossa informação em nota apoiando-nos nas palavras do mesmo Bauman (2000). Este autor é outro a tecer interessantes reflexões acerca do acirramento da “falta de liberdade” experimentado por homens e mulheres na sociedade contemporânea. Segundo ele, a falta de liberdade pode ser vivida como opressão, e desidentificação do homem consigo mesmo e com os outros homens, mas também vivida sem que se dê conta ou se tenha ao menos a sensação de tal opressão ou desidentificação. O autor comenta: “com bastante freqüência a obediência a regras e comandos que os atores não formularam nem escolheram não causa nem aflição nem lamento. Há um forte elemento de compulsão, isto é, de falta de liberdade em cada conduta rotineira; mas a rotina, longe de sentida como algo tirânico, é subjacente aos sentimentos de segurança e conforto que no geral são profundamente gratificantes” (BAUMAN, 2000, p.85).
63
rapidamente se alastrou pelos grandes centros industriais e urbanos do Estado, envolvendo centenas
de milhares de trabalhadores…” (SADER, 1995, p.25). Numa demonstração firme de recusa à
docilidade e à tutela a um sindicalismo cujos prepostos estavam lá nos corredores do poder, esse
movimento grevista demonstrava caminhos para “...uma revalorização de práticas sociais presentes no
cotidiano popular, ofuscadas pelas modalidades dominantes de sua representação” (SADER, 1995,
p.26).
Muitas das estratégias que foram se conformando no discurso político dos diversos
movimentos então emergentes estava associado às lutas pelas possibilidades de exercício de uma
cidadania ativa, irrompendo “...na cena pública reivindicando seus direitos, a começar pelo primeiro,
pelo direito de reivindicar direitos” (SADER, 1995, p.26). Ao seguirem na esteira do “processo de
redemocratização” brasileiro, esses novos atores pavimentavam um caminho possível à formação de
um discurso político crítico, em vários momentos pondo em questão os modelos e experiências da
política conformados sob a égide da marca insidiosa de apanágio de especialistas, chegando às raias
do totalitarismo deliberado de caserna.
Ao construírem-se como movimentos, em alguns casos ultrapassando o campo reivindicativo e
indo na direção do questionamento sem peias dos termos pelos quais a reprodução social canaliza a
vida, novas identidades coletivas se formavam. Elas ajudaram a dar corpo e sentido às lutas desses
movimentos, o quais direcionaram-se, não somente às demandas do chão de fábrica, mas, outrossim,
por aquelas de acesso aos equipamentos coletivos, aparelhos urbanos e pelas igualdades racial, de
gênero, étnica etc. (DAGNINO, 2004). Naquele momento verificava-se um ambiente propício, passível
de fornecer as bases à instauração de um terreno mais largo ao processo democrático, de um aumento
da virtude cívica, consoante à onda de politização florescida nas práticas de determinadas frações da
sociedade civil.
2.3. A ASMARE no pano de fundo contextual dos (des)caminhos da cidadania e da
participação social no Brasil
Vários autores no transcurso das décadas de 1980 e 1990 escreveram acerca de um
desenlace concomitante entre a emergência de uma cultura política associada aos movimentos sociais
e a chegada ao poder de gestões – sobretudo municipais – que traziam em sua agenda de governo
uma relação mais próxima com esses movimentos29. Tal contexto, pelo menos no que concerne ao
29 Para um contato mais acurado com as discussões envolvendo a relação entre fortalecimento da cultura política dos movimentos sociais e a polítização do Estado sugiro aqui o trabalho de Avritzer (2004).
64
município de Belo Horizonte, pareceu viabilizar-se a partir de 1993, quando o Partido dos
Trabalhadores, na figura de Patrus Ananias, assume a prefeitura trazendo na sua pauta de gestão um
processo de “recondução dialógica” através do incentivo à criação de espaços públicos
descentralizados de participação popular. Isso significava, em tese, a ratificação de uma reconfiguração
nos arranjos que compunham a natureza das relações entre o poder público e a sociedade civil,
caracterizando a ampliação de seu terreno com uma nova “governança” sob a égide do que se
convencionou chamar de “gestões democráticas inovadoras” (DIAS, 2002).
É nesse quadro que a literatura disponível estabelece uma espécie de divisor de águas, ou
seja, em que as relações entre poder público e entidades ligadas à busca do “alívio do sofrimento
daqueles que vivem da rua” passam a ser traçadas sob um “novo” prisma. Sônia Maria Dias (2002) é
uma das vozes propagadoras de um contexto sócio-político propício, onde se lança “um novo olhar
sobre a questão do catador”, com tais gestões operando a partir de um modelo de “junção entre
eficiência governamental, equidade e governança” (DIAS, 2002, p.63). Elas seriam, supostamente, um
amplo passo para “garantir o exercício da cidadania [grifo meu] dos grupos tradicionalmente
marginalizados” (DIAS, 2002, p.63).
Os momentos subsequentes são marcados pela “ampliação” das relações entre a ASMARE e o
poder público municipal. A nosso ver, sobressaem-se cinco pilares nos quais se fundaria a construção
da cidadania/inclusão social entre os homens e mulheres catadores(as) de papel na ASMARE. Eles se
constituem na a) conquista do “direito ao trabalho” por essas pessoas e a “efetivação” de sua
identidade de “trabalhador”; b) no poder público e suas instituições correlatas buscando abrir, aos
agentes que têm se ocupado do trabalho com a população de rua e/ou catadores(as) de papel – e
mesmo para esses últimos –, canais nos quais estes pudessem ouvir e se fazerem ouvidos; c) criação
de possibilidades para um amplo e incentivador trabalho visando seu processo organizativo; d) criação
de condições objetivas (através de diversos convênios envolvendo o poder público e entidades
parceiras) para a capacitação profissional dessas pessoas, visando a formação e o fortalecimento do
capital social30; e) afirmação, por parte dos agentes de mediação envolvidos com a “causa do catador”
(poder público e entidades diversas), de que todo o trabalho tem primado pela efetivação da melhoria
de suas “condições de vida” e de seu “reconhecimento social”. Mais uma vez, Sônia Maria Dias (2002),
em seu trabalho sobre o que ela considera a “construção da cidadania” na Associação, corrobora com
tais pilares:
Já vimos (...) as dificuldades dos associados em relação à adoção do universo de regras e deveres da ASMARE e dos seus espaços de trabalho, mas vimos também como a
30 O capital social, segundo Higgins (2005, p.03), são “todos os elementos de uma estrutura social que cumpram a função de recurso para que os indivíduos atinjam a satisfação de seus interesses...”.
65
linguagem e a prática da participação, do compartilhamento, da resolução de conflitos através da troca de idéias vem paulatinamente criando novas sociabilidades entre os catadores, possibilitando o exercício de uma prática cidadã, compreendida aqui no âmbito do estabelecimento de relações de co-responsabilidade que a gestão do projeto de coleta seletiva em parceria supõe (Dias, 2002, p.69).
Esse momento belorizontino, guardadas suas especificidades, vai ao encalço daquilo que
acontecia no âmbito nacional, não só em relação ao já mencionado aumento da força contestatória dos
movimentos sociais, mas também da “inauguração” de novos ajustamentos jurídico-políticos,
caminhando assim junto à onda democratizante de fins da década de 1980. A Constituição brasileira –
denominada “cidadã” – na sua essência ampliava, pelo menos enquanto letra da lei, o campo de ação
para que a sociedade civil tivesse à disposição elementos que conferissem a ela maior peso na gestão
da sociedade (DAGNINO, 2004): os espaços públicos de participação. Os dispositivos legais para a
criação de conselhos e a implementação de fóruns e assembléias puseram-se como concretização de
tal tendência. Ou seja, em tese reuniam-se as condições para que um projeto político democratizante
viesse à tona, contribuindo para uma possível desprotagonização do Estado em nome de um
alargamento tanto das suas características de atuação quanto da noção de sociedade civil a ser levada
em conta nas suas relações com o Estado.
Por outro lado, cumpre destacar – e isto se mostra patente na atualidade – que para a criação
de um ambiente onde estejam presentes as possibilidades de efetuação de uma cidadania ativa e
plena, somente o conteúdo formal das normas jurídicas não é suficiente para se garantir a supracitada
desprotagonização do poder de Estado. Para viabilizá-las não seria necessário que a própria essência
dos modos pelos quais o Estado compõe a prática social fossem questionados e, num patamar
superior, pudessem ser superados? No nosso entender, esses “ajustamentos” não só legitimam como
reforçam sua ação embotadora do fazer político enquanto universalidade do homem na qualidade de
ser genérico (ABENSOUR, 1998). Ao se im-por como demiurgo da prática social, em meio à qual seu
saber-poder é levado a efeito pelos asseclas de sua tecno-burocracia e dos instrumentos jurídico-
formais à sua disposição, o Estado aprioristicamente seria capaz de assegurar o bem-estar coletivo.
Noutros termos, o poder de Estado assume um papel ideologicamente definido e reiterado de instância
máxima do fazer social, uma instituição transcendente e anterior aos homens e à sociedade e não
histórica e socialmente produzida. Pensando os efeitos nefastos da imposição pelo Estado de um
consentimento coletivo sobre a prática social, Henri Lefebvre (2002) nos ajuda a pensar este máximo
de Estado corroborando o mínimo de política quando nos aponta a “ilusão estatista”, a qual:
...consiste num projeto colossal e irrisório. O Estado saberia e poderia gerir os assuntos de várias dezenas de milhões de sujeitos. Ele erigir-se-ia tanto como diretor de consciência, quanto como administrador superior. Providencial, deus personificado, o Estado tornar-se-ia o centro das coisas e das consciências terrestres. Sobre tal ilusão, poder-se-ia dizer que ela
66
se esboroa assim que é formulada (LEFEBVRE, 2002, p.140).
É nesse momento que poderíamos reverenciar verdadeiramente a abertura de portas para uma
ampla e sintonizada resignificação do conjunto das próprias relações sociais de produção, postas como
cerne único da reprodução social. Ora, torna-se necessário, nesses termos, a reivenção da política,
construção na qual o “homem comum” possa emergir como sujeito do fazer história, passando a ter
condições de deliberar para além daquilo que se estabelece como estabelecido de antemão.
Ainda percorrendo essa questão, achamos interessante trazermos para o debate Dalmo Dallari
(1982) Numa análise da Carta Magna brasileira, esse autor atentava para as dificuldades de se fazer
valer seu valor teórico correspondendo à prática (já que seus conteúdos são vazios da resignificação
efetiva dos termos pelos quais foi engendrada nossa sociedade), sendo isto recorrente quando “os
governos afrontam as normas constitucionais (...) alegando interesse público, razões de Estado ou
simplesmente ignorando a existência de preceitos constitucionais” (DALLARI, 1982, p.62).
Têm-se então as dissonâncias que a formalização e a institucionalização das práticas sociais
ao invés de extirpar acabam por municiar: ao mesmo tempo em que possuem um enorme peso, capaz
de canalizar e até enclausurar o agir autônomo dos indivíduos, revelam-se impotentes na regulação do
social pela universalização do bem-comum. O exercício de direitos e a ação política visando reatualizá-
los concretizam-se como exceções mediante as quais o político e o social são subtraídos pela violência
da desqualificação e anulação do outro como interlocutor ativo no processo político.
Eis aí a sutil e perversa conversão da “política em polícia”, para utilizar os termos de Jacques
Rancière (1996b). Em seu seminal ensaio intitulado “O Dissenso” – através do qual discorre acerca das
formas entonadoras que perfazem a relação entre Estado e sociedade civil, chegando aos redutos mais
longínquos da vida social – faz a “crítica do discurso atualmente dominante que identifica a
racionalidade política ao consenso e o consenso ao princípio mesmo da democracia” (RANCIÈRE,
1996b, p.368). Segundo o autor, o discurso entremeador da racionalidade política assinalada institui o
consenso como sendo, por excelência, a condição celebradora da razão, em oposição aos modelos
instaurados sob o “arcaísmo” e a “irracionalidade” no embate político. O dissenso como base discursiva
e ebulidor dos imobilismos passa a ser entendido como desavença e, por isso, pernicioso à política,
mas passível de ser superado por outro modelo de racionalidade. Nesse caso, a política seria uma
prática descolada da moldura contextual das relações sociais – movidas, entre outros aspectos, pelo
desejo e pelo conflito –, devendo situar-se numa plataforma objetiva e sem “paixões” desestruturadoras
do seu curso “normal”. Rancière alerta: “o que chamam de consenso é na verdade o esquecimento do
modo de racionalidade próprio à política”, significando, ao contrário do que se pretende, “um certo
retorno do irracional” (RANCIÈRE, 1996b, p.368).
67
A teoria política democrática que dá o tom da prática política assinalada assenta-se, assim, no
seu contrário: a “participação social” e sua aplicação propostas escamoteiam o seu fundamento
truculento. Ela traz também o aqui e agora do cenário sócio-político brasileiro como o ápice da
construção e da manifestação da cultura política, sendo tais fenômenos a ratificação simbólica do
discurso político crítico – cultura política carregada, portanto, de uma subestimação dos processos que
lhes constituíram. É possível então não reconhecer a participação social e a construção da cidadania
que se fazem presentes mostrando-se como caricaturas das formas, as quais, pode-se dizer, já soam
como anteriores? Eis aí a chave para se decifrar os desvios contidos na cantilena enfadonha
representada pelos homens e mulheres catador(es) de papel que passam a perseguir a condição de
“cidadãos”.
O discurso que tem dado fundamentação ao trabalho desenvolvido na ASMARE articula-se em
torno de “uma resposta que vem das ruas”31, um processo de inserção iníciado na década de 1990 e
que veio a se efetivar enquanto “novo modelo de política pública”32. Já a política pública que dá corpo
ao projeto ASMARE está imersa nos termos atuais do imperioso ajuste estrutural aplicado ao Brasil dos
tempos neoliberais – impondo novos ordenamentos para as funções e desígnios do Estado incidindo,
inclusive, sobre as noções de público e privado. Não seria mister, portanto, inscrevê-la no grupo dos
avanços democráticos e do fazer político qualificando-as adequadamente? Não realizar essa tarefa
seria atestá-los quase que como uma seqüência natural e indiscutível numa marcha evolutivo-linear
rumo à racionalidade política. O que nos faz dizer que essa “política pública” não pode ser
compreendida satisfatoriamente se não insistirmos em tocar nos fundamentos sob os quais o
capitalismo se estrutura na atualidade, calcado que está num novo e poderoso alicerce político-
ideológico.
A década de 1990, no entender de Evelina Dagnino (1994), sinalizava para as reais
possibilidades de uma verdadeira mudança na concepção de democracia (e, por sua vez, nas noções
supracitadas) que ainda perdurava no Brasil. Ao trabalhar no entendimento da relação entre os
movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania, procurava fazer uma distinção
entre aquela que foi dita e praticada nos fins do século XVIII e XIX, ancorada numa “...resposta do
Estado às reivindicações da sociedade” (DAGNINO, 1994, p.104) e uma outra, que ao final de década
de 1970 ascendia e buscava se fazer presente. A entrada dessa segunda noção nos cenários político e
social da época confluía para “a idéia de cidadania enquanto estratégia política” (DAGNINO, 1994,
p.107). Tal qualidade se justificaria ao se verificar seu caráter de construção histórica expressa nas
31 Frase contida na revista comemorativa dos 10 anos de fundação da ASMARE. 32 Palavras proferidas por José Aparecido Gonçalves, à época administrador geral da ASMARE, na mesma revista.
68
práticas concretas operadas nas lutas sociais. Além disso, quando não a reduzíssemos a uma
categoria fixa e fixadora, dentro de uma espécie de casulo que a tornasse imanente e transcendente no
tempo e no espaço, mas que a pensássemos como algo que se constrói a todo instante, na dinâmica
dos conflitos reais.
Numa direção parecida, Maria Victória Benevides (1994) esforçava-se para situar a questão da
cidadania no bojo teórico-prático da perspectiva da sedimentação do processo democrático no Brasil.
Ela discutia tal questão sob o prisma de dois temas correlatos: os chamados direitos políticos e os
mecanismos de democracia participativa, tidos como seus aperfeiçoadores, e a educação e a cultura
políticas como “causa e conseqüência” da cidadania na qualidade de uma prática democrática.
Distinguia a cidadania passiva, “aquela que é outorgada pelo Estado, com a idéia moral do favor e da
tutela” (BENEVIDES, 1994, p.09) daquela que “institui o cidadão como portador de direitos e deveres,
mas essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços de participação política”
(BENEVIDES,1994, p.09). Essa última era vista como sendo a dimensão ativa da cidadania, baseada
num modelo de participação popular que passa a percorrer o fio e a trama da cultura e do engajamento
políticos.
Nesses termos, Dagnino (1994 e 2004) formula alguns itens que apontam para a distinção da
natureza histórico-social das noções de cidadania e aquela que se gesta ainda em fins da década de
1970. Para ela, o primeiro item, situado na noção de direitos, mostra-se essencial quando se tem conta
a sua total redefinição no cenário contemporâneo, isto é, “a concepção do direito a ter direitos”
(DAGNINO, 1994, p.107). Ela escapa da definição limitante dos direitos previamente definidos,
“materializada pela implantação efetiva de direitos abstratos e formais” (DAGNINO, 1994, p.108), para
a condição dos sujeitos deliberarem, no interior de espaços públicos constituídos para esse fim, acerca
da reivindicação e mesmo a criação de novos direitos. Nesse mesmo esteio a “nova cidadania (...) não
se vincula a uma estratégia das classes dominantes e do Estado para a incorporação política
progressiva de setores excluídos” (DAGNINO, 1994, p.108), forjada como inclusão social na sociedade
de consumo e como condição para a reprodução do capital.
Ao contrário, o que se percebe na nova cidadania é uma ampliação das concepções de política
e democracia. De certa maneira elas não estão achatadas por uma relação instrumental entre Estado e
sociedade civil – muito embora os homens que as constroem não estejam imunes à sedução do
aparelhamento irrefletido ao primeiro –, mas infundidas num debate político propagado no interior da
própria sociedade civil. O que não comportaria um sistema político como algo que se impõe “de cima”
como fundamento primeiro da racionalidade política, colocando-se de antemão na vida social, mas
também ali – nos espaços públicos de participação –, discutido e definido. Os cidadãos seriam então
“sujeitos sociais ativos”, verdadeiros “agentes políticos” (DAGNINO, 2004, p.104). Segundo a autora,
69
esta seria uma estratégia dos não-cidadãos e dos excluídos, o quais poderiam vir a ser portadores de
crescente lucidez em relação ao que seriam seus direitos e dessa maneira “lutando por seu
reconhecimento” (DAGNINO, 1994, p.108). Outro ponto refere-se ao aprendizado político dos
indivíduos que se refletiria em novas formas de sociabilidade e de um redesenho das relações sociais
em todos os seus níveis.
Também a noção de participação social que ganhou terreno com os movimentos sociais e
reivindicativos e que se constituiu na espinha dorsal do projeto participativo e democratizante brasileiro,
experimenta uma imensa redução de seus sentidos (DAGNINO, 2004). Naquele momento ela
significava uma árdua conquista, garantindo um flanco possível para a ampliação do poder de decisão
de setores da sociedade que na história política e social brasileira sempre foram relegados ao limbo do
esquecimento pelas classes dominantes. Esse modelo de participação anunciava uma maior
politização das discussões, as quais poderiam passar a se dar de maneira mais autônoma, pondo-se
para fora da redoma restritiva e pretensamente competente dos aparelhos e instâncias decisórias de
Estado. Abria-se um campo de possíveis ao se atingir a criação e disseminação de espaços públicos
de participação e decisão descentralizados – mas não fragmentados, haja vista que essa forma
enfraquece as lutas (pois seu reconhecimento sai da base universal) e esgarça os conteúdos da
politização. Não que esse processo passou repentinamente a correr em águas tranqüilas. Mas o
patamar das práticas políticas alternativas galgava posições até então não alcançadas, pois vários de
seus setores assumiam um posicionamento crítico, orientando-se decididamente rumo à superação das
relações de poder reprodutoras das práticas sociais hegemônicas. Ainda que constitutivas da trama
das relações sociais e das identidades coletivas, as relações de poder numa democracia radical não
seriam mais o combustível do constante redimensionamento do status quo, mas do conflito constituinte
das regras do jogo democrático permeando uma efetiva esfera pública (MOUFFE, 2003).
Evelina Dagnino (2004) se posiciona contundentemente contra a diluição da potência
transformadora dos movimentos sociais e demais setores da sociedade civil que emergiram em fins da
década de 1970 e que atuaram em nome da conquista e da construção de novos direitos. Diluição que,
como dissemos anteriormente, vem operando através de uma feroz (mas também sutil) campanha de
mistificação dos significados conquistados para a noção de cidadania (e também de participação e
sociedade civil). O que faz gerar conseqüências sérias no entendimento mais geral acerca do trabalho
que vem sendo desenvolvido no interior da ASMARE.
O que passa a se configurar então como participação social revela-se, por sua vez, numa
estranha dissonância, pois “quanto menos coisas há para discutir, mais se celebra a ética da
discussão, da razão comunicativa, como fundamento da política” (RANCIÈRE, 1996b, p.367).
Compõem tal fenômeno boas doses de sectarismo. Uma prática política ocultada sob o manto de
70
dialogicidade impõe-se cabalmente e determina as prerrogativas últimas do que é bom e mau para a
sociedade, infligindo seriamente sobre as possibilidades do dissenso criativo.
Falar em participação social na contemporaneidade nos traz também a necessidade de
enfatizar outros de seus limites práticos. Por um lado, eles se inscrevem no contra-senso decorrente da
sensação de que a sociedade contemporânea atingiu o ápice do exercício concreto da liberdade,
combinada com a falta de ousadia (chegando às raias da passividade) sem par de boa parte dos
“governantes” e “governados” (BAUMAN, 2000). Por outro lado, há as nada desprezíveis dificuldades
de mobilizar os indivíduos em causas que transcendam o campo imediato de seus desejos e ambições
prementes, algo que decorre, em boa medida, pelo fato de muitos deles estarem absortos em
concepções irrefletidas sobre os modos pelos quais a realidade social é produzida e reproduzida neste
mundo. Além do mais, toda sorte de percalços se impõe à realização plena do indivíduo como sujeito
político de fato, a começar pelo fato de que os tempos do trabalho são cada vez mais externos a ele,
contribuindo para que até o seu tempo livre, já não lhe seja objeto de deliberação (ADORNO, 1995b)33
Há aí o sutil imbricamento com o propalado “ambiente propício” à abertura de canais de participação
política àqueles historicamente destituídos das possibilidades de exercê-la, por meio da
institucionalização de espaços públicos.
Ora, as excrescências acima são o “fiel da balança” da “confluência perversa” (DAGNINO,
2004) na qual o projeto neoliberal e o projeto participativo brasileiro acham-se imersos. Não obstante a
essência daquele, à primeira vista, apresentar-se antagônica em relação a este, posto que foram os
movimentos sociais que puseram acento na redemocratização brasileira e na busca de uma cidadania
ativa ainda na década de 1970, o que se verifica é um acoplamento instrumental entre ambos. Nesse
sentido, o mais assustador seria que tais projetos “requerem uma sociedade civil ativa e propositiva”
(DAGNINO, 2004, p.97) cuja “cultura política” caminharia por uma forma de sociabilidade na qual a
construção das noções de cidadania e participação no imaginário social estaria tomada por um
processo sutil, intransparente e nocivo à instauração da democracia radical como práxis cotidiana.
Ora, isso se dá porque tal mistificação, no caso da noção de cidadania, “...se vincula
33 Adorno nos faz boas revelações acerca da produção estratégica do “tempo livre” na sociedade burguesa, produção essa que serve de anteparo aos esquemas de conduta do indivíduo, inclusive nas possibilidades de deliberar ativamente sobre sua existência individual e coletiva por meio da política. Noutros termos, viver de fato a democracia política, localizada muito além da sua esfera formal, cuja construção reduzida reduz os homens a reféns em potencial da forma abstrata do Estado, de seu aparelho técnico-burocrático e dos “políticos profissionais”. Eis o frankfurtiano: “Aqui nos deparamos com um esquema de conduta do caráter burguês. Por um lado, deve-se estar concentrado no trabalho, não se distrair, não cometer disparates; sobre essa base, repousou outrora o trabalho assalariado, e suas normas foram interiorizadas. Por outro lado, deve o tempo livre, provavelmente para que depois se possa trabalhar melhor, não lembrar em nada o trabalho. Esta é a razão da imbecilidade de muitas ocupações do tempo livre”. Em seguida, sua constatação não poderia ser pior, a despeito de todas as possibilidades trazidas pela própria sociedade burguesa: “No estado de letargia culmina um momento decisivo do tempo livre nas condições atuais: o tédio” (ADORNO, 1995b).
71
diretamente à gestão do que é a nossa questão mais premente: a pobreza” (DAGNINO, 2004, p.106).
No caso do processo de redemocratização brasileiro, a “questão social” e a “pobreza” se inseriram num
campo de discussão que as apontava para as questões da cidadania e da igualdade de direitos, no
caso como princípios legítimos a serem perseguidos e conquistados. Já o que se tem na atualidade do
projeto neoliberal é uma “outra forma de gestão do social” (DAGNINO, 2004, p.106), que destitui a
essência dessas noções, colocando-as patamares abaixo.
De acordo com José Murilo de Carvalho (2002), a noção de cidadania disseminada atualmente
mostra-se por dois ângulos. Por um lado, recobra os traços típicos da sua concepção liberal clássica,
calcados numa versão que coloca os interesses individuais como sobrepostos aos demais. Ela se vale
de uma visão utilitarista que a apregoa a redenção individual a partir de uma inserção competitiva na
lógica de mercado. A outra se mostra inovadora, trazendo “...elementos novos das configurações
sociais e políticas da contemporaneidade” (CARVALHO, 2002, p.120).
Essa noção de cidadania se mostra como ausência de conteúdos de politização no seio das
discussões e o caráter de construção coletiva que em boa medida vieram à tona junto com os
movimentos sociais de fins da década de 1970. O que nela se vê são as energias utópicas sendo
substituídas pelo utopismo da conquista individual no salve-se quem puder do mercado. O outro,
anteriormente visto sob a intersubjetivdade construída nas árduas lutas coletivas pela conquista de
uma vida melhor, torna-se parceiro no jogo de soma zero da agressividade utilitarista do vale tudo,
buscando a todo custo a sua entrada no mercado como consumidor e como produtor. O privado como
dimensão em interface permanente com o público transmuta-se em individualidade privatizada,
desvinculada de qualquer ação que não aquela onde a competição entre sujeitos econômicos “livres” e
desigualmente municiados seja a regra.
Vive-se, portanto, no fio da navalha entre o esgarçamento do sentido do público enquanto
construção coletiva em meio ao dissenso e o conflito – mas também por meio do respeito e da
afirmação das diferenças – e a possibilidade de que tal noção readquira seus significados abrangentes.
Bauman (2000) constata um hiato na realização da política na medida em que a vida se torna refém de
forças antes mantidas sob um frágil (porque nas entrelinhas inscrito sob o campo de interesses do
capital), porém seguro controle: o da regulação estatal. Se esferas da produção social como a de
mercado outrora eram vistas como algo a ser devidamente regulado, face à sua “periculosidade”
quando deixadas à solta, nos tempos que pesam sobre nós a última palavra é que todos procedam à
desregulamentação, não só financeira, mas também de consumo. Esses são, pois, sintomas de que:
Explícita ou implicitamente, as instituições políticas vigentes vivem hoje um processo de abandono ou diminuição do seu papel de criadoras de código e agenda. O que, no entanto, não significa – ao menos não necessariamente – que se amplia o âmbito da liberdade negativa ou a liberdade de opção individual. Significa apenas que a função de estabelecer
72
código e agenda está sendo decididamente transferida das instituições políticas (isto é, eleitas e em princípio controladas) para outras forças [as de mercado] (BAUMAN, 2000, p.80).
Política e cidadania passam então a conviver com um nó górdio que as amarra justamente nos
seus mecanismos de ação direta. Passam a estar atreladas pela mediação de tais forças de mercado,
desfigurando-se de seus sentidos mais amplos. Convertem-se num importante apêndice de todo esse
ideário: incentivar os indivíduos-mônadas a buscarem individualmente a satisfação de seus interesses.
Esse fenômeno contribui para que se obscureçam os sentidos socialmente construídos das
desigualdades diversas, as quais passam a ser interpretadas como fruto da diferenciação de
desempenhos e competências individuais. O que se revela na transferência de responsabilidades,
levando o indivíduo a recolher para si a culpa pelo desemprego: ele não se qualificou para tal.
Além do mais, a noção de cidadania atualmente disseminada conduz ao fenômeno da
sociedade sendo exortada a se valer de uma benemerência instituída e estreita – de cunho puramente
individual e assistencialista – e pela “responsabilidade moral” (DAGNINO, 2004, p.106). O véu que
tampa tais contradições torna-se mais espesso, contribuindo para que o consumo como mediação
impositória das relações sociais torne-se talvez o principal mote para a definição do que seja cidadania.
Seus sentidos ampliados, plasmados na politização das lutas sociais pela conquista e construção de
novos direitos, têm sido capturados e diluídos por uma “dimensão” que faz dela um signo de
comiseração “politicamente correta” a ser exercida e consumida por aquele(s) que, inocentemente ou
não, acreditam exercer(em) sua condição de “cidadão(s)”. Isso é grave, pois se dispensa seu exercício
mediante a articulação e a mobilização sociais construtoras de uma cultura política, para se poder
adquirir tal “cidadania” no reino do espetáculo34, pois o “...consumo de espetáculo torna-se o
espetáculo do consumo” (LEFEBVRE, 1991, p.94).
Na esfera do poder de Estado, o que então passa a ser entendido como cidadania resume-se
em se jogar o fardo da dívida social para a própria sociedade, através da implementação de diversos e
mirabolantes programas governamentais que primam pela “geração de emprego e renda”, o incentivo
ao empreendedorismo e à qualificação profissional. Em suma, o que se vê então é a cidadania
entendida como enclausuramento da política, visto que a linha que se localiza entre o seu crescente
fértil e a truculência da racionalidade política fabricada pelo consenso redutor é extremamente tênue.
Jacques Rancière (1996b) chama a isso de uma dos paradoxos que vem marcando os debates
políticos e teóricos na contemporaneidade:
...no momento mesmo em que essa filosofia da necessidade se impõe quase que por toda
34 É o que acontece no caso dos shows cuja entrada é garantida mediante a doação de alimentos ou a alocação de recursos por entidades filantrópicas através de doações individuais ou feitas por empresas.
73
parte como a última palavra em sabedoria política, vemos por outro lado triunfar na filosofia política e nas ciências sociais um discurso que glorifica o retorno do ator, do indivíduo que discute, que contrata, que age [grifos meus]. No momento em que nos dizem que os dados são inequívocos e que as escolhas se impõem por si mesmas, celebra-se ruidosamente o retorno do ator racional à cena social (RANCIÈRE, 1996b, p.367).
Efetiva-se a cegueira: o trabalho (abstrato) como direito civil básico transfigura-se em puro
dever de cada um, numa famigerada busca individual na ânsia de não incorrer no risco de se ver
atolado no “fracasso profissional”. Ou ainda: “...[os direitos] considerado[s] no passado recente como
indicador[es] de modernidade, torna[m]-se símbolo[s] de ‘atraso’, um ‘anacronismo’ que bloqueia o
potencial modernizante do mercado” (DAGNINO, 2004, p.106).
Com efeito, a disseminação teórica e prática das noções de cidadania e de participação social
no Brasil contemporâneo discutidas anteriormente, a despeito de estarmos sob a égide (ou o jugo?) de
um governo que se autodenomina de “esquerda”, não parece ter ousadia (ou vontade política) para se
afastar do modelo neoliberal – dotador dos sentidos hegemônicos que a contaminam. Nos dizeres das
próprias publicações que servem de porta-vozes do governo Lula, a “prioridade absoluta” são as
“...políticas de combate à fome e à pobreza”, numa valorização dos “...direitos básicos da população,
como o acesso à alimentação, educação, saúde, habitação e cultura”35. E são bastante perceptíveis as
similitudes de direcionamento nas políticas sociais implementadas pela administração “petista” da
Prefeitura de Belo Horizonte. Veremos no próximo capítulo que há uma consonância nos programas e
ações empreendidos pelas secretarias de Políticas Sociais (sobretudo a partir de sua secretaria adjunta
de Assistência Social) e de Limpeza Urbana, na viabilização institucional, não só do “Projeto ASMARE”,
mas também de outros projetos concernentes ao par reciclagem de resíduos sólidos/”inclusão social”.
35 Retirado da Revista intitulada “O Brasil na era do desenvolvimento sustentável”, uma publicação da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República (SECOM/PR), em conjunto com a Casa Civil e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ano 2/ número 4.
74
CAPÍTULO 3
EXCLUSÃO SOCIAL, CRISE ECOLÓGICA E AS SAÍDAS CONSERVADORAS DA
VEZ: O “PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA”, A COLETA SELETIVA E A
RECICLAGEM NOS (DES)CAMINHOS DA ASMARE
Nosso objetivo neste capítulo será articular dois amplos debates exaustivamente empreendidos
nas últimas décadas: as questões da “exclusão social” e a “problemática ambiental”, respectivamente.
Temos em alta conta a amplitude de cada uma delas, fato esse que nos leva a tocá-las nos seus
aspectos mais gerais, sem, contudo, deixar de nos determos em suas insuficiências e contradições. Ao
nos dedicarmos à verticalização sobre ambas, haverá um relativo “afastamento” sobre a temática
específica dos homens e mulheres catadores(as) da ASMARE – a qual será retomada em profundidade
no capítulo 4. Julgamos importante este artifício metodológico, posto que trazer para a análise as
questões propostas acima nos permitiria interrogá-las em seu qualificativo “questões de fundo”, patente
nos debates a elas relacionados. A insuficiência desse qualificativo, no nosso entender, reside no fato
de que, por não ser questionado na sua incorporação aos imperativos da reprodução do capital, ele
perde seu vigor e deixa de apontar possibilidades de transformação efetiva do existente.
Para tanto, mergulharemos primeiramente no debate teórico sobre a “exclusão social”, mais
precisamente nos entraves gerados pela quase imposição por parte de seus defensores de um termo
elevado à categoria de análise. Partimos do pressuposto que a “exclusão social” não é condicionante
superior, mas expressão fenomênica dos processos mais gerais de reprodução social. Logo em
seguida, nossa incursão é sobre a crise ecológica e os debates subseqüentes inauguradores da
“problemática ambiental”. Faz-se necessário trazer alguns apontamentos de ordem histórico-filosófica
acerca das motivações da crise para chegarmos aos amplos debates sucedâneos da mesma, os quais
inseriram a matriz ideológico-prática do “desenvolvimento sustentável” (numa perspectiva que a torna
refém dos interesses hegemônicos) como modelo de desenvolvimento capaz de lidar com a crise.
A observação mais de perto de ambos os debates (o da “exclusão social” e o da “problemática
ambiental”) nos permite lançar um olhar mais acurado sobre os programas municipais de “coleta
seletiva” e de “inclusão produtiva” e seus entrelaçamentos. No nosso entender, ambos visam o
alargamento do processo de valorização dos capitais presentes no circuito produtivo da reciclagem, ao
mesmo tempo em que o poder público dá uma resposta à sociedade quanto ao problema da
“marginalidade social” e das “preocupações” com a questão ambiental. Por último, um flanco é aberto
para verificarmos as ressonâncias de tais programas no universo sócio-espacial da ASMARE,
atentando para suas contradições e irracionalidades.
75
3.1. O debate teórico sobre a “exclusão social”
De início, comporemos nosso diálogo com algumas das reflexões empreendidas por José de
Souza Martins (1997 e 2002) acerca dos agentes de pastoral (entre outros agentes de mediação) e a
necessidade por ele preconizada de se fazer um balanço crítico do discurso e da prática emanada por
eles. Para esse autor, ao “...lidar conceitualmente com a nova desigualdade gerada (...) [através] da
exclusão” (MARTINS, 1997, p.26), incorreu-se na instrumentalização e na banalização de conceitos
que, ao contrário, deveriam funcionar como focos compreensivos de uma realidade marcada pelo
movimento e pelo conflito.
No entender do autor, ao se falar excessivamente em “exclusão”, levando este termo ao
primeiro nível de análise da realidade social, geraria insuficiências no tocante à sua compreensão mais
efetiva, muito mais ocultando do que desvelando suas contradições. Da mesma forma, o apelo para
construções teóricas e metodológicas cujo recurso se dê pela pretensa amplitude do universo
explicativo do termo “exclusão” – por meio do qual a realidade social poderia ser “vestida” pelo conceito
ou pela categoria –, não ajudaria em nada na sua compreensão. Uma das conseqüências nefastas
desta “cegueira” analítica é que o caminho reflexivo traçado a partir das autodesignações da
consciência social, ou seja, como o indivíduo vê a si mesmo na sua condição, ou é deixado de fora ou
aparece em segundo plano nas análises. Assim, a construção de conceitos e categorias explicativas
verdadeiramente coerentes, achar-se-ia prejudicada e muitas vezes submetida aos parâmetros do
racionalismo científico. O que se percebe é que, não obstante os discursos apontando a via contrária, o
método científico ainda se vê embebido de uma sutileza metafísica, insinuando-se (para não dizer
impondo-se) como mote analítico-explicativo anterior ao processo histórico-social do qual faz parte.
José de Souza Martins (2002a) atenta para a necessidade de se construir um trajeto analítico-
explicativo que tenha em alta conta o olhar que os indivíduos têm da sua condição – transformando-os
em sujeitos que expõem-na ativamente a si mesmos e ao pesquisador –, permitindo um salto
qualitativo no processo de compreensão da realidade social. No seu entender, esta perspectiva
metodológica e epistemológica ajudaria a trazer à tona os mecanismos que contribuem para o
ocultamento da realidade social a muitos daqueles que a vivenciam, sob diversas formas, ou, que de
uma maneira ou de outra, a questionam e a negam. Nestes termos, o autor nos faz um alerta:
Sem isso [a compreensão da consciência social], as designações e classificações podem até ser objetivas, mas não corresponderão ao que a pessoa ou grupo vêem em si mesmos nem, portanto, às possibilidades que ela mesma ou ele mesmo vê na situação em que se encontra (MARTINS, 2002a, p.26).
Ao fazer valer seu “discurso competente” (CHAUÍ, 1981), todos aqueles que se apresentam
76
como preocupados com o problema da “exclusão” e com a condição dos sujeitos sobre os quais ela se
manifesta, parecem muito mais imbuídos em tentar resolver o problema do esgarçamento do vínculo
social que os atinge direta e indiretamente do que comprometidos com um pensamento e uma prática
de conteúdo verdadeiramente transformador (MARTINS, 2002a). Expor o termo “exclusão” na
qualidade de categoria de análise também revela “...uma incerteza e uma grande insegurança teórica
na compreensão dos problemas sociais da sociedade contemporânea” (MARTINS, 2002a, p.27).
Assim sendo, o autor aludido chama a atenção para a constituição de duas vertentes distintas
de construção e interpretação do problema, uma de “orientação transformadora” e outra de “orientação
conservadora”. A primeira delas, segundo ele, é equivocada porque contém em seu nexo explicativo a
vontade de assomar ao “excluído” a situação de classe do operário e sua coisificação no âmbito da
exploração capitalista. Além disso, aponta-o como uma espécie de novo sujeito histórico36, portador
das potencialidades da transformação e da superação da sociedade capitalista. Já a orientação
conservadora destitui do plano principal de análise a figura do trabalhador, preenchendo este “vazio”
com a figura do “excluído”, cuja situação de marginalidade aplica-se ao morador de rua, aos jovens
pobres e (à primeira vista) sem perspectivas da periferia, ao desempregado, aos expropriados do
campo e da cidade, etc. As contradições outrora apontadas como vividas pelo trabalhador no processo
produtivo, em meio ao qual sua situação de desumanização e alienação eram condições presentes na
extração da mais-valia necessária à acumulação e à reprodução do capital (mas também à formação
de sua consciência de classe), já não são vividas, ou melhor, são vividas à revelia do “excluído”. É
como se as categorias e conceitos explicativos trazidos pelo arcabouço teórico marxiano simplesmente
devessem ser jogados na lata de lixo da história, pois seriam insuficientes (mesmo se atualizados) para
dar conta da complexidade das relações sociais na contemporaneidade37. O que é apresentado pelos
formuladores cuja categoria “exclusão” ganha proeminência e se torna o mote indutor da análise, é
uma formação econômico-social e um modo de produção em que seus fundamentos e contradições
não são mais aqueles que lhe deram origem e ao mesmo tempo foram (e são) seus resultados. Chegar
a tais fundamentos e contradições e aos mecanismos perversos através dos quais se dá a reprodução
36 A transferência da virtualidade da possibilidade histórica de transformação social ao “excluído” parece ir ao encontro daquilo que André Gorz (1987), em seu livro “Adeus ao Proletariado”, atribui àqueles que simplesmente foram expulsos ou destituídos da reprodução social sob o capitalismo contemporâneo: a condição de “novos sujeitos históricos”. Ou seja, o portador dessa possibilidade histórica não seria mais o proletariado, mas aqueles não mais pertencentes ao processo produtivo imediato na condição de trabalhadores assalariados, os “alérgicos ao trabalho”, nas palavras do autor. 37 Reportamo-nos às palavras de Henri Lefebvre (2005) em seu livro “Um pensamento tornado mundo: é preciso abandonar Marx?”, em que o autor dirige sua crítica àqueles que acreditam (ou o fazem de maneira consciente e, portanto, funesta) na suposta possibilidade de tomar a reflexão e a obra marxianas sob o ponto de partida do “...divórcio entre teoria ‘marxista’ e prática política...”, resultando num verdadeiro abismo. Ainda assim, tendo em conta o movimento do mundo, Lefebvre assinala que “...somente a reflexão atual pode apreciar as alterações no mundo moderno e detectar o que, nos conceitos ‘marxistas’ clássicos pode e deve ser abandonado em favor de conceitos novos”.
77
do capital e a subsunção da reprodução social aos seus imperativos, percebendo, a partir deles suas
manifestações fenomênicas na realidade social (entre elas o fenômeno da “exclusão”), definitivamente
parece sair da órbita das preocupações de um certo pensamento dito “crítico”. Por isso, segundo
Martins, “...as categorias ‘excluído’ e ‘exclusão’ são categorias conservadoras. Não tocam nas
contradições. Apenas as lamentam” (MARTINS, 2002a, p.35).
Ademais, o que Martins chama de “escassez de sensibilidade ecumênica” (MARTINS, 1997,
p.08) dos autores ligados ao catolicismo crítico e à Teologia da Libertação, foi se desdobrando no
conhecimento que se produziu e que sustentou a “prática educativa dos agentes culturais e políticos”
(MARTINS, 1997, p.08), fundada numa dialética mecanicista de origem estruturalista. Por dialogar
eminentemente com a economia, tomando a realidade social por dentro de uma realidade econômica
norteadora, as “respostas” para o problema da “exclusão” ficavam em ampla medida circunscritas à
questão da distribuição. Ora, tendo em conta que a reprodução ampliada e incessante do capital
pressupõe uma distribuição desigual e controlada da riqueza socialmente produzida de modo a tragar
em seu favor a totalidade da reprodução social, o aparelhamento de práticas com algum conteúdo anti-
hegemônico àquelas dominantes soa, na melhor das hipóteses, como um reformismo reiterador. Por
seu turno, quando se exime de captar a natureza de um conflito que é, sobretudo, de classes, tal
orientação deixa de ter vigor teórico e epistemológico críticos, dando munição para a reorientação
estratégica de práticas essencialmente mercantis.
Trazemos para o debate a obra “Vidas ao Léu: Trajetórias de Exclusão”, produzida por Sarah
Escorel (1999). Ao buscar compreender o significado da “exclusão” na contemporaneidade e ao situá-la
num eixo que faz dela uma categoria de análise, retoma-a na forma de entendimento do que seria a
fratura social a que estamos assistindo – e que a autora chama de “sociedade dual”:
Esse novo dualismo traduz uma ordem social segmentada, que produz um novo tipo de exclusão social, em que à integração precária no mercado se sobrepõem o bloqueio de perspectivas de futuro e a perda de um sentido de pertinência em relação à vida social (ESCOREL, 1999, p.56).
A contribuição de Escorel, embora a nosso ver seja da mais alta importância nos estudos
acerca da chamada “exclusão”, mostra-se insatisfatória por dois motivos.
Primeiramente porque não vincula a situação na qual o indivíduo é relegado aos confins de
qualquer possibilidade de existência social com dignidade – aquilo que ela chama de “exclusão” – com
os sentidos da produção e reprodução de seres humanos descartáveis numa sociedade que tornou
funcional e justificável ideologicamente a repartição desigual da riqueza socialmente produzida. Ainda
que a autora em seu prefácio admita que seu objetivo “...não foi atingir a causa do processo, mas ir
‘tirando os véus’ que recobrem a compliexidade tanto do fenômeno da exclusão social quanto das
78
condições de vida dos moradores de rua” (ESCOREL, 1999, p.17), julgamos imprescindível a autora
realizar, sim, tal percurso e demonstrar suas articulações. Não o realizando, as contradições e
irracionalidades presentes na dinâmica da reprodução capitalista, conquanto apareçam em seu texto
diluídas nas suas próprias expressões fenomênicas, como “reestruturações”, “precarização do trabalho”
etc, parecem algo externo, pois são postas à mesa sem que se demonstre seu imbricamento. No nosso
entender, captar esse movimento é sumamente necessário, mais do que para a denúncia, mas para
encampar um esforço do real apontamento da transformação do existente.
Em segundo lugar porque, conforme já dito acima, explicar a terrível situação vivida por um
número cada vez maior de seres humanos – os quais, vale dizer, são “jogados fora” como “coisas que
não servem mais” para a dinâmica de manutenção do capitalismo e, contraditoriamente, cada vez mais
tragados pela vontade obsessiva do lucro –, por meio da categoria “exclusão” mostra-se bastante
insuficiente. Insuficiência constatada quando se insiste em tornar os supostos “excluídos” como “algo”
que a sociedade, definitivamente, não quer mais. A própria “aceitação” (“inclusão”?) dos catadores de
papel à cotidianidade pode ser pensada pelo ângulo da necessidade que o capital tem de viabilizar
taxas de lucro favoráveis à sua reprodução ampliada. Ora, o trabalho diário deste verdadeiro “exército”
de homens e mulheres, saindo à “caça” de materiais recicláveis para vendê-los aos depósitos ou para
as cooperativas e associações garante o que José de Souza Martins (2002c) chamou de forma
“anômala” o supracitado movimento de reprodução ampliada do capital.
Utilizamos esta tese adaptando-a ao que, acreditamos, vem se passando na ASMARE e,
guardadas as devidas proporções, não deixa de estar presente em muitos dos depósitos e
cooperativas pelo Brasil. Faz-se necessário ressaltar que estamos nos referindo aqui à produtividade
do trabalho gerado na catação e suas conseqüências positivas na formação das taxas de lucro na
Associação. A tese pode ser explicada em quatro momentos concomitantes e imbricados. a) A
incorporação de um grande número de catadores ao processo de catação e triagem do material
coletado, atividades essas que comporiam o “processo produtivo” inicial até a sua ponta final, ou seja, o
material processado e transformado pela indústria da reciclagem; b) o grande número de catadores
trabalhando na Associação, à primeira vista, indica uma baixa composição orgânica do capital (pouco
capital constante empregado na produção) que, dentro da lógica da acumulação, estaria em seus
níveis iniciais, haja vista que, para se reproduzir de maneira contínua e ampliada, o capital necessita de
aumentar progressivamente sua composição orgânica; c) sendo o trabalho dessas pessoas
extremamente precário e, desta forma, apresentando altos níveis de exploração – ausência de
quaisquer direitos trabalhistas, a intensiva jornada diária e semanal de trabalho, grande insalubridade e
periculosidade e o baixo valor recebido pelos materiais recicláveis, o que normalmente gera ganhos
reduzidos por parte do catador –, o capital aí, que é de baixa composição orgânica, “transmuta-se” em
79
capital de alta composição orgânica; d) com isso, ao não precisar de grandes investimentos em capital
fixo (normalmente se usa, além do carrinho utilizado na catação, apenas uma prensa e um triturador)
chega-se ao rebaixamento da “...proporção do capital variável em relação ao conjunto do capital, de
modo que o que não é capital variável pareça e funcione como capital constante alto” (MARTINS,
2002c, p.156), tudo isso conquistado, pois, pela superexploração do trabalho desses homens e
mulheres.
Veja-se que a subsunção da reprodução social encarcera-se aos imperativos da reprodução
do capital, pois “incluir” os “excluídos” como consumidores marginais no existente nos atenta para:
...a contradição de que o excluído é produto e expressão não é contradição constitutiva [grifos do autor] de sua condição de marginalizado, de trabalhador à procura de trabalho ou de trabalhador aquém do nível mínimo de vida para fazer dele alguém com acesso às possibilidades do sistema econômico. Não é contradição constitutiva porque ela se resolve na reprodução ampliada e não na transformação da sociedade que o vitima (MARTINS, 2002a, p.38).
Ainda assim não deixa de ser interessante o esforço de Escorel em elaborar um percurso de
estudo do fenômeno da exclusão social através da externação de dimensões da vida social por meio
das quais e nas quais ela se manifesta. Desse modo, ela visa “...compreender as interferências dos
processos de desvinculação no cotidiano dos vulnerabilizados” (ESCOREL, 1999, p.75). Da trajetória
de vulnerabilidade até a de ruptura total dos vínculos com a sociedade por parte daquele que vive tal
situação, a autora tenta “mapeá-la” em três dimensões, senão vejamos.
Em primeiro lugar, os vínculos com o mundo do trabalho: seu esfacelamento envolveria,
segundo a autora, os processos de extinção e/ou precarização dos postos e das condições de trabalho,
respectivamente, gerando dificuldades do indivíduo se inserir na esfera ocupacional, culminando no
desemprego crônico. O perverso corolário daí advindo é que: “...contingentes populacionais cada vez
maiores são economicamente desnecessários e supérfluos” (ESCOREL, 1999, p.76). Devemos
ressaltar que, embora os meios pelos quais a inserção social na rede de produção e consumo de bens
e serviços seja a principal forma de ordenamento social existente, é preciso observar onde as possíveis
trajetórias podem se conformar em posturas de superação ou assumir um caminho reiterativo. É
possível entender o resgate dos vínculos sociais visando à inclusão por meio do trabalho abstrato,
estranhado e precarizado como sendo estratégias adequadas de correção de uma dívida social que se
assenta na própria natureza da reprodução social desse mundo? É necessário então dizer que a falta
de perspectivas “...de inserção pela via do trabalho” (ESCOREL, 1999, p.76) deve ser interrogada na
sua aparente naturalidade. Em que medida podemos chamar de exclusão (ou inserção) um processo
que, não obstante enclausurar as reproduções individual e social em critérios, valores e representações
pré-estabelecidos, opera também exclusões do exercício de valores, práticas e representações
80
“incoerentes” e “inadequados” ao modelo estabelecido?
Em seguida, tem-se a dimensão sociofamiliar: Escorel constata a “...fragilização e precariedade
das relações familiares, de vizinhança e de comunidade, conduzindo o indivíduo ao isolamento e à
solidão (ESCOREL, 1999, p.76). As intensas transformações sociais e econômicas trouxeram
vulnerabilidade ao âmbito familiar. Não podemos esquecer que a ausência de uma esfera pública que
garantisse a universalização de direitos trouxe a família ao primeiro plano na qualidade de “...suporte
das relações sociais” (ESCOREL, 1999, p.77).
Há também a dimensão política: nela, as trajetórias de exclusão revelariam-se pela ausência
de conteúdos de ultrapassagem das garantias formais rumo à prática efetivado gozo de direitos e da
prática vigorosa de sua reivindicação. Assim, configura-se um espaço de não-cidadania onde a
destituição de direitos se associa com a privação de um “...poder de ação e de representação”
(ESCOREL, 1999, p.77).
Retomando então a questão, nos perguntamos: o que estamos assistindo então? A face mais
dura e candente – porque não mais invisível – da exclusão social, diante da qual as alternativas
assomam-se tão somente na sua própria órbita? O prosseguimento de um avassalador movimento de
“exclusões” e “inclusões” numa realidade cujos imperativos expropriam e invadem a realização
individual e coletiva na apropriação? José de Sousa Martins (2002b) é provocador, ao dizer que “não
existe exclusão: existe contradição, existem vítimas de processos sociais, políticos e econômicos
excludentes” (MARTINS, 2002b, p.119). Essa sua afirmação nos permite dizer que não existe uma
realidade social que acontece “fora” do âmbito mais geral das próprias relações deste mundo. Ou
melhor: ao que parece, a ação ordenadora de Estado, tida como sendo viável no combate à chamada
exclusão se põe como garantia de ajuste de algo que não funciona bem. No caso da exclusão, realiza-
se uma espécie de movimento contrário: a via rumo a uma “tão sonhada” inclusão. O que temos nesse
caso é o pretenso combate desse fenômeno – que parece ser “extraterreno” – através de programas ou
políticas que “insiram” o indivíduo “para dentro” da sociedade, a qual, além de se apresentar como
manifestação daquilo que é “natural” e “indiscutível”, põe-se como referencial absoluto – embora as
conquistas do gênero humano realizem-se como conquista dos “proprietários” da vida social – do
chamado bem-estar.
Ao insistir na primazia da exclusão para justificar tanto seu discurso quanto sua prática –
“proporcionadora da inclusão” dos catadores associados –, tudo leva a crer que ASMARE se desfiliou
de um balanço crítico que a todo momento contemplasse o seu pensar/fazer. Ou seja, o modo pelo
qual a Associação estabelece seus vínculos com o poder público (até que ponto sua postura se deixa
institucionalizar, ao mesmo tempo em que busca uma linha “autônoma” no âmbito do mercado) irá dar
o tom da qualidade de sua ação política: se reiteradora ou com potencial de pôr em questão os
81
fundamentos da reprodução do capital. Consideramos, ainda, que não é possível deixar de lado a
multidimensionalidade de tais dinâmicas se elas acham-se imbricadas àquelas que se fazem presentes
na arena local. Noutros termos, ressaltamos que deve caber à ASMARE observar com mais amplitude
os processos globais e suas derivações no regime de acumulação e nas relações de propriedade (com
todos os corolários daí advindos), através dos quais se move a sociedade capitalista contemporânea.
Essas e outras são questões que poderiam ser envolvidas num contínuo processo de formação
política, não só de seus associados(as), mas também de outros(as) catadores(as), irradiando e
associando estrategicamente sua prática política a outros setores e movimentos sociais, num esforço
de unificação crescente e não de fragmentação das lutas sociais. No nosso entender, estariam abertas
as condições subjetivas e objetivas da formação – com vistas a uma práxis ampliada – de possíveis
agentes de transformação social. Sua análise debilitada acabou por tomá-las como realidades distintas
ou palidamente associadas ao âmbito global das relações sociais de produção. Reportando-nos às
palavras de Henri Lefebvre (2004), incorreu-se numa hospedagem permanente dentro de uma
“realidade ilusória (...) [ancorada] em separações ou descontinuidades absolutas” (LEFEBVRE, 2004,
p.52).
Seria então o caminho reformista seguido pela ASMARE como linha de ação derivada do
Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis – MNCR? Estaria este último adotando uma postura
de aparelhamento direto com o Estado como forma de se obter concessões (até certo ponto
importantes, desde que fundamentadas numa prática anti-hegemônica) no arco da redefinição
estratégica do ambiente propício à reprodução do capital?
Se na ponta do processo percebemos os irracionalismos da racionalidade instrumental, não se
pode deixar de compreender o mote da ação do Estado na composição e organização do fazer social.
O arcabouço teórico e conceitual orientador das intervenções da ASMARE tem partido de uma
constatação puramente objetiva, tanto em relação ao que seria a chamada “exclusão” quanto a seu
suposto movimento de “inclusão” de grupos sociais. Sem tocar nos mecanismos e processos geradores
até mesmo do porquê em se falar em exclusão em nossa sociedade, incluir, então, seria oferecer aos
indivíduos receptores dos “programas includentes” um maior alcance, ainda que precário, no âmbito do
existente. Proporcionar-lhes novas expectativas por dentro da “sociedade que os exclui” (MARTINS,
2002a, p.38), realidade povoada de ideologias e apologias, a qual, por isso mesmo, os “assistidos” não
raro são levados a enxergar como representação máxima do bem-estar. Tudo isso, vale lembrar, numa
forma econômico-social na qual as oportunidades, ao contrário de outrora, dispõem-se a um número
cada vez mais reduzido de “privilegiados”.
Por isso, as “políticas públicas” voltadas para a atenuação dos efeitos da pobreza tornam-se
“ações concertadas” da “gestão do social”, mediante as quais a racionalidade de Estado é o meio e o
82
fim, numa perspectiva de que no futuro tudo vai melhorar38. Cegados e (às vezes conscientemente)
oprimidos pelos imperativos ideológicos da vez, os “Homens de Estado” ordenam a “desordem” e
encarnam o papel demiúrgico da “Grande Instituição”. Rompem com parte dos parâmetros anteriores
da ação policial direta no trato com a pobreza, passando a trabalhar com a ação policialesca da
produção do sujeito decente. Entram em cena, sumamente ancoradas a essa “mudança de ares”,
noções “adocicadas” de “cidadania” e de “inclusão social” que trazem para a cena um catador de papel
em vias de se tornar um “sujeito social”.
A partir de agora examinaremos os debates em torno da crise ecológica, em meio a qual
emergiu a exaltada “problemática ambiental”, elevada ao primeiro plano das preocupações globais. Em
seguida, discutiremos a emergência da coleta seletiva como programa inscrito no recinto das políticas
“sociais” e de “limpeza urbana” (com um forte apelo ambiental) e sua associação com os programas de
“combate à pobreza” – como o “Programa de Inclusão Produtiva” – realizados em Belo Horizonte.
3.2. Crise ecológica e desenvolvimento sustentável: A irrupção do novo ofuscada pela
redefinição conservadora do existente
Embora não esteja no campo dos nossos objetivos imediatos realizar uma discussão mais
aprofundada acerca da crise ecológica em seu conjunto, não podemos nos furtar de trazer alguns
apontamentos sobre as contendas desencadeadas em seu seio. Isso porque os caminhos apontados
para a reprodução social estão imbricados aos desdobramentos oriundos da crise ecológica, pois será
nela e a partir dela que se buscará lidar com o acirramento de outras contradições de fundo, como a
própria crise da capacidade reprodutiva do capitalismo. Falar em coleta seletiva, reciclagem e “inclusão
social” sem pormos a nu o nascimento da “problemática ambiental” e, mais amplamente, sem situá-la
no universo da reprodução social, é correr o risco de tornar a análise incompleta.
Em termos gerais, a Conferência das Nações Unidas, realizada na cidade de Estocolmo no ano
de 1972, pode ser considerada a pedra inaugural dos debates internacionais que então se inscreveriam
na seara das “preocupações ambientais”. Naquele momento vinha a público, a pedido do Clube de
Roma39, o Relatório Meadows, intitulado The Limits of Ground, cujo estudo chamava a atenção para a
38 A linearidade ideologicamente transformadora do vil processo de reprodução social da vida em algo sub-reptício, donde a cantilena bocejante “Brasil, o país do futuro” tantas vezes entoada em alto e bom tom durante os “anos de chumbo” vividos nessas bandas, e reatualizada na questão do “combate à pobreza”, nos faz recorrer a Paulo Eduardo Arantes: “Um dos mitos fundadores de uma nacionalidade periférica como o Brasil é o do encontro marcado com o futuro. Tudo se passa como se desde sempre a história corresse a nosso favor (...). E mais, o futuro não só viria fatalmente ao nosso encontro, mas com passos de gigante, queimando etapas, pois entre nós até o atraso seria uma vantagem” (ARANTES, 2004, p.25). 39 O Clube de Roma foi criado por empresários e executivos ligados a grandes grupos transnacionais, como a Xerox, IBM, Fiat, Remington, Rand, Ollivetti, entre outras (PORTO-GONÇALVES, 2006).
83
os sérios entraves ao crescimento econômico mundial devido à iminência do esgotamento dos
“recursos naturais”, caso fossem mantidas suas formas de exploração até então utilizadas (PORTO-
GONÇALVES, 2006). A elaboração desse relatório por uma das mais proeminentes instituições
acadêmicas dos Estados Unidos, o Massachusetts Institute of Technology – MIT – foi uma
demonstração clara de como a problemática ambiental passava a ser campo privilegiado dos debates
acadêmicos, além de envolver organizações não-governamentais, diversos governos e organismos
internacionais, como a ONU, e multilaterais, como o Banco Mundial. Ou seja, o mesmo conhecimento
técnico-científico que havia dado chancela à destruição e à pilhagem da natureza ao longo dos mais de
duzentos anos da era urbano-industrial do capitalismo, passava a fazer previsões alarmistas sobre o
modo pelo qual sua condução fora feita – ainda que, como veremos, os processos gerais da
reprodução do capital não tenham sido tocados pelos grupos hegemônicos que estavam à frente dos
debates.
E por que afirmamos o exposto acima? Ora, sabemos que a matriz ideológico-prática em torno
da qual o modo de produção capitalista colocou-se de pé assentava-se num esforço de progresso-
modernização incessante. Decerto resignificada nas suas modalidades reprodutivas, chegando até
mesmo em aspectos importantes de seus fundamentos, tal matriz ainda se faz fortemente presente
entre nós. Este caminho forjou-se como uma espécie de “marcha evolutiva” necessária que, mais cedo
ou mais tarde, estender-se-ia a toda humanidade pela via do “desenvolvimento” – a versão posterior e
atualizada da idéia de “progresso” (PORTO-GONÇALVES, 2006). Sem a intenção de penetrar nos
meandros da temática40, podemos dizer que o corpo de representações que dão respaldo a esse
esforço remonta às revoluções científicas ocorridas a partir dos séculos XVII e XVIII41, fornecendo o
arcabouço gnosiológico em meio ao qual a natureza poderia de fato ser “conhecida”, “decifrada”
(acarretando em sua dominação). Tem-se então uma natureza desacralizada, “objeto” de intervenção e
análises “despidos” de paixões e vôos imaginativos, sendo tais procedimentos necessários ao ato
científico rigoroso e objetivo. Eis aí a técnica trazida ao primeiro plano: fundando as bases para que a
natureza inteira se convertesse, no âmbito projeto civilizatório ocidental-burguês, em força produtiva,
alimentando assim o tão esperado “progresso”.
Cabe aqui um detalhe: não podemos desvincular a sanha dominadora que se abalou (e se
abala) sobre a natureza (interna e externa) daquela que se abalou (e se abala) pelos homens sobre os
próprios homens. Sendo as abstrações doadoras de significado à natureza concretizadas no âmago do
40 Para maiores detalhes, ver: Adorno & Horkheimer (1985), principalmente capítulo 1. 41 René Descartes (1596-1650) é por muitos considerado o precursor da filosofia moderna. Em uma de suas obras mais conhecidas, o “Discurso do Método”, Descartes elabora bases importantes para a ciência moderna como o racionalismo e a rejeição a qualquer experiência de caráter sensorial.
84
processo histórico-social, foi a decisiva e viril atuação no sentido de submeter as forças naturais aos
seus desejos que lançou o homem contra si mesmo e contra seus pares no estabelecimento das
relações de dominação. Enfim, a dominação da natureza como protótipo da dominação entre os
homens (PEDROSA, 2003) foi a senha para a sustentação do projeto civilizatório ocidental-burguês,
fortemente calcado na propriedade privada e nas suas relações concernentes. No momento em que
este se im-pôs como condicionante do “bem-estar”, levando ao extremo e como único caminho possível
o conjunto de seus pressupostos, o preço a ser pago foi a ação humana intensa e sistemática sobre
uma natureza tida como “inesgotável”.
Nestes termos, a submissão da natureza (interna e externa) aos desígnios da dominação
encravada no projeto civilizatório ocidental-burguês não poderia se fazer sem que as relações de poder
que a orientavam fossem ocultadas. Pois foi sob o manto de uma “necessidade histórica” convertida no
e ao mesmo tempo como motor do “progresso” e o “desenvolvimento” que se justificou (e ainda se
justifica) todo o processo de desqualificação e de expropriação de modos de vida, de culturas, em
suma, de noções de natureza não devotadas às formas instituídas e alavancadoras desse ideário.
Afinal de contas, como bem assinala Porto-Gonçalves (2006), des-envolver significa:
...tirar o envolvimento (a autonomia) que cada cultura e cada povo mantém com seu espaço, com seu território; é subverter o modo como cada povo mantém suas próprias relações de homens (e mulheres) entre si e destes com a natureza; é não só separar os homens (e mulheres) da natureza como, também, separá-los entre si, individualizando-os (PORTO-GONÇALVES, 2006, p.81)
Voltando ao cenário da crise ecológica – cujos pressupostos causadores estão nas entranhas
do próprio processo de des-envolvimento –, torna-se importante salientar que naquele momento (início
da década de 1970) ganhavam relevo os chamados “movimentos ambientalistas”, os quais iriam pôr na
ordem do dia os desafios globais colocados pela problemática ambiental. Embora algumas de suas
vertentes viessem embebidas por arremedos de interrogações mais profundas (como o
questionamento do modelo de racionalidade adotado pela civilização ocidental), são as vertentes de
cunho reformista aquelas a dar o tom do estabelecimento de uma “nova ordem ambiental” – a qual, não
poderia deixar de ser, estava acoplada à nova ordem mundial marcada pela globalização neoliberal.
Talvez a terminologia mais representativa do ideário sobreposto e esta “nova ordem ambiental” seja
aquilo que se convencionou chamar de “desenvolvimento sustentável”.
O conceito de desenvolvimento sustentável é oriundo dos debates travados por diversos
grupos na tentativa de estabelecer um modelo de desenvolvimento cuja ótica se fizesse menos
destrutiva dos “recursos naturais”. O conceito veio à tona no Relatório de Brundtland, de 1987,
“...elaborado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) ao longo de
85
cinco anos” (EVASO et al., 1993, p.95). Apesar de sobejamente conhecido, cabe aqui apresentar o
trecho mais conhecido deste relatório, onde se define o conceito: “... aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as
suas próprias necessidades” (CMMAD, 1987, p.46 citado em EVASO et al., 1993, p.95).
Entendemos que o arcabouço ideológico-prático do desenvolvimento sustentável levado a cabo
pelos agentes hegemônicos, o qual vem sendo disseminado no imaginário social como “conhecimento
visando a uma prática sistêmica”, incorre na mesma soberba característica do atual modelo de
desenvolvimento de prevalência técnico-instrumental e econômico-produtivista. Senão vejamos.
Num primeiro aspecto, a técnica em nossa sociedade, mais do que meio e suporte da
produção material, realiza-se como concretude respaldada por determinadas abstrações, abarcando
extratos inteiros da vida social e garantindo a reprodução incessante do seu caráter redentor. Some-se
a isso o fato da técnica não ser vista enquanto construção social viabilizadora das relações
estabelecidas pelos homens entre si e com a natureza, mas como esfera separada e supostamente
neutra porque ausente de qualquer conteúdo ideológico (PORTO-GONÇALVES, 2006). Sua aplicação
mais relevante (e, por isso, estratégica) – posto que a técnica que chega ao “mundo comum” não passa
da ilusão dela mesma (LEFEBVRE, 1991) – seria responsabilidade de um grupo especialmente
possuidor da capacidade de operá-la: os tecnocratas. Destarte, deixando de lado a redução grosseira
feita por uma certa “crítica” lançada aos ambientalistas de reflexão abrangente e outros “inimigos do
progresso” – chamados de “recalcitrantes” e/ou “obscurantistas” –, é necessário ressaltar que não é a
existência em si da técnica que é questionada, mas o seu modo de aplicação num quadro social onde
as relações de produção estão encerradas nos imperativos da reprodução do capital. Assim, a
problemática ambiental constituiria-se como momento no qual a reflexão e as ações daí
desencadeadas (orientadas pelas premissas do desenvolvimento sustentável) fariam-se, mormente, no
âmbito privilegiado da técnica – mecanismos de gestão dos recursos naturais, dos resíduos sólidos,
mecanismos de desenvolvimento limpo, entre outros –, haja vista esta se reafirmar como instrumento
primordial porque legitimamente credenciado para tal.
Um segundo aspecto do desenvolvimento sustentável de corte hegemônico refere-se aos seus
conteúdos, notadamente exortadores de medidas imbuídas da já conhecida racionalidade instrumental
– cujo produtivismo econômico-mercantil, na essência, não deixa de ser sua mola mestra –,
canalizando para si a reprodução social por inteiro. Isso acontece porque o modo de produção
capitalista é uma forma de organização social assentada na propriedade privada dos meios de
produção e de vida, em torno da qual o trabalho passa a ser sobredeterminado, já que é ele a fonte
privilegiada de extração de mais-valia. Assim sendo, as forças produtivas e as relações de produção no
capitalismo, no intuito de garantir sua reprodução incessante, devem necessariamente ser direcionadas
86
para a sua máxima performance, meios e fins da acumulação de capital. Esse produtivismo não se liga
mais apenas aos termos da produção de mercadorias materiais. A abstração mercantil há muito tempo
já chegou na constituição da natureza como espaço produzido e reproduzido para a indústria do
entretenimento, abarcando inclusive os espaços inóspitos (desertos, montanhas etc.), outrora providos,
segundo os interesses do capital, apenas de seus subsolos, florestas ou rios. Hoje tais espaços
tornam-se importantes circuitos de valorização, mercadorias de grande aceitação, sendo,
precisamente, “...lugares nos quais se reproduzem as relações de produção, o que não exclui, ao
contrário, inclui, a reprodução pura e simples da força de trabalho” (LEFEBVRE, 2003, p.22).
Neste sentido, caberia a afirmação de que os meios através dos quais a natureza preside o
pensamento e a ação hegemônicos são redefinidos sob os auspícios de uma racionalidade
instrumental intocada em seus fundamentos. Porto-Gonçalves (2006) vale-se da expressão
“neoliberalismo ambiental” para denominar a nova ordem mundial fundada na mesma assimetria das
relações de poder que marcou a modernidade. A prova disso, é que a ciência e a técnica, o
economicismo vulgar e o produtivismo continuam na linha de frente dos discursos e das práticas de
Estado (por meio dos diferentes governos) cada vez mais mediadas pelas instituições multilaterais
(BIRD E FMI), organizações não-governamenais e grandes corporações transnacionais.
Assiste-se também à circunscrição das políticas ambientais aos parâmetros monetários e
financeiros (PORTO-GONÇALVES, 2006), por dois motivos. Em primeiro lugar, devido à própria
capacidade obtida pelo capital financeiro de determinar o nível, a modalidade e os locais dos
investimentos produtivos. O motivo anterior combina-se com a dependência cada vez mais acentuada
dos países periféricos desse tipo de capital (além, é claro, dos capitais ditos “produtivos”) para
equilibrar seu balanço de pagamentos ou para cumprir à risca a produção de superávits primários e
assim arcar com os juros e serviços de suas dívidas externas. Tudo isso faz com que a legislação
ambiental específica a cada um desses países muitas vezes sucumba frente às pressões dos
investidores, interessados em obter a máxima valorização de seus capitais. No caso brasileiro, o
IBAMA, órgão responsável pela fiscalização, licenciamento e controle ambientais está na iminência de
ser desmembrado, criando-se um órgão específico para o licenciamento, com o IBAMA permanecendo
à frente da fiscalização. E isso, devido à sua demora para conceder a aprovação (licenciamento) de
grandes “projetos de desenvolvimento” ligados ao “Programa de Aceleração do Crescimento” (PAC),
como as duas novas usinas hidrelétricas a serem construídas no Rio Madeira, em Rondônia.
No que concerne à “nova ordem ambiental”, a Agenda 21 pode ser considerada um importante
documento de legitimação e de ratificação deste “novo pensamento”.
A elaboração e o lançamento deste documento se deram durante a “Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano” – a ECO-92 –, realizada no ano de 1992, na
87
cidade do Rio de Janeiro. A Agenda 21 conformou-se como um “amplo programa de ações” no qual
contribuíram diferentes governos, organismos internacionais, instituições multilaterais, de pesquisa e
organizações não-governamentais de 179 países, buscando promover, à escala global, um “novo
padrão de desenvolvimento”, conciliando “proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica”.
Todos os países que assinaram o acordo (entre eles o Brasil) assumiram o compromisso de elaborar e
implementar uma versão nacional da Agenda 21. Essa versão deveria adequar-se à realidade de cada
país de acordo com as diferenças sócio-econômico-ambientais, sempre em conformidade com os
princípios e acordos da Agenda 21 Global.
A Agenda 21 trata de diferentes temáticas englobadas em três sessões, sendo elas: 1)
“Dimensões econômicas e sociais”; 2) “Conservação e gerenciamento dos recursos para o
desenvolvimento”; e 3) “Fortalecimento do papel dos grupos principais”. Embora algumas dessas
temáticas, abordadas ao longo de todo o texto, suscitem questões que nos são
bastante caras, como “pobreza”, “crescimento econômico”, “geração de emprego e renda”,
“capacitação profissional”, “padrões de produção e consumo”, “criação de novos estilos de vida”, entre
outros, deteremos-nos42 somente na sua versão Global, dando ênfase ao Capítulo 21, dedicado ao
“Manejo Ambientalmente Saudável dos Resíduos Sólidos e Questões Relacionadas aos Esgotos”. Ele
nos proporcionará subsídios ao entendimento das bases contidas nas propostas para a realização da
coleta seletiva em Belo Horizonte enquanto instrumento engendrador da reciclagem dos resíduos
sólidos. No nosso entender, tornaríamos mais clara tal prática na sua instrumentalização, algo que fez
dela dimensão contraditória do que chamamos de resignificação instrumental da natureza no universo
reprodutivo do capitalismo tardio.
Na introdução do referido capítulo, tem-se a informação de sua incorporação em cumprimento
ao disposto no parágrafo 3 da seção I da Resolução 44/228 da Assembléia Geral de 22/12/1989,
quando as nações do mundo convocaram a Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento. Nela estabeleceu-se a necessidade de “...elaborar estratégias e medidas para deter
e inverter os efeitos da degradação do meio ambiente...” (p.419). No parágrafo 12 g, também da seção
I da mesma resolução, a Assembléia atenta para o que eles chamam de manejo “ambientalmente
saudável” dos resíduos encontrando-se “...entre as questões mais importantes para a manutenção da
qualidade do meio ambiente da Terra e, principalmente, para alcançar um desenvolvimento sustentável
42 Nossa opção se deve, primeiramente, ao fato de que uma incursão mais esmerada em todo o texto exigiria uma análise que acabaria por ultrapassar os limites e os objetivos de nossa pesquisa. Em segundo lugar, porque as questões aludidas acima em boa medida vêm sendo por nós abordadas, não só nesse, mas também em outros capítulos dessa mesma pesquisa. Já com relação à nossa preferência pela abordagem somente da versão global da Agenda 21, entendemos que o texto brasileiro, denominado “Ações Prioritárias”, não contempla diretamente em nenhum de seus 21 objetivos a questão dos resíduos sólidos, ainda que ela apareça diluída em todos eles.
88
e ambientalmente saudável em todos os países” (p.419). Ainda na introdução, o capítulo 21 aduz que:
“O manejo ambientalmente saudável desses resíduos [sólidos] deve ir além do simples depósito ou aproveitamento por métodos seguros dos resíduos gerados e buscar resolver a causa fundamental do problema, procurando mudar os padrões não sustentáveis de produção e consumo” [grifos meus] (p.420).
Desta forma, lidar com os resíduos sólidos de uma maneira que atinja a “causa fundamental do
problema” implicaria na utilização do conceito de “manejo integrado do ciclo vital”, portador da
“oportunidade única de conciliar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente” (p.420). Ainda
de acordo com o texto do capítulo, a ação a ser implementada deve estar calcada numa “hierarquia de
objetivos” (sendo estes, de acordo com o texto, correlacionados e se apoiando mutuamente)
discriminada em quatro áreas programáticas demonstradas e analisadas a seguir.
No que concerne ao item “a” (“Redução ao mínimo dos resíduos”) tem-se a constatação de que
“os padrões de produção e consumo não são sustentáveis” (p.420), causa principal dos substanciais e
crescentes aumentos dos resíduos. Apregoa-se uma “abordagem preventiva do manejo dos resíduos”
(p.420) que leve em conta uma “transformação do estilo de vida e dos padrões de produção e
consumo” (p.420) vigentes como estratégia para se inverter tais tendências. Faria-se necessário um
programa cujos objetivos seriam a redução da produção de resíduos destinados aos depósitos –
através de “tecnologias”, de “incentivos reguladores”, da “conscientização” e da “informação”, entre
outros procedimentos –, além de modificações em sua composição por meio de “instrumentos
econômicos ou de outro tipo” (p.421). As proposições desse capítulo da Agenda 21 para os governos
vieram na forma do estabelecimento, até o ano 2000, das seguintes metas: a) um amplo banco de
dados visando monitorar a tendência dos resíduos (níveis de geração e de tratamento, por exemplo) e
a implementação de “...políticas destinadas para sua redução ao mínimo” (p.421); b) o estabelecimento
de programas para os “países industrializados” e os “países em desenvolvimento” no intento de
“...estabilizar ou diminuir (...) a produção de resíduos destinados a depósito definitivo...” (p.421); e c)
aplicar programas em seus respectivos países, (o Capítulo 21 sinaliza para uma ênfase aos “mais
industrializados”), que reduzam “...a produção de resíduos agroquímicos, contêineres e materiais de
embalagem que não cumpram as normas para materiais perigosos” (p.421). De acordo com o texto, as
organizações não-governamentais e os “grupos de consumidores” deveriam ser estimulados a
participar e a ajudar na constituição dos programas citados.
Em relação ao item “b” (“Aumento ao máximo da reutilização e reciclagem ambientalmente
saudáveis dos resíduos”), diante da constatação do aumento dos custos do depósito dos resíduos de
maior persistência, a sua reciclagem e reutilização conformar-se-iam como práticas de suma
importância para conter esse aumento (do volume dos resíduos e dos custos de seu manejo e
89
controle). Assim, a diretriz contida no texto orienta para que os programas de manejo de resíduos
consigam “...aproveitar ao máximo as abordagens do controle de resíduos baseadas no rendimento
dos recursos”, aproveitando ao máximo aquilo que se denomina “programas de educação” (p.424) para
este fim. Para aumentar a performance desses programas, no momento de sua elaboração torna-se
“...importante que se identifiquem os mercados para os produtos procedentes de materiais
reaproveitados...” (p.424). Alguns objetivos deveriam ser perseguidos para o sucesso de tais
programas, como a garantia de infra-estrutura física e gerencial por meio de “sistemas nacionais de
reutilização e reciclagem dos resíduos” (p.425) e a realização de pesquisas científicas para a produção
de tecnologias como forma de “estimular” e “operacionalizar” tais sistemas. Aos governos, mais
especificamente (embora seus meios de intervenção devam estar presentes em todo o processo
descrito), caberia, até o ano 2000, “promover capacidades financeira e tecnológicas” (p.425) no intuito
de implementar políticas e ações de reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; criar incentivos
diversos (que poderiam ser fiscais, aumento de recursos e de repasses financeiros) ao
desenvolvimento dos programas e ações (a coleta seletiva, por exemplo) para esse mesmo fim. No
caso brasileiro, as políticas nos níveis nacional, estadual e municipal de resíduos sólidos parecem
conter estes propósitos.
Já o item “c” (“Promoção do depósito e tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos”),
discorre mais detidamente sobre as práticas de tratamento e depósito dos resíduos, tanto os sólidos
como os de origem orgânica, atentando para a necessidade de “...tratar e depositar com segurança
uma proporção crescente dos resíduos gerados” (p.429). Segundo o texto, os governos deveriam
estabelecer, até o ano 2000, “critérios de qualidade, objetivos e normas”, (p.430) indispensáveis ao
tratamento e depósito eficientes dos resíduos. Isso implicaria no monitoramento do seu impacto
poluente e dos perigos epidemiológicos ocasionados pela sua incorreta disposição. Os governos
deveriam, ainda, desenvolver a infra-estrutura e a logística de saneamento e tratamento dos resíduos
(sólidos e orgânicos), entre outros meios, através da construção de estações de tratamento de
efluentes.
Por fim, o item “d” (“Ampliação do alcance dos serviços que se ocupam dos resíduos”), chama
a atenção para a necessária ampliação, de modo a universalizar os serviços sanitários básicos, assim
como os serviços de coleta e depósito de resíduos. Mais uma vez, caberia aos governos, até o ano
2000, “...ter a capacidade técnica e financeira e os recursos humanos necessários para proporcionar
serviços de recolhimento de resíduos à altura de suas necessidades” (p.434). Além disso, ficaria
firmado que até o ano 2025 toda a população urbana disporia de “serviços adequados de tratamento de
resíduos” e, para a população rural, “serviços de saneamento ambiental” (p.434). Os governos ficariam
ainda incumbidos de “desenvolver e aplicar metodologias para o monitoramento de resíduos” (p.434) e
90
estabelecer metas para o seu adequado depósito.
Várias são as contradições constatadas após esta breve descrição do Capítulo 21 da Agenda
21 Global. Uma delas é o caráter sumamente mercantil das orientações contidas num documento que
se propõe como de extrema importância para a efetivação de um modelo de desenvolvimento tido
como econômica, social e ambientalmente saudável.
Já sabemos quão simultâneos e conseqüentes têm sido os mecanismos de retração do Estado
na regulamentação e imposição de limites às forças de mercado em face dos estímulos à sua
liberalização – no intuito de desvencilhar essas mesmas forças de quaisquer obstáculos à sua plena
movimentação. Todavia, mercado sem limites não significa mercado despojado do poder de Estado, e
sim das tradicionais modalidades de regulação deste sobre aquele (HARVEY, 2004). Para verificar
como isso acontece, basta percebermos que o receituário dirigido aos governos para a definição de
suas “políticas ambientais” mostra-se estreitamente associado às exortações liberalizantes, sem,
contudo, que o Estado se faça ausente, por exemplo, dos grossos financiamentos ao setor privado.
Esse Estado “modernizado”, agora é denominado “gestor”, pois além de tais financiamentos está
incumbido de garantir apoio em infra-estrutura e logística, conduzir os arranjos políticos e legislativos e
fornecer segurança jurídica e institucional aos investimentos privados, produzindo novos espaços para
a acumulação ou mesmo redefinindo suas funções. Por isso a Agenda 21 traz como atribuições ao
Estado – por meio de cada governo específico – a necessidade (não raro cumprida à risca) de “criar
programas e ações”, “criar metodologias de monitoramento dos resíduos”, “identificar e difundir
tecnologias”, “identificar mercados potenciais para produtos reciclados”, “criar incentivos fiscais”,
“realizar investimentos em serviços de coleta e depósitos de resíduos” etc.
Num outro foco de atuação (intimamente ligado aos demais) de suas “políticas ambientais”, o
Estado em “parceria” com o mercado deve contribuir para a mudança dos “padrões não sustentáveis
de produção e consumo”. Ao garantir formas mais eficazes de utilização dos recursos e matérias-
primas empregados na produção de um modo geral, tais medidas tornam-se funcionais porque prestam
contribuição à diminuição dos custos dessa produção. Evidencia-se uma saída conservadora para a
questão, já que as causas fundamentais do problema não são tocadas. Ou seja, os padrões de
produção não são questionados em seus sentidos e suas finalidades, pois seu aumento constante (por
exemplo, no “estímulo à produção de embalagens”) não se dá numa perspectiva futura de sua redução
– o que incidiria na redução da jornada e também do tempo de trabalho.
Já os padrões de consumo na contemporaneidade não se desviam da órbita da produção
incessante de necessidades, mas apenas são redefinidos a partir da “criação de novos estilos de vida”
produtores de novas “identidades”. Reafirma-se em complexidade a reprodução das relações sociais
de produção (LEFEBVRE, 2003) aos nos depararmos com a forte disseminação de uma subjetividade
91
ecológico-individualista-mercantil, integrando-se crescentemente à dinâmica da vida. São seus
exemplos cabais o consumo crescente de mercadorias “ecológicas” – tais como produtos orgânicos,
tijolos reciclados para construção civil, artesanato feito com material reciclável (ver foto 4), entre outros
– consoante com o exercício da coleta seletiva como “prática cidadã” e a construção de condomínios
altamente fortificados e ao mesmo tempo trazendo signos que denotam tais “estilos de vida” (“viver
junto à natureza com todas as facilidades da metrópole”). Redefinem-se práticas que vão sutilmente
sendo incorporadas e simultaneamente produzindo a cotidianidade, prescrevendo e alimentando
modos de “ser”, de “viver” e de “pensar” por meio do consumo de mercadorias materiais e simbólicas.
Entretanto, na mesma medida em que a oferta de tais mercadorias aumenta sem precedente
conhecido, as possibilidades para a realização da prática espontânea no agir parecem esfumar-se a
um nível insuportável. Henri Lefebvre associa este imenso vazio ao fato de que: “Nossa vida cotidiana
se caracteriza pela nostalgia do estilo, por sua ausência e pela procura obstinada que dele
empreendemos” (LEFEBVRE, 1991, p.37).
Foto 4: Exposição de artesanato com produtos reciclados durante o 5º Festival Lixo e Cidadania. Autor: Luiz Antônio E. de Andrade. Foto tirada em 23/08/06.
Na contemporaneidade, os sentidos portadores de uma relação de alteridade entre homens e
natureza (tanto a externa quanto a interna), os quais não se separariam do constante e profundo
questionamento da organização social em curso, a despeito da aura do resgate de uma “ética”
ambiental e social, seguem num inquietante estado de latência. A sacramentação da norma social de
consumo (BIHR, 1991) e sua prática, alimentada por altas doses de signos e de representações da
coisa mesma, torna-se proporcional ao mal-estar causado pela não satisfação obtida. Entremeada
92
pelos “novos estilos de vida”, sendo esses produzidos em instâncias cada vez mais externas ao
indivíduo, o ser consumidor lhe é repassado como se ele tivesse tido a primazia na sua escolha43. A
produção intensiva de uma “falsa consciência” pela ideologia e a prática dominantes, pode ser
demonstrada pela evocação e na imposição ao consumo de embalagens recicláveis ou do papel
produzido com celulose advinda de árvores “especialmente plantadas” para a sua extração44,
alegando-se fatores de “preservação do meio ambiente”.
Vejamos então como o discurso e a prática da coleta seletiva passaram a incorporar as
preocupações do poder público em Belo Horizonte na forma de “políticas públicas”, ajudando a
municiar o “Programa de Inclusão Produtiva”. Antes de realizar a análise propriamente dita, interessa-
nos examinar mais de perto a sua constituição.
3.3. O Projeto de Coleta Seletiva de Belo Horizonte em sua constituição e sua atualidade:
prática sócio-ambiental ou suporte do circuito econômico da reciclagem?
Segundo Dias (2002), é a partir de 1993 que o poder público municipal “modifica” sua postura
em relação ao segmento social dos catadores de papel, deixando de vê-los como “inimigos da limpeza
urbana” e passando a incorporá-los como “parceiros primordiais” na sua execução e também do projeto
de coleta seletiva. O nascedouro deste último teria sido fruto do “reconhecimento” da importância de
uma antiga45 e informal atividade de coleta seletiva realizada por esses homens e mulheres. A partir
daí, esse “reconhecimento” seria a base para a implementação pela Superintendência de Limpeza
Urbana – SLU –, valendo-se do modelo de “gerenciamento integrado de resíduos sólidos”46 do projeto
43 Com relação a essa ilusória liberdade de escolha permeadora das relações sociais, Lefebvre (1979b, p.23) assim bem diz: “O consumidor de significações toma o significante pelo significado; vendem-lhe bem caro o signo da coisa da qual ele acredita assim estar se apropriando”. 44 Inclusive uma maneira ao que parece eficaz de agregar valor aos produtos vem se ratificando pela “cultura” do “consumo consciente”, a partir da qual as pessoas têm sido levadas a optar por produtos fabricados por empresas social e/ou ambientalmente “responsáveis”. Dados recentes de uma pesquisa realizada pelo “Instituto Akatu de Consumo Responsável” demonstram que o consumidor já se mostra simpático em pagar um pouco mais por produtos que “não agridem o meio ambiente”, embora esta disposição ainda não tenha se convertido numa prática. Parece ser só uma questão de tempo! Numa outra pesquisa realizada pelo mesmo instituto, 11% dos brasileiros consideram que uma empresa é responsável quando investe em meio ambiente. Ver também matéria publicada no caderno de economia do jornal “O Tempo”, editada no dia 25/03/2007: “Preservar também é um bom marketing”. 45 Em vários momentos do texto nos valemos dos termos utilizados pelos homens e mulheres catadores(as) na sua atividade, como “panha” ou mesmo “catação”. O termo “coleta seletiva” nada mais é do que uma espécie de eufemismo contribuinte para o processo de institucionalização dessa atividade, cujo discurso entoado com vistas à sua legitimação nos termos dos nada pequenos interesses em jogo é o da “humanização” e o da “contribuição” à mudança nas representações sociais acerca do trabalho destas pessoas. 46 O Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos é “...o envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da sociedade civil com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do lixo”. Extraído de "Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos". Publicação elaborada pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal IBAM, sob o patrocínio da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
93
aludido, num “...processo de construção coletiva entre a equipe técnica da SLU, a ASMARE, a Pastoral
de Rua e a Cáritas” (DIAS, 2002, p.77). Mas, para que essa “mudança de percepção” efetivamente
pudesse ser operada no campo de intervenção do poder público, era preciso que ela chegasse aos
seus arranjos burocráticos e institucionais, de modo a viabilizar de fato o projeto de coleta seletiva.
Esta mesma autora nos apresenta o que ela chama de “histórico do projeto”, dividindo-o em
três fases. Vamos a elas.
A primeira fase contou com o “diagnóstico da realidade” dos catadores de papel, realizado
ainda em 1993. Sua obtenção permitiria formular um modelo de coleta seletiva que articulasse e ao
mesmo tempo equacionasse “...tanto os aspectos ligados à “limpeza urbana, quanto os de natureza
social” (DIAS, 2002, p.78).
A segunda fase, intitulada “implantação dos galpões de triagem/disseminação dos
levs47/mobilização social”, deu-se entre os anos de 1994 e 1996. Durante este período foram
implantados os galpões da Rua Curitiba (em julho de 1994) e o da Rua Itambé (em julho de 1996),
ambos alugados pela SLU e providos de máquinas e equipamentos (boxes individuais, balanças,
prensas, etc.) necessários à execução da triagem. Ao se implantar esses galpões, permitiu-se, nas
palavras da autora aludida, “a eliminação de 46 pontos críticos de triagem” das ruas centrais,
propiciando assim “espaço de trabalho” (DIAS, 2002, p.81) para vários catadores. Cabe ressaltar que
ambos os galpões foram extintos: o da Rua Itambé em novembro de 2001 e o da Rua Curitiba em
1999, devido ao aumento do preço cobrado pelos aluguéis.
Por fim, a terceira fase significou a chamada “ampliação e consolidação da parceria SLU-
ASMARE”, ocorrida entre 1997 e 1999. Neste momento entraram em pauta os limites da coleta seletiva
feita pelo catador, entre outros, o seu desgaste físico e a dificuldade de cobertura de toda a cidade feita
pelo sistema, principalmente devido ao seu relevo acidentado (DIAS, 2002). Entra em cena também a
questão da crescente competição no mercado da reciclagem, a qual a ASMARE, definitivamente,
estava presente, demandando a incorporação em seu roll de atuação de termos como “agilidade” e
“eficiência”. A aceitação dessas novas demandas exigiram da Associação todo um processo de
avaliação interna, a começar pela sua reestruturação administrativa e a redefinição dos seus processos
produtivos e de coleta (DIAS, 2002.). Para explicar melhor como se traduziu esta “mudança de ares”,
trazemos as palavras de Sônia Maria Dias:
Sob o ponto de vista administrativo, houve um grande esforço de melhoria do sistema de informações da associação com a informatização e com um maior investimento na
República SEDU/PR. 47 Os Locais de Entrega Voluntária (levs) são recipientes diferenciados por tipo de material (vidro, papel, metal e plástico) e colocados em regiões de Belo Horizonte com maior movimento de pessoas ou maior concentração de pontos de comércio, onde os materiais selecionados podem ser depositados pelas pessoas.
94
capacitação dos funcionários contratados da ASMARE. O espaço físico do galpão-sede foi reestruturado, criando-se uma área específica para a triagem dos recicláveis advindos dos LEVs. Sob o ponto de vista da coleta, a principal modificação foi o fato da ASMARE passar a assumir parte da operacionalização da coleta mecanizada com o aluguel de um caminhão [pago com recursos de um convênio estabelecido entre a Associação e a Prefeitura de Belo Horizonte], a partir de maio de 1997, para execução de um dos roteiros da coleta seletiva nos LEVs. Os associados envolvidos nesse roteiro de coleta foram devidamente treinados pela equipe técnica da SLU (DIAS, 2002, p.83).
É nesse momento que as contradições avolumam-se e passam a bater à porta, na medida em
que a falta de uma reflexão aprofundada sobre os direcionamentos tomados por uma iniciativa
louvável, que precisa ser destacada em seu projeto inicial, mas que parece desde então penetrar num
caminho cujo aparelhamento consentido vem sendo o ponto de chegada. Ao incorporar, aparentemente
sem maiores ressalvas, a necessidade de “...cada vez mais assumir um perfil empreendedor [os
grifos são meus] sem no entanto enfraquecer sua dimensão de inserção social...” (DIAS, 2002, p.84),
os agentes envolvidos no “Projeto ASMARE” deixam-se levar pelo discurso e pela prática do poder
constituído – ajudando-o a reorientar-se em face de suas contradições.
De acordo com a menção feita acima, a implantação do projeto de coleta seletiva demandaria
várias mudanças no arranjo institucional da SLU, as quais se processaram tanto no seu organograma
quanto na sua estrutura operacional48. Criou-se então, no ano de 1993, a Assessoria de Mobilização
Social, a qual, através da Lei 8052/2000, seria convertida em Departamento de Mobilização Social e
incorporado no organograma interno da SLU. Sua função principal desde então foi funcionar como uma
espécie de canal de comunicação entre o poder público municipal (via SLU), os catadores de papel e a
sociedade. Posteriormente, após a Reforma Administrativa da PBH implantada em 2001, tal
Departamento ainda seria transformado em Gerência de Mobilização Social, cuja “...função pedagógica
é a sensibilização e mobilização da população em relação aos resíduos sólidos (DIAS, 2002, p.86).
Ainda de acordo com Dias (2002) todo o projeto de coleta seletiva “...foi gestado dentro dessa
assessoria de mobilização social” (DIAS, 2002, p.86). A equipe multidisciplinar constituinte dessa
assessoria estava diretamente voltada para o projeto (denominada “Comitê BH Reciclando”), sendo
composta por sociólogos, antropólogos, engenheiros, arquitetos etc.. Cabia a essa equipe a
“...coordenação geral do projeto, a condução do processo de educação ambiental e mobilização social
em relação aos aspectos específicos da implantação da coleta seletiva e o suporte institucional à
ASMARE” (DIAS, 2002, p.86). Vale dizer que esse suporte dava-se na forma de acompanhamento
operacional direto nos galpões, o recolhimento dos materiais recicláveis nos LEVs, além da ajuda
financeira por meio de repasses viabilizados por convênio. Firmado há 14 anos, de acordo com a
48 As atribuições da SLU na sua constituição deram-se em torno de uma limpeza urbana calcada na varrição de ruas, avenidas e praças, a capina e a coleta e destinação final do lixo do município de Belo Horizonte.
95
Prefeitura de Belo Horizonte, ele tem sido regularmente renovado. Em 2005, o valor anual do convênio
foi de R$ 1.099.678,72, sendo R$ 761,2 mil da Secretaria de Assistência Social (hoje Secretaria de
Políticas Sociais) e contrapartida de 30% - R$ 338,4 mil – da ASMARE. Em 2005 havia também um
repasse anual de R$ 262 mil à Associação para o pagamento de aluguel, IPTU, seguro contra
terceiros, vigilância e água e luz do galpão da rua Ituiutaba49. No dois primeiros meses de 2007, os
repasses da SLU somaram R$ 24.263,8750.
Quanto à mobilização social, na qualidade de atuação educativa da SLU, é do entendimento de
Dias (2002, p.88) de que desde a sua colocação em prática ela tem sido “...fundamental na
implantação do modelo de gerenciamento integrado de resíduos sólidos”. A ação mobilizadora da SLU,
visando atingir um público cada vez maior, vale-se, entre outros recursos pedagógicos e
metodológicos, da educação ambiental, a qual implicaria em um: “...processo de reflexão sobre as
questões ambientais emergentes, que deve conduzir a uma participação efetiva e ao resgate da
cidadania nas tomadas de decisões, permitindo-se, assim, o desenvolvimento da noção de co-
responsabilidade”51. Ainda de acordo com Dias (2002), a mobilização social está dividida em “quatro
níveis”: 1) a “mobilização para a implantação dos locais de entrega voluntária de recicláveis; 2)
mobilização em espaços multiplicadores; 3) mobilização interna dos funcionários da SLU; e 4)
mobilização e capacitação dos catadores.
Já no correr de 2007 – e apesar de ainda realizada sob os auspícios da SLU e agora chamada
de “serviço” –, a coleta seletiva também se articula na modalidade de “programa” ao conjunto de ações
envolvidas na amplitude do “Programa de Inclusão Produtiva”. Seu objetivo principal consiste na
destinação de todo o material reciclável recolhido por esse “serviço” na região Centro-Sul de Belo
Horizonte para as cooperativas e associações de catadores de papel “parceiras”, sendo a ASMARE a
responsável pelo recebimento do maior montante de material. A Associação realiza a sua triagem
utilizando um galpão localizado à Rua Ituiutaba, no bairro Prado. Lá trabalham e fazem parte do
programa cerca de 70 pessoas, as quais realizam exclusivamente a triagem dos materiais.
O serviço de coleta seletiva52 existente é considerado como bastante incipiente pela SLU,
apresentando pequenas variações no ano de 2006 e início de 2007 (ver Tabela 1). Há um grande
interesse desta autarquia em ampliar esse serviço para um maior número de regiões da cidade por
49 Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte e ASMARE: Modelo de programa social. Folder sem data. 50 Fonte: Demonstrativo dos pagamentos dos contratos – 2007 – DV. COC; Pessoal e encargos – SC.PPE; Receita própria – SC.CCO. 51 O trecho citado está contido em um Documento interno da SLU, cujo título é: “Programa de Comunicação Social e Gestão Ambiental Participativa da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de Capitão Eduardo”. 52 O serviço “porta-a-porta” está instalado em sete bairros: Gutierrez, Carmo-Sion, Serra, Buritis, Savassi, Cidade Nova e parte do São Lucas. Há também 150 endereços com Locais de Entrega Voluntária (LEVs).
96
meio de uma política de terceirização. Está em curso um processo de licitação para permitir a
ampliação do serviço, o qual passaria a abranger toda a região Centro-Sul e os Centros Comerciais do
Barreiro e da região Oeste da capital (bairro Gutierrez e adjacências), segundo informações da própria
SLU. Com a iniciativa de “ajudar” neste intento, a Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte realizou no dia 23 de Abril de 2007 uma audiência pública para discutir a
coleta seletiva no município. Estiveram presentes, além de vereadores, representantes da Prefeitura e
da SLU, e também “especialistas” ligados à industria de reciclagem, representantes de cooperativas e
de associações de catadores.
Tabela 1
Montante de materiais recicláveis coletados em Belo Horizonte no ano de 2006 e nos dois primeiros
meses de 2007.
A questão determinante na escolha das espacialidades citadas, conforme os dizeres da própria
Superintendência, reside no fato de nelas concentrar-se uma “grande oferta de materiais recicláveis”,
fato contribuinte na criação das condições gerais e dos atrativos necessários aos interesses
econômicos das empresas que operarão o serviço de coleta seletiva em Belo Horizonte. Contudo, o
espaço produzido – como “campo” onde se desenvolvem as estratégias de Estado – não pode ser
pensado tão-somente como produção dos arcabouços materiais e dos dispositivos legislativos e
institucionais para a ascendência de um mercado da coleta seletiva fatalmente articulado ao mercado
da reciclagem. A produção do espaço como condicionante e também resultado da realização de tais
mercados se interpenetra na produção do espaço como produção de novas e mais complexas relações
sociais: uma subjetividade estratégica que, sob os pressupostos da natureza como raridade e idílio,
Fonte: SLU: Relatório de atividades de limpeza urbana, fevereiro 2007.
97
recria modos de ”ser”, de “pensar” e de “viver” consoantes com as necessidades da reprodução
capitalista. A produção do espaço alcança em profundidade a produção da vida cotidiana, dissimulando
a ampliação dos constrangimentos na forma de uma prática (a coleta seletiva) na qual os desarvores
econômicos dão-se na proporção das possibilidades de auferir maiores ganhos com ela.
Em significativa medida, a Prefeitura de Belo Horizonte vem atuando como agente privilegiado
na (re)produção do espaço, mais uma vez submetendo-o aos interesses dos capitais em jogo. Eis aí a
insistência (e a imposição) de uma suposta “lógica” do espaço pretensamente racional e formal
repartido em pedaços vendáveis, dessa vez para os grupos empresariais que atuam no mercado da
coleta seletiva. Em contrapartida, problemas considerados de “ordem ambiental” como o lixo, são
apresentados como sendo responsabilidade de todos no que concerne à sua resolução, cabendo aos
tecnocratas determinar a “melhor” forma de implementá-la – de preferência mediante a “participação”
das “partes interessadas”.
Concomitantemente, torna-se pertinente aos interesses municipais incrementar a coleta
seletiva, de modo a dar fôlego à vida útil do aterro sanitário municipal (já quase se expirando) enquanto
a nova área em estudo não é de todo aprovada. Para se ter uma idéia, hoje em dia cerca de 5% de
todos os resíduos em Belo Horizonte deixam de ser destinados em direção ao aterro (ver tabela 2) e
vão para a reciclagem, sendo que este índice pode ser ampliado à medida que a coleta seletiva se
disseminar mais amplamente na capital mineira. Ademais, a coleta seletiva, não obstante apresentar
um custo de 321,65 R$ por tonelada, de acordo com dados da SLU53, transforma-se num serviço
menos oneroso (pois diminuem os “gastos improdutivos”) para o poder público na medida em que os
custos de aterramento diminuem os da própria coleta, já terceirizada. Tudo isso sem contar os
dividendos políticos intangíveis, gerados pelo programa de coleta seletiva.
Tabela 2
Comparativo anual de resíduos destinados.
Até o momento, os catadores de um modo geral respondem por quase 50% do material obtido
53 Informação retirada do “Relatório de Atividades de Limpeza Urbana”, relativo a fevereiro de 2007.
Fonte: Relatório de Atividades de Limpeza Urbana: 02/07 PBH, SMPU, SLU, Diretoria de Planejamento e Gestão, Departamento de Projetos, Seção de Estatística.
Destinação de Resíduos O1/O6 O1/O7 % Resíduos Destinados à Aterragem 110.416,09 116.784,06 5,77 Resíduos Destinados à Reciclagem 8.294,91 6.336,44 -23,61 VARIAÇÃO TOTAL (t/mês) 118.711,00 123.120,50 3,71
98
pela coleta seletiva em Belo Horizonte54. A despeito desta contribuição, o seu caráter de atividade
alimentadora da reciclagem – cumprindo fundamental importância no seu sucesso – não autoriza sua
disseminação senão por dentro das necessidades estratégicas do mercado, como a baixa oferta de
matérias-primas virgens, alta dos preços internacionais das mesmas, entre outras. Por um lado, as
características dessa disseminação revelam-se bastante importantes para esse promissor mercado, o
qual ainda trabalha com uma grande capacidade ociosa, haja vista a oferta de materiais, no geral,
ainda ser muito baixa55. De outro lado, há os entraves naturais da concorrência e das flutuações do
mercado da reciclagem, como a própria disponibilidade de oferta de materiais, uma possível maior
oferta de matérias-primas virgens, diminuição dos custos de energia, fatores como a politributação dos
recicláveis etc.
Em relação às motivações e à maneira como se dará o trabalho da catação por parte desses
homens e mulheres, sua “dimensão ambiental” está sumamente submetida à frieza dos critérios
eminentemente econômicos, condicionando o recolhimento de determinado material (ainda que esse
recolhimento também se alie à sua disponibilidade nas ruas) ao seu preço de mercado (regulado
internacionalmente). Há também a preferência de recolhimento atrelada à qualidade do material (como
a ausência de sujeira56), a qual dará a ele um maior ou menor valor de mercado. Outro indício da
prevalência dos critérios econômicos sob os demais, são os conflitos (que já resultaram em brigas e até
homicídios) pelo controle dos pontos de coleta em Belo Horizonte onde se concentram os serviços
econômico-financeiros ou nas áreas nobres, ambos detentores de uma maior oferta, por exemplo, do
papel branco (denominado “papel de primeira”). Além disso, ser “agente ambiental” para os catadores
torna-se uma característica fortemente motivada pela necessidade de auferir algum ganho para sua
parca reprodução individual (que, embora não seja a única questão em jogo, cada vez mais se torna
um fator determinante na decisão de se trabalhar na catação) do que propriamente fruto de uma
conscientização acerca da problemática ambiental. Ainda assim, mesmo as “cabeças feitas” pela
ideologia dominante que perpassa essa problemática reproduzem em alto grau o empobrecimento
tanto da noção de natureza quanto da chamada “questão ambiental”.
54 De acordo com matéria publicada pelo jornal “O Tempo”, edição do dia 24 de março de 2007, os catadores vêm recolhendo até 480 toneladas de recicláveis por mês em Belo Horizonte, número que se aproxima da média mensal da coleta seletiva realizada pela Prefeitura, que em 2006 ficou em torno de 575 toneladas. 55 Segundo informações do Compromisso Empresarial para a Reciclagem – CEMPRE –, o Brasil reaproveita algo em torno de apenas 2% do lixo sólido orgânico urbano. 56 A presença de “impurezas” misturadas num fardo de PET ou de papel branco, por exemplo – sendo ela representada por determinado material não condizente com aqueles que compõem o fardo –, simplesmente unitiliza-o comercialmente. Conforme destacado anteriormente, esta tem sido uma clara exigência dos compradores do papel vendido pela ASMARE. E paralela à pressão exercida pela administração sobre os(as) catadores(as) associados(as), cobrando maior qualidade do material, são as táticas levadas a cabo por estes últimos (como a própria colocação de tais “impurezas” ou molhá-lo) para aumentar o peso dos fardos e assim auferirem maiores ganhos na hora da pesagem.
99
Por tudo isso, não podemos deixar de realizar uma abordagem sobre a reciclagem de resíduos
sólidos que leve em conta sua presença marcante na qualidade de um circuito econômico cada vez
mais pujante. Se, como já dito em outros momentos, instâncias cada vez mais longínquas da vida
social vão sendo tragadas pelas relações tipicamente capitalistas, a reciclagem (uma atividade por sinal
bastante antiga) não poderia deixar de ser transformada em circuito de valorização. Ora, a orientação
primordial pelo e para o lucro – já socialmente aceita porque naturalizada – faz com que qualquer
“política” de “preservação ambiental” possa ter caráter mercantil, desde que supostamente dê conta de
lidar com a “dimensão ambiental” associada à “eficiência econômica”. A série de normas ISO 14000 –
apresentadas como “resposta à demanda mundial por uma gestão ambiental mais confiável” – há
algum tempo fazem parte das estratégias de empresariais no sentido de se cortar custos, conseguir
financiamentos e construir a imagem de empresa social e ambientalmente “responsável”.
As benesses sociais, ambientais e econômicas da reciclagem dos resíduos sólidos têm sido
constantemente exaltadas pelo poder público e pelo empresariado por meio de uma série de
campanhas publicitárias. Vejamos algumas dessas benesses apresentadas à sociedade: a) diminui a
exploração de recursos naturais renováveis e não renováveis; b) reduz o consumo de energia; c)
diminui a poluição do solo, água e ar; d) prolonga a vida útil dos aterros sanitários; d) melhora a
limpeza da cidade; e) diminui os gastos com limpeza urbana; f) cria oportunidade de fortalecer
organizações comunitárias; g) diminui o desperdício; h) gera renda pela comercialização dos
recicláveis; i) contribui para a melhoria da qualidade de vida; e j) gera empregos para a população57.
Todavia, estando submetida aos imperativos da reprodução do capital, a prática da reciclagem
orienta-se sob os pressupostos de uma racionalidade econômica que a despoja das possibilidades e do
atributo de atividade com grande importância, seja no trato com o lixo, seja como “iniciativa cidadã”. O
que faz dela uma ponte para a proposta de “inclusão social” no seio do existente. Alguns dos nossos
críticos poderiam dizer que ações de “cunho sustentável” não se baseiam apenas na esfera econômica
porque as esferas social e ambiental ganham enorme proeminência nas decisões econômicas. Porém,
estas últimas esferas também foram canalizadas pelos interesses da primeira, cujo toque de Midas tem
o poder de transformar (e reduzir) a tudo e a todos em mercadorias, em simples instrumentos do
processo de valorização do capital (MARX, 1985). Esta contradição pode ser constatada ao se verificar
que para ser atrativo ao mercado, o material reciclável deve possuir, além da ótima qualidade, um
baixo custo, apresentar grande disponibilidade (oferta) e dispor de um mercado consumidor garantido
(LEAL et al., 2002), gerando, como já vimos grandes ressonâncias no trabalho dos homens e mulheres
catadores(as).
57 Informações obtidas por meio de um livreto intitulado “Coleta Seletiva” (sem data), produzido pela Prefeitura de Belo
100
Analisando o modo pelo qual se dá a inserção dos materiais recicláveis na cadeia produtiva de
mesmo nome, por dentro das relações sociais de produção tipicamente capitalistas, estes se
apresentam como valores de uso, nos quais dois dos agentes com maior poder econômico (os grandes
aparistas e a indústria da reciclagem) investiram seu dinheiro (capital). Eles o fazem de modo a inserir
tal material no processo produtivo como meio de trabalho (matéria-prima), transformando-os em
mercadoria (cujo valor de troca é um elemento de valorização do capital inicialmente empregado) por
meio do trabalho social. Subtraindo todas as circunstâncias que levaram aparistas e indústria a
investirem seu dinheiro (capital) nos materiais e tomando-os apenas no âmbito do processo produtivo,
a reciclagem se torna lucrativa porque dá um valor de uso possível e, mais ainda, um valor de troca
àquilo que antes era simples dejeto, algo em princípio sem nenhuma capacidade criadora de valor.
Advém daí o grande interesse dos segmentos com maior poder na cadeia produtiva da
reciclagem, como os grandes aparistas e a indústria recicladora. Entre os grandes aparistas em Belo
Horizonte temos o “Santa Clara Comércio de Materiais Recicláveis” e o “Comércio de Resíduos
Bandeirantes” – CRB. Além de disporem (sobretudo o CRB) de grandes redes de fornecedores e infra-
estrutura, como caminhões e máquinas para preparação dos fardos, ambos os aparistas detêm a
propriedade dos depósitos localizados na Av. do Contorno (ver foto 5), sendo estes os compradores
dos materiais recicláveis trazidos pelos(as) catadores(as) “autônomos”. Já entre a indústria recicladora
em Minas Gerias, a mais importante é a “São Roberto”, localizada no município de Santa Luzia.
Foto 5: Depósito “Novo Mundo”, localizado à Avenida do Contorno. Autor: Luiz Antônio E. de Andrade. Foto tirada
em 05/06/07.
Horizonte através da Superintendência de Limpeza Urbana, com o patrocínio da Caixa Econômica Federal.
101
Os materiais passíveis de serem reciclados, quando vão para o lixo e posteriormente são
reinseridos no processo produtivo como matérias-primas, em ampla medida graças ao trabalho inicial
das pessoas que trabalham na catação, guardam em si uma característica que os diferem das demais
matérias-primas sob as quais não houve incidência do trabalho: possuem em sua forma corpórea
trabalho social objetivado anteriormente mobilizado na sua produção (LEAL et al, 2002). Ora, esses
materiais nada mais são do que o dinheiro empregado para comprá-los “...transformado em mercadoria
e são um modo de existência do seu capital, tal e qual como o era esse seu dinheiro” (MARX, 1985,
p.47). Esses materiais são num nível mais abrangente e funcionam “...realmente como capital, isto é,
como criadores de valor, valorizadores do valor (...), funcionam para aumentá-lo” (MARX, 1985, p.47).
Estas premissas de ordem teórica vão subsidiar na prática todo o conjunto de estratégias dos agentes
econômicos envolvidos na reciclagem, visando sempre a reprodução ampliada dos capitais investidos,
com uma ampla estrutura, como nos aponta Leal et al (2002):
...que vai além da planta fabril, territorializando-se nos centros urbanos, onde há material reciclável em abundância, articulando e envolvendo depósitos e vários outros trabalhadores além dos catadores, uma estrutura que conta com um esquema de transporte do material dos depósitos onde o material é acumulado, nas mais diversas cidades, para o local onde está sediada a indústria que irá realizar o processo de reciclagem industrial (LEAL, et al, 2002, p.183).
A ASMARE afirma nas estatísticas de sua atuação que tem mantido uma média mensal de
recolhimentos de 450 toneladas de materiais recicláveis em Belo Horizonte, o que, por sua vez,
contribuiria para o “aumento da vida útil do aterro sanitário58”, auxiliaria o município na economia com
os “custos de limpeza urbana”, além da “preservação de árvores”. Tomando por base que cerca de
90% do material coletado pela Associação é o papel, sustentamos aqui que essa elevação em boa
medida tem sido sustentada pela igual elevação da produção brasileira desse material – desacelerada
somente nos momentos de baixa demanda – por parte das indústrias fabricantes de papel e celulose.
Esse fato obviamente contribui para gerar um consumo ainda maior (ver tabela 3) e conseqüentemente
disponibilizar mais materiais para a reciclagem. Segundo informações obtidas no site da Associação
Nacional dos Aparistas de Papel – ANAP – além de não poder ser feita infinitamente59, a reciclagem do
papel é uma atividade complementar e não substituta da produção de matérias-primas virgens.
58 Os resíduos de Belo Horizonte são atualmente encaminhados para a Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da BR 040, ou seja, todo o lixo que é gerado no município, cerca 3800 toneladas por dia em 2007, segundo dados do Relatório de Atividades de Limpeza Urbana da SLU. 59 Na medida em que o ciclo de reciclagem se repete, as fibras vão se tornando menores, em conseqüência das operações de refino realizadas para a uniformização da massa fibrosa, tornando-se assim cada vez mais fracas. Na prática, a reciclagem de papel só se torna possível graças à constante entrada no processo de novos papéis recicláveis produzidos total ou parcialmente com matérias-primas fibrosas virgens. Ou seja, o aumento da produção e do consumo utilizando matérias-primas virgens também nesse aspecto torna-se um imperativo.
102
Todavia, é importante dizer que as aparas de papel apresentam boas vantagens competitivas, pois o
preço médio da fibra para a fábrica pode ser ajustado para baixo com o uso da apara, sendo esta mais
barata que a fibra virgem. Outrossim, as aparas podem garantir a continuidade da produção em tempos
de escassez de celulose60. Esses fatos apenas confirmam os grandes interesses na expansão da
indústria de papel e celulose que, por meio das técnicas de “gestão ambiental” e do produtivismo
otimizado (redutor do uso de energia, matéria-prima, água etc.) vêm garantindo os fabulosos lucros
deste segmento industrial.
Tabela 3
Produção e Consumo de Papel no Brasil em 2006 e Projeção para 2007.
A indústria de papel e celulose apresenta sua produção de modo integrado, com os maiores
grupos detendo desde a propriedade de áreas exclusivas para o reflorestamento das principais
espécies de eucalipto utilizadas como matéria-prima, até mesmo indústrias recicladoras, como o é caso
da KLABIN. Atualmente, esta empresa possui 198 mil hectares de florestas plantadas, divididas pelos
estados do Paraná e Santa Catarina. Este fator é determinante para que os grandes grupos
empresariais deste setor tenham grandes ganhos de escala.
Já a estrutura do mercado de reciclagem de papel no Brasil, conforme Calderoni (1997) é do
tipo piramidal, tendo a indústria recicladora no topo da pirâmide, logo abaixo vêm os grandes aparistas
e tendo à sua base os depósitos e sucateiros para, por último, chegar aos catadores. Há atualmente
três grandes empresas que representam mais da metade do faturamento proveniente da indústria do
papel: Klabin, Suzano e Votorantin.
Por fim, é preciso dizer que a coleta seletiva e a reciclagem não podem ser simplesmente
negadas, mas superadas na concretude em que se apresentam atualmente através da sua inserção
num amplo processo discursivo que deve envolver um modelo de organização social não mais tragado
por esta “entidade” que é o capital.
60 Informações obtidas na Associação Nacional dos Aparistas de Papel – ANAP. Fonte: site www.bracelpa.org.br, acessado em 15/05/07
Fonte: BRACELPA (Associação Brasileira de Celulose e Papel).
2006 2007 PAPEL 2005 (1000t) Projeção (1000t) VAR.% Previsão (1000t) VAR.%
Produção 8.597 8.750 1,8 9.000 2,9 Importação 770 960 24,7 980 2,1 Exportação 2.039 1.990 -2,4 1.950 -2,0 Consumo aparente 7.328 7.720 5,3 8.030 4,0 Consumo Per Capita (Kg/hab.) 39,5 41,1 42,3
103
3.4. O “Programa de Inclusão Produtiva” no campo das “políticas sociais” em Belo
Horizonte: “incluir” quem e para quê?
Nossa intenção a partir de agora é buscar compreender como o discurso da necessidade de se
operar a “inclusão social”61, saído de orientações teóricas insuficientemente refletidas, conforma-se
numa práxis política e social por nós entendida como reduzida e redutora. Ela vem sendo estendida às
populações em “vulnerabilidade social” por meio de políticas públicas – como é o caso dos catadores
de papel – envolvendo parcerias com entidades da sociedade civil e, principalmente, com as
organizações não-governamentais. Focaremos aqui o “Programa de Inclusão Produtiva”, levado a cabo
pela Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social – SMAAS –, que na hierarquia institucional está
integrada à Secretaria Municipal de Políticas Sociais – SMPS –, e que incide diretamente no trabalho
da ASMARE. Essa incidência se dá não só em relação aos trabalhadores da triagem, mas também
para os chamados “grupos de produção”, cujas oficinas funcionam no “Centro de Qualificação Reciclo”.
Vale dizer que a “Coleta Seletiva”, conforme veremos, embora realizada pela Superintendência de
Limpeza Urbana, inscreve-se no “Programa de Inclusão Produtiva” como uma de suas ações62.
A supracitada práxis política e social a qual, para ganhar legitimidade, precisa articular
eficientemente os diversos discursos (institucional, do mercado, da técnica e da ciência comprometida
com a reprodução social sob a égide do poder) que lhe servem de suporte, marcará presença junto
àqueles historicamente tidos como “indesejáveis” pela sociedade. Este estigma ganhou novos
contornos na contemporaneidade, pois as formas de exploração que ele ajuda a ensejar (até mesmo
como justificativa para sua suposta eliminação) também foram resignificadas. Expliquemo-nos melhor.
Os “indesejáveis” não deixaram de possuir essa alcunha. Eles devem continuar como tais, mas sem
incomodar e criar constrangimentos às “pessoas de bem”. No discurso-alicerçe do moralismo burguês,
os “indesejáveis” devem ser banhados pela seiva da “formação libertadora” do trabalho, aquela que
teria a propriedade de extirpar as personalidades “disruptivas” e “degeneradas”, tão perniciosas ao
pleno desenvolvimento da sociedade. Precisam se transformar em cidadãos de segunda classe,
cidadãos sem o sê-lo, verdadeiramente. Temos então uma representação vazia e abstrata de cidadania
61 Não é difícil hoje em dia escutar vozes da “esquerda” ou da “direita”, cada qual a seu modo proferindo discursos inflamados atentando para a “obrigação moral” de se reparar uma “dívida social histórica” para com os povos tradicionalmente “excluídos” da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo em que parece propor uma verdadeira “inversão de prioridades”, a “esquerda” se mostra tímida em pensar e agir num propósito mais radical de transformação social. 62 Através da mediação do “Grupo Gestor de Economia Solidária” – o qual tem entre seus componentes representantes da SLU e da SMPS – está sendo fechado um projeto de implantação de um galpão de triagem no bairro Granja de Freitas, em Belo Horizonte. Uma das intenções desse projeto seria viabilizar a criação de uma rede de cooperativas facilitando as negociações de venda dos materiais. Outra intenção seria ampliar o “Programa de Inclusão Produtiva”, oferecendo mais vagas para o trabalho de triagem desses materiais.
104
assumindo o primeiro plano do real: ocultamento deveras sofisticado, pois é a postura escancarada do
“estamos fazendo o possível” ou o “é difícil, mas é a realidade” que lhe serve de manto!
3.4.1. O poder público, as parcerias e a otimização da precarização do fazer social
Duas questões nos interessam a partir de agora. A primeira delas seria externar ao leitor como
a parceria entre a SMAAS e a ASMARE (culminando no “Programa de Inclusão Produtiva”) dá
ressonância aos modelos atuais de “inclusão social” das pessoas em “vulnerabilidade social”. A outra
questão envolve o mesmo processo, perpassado pela mesma modalidade de parceria, desta vez entre
a SLU e a ASMARE, no programa de coleta seletiva municipal.
Com base no material por nós acumulado ao longo de uma pesquisa de Iniciação Científica,
realizada entre agosto de 2004 e agosto de 2006, passamos a perceber, no cerne do discurso que
serve de sustentáculo teórico-conceitual e metodológico à política de Assistência Social em Belo
Horizonte, o bafejamento da tese apregoadora da qualificação social e profissional como redenção dos
pobres. Ou seja, os programas daí derivados, aos serem direcionados às pessoas por eles assistidas,
contribuiriam decisivamente para viabilizar a “equiparação de oportunidades de acesso ao mundo do
trabalho” a tais pessoas. Tem-se então, a criação do “Programa de Inclusão Produtiva”. É mister então
apresentarmos uma exposição um pouco mais detida acerca de suas origens.
Nascido na primeira administração de Fernando Pimentel (2001-2004), o programa é tido pelos
técnicos que lhe formularam como um projeto inovador na construção da cidadania e na promoção
social através do acesso do público assistido ao mercado de trabalho. Segundo tais formuladores, é aí
que se localizaria seu diferencial: ser portador de um caráter qualitativamente distinto dos programas
sociais predecessores ao buscar “garantir a autonomia do assistido” ao invés de apenas reiterar sua
situação de dependência social e econômica. Já no decorrer da atual gestão municipal, o “Programa de
Inclusão Produtiva” corresponde a uma espécie de “programa-tronco”, juntamente com outros 05
programas da mesma espécie. Dentro do “Programa de Inclusão Produtiva” estão incluídos 18
programas pontuais, somando-se a um “pacote” que abriga um total de 91 programas sociais da
Prefeitura de Belo Horizonte, os quais atendem, segundo seus dados, mais de um milhão e setecentas
mil pessoas na cidade63. Dentre esses 18 programas pontuais podemos, a título de exemplo,
mencionar o “Inclusão Digital”, o “Geração Trabalho/Profissão Futuro”, o “Qualificarte”, o “Economia
Popular Solidária”, os “Grupos de Produção”, o “Espaço da Cidadania” e o “Coleta Seletiva”.
Vale ressaltar que o “Programa de Inclusão Produtiva” ultrapassa em muito o universo do
63 Dados retirados do panfleto “Prefeitura: 91 programas sociais”, sem data.
105
trabalho realizado junto ao catador de papel associado a ASMARE64. Seu “público alvo” abrange, para
além do conjunto maior da população de rua, alguns setores da chamada “população carente”
moradora das periferias da metrópole belorizontina e trabalhadores em situação de desemprego. Cabe,
desta forma, tomarmos como exemplo o caso dos programas “Correção Ambiental e Reciclagem com
Carroceiros”, o “Credenciamento de Lavadores e Guardadores de Carros” e o “Sistema Nacional de
Emprego (Sine): BH Norte e Barreiro”. Há, também no âmbito do “Programa de Inclusão Produtiva”, o
“Projeto Tzedaká”, programa gerador de emprego e renda voltado para jovens carentes de 16 a 21
anos e o programa de “Estágios”, voltado para jovens com escolaridade tanto de nível médio quanto
superior.
O “Programa de Inclusão Produtiva” está assentado na formação de parcerias entre o poder
público e entidades não diretamente ligadas ao âmbito estatal. Esta possibilidade tem se dado desde a
regulamentação, pelo município, da “Lei de parcerias” (Lei 7.427, de 19 de dezembro de 1997). Ela
consistiria num “novo enfoque” nas relações entre o poder público e as entidades “sem fins
econômicos” (denominação substituta de “sem fins lucrativos”) de modo a possibilitar a construção e a
implementação de ações ligadas à assistência social. Na prática, trata-se de demarcar o campo de
atuação desta miríade de novos “agentes de promoção social” – materializados na forma de
organizações não-governamentais, fundações etc. – que agora gravitam em torno do Estado, chegando
a ocupar a trajetória orbital até então percorrida exclusivamente por este último.
Os argumentos do poder público para o estabelecimento da “Lei de Parcerias” atentaram para
uma série de avanços no campo da gestão e do controle públicos. Entre eles estão: a) a
“democratização”, marcada pelo acesso universal às modalidades de formalização dos convênios; b)
“continuidade garantida” pela renovação dos convênios com qualidade e demanda social comprovadas;
c) “recursos” e a garantia de sua disponibilização pelo executivo; d) “capacitação” garantida pelo
executivo com vistas à supervisão da rede conveniada; e e) “política pública”, com as entidades
64 Estamos conscientes do risco de erro pelo qual podemos incorrer ao separar estes homens e mulheres em duas categorias. Para reduzir drasticamente essa possibilidade, decidimos então tomar como sujeitos da pesquisa apenas os catadores associados a ASMARE. Para fazer cair por terra qualquer margem para dúvida, trazemos um exemplo da dita impossibilidade da separação das categorias. Em nossas andanças pela área central de Belo Horizonte, temos notado que os moradores de rua, na sua luta diária pela sobrevivência, recorrem muitas vezes à catação como um dos mecanismos de obtenção de algum dinheiro para sua parca alimentação. Recentemente conversamos com um morador de rua. Contando-nos sua história, que incluía sua proveniência do Espírito Santo em busca de sua irmã, o insucesso nesse encontro pela ausência do endereço correto da mesma, culminando então com a perda devido ao furto de seus pertences e documentos, disse-nos ter como único bem material o seu “carrinho”, que além de servir para a atividade da catação tem também a função de “cama” e de “ponto de espera” até o início da manhã, momento em que os depósitos de recicláveis abrem suas portas. Em suma: embora seja um morador de rua, este indivíduo também é uma pessoa, um catador de recicláveis, sem ponto fixo e sujeito às reações intempestivas dos demais catadores na disputa agressiva pela manutenção territorial dos pontos de coleta. Seu “perfil”, portanto, está imbricado nas duas categorias criadas para diferenciar catadores e moradores de rua. Seria possível, então, manter tal rigor? Ou seja, é possível pensar essas duas categorias para além de um primeiro – e não mais que provisório – recurso metodológico?
106
conveniadas devendo fazer cumprir as deliberações dos Conselhos Municipais de Políticas Sociais65.
Portanto, a precarização ainda mais contundente do fazer social por parte do Estado surge
para a sociedade como “reforma” (ARANTES, 2004), garantindo como princípio a “qualidade no acesso
a serviços sociais”. Haveria também, de acordo com o texto da Lei de Parcerias, a garantia dos
“mínimos sociais” com base no entendimento da “dignidade humana”, num arcabouço pautado na
“prioridade do social”, “participação social”, “complementaridade entre poder público e sociedade civil”,
“igualdade de direitos” e “igualdade de oportunidades”.
Com base no discurso da Assistência Social em Belo Horizonte66 – cuja primeira denominação
é “Políticas Sociais” – duas questões podem ser levantadas. A primeira delas parte da idéia que povoa
o discurso institucional no município, qual seja, que a Assistência Social em Belo Horizonte estaria
fortemente ancorada numa “representação positiva de cidadania e promoção social”, pois formaria os
indivíduos “para a sua própria autonomia”, inserindo-os de forma, em maior ou menor medida,
“sustentada” no mercado de trabalho. A segunda impressão, a qual pode ser entendida como
desdobramento da primeira, é a de que o discurso institucional, implícita e explicitamente, estaria
inscrito no eixo norteador das políticas sociais na capital orientando-se por meio de uma noção de
“construção de direitos” e não mais do mero assistencialismo promotor de concessões. Ademais, tais
políticas teriam como ação legitimadora aquilo que foi visto por nós anteriormente: a formação do
trabalhador – seja ele precarizado ou portador de alguns dos benefícios caracterizadores do pleno
emprego em extinção – dentro das determinações do modelo de competência imperiosamente exigido
pelo mercado de trabalho. Ainda no que se refere às nossas questões, os propósitos do “Programa de
Inclusão Produtiva”, presentes no seu veículo de comunicação impresso, falam por si mesmos:
Viabilizar a equiparação de oportunidades de acesso ao mundo do trabalho e ensejar formas de os usuários desenvolverem sua capacidade produtiva [grifos meus], tornando-se sujeitos econômicos capazes de garantir sua sobrevivência, transitando da situação de beneficiário para a de trabalhador, com possibilidades de garantir seu sustento próprio e o de sua família (SMAS – Revista Inclusão Produtiva, 2003, p.05).
Nesses termos, o “Programa de Inclusão Produtiva” ensejaria estratégias alternativas para que
os “assistidos” superassem as próprias condições objetivas de sua “exclusão”. Daí o fato dele se
65 Fonte: Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social (SMAAS), Lei Municipal nº 7427/97. 66 Julgamos importante atentar para a distinção operada na gestão do segundo mandato do prefeito Fernando Pimentel, entre política social e assistência social. A primeira abrangeria as “políticas universais”, como saúde e educação. Já a assistência social refere-se a “aquelas políticas voltadas para as pessoas que perderam a possibilidade de competir na sociedade pela sua sobrevivência, que inclui, por exemplo, os deficientes físicos, os idosos desamparados e os loucos. As nossas políticas sociais têm um viés de inclusão social, e nós trabalhamos um conjunto de políticas que visa dar equidade nas oportunidades” (Fonte:site: www.fernandopimentel.com.br/entrevista-detalhe.php?CodEntrevista=13). Acessado em 27/05/06.
107
apresentar como “...via estratégica para superar as situações de desemprego, falta de qualificação
profissional e ausência de renda” (SMAS – Revista Inclusão Produtiva, 2003, p.04).
Desse modo, a “Gestão da Política da Assistência Social em Belo Horizonte”, ganha o fôlego
necessário para emergir como “inovação institucional”, a partir da qual são exaltadas as substanciais
mudanças no seu paradigma norteador. Do anterior, calcado no binômio assistencialismo/pobreza
como “caso de polícia”, para outro, cuja pedra de toque é a “construção de direitos” por meio da
“equiparação de oportunidades”. Trocando em miúdos, a meta seria superar o “recorte conservador”
durante décadas presente nos programas institucionais de assistência em Belo Horizonte, calcados
num ordenamento “paliativo e compensatório”, em busca de um “sistema público de Assistência Social”
(SMAS – Revista Inclusão Produtiva, 2003, p.04). Nesse sentido, essa “nova” política pública de
Assistência Social ganharia o estatuto legal de “política de direitos”, tornada, de acordo com o discurso
institucional, “...afiançadora de cidadania [grifos meus], superando as marcas históricas que sempre a
associaram à caridade, caracterizada como via de ajudar a pessoas ou a segmentos excluídos da
sociedade” (SMAS – Revista de Inclusão Produtiva, 2003, p.04).
Levando em conta aquilo que prefigura no discurso institucional como “ruptura” com as
políticas “paliativas e compensatórias” e indo em direção a uma verdadeira “política de direitos”,
reatamos a discussão nos seguintes termos: o que se entende como “direito”, sobretudo na sua
formulação pelo poder público? Estando o trabalho, no universo das políticas de assistência social,
sendo oferecido como direito, isto é, como condicionante para a obtenção da cidadania pelos
“assistidos”, que trabalho é esse de que se está falando – e exigindo?
Ao que parece, a noção de direito sofre de um empobrecimento semântico, tendo, desse modo,
seu significado primordial desviado (e degenerado) para a noção de concessão. Ora, se estivermos
equivocados em nossa constatação, poderemos ainda dizer que coexistem na mesma realidade social
“direitos iguais” (o direito ao trabalho, por exemplo), mas com modalidades internas distintas e que se
expressariam diversamente para diferentes indivíduos. A segmentação social manifestar-se-ia
fenomenicamente nos diferentes tipos de trabalho que cada um ocuparia na vida social. Aqui a questão
estaria mais próxima da “competência individual” do que propriamente no campo de uma problemática
como as chamadas “desigualdades sociais”. Noutros termos, a divisão social do trabalho é reiterada
em sua pretensa naturalização fazendo o indivíduo assumir a culpa dos seus eventuais “insucessos” na
disputa por um emprego fruto de seu “despreparo” e da sua falta de qualificação, inaceitáveis em
tempos de mercado de trabalho “exigente” e “competitivo”.
108
3.4.2. O “Programa de Inclusão Produtiva” e o “Programa de Coleta Seletiva” a ele associado e
suas ressonâncias no projeto ASMARE
Eis aí o “fato novo” presente, dotador deste “significado diferenciado” do “Programa de Inclusão
Produtiva”: propor-se a atuar, no caso dos homens e mulheres catadores(as) de papel, precisamente
naquilo que para eles – até mesmo devido ao histórico de perseguições e impedimentos à realização
de sua atividade por parte da Polícia Militar e da Superintendência de Limpeza urbana – torna-se
elemento fulcral: o direito ao trabalho como condição sine qua non para seu ganho de cidadania e sua
inclusão social. Um detalhe: afasta-se das preconizações programáticas generalizantes e direciona-se
para uma prática voltada para o sujeito individual, construtor de novos papéis para si mesmo rumo a
uma “nova realidade”.
Já fizemos em outro momento uma descrição do programa de coleta seletiva enquanto
parceria envolvendo a SLU e a ASMARE, por meio da destinação dos materiais recicláveis coletados
ao galpão de triagem da Associação. Acrescentamos, portanto, que a SMAAS presta assessoria no
“Centro de Qualificação Reciclo” e também no galpão enviando seus técnicos para realizar um
acompanhamento mais sistemático das atividades. Esse acompanhamento consiste na verificação da
aprendizagem dos “assistidos” nas oficinas e na identificação e solução de conflitos e dificuldades de
relacionamento entre eles. Ao entrevistarmos um técnico que trabalha diretamente com as atividades
mencionadas, demonstra para nós um grande envolvimento, louvando as possibilidades trazidas pelo
“Programa de Inclusão Produtiva” sem questionar o seu alcance: “Eu acredito nas pessoas. Quando se
dá oportunidade, se dá trabalho... eu acho que dá!”.
Com base na discussão acerca do significado do trabalho na vida do homem e os
desencontros e estranhamentos experimentados por esse último no momento da desqualificação do
primeiro na sociedade burguesa, de que noção de trabalho se está tratando quando se fala em direito
ao trabalho para essas populações e, mais precisamente, para as pessoas que trabalham na catação e
são ligadas à ASMARE?
Qualificar o indivíduo cuja existência é “marcada por trajetórias de exclusão do acesso a bens e
serviços” (SMAS – Revista de Inclusão Produtiva, 2003, p.05) mostra-se como ação sumamente ligada
ao repertório conceitual que orienta a noção de “revalorização do trabalho”, vista no primeiro capítulo
desta pesquisa. Pautada no “resgate da subjetividade” do trabalho em meio às reestruturações dos
processos produtivos, em alguma medida as orientações teóricas e práticas da “revalorização do
trabalho” aparecem implícitas no corpo do “Programa de Inclusão Produtiva”. Uma delas mostra-se
presente na maneira pela qual se trabalhará a qualificação profissional (chamada pelo programa de
“formação profissional”) entre os assistidos, chamada de “Metodologia Qualificarte”. De acordo com
109
seus proponentes, tal metodologia se propõe a “trabalhar a pessoa enquanto sujeito em suas múltiplas
dimensões...” enfatizando o trabalho com os “... conhecimentos gerais e técnicos da formação
profissional de forma integrada, construindo-se uma relação dialética entre a profissionalização e o
trabalho como experiências de formação e realização humana” (SMAS – Revista Inclusão Produtiva,
2003, p.05).
Aproveitando o ensejo, é interessante relacionarmos as nuanças do “Programa de Inclusão
Produtiva” àquilo que Pedrosa (2003) chama de “flexibilidade nas relações de produção”. Embora o que
se apresenta na esfera dos processos produtivos e do trabalho seja a redução sem precedentes da
necessidade do trabalho vivo, isto é, do trabalho socialmente necessário pelo capital à sua reprodução
ampliada, aqueles que são acometidos por esse fenômeno não deixam de ser produtores e
consumidores. E é justamente isso que acontece no caso dos(as) catadores(as) de papel ligados à
ASMARE ou aqueles que estão vinculados às cooperativas – as quais, no caso brasileiro, voltaram a
se proliferar (NUNES, 2001). Nesses termos, sobressaem-se nos dias de hoje diversos programas e
agências de qualificação profissional – onde a figura do trabalhador se mistura à do “empreendedor” –
capitulando a preparação de indivíduos que, sozinhos ou em grupos, estariam capacitados a criar
alternativas de renda longe do mercado de trabalho formal.
Ora, o conjunto das relações que vêm governando o trabalho na contemporaneidade não é
mera objetividade conformada tão somente no âmbito das contingências e “humores” do mercado ou
do “ambiente econômico”. Elas são resultado e simultaneamente ajudam a criar as condições propícias
ao livre desimpedimento do processo de reprodução do capital. Processo esse, como sabemos, inscrito
no bojo de uma formação histórico-social na qual o trabalho foi assumindo um significado que o tornou
“atividade” cuja distância entre aqueles que participam de sua execução e outros, aqueles que se
apropriam de seus resultados, torna-se cada vez mais abissal.
Assim sendo, as pré-condições para o trabalho exteriorizado, des-identificado e estranhado –
formas pelas quais objetivou-se na sociedade burguesa o trabalho realizado pelo homem, resultado da
distância abissal dita acima – estão dadas, paradoxalmente, a partir daquilo que se convencionou
chamar de “revalorização do trabalho”. Recordando o que dissemos em outro momento, tal
revalorização não ultrapassa o universo do desenvolvimento das forças produtivas e nem das relações
de produção sob o capitalismo, pois não tem em pauta a superação de seus fundamentos norteadores:
suas formas abstratas aludidas acima e a propriedade privada. Numa síntese apertada, poderíamos
dizer que, se não se toca na essência, nos fundamentos norteadores, mantêm-se as pré-condições.
Ora, não é preciso ir muito longe quando observamos estarem em curso um conjunto de medidas que
reafirmam e intensificam os postulados do trabalho abstrato por meio da precarização sem precedentes
que abala o trabalho na contemporaneidade. Mais do que nunca, falar em trabalho em nossa época é
110
nos depararmos com a constatação de uma “...vida danificada e alienada, (...) uma vida que se reduz a
meio de vida” (PEDROSA, 2003, p.66).
A conseqüência desse novo campo de relações no trabalho sobre empreendimentos como a
ASMARE, tem sido o desvio das relações sociais da mobilização e da construção coletivas mais
abrangentes, para a instauração de diversos (porém sutis) mecanismos de coerção e de imposição de
condutas, descambando na perda do espaço público enquanto campo de possíveis. Isso tem
significado a sacramentação da anulação do outro como interlocutor ativo e de sua palavra, enquanto
ingrediente essencial à política. A privatização das relações sociais no interior da Associação vem
instituindo o consenso redutor pela “projeção de critérios de validade que não fazem referência a uma
esfera compartilhada de valores e significações...”, onde “...os homens [do poder] tenderão, para impô-
los no mundo, a fazer uso da violência” (TELLES, 1990, p.33).
São reações ilustradas pela saída de catadores(as) que não concordaram com as
normatizações (entre outras, as exigências veladas ou deliberadas de produtividade) durante toda a
existência da ASMARE. Internamente, percebemos as diferenças individuais de produtividade semanal
ou mensal não ligadas somente à debilidade física, o uso de drogas e/ou bebidas alcóolicas, entre
outros desregramentos, mas às manifestações de discordância (via de regra individuais) com o ritmo
de trabalho exigido – por um capitalista típico e seus “capitães do mato”, ela seria chamada de “corpo
mole”, “vagabundagem”, etc. O mal-estar do catador da ASMARE sai de sua latência e se manifesta
nos furtos de material67 e na desilusão com a sua própria capacidade organizativa.
As possibilidades para a construção das alteridades, do conflito como elemento primeiro da
prática política e uma reciprocidade libertadora, elementos basilares para uma democracia radical e a
consolidação do exercício de uma cidadania ativa têm sido destituídos de interesse, desaguando na
sua transformação em mero espetáculo. Esse cenário se transpõe ao rés do chão da ASMARE na
medida em que a desqualificação do outro – capitaneada por relações crescentemente dicotômicas
entre a administração e os demais catadores – e uma espécie de “política do medo” cultivada pela
necessária aceitação de “premissas invioláveis” – ou o caminho em direção à porta da rua! – passam a
vigorar como instrumentos de controle recorrentes nas relações internas à associação. Assim, a
construção coletiva passa a dar lugar à reificação de tais relações, à despolitização, ao estranhamento
e à conseqüente busca pelas saídas individuais, as quais se constituiriam inclusive como “estratégia de
sobrevivência” em um ambiente que, “contrariadamente”, optou pela premência cega e surda de
67 Ainda pensando os processos internos à ASMARE, insistimos que é a partir daí que começam a se verificar os “deslizes” de alguns catadores. A título de exemplo, foi por nós presenciada o desvio de uma doação que chegou à ASMARE e que seria (pelo menos em tese) contabilizada como soma coletiva na Associação. A catadora que se incumbiu de recebê-la, ao invés de repassá-la para o box coletivo, desviou o material para o seu box individual. Tal atitude não visaria garantir sua produtividade semanal?
111
índices aumentados de produtividade. Situação essa captada em seu movimento geral por Zygmunt
Bauman (1999), quando este nos fala dos estranhos da era do consumo, dos descartáveis (ainda que
importantes às “engrenagens”):
A responsabilidade pela situação humana foi privatizada e os instrumentos e metidos de responsabilidade foram desregulmentados. Uma rede de categorias abrangente e universal desintegrou-se. O auto-engrandescimento está tomando o lugar do aperfeiçoamento socialmente patrocinado e a auto-afirmação ocupa o lugar da responsabilidade coletiva pela exclusão de classe. Agora, são a sagacidade e a força muscular individual que devem ser estirados no esforço diário pela sobrevivência e aperfeiçoamento (BAUMAN, 1999, p.54).
Com isso, o anterior campo de possíveis que poderia ser vislumbrado a partir de uma
orientação da ASMARE que primasse pela constituição de um espaço público onde a politização, o
conflito, e o estatuto reivindicativo vigorassem como verdadeiras linhas de força no seu interior, acaba
por se reduzir a práticas sociais semelhantes aos de uma organização privada – o que a faz mera
reprodutora e alimentadora da sanha mercadológica vigente. A privatização das relações sociais no
âmbito interno da Associação acaba por gerar ali uma grande contradição: onde deveria existir a
publicização, a horizontalidade e a crescente eliminação das relações de poder (ou em torno dele se
fazerem presentes formas convivenciais), passa a assistir ao retorno do discurso competente, que olha
o outro de cima e que por ele decide. O estrago se completa quando a construção de instrumentos e
estratégias para uma luta anti-hegemônica via articulação coletiva acaba cedendo lugar a uma mera
“complementaridade instrumental”, alimentadora do mercado da reciclagem, e com isso ajudando a
tensionar ainda mais, ao invés de extirpar, o conflito entre capital e trabalho no interior da ASMARE.
112
CAPÍTULO 4
DA “PANHA” À CATAÇÃO INSTITUCIONALIZADA: HOMENS E MULHERES
CATADORES DE PAPEL DA ASMARE EM FACE DA PRODUÇÃO DE SUA
COTIDIANIDADE
“Apareceu uma dona e falô comigo assim: ah, vamu pra rua catá papel? Ah, vamu... Aí eu falei assim: será que dá certo? Aí ela falô de novo: ah, vamu catá papel? Vamu catá o papel de noite e de manhã a gente vem embora. Aí eu vinha trazeno a comida pra tratá das criação, né? Aí fiquei. A gente ficava no banco 24 hora ali limpano. Aí o Getúlio falô assim comigo: mãe, vamu pra ASMARE? Aí eu respondi: eu num vô pra ASMARE não. Eu comecei foi aqui [na rua] (...) Aí eu fiquei lá mais um mês e depois subi pra cá [para a ASMARE] (...) Com isso eu tô aqui até hoje” (Depoimento de Dona “Dilma”, em 09/04/2006).
Iniciamos esse capítulo com a seguinte assertiva: o modelo vigente de reprodução social no e
através do qual a (re)produção do espaço está atrelada, faz emergirem – na qualidade de resultado e
também condição de seu processo – a catação e os homens e mulheres catadores(as) de papel, sejam
os “informais”, sejam aqueles associados à ASMARE. Tal assertiva serve para enfatizar que, até o
momento, o desfecho por nós verificado indica o paradoxal empobrecimento daquilo que é mais
humano pela via da otimização do que, pretensa e imperiosamente, ainda se põe como sendo a
continuidade da realização do ideário da liberdade operada pelo projeto civilizatório burguês. A
reprodução da ausência de possibilidades e da própria liberdade reatualiza sua forma abstrata e se
realiza, no discurso e na prática, como o ápice das “possibilidades” e das “liberdades” (BAUMAN,
2000). Na mesma medida, a produção e a reprodução do espaço devem ser pensadas sob essa ótica,
todavia com o seguinte acréscimo: como negação na possibilidade e como possibilidade na negação.
Como então refletir sobre a condição do homens e mulheres catadores(as) de papel da ASMARE e a
atividade da catação? Como demonstrar que aquilo que aparece como concretude, isto é, aquilo que é
tido – por meio de um discurso e uma prática carregados de estetismo – como “conquista” penetra
desmedidamente na rota do enclausuramento da autonomia – ampliando as (im)possibilidades de
realização do humano?
Vale mais uma vez destacar que a ASMARE, na qualidade de “empreendimento solidário” tido
como “modelo nacional” a ser seguido, além de ser, no âmbito das estratégias oficiais, pedra de toque
das políticas sociais e ambientais da Prefeitura de Belo Horizonte, era assim definida por José
Aparecido Gonçalves (à época Administrador Geral da ASMARE) nos seus dez anos de fundação:
“...um novo modelo de política pública, capaz de inserir, formalmente, o catador no mercado de
reciclagem. Uma conquista que é de cada trabalhador, agente pastoral, empresário e dirigente público,
113
que ousou participar deste projeto”68.
Este será o desafio, enfrentado nas páginas que se seguem, numa tentativa expedita (e nunca
esgotada) de deslindar elementos não levados em conta – mesmo quando a análise se propõe a
mergulhar nas “qualidades humanas” do(da) catador(a) de papel ou da população de rua.
O intento, ao refletirmos e lançarmos um olhar sobre esses homens e mulheres, não é o de
situá-los numa categorização demográfico-estatística funcional ao economicismo vulgar, isto é, como
conjunto de indivíduos dispostos numa cadeia de dados e índices nos quais, por exemplo, seriam
externados indícios de uma “ascensão social” por meio da elevação dos “ganhos de renda”.
Igualmente, não estamos dispostos a tomá-los apenas como “sujeitos” no vir-a-ser de suas vidas
imediatas, vividas como “dinâmica” descolada do processo geral, contraditório e obscuro do cotidiano
avassalador (LEFEBVRE, 1991). Procuramos aqui pensar aquele a aquela que se ocupa da catação na
ASMARE como alguém “...comum, fragmentado, divorciado de si mesmo e de sua obra...”, mas
vivendo sua vida simples no dia-a-dia, “...obstinado no seu propósito de mudar a vida, de fazer história,
ainda que pelos tortuosos caminhos de sua alienação e de seus desencontros, os difíceis caminhos
cotidianos da vida” (MARTINS, 1999, p.12). É como se esses homens e mulheres “comuns” estivessem
entrelaçados a uma contraditória sina, de estar no mundo mediante uma intensa e dolorosa luta pela
sua realização – alimentada por conquistas que preenchem de sentido a sua existência – e, ao mesmo
tempo, compulsoriamente divorciados da possibilidade da transformação efetiva de si mesmos e do
mundo. Eis aí a aparente “inexorabilidade” da vida, que o pensamento e a prática hegemônicos fazem
chegar a essas pessoas impondo-lhes a condição de estar no limiar da desumanização. Pois é algo do
humano de cada uma delas, com seu adormecido e miúdo, porém real poder de apontar para a
transformação do existente, que buscamos enfatizar nesse capítulo.
Já a atividade da catação será apresentada como prática espacial (LEFEBVRE, 2006),
construída e realizada no âmago das (im)possibilidades trazidas pela modernização; pontuada como
expressão e como condição de suas contradições e irracionalidades. Tal prática não é entendida por
nós como tão somente como “trabalho”, visando à obtenção do mínimo para a satisfação das
necessidades básicas – ou seja, numa perspectiva que domina apenas a órbita sócio-econômica –,
mas também na qualidade de ação produzida por e produtora de sociabilidades, sendo estas
reveladoras de táticas de sobrevivência, de afetividades, de conflitos etc. Outrossim, aquilo que nos
leva a falar em modernização se dá como superação das concepções dicotomizadoras do “moderno”
ideologicamente tido como “superior” ao “tradicional”, como eterna ida a galope nas costas do des-
68 GONÇALVES, José Aparecido. Editorial. ASMARE: há dez anos reciclando vidas, Belo Horizonte, [2000]. Edição
Especial Comemorativa, n.p.
114
envolvimento rumo ao encontro com o futuro (Arantes, 2004). Modernização é aqui entendida,
sobretudo, como promessas não realizadas; como movimento mecanizado e esterilizado das formas,
numa consonância-dissonância com a manutenção/diluição/empobrecimento do(s) conteúdos(s) nela
articulados; como possível não realizado69 e, portanto, tornado impossível nela e por ela própria,
servindo como alerta para uma urgente resignificação de conduta da “civilização”.
Trataremos da vida de pessoas com origens e histórias de vida diversas, cuja complexidade
transcende o discurso e a prática científicos, muitas vezes inibidores e encobridores dessas qualidades
do humano. Deve-se não incorrer no erro de tomar a realidade social como uma espécie de “massa
informe” da qual certo “pensamento” deve se ocupar e “organizar” através de “análises fidedignas” do
“real”. Ao contrário, urge reorientar a ciência tornando-a instrumento importante (sem ter a pretensão
de ser o único), uma modalidade de interpretação nunca acabada dessa realidade.
4.1. Homens e mulheres catadores(as) de papel: quem são estas pessoas?
As pessoas que ontem e hoje realizam a atividade da catação são aqueles(as) que, como
todos nós, vivem a cidade, dialogando com ela à sua maneira, tecendo relações sociais entre si,
lutando e (sobre)vivendo no e com um espaço (ilusoriamente) neutro, condição e produto do
estranhamento. Abrindo um rápido parêntese, optamos pelo fio condutor não da negação, mas da
superação das abordagens que ainda tomam o espaço tão-somente como “campo” funcional e
instrumental da produção em sentido restrito (e restritivo). Ou seja, a modalidade “...produção de coisas
e seu consumo” (LEFEBVRE, 2003, p.21) não pode se conformar como uma forma pura, cujos
conteúdos se põem como definitivos e unidimensionais: deve incorporar a (re)produção do próprios
homens e mulheres na sua totalidade e relações sociais nas quais se inserem e delas tomam partido.
Nesse sentido, o autor dá relevo à necessidade desse salto qualitativo na reflexão crítica acerca do
espaço: “Não se pode dizer que o espaço seja um produto como um outro, objeto ou soma de objetos,
coisa ou coleção de coisas, mercadoria ou conjunto de mercadorias” (LEFEBVRE, 2003, p.21).
Longe de querermos apresentar um “histórico” desses homens e mulheres e da atividade da
catação na metrópole belorizontina, haja vista as possíveis insuficiências de tal empreendimento na
compreensão do processo geral de reprodução social e de suas determinações, a idéia aqui é
apresentá-los e também a sua atividade no seio das contradições do processo mencionado. Ao invés
de corroborarmos leituras estigmatizantes sobre a pobreza, demonstradas e tencionadas, entre outros
69 “A modernidade anuncia o possível, embora não o realize” (MARTINS, 1999, p.20).
115
autores, por Vera Telles (2001)70, procuramos pensá-la como expressão e como condição de
reprodução daquilo que se entende como “moderno”. A pobreza, mais do que apenas uma situação
vivida como chaga – e longe de ser idealizada –, é também uma mostra dos amplos traços da força do
humano no embate contra o esbulho da desumanização, manifestação essa típica das condições
atuais, em que “...os próprios bens da fortuna convertem-se em elementos do infortúnio” (ADORNO &
HORKHEIMER, 1985, p.15).
Torna-se necessário pensar a vida social impressa no movimento de construção do modo de
produção capitalista, visto este ser uma formação histórico-social na qual a propriedade privada e suas
relações concernentes – entre outras, o trabalho abstrato e a divisão do trabalho – aos poucos naquela
foram se alastrando ao se estabelecerem como suas mediações-chave. Podemos pensar toda esta
processualidade pelo prisma de uma trama de abstrações concretizadas, organizando-se e
reproduzindo-se até os nossos dias, num acirramento sem precedentes de seus princípios e de suas
conseqüências sociais. Nesse sentido, podemos ter subsídios para algo do entendimento dos homens
e mulheres catadores(as) de papel e de sua atividade, os diversos olhares sobre eles lançados ao
longo das décadas, e compreender, numa perspectiva crítico-dialética, seu movimento constituinte. Em
suma: ir além da linearidade mecânica (tida como “processo”) do olhar incapaz de ultrapassar a
dimensão institucional e cujo discurso baliza-se na transformação do(da) catador(a), de “inimigo da
limpeza urbana a parceiro prioritário” (Dias, 2002).
A figura do(da) catador(a) ajuda a compor a cidade de Belo Horizonte desde o momento em
que esta se põe de pé. Ou melhor: preferimos dizer que não é somente a forma abstrata do(da)
catador(a) que a compõe, mas os Joãos, Marias, Josés, pessoas que ajudaram a construir essa cidade
tornada metrópole. Pessoas essas de origens diversas, aportadas em Belo Horizonte na busca da
concretização do ideário de uma “vida melhor”, numa cidade tida como “cenário de oportunidades” e de
“esperanças”. Grande parte delas, a despeito de seus conhecimentos e de suas experiências de vida –
consideradas “dispensáveis” aos parâmetros do modelo de racionalidade que move a reprodução
capitalista da riqueza – na melhor das hipóteses acabavam obtendo os empregos socialmente tidos
como de menor status e remuneração. Outras, de “menor sorte”, acabavam vendo o tal sonho de uma
vida melhor se transformar numa constante e diária luta pela sobrevivência. Provinham (e provém) daí
as atividades consideradas “subterrâneas” como a catação de papel, os furtos, ou, no limite, recorrer à
caridade pública por meio da mendicância para garantir o mínimo para sua reprodução. Essa luta pela
70 TELLES (2001, p. 19-20, grifos meus) demonstra como o “pobre” no Brasil “…incomoda ao acenar o avesso do Brasil que se quer moderno e que se espelha na imagem - ou miragem – projetada das luzes do primeiro mundo”. Segundo a autora, nestes termos a pobreza vê-se “…transformada em natureza…” sendo o “pobre” “… considerado como resíduo que escapou à potência civilizadora da modernização…” tendo, portanto, “…que ser capturado e transformado pelo progresso”.
116
sobrevivência – paradoxalmente num momento em que o Brasil bebia da “poção mágica” do progresso
pela via desenvolvimentista de base urbano-industrial – é demonstrada no depoimento de Dona
“Dalva”, sobre a vida na rua ainda na década de 1950, em Belo Horizonte:
“Na época, quando eu tava com meus sete anos já tinha muita gente na rua catano papel e pedino
esmola. Eu conheci muita gente mais velha catano papel e pedino esmola na rua”. (...) Ali na Igreja São
José ficava cheio de gente catano papel e pedino esmola na rua. O padre protegia muito nós, né? A
mamãe já apanhou demais da polícia, não porque tava roubano, mas sim porque tava pedino esmola
ou então catano papel na rua (21/11/2005)”.
Eis aí o campo de “alternativas”, não raro, postas para o migrante. Não é nosso objetivo
discorrer aqui acerca da saga desse migrante. Ante a complexidade do problema social das migrações,
limitar-nos-emos a relacioná-lo no movimento passado entre o desenraizamento (a exclusão) e a sua
“inclusão”71 por dentro da sociedade capitalista. Destarte, poderíamos localizar a produção e a
reprodução da mais-valia social e a reprodução ideológica das relações de produção – contribuinte,
entre outras dimensões, do processo de metropolização de Belo Horizonte – produzindo o e sendo
produzida pelo migrante. A exemplo da ressalva feita no tocante à pessoa do(da) catador(a), não
queremos transformar o migrante numa categoria abstrata, mas tomá-la como quem vive as
contradições do espaço e do tempo tornados mercadorias, e, ao mesmo tempo e à sua maneira, lida,
consciente e/ou inconscientemente, com elas.
Para tanto, julgamos pertinente trazer à tona alguns depoimentos dos “catadores históricos”,
sendo que o porquê dessa denominação já foi explicitado na introdução desta pesquisa. São falas que
revelam a vida, tendo de se constituir enquanto tal, no chão da metrópole a partir da condição seja de
migrante strictu sensu, seja de filho de migrante – mas direta e indiretamente vivendo as dificuldades
postas por tal condição. Abaixo seguem, respectivamente, os depoimentos de três catadores históricos,
a saber: Dona “Dalva”, Dona “Esther” e Dona “Antônia”. O primeiro depoimento foi retirado da
dissertação de Mestrado de Maria Vany de Oliveira (2001), já citada anteriormente; os dois últimos
foram por mim mesmo coletados em entrevistas com Dona “Esther” e Dona “Antônia”:
“Eu sou de Belo Horizonte, mas minha mãe é do Serro. Minha mãe veio pra cá conseguir uma vida
71 Vale então completarmos esta idéia com as palavras de José de Souza Martins: “Nem todos os migrantes são um problema social, mas nas migração está envolvido, sem dúvida, um problema social. Onde está o problema social? Está na reinclusão, no problema da dificuldade da inclusão, na forma patológica da inclusão” (Martins, 2002b, p.127, os grifos são meus).
117
melhor. Só que chegou aqui, minha mãe também veio catar papel. Ah! Já tem uns 45 anos que ela veio
pra cá... Acho que tem mais! Já tem mais de 50 anos. Eu to com 50. Ela me ganhou aqui. Tem mais de
50 anos que ela mora aqui catano papel também. Ela veio pra cá conseguir trabalho e veio catar papel
(in: OLIVEIRA, 2001, p.54)”.
“Eu sou de Pitangui. A gente mudou pra qui, nós era tudo pequenininho. Lá era uma cidade fraquinha.
Então, a gente mudou pra cá pra melhorar a sorte. Nós tinha dois terrenos em Pitangui. Morava perto
do cemitério, perto da Santa Casa, mas acontece que não tinha recurso. O único recurso que tinha em
Pitangui pra nós era manga e mandioca” (04/06/2006).
“Nós chegamo de manhãzinha na rodoviária e ficamo por lá. Aí chegô um homem e perguntou assim: a
senhora é de onde? Aí eu comecei a chorar. A senhora é de onde? Oh moço, eu sou de Itambacuri!
Meus pais mora lá. Tô sem dinheiro, sem nada pra dá de comer pros menino, meu marido veio pra cá
mais eu ‘caçá’ uns parente. Tão falano pr’eu saí daqui com meus trem, pra onde q’eu vô? Ele falô
assim: beleza. A senhora tá com fome? Eu respondi: fome?! Oh moço, eu nem sei o que é mais fome!”
(21/04/2006)
Os três depoimentos mostram-se interessantes em vários aspectos para o entendimento do
significado do afluxo de pessoas provenientes “da roça” ou do “interior” para os grandes centros
urbanos. Percebe-se nas entrelinhas os desdobramentos do substancial, avassalador e contraditório
processo de transformação econômico-político-social brasileiro, com a passagem de um padrão
econômico e social colonial e agrário para um padrão urbano-industrial e capitalista, definitivamente
inserindo o país numa ordem social competitiva (FERNANDES, 2006). Há nesta contenda algumas
literaturas (PRADO JÚNIOR, 2004) que se apoiam numa vertente teórica que localiza tal processo na
chamada “modernização”, alavancada pela pujança do crescimento econômico brasileiro, permitindo a
saída do “atraso” em que nos encontrávamos até então, rumo à constituição de uma sociedade sob
novas bases: mais sólidas e coerentes com a “inerência dos novos tempos”.
Neste caso, o migrante poderia passar a experimentar os frutos do “desenvolvimento” e da
“modernização” da sociedade pela via da mobilidade social, desde que se “esforçasse” para tal. Ou
seja, estas pessoas passavam a conviver com valores e normas presididos pela moral burguesa da
realização humana pelo trabalho, a qual não poderia se dar sem que houvesse a disposição individual
à renúncia, à espera, à parcimônia etc. Sendo a produção e a reprodução da riqueza ideologicamente
concebidas não como produto de relações de exploração do trabalho pelo capital, mas como
empreendimento conjunto de trabalhadores e empresários, o trabalho esforçado e sistemático garante
118
o aumento da produtividade e a reprodução do capital e, simultaneamente, irriga o sonho da mobilidade
social do trabalhador como resultado de seus esforços individuais (MARTINS, 1979). Todavia, faz-se
necessário ressaltar que o mito da mobilidade social por meio do trabalho associado à renúncia, à
espera e à parcimônia, no nosso entender, vem sendo paulatinamente substituído pelo mito do trabalho
(mesmo o mais precário) como algo a ser louvado pelo seu “possuidor” num mundo em que a figura do
trabalhador nunca foi tão dispensável.
É importante reter que a realização da vida pelo uso e pela apropriação, o trabalho não voltado
para a acumulação de riqueza, ações e vivências desvinculadas do pragmatismo e do utilitarismo –
vistos na sociedade competitiva norteada pelos valores burgueses como sinônimo de “preguiça” e de
“ausência de projetos de vida” – passavam a ser, consciente e inconscientemente, sobrepostos por tais
valores. Entra aí a noção de “ambição positiva”, associada às conquistas materiais e demarcando as
conquistas subjetivas do reconhecimento social e da dignidade pessoal. Trazemos a seguir o
depoimento de Dona “Dilma” enfatizando a reforma de sua casa e a aquisição de móveis e toda a
parafernália eletrônica moderna com o dinheiro oriundo de anos dedicados ao trabalho da catação. A
conseqüência de todo esse esforço foi a conquista do respeito de todos na ASMARE, haja vista ela ter
se convertido numa espécie de “catadora padrão”, devido à sua produtividade semanal. Ambos os
depoimentos nos dão mostras da internalização de traços das aspirações tipicamente burguesas como
desdobramentos do modelo de “inclusão social” norteador do trabalho desenvolvido com os homens e
mulheres catadores(as) ligados à Associação, além de embeber a auto-estima e a vaidade de Dona
“Dilma” através do reconhecimento pelos companheiros do prodígio de seu trabalho:
“...Tem coisa q’eu num falo da ASMARE não. Foi lá q’eu consegui reformá minha casa. Tem meus
trocadim q’eu ganho que num é muito não (...), mas eu consegui reformá minha casa (...), eu investi
meus trocadim aqui ó, igual cê tá veno! Esses móvil aí tudo eu comprei aos poco, comprei a televisão
grandona, o som, ajudei muito no carro parado ali na garaje... Alguns móvil tá estragado porque os
minino mexe demais, mas taí” (09/04/2006).
“Na ASMARE eu tirei o primero lugar, o primero lugar de catadera e de honestidade. Num tem quem
trabaie igual a eu naquele lugar”! (09/04/2006).
Uma outra vertente teórica, de perspectiva crítica e contraposta à vertente supracitada, é
trazida para o debate na obra “Quando Novos Personagens Entram em Cena”, de Eder Sader (1995),
no momento em que o autor nos fala da trajetória dos migrantes na cidade de São Paulo. Segundo o
autor, nela “...vemos assinalados os mecanismos de exclusão, desenraizamento, marginalização, que
119
atingem os migrantes pobres nas metrópoles” (SADER, 1995, p.89), produzindo neles um sentimento
de rejeição e de desamparo devido à desqualificação de seu modo de vida – tido como “atrasado”.
Todavia, a caracterização do migrante no âmbito da perspectiva assinalada, ao mesmo tempo em que
tem a virtude de captar “...com precisão a perda de raízes, tem o defeito de fixar esse momento como
se fosse um atributo essencial do migrante” (SADER, 1995, p.90). Este limite analítico mencionado
pode ainda ser identificado quando percebemos a trajetória do migrante com base no já dito ideário de
uma “vida melhor”, contraposto às dificuldades deixadas “para trás”, no local de origem. Isto é, as
referências desse ideário estão ancoradas nos valores permeadores do modo de vida moderno e
urbano, que poderiam ser ilustradas quando Dona “Esther” fala que Pitangui, sua cidade natal, “era
uma cidade fraquinha” ou que “não tinha recurso”. Entretanto, tornar a análise absoluta neste aspecto
seria negar muitos dos traços rurais – como a vida comunitária e as relações pessoais (não deixando
de lado suas ambigüidades e contradições) – ainda presentes nas periferias metropolitanas, não
obstante os desafios e dramas cotidianos ameaçadores de sua existência.
Talvez a análise mais expressiva das tensões e contradições presentes no seio do
alastramento das relações tipicamente capitalistas, com estas passando a abarcar a totalidade da vida
social através da programação do cotidiano, esteja em Henri Lefebvre (1991). Num dado momento de
sua obra “A vida cotidiana no mundo moderno”, ao analisar a sociedade francesa do pós-guerra,
permeada por ideologias que exortavam sua “reconstrução” calcada nos valores do trabalho, da
produção e do planejamento econômico, enfatiza o dilaceramento da riqueza da vida ocultada por
aqueles que pretensamente punham-se como demiurgos do seu bem-estar. A família burguesa
definitivamente erigia-se como modelo de unidade social e seus valores efetivavam-se como
referenciais, pressupondo (e sendo supostos pelos) modos de vida. Já o modo de vida camponês,
donde o modo de vida operário retém muito de seu significado, parecia se perder na avalanche das
determinações e prescrições da vida urbana ainda mais intensa – límpida materialização da
organização social em curso. Provém daí o que o referido autor chama de “miséria do cotidiano” e suas
conseqüências:
...os trabalhos enfadonhos, as humilhações, a vida da classe operária, a vida das mulheres sobre as quais pesa a cotidianidade. A criança e a infância sempre recomeçadas. As relações elementares com as coisas, com as necessidades e o dinheiro, assim como com os comerciantes e as mercadorias. É o reino do número (...). O repetitivo. A sobrevivência da penúria e o prolongamento da escassez: o domínio da economia, da abstinência, da privação, da repressão dos desejos, da mesquinha avareza (LEFEBVRE, 1991, p.42).
Eis um importante ponto a ser levado em consideração nesta discussão: mesmo após a
constatação de que o “sonho de uma vida melhor” em muitos aspectos converte-se em agruras e
dificuldades para o migrante, ainda assim ele é visto como passível de realização, diferentemente
120
daquela possível no local de origem. Ora, vivemos num modelo civilizatório notabilizado pela formidável
e pujante produção dos meios de vida, ontem e hoje dados como promessas a serem concretizadas –
e produtoras de felicidade – na inexorabilidade do “desenvolvimento”, abrindo caminho crescente rumo
ao “reino da liberdade” – na qualidade de práxis ampliada dos homens. Mas é a apropriação privada
desses meios de vida, ocultada por discursos sutis e ao mesmo tempo truculentos – produtores de
verdades pela via da verdade falsa ou, nos dizeres de Debord (1997, p.16), transformando-a num
“...momento do que é falso” – que retiram desse mesmo modelo civilizatório sua conotação vigorosa e
converte-no em retrocesso e barbárie.
O migrante vive todo este conjunto de contradições; seu sofrimento é tributário das
materializações absurdas dos seus processos. Suas alegrias e eventuais conquistas também estão
localizadas nesse mesmo celeiro, ajudando na sua legitimação e (re)produção. Por isso, longe de
tomar como um epifenômeno a alienação do migrante na reprodução de sua vida por dentro de nossa
mistificadora e mistificada sociedade, não podemos, a título de exemplo, incorrer no simplismo de opor,
maniqueisticamente, um “rural idílico” a um “urbano demoníaco”. Da mesma forma, as dificuldades e
privações do migrante, seu sofrimento na metrópole que o nega para incluí-lo à sua maneira, ausentes
e desvinculadas do bálsamo atenuante das dores, presente na conquista miúda da vida cotidiana,
fazendo-a caminhar, contra tudo e contra todos, no vai e vem do mundo.
Aproveitamos então para destacar o depoimento de Dona “Esther” acerca das “peripécias”
realizadas em Belo Horizonte junto com seu irmão, fazendo da arte de cantar, também a arte de tentar
sobreviver na metrópole capitalista:
“A gente costumava viajar demais. A gente cantava muito. Um dia tava sorrino, outro dia tava chorano.
Mas de qualquer forma, tinha que cantar, porque era aquilo q’eu ganhava o meu pão. Nós fazia show.
Hoje eu num faço mais não. Ele fazia a voz grossa e eu fazia a fininha. Em qualquer uma praça a gente
costumava cantar. Aqui em Belo Horizonte, ali na Igreja São José, pelo menos, nos cantamos muito.
Na rua Pescada, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Campo... onde tinha festa a gente ia. Toda
festa que tinha nós ia porque nós sabia que dava dinheiro” (04/06/2006).
O trecho acima é revelador de todo o movimento de alegrias e tristezas, de conquistas e de
perdas, da vida orientada por tempos e movimentos que há muito deixaram de ser autônomos, fazendo
ambos os irmãos buscar “ganhar o pão” em meio às incertezas de cada dia. Ele nos revela também a
incorporação, nas práticas outrora fundadas no uso, de outros valores, internalizados como artifícios
táticos de sobrevivência num mundo mediado e canalizado pelo dinheiro. Neste sentido, o ato de
cantar inscreve-se na vida de Dona “Esther” e de seu irmão, como prática contornada por traços
121
mercantis, materializada no descolamento da prática de seu exercício gratuito. Nota-se algo de
fragmentação e recomposição forçada, ou seja, “...a unificação que [aqui se] realiza é tão-somente a
linguagem oficial da separação generalizada” (DEBORD, 1997, p.14).
Associamos as processualidades aludidas à produção do espaço em seu conjunto, nos
embates ora latentes ora manifestos provocados no e pelo seu movimento. Sérias vêm sendo as
dificuldades engendradas pela disseminação de leituras parciais e fragmentadoras do espaço, as quais
dão a ele apenas a “qualidade” de produto, sem pensá-lo também como produtor de práticas, de
vivências e de conflitos. Em “A produção do espaço”, Henri Lefebvre (2007), se vendo diante dos
inúmeros níveis, fragmentações e especializações no processo do conhecimento da realidade social e
do espaço como seu produto, distanciando esse conhecimento ao invés de aproximá-lo de uma prática
reflexiva e transformadora, realiza um amplo esforço de chegar a uma “teoria unitária do espaço” no
intuito de lidar com a questão. O “espaço social” apresenta-se em sua obra como um importante
conceito na compreensão da realidade social e dos processos que a constroem.
Assim, o espaço social seria o espaço da reprodução das relações (sociais) de produção
(LEFEBVRE, 2007), espaço que no capitalismo tardio converteu-se em reduto do concebido, “campo”
onde se desenvolvem estratégias, mas sem deixar de ter seus conteúdos de espaço vivido e
percebido, onde a vida se desenrola em sua miséria e sua riqueza. Esse espaço, que “...implica,
contém e dissimula relações sociais” (LEFEBVRE, 2007, p.13), reproduz as e contribui para a
naturalização das relações de propriedade, pois retrata e supõe o trabalho abstrato e a divisões social,
técnica e territorial do trabalho. Ele é lançado à condição de força produtiva pelas relações de produção
que operam no capitalismo, não raro como uma avalanche sobre os modos de ser e viver precedentes,
ainda que nos seus interstícios hajam contornos das relações marcadas pela afetividade e pelo lúdico.
É um espaço cujos agentes que o produzem, que o tomam de assalto com suas estratégias,
introduzem de maneira meticulosa uma docilização monitorada, mas não sem questionamentos e
transgressões – conscientes ou não.
As representações do espaço (LEFEBVRE, 2007) operadas pelos “homens de ciência” (os
tecnocratas) para se legitimarem lançam mão de índices, médias aritméticas, desvios padrões,
reduzindo-o a uma grandeza abstrata visando à concretude da ação do poder hegemônico. Contudo,
nos escombros da destruição provocada pela frieza dos números e do cálculo renascem outros
simbolismos, outras práticas mais ou menos espontâneas. O espaço social pressupõe um tempo
social, que fragmenta o heterogêneo para o recompor, homogeneizando-o: funciona como abstração
que pesa sobre a vida, ordenando e cronometrando os trajetos e os deslocamentos. Por tudo isso:
“Não há um espaço social, mas vários espaços sociais, e mesmo uma multiplicidade indefinida, da qual
o termo ‘espaço social’ denota o conjunto não-enumerável” (LEFEBVRE, 2007, p.15, o grifo é do autor).
122
A complexidade do espaço social não pode ser percebida e muito menos explicada por um campo
específico da ciência, pois, se assim o fosse, a leitura seria restrita e não desvelaria a trama de
relações que o compõe:
Ora, o espaço (social) não é uma coisa entre as coisas, um produto qualquer entre os produtos; ele engloba as coisas produzidas, ele compreende suas relações em sua coexistência e sua simultaneidade: ordem (relativa) e/ou desordem (relativa). Ele resulta de uma seqüência e de um conjunto de operações, e não pode se reduzir a um simples objeto. Todavia, ele não tem nada de uma ficção, de uma irrealidade ou “idealidade” comparável àquela de um signo, de uma representação, de uma idéia, de um sonho. Efeito de ações passadas, ele permite ações, as sugere ou as proíbe. Entre tais ações, umas produzem, outras consomem, ou seja, gozam os frutos da produção. O espaço social implica múltiplos conhecimentos.”(LEFEBVRE, 2007, p. 5)
Além do mais, é a multiplicidade de percepções e de vivências do espaço e do tempo que deve
ser contemplada em qualquer análise que encabeçe uma crítica aprofundada. Acrescente-se aí que
tratar de maneira pertinente as relações imediatas entre o espaço e o tempo não é transformar os
sujeitos em agentes de sua sujeição, dando a eles a “oportunidade” de decidir a melhor forma de fazê-
lo. Trata-se de possibilitá-los oferecerem a si mesmos as melhores maneiras de transformarem suas
vidas pelo conhecimento radical da realidade existente, transformando a crítica no combustível da ação
transformadora. Nossas reflexões são corroboradas, pelas palavras de Harvey (1994):
Considero importante contestar a idéia de um sentido único e objetivo de tempo e de espaço com base no qual possamos medir a diversidade de concepções e percepções humanas. Não defendo uma dissolução total da distinção objetivo-subjetiva, mas insisto em que reconheçamos a multiplicidade das qualidades objetivas que o espaço e o tempo podem exprimir e o papel das práticas humanas em sua construção (HARVEY, 1994, p.189).
Ao entendermos os modos pelos quais a produção do espaço como mercadoria reduz as
possibilidades do uso ao inscrevê-lo nos termos da troca mercantil – fazendo dele, paradoxalmente,
uma “raridade” – podemos perceber que as provações impostas ao migrante na sua chegada aos
grandes centros urbanos também são desveladas no âmbito da busca pela moradia, na construção de
um novo lar. Este lugar, mesmo quando apresentando uma simplicidade irrisória ou reduzido ao lugar
da “reprodução da força de trabalho”, é carregado de simbolismos e conotações porque relativo ao
“habitar” (LEFEBVRE, 2002), à magia proporcionada pelo conforto ao corpo e à consciência,
contribuindo na produção de relações afetivas e sociabilidades diversas. Trazemos então, mais dois
depoimentos. O primeiro deles é de “Paulo”, contando-nos sobre sua chegada à capital seguida do
estabelecimento no aglomerado da Serra. O segundo depoimento é de Dona “Dalva”, que na qualidade
de filha de migrante, experimentou as agruras da conquista de um teto. Ambos nos auxiliam a melhor
entender como todo o campo de dificuldades encontradas, embora recheados de desafios, inaugura
123
práticas simples, formadoras de sociabilidades, retirando um pouco do cinzento da vida:
“Eu vim pra Belo Horizonte, eu ia fazer um ano. Meu pai veio pra cá porque minha avó já morava aqui.
Ela morava na Serra do Capivari. Aí, trouxe minha mãe pra cá. Eles morava todo mundo lá. Na época,
na Serra do Capivari nem tinha água. Tinha água mais era na máquina. Aí, minha mãe perguntava os
outros se queriam encher o tambor. Ela vivia carregando água na cabeça pros outros com nós
pequenininho, porque meu pai trabalhava” (In: OLIVEIRA, 2001, p.58).
“Mamãe chegou aqui e foi logo pra Pedreira Prado Lopes, porque tinha umas pessoas que eram do
Serro e que moravam lá na Pedreira. Então, mamãe veio morar na casa deles. A Pedreira é ocupação,
uma favela (...) Aqui em Belo Horizonte já morei em vários lugares. Já morei em Venda Nova, bairro
Aparecida, só no bairro Aparecida eu morei três vezes. Depois mudamos pro Céu Azul. Compramos
um lote no Céu Azul e mudamos pra lá. Nas favelas, era tudo invadido, era ocupado, né? A gente
carregava tábua. Fazia de tábua. A gente levava as tábua aqui da cidade e fazia os barraquinhos de
tábua pra morar” (25/11/2005).
Tais dificuldades, desafios, alegrias, tristezas não são manifestações dadas ao largo, fora da esteira
das relações sociais num nível mais amplo. Ao mesmo tempo, não são meras extensões de seu
conjunto, na qualidade de aparência fenomênica desarticulada da essência que lhe contém. Feitas as
devidas ressalvas, julgamos pertinente localizar os supracitados depoimentos a partir do que
expressam, como sentido do vivido destas pessoas. São relações se dando na esteira e também no
limiar entre as relações sociais e o imediato-mediato. Elas nos permitem compreender como a chegada
a Belo Horizonte (ou a (sobre)vivência profunda no seio da condição daquele que é migrante, na
qualidade de filho deste), a ocupação das áreas periféricas, a auto-construção das habitações, a
(sobre)vivência em meio à negação do mínimo para a reprodução da vida (refletida na dificuldade para
se obter a água) não podem vir desarticuladas dos processos em torno do desmesuramento do tecido
urbano. E é no âmbito de tais processos que se conformam as periferias empobrecidas, a partir de
loteamentos carentes do mínimo de infra-estrutura básica. Ermínia Maricato (1982), embora realize
uma leitura bafejada pelo privilégio às formas – em vários momentos apoiando-se numa concepção
reduzida de bem-estar –, caracteriza as periferias urbanas como a forma espacial desses loteamentos:
…o espaço da residência da classe trabalhadora ou das camadas populares, espaço que se
estende por vastas áreas ocupadas por pequenas casas em pequenos lotes, longe dos centros de comércio ou negócios, sem equipamento ou infra-estrutura urbanos, onde o comércio e os serviços particulares também são insignificantes enquanto forma de uso do solo (Maricato, 1982, p.82).
124
Para além da forma, o processo de periferização guarda em seus conteúdos a negação do
urbano como possibilidade e realidade para amplas parcelas sociais. Ele é expressão do que é dado a
tais parcelas: simulacros de bens sociais subsumidos a um espaço (re)produzido única e
exclusivamente na qualidade de produto de relações e atividades mercantis, onde operam as
estratégias engendradoras do pleno processo de valorização do capital. Podemos dizer que o espaço,
sendo um produto social, lócus onde os agentes do poder econômico (mercado imobiliário, por
exemplo) e político (aqueles que implementam as leis de uso e ocupação do solo) fazem valer seus
interesses, separa para reagrupar, “...deve recuperar os indivíduos isolados como indivíduos isolados
em conjunto... [grifos do autor]” (DEBORD, 1997, p.114). Suas gentes precisam ser incorporadas como
produtoras e consumidoras de mercadorias – mesmo em tempos anunciadores do fim do sonho da
mobilidade social –, mas devendo ser mantidos longe, até mesmo do consumo pleno do espaço,
enquanto materialidade e mercadoria. Todo este movimento considerado se dá, vale dizer, no nível de
uma reprodução social capturada pelos tentáculos da reprodução do capital, a partir da qual dimensões
da vida cada vez mais longínquas submetem-se aos seus desígnios. A atividade da catação, ao
aprofundar sua orientação nos termos das determinações do trabalho abstrato, coaduna-se ao
embotamento de possibilidades outras a essa reprodução social e contribui para a reprodução
ampliada de suas contradições.
Ou seja, as ditas periferias urbanas, na qualidade de espacialidades que contêm a “prova viva”
de uma deliberada e institucionalizada política de apartação social, experimentam, concomitantemente,
a integração precária e subalterna nos eixos de reprodução econômica do capitalismo. Mobilizamos
então o conceito de “prática espacial” trazido por Henri Lefebvre (2007) para compreendermos aquilo
que é “oferecido” para as pessoas a partir de um espaço que prescinde delas na sua produção pelos
agentes tecnoburocráticos. Sendo esse espaço uma abstração-concreta destoada do viver como
prática espontânea, já que (re)produzido como mera força produtiva, o econômico prevalece nele como
instância superior (sobredeterminando as demais instâncias da vida), mesmo quando o estetismo se
encarrega de dar-lhe uma aparência de espaço de recuperação72. Como pensar as práticas espaciais
em meio a todos esses constrangimentos? Segundo Lefebvre, (2007, cap 01, p.37), elas estariam
72 Exemplar neste caso tem sido o “Vila Viva”, um programa municipal (contando, inclusive, com recursos do Banco Mundial) em atuação no Aglomerado da Serra que se propõe a realizar amplas melhorias na infra-estrutura do local, “removendo” várias famílias de áreas de risco e reassentando-as em conjuntos de apartamentos próximos ao aglomerado. Há, ainda, o projeto “Favela Bela”, cujo objetivo é rebocar e pintar as casas e barracos do Aglomerado Santa Lúcia. Este projeto está sendo realizado em conjunto por moradores e a iniciativa privada, tendo como objetivo principal, de acordo com seu coordenador, o líder comunitário Cristiano da Silva, “resgatar a auto-estima” dos moradores e “fazer uma favela diferente por dentro e por fora”. Até novembro de 2006, haviam sido beneficiados 269 imóveis. Um aspecto “interessante” é o requisito utilizado pela coordenação para a escolha dos “beneficiados”: “...todos devem estar bem posicionados, em lugar que possam ser vistos”. Como um dia escreveu Debord (1997, p.16): “...o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda vida humana (...) como simples aparência” [o grifo é do autor].
125
associadas “...estreitamente, no espaço percebido, a realidade cotidiana (o emprego do tempo) e a
realidade urbana (os percursos e redes ligando os lugares do trabalho, da vida ‘privada’, dos lazeres)”.
Em seguida, o mesmo autor põe em questão que essa é uma: “Associação surpreendente, pois ela
inclui em si a separação exacerbada entre esses lugares que ela religa”. Logo abaixo colocaremos à
mesa as práticas espaciais realizadas pelos homens e mulheres catadores(as) da papel da ASMARE.
O direito à cidade (LEFEBVRE, 2004) afasta-se da concepção radical de democracia e política
para se configurar como mera obtenção de traços do urbano, revestidos tão-somente de sua
materialidade básica. A dinâmica processadora do par dialético desenraizamento/integração forçada e
subalterna do morador das periferias deve guardar, fidedignamente, semelhança com os fundamentos
que presidem a sociedade burguesa. Assim, a produção do espaço pelos agentes hegemônicos, nos
dizeres de Lefebvre (2003, p.26) “...é um esquema do qual essa sociedade se serve para tentar
constituir-se em sistema, para atingir a coerência”. Para tal, a organização social vigente, cuja
expressão mais límpida é a práxis danificada, opera no mundo e sobre si mesma: “Mascarando suas
contradições, inclusive as do próprio espaço, esse caráter ao mesmo tempo global e pulverizado,
conjunto e disjunto” (LEFEBVRE, 2003, p.26).
Temos, pois, a ausência dos sentidos do uso (reduzido a um resíduo) presente no espaço
tornado amorfo por esses agentes, ganhando ares de limpidez democrática, supostamente destinado e
construído a partir do que (aparentemente) seria a vontade geral da sociedade. Mas, ao contrário, é no
e pelo espaço que se sacramenta o aprisionamento das massas que nele, e não com ele, se
relacionam. “Esse espaço abstrato reúne o espetáculo e a violência, a eficácia do espírito analítico na e
pela dispersão, separação, segregação” (LEFEBVRE, apud DAMIANI 1981, p.355). São, portanto,
modulações colocadas como pano de fundo para a realização da forma dicotômica espaço/sociedade
que invadiu o conhecimento – inclusive aquele que se produz no interior da Geografia – e a prática, e
que Ruy Moreira (1994) contesta, ao afirmar que: “O espaço é a sociedade pelo simples fato de que é a
história dos homens produzindo e reproduzindo sua existência por intermédio do processo de trabalho”
(MOREIRA, 1994, p.90).
Sendo assim, de que modo se realiza no e através desse espaço hegemônico e
tecnoburocraticamente concebido da metrópole belohorizontina, o movimento construtor das
sociabilidades e das vivências destes homens e mulheres catadores(as) de papel da ASMARE – que,
como vimos, também são migrantes (ou seus filhos)? Devemos articular tal movimento àquele através
do e no qual as práticas espaciais são propiciadas para estas pessoas. De que forma elas percebem
suas vidas e suas dificuldades no torvelinho da metrópole, entrecruzada por uma série de
determinações, não raro em guerra aberta com seus modos de experienciar o tempo e o espaço?
No final da década de 1980, dormir na rua ou nas “malocas” significava para as pessoas da
126
catação simultaneamente a falta de moradia digna e a tensa vigília sobre o “produto” de seu trabalho
para que a polícia ou um “concorrente” não o tomassem – fato que fazia do carrinho o seu próprio
“teto”. Esta combinação era um tanto intragável para os olhos e os narizes burgueses, à época já
aninhados aos primeiros postulados do que viria a se chamar “planejamento estratégico”73. A fundação
da ASMARE, em 1990, trouxe com ela alguns requisitos para a aceitação de novos associados. Um
deles consistia no consentimento do(a) catador(a) a deixar a rua e procurar moradia fixa. Embora não
deixe de apontar para alguma conquista em relação à atroz condição do “morar na rua”, que a
obtenção do endereço fixo tenha trazido um sentimento de dignidade e auto-estima para muitos dos
“agraciados”, esta não pode ser tomada como realização plena quando sabemos dos termos através
dos quais o solo urbano é regulado. Ora, sendo o espaço uma mercadoria situada nos marcos da
propriedade da terra, torna-se quase um truísmo dizer que não são as parcelas mais valorizadas (e, por
isso mesmo as que dispõem de maior materialidade) aquelas a serem disponibilizadas aos
catadores(as) que deixaram de viver nas ruas. Como aduz Lefebvre (2003, p.67): “...o espaço é
rarefeito para ‘valer’ mais caro; ele é fragmentado, pulverizado, para a venda no atacado e no varejo.
Ele é o meio das segregações”. E são as longínquas e precárias periferias ou as ocupações em
terrenos irregulares, com todos os constrangimentos e privações possíveis, os locais a abrigar esses
homens e mulheres.
Na mesma medida, ao invés de propiciar um debate aprofundado acerca das problemáticas da
pobreza e do déficit de moradias no Brasil, a burguesia reproduz em grau superior as contradições do
espaço ao engendrar feições mais opacas à segregação espacial. Parafraseando Engels, quando este
se refere aos abjetos bairros operários londrinos: a burguesia prefere afastar a pobreza para as bordas
da cidade a lidar seriamente com a questão. Neste ínterim, o poder público constrói os precedentes
para exercer a máxima vigilância sobre o espaço “público”, impedindo, desde meados de 2006, a
separação (triagem) de materiais recicláveis feita por catadores(as) nas ruas de Belo Horizonte.
Entretanto, “cuidar” para que o(a) associado(a) adquira o tal “endereço fixo” na periferia expõe
algumas contradições, por exemplo, entre a maneira pela qual ele é instado a procurar moradia e as
condições objetivas que o assolam no deslocamento de casa para o trabalho, como na situação de
uma catadora com quem conversamos por diversas vezes. Morando atualmente num bairro de Ibirité –
município limítrofe com Belo Horizonte –, mas impossibilitada de ir pra casa todos os dias devido à
grande distância a ser percorrida (gerando um tempo de deslocamento de cerca de 1 hora), e o número
insuficiente de vales-transportes recebidos (proporcionais à “insuficiência” de sua produtividade
73 Sobre a temática citada, sugerimos o texto “Pátria, empresa e mercadoria”: notas sobre o planejamento estratégico da cidade do Rio de Janeiro”, de autoria de Carlos Vainer (2001).
127
mensal), “optou” por dormir num depósito próximo à Associação. A vida ou a quase ausência dela
levada por essa mulher na metrópole acha-se distanciada como nunca da miríade das próprias
possibilidades por ela trazidas. Até mesmo o “Reciclo ASMARE Cultural” (ver fotos 6 e 7), casa de
shows e restaurante “temático” localizado à Avenida do Contorno, em frente à ASMARE74, e cuja
decoração interna contém os signos alusivos à reciclagem dos resíduos sólidos e ao “meio ambiente”,
embora carregue o nome da Associação não está voltado para seus associados. Quando muito, alguns
egressos da vida nas ruas da metrópole, após passarem por oficinas de “qualificação profissional”,
compõem seu quadro de funcionários de baixa qualificação (garçons, caixas ou seguranças). Sempre
perguntávamos às pessoas associadas se já haviam ido ao “Reciclo” para dançar, divertir-se. A
resposta quase sempre era a mesma: “...aquele lugar alí num é pra nóis não. Ali só dá bacana...”
Foto 6: Fachada frontal do “Reciclo 1”. Autor: Luiz Antônio E. de Andrade. Foto tirada em 07/06/07.
74 Foi aberto recentemente o “Reciclo 2”, restaurante, cafeteria e loja de artigos elaborados com materiais recicláveis nas oficinas do “Reciclo 1”. Localizado na região Centro-Sul de Belo Horizonte, o estabelecimento está voltado para uma clientela de níveis de renda “A” e “B”.
128
Foto 7: Fachada frontal do “Reciclo 2”. Autor: Luiz Antônio E. de Andrade. Foto tirada em 10/06/07.
A sobreposição de carências e dificuldades, descambando no embotamento da consciência
crítica sobre o seu lugar e suas potencialidades no terreno da luta de classes, revela-se na produção
da rotina diária de boa parte dos(as) associados(as) que a absorvem como se esta fosse justificável
porque a eles inerente. Tal rotina consiste, basicamente, em acordar logo cedo (por volta das 6 horas
da manhã), sair de casa, realizar um longo e desgastante trajeto num ônibus lotado até o centro, dirigir-
se à ASMARE, iniciar os trabalhos dando prosseguimento à separação do material recolhido no dia
anterior, sair para a catação no final da tarde e começar a separar o material à noite até por volta das
21 horas para, por fim, pegar novamente o ônibus para casa, tomar banho, assistir a novela (quando dá
tempo) e dormir.
Embora o contexto histórico e geográfico seja um tanto distinto, associamos o empobrecimento
da vida das pessoas que trabalham na catação pela prisão do trabalho estranhado ao “homem de 35
anos”, personagem arquetípico da “Era da felicidade” que marcou o Estado de Bem-Estar Social
europeu, exemplo dado por Raoul Vaneiger (2002). Ao “viver” uma gama de papéis por meio de
estereótipos produzidos e definidos “de fora”, o “homem de 35 anos” perde-se em si mesmo e busca
atenuar suas angústias no consumo e na parcela de poder aparente que lhe foi dada para que assim
fique calado e não questione o existente: “Durante breves momentos, a sua vida cotidiana liberta uma
energia que, se não fosse recuperada, dispersa e dissipada nos papéis, bastaria para subverter o
universo da sobrevivência” (VANEIGER, 2002, p.145).
Quanto aos homens e mulheres associados à ASMARE, a vida parece se apresentar pelo
129
embuste da condição de trabalhador da catação, papel a ser desempenhado sem hesitações, devendo
ser aceito de “bom grado” num universo social em que a Associação deve ser preservada como está. A
“inerência” da condição de catador(a), embora traga uma mistura de resignação, orgulho e desespero,
aparece reforçada no imaginário de cada uma dessas pessoas, inclusive pelo que chega até elas com
a disseminação de notícias contendo ameaças de privatização da coleta seletiva que sempre batem à
porta, trazendo consigo o risco iminente da volta para as ruas. A introjeção de tais ameaças aparecem
na fala de Dona “Dalva” com recorrência:
“Olha, aqui [na ASMARE] pode até num está do jeito que a gente quer, mas aqui é uma conquista, é
melhor do que ficá na rua. Os grande tudo qué isso aqui, já ouviu falá? É meu filho... tão querendo
privatizá a coleta... os grande num qué sabê de nóis não...” (31/05/07).
Associando a rotinização da existência através da imposição dos tempos e espaços mediados
pelo trabalho com as relações e a convivência entre as pessoas da catação dentro da ASMARE,
algumas pistas podem nos ser dadas acerca da produção do catador(a) que se quer. Apresentamos a
seguir dois depoimentos, respectivamente de Dona “Antônia” e Dona “Dilma”, com cada uma delas
falando um pouco sobre o significado da Associação em suas rotinas diárias.
“A gente achano um local pra trabaiá em paz, trazeno todo dia um bucadinho pra casa, é o que importa
(...). A gente vai pra ASMARE... Qué vê: às vêis eu saio daqui nervosa, arrebentano praqui abaixo... Aí
eu chego lá, a Dona ‘Esther’ vem contá caso mais eu, os guarda nosso lá brinca mais eu lá. Só aqueles
‘papelero’ que num entende a gente que é ignorante (...). Eu saio daqui 7 horas, lá abre 8 horas. Aí eu
8 horas já tô trabaiano (...). Eu primeiro quando dá pra descarrega, que o caminhão chega, aí eu
começo a separá. Aí deu 2 horas [da tarde] eu tenho que pôr o carrinho no ponto. Eu volto 3 horas, aí
volto pra separá mais. Ah, é muita alegria...!” (21/04/06)
“Chego lá [na ASMARE] 8 e meia, 9 horas. Tem vez qu’eu pego o ônibus aqui 07 e 15 e chego em
casa 10 horas da noite. ‘Trabaio’ bom, ué? Agora eles puseram um ‘bebedor’ pra gente lá, né? Acho
que eles ficaram com vergonha porque a ‘reportage’ foi lá (...) a gente tava bebeno resto de gelo, tava
bebeno água do Geloso, era do Geloso a água, se quisé tem que ir pra ‘tornera’. A gente ficava com
medo de ‘derretê’ as ‘tripa’.., né? Porque água assim derrete as ‘tripa’” (09/04/2006).
É possível verificar nos depoimentos acima a ambigüidade que permeia a percepção destas
mulheres sobre a Associação e o significado dela em suas vidas. Embora o trabalho ali seja extenuante
130
e apresente altos graus de insalubridade e periculosidade (situação agudizada se pensarmos que
ambas já passaram dos 55 anos), elas parecem resignadas com a precariedade presente (ou
inerente?), pois é esse mesmo trabalho que fornece para elas o “bucadinho” levado para casa.
Outrossim, é de suma importância apreender a dimensão da ASMARE percebida pelas mulheres dos
depoimentos: trata-se de um lugar, que remete ao afetivo, trazendo-lhes algo das sociabilidades,
conquistadas pelos laços de confiança. No entanto, são tais referências simbólicas, associadas a
aspectos ligados ao vivido (por exemplo, a maneira pela qual o box individual é “decorado” por cada
um), que nos ajudam a compreender como esses verdadeiros espaços de representação (LEFEBVRE,
2007), ora desvinculados dos ordenamentos produtivistas, ora submetidos à racionalidade instrumental
– pesando com seu produtivismo sobre todos –, atenuam o estranhamento propiciado por esta última
(ver foto 8).
Foto 8: Box interno do galpão da ASMARE, localizado à Avenida do Contorno. Ver o detalhe do som e seu caráter de objeto atenuador da dureza do trabalho da catação. Autor: Luiz Antônio E. de Andrade. Foto tirada em 12/04/06.
É por isso que transitar de uma periferia longínqua até a área central dentro de um ônibus
desconfortável não se constitui na maior dificuldade: a frieza dos trajetos de casa ao trabalho – dentro
dos tempos por ele definidos –, conduzindo antes ao tédio, são muitas vezes suprimidos pela idéia de
que se está indo ao trabalho, como qualquer pessoa digna. Não estamos aqui para questionar a fruição
e/ou decepções vividas por essas pessoas: não temos (e não queremos ter) este poder, pois tais
sentimentos são próprios de cada um. Entretanto, não podemos admitir que esta realização se dá, em
nossa sociedade, na plenitude de suas potencialidades. Reiteramos a programação da cotidianidade
como programação que se instala nos mais longínquos recônditos da vida, reificando as relações e
131
alienando as pessoas do mundo no qual vivem, além de aliená-las da grandeza de seu poder
transformador do existente. As palavras de Lefebvre (2007, p.12) nos ajudam neste entendimento: “A
aparência e a ilusão não se encontram no uso e no gozo, mas na coisa como suporte de signos e
significações falaciosas”. Sendo assim, questionamos as modalidades através das quais as
satisfações, os desejos, as insatisfações, em suma, a maneira como vários desejos que assaltam os
homens e mulheres modernos (entre os quais os que realizam a atividade da catação) são
proporcionados. Sabemos que o trabalho abstrato e a realização dos desejos e supressão das
angústias no consumo são mediações umbilicalmente presentes na cotidianidade, ideologicamente
colocadas como única maneira de se viver a vida.
Com efeito, a ASMARE não só se incorpora ao espaço abstrato, transformando-se em
instância menor de seus pressupostos, mas também a ele reage, como uma de suas instâncias. As
representações do espaço, balizadas pelas relações de produção (com todas a suas interdições,
coerções e coações), manifestam-se na forma dos mecanismos administrativos e institucionais, pelos
imperativos da racionalidade de mercado (determinando preços, níveis de produtividade, maneira como
são feitas as negociações com compradores etc), acabando por orientar as práticas dos que dela
fazem parte, além de seu ser e seu viver. O trabalho como ideologia e como prática traga para si esses
aspectos da vida, levando com eles as energias vitais as quais serão norteadas para a produção
alimentadora do mercado da reciclagem. “Melhorar a vida” passa então a significar para os homens e
mulheres catadores(as) associados(as) ser mais produtivo e “consciente” de suas capacidades para o
trabalho na Associação. Deriva daí e ao mesmo tempo torna-se um condicionante na criação dos
espaços de representação – controlados e vigiados para que não haja “surpresas”, como revoltas ou
questionamentos mais agudos. Na mesma medida, argumentamos mais uma vez, a manutenção desta
“passividade” implica no incentivo às práticas espaciais doadoras de respaldo à ASMARE como espaço
de convivência e de reconhecimento de alteridades – não sem contradições.
Ainda no âmbito das práticas espaciais vividas pelos homens e mulheres catadores e o
embotamento da capacidade de viver plenamente o espaço como condição e resultado do viver
plenamente a vida, qual é o significado da rua para eles? O depoimento a seguir, concedido por Dona
“Dilma” é expressivo para a compreensão desse significado:
“A ‘rua’ era boa demais! Tinha papel que cê num güentava carregá, os papel pesado. Hoje tem nada
não, hoje tem muito é poquinho, tem é lixo, que a gente aproveita os papel branco. Os banco tão
vendeno, as faxinera tão vendeno... A ‘rua’ num é mais pra trabaiá não, num tá boa mais não”
(09/04/2006).
132
Salta aos olhos como a rua adquire o significado de local onde está a matéria-prima para o
trabalho desta mulher, onde se criam as condições para o seu exercício. A rua também não parece ser
mais do que o simples local de passagem e de travessia, seja com o carrinho para a catação dos
materiais disponíveis, seja para a caminhada a pé até o ponto de ônibus de retorno para casa. A rua,
ao ser devastada pelo mundo da mercadoria, converte-se no local onde “...a troca e o valor de troca
prevalecem sobre o uso, até reduzi-lo a um resíduo” (LEFEBVRE, 2002, p.31). Sociabilidades existem?
Sim, porém devemos examinar as mediações interpostas na sua construção. O tempo do trabalho
prescreve a permanência de Dona “Dilma” na rua, delibera em torno dos diálogos que ela mantém com
as outras pessoas e das suas permanências, que devem ser rápidas e ágeis.
A rua da metrópole belohorizontina situa muito bem o aprofundamento abissal da separação
entre o público e o privado: o primeiro é a dimensão atribuída (porque relegada) aos que não podem
pagar pelo segundo. O espaço dito “público”, quando não abandonado aos “dispensáveis” (até que
sejam novamente expulsos por algum projeto de “revitalização” de áreas degradadas), é o espaço
“objeto” das intervenções estatistas, privilegiando suas formas para mascarar a pobreza de seus
conteúdos. O espaço “público” para Dona “Dilma” também não é espaço de uso e de permanência.
Quando muito é de contemplação: o tempo da vida submetido ao tempo abstrato do trabalho parece ter
corrompido as outras possibilidades...
A partir de agora iremos pôr à mesa outra discussão relevante no entendimento da regressão
das potencialidades então presentes na emergência dos homens e mulheres catadores(as) de papel na
cena de Belo Horizonte e de tantas outras cidades do Brasil. Trata-se da articulação entre a
representação social do pobre na sociedade burguesa e as “novas” maneiras de “se lidar” com ele.
Vale dizer que elas estão ancoradas nas versões contemporâneas dessa mesma representação, a qual
traz no seu repertório as matrizes discursivas alimentadoras das já discutidas noções de “cidadania” e
“inclusão social”, presentes no discurso e na prática institucionais. Aproveitamos para repisar
rapidamente em algumas áreas do terreno marcado pela trajetória dessas pessoas envolvidas na
atividade da catação em Belo Horizonte.
4.2. A representação social do pobre na sociedade burguesa: de “caso de polícia” a
“sujeito de direitos”?
Como vimos anteriormente, é fato a verificação de exemplos de consonâncias entre a atividade
da catação em Belo Horizonte e seu exercício pelo migrante pobre, aquele cuja pouca escolaridade e a
desqualificação de seus saberes repercute nas modalidades de trabalho socialmente a ele reservadas.
Sabemos que não podemos homogeneizar grupos sociais e suas atividades (pensadas neste momento
133
como aquelas que, de algum modo, visam garantir o mínimo para a reprodução individual), dizendo que
todos ou a maior parte dos migrantes trabalham com a catação. Ao mesmo tempo, não precisamos
relativizar ao extremo as reais possibilidades daqueles que migram para a metrópole em busca da “vida
melhor” acabarem por recorrer à catação para efetivarem, não raro precariamente, a dita reprodução
individual.
É pertinente repetirmos mais uma vez: deve-se ter o cuidado para não situarmos os homens e
mulheres que em suas vidas também realizam a atividade da catação, numa categoria abstrata
aprisionadora e totalizadora, como se, por si só, ela fosse capaz de abarcar, na “essência”,
determinado indivíduo ou grupo social. Ora, por serem pessoas, eles possuem uma maneira própria
(muitas vezes carregada de resignação e impotência, o que não desqualifica sua imensa força interior)
de viver e de se relacionarem com a metrópole, esbarrando, ainda que inconscientemente, em seus
conflitos e contradições. Nesses termos, a problematização radical da pobreza e da marginalidade
mostra-se como mote essencial no entendimento de como a riqueza socialmente produzida tem como
raiz do processo de sua apropriação o privado, numa estreita articulação com o trabalho abstrato e a
sua divisão social no âmbito da reprodução das relações (sociais) de produção. Resta dizer que os
mecanismos e parâmetros simbólicos e objetivos ancoradores da forma mais geral da reprodução
social vigente tornam-se tão mais complexos (por que mais impessoais e “espontâneas” tornam-se as
redes de dominação) quão mais complexa vem a ser a sociedade75.
Já sabemos que as perambulações dos homens e mulheres catadores de papel em Belo
Horizonte remontam às primeiras décadas do século XX, momento em que a cidade ainda dava seus
primeiros passos na qualidade de capital de Minas Gerais (OLIVEIRA, 2001). A identidade social
destas pessoas sempre fora associada àquela dos mendigos, dos “sujismundos” e dos marginais.
Estereotipados e estigmatizados, sob a alcunha de “indesejáveis” numa sociedade cujos arcabouços
morais ajudam a definir, como se estivessem acima do bem e do mau, as hierarquias sociais – ao
mesmo tempo em que o trabalho passa a balizar uma ética fundada na meritocracia premiadora do
indivíduo “digno” e “racional” –, esses homens e mulheres há muito têm sido “objeto” do indiscreto olhar
vigilante e interventor das “instituições competentes”. E será o poder público, sobretudo a partir da
instauração da República, aquele que, de forma “impessoal” e “neutra” (porque dotado da racionalidade
científica) ajudará a introjetar naqueles supostamente “reticentes” e até “refratários” à sociabilidade
burguesa, as “regras de civilidade” orientadoras do “bem-viver”. Desta maneira, munidos de
instrumentos “moralizadores”, norteados por uma “pedagogia totalitária” que passa a prescrever os
75 Seguindo este raciocínio, Souza (2003, p.49) aponta que “...quanto mais difícil [é] o exercício da dominação direta mais e mais [são necessárias] formas mascaradas de dominação”.
134
comportamentos, os agentes da fiscalização pública (médicos, assistentes sociais etc) e a Polícia
Militar, serão aqueles a colocar em prática as modalidades institucionalizadas da repressão sobre o
pobre. No que concerne à prática da catação, a qual deve ser pensada para muito além de mera “tática
de sobrevivência”, há uma literatura que se ocupou do seu histórico em Belo Horizonte, confirmando as
ações desses agentes: atuando, sobretudo, por meio de métodos extremamente truculentos.
Cabe então externar rapidamente duas das políticas oficiais levadas a cabo pelo poder público
na capital mineira, ao longo de sua formação urbano-metropolitana, as quais denotam, de maneira
límpida, como as representações sociais em torno do pobre materializam-se em práticas repressivas e
saneadoras sobre o “objeto” de intervenção. Uma delas, instituída ainda no ano de 1900, pelo
Presidente do estado, na figura de Silviano Brandão, refere-se à busca pelo controle social da prática
da mendicância. Instaurava-se então, o “Regulamento dos Mendigos”: “Nenhum indivíduo poderá pedir
esmolas, no distrito da cidade, sem estar inscrito como mendigo no respectivo livro da Prefeitura”
(ANDRADE, 1987, p.65). Para viabilizar sua condição de mendigo, o indivíduo deveria comprovar por
meio de exame médico que não se apresentava apto ao exercício do chamado “trabalho regular”.
Trocando em miúdos, a condição de mendigo era, pois, imputada aos considerados “incapazes”,
aqueles que não se “adequavam” – devido à sua “desordem” física e moral – em suas mais diversas
formas à ordem social burguesa, estando passíveis de “medidas atenuantes” para o seu sofrimento,
orientadas pela benevolência pública ou pelos “cuidados” do Estado.
A outra política a ser mencionada, apresenta sua incidência sobre o pobre já em fins da década
de 1970, mas tem como ápice do seu caráter repressivo no transcurso da década de 1980, as
chamadas “operações limpeza” (DIAS, 2002), efetuadas pela Superintendência de Limpeza Urbana –
SLU –, em parceria com a Polícia Militar. Elas visavam, sob o artifício da violência aberta, reprimir a
atividade da catação – naquela época desvinculada da condição de atividade que “ajuda a limpar a
cidade”, competência essa, segundo o estatuto anterior da SLU, que era do Serviço Municipal de
Limpeza Urbana. Para ilustrarmos o sentido e a finalidade da repressão sobre os homens e mulheres
catadores(as), então respaldado por tais operações, trazemos as palavras do ex-superintendente da
Secretaria de Limpeza Urbana – SLU, proferidas em 1979:
...a ação predatória dos CATADORES DE PAPEL (...) porque suja o meio ambiente da sua ação
criminosa (...) cresce em intensidade e perigo e será, por certo, catastrófica se o Poder Público não
arregimentar forças, atos e procedimentos capazes de neutralizá-la a curto prazo76.
76 Citado em Dias (2002, p.43) como “Ofício GAB-3679/558/79”.
135
Num e noutro exemplo, as representações sociais alicerçadoras dos modos pelos quais se
buscará lidar com os “indesejáveis” apresentam-se como manifestação cabal da pobreza vista como
“desarranjo”, “excrescência” e “incivilidade”. O constructo de tais representações ganha novos
elementos de complexidade, contribuindo ainda mais para a sua naturalização, bafejada pelo mesmo
suposto “desinteresse”, operado pelos grupos hegemônicos (Estado e classes dominantes). A pobreza
permanece deslocada do âmbito das relações sociais, sendo diagnosticadas tão-somente como
“fenômenos menores” de um ordenamento social inato, acima dos desejos e vontades humanos,
embora tal “situação” possa ser remediada pelo esforço e dedicação individuais forjados na esfera do
trabalho.
Conforme veremos adiante, o trabalho incide sobre a vida das pessoas enquanto prática
formativa, reveladora de suas “qualidades superiores”, visto achar-se embebido pelos códigos
presentes no arcabouço moral dessa mesma sociedade. Embora incluído no celeiro maior das
promessas não cumpridas pela civilização (cujas oportunidades se esboroaram com a crise da
modernidade instrumentalista), ainda apresenta a mesma conotação positiva: reside no seu pleno e
efetivo exercício a práxis “humanizadora”, “dignificante” e “formadora de personalidade”.
Ademais, àqueles cuja “natureza” supostamente os havia feito carentes de uma personalidade
devotada aos costumes, hábitos e práticas “edificantes”, cabia uma vigilância sistemática e presente,
com o objetivo do não alastramento da “corrosão do caráter” para o restante da sociedade – então
recentemente tingida pelas tintas republicanas. É imputado ao poder público, apoiado pelas “pessoas
de bem”, empunhar a bandeira do processo civilizatório e modernizante inexoravelmente condutor dos
apetites animalescos e irracionais dos “retardatários sociais” e conduzi-los ao caminho da decência e
da humanização. Sidney Chalhoub (1999) nos mostra como se desdobravam tais cuidados: erguia-se
uma constante vigília, pois, “os pobres carregam vícios, os vícios produzem os malfeitores, os
malfeitores são perigosos à sociedade; juntando os extremos da cadeia, temos a noção de que os
pobres são, por definição, perigosos” (CHALHOUB, 1999, p.22).
Respaldadas por este corpus ideológico, as classes dominantes, agirão por dentro do Estado
arregimentando forças para povoar o imaginário social com a figura do pobre e da pobreza como “caso
de polícia” e, o que é mais perverso, também como “problema de saúde pública”, haja vista a sua
aparente atuação sobre um direito que era de todos: a saúde como expressão do bem estar de uma
sociedade. Margareth Rago (1997) nos chama atenção para tal fato, quando em fins do século XIX, as
conformações sociais na sociedade burguesa se inscrevem na utopia de um espaço urbano
disciplinado e desodorizado, sob o qual a intensificação das práticas segregadoras e repressoras
ocultava-se por baixo do manto da busca irrefreada pela harmonia social. O poder legitimador dessa
ideologia encontrava-se diluído e assentado em dois pilares. Um deles, municiado pelo discurso
136
técnico-científico, representado pela vertente médico-sanitarista, cujos cabedais teóricos e práticos
seriam os mais indicados para promover a assepsia urbana. O outro pilar, trazia no seu bojo os
interesses econômicos e políticos de afastar a “sujeira” e a pobreza para o mais longe possível, além
de garantir a proliferação do nascente mercado imobiliário77. A citada autora dá o tom do modelo de
repressão desses poderes, dissimulados pela ação imbuída do caráter “puramente científico”,
invadindo e colonizando a vida do pobre, nas suas mais diversas instâncias:
Esta política sanitária de descongestionamento dos corpos define a produção do espaço urbano e, ao mesmo tempo, determina a invasão da casa do pobre, impondo-lhe novos regimes sensitivos e uma outra disciplina corporal (RAGO, 1997, p.166).
A isso – em que pesem as formas opacas do seu exercício – podemos denominar como
manifestação cabal do “poder disciplinar”, termo utilizado por Michel Foucault (2005), em sua obra
“Vigiar e Punir”. A lógica ordenadora desse poder se organiza e se faz presente por meio de
instrumentos de coação exteriorizados das práticas sociais que lhe dotam de sentido, ganhando uma
feição neutralizada e até justificável, obstruindo uma visão capaz de discerni-los para além de sua
“naturalidade”. Numa frase: quanto mais presente na vida social, mais impessoal e intransparente ele
se verifica. Foucault argumenta que:
...para se exercer, esse poder deve adquirir o instrumento para uma vigilância permanente, exaustiva, onipresente capaz de tornar tudo visível, mas com a condição de se tornar ela mesma invisível. Deve ser como um olhar sem rosto que transforme todo o corpo social em um campo de percepção (FOUCAULT, 2005, 188.).
Devido à enorme repressão historicamente sofrida pelos homens e mulheres catadores(as) de
papel nas ruas de Belo Horizonte, a vontade de um dia serem reconhecidos como pessoas repercutia
amplamente em sua subjetividade. “Tornar-se” pessoa, passava pelo reconhecimento social da sua
condição de “trabalhador digno”, esforçando-se numa luta diária com vistas à redenção por meio da
conquista de seu “ganha pão”. Vale ressaltar que tal reconhecimento apresentava-se como importante
elemento de elevação da auto-estima desses homens e mulheres, pois na mesma medida em que se
enxergavam como trabalhadores, tinham vergonha de sua própria atividade – caracterizada pela
sociedade como contravenção e mendicância, trazendo sujeira para as vias públicas. A questão do
77 Nas palavras de Chalhoub (1999, p.52), acerca da produção do espaço na cidade do Rio de Janeiro, tomada como vislumbramento e como campo de atuação e proliferação dos capitais imobiliários: “O discurso dos higienistas contra as habitações coletivas interessou sobremaneira a grupos empresariais atentos às oportunidades de investimentos abertas com a expansão e as transformações da malha urbana da Corte. Haveria no processo um enorme potencial para a especulação na construção de moradias e no provimento da infra-estrutura indispensável à ocupação de novas áreas na cidade (...). O crescimento da cidade para novas áreas tornou-se factível a partir dos anos 1870 devido à expansão das linhas de bonde. Pouco a pouco, fazendas e chácaras nos subúrbios foram sendo compradas e loteadas, numa conjunção de interesses entre empresários da área de transportes e agentes do capital imobiliário”.
137
trabalho também era muito importante para os homens e mulheres catadores(as), sobretudo no
concernente ao não desvinculamento da atividade da catação das outras instâncias de sua vida:
“...entre esses atores sociais, a atividade laboral, em momento algum, se separa de outras situações da
vida (...). E a vida para esses desconhecidos homens e mulheres é trabalho” (OLIVEIRA, 2001, p.207).
Concomitantemente, tal reconhecimento poderia significar para esses homens e mulheres
passar a poder transitar livremente com seu carrinho pelas ruas da metrópole sem serem acossados
pelas “operações limpeza”. Significava, ainda, no âmbito das representações sociais positivas do
trabalho honesto e digno, a também positiva representação do trabalho associada ao valor simbólico do
local onde ele é desenvolvido: “eu trabalho na ASMARE. Quando vou comprar alguma coisa numa loja,
posso dizer que trabalho lá. Lá é meu endereço de trabalho!”, diz a catadora “Regina”. Poder entrar em
uma loja de departamentos, por ela transitar e realizar o ato de consumir algum produto como uma
outra pessoa qualquer, possui um significado enorme para esses homens e mulheres: representa o
“reconhecimento social” acima mencionado. Conforme enfatiza Oliveira (2001, p.215), “A conquista do
direito ao trabalho e da identidade de trabalhador se dá através de ações concretas”.
Contudo, tomarmos a realização dos desejos da mulher catadora citada como fato cabal na
exemplificação de uma “conquista” social (quiçá a denominação de “inclusão social” pela via da
“conquista da sua cidadania”) é negar a condição primeira de reprodução social sob a égide do capital:
a incorporação contínua não só de produtores e consumidores, mas também a de indivíduos que
cultivem os valores e a ética capitalistas. A vida passa a ser vivida como pura representação,
aprisionando em seus tentáculos as qualidades do humano de cada um em nome de qualidades
pretensamente “superiores” do “todo social”. Eis aí, o modelo de sujeito decente do imaginário burguês
contemporâneo: ser alguém descendo ladeira abaixo na redução de si mesmo a consumidor pleno,
cuja capacidade para consumir criará seu diferencial e seu “valor” nesse mundo. Associa-se à cegueira
que se abate sobre esse “sujeito” o fato de, não raro, ele não se dar conta de que a vida converteu-se
em mero “apêndice do sistema produtivo (...) sem autonomia e sem substância própria” (ADORNO,
1993, p.166).
4.3. A ação dos agentes de Pastoral: quais são os conteúdos de sua prática?
Uma importante questão emerge neste momento: qual estatuto teórico-prático municiou a
Pastoral de Rua e, mais tarde, os demais agentes de mediação no processo de mobilização e de
organização dos homens e mulheres catadores(as) de papel em Belo Horizonte, materializado na
criação da ASMARE? Tê-lo em conta significa podermos visualizar, no âmbito da dinâmica das
relações estabelecidas pela Associação com o poder público e o mercado, a qualidade das mesmas:
138
ou seja, o aparelhamento e a conseqüente subsunção aos desígnios e interesses dos dois agentes
citados ou uma postura de diálogo sem perder de vista sua criticidade e combatividade face à lógica
mais geral e suas manifestações particularizadas. Para tanto, embora já o tenhamos feito na introdução
desta pesquisa, torna-se pertinente resgatar de maneira expedita mais alguns aspectos relativos à
gênese78 e a posterior consolidação do empreendimento ASMARE. Trazendo-os à tona, permitir-se-á
iluminar certos pontos obuscurecidos na esteira da conformação da Associação, tanto como “modelo a
ser seguido” quanto à sua qualidade de pedra de toque das políticas sociais do município de Belo
Horizonte.
Conforme já indicado anteriormente, foi a radicalização da ação policiadora do poder público –
que no seu modus operandi de tratar os catadores(as) e a atividade da catação até então, não via
possibilidade de olhá-los, além das vestes de seu estigma – aquela a acelerar o processo de
mobilização dos homens e mulheres catadores(as) de papel. De acordo com Oliveira (2001), o final da
década de 1970 e a década de 1980 foram particularmente difíceis para essas pessoas, pois:
“...coincidem com o maior número de registros relativos às ‘operações limpeza’ realizadas por uma
instituição preocupada em oferecer à cidade, um serviço de limpeza urbana ‘moderno’” (OLIVEIRA,
2001, p.48).
Em meio ao acirramento das tensões entre o poder público e aqueles homens e mulheres, um
importante agente de mediação passa a se interpor: a Pastoral de Rua, entidade religiosa ligada à
Igreja Católica e formada por um grupo de irmãs beneditinas recém-chegadas da capital Paulista. Elas
traziam na bagagem, a experiência da realização de intervenções junto à população de rua daquela
cidade, sobressaindo-se, especificamente com o seguimento dos(as) catadores(as) de papel, no
trabalho que culminaria na formação da Cooperativa de Catadores de Papel Autônomos –
COOPAMARE, em 1989, primeira cooperativa de catadores de papel do Brasil. Após perceberem a
aberrante situação a qual os homens e mulheres catadores(as) vinham sendo vítimas e protagonistas,
as irmãs beneditinas decidiram iniciar um trabalho semelhante com estas pessoas em Belo Horizonte
(JACOBI & TEIXEIRA, 1997).
Os Agentes de Pastoral, ao se depararem com a realidade vivida por aqueles de uma forma ou
de outra dependentes das ruas de Belo Horizonte, tiveram de adotar métodos diferenciados. Num dos
casos, específicamente o dos homens e mulheres catadores(as) de papel, “...a relação se daria com
uma população de trabalhadores marginalizados socialmente e que tinham algum tipo de engajamento
com uma atividade econômica, mesmo que marginalizada” (JACOBI & TEIXEIRA, 1997, p.16). No
outro caso, o dos homens e mulheres mendigos, “...o trabalho teria de ser de natureza assistencial, já
78 Sobre a gênese e consolidação da ASMARE, ver Oliveira (2001) e Dias (2002), já citados em nosso trabalho.
139
que esta população não desenvolvia nenhum tipo de atividade econômica e se encontrava numa
situação de total dependência” (JACOBI & TEIXEIRA, 1997, p.16). A Pastoral de Rua acabou por optar
pelo trabalho junto aos catadores(as) de papel devido:
...à possibilidade de empreender em médio prazo uma iniciativa que representaria o resgate da dignidade e da cidadania do grupo alvo. Viu-se que era necessário inverter a relação destes com a sociedade. O objetivo era inserí-los como trabalhadores que contribuem com a limpeza da cidade e que sobrevive de uma atividade econômica que precisa ser valorizada para todo o conjunto da sociedade (JACOBI & TEIXEIRA, 1997, p.16, os grifos são meus).
Conforme se percebe, na fala dos autores citados as noções de “dignidade”, “cidadania” e
“inserção” dos homens e mulheres catadores(as) de papel na sociedade respaldam-se por um modelo
de racionalidade, cujo ancoradouro assenta-se nas ações potencializadoras do seu trabalho. Tais
ações partem do pressuposto da catação representada tão-somente como “atividade econômica”, cuja
subjetividade e objetividade estariam atreladas ao movimento de passagem da reprodução simples à
reprodução ampliada dos capitais envolvidos no mercado da reciclagem, alargando o terreno de sua
valorização. Como nos diz Harvey (2004, p.146), “...a produtividade da pessoa fica reduzida à
capacidade de produzir mais-valia”. Nesta perspectiva, fundada puramente nos marcos da econômica
política e salpicada pelo discurso ambiental sob a égide do “desenvolvimento sustentável”, as relações
sociais, sejam elas “produtoras” da mercadoria “material reciclável”, sejam aquelas produtoras da
cotidianidade dos homens e mulheres catadores(as) de papel (mediadas, sobretudo, pela sua
“inserção” na sociedade), têm suas contradições mascaradas e reiteradas, ao invés de postas a nu e
combatidas. Estariam os modos de atuação da Pastoral de Rua e demais agentes de mediação
envolvidos com a “causa do catador” presos a estas mesmas armadilhas? Vejamos como se
conformou a relação desses agentes com esses catadores e catadoras.
Em se tratando de um grupo extremamente marginalizado na sociedade e acossado por toda
sorte de repressão, os Agentes de Pastoral procuravam utilizar-se de metodologias de aproximação
junto àquelas pessoas distintas das praticadas até então, baseando-se na fundamental “...atenção a
todos os momentos fortes que pudessem servir como meio de integração e de maior socialização dos
catadores com a equipe” (OLIVEIRA, 2001, p.189). Neste sentido, os aniversários, os nascimentos e as
mortes, as datas como o natal, Semana Santa e Páscoa e outros “...momentos especiais constavam na
pauta de atividades da equipe de Pastoral” (OLIVEIRA, 2001, p.190). O trabalho posterior realizado
pelos Agentes, entre 1990 e 1992, foi a busca pela efetivação do dificultoso processo de organização e
mobilização social daqueles homens e mulheres, os quais viviam dispersos pela metrópole. Dificultoso
porque, embora realizado noutros termos, o dito trabalho esbarrava numa espécie de “cultura do
140
ceticismo” vivenciada pelo lado daquelas pessoas, materializada em altas doses de descrença e
desencanto em relação aos Agentes de Pastoral – sendo estes últimos, vistos como “espiões da
Prefeitura”, pelos primeiros. A Pastoral de Rua, definitivamente, assumia a linha de frente como
mediadora dos conflitos entre os homens e mulheres catadores(as) e o poder público.
Do lado da administração pública municipal, em 1990 discutia-se a elaboração da nova Lei
Orgânica que privilegiaria a privatização da coleta seletiva realizada na cidade. Após várias
mobilizações conjuntas, envolvendo vários setores da sociedade, “os catadores sairam em defesa de
uma política de coleta seletiva articulada com as suas atividades” (JACOBI & TEIXEIRA, 1997, p.19).
Os resultados acabaram sendo favoráveis aos catadores(as) e incidiram na mudança de alguns
dispositivos jurídico-legislativos, através dos quais se passava a assegurar a coleta e a comercialização
dos materiais recicláveis preferencialmente por meio de cooperativas de trabalho. Ou seja, estavam
dadas as condições para se ratificar institucionalmente o trabalho da catação.
Essas condições contribuíram para todo um conjunto de reorientações internas na
Superintendência de Limpeza Urbana através de rearranjos na estrutura técnico-operacional mediante
a criação da Assessoria de Mobilização Social, já aludida no capítulo 3, desta pesquisa. Houve também
a implantação de um novo modelo de gestão, o chamado “Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos”. Esse programa apoiava-se no seguinte tripé: “consistência técnológica, valorização e
qualificação do trabalhador e cidadania e participação social” (DIAS, 2002, p.63).
O aparato repressivo atua de modo profilático, como instrumento moralizador e propiciador dos
elementos simbólicos e concretos que confeririam “dignidade” àqueles(as) que desenvolvem a
atividade da catação, ação essa que “daria satisfação” e ao mesmo tempo legitimaria o papel do
Estado como “promotor do social”. Criam-se também as condições gerais para o chamado des-
envolvimento por meio da prevalência e da unilateralidade do crescimento econômico (com total
liberdade ao capital financeiro), satisfazendo a idéia de sua “razão de ser”, não obstante o seu
afastamento e até o seu abandono da promoção e da regulação da esfera do social, convertida em
pura desregulamentação. Santos (1997) refere-se a este momento como sendo aquele no qual: “O
princípio do mercado adquiriu pujança sem precedentes, e tanto que extravasou do econômico e
procurou colonizar tanto o princípio do Estado, como o princípio da comunidade – um processo levado
ao extremo pelo credo neoliberal” (SANTOS, 1997, p.187). No âmbito da relação entre as noções de
“exclusão” e “inclusão” sociais, percebemos o quanto a idéia desta, fundada na dicotomia entre sua
permanência e seu combate, favorece a legitimação do discurso daquela.
Trocando em miúdos, a pobreza como manifestação mais vil e abjeta do humano tornado
desumano, mais do que nunca, torna-se necessária como algo para servir de “exemplo”, na forma de
uma espécie de “auto-ajuda” diante das dificuldades pessoais (ao que parece associada às “bem-
141
aventuranças” bíblicas, com altas doses de apologia da negatividade). Serve, também, como “bálsamo”
atenuante para as “reclamações da vida”, a qual, embora não esteja boa, ainda é melhor do que a
vivida pelo outro – percepção essa que já ganhou contornos de ditado popular: “tá ruim mas tá bom!”.
Ao mesmo tempo, a pobreza é algo a ser “denunciado” (veja-se a pletora de estatísticas e os longos
relatórios anuais da ONU) e “combatido”, atacado firmemente pela “ação concertada” do Estado ou
pelos setores comprometidos com o “social”. A pobreza, nesses termos, está totalmente desvinculada
dos processos maiores, já que tomada como fenômeno em si.
Podemos então inferir que, tanto no caso dos homens e mulheres catadores(as) de papel
quanto no da população de rua de Belo Horizonte, o poder disciplinar buscou agir de forma a extirpar
os elementos deletérios e perturbadores da ordem social, ou que tendessem a colocar em questão, o
modelo de sujeito decente que se ergue como um dos pilares da sociedade moderna e burguesa. Esse
poder busca estabelecer tipologias estigmatizantes de modo a separar, diferenciar, classificar e definir,
sob uma ótica dualista, os indivíduos “normais” dos “anormais”, os “sãos” dos “doentes”, os “produtivos”
dos “improdutivos” etc. É a partir dessas dicotomias que se abre caminho para que os dispositivos
disciplinares (FOUCAULT, 2005) possam estabelecer seus critérios de medição, controle e correção
dos indivíduos “problemáticos”. Assim sendo, não queremos colocar os mecanismos de dominação e
de controle disciplinar em campos separados. Urge, isso sim, a necessidade de tomá-los como
complementares numa mega-estrutura de condicionamento e modulação, cujo objetivo último é a
eficácia das dominações social, econômica e política, nas suas dimensões simbólicas e objetivas,
incrustadas que estão no cotidiano.
Articula-se por meio da estratégia de disciplinar os corpos, encaixá-los adequadamente ao “seu
lugar”, dentro de uma trama de relações cuja dinâmica e o movimento povoam a “mecânica social” do
mundo. Tal estratégia, em última instância, procura dirimir qualquer possibilidade de agitações,
sublevações, enfim, qualquer modalidade de questionamento aos termos sob os quais se dá a
reprodução social dentro da ordem burguesa. Ordem essa, na qual também se exerce muitas vezes
uma vigilância sutil, haja vista sua fluidez no ato de perpassar a vida cotidiana nas suas mais variadas
dimensões, atreladas ao fato de que “...o capitalismo está voltado precisamente para a produção
[contínua] de um novo tipo de corpo trabalhador” (HARVEY, 2004, p.144) e esconder aquilo que destoa
das cores já desbotadas do des-envolvimento. Vale reforçar a idéia do agir sobre os corpos como
intento de agir também sobre as práticas sociais formadoras desses corpos. Logo, os espaços de
vivência, estando fora daquilo que é naturalmente definido como “correto”, “decente” e “humanizado”,
devem ser extirpados para não contaminarem o "corpo social".
Conforme já assinalado, até o final da década de 1980, não obstante o fato de que alguns
destes homens e mulheres catadores(as) tivessem residência fixa, a grande maioria acabava
142
enfrentando os perigos da madrugada (ações truculentas da Polícia Militar, por exemplo) e pernoitando
pelas ruas da metrópole, para proteger seu material de outros que pudessem roubá-lo ou atear fogo,
esperando pela abertura, logo no início da manhã, dos depósitos compradores. Além dos viadutos
(principalmente o “Castelo Branco”79) e marquises da área central, um dos locais que serviam de
abrigo e espaço de convivência para os(as) catadores(as) eram as “malocas” da Av. do Contorno, local
onde hoje em dia situa-se a ASMARE (ver foto 9). É inegável para qualquer um, a constatação da
precariedade das condições físicas e materiais, de salubridade e de capacidade do local em fornecer o
mínimo de dignidade para aqueles que por lá passavam. Porém, tal constatação não é capaz de
apontar, por si mesma, o significado do conjunto das vivências, das sociabilidades e dos conflitos
florescentes a cada momento nas “malocas”. Pode-se demonstrar o quanto tal questão é melindrosa
tomando-se um pequeno trecho do depoimento da catadora “Regina” acerca da cotidianidade das
malocas, comparada com essa mesma vida nos dias de hoje, amparada no seio da ASMARE:
Foto 9: Antiga área da RFFSA, antes ocupada pelas malocas dos catadores “autônomos” e agora destinada à construção dos novos galpões da ASMARE, na Av. do Contorno. Autor: Luiz Antônio E. de Andrade. Foto tirada em 05/06/07.
“Antes era muito legal, num tinha egoísmo, num tinha nada. Então, tipo assim, sabe... Nós comia, nós
bebia, não pagava água, não pagava nada, entendeu? Hoje nós é reconhecido, mas... Sei lá, cara!
Hoje é muita confusão assim, sabe? O pessoal aí... Ah! É muito egoísmo mesmo! Eu vou te ser
sincera: se uma pessoa ganha um troco a mais o cara quer ganhar mais que ocê na outra semana. Aí é
aquela confusão, aquela disputa, aquela brigaiada danada... Hoje tá difícil... E antes o lixo num tinha
79 Esse viaduto propicia a travessia sobre a Av. do Contorno, interligando a área central com a região Noroeste de BHte.
143
tanto valor. Hoje tá uma ‘guerra’ danada” (08/03/2006).
As palavras acima nos chamam a atenção para alguns aspectos. Não obstante as supracitadas
condições abjetas do local, das brigas e dos desregramentos florescendo e fazendo parte da rotina de
vida daquelas pessoas, ainda assim, havia algum espaço para a apropriação, a espontaneidade e as
solidariedades. A chegada da ASMARE e o seu desenrolar na colonização e na produção da
cotidianidade dos homens e mulheres catadores(as) trouxe algum tipo de “reconhecimento” social, mas
trouxe também as práticas competitivas, o acirramento das solidariedades instrumentais, as tensões
decorrentes da necessidade de se produzir cada vez mais... Enfim, não se faz necessário colocar em
questão as contradições da propalada “melhoria” das condições dos catadores (reconhecimento social,
maiores ganhos, local para se trabalhar etc.), visto serem produtos e produtoras do modelo de
reprodução social que ora assistimos?
O grande problema apontado pelos Agentes de Pastoral eram os olhares e as ações
“corretivas” do poder público respaldados por pretensas verdades ideologicamente legitimadas, cujos
modos de atuação, já sabemos, consistiam em situar simbolicamente, no âmbito da moral e do sentido
de mundo próprio da sociedade burguesa, o problema da catação e do catador. No nosso entender, se
a reflexão desses agentes tinha o mérito de pôr em questão e denunciar a reprodução dos estigmas e
da repressão vividos por aquelas pessoas – como sendo a própria encarnação da “imundície”, do
“vício” e da “promiscuidade”, devendo ser combatidos, já que classes pobres eram (e são) classes
perigosas! –, ela pecava (e peca) por direcionar seus esforços para o lado da necessidade de
“inclusão” por dentro do existente. Noutros termos, a sociedade burguesa e seus parâmetros
sobressaem-se como talvez a única forma possível de subjetiva e objetivamente, “construir”, “integrar”
e “dotar” o pobre (comumente chamado de “excluído”) da personalidade “correta” e da possibilidade do
convívio social. Assim, atuação da Pastoral de Rua tem reiterado o modelo de ação social vigente –
mudando aspectos da vida sem, no entanto, operar a sua transformação efetiva –, instaurado desde a
sua chegada a Belo Horizonte, como mostrado no trecho a seguir: “...incentivar a organização para que
o povo da rua superasse o estigma de exclusão e conquistasse sua cidadania”80.
Retomamos então, a discussão acerca do sentido “pedagógico”, significante e significado do
trabalho, o qual respalda a sua centralidade social na contemporaneidade como sendo, cada vez mais,
a centralidade do capital (PEDROSA, 2003). Combina-se aí, a repressão pura, direta e aberta sobre o
pobre, legitimada pela representação social deste último, sob a condição de “estorvo” e de
“degenerado”, desviada para outro conjunto de artifícios, mais opacos e sutis – ainda que, decerto, ela
80 Fonte: Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte. Folder intitulado “O povo da rua renasce entre o concreto das
144
se faça extremamente presente através do aparato policial como força legítima de Estado. Doravante, a
nova roupagem do ideário burguês da produção do indivíduo “digno” e “decente” faz-se acompanhada
de novos arranjos, os quais reforçam, pois, a despeito da insustentabilidade de suas contradições, a
ética do trabalho e a sua supracitada centralidade.
Ademais, diante do que vimos anteriormente em relação à dinâmica do mundo do trabalho na
contemporaneidade, marcado pelo cenário hostil entre capital e trabalho, cuja ressonância verificamos
na sua já aludida precarização, verificamos, ao lado dos acirramentos de tais contradições, a retomada
do fôlego da ideologia que lhe dá suporte. Ao deixar de lado qualquer possibilidade além do existente,
o discurso dos agentes de mediação traz na sua essência o puro real como fato dado e objetivo. Isso é
“confirmado” nas palavras de José Aparecido Gonçalves, em palestra no “Seminário Legislativo Lixo e
Cidadania: Políticas Públicas Para Uma Sociedade Sustentável”, pelo fato dos homens e mulheres
catadores(as) não quererem mais “...voltar à política do assistencialismo; querem crescer como
empreendedores, transformar suas experiências em negócios e sobreviver da produção do seu
trabalho...(grifos meus)”81. No que concerne às estratégias de repressão ao pobre, nota-se a
redefinição de suas elaborações norteadoras, também amparadas pelos mecanismos de “inclusão
social”, inscrevendo-se num ambiente de compartilhamento (chegando ao nível da transferência) das
responsabilidades na “formação” e “inserção” do pobre na sociedade.
A gravidade da situação encontra-se ocultada na forte exortação ao trabalho voluntário, por um
lado, e transformação do pobre em “agente puro” de sua “mudança de vida”, por outro. Primeiramente,
porque num mundo onde as “oportunidades” tornam-se restritas a parcelas sociais cada vez mais
ínfimas, tê-las passa a ser um privilégio que se deve agarrar com unhas e dentes. Deixá-las escapar
(as tais “oportunidades”) soa no mundo inseguro e cultivado pela incerteza como “irresponsabilidade”,
“vagabundagem” e “transgressão”, cuja punição deve ser o desprezo e o esquecimento. Em segundo
lugar, a “inserção” desse pobre na sociedade, deve garantir a reprodução em grau mais elevado dos
valores, entre outros, da “competitividade”, “flexibilidade” e “autonomia individual”, fazendo-se
desprovida de quaisquer elementos de construção coletiva reflexiva e questionadora dos valores e
parâmetros existentes na sociedade capitalista. Ou ainda: o que vem sendo chamado na
contemporaneidade de “construção coletiva”, nada mais é do que, a reunião de indivíduos privatizados,
fragmentados em suas lutas e movidos por interesses utilitaristas e instrumentais, os quais, tão logo
sejam alcançados, são dissolvidos por esses mesmos indivíduos como castelos de areia no deserto de
suas vidas entrincheiradas82.
cidades”, sem data. 81 Esse seminário foi realizado na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, entre os dias 21 e 23 de novembro de 2005. 82 Quanto a estes tênues e precários rompantes de sociabilidade e de enfrentamento dos problemas imediatamente
145
Articulam-se aí, dois momentos da prática de Estado: a pretensa “competência técnico-
científica” para executar a formulação de políticas públicas proporcionadoras do simulacro do direito em
possuir as “competências” e “qualificações” exigidas pelo mercado do trabalho heterônomo e
estranhado, ainda que atreladas à definição dos diversos níveis de conhecimento e hierarquias sociais
– e, portanto, transformado em dever. Direito, diga-se de passagem, porque se criariam as condições
para a aquisição dos (também segmentados) cabedais, dos conhecimentos para que o “resíduo
humano”, se não consiga alcançar o trabalho enquanto materialidade, pelo menos tenha condições,
como já foi dito no capítulo 1, de “laboralidade”, que possua cartuchos a queimar no famigerado mundo
da ordem competitiva. Dever, porque deve partir do indivíduo, a “iniciativa” para “aprender a aprender”,
possuir o “senso de trabalho em equipe”, “ser ambicioso”, entre outros valores. Em meio às tensões do
salve-se quem puder, sai fortalecida a noção de liberdade insistentemente disseminada no imaginário
social: “A liberdade humana traduziu-se em liberdade de cada um de seus indivíduos” (BAUMAN, 2000,
p.74, os grifos são meus). Concomitantemente, essa liberdade aparente é alimentada por modalidades
intransparentes e paradoxalmente ainda mais repressivas de dominação, incidindo sobre as pessoas
na forma de uma auto-vigilância insuportável, fazendo-se desnecessária a volta de regimes
abertamente totalitários. Pois, como diria Lefebvre (1991) ao caracterizar a sociedade repressiva e seu
terror difuso: “Não é preciso ditador, cada um se denuncia a si mesmo e se pune” (LEFEBVRE, 1991,
p.158).
Advém e ao mesmo tempo compõem este movimento as reações de alguns catadores(as),
dando mostras evidentes de como determinadas insatisfações, movidas pelo descrédito com a
ASMARE e suas “promessas” oferecidas (e não cumpridas) sob a égide do existente, mas que muitas
vezes se voltam contra a pessoa, a qual tende a transferir para si a culpa pelos percalços da
Associação, culminam numa revolta interior, resignada. Entretanto, ela também pode ser direcionada
ao descrédito e o enfado com aqueles que estão à sua volta, acabando por sobrepujar a mística
inicialmente depositada nas possibilidades então coletivas. A fala de “Paulo” sobre o fato de não ter
conquistado a casa própria e a falta de confiança na capacidade mobilizatória dos demais associados,
talvez um espelho da falta de confiança na sua própria capacidade, deixam clara tal situação:
“Pois é, vô te falá, viu... Eu sô o XXX associado dessa ASMARE, ajudei dimais nisso aqui... 16 anos
num são 16 dias não! Ocê ta veno onde q’eu moro, eu moro numa invasão... Já num era hora d’eu
comuns da vida privada, Zygmunt Bauman (2000) tece interessantes comentários: “...as únicas queixas ventiladas em público são um punhado de agonias e ansiedades pessoais que, no entanto, não se tornam questões públicas apenas por estarem em exibição pública”. E ainda: “À falta de pontes firmes e permanentes e com as habilidades de tradução não praticadas ou completamente esquecidas, os problemas e agruras pessoais não se transformam e dificilmente se condensam em causas comuns” (BAUMAN, 2000, p.11).
146
conquistá minha casa? O q’eu conquistei foi um problema de coluna que ta me matano! Só isso! Aquilo
ali [a ASMARE] num muda não, o pessoal é difícil, só qué cuidá da sua vida... é difícil ‘ajuntar’ todo
mundo; não tem união, o pessoal só qué saí pra ‘panha’ e ganhá dinheiro” (12/02/06).
147
CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Seria com efeito bem fácil fazer a história do mundo se só lutássemos em condições infalivelmente favoráveis. Por outro lado, seria sobremodo mística a situação caso não ocorressem ‘acidentes’” (MARX, LENIN, 1940, p.87).
Privilegiaremos este momentâneo “apagar de luzes” ilustrado nestas considerações finais para
tentar dizer algo em torno da insinuação de possibilidades quando se pensa em espaços, tempos e
vida social distintos daqueles que nos são impostos pela égide do capital. Sabemos que as
constatações verificadas no projeto ASMARE – em maior ou menor medida podendo ser estendidas a
todos os “projetos de desenvolvimento pessoal e social” sob o jugo das orientações teóricas e práticas
postas em tela ao longo de nossa pesquisa – vêm conduzindo à reiteração simples do existente.
Entretanto, é nesse cenário de uma aparente “falta de alternativas”, no seio das tensões e contradições
identificadas e analisadas, que devemos nos esforçar e ajudar a pavimentar o tortuoso caminho rumo
ao diferente. Nossa crítica não procurou “dourar a pílula” e deixar de apontar pela análise as
insuficiências teóricas – com todas as suas ressonâncias na prática – que nortearam (e norteiam) a
ação da tecnoburocracia do poder público municipal em Belo Horizonte, dos agentes de mediação e de
todos aqueles grupos de uma forma ou de outra ligados à “causa do catador”.
É importante dizer que entre agosto de 2004 (quando começamos a tomar contato com a
realidade da Associação e de seus(uas) associados(as)) e junho de 2007 algumas mudanças pontuais
e mesmo abrangentes ocorreram na dinâmica social a qual procuramos melhor compreender.
Podemos citar, a título de exemplo, o reajuste nos valores pagos aos triadores(as) lotados no galpão da
Rua Ituiutaba e os critérios de avaliação do material triado e o destino das garrafas PET triadas. A
conseqüência dessas mudanças para nossa pesquisa se deu principalmente na aparente defasagem
de determinadas informações, fato que pode levar ao leitor ou leitora a questioná-las, ainda que, dentro
do possível, elas tenham sido atualizadas. Todavia, há um aspecto bastante positivo na dificuldade de
manter tais informações atualizadas, que é instigar a todos aqueles que tomarem contato com este
texto a não só buscarem melhor precisá-las, mas também aprofundar pontos insuficientemente
abordados por nós. Além do mais, como nossa pesquisa primou pela reflexão sobre os processos
gerais, os fundamentos da reprodução social subordinada aos imperativos da reprodução do capital – e
os modos pelos quais a ASMARE a reproduz e ao mesmo tempo lhe fornece novos sentidos e
significados –, as informações pontuais, embora importantes, não são de todo primordiais ao
entendimento geral.
Quatro diferentes (mas, ao mesmo tempo, sumamente imbricadas) vias de análise foram por
nós percorridas nessa pesquisa, senão vejamos.
148
A primeira delas esboçou-se no primeiro capítulo, quando discutimos as substanciais
reestruturações político-econômicas e técnico-produtivas do capitalismo tardio – assinalando, por
conseqüência, destruições, redefinições ou permanências nas formas e conteúdos do trabalho na
contemporaneidade. A segunda via, desenvolvida no segundo capítulo, procurou analisar os
(des)caminhos da construção da noção de cidadania no ocidente e sua influência no Brasil. Este
resgate nos permitiu chegar ao cenário de uma verdadeira produção da degeneração dos sentidos e
significados da política – num momento em que se alardeia um ambiente de “efervescência
democrática” nunca antes vivido. A terceira via foi apresentada no capítulo subseqüente, procurando,
primeiramente, captar as contradições presentes nas formulações teóricas sobre a “exclusão social”.
Em seguida, fomos buscar nos debates acerca da “problemática ambiental” e seus desdobramentos na
construção da matriz teórico-prática do “desenvolvimento sustentável”, o arcabouço ideológico que vem
orientando as ações de governo e dos mercados, entre eles o da reciclagem e de um de seus
principais suportes: a coleta seletiva. Assim, pudemos chegar às formulações pelo poder público em
Belo Horizonte de suas “políticas sociais” para as populações de ou em situação de rua, momento em
que privilegiamos aquelas voltadas aos homens e mulheres catadores(as) de papel da ASMARE. Por
fim, a quarta via, ensaiada no último capítulo, tratou de chamar a atenção para a necessidade de se
olhar as pessoas que trabalham na catação de materiais recicláveis para além da condição de
catadores(as), procurando não conduzir (e reduzir) a análise ao viés puramente socioeconômico ou à
sua vida imediata desprovida de conexão com os processos gerais a que a reprodução social se vê
enredada. Por isso, procuramos não perder de vista o viver dessas pessoas, seu modo de se relacionar
com o mundo e com o outro, sua fruição, seus desejos e frustrações. Tendo em conta tais elementos,
procuramos situá-las na condição de migrantes, de pais, de mães, enfim, de verdadeiros sujeitos com
algum potencial de transformação deste mundo.
Essas considerações finais procurarão discutir a maneira pela qual a ASMARE e, numa escala
nacional, o Movimento Nacional dos Catadores de Recicláveis – MNCR –, têm procurado se
constituírem como “empreendimento solidário” e como movimento social, respectivamente. Mesmo
sabendo que deixamos de fora da pesquisa uma análise mais detida acerca do MNCR, traremos aqui
alguns pontos de suas reivindicações e da linha de atuação que as têm norteado. Ambas nos servirão
no estabelecimento das proposições que colocamos a seguir.
Conforme mencionado, a gênese da ASMARE contribuiu para que ela se notabilizasse como
“experiência bem sucedida” de mobilização popular contra o poder público e suas políticas de
“assistência social”. A posteriori, a alardeada manutenção de seu sucesso resultaria da iniciativa de
“apoio” por parte desse mesmo poder público por meio de uma “parceria”, cuja meta era “continuar
garantindo” a retirada de indivíduos da condição de marginalizados para uma outra, a de “sujeitos de
149
direitos”. Este mesmo discurso prevalece em 2007, aprofundando as feições contemporâneas dos
marcos de institucionalização das práticas sociais pelo Estado, as quais se ratificam nas “Políticas
Sociais” da Prefeitura petista em Belo Horizonte, e também contribuindo para demarcar legislativa e
institucionalmente os mercados da reciclagem e da coleta seletiva. A ASMARE definitivamente se
aliaria aos pressupostos da racionalidade de mercado (entre outros, a gestão e o controle dos
processos de trabalho com vistas à sua máxima performance e a valorização dos capitais investidos)
destruindo/agregando/redefinindo elementos de formas pré-modernas de relações de produção e de
trabalho – há algum tempo já adotadas por grandes corporações transnacionais. Esta tem sido a pedra
de toque que vem permitindo essa associação difundir sua imagem de “empresa social”,
“empreendimento solidário”, “construtora de cidadania” e “promotora da inclusão social” para seus
associados e para a sociedade como um todo.
Quanto ao MNCR, sua fundação se deu em 1999, durante a realização do 1° Encontro
Nacional de Catadores de Papel. O Movimento se estabelece em tese colocando-se sob os princípios
da “independência de classe”, dispensando a “fala de partidos políticos, governos e empresários”83.
Porém, se suas lutas não visam tocar (ou tocam superficialmente) nos arcabouços ideológicos que
passam a produzir determinadas concepções de natureza no imaginário social ou deixam nas sombras
as contradições fundamentais da reprodução social sob o capitalismo, deixando-se levar por medidas
que as atenuam, mas não as combatem, como a exigência do direito (ou dever?) ao trabalho ou a
“inclusão social” como consumidores marginais, o MNCR torna-se instrumento de legitimação das
estratégias hegemônicas. Até o momento, o MNCR tem estado atrelado às modalidades instituintes do
Estado através de diferentes alianças com o governo federal, como no caso do fornecimento de linhas
de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES – voltadas
especificamente para a formação de cooperativas e associações de catadores. As principais lutas
desse movimento têm se concentrado na: a) na defesa contra a privatização da coleta seletiva pelo
poder público; b) na remuneração pelos serviços prestados, c) no controle da cadeia produtiva
pelos(as) catadores(as); d) na conquista de moradia, saúde, educação e creches para os(as)
catadores(as) e suas famílias; e e) o fim dos lixões e sua transformação em aterros sanitários.
Já no concernente ao âmbito do espaço social da ASMARE, como fazer com que os homens e
mulheres a ela associados – vendo sua crença no potencial de mudança diluir-se no ceticismo com o
estado de coisas lá presente – reconduzam suas vidas para a negação abrangente das determinações
constituintes dessa sociedade? Como retomar as lutas em patamares outros do que a produção sob a
83 Fonte: Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR: “Caminhar é resistir E se unir é reciclar”. Folder sem data.
150
lógica do lucro como uma “...finalidade em si” e, por conseqüência, bloqueadora do “...objeto que seria
a realização plena da liberdade” (ADORNO, 1994, p.72)?
Faremos a exposição de cinco amplos e implicados campos de reflexão teórica, os quais se
mostram primordiais na construção da radicalidade das lutas sociais empreendidas pelos(as)
catadores(as) e os agentes de mediação ligados à Associação e que podem ser aproveitados, na
escala nacional, pelo MNCR: 1) a crítica sobre os (des)caminhos da natureza e dos debates
envolvendo a problemática ambiental; 2) a crítica ao trabalho tal qual ele se apresenta na sociedade
burguesa e a necessidade da libertação de sua égide; 3) a crítica voltada para a negação dos sentidos
e as finalidades da produção no capitalismo; 4) fazer com que a exigência do direito à moradia se
construa como crítica à metropolização segregadora; e 5) a crítica ao poder de Estado tal qual ele se
coloca: reproduzindo os interesses do capital.
Antes de passarmos à discussão de cada um dos pontos assinalados, é pertinente dizer que
luta dos homens e mulheres catadores(as), mediada por sua instância maior, o MNCR, precisa conter
uma componente que a faça ultrapassar o campo reivindicativo e reformista, indo em direção à
proposição de um programa emancipatório. Retomamos as palavras de Bourdieu (2001, p.68), quando
este aponta, entre as motivações do declínio do sindicalismo europeu, o fato de que “...as lutas
sindicais passaram à situação de instituições que, estando agora na base de obrigações e de direitos
(...) tornaram-se objeto de lutas entre o próprio sindicato”. No caso do MNCR, se ele realmente quer se
confirmar como instância verdadeiramente independente e combativa, deve ter o exemplo do declínio
do sindicalismo europeu em alta conta.
Portanto, por que a ASMARE não começa a se valer da preponderância por ela conquistada
junto à sociedade, às entidades e organismos internacionais para construir as bases de substituição do
aparelhamento consentido e tácito junto ao Estado para outro, desta vez estratégico? Tal
preponderância, por si mesma, pode desde já assumir esse caráter, embora não pareça tê-lo sido
durante boa parte do seu tempo de existência. Para tanto, deve-se substituir o compromisso tácito com
os agentes hegemônicos, apoiado num suposto “realismo” das condições políticas, econômicas e
sociais de momento – porque calcado no pragmatismo e desprovido de ousadia – pelo
desvencilhamento tático e da produção de planos de ação mediante a prática, consciente e refletida, de
“corroer por dentro” o Estado (BIHR, 1991).
Comungamos com as opiniões de autores como Harvey (2004) e Bourdieu (2001), as quais
atestam a necessidade de reorganização das lutas, de modo que estas consigam se articular de
maneira transescalar, organizando-se e atuando em bases locais, sem perder de vista as perspectivas
nacional e mundial. Contudo, as lutas não podem se circunscrever às ações de caráter pontual,
organizadas sob determinada bandeira que lhes vá retirar a capacidade de transcender os limites de
151
suas reivindicações imediatas. Nesse sentido, a ASMARE (obviamente contando com as demais
associações e cooperativas de catadores) e, na escala nacional, o MNCR e o Movimento da População
de Rua – MPR –, precisam carregar nas suas lutas questionamentos e ações que chamem a atenção
para as características da condição de seus militantes: soerguida no seio das amplas transformações
do trabalho na contemporaneidade e no acirramento das contradições do modo de produção
capitalista. Uma outra componente associada ao trabalho das pessoas da catação pode e deve ser
utilizada como estratégia de luta: o eufemismo “agente ambiental” dado a elas e a imensa
potencialidade contida na problemática ambiental, desde que tratada de modo diametralmente oposto
àquele hoje presente nos círculos do poder – leia-se grandes corporações e agentes políticos mundiais.
Crítica aos (des)caminhos da natureza e dos debates envolvendo a problemática
ambiental
Ao nos depararmos com o aprofundamento da incorporação da natureza aos circuitos de
valorização do capital sob os termos da racionalidade econômico-instrumental-mercantil, torna-se
urgente que a ASMARE e o MNCR concentrem seus esforços no apontamento de estratégias que de
alguma maneira assumam a contra-mão deste movimento. Os mecanismos de “precificação” da
natureza nos termos da economia ecológica, os quais vêm favorecendo a formação de um mercado de
bens e serviços ambientais (PORTO-GONÇALVES, 2006), até o momento têm sido reiterados tanto
pela Associação quanto pelo movimento que a representa. Da mesma forma, os materiais recicláveis
há muito já se converteram na concorrida matéria-prima alimentadora do lucrativo mercado da
reciclagem. Com isso, a utopia neoliberal dos mercados auto-regulados chega à natureza e aos
despojos produzidos pela sociedade burguesa, criando a ilusão de que é possível estabelecer uma
relação com a natureza “diferente” daquela baseada na pilhagem e na destruição. A idéia de
“preservação” e de “responsabilidade sócio-ambiental” ganha força e passa a orientar as “políticas
ambientais” de governos e a gestão das empresas, ratificando as soluções técnicas (como as
tecnologias limpas e eficientes e a própria reciclagem) em detrimento das questões de ordem ética,
filosófica e política (no sentido forte da palavra).
Nesse sentido pela própria característica de sua atividade, histórica e geograficamente voltada
para o reaproveitamento daquilo que a sociedade descarta, os homens e mulheres catadores(as) de
papel poderiam trazem consigo, logicamente respaldados pela ASMARE e pelo MNCR (e, mais
indiretamente, o MPR), o germe para a realização de um amplo e profundo debate sobre a
problemática ambiental. Entretanto, para se tornar um discurso visando a uma prática anti-hegemônica,
deve-se ultrapassar a perspectiva redutora das respostas fáceis e superficiais que atestam a ciência e
a técnica como sendo, por excelência, os eixos preferenciais através dos quais deve passar a
152
problemática ambiental. Noutros termos, estes grupos sociais devem elevar tal problemática a um
patamar que denuncie e aponte caminhos contra a injustiça ambiental e sua umbilical relação com as
injustiças sociais e espaciais. Para isso, devem rechaçar a orientação conservacionista que tem
perpassado o pensamento e a prática hegemônicos em torno da problemática ambiental, propondo um
outro tipo de racionalidade, construída sob os arcabouços da ética, da justiça e da alteridade.
Crítica ao trabalho tal qual ele se apresenta na sociedade burguesa e a necessidade da
libertação de sua égide
As reivindicações em prol do domínio da cadeia produtiva pelos(as) catadores(as) e a
remuneração pelos serviços por eles prestados, muito embora sejam louváveis, poderiam vir
acompanhadas por uma importante proposição: a formulação de uma “Política Nacional de
Regulamentação do Mercado da Reciclagem”. Ela se objetivaria, por exemplo, na instituição de uma
bolsa nacional de compra e venda dos diferentes tipos de material, cujo papel seria determinar
patamares mínimos para seus preços através da: a) intervenção no mercado por meio de estoques
reguladores; e b) pelo aumento da tributação aos grandes recicladores ou indústrias fabricantes das
matérias-primas da reciclagem (alumínio, plástico, papel etc). Essa Política também atuaria no
fornecimento de amplos subsídios à formação de cooperativas, para a criação de indústrias de
reciclagem geridas pelos próprios catadores(as). Medidas como esta, concorreriam para abrir frentes
ao aumento do número de pessoas trabalhando na produção de bens e serviços de limpeza urbana,
simultaneamente viabilizando políticas de redução da jornada e, quiçá, do tempo de trabalho. No nosso
entender, fortaleceriam-se as bases para se trabalhar menos para que todos trabalhem (BIHR, 1991).
Trabalhar menos poderia possibilitar o paulatino resgate do trabalho enquanto atividade
devotada à satisfação individual, composta de sentidos desviados da produção mercantil. A relação do
homem com a natureza tenderia a se direcionar para o respaldo numa racionalidade superior, na qual a
produção como uso seria a produção de objetos com significado em si e para si ao homem, movendo
sua existência tanto física quanto psíquica também por estes parâmetros de racionalidade. Portanto, o
trabalho poderia voltar a se constituir como vida, obra e desejo e não meramente meio de vida. Seria
no e pelo trabalho que o homem se realizaria definitivamente enquanto ser. Nele e por ele o homem se
reconheceria novamente em um mundo por ele criado, tornado obra dinâmica, mas palpável e sensível.
Trabalhar menos significaria, entre outras atividades de engrandecimento pessoal desviadas
da lógica mercantil dos lazeres programados, o tempo livre desses homens e mulheres sendo utilizado
na compreensão mais aprofundada de toda a cadeia produtiva da reciclagem e o conhecimento da
gestão dos processos de trabalho na Associação. Esse tempo livre também poderia ser utilizado na
sua contínua formação política, de modo a construir uma compreensão mais aprofundada dos pilares
153
sobre os quais assenta a reprodução das relações sociais de produção, numa perspectiva constante da
luta pela sua superação.
É importante ressaltar que a remuneração pelos serviços prestados não deve estar
referenciada numa relação salarial ou como ação benevolente de Estado fornecida aos “incapazes”,
mas ligada a algo parecido àquilo que Bihr (1991) chamou de “renda social garantida”. Esta
remuneração, logicamente devendo ser estendida à toda sociedade, seria assegurada “...durante toda
a sua existência, a cada um de seus membros, em troca da obrigação que ela lhe impõe, fazendo-o
participar (que necessariamente vai diminuindo) do trabalho socialmente necessário” (BIHR, 1991,
p.193). Com isso, ao serem remunerados pelo seu trabalho, os(as) catadores(as) continuariam não
sendo formalmente submetidos à imposição de horários de trabalho (muito embora nas condições
atuais em que eles se encontram sua jornada de trabalho seja das maiores devido ao baixo preço
auferido com os recicláveis.
Crítica voltada para a negação dos sentidos e as finalidades da produção no capitalismo
Na mesma direção, estariam dadas as condições, no âmbito das lutas sociais dos(das)
catadores(as) da ASMARE e do MNCR, para que sentidos e finalidades outros fossem atribuídos à
produção social, reforçando este caráter e caminhando rumo à diluição da lógica privada de
apropriação daquilo que é produzido por todos. Uma estratégia interessante seria assomar o trabalho
da catação e o grau de importância nela contido – quando se pensa na reciclagem e na reutilização dos
materiais – como parte da desqualificação do modelo de reprodução social orientado pela produção
incessante de mercadorias. Ao reproduzir-se, entre outras motivações, mediante a ânsia de reduzir
drástica e continuamente o tempo de rotação dos capitais a partir da fluidez da circulação espaço-
temporal ou da diminuição da vida útil das mercadorias, o modo de produção capitalista acentua sua
dependência da exploração e da destruição da natureza. Ora, a melhor maneira de se economizar
matérias-primas é redefinir a produção social tendo em conta o “o quê?” e o “para quem?” produzir.
Ao se apontar as contradições entre os conteúdos dissimulados nas formas pelas quais a
reciclagem e a coleta seletiva se apresentam, contrapondo-as com o aumento generalizado do
consumo material e imaterial, poder-se-ia questionar o caráter das relações de produção sob o
capitalismo. Ao se encontrarem canalizadas pelos imperativos da racionalidade econômico-
instrumental-mercantil, em estreita consonância com os princípios do trabalho, da divisão social do
trabalho e da propriedade privada, tais relações de produção reivindicam para si todos os esforços,
concorrendo para o embotamento das diversas potencialidades humanas. Ademais, a produção deve
atender, antes, a uma finalidade social, definida coletivamente no âmbito local, forçando também a
redefinição das espacialidades a abrigarem as unidades produtivas. A desconcetração dessas
154
unidades poderia se efetivar fora dos interesses econômicos e mercantis, facilitando a sua tomada
pelas diversas pessoas trabalhadoras.
Crítica ao poder de Estado tal qual ele se coloca: reproduzindo os interesses do capital
A ASMARE e o MNCR devem, numa outra linha de atuação, conformarem-se como grupo de
pressão contra a ampliação dos princípios que, embora pareçam caminhar numa via contrária, atestam
a desregulamentação e a liberalização presentes nas políticas econômica e social do atual governo
federal, com vistas à plena liberdade de mercado. Esta orientação demonstra que o poder de Estado
continua possuindo extrema importância na criação dos arcabouços e condições gerais para o pleno
processo de acumulação do capital. Nestes termos, devemos nos perguntar: fim do Estado para quem?
Diante dos modos pelos quais o recuo do Estado face ao avanço do livre mercado chega até
as “políticas” direcionadas aos catadores(as) e à população de rua em geral, deve-se colocar na ordem
do dia o questionamento radical quanto à filiação a modelos de “inclusão” (como é o caso do
“Programa de Inclusão Produtiva”) pura e simples no existente. A satisfação das necessidades
prementes destas pessoas sem dúvida alguma é um imperativo. Todavia, não devem ser aceitos como
satisfações em si mesmas, arrefecendo as lutas maiores pela transformação da vida. O concernente às
reivindicações pelo “direito ao trabalho” (precário, estranhado e exteriorizado) deve ser substituído por
estratégias que visem à determinação coletiva sobre as condições sociais de existência, a qual envolve
o questionamento sobre o estatuto do trabalho na sociedade burguesa. É contra o capital e seu
conjunto de mediações (políticas e mercantis) que deve ser direcionada a luta dos(das) catadores(as) e
dos agentes de mediação ligados a ASMARE ou ao MNCR.
O questionamento aprofundado das condições sociais de existência proporcionaria chegar ao
centro do debate sobre a “exclusão social” situando-a no nível de análise que permitiria estabelecer a
sua denúncia sem tomá-la como fundamento da reprodução social vigente, mas como sua mais vil
expressão fenomênica. A “conquista da cidadania”, reduzida à inserção precária e tutelada nos eixos
de reprodução econômica do capitalismo, transformando as pessoas e sua cotidianidade numa
seqüência de movimentos programados pelos tempos e espaços abstratos da produção mercantil, não
pode deixar de ser interrogada. Embora dê algum tipo de alento aos seus “agraciados(as)”, permitindo-
os experimentarem o sentido burguês de “dignidade” pelo consumo (obviamente proporcional à sua
capacidade financeira para exercê-lo), esta cidadania mais parece o retorno da invariabilidade
estamental do “cada um no seu lugar”, impedindo a vida de transcender as adjetivações que lhe têm
sido dadas na contemporaneidade.
Os homens e mulheres catadores(as) necessitam de conquistar essa consciência de si
mesmos e do mundo. Para isso, a catação não pode ser a atividade que aniquila as demais faculdades
155
individuais, todas elas mobilizadas e encarceradas nas 10, 12, 14 horas diárias de trabalho duro. Na
mesma medida, a participação social deve ser uma prática que se constitua como parte da jornada de
trabalho diária do(da) catador(a). Entra aí, conforme salientado, o benefício à formação política por
meio do seu verdadeiro exercício propiciado pela remuneração por parte do Estado aos serviços
prestados por essas pessoas, que com o aumento de seus ganhos poderiam despender tempo fora da
catação.
Fazer com que a exigência do direito à moradia se construa como crítica à
metropolização segregadora
A ASMARE e o MNCR poderiam, ao longo da sua maturidade política, se constituir em
instâncias produtoras de um conhecimento crítico sobre o processo de urbanização e metropolização,
direcionando a luta para construção de uma democracia urbana fundada na política como ação refletida
de homens e mulheres em sua universalidade. Ao procurarem demonstrar que as discussões sobre o
“direito à moradia” postas à mesa pelo governo possuem forte acento na regulação fundiária que
determina a propriedade e o preço da terra, incidindo direta e indiretamente na qualidade da morfologia
dos diferentes lugares da metrópole, possibilita-se transformar a luta pela moradia numa pressão que
atinja as contradições fundamentais do capitalismo. Outrossim, a pobreza (material e espiritual) e a
falta de substância generalizadas que nos tomam de assalto, entre outras dimensões percebidas como
tais na redução do direito à cidade às conquistas apenas parciais da materialidade espacial nas
periferias, devem ser trazidas à tona, pois: “Mostrando como as pessoas vivem, a crítica da vida
cotidiana instala o ato de acusação contra as estratégias que conduzem a tal resultado” (LEFEBVRE,
2002, p.129).
Tais estratégias, revestidas pelo invólucro de “políticas públicas”, objetivam lidar com as
contradições expostas na metrópole, onde a marginalidade social ganha proporções alarmantes.
Procuram, como foi o caso das antigas “malocas”, dotar de funções produtivas espaços (construindo ali
a sede da Associação) onde as relações constitutivas formadoras da base de acumulação do capital
ainda não estavam postas. Por outro lado, a ASMARE e o MNCR não podem aceitar que a pobreza
mais uma vez seja escondida nas periferias distantes e empobrecidas a título de legitimação de
programas habitacionais draconianos. A centralidade deve ser democratizada, devendo as relações de
poder geradoras das assimetrias sociais – as quais fazem dela apenas o centro estratégico das
decisões econômicas e políticas – serem negadas na sua essência.
Enfim, as feições institucionalizadas assumidas pela atividade da catação também devem
entrar num novo campo de reflexões, priorizando outro tipo de relação com o Estado. Para tal, a
catação deve ser questionada na qualidade de portadora de uma “dimensão ecológica” porque
156
praticada por “agentes ambientais” e não mais por verdadeiros “inimigos da limpeza urbana” que lhe
vem sendo atribuída. Antes de qualquer coisa, é a própria reprodução do espaço na metrópole
enquanto reprodução ampliada das contradições do espaço que devem ser o mote para reflexão. Esse
direcionamento poderia proporcionar a percepção dos limites do fazer social do Estado – nos termos
em que se encontra e nos interesses e imperativos a que sustenta – e sua atuação com eles
consoante.
157
REFERÊNCIAS
ABENSOUR, Miguel. A democracia contra o Estado: Marx e o movimento maquiaveliano. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. 147p.
ADORNO, T.W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985. 254p.
ADORNO, T.W. Mínima moralia: reflexões sobre a vida danificada. São Paulo: Ática, 1993. 216p. ADORNO, T.W. Capitalismo tardio ou sociedade industrial? In: COHN, Gabriel (Org.) Theodor Adorno. São Paulo: Ática, 1994. p. 62-75. Coleção Grandes Cientistas Sociais nº 54. ADORNO, T.W. Progresso. In: ADORNO, T.W. Palavras e sinais: modelos críticos 2. Petrópolis: Vozes, 1995a Cap. 2, p.37-61.
ADORNO, T.W. Tempo Livre. In: Adorno, T.W. Palavras e sinais: modelos críticos 2. Petrópolis: Vozes, 1995b. Cap. 4, p.70-82. ANDRADE, Luciana Teixeira de. Ordem Pública e Desviantes Sociais em Belo Horizonte (1897-1930).Belo Horizonte 1987, 320f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade no mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 1999. 155p. ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo Editoral, 2005. 258p. ARANTES, Paulo Eduardo. A fratura brasileira do mundo.In: ARANTES, Paulo Eduardo. Zero à Esquerda. São Paulo: CONRAD EDITORA, 2004. Cap. 02, p.25-77. ARANTES, Paulo Eduardo. Esquerda e direita no espelho das ONGs. In: ARANTES, Paulo Eduardo. Zero à Esquerda. São Paulo: CONRAD EDITORA, 2004. Cap.11, p.165-189. AVRITZER, Leonardo Modelos de deliberação democrática: uma análise do orçamento participativo no Brasil. In Santos, Boaventura de Sousa (Org.), Democratizar a Democracia: os caminhos da democracia participativa. Porto: Afrontamento, 2005. Cap 7, p. 467-496.
158
AZEVEDO, Sérgio de; MARES-GUIA, Virgína Rennó. Orçamento Participativo como política pública: reflexões sobre o caso de Belo Horizonte. Caderno CRH, Salvador, n.35, p.179-197, jul./dez.2001 BAUMAN, Zigmunt. O mal-estar na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. 272p. BAUMAN, Zigmunt. Em busca da política. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. 216p. BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Cidadania e democracia. Lua Nova, São Paulo, n.33, p.05-16, 1994.
BENKO. Georges. Economia, espaço e globalização na aurora do século XXI. São Paulo: Hucitec/Annablume, 2002. 266p.
BIHR, Alan. Da grande noite a alternativa: o movimento operário europeu em crise. São Paulo: Boitempo Editorial, 1991. 284p. BOURDIEU, Pierre. Contrafogos 2: por um movimento social europeu. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 116p. BRAVERMAN, Harry. Trabalho e Capital Monopolista: A Degradação do Trabalho no Século XX. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 379p.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania na Encruzilhada. In: BIGNOTTO, Newton (Org.). Pensar a República. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2000.
CHALLOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 250p. CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São Paulo: Moderna, 1981. 220p. CONFERENCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO: 1992. RIO DE JANEIRO, RJ; NAÇÕES UNIDAS. Agenda 21. Brasília: Senado Federal /Subsecretaria de Edições Tecnicas, 2000. 260 p. DAGNINO, Evelina. Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania. In: DAGNINO, Evelina (Org.). Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994.
159
174p. DAGNINO, Evelina. ¿Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando?. In: MATO, Daniel (Coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil em tiempos de globalización. Caracas: FACES, Universidade Central de Venezuela, 2004. Cap 5, p.95-110. DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição e constituinte. São Paulo: Saraiva, 1982. 89p.
DAMIANI, Amélia Luisa. As contradições do espaço: da lógica (formal) à lógica dialética, a propósito do espaço. In: DAMIANI, Amélia Luisa, et al. (Orgs.). O espaço no fim de século: a nova raridade. Cap. 3, p.48-61. DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 237p. DIAS, Sônia Maria. Construindo a cidadania: avanços e limites do projeto de coleta seletiva em Parceria com a ASMARE. 2002, 203f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. ESCOREL, Sarah. Vidas ao léu: trajetórias de exclusão. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1999. 275p. EVASO, Alexander Sérgio et al. Desenvolvimento sustentável: mito ou realidade? Terra Livre, São Paulo, n.11-12, p.91-100, ago.92/ago.93. FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. São Paulo: Globo, 2006. 512p. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1997. 277p. GORZ, André. Adeus ao proletariado: para além do socialismo. Rio de Janeiro: Forense – Universitária, 1987. 203p. HARVEY, David. Condição pós-moderna: pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 1994. 349p.
HARVEY, David. Espaços de esperança. São Paulo: Loyola, 2004. 384p.
HIGGINS, Silvio Salej. Precisamos de capital social?: sim, mas socializando o capital. Em tese, Florianópolis, v.2, n.1(3), p.1-21, jan./jul.2005.
160
HIRATA, Helena. Da polarização das qualificações ao modelo da competência. In: FERRETI, Celso João et al. (Orgs.), Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate multidisciplinar. Petrópolis: Vozes, 2000. p.128-139.
JACOBI, Pedro; TEIXEIRA, Marco Antônio C.. A formação do capital social: o caso ASMARE – Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte. Cadernos de Gestão Pública e Cidadania, São Paulo, v.2, jun.1997. KOSIK, Karel. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 230p.
LEAL, Antônio Cezar et al. A reinserção do lixo na sociedade do capital: uma contribuição ao entendimento do trabalho na catação e na reciclagem. Terra Livre, São Paulo, n.19, p.177-190, jul./dez.2002. LEFEBVRE, Henri. Posição: Contra os tecnocratas. São Paulo: Nova Crítica, 1979. 203p.
LEFEBVRE, Henri. Lógica formal, lógica dialética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. 301p. LEFEBVRE, Henri. A vida cotidiana no mundo moderno. São Paulo: Ática, 1991. 216p. LEFEBVRE, Henri. Espaço e política. Tradução de Margarida Maria de Andrade e Sérgio Martins. [S.I.:s.n.], 2003. Inédito. Título original: Espace et politique (Paris: Anthropos, [1972]). LEFEBVRE, Henri. A produção do espaço. Tradução de Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins. [S.i.:s.n.], 2007. Inédito. Título original: La production de l’espace. 4ª ed. Paris: Éditions Anthropos, 2000). LEFEBVRE, Henri. Revolução urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 178p. LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2004. 145p.
LEFEBVRE, Henri. Um pensamento tornado mundo: é preciso abandonar Marx?. Tradução de Sérgio Martins. Título original: Une pensée devenue monde. Faut-il abandonner Marx?. Paris: Librairie Arthème Fayard, 1980. Primeira versão. Início: mai. 2005. LIMA. Francisco de Paula Antunes. A engenharia de produção solidária. Trabalho & Educação, Belo Horizonte, vol.12, n.01, p.115-126, jan./jun. 2003.
161
MARCUSE, Herbert. Ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 238p. MARICATO, Ermínia. Autoconstrução, a arquitetura possível. In: MARICATO, Ermínia. A produção capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial. São Paulo: Alfa-Omega, 1982. p. 71-93. MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 220p. MARTINS, Jose de Souza. Conde Matarazzo o empresário e a empresa: estudo de sociologia de desenvolvimento. São Paulo: Hucitec, 1976. 121p. (Coleção estudos brasileiros,1). MARTINS, José de Souza. O falso problema da exclusão e o problema social da inclusão marginal. In: MARTINS, José de Souza. A exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 1997. p.25-38. MARTINS, José de Souza. Reflexão crítica sobre o tema da “exclusão social”. In: MARTINS, José de Souza. A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes sociais. Petrópolis: Vozes, 2002a. p.25-47. MARTINS, José de Souza. O problema das migrações e da exclusão social no limiar do terceiro milênio. In: MARTINS, José de Souza. A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes sociais. Petrópolis: Vozes, 2002b. p.119-137. MARTINS, José de Souza. A escravidão na sociedade contemporânea – A reprodução ampliada anômala do capital e a degradação das relações de trabalho. In: MARTINS, José de Souza. A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes sociais. Petrópolis: Vozes, 2002c. p.151-162. MARTINS, José de Souza. A sociabilidade do homem simples. S. Paulo: Hucitec, 1999. 210p. MARX, Karl. Capítulo VI inédito de O Capital: resultados do processo de produção imediata. São Paulo: Moraes, 1985. 169p. MOREIRA, Ruy. O que é Geografia?. São Paulo: Brasiliense, 1994. 113p. (Coleção Primeiros Passos, 48) MOUFFE, Chantal. Democracia, cidadania. Política e Sociedade – Revista de Sociologia Política, Florianópolis, vol.01, n.03, p.11-26, outubro 2003.
162
NUNES, Christiane Girard Ferreira. Cooperativas, uma possível transformação identitária para os trabalhadores do setor informal. Sociedade e Estado, Brasília, v.16, n.1-2, jan./dez.2001. OLIVEIRA, Francisco de. Da dádiva aos direitos: a dialética da cidadania. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, n. 25, ano 09, p.42-44, junho de 1994.
OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do antivalor. In: OLIVEIRA, Francisco de. Os direitos do antivalor. Petrópolis: Vozes, 1998a. Cap.1, p.19-48. OLIVEIRA, Francisco de. A economia política da social democracia. In: OLIVEIRA, Francisco de. Os direitos do antivalor. Petrópolis: Vozes, 1998b. Cap.2, p.49-61. OLIVEIRA, Francisco de. Privatização do público, destituição da fala e anulação da política: o totalitarismo neoliberal. In: OLIVEIRA, Francisco de; PAOLI, Maria Célia (Orgs.) Os sentidos da democracia: políticas do dissenso e hegemonia global. Petrópolis: Vozes, 1999. p.55-79.
OLIVEIRA, Maria Vany. Entre ruas, lembranças e palavras: a trajetória dos catadores de papel em Belo Horizonte. 2001. 330f. Dissertação (Mestrado em Sociologia: Gestão das Cidades). Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte. PEDROSA, José Geraldo. Trabalho e educação no capitalismo tardio: crítica ao trabalho hipostasiado. 2003. 217f. Tese (Doutorado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.
PORTO-GONÇALVES, Carlos Valter. Globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 464p. PRADO JÚNIOR, Caio. Historia Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2004. 364p. RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil – 1890-1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 209p.
RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento: política e filosofia. São Paulo: Editora 34, 1996a. 144p.
RANCIÈRE, Jacques. O Dissenso. In: NOVAES, Adauto (Org.) A crise da razão. São Paulo: Companhia das Letras, 1996b. p.367-382.
SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena: experiências, falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo (1970-80). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 329p.
163
SANTOS, Oder José dos. Reestruturação capitalista: trabalho e escola. Trabalho & Educação, Belo Horizonte, v.13, n.01, jan./jul.2004. SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice – o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1997. 348p. SARAIVA, Luiz Alex Silva. Consenso ou Consentimento? A pseudodemocracia na organização contemporânea. In: PIMENTA, Solange Maria; CORRÊA, Maria Laetitia (Orgs.) Gestão, Trabalho e Cidadania: Novas Articulações. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 368p.
SECOM/PR – SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. O Brasil na era do desenvolvimento sustentável. Brasília, ano 2, n.4, dez.2004. SELLTIZ, Claire et al. Métodos de pesquisa nas relações sociais. São Paulo: E.P.U., 1987. SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. São Paulo: Ed. Fundação Perseu Abramo, 2002. 127p. SMAS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Inclusão Produtiva. Belo Horizonte, Julho de 2003. SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da modernidade periférica. Belo Horizonte: UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2003. 207 p. TELLES, Vera da Silva. Espaço público e espaço privado na constituição do social: notas sobre o pensamento de Hannah Arendt. Tempo Social, São Paulo, v.2, n., p.23-48, 1sem.1990. TELLES, Vera da Silva. Pobreza e Cidadania: dilemas do Brasil contemporâneo. Caderno CRH, Salvador, n.19, p.8-21, 1993.
TELLES, Vera da Silva. Pobreza, movimentos sociais e cultura política: notas sobre as (difíceis) relações entre pobreza, direitos e democracia. DINIZ, Eli; LOPES, José Sérgio Leite; PRANDI, Reginaldo (Orgs.). O Brasil no Rastro da Crise: Partidos, Sindicatos, Movimentos Sociais, Estado e Cidadania no Curso dos Anos 90. São Paulo: ANPOCS/HUCITEC/IPEA, 1994. p.225-243.
TELLES, Vera da Silva. Pobreza e cidadania: figurações da questão social no Brasil moderno. In: TELLES, Vera da Silva. Pobreza e cidadania. São Paulo: USP, Curso de Pós-Graduação em Sociologia: Ed. 34, 2001, p.13-56.
164
VAINER, Carlos. Pátria, empresa, mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do planejamento estratégico urbano. In: ARANTES, Otilia Beatriz Fiori. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2001. 192 p. VANEIGEM, Raoul. A arte de viver para as novas gerações. São Paulo: CONRAD EDITORA, 2002, 296p. ZARIFIAN, Philippe. O modelo da competência – trajetória histórica, desafios atuais e propostas. São Paulo: Editora SENAC, 2003. 192p.