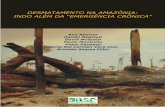Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do ...
Do local ao global: A percepção de escala no entendimento do desmatamento na Amazônia
Transcript of Do local ao global: A percepção de escala no entendimento do desmatamento na Amazônia
Edmilson das Merces Batista1 Rosemy Silva Nascimento1
Jucilene Moraes Lopes2
1Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC Programa de Pós-Graduação em Geografia
[email protected]; [email protected]
2Universidade Federal do Amapá-UNIFAP Campus Marco Zero, Jardim Marco Zero-Macapá-AP
DO LOCAL AO GLOBAL: A PERCEPÇÃO DE ESCALA
NO ENTENDIMENTO DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA
INTRODUÇÃO
O conceito de escala é um problema metodológico de diversas ciências que lidam
com a “questão do tamanho”, inclusive a Geografia. De uso comum, escala é utilizada
para descrever o nível de detalhe ou de observação de um fenômeno; também pode se
referir ao âmbito ou à extensão espacial em que um processo é percebido (Castro, 1992;
Lam, 2004). Cartograficamente, o termo foi simplificado à relação de proporção entre
objetos (ou superfícies) e sua representação nos diversos recursos, como mapas, globos,
maquetes, etc., levando muitos profissionais da Geografia ao raciocínio simplista do
espaço por meras relações matemáticas.
Entre os diferentes fenômenos que podem ser tratados com auxílio do conceito de
escala estão aqueles ligados as questões ambientais, os quais, aparentemente, ocorrem
numa lógica local, mas podem ter dimensões e/ou relações que extrapolam tal nível e,
muitas vezes, alcançam uma dimensão global. É nessa ótica que analisamos um
problema ambiental brasileiro que tem trazido reflexos políticos internacionais: o
desmatamento na Região Amazônica.
A escolha desta temática está relacionada com a importância da Amazônia, pois a
região concentra a maior área de florestas tropicais contínuas e preservadas do mundo,
provendo uma gama de serviços ambientais para a sociedade (Fearnside, 1997). Apesar
dos benefícios que este bioma oferece, sua floresta tem sido progressivamente
degradada por um processo contínuo de desmatamento, que muito foi alavancado a
partir da política de ocupação conduzida pelos governos na década de 1960. Mais
recentemente, com os avanços da urbanização e das redes técnicas e a consequente
consolidação do processo de integração da região com o restante do país e outras
porções do mundo, a problemática do desmatamento assumiu relevância que transpõe a
fronteira das escalas local e nacional e nos remete a considerar e escala global, para uma
compreensão mais holística (Coutinho et al., 2013). Isto ocorre porque alguns
processos indutores do desflorestamento são resultantes de decisões que, muitas vezes,
têm relação com comportamentos sociais, fatores macroeconômicos ou por decisões
políticas tomadas a milhares de quilômetros da Amazônia.
No presente trabalho é analisado um conjunto de pesquisas científicas divulgadas
nas últimas duas décadas relacionadas com o assunto e, a partir da perspectiva
hierárquica de escala, isto é, a variação do espaço que abarca o local, o regional, o
nacional e o global, demonstra-se como as causas e os agentes do desmatamento têm
variado ao longo do tempo e do espaço. Ao final, o texto descreve as implicações dos
conceitos de escala na identificação dos atores e das causas que atuam e condicionam o
desmatamento na citada região.
ESCALA GEOGRÁFICA: UM BREVÍSSIMO DEBATE
Escala é um problema conceitual e epistemológico das diversas ciências, inclusive
da geografia (Castro, 2009). De uso comum, o termo tem sido utilizado para descrever a
dimensão ou “níveis” de análise em que processos ou fenômenos ocorrem em termos
espaciais, temporais, quantitativos ou analíticos (Gibson et al. 2000, Figura 1).
Entretanto, o significado mais usual de escala é o de medida de redução ou de
ampliação de área para a representação (Castro, 1992).
Figura 1: Esquema ilustrativo com diferentes concepções de escala. Fonte: Gibson et al. (2000)
No âmbito da ciência geográfica, o termo foi incorporado ao vocabulário sem que
houvesse uma profunda reflexão de seu significado (Castro, 2009). Uma das mais
antigas discussões sobre o tema foi feita pelo geógrafo Yves Lacoste. Para ele, a
complexidade das configurações do espaço terrestre decorre das múltiplas intersecções
entre as configurações precisas destes diferentes fenômenos e a sua visibilidade depende
da escala cartográfica de representação adequada (Lacoste, 2005). Assim, a escala seria
um conceito inerente às variações de espaço em níveis hierárquicos, onde as diferenças
de tamanho na superfície implicam em diferenças quantitativas e qualitativas dos
fenômenos. Contudo, este raciocínio foi duramente criticado por vincular o conceito de
escala geográfica ao de escala cartográfica (Castro, 2009).
Outros autores como Racine et al. (1983) também destacam a inconveniência da
analogia entre as escalas cartográfica e geográfica. Para estes, a ciência geográfica adota
um conceito para escala que vem da cartografia, embora seja evidente que este não é
apropriado, pois a escala geográfica exprime a representação das relações que as
sociedades mantêm com o espaço. Já a escala cartográfica seria a mera representação do
espaço como forma geométrica (Racine et al., 1983).
Uma das formas mais freqüentes de se encarar a questão é a ideia de uma relação
hierárquica entre escalas, sintetizada na concepção de “escala como escada”, onde na
base estaria a escala local, a qual se ligaria por meio de degraus sucessivos até o topo, o
global (Herod, 2003). Entretanto, “geógrafos humanos” têm enfatizado a proposição de
que a escala é socialmente construída e que as categorias convencionais como o local,
regional, nacional e o global não são simplesmente estabelecidos de maneira pronta e
acabada (Marston, 2000). É nesta linha de pensamento que Corrêa (2007) trata o
conceito de escala geográfica como sendo parte da construção social. Para este, o
“sentido da escala geográfica” assume três acepções correntes: a de dimensão, a
exemplo de economias internas ou externas de escala; a cartográfica, que se traduz na
relação entre objeto e sua representação em cartas e mapas; e a conceitual, onde os
objetos e ações são conceitualizados em uma dada escala na qual processos e
configurações se tornam específicos e têm a sua própria escala de representação
cartográfica.
Sem por fim a este debate, Castro (1996) define escala geográfica com sendo “a
escolha de uma forma de dividir o espaço, definindo uma realidade
percebida/concebida, para dar-lhe uma figuração, uma representação, um ponto de vista
que modifica a percepção da natureza deste espaço e, finalmente, um conjunto de
representações coerentes e lógicas que substituem o espaço observado”. A autora
enfatiza, ainda, que a escala cartográfica é inversamente proporcional à escala
geográfica, ou seja, quanto maior o nível de detalhe num documento cartográfico
(escala cartográfica) menor seria o nível de apreensão do fenômeno sobre a ótica da
escala geográfica.
Assim, a escala é a medida que confere visibilidade ao fenômeno. Ela não define,
portanto, o nível de análise, nem pode ser confundida com ele, estas são noções
independentes conceitual e empiricamente (Castro, 2009). É dentro desta perspectiva
que procuramos analisar, neste artigo, a questão do desmatamento na Amazônia
Brasileira e nas dimensões espaciais e temporais que condicionam este processo. Nosso
principal questionamento é compreender como a mudança na escala geográfica, ou seja,
na escala de apreensão do fenômeno (desmatamento) reflete na identificação das forças
motrizes que o promovem.
ESCALA E DETERMINAÇÃO DOS AGENTES/CAUSAS DO DESMATAMENTO
NA AMAZÔNIA BRASILEIRA
A Amazônia compreende uma enorme e densa cobertura vegetal, abrangendo
cerca de 6 milhões de Km2 situados em terras sul-americanas, nos territórios de nove
países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e
Venezuela (Figura 2.a). A maior porção desta floresta está inserida no território
brasileiro (quase 60%). Por sua vez, o conceito de Amazônia legal (Figura 2.b) foi
estabelecido pela Lei 1.806/1953 e abrange nove estados, sendo sete deles, situado na
região norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e dois,
Maranhão e Mato Grosso, pertencentes às regiões nordeste e centro-oeste,
respectivamente. Contudo, somente a porção oeste do Maranhão (até o meridiano
44ºW) integra a Amazônia legal.
Figura 2: As diferentes “Amazônias”. Na esquerda, mapa ilustrativo do bioma Amazônia (a); ao lado, configuração da Amazônia Legal (b) . Fonte: adaptado de Aragón (2005); Imazon (2013).
De acordo com o Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia
(PRODES) desenvolvido Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), cerca de
20% da floresta original da Amazônia fora desmatada até o ano de 2012 (INPE, 2013).
Os dados revelam, ainda, que a taxa de desmatamento, ou seja, a área desmatada por
ano, tem se comportado de maneira variável (Figura 3), estando relacionada com
diversos fatores, em diferentes escalas.
Figura 3: Taxa de desmatamento na Amazônia Legal entre 2004 e 2012. Fonte: INPE (2013)
Dada esta situação, existem diversas pesquisas e até mesmo programas
internacionais que buscam entender todo um conjunto de fatores associados com o
desmatamento na Amazônia e um dos focos destas investigações é a identificação de
suas causas e agentes promotores. Contudo, esta tarefa tem se mostrado bastante
complexa, pois estes têm variado ao logo do tempo e do espaço (Fearnside, 2006).
Segundo Geist & Lambin (2002) as causas dos desmatamentos em regiões de florestas
tropicais nunca podem ser resumidas a uma única variável, mas fruto da combinação de
várias. Assim, os agentes que promovem o desmatamento atuam de forma
interdependente numa lógica sequencial, e a degradação florestal é resultante tanto dos
comportamentos específicos de determinado agente, como de suas interações (Geist &
Lambin, 2002). Os citados autores agrupam as causas do desmatamento tropical em
dois tipos: imediatas e subjacentes. A primeira é expressa em nível local, através de
atividades humanas com a pecuária, a agricultura etc.; a segunda, ligadas a fatores de
ordem regional e global (por exemplo, demanda por commodities agrícolas).
Kaimowitz & Angelsen (1998), por sua vez, dividem esse processo em três
diferentes níveis: fontes, causas imediatas e causas subjacentes. Nesta proposta, a tarefa
inicial é apontar os agentes (por exemplo, pequenos agricultores, pecuaristas,
madeireiros, etc.) e, a partir destes, identificar suas ações. O passo seguinte se concentra
nas decisões dos agentes, que são baseadas em suas características próprias
(preferências, recursos e experiência) e nos parâmetros de decisão (causas imediatas)
que inclui preços agrícolas, acesso a tecnologias, informações e a serviços e
infraestrutura. Finalmente, as fontes e as causas imediatas são determinadas por forças
mais amplas, que são as causas subjacentes. Assim, fatores como o mercado, a
disseminação de novas tecnologias, a legislação, entre outros, compreenderiam as
causas subjacentes (Kaimowitz & Angelsen, 1998).
Neste sentido, a escala espacial ou do tamanho da unidade de análise em estudo
seria altamente relevante na compreensão do processo, pois se argumenta que existiriam
três níveis de análise das causas do desmatamento tropical: a) no nível do produtor
(micro); b) em nível regional (meso); c) a nível nacional ou global (macro). No nível do
produtor (escala local), os agentes geralmente escolhem como alocar seus recursos num
contexto pessoal, vinculado as suas preferências, instituições e alternativas tecnológicas.
Na escala regional, fatores como as características naturais (relevo, solos, clima),
estrutura agrária, economia regional, controlariam o processo. Por fim, a escala nacional
ou global enfatiza relação entre variáveis subjetivas (saúde econômica do país, demanda
mundial por produtos agrícolas, acordos internacionais).
Assim, a identificação da causa/agente promotor do desmatamento na Amazônia
Brasileira depende do nível de apreensão do processo ou fenômeno, ou seja, da escala
geográfica adotada no estudo. Partindo desta premissa, sumarizamos na Tabela 1, a
partir de um conjunto de publicações científicas, quatro diferentes escalas de análise
(local, regional, nacional e global), onde estão relacionadas diferentes causas para o
desflorestamento na Amazônia Brasileira.
Tabela 1: Causas do Desmatamento na Amazônia Brasileira em diferentes escalas de análise
Escala de análise Causas apontadas(*)
Local Propriedade da terra (1)
, acesso a mercados pelos produtores,
características familiares dos produtores (2)
Regional Assentamentos da reforma agrária(3)
, expansão da
pecuária(4)
, construção de estradas(5)
Nacional Política Nacional de Reforma Agrária(3)
, crescimento
econômico do país (6)
Global Demanda por commodities agrícolas, especialmente, carne
bovina e soja (7)
; demanda por biocombustíveis(8)
(*) De acordo com os autores: (1) Araujo et al.(2009); (2) Orsi (2005); (3) Tourneau & Bursztyn (2010); (4) Castro (2005); (5) Batista (2009); (6) Fearnside (2006); (7) Walker et al. 2009; (8) Walker (2011).
É importante enfatizar que nosso objetivo não é o de estabelecer uma proposta
rígida, presa a uma hierarquia. Pelo contrário, corrobora-se com as ideias de Castro
(2009) de que a pré-determinação de escalas de análise, em detrimento de uma visão
sem “fronteiras” e relacional leva ao aprisionamento do espaço da empiria em uma
estrutura conceitual que nem sempre é a mais adequada. Assim, a associação de
determinada causa com um nível de escala nos permite refletir as particularidades do
processo, onde o fenômeno adquirirá características específicas em cada escala
geográfica percebida.
CONCLUSÕES
A necessidade de estudar o espaço geográfico, especialmente, as relações entre
homem e natureza, se leva a refletir sobre as dimensões do conceito de escala
geográfica. No caso específico tratado aqui, focou-se em analisar a problemática do
desmatamento na Amazônia Brasileira, dentro de uma concepção de múltiplas escalas
espaciais. Entretanto, tal tarefa não se mostrou simplória, especialmente, diante da
diversidade de conceitos atrelados ao termo. Assim, adotou-se um conceito de escala,
como forma metodológica de divisão do espaço, meramente para facilitar o estudo do
processo (desmatamento) em quatro diferentes níveis de apreensão do espaço: local,
regional, nacional e global. Tentamos entender como a escala de apreensão ou análise
reflete na identificação das forças motrizes que promovem o desmatamento na
Amazônia Brasileira.
A análise da literatura relacionada com o tema indicou a existência de múltiplos
agentes e variadas causas, sendo sua identificação dependente da escala geográfica
adotada no estudo. Pesquisas conduzidas a níveis locais tendem a associar o problema
com forças primárias (causas imediatas), mais ligadas a comportamentos e vontades
pessoais dos produtores (pequenos agricultores, pecuaristas, madeireiros). De outro
modo, fatores macroeconômicos, como a demanda global por commodities agrícolas,
planos regionais de desenvolvimento, situação econômica do país, possuem relações
que se articulam dentro de uma ótica escalar regional, nacional ou global.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARAGÓN, Luis E. Até onde vai a Amazônia e qual é a sua população? In: ARAGON, L.E. (Org.). Populações da Pan-Amazônia. Belém: NAEA, 2005. p. 13-23.
ARAUJO, C; BONJEAN, C.A.; COMBES, J.L.; MOTEL, P.C.; REIS, E.J. Property rights and deforestation in the Brazilian Amazon. Ecological Economics, v. 68, p. 2461–2468, 2009.
BATISTA, E. M. O desmatamento em Projetos de Colonização e Reforma Agrária situados no Estado do Amapá. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR), 14., 2009, Natal. Anais... São José dos Campos: INPE, 2009. Artigos, p. 5633-5639. CD-ROM, On-line. ISBN 85-17-00018-8. Disponível em: <http://marte.dpi.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/.../5633-5639.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2014.
CASTRO, E. Dinâmica socioeconômica e desmatamento na Amazônia. Novos Cadernos NAEA, v. 8, n. 2, p. 5-39, Pará: dez. 2005.
CASTRO, I. E. Análise geográfica e o problema epistemológico da escala. Anuário do Instituto de Geociências [online], v.15, p. 21-25, 1992.
CASTRO, I.E. Das dificuldades de pensar a escala numa perspectiva geográfica dos fenômenos. In: Colóquio “O discurso geográfico na aurora do século XXI. Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFSC. Florianópolis: 1996.
CASTRO, I.E. O problema da escala. In: CASTRO, Iná. E; GOMES, Paulo C; CORREA, Roberto L. Geografia: conceitos e temas. 12. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009. p.117-140.
CORREA, R.L. Diferenciação Sócio-Espacial, Escala e Práticas Espaciais. Cidades, v.4, n.6, p.62-72, 2007.
COUTINHO, A. C.; ALMEIDA, C.; VENTURIERI, A.; ESQUERDO, J. C. D. M.; SILVA, M.; Uso e cobertura da terra nas áreas desflorestadas da Amazônia Legal: TerraClass 2008. Brasília, DF: Embrapa; São José dos Campos: INPE, 2013. 107p.
FEARNSIDE, P.M. Serviços ambientais como estratégia para o desenvolvimento sustentável na Amazônia rural. In: Cavalcanti, C. (ed.). Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas. São Paulo: Editora Cortez., 1997. p. 314-344.
FEARNSIDE, P. M. Desmatamento na Amazônia brasileira: dinâmica, impactos e controle. Acta Amazônica, v.36, n. 3, p. 395-400, 2006.
GEIST, H. J. & LAMBIN, E. F. Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation. Bioscience, v. 52, p. 143–150, 2002.
GIBSON, C., E. OSTROM, AND T.-K. AHN. The concept of scale and the human dimensions of global change: a survey. Ecological Economics, v.32, p. 217-239, 2000.
HEROD, Andrew. Scale: the local and the Global. In.: HOLLOWAY, S.; RICE, S. P.; VALENTINE, G. Key Concepts in Geography. London, Sage Publications, 2003, p.229-247.
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Evolução do desmatamento na Amazônia Legal e no bioma Amazônico entre 1988 e 2012. Disponível em <http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2012.htm> . Acesso em 12/08/2013.
KAIMOWITZ, D. & ANGELSEN, A. Economic models of tropical deforestation: A review. Center for International Forestry research, Bogor, Indonésia, 1998.
LACOSTE, Yves. A geografia – isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. 17. ed. Campinas: 2005 Ed: Papirus, . Tradução de: Maria Cecília França.
LAM, N. Fractals and Scale in Environmental Assessment and Monitoring. In: SHEPPARD, E. & MCMASTER, R. (Eds.) Scale and Geographic Inquiry: Nature, Society and Method. Oxford: Blackwell , 2004. p. 23-40.
MARSTON, S.A. The social construction of scale. Progress in Human Geography, v. 24, p. 219-242, 2000.
ORSI, L. Análise multitemporal do desflorestamento ocorrido na década de 90 em assentamento rural de Rondônia, à partir da associação entre dados de sensoriamento remoto e dados socioeconômicos. 2005. 130 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.
RACINE, J.B.; RAFFESTIN, C.; RUFFY, V. Escala e ação, contribuição para uma interpretação do mecanismo de escala na prática da geografia. Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro, v. 45, n. (1), p. 123-135, jan/mar. 1983.
TOURNEAU, F. M.; BURSZTYN, M. Assentamentos rurais na Amazônia: contradições entre a política agrária e a política ambiental. Ambiente & Sociedade, v. 13, n. 1, p. 111-130, jan.-jun. 2010.
WALKER, R.; DE FRIES, R.; VERA-DIAZ, C.; SHIMABUKURO,Y. VENTURIERI, A. A Expansão da Agricultura Intensiva e Pecuária na Amazônia Brasileira. In: Keller, M.; Gash, J.C.H.; Dias, P.S. Amazônia e Mudança Global. Washington, DC: American Geophysical Union. 2009. p 61–81.
WALKER, R. The impact of Brazilian biofuel production on Amazonia. Annals of the Association of American Geographers, v. 101, n.4, p. 929-938. 2011.