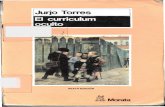MODELAGEM MATEMÁTICA E POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES COM A TEORIA DE VYGOTSKY
Diretrizes curriculares e a formação em Psicologia: debates constantes, consensos possíveis
Transcript of Diretrizes curriculares e a formação em Psicologia: debates constantes, consensos possíveis
DIRETRIZES CURRICULARES E A FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA: DEBATES CONSTANTES, CONSENSOS POSSÍVEIS1
Eduardo Alexandre R. da Silva
INTRODUÇÃO
A profissão de psicólogo foi regulamentada no Brasil em 27 de agosto de 1962 com a lei
federal nº 4.119. Esta estabelece as diretrizes para a formação, vida escolar, diplomação, critérios
legais e civis para o exercício e o desempenho das funções do profissional.
Por tratar-se de uma atividade profissional bastante ampla, que por sua natureza intrínseca
envolve a promoção da dignidade e da integridade humana, trata diretamente da saúde e bem-estar
das pessoas.
Diante dessa abrangência, foram criados outros dispositivos civis para servirem de suporte
ao direcionamento tanto da formação como da atuação dos psicólogos, tais como: a resolução do
Conselho Nacional de Saúde (CNS nº 218/97), reconhecendo o psicólogo como profissional de
saúde de nível superior e o Catálogo Brasileiro de Ocupações (CBO), descrevendo atividades de sua
competência.
Especificamente no que se refere à formação, a Lei 9.394 estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional (Cap. IV – Da educação superior) e os pareceres e resoluções do Conselho
Nacional de Educação para o estabelecimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos
de Graduação em Psicologia (CNE/CES n.º 1.314 / CNE/CES n.º 72 / CNE/CES n° 62 / CNE/CES
nº 153/2007 / CNE/CES Nº 8).
Enquanto todo esse cabedal de normatização é elaborado, o que se encontra nos bastidores é
um constante e ferrenho jogo de forças entre todos os envolvidos.
Todo o cuidado concernente à formação e ao exercício profissional torna-se cada vez maior
a media que se expande o número de instituições formadoras de psicólogos no Brasil, criando
associações que discutem o ensino da profissão.
Ademais, mudanças significativas foram sendo gradativamente implantadas nos cursos de
graduação de Psicologia desde a década de 80. Essas mudanças aos poucos desviaram o enfoque da
formação antes centrado em áreas de atuação, costumeiramente: Psicologia Clínica, Psicologia
Escolar e Psicologia Organizacional; baseadas em um modelo marcadamente clínico com uma visão
positivista de homem, para passar a um modelo de atuação de caráter biopsicossocial, baseado em
1 Diretrizes Curriculares e a formação em Psicologia: debates constantes, consensos possíveis. In: Psicologia em Foco:
uma abordagem no plural.1 ed.Cascavel - PR : Coluna do Saber, 2008, p. 133-157.
ênfases curriculares, com a finalidade de desenvolver habilidades básicas de atuação a serem
adquiridas e aperfeiçoadas pelos acadêmicos.
Entretanto, isso não se deu de forma pacífica, foram muitos embates com a Comissão de
Especialistas do MEC e entre os próprios debatedores. Houve porém, uma verdadeira união de
forças, que se desenvolveu nos encontros das entidades representativas da categoria profissional
(Conselho Regional e Conselho Federal de Psicologia), associações de psicólogos, instituições de
ensino, acadêmicos e outros. Todo esse empenho, na esperança de poder alterar para melhor, a
proposta formativa para os futuros profissionais em Psicologia.
O presente trabalho pretende contribuir com a discussão que busca o entendimento das
raízes da mudança curricular nos cursos de Psicologia no Brasil, sintetizando, de modo
despretensioso, diversos discursos produzidos até o presente momento sobre o assunto. Para isso
articularemos as discussões subdivididas nos subtítulos a seguir.
Breve histórico da formação profissional do psicólogo no Brasil, que apresenta brevemente a
trajetória da construção profissional no Brasil, marcada por iniciativas isoladas e fases distintas.
O currículo mínimo em Psicologia, apresenta as primeiras experiências formativas em
Psicologia no Brasil, dispõe sobre as características do currículo mínimo e demonstra a importância
de seu estabelecimento de modo conjunto com a lei que regulamenta a profissão.
Críticas ao modelo formativo do currículo mínimo, discute as bases ideológicas (modelo
biomédico e neoliberalismo) em que o currículo mínimo em Psicologia foi construído,
demonstrando os motivos da insatisfação com o modelo formativo que profissionalizava os
psicólogos no Brasil antes da LDB e das diretrizes curriculares.
As condições preparatórias à criação das Diretrizes Curriculares na Psicologia, apresenta as
mudanças no cenário sócio-político brasileiro e as principais insatisfações dos profissionais,
entidades de classe e da comunidade acadêmica, que conduziram a criação das diretrizes
curriculares.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Psicologia, apresenta
as diretrizes curriculares e suas particularidades.
Considerações finais, acrescenta algumas discussões sobre as mudanças curriculares nos
cursos de Psicologia.
Breve histórico da formação profissional do psicólogo no Brasil
O primeiro projeto de curso de Psicologia no Brasil foi implantado pelo Decreto nº 21.173
de 19 de março de 1932, convertendo o Laboratório de Psicologia da Colônia de Psicopatas em
Instituto de Psicologia. Um dos artigos desse decreto mudava o foco de influência que regia a recém
criada instituição, retirando a jurisdição do Ministério da Justiça e colocando-o sob dependência
imediata do Ministério de Educação e Saúde Pública (CENTOFANTI, 1982; CENTOFANTI, 2004;
JACÓ-VILELA, 1999).
A implantação de cursos oficialmente estruturados para a formação do psicólogo no Brasil,
ocorreu por meio das demandas emergentes por esse profissional em nosso país.
A partir da década de 30 o Brasil intensifica o processo de industrialização. Boa parcela da
classe empresarial e elementos do próprio governo se interessam pelas idéias e modelos
estrangeiros que vêem na racionalização do trabalho, a ferramenta ideal para o aumento da
eficiência e da produtividade (DEDECCA, 1998).
Entretanto, para incrementar o processo da produção, além de operários capazes de operar
máquinas e outros artefatos mais complexos de trabalho, precisam de um nível mínimo de instrução
educacional que os capacitassem a compreender e executar instruções de seus superiores
(DEDECCA, 1982; DEDECCA, 1998; NAGLE, 2001; SUPERTI, 2006). Havia a “... percepção de
que a criação de riquezas dependia intimamente da produtividade e esta se vinculava à qualificação
técnica dos trabalhadores.” (SUPERTI, 2006, p. 9-10)
Nesse clima de renovação econômica, a Psicologia chega ao Brasil oferecendo serviços
especializados para o serviço público, indústrias e comércio em atividades de recrutamento e
seleção de trabalhadores para diferentes cargos. De maneira complementar, nas instituições
educacionais e nos serviços de orientação vocacional as práticas psicológicas predominantes eram
de cunho avaliativo com a aplicação de testes para a descoberta de aptidões profissionais e
encaminhamento ao circuito produtivo (PEREIRA & PEREIRA NETO, 2003; ESCH & JACÓ-
VILELA, 2001; MANCEBO, 1999).
Contudo, as práticas psicológicas careciam de uma sistematização acadêmica mais
consistente. Até a regulamentação da profissão em 1962, a atividade psicológica era exercida por
profissionais de áreas afins, na sua grande maioria, oriundos de formações acadêmicas como
médicos, pedagogos, engenheiros, militares, licenciaturas, filósofos, entre outras, ou ainda
psicólogos que obtiveram esta formação em outros países. Os profissionais que atuavam de maneira
mais técnica, sem uma formação universitária orientada cientificamente ao objeto da Psicologia,
eram conhecidos como práticos-psicologistas (MELLO, 1983; CATHARINO, 1999; MANCEBO,
1999).
Pessotti (1988) classifica a história da Psicologia no Brasil em quatro fases distintas: pré-
institucional, institucional, universitária e profissional.
A fase pré-institucional é caracterizada por produções que abordam temas gerais e questões
relacionadas à Psicologia. Este período se estende dos primeiros escritos de missionários à criação
das faculdades de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. O pensamento então dominante
centralizava-se nas preocupações de uma educação de caráter controlador e catequético.
A fase institucional é demarcada pela intenção da formação de um saber psicológico
acadêmico, vinculado às instituições de produção de conhecimento. Nesse período, são os
profissionais da Medicina que se vinculam ao campo do saber psicológico, na intenção de uma
possível complementação prática do próprio exercício profissional da Medicina.
Outra categoria profissional está também associada a esse período da Psicologia. Após
algumas reformas educacionais implantadas a partir de 1890, os educadores tiveram a inclusão de
noções de Psicologia nos currículos dos cursos de Pedagogia e mais tarde, em 1906, a inauguração
do laboratório de Psicologia Pedagógica. Com essas contribuições ao cenário da Psicologia
brasileira, essa classe profissional favoreceu uma alternativa ao exercício da profissão desvinculado
da prática médica vigente, cujos interesses eram voltados para os desconfortos psicológicos da elite
econômica da época (PESSOTTI, 1988).
De acordo com o autor, há ainda duas outras fases: a universitária, iniciada após a criação da
USP em 1934, com a formação profissional na da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e a
profissional, instituída após a lei 4.119/62 que dispõe sobre os cursos de formação e regulamenta a
profissão de psicólogo no país. Após sua criação, a Lei foi complementada com o Parecer 403/62 do
Conselho Federal de Psicologia, que instituía o currículo mínimo para os cursos de Psicologia e
com o Decreto 53.464/64 que a regulamentou (BRASIL, 1962; BRASIL, 1964; PESSOTTI, 1988).
Para Nico & Kovac (2003, p. 52):
Foi no período universitário que a Psicologia passou a ter um desenvolvimento autônomo desvinculado da utilização médica e independente da aplicação escolar. Alguns aspectos marcam essa fase da Psicologia no país: a vinda de professores estrangeiros; a formação de bibliotecas mais ricas nesta área de conhecimento; a criação de uma carreira em Psicologia, mesmo que em cursos destinados à Filosofia, Ciências Sociais ou Pedagogia; o surgimento da influência da Psicologia norte-americana, ao lado da influência da Psicologia européia, principalmente francesa; a associação de uma Psicologia geral e experimental para a formação filosófica ou sociológica, o que implicou a ênfase em aspectos teóricos e metodológicos da Psicologia nos cursos de Filosofia e Ciências Sociais; a vinculação de uma Psicologia educacional à formação em Pedagogia que teve
como conseqüência a dedicação aos testes nos cursos de Pedagogia; a criação de Sociedades de Psicologia e o surgimento da Psicologia Industrial ou do Trabalho.
De acordo com um relato da Madre Cristina Sodré Dória, uma das pioneiras da Psicologia
no Brasil, a criação da lei que regulamenta a profissão foi fundamental para consolidar e demarcar o
campo de atuação profissional junto à população brasileira e revela as vicissitudes e estratégias para
a sua implantação.
E, em 1962, tivemos que lutar muito para fazer a Lei 4.119, que regulamentou a profissão, por isso ela é tão mal feita. Ela mistura a criação do curso de psicologia com o programa. Tivemos que misturar, porque, se não fosse assim, não passaria. Se os psiquiatras descobrissem que nós íamos regulamentar a profissão do psicólogo, iam ter um acesso. Nessa época, era como se pedagogos ou filósofos quisessem se intrometer no campo clínico, que era dos médicos. Eles se sentiam extremamente lesados. Quando começaram a descobrir que havia um campo para o médico e outro para o psicólogo a situação se resolveu. Hoje a convivência está tão tranqüila que nem nos lembramos do quanto foi penosa essa instalação da profissão de psicólogo. (CRPSP, 1997)
Nota-se que todas as contribuições desse período foram importantes para o fortalecimento
da categoria e prepararam o terreno com as condições favoráveis ao estabelecimento da fase
seguinte. A partir da fase profissional, os psicólogos do país puderam ter reconhecidos seus direitos
legítimos de exercício profissional, podendo dar início à construção da identidade da categoria.
O currículo mínimo em Psicologia
Como mencionado anteriormente, o primeiro projeto de curso de Psicologia no Brasil foi
implantado em 1932 por meio do Instituto de Psicologia, que tinha o objetivo de coordenar estudos
e pesquisas de Psicologia Geral e Aplicada; atuar como centro de aplicação das técnicas de
diagnose psicológica, prestar serviços de orientação e seleção profissionais; contribuir para os
estudos de aplicação da Psicologia às áreas médica, pedagógica, técnica judiciária, com a
racionalização do trabalho industrial e formar psicólogos mediante cursos teóricos e práticos. As
áreas de ensino eram: Psicologia Geral, Psicologia Diferencial e Orientação Profissional, Psicologia
Aplicada à Educação, Psicologia Aplicada à Medicina e Psicologia Aplicada ao Direito.
(CENTOFANTI, 1982)
Programado para 4 anos, o primeiro curso de Psicologia teve a duração de um semestre2,
dispondo as seguintes disciplinas: Psicologia Geral, História da Psicologia, Estudo do fator psíquico
em Biologia, Metodologia do trabalho experimental em Psicologia, Correntes atuais da Psicologia,
2 Segundo Centofanti (1982), três são as possíveis causas de seu fechamento: falta de recursos orçamentários, pressão
de grupos médicos e pressão de grupos católicos.
Psicologia em face dos dados da teoria do conhecimento, Problemas fundamentais da
Psicopedagogia e Os problemas da psicotécnica (PENNA, 1992; CENTOFANTI, 2004).
Embora tenha durado tão pouco tempo, pode-se antever uma intenção de formação
profissional voltada para o aspecto técnico-científico, com foco na consolidação de pesquisadores.
De acordo com Centofanti (1982), os objetivos na formação do profissional desse primeiro
projeto, perpassavam pelas seguintes etapas:
1ª. Far-se-á o estudo da Psicologia Geral, baseado nas ciências biológicas e naturais, que serão estudadas no que interessam à Psicologia (biologia, anatomia e fisiologia, física e química). Nesse período, far-se-á também o estudo da propedêutica filosófica e de problemas particulares da lógica.
2.ª O estudo da Psicologia diferencial e coletiva, baseado também nas ciências naturais, completado, entretanto, pelas ciências sociais e filosóficas (antropologia, sociologia, economia política, história da filosofia, teoria do conhecimento, teoria das ciências naturais, nas partes que apresentam interesses para a formação de psicologistas).
3ª Por fim, os cursos de Psicologia Aplicada e os cursos monográficos de especialidades psicológicas e ciências afins (psicologia da criança, história da psicologia, capítulos de ética e de estética, etc.).
Além dessas diretrizes gerais que até hoje se fazem presentes nos projetos políticos
pedagógicos dos cursos de Psicologia, outras orientações complementares já indicavam estratégias
de aprimoramento às aulas teóricas, que até hoje vigoram, tais como:
As aulas serão complementadas pelos exercícios práticos de laboratório e pelas aulas de argüição mútua dos alunos (seminário).
Os alunos com suficiente preparo teórico entrarão como internos nos serviços de aplicações especializadas, nas várias sessões. (CENTOFANTI, 1982)
Outra iniciativa marcante na história do processo formativo dos psicólogos brasileiros, foi a
implantação do primeiro curso de Psicologia Clínica em 1952 pela Madre Cristina Sodré Dória,
desenvolvido na Faculdade de Filosofia do Instituto Sedes Sapientiae. Novamente a contribuição de
seu relato demonstra as barreiras iniciais que precisaram ser vencidas.
Em 1952, nós criamos, oficialmente, o primeiro curso de psicologia clínica do Brasil. Não havia ainda a regulamentação da profissão. Nesse momento começou a briga com os psiquiatras, porque na visão deles, como é que nós, que éramos filósofos ou pedagogos, poderíamos fazer psicoterapia? (...) E a briga com os professores da faculdade era enorme, eles publicavam artigos nos jornais contra mim. (...)
Em vez de entrar nessa briga, eu abri um curso para os alunos da Faculdade de Medicina que quisessem estudar psicoterapia. Os alunos não tinham preconceito, porque não tinham o que perder, só tinham a ganhar. (CRPSP, 1997)
Seis anos mais tarde, em 1958, inicia-se o curso de graduação em Psicologia da Faculdade
de Filosofia da Universidade de São Paulo (MALUF, 1996; CRPSP, 1997).
A partir deste ponto, outros cursos de psicologia começaram a surgir, mesmo sem existir na
época a normatização da profissão e o currículo mínimo (MALUF, 1996; CRPSP, 1997;
MANCEBO, 1999), evidenciando a necessidade de parâmetros que regulamentassem o exercício e
a formação profissional.
Para se ter idéia das disciplinas existentes antes da proposta do currículo mínimo, uma grade
curricular apresentava as seguintes disciplinas: Psicologia Experimental, Psicologia Evolutiva,
Técnicas Psicológicas, Psicoterapia Menor, Psicopatologia, Biologia Geral e Psicologia Clínica.
Esse curso foi ministrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 1954, em
regime de pós-graduação na Faculdade de Filosofia. (FINKLER, 1971)
De modo a evitar uma expansão desordenada dos cursos, em 1962, fixou-se oficialmente no
Brasil, por meio do Parecer 403/62 que complementa a Lei que regulamenta a profissão, o currículo
mínimo, que de acordo com Dimenstein (2000, p. 103) “conserva claramente a influência positivista
que ainda hoje pode ser observada”. Dentre as recomendações presentes no Parecer que propõe o
currículo mínimo, destacamos:
Dadas, porém, as características muito especiais da nova profissão, é preciso que desde logo se procure elevar êsse (sic.) curso a um nível de qualificação intelectual e de prestígio social que permita aos seus diplomados exercer os misteres do trabalho psicológico de modo eficaz e com plena responsabilidade. Para isto, é imperativo que se acentue o caráter científico dos estudos a serem realizados, que só assim há, de ser possível assegurar a Psicologia, a posição de relêvo (sic.) que lhe cabe no concerto das chamadas profissões liberais e, pari
passu, evitar as improvisões (sic.) que, do charlatanismo a levariam, fatalmente ao descrédito.
O estabelecimento do currículo mínimo, desde sua proposta inicial pretendia ser “uma
‘primeira aproximação’ a ser progressivamente enriquecida com os dados que a sua própria
execução decerto oferecerá.” (BRASIL, Parecer nº 403, 1962).
A elaboração desse primeiro currículo contemplou um conjunto mínimo de disciplinas
comuns ao bacharelado e a licenciatura (duração de quatro anos letivos), e incluía as disciplinas
específicas para formação de psicólogo (cinco anos letivos) em todo o país.
O Quadro 1 ilustra o modo como as disciplinas estavam organizadas conforme o tipo de
formação, de acordo com a recomendação do Parecer 403/62.
Quadro 1
Disciplinas do Currículo Mínimo Cursos de Psicologia
Núcleo Comum (Bacharel /
licenciatura /
formação)
Licenciatura (Parecer n° 292/62)
Formação de Psicólogo Formação de
Psicólogo (Estágios 500 h)
Fisiologia Psicologia da Aprendizagem
Obrigatórias
Psicologia do Trabalho
Psicologia Escolar
Psicologia Clínica
Técnicas de Exame Profissional e Acon-
selhamento Psicológico
Estatística
Psicologia Geral e Experimental
Psicologia da Personalidade
Psicologia do Desenvolvimento
Psicologia Social
Psicopatologia Geral
Elementos de Administração
Escolar
Ética Profissional
Optativas - Três
Psicologia do Excepcional
Didática
Dinâmica de Grupo e Relações Humanas
Pedagogia Terapêutica
Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem
Prática de Ensino (estágio)
Teorias e Técnicas Psicoterápicas
Seleção e Orientação Profissional
Psicologia da Indústria
Fonte: Adaptado da Resolução do Parecer 403/62 (BRASIL, Parecer 403, 1962).
O núcleo comum envolvia conhecimentos instrumentais como os da Fisiologia e Estatística,
e os conhecimentos próprios da Psicologia tais como: Psicologia Geral e Experimental, Psicologia
da Personalidade, Psicologia Social e Psicopatologia Geral.
As matérias destinadas à formação do Psicólogo, compreendiam duas disciplinas
obrigatórias e três optativas, mais o estágio curricular supervisionado que tenha pelo menos 500
horas de atividades práticas em situação de atuação real.
As obrigatórias eram: Técnicas de Exame e Aconselhamento Psicológico e Ética
Profissional e as optativas, que tinham a finalidade de atender as especificidades da atividade do
psicólogo na escola, na empresa e na clínica podiam ser: Psicologia do Excepcional, Dinâmica de
Grupo e Relações Humanas, Pedagogia Terapêutica, Psicologia Escolar e Problemas da
Aprendizagem, Teorias e Técnicas Psicoterápicas, Seleção e Orientação Profissional e Psicologia da
Indústria.
É possível perceber que houve nesse momento da constituição curricular da Psicologia, um
direcionamento voltado a uma formação profissional em três áreas distintas, a saber, a Psicologia
Clínica, Psicologia Escolar e Psicologia do Trabalho.
Críticas ao modelo formativo do currículo mínimo
A constituição de um currículo leva inevitavelmente a refletir sobre o modelo ideal de
profissional que se quer formar. Nos projetos pedagógicos, nas propostas curriculares e nas
discussões das comissões de especialistas, a palavra “modelo” é substituída por “perfil / perfil
profissional”. Esse “perfil profissional” varia conforme o contexto social vigente, conforme as
classes sociais consideradas legítimas de sua época. Dessa forma, a proposição do currículo mínimo
para graduação em Psicologia atendeu o caráter positivista das produções da época em que foi
criado.
A Comissão de Especialistas3 do MEC (ABEP, 2008a) apresentou em 1996 um documento
demonstrando a necessidade de reformulação do currículo mínimo, tendo como fundamento
algumas das discussões listadas a seguir:
• O conjunto de matérias definidas na Portaria anexa ao Parecer 403 do CFE define uma formação caracterizada pela justaposição de diferentes concepções e métodos, sem a desejável integração dos conhecimentos que poderia instrumentalizar a atuação profissional ou o desenvolvimento de estudos e pesquisas;
• A maioria das instituições de ensino superior tem interpretado de forma restritiva a função do currículo mínimo no desdobramento das matérias, limitando a flexibilidade para adaptação dos cursos as condições de evolução da Psicologia;
• Mesmo as propostas mais avançadas de currículos plenos ainda não explicitam canais apropriados para permitir urna formação integrada dos vários domínios da Psicologia enquanto campo científico e campo profissional;
• As instituições formadoras encontraram várias formas de articular os “três cursos”, muitas vezes tratados como três “habilitações”, sem respeitar a imposição de um bacharelado como pré-requisito para os dois outros cursos. Essa diversidade de entendimento também se observa em pareceres emitidos pelo próprio Conselho Federal de Educação;
• O currículo mínimo reflete, como não poderia deixar de ser, o estágio profissional e de produção científica dos anos cinqüenta.
Além dos pontos aí elencados que incluem desde a defasagem do currículo mínimo e os
problemas inerentes à própria consistência de proposição, há argumentos que questionam as
3 As duas principais questões levantadas pela comissão foram: a) “o que é básico na formação em Psicologia?” e,
portanto, deveria ser mantido nos diferentes projetos pedagógicos do país, e b) “como configurar possibilidade de
concentração em domínios da Psicologia, garantindo flexibilidade e inovações nos currículos, sem correr os riscos de
uma especialização precoce?” (BASTOS, 2001).
práticas das instituições formadoras, discutiu-se também o perfil de profissional que se desejava,
para, a partir daí, repensar uma nova forma de atuação profissional.
Para a Comissão de Especialistas, o modelo profissional do currículo mínimo indicava uma
formação fundamentalmente embasada na prática clínica.
Podemos inferir, dos documentos legais e dos resultados de sua legislação, que o Psicólogo a ser formado deveria ser um profissional cuja atuação ocorreria principalmente na clínica, a partir de uma formação centrada no conhecimento das disciplinas científicas que possibilitam o conhecimento da personalidade e da psicopatologia. Dessa forma, as demais disciplinas teriam o papel de compor as condições de contorno para aquela formação, isto é, de prover as informações das áreas que contextualizam o conhecimento da personalidade da psicopatologia e suas aplicações. (ABEP, 2008a)
Continuando, destacam-se as críticas à hegemonia do modelo profissional que, apesar de ser
preparado para outras áreas, prioriza uma atuação de caráter clínico liberal privatista. Assim, por
exemplo, a Psicologia Aplicada a Educação, em função do viés clínico existente no currículo
mínimo, tem resultado na prevalência desse tipo de trabalho entre os psicólogos na área
educacional. Como resultado, o psicólogo escolar deu lugar ao psicólogo clínico na escola.
Ademais, essa postura auxilia a perpetuação da representação social que o público tem da
Psicologia e do psicólogo. (ABEP, 2008a)
Esse modelo formativo constitui um “entrave para o exercício de atividades em novas áreas
que envolvem atividades para as quais o psicólogo não foi preparado como é caso do campo da
assistência pública à saúde.” (DIMENSTEIN, 2000, p. 104)
Aprofundando as discussões sobre o caráter clínico liberal privatista, encontraremos que este
se funda em dois fortes modelos presentes na pós-modernidade, o modelo biomédico e o modelo
neoliberal que de modo a se perpetuarem socialmente, uniram forças mobilizando uma importante
engrenagem da máquina capitalista. Para Traverso-Yepez (2001), isso tem gerado um aumento
irracional das despesas na área da saúde, bem como fortes interesses desse mercado em manter seu
espaço hegemônico que enfatiza a cura, promovendo a “medicalização da vida”, ao invés de dar
ênfase à prevenção4.
A influência que até hoje o modelo biomédico tem sobre a Psicologia, pode ser
compreendida quando se busca os seus primórdios no Brasil.
No período Institucional proposto por Pessotti (1988) o saber psicológico se vincula a
instituições do conhecimento. Os médicos são os primeiros profissionais que se vinculam
explicitamente à Psicologia científica, tendo como interesse principal os problemas da elite 4 Estas práticas mostram também a tendência na valorização de da biotecnologia aplicada, fortalecendo a indústria
farmacêutica e a de equipamentos médicos supersofisticados, que constituem duas das maiores fontes de lucro no
mundo. (TRAVERSO-YEPEZ, 2001)
econômica, da oligarquia rural e da pequena burguesia da época, com a finalidade de incorporar os
desdobramentos práticos possíveis ao exercício profissional da Medicina. (PESSOTTI, 1988;
MALUF, 1996; NICO & KOVAC, 2003).
Para Traverso-Yepez (2001, p. 50), “o modelo biomédico tornou-se hegemônico durante o
século passado, estando presente na maioria das práticas de saúde.” A postura presente neste
modelo enfoca principalmente a doença em detrimento da pessoa.
Segundo Remem (1993, apud TRAVERSO-YEPEZ, 2001), embora essa abordagem seja
útil ao sistema médico, ela desconsidera o valor da experiência subjetiva do paciente como uma
forma de fazê-lo reconhecer sua identidade e seu poder pessoal. Tal visão limita tanto a
compreensão que se tem sobre a saúde e a doença como componentes de um mesmo processo,
quanto a sensibilidade de perceber os recursos positivos do paciente que poderiam ajudar-lhe em
seu processo de recuperação da saúde.
Percebe-se que esse modelo limita as possibilidades de atuação para a promoção da saúde,
pois tem ação remediativa e não preventiva, ou seja, espera primeiro a doença aparecer para depois
tratá-la.
De maneira complementar, o estudo de Bernardes demonstra mediante análise de
documentos de domínio público o processo de construção das práticas profissionais e formativas em
Psicologia no Brasil. Evidencia também que a formação em Psicologia em nosso país apresenta
uma estreita relação entre a retórica do discurso científico, a lógica neoliberal hegemônica no atual
contexto sociopolítico e o conseqüente aumento da mercantilização do ensino no país.
(BERNARDES, 2004)
A lógica neoliberal abafa qualquer possibilidade de reflexão sobre os processos políticos e sociais, utilizando retóricas diversas para obter seu intento: de fundamentalismos religiosos a concepções científicas. Também modula seu discurso para o público-alvo que quer atingir, imperando de forma totalitária no social. (BERNARDES, 2004, p. 23)
Esse efeito do embotamento reflexivo se intensifica em uma sociedade carente de uma
tradição educacional sólida, e no caso brasileiro, no período da implantação neoliberalista, após o
golpe de 64, o analfabetismo predominava.
O discurso da necessária intervenção reformista sobre o sistema educacional do Brasil,
fundamentava-se, na visão dos militares na necessidade da urgente modernização, para possibilitar a
internacionalização da economia. Além do acelerado processo industrial, o controle das políticas
educacionais tornar-se-ia central na ditadura. A propaganda da Reforma, para a aceitação da opinião
pública, era a de conseguir as mesmas possibilidades de ingresso na universidade para todos.
Baseando-se nessa lógica reformista da urgente industrialização brasileira, outros segmentos
sociais além do setor produtivo seriam necessários ao suporte do “Milagre Econômico”, que, de
acordo com Bock (1984), visava à modernização acelerada, traduzindo-se pela constante busca do
máximo de eficiência com um mínimo de dispêndio e racionalização de recursos, para obter o
máximo de resultados.
Sendo assim, a lógica do sucesso ou fracasso ligaada ao neoliberalismo está associada à
eficiência do indivíduo e encontra solo fértil na proposta interventiva da Psicologia antes mesmo da
formulação do currículo mínimo (BERNARDES, 2004; PESSOTTI, 1988). A produção só pode ser
satisfatória se o indivíduo for eficiente e o psicólogo muitas vezes foi visto como o profissional
responsável por ajustar essa “eficiência individual”. (ASBAHR & LOPES, 2006).
No aspecto da mercantilização do ensino, Bock (2004) contribui afirmando que a própria
LDB traz indícios do processo de abertura neoliberal do ensino superior. Segundo a autora, trata-se
de uma proposta aberta e ao mesmo tempo controladora, como nunca se viu; autonomia e controle
caracterizaram a nova LDB. Interessante notar que antes da expedição da LDB em 1996, em 1995,
o Banco Mundial propõe, segundo Morosini (1997 apud BOCK, 2004), quatro estratégias para a
educação superior nos países em desenvolvimento: o aumento do número de instituições de
Educação Superior, incluindo-se a ampliação das IES privadas; diminuição de incentivos para que
as instituições públicas diversifiquem suas fontes de financiamento, diminuindo a carga sobre o
Estado; redefinição da função do Estado, procurando formas de propiciar a “autonomia” e a
responsabilidade institucional; e adoção de políticas que sejam de qualidade com eqüidade. Outro
ponto a salientar é a sugestão do Banco Mundial em proporcionar plano de empréstimos e doações
para que todos os estudantes que demonstrem capacidade possam cursar a educação superior.
Bernardes (2004) resume esse panorama, mencionando que todo esse processo ocorreu com
a associação do Estado junto ao setor empresarial, buscando definir estratégias para massificação e
barateamento dos cursos privados. Essas duas lógicas se conectam, transformando a própria
educação em um processo mercantil, uma mercadoria, um produto manipulável para cada
indivíduo.
Ao se analisar Bock (2004), percebe-se que as Diretrizes Curriculares vieram ao encontro
desses propósitos, serviram como mecanismo eficiente para inserir a educação do ensino superior
brasileiro do discurso, para a prática neoliberal.
Por fim, outro mecanismo de ampliação e estímulo à concorrência está nas diretrizes curriculares. Uma das medidas citadas pelo Banco Mundial era exatamente: fomentar o estabelecimento de instituições com programas e objetivos diferentes. Isto permitiria a livre concorrência entre as escolas que passam a ter currículos muito diferentes e passam a ser escolhidas pelas suas propostas. É a
concorrência que se abre, a competição que se acirra e a busca pela mercadoria mais atraente se torna a finalidade das escolas (BOCK, 2004).
Tal flexibilização do ensino, conforme alguns autores, irá refletir-se no conteúdo da
proposta das novas Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Psicologia, como
veremos mais adiante.
As condições preparatórias à criação das Diretrizes Curriculares na Psicologia
O modelo formativo baseado no currículo mínimo tem sido utilizado de maneira quase que
inalterada ao longo de 34 anos. Tanto o currículo, quanto o profissional resultante, tem sido alvo de
intensos debates, análises e pesquisas (ABEP, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d; NICO & KOVAC,
2003; BRASIL, 1999, SBP, 2001a, 2001b; BERNARDES, 2004; YAMAMOTO, 2000; BRASIL,
2004; ANPEPP, 2001).
As discussões sobre a formação do psicólogo foram intensificadas após o ano de 1976, em
que a Relatora do Parecer 1.677/76 sustenta a unicidade do curso de Psicologia com as três
habilitações, tal como configurado no parecer 403/62 e após. Posteriormente, o debate é retomado
em âmbito governamental com o documento construído pela CCEE (Comissão de Especialista do
MEC), solicitando o Estudo para Revisão Curricular para o curso de Psicologia, tendo o professor
Pfromm Netto como relator (BERNARDES, 2004).
Segundo Bock (2004), os psicólogos tinham saído de seus consultórios particulares para
atender a população pobre, na rua, nas cooperativas, nos sindicatos; começava o interesse para atuar
em outros campos como nos ambulatórios de saúde mental. Na produção científica, questionava-se
o modelo de neutralidade e imparcialidade que não considera a denúncia da desigualdade social.
A partir desse ponto, uma série de documentos provenientes principalmente das diversas
entidades ligadas à Psicologia, começam a surgir.
De acordo com a pesquisa de Bernardes (2004), foram encontrados 30 documentos, sendo
14 de Entidades em Psicologia, 5 da Comissão de Especialistas do MEC, 5 pareceres do Conselho
Nacional de Educação, 4 Resoluções do CFP, uma Portaria Ministerial e 1 Edital do MEC.
Um documento importante, segundo o autor citado, abre esse período, a Carta de Serra
Negra em 1992. Sua importância é atribuída ao conteúdo e às circunstâncias em que foi produzido,
pois 98 dos 103 representantes de cursos de Psicologia no país compareceram à solicitação do
Conselho Federal de Psicologia e trabalharam na sua elaboração.
Nesse período, outros fatos importantes marcaram época e contribuíram para o processo de
modificação das estruturas educacionais no país. Entre eles, a criação do Conselho Nacional de
Educação, a nova lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, efetivação da constituição
da Comissão de Especialistas, em caráter permanente. (BERNARDES, 2004).
Toda essa trajetória e esforço culminaram na extinção da validade do currículo mínimo,
revogado pela nova LDB, na instauração das Diretrizes Curriculares Gerais e na criação de três
propostas de Diretrizes Curriculares para os cursos de Psicologia, que de acordo com Bernardes
(2004), envolveram muitos jogos de interesses e poder.
A discussão sobre as particularidades das propostas de diretrizes apresentadas pela
Comissão de Especialistas do MEC/SESu e pela Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional
de Educação, levantaram diversas considerações, após um primeiro documento ter sido distribuído
às faculdades de Psicologia e em reuniões regionais com a presença de representantes da Comissão
para ser debatido (BOCK, 2004).
O documento criou um movimento nacional contrário a ele. Algumas entidades e
instituições questionavam o caráter tecnicista atribuído à formação; outras, o perfil formativo
centrado no bacharel em Psicologia; ainda, o excesso de normas em alguns pontos e a falta destas
em outros considerados importantes; outras traziam a crítica pelo delineamento de um caráter
submisso da figura do profissional, centrado em uma atuação paramédica. Além das críticas
relativas às propostas, houve também as críticas diante das reformulações dos documentos, que em
alguns casos, retirava pontos considerados importantes do documento confeccionado pela Comissão
de Especialistas do MEC (BERNARDES, 2004; BOCK, 2004).
Estas dissensões entre Comissão de Especialistas, entidades de Psicologia e comunidade
Acadêmica resultaram em reformulações das proposições originais, ampliando as possibilidades do
perfil formativo.
Um claro e aberto exemplo dessas discussões pode ser visto no “Documento contrário à
versão do CNE das Diretrizes Curriculares” (ABEP, 2008b), também conhecido como Carta
dirigida ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, alertando para impropriedades constantes
do texto final da Resolução que institui as Diretrizes Curriculares para os cursos de Graduação em
Psicologia, em que boa parte das discussões e reivindicações citadas pode ser constatada.
Nos bastidores, de acordo com Bock (2004), um caminhão de som foi posto em frente ao
MEC e depois de muito barulho foram recebidos (ABEP, CFP, CONEP e FENAPSI) pelo Prof.
Cury do SESu garantindo que o Ministro também não queria aquelas diretrizes. Segundo a autora,
as diretrizes relatadas pela profa. Silke Weber não interessavam ao Ministro Paulo Renato, pois
eram muito detalhadas e cheias de condições, não abrindo muitas possibilidades para a
diferenciação entre os cursos, uma das orientações do Banco Mundial. Eram extensas e não eram
consensuais, como resultado, o governo solicitou uma proposta alternativa.
Após essas iniciativas, surge a terceira proposta produzida pelas entidades de Psicologia em
conjunto com o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia organizado pelo CFP no início de
2002, e apresentou sugestões inovadoras diante das anteriores. Para Bernardes:
O documento é mais progressista em relação à formação e à profissão, e constrói um perfil profissional de um(a) psicólogo(a) mais engajado(a) politicamente com as transformações sociais, em detrimento de um lado mais tecnicista (2004, p. 123).
Finalmente, em 2003, após algumas pressões e negociações diretas do Fórum de Entidades
com o Conselho Nacional de Educação, surge uma oportunidade da construção de um documento
mais conciliatório para a definição das diretrizes curriculares.
No relato de Bock (2004), pode-se ter uma noção mais direta dos embates vivenciados.
O Fórum de Entidades estava presente com quase todas as suas entidades na audiência e todas repetiram o mesmo discurso, para que o CNE pudesse compreender que estávamos em uma disputa de posições e visões da Psicologia onde de um lado existiam 300 mil representados pelas entidades do Fórum; do outro poucos professores e pesquisadores que se reuniam na SBP que defendiam outra visão. As entidades fizeram então o esforço final: SBP com dois representantes e ABEP e CFP representando o Fórum, se reuniram em janeiro de 2004 para construírem o consenso. E com isso, chegamos ao final da história: nossas diretrizes foram aprovadas a partir do texto consensuado entre estes representantes. Assim, elas não são, provavelmente, o que ninguém queria, mas eram diretrizes possíveis.
Para Bernardes (2004), apesar de alguns avanços e retrocessos, essa versão possui poucos
pontos distintos da versão do CNE e da CCEE. Esta, em março de 2004 recebeu parecer favorável
do Conselho Nacional de Educação e que é a atualmente utilizada como ponto de partida para a
elaboração dos currículos de graduação em Psicologia.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Psicologia
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Psicologia, ou
simplesmente diretrizes curriculares, surgiram nesse conturbado clima social, político, econômico,
acadêmico e profissional, revelando, ainda que de maneira parcial, o jogo de forças que atuam sobre
a formação universitária.
Até agora tratou-se de analisar as condições em que foram construídas as diretrizes
curriculares, agora, serão apresentadas algumas características que são consideradas centrais nesse
documento. Como não é o objetivo deste trabalho o exaustivo aprofundamento de minúcias do teor
das diretrizes curriculares, para maiores detalhes, recomenda-se a análise do material em sua
íntegra. (CNE, Resolução nº 8/2004).
De acordo com o artigo 2º: “As Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em
Psicologia constituem as orientações sobre princípios, fundamentos, condições de oferecimento
e procedimentos para o planejamento, a implementação e a avaliação deste curso.” (CNE,
Resolução nº 8/2004)
O artigo 3º enumera uma série de princípios e compromissos a serem alcançados ao longo
de formação voltada para a atuação profissional, pesquisa e ensino de Psicologia.
O artigo 4º recomenda que a formação em Psicologia tenha por objetivos gerais dotar o
profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício de algumas competências e habilidades
gerais, tais como: Atenção à saúde, Tomada de decisões, Comunicação, Liderança, Administração
e gerenciamento e Educação permanente.
O artigo 5º apresenta o tema central da proposta das diretrizes Curriculares. Neste ponto, é
construído o mecanismo através do qual os conhecimentos, as habilidades e as competências
desejáveis serão desenvolvidas nos alunos durante o processo formativo.
O Núcleo Comum corresponde aos conhecimentos formativos básicos que devem ser
comuns a todos os cursos de Psicologia e tem a finalidade de propiciar uma formação generalista do
psicólogo. Ele é constituído pela articulação entre as Competências Básicas e os seguintes Eixos
Estruturantes: fundamentos epistemológicos e históricos; fenômenos e processos psicológicos
básicos; fundamentos metodológicos; procedimentos para a investigação científica e a prática
profissional; interfaces com campos afins do conhecimento; práticas profissionais.
As habilidades e competências sugeridas para estes eixos estão relacionadas a
conhecimentos básicos que devem estruturar a formação em Psicologia e devem ser comum aos três
perfis dos formandos: Bacharel em Psicologia, Professor em Psicologia e Psicólogo.
As instituições de ensino superior que oferecem curso de Psicologia devem,
obrigatoriamente, apresentar o perfil de formação do psicólogo, podendo somar a esta oferta os
perfis de Bacharel e Professor de Psicologia. (NICO & KOVAC, 2003).
A formação do Bacharel requer o aprofundamento do domínio da Psicologia como campo de
conhecimento científico e a iniciação da atividade de pesquisa em Psicologia. A formação do
Professor de Psicologia requer o aprofundamento nos níveis de educação infantil, de ensino
fundamental e médio, e nas modalidades de educação especial, educação profissional e educação de
jovens e adultos. E, por fim, a formação de Psicólogo busca garantir o domínio de conhecimentos
psicológicos e a capacidade de utilizá-los em diferentes contextos que demandam a análise,
avaliação, prevenção e intervenção em processos psicológicos e psicossociais e na promoção da
qualidade de vida. (BRASIL, 1999; NICO & KOVAC, 2003).
Além dos itens comuns aos projetos pedagógicos e aos três tipos de perfis formativos, isto é,
a unidade dos cursos de Psicologia, as diretrizes propõem incluir e assegurar a diversidade
formativa de modo a flexibilizar o curso e permitir inovações nos currículos. A essa possibilidade
de diversidade na unidade convencionou-se chamar de Ênfases.
O objetivo com as matérias de Ênfases, na formação de Psicólogo é permitir o
desenvolvimento das competências e habilidades do aluno em algum campo de intervenção da
Psicologia.
Por fim, dentre o conteúdo selecionado, o documento destaca que a formação profissional do
psicólogo deve incorporar um estágio supervisionado estruturado em estágios básicos e específicos,
que atinja pelo menos 15% da carga horária total do curso, para assegurar a consolidação das
competências básicas e específicas adquiridas no decorrer do curso.
Considerações finais
Conforme exposto, a formação em Psicologia em nosso país tem uma história que extrapola
a própria regulamentação da profissão. Era feita de acordo com o entendimento de cada
coordenador, de como deveria ser o estudo dessa ciência.
Constata-se que a formação em Psicologia tem raízes no positivismo, entre a classe médica,
dentro de uma concepção elitista do profissional liberal, eminentemente clínico, pautado no modelo
biomédico que valorizava os sintomas a serem desvendados, interpretados e tratados, em detrimento
do ser humano inserido em um contexto social, ambiental, histórico e político.
As contribuições e os avanços na discussão, apesar dos desgastes e das férreas disposições,
com que muitos lutaram em favor da formação profissional, deram-se graças ao entendimento de
todos, que esse era o momento adequado de promover as mudanças já sentidas há algum tempo pela
categoria profissional.
Nas mais diversas análises com as quais houve contato sobre o assunto, a maior parte dos
autores defendem que se estas não foram as Diretrizes sonhadas por muitos, foram as melhores
Diretrizes possíveis no momento.
Momento de implantação da LDB, de caráter explicitamente neoliberal, visando a gradativa
desincumbência dos compromissos do Estado para com a Educação.
Mudanças oportunas, visto que o modelo biomédico, duramente criticado por diversos
teóricos da área da saúde, que, além do já mencionado, tende a centralizar a saúde no domínio da
Medicina, contrariando as atuais definições de saúde, que não é mera ausência de doença, mas um
estado de completo bem-estar biopsicossocial. Esse intento não é somente possível mediante
atuação da prática médica.
Centrada no modelo biomédico é que a Psicologia Clínica desenvolveu-se no território
brasileiro, chegando algumas vezes a ser confundida com a própria prática psicológica em si.
Com o avanço conceitual na área da saúde, foi possível expandir a noção de que a promoção
à saúde não se faz de modo exclusivo nos consultórios clínicos. O bem-estar em seu sentido mais
amplo ultrapassa fronteiras e trincheiras profissionais, tornando-se algumas vezes penosa a sua
desnecessária demarcação, que muitas vezes se faz por interesses de reserva de mercado, como
visto nesse trabalho.
Outra demonstração da necessidade de mudanças foi a inquietante emergência da figura do
profissional eminentemente técnico, que rondava o cenário profissional da Psicologia. Para afastar
esse temor, as discussões engendradas pelas diretrizes curriculares, valorizaram de modo
estratégico, uma sólida formação teórica em pesquisa, sem a qual haveria num breve futuro, ver
ressuscitar o recém sepultado técnico-psicologista.
Com a finalidade de estabelecer um padrão mínimo de correspondência formativa de
qualidade dentro dos moldes do conhecimento psicológico atual, as diretrizes estruturaram matérias
comuns a todos os cursos no país. Junto com esse direcionamento, e como resultado das reflexões
geradas, o termo “generalista” surge como uma alternativa consciente das instituições formadoras.
Essa opção demonstra de forma clara a oposição à formação de “especialista”, ou seja, supera a
limitação à área específica de conhecimento.
Desta maneira, se de acordo com Bock (2004), os principais objetivos no processo de
proposição das diretrizes curriculares eram: a formação generalista, a indissociabilidade entre
ciência e profissão/técnica e pesquisa, perfil único, variedade de ênfases curriculares, modificação
do perfil e das habilidades e competências desenhadas para a área, pode-se presumir que nenhum
dos esforços dos profissionais organizados foi em vão.
Um outro documento importante para a constituição de um curso de Psicologia é o
conhecido por “Padrões de Qualidade para Cursos de Graduação em Psicologia”. Desenvolvido
pela Comissão de Especialistas de Ensino de Psicologia – MEC/SESu, o documento pretende ser
referência para procedimentos de avaliação dos cursos por parte do Ministério da Educação. Tem
por objetivo estabelecer e definir padrões, critérios e indicadores de qualidade para a criação e
funcionamento dos cursos de graduação em Psicologia. (BRASIL, 2000).
A Psicologia brasileira cresceu com o empenho e engajamento oportuno na defesa da
consolidação de uma profissão plural, que apesar de muitas vezes contrastar consigo mesma, tem
nesse pecado científico a sua maior possibilidade de salvação.
Entretanto, não se pode deixar despercebido, como bem recomendam as concepções holistas
da realidade, o contexto em que se fundam as diretrizes curriculares, já consideradas nesse estudo.
Da mesma maneira que as demais produções existentes em nossa conjuntura social, as
diretrizes não podiam deixar de ter origens na base neoliberalista.
Para Bernardes (2004, p. 9), não há expectativas de mudanças nos debates da formação em
Psicologia, “as tentativas de renovações, ou rupturas não podem obter sucesso em seus movimentos,
pois isso implicaria a destruição do fundacional nesse campo de saber-fazer (disciplinas) e, por
conseqüência, da própria profissão (enquanto controle governamental sobre os saberes).” Ainda
segundo o autor, esses movimentos são cooptados pelo discurso fundacional., indicando que mesmo
aquilo que é produzido para ser usado contra o sistema neoliberal é aproveitado por este a seu favor.
Nesse sentido, a criação das diretrizes curriculares adequou-se à lógica neoliberal, com a
finalidade de criar novos signos, atualizar o discurso de modo a facilitar a aceitação do antigo em
uma nova roupagem, mais estilizada e condizente com a linguagem moderna, mecanismo próprio
do processo neoliberalista anteriormente discutido.
Traverso-Yepez (2001) partilha do mesmo ponto de vista de Bernardes (2004) ao afirmar
que tanto o modelo biomédico, quanto o biopsicossocial compartilham dos pressupostos do
paradigma moderno de cientificidade. Alerta também para o risco diante de uma visão prepotente
do profissional ser “o dono da verdade”, saber o que é melhor para o outro. Desse modo, a ação
interventiva é uma experiência vertical e impositiva do que os “técnicos-científicos” acreditam ser
“práticas saudáveis”.
Apesar das prerrogativas pessimistas/ realistas de não haver ocorrido efetivas mudanças no
cenário formativo da Psicologia brasileira, por conta da base ideológica em que as Diretrizes foram
implantadas pelo Estado, mediante a ação interventiva de organismos financeiros internacionais
com o propósito de inserir o ensino superior na ciranda econômica aproveitando retóricas
científicas, podemos enquanto profissionais conscientes, escolher cursar o caminho percorrido, ao
invés do caminho traçado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Contribuições para reestruturação
curricular e avaliação dos cursos. Documentos sobre formação em Psicologia - 1995. Disponível em: http://www.abepsi.org.br/web/linha_do_tempo/memoria/docs/fr_2001_2. htm. Acesso em: ago. 2008d.
ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Documento contrário à versão do CNE das Diretrizes Curriculares. Documentos sobre formação em Psicologia - 2001. Disponível em: http://www.abepsi.org.br/web/linha_do_tempo/memoria/docs/fr_2001_2.htm. Acesso em: ago. 2008b.
ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Documento da CCEE. Documentos sobre formação em Psicologia - 1996. Disponível em: http://www.abepsi.org.br/web/ linha_do_tempo/memoria/docs/fr_1996_2.htm. Acesso em: ago. 2008a.
ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Estudo para Revisão Curricular para o curso de Psicologia. Documentos sobre formação em Psicologia - 1978. Disponível em: http://www.abepsi.org.br/web/linha_do_tempo/memoria/docs/fr_2001_2.htm. Acesso em: ago. 2008c.
ALBERTI, Sonia. História da Psicologia no Brasil – Origens Nacionais. In: JACÓ-VILELA, Ana M, JABUR, Fábio, RODRIGUES, Heliana de B. C (Orgs). Histórias da Psicologia no Brasil. Rio de Janeiro: UERJ, NAPE, 1999.
ASBAHR, Flávia da S. F. & LOPES, Juliana S. A culpa é sua. Psicologia USP, nº 17 vol. 1, pp. 53-73, 2006.
BARAÚNA. Lia M. P. B. Da História da Psicologia para uma História na Psicologia. In: JACÓ-VILELA, Ana M, JABUR, Fábio, RODRIGUES, Heliana de B. C (Orgs). Histórias da Psicologia no Brasil. Rio de Janeiro: UERJ, NAPE, 1999.
BASTOS, A. V. B. Diretrizes Curriculares para o curso de Psicologia, Comunicação oral. XXXI Reunião Anual de Psicologia – SBP. Outubro. Rio de Janeiro, 2001.
BERNARDES, Jefferson de S. O debate atual sobre a formação em Psicologia no Brasil – permanências, rupturas e cooptações nas políticas educacionais. Tese. Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social – PUCSP. São Paulo, 2004.
BOCK, Ana M. B. A Conformação Histórica das Diretrizes Curriculares. ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. DF: Mesa Redonda, 02/08/2004. Disponível em: http://www.crppe.org.br/. Acessado em: agosto de 2008.
BOCK, Ana M. B. Reforma Universitária: alguns critérios para análise. ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Boletim Especial. Disponível em: http://www.abepsi.org.br/web/boletim-especial.aspx. Acesso em: agosto de 2008.
BOCK, Ana. M. et al. Política educacional e formação profissional do psicólogo. Psicologia: Ciência e Profissão, vol. 4 nº 2, pp 24-33, 1984.
BONELLI, Maria da G. Estudos sobre profissões no Brasil. In: MICELI, S. (Org.). O que ler nas ciências sociais brasileira. São Paulo/Brasília: Editora Sumaré, pp.287-330, 1999.
BRASIL, CASA CIVIL. Subchefia para assuntos jurídicos. Base da Legislação Federal. Lei nº 4.119 de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre os cursos de formação em psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo. Disponível em: https://legislacao.planalto.gov.br/ legisla/legislacao.nsf/. Acessado em 09/08/2008.
BRASIL, CASA CIVIL. Subchefia para assuntos jurídicos. Base da Legislação Federal. Decreto-Lei nº 53.464 de 21 de janeiro de 1964. Regulamenta a Lei nº 4.119, de agosto de 1962, que dispõe sobre a Profissão de Psicólogo. Disponível em: https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/. Acessado em 09/08/2008.
BRASIL, CASA CIVIL. Subchefia para assuntos jurídicos. Base da Legislação Federal. Lei nº 5.766 de 20 de dezembro de 1971. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras providências. Disponível em: https://legislacao.planalto.gov.br/ legisla/legislacao.nsf/. Acessado em 09/08/2008.
BRASIL, CFE – Conselho Federal de Educação. Parecer nº 403/1962. Estabelece o Currículo Mínimo e duração do curso de Psicologia, 1962.
BRASIL, COMISSÃO DE ESPECIALISTAS PARA O ENSINO DE PSICOLOGIA. Proposta de Diretrizes Curriculares para o ensino de graduação em Psicologia. Ministério da Educação, 1999.
BRASIL, Comissão de Especialistas em Ensino de Psicologia – CEEPSI – MEC/SESu. Padrões de Qualidade para Cursos de Graduação em Psicologia. Ministério da Educação – Secretaria de Educação Superior, 2000.
BRASIL, MTE – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Disponível em: http://www.mtecbo.gov.br/. Acessado em 21/07/2008.
BRASIL. Parecer final sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Psicologia. Brasília, 2004.
CATHARINO. Tânia R. Fragmentos da História da Psicologia no Brasil: algumas notações sobre teoria e prática. In: JACÓ-VILELA, Ana M, JABUR, Fábio, RODRIGUES, Heliana de B. C (Orgs). Histórias da Psicologia no Brasil. Rio de Janeiro: UERJ, NAPE, 1999.
CENTOFANTI, Rogério. Radecki e a Psicologia no Brasil. Psicologia: Ciência e Profissão, ano 3, n. 1, 1982.
CENTOFANTI, Rogério. Waclaw Radecki. Mnemosine, vol. 1, nº 0, 2004.
CFP - Conselho Federal de Psicologia. Quem é o psicólogo brasileiro? São Paulo: Edicon, 1988.
COIMBRA, Cecília M. B. Práticas “Psi” no Brasil do “Milagre”: algumas de suas produções. In: JACÓ-VILELA, Ana M, JABUR, Fábio, RODRIGUES, Heliana de B. C (Orgs). Histórias da Psicologia no Brasil. Rio de Janeiro: UERJ, NAPE, 1999.
CRPSP – Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Homenagem: Madre Cristina *1916 +1997 - uma pioneira da Psicologia. Jornal de Psicologia: Seção Cartas, nº 108, nov.dez, 1997. Disponível em: http://www.crpsp.org.br/a_acerv/jornal_crp/108/frames/fr_home nagem.htm. Acessado em 12/08/2008.
DEDECCA, C.S. “Educação e trabalho no Brasil: mais mitos que realidade. In: CUT-SNF. Trabalho e educação num mundo em mudança. Caderno de apoio às atividades de Formação do programa Nacional de Formação de Formadores e Capacitação de Conselheiros. Editora do Autor, 1998.
DEDECCA, Edgar S. de.O nascimento das fábricas. São Paulo, Brasiliense, 1982.
DIMENSTEIN, Magda. A cultura profissional do psicólogo e o ideário individualista: implicações para a prática no campo da assistência pública a saúde. Estudos de Psicologia. nº 5 vol. 1 pp. 95-121, 2000.
ESCH, Cristiane. F. & JACÓ-VILELA, Ana. M. A regulamentação da profissão de psicólogo e os currículos de formação psi. In: JACÓ-VILELA, Ana. M., CEREZZO, A. C. & RODRIGUES, Heliana. B. C. (Orgs.). Clio-psyché hoje: fazeres e dizeres psi na história do Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará/FAPERJ, pp.17-24, 2001.
FINKLER, P. Dados Históricos. Psico. Disponínvel em: http://www.ufrgs.br/museupsi/ dadoshistóricos.htm. vol. 1, pp. 9-12, 1971. Acesso em: ago., 2008.
JACÓ-VILELA Ana M. Formação do psicólogo: um pouco de história. Interações: Estudos e Pesquisas em Psicologia. nº 8 vol.4, pp.79-91. Supl. Jul/dez, 1999.
JACÓ-VILELA. Ana M. Psicologia: um saber sem memória? In: _____, JABUR, Fábio, RODRIGUES, Heliana de B. C (Orgs). Histórias da Psicologia no Brasil. Rio de Janeiro: UERJ, NAPE, 1999.
LANGENBACH, M. & NEGREIROS, T. C. G. M. A formação complementar: um labirinto profissional. In: CFP - Conselho Federal de Psicologia. Quem é o psicólogo brasileiro? São Paulo: Edicon, pp.86-99, 1988.
MALUF, M. R. A Formação do psicólogo brasileiro. Interações, nº 1 vol. 1, pp. 31-45, 1996. MALUF, M. R. Psicólogo brasileiro: formação, problemas e perspectivas. In: Bonfim, E. M. (Org.).
Formações em Psicologia: pós-graduação e graduação. Belo Horizonte: ANPEPP/UFMG, 1994.
MANCEBO, Deise. Formação em Psicologia: gênese e primeiros desenvolvimentos. In: JACÓ-VILELA, Ana M, JABUR, Fábio, RODRIGUES, Heliana de B. C (Orgs). Histórias da Psicologia no Brasil. Rio de Janeiro: UERJ, NAPE, 1999.
MELLO, Sylvia Leser de. Psicologia e profissão em São Paulo. São Paulo: Ática, 1983.
NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República. 2ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
NICO, Yara & KOVAC, Roberta. As Origens das Diretrizes Curriculares Propostas pela Comissão de Especialistas em Psicologia: um breve histórico. ConScientiae Saúde. São Paulo – UniNove, vol. 2, p. 51-59, 2003.
PENNA, Antônio Gomes. História da Psicologia no Rio de janeiro. Rio de Janeiro: Imago, 1992.
PEREIRA, Fernanda M. & PEREIRA NETO, André. O psicólogo no Brasil: notas sobre seu processo de profissionalização. Psicologia em estudo. Maringá, v. 8, n. 2, 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722003000200003& lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 10 agosto de 2008.
PESSOTTI, I. Notas para uma história da Psicologia brasileira. In: CFP - Conselho Federal de Psicologia. Quem é o psicólogo brasileiro? São Paulo: Edicon, pp.17-31, 1988.
SBP – Sociedade Brasileira de Psicologia. COMISSÃO DE ESPECIALISTAS PARA O ENSINO DE PSICOLOGIA. Diretrizes Curriculares para o curso de Psicologia. Debate. XXXI Reunião Anual de Psicologia – SBP. Outubro. Rio de Janeiro, 2001a.
SBP – Sociedade Brasileira de Psicologia. COMISSÃO DE ESPECIALISTAS PARA O ENSINO DE PSICOLOGIA. O Futuro da Psicologia Brasileira, a partir da transformação do curso de graduação, em função das Diretrizes Curriculares. Mesa Redonda – SBP. Dez. São Paulo, 2001b.
SUPERTI, Eliane & JÚNIOR, Jayr. O Governo Provisório e a Regulamentação do Trabalho no Brasil de 1930 a 1934. Hórus Júnior – Revista de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas. Ano 1, nº 1, junho de 2006.
TRAVERSO-YEPEZ, Martha. A interface psicologia social e saúde: perspectivas e desafios. Psicologia em estudo, Maringá, v. 6, n. 2, 2001. Disponível em: http://www.scielo.br/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722001000200007&lng=en&nrm=iso. Acesso em: agosto 2008.
YAMAMOTO, Oswaldo H. A LDB e a psicologia. Psicologia Ciência e Profissão, vol. 20, nº 4, pp. 30-37, 2000.