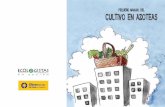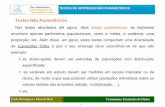Cultivo orgânico de hortaliças não-convencionais da Amazônia
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Cultivo orgânico de hortaliças não-convencionais da Amazônia
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA
RAIMUNDO CLÍSTENES MARQUES DE SOUZA
Cultivo orgânico de hortaliças não-convencionais da Amazônia:
opção para a produção de alimentos e de renda para os assentados do
Sudeste paraense
Marabá - Pará
Abril de 2010.
1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA
RAIMUNDO CLÍSTENES MARQUES DE SOUZA
Cultivo orgânico de hortaliças não-convencionais da Amazônia:
opção para a produção de alimentos e de renda para os assentados do
Sudeste paraense
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade
de Ciências Agrárias do Campus Universitário de Marabá,
da Universidade Federal do Pará, como requisito para
obtenção do grau de Bacharel em Agronomia.
Orientador:
Prof. Dr. Sebastião Lopes Pereira (Universidade Federal do
Pará - UFPA/Campus Universitário de Marabá)
Marabá - Pará
Abril de 2010.
2
Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Biblioteca II da UFPA/CAMAR, Marabá, PA
Souza, Raimundo Clistenes Marques de
Cultivo orgânico de hortaliças não-convencionais da Amazônia: opção
para a produção de alimentos e de renda para os assentados do sudeste
paraense / Raimundo Clistenes Marques de Souza; orientador, Sebastião
Lopes Pereira. — 2010.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do
Pará, Campus Universitário de Marabá, Faculdade de Ciências Agrárias de
Marabá, Marabá, 2010.
1. Hortaliças - Cultivo - Amazônia. 2. Olericultura. 3. Agricultura familiar.
I. Pereira, Sebastião Lopes, orient. II. Título.
CDD: 19. ed.: 635.09811
3
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ
FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA
RAIMUNDO CLÍSTENES MARQUES DE SOUZA
Cultivo orgânico de hortaliças não-convencionais da Amazônia:
opção para a produção de alimentos e de renda para os assentados do
Sudeste paraense
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade
de Ciências Agrárias do Campus Universitário de Marabá,
da Universidade Federal do Pará, como requisito para
obtenção do grau de Bacharel em Agronomia.
Orientador:
Prof. Dr. Sebastião Lopes Pereira (Universidade Federal do
Pará - UFPA/Campus Universitário de Marabá)
Data da Defesa: 26/04/2010
Conceito: Excelente
BANCA EXAMINADORA:
_____________________________________________________ Sebastião Lopes Pereira (Orientador)
Professor Adjunto da Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá (FCAM) - UFPA
______________________________________________________ Andréa Hentz de Mello (1
a Examinadora)
Professora Adjunta da Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá (FCAM) - UFPA
_______________________________________________________ Walter Santos Evangelista Júnior (2
o Examinador)
Professor Adjunto da Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá (FCAM) - UFPA
Marabá - Pará
Abril de 2010.
4
DEDICATÓRIA
À Deus.
A minha avó Maria Marques de Souza (in memóriam).
A minha mãe (Profa. Consola) e ao meu tio Lázaro.
Aos meus irmãos e irmãs.
Ao meu orientador, Prof. Dr. Sebastião Lopes Pereira.
Aos colegas de turma.
5
AGRADECIMENTOS
À Deus.
À Universidade Federal do Pará, pela oportunidade da realização deste curso.
Ao meu orientador, Prof. Dr. Sebastião Lopes Pereira, da Universidade Federal do Pará,
pela paciência, e acima de tudo, pela competência e profissionalismo dedicado a
elaboração do nosso trabalho.
A Pró – Reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Federal do Pará, pela concessão
da bolsa de estudos.
Às bibliotecárias do Campus Universitário de Marabá: Lúcia Cristina Gomes dos Santos e
Olizete Nunes Pereira pela ajuda na elaboração das referências bibliográficas.
Aos colegas de turma: Jailson Mota e Jucelino Bezerra e da turma de agronomia 2007:
Vanessa Kamila e Tatiane Pereira, pela ajuda que foi indispensável.
A todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para a realização deste trabalho.
6
LISTA DE FIGURAS
Página
Figura 1A. Fileira de plantas de bertalha, próxima à cerca de tela, no Local I .... 85
Figura 2A. Planta jovem de bertalha, no Local II ................................................ 85
Figura 3A. Planta de bertalha de hábito de crescimento trepador, no Local I ..... 85
Figura 4A. Sementes de bertalha .......................................................................... 85
Figura 5A. Planta de joão-gomes florida, no Local II .......................................... 85
Figura 6A. Planta de joão-gomes florida, no Local II .......................................... 85
Figura 7A. Plantas de joão-gomes floridas, no Local II ....................................... 86
Figura 8A. Em destaque, sistema radicular de uma planta de joão-gomes
colhida, no Local II .........................................................................
86
Figura 9A. Ao centro, fileira de plantas de vinagreira entre fileiras de plantas
ingá e de girassol, no Local I ............................................................
86
Figura 10A. Planta de vinagreira severamente atacada por cochonilhas, no
Local II ..........................................................................................
86
Figura 11A. Planta de ora-pro-nóbis com hábito trepador, no Local II ............... 86
Figura 12A. Planta de ora-pro-nóbis com muitos espinhos no caule ............... 86
Figura 13A. Planta de ora-pro-nóbis florida, no Local II ..................................... 87
Figura 14A. Planta de ora-pro-nóbis exibindo desenvolvimento vegetativo
exuberante, no Local II .................................................................
87
Figura 15A. Planta de inhame chinês cultivada no Local I .................................. 87
Figura 16A. Fileiras de plantas do inhame chinês, no Local I ............................. 87
Figura 17A. Produção de tubérculos de duas plantas de inhame chinês,
cultivadas no Local I .....................................................................
87
Figura 18A. Planta jovem de cubiu, cultivada no Local II................................... 87
Figura 19A. Planta de cubiu, cultivada no Local II, em produção ....................... 88
Figura 20A. Sementes de cubiu ............................................................................ 88
Figura 21A. Canteiro com plantas jovens de coentro no Local I ......................... 88
Figura 22A. Planta de coentro florida .................................................................. 88
Figura 23A. Frutos de coentro. Ao centro, duas sementes provenientes da
7
divisão de um fruto ao meio .......................................................... 88
Figura 24A. Planta de alfavacão floridas, no Local II ......................................... 88
Figura 25A. Canteiro com chicória, no Local I ................................................... 89
Figura 26A. Planta de chicória no início da floração no Local II ........................ 89
Figura 27A. Plantas de jambu floridas, cultivadas em canteiro, no Local I ......... 89
Figura 28A. Planta jovem de jambu cultivada no Local II .................................. 89
Figura 29A. Planta de jambu florida, no Local II ............................................... 89
Figura 30A. Sementes de jambu com impurezas ................................................. 89
Figura 31A. Ao centro, na bandeja de plástico em destaque, mudas de
manjericão roxo, próximas da época do transplante, no Local II .
90
Figura 32A. Em destaque, canteiro com plantas de manjericão roxo intercaladas
aos grupos de genótipo de alface, rúcula, mostarda e almeirão ........
90
Figura 33A. Canteiro com manjericão verde, no Local II ................................... 90
Figura 34A. Plantas de manjericão verde floridas, no Local II ............................ 90
8
SUMÁRIO
Página
1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 13
2. REVISÃO DE LITERATURA .............................................................................. 16
2.1. HORTALIÇAS DE FOLHAS E DE BROTOS ..................................................... 16
2.1.1. Bertalha .............................................................................................................. 16
2.1.1.1. Aspectos gerais ................................................................................................. 16
2.1.1.2. Exigências de clima e solos .............................................................................. 17
2.1.1.3. Variedades ........................................................................................................ 17
2.1.1.4. Propagação e cultivo .......................................................................................... 17
2.1.1.5. Pragas e doenças ............................................................................................... 18
2.1.1.6. Colheita e comercialização ............................................................................... 19
2.1.2. João-gomes ........................................................................................................ 19
2.1.2.1. Aspectos gerais ................................................................................................. 19
2.1.2.2. Exigências de clima e solos .............................................................................. 20
2.1.2.3. Variedades ........................................................................................................ 21
2.1.2.4. Propagação e cultivo .......................................................................................... 21
2.1.2.5. Pragas e doenças ............................................................................................... 22
2.1.2.6. Colheita e comercialização ............................................................................... 22
2.1.3. Vinagreira ........................................................................................................... 22
2.1.3.1. Aspectos gerais ................................................................................................. 22
2.1.3.2. Exigências de clima e solos .............................................................................. 23
2.1.3.3. Variedades ........................................................................................................ 24
2.1.3.4. Propagação e cultivo .......................................................................................... 24
2.1.3.5. Pragas e doenças ............................................................................................... 25
2.1.3.6. Colheita e comercialização ............................................................................... 25
2.1.4. Ora-pro-nóbis ..................................................................................................... 26
2.1.4.1. Aspectos gerais ................................................................................................. 26
2.1.4.2. Exigências de clima e solos .............................................................................. 27
2.1.4.3. Propagação e cultivo .......................................................................................... 27
2.1.4.4. Pragas e doenças ............................................................................................... 28
2.1.4.5. Colheita e comercialização ............................................................................... 29
2.2. HORTALIÇAS DE RAÍZES E TUBÉRCULOS ......................................................... 29
9
2.2.1. Inhame .............................................................................................................. 29
2.2.1.1. Aspectos gerais ................................................................................................. 29
2.2.1.2. Exigências de clima e solos .............................................................................. 30
2.2.1.3. Variedades ........................................................................................................ 31
2.2.1.4. Propagação e cultivo ................................................................................................. 31
2.2.1.5. Pragas e doenças ............................................................................................... 32 .
2.2.1.6. Colheita e comercialização ............................................................................... 33
2.3. HORTALIÇAS DE FRUTOS .................................................................................... 34
2.3.1. Cubiu ................................................................................................................ 34
2.3.1.1. Aspectos gerais ................................................................................................. 34
2.3.1.2. Exigências de clima e solos .............................................................................. 35
2.3.1.3. Variedades ........................................................................................................ 35
2.3.1.4. Propagação e cultivo ....................................................................................... 35
2.3.1.5. Pragas e doenças ............................................................................................... 36
2.3.1.6. Colheita, armazenamento e comercialização .................................................... 37
2.4. HORTALIÇAS CONDIMENTARES ....................................................................... 38
2.4.1. Coentro ............................................................................................................... 38
2.4.1.1. Aspectos gerais ................................................................................................. 38
2.4.1.2. Exigências de clima e solos .............................................................................. 38
2.4.1.3. Variedades ........................................................................................................ 39
2.4.1.4. Propagação e cultivo ....................................................................................... 39
2.4.1.5. Pragas e doenças ............................................................................................... 40
2.4.1.6. Colheita e comercialização ............................................................................... 41
2.4.2. Alfavacão ............................................................................................................ 41
2.4.2.1. Aspectos gerais ................................................................................................. 41
2.4.2.2. Exigências de clima e solos .............................................................................. 42
2.4.2.3. Propagação e cultivo ....................................................................................... 42
2.4.2.4. Pragas e doenças ............................................................................................... 42
2.4.2.5. Colheita e comercialização ............................................................................... 43
2.4.3. Chicória .............................................................................................................. 43
2.4.3.1. Aspectos gerais ................................................................................................. 43
2.4.3.2. Exigências de clima e solos .............................................................................. 44
2.4.3.3. Variedades ........................................................................................................ 44
2.4.3.4. Propagação e cultivo ....................................................................................... 44
2.4.3.5. Pragas e doenças ............................................................................................... 45
10
2.4.3.6. Colheita e comercialização ............................................................................... 46
2.4.4. Jambu ................................................................................................................. 47
2.4.4.1. Aspectos gerais ................................................................................................. 47
2.4.4.2. Exigências de clima e solos .............................................................................. 47
2.4.4.3. Variedades ........................................................................................................ 48
2.4.4.4. Propagação e cultivo ....................................................................................... 48
2.4.4.5. Pragas e doenças ............................................................................................... 50
2.4.4.6. Colheita e comercialização ............................................................................... 50
2.4.5. Manjericão ......................................................................................................... 51
2.4.5.1. Aspectos gerais ................................................................................................. 51
2.4.5.2. Exigências de clima e solos .............................................................................. 53
2.4.5.3. Variedades ........................................................................................................ 53
2.4.5.4. Propagação e cultivo ....................................................................................... 53
2.4.5.5. Pragas e doenças ............................................................................................... 55
2.4.5.6. Colheita e comercialização ............................................................................... 55
3. MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................... 57
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................. 63
4.1. BERTALHA ........................................................................................................... 63
4.2. JOÃO-GOMES ....................................................................................................... 64
4.3. VINAGREIRA ....................................................................................................... 64
4.4. ORA-PRO-NÓBIS ................................................................................................. 65
4.5. INHAME ................................................................................................................ 66
4.6. CUBIU .................................................................................................................... 67
4.7. COENTRO ............................................................................................................. 68
4.8. ALFAVACÃO ........................................................................................................ 68
4.9. CHICÓRIA ............................................................................................................. 69
4.10. JAMBU ................................................................................................................. 69
4.11. MANJERICÃO .................................................................................................... 70
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 71
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 80
APÊNDICE ................................................................................................................... 84
11
RESUMO:
Dentre as principais implicações negativas do uso indiscriminado de produtos químicos,
principalmente os agrotóxicos, na agricultura moderna, especialmente nas últimas três décadas,
incluem-se as seguintes: (i) surgimento de diversas doenças; (ii) intoxicações de trabalhadores
rurais e (iii) contaminação de alimentos e do meio ambiente. Assim, gradativamente cresce o
número de consumidores que criticam o modelo de agricultura vigente. A agricultura orgânica é
um processo que visa à construção de sistemas agrícolas ecologicamente estáveis e
economicamente produtivos, eficientes no aproveitamento dos recursos naturais de produção e
socialmente bem estruturados. Como resultados são esperados alimentos saudáveis, de elevados
valores nutritivos e livres de resíduos tóxicos, produzidos em harmonia com o meio ambiente.
Existem inúmeras espécies de hortaliças que por não estarem inseridas no contexto comercial de
produção e comercialização em nosso País, são denominadas por alguns autores brasileiros como
hortaliças negligenciadas ou não-convencionais. Na região Amazônica essas espécies oleráceas,
pouco utilizadas em cultivos comerciais e/ou pouco conhecidas em outras regiões brasileiras, são
chamadas de hortaliças não-convencionais da Amazônia (HNCA). Algumas dessas espécies são
originárias da própria região e outras foram introduzidas. Na Amazônia, predominam solos de
baixa fertilidade. Isso, aliado aos climas regionais, quentes e úmidos, compõe ambientes
limitantes ao cultivo de grande parte das hortaliças convencionais. Por outro lado, as HNCA, são
adaptadas a essas condições edafoclimáticas e podem contribuir decisivamente para a melhoria
da dieta das populações da região. Assim, acredita-se que, na Amazônia, se deve incentivar, a
expansão dos cultivos e consumo dessas espécies. Levando-se em consideração o que foi
explicitado, em fevereiro de 2008, a Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá (FCAM)
implantou o projeto intitulado: “Cultivo orgânico de hortaliças não-convencionais da
Amazônia: opção para a produção de alimentos e de renda para os Assentados do Sudeste
paraense‖. Os seus principais objetivos foram: (i) coletar acessos de várias HNCA; (ii) implantar
uma horta orgânica com os materiais coletados; (iii) caracterizar morfologicamente acessos de
algumas espécies de HNCA; (iv) divulgar o uso desse grupo de hortaliças; (v) difundir
informações agronômicas sobre estas espécies; (vi) disponibilizar materiais propagativos destes
vegetais e (vii) incentivar a utilização de hortaliças nativas da região Amazônica. As atividades
do citado projeto foram desenvolvidas em Marabá, PA. Uma horta orgânica foi implantada, em
uma área de cerca de 500 m2, no Campus II da Universidade Federal do Pará, desse município.
Além disso, foi construída uma estrutura rústica para a produção de mudas orgânicas em copos e
bandejas de plástico, no quintal da residência do professor Sebastião Lopes Pereira, da FCAM.
Nesse local também foram cultivadas diversas espécies de HNCA com a finalidade de produzir
materiais propagativos destes vegetais (estacas, sementes e/ou mudas).
Palavras-chave: Hortaliças - Cultivo – Amazônia, Olericultura, Agricultura familiar.
12
ABSTRACT:
Among the main negative implications of the indiscriminate use of chemicals, mainly the
pesticides in modern agriculture, especially in the last three decades, include the following: (i) the
appearance of various diseases, (ii) poisoning of farm workers and (iii) contamination of food and
the environment. Thus, gradually increasing the number of consumers who complain the current
model of agriculture. The organic agriculture is a process that aiming the building of ecologically
stable agricultural systems and economically productive, efficient use of natural resources for
production and socially well structured. As a result are expected healthy foods, with high
nutritional value and free of toxic waste, produced in harmony with the environment. There are
countless species of vegetables that by are not included in the context of commercial production
and marketing in our country, they are called by some Brazilian authors such as vegetables
neglected or no-conventional. In the Amazon region these species oleracea, little used in
commercial crops and/or poorly known in other Brazilian regions, are called no-conventional
vegetable of the Amazon (NCVA). Some of these species are originate from the Amazon region
and others were introduced. In the Amazon, is predominant soil of low fertility. This, allied to
regional climates, hot and humid, comprises limiting environments to cultivation of the most of
conventional vegetables. Moreover, the NCVA, are adapted to these soil and climatic conditions
and may contribute decisively to improving the diet of people in the region. Thus, it is believed
that in the Amazon should be encouraged, the expansion of cultivation and consumption of these
species. Taking into account what was explained, in February 2008, the College of Agricultural
Sciences of Marabá (CASM) implemented the project entitled: "Organic cultivation of Amazon
vegetables no-conventional: option for food production and income to the settlers of the Pará
Southeast.‖ Its main objectives were: (i) to collect access of various NCVA, (ii) to establish an
organic vegetable garden with the materials collected, and (iii) to characterize morphologically
access of some species of NCVA, (iv) to spread the use of this group of vegetables; (v) to spread
agronomic information on these species, (vi) to provide materials propagated of these plants and
(vii) encourage the use of vegetable native from the Amazon region. The activities of this project
were developed in Marabá, PA. An organic vegetable garden was introduced in an area of about
500 m2, on Campus II of the Pará Federal University, in this city. In addition, a rustic structure
was built to produce organic seedlings in cups and plastic trays in the backyard of the residence
of the teacher Sebastião Lopes Pereira, of the CASM. In this place were also cultivated various
species of NCVA in order to produce materials propagated these plants (cuttings, seeds and/or
seedlings).
KEY-WORDS: Vegetables - cultivation - Amazon, olericulture, family farm.
13
1. INTRODUÇÃO
Dentre os vários aspectos negativos relacionados à agricultura moderna incluem-se: a
contaminação ambiental (solos e águas) e dos alimentos, especialmente, por agrotóxicos; o êxodo
rural e a redução da biodiversidade. Como reflexo dos impactos causados pela agricultura
convencional, a sociedade organizada e o poder público estão buscando alternativas de produção
a partir dos recursos naturais sempre levando em consideração a capacidade de renovação e
minimização dos impactos das atividades antropogênicas (FRAXE et al., 2007).
A agricultura orgânica, que visa o estabelecimento de sistemas agrícolas ecologicamente
equilibrados e estáveis, economicamente produtivos, comumente se apresenta como uma boa
opção para o agricultor. Quando bem conduzida esta forma alternativa de agricultura que evita,
ou exclui, o uso de agrotóxicos, compostos sinteticamente, possibilita a produção, a um baixo
custo, de produtos de alta qualidade. Isso aliado ao fato de que, atualmente, com o crescimento da
consciência ecológica, produtos diferenciados oriundos de atividades menos impactantes e
desprovidos de agrotóxicos têm grande aceitação do consumidor, faz com que os alimentos
orgânicos venham ganhando espaço e conquistando um mercado cada vez mais exigente.
Na Amazônia brasileira, como nas demais regiões tropicais úmidas do mundo, parcela
significativa da população sofre de deficiência nutricional, especialmente, em proteínas e
vitaminas. A dieta alimentar da população da Amazônia, em geral, caracteriza-se pelo baixo
consumo de hortaliças. As hortaliças, grupo de plantas ricas em substâncias nutritivas variadas,
podem contribuir decisivamente para amenizar o desequilíbrio nutricional dessas populações.
O baixo consumo de hortaliças na Amazônia pode estar mais relacionado com aspectos
culturais e deficiências educacionais que com o nível de renda. De modo geral, há pouca
conscientização sobre o valor nutricional das hortaliças. Vale lembrar, por outro lado, que a
produção regional é baixíssima. Mais de 90% das hortaliças consumidas na região Amazônica
são importadas de outras regiões brasileiras (CHENG; CHU, 1999).
No Trópico Úmido de baixa altitude, como na Amazônia Oriental, a precipitação
pluviométrica está em torno de 3.000 mm/ano, distribuída em aproximadamente 240 dias de
chuvas de curta duração. A umidade relativa do ar é superior a 80% o ano todo, com a
temperatura do ar oscilando diariamente entre 22oC e 32
oC (CHENG; CHU; POLTRONIERI,
14
2002). Essas condições são limitantes ao desenvolvimento de muitas espécies olerícolas, além de
favorecerem a ocorrência de doenças diversas (PIMENTEL, 1985).
A predominância de solos com baixa fertilidade, na Amazônia, também contribui na
formação de ambientes limitantes ao cultivo de grande parte das hortaliças convencionais.
Existe um grande número de espécies de hortaliças nativas (além das cultivadas e
naturalizadas) no Brasil e, também, na Amazônia. Porém poucas dezenas estão inseridas no
contexto comercial de produção e comercialização. Neste sentido, a comunidade científica passou
a se referir a essas espécies olerícolas excluídas das cadeias produtivas como hortaliças
negligenciadas ou não-convencionais.
Geralmente, as hortaliças não-convencionais se apresentam como uma opção para uma
alimentação saborosa e muito saudável. Essas plantas, muitas vezes esquecidas pela população,
são ricas em vitaminas e minerais e são importantes na complementação de uma alimentação
saudável, principalmente em regiões de comunidades carentes (BARBOSA et al., 2009).
Salienta-se que muitas dessas plantas eram apreciadas e faziam parte das refeições familiares,
mas que foram, aos poucos, sendo esquecidas ou desvalorizadas. O aumento do consumo de
produtos industrializados se apresenta como uma das principais razões do abandono gradual
desses alimentos (BRASIL, 2002).
As hortaliças não-convencionais da Amazônia, tanto as nativas como as introduzidas,
são adaptadas às condições edafoclimáticas da região (CARDOSO, 1997). Ademais, várias
dessas espécies se adaptam aos solos de várzeas da Amazônia, sendo possível produzí-las durante
o ano inteiro (SILVA FILHO citado por SILVA FILHO et al., 2005). Exemplos de espécies
amazônicas: ariá Calathea allouia, feijão-macuco Pachyrhizus tuberosus e taioba-branca
Xanthosoma sagittifolium (CARDOSO, 1997).
O conhecimento, a valorização, a produção e a utilização dos alimentos regionais na
comunidade encorajam o orgulho e a auto-suficiência da mesma, colaborando para a melhoria da
economia local e da qualidade de vida. Assim, com o objetivo geral de obter subsídios para a
implantação de pesquisas direcionadas à construção de tecnologias apropriadas para a agricultura
familiar, em fevereiro de 2008, a Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá (FCAM) implantou
um programa de extensão intitulado: Cultivo Orgânico de Hortaliças. Nesse ano, foi implantada
uma horta orgânica no Campus II da UFPA de Marabá. Nesse local, foram desenvolvidas
15
atividades buscando-se especialmente: (i) coletar acessos de várias hortaliças não-convencionais
da Amazônia; (ii) implantar uma horta orgânica com os materiais coletados; (iii) caracterizar
morfologicamente acessos de algumas espécies de hortaliças não-convencionais da Amazônia;
(iv) divulgar o uso de hortaliças não-convencionais; (v) difundir informações agronômicas sobre
estas espécies; (vi) disponibilizar materiais propagativos destes vegetais e (vii) incentivar a
utilização de hortaliças nativas da região Amazônica.
16
2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. HORTALIÇAS DE FOLHAS E DE BROTOS
2.1.1. Bertalha
2.1.1.1. Aspectos gerais
A bertalha Basella alba L. é uma planta perene da família Basellaceae (PIMENTEL,
1985). Pode ser encontrada na literatura sob B. rubra (BRASIL, 2002), sinônimo mais usual.
Dentre os diversos nomes populares pelos quais a bertalha é conhecida, incluem-se os
seguintes: couve manteiga (Manaus) e espinafre (demais Estados Brasileiros) (PIMENTEL,
1985); baiano, bretalha, couve gorda, couve de cerca e espinafre indiano (BRASIL, 2002).
Existem controvérsias quanto à origem da bertalha. Para Cardoso (1997), por exemplo,
ela pode ser originária da Ásia Tropical, da Índia, ou da Indonésia. É um dos poucos vegetais
produtores de folhas comestíveis que pode ser cultivado em regiões quentes e com pluviosidades
intensas. Nas condições da região Norte do Brasil produz folhas praticamente o ano todo
(CHAVES et al., 2004).
Os ramos tenros e as folhas da bertalha podem ser consumidos em sopas ou saladas. É
excelente fonte de vitaminas A e C, além de ser rica em cálcio e iôdo (Tabela 1).
TABELA 1. Composição química de folhas de bertalha (B. alba) em comparação com a de outras folhosas.
Elementos Bertalha Alface
Couve cozida
Crua Cozida
Calorias 17,0 15,0 - -
Proteínas (g) 1,9 1,7 1,2 1,4
Gordura (g) 0,2 0,2 0,2 -
Carboidratos (g) 3,1 2,7 - -
Cálcio (mg) 64,0 56,0 38,0 336,0
Fósforo (mg) 39,0 34,0 42,0 66,0
Iodo (mg) 1,2 1,0 - -
Vitamina A (U.1.) 1.686,0 1.610,0 545,0 7.627,0
Tiamina ( g) 84,0 71,0 5,0 8,0
Riboflavina ( g) 126,0 117,0 - -
Ácido ascórbico (mg) 166,0 75,0 8,0 44,0
Niacina ( g) 0,7 0,6 - -
Fonte: Winlers (1965) citado por CARDOSO (1997).
17
A bertalha é um importante recurso alimentar para as populações das regiões Norte e
Nordeste. Seu valor nutritivo é equiparável ao da couve Brassica oleracea var. acephala
(PIMENTEL, 1985). É ainda cultivada nos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais (CHAVES
et al., 2004).
2.1.1.2. Exigências de clima e solos
Para um bom desenvolvimento da bertalha é necessário temperaturas elevadas e chuvas
abundantes e bem distribuídas durante o ano (PIMENTEL, 1985). Embora a planta seja exigente
em água, pode ser cultivada em qualquer época do ano, desde que sejam satisfeitas as exigências
nutricionais e de água.
Solos férteis de textura leve a média, bem drenados, são os ideais para o
desenvolvimento da bertalha (CARDOSO, 1997). Para que a planta exiba uma boa produção de
folhas, os solos devem, também, ser ricos em matéria orgânica (CHAVES et al., 2004).
2.1.1.3. Variedades
As variedades atualmente cultivadas no território brasileiro foram introduzidas há várias
décadas e, no decorrer deste tempo perderam sua identidade, não se encontrando, portanto,
variedades definidas e, sim, variedades locais.
2.1.1.4. Propagação e cultivo
Tanto a reprodução sexuada (semente) como a assexuada (estaquia) pode ser usada na
propagação da bertalha. As sementes desta espécie apresentam dormência de ordem mecânica,
pois seu envoltório é muito lignificado (duro). A quebra da dormência é facilmente conseguida se
as sementes forem colocadas em um recipiente contendo água à temperatura de 75oC e deixadas
de molho por um período de 24 horas sendo a seguir semeadas (PAIVA, 1979).
Várias recomendações técnicas para o cultivo da bertalha são semelhantes às da cultura
da couve e da alface Lactuca sativa L. Para Pimentel (1985) o principal fator a ser considerado
para a seleção de um espaçamento para o cultivo da bertalha é o tipo de crescimento da planta.
De acordo com o autor, os espaçamentos recomendados são: 40 cm x 40 cm e 50 cm x 50 cm;
para as variedades com hábito de crescimento determinado e indeterminado, respectivamente. Por
outro lado, Cardoso (1997), reporta que o espaçamento a ser usado nos canteiros depende do tipo
de colheita. Segundo a autora, as recomendações são as seguintes: 30 cm x 30 cm e 30 cm x 50
18
cm; para o arranquio total e para o corte de ramos, respectivamente. Acrescenta ainda que, quando
se usa a propagação por estacas, os ramos escolhidos devem estar maduros e sadios, e devem ser
cortados de modo que as estacas fiquem com quatro gemas.
As condições que as sementes encontram nos solos nem sempre são as ideais para sua
germinação. Fatores como estrutura, aeração, capacidade de retenção de água e grau de
infestação de patógenos podem variar, interferindo neste processo (LOPES et al., 2005).
Para a adubação da sementeira e do canteiro definitivo dentre as recomendações
preconizadas por Cardoso (1997), incluem-se as seguintes: (i) como adubação orgânica devem
ser aplicados 10 l de esterco curtido, de cama de aves ou de curral, por metro quadrado; (ii)
quinze dias após o transplantio, devem ser aplicados, em cada planta, 10 g de uréia, em cobertura
e (iii) no sistema de cortes sucessivos, após cada corte, cada planta deve ser adubada com 10 g de
uréia.
A melhor época de iniciar o cultivo da bertalha é durante o período chuvoso, visto que,
não há necessidade de irrigação (PIMENTEL, 1985).
Os tratos culturais usados no cultivo da bertalha se limitam a capinas para eliminação de
plantas daninhas e promover arejamento do leito do canteiro, bem como a freqüentes regas por
aspersão (GUANABARA, 1972). No método de corte dos ramos, as plantas precisam ser
tutoradas (CARDOSO, 1997).
2.1.1.5. Pragas e doenças
Embora não se tenha constatado a presença de pragas e doenças na berta1ha em Be1ém,
PA, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) a bertalha é atacada por um
pequeno coleóptero (Epilachna paenulata) que perfura as folhas, tornando-as imprestáveis para o
consumo (PIMENTEL, 1985).
Apesar da rusticidade, a bertalha é suscetível ao ataque de fungos, bactérias e
nematóides. Ainda na fase de sementeira, o adensamento das mudas e o excesso de umidade
podem facilitar o ataque de fungos e bactérias do solo, que causam o apodrecimento do colo das
plântulas, conhecido como Damping-off ou mela (CARDOSO, 1997). Segundo a autora, no
plantio definitivo, as plantas estão sujeitas ao ataque do fungo Acrothecium basellae, que causa
necrose nas folhas. Na época chuvosa a planta pode ser afetada pelo fungo Alternaria sp.
19
(PIMENTEL, 1985). A bertalha mostra-se susceptível ao ataque de nematóides (Meloydogine
sp.), que produzem galhas na raiz deformando-a totalmente (PAIVA, 1979). Segundo a autora,
na parte aérea os sintomas evidentes de ataque destes microrganismos são: o amarelecimento
generalizado das folhas, perda de vitalidade e, em casos extremos, morte da planta. Esses
nematóides se apresentam como um grave problema quando o cultivo é realizado em solos
infestados. Assim, caso o ataque seja detectado não convém continuar cultivando no mesmo
lugar, devendo ser feita rotação com outra espécie olerícola não susceptível.
2.1.1.6. Colheita e comercialização
As plantas podem ser arrancadas aos 50 dias pós-transplantio, quando alcançam altura
média de 30 cm a 40 cm, e comercializadas inteiras. Quando se comercializam apenas os ramos,
a coleta se inicia aos 80 dias, cortando-se os ramos com até 30 cm de comprimento, que são
agrupados em molhos (CARDOSO, 1997). A partir daí novas colheitas devem ser feitas a cada
20-30 dias (PAIVA, 1979). A duração da cultura é de 6 a 7 meses (GUANABARA, 1972). A
berta1ha é comercia1izada in natura em maços de aproximadamente 1 kg, no atacado
(PIMENTEL, 1985).
2.1.2. João-gomes
2.1.2.1. Aspectos gerais
O joão-gomes Talinum sp. pertence à família Portulacaceae (ZURLO; BRANDÃO,
1990). Sobre estas plantas, os autores ainda reportam que: (i) há duas espécies conhecidas como
joão-gomes: Talinum patens (Jacq.) Willd e Talinum triangulares (Jacq.) Willd; (ii) dentre os
nomes comuns da primeira espécie, pode-se destacar, entre outros, os seguintes: beldroega-
miúda, benção-de-deus, bredo-major-gomes, caruru, maria-gorda, ora-pro-nóbis-do-miúdo e (iii)
dentre as sinonímias da segunda espécie as mais usuais são: beldroega, beldroega-da-folha-larga,
bredo-major-gomes, bredo-mariangome, carne-gorda, língua-de-vaca, salada-de-negro e
verdolaga.
O joão-gomes é uma espécie herbácea originária da África tropical (CARDOSO, 1997).
Em virtude de ser uma planta ruderal, ocorre em áreas antrópicas, beiras de estradas, encostas
rochosas e no sub-bosque de florestas abertas (ZÁCHIA citado por KINUPP, 2007). Também são
muito comuns em pomares e cafezais (ZURLO; BRANDÃO, 1990).
20
As folhas cozidas e os ramos tenros do joão-gomes podem ser consumidos em saladas,
mas preferencialmente cozidos, refogados, ensopados ou utilizados no fabrico de pães caseiros,
bolos salgados, suflês e cremes (KINUPP, 2007).
No Brasil, o joão-gomes começou a ir para a mesa no tempo da colonização, agradando
a senhores e escravos. Atualmente, é ingrediente importante em alguns pratos regionais das
regiões Norte e do Nordeste, como o caruru. Nessas regiões, o cultivo e o consumo desta
hortaliça são mais expressivos nos Estados do Amazonas e Pará (CARDOSO, 1997). Entretanto,
em grande parte do nosso país é pouco usado na culinária, como muitas outras "ervas daninhas",
caiu no esquecimento (ZURLO; BRANDÃO, 1990).
O valor nutritivo do joão-gomes é considerável. A análise química da matéria seca de
folhas e talos revelou a seguinte composição: próvitamina A (7384 UI); as vitaminas B2 (0,18
mg), B5 (0,72 mg) e C (74,4 mg) (CARDOSO, 1997). Numa pesquisa desenvolvida com a
finalidade de se avaliar esta espécie quanto aos aspectos nutricionais, foram detectados, em base
seca, teores consideráveis (em mg/100 g), de ferro, magnésio e cálcio: 180, 1.310 e 1.120,
respectivamente (JORGE et al. citados por KINUPP, 2007).
2.1.2.2. Exigências de clima e solos
O Talinum sp. é de distribuição predominantemente tropical e subtropical. Tratando-se
de clima quente e úmido da região Amazônica, apresenta um desenvolvimento vegetativo
exuberante e produz sementes férteis, tanto no período seco como no chuvoso, embora, neste
último, torne-se mais suscetível a doenças (CARDOSO, 1997).
Quando se analisa os comentários de alguns autores quanto às exigências do joão-gomes
em relação à umidade do solo, algumas controvérsias são detectadas. Kinupp (2007) reporta que
a espécie é rústica e tolera períodos de secas. Por outro lado, Cardoso (1997), afirma que a planta
é exigente em umidade. A autora recomenda, inclusive, que os solos muito arenosos, por
apresentarem baixa capacidade de retenção de água, devem ser evitados, sendo mais adequados
para o seu cultivo, os areno-argilosos e os de textura média, ricos em matéria orgânica.
21
2.1.2.3. Variedades
É uma espécie pouco estudada, em especial, no que tange ao melhoramento genético,
não sendo relatadas informações sobre o material genético cultivado nas diferentes regiões do
mundo, que geralmente são formas locais selecionadas regionalmente.
2.1.2.4. Propagação e cultivo
O joão-gomes é cultivado em canteiros, sendo a propagação realizada através de
sementes ou estacas. O plantio através de estacas torna-se mais prático e abrevia, em cerca de 30
dias, a colheita. As estacas, ramos maduros com quatro "nós", devem ser enterradas até a metade
no canteiro. São utilizados diferentes espaçamentos pelos agricultores, que variam, usualmente,
de 20 cm x 20 cm a 30 cm x 30 cm. Quando a propagação é feita através de sementes, procede-se
à formação de mudas em sementeiras (canteiros ou copos de plástico), efetuando-se o
transplantio quando as plantas estiverem com quatro a cinco folhas definitivas (CARDOSO,
1997).
Na região Amazônica, esta espécie é plantada em áreas de várzea e terra firme. Nas
primeiras, devido à boa fertilidade natural do solo, não é utilizada fertilização química.
Entretanto, são encontrados cultivos adubados com matéria orgânica. Nas áreas de terra firme
(solos de baixa fertilidade), é comum o cultivo apenas com o uso de adubação orgânica, cuja
fonte é esterco de curral ou esterco de galinha.
A mesma autora anteriormente citada, com relação à adubação para a cultura do joão-
gomes, esclarece: (i) a adubação química com PK é recomendada para os solos de baixa
fertilidade; (ii) uma indicação genérica para os solos de baixa fertilidade é: 200 g de superfosfato
simples e 60 g de cloreto de potássio por metro quadrado do canteiro; os adubos devem ser
incorporados no canteiro, junto com a adubação orgânica, uma semana antes do plantio das
estacas ou das mudas; (iii) após o pegamento das mudas devem-se efetuar aplicações de
nitrogênio em cobertura ou em pulverizações; (iv) as adubações nitrogenadas, em cobertura,
devem ser realizadas quinzenalmente, na base de 3 g a 5 g de N/planta e (v) no caso de aplicações
de N, através de pulverizações, estas devem ser semanais, com uma solução contendo 1 g a 3 g de
uréia/litro de água, dependendo do desenvolvimento das plantas.
No início do ciclo vegetativo, há necessidade do controle das invasoras. Posteriormente,
a folhagem da planta recobre toda a área do canteiro, impedindo o surgimento de plantas
22
indesejáveis. Também a escarificação do solo é benéfica às plantas. Esta prática consiste no
revolvimento da terra superficialmente com o garfo ou outro instrumento improvisado, para
facilitar o arejamento e a penetração da água no solo. É imprescindível antes da aplicação do
adubo nitrogenado em cobertura. Durante o período de colheita, um trato cultural que deve ser
realizado é a poda drástica das plantas, deixando-as apenas com dois "entrenós", para que as
brotações seguintes sejam vigorosas e uniformes.
No período seco, as irrigações diárias são indispensáveis, ou mesmo no período chuvoso,
no caso de estiagem prolongada.
2.1.2.5. Pragas e doenças
Em vários cultivos de joão-gomes, na Amazônia, foram encontrados pequenos besouros
(coleópteros) de cores variadas, que se alimentam das folhas, provocando danos leves às plantas.
Quanto a doenças, tem-se detectado a ocorrência de pequenas manchas escuras na
folhagem e nas hastes próximas ao solo, em cultivos nos Estados do Amazonas e Pará,
verificando-se com mais freqüência na época chuvosa. Das partes atacadas foi isolado o fungo do
gênero Colletotrichum.
2.1.2.6. Colheita e comercialização
A colheita inicia-se seis a oito semanas após o plantio, podendo perdurar por,
aproximadamente, 70 dias (CARDOSO, 1997). A comercialização no atacado é feita em grandes
maços de ramos, de peso igual ou superior a 500 g, e, no varejo, os maços são de peso inferior e
variável.
2.1.3. Vinagreira
2.1.3.1. Aspectos gerais
A vinagreira Hybiscus sabdariffa L. recebeu este nome popular em virtude do
característico sabor ácido de suas folhas e cálices folhais (BRASIL, 2002). Nas diferentes regiões
do País, essa planta pode ser encontrada com outros nomes, como: rosela, na Região Sul e na
Bahia; caruru-da-guiné, quiabo-azedo e quiabo-de-angola em Minas Gerais; quiabo-rosado,
quiabo-roxo e caruru-azedo em São Paulo; azedinha, no Maranhão e em Minas Gerais
(CARDOSO, 1997).
23
A origem da vinagreira é muito discutida. Alguns autores citam a África tropical como
seu centro de origem, outros afirmam ser a Índia. Entretanto, no meio científico, a primeira
hipótese é mais aceita (MARTINS et al., 2000). Esta espécie foi introduzida no Brasil como uma
planta produtora de vinho e vinagre (ZURLO; BRANDÃO, 1990).
A vinagreira é uma planta dicotiledônea, autógama, pertencente à família Malvaceae
com diversas utilidades de uso. Seus frutos são utilizados na fabricação de geléias, pastas,
marmelada, picles, licores e vinhos. Todavia, no Brasil, a importância desta espécie é decorrente
da utilização das folhas comestíveis na alimentação. Sua maior popularidade como hortaliça
verifica-se no Estado do Maranhão, onde, tradicionalmente, faz parte da culinária local, estando
entre as dez primeiras em volume comercializado (CARDOSO, 1997). Suas folhas cruas podem
ser utilizadas em sucos, saladas picadas finamente como couve, temperadas com sal e óleo. As
folhas maduras são consumidas refogadas. No Maranhão, costuma-se cozinhá-las, finamente
picadas e, então, temperá-las com gergelim, camarão seco, alfavaca e sal: o cuxá (BRASIL,
2002). Suas folhas entram no preparo de uma outra comida típica dos maranhenses, o "arroz de
vinagreira".
Várias outras utilidades da vinagreira são conhecidas. Na Ásia e na África, as fibras
têxteis, sedosas e resistentes, extraídas do caule, são utilizadas na indústria têxtil, em especial na
fabricação de cordoalhas (CARDOSO, 1997). A raiz dessa planta, amarga e tônica, pode ser usada
no preparo de aperitivos (CORRÊA citado por MACHADO; REGO, 2004). Segundo o mesmo autor:
suas sementes, diuréticas e tônicas, podem ser empregadas como forrageiras e na alimentação
humana. Ademais, alguns povos africanos as utilizam também como afrodisíacas.
Do ponto de vista nutritivo, as folhas da vinagreira constituem valiosa fonte de vitaminas
(A e B1) e de sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), além de fornecerem vários aminoácidos
essenciais (isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, valina, arginina e
histidina), importantes para formação das proteínas (CARDOSO, 1997). É importante fonte de
proteínas, podendo substituir a proteína animal (CHEN et al. citados por MACHADO; REGO, 2004).
2.1.3.2. Exigências de clima e solos
Numa abordagem sobre as condições edafoclimáticas para o cultivo da vinagreira
Cardoso (1997) destaca, entre outros, os seguintes pontos: (i) a planta pode cultivada em uma
ampla faixa de condições ambientais, porém, as regiões quentes e com precipitações anuais entre
24
800 mm e 1.600 mm bem distribuídas são mais adequadas para o seu cultivo; (ii) a espécie
apresenta reação ambifotoperiódica, ou seja, floresce em dias curtos e dias muito longos, mas
permanece na forma vegetativa em dias de 16 horas e (iii) para a cultura, os solos bem drenados,
profundos, não compactados e com bom teor de matéria orgânica são mais adequados, visto que
facilitam a penetração das raízes da planta, que podem atingir profundidades consideráveis.
2.1.3.3. Variedades
De modo geral, o que prevalece, são formas locais selecionadas regionalmente,
conforme as finalidades de uso. No Brasil, mais especificamente nas regiões Nordeste e Norte,
são conhecidas: a vinagreira de folhagem verde (mais comum) e a vinagreira de folhagem roxa.
Ambas possuem folhas comestíveis, mas a primeira é mais usada nos cultivos para a produção de
folhas.
2.1.3.4. Propagação e cultivo
A propagação da vinagreira é feita através de sementes ou de estacas. Contudo, a
propagação por estacas é o método mais comum. Deve-se retirar as estacas antes do
florescimento da planta. Após a retirada das folhas, devem ser plantadas em solo devidamente
preparado. O espaçamento utilizado deve ser no mínimo de 1,0 m x 1,0 m, tanto para o plantio
em sulco, como em covas.
Embora seja uma planta rústica, a vinagreira se ressente com as variações de temperatura
(ZURLO; BRANDÃO, 1990). Segundo os autores, a espécie aprecia solos férteis, ricos em
matéria orgânica, de textura média e bem drenados. Numa abordagem sobre o manejo da
fertilidade do solo para o cultivo dessa Malvaceae, Cardoso (1997) cita que em solos ácidos, é
necessária a correção e que a adubação química deve ser feita de acordo com a análise do solo. A
autora afirma que o uso de matéria orgânica também é recomendado, e preconiza que devem ser
aplicados 3 kg e 1,5 kg por cova, de esterco de curral e de aviário, respectivamente.
Em regiões onde as precipitações anuais encontram-se dentro da faixa adequada para a
vinagreira (800 mm a 1.600 mm) e são bem distribuídas, o plantio é realizado no início da
estação chuvosa, quando o suprimento de água é suficiente para o desenvolvimento da cultura.
Ocorrendo estiagem prolongada, torna-se necessária a irrigação artificial, que deve ser utilizada
também no plantio em períodos secos. O estresse hídrico é prejudicial à produção de folhas,
influenciando, também, no desenvolvimento reprodutivo.
25
As capinas são necessárias à manutenção da cultura livre de invasoras, e devem ser
realizadas freqüentemente até que as plantas cubram as áreas de solo ao seu redor.
2.1.3.5. Pragas e doenças
De modo geral, a vinagreira é pouco afetada por pragas. Atribui-se à planta ação
inseticida. Contudo, há registros de que coleópteros (besourinhos) e formigas-cortadeiras podem
atacar a cultura.
A ocorrência da podridão do caule e do colo, causada pelo fungo Phytophythora
parasitica var. sabdariffa, é um problema sério nas regiões produtoras de fibra têxtil, onde a
maioria das cultivares utilizadas são susceptíveis à doença (CARDOSO, 1997). Para a autora, o
ataque de fungos do gênero Oidium é comum nas condições da região do cerrado brasiliense.
No início da década de 90, foram detectadas numerosas galhas, nos sistemas radiculares
de plantas de vinagreira, coletadas num pequeno plantio no município de São José de Ribamar,
no Estado do Maranhão. As plantas parasitadas apresentavam, quando novas, clorose foliar e
lento desenvolvimento e as plantas adultas não apresentavam sintomas da doença, embora seu
sistema radicular estivesse altamente infestado, caracterizando uma reação de tolerância ao
patógeno (SILVA, 1994). Segundo o autor, os exames dos tecidos hipertrofiados revelaram a
presença de numerosas fêmeas e ootecas de Meloidogyne incognita.
2.1.3.6. Colheita e comercialização
No cultivo da vinagreira para uso como hortaliça, as folhas são coletadas logo que a
planta atinge suficiente desenvolvimento vegetativo. O ciclo cultural para a produção de ramos é
de 60 a 90 dias. A colheita é feita manualmente, retirando-se os ramos e atando-os em maços para
a comercialização.
O estádio reprodutivo (floração e frutificação) torna-se importante quando o cultivo da
vinagreira destina-se ao aproveitamento das flores, frutos e sementes. Também para fabricação de
fibras, pois os caules são colhidos após a frutificação. Neste caso, o ciclo cultural é de 150 a 180
dias (CARDOSO, 1997).
26
2.1.4. Ora-pro-nóbis
2.1.4.1. Aspectos gerais
O ora-pro-nóbis Pereskia sp. pertence à família Cactaceae (ZURLO; BRANDÃO,
1990). O nome ora-pro-nóbis é originário do latim, é frase de uma ladainha e significa "roga por
nós" (ANDERSEN; ANDERSEN, 1989).
Tanto a espécie Pereskia aculeata Mill. como a Pereskia grandiflora, são conhecidas
sob a denominação de ora-pro-nóbis (ZURLO; BRANDÃO, 1990). A denominação do gênero é
uma homenagem ao cientista francês Nicolas Claude Fabri de Pereisc. No primeiro nome
científico, o termo aculeata vem do latim e significa espinho ou agulha (WIKIPÉDIA, 2010).
Dentre os nomes comuns dados às espécies, no Brasil, pode-se destacar, entre outros, os
seguintes: groselha-da-américa, groselheira-das-antilhas, groselheira-de-barbados, lobrobó
(ZURLO; BRANDÃO, 1990).
Na literatura, encontram-se diferentes informações sobre a or0igem e ocorrência de
espécies do gênero Pereskia. Almeida Filho e Cambraia (citados por SOUZA et al., 2009) citam
que a P. aculeata é nativa da América Tropical, mas é largamente encontrada na Índia Oriental.
Estudos mostram que essas espécies ocorrem somente em regiões mésicas ou levemente áridas.
Andersen e Andersen (1989), por exemplo, afirmam que essa cactácea é característica das
formações xerófilas do Nordeste do Brasil, mas ocorre também em condições semelhantes na
Bolívia, Paraguai e Argentina (Norte).
O ora-pro-nóbis é uma planta rústica de fácil reprodução e cultivo. Sua importância
maior em nosso País é como hortaliça folhosa. No Brasil, é conhecida de longa data. Consta de
receitas da época do ciclo do ouro (ZURLO; BRANDÃO, 1990). De acordo com os autores, ser-
viu, como outras ervas consideradas daninhas, para matar a fome de escravos e seus descendentes
alforriados.
Embora tenha um alto potencial de utilização, o ora-pro-nóbis, em nosso País, no
conjunto de hortaliças não-convencionais, é cultivado de forma marginal e rudimentar (SOUZA
et al., 2009). Essa cactácea é freqüentemente plantada nos quintais, principalmente onde a
precipitação é muito irregular (ANDERSEN; ANDERSEN, 1989).
A composição nutricional das folhas e frutos de P. aculeata é apresentada na Tabela 2.
27
Tabela 2. Composição nutricional de folhas e frutos de Pereskia aculeata por 100 g de massa
Composição Folhas Frutos
Proteínas 17 a 25 g 1,0 g
Lipídeos 6,8 a 11,7 g 0,7 g
Carboidratos - 6,3 g
Fibras 9,1 a 9,6 g 0,7 a 9,4 g
Cálcio 2,8 a 3,4 mg 174,0 a 206,0 mg
Fósforo 1,8 a 2,0 mg 26,0 mg
Ácido ascórbico 23 mg 2,0 a 125 mg
Magnésio 1,2 a 1,5 mg - Fonte: Adaptado de Morton (1987) citado por SOUZA et al., 2009.
As folhas de P. aculeata Mill. contêm altos teores de proteínas, ferro e cálcio (Tabela
2). Também possuem quantidades apreciáveis de vitamina A (KERR citado por KINUPP, 2007);
de mucilagem e de lisina (SOUZA et al., 2009). Estes dados sobre a composição química das
folhas aliado ao fato delas apresentarem paladar agradável e serem boas substitutas de verduras
do tipo do espinafre ilustram a importância do seu emprego na alimentação como hortaliça
folhosa (ANDERSEN; ANDERSEN, 1989).
2.1.4.2. Exigências de clima e solos
Em climas variando de tropical a subtropical o ora-pro-nóbis exibe bom
desenvolvimento (ANDERSEN; ANDERSEN, 1989). Conforme foi citado anteriormente, a
planta é rústica. No estádio adulto, tolera geada (KINUPP, 2007). As plantas do gênero Pereskia
suportam secas prolongadas, chuvas contínuas e geadas brandas (MITSIOTIS, 2003). Segundo o
autor, no inverno de 2000, no município de Itararé, SP, arbustos de 10 anos de idade suportaram
dezesseis geadas. A planta é resistente ao déficit hídrico (SOUZA et al., 2009).
Verificam-se divergências na literatura quanto às exigências do ora-pro-nóbis quanto aos
solos no que tange tanto as características físicas como as químicas. Andersen e Andersen (1989),
por exemplo, afirmam que a planta exige pouco quanto ao tipo de solo, mas desenvolve-se e
produz melhor naqueles profundos e permeáveis. Segundo os autores, ela é igualmente pouco
exigente quanto à fertilidade. Por outro lado, Kinupp (2007) reporta que a espécie requer solos
férteis, ricos em matéria e orgânica e não se desenvolve bem em solos altamente drenados e
arenosos.
2.1.4.3. Propagação e cultivo
A propagação do ora-pro-nóbis pode ser feita pela semente, de fácil germinação, ou por
estacas, que pegam muito bem (ANDERSEN; ANDERSEN, 1989). A reprodução por sementes é
28
potencialmente importante para o desenvolvimento de programas de melhoramento genético. No
Brasil, a planta produz mais flores e frutos na região Nordeste.
Sobre os procedimentos a serem adotados para a instalação e no manejo (tratos
culturais) da cultura de Pereskia aculeata Mill., Andersen e Andersen (1989), recomendam, entre
outros, os seguintes: (i) devido à necessidade que tem de se apoiar em árvores e arbustos, é
conveniente interplantar o ora-pro-nóbis com outras fruteiras mais arbóreas; (ii) o espaçamento
pode variar de 5 x 2 m até 5 x 5 m; (iii) para o seu plantio devem ser confeccionadas covas com
as seguintes dimensões: 40 x 40 x 40 cm; (iv) as covas devem ser adubadas com 5 kg de esterco
curtido; (v) os cultivos são importantes no primeiro ano de desenvolvimento; (vi) para o controle
de plantas daninhas, após o primeiro ano, deve-se fazer apenas roçadas periódicas da área
cultivada e (vii) adubar cada planta com 5 kg de esterco curtido e 200 g de superfosfato por ano.
A planta se desenvolve bem tanto na sombra como a pleno sol (WIKIPÉDIA, 2010).
Sobre a implantação e o manejo da cultura do ora-pro-nóbis, Mitsiotis (2003) afirma: (i)
a espécie se desenvolve bem em densidades de plantios entre 2.500 e 10.000 plantas por hectare;
(ii) a irrigação serve para que as plantas se desenvolvam com maior velocidade, mas dependendo
das mudas usadas e da época em que se faz o plantio, ela se torna desnecessária e (iii) a Pereskia
sp. vive muitos anos; apesar de não poder afirmar o seu tempo de vida, já encontrei plantas com
mais de dez anos de idade.
2.1.4.4. Pragas e doenças
Andersen e Andersen (1989) enfatizam a rusticidade do ora-pro-nóbis quanto aos
aspectos fitossanitários. Segundo os autores, as pragas são de pouca importância e as doenças
raramente ocorrem.
Um resumo do depoimento de Mitsiotis (2003), quando questionado sobre as pragas que
atingem o ora-pro-nóbis, em uma entrevista concedida ao jornal ―O Estado de Minas", em 29 de
maio de 2003, será citado na seqüência. As plantas que eu cultivo, foram atacadas por um
coleóptero com cerca de 2-3 cm de comprimento, durante as floradas de dezembro e de janeiro.
Estes insetos perfuraram vários botões florais, antes da abertura das flores. Após a abertura dos
botões, se alimentaram das pétalas das flores. Entretanto, os danos não foram significativos.
Também observei o ataque de pulgões nos meses de chuvas. Os insetos atacaram, especialmente,
as folhinhas jovens. Os ramos atacados por esses insetos foram estimulados a emitirem brotações.
29
Embora tenha afetado a forma do arbusto, o ataque dessa praga não reduziu o rendimento de
folhas, flores e frutos.
2.1.4.5. Colheita e comercialização
A planta do ora-pro-nóbis emite continuamente numerosos ramos, especialmente quando
é sistematicamente podada. Assim, em condições normais, é possível a colheita das folhas
durante todos os meses do ano. Na feira de Sabará, MG, um pacote de 200gramas da planta, já
picada em tiras mais grossas que couve, sai por R$ 0,80 (REIS, 2003).
2.2. HORTALIÇAS DE RAÍZES E TUBÉRCULOS
2.2.1. Inhame
2.2.1.1. Aspectos gerais
Percebe-se em várias literaturas uma grande confusão quanto à classificação do inhame,
inclusive em nível científico. Neste trabalho, o nome inhame é usado para designar o gênero
Colocasia que pertence à família das aráceas, seguindo a indicação de vários dos principais
trabalhos publicados em nível nacional. Dentro desse gênero a Colocasia antiquorum e a
Colocasia esculenta são as espécies de maior projeção econômica (ABRAMO, 1990). Segundo o
autor, esta última espécie é apenas um aperfeiçoamento da primeira.
No Brasil, o inhame é comumente conhecido como: inhame-taiá, quicaré, coió-rosa
(BRASIL, 2002); taro, inhame-de-porco, inhame-chinês, inhame-roxo, inhame-branco e inhame-
da-Costa (ABRAMO, 1990).
A espécie Colocasia esculenta é originária de regiões quentes do sudeste asiático
(FILGUEIRA, 2000). A planta está na lista das culturas mais antigas de que a humanidade tem
notícia. É cultivada há mais de 2.000 anos em regiões de clima tropical e subtropical (ABRAMO,
1990). Segundo o último autor mencionado, foram os escravos, vindos da costa africana, que
trouxeram a planta para o Brasil. Por essa razão, ela é também conhecida como inhame-da-Costa.
O inhame então passou a ser cultivado apenas em fundos de quintal para uso doméstico. Suas
folhas eram consumidas como espinafre, e os tubérculos eram destinados à alimentação de
porcos, daí o nome inhame-de-porco, como também é conhecido em algumas regiões de nosso
30
País. Atualmente, a planta é encontrada nativa principalmente em regiões onde havia antigas
plantações de cana-de-açúcar que utilizavam mão-de-obra escrava, tanto no Brasil como no resto
do nosso continente.
Os inhames são plantas rústicas da família Araceae, que exibem alto rendimento e valor
nutricional. Dos inhames podem ser consumidas as folhas e pecíolos, porém o consumo
preferencial é o das brotações secundárias (filhotes). Os rizomas do inhame são ricos em amido
(PIMENTEL, 1985). Além do consumo in natura, seus rizomas podem ser usados na panificação,
produção de álcool, colas e medicamentos (CARDOSO, 1997).
2.2.1.2. Exigências de clima e solos
O inhame se originou em países asiáticos de clima quente. Entretanto, pode se adaptar às
mais diversas condições climáticas. Atualmente é cultivado na União Soviética e na Manchúria a
8 graus abaixo de zero (ABRAMO, 1990).
As faixas ideais de temperatura e de precipitação pluviométrica, para o desenvolvimento
do inhame, estão entre 25 e 30oC e 1.800 e 2.500 mm, respectivamente (PIMENTEL, 1985). Vale
ressaltar, que a planta necessita muito mais de umidade do que de calor exagerado (ABRAMO,
1990). Considerando que o clima ideal para a boa produção do inhame é o quente úmido,
depreende-se que as condições climáticas de grande parte da região Amazônica são favoráveis ao
seu cultivo.
As margens de rios, igarapés e lagos ou os sub-bosques nas áreas já cultivadas com
espécies perenes, podem ser usadas para o cultivo do inhame, visto que a espécie tolera tanto o
excesso de umidade como o sombreamento (CARDOSO, 1997). Se cultivado em terrenos onde
possa receber muito sol, o inhame produz mais tubérculos (ABRAMO, 1990). Em terrenos
sombreados, ele produz mais folhas.
O inhame adapta-se a variados tipos de solos. Entretanto, os solos preferidos pela
maioria das cultivares de inhame são aque1es de textura média e ricos em matéria orgânica
portanto, friáveis mas que retenham um certo grau de umidade (PIMENTEL, 1985). A acidez
deve ser de 5,5 a 6,5. Os solos com altos teores de argila não são recomendados, visto que não
favorecem a respiração das raízes. Para se obter uma grande produção de rizomas, o ideal é o
cultivo do inhame em beiras alagadas, "quer sejam de rios, represas ou lagos, pois em tais lugares
31
o inhame se torna vegetação permanente, possibilitando a colheita permanente de rizomas sem
muitas preocupações com tratos culturais (ABRAMO, 1990).
A cultura do inhame é pouco exigente em nutrição; porém, em solos de fertilidade
mediana ou baixa, sugere-se aplicar 20 kg de N, 140-160 kg de P2O5 e 80-100 kg de K2O por
hectare, no plantio e 40 kg/ha de N, em cobertura (FILGUEIRA, 2000). Em geral, nos solos de
terra firme da Amazônia (baixa fertilidade), efetua-se adubação de plantio (na cova) com matéria
orgânica, fósforo e potássio, aplicando-se também calcário (CARDOSO, 1997). A adubação
nitrogenada é feita em cobertura, parceladamente.
2.2.1.3. Variedades
São poucas as cultivares, nos locais em que tradicionalmente já se cultiva o inhame. O
inhame Chinês é o mais plantado em Minas Gerais e em São Paulo (FILGUEIRA, 2000). Na
região Amazônica, indica-se o Curumim (clone desenvolvido no INPA) que, além de precoce, é
de extraordinária produtividade (CARDOSO, 1997).
2.2.1.4. Propagação e cultivo
A parte tuberosa dos inhames compõe-se de um rizoma central circundado por rizomas
laterais, revestidos de uma túnica fibrosa, de coloração roxo-escura, sendo a polpa branca
(FILGUEIRA, 2000).
Para o plantio do inhame, segundo Cardoso (1997), devem ser adotados, entre outras, as
seguintes recomendações:
- como materiais de propagação podem ser usados os rizomas principais, pedaços destes
ou mesmo os rizomas secundários;
- o material de plantio deve ser retirado de plantas que tenham completado o ciclo
vegetativo;
- os rizomas com peso acima de 30 g são os mais indicados, para se obter maiores
rendimentos;
- em cada cova, coloca-se apenas um rizoma-semente, na posição vertical;
- para manter a umidade, coloca-se uma camada de palha de arroz ou capim.
Por outro lado, para Filgueira (2000), o ideal é plantar os rizomas laterais, inteiros, com
o broto terminal bem desenvolvido, em sulcos com 7 cm de profundidade. Vale salientar que, os
rizomas secundários quando se encontram em início de brotação são chamados de "rebentos",
"filhos", ou "filhotes" (PIMENTEL, 1985). O espaçamento aconselhável é de 1,0 m entre as
linhas e 2,0 m de distância entre as plantas (ABRAMO, 1990).
32
O plantio do rizoma-semente do inhame deve ser efetuado no início das chuvas
(dezembro a janeiro), na região Amazônica. Isto se o solo for seco e não for possível irrigar.
Entretanto, se o solo for capaz de reter umidade suficiente para a brotação e desenvolvimento da
planta, não haverá restrição quanto ao plantio em qualquer época (PIMENTEL, 1985).
Quanto aos cuidados no manejo de uma cultura de inhame, poucos são necessários,
devendo-se efetuar capinas, irrigações e amontoa (FILGUEIRA citado por QUINTELA; LEAL;
VASCONCELOS, 1987).
A capina é o trato cultural mais importante no cultivo do inhame. Abramo (1990) cita
que uma cultura de inhame deve ser capinada quatro vezes. Segundo o autor: (i) a primeira capina
deve ser feita após a brotação dos rizomas (mudas), nessa ocasião, deve ser feita também a
primeira amontoa; (ii) antes da formação do dossel deve-se efetuar a segunda capina e (iii)
quando as folhas começam a secar, por efeito do acúmulo de amido nos rizomas, deve-se efetuar
mais duas capinas. Não se deve capinar a lavoura, a partir do início da fase de maturação, para se
reduzir a ocorrência de inhame aguado (SANTOS, 1987).
A amontoa é indispensável para que o rizoma não se torne clorofilado (PIMENTEL,
1985). Ademais, facilita a formação de rizomas laterais. Dependendo do tipo de solo e da
intensidade das chuvas, podem ser efetuadas até três amontoas (CARDOSO, 1997). Esta prática
influencia bastante na produtividade.
A lavoura deve ser irrigada semanalmente até a germinação. A partir daí somente deve-
se irrigar quando a cultura apresentar severa carência hídrica (SANTOS, 1987). A irrigação se faz
necessária em áreas com período de estiagem definido (PIMENTEL, 1985).
2.2.1.5. Pragas e doenças
Ao que parece o inhame produz uma substância repelente, haja vista não se ter notícia de
danos causados a ele por insetos (PIMENTEL, 1985). Por outro lado, Cardoso (1997), afirma que
as larvas de besouros, como os de Tarophagus proserpina (Kirk.), podem construir galerias nos
rizomas, inviabilizando-os para a comercialização e consumo.
Na região Amazônica não existem trabalhos sobre as doenças da cultura do inhame,
entretanto, em outras regiões os fungos dos gêneros Phyllosticta, Phytophythora e Cercospora
33
causam-lhe manchas nas folhas; os rizomas são atacados por fungos dos gêneros Esclerotium,
Fusarium e Phytium (PIMENTEL, 1985).
Os nematóides formadores de galhas (Meloidogyne spp.) podem causar sérios prejuízos
ao inhame, quando cultivados em áreas infestadas. Além da redução da produtividade, deformam
os rizomas, que se mostram com inúmeras brotações laterais em forma de dedos (CARDOSO,
1997).
2.2.1.6. Colheita, armazenamento e comercialização
O ciclo do inhame até a colheita é de 7-9 meses (FILGUEIRA, 2000). Para o autor, o
ponto ideal de colheita é quando a planta se apresenta madura, com as folhas amareladas ou
secas. Na colheita, os rizomas podem ser arrancados com o auxílio de uma enxada ou enxadeco
procurando-se não ferí-los. Os rizomas devem ser destacados da planta, lavados e arrumados em
camadas e postos para secar em local arejado (CARDOSO, 1997). O período de secagem deve
ser de 2-3 horas. Depois de secos, efetua-se o "toilette", ou seja, o corte da parte aérea, a
eliminação das radicelas e a retirada de algumas túnicas (PIMENTEL, 1985). Esta prática elimina
o aspecto natural, "cabeludo", e, conseqüentemente, melhora o aspecto do produto.
Conjuntamente com a "toilette", deve ser feita também, a seleção dos rizomas mais apropriados
para a comercialização, os livres de danos mecânicos ou atacados por insetos e com peso
variando entre 100 e 200 g (CARDOSO, 1997). É viável o armazenamento de rizomas em
galpões ventilados, arranjados em camadas finas sobre prateleiras (FILGUEIRA, 2000).
A produtividade do inhame no Estado do Pará, em solos de várzea com adição de
calcário, pode alcançar até 63 t/ha (CARDOSO, 1997).
Em várias regiões brasileiras, o inhame colhido é classificado e comercializado em sacos
telados de 20 kg (SANTOS, 1987).
34
2.3. HORTALIÇAS DE FRUTOS
2.3.1. Cubiu
2.3.1.1. Aspectos gerais
O cubiu Solanum sessiliflorum Dunal é uma solanácea produtora de frutos (PAIVA,
1999). É popularmente conhecido também como topiro e tupiro, no Peru; e cocona, na Colômbia,
Peru e Venezuela (RIGO, 2008). Entre as suas sinonímias no Brasil, incluem-se: maná cubiu
(SILVA FILHO, 1998); tomate-de-índio, no Estado de Pernambuco (CARDOSO, 1997). A
espécie é originária da Amazônia Ocidental. Para Rigo (2008), ela se originou no Alto Orinoco e
foi domesticada pelos ameríndios. Está amplamente distribuída na região equatorial úmida
brasileira, peruana e colombiana (SILVA FILHO et al. citados por LOPES et al., 2003).
Na Amazônia, o cubiu é usado pelas populações tradicionais como alimento,
medicamento e cosmético (NODA; PAIVA; BUENO, 1984). Bastante nutritivo e de sabor e
aroma agradáveis, são apenas algumas das muitas qualidades do fruto cubiu. É rico em ferro,
niacina (vit. B5), ácido cítrico e pectina (INN; PAHLEN; SILVA FILHO et al. todos citados por
LOPES et al., 2003).
O cubiu não é fruta boa de se comer de ―bocada‖, mas vai bem em sucos e como
tempero de cozidos de peixe e frango (RIGO, 2008). Sobre a utilização do cubiu como alimento,
Silva Filho (1998) esclarece: (i) batido em liquidificador com água, leite ou associado com outras
frutas com açúcar ou adoçante, produz um suco delicioso; (ii) 10 quilos da fruta produz 7,5 litros
de suco puro; (iii) é ótimo para doces, geléias, compota, bolos e sorvetes; (iv) pode ser utilizado
em caldeirada de peixe, frango ou carne vermelha; (v) refogado em azeite acrescenta sabor
especial na pizza de mussarela e atum e (vi) pode ser acrescentado ao vinagrete. O fruto do cubiu
pode ser consumido como tira gosto de bebidas (NODA; PAIVA; BUENO, 1984).
Por conter um alto teor de niacina, o cubiu é considerado uma planta medicinal. A
vitamina está envolvida em processos enzimáticos no nosso corpo, inclusive no metabolismo de
gorduras (RIGO, 2008). Assim, o fruto pode ser usado no controle do colesterol, triglicérides,
anemia, diabetes, pressão alta, enxaqueca, depressão, ácido úrico; ademais, é diurético e tônico
sexual (SILVA FILHO, 1998). Para o autor, esse fruto também é muito rico em fibras, fósforo,
vitamina C e pectina. A pectina é uma substância vegetal muito utilizada para dar ponto em doces
35
e geléias. Além disso, é amplamente usada no controle do diabetes. Os índios peruanos Waonrani
utilizam as folhas, galhos e raízes das plantas jovens, fervidas e maceradas, para tratar de
mordidas de aranhas e cicatrizar ferimentos externos (NODA; PAIVA; BUENO, 1984). Para os
autores, o cubiu pode também ser utilizado no tratamento da anemia e da pelagra. Embora alguns
autores questionem várias dessas qualidades atribuídas à planta, porém algumas já foram
comprovadas cientificamente. Rigo (2008), por exemplo, afirma que na revista do Instituto
Adolfo Lutz foi publicado um estudo sério que comprova o seu efeito antiglicemiante em ratos.
2.3.1.2. Exigências de clima e solos
O cubiu é uma planta que cresce bem em regiões de clima quente e úmido com
temperatura média entre 18 e 30ºC e umidade relativa de 85% no decorrer do ano (NODA;
PAIVA; BUENO, 1984). Segundo os autores, pode ser cultivada desde regiões ao nível do mar,
até 1.500 metros de altitude. É uma espécie que necessita de luz, mas pode ser cultivada à
sombra, porém, nesta condição cresce menos, e, conseqüentemente, sua produção de frutos é bem
inferior (PAIVA, 1979).
Na Amazônia, o cubiu pode ser cultivado em diversos tipos de solos ácidos e pobres
(CARDOSO, 1997). Entretanto, reage muito bem a adição de matéria orgânica ou uréia (PAIVA,
1979). Ainda, segundo a autora, já foi constatada a presença de micorrizas em suas raízes. A
planta se desenvolve bem em solos com textura desde argilosa até arenosa (NODA; PAIVA,
BUENO, 1984).
2.3.1.3. Variedades
A maior parte do cubiu cultivado na Amazônia é proveniente de sementes de populações
cultivadas, que os produtores rurais vêm mantendo há muitos anos. Portanto, não se pode
considerá-las como variedades definidas.
2.3.1.4. Propagação e cultivo
O cubiu é propagado exclusivamente por sementes. A semeadura pode ser feita em
qualquer época do ano em copos e sacos plástico ou de papel, em bandejas de isopor ou em
canteiros comuns com 1,0 metro de largura por 10 centímetros de altura (NODA; PAIVA;
BUENO, 1984). De acordo com os autores, com 30 gramas de sementes viáveis é possível
produzir 10.000 mudas suficientes para cultivar uma área de um hectare, adotando espaçamento
36
de 1,00 x 1,00 m. Em condições favoráveis de temperatura e umidade, as sementes iniciam a
germinação a partir do sétimo dia após a semeadura. Se a semeadura for feita em copos, sacos de
plástico ou bandejas é aconselhável fazer o desbaste, deixando a planta mais vigorosa. O plantio
definitivo pode ser feito aos 45 a 60 dias após a semeadura, fase em que as plantas apresentam
três a quatro folhas definitivas (CARDOSO, 1997).
As covas devem ser confeccionadas, com no mínimo, 20 cm nas três dimensões. Se o
solo for propenso ao encharcamento, é recomendável abrí-las sobre leiras de 20 centímetros de
altura (NODA; PAIVA; BUENO, 1984). Aplicar 1 kg de matéria orgânica (esterco curtido ou
qualquer composto orgânico), 70 g de superfosfato triplo, 50 g de c1oreto de potássio e 10 g de
uréia, por cova (CARDOSO, 1997). Para a mesma autora, aos quinze dias após o transplante, é
recomendável aplicar 10 gramas de uréia por planta em cobertura e repetir a dosagem
mensalmente, até o início da colheita.
Em virtude de a fase inicial de crescimento do cubiu ser muito lenta, é conveniente que,
após o transplante, sejam feitas limpezas periódicas da área para evitar a competição por água e
nutrientes do solo com plantas invasoras.
Na época seca, recomenda-se irrigar o plantio e utilizar a cobertura morta, a qual
consiste na colocação, em torno da planta, de palha, capim, casca de arroz ou resíduos de serraria
(NODA; PAIVA; BUENO, 1984). A cobertura morta evita o aquecimento do solo e permite a
conservação de sua umidade por um período de tempo mais prolongado. O cubiu não tolera
estiagens prolongadas (CARDOSO, 1997).
2.3.1.5. Pragas e doenças
Na Amazônia, a presença de numerosas espécies da família Solanaceae, espontâneas e
vizinhas às áreas onde o cubiu é cultivado, constitui uma fonte de infestação. As pragas mais
freqüentes são as vaquinhas, ácaros e pulgões (NODA; PAIVA; BUENO, 1984). Um hemíptero
da família dos Tingidae ataca a parte inferior das folhas às quais adquirem a coloração marrom-
queimado (PAIVA, 1979).
Na fase de sementeira, a doença mais comum é a "mela". Esta moléstia é causada por
fungos conhecidos como Pythium sp. e Rhyzoctonia solani Kühn. (CARDOSO, 1997). Segundo a
autora, para se evitar ataque de microorganismos patogênicos, na fase de sementeira, são
recomendados os seguintes procedimentos: (i) tratamento do solo por meio de solarização (cobrir
37
o solo com plástico transparente e deixá-lo pelo menos por 30 dias exposto ao sol); (ii) tratar o
solo por um período de duas horas em autoclave a 120oC; (iii) irrigar o solo com uma solução
de água sanitária (hipoclorito de sódio) numa proporção de 2,5 L/7,5 L de água e (iv) utilizar
solos de florestas virgens.
No campo foi constatado murchamento de plantas com presença do fungo Sclerotium
rolfsii. Entretanto, na mesma área foram encontradas plantas não atacadas, sem sintomas de
murchamento, indicando variabilidade genética para resistência a esse organismo (NODA;
PAIVA; BUENO, 1984).
2.2.1.6. Colheita, armazenamento e comercialização
A floração do cubiu inicia-se aos dois ou três meses após o transplante, acima do
segundo e terceiro grupo de folhas. As frutas amadurecem oito semanas após a polinização. A
produção começa quatro a cinco meses depois que o transplante foi realizado, ou seja,
aproximadamente após sete meses de semeadura (PAIVA, 1979).
Sobre a colheita, o rendimento, o armazenamento e a comercialização do cubiu, Cardoso
(1997) esclarece: (i) os frutos são considerados maduros quando apresentam a coloração amarela;
(ii) os frutos são muito resistentes ao transporte e podem ficar armazenados em geladeiras por um
período de tempo muito prolongado; (iii) em caso da inexistência de locais adequados para
armazená-los, recomenda-se deixá-los em locais sombrios e bem arejados; (iv) em condições
favoráveis, dependendo do material genético cultivado, a produção do cubiu pode variar de 30 t a
mais de 100 t por hectare e (v) na Amazônia brasileira, o cubiu é mais utilizado em escala
doméstica, de modo que apenas o excedente da produção de pequenos produtores é
comercializado em feiras e mercados, principalmente, das cidades interioranas da região;
geralmente, os frutos são vendidos por unidade ou por quilo.
Em testes de processamento, observou-se que 10 quilos de frutos podem ser
transformados em aproximadamente 3 quilos de doce e 1,5 quilo de geléia ou 7,5 litros de suco
puro (NODA; PAIVA; BUENO, 1984). Portanto, uma plantação com um rendimento de 70
toneladas por hectare poderá render 21 toneladas de doce e 10,5 toneladas de geléia ou 52.000
litros de suco por hectare.
38
2.4. HORTALIÇAS CONDIMENTARES
2.4.1. Coentro
2.4.1.1. Aspectos gerais
O coentro Coriandrum sativum L. pertence à família Apiaceae (Umbelliferae). A planta
é similar à salsa (FILGUEIRA, 2000). No Brasil, esta espécie é vulgarmente conhecida, também,
como cheiro-verde (PIMENTEL, 1985). Existem controvérsias quanto à sua origem. É
considerada originária do Sul da Europa, região do Mediterrâneo, mas existem proposições de
que se originou no ocidente da Ásia (CARDOSO, 1997).
No Brasil, a importância do coentro está associada ao consumo das folhas frescas,
utilizadas como condimento. Assim, principalmente no Norte e Nordeste, a utilização desta erva
aromática se prende ao fato dela melhorar ou acrescentar sabor aos alimentos e não pelas suas
propriedades alimentícias (PIMENTEL, 1985). Por outro lado, já foi constatado que suas folhas,
que entram na composição de diversos tipos de molhos, sopas, saladas e no tempero de peixes e
carnes, são ricas em vitaminas A, B1, B2 e C (CARDOSO, 1997).
Os frutos bem maduros e secos do coentro possuem um odor suave e penetrante, sabor
adocicado e caracteristicamente picante; são os principais responsáveis pela importância desta
planta, em vários outros países, onde são usados com finalidades condimentares, medicinais e
aromáticos (FERREIRA; CASTELLANE; CRUZ, 1993). Isto se deve, em grande parte, ao fato
de que em países europeus e nos Estados Unidos da América, o aroma das folhas verdes,
semelhante ao do percevejo, é considerado nauseabundo (CARDOSO, 1997). Segundo a autora,
o nome Coriandrum deriva de Koris, que significa percevejo.
2.4.1.2. Exigências de clima e solos
O coentro é uma cultura de clima quente, intolerante a baixas temperaturas
(FILGUEIRA, 2000). Para obtenção de boas produtividades, é necessário um local bem
iluminado, um suprimento uniforme de água no solo e uma temperatura propícia que seja
uniforme durante o ciclo da planta o qual é de apenas 3 a 4 meses (HERTWIG, 1986). As
condições climáticas da região Amazônica bem se prestam para o cultivo desta horta1iça, mas
39
mesmo assim, deve-se dar preferência pela época de menor precipitação p1uviométrica
(PIMENTEL, 1985). No período chuvoso, o desenvolvimento é bastante prejudicado devido ao
excesso de umidade e ataque de doenças (CARDOSO, 1997).
A cultura do coentro é pouco exigente em relação ao solo e muito tolerante à acidez
(FILGUEIRA, 2000). Entretanto, os solos férteis de textura leve a média, soltos, profundos, bem
drenados e com boa exposição à luz são os mais apropriados ao seu cultivo (CARDOSO, 1997).
Os solos argilosos, compactos ou úmidos devem ser evitados (MARANACA, 1985). Os solos
hidromórficos com bons teores de matéria orgânica, desde que bem drenados, podem ser
aproveitados (PIMENTEL, 1985).
2.4.1.3. Variedades
Há poucas cultivares de coentro. Comercialmente, as mais utilizadas são: Francês,
Palma, Verde-Cheiroso, e Palmeirão (CARDOSO, 1997), Verdão, Português (FILGUEIRA,
2000). As variedades Português, Palmeirão e Verdão apresentam boa resistência ao pendoamento
precoce, em condições de temperatura elevada (CARDOSO, 1997). Segundo a autora, em
plantios na região Norte, visando ao consumo das folhas, as duas últimas têm exibido maiores
rendimentos e vigor que a primeira.
2.4.1.4. Propagação e Cultivo
Em geral, a propagação do coentro realiza-se através de seus frutos secos,
comercializados como sementes. Cada fruto contém duas sementes botânicas. Os frutos secos
devem ser comprimidos (quebrados com auxílio de um rolo de madeira) a fim de que as sementes
se libertem, facilitando assim a germinação (PIMENTEL, 1985).
O coentro produz melhor em solos ricos, leves a médios, bem soltos, profundos, bem
drenados e com boa exposição à luz solar (HERTWIG, 1986). Solos com drenagem insuficiente
(argilosos, planos e baixos) e os solos ácidos são desfavoráveis à cultura do coentro.
O coentro é uma planta voraz, que esgota facilmente o solo, sendo indispensável uma
boa adubação (MARANACA, 1985). A adubação deve ser feita em função da análise do solo,
mas em geral, recomenda-se aplicar no plantio 30 kg/ha de sulfato de amônio ou nitrocálcio, 700
kg/ha de superfosfato simples e 100 kg/ha de cloreto de potássio, a lanço e incorporados com o
esterco (FERREIRA; CASTELLANE; CRUZ, 1993). Os autores indicam, também, a aplicação
40
de 300 kg/ha de sulfato de amônio em cobertura, 20 a 30 dias após a germinação, à base de 30
g/m.
Um excesso de nitrogênio no solo atrasa notavelmente o amadurecimento das sementes
ou prolonga o período de progressivo amadurecimento e reduz a produção (HERTWIG, 1986).
Por este motivo solos demasiadamente ricos em nitrogênio e fertilizações nitrogenadas intensas
não se prestam à produção de sementes de coentro.
Cada região tem sua época mais adequada para o plantio do coentro. Em locais quentes,
pode ser realizado o ano todo. No Centro Sul, é semeado de setembro a fevereiro. A semeadura é
feita no local definitivo. Martins et al. (2000) cita que ele deve ser cultivado em linhas
distanciadas de 20 a 25 cm. As sementes devem ser semeadas a uma profundidade de 2 a 2,5 cm
em solo suficientemente úmido e com uma boa temperatura, e depois cobertas com 1 a 2 cm de
terra (HERTWIG, 1986). As sementes germinam após 7 a 14 dias. O desbaste deve ser feito
quando as mudas estiverem com 5 cm de altura, para se obter um espaçamento entre plantas de 5
a 10 cm (MARTINS et al., 2000). Para semear um hectare são necessários de 15 a 25 kg de
"sementes" ou frutos (HERTWIG, 1986).
Além do desbaste, no manejo da cultura do coentro, a irrigação e a capina são os outros
tratos culturais especialmente importantes.
A presença de plantas invasoras afeta a qualidade e a produção do coentro. O período
mais crítico da cultura à competição é dos 10 aos 40 dias após o plantio (CARDOSO, 1997).
Dessa forma, deve-se manter a cultura livre de invasoras, durante todo o seu ciclo. A capina é
feita por arranquio manual (monda) ou com ajuda de um sacho, visto que o reduzido espaço entre
plantas não permite a utilização de enxadas (PIMENTEL, 1985).
A irrigação, que deve ser freqüente, é feita por aspersão, utilizando-se microaspersores,
chuveiros acoplados a mangueiras ou regadores.
2.4.1.5. Pragas e doenças
Em uma abordagem sobre a ocorrência de pragas na cultura do coentro Pimentel (1985)
destaca que em áreas infestadas por paquinhas Gryllotalpa hexactila, torna-se necessário o
controle químico. Os insetos desfolhadores que atacam a cultura são de nocividade secundária.
A doença fúngica que ocorre com mais freqüência é a antracnose (Colletotrichum
41
gloeosporioides Penz), que apresenta sintomas na forma de manchas necróticas de tamanho e
forma variáveis nas folhas, as quais, com a evolução da doença, tomam-se imprestáveis para o
consumo (CARDOSO, 1997). Segundo a autora, as condições que favorecem o seu aparecimento
são o manejo inadequado da cultura, plantas com deficiência nutricional e má drenagem do solo.
2.4.1.6. Colheita e comercialização
A colheita exclusivamente de folhas de coentro é feita a partir do momento em que a
planta possui folhas suficientes, até o início da formação dos órgãos que originarão flores
(HERTWIG, 1986). As plantas atingem o ponto ideal de colheita aos 50-80 dias após semeadura.
Elas podem ser colhidas inteiras, ou então se efetuam cortes nos pecíolos, obtendo-se colheitas
parceladas (FILGUEIRA, 2000). Em plantios comerciais, colhe-se a planta inteira, o que permite
melhor conservação do produto (CARDOSO, 1997). Segundo a autora, em hortas domésticas,
usa-se cortar as hastes a 2 cm acima do nível do solo, deixando-se as plantas com as hastes e
folhas menos desenvolvidas, proporcionando novas colheitas. O período de colheita oscila em
torno de 10 dias (PIMENTEL, 1985). No Norte e Nordeste, a planta é comercializada em molhos
preparados com adição de folhas de cebolinha Allium fistulosum L., denominados vulgarmente de
―cheiro-verde‖.
2.4.2. Alfavacão
2.4.2.1. Aspectos gerais
O alfavacão Ocimum gratissimum L. é uma planta da família Lamiaceae (Labiatae)
(RODRIGUES et al., 2004). No Brasil, é vulgarmente conhecida sob os nomes de alfavaca,
alfavaca-cravo, quitoco, alfavaca grande, laçavenha, Lá-se-a-venha (CARVALHO, 2002);
alfavaca-das-américas, basilicum-grande, erva-real, manjericão-da-folha-larga, manjericão-de-
molho, manjericão-dos-cozinheiros, manjericão-doce, manjericão e alfavaca-cheirosa
(CARDOSO, 1997).
Conhecido e utilizado desde a antigüidade, o alfavacão é uma planta condimentar
aromática muito freqüente em vários Estados brasileiros. Tem grande utilidade culinária. As
folhas são usadas como condimento, pois conferem agradável sabor aos molhos, sopas e carnes.
No estado do Pará, é muito empregada no preparo do tucupi. O linalol, extraído das folhas, é
42
utilizado como aromatizante pelas indústrias de bebidas, alimentos e perfumaria (BRASIL,
2002).
2.4.2.2. Exigências de clima e solos
Embora suporte clima quente e úmido, o alfavacão prefere clima ameno, (CARDOSO,
1997). Não tolera temperaturas muito baixas e nem geadas. Prefere solos bem drenados e ricos
em matéria orgânica (CARVALHO, 2002).
2.4.2.3. Propagação e cultivo
O alfavacão pode ser multiplicado por sementes e estacas. Prefere sol abundante, solo
bem drenado e rico em matéria orgânica (SARTÓRIO et al., 2000). Quando se emprega a
semeadura indireta, as mudas são transplantadas quando atingem de 10 cm a 15 cm de altura ou
tiverem, no mínimo, cinco a seis folhas (CARDOSO, 1997). A época de plantio depende do
clima da região. Segundo a autora, a semeadura pode ser feita o ano todo, nas regiões onde as
temperaturas não sejam inferiores a l8oC. O espaçamento recomendado é de 70 cm entre linhas e
50 cm entre plantas (SARTÓRIO et al., 2000).
A fertilização do solo deve ser feita com 2,5 kg de esterco de galinha ou 5 kg de esterco
de curral, por metro da linha de plantio (CARDOSO, 1997).
O alfavacão é muito exigente em umidade do solo. Portanto, devem ser efetuadas
irrigações freqüentes durante o período seco ou durante o período das chuvas quando o veranico
for prolongado.
As capinas devem ser realizadas, evitando-se a competição com plantas invasoras.
2.4.2.4. Pragas e doenças
As pragas mais comuns que atacam o alfavacão são os pulgões e as cochonilhas.
O nematóide Meloidogyne incognita, ataca o sistema radicular do alfavacão, formando
galhas e ootecas, prejudicando a absorção da água, dos nutrientes e a produção da biomassa
(CARDOSO, 1997). Para a autora, o uso de variedades resistentes, a rotação de culturas, o
plantio em terrenos não infestados ou tratados por nematicida, são medidas recomendadas para o
controle desse nematóide
43
2.4.2.5. Colheita e comercialização
Sobre a colheita do alfacacão Cardoso (1997) esclarece: (i) os ramos deverão ser
colhidos quando a planta inicia a produção de flores, considerando-se que se forem colhidos em
completa floração, as folhas perderão muito do seu aroma e qualidade do óleo essencial e (ii) o
corte da planta deverá ser feito a 15 cm da superfície do solo, isso assegura um melhor
rendimento na segunda colheita. As folhas podem ser secadas artificialmente, para conservar a
cor esverdeada e o aroma numa temperatura que não deve exceder a 35°C (CARVALHO, 2002).
A comercialização nos mercados e feiras livres é feita em maços com ramos de tamanhos
variados.
2.4.3. Chicória
2.4.3.1. Aspectos gerais
A espécie Eryngium foetidum L., pertencente a família Apiaceae (Umbelliferae) é
encontrada em toda região Amazônica, é conhecida como chicória, também denominada de
coentro selvagem em diversos países (GUSMÃO et al., 2004). A Chicorium endivia L. é outra
espécie de chicória que é mais cultivada na região Centro Sul do Brasil. No Brasil, dentre os
vários outros nomes vulgares da primeira espécie, incluem-se os seguintes: chicória-de-caboclo,
coentro-de-caboclo, chicória-do-amazonas e coentro-brasileiro (CARDOSO, 1997). Sua origem
não é definida, mas há proposições de que seja uma espécie autóctone da América do Sul.
Na região Amazônica, a Eryngium foetidum L., era mantida em quintais ou pequenas
hortas, sem grandes cuidados culturais, havendo períodos em que as plantas morriam, vindo as
sementes remanescentes a germinar alguns meses depois. Atualmente, diversos olericultores
regionais estão cultivando comercialmente a espécie (GUSMÃO et al., 2004).
Sobre a utilização da Eryngium foetidum L., na culinária, no Brasil, Cardoso (1997)
afirma: (i) é uma erva aromática com propriedades fitoterápicas, sendo muito utilizada como
hortaliça condimentar; (ii) é usada como condimento em algumas localidades dos Estados de
Minas Gerais e do Maranhão; (iii) ela é mais utilizada na Amazônia brasileira, visto que, nessa
região é um tempero essencial a inúmeros pratos, de grande aceitação popular; (iv) na região
Amazônica, é cultivada em escala considerável e juntamente com a cebolinha Allium fistulosum
L. e o coentro C. sativum L. formam o popular cheiro-verde e (v) na Amazônia, o seu emprego na
44
culinária regional verifica-se especialmente como tempero de pratos à base de peixes e quelônios,
pato no tucupi e tacacá (prato típico preparado com tucupi, goma de mandioca, jambu e camarão
seco).
2.4.3.2. Exigências de clima e solos
A chicória adapta-se a diversas condições climáticas, podendo ser cultivada em regiões
tropicais, subtropicais e temperadas. Sob Chicorium endivia L., Filgueira, (2000) afirma que a
espécie produz melhor sob temperaturas amenas, embora existam cultivares tolerantes a
temperaturas mais elevadas. Por outro lado, Villachica (citado por GUSMÃO et al., 2004), afirma
que a Eryngium foetidum L. é adaptada às altas temperaturas, umidade relativa e chuvas,
condições predominantes na Amazônia.
As exigências da Chicorium endivia L., em solo são semelhantes à da cultura da alface
Lactuca sativa L. (GUANABARA, 1972).
2.4.3.3. Variedades
Sob Eryngium foetidum L., não há registros sobre a existência de variedades de chicória
(CARDOSO, 1997). As conclusões de Gusmão et al. (2004) reiteram esta afirmação. Em um
trabalho de levantamento junto a olericultores de áreas produtoras de hortaliças próximas à
Belém-PA, os autores constataram que a totalidade dos olericultores que cultivavam essa espécie
obtinha as sementes na própria área, reservando periodicamente canteiros para produção de
sementes. Verificaram, também, que as sementes usadas foram obtidas de outras áreas
produtoras, quando os olericultores iniciaram seus cultivos. Em virtude de não terem sido
observadas diferenças visuais nas plantas, nos diversos cultivos, os autores concluíram que as
sementes usadas representavam um único genótipo. Por outro lado, sob Chicorium endivia L.,
Guanabara (1972) cita as seguintes variedades de chicória: Lisa da Batávia, Escarola Verde de
Coração Cheio (italiana), Crespa Americana e "Rucia D'Estate" e Filgueira (2000), menciona
dois tipos: a Chicória Lisa (Escarola), e a Crespa (Indívia).
2.4.3.4. Propagação e cultivo
A propagação da Eryngium foetidum L. é feita através de sementes. Em escala
doméstica, o sistema mais usado é o de semeadura direta no canteiro definitivo, com desbaste
posterior. Nos plantios comerciais é utilizada, predominantemente a semeadura indireta.
45
Corroborando o que foi mencionado, Gusmão et al. (2004) constataram que os produtores de
chicória que abastecem a cidade de Belém-PA, realizam a semeadura indireta. Assim, para a
implantação dos seus cultivos, inicialmente eles efetuam a semeadura em sementeira e,
posteriormente, transplantam as mudas para os canteiros definitivos.
Quando é realizada a semeadura indireta da Eryngium foetidum L., deve-se fazer o
transplantio cerca de 30 dias após a emergência das plantas (CARDOSO, 1997). Segundo a
autora, os espaçamentos utilizados pelos agricultores sofrem pequenas variações, sendo
encontrados plantios com 15 cm x 15 cm, 20 cm x 15 cm ou próximos destes. Por outro lado, de
acordo com Filgueira (2000), para a Chicorium endivia L., podem ser utilizados espaçamentos
maiores, como 40 x 30 cm, dependendo do tamanho da planta. Segundo o autor, as exigências
da chicória em adubação são semelhantes à da cultura da alface. Na região Centro-Sul do Brasil,
a semeadura deve ser realizada no outono-inverno, porém pode ser feita ao longo do ano, em
regiões de baixa altitude.
Os tratos culturais empregados na cultura da chicória são similares aos da alface.
Portanto, os principais utilizados são: irrigação, capina, escarificação do solo e cobertura morta.
Sob Eryngium foetidum L., Cardoso (1997) cita que outra prática indispensável é o corte do
pendão floral logo no início da fase de floração. Segundo a autora, esta prática fitotécnica impede
que a planta paralise o seu crescimento e a induz ao perfilhamento. Salienta-se que, embora seja
uma planta rústica, a utilização de forma adequada, destes tratos culturais, incrementa a
quantidade e a qualidade de folhas comercializáveis.
2.4.3.5. Pragas e doenças
Nos cultivos da Eryngium foetidum L. vêm aumentando a ocorrência de murcha de
plantas, sendo que, alguns especialistas, acreditam que este sintoma é provocado pelo ataque da
bactéria Raustonia solanacearum (LOPES et al. citados por GUSMÃO et al., 2004). No estudo
desenvolvido por estes autores, a presença de nematóides do gênero Meloidogyne, foi notada em
50% das áreas visitadas. Nas áreas de ocorrência, estes nematóides causam drástica redução de
produção. Os autores verificaram resultados positivos no controle alternativo destes
fitopatógenos, através da utilização do hortelã Mentha spp em rotação com a chicória, em 30%
das propriedades.
46
Nos plantios do Amazonas, uma pequena lagarta vem causando danos severos às
plantações de Eryngium foetidum L., nas áreas de várzeas. Segundo os agricultores, a praga é
semelhante à que ataca o repolho Brassica oleraceae var. capitata, provavelmente a espécie
Plutella xylostella L. (CARDOSO, 1997).
2.4.3.6. Colheita e comercialização
Sob Chicorium endivia L., Filgueira (2000) afirma que a colheita da chicória é feita aos
65-80 dias da semeadura, cortando-se a planta inteira. Por outro lado, para Cardoso e Garcia
(citados por GUSMÃO et al., 2004), deve-se colher as plantas inteiras de Eryngium foetidum L.,
incluindo o sistema radicular, cerca de sessenta dias após o transplantio. Cardoso (1997) reporta
que a colheita dessa espécie, em geral, deve ser iniciada aos 80 a 90 dias após o transplantio;
neste momento, geralmente a planta, já demonstra perda de vigor, ou seja, diminuição do número
e qualidade das folhas produzidas. Segundo a autora, deve-se inicialmente, cortar na base da
touceira as folhas mais velhas, quando estas atingirem de 12 cm a 15 cm de comprimento,
deixando-se as folhas menores, para possibilitar o surgimento de novas brotações e o
prolongamento do período de colheita. O intervalo entre as colheitas é de quinze dias,
aproximadamente.
Em culturas de Chicorium endivia L., conduzidas tecnicamente, tem se verificado um
rendimento médio de 25 toneladas por ha (GUANABARA, 1972). Por outro lado, Cardoso
(1997) cita um rendimento médio, por área, da Eryngium foetidum L., bem inferior. Segundo a
autora, quando os cultivos são bem manejados, as produções podem atingir 1,4 kg de folhas/m2,
num período de dois a três meses. Gusmão et al. (2004), constataram que o rendimento médio
dessa espécie nos cultivos dos produtores que abastecem a cidade de Belém-PA, varia de cinco a
dez maços por m2 de canteiro. Cada maço possui de 100 a 300g.
É mais freqüente o comércio da planta inteira da Eryngium foetidum L. A planta é
comercializada, inclusive, com o sistema radicular (GUSMÃO et al., 2004). A forma tradicional
de comercialização nos mercados e feiras é através de maços individualizados, ou acompanhando
a cebolinha e o coentro (CARDOSO, 1997). O preço pago por maço de chicórias pelos
intermediários de Belém-PA, na propriedade varia de R$ 0,10 a R$ 0,20 (GUSMÃO et al., 2004).
47
2.4.4. Jambu
2.4.4.1. Aspectos gerais
O jambu Spilanthes oleracea L. pertence à família das Asteraceae (Compositae) é uma
planta nativa da Amazônia (POLTRONIERI et al., 1999). Pode ser encontrada na literatura sob
Spilanthes acmella, Murr. (MARTINS, 1989). É vulgarmente conhecido também como agrião-
do-pará, agrião-do-norte, agrião-do-brasil, abecedária e jambuassu (CARDOSO, 1997);
jamburana, nhambu, botão-de-ouro (MARTINS, 1989).
Em determinadas épocas do ano, o jambu é a hortaliça folhosa mais consumida em
Belém-PA (POLTRONIERI et al., 1999). É utilizado no preparo de pratos típicos como ―pato no
tucupi‖ e ―tacacá‖ muito apreciados pelos paraenses. Planta com baixa caloria (932,0 cal), rica
em cálcio (233,0 mg) com um teor de vitamina C igual a 20,0 mg, para 100 g de folhas é um
componente importante do cardápio dos paraenses, sendo muito consumida em saladas cruas ou
cozidas. O seu consumo, entretanto, deve ser feito com moderação, uma vez que é uma planta
também com propriedades terapêuticas, podendo provocar reações adversas se for ingerida em
quantidades inadequadas (CARDOSO, 1997).
O jambu é amplamente cultivado em alguns municípios do Nordeste do Estado do Pará,
onde seu consumo é significativo no período de festas populares (POLTRONIERI; MÜLLER;
POLTRONIERI, 2000).
2.4.4.2. Exigências de clima e solos
Em uma abordagem sobre as exigências climáticas do jambu, Cardoso (1997) afirma: (i)
em geral, a espécie tem apresentado comportamento idêntico em condições de clima tropical e
subtropical; (ii) a planta se desenvolve bem e floresce continuamente nas condições da Amazônia
e (iii) as chuvas fortes e excessivas que ocorrem na Amazônia, no período chuvoso, favorecem o
aparecimento de doenças, provocam estragos nas plantas, e promovem a lavagem dos nutrientes
do solo, resultando em baixa qualidade do produto obtido.
Os solos areno-argilosos e os ricos em matéria orgânica se prestam muito bem ao cultivo
do jambu, mas, podem ser aproveitados, também, os solos de várzea alta não- inundáveis, desde
que bem drenados (PIMENTEL, 1985).
48
2.4.4.3. Variedades
Na região Amazônica podem ser detectados dois tipos de plantas reconhecidas como
jambu: o mais cultivado, denominado jambuassu ou botão-de-ouro, de flores amarelo-ouro e
sementes cinza escuras; o outro, conhecido como jambu-zebu, jambu-branco ou jamburana
(jambuarana), de flores amarelo-claras e sementes esbranquiçadas. As denominações jambuassu e
jamburana são de origem indígena, sendo que a primeira significa "espécie maior de jambu", do
tupi assu, grande; a segunda "planta semelhante ao jambu", do tupi rana, semelhante, igual
(CARDOSO, 1997). Na avaliação popular, o valor condimentar do jambuassu é tido como
superior ao do jamburana, devido ao sabor mais acentuado de suas folhas, sendo por isso mais
utilizado como hortaliça. O jamburana é mais usado como planta medicinal.
Em 1999 a Embrapa Amazônia Oriental lançou a variedade Nazaré de jambu, à qual foi
desenvolvida para as condições da Amazônia Oriental. Um resumo de alguns dos principais
aspectos relacionados ao processo de obtenção desta variedade, enfatizados por Poltronieri,
Müller e Poltronieri (2000) é apresentado no parágrafo subseqüente.
Esta cultivar foi resultante de sete ciclos de seleção individual com teste de progênies.
As coletas que deram origem a cultivar foram feitas em 1994, no município de Santa Izabel do
Pará. Os testes iniciais indicaram que algumas plantas mostraram-se resistentes ao carvão
(Thecapphora spilanthes Freire & K. Vanky) e à ferrugem (Puccinia cnidi-oleraci). As progênies
dessas plantas selecionadas foram avaliadas, para esses caracteres, permitindo encontrar uma
progênie com nível desejado de resistência às doenças, e outros atributos de qualidade. Essas
novas progênies, no período de 97/98, foram avaliadas em ensaios, juntamente com variedades
locais, no campo experimental da Embrapa Amazônia Oriental, em Belém-Pará. Em seguida
foram testadas, em unidades de observação em nível de produtor, no mesmo município de Santa
Izabel do Pará, apresentando resultados satisfatórios em relação ao bom desempenho
agronômico, com bom paladar e qualidade. Através das unidades demonstrativas implantadas,
houve aceitação dos produtores, permitindo a sua recomendação ao sistema produtivo do jambu
no Estado do Pará.
2.4.4.4. Propagação e cultivo
É possível a propagação do jambu tanto por via sexuada como por estaquia, porém a de
uso mais freqüente é a primeira. Para fazer novos plantios, o olericultor deixa que algumas
49
plantas floresçam e mais tarde colhe as infrutescências, colocando-as a secar ao sol, nas primeiras
horas da manhã (PIMENTEL, 1985). Depois de secas, são comprimidas entre as mãos para
separar as sementes, que sempre ficam com restos das infrutescências como impurezas. A
contagem de 1g desse material (sementes + impurezas) revelou a existência de 2.000 sementes
bem granadas.
Em virtude de as sementes de jambu serem muito pequenas é aconselhável a utilização
da semeadura indireta. Assim, primeiramente deve ser feita a semeadura em sementeiras. A
germinação verifica-se sete dias após a semeadura, aproximadamente (CARDOSO, 1997).
Posteriormente as mudas devem ser transplantadas para o local definitivo. Para a variedade
Nazaré de jambu, a Embrapa Amazônia Oriental recomenda que o transplantio da sementeira
para o canteiro definitivo deve ser efetuado quando as mudas estiverem com 4 a 6 folhas
definitivas obedecendo ao espaçamento de 20 cm x 25 cm, com densidade de plantio de uma a
quatro plantas por cova (POLTRONIERI; MÜLLER; POLTRONIERI, 2000).
A adubação orgânica recomendada para o cultivo do jambu é de 3 kg de esterco de
galinha ou de composto orgânico ou 8 kg de esterco de curral por metro quadrado de canteiro
(CARDOSO, 1997).
Para a região Amazônica o plantio do jambu deve ser efetuado no final do período
chuvoso. Poltronieri, Müller e Poltronieri (2000) preconizam que, na Amazônia Oriental, a
cultivar Nazaré de jambu deve ser cultivada no período de abril a dezembro em condições de
campo aberto, e o ano todo, em condições de cultivo protegido (túneis plásticos).
O cultivo do jambu dispensa tratos culturais específicos (PIMENTEL, 1985).
Entretanto, o autor reporta que é recomendada a utilização de uma cobertura morta com uma fina
camada de casca de arroz logo após o semeio. No cultivo da variedade Nazaré de jambu, o
canteiro definitivo deve permanecer livre de plantas daninhas até um estádio de desenvolvimento
das plantas que possibilite o ―fechamento‖ do canteiro (POLTRONIERI et al., 1999). De acordo
com os autores, este genótipo exige um suprimento normal de água por irrigação, que deve ser
feito por aspersão, na época seca, duas vezes ao dia, nas primeiras horas da manhã e no final da
tarde.
50
2.4.4.5. Pragas e doenças
Na fase inicial, o jambu pode sofrer danos causados por grilos Gryllus assimilis,
paquinhas Neocurtilla hexadactyla e lagarta-rosca Agrotis ipsilon (CARDOSO, 1997). Em fase
mais adiantada de crescimento das plantas, tem sido constatado o ataque de afídeos (pulgões),
principalmente nas folhas mais jovens, causando enrugamento.
Durante a primeira fase de crescimento do jambu tem ocorrido o ataque de fungos
causadores de Mela ou Tombamento (PIMENTEL, 1985). O fungo Puccinia cnici-oleracei,
causador de ferrugem, pode ocorrer próximo ou durante o florescimento e frutificação, sendo
mais freqüente no período chuvoso (CARDOSO, 1997). Para a autora, preventivamente, deve-se
efetuar a rotação de cultura para impedir o acúmulo de grande concentração de inóculo; evitar o
uso de adubações desequilibradas e o plantio em solos compactados, que favorecem o surgimento
de plantas debilitadas, suscetíveis ao ataque do fungo.
2.4.4.6. Colheita e comercialização
A colheita pode ser feita arrancando-se a planta ou apenas cortando os galhos mais
desenvolvidos. Nesse caso a colheita perdura por mais de 60 dias, porém, nesse período há
necessidade de se fazer um corte a uns 5 a 7cm do solo, para provocar uma brotação uniforme e
vigorosa (PIMENTEL, 1985). A colheita inicia-se 35 a 50 dias após plantio das estacas ou trans-
plante das mudas (CARDOSO, 1997).
Quando na colheita arranca-se toda a planta, o rendimento médio é de cerca de 120
maços por canteiro de 6m2 (PIMENTEL, 1985). Segundo o autor, quando a colheita é feita
parce1adamente esse rendimento pode ser até triplicado, dependendo dos tratos culturais
dispensados à cultura.
O jambu é comercializado em maços grandes de ramos que podem conter flores.
51
2.4.5. Manjericão
2.4.5.1. Aspectos gerais
O manjericão Ocimum spp pertence à família Lamiaceae (Labiatae) (CARVALHO,
2002). A planta é anual ou perene, dependendo do local em que é cultivada (BLANCK et al.,
2004). A espécie é subespontânea em todo o Brasil (EMBRAPA, 2001).
A espécie mais importante de manjericão no mundo, proveniente da Índia, de outros
países asiáticos ou da África, dependendo do autor, é a Ocimum basilicum, Linn., que Linneu
assim chamou para destacar os dotes da planta, considerados na antigüidade favoráveis à saúde e
à cura de doenças, pois basilikós, em grego antigo, significava régio ou principesco
(MARANACA, 1985). Entretanto, o manjericão é uma planta que apresenta inúmeras espécies
cultivadas comercialmente em todo o mundo, e cada uma possui uma composição algo diferente
em sua essência, razão pela qual o produtor precisa ficar atento à espécie desejada pelo
comprador (HERTWIG, 1986).
A nomenclatura botânica correta para as espécies e variedades do gênero Ocimum é de
grande interesse, uma vez que mais de 60 espécies e formas têm sido relatadas, sendo
questionável a verdadeira identidade botânica dessa espécie citada em algumas literaturas
(BLANCK et al., 2004).
Nas diferentes regiões do País, o manjericão pode ser encontrado com outros nomes,
como: alfavaca (região Norte), alfavaca doce, manjericão doce, remédio de vaqueiro; erva-real e
manjericão da folha grande (EMBRAPA, 2001); manjericão-dos-jardins, basilicum grande, erva-
real, manjericão-de-molho, manjericão-dos-cozinheiros, manjericão grande, quiôiô (estados do
Norte); alfavaca-da-folha-miúda (CARVALHO, 2002).
O manjericão é uma planta de múltiplos usos. É, especialmente, usada para os seguintes
fins: culinários, medicinais, cosméticos e ornamentais. Utilizar a planta fresca de preferência,
pois há perda de seus princípios ativos ao secar e ferver (EMBRAPA, 2001).
Tanto para fins aromáticos como medicinais se utilizam as sumidades floridas e as folhas
retiradas dos ramos, frescos ou dessecados do manjericão. Na medicina alternativa, suas folhas
são usadas como diuréticos e estimulantes, sendo ministrados sob a forma de banhos, contra
doenças nervosas e paralisia (MARTINS, 1989). A planta é muito utilizada para a obtenção de
52
óleo essencial, importante na indústria de perfumaria e na aromatização de alimentos e bebidas.
Atualmente a planta é mais usada para fins aromáticos do que para fins medicinais (HERTWIG,
1986). O óleo essencial dessa planta apresenta também propriedades inseticidas e repelentes.
Muitas pessoas em todo o mundo consideram o manjericão um indispensável
complemento alimentar. É amplamente utilizado em molhos, especialmente, da macarronada. Dá
um sabor especial à omelete e é usado em ensopados de carne, peixes, frangos e saladas
(CARVALHO, 2002). Na cozinha, as folhas devem ser tratadas com delicadeza, lavando-as sem
esfregar e cortando-as com tesouras, adicionando no último momento os pedacinhos às saladas a
serem temperadas e aos molhos só no fim do cozimento, pois o aroma se desvanece com
facilidade (MARANACA, 1985). Usa-se, também, espalhar pedaços de folha de manjericão em
cima de espaguetes, no momento de servi-los para conservar intacto o delicado aroma.
As folhas e as inflorescências do manjericão possuem um aroma que combina muito
bem com o tomate, o que contribuiu para sua difusão no continente americano e no mundo. É
famoso no preparo de alguns pratos típicos da cozinha italiana (GOMES, 2007). Os aromas dos
temperos aromáticos, orégano e manjericão, são identificados com a "cozinha italiana"
(MARANACA, 1985).
As sementes do manjericão são comestíveis e nutritivas. Sobre as sementes dessa planta,
Carvalho (2002) cita que: (i) elas são aproveitadas por vários povos da Índia, onde é misturada à
massa de pães e bolos; (ii) com elas, os árabes fazem sua bebida refrigerante predileta e (iii)
imersas na água, formam uma espécie de geléia mucilaginosa, a qual se reconhecem propriedades
diuréticas.
O valor energético do manjericão é superior ao de muitas hortaliças, como couve
Brassica oleracea var. acephala, couve-flor Brassica oleracea var. silvestris, mostarda Brassica
juncea e repolho Brassica oleracea var. capitata; também alto é o conteúdo de cálcio, outros
elementos minerais e vitaminas, especialmente as B2 e A (MARANACA, 1985).
No Brasil, o manjericão é cultivado principalmente por pequenos produtores para a
comercialização de suas folhas verdes e aromáticas, usadas frescas ou secas como aromatizante
ou como condimento.
53
2.4.5.2. Exigências de clima e solos
Sobre as exigências edafoclimáticas do manjericão, Carvalho (2002), destaca os
seguintes aspectos: (i) prefere clima subtropical e temperado quente e úmido; (ii) não resiste a
geadas e (iii) os solos devem ser bem drenados e ricos em matéria orgânica. Algumas variedades
são sensíveis a doenças foliares e do sistema radicular e não se adaptam bem em locais de clima
frio.
Na região Centro Sul, quando cultivado com irrigação, o manjericão pode ser plantado o
ano todo, caso não haja irrigação, planta-se em local definitivo de setembro a novembro.
2.4.5.3. Variedades
A dificuldade para a classificação das variedades de manjericão se deve à ocorrência de
polinização cruzada que facilita as hibridações e, conseqüentemente, originam um grande número
de subespécies, variedades e formas (BLANCK et al., 2004). As diferentes espécies ou
variedades de manjericão podem ser classificadas em função do aroma: doce, limão, cinamato ou
canela, cânfora, anis e cravo e também a partir de características morfológicas da planta como:
porte, formato da copa, tamanho e coloração da folhagem (MAY et al., 2010). Notam-se muitas
variações morfológicas nas variedades dessa espécie. Algumas apresentam folhas grandes e
verdes, outras folhas arroxeadas, outras, ainda, folhas miúdas (CARVALHO, 2002). O
manjericão de cor verde é o mais conhecido.
2.4.5.4. Propagação e cultivo
O manjericão pode ser propagado por sementes ou estacas herbáceas de ponteiros de
plantas matrizes.
Quando se usa a estaquia, se a ponta do ramo estiver florida, deve-se cortar o pendão
floral, visto que ele exige muito nutriente da planta (STUMPF, 2010). O autor também
recomenda que a estaca deve ser colocada em areia, vermiculita ou casca de arroz carbonizada e
ser mantida úmida até o enraizamento. A emissão de novas folhas indica que houve o pegamento
da estaca.
Quando se utiliza a semeadura indireta em sementeira para a formação de mudas, 2 a 3
semanas após a germinação, deve-se proceder o raleamento (EMBRAPA, 2001). Após esta
prática, a distância entre as mudas, na linha, deve ser de 10 a 20 cm (MARANACA, 1985). Para
54
o autor: (i) quando as mudinhas atingem 10 a 15 cm de altura, ou seja, com 4 a 6 folhinhas,
devem ser transplantas para o local definitivo; (ii) no plantio definitivo deve-se usar,
preferencialmente, solo de boa consistência, rico em matéria orgânica, bem arado e revolvido,
para assegurar boa permeabilidade; (iii) em geral, as adubações fosfatada e potássica são mais
importantes que a nitrogenada e (iv) um cultivo em pleno campo pode ser destinado à destilação
da essência, mas um cultivo em escala menor, para consumo doméstico ou para venda no varejo,
poderá ser feito mais convenientemente com semeadura em canteiro. A densidade de plantas por
hectare pode variar em função do sistema de cultivo adotado. Para cultivos caseiros ou em
pequenas áreas, o espaçamento recomendado é de 0,6 m entre linhas e 0,4 m entre plantas (MAY
et al., 2010). Cultivos intensivos com colheita mecânica requerem espaçamentos adequados ao
tráfego de máquinas. Quando cultivado sem irrigação, o plantio em local definitivo deve ser feito
de setembro a novembro, sendo que, em cultivos irrigados pode ser plantado o ano todo
(CARVALHO, 2002).
Em São Paulo o manjericão é semeado no início da época chuvosa, para ser colhido
depois de 5 meses ou mais, em abril ou mais tarde, quando já o tempo é seco e começa o frio.
Empregam-se de 100 a 200 g de semente por hectare, com distâncias entre linhas de cerca de 50
cm (MARANACA, 1985). Segundo o autor, um grama de sementes contém: cerca de 850
unidades nas variedades de folha grande, com peso específico médio de 515 g/l, e o poder
germinativo pode conservar-se por mais de três anos.
O manjericão deve ser cultivado a pleno sol (CARVALHO, 2002). Todavia, de acordo
com Maranaca (1985) a luz intensa e direta do sol reduz o aroma das folhas. Assim, o autor
indica espaçamentos entre linhas inferiores à 30 cm para se obter maiores densidades de plantios,
redução da incidência direta da luz do sol e favorecimento da qualidade do aroma.
Para o manejo de uma cultura de manjericão são necessários vários tratos culturais. A
planta é exigente em água e são necessárias fertilizações freqüentes quando se deseja cortes
sucessivos (MAY et al., 2010). Geralmente, a realização de capinas e o uso da irrigação são
necessários para favorecer o desenvolvimento das folhas, ricas em essência, bem mais do que as
flores, que são favorecidas pela escassez de água no solo (MARANACA, 1985). Cabe salientar
que fertilizações pouco freqüentes, baixa disponibilidade hídrica e baixas temperaturas durante o
inverno, aceleram a senescência da parte aérea da planta (MAY et al., 2010). Para uso de cozinha,
55
as inflorescências devem ser eliminadas à medida que aparecerem, e as folhas devem ser colhidas
aos poucos (MARANACA, 1985). O corte do pendão floral aumenta a longevidade da planta
(GOMES, 2007). No cultivo em escala industrial para a produção de óleo essencial, o sistema
mais econômico e que permite a obtenção de um rendimento médio maior, é o corte das plantas
inteiras na base (MARANACA, 1985).
2.4.5.5. Pragas e doenças
Embora o manjericão seja bastante tolerante às pragas e doenças, deve-se manter a área
cultivada livre de plantas daninhas e realizar as podas manuais das inflorescências. Estes
procedimentos evitam e/ou amenizam os problemas fitossanitários e favorecem o
desenvolvimento da planta.
Plantas de manjericão Ocimum basilicum com sintomas de manchas escuras nas folhas
foram coletadas em área de produção no município de Itabaiana, no Sergipe, e encaminhadas
para o laboratório de Fitopatologia da Embrapa Tabuleiros Costeiros, onde foi diagnosticada a
presença do fungo Pseudocercospora ocimicula (TALAMINI et al., 2009). Este fungo causa a
doença denominada cercosporiose do manjericão e é extremamente prejudicial ao seu cultivo.
Sobre os sintomas, danos e os fatores que favorecem a enfermidade, os autores anteriormente
mencionados, esclarecem: (i) surgem manchas foliares de aspecto aveludado; (ii) ocorrem lesões
em pecíolos e hastes, (iii) as folhas secam, provocando a desfolha prematura; (iv) a floração é
significativamente reduzida e (v) em cultivares suscetíveis e em locais com ambiente úmido e
temperaturas elevadas a severidade da doença é muito alta e pode provocar a morte das plantas.
2.4.5.6. Colheita e comercialização
O primeiro corte é feito três meses após o plantio das mudas de manjericão no campo,
devendo ser realizado a 40 cm do nível do solo para que a planta produza rapidamente novos
ramos (MAY et al., 2010). Segundo os autores, quando a altura do corte é menor que 40 cm e/ou
as plantas são submetidas à cortes muito intensos pode haver alta taxa de mortalidade e redução
da longevidade da cultura para no máximo um ano de cultivo.
A colheita das folhas deve ser feita quando a planta entrar em floração, para evitar a
perda do seu aroma, preferencialmente, pela manhã (até as 11:00 horas) (EMBRAPA, 2001). Os
próximos cortes devem ser realizados a cada 50 a 60 dias, ou quando as copas estiverem se
encontrando, para evitar que as folhas baixeiras caiam em virtude da pouca luminosidade (MAY
56
et al., 2010). Segundo os autores, o intervalo entre os cortes pode variar com a época do ano,
sendo que no inverno a taxa de crescimento das plantas reduz drasticamente, inclusive nos
cultivos irrigados. As folhas destinadas ao mercado são secadas artificialmente para conservar a
cor esverdeada e o aroma, numa temperatura que não deve exceder a 35°C (CARVALHO, 2002).
Quando a planta de manjericão é cultivada dentro de casa, em recipientes, e é colocada
junto a uma janela durante o inverno, é possível a colheita de folhas jovens durante todo o ano
(GOMES, 2007).
As condições edafoclimáticas do local, o sistema de cultivo e os espaçamentos
empregados, são exemplos de fatores que interferem no rendimento agrícola do manjericão. As
produtividades dos bons cultivos industriais raramente atingem 40 toneladas de material fresco
por hectare (MARANACA, 1985).
57
3. MATERIAL E MÉTODOS
Para atender os objetivos deste estudo, embasou-se basicamente nas atividades
desenvolvidas no projeto intitulado “Cultivo orgânico de hortaliças não-convencionais da
Amazônia: opção para a produção de alimentos e de renda para os Assentados do Sudeste
paraense‖. O citado projeto era parte integrante do programa ―Cultivo Orgânico de Hortaliças‖
(PROEX/2008).
As atividades do citado projeto foram desenvolvidas em Marabá, PA. Uma horta
orgânica foi implantada, em uma área de cerca de 500 m2, no Campus II da Universidade Federal
do Pará, desse município. Além disso, foi construída uma estrutura rústica para a produção de
mudas orgânicas em copos e bandejas de plástico, no quintal da residência do professor Sebastião
Lopes Pereira, da Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá (FCAM). Nesse local também
foram cultivadas algumas espécies de hortaliças não-convencionais da Amazônia com a
finalidade de produzir materiais propagativos destes vegetais (estacas, sementes e/ou mudas).
Nos parágrafos subseqüentes estes espaços físicos serão denominados de LOCAL I e LOCAL II,
respectivamente.
Para a caracterização agrometeorológica e climática do município de Marabá, PA, serão
apresentadas, na sequência, as conclusões elaboradas por Almeida (2007), de um estudo em que
analisou os dados diários da estação climatológica do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET), localizada na sede deste município. Marabá localiza-se a 05º 35’ de latitude S e 49°
15’ de longitude W. Sua altitude média é de 95 metros, apresenta temperatura média anual de
28oC, média de precipitação pluvial de 1.925,7 mm, concentrada, principalmente, no período de
dezembro a abril. A insolação média anual é de 2.263 horas. O clima é do tipo Afi, segundo a
classificação de Köppen.
Vale salientar que, em 2007, na primeira fase do programa intitulado ―Cultivo Orgânico
de Hortaliças: Enfoque especial na criação de minhocas (Eisenia foetida) para produção de
vermicomposto‖ (PROEX/2007) retirou-se uma amostra composta de solo da camada arável (0 -
20 cm) do LOCAL I. Os resultados das análises químicas (macronutrientes, micronutrientes e
metais pesados) e físicas inerentes à essa amostra de solo, realizadas no Laboratório Químico
TERRA LTDA, na cidade de Goiânia, GO, são apresentados na Tabela 3.
58
Tabela 3. Características químicas e físicas da camada arável (0-20 cm) do solo do LOCAL I
Características Valor Interpretação1/
----------------------------------------------- Análises Químicas ------------------------------------------------
============================ Macronutrientes ============================
Ca (cmolc/dm3) 2,7 Médio
Mg (cmolc/dm3) 0,2 Baixo
P (mg/dm3)
2/ 14 Médio
K (cmolc/dm3) 0,21 Alto
K (mg/dm3) 84 Alto
S (mg/dm3) 35 -
=========================== Micronutrientes =============================
B (mg/dm3) 0,5 -
Cu (mg/dm3) 1,9 -
Fe (mg/dm3) 500 -
Mn (mg/dm3) 59 -
Zn (mg/dm3) 2,4 -
Ni (mg/dm3) 0,01 -
============================ Metais Pesados ============================
Cd (ppm) 0,01 -
Pb (ppm) 0,01 -
Cr (ppm) 0,02 -
========================= Dados Complementares ========================
Na (mg/dm3) 31 -
Al (cmolc/dm3) 0,0 Baixo
H + Al (cmolc/dm3) 2,0 Baixo
pH (CaCl2) 4,7 -
Matéria Orgânica (%) 1,0 Baixo
CTC efetiva (cmolc/dm3) 3,1 Médio
CTC total (cmolc/dm3) 5,1 Médio
m (%) 0,0 Baixo
V (%) 62,0 Médio
Ca/Mg 13,5 -
Ca/CTC 51,0 -
Mg/CTC 4,0 -
K/CTC 4,0 -
H + Al/CTC 38,0 -
------------------------------------------------ Análises Físicas --------------------------------------------------
Argila (%) 23,0 -
Silte (%) 41,0 -
Areia (%) 36,0 - 1/ 5a aproximação (COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS).
Na seqüência serão citados e/ou explicitados, em ordem cronológica, os principais
procedimentos adotados para a implantação e condução da horta do programa (PROEX/2008).
Inicialmente, na segunda semana do mês de junho do ano de 2008, toda vegetação
existente no LOCAL I, predominantemente constituída pelo capim colonião Panicum maximum,
foi roçada. Nesse mesmo mês, foram adquiridos cem sacos (com 60 litros de capacidade) de
esterco bovino fresco e iniciou-se o processo de cura do mesmo; ademais se procedeu a
cercadura, com cinco fios de arame farpado, da parte superior desse terreno.
59
No LOCAL I, para o curtimento do esterco, confeccionaram-se três montes, com
formato cônico, com cerca de 1,0 m de altura. Eles foram revirados a cada 20 dias, durante todo o
processo de cura, cerca de 90 dias. Em cada reviramento procedeu-se a irrigação das camadas de
constituição dos montes, de forma que o material ficasse bem umedecido, porém sem excesso de
umidade.
Na primeira semana do mês de julho do ano de 2008, no LOCAL I, efetuou-se uma nova
roçagem e em seguida procedeu-se uma capina manual com a utilização de enxada. Visando
impedir a entrada de animais, especialmente de iguanas Iguana sp., na última semana desse mês
todo o perímetro externo foi cercado com tela.
Nas duas primeiras semanas de setembro de 2008, no LOCAL I, efetuou-se o
revolvimento manual do solo, com utilização de enxadão, da área destinada ao levantamento dos
canteiros. Posteriormente, procedeu-se a marcação dos canteiros, cortando as águas, ou seja,
perpendiculares à maior inclinação do terreno. Para tanto, estacas de madeira foram fincadas nos
cantos do canteiro e um barbante foi esticado entre elas. Cada canteiro foi levantado com cerca de
1,0 m de largura e 0,25 m de altura, sendo que, o comprimento foi variável em função das
condições apresentadas pela área. Entre os canteiros, deixou-se um corredor com cerca de 40 cm
a 50 cm de largura, para a circulação das pessoas.
Em seguida, nos canteiros, com a utilização de uma cavadeira, foram confeccionadas
covas com as seguintes dimensões (diâmetro e profundidade): 15 cm x 15 cm e 30 cm x 30 cm.
As covas de menor e maior volume foram adubadas com cerca de 400 mL e 1.000 mL de esterco
bovino curtido e peneirado e destinaram-se ao plantio de espécies folhosas e produtoras de frutos,
respectivamente.
Em vários outros pontos da horta, em locais onde não foram levantados canteiros,
confeccionaram-se pelo menos umas 150 covas com 30 cm de diâmetro e de profundidade,
espaçadas de 1,0 m x 0,5 m. Elas foram adubadas com 1.000 mL de esterco bovino curtido e
peneirado e destinaram-se ao plantio de várias espécies de hortaliças não-convencionais da
Amazônia.
Com a finalidade de produzir mudas orgânicas em copos e bandejas de plástico foi
construída uma estrutura rústica, no LOCAL II. Inicialmente, confeccionou-se uma bancada
suspensa com uma área de cerca de 6 m2, usando-se madeira (caibros e ripas) e vergalhões de
60
ferro para suportar as placas de isopor e as bandejas de plástico. Para a sua cobertura foi usado
sombrite preto com capacidade de retenção de 50% da radiação solar incidente. Salienta-se que,
as dimensões das placas de isopor utilizadas foram as seguintes: 100 cm de comprimento x 50 cm
de largura x 3 cm de espessura. As placas foram previamente perfuradas com a utilização de um
serra copos, o qual foi adaptado a uma furadeira elétrica. Em cada placa foram feitos setenta e
dois furos com cerca de 5 cm de diâmetro os quais permitiram o encaixe dos copos de plástico de
200 mL.
Os copos de plástico foram previamente preparados. Assim, esses recipientes foram
perfurados no fundo (furos de cerca de 2 cm de diâmetro), utilizando-se de um cano de ferro
aquecido. Posteriormente foram preenchidos com o substrato preparado com a utilização de uma
parte de esterco bovino curtido e peneirado e uma parte de solo da camada arável (0 - 20 cm),
retirado no LOCAL II, relação volume/volume. Salienta-se que substrato foi umedecido antes de
ser adicionado aos recipientes para não haver descida de material pelo orifício do fundo.
Em oito de outubro de 2008 efetuou-se a semeadura de vários cultivares de diversas
espécies de hortaliças convencionais e também do manjericão roxo Ocimum spp.
Para a semeadura nas bandejas, preencheram-se as cavidades com uma certa pressão.
Depois, com o próprio dedo ou com o escarificador de metal em formato de mão, fez-se um
pequeno orifício, no qual semearam-se, em média, três sementes nuas, por cavidade. Em seguida,
as sementes foram cobertas com o próprio substrato. Os procedimentos usados para a semeadura
nos copos de plástico foram similares.
Dentre os principais tratos culturais que foram dispensados às mudas produzidas nos
copos e nas bandejas de plástico, incluem-se os seguintes: irrigação, desbaste, escarificação e
monda (arranquio de plantas daninhas com as mãos).
Após a semeadura os recipientes foram irrigados duas vezes por dia (manhã e tarde), até
a germinação. As mudas, no período compreendido entre a emergência das plântulas e o
transplantio, também foram irrigadas duas vezes ao dia.
O desbaste foi realizado aos cinco dias após a emergência das plântulas. Nesta operação,
eliminou-se o excesso de mudas tanto nos copos como nas bandejas de plástico, deixando-se uma
muda (a de melhor aparência e/ou desenvolvimento) por copo ou célula.
61
Visando-se especialmente melhorar a infiltração de água, usando-se um pequeno prego,
realizaram-se várias escarificações tanto no substrato dos copos de plástico como no das células
das bandejas de plástico.
Como o solo utilizado para o preparo do substrato foi obtido da camada superficial,
verificou-se uma infestação expressiva de plantas daninhas. Assim, foram necessárias várias
mondas para que os recipientes utilizados se apresentassem, na maior parte do tempo, livres da
infestação de plantas invasoras.
Nos canteiros do LOCAL I, no mês de outubro, foram transplantadas as mudas
orgânicas de diversas cultivares de várias espécies de olerícolas tradicionais, de chicória
Eryngium foetidum L. e de jambu Spilanthes oleracea L. A semeadura do coentro Coriandrum
sativum L. foi feita diretamente no canteiro definitivo. Foram plantadas em canteiros, intercaladas
aos grupos de genótipo de alface Lactuca sativa L., rúcula Eruca sativa, mostarda Brassica
juncea e almeirão Chicorium intibus, as mudas de manjericão roxo. Também em canteiros foram
plantadas as estacas de manjericão verde Ocimum spp e joão-gomes Talinum sp., retiradas de
plantas cultivadas no LOCAL II. As sementes de manjericão roxo foram adquiridas em loja
especializada, em Belém, PA. As mudas de chicória e de jambu, as sementes do coentro, assim
como as estacas de manjericão verde e joão-gomes, que originaram as citadas plantas matrizes,
foram obtidas de pequenos olericultores que cultivam hortaliças no perímetro urbano de Marabá.
As covas confeccionadas em locais onde não foram levantados canteiros, no Local I,
destinaram-se ao plantio das seguintes espécies: vinagreira Hybiscus sabdariffa L., alfavacão
Ocimum gratissimum L., bertalha Basella alba L., ora-pro-nóbis Pereskia sp. e inhame Colocasia
esculenta. Para o plantio das três primeiras espécies citadas utilizou-se mudas desenvolvidas
espontaneamente a partir de plantas cultivadas no Local II. O ora-pro-nóbis foi reproduzido por
estaquia. Usou-se tubérculo-semente para o plantio do inhame. As sementes que originaram as
plantas de vinagreira e alfavacão cultivadas no Local II e os tubérculos-sementes de inhame
foram obtidas de pequenos olericultores que cultivam hortaliças no perímetro urbano de Marabá.
As mudas de bertalha, assim como as estacas de ora-pro-nóbis, que originaram as plantas
matrizes usadas no projeto foram doadas por um olericultor do município de Sete Lagoas, MG,
ao coordenador do projeto, em sua visita a esta cidade, no mês de julho de 2007.
62
No Local II, também foram cultivadas, em covas, algumas plantas de cubiu Solanum
sessiliflorum Dunal, e em canteiros: coentro, chicória, joão-gomes e jambu.
Os espaçamentos adotados para as diversas espécies são citados na Tabela 4.
Tabela 4. Espaçamentos usados nos diversos cultivos desenvolvidos nos dois espaços físicos do
projeto.
Espécie Espaçamento (m).
Bertalha 0,3 x 0,3
João-gomes 0,3 x 0,3
Vinagreira 1,0 x 1,0
Ora-pro-nóbis 3,0 x 1,0
Inhame 1,0 x 1,0
Cubiu 1,0 x 1,0
Coentro 0,3 x 0,1
Alfavacão 1,0 x 1,0
Chicória 0,3 x 0,2
Jambu 0,3 x 0,2
Manjericão 0,5 x 0,3
Na condução dos diversos cultivos os principais tratos culturais empregados foram os
seguintes: consorciação de culturas, irrigação, capina, cobertura morta e escarificação.
Com o objetivo principal de reduzir a incidência e proliferação de pragas e doenças o
policultivo foi amplamente usado. Assim, diversas espécies foram cultivadas na horta orgânica
para se conseguir um ambiente mais equilibrado, próximo do que ocorre na natureza. Várias
espécies foram cultivadas em um mesmo canteiro. Em alguns canteiros, o manjericão, planta
capaz de repelir alguns insetos, também foi cultivado entre genótipos de hortaliças
convencionais.
A maioria dos cultivos foi irrigada duas vezes ao dia usando-se, principalmente, uma
mangueira. O regador, com e sem o crivo, também foi bastante usado.
A casca de arroz e os restos de plantas daninhas secas, provenientes das operações de
roçada e capinas, foram os materiais usados para se efetuar a cobertura morta das superfícies dos
canteiros da horta orgânica no LOCAL I.
Em virtude da utilização de cobertura morta, em toda a área cultivada da horta orgânica,
o controle das plantas daninhas ficou facilitado. Entretanto, para manter as culturas sempre no
limpo, foram necessárias algumas capinas.
63
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dois espaços físicos utilizados no projeto, quais sejam: a horta orgânica implantada
no Campus II da UFPA, em Marabá, PA e o quintal da residência do professor Sebastião Lopes
Pereira, doravante serão denominados de LOCAL I e LOCAL II, respectivamente.
4.1. BERTALHA
As plantas de bertalha Basella alba L., que foram cultivadas no Local I, próximo das
laterais da horta, para que a cerca de tela lhe servisse como suporte (Figura 1A), exibiram um
desenvolvimento vegetativo exuberante, tanto no período seco como no chuvoso, comprovando
mais uma vez a rusticidade da espécie e a viabilidade do seu cultivo na época chuvosa na região
Amazônica. O aspecto das folhas, de uma planta jovem cultivada na Local II (Figura 2A),
justifica algumas denominações vulgares que a planta recebe, como por exemplo, couve gorda e
reitera os comentários de alguns autores. Gusmão et al. (2004), por exemplo, cita que esse vegetal
é utilizado como hortaliça por apresentar folhas carnosas.
Na Figura 3A nota-se claramente o hábito trepador da bertalha. Detectou-se que o
crescimento desordenado do caule e ramos da bertalha leva à diminuição no tamanho das folhas.
Em virtude disso, alguns autores recomendam a realização de podas periódicas na planta para
evitar que ela assuma seu hábito natural de trepadeira (GUANABARA, 1972).
Nas Figuras 1A a 3A, pode-se observar várias outras características botânicas da
bertalha citadas na literatura. Segundo Paiva (1979), por exemplo, essa espécie de hábito perene,
apresenta ramos lenhosos e tenros e folhas glabras, alternadas, ovais ou cordiformes, carnudas
suculentas com 7-15 cm de comprimento. Cardoso (1997) faz comentários semelhantes. Para a
autora, ela é anual, herbácea, com folhas com tamanhos, formatos e colorações variáveis, de
acordo com a variedade. Ademais, suas flores são sésseis, pequenas, brancas ou violáceas e
hermafroditas, agrupam-se em cachos axilares ou terminais. Seus frutos são ovais lobulados com
mais ou menos 8mm de diâmetro (PAIVA, 1979). As sementes da bertalha, arredondadas com
tegumento fibroso, são semelhantes às da pimenta-do-reino Piper nigrum L. (Figura 4A).
64
4.2. JOÃO-GOMES
O joão-gomes Talinum sp. é uma planta de múltiplos usos, visto que pode ser utilizada
para fins culinários, terapêuticos e ornamentais. Nas Figuras 5A e 6A notam-se duas plantas de
joão-gomes floridas, ambas cultivadas no Local II. As citações de alguns autores aliadas aos
aspectos das plantas no citado estádio, nos induz a concluir que a planta da Figura 5A é da
espécie Talinum patens (Jacq.) Willd. e a da Figura 6A é da espécie Talinum triangulares (Jacq.)
Willd. Zurlo e Brandão (1990), por exemplo, citam que a inflorescência da primeira espécie é
longo-pedunculada e axilar, com flores abundantes, pequenas, pentâmeras, hermafroditas, de cor
rosa-violácea, realçam a sua potencialidade para ser cultivada em jardins como planta
ornamental. Por outro lado, esses mesmos autores, reportam que as folhas da segunda espécie
também são carnosas, porém suas flores são amarelas ou brancas.
As plantas cultivadas no projeto exibiram um desenvolvimento vegetativo exuberante
(Figura 7A), evidenciando, mais uma vez, que a espécie é bem adaptada aos climas quentes e
úmidos da região Amazônica. Observando-se o sistema radicular de uma planta do joão-gomes
(Figura 8A) nota-se presença de uma raiz tuberosa.
Na descrição das características botânicas do joão-gomes, elaborada por Cardoso (1997),
incluem-se as seguintes afirmações: (i) o caule é ramificado, crescendo até 1 m,
aproximadamente; (ii) a folhagem é vigorosa; (iii) os frutos são cápsulas deiscentes, que se
formam e amadurecem, em pouco tempo, após a produção das flores e (iv) as sementes são
pretas, de superfície lisa, e muito pequeninas. Segundo a autora, cada fruto produz em média, 78
sementes sendo que o peso de 4.000 delas é de, aproximadamente, 1 g. Martins et al. (2000),
reporta que essa espécie é uma erva ereta com folhas carnosas e glabras. As folhas suculentas
desse vegetal, de cor verde-brilhante, se fixam diretamente à haste, em forma de espiral. Várias
dessas características botânicas mencionadas podem ser observadas nas Figuras 5A a 8A.
4.3. VINAGREIRA
Na Figura 9A nota-se uma fileira de plantas de vinagreira Hybiscus sabdariffa L. de
folhagem verde com bom aspecto, cultivada no Local I. O fato de ter sido feita apenas uma
adubação orgânica da cova, cerca de vinte dias antes do plantio, com 1 litro de esterco bovino,
65
evidencia a baixa exigência nutricional e/ou alta eficiência dessa espécie na absorção de
nutrientes e que as condições edafoclimáticas da Amazônia Oriental são propícias para o seu
cultivo.
Embora tenha sido usada uma forma local selecionada regionalmente de vinagreira, e
não uma variedade propriamente dita, o que nos induz a concluir que o material genético usado é
rústico, porém algumas plantas foram severamente atacadas por cochonilhas (Figura 10A).
Comentando sobre as características botânicas da vinagreira, Cardoso (1997) destaca,
entre outras, as seguintes: (i) é um arbusto anual, que pode atingir até 3 m de altura, cujo caule é
verde ou avermelhado; (ii) as folhas são alternadas, sendo as superiores profundamente lobadas e
dentadas, e as inferiores, ovadas e internas; (iii) as flores são branco-amareladas, rosas ou
púrpuras, com o cálice vermelho e carnoso, medindo aproximadamente 2 cm; (iv) o fruto é uma
pequena cápsula vermelha, pentalocular de forma cônica-ovóide e (v) as sementes são numerosas
e curvas. Várias dessas características citadas podem ser observadas nas Figuras 9A e 10A.
4.4. ORA-PRO-NÓBIS
Conforme foi citado na subseção 2.1.4.1. tanto a espécie Pereskia aculeata Mill. como a
Pereskia grandiflora, são conhecidas sob a denominação de ora-pro-nóbis (ZURLO;
BRANDÃO, 1990). Ambas são plantas trepadeiras, perenes e com caules espinhosos (Figuras
11A e 12A). Essas características justificam o fato dessa espécie ser usada como cerca-viva.
Comentando sobre as características botânicas que podem ser usadas para a identificação dessas
espécies, os autores anteriormente mencionados, citam que: (i) as folhas da primeira espécie são
pequenas, e as da segunda são maiores, porém mais estreitas; (ii) as flores são brancas na
primeira espécie e róseas e maiores na segunda. Uma das plantas do projeto, cultivadas no local I,
produziu uma florada generosa (Figura 13A). Nessa Figura, notam-se as flores brancas, com
miolo alaranjado. Baseado especialmente no aspecto das flores concluiu-se que a planta é da
espécie Pereskia aculeata. Vale salientar que poucas pessoas conhecem ou tiveram a
oportunidade de presenciar uma planta de ora-pro-nóbis em floração, pois esta fase é efêmera,
visto que dura apenas dois a três dias. As plantas do gênero Pereskia produzem flores muito
perfumadas e melíferas. Portanto, são muito procuradas e disputadas, pelas diversas espécies de
66
insetos, inclusive pelas abelhas Apis melifera. Assim, o cultivo dessas espécies é indicado
também aos apicultores.
Embora o ora-pro-nóbis pertença à família das Cactáceas, adaptada, conseqüentemente,
a déficit hídrico, as plantas cultivadas no Local II vêm exibindo um desenvolvimento exuberante
tanto no período seco como no período chuvoso, evidenciando que ela suporta também chuvas
contínuas. Isso se apresenta como um aspecto de grande relevância, visto que são poucas as
espécies de hortaliças folhosas que se desenvolvem de forma satisfatória na região Amazônica no
período chuvoso. Na Figura 14A notam-se as folhas ovaladas, lanceoladas, bastante carnosas,
grossas e suculentas da planta.
4.5. INHAME
Dentre as principais características de plantas da variedade Chinês de inhame Colocasia
esculenta, incluem-se as seguintes: altura de, aproximadamente, 60 cm, folhas grandes e verdes
(limbo e pecíolo) e com limbo cordiforme (Figura 15A).
Ao contrário da maioria das espécies cultivadas de plantas, o inhame se desenvolve bem
em solos com excesso de umidade. Assim, no projeto (Local I), foram implantadas algumas
fileiras de plantas do inhame Chinês na parte do terreno que acumula água no período chuvoso
(Figura 16A). Vale salientar que em virtude da impossibilidade de se irrigar as touceiras de
inhame no período seco, várias plantas morreram. O inhame não sobrevive em solo seco
(ABRAMO, 1990).
O elevado potencial de rendimento do inhame por área em condições de clima tropical
úmido pode ser ilustrado pela produção exibida por duas plantas da variedade Chinês, colhidas ao
acaso, na área do projeto (Figura 17A). Nessa Figura, algumas características importantes da
parte subterrânea dessa variedade podem ser observadas, podendo-se destacar, entre outras, as
seguintes: os rebentos, ou "dedos", são pequenos, ovais e cobertos por densa túnica, o que lhes dá
aspecto de pião. Uma desvantagem dessa cultivar se prende ao fato dela produzir grande
quantidade de rebentos sem valor comercial (SANTOS, 1987).
67
4.6. CUBIU
O cubiu Solanum sessiflorum Dunal é uma hortaliça herbácea, produtora de frutos,
amazonense. Trata-se de um arbusto de ciclo anual, com altura variando entre 1 m e 2 m, ereto e
ramificado. Possui folhas simples, alternadas, com arranjos em espiral (em grupo de três), longas
e pecioladas. As folhas maiores têm o pecíolo com até 14 cm e a lâmina até 58 cm de
comprimento. Várias dessas características botânicas citadas podem ser observadas na Figura
18A.
No Local II, foram cultivadas três plantas de cubiu. As sementes utilizadas foram doadas
por um pequeno olericultor, do município de Marabá que, na oportunidade, ano de 2008,
cultivava uma horta no Bairro Novo Planalto, perímetro urbano desse município. O aspecto de
uma planta de cubiu em produção (Figura 19A), cultivada no citado local, reitera os comentários
de vários autores de que o cubiu, planta originária da Amazônia Ocidental, cresce bem e produz
abundantemente em regiões de clima quente e úmido. As sementes do cubiu são glabras,
ovaladas e achatadas (Figura 20A)
Entre as diversas características botânicas inerentes à fase reprodutiva do cubiu, citadas
por Cardoso (1997), incluem-se as seguintes: (i) a floração ocorre de quatro a cinco meses após a
semeadura; (ii) as flores, tanto as hermafroditas quanto as estaminadas e que se encontram na
mesma inflorescência, não possuem diferenças morfológicas marcantes, a não ser o estilete
reduzido e o ovário rudimentar nas flores estaminadas; (iii) cada planta apresenta, em média,
nove inflorescências, de pedúnculo curto (medindo 3 mm a 10 mm), apresentando de cinco a
nove botões e (iv) a planta é, provavelmente, autógama. Sobre os frutos e as sementes do cubiu, a
mesma autora anteriormente mencionada, esclarece o seguinte: (i) o fruto do cubiu apresenta
formas variadas, de acordo com o genótipo: redondo, achatado, quinado, cordiforme (forma de
coração) ou cilíndrico; (ii) o fruto apresenta coloração verde quando imaturo, amarela quando
maduro, tornando-se finalmente marrom-avermelhada; (iii) a espessura da polpa é proporcional
ao tamanho do fruto; (iv) cada fruto, que pode variar de 30 g a 450 g, contém de 500 a 2.000
sementes e (v) o peso de 1.000 sementes corresponde a 1,2 g.
68
4.7. COENTRO
Embora o coentro Coriandrum sativum L. já seja amplamente cultivado pelos pequenos
olericultores do município de Marabá, PA, entretanto, freqüentemente, as lavouras são
conduzidas sem nenhuma orientação técnica. Assim, julgou-se importante cultivá-lo no projeto
com o objetivo principal de se difundir orientações técnicas atuais sobre o seu cultivo. Além
disso, pretende-se futuramente desenvolver pesquisas visando-se identificar as variedades mais
produtivas nas condições edafoclimáticas locais.
A partir da germinação as plântulas de coentro cultivadas em um canteiro, na horta
orgânica, no Local I, exibiram um ritmo lento de crescimento (Figura 21A). Entretanto, as plantas
jovens, após algum tempo, passaram a exibir um bom ritmo de crescimento. As plantinhas de
coentro crescem lentamente, mas tão logo o seu sistema radicular se forme, o desenvolvimento
das plantas se torna bem evidente (HERTWIG, 1986).
Algumas plantas de coentro cultivadas no projeto não foram colhidas com o intuito de se
observar o aspecto da planta na época da floração (Figura 22A) e para a colheita dos frutos.
Nessa Figura, pode-se observar várias características da planta nesse citado estádio, que serão
apresentadas na seqüência. As flores do coentro, dispostas em umbelas pouco pedunculadas de 5
a 10 raios, são pequenas, brancas ou róseas (HERTWIG, 1986). As folhas que rodeiam as
umbelas são parecidas com as do funcho. Os frutos do coentro, impropriamente chamados de
"sementes", são bagas esféricas, com nervuras, de cor vermelha a marrom, raramente alcançam 5
mm e contém duas sementes (Figura 23A). O autor anteriormente mencionado, cita ainda as
seguintes características botânicas do coentro: (i) é uma planta herbácea anual cuja altura média
varia entre 25 a 60 cm; (ii) o caule é cilíndrico, estriado, um pouco ramificado e (iii) as folhas são
de cor verde brilhante, alternas, pinadas ou bipinadas; as folhas inferiores são pinadas e as
superiores bipinadas.
4.8. ALFAVACÃO
As plantas de alfavacão Ocimum gratissimum L. cultivadas em ambos locais do projeto
exibiram um desenvolvimento exuberante (Figura 24A). A planta é espontânea e pode atingir até
2 m de altura (CARVALHO, 2002). Outras características botânicas, segundo Cardoso (1997),
69
dessa espécie: (i) o caule é muito ramificado, (ii) os ramos, com quatro ângulos, são eretos e
pubescentes; (iii) as folhas são simples e aromáticas; (iv) suas flores são brancas, róseas ou
purpúreas, labiadas em cachos terminais e (v) suas sementes oblongas, pretas e pequenas. Para
Rodrigues et al. (2004), as margens das folhas desse vegetal são serrilhadas, seu fruto é capsular e
contém 3-4 sementes.
4.9. CHICÓRIA
As plantas de chicória Eryngium foetidum L. cultivadas no projeto exibiram um
desenvolvimento apenas regular (Figura 25A). O principal fator limitante ao crescimento das
plantas foi a deficiência hídrica, visto que não foi possível irrigar de forma adequada o canteiro
durante o desenvolvimento das plantas.
A chicória é uma planta herbácea, que produz folhas radiais e numerosas, com aparência
semelhante à da alface. No início da fase reprodutiva, ou seja, na fase de emissão de haste floral
(Figura 26A), deve-se cortar o pendão floral. Segundo Cardoso (1997) esta prática incrementa o
rendimento e a qualidade das folhas colhidas.
4.10. JAMBU
No projeto foi cultivado um canteiro com jambu Spilanthes oleracea L. As plantas
exibiram um desenvolvimento regular (Figura 27A). O principal fator limitante ao crescimento
das plantas foi a deficiência hídrica, visto que não foi possível irrigar de forma adequada o
canteiro durante o desenvolvimento das plantas.
O jambu é uma planta herbácea, de pequeno porte e hastes rastejantes, ramificadas.
Possui folhas longo-pecioladas, de disposição oposta, ovadas, dentadas e de ápice agudo (Figura
28A). Suas flores amarelas agrupam-se em capítulos, terminais ou axilares (Figura 29A). O fruto
é do tipo aquênio, oblongo, marginado, aristado. As sementes são achatadas e de tamanho
diminuto, tanto que em 1 g destas ainda com impurezas (Figura 30A), ou seja, com restos de
infrutescências, contam-se cerca de 2.000 sementes (CARDOSO, 1997).
70
4.11. MANJERICÃO
Conforme foi explicitado na seção 3, no Local II do projeto foram produzidas mudas
orgânicas de manjericão Ocimum spp. da variedade roxa, em bandejas de plástico (Figura 31A).
Visando aproveitar a capacidade do manjericão de repelir alguns insetos, duas dessas mudas, em
alguns canteiros, foram cultivadas intercaladas aos grupos de nove plantas, correspondentes a
cada genótipo de alface Lactuca sativa L., rúcula Eruca sativa, almeirão Chicorium intibus e
mostarda Brassica juncea (Figura 32A). Na região do Mediterrâneo o manjericão é plantado em
beirais das janelas para repelir mosquitos e moscas domésticas (MAY et al., 2010).
Nos dois espaços físicos utilizados no projeto também foram cultivados o manjericão
verde. Em geral, as plantas exibiram um desenvolvimento exuberante e excelente aspecto nos
diversos estádios de desenvolvimento (Figuras 33A e 34A). No parágrafo subseqüente serão
descritos vários aspectos botânicos do manjericão embasados em vários autores. Várias dessas
características citadas podem ser observadas nas Figuras 31A a 34A.
O manjericão é uma planta anual ou perene, quando em condições favoráveis.
(MARANACA, 1985). Sua altura média é de uns 40 a 50 cm, muito embora em certas
circunstâncias (solo, clima e espécie) possa ultrapassar um metro (HERTWIG, 1986). Possui
ramos lenhosos e quadrangulares e folhas pubescentes em ambos os lados, dotadas de pecíolo,
ovado-lanceoladas e crenado-cerradas (MARTINS, 1989). As flores são: branco-amareladas,
róseas, purpúreas, e lilases (HERTWIG, 1986); brancas ou arroxeadas (CARVALHO, 2002) e
avermelhadas (EMBRAPA, 2001). O fruto é um aquênio que resulta em sementes oblongas,
preto-azuladas e pequenas (HERTWIG, 1986).
71
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca por uma agricultura mais saudável tem intensificado o aprimoramento de
técnicas menos agressivas ao meio ambiente. Assim, em várias regiões do mundo, e inclusive no
Brasil, as práticas de cultivo que haviam sido colocadas em segundo plano a partir da revolução
verde, estão gradativamente sendo reintegradas aos sistemas produtivos de muitas espécies,
principalmente das hortaliças.
Algumas características da própria planta da bertalha Basella alba L. e/ou do seu cultivo
nos induz a acreditar que em médio a longo prazo possa ocorrer a ampliação do seu cultivo, na
Amazônia. Dentre os diversos aspectos positivos inerentes ao potencial produtivo dessa espécie,
incluem-se os seguintes: (i) produção contínua durante todo o ano; (ii) alto poder de regeneração
após o corte; (iii) alto valor nutritivo; (iv) fácil propagação vegetativa; (v) resistência às doenças
comuns na região Amazônica e (vi) folhas tenras e saborosas. Por outro lado, nessa região, alguns
aspectos são considerados como limitantes à ampliação das áreas de cultivo dessa hortaliça,
podendo-se destacar, entre esses, a sua suscetibilidade aos nematóides do gênero Meloidogyne, e
os teores elevados de ácido oxálico na sua composição.
Os nematóides do gênero Meloidogyne provocam o surgimento de ga1has nas raízes da
bertalha, deformando-as totalmente. Em conseqüência desse ataque, ocorre o amarelecimento das
folhas, e, em casos extremos, até mesmo a morte da planta. O combate com nematicida muitas
vezes é anti-econômico.
A bertalha, assim como todos os espinafres, apresenta teores consideráveis de ácido
oxálico, o que limita o seu consumo a quantidades menores que 500g/pessoa/dia. Entretanto, na
região Amazônica, a probabilidade de se registrar problemas de saúde em virtude da ingestão
excessiva dessa substância através do consumo dessa hortaliça é baixa, visto que, no regime
alimentar do amazônida a quantidade de matéria fresca geralmente nunca ultrapassa 200g/dia.
Conforme foi citado em 2.1.1.3, no território brasileiro não existem variedades definidas
e, sim, variedades locais de bertalha. Considerando-se que já foram detectadas variações em
diversas características botânicas, em plantas dessa espécie depreende-se que existe variabilidade
suficiente que poderá ser usada em programas de melhoramento genético para obtenção de
variedade(s) melhorada(s).
72
O joão-gomes Talinum sp. está ligado às tradições culturais dos amazônidas, sendo
comumente plantado em quintais e até jardins, objetivando a provisão rotineira das famílias. É
uma hortaliça de preços populares, o que a torna acessível às pessoas de baixa renda, que podem
adquirir e consumir um produto de ótimo valor nutritivo.
O desenvolvimento da parte subterrânea do joão-gomes é variável em função,
especialmente, do solo e/ou variedade. Alguns autores vislumbram a potencialidade do consumo
da sua raiz tuberosa (cozida e ou processada sob a forma de pães e outros derivados).
A vinagreira Hybiscus sabdariffa L. é uma planta de múltiplos usos. É especialmente
utilizada com as seguintes finalidades: hortaliça, medicinal, ornamental e têxtil. Além disso, é de
fácil cultivo; não exige solo muito fértil e não sucumbe facilmente aos ataques de insetos. Para o
seu cultivo é necessário apenas a luz do sol e um terreno úmido.
Nos últimos anos, a vinagreira vem despertando o interesse das indústrias de alimentos e
bebidas. Essas indústrias estão estudando, especialmente, as brácteas ou cálices dessa planta por
vislumbrarem a possibilidade de sua exploração racional como matéria-prima para elaboração de
alimentos e como fonte natural de corantes, demonstrando assim um grande potencial econômico.
O que foi explicitado nos dois parágrafos anteriores nos induz a acreditar que existem
perspectivas favoráveis, em médio a longo, para a expansão do cultivo da vinagreira,
especialmente na Amazônia.
O ora-pro-nóbis, pertence ao gênero Pereskia, é o mais primitivos dos cactos, sendo o
único com folhas desenvolvidas. É uma planta multifuncional. Pode ser utilizada como cerca-
viva. Suas folhas podem ser usadas não somente na alimentação humana, como também animal.
Ademais, em virtude de ser uma planta melífera, pode ser empregada por apicultores.
O ora-pro-nóbis é excelente suplemento alimentar para os animais de criação. Pode ser
utilizado para a alimentação de cabras, ovelhas, vacas, galinhas, patos, gansos, avestruzes, porcos
e coelhos. Também pode ser incorporado a diversas rações industrializadas, para animais.
O que mais contribuiu para a disseminação do ora-pro-nóbis no território brasileiro foi o
fato dele se prestar muito bem para a implantação de cercas-vivas. Especialmente, antes do
desenvolvimento das indústrias produtoras de arame farpado, a planta, pouco exigente em solos e
73
manejo, era muito usada com essa finalidade, por se apresentar como uma opção eficiente e
econômica.
Conhecido como a ―carne do pobre‖, devido a seu alto teor de proteína, o ora-pro-nóbis,
também apresenta teores excepcionalmente elevados de certos aminoácidos essenciais e não
possui nenhum princípio tóxico. Entretanto, no Brasil, apenas em algumas regiões principalmente
do Estado de Minas Gerais, o consumo das suas folhas na culinária é expressivo. No município
de Sabará, a 25 quilômetros de Belo Horizonte, capital mineira, desde 1997, todo ano é realizado,
no mês de maio, o Festival do ora-pro-nóbis. Neste evento, é realizado um concurso de receitas
com essa planta. A espécie também é comum no Nordeste, mas nesta região perde as folhas
periodicamente e produz mais flores e frutos, ambos comestíveis.
Conforme foi explicitado na subseção 4.4., concluiu-se que as plantas cultivadas no
projeto são da espécie Pereskia aculeata. Vale salientar que essas plantas, nas condições
edafoclimáticas do município de Marabá, PA, exibiram um crescimento exuberante, tanto na
época da seca como no período chuvoso. Esses dados preliminares, aliados ao fato de que o
interesse econômico pela espécie se intensificou nos últimos anos pela indústria alimentícia e
farmacológica, sobretudo pelo alto teor de proteínas, lisina e mucilagem que apresentam,
sugerem que, numa perspectiva futura, essa hortaliça folhosa poderá se apresentar como uma
excelente opção de cultivo comercial, especialmente para o período chuvoso, na Amazônia
Oriental. A possibilidade de se cultivar a planta como cerca viva, não utilizando outras áreas de
cultivo, se apresenta como outro aspecto positivo.
Acredita-se que o cultivo mecanizado e o processamento industrial do ora-pro-nóbis
poderiam representar uma revolução nos recursos alimentícios da humanidade. A espécie poderia
integrar planos de governos na recuperação de áreas degradadas e no combate à fome. A
instalação de indústrias de produção de pó de folhas desidratadas viabilizaria o uso do pó obtido
para ser misturado na massa do pão branco (de padaria), nos biscoitos, no macarrão e nas rações
de animais.
Para aumentar a importância econômica e social do ora-pro-nóbis, ou seja, para que essa
planta possa ser mais freqüentemente usada para complementar a alimentação especialmente de
famílias de baixa e como alternativa para diversificação na agricultura familiar, deverão ser
conduzidos trabalhos de divulgação da espécie e que possibilitem a ampliação do seu uso.
74
Ademais, pesquisas agronômicas devem ser desenvolvidas para viabilizar a sua produção em
nível comercial.
Em todo território brasileiro e, especialmente, na região Amazônica existem grandes
extensões de terras inaproveitadas pela agricultura tradicional, como as várzeas inundadas ou
pantanosas, convivendo ao lado de populações desnutridas. Essas áreas poderiam ser utilizadas
para o cultivo do inhame Colocasia sp. As pesquisas efetuadas na Amazônia destacam a
possibilidade do cultivo dessa espécie, com alta produtividade, nos Estados do Pará, Amazonas e
Rondônia.
Dentre as inúmeras outras vantagens do inhame, incluem-se as seguintes: (i) alta
capacidade para absorver os nutrientes do solo; (ii) fácil conservação, suporta grandes períodos
de armazenamento em condições de baixa umidade; (iii) altíssima qualidade de seu amido, possui
os grânulos amiláceos mais finos encontrados na natureza; (vi) fácil obtenção de farinha pelo
processamento dos tubérculos, garantia de um armazenamento duradouro; (v) pode ser usado para
a produção de álcool e (vi) alto rendimento, podendo produzir, em boas condições culturais, até
cem toneladas por hectare. Além disso, a espécie apresenta alta rusticidade, especialmente quanto
aos aspectos fitossanitários, sob condições de altas temperaturas e umidades, o que possibilita o
seu cultivo com baixo custo de produção.
Alguns autores argumentam, embasados em várias dessas qualidades do inhame,
explicitadas no parágrafo anterior, que as populações da Amazônia Oriental, especialmente as
famílias de baixa renda, deveriam aumentar o seu consumo em substituição à batata inglesa.
Outro fator de suma importância para os que defendem essa idéia, se prende ao fato de que, nessa
região, as condições climáticas impossibilitam a produção econômica da batata inglesa. Em
virtude disso, toda a batata inglesa consumida na região é importada da região Sudeste do Brasil.
Assim, a maior parte da batata comercializada nessa região, com preços elevados, é de baixa
qualidade.
O valor nutritivo do inhame é superior ao da batata inglesa em teores de amido,
proteínas, vitaminas do complexo B e açúcar. Isso aliado ao fato dele ser de melhor
digestibilidade e exigir menor tempo de cocção, se apresentam como outros fatores positivos
relevantes para os que consideram que o cultivo e o consumo dessa espécie devem receber o
maior incentivo possível na região Amazônica.
75
Apesar de possuir todas estas vantagens o inhame, hortaliça tipicamente tropical nunca
foi incorporada à dieta diária do consumidor brasileiro de descendência européia,
conseqüentemente, o seu consumo é insignificante em comparação ao da batata inglesa.
Em resumo, a cultura do inhame no Brasil tem sido pouco pesquisada e incentivada. O
inhame, se incentivado para a alimentação, seria um grande aliado da economia nacional. Pelas
nossas condições climáticas e pela extensão somada de várzeas que os estados possuem, a nossa
produção deveria ser a mais alta do mundo. Além do uso direto dos tubérculos na culinária, o
produto colhido seria empregado para os seguintes fins: farinha, ração animal, álcool e alimentos
industrializados.
O cubiu Solanum sessiliflorum Dunal é um importante recurso genético para o povo da
Amazônia, porque produz frutos tradicionalmente utilizados como alimento, medicamento e
cosméticos. Do ponto de vista agronômico, o cubiu apresenta potencialidades para a agricultura
moderna, dada à sua rusticidade, boa capacidade de produção e possibilidade de aproveitamento
de seus frutos. Entretanto, o potencial para a industrialização e consumo direto desse fruto ainda
não foram devidamente estudados no Brasil. Poucas instituições de pesquisas brasileiras têm
pesquisado essa espécie.
Por se tratar de um excelente produto para o agronegócio, aprofundar o conhecimento
sobre o cubiu será uma contribuição de grande valia para a sociedade da região Amazônica. A
espécie vem sendo estudada há mais de 20 anos pelo Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (INPA). O INPA implantou um banco de germoplasma que contém mais de 50
introduções de cubiu de diferentes origens da Amazônia brasileira, peruana e colombiana. O
material que está sendo caracterizado e avaliado tem-se mostrado muito promissor, pois apresenta
variabilidade genética ampla quanto às características de importância agronômica, tais como:
forma, número, tamanho e peso dos frutos, número de lóculos, espessura da polpa, teor de sólidos
solúveis totais e resistência a pragas e doenças. Vale salientar que os resultados preliminares dos
experimentos conduzidos pelo Setor de Hortaliças do INPA, objetivando avaliar os rendimentos
de diversas plantas da sua coleção, sugerem que o cultivo do cubiu pode ser rentável.
Com a seleção e melhoramento do cubiu para ser cultivado na Amazônia, a população de
baixa renda regional poderá contar, a curto prazo, com a melhoria da sua dieta alimentar. Por
possuir um forte apelo medicinal, o cubiu apresenta-se como uma nova opção dentro da
76
agricultura brasileira, o que vem despertando grande interesse das indústrias de sucos, doces,
laboratórios farmacêuticos e de cosméticos. Portanto, em médio e longo prazo, é possível que
haja um incremento das áreas cultivadas para atender as necessidades dessas indústrias. A grande
variação genética nos materiais do banco de germoplasma do INPA se apresenta como uma
vantagem quando se analisa as possibilidades de utilização dos frutos do cubiu na indústria. Ela
poderá ser aproveitada em programas de melhoramento da espécie visando atender a qualquer
exigência da agroindústria moderna. Outro aspecto favorável à expansão dos cultivos dessa
espécie nessa região se prende ao fato de que, em solos de várzeas da Amazônia, em virtude da
sua boa adaptação nesse ambiente, é possível produzir frutos com pouco ou nenhum insumo,
permitindo sua comercialização por preços bem acessíveis.
Um dos grandes entraves quando se analisa as perspectivas de implantação de cultivos
comerciais de cubiu no Brasil é a incidência de nematóides. Em nossa pesquisa bibliográfica
registramos a conclusão de um autor, que desenvolveu experiências com essa espécie em terras
da Universidade Central da Venezuela, de que é impossível o seu cultivo comercial. Entretanto,
considera-se que os experimentos realizados até o momento não são suficientes para generalizar-
se quanto ao seu cultivo solteiro. É possível que seja necessário recorrer a uma cultura mista, com
plantas resistentes aos nematóides, ou outras doenças.
Como toda espécie em vias de se tornar uma cultura visando sua exploração econômica,
ainda existe uma série de informações necessárias para ser fornecida aos agricultores interessados
no plantio do cubiu. Técnicas de plantio, produção de mudas, espaçamento, adubação e colheita
devem ser desenvolvidas para cada região de cultivo, em função das diferentes condições
edafoclimáticas.
No Brasil, o coentro Coriandrum sativum L. é a hortaliça folhosa condimentar muito
utilizada na culinária típica regional, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
No município de Marabá, PA, o coentro é amplamente cultivado pelos pequenos
olericultores. Entretanto, freqüentemente, as lavouras são conduzidas sem nenhuma orientação
técnica. Assim, com o objetivo principal de se difundir tecnologias mais adequadas para o seu
cultivo julgou-se importante cultivá-lo no projeto.
No mercado brasileiro, existe cultivares de coentro de boa aceitação comercial,
entretanto, não há um programa regional de avaliação de genótipos visando identificar e
77
recomendar aqueles de melhor adaptação às diversas condições agroecológicas das zonas de
cultivo. A identificação de cultivares adaptadas e com maior potencial produtivo, proporciona
maior segurança aos produtores sendo, ainda, uma informação que poderá facilitar a obtenção de
crédito e aceitação do produto no mercado consumidor. Em virtude do que foi mencionado,
pretende-se, o mais rápido possível, desenvolver pesquisas visando-se identificar as variedades
mais produtivas nas condições edafoclimáticas do município de Marabá, PA.
A espécie Ocimum gratissimum L., conhecida no meio popular como alfavacão, é uma
planta anual. É cultivada em quase todo Brasil com finalidades condimentar e medicinal.
Entretanto, a espécie foi pouco estudada.
Para que o cultivo do alfavacão se apresente como uma boa opção de exploração
agrícola e de renda para os pequenos agricultores, considera-se que é de fundamental importância
a implantação, por parte das empresas públicas brasileiras relacionadas à agricultura, de projetos
envolvendo o treinamento de técnicos e de toda a família do agricultor na produção e
manipulação dessa planta, fundamentadas em boas práticas agrícolas.
Para a produção, processamento e comercialização do alfavacão, para fins medicinais,
condimentares ou aromáticos, entre os principais requisitos básicos, incluem-se os seguintes:
(i) utilizar sementes e material propagativo de boa qualidade e de origem conhecida: com
identidade botânica (nome científico) e bom estado fitossanitário; (ii) o plantio deve ser realizado
em solos livres de contaminações (metais pesados, resíduos químicos e coliformes); (iii) focar a
produção em plantas adaptadas ao clima e solo da região; (iv) é importante dimensionar a área de
produção segundo a mão-de-obra disponível, uma vez que a atividade requer um trabalho
intenso; (v) o cultivo deve ser preferencialmente orgânico; (vi) a água de irrigação deve ser limpa
e de boa qualidade; (vii) a qualidade do produto é dependente dos teores das substâncias de
interesse, sendo fundamentais os cuidados no manejo e colheita das plantas, assim como no
beneficiamento e armazenamento da matéria prima; (viii) além dos equipamentos de cultivo
usuais, é necessária uma unidade de secagem e armazenamento adequada para o tipo de produção
e (ix) o mercado é bastante específico, sendo importante a integração entre produtor e comprador,
evitando um número excessivo de intermediários, além da comercialização conjunta de vários
agricultores, por meio de cooperativas ou grupos.
78
A cultura da chicória Eryngium foetidum L., na Amazônia, é de significativa importância
econômica e social. Por ser um tempero essencial a inúmeros pratos, de grande aceitação popular,
as quantidades comercializadas são consideráveis, movimentando expressivo volume de recursos
financeiros. Constitui valiosa fonte de renda para os pequenos agricultores que se dedicam ao seu
cultivo, ajudando a suprir algumas necessidades básicas de suas famílias e gerando condições
para a permanência do homem no campo.
Apesar da importância do cultivo da chicória, especialmente na Amazônia, as
recomendações técnicas inerentes à implantação e ao manejo da cultura precisam ser
aperfeiçoadas. Atualmente, um dos principais entraves ao cultivo dessa Asteraceae é o ataque de
nematóides. Portanto, o mais rapidamente possível, devem ser estudadas medidas de controle
desses fitopatógenos. Ademais, o seu potencial de uso na indústria e medicina deve ser mais
explorado. Isso, provavelmente, irá aumentar a capacidade de absorção da produção e elevará os
preços de comercialização.
O INPA caracterizou e avaliou algumas introduções de chicória de diferentes locais da
Amazônia brasileira. Os resultados preliminares evidenciam variabilidade genética entre e dentro
das populações quanto a algumas características importantes, tais como: tamanho e forma das
folhas, pigmentação de determinadas partes da planta e produção de folhas. Os estudos devem
continuar, no sentido de confirmação da plena possibilidade de selecionar, dentro deste material
genético, populações para utilização em programas de melhoramento da espécie.
O jambu Spilanthes oleracea L. é uma planta nativa da Amazônia, de ciclo curto (45
dias). É cultivada em grande escala no Estado do Pará, especialmente pelos pequenos produtores,
localizados no cinturão verde e municípios próximos à Belém, PA e em cidades da região
Nordeste desse estado. Na capital paraense, a Embrapa Amazônia Oriental está desenvolvendo
estudos para comprovação da diversidade genética da espécie e coleta de germoplasma para
formação de um Banco de Germoplasma.
Os efeitos curativos do jambu já foram confirmados em recentes estudos químicos e
farmacológicos, evidenciando que a planta apresenta também potencial para uso na indústria
farmacêutica. As oleoresinas extraídas das folhas e caules dessa planta são utilizadas em pequena
escala no Japão, para a elaboração de gomas de mascar e creme dental.
79
São inúmeras as possibilidades de usos comerciais e industriais do manjericão Ocimum
spp. No Brasil, ele é cultivado principalmente por pequenos produtores para a comercialização de
suas folhas verdes e aromáticas, usadas frescas ou secas como aromatizante ou como condimento.
Pode ser utilizado no preparo de fitoterápicos. Também é muito usado para a obtenção de óleo
essencial, importante na indústria de perfumaria e na aromatização de alimentos e bebidas. O
óleo essencial de manjericão apresenta propriedades inseticidas e repelentes. A área de cultivo do
manjericão vem se expandindo no Brasil e teve expressivo incremento no Estado de Sergipe.
Com o aumento da área plantada, problemas fitossanitários tendem a surgir e/ou se agravar. A
correta identificação de cada doença ou praga é fundamental para a condução dos cultivos.
80
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRAMO, M. A. Taioba, cará e inhame: o grande potencial inexplorado. São Paulo: Ícone,
1990. 80 p. (Coleção Brasil Agrícola).
ALMEIDA, M. F. Caracterização agrometeorológica do município de Marabá/PA. 2007. 77
f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Colegiado de Ciências
Agrárias, Universidade Federal do Pará, Marabá, 2007.
ANDERSEN, O.; ANDERSEN, V. U. As frutas silvestres brasileiras. 3. ed. São Paulo: Globo,
1989. 206 p. (Coleção do Agricultor, frutas).
BARBOSA, M. A. et al. Estabelecimento de bancos de germoplasma de plantas medicinais e
hortaliças não-convencionais visando resgatar costumes alimentares e cultivo. In: SEMANA DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO IFMG, 2., 2009, Bambuí. II Jornada Científica: 19 a 23 de
outubro de 2009. Bambuí: Campus Bambuí. Disponível em:
<http://www.cefetbambui.edu.br/sct/trabalhos/Recursos%20Naturais/179-PT-10.pdf.>>. Acesso
em: 8 fev. 2010.
BLANK, A. F. et al. Caracterização morfológica e agronômica de acessos de manjericão e
alfavaca. Horticultura Brasileira, Brasília, v.22, n.1, p. 113-116, jan-mar 2004. Disponível em:
<http://www scielo.br/pdf/hb/v22n1/a24v22n1.pdf.>>. Acesso em: 26 fev. 2010.
BRASIL. Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Alimentos regionais
brasileiros. Brasília, DF: Secretaria de Políticas de Saúde, 2002. 140 p. (Série F, n. 21).
Disponível em: <http://saude.teresina.pi.gov.br/licitacoes/064-06/alimentos_regionais.pdf>.
Acesso em: 15 jan. 2010.
CARDOSO, M. O. (Coord.). Hortaliças não-convencionais da Amazônia. Brasília: Embrapa-
SPI: Manaus: CPAA, 1997, 150 p.
CARVALHO, A. F. Ervas e temperos: cultivo, processamento e receitas. Viçosa-MG : Aprenda
Fácil, 2002. 296 p.
CHAVES, F. C. M. et al. Produção de mudas de bertalha em diferentes substratos. Embrapa
Amazônia Ocidental, Manaus, 2004. 5 p. Disponível em:
<http://www.abhorticultura.com.br/biblioteca/arquivos/Download/Biblioteca/44_602.pdf>.
Acesso em: 13 mar. 2010.
CHENG, S. S.; CHU, E. Y. Tomaticultura em gramado, na região do tropico úmido
brasileiro. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 1999. 28 p. (Circular Técnica, 3).
______; CHU, E. Y.; POLTRONIERI. L. S. Avaliação de técnica de tomaticultura em gramado
(TEG) na Amazônia. Brasília. Horticultura Brasileira, v. 20, n.2, p. 230-240, 2002.
81
EMBRAPA. Manjericão. Porto Velho, 2001. 2 p. (Série ―Plantas Medicinais‖). Folder 10.
Disponível em: <http://www.cpafro.embrapa.br/embrapa/infotec/manjericao.PDF>>. Acesso em:
26 fev. 2010.
FERREIRA, M. E.; CASTELLANE, P. D.; CRUZ, M. C. P. da. Nutrição e adubação de
hortaliças. In: SIMPÓSIO SOBRE NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE HORTALIÇAS, 1., 1990,
Jabuticabal. Anais ... Piracicaba: POTAFOS, 1993. 480 p.
FILGUEIRA, F. A. R. Novo Manual de Olericultura: agrotecnologia moderna na produção e
comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2000. 402 p.
FRAXE, T. de J. P. et al. GT01: agricultura familiar e desenvolvimento rural e segurança
alimentar: horta escola em comunidades de várzea na Amazônia Ocidental. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA, 13., 2007, Recife. Anais ...: 29 de maio a 1 de junho de 2007.
Recife: UFPE, 2007. Disponível em:
<http://www.sbsociologia.com.br/congresso_v02/papers/GT1%20Agricultura%20Familiar%20e
%20Desenvolvimento%20Rural%20e%20Seguran%C3%A7a%20Alimentar/Horta%20Escola%2
0em%20Comunidades%20de%20V%C3%A1rzea%20na%20Amaz%C3%B4nia%20Ocidental.p
df>. Acesso em: 10 fev. 2010.
GOMES, J. Manjericão (Ocimum basilicum). 2007. Disponível em: <
http://narizadentro.blogspot.com/2007/05/manjerico-ocimum-basilicum.html>. Acesso em: 10
mar. 2010.
GUANABARA. Serviço de Horticultura. Espécie hortícola: noções gerais. Guanabara:
Secretaria Geral do Abastecimento e Agricultura, 1972. 147 p.
GUSMÃO, S. A. L. de et al. Caracterização do cultivo de chicória do Pará nas áreas
produtoras que abastecem a grande Belém. Belém: FCAP; Marituba: EMATER, 2004. 4 p.
Disponível em:
<http://www.abhorticultura.com.br/biblioteca/arquivos/Download/Biblioteca/olfg4030c.pdf.>.
Acesso em: 23 jan. 2010.
HERTWIG, I. F. V. Plantas aromáticas e medicinais: plantio, colheita, secagem e
comercialização. São Paulo: Ícone, 1986. 452 p. (Coleção Brasil Agrícola).
KINUPP, V. F. Plantas alimentícias não-convencionais da região metropolitana de Porto
Alegre, RS. 2007. 562 f. Tese (Doutorado em Fitotecnia) - Programa de Pós Graduação,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. Disponível em:
<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/12870>. Acesso em: 20 jan. 2009.
LOPES, J. C. et al. Avaliação de substratos para produção de mudas de cubiu. Alegre: Centro
de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo (CCAUFES), 2003. 5 p.
Disponível em:
<http://www.abhorticultura.com.br/biblioteca/arquivos/Download/Biblioteca/44_597.pdf>.
Acesso em: 23 mar. 2010.
82
______ et al. Influência de temperatura, substrato e luz na germinação de sementes de bertalha.
Revista Brasileira de Sementes, Espírito Santo, v. 27, n. 2, 2005. p.18-24. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbs/v27n2/a04v27n2.pdf >. Acesso em: 13 mar. 2010.
MACHADO, F. P.; RÊGO, M. M. C. Diversidade de visitantes florais de Hibiscus sabdariffa
L. (Malvaceae). São Luis: Universidade Federal do Maranhão, 2004. 2 p. Disponível em:
<http://www.seb-ecologia.org.br/viiceb/resumos/295a.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2010.
MARANCA, G. Plantas aromáticas na alimentação. São Paulo: Nobel, 1985. 126 p.
MARTINS, E. R. et al. Plantas Medicinais. Viçosa: Imprensa da UFV, 2000. 220 p.
MARTINS, J. E. C. Plantas medicinais de uso na Amazônia. Belém: CJUP, 1989. 107p.
MAY, A. et al. Manjericão (Ocimum basilicum L.). São Paulo: Instituto Agronômico de
Campinas–IAC: Centro de Análise e Pesquisa Tecnológica do Agronegócio de Horticultura,
2010. Disponível em: <http://www.iac.sp.gov.br/Tecnologias/Manjericao/Manjericao.htm>.
Acesso em: 10 mar. 2010.
MITSIOTIS, N. A. Ora-pro-nobis, entrevista. 2003. Disponível em:
<http://www.melissotroficas.com.br/orapronobis/ora_04.asp>. Acesso em: 13 mar. 2010.
NODA, H.; PAIVA, W. O.; BUENO, C. R. Hortaliças da Amazônia. Ciência Hoje, 3(13), 1984.
p. 32-37. Disponível em: <http://www.inpa.gov.br/cpca/areas/cubiu.html>. Acesso em: 13 dez.
2009.
PAIVA, W. de O. Potencialidade para a cultura da bertalha (Basella alba L. Syn Bassella rubra)
na Amazônia Ocidental. In: PAHLEN, Alejo Von Der et al. Introdução à horticultura no
Amazonas. Manaus: INPA, 1979. p.30-40.
______. Taxa de polinização cruzada em cubiu. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.
34, n. 1, jan. 1999. p. 145-149. (Notas Cientificas). Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/pab/v34n1/8721.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2010.
PIMENTEL, A. A. M. P. Olericultura no trópico úmido: hortaliças na Amazônia. São Paulo:
Ceres, 1985. 193 p.
POLTRONIERI, M. C. et al. Nazaré: cultivar de jambu para o Estado do Pará. Belém: Embrapa
Amazônia Oriental, 1999. (Folder).
______; MULLER, N. R. M.; POLTRONIERI, L. S. Recomendações para a produção de
jambu: cultivar Nazaré. Belém: Embrapa Amazônia Oriental, 2000. 13 p. (Embrapa Amazônia
Oriental. Circular Técnica 11).
QUINTELA, A. J. A.; LEAL, N. R.; VASCONCELOS, H. de O. Avaliação de cultivares de
inhame em Itaguaí-RJ. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE A CULTURA DO INHAME,
1987, Viçosa. Anais ... Viçosa: UFV, 1987. p. 1-2.
83
REIS, G.. Ora-pro-nobis: sai da cerca para a mesa. 2003. Disponível em:
<http://www.melissotroficas.com.br/orapronobis/ora_03.asp>. Acesso em: 13 mar. 2010.
RIGO, N. Frutas amazônicas parte 3 – cubiu e sapota-dos-solimões. 2008. Disponível em:
<http://come-se.blogspot.com/2008/04/frutas-amaznicas-parte-3-cubiu-e-sapota.html>. Acesso
em: 23 mar. 2010.
RODRIGUES, S. T.; BERG, M. E. van den.; POTIGUARA, R. C. de V.; LAMEIRA, O. A.;
SANTOS, R. da S. Plantas medicinais das comunidades do nordeste paraense: Marapanim,
Augusto Corrêa e Bragança. Belém, PA: Embrapa Amazônia Oriental, 2004. 21p. (Embrapa
Amazônia Oriental. Documentos, 204).
SANTOS, J. N. Sistema de produção de inhame da região de Inhapim-MG. In: ENCONTRO
NACIONAL SOBRE A CULTURA DO INHAME, 1987, Viçosa. Anais ... Viçosa: UFV, 1987.
p. 4-6.
SARTÓRIO, M. L. et al. Cultivo orgânico de plantas medicinais. Viçosa: Aprenda Fácil, 2000.
260 p.
SILVA FILHO, D. F. da. Maná cubiu - cultivo. MANUAL TÉCNICO (em espanhol). Manaus:
INPA, 1998. p. 75. Disponível em: <
http://www.peabirus.com.br/redes/form/fotos?comunidade_id=1716>. Acesso em: 23 mar. 2010.
______ et al. Caracterização e avaliação do potencial agronômico e nutricional de etnovariedades
de cubiu (Solanum sessiliflorum Dunal) da Amazônia. Acta Amazônica. Manaus: v. 35(4), 2005.
p. 399-406. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/aa/v35n4/v35n4a03.pdf>. Acesso em: 23
mar. 2010.
SILVA, G. S. Vinagreira, novo hospedeiro de Meloidogyne incógnita raça 3. Nematologia
Brasileira. São Luis, v. 18, p. 106-107, 1994. Disponível em:
<http://docentes.esalq.usp.br/sbn/nbonline/ol%2018u/106-107%20pb.pdf>. Acesso em: 26 fev.
2010.
SOUZA, M. R. de M. et al. Resumos do VI CBA e II CLAA: o potencial do ora-pro-nobis na
diversificação da produção agrícola familiar. Revista Brasileira de Agroecologia, v. 4, n. 2, nov.
2009. Disponível em:
<http://www6.ufrgs.br/seeragroecologia/ojs/include/getdoc.php?id=14887&article=4009&mode=
pdf>. Acesso em: 7 fev. 2010.
TALAMINI, V. et al. Embrapa investiga ocorrência de doenças no cultivo do manjericão.
Itabaiana: EMBRAPA, 2009. Disponível em: <
http://www.agrosoft.org.br/agropag/212599.htm>. Acesso em: 10 mar. 2010.
WIKIPÉDIA, a Enciclopédia Livre. Ora-pro-nobis (Pereskia aculeata). Disponível em: <
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ora-pro-nobis >. Acesso em: 13 mar. 2010.
ZURLO, M. A.; BRANDÃO, M.. As ervas comestíveis: descrição, ilustração e receitas. São
Paulo: Globo, 1990. 168 p. (Coleção do Agricultor, ecologia).
85
Figura 1A. Fileira de plantas de bertalha, próxima à
cerca de tela, no Local I.
Figura 2A. Planta jovem de bertalha, no Local II.
Figura 3A. Planta de bertalha de hábito de
crescimento trepador, no Local I.
Figura 4A. Sementes de bertalha.
Figura 5A. Planta de joão-gomes florida, no Local II.
Figura 6A. Planta de joão-gomes florida, no Local II.
86
Figura 7A. Plantas de joão-gomes floridas, no Local II.
Figura 8A. Em destaque, sistema radicular de uma
planta de joão-gomes colhida, no Local II.
Figura 9A. Ao centro, fileira de plantas de vinagreira
entre fileiras de plantas ingá e de girassol,
no Local I.
Figura 10A. Planta de vinagreira severamente atacada
por cochonilhas, no Local II.
Figura 11A. Planta de ora-pro-nóbis com hábito
trepador, no Local II.
Figura 12A. Planta de ora-pro-nóbis com muitos
espinhos no caule.
87
Figura 13A. Planta de ora-pro-nóbis florida, no Local II.
Figura 14A. Planta de ora-pro-nóbis exibindo
desenvolvimento vegetativo exuberante,
no Local II.
Figura 15A. Planta do inhame Chinês cultivada no
Local I.
Figura 16A. Fileiras de plantas do inhame Chinês, no
Local I.
Figura 17A. Produção de tubérculos de duas plantas de
inhame Chinês, cultivadas no Local I.
Figura 18A. Planta jovem de cubiu, cultivada no Local II.
88
Figura 19A. Planta de cubiu, cultivada no Local II,
em produção.
Figura 20A. Sementes de cubiu.
Figura 21A. Canteiro com plantas jovens de coentro
no Local I.
Figura 22A. Planta de coentro florida.
Figura 23A. Frutos de coentro. Ao centro, duas sementes
provenientes da divisão de um fruto ao
meio.
Figura 24A. Planta de alfavacão floridas, no Local II.
89
Figura 25A. Canteiro com chicória, no Local I.
Figura 26A. Planta de chicória no início da floração no
Local II.
Figura 27A. Plantas de jambu floridas, cultivadas
em canteiro, no Local I.
Figura 28A. Planta jovem de jambu cultivada no
Local II.
Figura 29A. Planta de jambu florida, no Local II.
Figura 30A. Sementes de jambu com impurezas.
90
Figura 31A. Ao centro, na bandeja de plástico em
destaque, mudas de manjericão roxo,
próximas da época do transplante, no
Local II.
Figura 32A. Em destaque, canteiro com plantas de
manjericão roxo intercaladas aos grupos
de genótipo de alface, rúcula, mostarda e
almeirão.
Figura 33A. Canteiro com manjericão verde, no Local II.
Figura 34A. Plantas de manjericão verde floridas, no
Local II.