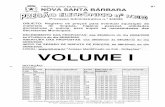Criança Medieval.pdf - Repositório da Universidade Nova de ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Criança Medieval.pdf - Repositório da Universidade Nova de ...
ANA MARIA TAVARES DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA
NA SOCIEDADE MEDIEVAL
PORTUGUESA
MODELOS E COMPORTAMENTOS
D DISSERTAÇÃO DE DOUTORAMENTO
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
JUNHO DE 2004
Ana Maria Tavares da Silva Rodrigues Oliveira
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
MODELOS E COMPORTAMENTOS
Dissertação de Doutoramento em História Medieval apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Lisboa Junho de 2004
PREÂMBULO
Apesar dos caminhos da investigação histórica em que me envolvi nos últimos anos terem sido eminentemente solitários e individuais, eles teriam sido bem mais difíceis sem os fortes e continuados incentivos que fui recebendo.
Assim, muitas dívidas de gratidão fui acumulando. Ao Professor Doutor Luís Krus devo a motivação, o apoio científico e a confiança para mais uma vez enveredar
comigo numa investigação pioneira em Portugal. Sem as suas valiosas sugestões este trabalho não teria sido possível.
Ao Professor Doutor A.H. de Oliveira Marques devo o carinho, o estímulo intelectual e a disponibilidade que sempre demonstrou , não só para fazer a leitura crítica de alguns capítulos como para escutar as minhas queixas e os meus medos e, muitas vezes, colmatá-los com um "saboroso" telefonema de "novas" crianças, porventura em alguma
fonte que eu ainda desconhecia. Ao Professor Doutor Luís Miguel Duarte, o incentivo e o apoio bibliográfico.
Aos Professores Doutores Jorge Custódio, João Alves Dias e Maria Adelaide Miranda, também o meu agradecimento pelo apoio iconográfico prestado.
À Professora Doutora Eugénia Cunha agradeço o importante material facultado na área da Paleobiologia. À Doutora Maria João Vilhena de Carvalho, agradeço a boa vontade demonstrada nas muitas horas de pesquisa
realizada no Museu Nacional de Arte Antiga, bem como os conhecimentos de escultura medieval que me transmitiu.
Às minhas colegas e amigas, particularmente, à Glória e à Maria de Jesus, agradeço a compreensão por algumas "escapadelas antes do tempo" quando os afazeres da investigação se acumulavam. Ao Rui e ao Fernando, os vários
trabalhos gráficos que ao longo destes anos me foram fazendo. Ao Vitor, que soube entender as minhas muitas indisponibilidades, mesmo nos graves momentos em que tanto de mim precisou.
Finalmente, à família. À Carmo e à Margarida,, agradeço as sugestões dadas nas áreas do texto e da iconografia.
Ao Manuel, para além da sempre boa vontade demonstrada na realização das muitas fotografias, agradeço o seu apoio e estímulo, bem como a paciência com que aturou os meus múltiplos afazeres.
Ao Pedro e à Filipa que lá foram tentando entender os meus impedimentos, as minhas ausências , o meu entusiasmo com estas novas crianças e a minha muita indisponibilidade para as "coisas" dos filhos
À minha mãe, agradeço a compreensão demonstrada pelos meus telefonemas apressados e pelas "voltinhas" sempre adiadas.
Ao meu Pai, onde quer que ele esteja, um eterno obrigado . A ele devo o amor pela História e pela investigação.
INTRODUÇÃO Disse alguém que a história se restringe aos indivíduos com mais de vinte anos. Assim parece ser, na verdade. Todo o mundo da infância e da adolescência se furta ao interesse e às possibilidades de captação do investigador.
A. H. de Oliveira Marques1
Tendo em conta o desafio lançado pela citação em epígrafe, tentaremos
debruçar-nos sobre um tema tão pouco estudado e tão controverso como a história da
infância medieval. A criança ocupa hoje, na maior parte das sociedades ocidentais,
um lugar cada vez mais importante no seio da família, sendo objecto de preocupações
específicas por parte dos governantes que produzem vasta legislação orientada para a
protecção dos respectivos direitos. No campo científico, tanto a Pediatria como a
Pedagogia ou a Psicologia atribuem às necessidades e interesses da criança um lugar
cada vez mais central.
Passar-se-ia algo semelhante na Idade Média, ou, pelo contrário, teremos de
nos render à ideia, já corrente e preconcebida, de que a criança permaneceu durante
dez séculos um ser ignorado, esquecido, oprimido e mesmo desprezado? Seria então a
criança considerada mais do que “gritos, sujidade, aborrecimentos e ansiedade?”2
Qual o lugar que ocuparia nas preocupações sociais? Existiria entre os letrados
medievais a consciência da "infância"? Seria ela percepcionada pelo léxico da época?
Como era pensada e representada? Diferiria a sua educação conforme o meio social?
Como funcionariam as relações afectivas entre os pais, os filhos e a restante família?
Seria sentida a morte de uma criança ou, pelo contrário, ela não afectaria os pais? De
facto, tal como teria dito um alcaide de Zamora no contexto da guerra luso-castelhana
de 1369-71, ela poderia sempre ser substituída desde que houvesse a forja e o martello
para fazer outra.3
Seriam afinal as crianças amadas?
1 A. H. de Oliveira Marques, A Sociedade Medieval Portuguesa, Lisboa, Sá da Costa, 1974, p. 105. 2 Como a caracteriza Eustácio Deschamps no Miroir du mariage, um texto do século XIV, citado em Pierre Riché e Danièle Alexandre-Bidon, L'enfance au Moyen Âge, Paris, Ed. du Seuil, 1994, p. 23. 3 Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando, ed. G. Macchi, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1975, p. 134.
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ___________________________________________________________________________________________
A resposta a este conjunto de interrogações constitui a base do nosso trabalho
cuja pesquisa se centra na criança, numa época delimitada e no caso específico de
Portugal. As balizas cronológicas que determinámos coincidem, grosso modo, com os
últimos séculos da Idade Média, ou seja, do século XII ao século XV. Em alguns
aspectos, porém, não hesitámos em recorrer a fontes mais arcaicas ou mais tardias,
tentando nelas observar a continuidade ou o corte com uma determinada linha de
pensamento ou comportamento. Ao escolhermos os últimos tempos do período
medieval, procurámos explicar um conjunto de realidades, atitudes e quotidianos que
só pode compreender-se recorrendo a contextos geo-civilizacionais mais vastos e
comparativos.
Delimitados o local e a época, uma outra questão importa definir. O que é a
infância? Até que idade ela vai? A resposta não é fácil, apesar de todos termos sido
crianças. Simplisticamente, ela começa no momento do nascimento, continuando até
ao momento em que a criança começa a andar e a falar. O seu terminus é, no entanto,
mais difícil de definir, sendo vulgarmente aceite o seu fim com o início da puberdade.
Embora sabendo que também esta fase varia de idade conforme o sexo, e de criança
para criança, adoptámo-la como limite etário desta investigação. Na realidade, se hoje
é difícil definir concretamente o conceito e a idade da infância, quando nos referimos
aos tempos medievais a ideia mais comum é de que esta fase só era considerada em
termos físicos.
Ao longo do nosso trabalho, iremos, então, tentar "descobrir" a criança
medieval desde os seus primeiros instantes de vida até, sensivelmente, aos seus
catorze anos. Começando um pouco mais atrás, pelo problema da concepção,
debruçar-nos-emos também sobre as práticas e rituais "médicos" que levavam mais
facilmente a uma gravidez desejada, bem como aos cuidados a ter no momento do
parto, momento sempre de grande risco para a vida da mãe e da criança. Seguiremos
então o pequeno ser até à sua entrada na adolescência, passando pelos cuidados da
amamentação, da higiene, dos primeiros passos, dos primeiros dentes, das primeiras
palavras. Uma atenção particular será dada às protecções infantis – as espirituais, as
jurídicas e as sociais. Nas primeiras abordaremos os sacramentos concedidos à
criança, desde o baptismo até à extrema-unção, caso tivesse sido baptizada. Nas
jurídicas, referiremos alguma da legislação protectora da infância que foi sendo
_ ________________________________________________________________________________________________ 2
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
INTRODUÇÃO ___________________________________________________________________________________________
elaborada ao longo do período em estudo. Nas últimas formas de protecção
salientaremos os casos da assistência, do abandono e da consequente adopção.
Continuando a tentar desvendar um pouco mais da infância da Baixa Idade
Média portuguesa, iremos conviver com algumas doenças infantis e com as curas ou
mortes das crianças enfermas. Estas serão também objecto de um capítulo próprio,
onde abordaremos a forma e os locais de inumação. A última parte do nosso trabalho
remete-nos para o cerne da nossa problemática: seria ou não a criança medieval
portuguesa amada e acarinhada?
Em suma, é sobre a vivência desta criança que incidirá o nosso estudo.
Sabemos, à partida, que a sua realidade muito difere da actual, dado que a menor
esperança de vida da época tornava mais rapidamente o adolescente em adulto. Era a
partir dos sete anos que os rapazes podiam ser prometidos em casamento,4 atingindo a
maioridade aos catorze, a idade em que os reis menores assumiam o encargo de
governar.5 Por sua vez, as raparigas que atingiam os doze anos eram consideradas
aptas para a consumação do matrimónio e para a procriação. 6
De facto, tendo em conta uma tal precocidade infantil, a história das crianças,
que se desenvolveu a partir da década de sessenta do século vinte, sobretudo a partir
de A criança e a vida familiar no Antigo Regime de Phillippe Ariès,7 assentou
inicialmente na tese da prática inexistência de um sentimento medieval da infância, o
qual só se afirmaria a partir do século XVII, quando a criança teria começado a ser
verdadeiramente distinguida do adulto, ou até mesmo do século XVIII, centúria que
teria visto surgir a consciência da necessidade de uma sua educação específica.
Segundo Ariès, tais conclusões poderiam deduzir-se a partir da iconografia. O
facto de a Baixa Idade Média representar a criança tal qual um adulto, com as mesmas
vestes, a mesma expressão e o mesmo corpo, apenas numa escala menor, seria
__________________________________________________________________________________________________ 3
4 Vejam-se, a título de exemplo, os casos dos esponsórios do infante Afonso, filho de D. João II, com a infanta Isabel de Castela e os do príncipe D. João de Castela com a infanta D. Joana: Rui de Pina, “Chronica do Senhor Rey D. Affonso V” in Crónicas, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, pp. 869-870. 5 Conforme explicitamente refere Rui de Pina ao contar como foi entregue a Afonso V, ao cumprir a idade de catorze anos, o Regimento do reyno, pois que, segundo foro d’Espanha qualquer Pryncepe Real deve aver ynteira posse e administraçam de seu Reyno e Senhoryo a partir desta idade - “Chronica do Senhor Rey D. Affonso V” in Rui de Pina, ob. cit., ed. cit., p. 696. 6 Consulte-se, Ana Rodrigues Oliveira, As representações da mulher na cronística medieval portuguesa (sécs. XII a XIV), Patrimónia Histórica, Cascais, 2000, pp. 56-57. 7 Originalmente publicada em 1960, a obra será citada a partir da edição portuguesa: A criança e a vida familiar no Antigo Regime, Lisboa, Relógio d’Água, 1988.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ___________________________________________________________________________________________
reflexo de uma forma específica de conceber os mais pequenos, ou seja, de que a
criança vivia e era tratada como um adulto. Assim, embora reconhecesse como as mais
tardias representações do Menino Jesus demonstravam que alguma coisa tendia a
mudar na forma de encarar a infância, concluiu que as crianças que começaram a
surgir na iconografia do século XV mais não eram ainda que figuras ornamentais e
pitorescas, destinadas a dar vida a um quadro mas sem valor suficiente para serem
representadas isoladamente. 8
O ponto de vista de Ariès influenciou, sobretudo, os historiadores não
medievalistas que, na década de setenta, não se afastavam muito das suas ideias.
Assim, em 1972, Hunt realçou o facto de as crianças medievais serem tidas como seres
inferiores e até como elementos indesejados e perturbadores da vida dos adultos. 9
Três anos depois, Plumb afirmava que, até aos finais do século XVII, as
atitudes para com as crianças teriam permanecido autocráticas ou mesmo cruéis e que,
somente a partir dessa época, seria possível encontrar sinais de mudança. 10
Em 1977, Shorter e Stone não se desviaram muito desta linha. Para o primeiro,
a criança medieval seria tida em tão baixo grau de estima que nem chegava a
considerar-se humana. As próprias mães não conceberiam os filhos com capacidades
de sofrimento e alegria iguais às suas, embora lhes dedicassem a afeição residual que
seria fruto de um elo meramente biológico. De resto, mesmo admitindo que a partir do
século XVI se começara a verificar nas classes superiores uma alteração da posição
relativamente à criança por parte da mãe, ela não teria chegado às classes pobres,
cujos pais, pelo menos até finais do século XVIII, teriam permanecido indiferentes aos
filhos. Para Shorter, a indiferença dos pais em relação aos filhos seria sobretudo
visível no abandono das crianças, embora reconhecesse que tal prática se ficava muito
a dever à pobreza de alguns progenitores que, apesar de tudo, se mostrariam
incomodados e tristes com a separação. 11
Stone, por seu lado, defenderia que, embora a partir da segunda metade de
Quinhentos, e num crescendo gradual, fosse já possível detectar algumas
manifestações de interesse pela infância, a criança continuou a ser desvalorizada até à
_ ________________________________________________________________________________________________ 4
8 Phillippe Ariès, ob. cit., ed. cit., pp. 58-63. 9 D. Hunt, Parents and Children in History: The Psychology of Family Life in Early Modern France, Nova Iorque, Harper Torchbooks, 1972. 10 J.H.P. Plumb, “The New World of Children in Eighteenth-century England”, Past and Present, 67, 1975, citado por Linda Pollock, Forgotten Children: Parent-Child Relations from 1500 to 1900, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 8, 18.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
INTRODUÇÃO ___________________________________________________________________________________________
terceira década de Seiscentos, referindo como os pais, tanto das classes superiores
como dos mais baixos estratos sociais, podiam abandonar os filhos e, de uma forma
geral, não se comoviam com a sua morte. Mesmo assim, a mudança mais significativa
apenas teria ocorrido entre a segunda metade da centúria de Seiscentos e os começos
do século XIX, a partir das famílias com maiores capacidades para suportar o luxo do
investimento sentimental dos filhos. Factor importante para tão tardia transformação
seria a omnipresença da morte, que, ao atravessar todas as relações afectivas nos
vários níveis sociais, reduziria o capital emocional investido a um nível de prudência,
particularmente quando se tratava de criaturas tão efémeras como as crianças.12
Os anos oitenta também não produziram alterações significativas. Logo em
1980, Badinter retomou as conclusões de Stone para considerar que até à segunda
metade de Setecentos os educadores, filósofos e teólogos continuaram a entender a
criança como “le mal ou le péché”, sendo considerada pela maioria da população
como um incómodo ou mesmo uma desgraça.13
Em 1988, Tucker, ao debruçar-se sobre os séculos XVI e XVII, concluía que,
embora desde os finais de Quinhentos tendessem a ser cada vez mais reconhecidas
como seres humanos com características diferenciadas das dos adultos, as crianças
não deixariam de ser consideradas enquanto seres nos quais não se podia confiar e
que, por isso, se deviam colocar no fundo da escala social. Portanto, em Quinhentos e
em Seiscentos ainda a infância seria entendida como uma idade mais tolerada do que
apreciada, visto os pais não saberem se deviam olhar as crianças como um bem ou
como um mal, nem se as deviam incluir ou excluir da sociedade dos adultos. 14
No mesmo ano, DeMause não se afastava destas conclusões. Para ele, quanto
mais se recuasse no tempo maiores probabilidades haveria de as crianças terem sido
maltratadas e mais baixo seria o nível de cuidados que lhes era reservado, aceitando-se
com complacência que pudessem ser mortas, abandonadas, sovadas ou aterrorizadas.
Assim, pelo menos até à centúria de Setecentos, os pais não teriam amado os seus
filhos, porque lhes faltaria maturidade emocional suficiente para os poderem
__________________________________________________________________________________________________ 5
11 Edward Shorter, The Making of the Modern Family, Londres, Fontana/Collins, 1977. 12 Lawrence Stone, Family, Sex and Marriage in England, 1500-1880, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1977. 13 Elisabeth Badinter, The Myth of Motherhood : An Historical View of the Maternal « Instinct », Londres, Souvenir Press, 1981. 14 M. J. Tucker, “The Child as Beginning and End : Fiftheenth and Sixteenth Century English Childhood” in Lloyd DeMause (ed.), The History of Childhood. The Untold Story of Child Abuse, Nova Iorque, Harper Torchbooks, 1988.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ___________________________________________________________________________________________
considerar como pessoas. De resto, o infanticídio constituiria, para este autor, bem
como para Tucker, um sinal inequívoco de negligência paterna.15
Em suma, com monótona regularidade a historiografia das crianças dos anos
setenta e oitenta tende a argumentar que a Idade Média desconhecia a percepção das
reais necessidades da criança, negligenciando-a e tornando-a até vítima de maus
tratos, tanto pelos pais como pelos poderes públicos, já que não se diferenciava o
adulto daquela que era considerada a sua miniatura. Com efeito, defende-se que uma
tão grande indiferença para com a criança só seria ultrapassada durante o século
XVIII, mantendo-se até aí uma concepção da infância como idade indiferenciada que
fazia com que lhe fosse reservada uma severa disciplina, afirmando-se mesmo que as
crianças seriam sistematicamente objecto de abuso por parte dos adultos. A elevada
taxa de mortalidade motivaria a negligência e a indiferença face aos mais jovens.
Contudo, também muitos medievalistas se têm dedicado ao estudo da história
da infância. De uma maneira geral, todos eles refutam a tese de Ariès, mostrando,
pelo contrário, que os adultos olhavam a infância como uma fase distinta de outras
fases, que os pais tratavam as suas crianças como crianças e que o faziam
evidenciando cuidados e carinho e que estas tinham, inclusivamente, actividades e
brinquedos próprios da sua idade. De facto, desde os começos dos anos oitenta que
Pierre Riché e Emmanuel Le Roy Ladurie começaram a contribuir para a modificação
da ideia de uma infância desconsiderada e mal amada durante a Idade Média,16
devendo-se também a Linda Pollock a crítica de que as crianças não terão então sido
tão ignoradas como Ariès afirmara, nem tão indesejadas como Hunt reforçara. Como
salientou a autora, as fontes primárias que utilizou revelaram um quadro muito mais
vivo do interesse que os pais então tinham pelas crianças do que as fontes secundárias
que haviam sido excessivamente valorizadas por autores como Ariès e Hunt. Para
Pollock, não só se teria verificado, durante a Idade Média, uma grande preocupação
com as crianças como é até possível que os pais lhes demonstrassem uma
atenção semelhante à documentada entre os séculos XVI e XIX, salvo as diferenças
decorrentes dos desenvolvimentos tecnológicos ou das mudanças sociais.17 Shulamith
_ ________________________________________________________________________________________________ 6
15 L., DeMause, “The Evolution of Childhood” in ibidem. 16 Entre muitos outros, Pierre Riché, “Sources Pédagogiques et Traités d’Éducation” in Les entrées dans la vie, XII congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, pp. 15-29; Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou Cátaros e Católicos numa aldeia occitana 1294-1324, Lisboa, Edições 70, 2000. 17 L. Pollock, Forgotten children, ed. cit.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
INTRODUÇÃO ___________________________________________________________________________________________
Shahar, Didier Lett, Danièle Alexandre-Bidon, Barbara Hanawalt, Ronald Finucane18
são outros medievalistas que nos seus múltiplos estudos não encontraram argumentos
que suportassem a tese defendida por Ariès; todos eles, pelo contrário, de diferentes
formas e com diferentes fontes, a refutam. De resto, o próprio Phillippe Ariès, ao
reeditar a sua obra, lamentou não se encontrar melhor informado sobre a Idade Média,
período de que o seu livro fala tão pouco. 19
Entretanto, nos últimos trinta anos, tanto na Europa como na América, a
criança e a história da pedagogia medieval começaram a ser alvo de trabalhos cada vez
mais numerosos e aprofundados. 20 A constante publicação de artigos, revistas, teses e
obras colectivas, assim como a realização de congressos e colóquios subordinados a
essas temáticas provam um interesse cada vez maior pela infância e pela adolescência
medievais.21 Citando Danièle Alexandre-Bidon, a criança medieval passou, assim, de
um mau tema a um bom tema para os historiadores.22 Em muitos países, sínteses
recentes testemunham e atestam afeição e um real conhecimento da infância na Idade
Média.
Mais do que discutir hoje o problema da afeição ou da não afeição pela criança
medieval, Jean-Louis Flandrin, ao criticar a obra de Phillippe Ariès, levantou uma
questão importante que se prende com a própria natureza do sentimento medieval e
com as características da infância nas diferentes épocas: a de não se poder, neste caso,
como em muitos outros, estudar o passado a partir das normas sociais
contemporâneas.23 Muitas situações que hoje nos pareceriam aberrantes têm todo o
significado e coerência quando contextualizadas numa determinada época e num
determinado sistema de valores.
Na medida em que a história da criança é elaborada pelos adultos, as suas
qualidades e os seus comportamentos são referidos, muitas vezes, por oposição.
Paralelamente, porque a criança é objecto da palavra e do discurso de ou-
__________________________________________________________________________________________________ 7
18 Para todos estes autores, consulte-se a bibliografia inserida neste trabalho. 19 Phillippe Ariès, A criança e a vida familiar no Antigo Regime, ed. cit., Prefácio, pp. 9-31. 20 Vejam-se, entre outros, Danièle Alexandre-Bidon, “Grandeur et renaissance du sentiment de l’enfance au Moyen Âge” in Éducations médiévales, l’enfance, l’école, l´Église en Occident (VIe.-XVe. siècle), J. Verger (dir.), Histoire de l’éducation, 50, 1991, pp. 39-63 ou L. Paterson, “L’enfant dans la littérature occitaine avant 1230” in Cahiers de civilization médiévale, 32, 1989, pp. 233-245. 21 Na bibliografia final são referidas várias destas publicações, tanto de origem europeia como americana. 22 “Grandeur et renaissance du sentiment de l’enfance au Moyen Âge”, ed. cit., p. 63. 23 Jean-Louis Flandrin, “Enfant et Societé” in Annales, E.S.C., 1964, p. 327.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ___________________________________________________________________________________________
tro,24 a sua história identifica-se com o olhar que os homens têm sobre ela,
transmitindo frequentemente, valores e princípios que podem não se coadunar com a
realidade.
Este trabalho sobre a realidade medieval portuguesa começa assim por ser
uma história das representações, conjugando o real com o imaginário e com a
comparação do que há já sido investigado, trabalhado e concluído por estudos
relativos ao Ocidente medieval cristão. De facto, à falta de investigações portuguesas,
tivemos de nos basear na problemática do medievalismo geral. Em Portugal a história
social da criança não despertou ainda o interesse dos historiadores; dos mais antigos,
como Costa Lobo25 às mais recentes Histórias Gerais,26 esta temática não tem sido
desenvolvida nem autonomizada. Mesmo em textos mais específicos sobre o
quotidiano27 não há um capítulo dedicado à representação ou à sociologia da criança.
O presente trabalho procurará, assim, abordar os modelos e os comportamentos da
criança na Baixa Idade Média portuguesa, tendo em conta as diversas etapas do
crescimento, os distintos meios culturais e sociais e as respectivas proveniências
sócio-geográficas. Neste sentido, temos a consciência de que é um estudo pioneiro,
com todas as dificuldades (e aliciantes!) que daí advêm.
Ao terminar esta breve introdução queríamos lembrar a natureza desta pesquisa
que, como refere Didier Lett, citando M.- F. Morel, mais do que em outros domínios
reflecte a personalidade do investigador. À natural subjectividade do historiador,
apesar da bagagem científica de que se rodeia, acresce frequentemente a lembrança da
sua infância e da dos seus próprios filhos. 28
_ ________________________________________________________________________________________________ 8
24 Como escreve Micheline de Combarieu du Gres no seu estudo sobre as “aprendizagens” de Perceval e Lancelot, “(...) il est certain qu’auteurs d’épopées et même de romans nous disent peu de choses sur l'enfance de leurs héros. Sauf exception, ceux-ci attendent, dans le silence du texte, la disparition de leurs pères et de leurs oncles pour devenir des personnages importants. (...) Il faut des circonstances exceptionnelles pour que, entre fin du XIIème et début du XIIIème siècle, l’enfance des chefs devienne matière romanesque.” : “Les “apprentissages” de Perceval dans le Conte du Grall et de Lancelot dans le Lancelot en Prose" in Éducation, Apprentissages, Initiation au Moyen Âge, Actes du Premier Colloque International de Montpellier, Université Paul Valéry, 1991, pp. 129-130. 25 A. de Sousa Silva Costa Lobo, História da Sociedade em Portugal no século XV, Lisboa, Imprensa Nacional, 1903. 26 A. H. de Oliveira Marques, Portugal na crise dos séculos XIV e XV, Nova História de Portugal, IV, Lisboa, Presença, 1987; José Mattoso, (coord.), A Monarquia Feudal, História de Portugal, 2, Lisboa, Estampa, 1993; Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem, (coord.), Portugal em definição de fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV, Nova História de Portugal, III, Lisboa, Presença, 1996. 27 Como, por exemplo, A Sociedade Medieval Portuguesa, de A. H. de Oliveira Marques, ed. cit. 28 Didier Lett, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe - XIIIe siècle), Paris, Aubier, 1997, p. 15.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
FONTES
Etudier l’histoire de l’enfance peut paraître anodin et sans danger. Pourtant, depuis plusieurs décennies, les historiens sont loin d’être d’accord, sur ce sujet qui prête à controverse.
Danièle Alexandre-Bidon Didier Lett 1
O estudo da criança medieval portuguesa implica a
exploração de uma vasta e dispersa variedade de fontes, já que
as informações a reter, a analisar e a interpretar não se
encontram veiculadas por nenhum tipo de fonte em particular,
devendo, por isso, todas elas ser valorizadas e confrontadas
entre si em função da natureza do contexto informativo em que
se registam. Neste sentido, a presente investigação
desenvolveu-se a partir da análise crítica de dados provenientes
quer de fontes escritas, quer de fontes arqueológicas e
iconográficas, necessariamente interpretadas e relativizadas
tanto entre elas, como no âmbito do mais global universo
cultural e civilizacional em que se inseriu a sociedade medieval portuguesa, já que ela
se estruturou e individualizou pela forma como o soube, progressivamente, moldar e
gerir.
Entre as fontes escritas foram consultadas e valorizadas as que podiam fornecer
dados de tipo normativo e/ou comportamental, privilegiando as primeiras o enunciado
de regras e preceitos ideais e as segundas um registo menos teórico e mais empírico, já
que, embora devedoras de um idêntico discurso regulamentador, o confrontam e
articulam com as práticas e os acontecimentos sociais. Em ambos os casos, consideram-
-se fontes predominantemente narrativas, dado que, quer o âmbito geo-cronológico da
investigação a prosseguir, o do Portugal medieval, quer os prazos a respeitar para a
finalização do presente estudo, inviabilizavam o desenvolvimento de uma análise
minimamente sistemática das fontes avulsas de tipo documental as quais, portanto,
apenas serão consideradas de forma pontual e exemplificativa.
1 Danièle Alexandre-Bidon e Didier Lett, Les enfants au Moyen Âge (Ve. – XVe. Siècles), Paris, Hachette, 1997, p. 9.
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ________________________________________________________________________________________________________
No que respeita às fontes narrativas susceptíveis de fornecer informações de
natureza normativa, tiveram-se em conta os dados veiculados pela tratadística de tipo
enciclopédico, didáctico-moral, médico e jurídico, implicando, sobretudo nos três
primeiros casos, a consideração de obras representativas da cultura letrada cristã e
árabe, já que ambas influenciaram e modelaram a forma como a sociedade medieval
portuguesa teorizou e representou o lugar nela ocupado pelas crianças. Assim, tanto
para os escritos dos enciclopedistas, como para os dos pedagogos ou médicos, foram
devidamente considerados os materiais contidos em fontes que, embora não tendo sido
elaboradas no Portugal medieval, tanto foram directamente conhecidas ou até utilizadas,
no todo ou em parte, pelos seus letrados, como sintetizaram ou compendiaram
conhecimentos e saberes por eles atestadamente partilhados.
No primeiro caso, figuram sobretudo os enciclopedistas, desde Isidoro de
Sevilha, a Vicente de Beauvais ou Bartolomeu, o Inglês,2 a eles se juntando, no campo
dos tratados pedagógicos, o Livro das Três Vertudes de Cristina de Pisano, mandado
traduzir para português pela esposa do rei Afonso V, a rainha Isabel, e depois impresso
por vontade de outra soberana lusa, Leonor, a mulher do monarca João II. 3
No segundo caso, tanto se situam vários outros manuais de educação, como dois
tratados médicos que, no seu conjunto, permitem completar e diversificar as
informações veiculadas pelas obras do português Pedro Hispano,4 ou seja, o compêndio
hispano árabe de obstetrícia e pediatria conhecido por Livro da Geração do Feto,5 e o
manual de Aldebrandino de Siena escrito em francês sob o título de Le Régime du
corps6 onde se compilam os saberes que a Cristandade medieval desenvolveu e reuniu
acerca dos cuidados a ter com as grávidas e os recém-nascidos.
Quanto aos outros manuais de educação infantil e juvenil, um género que apenas
se autonomizou em Portugal durante o Renascimento, foram igualmente analisados
alguns dos que serviram de fonte à posterior tratadística lusa, como sejam, entre os
2 Vejam-se: José Mattoso, "As enciclopédias medievais" in Prelo, 4, 1984, pp. 43-51; Maria Margarida Santos Alpalhão, L'Image du Monde de Gossonin de Metz. Apresentação, leitura interpretativa, tradução e notas, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1996 (Tese de Mestrado). 3 Cristina de Pisano, O Livro das tres Vertudes ou O Espelho de Cristina, ed. Maria de Lurdes Crispim, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1995 (Tese de Doutoramento). 4 Pedro Hispano, Obras Médicas, ed. e trad. Maria Helena da Rocha Pereira, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1973. 5 El libro de la generatión del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Árib Ibn Sa'íd (Tratado de Obstetricia Y Pediatría hispano árabe del siglo X), ed. Antonio Arjona Castro, Córdova, 1983. 6 Aldebrandino de Siena, Le Régime du corps, ed. L. Landouzy et R. Pépin, Paris, 1911.
________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
10
FONTES ________________________________________________________________________________________________________
ibéricos, o que Afonso X de Castela e Leão compôs, cerca de 1263, para ser incluído
nas suas Siete Partidas,7 e o De Doctrina Pueril redigido, na centúria de Trezentos,
pelo catalão Raimundo Lúlio8, a eles se juntando, entre os produzidos além-Pirinéus, os
que foram compostos na segunda metade do século XIII, por Filipe de Novara e Gil de
Roma, respectivamente, Des quatre teus d'aage d'ome9 e De Regimine principum,
tratado escrito para a educação do futuro rei Filipe, o Belo, de França, onde se
desenvolvem os cuidados a ter com os príncipes desde o nascimento até aos sete
anos.10 Todos eles oriundos dos meios cortesãos leigos, permitiram completar e
desenvolver os dados fornecidos quer por Frei João Álvares, relativamente aos
adolescentes a criar nos mosteiros beneditinos,11 quer, no século anterior, pelo bispo de
Silves, o franciscano Álvaro Pais, no seu Status et Planctus Ecclesiae 12 no que se
relaciona com as normas educacionais a seguir pelas crianças presentes nas instituições
eclesiásticas.13
Este último texto foi também utilizado na qualidade de fonte jurídica, sobretudo
no tocante às prescrições canónicas sobre a infância e a adolescência, tal como, no
mesmo sentido, a legislação sinodal lusa14 e as normas penitenciais constantes na
tradução para português do castelhano Libro de las Confessiones de Martin Pérez, 15 ou
no mais tardio Tratado de Confissom,16 sem esquecer as regras veiculadas pelos
7 Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey cotejadas con vários códices antiguos, Madrid, Real Academia de la Historia, 1807, Partida Segunda, Título 7. 8 Raimundo Lúlio, Doctrine d'enfant, ed. e trad. de A. Llinares, Paris, 1969. 9 Filipe de Novara, Les Quatre Âges de l´homme, ed. M. de Fréville, Paris, 1888. 10 Gil de Roma, Le Livre du gouvernement des Princes (De regimine principum), ed. S.P. Molenaer, Paris, 1899. 11 Frei João Álvares, "Carta aos monjes professos do Moesteiro de Sam Salvador de Paaço de Sousa e Regra do Muy Bem Aventurado Sam Bēeto Abade", ed. Adelino de Almeida Calado, in Frei João Álvares, Obras, II, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1960, pp. 1-90. 12 Álvaro Pais, Estado e Pranto da Igreja, (Status et Planctus Ecclesiae), ed. Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, J.N.I.C.T., 1994-5. No tratado que Álvaro Pais compôs sobre as virtudes a exigir à realeza (Espelho dos Reis, ed. Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, IAC, 1955) não se encontra desenvolvida a temática da educação dos príncipes. 13 Sobre a influência de todas estas obras na tratadística portuguesa do Renascimento, consulte-se Ana Isabel Buescu, Imagens do príncipe. Discurso normativo e representação (1525-49), Lisboa, Cosmos, 1996. 14 Reunida em Synodicon Hispanum. II – Portugal, ed. Francisco Cautelar Rodriguez, Avelino de Jesus da Costa, Antonio Garcia Y Garcia, Antonio Gutierrez Rodriguez, Isaías da Rocha Pereira, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982. 15 O Penitencial de Martim Pérez em Medievo-Português, ed. Mário Martins, Lisboa, 1957. Veja-se também, José Antunes, A cultura erudita portuguesa nos séculos XIII e XIV (Juristas e Teólogos), Coimbra, Universidade de Coimbra, 1995, pp. 269-326 (Tese de Doutoramento). 16 Tratado de Confissom, ed. José V. de Pina Martins, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973.
___________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
11
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ________________________________________________________________________________________________________
catecismos tardo-medievais.17 Contudo, entre as fontes jurídicas consultadas, foram
sobretudo as leigas – se bem que, em alguns aspectos, bastante devedoras das canónicas
– as que mais informações forneceram sobre normas e regulamentos respeitantes à
criança.
A nível da legislação geral, foram examinadas as principais compilações
medievais das leis a aplicar no reino, começando com os códigos castelhanos
elaborados sob a direcção de Afonso X de Castela e Leão, já que, para além de terem
funcionado como direito subsidiário no Portugal dos séculos XIII e XIV, havendo
mesmo sido traduzidos para português, influenciaram decisivamente a posterior
legislação lusa.18 Nesse sentido, tanto foi analisado o Foro Real, o código concluído
entre 1252 e 1255, e destinado a ser outorgado como legislação a aplicar nas vilas e
cidades régias que não tinham foros próprios - pretendendo, desse modo, funcionar
como meio jurídico destinado a unificar os diversos direitos municipais locais nas
questões civis, processuais e penais,19 - como o Código das Sete Partidas,20 onde, em
sete grandes secções ou partes, se articulava a legislação tradicional peninsular com
normas inspiradas no direito justianeu, então retomado por toda a Cristandade, e nas
Decretais do Papado, ao mesmo tempo que se recolhiam contributos e interpretações
provenientes das obras dos principais glosadores e comentadores do direito europeu dos
séculos XII e XIII. 21
Mais tardios, os códigos medievais portugueses onde se ia compilando a mais
importante legislação geral do Reino também foram, naturalmente, atento objecto de
heurística e hermenêutica, desde o chamado Livro das Leis e Posturas22 - que, ainda
elaborado na centúria de Trezentos, copiava e disponibilizava várias das leis
promulgadas pelos anteriores monarcas lusos, de Afonso II a Afonso IV, assim como
regulamentos relativos às praxes adoptadas nos tribunais da corte, tratados teóricos de
direito processual, notas doutrinais extraídas, quer das leis imperiais romanas quer das
17 Consulte-se O Cathecismo Pequeño de D. Diogo Ortiz Bispo de Viseu, ed. Elsa Maria Branco Silva, Lisboa, Colibri, 2001. 18 José de Azevedo Ferreira, "A obra legislativa de Afonso X em Portugal" in Estudos de história da língua portuguesa, Braga, Universidade do Minho, 2001, pp. 75-90. Consulte-se também, Rui e Martim de Albuquerque, História do Direito Português, I, Lisboa, Pedro Ferreira, 1999, pp. 186-201. 19 Afonso X, Foro Real, ed. José de Azevedo Ferreira, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987. 20 Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey cotejadas con vários códices antiguos, ed. cit. 21 Marcello Caetano, História do Direito Português (1140-1495), Lisboa, Ed. Verbo, 1994, pp. 340-342. 22 Livro das Leis e Posturas, ed. Maria Teresa C. Rodrigues, Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1971.
________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
12
FONTES ________________________________________________________________________________________________________
concordatas celebradas entre os reis e a igreja e ainda alguns artigos apresentados e
respondidos pelos soberanos em Cortes gerais do Reino23 -, até às já quatrocentistas
Ordenações del-Rei D. Duarte24 e Ordenações Afonsinas.25 Muito mais completa e
sistemática do que a compilação legislativa antes elaborada,26 o primeiro destes
códigos, não só acrescenta novas leis régias às que anteriormente haviam sido
compiladas, e as apresenta ordenadas por reinados, ou, menos vezes, por temáticas,
como também inclui, numa certa desordem, legislação promulgada pelos mais recentes
monarcas, ou seja, João I e Duarte, o soberano, aliás que, para lá de ter ordenado a
feitura do códice, assume a responsabilidade pela elaboração do respectivo índice.
Quanto às Ordenações Afonsinas, organizadas em cinco livros, onde se
compilam leis, jurisprudência e tratados relativos aos direitos civil, processual, penal e
diplomático, de uma forma ainda mais exaustiva do que as anteriores, embora tenham
sido pensadas como um repositório da legislação régia promulgada no Reino até ao
monarca Afonso V, para uso dos legistas e magistrados da corte e, portanto, como
códice cuja promulgação deveria revogar toda a anterior legislação, nem sempre
transcrevem, de forma completa e isenta de lacunas, ou até de erros de transcrição, o rol
das decisões que sobre os diversos assuntos nelas abordados fora antes decidido pelos
sucessivos monarcas portugueses. Nesse sentido, embora essenciais para a recolha de
dados relativos à forma como a criança medieval foi sendo considerada pela legislação
régia portuguesa, as Ordenações Afonsinas não permitiram dispensar a consulta e a
análise das anteriores compilações de leis gerais do Reino.
Por outro lado, o conhecimento de toda a legislação régia está longe de se poder
esgotar nas normas e preceitos jurídicos transcritos nas compilações atrás mencionadas.
Ele implica, nomeadamente no que diz respeito à jurisprudência, a consideração das
fontes onde, em geral, se justifica a razão e o sentido da aplicação das leis e das
excepções ou isenções previstas ou concedidas para o seu não cumprimento, como
23 Marcello Caetano, História do Direito Português, ed. cit., pp. 346-347. Sobre a possível autoria desta obra, consulte-se Luís Miguel Duarte, Justiça e criminalidade no Portugal medievo (1459-1481), Lisboa, Fundação Gulbenkian, 1999, pp. 109-110. 24 Ordenações del-Rei D. Duarte, ed. M. Albuquerque e E. Borges Nunes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1988. 25Ordenações Afonsinas, ed. M. J. Almeida Costa e E. Borges Nunes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, 5 vols. 26 Marcello Caetano, História do Direito Português, ed. cit., pp. 529-551. Sobre ambas as Ordenações, a forma como foram compiladas e a sua possível paternidade, veja-se, Luis Miguel Duarte, ob. cit., ed. cit., pp. 105-107 e 110-130. Consulte-se também, Mário Júlio de Almeida Costa, História do Direito Português, Coimbra, Almedina, 1989, pp. 265-280.
___________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
13
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ________________________________________________________________________________________________________
sejam os privilégios, os perdões e as escusas concedidas pelos reis. Ou seja, tanto a
consulta e análise da documentação emitida pelas Chancelarias Régias, que, a partir de
Afonso III, se tornaram num organismo fundamental para a expedição e registo de
diplomas sobre questões de justiça ou de graça exercida ou concedida pelos
soberanos,27 como a relativa às actas das Cortes Gerais do Reino, cujas propostas a
discutir podiam vir a adquirir força de lei, já que, se fossem homologadas pelo rei,
passavam a funcionar como legislação geral do Reino.28 Ora, no seu conjunto, também
esta tarefa foi prosseguida no que respeita a materiais já transcritos e editados no todo
ou em partes, conforme se indica ao longo do presente trabalho.29
Paralelamente, também foram objecto de investigação as fontes jurídicas de
âmbito local, sobretudo as relativas aos três grandes tipos de foros e costumes
concelhios, visto que, dado o seu maior ou menor arcaísmo relativamente ao direito
familiar neles consagrado, nos permitem esclarecer o sentido evolutivo das normas
relativas à criança. 30 Neste sentido, tanto foram analisados os mais ruralizantes foros
concedidos por Afonso IX de Leão, na região de Cima-Coa aos concelhos de Alfaiates,
Castelo Bom, Castelo Rodrigo e Castelo Melhor, aos quais se podem tipologicamente
aproximar os concedidos por Sancho I à Guarda, como os que derivam dos mais
urbanos costumes de Santarém e de Évora, representados, respectivamente, pelos foros
de Oriola, Alvito e Beja, aos quais se podem ainda associar os de Torres Novas, e
pelos de Alcácer do Sal, Garvão, Terena e Alcáçovas, todos eles transmitidos através de
cópias datadas da segunda metade do século XIII.31
Continuando a ter força de lei local, os foros, usos e costumes locais
continuaram a vigorar, com mais ou menos rectificações ou acrescentos, durante os
27 Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem, Origines et évolution du registre de la chancellerie royale portugaise (XIIIe.-XVe. Siècles), Porto, 1995. 28 Armindo de Sousa, As Cortes Medievais Portuguesas (1385-1490), Porto, INIC, Centro de História da Universidade do Porto, 1990, vol. I, p. 254. 29 A edição das cortes e chancelarias medievais portuguesas tem vindo a ser prosseguida, sob a direcção de A.H. de Oliveira Marques, pelo Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, encontrando-se actualmente disponíveis, quer as cortes dos reinados de Afonso IV (1982), Pedro I (1986), Fernando I (1990-93) e Manuel I (2001), quer as chancelarias de Afonso IV (1990-92), Pedro I (1984), Duarte (1998-2002) e João I (2004). 30 José Mattoso, “Notas sobre a estrutura da família medieval portuguesa” in A nobreza medieval portuguesa – a Família e o Poder, Lisboa, Ed. Estampa, 1987, pp. 393-394. 31 Sobre todos estes foros, consulte-se António Matos Reis, Origens dos municípios portugueses, Lisboa, Horizonte, 1991. O estudo dos foros de Riba Coa foi sobretudo desenvolvido por Luís Filipe Lindley Cintra, A Linguagem dos Foros de Castelo Rodrigo, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984. Sobre a Guarda, consulte-se os Forais e Foros da Guarda, ed. Maria Helena da Cruz Coelho, Guarda, Câmara Municipal, 1999.
________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
14
FONTES ________________________________________________________________________________________________________
séculos XIV e XV .32 Com efeito, conforme observa A. H. de Oliveira Marques, se se
mantinha quase sempre o foral primitivo dos séculos XII ou XIII, havia que somar-lhe
tantas outras leis que praticamente o submergiam e minimizavam: leis alterando
pormenores do foral em si, foros e costumes, posturas locais, e todo um conjunto de
regimentos e ordenações de carácter geral ou local que se tornavam a base mais
importante da legislação citadina.33 Uma tal ampliação da legislação concelhia,
sobretudo a urbana, também implicou a elaboração de Livros de Vereações onde se
registavam posturas e informações preciosas sobre a gestão municipal das crianças órfãs
ou abandonadas, tendo essa sido a razão que motivou a sua consideração como fontes
jurídicas a também consultar e analisar no âmbito de uma história medieval da
criança.34
Quanto às fontes escritas susceptíveis de fornecer elementos de tipo mais
comportamental do que exclusivamente normativo, foram sobretudo tidas em conta as
crónicas, as hagiografias e os livros de milagres. As primeiras, nomeadamente as
produzidas pelos letrados da corte dos reis de Avis, remetem para uma cultura leiga e
profana bastante atenta à função de propor modelos de comportamento político e social
aos vassalos da coroa, relembrando o passado do Reino de acordo com os interesses e
os objectivos da dinastia que pretendiam exaltar e prestigiar.35 Nesse sentido, ao
proporem-se disponibilizar modelos de conduta cortesã, as crónicas acabam por
fornecer toda uma série de informação sobre a infância e a adolescência dos filhos e das
filhas dos reis que não se encontra facilmente presente noutro tipo de fontes, e que, no
seu conjunto, permite elucidar, tanto a forma através da qual as elites profanas do reino
foram criando e educando as novas gerações, como o protagonismo e a função que iam
reservando às suas crianças.36
32 Acerca da distinção entre costumes, usos e foros, veja-se Luís Miguel Duarte, ob. cit., ed. cit., pp. 130--134. 33 A.H. de Oliveira Marques, Portugal na crise dos séculos XIV e XV, Nova História de Portugal, IV, Lisboa, Presença, 1987, p. 198. 34 Sobre as posturas enquanto direito concelhio complementar ao foral, veja-se António Manuel Hespanha, História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna, Coimbra, Livraria Almedina, 1982, p. 244. 35 Luís Krus, "Historiografia. Época medieval" in Carlos Moreira Azevedo (dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal, IV, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp. 512-523. Consulte-se, também, Carla Silvério, Representações da realeza na cronística medieval portuguesa. A dinastia de Borgonha, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1999 (Tese de Mestrado). 36 Sobre a cronística como fonte para a história medieval da mulher portuguesa, veja-se Ana Rodrigues Oliveira, As representações da mulher na cronística medieval portuguesa (sécs. XII a XIV), Cascais, Patrimonia Histórica, 2000.
___________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
15
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ________________________________________________________________________________________________________
Enquanto textos integrados numa mais ampla cultura cortesã cujo principal
objectivo era a formação dos príncipes e dos fidalgos, as crónicas articularam-se com
outros géneros literários igualmente pensados e desenvolvidos em ordem à educação
dos jovens presentes nos paços régios e senhoriais, encontrando-se entre eles a lírica
profana dos cancioneiros trovadorescos ou palacianos, as genealogias, as novelas de
cavalaria e os tratados didáctico-morais sobre as ocupações dos reis e dos grandes
senhores.37 Globalmente analisados, não forneceram, no entanto, muitos elementos
sobre as crianças, sobretudo quando comparados aos dispensados pela cronística, salvo
o caso das mais pessoais obras do rei Duarte.38
Na verdade, foi em dois considerados géneros menores da literatura clerical que
encontrámos um maior número de informações sobre a criança medieval portuguesa,
suplantando, em muito, os fornecidos quer pela prosa e poesia profanas, quer pelos
tratados espirituais, compostos ou traduzidos pelos monges e pelos eclesiásticos. 39
Referimo-nos às hagiografias e aos livros de milagres, habitualmente desprezados pelos
historiadores da cultura e da sociedade, porque estilisticamente pouco elaborados e, em
geral, portadores de informações quase sempre deformadas ou recriadas pelos óbvios
interesses dos templos que promoveram a sua escrita, ou seja, a pura exaltação dos
poderes taumatúrgicos dos cultos que patrocinavam, sobretudo os relativos aos santos
cujos corpos custodiavam e para cujas festividades litúrgicas desejavam
atrair peregrinos.40
37 Uma síntese fundamental, com indicação de abundante bibliografia, encontra-se em António Resende de Oliveira, "A cultura das cortes" in Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem (coord.), Portugal em Definição de Fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV, Nova História de Portugal, III, Lisboa, Presença, 1996, pp. 660-692, podendo ser pontualmente actualizada pela História da Literatura Portuguesa. Das origens ao Cancioneiro Geral, Lisboa, Alfa, 2001. Sobre o elenco, transmissão e edição dos textos narrativos medievais, consulte-se Isabel Vilares Cepeda, Bibliografia da Prosa Medieval Portuguesa, Lisboa, I.B.N.L., 1995. 38 Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte, ed. J.J. Alves Dias e A.H. de Oliveira Marques, Lisboa, Estampa, 1982 e D. Duarte, Leal Conselheiro, ed. Maria Helena Lopes de Castro, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1998. 39 Como é o caso, entre outros, do Orto do Esposo, ed. Bertil Maler, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1956-1964, do Castelo Perigoso, ed. Maria Branca da Silva, Lisboa, Colibri, 2001 e o da Corte Enporial, ed. Adelino Almeida Calado, Aveiro, Universidade, 2000. 40 Sobre a progressiva reabilitação dos textos hagiográficos pelos historiadores medievalistas: Pierre Riché, “Réflexions sur l’histoire de l’éducation dans le haut Moyen Âge (Ve - XIe siècles)” in Éducations médiévales, l´enfance, l' école, l' Église en Occident (VIe.-XVe. siècles), J. Verger (dir.), Histoire de l' éducation, 50, 1991, p. 21; Pierre-André Sigal, “La grossesse, l' accouchement et l' attitude envers l' enfant mort-né à la fin du Moyen Âge d' aprés les récits de miracles" in Santé, Médicine et Assistance au Moyen Âge, Paris, C.T.H.S. , 1987, pp. 23-24.
________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
16
FONTES ________________________________________________________________________________________________________
Contudo, o cepticismo provocado pela utilização histórica de fontes quase
sempre marcadas pela constante ocorrência de estereotipados tópicos literários, como é
corrente nas vidas dos santos ou, no caso do relato dos milagres, pela forma como os
clérigos ou religiosos adaptaram e distorceram os depoimentos orais prestados pelos
miraculados ou pelas testemunhas do milagre, de acordo com formulários próprios de
um registo escrito sujeito a regras e exigências canónicas, pode e deve ser ultrapassado
quando as informações a reter se descentram do milagre per si.41 Com efeito, se se
consideram criticamente os diversos episódios da vida terrena do santo, e as condições,
motivos e protagonistas dos supostos milagres - tendo em conta o seu funcionamento
enquanto materiais discursivos susceptíveis de tornar os textos hagiográficos credíveis
ou plausíveis pelo diversificado auditório a que se destinavam - , as vidas dos santos e
as memórias dos seus milagres acabam por fornecer informações e dados acerca das
crianças medievais mais próximas dos quotidianos sociais dos que são fornecidos pela
literatura profana cortesã, sobretudo atenta às elites, pela tratadística dos médicos e
pedagogos letrados, demasiado preocupada em articular as práticas sociais com os
saberes herdados da Antiguidade, ou até, pela generalidade das fontes jurídicas, já que
nelas a criança surge bastante diluída nas questões relativas à família e à transmissão do
respectivo património. 42
É, assim, quase sempre através dos textos hagiográficos e, na maior parte dos
casos, por via dos relatos de milagres, que conseguimos entrever imagens de infância e
adolescência minimamente concretas e plausíveis. Sejam crianças que trabalham ou
brincam com os irmãos e os amigos, sofrendo os acidentes próprios de meninos e
meninas que partilham espaços públicos e privados organizados em função dos adultos,
sejam jovens cuja impetuosidade e imprudência geram motins ou perturbações nos
quotidianos sociais rurais e urbanos.
41 Conforme salienta Eleanora C. Gordon, "Child Health in the Middle Ages as seen in the Miracles of Five English Saints. A.D. 1150-1120" in Bulletin of the History of Medicine, 60, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986, p. 503. 42 Sobre a consideração dos livros de milagres como fonte histórica, consulte-se, Ronald C. Finucane, “The use and abuse of medieval miracles”, History, 60, 1975, pp. 1-10.
___________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
17
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ________________________________________________________________________________________________________
Com origens que remontam à Cristandade da Antiguidade Clássica e à literatura
judicial romana da Acta Martyrum, os textos hagiográficos produzidos ou traduzidos no
Portugal medieval compreendem diversos sub-géneros, nem sempre nitidamente
autonomizados. De facto, se, por vezes, é possível distinguir entre as breves memórias
dos santos, incluídas, para efeitos litúrgicos, nos Legendários, e as mais desenvolvidas
narrativas das Vidas, Milagres e Transladações de relíquias, existem vários exemplos de
obras resultantes da sobreposição e conjugação desses sub-géneros.43 São, sobretudo, os
casos que respeitam às vidas em que se desenvolvem as memórias dos milagres
ocorridos depois da morte dos santos, reportando-se a cultos prestados nos santuários
em que se encontram sepultados ou para onde foram transferidas, total ou parcialmente,
as respectivas relíquias.
A produção portuguesa de escritos hagiográficos iniciou-se nos tempos da
formação territorial do Reino, ou seja, durante a Reconquista, compreendendo, desde
logo, várias Vidas, Milagres e Transladações redigidas em latim.44 Mais antigas, as
Vidas começaram por registar a biografia de santos reformadores ou fundadores de
grandes instituições eclesiásticas, sendo esses os casos do bispo Geraldo, em relação à
Sé de Braga,45 dos cónegos Telo e Teotónio, associados à memória do pároco Martinho
de Soure, no tocante ao convento régio de Santa Cruz de Coimbra,46 ou, já nos finais do
século XII, da abadessa Senhorinha, no que respeita ao mosteiro de Refojos de Basto,47
43 Aires A. Nascimento, “Hagiografias”, Dicionário de Literatura Medieval Galega, org. e coordenação de Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani, Lisboa, Ed. Caminho, 1993, pp. 307-310. 44 Para uma panorâmica geral sobre a evolução das hagiografias e dos livros de milagres medievais portugueses, consultem-se: José Mattoso, "Le Portugal de 950 à 1550" in Guy Philippart (dir.), Hagiographies, II, Turnhout Brepols, 1996, pp. 83-102; Mário Martins, Peregrinações e Livros de Milagres da Nossa Idade Média, Coimbra, Instituto de Estudos Históricos Doutor António de Vasconcelos, 1951; Maria de Lurdes Rosa, "Hagiografia e Santidade" in Carlos Moreira Azevedo (dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal, II, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 326-361. 45 Bernardo, Vida de S. Geraldo, trad. de José Cardoso, Braga, Livraria Cruz, 1959. 46 "Vida de D. Telo", "Vida de D. Teotónio", "Vida de S. Martinho de Soure", ed. Aires A. Nascimento, in Hagiografia de Santa Cruz, Lisboa, Colibri, 1998. Veja-se, também, Vida de S. Teotónio, ed. Maria Helena da Rocha Pereira, Coimbra, Santa Cruz, 1987. 47 A hagiografia de Senhorinha de Basto foi transmitida através de três tradições manuscritas: "Vida da Bem Aventurada Virgem Senhorinha" e "Outra Vida de Santa Senhorinha" in Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. e trad. de Maria Helena da Rocha Pereira, Porto, 1970, pp. 113-157; "Vida e Milagres de Santa Senhorinha", ed. Torquato Peixoto de Azevedo, Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães, Guimarães, Gráfica Vimaranense, 2000, pp. 444-479. Sobre as origens e a tradição manuscrita das hagiografias de Senhorinha de Basto, consulte-se Odília Alves Gameiro, A construção das memórias nobiliárquicas medievais. O passado da linhagem dos Senhores de Sousa, Lisboa, Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 2000, pp. 85-112.
________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
18
FONTES ________________________________________________________________________________________________________
havendo a mesma sido antes referenciada na hagiografia do abade Rosendo, o também
santo fundador do cenóbio galego de Celanova.48
Entretanto, mais a Sul, na Lisboa recentemente conquistada aos Muçulmanos,
tanto se foram elaborando os registos dos milagres atribuídos ao cavaleiro Henrique de
Bona, um mártir cruzado alemão que morrera durante a tomada cristã da cidade e se
encontrava sepultado no mosteiro peri-urbano de S. Vicente de Fora,49 como os
propiciados pelas relíquias do próprio S. Vicente, transladadas, em 1173, do Algarve
islâmico para a Sé lisboeta,50 enquanto, por outro lado, se reescrevia, no também
olisiponense convento santiaguista de Santos, uma antiga vida dos mártires hispânicos
Veríssimo, Máxima e Júlia, cujos despojos aí se teriam descoberto nos finais do século
XII.51
Contudo, se no conjunto de todos estes primeiros textos hagiográficos se
encontram algumas referências à infância ou à adolescência dos santos e várias
informações sobre crianças miraculosamente agraciadas, são sobretudo os escritos
produzidos a partir dos finais da Reconquista que fornecem dados mais desenvolvidos e
frequentes. Em primeiro lugar, porque referenciam a vida e os milagres de santos menos
relacionados com o exercício de altas funções eclesiásticas ou com acontecimentos
apologéticos da militância cristã contra o Islão. De facto, ao recordarem as vidas,
quer de frades mendicantes envolvidos na pregação urbana,52 como António de
48 Ordonho de Celanova, "Libro de la Vida y Milagros del obispo San Rosendo", ed. e trad. de M.C. Díaz y Díaz, in Vida y Milagres de San Rosendo, Corunha, Galicia, 1990, pp. 112-231. Veja-se, também, Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. cit. 49 "Notícia da Fundação do Mosteiro de S. Vicente de Lisboa", ed. e trad. de Aires A. Nascimento, in A conquista de Lisboa aos Mouros. Relato de um cruzado, Lisboa, Vega, 2001, pp. 178-197. Sobre o contexto cultural do registo dos milagres do cavaleiro Henrique de Bona: Armando de Sousa Pereira, Representação da guerra no Portugal da Reconquista, Lisboa, Comissão Portuguesa de História Militar, 2003, pp. 33-79. 50 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente", e "Milagres de S. Vicente", ed. e trad. de Aires A. Nascimento, Saúl A. Gomes, S. Vicente de Lisboa e Seus Milagres Medievais, Lisboa, Didaskalia, 1988, respectivamente, pp. 28-69 e 69-91. 51 Mário Martins, "A Legenda dos Santos Mártires, Veríssimo, Máxima e Júlia do cod. CV/I – 23 d., da Biblioteca de Évora", Revista Portuguesa de História, 6, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1964, pp. 44-50. 52 O conhecimento das Vidas e Milagres dos Santos mendicantes portugueses de Duzentos está muito dependente de tradições manuscritas que apenas se conservaram na obra de posteriores cronistas das ordens franciscana e dominicana. Nesse sentido, consultaram-se, para o efeito, tanto a tradução quatrocentista para português da Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), ed. José Joaquim Nunes, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, como as seiscentistas História Seráfica da Ordem dos Frades Menores de Frei Manuel da Esperança, Lisboa, 1656 e a História de S. Domingos de Frei Luís de Sousa, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, 2 vols.
___________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
19
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ________________________________________________________________________________________________________
Lisboa,53 Gil de Santarém54 ou Gonçalo de Amarante,55 quer as de leigos que, embora
poderosos, teriam vivido uma santidade caracterizada, para além da vivência exemplar
da espiritualidade cristã, por uma grande disponibilidade para exercer o auxílio e a
assistência caritativa às mais pobres ou desprotegidas populações do Reino, sendo esse
o caso da rainha Isabel de Aragão,56 acabam por referenciar contextos sociais marcados
por uma mais intensa presença das crianças.
Em segundo lugar, porque é a partir de então que se afirma e desenvolve o
maternal culto mariano, marcado e propagandeado pela difusão da suposta ocorrência
de múltiplos milagres protagonizados por crianças.57 Como sucede nas Cantigas de
Santa Maria, onde Afonso X de Castela e Leão concede um amplo espaço a graças
concedidas pela Virgem cultuada em vários santuários portugueses,58 nomeadamente
em Terena,59 a muitos meninos e meninas, ou, nos milagres registados nos séculos XIV
e XV em louvor de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães,60 e Nossa Senhora das
Virtudes, próximo de Santarém.61 Paralelamente, também então se registaram por
escrito, as benesses outorgadas pelo Deus menino, o Bom Jesus, aos seus mais
pequenos devotos, sendo esse o caso das propiciadas pelo seu culto no Mosteiro de S.
Domingos de Lisboa.62
Contudo, a recordação de milagres protagonizados por crianças não foi apenas
utilizada para atrair peregrinos a festas e romarias celebradas em nome de Nossa
53 "O Livro dos Milagres de Santo António em Medievo-Português", ed. J.J. Nunes, in Brotéria, LXXI, 10/60, pp. 299-307; Cousas Notaveis e Milagres de Santo António de Lisboa, ed. José Joaquim Nunes, Porto, 1912. Sobre a tradição hagiográfica portuguesa relativa a António de Lisboa, vejam-se Vida e Milagres de Santo António de Lisboa, ed. Fernando Thomaz de Brito, Lisboa, 1894 e, sobretudo, "Livro dos Milagres de Santo António de Lisboa", Fernando Felix Lopes, in Henrique Pinto Rema (dir.), Fontes Franciscanas, III, Braga, Editorial Franciscana, 1998, pp. 65-140. 54 Pelas razões indicadas na nota 52, a Vida e os Milagres de Frei Gil de Santarém foram analisados a partir da História de S. Domingos, de Frei Luís de Sousa, tendo também sido analisada A Vida do bem aventurado Gil de Santarém, de Frei Baltazar de S. João, ed. Aires A. Nascimento, Lisboa, 1982. 55 Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, 2 vols. Sobre as tradições hagiográficas relativas a Gonçalo de Amarante, consulte-se Arlindo Cunha, São Gonçalo de Amarante, um vulto e um culto, Gaia, Câmara Municipal, 1996. 56 Vida e Milagres de D. Isabel, ed. J.J. Nunes, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1921. 57 Consulte-se "O Livro dos Milagres da Bem-Aventurada Virgem Maria", ed. Mário Martins, in Brotéria, vol. LXX, 5, 1960, pp. 517-532. 58 Mário Martins, Peregrinações e Livros de Milagres da Nossa Idade Média, ed. cit., pp. 71-88. 59 Alfonso X, o Sábio, Cantigas de Santa Maria, ed. Walter Mettmann, Madrid, Castália, 1986-1988, cantigas 197, 198, 199, 223, 224, 228, 275, 283, 299, 319, 325, 333 e 334. 60 Afonso Peres, "O Livro dos Milagres de Nossa Senhora da Oliveira", ed. Mário Martins, in Revista de Guimarães, 63, 1953, pp. 83-132. 61 Frei João da Póvoa, "Livro dos Milagres de Nossa Senhora das Virtudes", ed. F. Correia, in Revista da Biblioteca Nacional, 2ª série, 3, nº 1, 1988, pp. 7-42. 62 "Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa", ed. Mário Martins, in Lavdes & Cantigas Espiritvais de Mestre André Dias, Lisboa, 1955, pp. 283-298.
________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
20
FONTES ________________________________________________________________________________________________________
Senhora ou do Menino Jesus. Também se encontra frequentemente registada nos Livros
compostos para publicitar e desenvolver as devoções a prestar às relíquias de novos e
antigos santos. Entre os primeiros, conta-se o beato Nuno Álvares Pereira, o fundador
do mosteiro de Nossa Senhora do Carmo, onde se elaborou um rol de milagres
destinado a propagandear-lhe o culto em torno da sepultura onde jazia.63 Entre os
segundos, por sua vez, contam-se santos cujos corpos há muito repousavam em templos
de Coimbra, ou seja, o mosteiro de Santa Clara, onde se custodiavam os restos mortais
da rainha Isabel de Aragão,64 e o convento de Santa Cruz de Coimbra, que guardava,
desde 1220, as relíquias dos chamados Mártires de Marrocos, sendo elas objecto de um
culto que se reavivou no contexto da espiritualidade cruzadística que regressara ao
Reino após a conquista de Ceuta.65 Esse mesmo revivalismo religioso encontra-se aliás,
bem presente na hagiografia em que Frei João Álvares recordou o sentido da vida do
infante Fernando, o também martirizado em Marrocos, Infante Santo.66
Paralelamente, os finais da Idade Média ainda conheceram um notável
acréscimo dos textos hagiográficos produzidos no Reino por via da tradução para língua
vulgar de muitas vidas e milagres de santos venerados por toda a Cristandade. Nesse
sentido, distinguiu-se o mosteiro cisterciense de Alcobaça, devendo-se aos seus monges
letrados a versão ou adaptação para português de um grande número de biografias de
santos orientais e ocidentais, como as que integram a chamada Colecção Mística de Frei
Hilário da Lourinhã,67 a elas também se tendo ficado a dever, no contexto da tradução
do texto castelhano de Bernardo de Brihuega sobre as Vidas e Paixões dos Apóstolos, a
63 Utilizamos a tradição manuscrita recolhida por Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga, e Regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, Lisboa, 1745. 64 "Vida e Milagres de D. Isabel Rainha de Portugal", ed. Maria Isabel da Cruz Montes, in Vida e Milagres de D. Isabel Rainha de Portugal (Edição e Estudo),Lisboa, Universidade Nova, 1999 (Tese de Mestrado). 65 "Livro dos Milagres dos Santos Mártires", ed. Maria Alice Fernandes, in Livro dos Milagres dos Santos Mártires, Edição e Estudo, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1988 (Tese de Mestrado). Veja-se, também, Tratado da vida e martírio dos 5 Mártires de Marrocos, ed. A. da Rocha Madahil, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1928. 66 Frei João Álvares, "Trautado da vida e feitos do muito vertuoso Sor Ifante D. Fernando" in Obras, I, ed. Adelino de Almeida Calado, Coimbra, 1960. Sobre a perspectiva hagiográfica desta biografia do infante Fernando, consulte-se João Luís Fontes, Percursos e memória: do infante D. Fernando ao Infante Santo, Cascais, Colibri, 2000, pp. 167-198. 67 Ivo Castro (dir.), "Vidas de Santos de um Manuscrito Alcobacense" in Revista Lusitana, 4, 1983, pp. 5 -15 e 5, 1985, pp. 43-46.
___________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
21
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ________________________________________________________________________________________________________
versão para linguagem dos milagres de Santiago,68 autónoma de uma que,
paralelamente, foi realizada na Galiza.69
Já no século XVI, imprimiram-se em Português os Flos Sanctorum, extensas
colectâneas de vidas e milagres de santos cultuados ao longo do calendário litúrgico
cristão por todo o Ocidente,70 tendo como modelo a Legenda Áurea de Jacobo de
Voragine71 e sendo amplamente devedoras de anteriores compilações castelhanas.72
Para uma história da criança medieval em Portugal, revelou-se particularmente
proveitosa a análise das vidas que integram a secção dos santos apresentados como
específicos do Reino, quer porque seus naturais, quer devido a nele se encontrarem as
respectivas relíquias,73 visto todas essas hagiografias se basearem em anteriores
narrativas medievais que, em certos casos, só assim sobreviveram, conforme explicitou
o dominicano Frei Diogo do Rosário, o autor do Flos Sanctorum de 1567.74
De uma forma geral, todas as Vidas consultadas comportam registos tipificados
sobre a infância e a adolescência dos santos e sobre as relações por eles mantidas em
vida, ou post mortem com crianças beneficiadas pelos seus poderes taumatúrgicos.
Nesse sentido, apresentam-se, frequentemente, como narrativas que recorrem a
símbolos e tópicos literários bastante padronizados, sendo essa a razão que levou Mário
Martins a considerar as Vidas como fontes onde “a originalidade é bastante rara" nelas
predominando a "hagiografia mais ou menos apócrifa" que vive "repetindo lugares
comuns" e copiando-se "a si mesma numa espécie de autofagia literária.” 75 Contudo,
se, ao contrário da crónica, ou até da épica, as vidas não recordam os feitos humanos
separados de uma instância sagrada que lhes fornece o último e decisivo sentido,
configurando-se, portanto, como narrativas mais centradas nos factos divinos do que
nos terrenos, não deixam de se interessar pelo registo dos acontecimentos que tornavam
68 Bernardo de Brihuega, Vidas e Paixões dos Apóstolos: ms alcobacense 280 da BN de Lisboa, 1505, I, ed. Isabel Vilares Cepeda, Lisboa, I.N.I.C., 1982, pp. 254-337. 69 Miragres de Santiago, ed. José L. Pensado, Madrid, 1958. 70 Consulte-se Maria Clara de Almeida Lucas, Hagiografia Medieval Portuguesa, Lisboa, I.C.L.P. – - M.E., 1984, pp. 15-20. 71 Jacques de Voragine, La Légende Dorée, Paris, Garnier-Flammarion, 1967, 2 vols. 72 Cristina Sobral, "O Flos Sanctorum de 1513 e suas adições portuguesas" in Lusitania Sacra, Lisboa, 13-14, 2002, pp. 531-568. 73 Ho Flos Sanctorum em Linguage: os Santos Extravagantes, ed. Maria Clara de Almeida Lucas, Lisboa, INIC, 1988; Cristina Sobral, Adições Portuguesas no Flos Sanctorum de 1513 (Estudo e Edição Crítica), Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa, 2000 (Tese de Doutoramento). 74 Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, Lisboa, 1869/1870, 12 vols. 75 Mário Martins, "A Legenda dos Santos Mártires Veríssimo, Máxima e Júlia do cod. CV/I – 23 d., da Biblioteca de Évora", Revista Portuguesa de História, 6, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1964, p.25.
________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
22
FONTES ________________________________________________________________________________________________________
a biografia dos homens e mulheres nelas recordados socialmente reconhecida e
partilhável, sob pena de não poder funcionar como exemplo ou modelo a imitar. 76
Neste sentido, os textos hagiográficos revelam-se fontes históricas decisivas
para a reconstituição da sociedade que procuram formar, já que funcionam muitas vezes
como registos que visam documentar e validar o passado próximo ou longínquo que
narram, transmitem e testemunham.77 É esse o caso, nomeadamente, dos livros de
milagres, elaborados com o objectivo de creditar por escrito a veracidade dos
acontecimentos oralmente relatados pelos peregrinos que se deslocavam aos santuários
para invocar a cura dos seus filhos, cumprir promessas pela recuperação da saúde de
algumas das suas crianças, ou difundir um qualquer milagre acontecido longe do
santuário mas por intermédio de uma relíquia nele conservada, ou através da invocação
de um santo aí cultuado, tudo isso frequentemente comprovado por parentes, vizinhos
ou pelo pároco local. 78
Ora, tendo os livros de milagres começado a ser escritos desde o século XII,
com o objectivo de promover junto da Santa Sé, o reconhecimento oficial de novas
santidades e devoções, ou, posteriormente, com a intenção de desenvolver e até relançar
cultos que iam perdendo popularidade, caracterizam-se por apresentar um estilo
bastante próximo do utilizado na documentação jurídico-administrativa, carecendo, em
geral, da retórica e dos artifícios literários usados na redacção das Vidas. De facto,
durante a Baixa Idade Média, chegam a ser escritos por tabeliães locais que neles
utilizam o formulário próprio dos diplomas públicos, ao mesmo tempo que todos eles
revelam a progressiva preocupação de registar, com grande precisão, as efectivas
condições da ocorrência dos milagres, tanto no que diz respeito à sua tipologia, como no
referente aos respectivos espaços, tempos, protagonistas e testemunhas.79
Devidamente analisada e confrontada entre si, a informação relativa a um total
de 175 milagres medievais acontecidos a crianças e adolescentes, permitem então
estabelecer séries de dados extremamente preciosas para a abordagem e para o
76 André Vauchez, “Santidade” in Enciclopédia Einaudi, 12, Mythos/Logos, Sagrado/Profano, Lisboa, I.N.C.M., 1987, p. 287. 77 Maria de Lurdes Rosa, "A santidade no Portugal medieval: narrativas e trajectos de vida" in Lusitania Sacra, Lisboa, 13-14, 2002, pp. 369-450. 78 Sobre o poder taumatúrgico dos santos, consulte-se André Vauchez, La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, Roma, Escola Francesa de Roma, 1988. 79 Veja-se Cristina Oliveira Fernandes, "O Livro dos Milagres de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães" in Lusitania Sacra, Lisboa, 13-14, 2002, pp. 597-607. Consulte-se, também, Aires A. Nascimento, “Milagres Medievais”, Dicionário de Literatura Medieval Galega, org. e coordenação de Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani, Lisboa, Ed. Caminho, 1993, pp. 459-461.
___________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
23
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ________________________________________________________________________________________________________
desenvolvimento de temáticas relativas à saúde e aos quotidianos das crianças
medievais portuguesas, sobretudo quando os resultados podem ser comparados com os
já apurados nesse mesmo tipo de fontes para outros países da Cristandade medieval.80
Por fim, no tocante às fontes não escritas, mencione-se, à partida, que a
consideração e análise de informações relativas às imagens e aos vestígios e objectos
relacionados com a civilização material, só foi possível através da consulta e
interpretação dos resultados contidos em trabalhos já realizados ou em curso por
investigadores especializados. Relativamente às fontes arqueológicas foram, assim,
referenciados e contextualizados, quer diversos objectos relativos aos quotidianos
infantis e juvenis, apresentados em trabalhos monográficos recentemente concluídos,81
ou expostos em diversas exposições cujos catálogos permitiram o respectivo
conhecimento e consideração,82 quer materiais osteológicos pertencentes a crianças ou
adolescentes que se encontram recenseados e interpretados, na perspectiva da
paleobiologia e da paleoantropologia, em estudos e relatórios de apresentação científica
dos resultados obtidos por intervenções arqueológicas ultimamente realizadas em
alguns cemitérios medievais portugueses.83
Quanto às fontes iconográficas, a ausência de sínteses específicas sobre a
representação das crianças na arte medieval portuguesa, tornou necessária a consulta de
vários estudos gerais84 e de repertórios sobre a escultura e a iluminura românica e
80 Sobretudo no que diz respeito à França medieval: Didier Lett, L'enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe.-XIIIe. siècle),Paris, Aubier, 1997 e Pierre-André Sigal, L'homme et le Miracle dans la France médiévale (XIe.-XIIe. siècle), Paris, Lés Éditions du CERF, 1985. Numa perspectiva mais metodológica, veja-se Angela Muñoz Fernandez, “El Milagro como Testemonio Historico - Propuesta de una Metodologia para el Estudio de la Religiosidad Popular” in La Religiosidad Popular, 1, C. Álvarez Santaló, Maria Jesús Buxó e S. Rodriguez Becerra (coord.), Barcelona, 1989, pp. 164-185. 81 Mário Jorge Barroca, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), Porto, Faculdade de Letras da Universidade, 1995 (Tese de Doutoramento); Rosa Varela Gomes, Silves – Uma cidade do Gharb Al-Andalus – Arqueologia e História (séculos VIII-XIII), Lisboa, Universidade Nova, 1999 (Tese de Doutoramento). 82 Paulo Pereira (dir.), Hospital Real de Todos os Santos: Séculos XV a XVII. Catálogo da Exposição, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1993; Cláudio Torres, Santiago Macias (dir.), Portugal islâmico. Os últimos sinais do Mediterrânico. Catálogo da Exposição, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1998; Rosa Varela Gomes, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo da Exposição, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001. 83 Veja-se a relação completa de todos estes trabalhos na Bibliografia. 84 Tendo em consideração, nomeadamente, as indicações fornecidas em: Maria Adelaide Miranda, José Custódio Vieira da Silva, História da Arte Portuguesa. Época medieval, Lisboa, Universidade Aberta, 1995; Francisco Pato de Macedo, "Manifestações artísticas" in Maria Helena da Cruz Coelho, Armando Luís Carvalho Homem (coord.), Portugal em Definição de Fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV, Nova História de Portugal, III, Lisboa, Presença, 1996, pp. 692 - - 745;Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal. O Românico, Lisboa, Presença, 2001; Carlos Alberto Ferreira de Almeida, Mário Jorge Barroca, História da Arte em Portugal. O Gótico, Lisboa, Presença, 2002.
________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
24
FONTES ________________________________________________________________________________________________________
gótica,85 cingindo-se a heurística e a hermenêutica assim realizadas aos
materiais existentes nas colecções públicas portuguesas já inventariadas ou
catalogadas,86 tendo apenas sido aprofundadas áreas ou temáticas já minimamente
abordadas ou referenciadas pelos medievalistas dedicados à investigação iconológica.
Para o efeito, tanto se tiveram em conta imagens directamente produzidas em Portugal
como também as que circularam no Reino durante a Idade Média ou que, sendo
externas ao País, integraram uma mesma área linguístico-cultural, como sucede
relativamente às iluminuras contidas nos códices das Cantigas de Santa Maria de
Afonso X de Castela e Leão.87
Devidamente contextualizadas pela análise das fontes escritas, as fontes
iconográficas revelaram-se fundamentais para caracterizar a evolução da forma como a
sociedade medieval portuguesa valorizou a criança. Com efeito, sendo pouco frequentes
na arte românica, as imagens da infância e da adolescência só começaram a
desenvolver-se e a expandir-se nos tempos góticos, reproduzindo e indiciando, desse
modo, a importância que a Baixa Idade Média urbana e cortesã começou a dar à
especificidade social e cultural das crianças.
No seu conjunto, foi o cruzar das informações contidas em todas estas fontes
que nos permitiu desenvolver o que necessariamente será um começo da história
medieval das crianças e dos adolescentes portugueses, já que os distintos conhecimentos
e metodologias envolvidos na respectiva crítica histórica apontam para inevitáveis
aprofundamentos, rectificações e desenvolvimentos. Até lá, porém, atrevemo-nos a
seguir, um pouco temerariamente, uma norma enunciada por Maria Helena da Cruz
Coelho a propósito da abordagem da história social pelos medievalistas, a de que,
85 Maria Adelaide Miranda (dir.), A Iluminura em Portugal. Identidade e Influências. Catálogo da Exposição, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1999; Sérgio Guimarães de Andrade (dir.), O Sentido das Imagens. Escultura e Arte em Portugal (1300-1500). Catálogo da Exposição, Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, 2000; Carla Varela Fernandes, Memórias de Pedra. Escultura Tumular Medieval da Sé de Lisboa, Lisboa, IPPAR, 2001; José Custódio Vieira da Silva, O Panteão Régio do Mosteiro de Alcobaça, Lisboa, IPPAR, 2003. 86 Sobre a iluminura: Isabel Vilares Cepeda, Teresa Duarte Ferreira (dir.), Inventário dos Códices Iluminados até 1500, I e II, Lisboa, Instituto da Biblioteca e do Livro, 1995 e 2001. Sobre a escultura, tiveram-se em conta os materiais disponibilizados no site oficial do Instituto Português dos Museus WWW.IPM.PT. 87 Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial, Siglo XIII; Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice B.R. 20 de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, Siglo XIII. A consideração das iluminuras das Cantigas como fonte para a história social da Hispânia de Duzentos, foi objecto de um notável ensaio de Gonzalo Menendez Pidal, La España del Siglo XIII Leida en Imagens, Madrid, Real Academia de la Historia, 1986.
___________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
25
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ________________________________________________________________________________________________________
"quando carecemos de fontes directas, não devemos desprezar quaisquer ocasionais
referências”.88
88 “Os Homens ao longo do Tempo e do Espaço” in Maria Helena da Cruz Coelho, Armando Luís de Carvalho (coord.), Portugal em Definição de Fronteiras(1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV, ed, cit., p. 168.
________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
26
1 DIFERENCIAR Le vocabulaire est le document le plus riche, mais aussi le plus difficile à exploiter, car les mots sont des enveloppes dont le contenu n’a pas le même sens dans les différents milieux sociaux, et se modifie d’autre part avec le temps.
Georges Duby1
A consciência da existência de várias fases, idades ou
estádios, que se sucedem ao longo da vida de cada indivíduo,
encontra-se bem presente no discurso letrado ocidental, desde a
Antiguidade clássica. Tal como então, também a Idade Média
considerou a infantia como a primeira das idades de um conjunto
que tendia a ser de seis, antecedendo a pueritia (dos seis aos
catorze anos), a adolescentia (dos catorze aos vinte), a juventus
(até aos quarenta), a senectus (até aos sessenta anos) e a senium
(depois dos sessenta). De facto, tendo como base um esquema
difundido através das Etimologias de Isidoro de Sevilha, sempre
foi esta a formulação mais seguida nos tempos medievais.2
No século XIII, por exemplo, esta divisão continuava a vigorar na nova e muito
consultada enciclopédia de Bartolomeu, o Inglês,3 e, dois séculos mais tarde, já no
âmbito da cultura letrada leiga e cortesã, ela também se encontra na base do
repartimento das idades enunciadas por D. Duarte no seu Leal Conselheiro, onde se
volta a repetir ser a
ifancia ataa VII annos, puericia ataa XIIII, ataa XXI adolacencia, mancebia
ataa cincoenta, velhice ataa LXX, senium ataa LXXX. E dali, ataa fim da vida,
decrepidus.4
1 Georges Duby, Hommes et structures au Moyen Âge, Paris, 1973, p. 104. 2 Isidoro de Sevilha, Etimologias, II, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, pp. 39-47. 3 Veja-se Didier Lett, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe. - XIIIe. siècle), Paris, Aubier, p. 26. 4 D. Duarte, Leal Conselheiro, ed. Maria Helena Lopes de Castro, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1998, p. 16.
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _____________________________________________________________________________________________
Contudo, embora existisse um consenso entre os letrados medievais sobre a
validade da consideração de seis etapas a percorrer na vida de qualquer indivíduo,
assistiu-se, sobretudo a partir do século XIII, à formulação de propostas que ampliavam,
reduziam ou complexificavam o esquema isidoriano das idades do homem, sem contudo
alterar os seus aspectos essenciais. Algumas delas resultaram da tentativa de impor um
ciclo de sete etapas, mais propício ao estabelecimento de relações simbólicas entre as
sucessivas fases etárias e os planetas, os dias da semana, as idades do mundo ou os dons
do Espírito Santo, acrescentando à fórmula das Etimologias uma nova idade terminal,
senies, a alcançar depois dos setenta anos, ou subdividindo a primeira, conforme
propôs, na década de sessenta do século XIII, Aldebrandino de Siena, para quem a
infantia se reduzia até ao tempo do aparecimento dos primeiros dentes, sendo depois
seguida, até aos sete anos, pela idade da dentum plantatura.5
Paralelamente, começaram também a surgir propostas de vários pedagogos
apontando para uma redução no cômputo das seis idades. Filipe de Novara, por
exemplo, baseando-se nas tradições pitagórica e aristotélica, sugeria, em 1260, a
consideração de quatro idades correspondentes às quatro estações do ano e aos quatro
elementos da natureza. Neste caso, à infância, que decorreria até aos vinte anos e que se
articularia com a Primavera e com a água, suceder-se-iam a juventude, até aos quarenta
e sob o signo do Verão e do fogo, a média idade, conotada com o Outono e a terra, e, a
partir dos sessenta anos, a velhice, a fase etária correspondente ao Inverno e ao ar. Mais
sintético e global, Gil de Roma sugeria, em 1285, a simples consideração de uma
juventude primaveril, seguida pela idade madura do Verão e finalizada pela velhice de
um Outono-Inverno.6
No seu conjunto, todas estas novas propostas acabavam por desvalorizar as
idades extremas, remetendo os inícios da sequência, princípio - progressão - equilíbrio -
- declínio, para uma fase etária em que ainda não se tinham adquirido as capacidades
vitais, e os seus finais para um tempo de decrepitude e de senilidade. Sendo assim, a
infância e a velhice surgiam como idades imperfeitas, sobretudo por contraste com a
fase que correspondia aos trinta anos, a idade em que Cristo começou a fazer milagres.
De resto, tanto os textos dos médicos como dos pedagogos medievais insistiam em
atribuir à infantia várias carências e debilidades que acentuavam, por sua vez, a ideia de
_______________________________________________________________________________________________ 28
5 Michel Pastoureau, “Les emblèmes de la jeunesse” in Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt (dir.), Histoire des Jeunes en Occident de L’Antiquité à l’Époque Moderne, Paris, Seuil, 1996, pp. 255-257. 6 Michel Pastoureau, ibidem.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
DIFERENCIAR _____________________________________________________________________________________________
uma imperfeição, aspecto que as Etimologias de Isidoro de Sevilha tinham contribuído
para evidenciar, dado registarem para a infantia a etimologia de in-fans, ou seja, quem
“não sabe ainda falar” ou “articular palavras”, porque, sem “ter ainda desenvolvido os
dentes”, lhe faltava “a faculdade da linguagem”.7
Assim, para os médicos, ao seguir a teoria dos humores, a criança era um ser
muito quente e muito húmido, explicando-se a fraqueza e a debilidade dos primeiros
anos de vida por um desequilíbrio com o frio e o seco exteriores que só seria corrigido
com o avanço dos anos. Para os pedagogos, por sua vez, a infantia caracterizava-se por
uma genérica falta de maturidade, expressa na incapacidade de elaborar um discurso
coerente antes dos cinco anos, mostrando-se, portanto, bastante cépticos sobre o início
de um processo pedagógico de aprendizagem antes dessa idade.8 De facto, mesmo para
alguns teólogos, a criança não deveria ser responsabilizada por actos praticados antes
dos cinco anos, só devendo ser confessada e admitida à comunhão depois dos seus cinco
sentidos corporais se encontrarem devidamente espiritualizados pelo conhecimento do
significado simbólico dos cinco elementos associados à eucaristia, ou seja, a carne e o
sangue de Cristo que se consubstanciavam no pão, no vinho e na água manipulados
durante a missa. 9
Baseando-se no conhecimento de todas estas formulações, Philippe Ariès
acabou por as generalizar. Se “a duração da infância era reduzida ao período de maior
fragilidade, em que a cria humana não se bastava a si própria” na Idade Média passar-
-se-ia “directamente de criança muito pequena a adulto jovem, sem passar pelas várias
etapas da juventude.” 10 Ora, tais conclusões revelam-se, hoje, demasiado radicais.
Com efeito, mesmo a nível das representações, assistiu-se a partir da Baixa
Idade Média a uma participada problematização das características e especificidades da
primeira das idades do homem, desde a questionação do momento exacto dos seus
começos, até à elaboração de complexas considerações normativas relativamente ao
respectivo enquadramento social. Ao mesmo tempo, aliás, que as fontes
documentais começam a permitir a revelação da existência de um vocabulário
___________________________________________________________________________________________________ 29
7 Isidoro de Sevilha, Etimologias, II, ed. cit., pp. 40-41. Para além de Isidoro de Sevilha, outros estudiosos da infância seguiram teorias semelhantes. Sobre este tema, veja-se Didier Lett, ob. cit., ed. cit., p. 28. 8 Didier Lett, ibidem. 9 Id., ibidem, p. 101. 10 Philippe Ariès, A criança e a vida familiar no Antigo Regime, Lisboa, Relógio d’Água, 1988, p. 10.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _____________________________________________________________________________________________
consciente e atento às realidades do crescimento infantil, distinguindo e considerando
diferentes níveis etários na infância e na puberdade.
Antes de mais, a criança começou a suscitar um alargado debate sobre o exacto
momento da sua entrada na vida. Para a maioria da população leiga, o início da
infância coincidia com a hora do parto, constituindo o grito da criança ao nascer a mais
forte manifestação da afirmação pública de um novo ser.11 No grupo dos letrados,
porém, recuava-se à altura em que o feto teria recebido a alma, variando, contudo, o
cômputo dos dias em que essa ocorrência se verificaria. Entre as seis e as sete semanas
para os que a situavam na fase em que o feto adquiria os respectivos membros sem
distinção de sexo e, para os seguidores da concepção aristotélica, aos quarenta dias para
o rapaz e aos noventa para a rapariga.12
Em 1234, o papa Gregório IX adoptou como posição oficial da Igreja a
segunda das teses, passando então os textos normativos eclesiásticos a considerar que a
criança não só começava a sua infância antes do nascimento, como sobre ela já
penderiam determinadas regras e disposições. Nas actas dos sínodos diocesanos, nos
penitenciais e nos livros de milagres portugueses, ou redigidos em língua lusa, era essa
a situação dos nascituros, referidos como fruytos, ou seja, os fetos que já se encontram
concebidos como crianças,13 contando-se, por exemplo, entre os milagres atribuídos a
Nuno Álvares Pereira, terem sido agraciadas parturientes, quer com a criança morta no
ventre quer com a criança atravessada com uma perna e um braço de fora ou ainda
com complicados partos.14
Entretanto, os canonistas e os legistas multiplicavam as referências feitas às
crianças na legislação produzida, passando estas a definir um grupo etário
crescentemente abrangido por normas e procedimentos jurídicos diferentes dos
aplicados aos rapazes e raparigas que, após a entrada na adolescentia, aos,
respectivamente, catorze e doze anos de idade, passavam a estar quase sempre
_______________________________________________________________________________________________ 30
11 Sobre o papel atribuído a este primeiro grito na resolução de conflitos jurídicos relacionados com a transmissão das heranças, bem como as diversas interpretações sobre as suas causas, consulte-se Didier Lett, ob. cit., ed. cit., pp. 21-24. 12 É só no século XVII, com a aceitação da descoberta do mecanismo da ovulação que a Igreja passa a considerar a simultaneidade da concepção e da animação. Sobre este tema e respectiva bibliografia, veja--se Didier Lett, ob. cit., ed. cit., pp. 20-24. 13 Veja-se, por exemplo, no Penitencial de Martin Perez as penas reservadas para os que procuravam que o fruyto nom seja conçebido: O Penitencial de Martim Pérez em Medievo-Português, ed. Mário Martins, Lisboa, 1957, p. 42. 14 Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga e Regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, Lisboa, 1745, pp. 551-553.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
DIFERENCIAR _____________________________________________________________________________________________
enquadrados pelo regime reservado aos adultos. Neste sentido, as regras e as práticas
jurídicas acabam por reflectir e testemunhar a progressiva construção medieval de uma
concepção de criança valorizada e diferenciada mesmo que, atendendo à reduzida
esperança de vida desta época e às categorias mentais herdadas da Antiguidade, se
confinasse aos anos correspondentes à infantia e à pueritia, não coincidindo assim, seja
com a tendência moderna e contemporânea de nela também vir a incluir uma parte da
adolescentia, seja com a actual consideração de uma meta etária comum aos rapazes e
às raparigas para atingir a idade adulta. Abandonava-se, neste último caso, a concepção
aristotélica, muito presente na cultura letrada masculina da Idade Média, de que a
precocidade da mulher no que diz respeito à sua completa maturidade se deveria ao
facto de que as leis da natureza finalizariam mais depressa o que era menos nobre,
complexo ou subalterno. 15
Entre os juristas da Baixa Idade Média, foram, sobretudo, os canonistas quem
mais precocemente se ocupou com o direito da criança, produzindo uma abundante
legislação sobre as interdições e as protecções devidas à consideração da sua idade, a
qual foi depois, em grande parte, adoptada e ampliada pelos civilistas. No seu conjunto,
todo esse labor jurídico baseava-se na consideração de uma escala muito mais precisa
das etapas de crescimento e maturidade a percorrer pelas crianças até atingirem a
adolescentia, e, uma vez ultrapassadas as duas fases - uma semi-plena, terminada aos
dezoito anos, e outra plena - chegarem à juventus, a idade em que, cerca dos vinte e
cinco anos, entravam finalmente no mundo dos adultos e dos seus deveres e
responsabilidades relativamente à sociedade e à crença. De facto, antes da adolescentia,
tanto os canonistas como os teólogos começaram a defender a consideração de uma
responsabilização individual mais branda e desculpabilizante, propondo, em primeiro
lugar, que fosse progressivamente acentuada durante a pueritia, mais no decorrer de
uma sua segunda metade - dos dez e meio até aos doze para as raparigas e catorze para
os rapazes - do que numa primeira, iniciada aos sete anos, e, em segundo lugar, que na
considerada primeira infantia - do nascimento até aos três ou cinco anos - fosse
completamente ignorada, tendo em conta que o in-fans, mesmo que já falasse e pudesse
___________________________________________________________________________________________________ 31
15 Didier Lett, ob. cit., ed. cit., p. 25.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _____________________________________________________________________________________________
confessar as suas faltas, deveria ser considerado inocente e alheio à intenção de pecar,
pelo menos enquanto não atingisse a segunda fase da sua primeira idade. 16
A preocupação evidenciada pela legislação canónica em considerar a
especificidade jurídica das crianças nem sempre teve como objectivo a respectiva
protecção. De facto, uma parte significativa das normas produzidas nesse contexto
destinou-se a proteger os adultos das consequências de uma considerada falta de
responsabilidade social e religiosa por parte das crianças, a qual seria tanto mais grave
quanto mais jovem elas fossem. Nesse sentido, os canonistas preocuparam-se,
sobretudo, em enunciar as incapacidades jurídicas que deveriam atingir os não adultos,
com vista à preservação do bom funcionamento das instituições eclesiásticas.
Por um lado, preconizaram a exclusão dos pré-adolescentes de todas as
eleições destinadas a escolher responsáveis pelos cargos e funções diocesanas, devendo-
-se a Bonifácio VIII (1294-1303) a norma canónica que passou a fixar os catorze anos
como idade mínima requerida para esse efeito, a qual, de resto, foi depois ampliada por
Clemente V (1305-1314), quando exigiu a prévia condição de sub-diácono aos
participantes em tais sufrágios, ou seja, nunca antes dos dezoito anos. Por outro lado, os
canonistas também começaram a expressar a opinião da necessidade de se restringir às
crianças o usufruto directo e imediato de direitos familiares de padroado e de eleição do
local de sepultura, visto ambos implicarem um problemático acesso a bens e
rendimentos eclesiásticos. Nesse sentido, duas decretais de Bonifácio VIII
determinaram que as crianças menores de sete anos apenas poderiam reivindicar a
satisfação dos direitos de padroado herdados dos pais por intermédio de uma tutoria
juridicamente reconhecida, o mesmo sendo necessário no caso de pretenderem contestar
a escolha familiar prévia do seu futuro lugar de sepultura e, nesse caso, apropriar-se dos
bens e rendimentos que já tinham sido entregues à instituição religiosa antes designada
para esse efeito.17
Aliás, a salvaguarda do património eclesiástico relativamente a actos ou
decisões tomadas por crianças consideradas muito influenciáveis e sem suficiente
discernimento jurídico também foi objecto das decisões canónicas que impuseram
a entrada na adolescentia como condição necessária ao exercício da capacidade de
_______________________________________________________________________________________________ 32
16 Sobre a formulação das diversas fases das idades da vida no direito canónico, consulte-se René Metz, "L’enfant dans le droit canonique médiéval” in La femme et l’enfant dans le droit canonique médiéval, Londres, Variorum Reprints, 1985, pp. 11-23. 17 René Metz, “L’acession des mineurs à la cléricature et aux bénéfices eclésiastiques dans le droit canonique médiéval” in La femme et l’ enfant dans le droit canonique médiéval, ed. cit., pp. 553-567.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
DIFERENCIAR _____________________________________________________________________________________________
depor ou citar em justiça. No primeiro caso, só aos catorze ou aos doze anos, conforme
se tratasse de um rapaz ou de uma rapariga, é que os jovens podiam ser ouvidos em
causas cíveis, enquanto para as causas criminais se passou a exigir a idade da passagem
da adolescentia para a juventus como limite mínimo para testemunharem em juízo.
Reservava-se, contudo, a excepção no caso de não haver qualquer outra possibilidade de
prova, de poderem ser ouvidos ainda durante a adolescentia, não sendo porém o seu
testemunho prestado sob juramento e funcionando apenas como indício a ter em conta
para a resolução da sentença a dar ao crime em julgamento, conforme, aliás, refere, no
século XIV, o bispo de Silves, Frei Álvaro Pais, no seu Estado e Pranto da Igreja.18
Em relação ao segundo caso, acabou por prevalecer o princípio da negação aos
infantes de qualquer direito de acusação em justiça, visto, nas palavras do canonista
atrás referido, não saberem “o que vêem”.19 De resto, nem durante a adolescentia
deveriam as crianças ser consideradas capazes de promover uma acção judicial que
visasse matérias temporais, havendo que atingir a juventus para poderem desencadear
um litígio que envolvesse a denúncia de delitos situáveis fora da esfera dos bens ou
benefícios espirituais, já que só relativamente a esses - entre os quais se incluíam os
casos de casamento, entrada na vida religiosa ou direito de padroado - lhes era
reconhecido o direito de citar em justiça.20
Porém, embora os canonistas da Baixa Idade Média se tenham preocupado com
o desenvolvimento de uma legislação orientada para a discriminação negativa dos
direitos das crianças, não deixaram de agir em ordem à sua protecção jurídica, tal como
sucede em relação aos esponsórios, à sua entrada na vida religiosa e à questão da
respectiva responsabilização criminal.21 No que se refere à primeira matéria, foi com
Gregório IX (1227-1241) que se consagrou o princípio da validação jurídica dos
esponsórios das crianças prometidas em casamento pelos pais, muitas vezes antes dos
sete anos de idade, passando a fazer depender a sua futura transformação num
matrimónio do consentimento dos noivos quando chegados à idade da puberdade,
salvo no caso da existência de uma união carnal prévia e precoce.
___________________________________________________________________________________________________ 33
18 Álvaro Pais, Estado e Pranto da Igreja (Status et Planctus Ecclesiae), V, ed. Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, J.N.I.C.T., 1995, pp. 362-363. 19 Id., ibidem, pp. 436-437. 20 René Metz, “L’enfant dans le droit canonique médiéval” in La femme et l’enfant dans le droit canonique médiéval, ed. cit., pp. 11-23. 21 René Metz, “L’entrée des mineurs dans la vie religieuse et l´autorité des parents d’aprés le droit classique. La réaction contre l’ancien rigorisme en faveur de la liberté des enfants” in La femme et l’enfant dans le droit canonique médiéval, ed. cit., pp. 553-567.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _____________________________________________________________________________________________
Uma tal medida, que retirava aos progenitores ou aos familiares a exclusiva
decisão do futuro conjugal dos respectivos filhos ou parentes, insere-se no conjunto das
medidas que os eclesiásticos desenvolveram, desde o século XII, para sacralizar o
matrimónio. De facto, é neste contexto que os contratos de casamento deixaram de ser
apenas considerados como meros actos de gestão familiar de alianças de parentesco
para passarem também a significar decisões religiosas que deviam envolver a
concordância e a responsabilização individual dos cristãos que as protagonizavam, não
sendo as mesmas concebíveis antes de eles atingirem a puberdade, porque só então
poderiam validar ou rejeitar conscenciosamente os compromissos de conjugalidade que
haviam sido feitos em sua intenção.22
O mesmo objectivo de harmonização dos interesses familiares acerca do futuro
das crianças em ordem a assegurar o seu posterior consentimento pessoal acabou
também por se concretizar nas disposições canónicas sobre a incapacidade dos menores
para decidirem uma sua entrada na vida religiosa definitiva e irrevogável. Esta passou a
depender, quando formulada antes de atingida a puberdade, quer de uma mais
conscenciosa renovação da sua opção mal ultrapassassem os catorze anos, quer de uma
autorização paterna ou, na sua falta, tutorial, tal como viriam a precisar, no segundo
quartel do século XIII, as Decretais de Gregório IX. Com efeito, é por estas que os pais
ou tutores das crianças impúberes adquirem o direito explícito de reivindicar a anulação
de uma decisão infantil sobre a entrada na vida religiosa durante o período de um ano,
prorrogável em diversas circunstâncias.23
Por fim, no que diz respeito à responsabilidade jurídica das crianças, também
os canonistas produziram legislação que consagrou e salvaguardou a respectiva
especificidade etária. Por um lado, fixaram nos sete anos a idade a partir da qual se
deviam julgar e punir os delitos infantis, definindo assim o princípio da imunidade
judicial das crianças. Por outro, consideraram a existência de várias atenuantes a serem
tidas em conta na redução das penas a aplicar aos jovens com menos de catorze
anos, fixando nessa idade o patamar etário a partir do qual se atingia uma plena
responsabilidade criminal. Para o canonista Graciano, era só então que se podia atribuir
às crianças a aquisição de uma inequívoca compreensão das consequências produzidas
_______________________________________________________________________________________________ 34
22 Sobre o processo histórico que conduziu à sacramentalização do casamento, veja-se Georges Duby, Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale, Paris, Hachette, 1981. 23 René Metz, “L’entrée des mineurs dans la vie religieuse et l´autorité des parents d’après le droit classique. La réaction contre l’ancien rigorisme en faveur de la liberté des enfants”, ob. cit., ed. cit, pp. 553-567.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
DIFERENCIAR _____________________________________________________________________________________________
pelos seus actos, já que a sua anterior actividade delitual seria equiparável aos
irracionais comportamentos dos dementes, sendo, portanto, atribuíveis a atitudes
desencadeadas pela desordenada actuação dos sentidos.24
No seu conjunto, toda esta legislação canónica, em grande parte transposta e
adaptada pelas leis civis europeias da Baixa Idade Média,25 testemunha,
independentemente do sentido positivo ou negativo com que nela é encarada a
especificidade infantil ou adolescente, a existência medieval de uma representação
social e mental da criança, bem desenvolvida e consolidada. Esta, de resto, também se
encontra visível, desde os começos do século XII, em várias narrativas biográficas onde
os religiosos letrados concedem um lugar mais ou menos destacado à evocação dos seus
tempos de infantia, pueritia e adolescentia. Tal evocação acontece pioneiramente nas
memórias que o abade beneditino francês Gilberto de Nogent redigiu entre 1114 e 1117,
quando tinha cerca de sessenta anos de idade.26
Por outro lado, tanto todos estes textos, como os próprios diplomas produzidos
a partir do século XII, evidenciam a utilização de um vocabulário cada vez mais
complexo e diversificado de referência às crianças e aos jovens.27 Com efeito, segundo
Georges Duby, foi durante o século XII que se começou a tornar frequente distinguir o
adulescentulus, o adulescens inberbis ou o puer - o termo aplicável aos rapazes
fidalgos que ainda não haviam terminado a sua aprendizagem guerreira - do juvenis - o
vocábulo reservado aos cavaleiros experientes que permaneciam solteiros,28 tendo essa
primeira diferenciação linguística evoluído de forma a já compreender, durante a
centúria de Quatrocentos, um muito mais numeroso campo de variantes lexicais, como
___________________________________________________________________________________________________ 35
24 René Metz, “L’enfant dans le droit canonique médiéval” in La femme et l’enfant dans le droit canonique médiéval, ed. cit., pp. 69-96. 25 Sobre a transposição do direito canónico na legislação régia europeia e portuguesa, consultem-se, respectivamente, António M. Hespanha, Panorama histórico da cultura jurídica europeia, Lisboa, Europa-América, 1998 e Marcello Caetano, História do Direito Português (1140-1495), Lisboa, Verbo, 1994, pp. 334-343. 26 Yves Ferroul, “Devenir adulte. L’exemple de Guibert de Nogent” in Éducation, Apprentissages, Initiations au Moyen Age, Actes du Premier Colloque International de Montpellier, Université Paul Valéry, 1991, pp. 155-164. 27 Vejam-se, sobre a imprecisão do vocabulário carolíngeo relativo à criança e sobre a forma como ele evoluiu ao longo dos séculos XII e XIII, respectivamente, Michel Rubellin, “Entrée dans la vie, entrée dans la chrétienté, entrée dans la société: autour du baptême à l’époque carolingienne” in Les entrées dans la vie- Initiations et apprentissages, XII congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, pp. 34-35 e Pierre-André Sigal, “Le vocabulaire de l’enfance et de l’adolescence dans les recueils de miracles latins des XIe. et XIIe. siècles” in L’enfant au Moyen Âge, (Littérature et Civilization), Senefience, 9, Université de Provence, 1980, pp. 141-160. 28 Georges Duby, “Au XIIe siècle: les “jeunes” dans la société aristocratique” in Annales, E.S.C., 1964, pp. 826-840. Consulte-se também, do mesmo autor, Guilherme, o Marechal, O Melhor Cavaleiro do Mundo, Lisboa, Gradiva, 1994, pp. 41-43.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _____________________________________________________________________________________________
sejam, impubes, pubes, puella, puer jam juventutis altatem contingens, virguncula,
virgo ou juvenculus.29
Em Portugal, os livros de milagres dos séculos XIV e XV permitem verificar
uma idêntica evolução lexical.30 De facto, se considerarmos os termos neles utilizados
para referir as crianças e os adolescentes de ambos os sexos, obtemos um total de
dezanove vocábulos e expressões vocabulares diferentes. O sentido preciso de um tal
léxico não é, no entanto, fácil de determinar, já que o seu possível e esclarecedor
relacionamento com informações respeitantes à idade exacta dos jovens a que se refere
só muito raramente pode ser feito, apenas se revelando viável para cerca de 25% das
crianças e adolescentes registados, conforme é visível no Quadro I - O Léxico sobre a
Infância e a Adolescência nos Livros de Milagres Medievais Portugueses.
Antes de mais, porque a menção precisa à respectiva idade não se revelava
essencial para os redactores dos livros de milagres. Com efeito, sendo o seu objectivo
produzir memórias destinadas a difundir e propagandear os poderes taumatúrgicos dos
santos cujas relíquias e cultos pretendiam promover entre as comunidades de cristãos,
bastava-lhes apontar os jovens de muito pouca, tenra ou já de alguma idade como
exemplos de agraciados, destinados a captar a devoção, promessas e peregrinações da
generalidade dos pais angustiados com a saúde dos filhos.
Por outro lado, porque a menção exacta da idade dos jovens miraculados,
embora pudesse funcionar como reforço da credibilidade de uma efectiva e concreta
ocorrência das graças registadas, não era fácil de obter numa sociedade marcada por
uma global indiferença à necessidade de um tempo mensurável e progressivo, bem
distinto do tempo impreciso, cíclico e repetitivo que modelava as vivências e as práticas
de uma civilização ainda estruturalmente rural.31 Na verdade, perante tais características
mentais, os letrados responsáveis pela feitura dos livros de milagres apenas se podiam
socorrer das memórias familiares, sobretudo femininas, sendo elas tanto mais precisas
quanto mais pequenos fossem os filhos.32 No fundo, sem o contributo das mães a quem
as Ordenações Del-Rei Dom Duarte reconheciam especial aptidão para testemunhar a
_______________________________________________________________________________________________ 36
29 Pierre Charbonnier, “ L’entrée dans la vie au XVe. siècle, d’après les lettres de rémission” in Les entrées dans la vie - Initiations et apprentissages, XII congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, pp. 72-73. 30 Sobre os livros de milagres medievais portugueses consultados, veja-se o capítulo FONTES. 31 Veja-se Jacques Le Goff, A Civilização do Ocidente Medieval, I, Lisboa, Estampa, 1983, pp. 203-205. Consulte-se também Luís Krus, “A vivência medieval do tempo” in Passado, Memória e Poder na sociedade medieval portuguesa. Estudos., Redondo, Patrimonia, 1994, pp. 11-24. 32 Cf. Elisabeth van Honts, Memory and Gender in Medieval Europe, Londres, MacMillan, 1999.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
DIFERENCIAR _____________________________________________________________________________________________
naÇença e a hjdade de menjnos,33 dificilmente se conheceriam os anos exactos de
cerca de 25% das crianças e adolescentes registados nos livros de milagres medievais
portugueses.
No seu conjunto, os vocábulos mais utilizados para designar a totalidade da
população infantil e juvenil presente entre os miraculados são filho/filha (44%) e
moço/moça (28%), ambos os binómios correspondendo a cerca de 3/4 do léxico
expresso. À primeira vista, tais valores evidenciariam, desde logo, o predomínio de uma
concepção familiar da infância e da adolescência, dada a menor representatividade da
terminologia referenciadora das crianças enquanto seres autónomos e dissociáveis do
grupo do parentesco original, paralelamente ao que acontece com a utilização do
vocábulo neto para as mencionar.
Contudo, a consideração das informações disponíveis sobre as idades exactas
das crianças a que se aplica um tal vocabulário permite matizar essa primeira leitura, já
que esclarece sobre a existência de um léxico tendencialmente utilizado para referir
distintos níveis etários. De facto, enquanto o par filho/filha, associado a menino/menina,
se apresenta maioritariamente relacionado com a forma de designar a criança de idade
inferior a oito anos, e, entre estas, à semelhança do que ocorre com os vocábulos recém-
-nascido e menino de peito, às que não ultrapassam os dois anos, o par moço/moça
surge, sobretudo, aplicado à referenciação de jovens de oito ou mais anos, tal como
ocorre com rapaz/rapariga, reservando-se o registo de mocinho para o nível etário
inferior.
___________________________________________________________________________________________________ 37
33 Ordenações del-Rei D. Duarte, ed. M. Albuquerque e E. Borges Nunes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1988, p. 149.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _____________________________________________________________________________________________
QUADRO I - O LÉXICO SOBRE A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA NOS LIVROS
DE MILAGRES MEDIEVAIS PORTUGUESES
Vocábulos 34 Idade Indefinida 0-2 3-8 9-12 + 13 Total
Recém-nascido 1 1
Menino de peito 1 1
Menino 11 7 1 1 20
Menina 2 3 2 7
Criancinha 1 1
Filho 50 10 7 67
Filha 22 3 1 1 27
Neto 2 2
Criança 4 1 1 6
Mocinho 2 2 4
Moço pequeno 4 4
Moça pequena 1 1
Moço 36 1 1 2 1 41
Moça 17 1 2 20
Rapazinho 2 2
Rapaz 2 2 4
Rapariga 1 1 2
Mancebo 4 4
Jovem 2 2
TOTAL 163 28 15 4 6 216 35
PERCENTAGEM 75% 13% 7% 2% 3% 100%
34 A grafia dos vocábulos foi por nós actualizada.
_______________________________________________________________________________________________ 38
35 O número total de termos utilizados é maior do que o total de miraculados porque no mesmo relato do milagre se referem, por vezes, vários vocábulos relativos à mesma criança.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
DIFERENCIAR _____________________________________________________________________________________________
Sendo assim, apesar da presença de algumas excepções, talvez mais devidas à
intervenção escrita dos letrados responsáveis pela elaboração dos livros de milagres36
do que a verdadeiras ambiguidades linguísticas, podemos concluir que o léxico
respeitante às crianças e aos adolescentes reflecte a consideração social da existência de
pelo menos quatro fases no desenvolvimento infantil e juvenil. Ou seja, a que vai do
nascimento até aos dois anos (recém-nascido; menino de peito; menino/menina;
filho/filha), seguida pela que se prolonga até aos oito (mocinho; menino/menina;
filho/filha), continuada primeiro pela que tem o seu termo pelos doze (moço; rapaz) e
depois pela que então se inicia (moço/moça; rapaz/rapariga) correspondentes,
respectivamente, às primeira e segunda infantiae, à pueritia e à adolescentia.
Globalmente, as idades da criança evidenciadas pelo vocabulário presente nos
livros de milagres medievais portugueses dos séculos XIV e XV, não diferem muito das
que Le Roy Ladurie verificou encontrarem-se difundidas entre os habitantes da aldeia
pirenaica de Montaillou durante a primeira metade de Trezentos, baseando-se, para o
efeito, no léxico infantil e juvenil por eles utilizado nas informações prestadas aos
dominicanos que aí, então, desenvolveram um processo de inquisição contra a heresia
cátara. Assim, tendo em conta o vocabulário das declarações transcritas, os moradores
dessa aldeia distinguiam, entre os menores de doze anos, três níveis etários,
maioritariamente expressos por distintos vocábulos: infans/filius/filia para designar as
crianças até aos dois anos de idade; puer em relação às que se situavam entre os dois e
os doze e adulesceus/juvenis, relativamente às maiores de doze.37
Ao contrário do que foi defendido por Philippe Ariès, 38 a civilização
medieval do ocidente, na qual se inclui a sociedade portuguesa, não só atribuiu à criança
uma decisiva importância no conjunto das idades da vida, como a considerou
susceptível de ser lexicalmente diferenciada e objecto de teorização e normalização
jurídica, de forma a adequar o conceito às realidades e vivências sociais que, desde o
século XII, tiveram nos jovens um decisivo factor de transformação e inovação.
___________________________________________________________________________________________________ 39
36 Vidé nota 35. 37 Emanuel Le Roy Ladurie, Montaillou. Cátaros e católicos numa aldeia occitana, 1294-1324, Lisboa, Edições 70, 2000, p. 282. 38 Na opinião deste autor, uma civilização que não possui uma palavra para definir um conceito não pode verdadeiramente conhecer esse conceito (neste caso o da infância) : Philippe Ariès, A criança e a vida familiar no Antigo Regime, ed. cit., p.182.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
2 NASCER
Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra
Génesis1
Na concepção medieval do mundo e da sociedade, a
maternidade era tão importante para o quotidiano feminino
como o casamento ou as origens familiares. Dar à luz e criar
os filhos era a “profissão” das mulheres casadas. Para os
letrados da época, esta relação era tão óbvia e evidente que,
por exemplo, S.Tomás de Aquino, na centúria de Duzentos,
atribuía o aparecimento da mulher à necessidade de assegurar
a descendência masculina:
Era necessário que a mulher entrasse na Criação,
como diz a Escritura, como ajudante do homem; e não
como ajudante para quaisquer outras obras da criação, como
alguns afirmam, pois o homem encontra para as restantes
obras melhor ajuda noutro homem do que na mulher, mas sim
como ajudante na obra da procriação.2
1 – A MATERNIDADE SAGRADA
O século XII revalorizou o problema da procriação e do nascimento com a
consolidação do culto mariano. Embora de cariz popular, só então foi devidamente
orquestrado e institucionalizado pela Igreja devido à influência das ordens religiosas,
tanto monásticas, sobretudo a cisterciense, como mendicantes. De facto, enquanto
responsáveis pela introdução de uma nova mentalidade religiosa orientada para a
pureza das origens evangélicas, foram elas as grandes promotoras do culto à Virgem,
quer ao nível das práticas devocionais quer no que respeita à sua escolha para
patrona de um muito numeroso grupo de mosteiros e conventos. Paralelamente, no 1 Génesis: 9.1 in Antigo Testamento, Bíblia Sagrada, em Português, ed. e trad. de João Ferreira de Almeida, Lisboa, Soc. Bíblicas Unidas, 1968. 2 Citado por Claudia Opitz, "O quotidiano da mulher no final da Idade Média (1250-1500)" in Georges Duby e Michelle Perrot (org.), História das Mulheres, 2, Porto, Afrontamento, 1993, p. 378.
NASCER __________________________________________________________________________________________
contexto da restauração ou criação de novas dioceses, também a maior parte das
catedrais foi dedicada à Virgem Maria, cujo culto encontrou nas Cantigas de Santa
Maria de Afonso X, o Sábio, a máxima expressão da sua dimensão literária.
Em Portugal, essa devoção remonta à centúria anterior. De facto, tanto os
condes portucalenses como o rei Afonso Henriques concederam especiais privilégios
à catedral de Braga, em honra de Santa Maria, a rainha do céu e do novo reino
nascente. Depois, nas centúrias de Duzentos e Trezentos, à medida que progredia e
se consolidava a Reconquista, muitos dos templos então erguidos, foram consagrados
a Santa Maria, a protectora dos que defendiam a verdadeira fé. De facto, nos finais
do século XV, existiam em Portugal mais de mil templos dedicados a Maria, fossem
igrejas, capelas ou ermidas, todas as sés catedrais e um grande número de mosteiros.3
Ao mesmo tempo, multiplicaram-se e diversificaram-se as representações de
Maria na sua função de mãe. Ao longo do século XIV, mais de metade das imagens
conhecidas e produzidas nos ateliers portugueses corresponde precisamente à Virgem
nas suas três iconografias góticas mais típicas: a Virgem da Expectação, ou Senhora
do Ó, a Virgem em pé segurando o Menino - normalmente no braço esquerdo - ou
sentada no trono com o Menino sobre o joelho esquerdo, brincando com Ele ou
amamentando-O, o que daria origem à série das chamadas Virgens de Ternura.4 O
Cristo-criança tornou-se, assim, uma referência constante e os progressos do culto
mariano trouxeram a proliferação de imagens em que a Virgem se associa ao Deus
menino, contribuindo para os avanços de uma nova consciência social da gravidez e
para a emergência de um diferente olhar sobre a mulher e a criança.
Tendo em conta o corpus da escultura medieval actualmente conservado
no Museu Nacional de Arte Antiga,5 torna-se bem nítida a forma como progrediu a
vontade de conceder à Virgem uma maior visibilidade e representatividade. Por um
lado, nota-se a tendência para conferir um relevo cada vez maior às imagens
maternais. Por outro, vai-se acentuando o abandono de uma representação
majestática da Virgem entronizada com o Menino e começa-se a evidenciar a
______________________________________________________________________________________________ 42
3 Cf. A.H. de Oliveira Marques, A Sociedade Medieval Portuguesa, Lisboa, Sá da Costa, 1974, p. 161. 4 Para uma geografia e caracterização das várias imagens marianas góticas, veja-se Mário Barroca, "Escultura Gótica" in Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Mário Barroca, História da Arte em Portugal . O Gótico, Lisboa, Ed. Presença, 2002, pp. 157-179. 5 Vidé Quadro II. Identificação e quantificação feitas através da consulta do ficheiro de escultura do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
procura de novas soluções temáticas e formais destinadas a acentuar a maternidade
de Nossa Senhora.
As chamadas Virgens da Expectação constituem um dos aspectos mais
visíveis destas mudanças, já que contribuem para associar Nossa Senhora não só à
maternidade como à própria gravidez, permitindo assim figurar sob a imagem da
Virgem as mulheres grávidas que, como ela, podem e devem ser socialmente
respeitadas e veneradas. De resto, também as chamadas Virgens do Leite contribuem
para detectar os progressos da valorização da maternidade ao conferirem especial
relevo à amamentação materna,6 enquanto, por outro lado, as imagens das Santas
Mães, tendo como tema a genealogia maternal de Cristo, reflectem a vontade de
prestigiar o contributo fornecido pela mulher à reprodução familiar, sendo de
assinalar como se começam a afirmar a partir do século XIV.
Centradas na tripla representação da avó e da mãe do Cristo-criança, as
imagens das Santas Mães ilustram o tema da divindade humana, acentuando-se,
portanto, a crescente importância ao dogma da Encarnação na espiritualidade da
Baixa Idade Média. Ora, do ponto de vista iconográfico, a solução formal mais
divulgada foi a de centrar a representação do tema numa imagem sedente de Santa
Ana sobre a qual se faz figurar a Virgem, que, por sua vez, segura o menino nos
braços ou o aconchega ao colo, acentuando-se, portanto o protagonismo de Santa
Ana, como intercessora junto da Virgem para a obtenção do perdão dos pecados, ou
como intermediária sagrada para uma boa morte, pois, segundo a tradição dos
evangelhos apócrifos, havia obtido do neto Jesus Cristo assistência espiritual no
momento da sua morte.7 Sendo assim, a progressiva afirmação do culto a Santa Ana
acaba por reflectir o crescente papel reservado à maternidade da Virgem nas
devoções marianas da Baixa Idade Média.
__________________________________________________________________________________________________
43
6 Vidé no capítulo CRESCER os cuidados a ter com a escolha das amas, caso a mãe estivesse impossibilitada de amamentar. 7 Cf. Sérgio Guimarães de Andrade (dir.), O Sentido das Imagens. Escultura e Arte em Portugal [1300-1500]. Catálogo da Exposição, Lisboa, Ministério da Cultura, Instituto Português dos Museus, Museu Nacional de Arte Antiga, 2000, p. 256.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
NASCER __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 44
Figura 1 – Santas Mães (Século XIV-XV) Santa Ana, num plano intermédio dacomposição, apresenta a Virgem, sentada noseu regaço, a qual, inclinando-se, concentraafectuosamente o seu olhar no Menino queamamenta.
Figura 2 – Santas Mães (Século XV) Santa Ana acolhe no seu regaço, quer a figura daVirgem, em perfil, quer a do Menino que, emposição frontal, exibe um orbe na mão direita. AVirgem segura na sua mão esquerda uma rosa,lembrando uma das invocações marianas bastantedifundidas no século XV, a da Virgem da Rosa.
No seu conjunto, a estatuária mariana medieval conservada no Museu
Nacional de Arte Antiga, atesta, eloquentemente, o progressivo relevo fornecido às
representações sagradas da maternidade que, por sua vez, traduzem a sua crescente
valorização social. Contudo, embora o seu número progrida de século para século, o
Quadro II revela um constante predomínio das imagens de tamanho médio e a
exponencial representatividade das de mais reduzidas dimensões.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
QUADRO II
A VIRGEM-MÃE NA ESTATUÁRIA MEDIEVAL DO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA.
DIMENSÕES E TIPOLOGIAS
__________________________________________________________________________________________________
45
Século Até 50 cm Entre 50 e 90 cm Mais de 90 cm Totais
XIII
. Virgem com o
Menino - 1
TOTAL - 1
. Virgem com
o Menino - 9
TOTAL - 9
_____________
10
XIV
. Virgem com o
Menino - 4
TOTAL - 4
. Virgem com o
Menino - 25
. Virgem do Leite - 1
. Virgem da
Expectação - 1
. Santas Mães - 2
TOTAL - 29
.Virgem com o
Menino - 10
.Virgem do Leite - 1
. Virgem da
Expectação - 3
. Santas Mães - 1
TOTAL - 15
48
XV
. Virgem com o
Menino - 15
. Virgem do Leite - 4
. Virgem do Rosário - 1
. Virgem em Glória - 1
. Virgem - 1
. Santas Mães - 2
TOTAL - 24
. Virgem com o
Menino - 73
. Virgem do Leite - 17
. Virgem do Rosário - 2
. Santas Mães - 8
TOTAL - 100
. Virgem com o
Menino - 11
.Virgem do Leite - 3
. Virgem do Rosário - 1
TOTAL - 15
139 197 TOTAIS 29 138 30
Apesar de muito pouco se saber sobre a proveniência de quase todas as
imagens deste espólio, pensamos poder detectar-se um reflexo da intensificação
social do culto mariano, visto as estátuas de menores dimensões, sendo de mais baixo
custo, tanto poderem corresponder a objectos devocionais oriundos de meios rurais
abastados ou de comunidades urbanas de reduzidas posses, como a imagens
devocionais privadas, provenientes de oratórios ou capelas leigas. No século XIV, a
imagem era uma referência obrigatória em todo lugar de devoção; ver, passou a ser
fundamental para a oração. O rezar "a quente" perante uma imagem supostamente
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
capaz de comover e suscitar sentimentos veio substituir o rezar "a frio", longe das
imagens, como até aí acontecia.8 A nova importância conferida à escultura
devocional, se surge no contexto de uma mutação profunda na forma de se lidar com
o sagrado, testemunha, também, a crescente atenção prestada à maternidade e aos
seus valores no Portugal da Baixa Idade Média.
Contudo, tal não significa que os mistérios da “produção feminina”
deixassem de representar um domínio quase sempre reservado às mulheres, sendo
pouco abordados pela cultura letrada medieval predominantemente masculina. De
facto, tanto a gravidez, como o parto ou os cuidados com a criança pequena
continuavam a ser assuntos e funções da esfera do feminino, a que os homens
tinham pouco acesso. O conhecimento do que se passava no quarto da parturiente
permanecia vedado por um véu de pudor que nem o marido nem o próprio médico
facilmente ultrapassavam.
Sendo assim, as informações letradas medievais sobre a transmissão da vida
são muito escassas, encontrando-se quase todas condensadas em três tipos de fontes:
os tratados médicos e científicos, os manuais de educação moral destinados às
mulheres9 e as hagiografias e livros de milagres. Nos dois primeiros casos,
predominam informações técnicas e normativas sobre a gravidez, o parto e os
cuidados a ter com o recém-nascido, não sendo possível saber até que ponto
testemunham práticas socialmente seguidas. De facto, só as hagiografias e os livros
de milagres nos permitem, ainda que muito indirectamente, vislumbrar um pouco
dessa realidade.
2 – A ESTERILIDADE E A CONCEPÇÃO
De uma forma geral, o cristianismo exalta a gravidez e valoriza o feto. Uma
família fértil é considerada uma família cristã que segue os preceitos evangélicos.
Pelo contrário, a esterilidade surge como marca da vergonha, do pecado e da
inutilidade. Sobre Santa Ana e S. Joaquim, os pais da Virgem Maria, noticiava-se,
por exemplo, como sofriam muita pena e vergonha por nõ teer geraçõ, pensando ela
______________________________________________________________________________________________
8 Cf. Mário Barroca, "Escultura Gótica", ob. cit., ed. cit., p. 158. 9 Consulte-se Pierre André Sigal, « La grossesse, l’accouchement et l’attitude envers l’enfant mort--né à la fin du Moyen Âge d’après les récits de miracles » in Santé, Médicine et Assistance au Moyen Âge, Actes du 110e Congrès National des Sociétés, Paris, C.T.H.S., 1987, Tomo I, p. 23.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
46
NASCER __________________________________________________________________________________________
que por seus pecados Deos a avia fecta maninha, ao mesmo tempo que se lembrava
ter o marido sido expulso do Templo por ser maninho, e, assim, considerado um
homē mais sem proveito e inutile que todos os homēs. 10
De facto, a procriação tendia a funcionar enquanto elemento aferidor da
dignidade e da estabilidade do vínculo conjugal. Casamento e fecundidade surgiam,
nesse sentido, como obrigações morais de todos os cônjuges, sobretudo para a
mulher, já que gerar filhos representava a possibilidade de ser resgatada do pecado
de Eva e ver aberta a porta da salvação da sua alma. “Gerar filhos continuamente até
à morte” era, para além da virgindade, segundo lembrava o dominicano Nicolau de
Gorran († 1295), a única forma de a mulher conquistar a salvação.11
Um casamento estéril deixava, então, o casal sob suspeição, quer de usar
contraceptivos, realizar o aborto ou praticar o infanticídio, quer de dedicar-se a
prazeres sexuais não orientados para a sua única suposta legítima função, a da
procriação.12 Com efeito, segundo a moral clerical, a esterilidade poderia ser
interpretada como consequência de uma sexualidade conjugal desregrada e aviltada
pela procura pecaminosa de um prazer incontrolado.13
Em suma, um bom casamento devia ser prolífero e uma boa esposa devia
ser uma mãe, mesmo que canonistas e teólogos tivessem reconhecido, sobretudo a
partir do século XIII, que um matrimónio não consumado, ou sem filhos, podia ser
um sacramento abençoado, desde que os cônjuges vivessem um amor sincero e
temente a Deus, e que alguns deles chegassem mesmo a admitir a importância da
relação sexual para a consolidação do afecto a existir entre os esposos, como foi o
__________________________________________________________________________________________________ 47
10 'Da vida e linhagem de Sancta Anna, madre de Nossa Senhora' in "Adições Portuguesas no Flos Sanctorum de 1513", ed. Cristina Sobral, Adições Portuguesas no Flos Sanctorum de 1513 (Estudo e Edição Crítica), Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa, 2000 (Tese de Doutoramento), pp. 700, 701 e 703. 11 Citado por Silvana Vecchio, “A boa esposa” in Georges Duby e Michelle Perrot (org.), História das Mulheres, 2, Porto, Afrontamento, 1993, p. 163. 12 Como denunciam os penitenciais, ao condenar a achegança do marido a sua molher de tras, assy como besta, ou o fornizio praticado mediante aliquo insturmento ou os tratados de confissão ao referir os que dormem com as molheres per outra maneira salvo como a natureza demãda. Respectivamente, O Penitencial de Martim Pérez em Medievo-Português, ed. Mário Martins, Lisboa, 1957, p. 44; Tratado de Confissom (Chaves, 8 de Agosto de 1481), ed. José V. de Pina Martins, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973, p. 233. 13 Para o combate do qual os penitenciais recomendavam a interdição de práticas sexuais desde XX dias ante de Natal adeante, atáa o cabo del, domingos ou en nas festas dos apostolos ou em nas outras festas mayores ou en qual quer dia de jajuneum da eigreja ordenado, assim como durante todo o período da Quaresma: ob. cit., ed. cit., p. 45. Também o Tratado de Confissom refere os dias interditos às práticas sexuais: ob. cit., ed. cit., p. 204.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
caso dos mendicantes S. Tomás de Aquino e S. Boaventura.14 Com efeito, a presença
entre os relatos medievais de milagres da Baixa Idade Média de inúmeras graças de
fertilidade concedidas a casais estéreis permite perceber como a ausência de filhos
continuava a ser considerada uma grave culpa individual e social.15
Uma tal angústia encontra-se presente nos textos bíblicos, a propósito dos
miraculosos nascimentos de Ismael, Isaac, Samuel, Sansão, João Baptista e,
sobretudo, a Virgem Maria, tida de Santa Ana após vinte anos de esterilidade. Ora, à
semelhança do que se sabia relativamente a tais personagens das Escrituras, também
circulavam no Portugal medieval as histórias de Santos e simples fiéis que teriam
nascido em idênticas circunstâncias.
No seu conjunto, conhecem-se os textos de nove desses milagres, incluindo,
na hagiografia portuguesa de Santa Ana, o respeitante ao nascimento da Virgem.
Apenas num deles se conta como a graça fora obtida a pedido do pai, já que no caso
dos restantes, ou foi concedida a rogo do casal ou só da mãe, sendo esse
protagonismo feminino justificável pela razão de, à época, se atribuir exclusivamente
às mulheres a responsabilidade na infertilidade de um matrimónio. No caso de um
dos milagres atribuídos a S. Frei Gil de Santarém, explica-se como Mécia, a mulher
do alcaide de Faro, pedira a intercessão do santo para engravidar porque
havendo muitos annos que era casada, temia que a falta de filhos fosse
causa de seu marido se vir a desgostar com ella, vivendo ambos em tudo o
mais com muita conformidade.16
De facto, a suposta infertilidade feminina era então causa suficiente para o
repúdio marital de uma esposa, atribuindo-se à própria Santa Ana o lamento de se
sentir, antes do milagre do nascimento da Virgem,
muy triste e desconsollada polla asencia de seu marido que avia cinco
meses que nõ sabia delle parte nē nova não fazia senom chorar cuydando
que por ser maninha ha avya deyxado seu marido.17
______________________________________________________________________________________________
14 Jean-Louis Flandrin, Le sexe et l’occident, évolution des attitudes et des comportements, Paris, Seuil, 1981, pp. 106-107. 15 Pierre-André Sigal, L'homme et le Miracle dans la France médiévale (XIe – XIIe siècle), Paris, Les Éditions du CERF, 1985. 16 Frei Luís de Sousa, “S. Frei Gil” in História de S. Domingos, I, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, p. 219 17 'Da vida e linhagem de Sancta Anna, madre de Nossa Senhora' in ob. cit., ed. cit., p. 703.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
48
NASCER __________________________________________________________________________________________
Nomeadamente para as fidalgas, era difícil explicar um casamento sem
filhos. O não poder satisfazer o desejo do marido e da sua linhagem de vir a ter um
herdeiro varão, provocaria em muitas dessas mulheres a vivência angustiada dos
últimos meses da sua gravidez.
Nos relatos dos milagres dos nascimentos de S. Frei Gil de Santarém e de S.
Rosendo de Celanova refere-se a infelicidade causada pela falta de filhos, a,
respectivamente, pais da alta nobreza descendentes de estirpe real,18 e progenitores
provenientes da ilustríssima árvore genealógica real, que, parecendo abundarem em
felicidade, estavam privados da alegria de herdeiros, noticiando-se como os
primeiros tinham feito voto a Deus para o conseguirem, e como os segundos haviam
peregrinado pelos mosteiros, não cessando de depor oferendas e incenso sobre os
altares, regando com lágrimas os templos. Segundo depois se conta, fora quando o
pai de S. Rosendo se ausentara para a guerra, que a mãe, ao continuar as suas preces
e ao deslocar-se todos os dias, a pé e descalça, a uma distante igreja onde ia ouvir os
ofícios divinos para obter de Deus a maternidade, teria então tido a visão de um anjo
anunciador da próxima concepção de um filho santificado por Deus.19
Ora uma tal história não se distinguia muito da que se dizia ter acontecido
aos futuros pais da Virgem Maria, Santa Ana e S. Joaquim, dos quais se lembrava
como
fezerõ voto e prometimēto a Deos que, se lhe desse alguu fruyto de geraçõ,
que lho offereceriõ. E cõ este voto e petiçõ hyã cada festa do anno ē pessoa
a visitar o sancto Templo de Jherusalem cõ seus dões e obrigações e
offertas e devotas oraçoões.20
Entre os reis, por outro lado, também a mesma situação é recordada por Rui
de Pina a propósito de D. João II e da sua rainha, noticiando-se como ambos foram
em romaria a S. Domingos da Queimada, com ricas ofertas para pedir que Deos lhe
desse filhos d’antre ambos, que ElRey sobre todalas cousas sempre mais desejou. 21
__________________________________________________________________________________________________ 49
18 Frei Baltazar de S. João, A vida do bem aventurado Gil de Santarém, ed. Aires A. Nascimento, Lisboa, 1982, p. 24. 19 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. e trad. de Maria Helena da Rocha Pereira, Porto, 1970, pp. 17- -19. 20 “Da vida e linhagem de Sancta Anna, madre de Nossa Senhora” in ob. cit., ed. cit., p. 700. 21 Rui de Pina, “Chronica d’ElRey D. João II” in Crónicas, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, p. 926.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
Figura 3 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) As peregrinações a santuários próprios dedicados à Virgem, onde se ofereciam imagens decera da forma e do peso do bebé que se desejava ter, eram uma maneira vulgar de invocar aconcepção.
______________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
50
NASCER __________________________________________________________________________________________
Outros exemplos referem-se a fidalgas e a simples mulheres do povo, como
Mécia, a já antes mencionada mulher do alcaide de Faro que invocara S. Frei Gil de
Santarém para a ajudar a conceber, esperando o milagre que já teria ocorrido a
Maria Antíoca, uma mulher não privilegiada declarada estéril pelos médicos com
quem se tinha cançado, e despendido após dez anos de casada22 ou a Beatriz
Álvares, casada há catorze anos, que apenas concebera ao pedir a intercessão de
Nuno Álvares Pereira, a quem se prestava culto em torno da sepultura onde fora
enterrado no mosteiro lisboeta do Carmo. 23 Ao mesmo tempo também se regista o
caso de
huum barom nobre que como nom podesse aveer jeraçom, foi-sse ao sepulcro
de samto Amtonio e fez voto. 24
De resto, a angústia individual ou social sentida pelos cônjuges sem filhos,
não se encontra apenas testemunhada pelo registo das muitas promessas e milagres
que teria suscitado ou desencadeado. Revela-se, ainda, através da notícia dos vários
pós, unguentos, alimentos e regimes dietéticos aconselhados pelos médicos e pelos
mágicos para corrigir os excessos de calor ou de secura que provocariam a
esterilidade.25 De facto, só no caso da farmacopeia recomendada por Pedro Hispano
na sua obra O Tesouro dos Pobres, para permitir ou garantir aos casais a procriação,
encontram-se noventa e cinco receitas, trinta e quatro para excitar ao coito, cinco
para predispor o organismo feminino à maternidade e mais cinquenta e seis para a
__________________________________________________________________________________________________ 51
22 Frei Luís de Sousa, "S. Frei Gil" in História de S. Domingos, I, ed. cit., pp. 218-219. Veja-se também a notícia sobre a mulher estéril a quem Santa Senhorinha teria permitido uma miraculosa maternidade : "Vida da Bem Aventurada Virgem Senhorinha", ed. e trad. Maria Helena da Rocha Pereira, in Vida e Milagres de S. Rosendo, Porto, 1970, p. 145. 23 Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga, e Regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, I, Lisboa, 1745, p. 552. 24 Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), ed. J.J. Nunes, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, p. 272. 25 Tal como se pode observar, quer nos livros da arte de curar anglo-saxónicos onde se mencionam métodos destinados a excitar a paixão, a propiciar e consolidar a gravidez, ou a impedir o aborto, quer através dos lapidários hispânicos medievais no contexto das receitas para a utilização das rochas e minerais, entre as quais se destacam as destinadas a impedir o aborto espontâneo e as utilizadas para assegurar a gravidez. É ainda de referir a menção nos Contos de Cantuária de Geoffrey Chaucer (1342-1400) aos meios a utilizar pelo homem para assegurar a sua potência e às instruções fornecidas às parteiras sobre o modo de responderem a perguntas das doentes sobre a esterilidade no quatrocentista Tratado sobre o Útero de António Guainério, entre as quais se referem os emplastros quentes e os pessários aconselhados para assegurar a concepção e a informação de que a fecundidade feminina se podia confirmar pela fermentação de farelos sobre a urina. Sobre tudo isto, consulte-se Angus Mclaren, História da Contracepção – Da Antiguidade à Actualidade, Lisboa, Terramar, 1997, p. 126.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
mulher conceber com sucesso, combinando ingredientes de origem animal (como a
vulva de lebre, o leite de burra, o testículo direito da doninha-macho, o chifre de
veado ou a urina de elefante), com produtos quer de origem vegetal (sendo esse o
caso do joio, do incenso, da erva-cidreira, do mangericão, da mangerona ou da
hortelã), quer mineral (mencionando-se para tal propósito o alúmen, a mirra, o
mastique, a colofónia, o gesso, ou a tinta negra), os quais, devidamente triturados
constituiriam um meio precioso e deleitoso para ajudar admiravelmente as estéreis a
conceber.26
Idênticos objectivos eram, ainda, prosseguidos pelas receitas e conselhos
contidos nos tratados de obstetrícia árabe conhecidos no Al-Andalus. Entre as
primeiras contam-se várias mezinhas que deviam ser aplicadas no corpo da mulher
através de pessários. Quanto aos segundos, tanto por eles se preconizava a
necessidade de respeitar certas prescrições temporais, nomeadamente a de ter
relações sexuais pouco frequentes e só depois do período menstrual, como
posicionais, sendo esse o caso da recomendação de que a mulher deveria dormir de
barriga para baixo ou, ainda, alimentares, receitando-se-lhe a bebida, ao deitar, de
leite fresco fervido com gordura de cabra, peixe e búfalo,27 tudo isto combinado
com o conselho de muito repouso após a relação, lembrando-se como um simples
espirro poderia fazer sair a semente para fora do vaso e, assim, privar a mulher de
uma desejada maternidade.28
Em certos casos, o cumprimento de todos estes preceitos médico-farma-
cológicos para a cura da infertilidade podia ser acompanhado por práticas rituais
propiciatórias, como a de rodear a grávida com várias bonecas que para ela atraíssem
o sucesso da gravidez,29 ou, de acordo com um procedimento mais letrado, planificar
a gestação de forma a fazê-la coincidir com uma favorável conjugação astral. Se
nada disso resultasse, os tratados árabes consideravam, então, a possibilidade de se
testar a fertilidade dos dois cônjuges, já que admitiam também o facto de a
______________________________________________________________________________________________
26 Pedro Hispano, Obras Médicas, ed. e trad. de Maria Helena da Rocha Pereira, Coimbra, Universidade, 1973, respectivamente pp. 234-238, 242 e 262-270. 27 El libro de la generatión del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Arib Ibn Sa’id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ed. Antonio Arjona Castro, Córdova, 1983, capítulo III. 28 Cf. Charles de la Roncière, "A vida privada dos notáveis toscanos no limiar do Renascimento" in Phillipe Ariès e Georges Duby (dir.), História da Vida Privada, 2, Lisboa, Afrontamento, 1990, p. 220. 29 Christiane Klapisch-Zuber, “Holy Dolls: Play and Piety in Florence in the Quattrocento” in Women, Family and Ritual in Renaissance Italy, Chicago, 1985, p. 317.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
52
NASCER __________________________________________________________________________________________
esterilidade se poder manifestar no homem. Para o efeito, poderia, então, recorrer-se
à observação das urinas do marido e da mulher, vertendo-se, ao pôr do sol, a urina
de cada um deles sobre uma folha de alface para que, na manhã seguinte, a que
estivesse seca determinasse qual o cônjuge estéril.30 Contudo, para verificar a
esterilidade feminina existiam outros testes. Citando um deles, pedia-se à mulher,
que deveria estar em jejum, para se sentar num cadeirão com o assento perfurado,
mantendo os pés suspensos. Tapada com um pano, faziam-se por baixo dela
fumigações de incenso e outros produtos. Se ela sentisse na boca ou no nariz o aroma
e o sabor da fumigação, era fértil, porque se havia provado a permeabilidade dos
canais uterinos.
De acordo com a medicina galénica, o contributo masculino era superior ao
feminino em matéria de reprodução humana. Do ponto de vista anatómico, conforme
um saber herdado de Aristóteles, a fisiologia sexual do homem considerava-se mais
perfeita do que a da mulher, visto os órgãos sexuais femininos, entendidos como
inversamente semelhantes aos masculinos, se conceptualizarem como diminuídos e
defeituosos. Sendo assim, dado o suposto paralelismo existente entre os testículos e o
ovário, o sémen por eles produzido teria uma distinta eficácia no processo da
procriação, competindo ao da mulher apenas fornecer “matéria para ser trabalhada
pelo sémen masculino”, tal como a madeira na qual o carpinteiro trabalhava.
Para Galeno, o sémen feminino funcionaria, então, como um alimento do
esperma masculino, tanto se comportando na qualidade de uma espécie de diluente
que ajudava a semente varonil, demasiado espessa, a espalhar-se no útero, como na
de substância capaz de assegurar a formação da membrana que envolve o feto. De
resto, ainda actuaria enquanto matéria susceptível de contrariar a força da semente
masculina, impedindo-a da procriação de um varão, e fazendo-a gerar um ser
feminino que mais não era que um homem cujo devir fora impossibilitado. Uma filha
era, assim, consequência de um acidente ou de uma fraqueza do esperma e, por isso,
fruto da imperfeição.
Inspirada por tais representações, a medicina letrada medieval, em grande
parte galénica, acentuou ainda o primado que o sábio clássico concedera ao sémen
masculino no processo da fertilidade humana. Por um lado, difundindo a teoria,
__________________________________________________________________________________________________ 53
30 El libro de la generatión del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Arib Ibn Sa’id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ibidem.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
muito presente desde meados do século XII, nos manuais escolares para o ensino dos
médicos, de que o sémen feminino, por muito secundária que fosse a sua acção na
procriação, só se libertaria pelo prazer causado pelo homem durante o acto sexual, tal
como o provaria a suposta esterilidade das prostitutas, já que se defendia não
conceberem por nunca sentirem e sempre fingirem a satisfação causada durante as
suas relações eróticas; era essa a razão, aliás, porque se deveria duvidar de qualquer
reclamação feita por uma grávida relativamente a qualquer acto de rapto e violação,
visto, certamente, não ter a ele sido obrigada, antes se tendo prestado a uma relação a
que fora conduzida pela fraqueza da carne. Por outro lado, como acontece em vários
tratados de educação cristã produzidos durante a Baixa Idade Média, chegava a
negar-se qualquer funcionalidade ao esperma feminino por carecer de uma efectiva
acção formativa na constituição do embrião, sendo todo ele visto como produto de
uma máscula semente, conforme, de resto, já antes dera a entender o médico e
filósofo árabe Averróis (†1198) quando referira a possibilidade de a mulher poder
engravidar pela água do banho na qual o homem tinha lançado o seu esperma.31
Contudo, se os cônjuges medievais acabam por se socorrer de múltiplas
devoções, rituais, mezinhas e conselhos médicos para afastarem e até esconjurarem
uma infertilidade cujo ónus tende a recair mais sobre a esposa do que sobre o marido,
muitas vezes considerado como parte lesada ou ofendida, as pressões sociais e
familiares também se fazem sentir no que se refere à necessidade de procriar varões
capazes de ajudar a família e de a continuar.32 Neste caso, são ainda os tratados
médicos medievais que nos elucidam sobre práticas onde se aliam os conhecimentos
farmacológicos e as práticas mágico-religiosas ainda hoje vigentes. No Tesouro dos
Pobres de Pedro Hispano encontram-se mencionadas duas dessas mezinhas. Uma
delas, recomenda as virtudes das diferenças existentes entre os dois testículos do cão,
visto um se descrever como duro e seco, enquanto o outro se apresenta na qualidade
de mole e húmido. Ora, se o homem tomasse o seco e maior, a sua geração seria do
______________________________________________________________________________________________
31 Consultem-se: Henrietta Leyser, Medieval Women. A Social History of Women in England 450- -1500, Londres, Phoenix Press, 1995 pp. 96-97 e Claude Thomasset, “Da natureza feminina” in Georges Duby e Michelle Perrot (dir.), História das Mulheres, 2, Porto, Afrontamento, 1993, pp. 66- -83. 32 Segundo alguns autores, a maior parte das receitas para escolher o sexo dos filhos denunciava o desejo de conceber um rapaz. Veja-se, entre outros, Sylvie Laurent, Naître au Moyen-Âge: De la conception à la naisssance, la grossesse et l'accouchement (XIIe. – XVe. Siècle), Paris, Cahiers du Léopard d'Or, 1989, p. 122; M. Greilsammer, L'Envers du tableau. Mariage et maternité en Flandre médiévale, Paris, Armand Colin, 1990, p. 207; Colin Heywood, A History of Childhood, Cambridge, Polity Press, 2001, p. 45.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
54
NASCER __________________________________________________________________________________________
género masculino, obtendo-se uma fêmea se a mulher tomasse o menor. Outra receita
aconselha o uso de uma planta designada por mercurial. Ao triturar as folhas e a
semente do mercurial-fêmea, para com elas untar o pénis, obter-se-iam fêmeas,
gerando-se varões ao aplicar na mulher uma mesma preparação de mercurial-ma-
cho.33
Mais eruditos, os tratados médicos hispano-árabes preconizavam
procedimentos baseados na teoria da determinação do sexo da criança pela qualidade
de sémen do progenitor, pressupondo que um sémen forte daria origem a um rapaz e
um mais debilitado a uma menina. Então, aos homens que só engendravam meninas
e queriam rapazes, os médicos recomendavam fortificantes para o corpo poder
fabricar um sémen forte, do mesmo modo que receitavam aos que só tinham rapazes
e queriam meninas, banhos destinados a debilitar o esperma.
De resto, também enunciavam, conforme os escritos hipocráticos, como os
estados de espírito e as condições climáticas condicionavam a definição sexual do
feto, fazendo com que um homem tivesse filhos ou filhas da mesma mulher. Por um
lado, a alegria que revigorava o corpo contribuiria para o nascimento de filhos
varões, enquanto a tristeza que o deprimia estaria relacionada com a geração de
filhas. Por outro, o vento suão que, vindo do Sul, debilitava os corpos, originando-
-lhes o enfraquecimento responsável pela fluidez do sémen que assim saía
imperfeito, era visto como propício à geração de mulheres, ao contrário do vento
nortenho que fortificava o corpo e o esperma.34 Ainda de acordo com este ponto de
vista, os rapazes seriam mais facilmente concebidos se as relações sexuais
ocorressem na frescura e vigor da manhã enquanto que, fruto do cansaço de um dia
de trabalho, as raparigas seriam mais vulgarmente concebidas pela noite.35
Para além disto, os médicos hispano-árabes ainda teorizavam acerca dos
condicionantes corporais maternos que determinavam a atribuição da sexualidade ao
feto, fazendo-a depender dos desequilíbrios ocorridos entre as células que se
formavam à esquerda e à direita da célula matriz a partir da qual se produzia o feto.
Nesse sentido, um predomínio das células situadas à direita, cuja comunicação
directa com o fígado, tornava susceptíveis de melhor fortalecer e alimentar o feto,
__________________________________________________________________________________________________ 55
33 Pedro Hispano, Obras Médicas, ed. cit. pp. 260 e 266. 34 El libro de la generatión del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Arib Ibn Sa’id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ed. cit., pp. 59-61. 35 Colin Heywood, ob. cit., ed. cit., p. 45.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
seria responsável pela produção de varões, enquanto um maior peso das células
situadas à esquerda, mais frias e menos nutritivas, estaria na origem da geração das
raparigas, atribuindo-se, por outro lado, à falta de um desequilíbrio entre ambas, o
nascimento de hermafroditas. Uma tal explicação supostamente biológica, muito
corrente nos manuais de ensino latino da medicina ocidental a partir do século XIII,
não implicou, contudo, o desaparecimento de outro tipo de explicações, sobretudo
afectivas e morais, tal como se encontravam exemplarmente expressas nos textos da
abadessa Hildegarda de Bingen. De facto, para essa mística e naturalista alemã do
século XII, se era a força da semente masculina que determinava o sexo do embrião,
dever-se-ia ao amor existente entre os pais da criança as qualidades morais que esta
viria a evidenciar. Sendo assim, e partindo do princípio de que uma grande
quantidade de semente masculina e um grande amor entre os pais permitiria a
gestação de um rapaz pleno de virtudes, o nascimento de uma boa filha seria
determinado por um fraco esperma paterno e um grande amor entre os cônjuges,
enquanto uma débil semente varonil e a falta de amor entre o casal se saldaria no
dar à luz uma má rapariga. Para além disso, Hildegarda também sublinhara como a
mãe bem constituída imporia, pelo vigor do seu calor, semelhanças a um filho, do
mesmo modo que um homem suficientemente varonil deixaria os seus traços na face
de uma filha.36
Por fim, os tratados hispano-árabes de medicina referiam ainda os
procedimentos destinados a obter gémeos. Um deles consistia na bebida, em partes
iguais, pelo homem e pela mulher, de um líquido obtido pela mistura de espargos
cozidos e secos, leite de cabra, manteiga de vaca, mel e pimenta. Outro,
recomendava a ingestão pela futura mãe de um preparado de gengibre moído e
misturado com leite de mulher, de burra e de camela em partes iguais, o qual deveria
ser feito um dia e uma noite antes de ser bebido e previamente desnatado,
reservando-se a nata para untar o corpo feminino antes do início da relação sexual.
Esta nunca deveria ocorrer depois de um banho quente já que a ele se seguiria o
amolecimento e a tranquilidade contrários à força e à actividade necessárias ao
coito.37
______________________________________________________________________________________________
36 Claude Thomasset, ob. cit., ed. cit., p. 84-84. 37 El libro de la generatión del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Arib Ibn Sa’id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ed. cit., pp. 62-64.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
56
NASCER __________________________________________________________________________________________
Nos manuais de medicina hispano-árabes, a gravidez poderia ser
comprovada por toda uma série de formas supostamente infalíveis. Se uma mulher,
por exemplo, bebesse água com mel antes de se deitar e durante a noite tivesse dores
à volta do umbigo poderia afirmar-se uma segura espera de filhos. Idêntica esperança
poderia ter se, de manhã, a sua vagina ainda cheirasse ao alho que lá tinha colocado
à noite, antes de adormecer.38
3 - A GRAVIDEZ
Entretanto, após o sémen se ter convertido em espuma pelos sete dias, e
esta se haver transformado em sangue, entre os quinze e os trinta e cinco dias, o feto
havia adquirido, ou uma forma masculina aos quarenta dias ou feminina, aos oitenta,
explicando-se como teria então passado a definir um embrião que permanecia de
joelhos, as mãos sobre a face e envolto na fina bolsa onde se alimentava do sangue
da progenitora. Se fosse menino, a sua cara virava-se para as costas da mãe, se
menina, para a frente.
Porque o esperma masculino era considerado mais forte e mais rápido do
que o feminino, o feto de um varão começaria a mover-se por volta dos três meses,
enquanto o de uma menina ainda esperaria mais um mês.39 De resto, a diferenciação
sexual do feto poderia facilmente observar-se através do aspecto e da postura da mãe.
Assim, se a grávida apresentava um rosto bonito e alegre, a pele limpa e os
movimentos ligeiros, tudo indicaria estar um varão para nascer, porque ele reforçava
o calor da mãe e tornava-lhe a tez mais bela, ao mesmo tempo que lhe activava os
__________________________________________________________________________________________________ 57
38 Id., ibidem, p. 68. 39 Id., ibidem, pp. 68-73. De acordo com os tratados médicos hispano-árabes, a gestação também se encontraria regida pela influência dos astros. Assim, no primeiro mês, o feto estaria sob a influência de Saturno, um astro frio e seco, pelo que se resumiria a uma massa sem percepção nem movimento. No segundo mês surgia Júpiter, quente e húmido. Começaria, então, o desenvolvimento e o crescimento do feto convertendo-se num pedaço de carne já sexualmente diferenciado - se masculino, branco e de forma redonda, se feminino, avermelhado e esguio. No mês seguinte surgia Marte, quente e seco, permitindo ao feto converter-se num pedaço de carne com nervos e sangue. Com o Sol, também quente e seco, completar-se-ia a formação do sexo. No quinto mês, o feto apresenta-se influenciado por Vénus, um astro frio, formando-se então o cérebro, os ossos e a pele. Mercúrio, equilibrado entre o calor e a secura, regeria a formação da língua e do ouvido. No sétimo mês, a Lua perfeccionaria o feto e dar-lhe-ia um movimento próprio para sair. Se nascesse nesse mês, conseguiria sobreviver, porque a sua formação já se completara sob a influência das sete estrelas. Se permanecesse no útero, passaria a sofrer a influência de Saturno, o astro frio, seco e corruptor. Não sobreviveria se nascesse nesse mês. Para além da considerada má influência de um tal planeta, a suposição da maior fragilidade do feto de oito meses baseava-se na crença de que, após ter procurado sair no sétimo mês, se encontrava muito debilitado por tal fracasso. Por último, Júpiter, quente e húmido, traria ao feto a vida e o desenvolvimento: Ibidem, pp. 83-84.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
sentidos e lhe facilitava os movimentos. Uma pele materna com manchas escuras,
acompanhada por olhos encovados e por movimentos e sentidos entorpecidos
indiciaria, por sua vez, uma menina, porque esta trazia o frio que alterava a pele da
mãe e lhe congelava o sangue. Também pelo andar da mãe se podia determinar o
sexo da criança: se a progenitora assentava todo o peso do seu corpo nos calcanhares,
estava grávida de um rapaz; se o descarregava nos dedos dos seus pés, trazia uma
menina.
Por outro lado, a gestação de um rapaz ou de uma rapariga também se
espelharia nas transformações que se iriam evidenciando na própria morfologia do
corpo da grávida, sobretudo as respeitantes às assimetrias laterais. Assim, se fosse
maior o peito direito da progenitora, ou se sentisse ardor e peso no mesmo lado do
útero, o seu corpo revelaria a presença de um futuro menino, do mesmo modo, aliás,
que uma idêntica lateralidade na movimentação dos olhos, saliência das veias ou até
a circunstância do avanço de um dos pés ao andar, pressupondo-se que os mesmos
sintomas sentidos à esquerda prenunciariam o nascimento de uma menina.40
Uma tão vasta colecção de sintomas a ter em conta para a determinação do
sexo dos fetos, reflecte, ao nível erudito dos tratados médicos, um conjunto de
práticas certamente muito mais vastas do que as aí registadas, dada a dificuldade em
se conhecerem usos e costumes próprios de uma população maioritariamente
iletrada. No fundo, uma tão grande atenção dada à gestação dos filhos justifica-se
pelas elevadas taxas de mortalidade infantil então existentes, as quais atingiam,
segundo estudos paleobiológicos, valores próximos dos cerca de 30% para o campo e
cerca de 12% para a cidade.41 De facto, nos livros de milagres medievais abundam
exemplos de nados mortos e de mulheres que repetidamente ultrapassavam o longo e
penoso processo de gravidez para ver os seus filhos nascer e logo depois virem a ser
sepultados.
Eram sobretudo as elites urbanas e vilãs que possuíam melhores meios para
zelar pelos filhos pequenos, tendo nas serviçais domésticas e nas aias, preciosas
______________________________________________________________________________________________
40 Vejam-se El libro de la generatión del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Arib Ibn Sa’id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ed. cit., e Henrietta Leyser, ob. cit., ed. cit., respectivamente, pp. 59-60 e 124. 41 Consultem-se Eugénia Cunha, Paleobiologia das populações medievais portuguesas: os casos de Fão e S. João de Almedina, Coimbra, Universidade, 1994 (Tese de Doutoramento) e Maria Helena Coelho, "Os homens ao longo do tempo e do espaço" in Maria Helena Cruz Coelho e Armando Luís Carvalho Homem (coord.), Portugal em definição de fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV, Lisboa, Presença, 1996, pp. 180-182.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
58
NASCER __________________________________________________________________________________________
coadjuvantes nos cuidados a ter com as crianças, como sejam os relativos aos
banhos, enfaixamentos, alimentação e toda a espécie de vigilância e
acompanhamento. Este não seria certamente o caso da maioria das mães pertencentes
às populações rurais e mesmo vilãs e citadinas mais desfavorecidas, para quem tratar
os pequenos seria difícil de harmonizar com as muitas ocupações familiares e sociais
que desempenhavam, para já não mencionar a forma como tinham de enfrentar a
impossibilidade de diversificar a alimentação infantil e até, por vezes, a sua escassez.
Por outro lado, o costume de aleitarem os filhos até aos dois ou três anos e até,
frequentemente, receberem, enquanto amas de leite, as crianças das famílias mais
abastadas, acabava também por provocar a estas mães a existência de intervalos
intergenéticos mais espaçados e dificultar-lhes as gravidezes e os partos. Nesse
sentido, conforme observa Stéphane Boisselier, a sua taxa de fecundidade não
ultrapassaria, na generalidade, o total de quatro filhos, apresentando valores médios
inferiores aos das mulheres oriundas das famílias rurais mais prósperas e das que
integravam as elites urbanas.42
Mesmo entre as fidalgas eram muito baixos os índices de fecundidade. 43 É
certo que, tal como as aristocracias citadinas e vilãs, podiam beneficiar de condições
susceptíveis de virem a integrar um grupo social menos atingido pela mortalidade
infantil, ao mesmo tempo que a tendência para se casarem muito jovens lhes
possibilitava o prolongamento do período de fertilidade. Contudo, dada a
circunstância de fazerem parte de um grupo social privilegiado particularmente
marcado pelo predomínio da taxa de masculinidade sobre a da feminilidade, fracos
índices de nupciabilidade e frequentes uniões conjugais endogâmicas, integravam um
colectivo feminino bastante atingido pela infertilidade e pela ocorrência de abortos
naturais, provocados pelas incompatibilidades hormonais ou sanguíneas existentes
entre os cônjuges. De facto, as tentativas até agora feitas para calcular os valores da
__________________________________________________________________________________________________ 59
42 Stéphane Boisselier, Naissance d’une identité portugaise. La vie rurale entre Tage et Guadiana de L’Islam à la reconquête (Xe. – XIVe. Siècles), Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1999, pp. 245-246. Segundo a autora, a alcunha de Sete Filhos documentada para um habitante de Arraiolos em 1296 seria reveladora da excepcionalidade das progenituras mais numerosas. Vejam-se também as obras mencionadas na nota anterior. 43 Veja-se, a título exemplificativo, como a própria média de filhos nascidos na realeza de Afonso I a Manuel I, tendo em conta os dados indicados por A. H. de Oliveira Marques, apresenta o valor de cinco filhos por casal: A. H. de Oliveira Marques, História de Portugal, I, Lisboa, Presença, 1997, genealogias inseridas entre as pp. 128-129, 225-226, 256-257 e 320-321.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
taxa de fecundidade da nobreza dos séculos XII e XIII, situam-se entre os poucos
mais de três e os menos de dois filhos por casal.44
Neste contexto, não admira o relevo atribuído pelos tratados médicos
letrados à gravidez. Eles reflectem a atenção devida a um acto social cujo êxito era
bastante problemático dada a então vulnerabilidade das grávidas a muitas infecções e
doenças que ainda tornavam mais dramáticas as já de si deficientes condições em que
decorria a gestação dos fetos, entre as quais, sobretudo para as mulheres dos grupos
sociais mais desfavorecidos, avultavam os trabalhos violentos e a má nutrição que
causavam muitos abortos espontâneos. Por isso, os tratados médicos hispano-árabes
revelam-se bastante atentos aos respectivos sintomas. Assim, se a grávida adoecesse
e os seus peitos subitamente diminuíssem, deveria esperar-se um aborto que, no caso
da espera de gémeos e se só se verificasse a diminuição de um dos peitos, apenas
ocorreria para um deles; se os seios deitavam leite, era sinal de fraqueza do feto. Por
outro lado, os olhos encovados, a cara, o corpo e os pés inchados, as orelhas e o nariz
brancos ou os lábios esverdeados também prenunciariam o nascimento de um nado
morto ou de uma criança que conseguiria sobreviver ao parto por pouco tempo. Por
fim, clisteres, unguentos e diversos tipos de alimentos faziam parte das prescrições
médicas que procuravam evitar as múltiplas causas dos abortos, como sejam, quedas,
fadiga excessiva, tristeza, angústia, debilidade do útero ou do sémen, fome, fluxo de
sangue ou até mesmo diarreia. 45
Nos livros de milagres medievais portugueses, a graça da cura de fluxos
sanguíneos, acompanhados de dores, corresponderia a promessas e a protecções
destinadas a ultrapassar os abortos durante as primeiras semanas de gravidez. De
facto, parece ser esse o milagre feito por Santa Senhorinha a uma mulher de
Guimarães que avia fluxo de sangue e que tinha dores desvairadas,46 ou aquele que
a intercessão do beato Nuno Álvares Pereira permitira a uma grávida de Lisboa, a
qual, devido a uma hemorragia declarada há nove meses, estivera no fim da vida, e
desconfiada de todos os médicos,47 o mesmo devendo ser o caso da dona honrada,
______________________________________________________________________________________________
44 José Augusto de Sotto Mayor Pizarro, Linhagens medievais portuguesas. Genealogias e estratégias (1279-1325), Porto, Universidade Moderna, 1999, pp. 480-495. 45 El libro de la generatión del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Arib Ibn Sa’id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ed. cit., pp. 91-93. 46 "Vida e Milagres de Santa Senhorinha", ed. Torquato Peixoto de Azevedo, Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães, Guimarães, Gráfica Vimaranense, 2000, p. 473. 47 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 550.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
60
NASCER __________________________________________________________________________________________
moça, e muito rica de Santarém, a quem S. Frei Gil de Santarém salvara de tal
infirmidade por ela padecida havia cinco annos.48
Nesta última situação, tratar-se-ia de um milagre capaz de evitar os abortos
sucessivos que eram bastante frequentes entre as fidalgas, dados os desequilíbrios
hormonais e as incompatibilidades sanguíneas nelas provocadas pelas práticas
matrimonias endogâmicas a que já nos referimos, o que também poderá evidenciar a
notícia de como Santa Senhorinha permitira a uma mulher que paria muitos filhos, e
avia depois grão nojo, porque lhe morriam todos, logo conceber de seu marido e
parir um filho.49 De resto, também se invocam os santos como remédio para as
graves doenças que poderiam levar ao aborto das grávidas, tal como se conta a
propósito de uma mulher de Coimbra que, grávida e com hidropesia disforme e sem
remédio, pois os que a Física aplicava tolhiam a gravidez, acabou por encontrar cura
numa relíquia de S. Frei Gil de Santarém e, assim, teve bom parto.50
__________________________________________________________________________________________________ 61
48 Frei Luís de Sousa, "S. Frei Gil" in ob. cit., ed. cit., p. 241. 49 "Vida e Milagres de Santa Senhorinha" in ob. cit., ed. cit., p. 473. 50 Frei Luís de Sousa, "S. Frei Gil" in ob. cit., ed. cit., p. 241.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
62
Figura 4 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII). Após a morte sucessiva de vários recém-nascidos, a invocação à Virgem permitiu a esta mulherconceber e parir sem problemas uma criança.
NASCER __________________________________________________________________________________________
Nos tratados de medicina
medievais concede-se, ainda, uma grande
atenção aos hábitos alimentares da
grávida, visto a saúde do feto, que se
alimentava do seu sangue, não poder ser
indiferente à dieta seguida pela
progenitora. Nesse sentido, a obstetrícia
hispano-árabe recomendava que a futura
mãe se alimentasse convenientemente,
evitando os alimentos salgados ou
amargos, pois a criança poderia nascer
sem unhas ou sem cabelo e mais sensível
às doenças. As especiarias, mesmo o sal e
a pimenta, eram susceptíveis de provocar a
lepra. Algumas carnes eram também
proibidas, sendo particularmente recomen-
dadas as carnes brancas. As refeições pe-
sadas e abundantes eram desaconselhadas.
A este regime, sem sal e sem excitantes,
podia adicionar-se o consumo de bebidas
energéticas e açucaradas mas nunca o
vinho, pois o seu consumo tornaria a criança
epiléptica. Referia-se ainda o modo como a
Figura 5 – Virgem do Ó (Século XIV) A Virgem coloca a sua mão direita sobre oventre e com a esquerda abençoa.
fome ou o jejum da grávida prejudicavam
o desenvolvimento do feto, já que, sem alimento, o estômago da progenitora passava
a aspirar perigosas secreções corporais, provocando-lhe as náuseas, as dores e a
quebra do apetite que lhe debilitavam o sangue. Recolhido pela medicina letrada
latina, um tal saber depressa acabou por se cristianizar, aconselhando-se a grávida a,
para além de comer e beber com temperança, viver alegre e em Deus, para que a
sua alma ganhasse um gentil hábito que seria transmitido ao feto, pelo que,
sobretudo, se deveria abster de relações sexuais no período após a concepção.
__________________________________________________________________________________________________ 63
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
Segundo a medicina hispano-
-árabe, o período mais perigoso para a
ocorrência de um aborto situava-se nos
primeiros quarenta dias da gravidez.
Durante esse tempo, recomendava-se
tanto o evitar de movimentos bruscos,
saltos e alimentos perigosos como a
moderação nos banhos e nas lavagens
corporais, ao mesmo tempo que se
chamava a atenção para a nocividade dos
espirros violentos e se forneciam várias
receitas para os transtornos estomacais,
vómitos e apetites anómalos.
Depois, a partir dos sete meses,
aconselhavam-se banhos frequentes e a
ingestão de alimentos laxantes como
meios destinados a precaver a grávida
das dores do parto.51
Globalmente, a mulher grávida
gozava de especiais protecções na so-
ciedade medieval cristã. O seu estado,
______________________________________________________________________________________________
susceptível de ser considerado detentor
de privilégios civis e eclesiásticos, reme-
tia para um tempo suspenso, isentando-a
de qualquer pena ou sanção. Podia, por exemplo, ausentar-se ou não participar nos
actos religiosos, assim como escusar-se a ser citada em justiça, ou por ela castigada.
O seu tempo não obedecia às leis civis ou eclesiásticas. Representava, sobretudo a
partir do século XII, o tempo da gestação de Cristo no ventre de Maria, ou seja, o do
mistério da incarnação do filho de Deus que nascera para salvar os homens. Nesse
Figura 6 – Nossa Senhora do Ó (Século XIV) Sobre o ventre assaz avultado a Virgem repousaa sua mão direita.
51 El libro de la generatión del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Arib Ibn Sa’id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ed. cit., e Claude Thomasset, ob. cit., ed. cit., respectivamente, pp. 87-91 e 164.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
64
NASCER __________________________________________________________________________________________
sentido, a gravidez remetia para o sagrado e para os seus interditos, sendo por
isso que a Cristandade encarava o aborto com tanta severidade.52
No plano teológico e iconológico, a gravidez conota-se, então, com o dogma
da maternidade de Maria, ou seja, com o culto e a devoção à Virgem da
Expectação, também conhecida em Portugal a partir da difusão popular da interjeição
com que se iniciavam, durante o Advento, as sete antífonas recitadas na liturgia
das Vésperas, por Nossa Senhora do Ó. Bastante intenso na época romano-
-visigótica, um tal culto, festejado a 18 de Dezembro como preparação para a festa
do Natal, foi fixado pelo Xº Concílio de Toledo, reunido em 656, como a mais
importante das anuais solenidades marianas, tendo depois sido particularmente
celebrado entre as comunidades moçárabes hispânicas. A partir do século XII, com a
crescente devoção dedicada a Maria por toda a Cristandade, reafirmou-se o seu culto,
sendo inúmeras as imagens e as narrativas de milagres que o atestam no Portugal da
Baixa Idade Média, até que a Contra-Reforma o veio a banir dos altares, censurando-
-lhe uma suposta falta de decoro e zelando pela substituição das estátuas que o
difundiam em muitos templos.53
Antes disso, porém, a festa litúrgica da Virgem da Expectação e as imagens
de Nossa Senhora do Ó ofereciam a todas as grávidas uma representação sagrada da
maternidade. Nas igrejas, a mãe do Deus homem era, então, visualizada como a
grávida que acariciava com uma mão a barriga proeminente, enquanto com a outra
saudava ou abençoava as suas devotas.54
__________________________________________________________________________________________________ 65
52 Sobre este tema e respectiva bibliografia, consultem-se: Didier Lett, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe. – XIIIe. Siècle), Paris, Aubier, 1997, pp. 253-254 e Sylvie Barnay, La Vierge. Femme au visage divin, Paris, Gallimard, 2000. 53 Veja-se Avelino de Jesus da Costa, "A Virgem Maria Padroeira de Portugal na Idade Média" in Lusitânia Sacra, 2, Lisboa, 1957, pp. 7-49. 54 Sobre a iconografia medieval portuguesa da Virgem da Expectação, veja-se, Maria João Vilhena Carvalho, "Virgem da Expectação" in Sérgio Guimarães de Andrade (dir.), O Sentido das Imagens, ed. cit., p. 255.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
66
Figura 7 – Virgem da Expectação (Século XIV) A mão pousada sobre o ventre proeminente representa o desejo de sentir a criança,situação muito comum na futura mãe, enquanto do rosto emana um misto de serenidadee de alegria.
NASCER __________________________________________________________________________________________
Figura 9 – Nossa Senhora do Ó (Século XV) A inclinação do busto de Maria introduz umanotação realista da postura da grávida.
Figura 8 – Nossa Senhora do Ó (Século XIV) As mãos que afagam e abençoam sugerem atranquilidade de um parto sagrado.
4 - O PARTO
Nos começos do século XIV, o franciscano Durando de Champagne
evocava a reprodução feminina como o difícil caminho que, ao começar numa
concepção a que se associa o "prurido da carne" e o "ardor da líbido", percorria
depois a gestação, marcada pelos incómodos físicos, pelas ânsias e pelas apreensões
sobre a sobrevivência da grávida e do seu feto, até atingir, com o parto, a expressão
de uma maior dor e ameaça de morte.55 Apesar da retórica da pregação mendicante,
o parto era, na realidade, a última etapa de um percurso incerto, cujo fim se revelava
particularmente ansiado e ainda mais temido, surgindo correntemente nas
55 Citado por Claude Thomasset, ob. cit., ed. cit., p.164.
__________________________________________________________________________________________________ 67
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
hagiografias informações relativas às mulheres que parem com grande perigo de sua
vida.56
Na literatura medieval das visões do Além, os partos chegam a associar-se
aos suplícios do Inferno. Com efeito, no texto quatrocentista da tradução portuguesa
da Visão de Túndalo, uma das imagens com que se pretende transmitir o horror dos
castigos aí praticados refere-se aos partos a que estariam votadas as almas
fecundadas por uma das bestas que guardavam o Inferno, afirmando-se que todos os
punidos com um tal destino se tornavam mulheres que
nõ paryã pollos lugares per onde sooē a parir as molheres. Mas paryã
pellos braços e pellos peitos. E pellas pernas. E paryã serpentes e bestas q
avyam dentes de ferro muy agudos e mordiam as almas de q sayam. E avyã
em si aguylhoões tortos como armuzellos de pescadores cõ q travavã das
almas.57
Ora, embora de forma menos intensa e diabólica, os partos terrenos (que
inspiravam aqueles cenários de horror) certamente provocariam idênticos medos e
pavores, pois para além das narrativas dos livros de milagres, temos de ter em conta a
circunstância das recentes investigações paleobiológicas feitas em ossos provenientes
de necrópoles medievais portuguesas apontarem a classe etária feminina situada
entre os vinte e os trinta anos como a mais atingida por índices de mortalidade, ou
seja, a idade que normalmente coincidia com o tempo da gravidez e/ou parto.58 De
resto, a consciência social do risco do parto encontra-se bem traduzida no facto de se
aconselhar a confissão e a comunhão às mulheres prestes a dar à luz.
Na verdade, parece hoje demonstrado como os partos de alto risco que
provocavam a morte das parturientes faziam parte do quotidiano medieval,
reflectindo, tanto o predomínio de gravidezes prejudicadas por deficientes condições
alimentares e sanitárias como as dificuldades sentidas pela medicina então praticada
no lidar com imprevistos, complicações e emergências que poderiam surgir durante o
parto. Para além disto, a idade das parturientes era também um sério factor de risco,
______________________________________________________________________________________________
56 A título de exemplo, veja-se Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 491. 57 Citado por José Augusto Miranda Mourão, A Visão de Túndalo. Da Fornalha de Ferro à Cidade de Deus (Em torno da semiótica das Visões), Lisboa, I.N.I.C., 1988, p. 121. 58 Eugénia Cunha, "Paleobiologia, História e Quotidiano: critérios da transdisciplinaridade possível" in Amélia Aguiar Andrade e José Custódio Vieira da Silva (coord.), Estudos Medievais, Lisboa, Horizonte, 2004, p. 124.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
68
NASCER __________________________________________________________________________________________
porque, sendo por vezes muito jovens, apresentavam uma ossatura deficiente para
essa função, já que os quadris demasiado estreitos e a bacia pouco desenvolvida
deixavam um espaço reduzido para a gestação de um feto em boas condições de
crescimento e mobilidade. No caso de mulheres que já haviam sido protagonistas de
sucessivas gravidezes, levadas ou não a bom termo, a existência de úteros
deformados e tecidos relaxados não propiciariam, também, partos fáceis e/ou bem
sucedidos.
Contudo, não eram só os sofrimentos e a mortalidade associados aos partos
que os tornavam temidos pela sociedade medieval. Conforme reflecte a passagem da
Visão de Túndalo atrás citada, eles também se conotavam com os medos de vir a
gerar crianças deficientes ou monstruosas, cujas anomalias ou deformidades
reflectiriam um castigo divino lançado aos pecados e indignidades cometidas pelos
respectivos progenitores. Na literatura épica e genealógica, encontram-se ficcionados
alguns desses receios. Por um lado, a punição devida a um incesto reflecte-se na
forma negativa como se apresenta um dos cavaleiros mouros que os cristãos teriam
derrotado em Sevilha durante a conquista da cidade, explicando-se como era muito
ancho e muito membrudo e mui negro, e havia entre olho e olho três dedos porque
era filho do rei muçulmano da Tunísia, que o fezera em ũa sua filha e o abandonou
quando veo o tempo de fazer seu parto.59 Por outro lado, numa história medieval
tardia sobre a infância do primeiro rei de Portugal, este é referido como uma criança
que nacera com as pernas tão encolheito que, a parecer de Mestres e de todos,
julgavam que nunca poderia ser são delas, atribuindo-se um tal facto - cujo relato se
destinava a melhor heroicizar a memória de um monarca fundador que se rebelara
contra a progenitora e soubera depois vencer e superar um destino que ela tornara, à
partida, adverso - ao castigo de pecados feitos pelos pais quando ainda estava no
ventre de sa madre. 60
__________________________________________________________________________________________________ 69
59 Livro de Linhagens do conde D. Pedro, I, ed. José Mattoso, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1981, p. 234 (LL,2169). 60 Duarte Galvão, Chronica de El Rei D. Affonso Henriques, Lisboa, I.N.C.M., 1995, p. 21. Veja-se José Mattoso, "João Soares Coelho e a gesta de Egas Moniz" in Portugal medieval. Novas interpretações, Lisboa, I.N.C.M., 1985, pp. 409-435.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
De resto, a angústia
por um parto difícil bem como
a ansiedade sentida pelas
incertezas relativas tanto à
sobrevivência da mãe e dos
filhos como à sua posterior
saúde e normalidade também
eram responsáveis por várias
devoções e milagres, reflec-
tindo o modo como tais
aflições encontravam no culto
e nas promessas feitas aos
santos uma natural
predisposição. Entre os
intercessores sagrados mais
evocados, conta-se Santa
Margarida de Antioquia, a
Virgem do século III de quem
se contava como se teria liberta- Figura 10 – Santa Marinha (Século XV) O milagre hagiográfico da saída da santa do ventre de umdragão que a devorara, tornou-a, progressivamente,evocada como protectora de um parto seguro.
do do ventre de um dragão que
a devorara, ao rasgar-lhe com
uma cruz a barriga por onde
depois escaparia. De facto, cultuada na Península Ibérica desde o século IX,
Margarida, sob a designação de Marinha, surge muitas vezes como santa padroeira
de inúmeras igrejas medievais portuguesas, sobretudo na diocese bracarense, já que
se tende a apresentar, desde o século XIII, como santa supostamente originária da
antiga cidade de Braga, sendo invocada pelas parturientes para darem à luz com a
mesma facilidade com que ela se libertara do ventre do dragão.61
Para além de Santa Marinha, e da própria Virgem da Expectação a que já
nos referimos, outros santos podiam desempenhar idênticos serviços de intercessão
sagrada, quer por corresponderem a cultos de devoção pessoal, familiar ou regional
______________________________________________________________________________________________
61 Avelino Jesus da Costa, O bispo D. Pedro e a organização da Arquidiocese de Braga, 2ª ed., Braga, Ed. da Irmandade de S. Bento da Porta Aberta, 1997; Rui Maurício, "Santa Margarida" in Sérgio Guimarães de Andrade (dir.), ob. cit., ed. cit., p. 250.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
70
NASCER __________________________________________________________________________________________
da parturiente, quer porque a sua associação à presença de relíquias os tornava mais
desejados e eficazes. De facto, na Lisboa quatrocentista, os livros de milagres da
Nossa Senhora das Virtudes e do beato Nuno Álvares Pereira relatam sucessos e
graças obtidas por parturientes a quem foi possibilitado o contacto com terra da
sepultura ou vestuário outrora pertencente aos intercessores evocados, referindo-se
para o segundo a eficácia encontrada no vestir de uma sua camisa e no colocar de um
seu barrete sobre o ventre.62
Por outro lado, também os tratados médicos hispano-árabes concedem
particular atenção aos cuidados a ter durante o parto. Ao começarem as dores,
aconselhava-se a grávida a caminhar devagar e com intervalos de descanso. Pouco
antes do início do parto, recomendava-se, por sua vez, à parteira - que deveria ser
uma mulher cuidadosa, de modos suaves e com bons conhecimentos, experiência e
instrumentos - fazer sentar a parturiente num cadeirão, de modo a conservar as
pernas suspensas, explicando-se que isso só então deveria ser feito, dado essa
posição ser muito incómoda e cansativa. Depois, durante o parto propriamente dito,
sugere-se a presença, para além da parteira, sentada em frente da grávida e com as
unhas cortadas para melhor apalpar a placenta e receber o bebé, de outras três
mulheres: duas de cada lado da parturiente para a segurar com força, animá-la,
estimulá-la e confortá-la; outra, para, por detrás dela, a apoiar quando se inclinasse
para trás. Por fim, no momento da expulsão da criança, ainda se observa como a
parteira deveria tentar cuidadosamente que a cabeça saísse antes dos membros, ao
mesmo tempo que lhe competia evitar qualquer deformação.63
No que diz respeito às posições utilizadas pelas parturientes para dar à luz,
as fontes revelam-se omissas. Numa escultura românica de um templo do norte rural
encontra-se representado, segundo Jorge Rodrigues, um nascimento em que a mãe se
encontra de pé e amparada por duas outras figuras femininas.64 Contudo, tal não
parece dever interpretar-se como testemunho de uma prática usual ou frequente, já
que, conforme esclarece Pierre-André Sigal, dar à luz de pé apenas figura como
__________________________________________________________________________________________________ 71
62 Respectivamente, Frei João da Póvoa, "Livro dos Milagres de Nossa Senhora das Virtudes", ed. F. Correia, in Revista da Biblioteca Nacional, 2ª série, 3, n.º 1, 1988, p. 20 e Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 551 e 552. 63 El libro de la generatión del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Arib Ibn Sa’id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ed. cit., pp. 96-106. 64 Jorge Rodrigues, "A escultura românica" in Paulo Pereira (dir.), História da Arte Portuguesa, I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995, p. 298.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
excepção entre as muitas imagens por ele recolhidas sobre o parto em diversas
regiões da Cristandade medieval.65 Sendo assim, atendendo a que uma tal postura
das parturientes resulta extremamente dolorosa, talvez a imagem portuguesa se possa
entender como forma de recordar o parto enquanto condição extrema de sofrimento
terreno que o pecado original trouxe à Humanidade.
Figura 11 – Igreja Paroquial de Adeganha (Século XIII) Possível figuração de uma cena de parto, em que a parturiente dá à luz depé, amparada por duas mulheres.
No que diz respeito à iluminura, também se desconhece qualquer
representação da mais comum modalidade da postura medieval das parturientes, ou
seja, a de deitadas. Com efeito, sendo as iluminuras das Cantigas de Santa Maria de
Afonso X, o único repositório iconográfico onde figuram imagens de parto no
contexto da arte medieval galaico-portuguesa chegada até nós, só aí se representam
nascimentos ocorridos de parturientes acocoradas ou sentadas, parecendo esta 65 Pierre-André Sigal, “La grossesse, l’accouchement et l'attitude envers l'enfant mort-né à la fin du Moyen Âge d' après les récits de miracles" in Santé, Médicine et Assistance au Moyen Âge, ed. cit., p. 28.
______________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
72
NASCER __________________________________________________________________________________________
segunda postura respeitar os
preceitos recomendados pelos
tratados médicos hispano-
-árabes.
__________________________________________________________________________________________________ 73
Quanto às hagio-
grafias e livros de milagres, se
o parto surge várias vezes refe-
renciado, não se encontra
qualquer informação sobre a
forma de como teria ocorrido,
limitando-se tais textos a
mencionar a presença junto da
grávida de comadres,66 vizi-
nhas que a acompanhavaõ,67
mulheres que com ella esta-
vaõ 68 e, ocasionalmente, a
parteira. Neste sentido, parece, Figura 12 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) Representação de um nascimento em que a mãe seencontra de joelhos.
então, verificarem-se as prescri-
ções recomendadas nas Siete
Partidas de Afonso X, ou seja,
as que interditam aos homens a permanência durante o acto do parto e as que
aconselhavam a presença de parteiras, mulheres e serviçais, se bem que o rei, ao ter
em mente os nascimentos da corte régia, se refira ao excepcional número de duas
mulheres sabedoras que sean usadas de ayudar a las mujeres cuando paren.69
Na corte portuguesa temos notícia, pela primeira vez, da utilização de uma
parteira entre as servidores da rainha Leonor de Aragão, a mulher do rei Duarte.70
66 Frei Luís de Sousa, "S. Frei Gil" in ob. cit., ed. cit., pp. 241-242. 67 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 491. 68 Id., ibidem, p. 551. 69 Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey cotejadas con varios códices antiguos, Madrid, Real Academia de la Historia, 1807, (Título 6, Lei 17). 70 Rita Costa Gomes, A corte dos reis de Portugal nos finais da Idade Média, Lisboa, Difel, 1995, p. 57.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
te funcionava
A presença de um médico à cabeceira da parturiente muito raramente se
deveria verificar. Por um lado, porque, por razões de pudor, estes eram assuntos só
de mulheres. Por outro, porque, sendo o seu número pouco elevado, se tendiam a
concentrar nos principais centros populacionais do reino. 71 O trabalho de parto era,
assim, um acontecimento privado e doméstico. Participado por uma comunidade
feminina, apresentava-
-se como um momen-
to de convivialidade
entre as mulheres da
casa, as familiares, as
vizinhas e a “coma-
dre”, ou seja, uma
mulher mais velha e
mais experiente que,
pela prática, se tornara
parteira. De uma for-
ma geral, a presen-
ça de todas estas mu-
lheres junto da par-
turien
como um encorajamen- Figura 13 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) Representação de um parto em que a mãe dá à luz sentada.
to à futura mãe, fazen-
do-a sentir-se menos
solitária naquele momento de dúvida e de dor. De qualquer das formas, ao
aproximar-se esse momento, ela debater-se-ia, por certo, com uma pluralidade de
sentimentos, onde, a par do medo, da ansiedade, da angústia, do arrependimento e do
desespero, também teriam lugar a esperança e o amor. Dar à luz não era apenas
sinónimo de dor e de sacrifício.72
71 No estudo feito por Iria Gonçalves sobre as cartas de exame atribuídas a físicos e cirurgiões quatrocentistas, concluiu-se que só Lisboa detinha mais de 14,5% do total dos clínicos examinados, reunindo Évora, Porto, Beja, Coimbra, Santarém e Covilhã metade dos médicos em causa. – “Físicos e cirurgiões quatrocentistas” in Imagens do Mundo Medieval, Lisboa, Livros Horizonte, 1988, p. 21. 72 Consultem-se: Yvonne Knibiehler e Catherine Fouquet, L’Histoire des mères du moyen âge à nos jours, Paris, Ed. Montalba, 1980, p. 76; Jacques Gélis, Mireille Laget e Marie-France Morel, Entrer dans la vie. Naissances et enfances dans la France tradicionelle, Paris, Gallimard/Julliard, 1978, particularmente as pp. 88-89.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
74
NASCER __________________________________________________________________________________________
Em todo este processo, competia às parteiras um papel importante e
decisivo. Nos livros de milagres, elas são mencionadas na qualidade de peritas na
avaliação das complicações surgidas de um mau parto. A parteira que lhe assistia
desconfiara della poder ter vida, ou a parteira a desenganara, são exemplos da
visibilidade dessa função.73 A sua formação médica seria decerto rudimentar,
valendo-lhes, sobretudo, o vasto repertório de conhecimentos e técnicas que a
experiência e a tradição lhes ensinara. Contudo, o facto de alguns tratados de
obstetrícia incluírem instruções especificacamente dedicadas às parteiras, assim
como muitas ilustrações das diversas posições em que se podia encontrar o feto à
nascença, leva a supor que algumas pudessem ter sido letradas, ou, pelo
menos, capazes de ler.
Com efeito, de acordo com alguns manuais de gestação de fetos, chegam a
referir-se as parteiras como mais aptas para lidar com partos difíceis e complicados
do que alguns médicos letrados a quem faltava prática e discernimento.74 É certo, no
entanto, que os meios de que dispunham eram muito limitados, sendo-lhes
desconhecida a prática de intervenções hoje tão correntes como a episiotomia, a
utilização de medicação para fazer aumentar as contracções ou a utilização de
fórceps.
Mesmo assim, as parteiras conseguiam desenvolver procedimentos bem
sucedidos no que se refere à resolução das dificuldades que o frio ou o calor
excessivos podiam trazer ao trabalho de parto. Com efeito, conforme indicam os
tratados médicos hispano-árabes, era a elas que competia evitar o frio ou o calor
excessivos que prejudicavam os nascimentos, devendo providenciar à parturiente
quartos quentes ou frescos, assim como, no primeiro caso, friccionar o peito e os
membros da grávida depois de acender um lume na sala, e, relativamente à segunda
situação, aspergir com água fria a futura mãe.75
__________________________________________________________________________________________________ 75
73 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., respectivamente, p. 551 e p. 552. 74 Veja-se Sylvie Laurent, ob. cit., ed. cit., p. 173. 75 Para tudo isto, veja-se El libro de la generatión del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Arib Ibn Sa’id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ed. cit., pp. 98-102.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
Figura 14 – Iluminuras. Colecção de tratados médicos. (Século XIII) As imagens das más posições dos fetos enquanto auxiliares das profissionais dos partos.
______________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
76
NASCER __________________________________________________________________________________________
As complicações do parto relativas ao estado da grávida eram, no entanto,
mais difíceis de resolver. De uma forma geral, resultavam das fortes dores
provocadas pelo prolongamento do parto, relacionando-se, quer com problemas do
foro psicológico, originados por depressões ou excessiva angústia, quer com a
existência de deficientes condições físico-anatómicas, fossem as decorrentes de uma
demasiada gordura, fossem as suscitadas pela estreiteza do canal uterino. Esta última
situação foi, por exemplo, mencionada a propósito do milagre propiciado pelo beato
Nuno Álvares Pereira a uma mulher que não podia parir por estar muito apertada.76
Nas memórias escritas durante o século XII pelo abade francês Gilberto de
Nogent, encontra-se uma desenvolvida evocação literária de todos estes problemas.
Com efeito, nelas se relatam, com surpreendente pormenor, as dores intensas e
prolongadas sofridas pela mãe antes de ele nascer, contando-se como se haviam
manifestado durante todo o período da Quaresma e depois acentuado por alturas do
parto, já que Gilberto se teria “recusado” a sair do ventre materno para não se separar
da progenitora. De resto, teria sido o desejo de se penitenciar pela prática de um acto
que só não provocara a sua morte e a da mãe por manifesta intervenção divina que se
apresenta como justificação para o relato confessional da ocorrência.77
Nos livros de milagres medievais portugueses também se encontram
referências a parturientes que após vários dias de sofrimento ficavam exaustas e sem
forças para conseguir provocar o nascimento dos filhos. No caso de um milagre
proporcionado por Nossa Senhora das Virtudes, atribui-se à terra da santa a
capacidade de sem nenhuu perijgo ter feito parir huu filho baram a uma mulher com
dores de parto há vários dias.78 Por sua vez, entre os milagres atribuídos a S. Frei Gil
relata-se, entre outros, como após três dias inteiros com dores de parto contínuas,
uma grávida, cujos gritos eram tão lastimosos que as Comadres a davão por morta,
encontrara a ajuda que logo lhe deu alívio, e forças, e hora boa, que a fez mãi de hum
filho.79 Por fim, também se credita à intercessão de Nuno Álvares Pereira a graça do
rápido e bem sucedido nascimento da criança de uma mulher cujo parto muito
__________________________________________________________________________________________________ 77
76 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 551. 77 Yves Ferroul, " Devenir adulte. L’exemple de Guibert de Nogent " in Éducation, Apprentissages, Initiation au Moyen Age, Actes du Premier Colloque International de Montpellier, Université Paul Valéry, 1991, pp. 160-161. 78 Frei João da Póvoa, "Livro dos Milagres de Nossa Senhora das Virtudes", ob. cit., ed. cit., p. 19. 79 Frei Luís de Sousa, "S. Frei Gil" in ob. cit., ed. cit., pp. 241-242.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
demorado fizera pensar às mulheres que com ella estavaõ, que em breves horas
daria a alma a Deos. 80
Quanto às complicações a enfrentar pelas parteiras relativamente à saúde
das crianças que faziam nascer, as mais temidas relacionavam-se com a deficiente
posição do feto no momento do parto. Nesse sentido, revela-se bastante significativo
o caso acontecido a Beatriz Álvares, de Lisboa, quando, depois de ter a criança
atravessada em o corpo de tal maneira que a parteira pensara que morria, e lhe
dissera que despuzesse de sua alma com toda a brevidade, invocou o beato Nuno
Álvares Pereira e logo de improviso a criança dera dentro do ventre huma volta, e a
parira viva.81
Em tais situações, os manuais de medicina recordavam como as parteiras
deveriam ser prudentes e dotadas de grande experiência, ao mesmo tempo que lhes
sugeriam diversas indicações sobre a maneira de lidar com as várias posições
tomadas pelo bebé ao nascer. Assim, se confiavam nas “comadres” para
desenvolverem as operações destinadas a puxar o mais rapidamente possível a
criança do ventre da mãe, aconselhavam-nas a obrigar o bebé a tomar a posição
conveniente, indicando-lhes como, ao mesmo tempo que deviam tratar cui-
dadosamente a parte do corpo já saída, teriam de manobrar de uma forma suave e
cuidadosa dentro do útero da progenitora, para que, com gestos precisos, e nos
momentos das dores, tentassem rodar o feto e lhe ajeitassem o corpo, dado ser
frequente terminarem os partos difíceis, ou com fetos decepados e arrancados à
força, ou com crianças mortas no ventre das mães.
Nos milagres de Nuno Álvares Pereira encontram-se várias referências às
tragédias ocorridas com os fetos e os recém-nascidos. Os nados mortos, tanto se
encontram registados a propósito do auxílio prestado pelo beato a uma mulher que
lhe prometera, através do marido, romaria e missa para se livrar do filho sem vida
que trazia no ventre, como no contexto do milagre em que uma das suas devotas, ao
vestir uma camisa que outrora pertencera ao antigo condestável do reino, teria obtido
a graça de ver sair das suas entranhas a criança que se desconfiara della poder ter
vida.82 Por outro lado, a expulsão de fetos despedaçados por se encontrarem em más
posições na altura do nascimento figuram nas histórias de dois milagres obtidos pelo
______________________________________________________________________________________________
80 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 551. 81 Id., ibidem, p. 552. 82 Id., ibidem, pp. 551-552.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
78
NASCER __________________________________________________________________________________________
contacto das relíquias do santo com o ventre de mulheres acidentadas durante o
parto; assim, atribui-se à que utilizou o barrete usado em vida pelo condestável a
graça da expulsão dos restos de um bebé morto ao dar à luz, por ter ficado
atravessado e só dele ter saído um braço e uma perna, enquanto a que usou a terra da
sepultura do beato Nuno logo teria expelido a criança partida pelo meyo do
espinhaço.83
Para além dos casos de morte, os partos acidentados também eram
responsáveis pelo nascimento de crianças depois atingidas por sérios problemas de
saúde e mesmo por deformações físico-anatómicas.84 Em relação à primeira situação
podemos referir, a título de exemplo, o caso do infante Fernando, o Infante Santo,
que, após um parto complicado de uma mãe muito debilitada,
trouve de sseu naçimento grandes doenças e muy aficadas. E todo o coiro
do corpo se lhe esfolou em tamanhos pedaços, que o coiro da mãao saya
todo inteiro como se fose luva e em toda sua vida teve conthinuadamente
door de coraçom. 85
Quanto às deformações físicas, podemos citar o caso de Afonso Martins,
alfaiate de profissão, que era
priuado da perna derreita per nascença porque tall nasçera do ventre da
sua madre.86
Contudo, de acordo com os tratados médicos hispano-árabes, as
deformidades físicas das crianças eram, em grande parte, atribuídas a problemas
ocorridos durante a gravidez, responsabilizando-se as mães, e não tanto as
"comadres", já que geralmente eram entendidas como consequências de um útero
mal constituído. Nesse sentido, se a criança nascia com os membros retorcidos, tal
__________________________________________________________________________________________________ 79
83 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 551-553. 84 De facto, nos relatos dos livros de milagres sobre várias doenças curadas pela intercessão dos santos referem-se muitos casos de males presentes desde o nascimento, indicando, desse modo, possíveis sequelas de traumatismos provocadas pelo parto. Retomaremos o assunto. 85 Frei João Álvares, "Trautado da vida e feitos do muito vertuoso Sor Ifante D. Fernando", Obras, vol. I, ed. Adelino de Almeida Calado, Coimbra, 1960, p. 8. 86 Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, III, ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2002, p. 81.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
dever-se-ia ao facto de ser um mau produto de um molde deformado que impedira o
correcto desenvolvimento do sémen masculino.87
No entanto, perante a alternativa de os acidentes do parto poderem fazer
perigar a vida da mãe ou a do bebé, tudo leva a crer, embora não existam
informações concretas e específicas nas fontes analisadas, que se optaria pela
salvação da progenitora. Por um lado, porque a multiplicidade dos factores de risco
trazidos à criança pela rudimentaridade das técnicas obstétricas então utilizadas não
tornava fácil a sobrevivência de um bebé atravessado no útero da mãe ao nascer,
havendo poucas hipóteses de a salvar por via de um recuo intra-uterino destinado a
corrigir-lhe a posição de saída. Por outro lado, porque essa realidade tornava mais
valiosa a salvação da vida da parturiente, possivelmente com outros filhos para criar
e ainda capaz de novas gravidezes. Contudo, perante a eminência de um parto
funesto para a mãe, extrair o filho ainda vivo e baptizá-lo era considerada uma tarefa
prioritária, pois, caso a criança não sobrevivesse, poderia morrer cristã e aguardar no
limbo a salvação. Importava, sobretudo, preservar a alma de um novo ser, torná-lo
cristão e evitar que fosse enterrado dentro do ventre da mãe. Perante a dificuldade ou
a inviabilidade do parto normal, poderia recorrer-se a uma cesariana, se bem que as
dificuldades técnicas então inerentes a uma tal intervenção cirúrgica tendessem a
torná-la duvidosa, visto sujeitarem a parturiente a um sofrimento atroz que não trazia
garantias à sobrevivência da criança.
Realizadas desde a Antiguidade, as cesarianas encontravam-se reco-
mendadas na lei judaica e tinham sido objecto de especial regulamentação através da
Lex Regia durante a época romana. No entanto, teriam caído em desuso durante a
Alta Idade Média ocidental. De facto, é preciso esperar pelos finais do século XII
para que as cesarianas voltem a figurar na jurisprudência europeia. É a partir de então
que o direito canónico as passa a considerar enquanto meio destinado a permitir a
salvação das crianças cujas mães faleciam durante os partos, ou seja, numa
modalidade post mortem que fosse capaz de viabilizar o baptismo dos filhos assim
nascidos, mesmo que fossem muito ténues as suas hipóteses de sobrevivência. Na
verdade, é neste sentido que as cesarianas começam a ser aconselhadas nas
______________________________________________________________________________________________
87 El libro de la generatión del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Arib Ibn Sa’id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ed. cit., p. 82.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
80
NASCER __________________________________________________________________________________________
deliberações tomadas em vários concílios, em simultâneo com as primeiras
abordagens nos tratados médicos produzidos nos primórdios do século XIII.88
Em Portugal, a prática de cesarianas não se encontra documentada, nem
mesmo através dos resultados dos estudos paleobiológicos feitos a partir dos fetos
sepultados em vários cemitérios medievais. O único testemunho indirecto de uma sua
concretização reside no possível sentido da alcunha registada pelo Livro de
Linhagens do conde D. Pedro relativamente a um dos fundadores da nobreza
portuguesa, o infanção Guiçoi, ou Vizoi, de onde descendem os senhores de Sousa,
ou seja, a alcunha de Nomnado, tal podendo, ao significar "não nado" ou "não
nascido", constituir uma alusão a um nascimento artificialmente provocado por
cesariana.89 De resto, só uma das iluminuras das Cantigas de Santa Maria de Afonso
X, comporta uma representação explícita de uma cena de cesariana, embora ocorrida
textualmente fora do espaço português.
__________________________________________________________________________________________________ 81
88 Pierre-André Sigal, “La grossesse, l'accouchement et l'attitude envers l'enfant mort-né à la fin du Moyen Âge d'après les récits de miracles" in ob.. cit., ed. cit., pp. 33-34. As cesarianas realizadas em mães vivas apenas tiveram início no século XVI, sendo encaradas com muito cepticismo e geralmente consideradas como “absurdas, inacreditáves e inúteis”: Henrietta Leyser, ob. cit., ed. cit., p. 127. Ao que parece, a primeira cesariana feita em mulher viva ocorreu em França, em 1500, tendo sido realizada por um capador na sua própria mulher: Jacques Gélis, Mireille Laget e Marie-France Morel, ob. cit., ed. cit., p. 98. 89 Livro de Linhagens do conde D. Pedro, ed. cit., p. 207 (22 A3). Sobre Guiçoi ou Vizoi de Sousa, veja-se José Mattoso, Ricos-homens, infanções e cavaleiros. A nobreza medieval portuguesa nos séculos XI e XII, Lisboa, Guimarães Editores, 1985, p. 47.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
Figura 15 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) Representação de uma cesariana.
O papel e a responsabilidade das parteiras eram essenciais para a decisão e
aplicação de uma cesariana. Antes de mais, competia-lhes avaliar a efectiva morte da
parturiente e estarem munidas dos meios e dos conhecimentos necessários ao muito
provável baptismo das crianças que não sobreviveriam à cesariana ou morreriam
pouco depois de ela ter sido realizada, sendo, portanto, exigido às "comadres" que,
para além de sempre terem perto de si um recipiente com água limpa para efectuar a
cerimónia da iniciação cristã dos bebés ainda vivos, soubessem as fórmulas e os
rituais correctos a utilizar nessa ocasião. Depois, era também nelas que recaía a
responsabilidade da escolha do momento oportuno para realizar a cesariana, já que a
sua eficácia, ou seja, a possibilidade de salvar a criança, estava dependente da
ocorrência de um curto intervalo de tempo entre a verificação da morte da mãe e a
realização da intervenção cirúrgica.
______________________________________________________________________________________________
Ora este último preceito não era fácil de cumprir, dado que os partos
difíceis se arrastavam por vários dias, até se esgotarem as forças e a vontade das
parturientes por entre sucessivos episódios de exaustão e perda da consciência,
sendo, portanto, complicado avaliar o exacto momento da morte da grávida. Por
isso, quando tardava uma tal verificação, as "comadres" corriam o risco de ver a
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
82
NASCER __________________________________________________________________________________________
criança regressar ao interior do útero materno e nele acabar sepultado sem que uma
cesariana pudesse vir a ser praticada, permitindo ao bebé viver o suficiente para ser
baptizado e enterrado em lugar sagrado, uma vez que se excluíam dos cemitérios
todos os que não tinham sido iniciados na vida e na crença cristãs.
No seu conjunto, as opções tomadas pelas parteiras no exercício do seu
ofício, podiam vir a ser matéria de acusação em justiça. Acabara por baptizar uma
criança já morta para lhe assegurar a sepultura em lugar sagrado ou, pelo contrário,
não lhe administrara esse sacramento a tempo? Pactuara em fraudes ao testemunhar
um nascimento proveniente de uma mãe infértil? Em suma, toda uma série de
questões bem justificativas do crescente interesse manifestado pelos letrados e pelos
clérigos no treino e instrução das parteiras.90
Os partos medievais, associados a sofrimento, morte e sequelas físicas ou
doenças crónicas, encontram-se bem presentes nas fontes narrativas disponíveis, em
grande parte de origem clerical. Contudo, as dores e as angústias que elas revelam,
sobretudo através dos relatos dos livros de milagres, não se limitam a registar meras
realidades sociais. Cumprem igualmente a função pedagógica e catequética de
instruir os crentes.
No fundo, todas essas histórias contribuíam para apresentar a maternidade
enquanto momento privilegiado para recordar aos fiéis, a quem a incerteza do
desfecho dos partos suspendia a manifestação das alegrias da procriação, a sua
condição terrena de pecadores condenados à expiação dos antigos erros, devendo
penar corporalmente para redimir e purificar as almas. Nesse sentido, a insistência
nos relatos sobre as dores e os tormentos dos partos também se destinava a lembrar
como a sobrevivência das mães e dos recém-nascidos dependia da fé e da devoção
penitenciais postas na misericordiosa intercessão dos santos, a eles se devendo a
graça da sua salvação corporal e espiritual.
A concepção de que os sofrimentos da maternidade simbolizavam um
sacrifício que redimia o gozo e o prazer corporais praticados pela Humanidade
procriadora, foi, sobretudo, desenvolvida nas tradições judaicas. De acordo com o
__________________________________________________________________________________________________ 83
90 Num manual inglês do século XV dedicado à instrução dos párocos, aconselhava-se o seguinte: And if the woman then should die/ Teach the midwife that she hurry/ For to undo her with a knife/ In order to save the child’s life/ And hurry that it christened be/ For that is a deed of charity: Henrietta Leyser, ob. cit., ed. cit., p. 127.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
Levítico,91 o dar à luz, conotado com o corpo, o sangue e por vezes a própria morte,
remetia para um acto impuro que sujeitava as mulheres a um ritual de purificação no
período após o parto, não devendo entrar nos templos antes de decorrerem trinta e
três dias após o nascimento de um filho ou sessenta e seis, no caso de uma filha.
Entre os cristãos, sobretudo depois de Gregório Magno ter contribuído
doutrinariamente para a desvalorização do cumprimento dos interditos femininos do
pós-parto, uma tal concepção não conheceu a mesma aceitação, conforme o
testemunha o facto de o Decreto de Graciano silenciar qualquer referência a um
prazo a ser respeitado pelas novas mães para se integrarem plenamente nas
cerimónias eclesiásticas. Tal não implica, contudo, que se tenham perdido algumas
dessas tradições judaicas, já que o papa Inocêncio III produziu uma bula destinada a
permitir que as pós-parturientes pudessem não ser censuradas por não assistirem
durante algum tempo aos rituais litúrgicos praticados nas igrejas da Cristandade. 92
De resto, na versão portuguesa da hagiografia de Isabel da Hungria relatam-
-se algumas práticas que parecem decorrer das influências judaicas sobre a expiação
feminina das impurezas do parto, contando-se como a santa prescindia das jóias e
dos vestidos de tecidos luxuosos depois dos seus partos, sobretudo quando começava
a visitar as igrejas do reino para, humilde e modestamente, se purificar das suas
sucessivas maternidades.93 Para além disso, a própria comunidade cristã Ocidental
não deixava de comemorar anualmente a Apresentação de Jesus ao Templo,
recordando como aí fora conduzido pela mãe, quarenta dias após o seu nascimento.
É certo, no entanto, que a concepção sacrificial e penitencial da maternidade
começou a ser substituída por uma concepção redentoramente positiva a partir do
século XII, ao mesmo tempo que se difundia o culto da mãe de Cristo por via das
devoções às Virgens da Anunciação, Expectação, Leite e Natividade.94 De facto, ao
celebrarem as diversas fases da maternidade de Nossa Senhora, todas estas devoções
acabaram por consagrar a possibilidade da existência de uma gravidez concebida fora
______________________________________________________________________________________________
91 Levítico, 12:1-8 , Antigo Testamento in Bíblia Sagrada, em Português, ed. cit. 92 Consultem-se: Didier Lett, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe-XIIIe siècle), Paris, Aubier, 1997, p. 261, Ronald C. Finucane, The Rescue of the Innocents Endangered Children in Medieval Miracles, Nova Iorque, St. Martin's Press, 2000, p. 37. 93 'Da sancta e muy piedosa molher Elisabeth, filha d’el Rey de Ungria' in "Adições Portuguesas no Flos Sanctorum de 1513", ed. Cristina Sobral, ob. cit., ed. cit., p. 599, notas 106-107. 94 Mário Barroca, "A escultura gótica" e "Ourivesaria e Eborária" in Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Mário Barroca, História da Arte em Portugal. O gótico, Lisboa, Presença, 2002, pp. 157--246, 247-275.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
84
NASCER __________________________________________________________________________________________
de qualquer prazer carnal e de um parto isento de dores e sofrimentos expiatórios.
Neste sentido, as filhas medievais de Eva não só encontraram uma mais solidária e
eficaz intercessora para a obtenção de um nascimento feliz, como nela passaram a
projectar a imagem de uma menos angustiada e atribulada maternidade.
Os temas e os motivos utilizados nas representações das Natividades
portuguesas da Baixa Idade Média testemunham essa mutação.95 Por um lado, a
Virgem do Presépio reproduz a imagem de uma mãe serena e segura, sem qualquer
sinal de fadiga ou cansaço. Por outro, a paternidade de José ganha protagonismo
iconográfico, embora de acordo com o princípio que interditava aos homens a
presença no momento do parto. Com efeito, José, ora surge adormecido, ora se
apresenta como alguém que, com uma luz na mão, acaba de chegar para contemplar,
na noite do nascimento de Cristo, o filho e a mulher. Depois, quer a sumptuosidade
do cenário quer o valor real ou simbólico dos objectos e seres representados,
conjugam-se para fornecer ao momento as marcas de um acontecimento familiar,
cerimonialmente ordenado e jubiloso.
__________________________________________________________________________________________________ 85
95 Cf. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, O Presépio na Arte Medieval, Porto, Instituto de História de Arte, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1983.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
Figura 16 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) O precioso leito da Virgem e o cenário que domina esta figuração do Presépio, contribuem paraque a cena se apresente como uma anacrónica imagem familiar urbana do nascimento de Cristo.
Figura 17 – Igreja da Nossa Senhora da Oliveira, Guimarães (Século XIV) As figurações pictóricas da Natividade eram muito frequentes na decoração dos Templos da Baixa Idade Média, embora hoje restem poucos exemplares.
______________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
86
NASCER __________________________________________________________________________________________
Figura 18 – Túmulo deInês de Castro (Século XIV) A recordação dos fe-lizes tempos familiaresde Pedro e Inêsencontra-se iconogra-ficamente inspirada nascenas da Natividade.
Figura 19 – Tríptico da Natividade da Colegiada de Guimarães - pormenor (Século XV) Colocado sobre o ventre da mãe, o sorridente Menino Jesus parece protagonizar um parto cujafacilidade e rapidez não perturbou o sono de José ou a espera sossegada de Maria.
__________________________________________________________________________________________________ 87
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
5 – A CONTRACEPÇÃO
Segundo uma das hagiografias medievais de Senhorinha de Basto, uma mãe
e uma filha ter-se-iam dirigido ao templo onde repousava a Santa para obterem
distintos milagres. A filha, estéril, implorava fecundidade. A mãe, abalada por uma
multiplicidade de partos, rogava para não continuar a conceber.96 Um tal relato
coloca-nos perante a existência de duas atitudes femininas face à maternidade: as que
a concebiam como desejada ou indesejada, sendo a segunda bastante difícil de
avaliar em termos de representatividade, já que, para além de, tal como a primeira,
permanecer um assunto de mulheres numa sociedade em que eram maioritariamente
iletradas, era considerada negativa e criminosa pela moral judaico cristã dominante.
Antes dos anos sessenta, os próprios historiadores nem sequer colocavam a hipótese
de uma presença significativa de práticas contraceptivas na sociedade do Ocidente
medieval europeu, já que a ainda hoje unânime consideração da existência de muito
baixas taxas de reprodução, era quase sempre atribuída ao peso de uma elevada
mortalidade infantil. Normam Himes, por exemplo, na sua hoje já clássica obra A
Medical History of Contraception, nem chegou a deter-se no caso medieval porque
considerava a sociedade desse tempo totalmente avessa a uma prática descrita como
desnecessária, visto que a guerra, a fome e as grandes calamidades tanto tornariam
bem vindos os filhos a utilizar enquanto mão-de-obra barata como pouco incitariam a
que fossem favorecidas as necessidades ou os usos reivindicados pelas mulheres para
controlar a procriação.97
A questão revela-se, hoje, bem mais complexa. Antes de mais, porque os
próprios interditos sexuais consagrados pelos livros penitenciais medievos podem ser
considerados como prescrições morais que, na prática, favoreciam a contracepção.
Com efeito, quando se encontra na tradução portuguesa do Penitencial do canonista
leonês Martin Perez as recomendações, sob pena de pecado, de que os esposos se
devem abster de relações sexuais
desde XX dias ante de Natal adeante, atáa o cabo
del, domingos ou en nas festas dos apostolos ou em nas outras festas
______________________________________________________________________________________________
96 "Vida da Bem Aventurada Virgem Senhorinha", ed. e trad. Maria Helena da Rocha Pereira, in Vida e Milagres de S. Rosendo, Porto, 1970, p. 145. 97 Veja-se Philippe Ariès, "Interprétation pour une histoire des mentalités" in La Prévention des Naissances dans la Famille, Institut National d’Études Démographiques, Travaux et Documents 35, Paris, 1960, pp. 211-227.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
88
NASCER __________________________________________________________________________________________
mayores ou en qual quer dia de jajuneum da eigreja ordenado
e ainda durante todo o período da Quaresma, não se trata apenas de aí verificar a
consagração, à semelhança do ocorrido em todos os penitenciais medievais europeus,
da vontade clerical de limitar a achegança entre esposos para lhes fazer evitar
práticas moralmente condenáveis.98 De facto, como reconheceu Jean-Louis
Flandrin,99 tais imperativos acabaram por funcionar como um dispositivo regulador
da natalidade, visto a sua maior ou menor aceitação, conforme estivessem, ou não,
individualmente presentes o medo e a angústia de cair em práticas consideradas
pecaminosas, lhes permitir actuar enquanto meio de contracepção natural. Uma
função semelhante podia ser percepcionada pelo respeito do interdito dos contactos
com o sangue menstrual, tendo em conta a enumeração dos muitos malefícios que
lhe haviam sido atribuídos desde a Antiguidade judaico-clássica, conforme foi depois
sistematizado pelo enciclopedista Isidoro de Sevilha e até mesmo acrescentado pelas
diversas tradições regionais do Ocidente medieval cristão. Com efeito, se se atribuía
ao sangue menstrual o azedar do vinho novo, a infertilidade dos campos, a queda
dos frutos das árvores, a não germinação dos cereais, a morte das abelhas nas
colmeias, o enferrujamento do ferro, o escurecimento dos objectos de bronze e até a
raiva nos cães que o lambiam, um tal conjunto de males seria certamente dissuasor
para a concretização de práticas sexuais nos dias em que as mulheres se encontravam
menstruadas, tanto mais quanto se defendia que elas podiam gerar crianças ruivas e
tendencialmente leprosas, dado o esforço desenvolvido pelos fetos para se purgarem
do sangue menstrual materno que estaria contido nos seus membros porosos.100
Assim, nos tratados de confissão era condenado como pecado de luxúria o marido
que cõcebera sua molher quando ela era mesturosa ciinte mẽte.101
Quanto a práticas contraceptivas mais directas, como o coitus interruptus ou
a ingestão de ervas espermicidas ou abortivas, conforme Le Roy Ladurie pode
referenciar na aldeia medieval pirenaica de Montaillou,102 ou que se indicavam
__________________________________________________________________________________________________ 89
98 O Penitencial de Martim Pérez em Medievo-Português, ed. cit., pp. 43-45. 99 Jean-Louis Flandrin, L'Eglise et le contrôle des naissances, Paris, Flammarion, 1970; Le sexe et l'Occident. Évolution des attitudes et des comportements, Paris, Seuil, 1981; Un Temps pour Embrasser: Aux Origines de la Morale Sexuelle Occidentale (VIe - XIe siècle), Paris, Seuil, 1983. 100 Consultem-se: Henrietta Leyser e Claude Thomasset, obs. cits., eds. cits., respectivamente p. 97 e pp. 92-93. 101 Tratado de Confissom (Chaves, 8 de Agosto de 1481), ed. cit., p. 204. 102 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou Cátaros e católicos numa aldeia occitana 1294-1324, Lisboa, Edições 70, 2000, p. 268.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
em vários tratados médicos hispano-árabes, como os de Avicena,103 as fontes
portuguesas permanecem silenciosas. A menos que a elas aluda a condenação
decretada no sínodo diocesano celebrado em Lisboa no ano de 1403, de todos
aquelles que fazem algua coussa pera a molher nom emprenhar.104 Restam, contudo,
as vinte e sete receitas indicadas pelo médico e papa português Pedro Hispano para a
sufocação do desejo erótico e as vinte e seis que permitiam impedir a concepção
quando a mulher não quiser conceber, talvez porque tema morrer ou por qualquer
outra razão. No seu conjunto, insistem nas virtudes terapêuticas, quer de produtos
animais, como refere a sugestão de comer uma abelha, trazer junto ao corpo bocados
de orelha ou pele de mula e excrementos de elefante, ou a de nele aplicar tentáculos
de lesma, quer vegetais, no caso das recomendações de atar ao corpo raiz de
pimpinela, beber folhas de choupo ou untar-se com suco de hortelã, e ainda minerais,
como trazer consigo uma pedra de azeviche, ou, simplesmente, beber ferrugem.105
Por seu lado, a cronística também se refere a práticas em que a farmacopeia
se alia à magia para dificultar ou impedir nascimentos. Nesse sentido, registam-se
feitiços conjurados nos aposentos femininos. É esse, com efeito, o significado da
menção ao episódio em que se conta como Leonor Nunes de Gusmão, a manceba de
Afonso XI de Castela, teria tentado provocar, através de feytiços e diabolyco
emcamtamento, a morte da soberana legítima, a portuguesa Maria Afonso, no
momento do respectivo parto, já que nom paryndo a Rainha, terya esperamça de
reynar cada hum de seus filhos.106
______________________________________________________________________________________________
103 No Canon de Avicena citam-se na qualidade de substâncias contraceptivas, o óleo de cedro, o mentol, a maçã reineta, o manjericão doce, a romã, o alúmen, o salgueiro, a pimenta e a couve, a tomar por ingestão, infusão ou supositórios vaginais: Angus Mclaren, "A procriação na Idade Média” in ob. cit., ed. cit., pp. 115-147. 104 Synodicon Hispanum,II – Portugal, ed. Francisco Cautelar Rodriguez, Avelino de Jesus da Costa, Antonio Garcia Y Garcia, Antonio Gutierrez Rodriguez, Isaías da Rocha Pereira, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, p. 321. 105 Pedro Hispano, Obras Médicas, ed. cit., respectivamente pp. 238-242 e 258-260. 106 Rui de Pina, “Chronica D’El-Rei D. Affonso IV” in Crónicas, ed. cit., pp. 347-348. Veja-se também a Crónica dos Sete Primeiros Reis de Portugal, II, ed. C. Silva Tarouca, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1952-1953, p. 158. Sobre o contexto histórico em que teriam decorrido estes feitiços, consulte-se Ana Rodrigues Oliveira, As representações da mulher na cronística medieval portuguesa (sécs. XII a XIV), Patrimonia Histórica, Cascais, 2000, pp. 81-82 e 213-215.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
90
NASCER __________________________________________________________________________________________
6 - O ABORTO
Mais próximo de uma situação abortiva do que contraceptiva, o exemplo da
acção atribuída a Leonor Nunes de Gusmão, remete-nos para o certamente mais
frequente domínio das práticas de interrupção voluntária da gravidez, visto não ser
então fácil qualquer actuação impeditiva da procriação antes de uma adiantada fase
de gestação do feto. Com efeito, era bastante complicado obter um diagnóstico de
gravidez precoce minimamente seguro na sociedade medieval. De facto, uma tal
verificação ficava quase sempre confiada à própria grávida, que apenas a conseguia
diagnosticar quando o feto se mexia pela primeira vez, ou seja, quando a gestação já
se encontrava bastante adiantada. Por outro lado, mesmo que ela confiasse a uma
parteira ou a um médico o exame do colo do seu útero, só quando a barriga já se
encontrava proeminente é que o diagnóstico era seguro, embora já tardio para evitar
uma intervenção abortiva que, a concretizar-se, acrescia, certamente, o perigo em que
a grávida incorria ao provocar o aborto.107
Mesmo assim, o aborto não deixava de ser clinicamente recomendado e
decerto praticado quando a gravidez colocava a mãe em risco de vida.108 É, pelo
menos essa a situação referida por Frei João Álvares quando relata como a rainha
Filipa de Lencastre podia enfrentar a morte durante o parto do infante Fernando, o
Infante Santo. Segundo o seu testemunho,
ao tenpo do conçebimento deste Ifante, seendo a Rainha muito enferma de
febre e em desposiçom tam fraca que, per rega de fisica, nom foy achad
o remedio per que ela sem mortal periigo podese parir, ffoy acordado que
lhe desem beverajem pera mover, com a qual ainda sua salvaçom era
dovidosa. E ao tenpo que lhe avia de seer dada, declarando lhe todo esto
elrey seu marido, a muito vertuosa Rainha na morte do conçebido filho nom
quis outorgar, dizendo assy: “Senhor, nom queira Deus que, onde eu em
alguu caso nom consentira de seer omiçida, agora o queira seer de minha
propria carne. E mays vos digo que, por viver o filho, eu averia minha
morte por bem empregada. E quando a Deus aprouver, com o filho moura a
madre, moormente que Deus he poderoso pera anbos dar vida se sua
__________________________________________________________________________________________________ 91
107 Cf. Claudia Opitz, "O quotidiano da mulher no final da Idade Média (1250-1500)" in ob. cit., ed. cit., p. 386. 108 A. H. de Oliveira Marques, A Sociedade Medieval Portuguesa, ed. cit., p. 101.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
merçee for, no qual eu tenho esperança per mereçimentos do lenho da santa
cruz em que ele padeçeu por nos remiir, que a sua redençom aproveitará a
esta criatura, que nom pereça ante de reçeber bautismo”. E entendeu elRey
ser bõo e santo proposito, lançou em tera o enxarope que na maõ tiinha
pera lhe dar a bever.109
No Tesouro dos Pobres Pedro Hispano não menciona receitas
explicitamente destinadas a provocar o aborto. Contudo, nas trinta poções que regista
para induzir ao aparecimento da menstruação, algumas não deixariam também de ser
aconselháveis para esse efeito, como a que aconselha a beberragem da semente da
açucena, ou da sua raiz, depois de triturada em azeite e cozida nas brasas, para
expelir sangue supostamente menstrual ou, mesmo, o feto morto.110
Porém, quer o teor da recusa que Frei João Álvares atribuía a Filipa de
Lencastre ao não aceitar um aborto terapêutico, tendo tido como consequência os já
referidos problemas de saúde padecidos por seu filho, o Infante Santo, quer o
silenciamento feito por Pedro Hispano a receitas especificamente destinadas a esse
efeito, testemunham como a interrupção voluntária da gravidez era condenada e
proscrita pela moral eclesiástica católica em nome da salvaguarda do direito à vida
consagrado no Quinto Mandamento do Decálogo. De facto, tanto os penitenciais
como os catecismos conhecidos ou redigidos no Portugal medieval manifestavam
grande severidade contra os
fisicos e cirujãos negrigentes, parteiras ou mulheres que tomam ou dam
alguua cousa pera lamçar a criança,
englobando nessa condenação quem quer
que fere ou faze alguua cousa per que as prenhes lance a criança,111
ao mesmo tempo que propunham aos que procuravam
mover e deitar o conçebimento, ante que seja vivo, ou que o fruyto nom seja
conçebido,
______________________________________________________________________________________________
109 Frei João Álvares, “Trautado da vida e feitos do muito vertuoso Sor Ifante D. Fernando” in Obras, ed. cit., pp. 6-7. 110 Pedro Hispano, Obras Médicas, ed. cit., p. 244. 111 O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz Bispo de Viseu, ed. Elsa Maria Branco Silva, Lisboa, Ed. Colibri, 2001, pp. 188-189.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
92
NASCER __________________________________________________________________________________________
a rigorosa pena de um a três anos de penitência.112 Também nos tratados de
confissão se condenavam aqueles que procuravam matar a criatura que ãda no
ventre e os que embargavam per algua maneira que a molher nom cõceba.113
De resto, desde cedo que as prescrições saídas dos concílios hispânicos
puniam os abortos, datando do IIº concílio de Braga, celebrado em 572, a primeira
desenvolvida condenação a qualquer mulher acusada de os praticar em filhos
legítimos ou adulterinos.114 Foi, no entanto, durante a Baixa Idade Média que o
assunto se tornou mais presente, sobretudo a partir do momento em que os tratados
médicos começaram a indicar o sexagésimo ou septagésimo dia após o da concepção
como aquele em que o feto adquiria a vitalidade suficiente para poder ser
considerado dotado de uma alma, levando, portanto, os canonistas a defender a tese
de que qualquer aborto praticado a partir dessa altura acarretava a prática, não só de
um homicídio mas também a da danação de uma alma a quem a impossibilidade de
um baptismo impediria a hipótese de uma salvação eterna.115
Neste contexto, torna-se muitas vezes complexo decidir em que medida as
notícias sobre a perda de fetos na sequência de agressões físicas ou emocionais feitas
a grávidas - tal como se encontram referidas por Luís Miguel Duarte no seu estudo
sobre as cartas portuguesas de perdão régio do século XV - são ou não testemunhos
da prossecução de práticas destinadas à interrupção voluntária de gravidezes.116
Também na Chancelaria de D. Duarte é referido o caso de uma mulher feita
prisioneira porque ouuera afeiçom com huu clerigo e que, pelo tormento e noJo da
prisão mouera hua criatura de que andaua prenhe.117 Com efeito, segundo Angus
Mclaren, na falta ou na impossibilidade de se aceder a mezinhas abortivas, a
sociedade do Ocidente medieval cristão também utilizou o recurso às pancadas como
meio de produzir abortos, ou até a danças, pulos ou vestuário apertado, não sendo de
__________________________________________________________________________________________________ 93
112 O Penitencial de Martim Pérez, , ed. cit., p. 42. 113 Tratado de Confissom, ed. cit., p. 234. 114 Concílios visigóticos e hispano romanos, ed. José Vives, Barcelona-Madrid, CSIC, 1963, p. 104. 115 Angus Mclaren, “A procriação na Idade Média”, in ob. cit., ed. cit., p. 142. De uma forma geral, o islamismo medieval foi muito mais tolerante em relação ao controlo voluntário da reprodução, sendo o coito interrompido tolerado por Maomé desde que utilizado para proteger a propriedade familiar ou a saúde da mãe, e o aborto defendido se realizado antes dos cem dias posteriores à concepção. Também os tratados médicos árabes consagram diversas poções contraceptivas, a utilizar sob a forma de tampões e supositórios - B. F. Musallem, Sex and Society in Islam: Birth Control before the Nineteenth Century, Cambridge, University Press, 1983. 116 Luís Miguel Duarte, Justiça e criminalidade no Portugal medievo (1459-1481), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, pp. 315-316. 117 Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, III, ed. cit., p. 126.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
excluir a intenção de assim procurarem apresentá-los como acidentes sobre os quais
não recairiam sanções morais, espirituais ou até sociais. 118
7 - O INFANTICÍDIO
A determinação da representatividade social do homicídio de recém-
-nascidos no Ocidente cristão da Baixa Idade Média tem suscitado apaixonados
debates historiográficos, parecendo indiciar a existência de significativas variantes
geográficas. Por um lado, no que diz respeito à Inglaterra, tanto Barbara Hanawalt
como Henrietta Leyser, tendem a negar que ele fosse uma realidade socialmente
generalizada, ironizando a primeira a atitude dos psicohistoriadores que se deliciam a
fazer dos camponeses medievais grandes praticantes do infanticídio dos recém-nas-
cidos,119 e explicando a segunda como a inexistência, em Inglaterra, de um estigma
de ilegitimidade tornava as mães solteiras ou viúvas das vilas e cidades inglesas
pouco pressionadas a desfazer-se dos filhos.120
Para a França, os estudos desenvolvidos por Brissaud e Sylvie Laurent
fornecem uma outra panorâmica. Embora enfatizando o facto de como se revela
difícil fornecer números e estatísticas, consideram o infanticídio dos recém-nascidos
como uma “triste realidade”121 cujas proporções foram crescendo ao longo do século
XV.122 Esta situação é corroborada relativamente à Itália, pela investigação feita para
Florença por Richard Trexler,123 enquanto para as cidades da Toscâna, Charles de la
Ronciére tenha concluído que, principalmente a partir do século XV, o infanticídio
por abafamento ou esmagamento dos recém-nascidos nos leitos familiares
aumentara.124
______________________________________________________________________________________________
118 Angus Mclaren, ob. cit., ed. cit., p. 142. 119 Barbara Hanawalt, The Ties that Bound. Peasent Families in Medieval England, Nova Iorque, Oxford University Press, 1986, p. 101. Consulte-se, também da autora, Growing up in Medieval London: The Experience of Childhood in History, Nova Iorque, Oxford University Press, 1993, sobretudo a p. 44. 120 Henrietta Leyser, Medieval Women. A Social History of Women in England 450-1500, ed. cit., p. 131. 121 Y.-B. Brissaud, « L’infanticide à la fin du Moyen Âge. Ses motivations psychologiques et sa répression », Revue historique du droit français et étranger, 2, 1972, pp. 232-250. 122 Sylvie Laurent, Naître au Moyen-Âge: De la conception à la naissance, la grossesse et l'accouchement (XIIe.- XVe. Siècle), ed. cit., p. 164. 123 Richard C. Trexler, " Infanticide in Florence : New Sources and First Results " in The Children of Renaissance Florence, I, Nova Iorque, 1993, pp. 51-52. 124 Charles de la Ronciére, "A vida privada dos notáveis toscanos no limiar do Renascimento" in Philippe Ariès e Georges Duby (dir.), História da Vida Privada, 2, ed. cit., p. 224.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
94
NASCER __________________________________________________________________________________________
Contudo, descontando a ênfase colocada por cada investigador numa ou
noutra perspectiva da análise, o que parece separar os seus estudos não é tanto a
verificação de uma mais ou menos generalizada representatividade social das
práticas de infanticídio dos recém-nascidos, mas antes a diferente natureza das fontes
por eles utilizadas privilegiando as francesas, e parte das italianas, as cidades,
enquanto as relativas à Inglaterra e à Toscana incidem mais sobre as vilas e a
ruralidade. Nestas, assistiu-se, a partir dos finais da Idade Média, a melhorias
significativas no que diz respeito à organização dos quotidianos familiares; nas
cidades, pelo contrário, cresciam as situações relativas à presença de muitas mães
solteiras e de piores condições de habitabilidade e subsistência material. De facto, no
seu conjunto, encontra-se veiculada por todas estas investigações, a evidência de que
as famílias da Europa de Trezentos e Quatrocentos recorriam ao infanticídio para
enfrentar problemas estruturais gerados por dificuldades de diversa ordem.
Com efeito, um nascimento indesejado tanto podia originar problemas
económicos decorrentes da existência de mais uma boca a alimentar num lar sem
grandes recursos, como sociais, em parte decorrentes da vontade de esconder as nem
sempre bem aceites bastardias, crianças adulterinas ou filhos de religiosos e
religiosas, para além de várias mães solteiras ou viúvas procurarem resolver desse
modo obstáculos colocados à obtenção de novas relações familiares. Em suma, tal
como nas modernas sociedades contemporâneas, eram as más condições materiais, as
pressões sociais ou os interesses individuais que podiam conduzir ao infanticídio ou
ao abandono da progenitura, gerando as circunstâncias e as atitudes que, por vezes,
se sobrepunham aos eventuais sentimentos maternos e paternos.
De uma forma geral, de acordo com os estudos citados, teria sido durante a
difícil crise sócio-económica do século XIV, aliada às desordens provocadas pelas
guerras, fomes e epidemias, que o infanticídio dos recém-nascidos terá conhecido
uma maior intensidade, correspondendo, portanto, a conjunturas em que uma
generalizada instabilidade emocional despoletou a potencialização dos medos e
terrores que, por sua vez, contribuíram para a afirmação social dos sentimentos de
culpa, pecado, medo, vergonha, ou, simplesmente, desespero, agressividade e
desnorte. Contudo, mesmo para o século XIV, torna-se difícil distinguir entre
infanticídio voluntário ou acidental, estando, sem dúvida, este último em grande
parte associado a muitos dos homicídios de recém-nascidos referidos ou aludidos nas
fontes medievais europeias. __________________________________________________________________________________________________ 95
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
Por um lado, a circunstância de as
crianças acabadas de nascer partilharem
frequentemente o único leito familiar existente
nos lares medievais tornava-as bastante
susceptíveis de poderem vir a ser acidentalmente
mortas pelo corpo dos pais adormecidos, ou até
de perecerem sufocadas pelas roupas das camas.
Por outro lado, os livros de milagres medievais
europeus insistem nas graças concedidas a
crianças recém-nascidas que tinham sido vítimas
de acidentes domésticos, seja porque haviam sido
deixadas sozinhas em casa, seja pelo
esquecimento materno de as depositar nos berços
durante a sua ausência. Berços, aliás, muitas
vezes improvisados, tendo em conta a menção a
acidentes motivados por estes haverem sido
confundidos com recipientes de água, fria ou
quente, onde, involuntariamente, as mães
acabavam por afogar ou queimar os filhos.
Como é evidente, tratava-se de acidentes
que atingiam, sobretudo, as famílias mais
humildes e desfavorecidas, no seio das quais os
recém-nascidos eram seres demasiado frágeis
para poderem resistir às graves consequências da
pobreza. Embora regulares, esses infanticídios
acidentais não deixavam de ser lamentados e cho- Figura 20 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) A representação de uminfanticídio .
rados, tal como Le Roy Ladurie pode testemu-
nhar no seu estudo sobre o quotidiano da aldeia
pirenaica de Montaillou, ao citar o grande desgos-
to de uma mãe que, ao acordar, encontrou morto
a seu lado um filho de tenra idade que dormia na sua cama.125
______________________________________________________________________________________________
125 - Emmanuel Le Roy Ladurie, ob. cit., ed. cit., p. 275.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
96
NASCER __________________________________________________________________________________________
Em Portugal, tal como por toda a Europa medieval, as autoridades
eclesiásticas procuraram responsabilizar moral e espiritualmente os pais
involuntariamente causadores dessas mortes, a fim de lhes incutir maiores cuidados e
vigilância preventiva. Já durante o Renascimento, em 1505, um Sínodo diocesano
reunido em Braga, sintetizou muitas das anteriores disposições tomadas por clérigos
reunidos ao longo da Baixa Idade Média em várias cidades episcopais portuguesas,
condenando os pais que sufocavam ou esmagavam um ou outro dos seus filhos
quando partilhavam o leito com eles e os afogavam com o peso da roupa ou
deytando os membros sobre el dormindo.126
Por seu lado, a versão portuguesa do Penitencial de Martim Pérez também
abordou o assunto, distinguindo, porém, as condenações reservadas aos infanticidas
de crianças que tinham, ou não, sido baptizadas, das aconselhadas aos progenitores
unidos, ou não, por laços matrimoniais. No referente à primeira distinção, se aos
responsáveis pela morte de um recém-nascido baptizado era recomendada a
penitência de quarenta dias en pam e agua e a hervilhas e apartados do leyto,
despoys tres annos por suas ferias ordenadas pague e, en no quarto anno, tres
quareesmas, aos dos que ainda não haviam recebido um tal sacramento
juntavam-se, aos mesmos quarenta dias, çinquo annos, devendo tais matadores nom
querentes e neglegentes cumprir dois anos de penitência, o huum en pan e augua e
que se guarde do ajuntamento carnal em estes tres annos.
Para a segunda distinção, por sua vez, a penitência enunciada era mais pesada
para os pais infanticidas que se encontravam unidos pelo sacramento do matrimónio
do que para os que não haviam assumido perante Deus e a Igreja a sua união, visto
aos primeiros, dadas as suas maiores responsabilidades religiosas, se atribuir a pena
de sete anos de penitência, enquanto para os segundos apenas era proposta a de
três. Por fim, se um recém-nascido aparecesse morto e houvesse dúvidas sobre a
causa do seu falecimento, o Penitencial registava a penitência de quarenta dias.127
__________________________________________________________________________________________________ 97
126 Synodicon Hispanum, I, ed. cit., p. 159. 127 O Penitencial de Martim Pérez, ed. cit., pp. 42-50. Os tratados de confissão não especificando a situação matrimonial dos progenitores, referiam unicamente como penitência para os que matassem os seus filhos e fossem bautizados, tres anos peedeça e huu a pam e augua. – Tratado de Confissom, ed. cit., p. 195.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
Figura 21 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII). Várias formas de infanticídio.
Em grande parte acidentais, os infanticídios registados nas actas dos
concílios diocesanos lusos e na versão portuguesa do Penitencial de Martim Pérez
diferem do que se encontra poeticamente noticiado nas Cantigas de Santa Maria de
Afonso X de Castela e Leão. Neste caso, trata-se de um infanticídio voluntário
atribuído a uma mulher de Elvas, mui pobre, que um dia seend’enserrada em so
casa, foi cuidando como matass’o menino que há pouco lhe nascera, porque não
queria por ele perder a sua fremosura e o seu tempo. De acordo com o poema, a
malfadada teria começado por hesitar na forma de morte a dar à criança, pensando
primeiro em enforcá-la numa viga do tecto da casa ou em esmagá-lo com uma pedra.
Por fim, ter-se-ia decidido a deitá-lo eno seu regaço e fillore hua agulha longa
com’espiga que na testa lhe foi põe, dizendo "Oge festa será pera mi ta morte." Não
fosse então ter aparecido Nossa Senhora para defender a criança e condenar a
loucura da mãe, que logo teria aqui acabado a história. Segundo o poema, não foi
______________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
98
NASCER __________________________________________________________________________________________
esse o caso, já que a Virgem convenceu a fremosa a correr à igreja de Elvas com o
filho nos braços para obter, depois de se confessar, a milagrosa cura da criança, para
grande admiração de todos os vizinhos que depois souberam do feito.128
Na centúria de Quatrocentos encontramos um novo testemunho de
infanticídio voluntário, desta vez documental. Trata-se de uma das cartas de perdão
régio estudadas por Luís Miguel Duarte, ou seja, a súplica de uma mãe que pede ao
soberano o perdão para o seu marido que endoudecera e saira fora de todo seu
entendimento, porque, sendo um
homem de vertude que queria bautizar seu filho tomara o menino nos
braços e começara de fugir com elle pera hua ribeira honde de fecto o
lançara em huum pego que quamdo chegarom os que em pos elle hiam o
menino era ja afogado.
Sem o marido, diz-se no documento, era difícil zelar pelo bem-estar e
fazenda da família, sendo ainda muito novos os outros filhos do casal. Para responder
favoravelmente a este pedido de perdão, os funcionários da corte de Afonso V
elaboraram um complexo processo preparatório, tendo sido requerida a presença de
um ouvidor para interrogar diversas testemunhas e, considerados complexos
problemas jurídico-processuais, comprovar o perdão das diferentes partes. Como
reconhece Luís Miguel Duarte, o infanticídio era considerado um dos mais graves
homicídios que podiam ser praticados no reino, sendo bastante difícil vir a ser
perdoados pelo rei, ou até mesmo objecto de um pedido, já que, significativamente,
não se conhecem outras cartas de perdão relativas a infanticídio, concedidas pelo
monarca.129
__________________________________________________________________________________________________ 99
128 Alfonso X, o Sábio, Cantigas de Santa Maria, Edicion de Walter Mettmann, Clássicos Castália, Madrid, 1986-1988, cantiga 399. 129 Ob. cit., pp. 316-317. Também nos registos penais ingleses do século XIV, entre 2933 crimes cometidos por mulheres, só existe um caso de infanticídio. Igualmente em França, nas cartas de perdão deste período, só se registam três casos: Claude Gauvard, De grace especial: Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, pp. 651-662 e 822-826. Embora não tenhamos dados estatísticos para a Flandres medieval sabemos que, também aqui, a sociedade reagia fortemente contra o infanticídio. Após a descoberta do corpo do recém-nascido um inquérito era imediatamente instaurado. As portas da cidade eram fechadas para evitar que a culpada fugisse e a delação era encorajada. A criminosa era condenada à fogueira ou ao enterramento viva: M. Greilsammer, L'Envers du tableau. Mariage et maternité en Flandre médiévale, ed. cit., pp. 304-305.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________
De facto, fora do contexto de um milagre ou da excepcionalidade jurídica de
um processo de perdão régio, torna-se difícil encontrar testemunhos da prática de
infanticídios voluntários, já que, para as instâncias jurídicas e morais que ordenavam
a sociedade medieval portuguesa também resultava complicado conseguir apurar
actos e culpas relativos à esfera privada dos quotidianos familiares, só raramente se
conseguindo as informações necessárias à isenta determinação da verdadeira
natureza da morte de um recém-nascido, visto ser então muito difusa a fronteira
existente entre o acidente e o homicídio, até porque esta última forma de eliminação
voluntária de filhos acabados de nascer podia ser facilmente, conforme abordaremos,
conseguida e substituída através do seu simples abandono.
Neste contexto, não será talvez surpreendente o aproveitamento político de
rumores de infanticídio feito por Fernão Lopes, a propósito dos filhos tidos por
Leonor Teles, que as gentes sospeitavom que nom eram d’el-rrei. Com efeito, ao
registar como um deles morreo logo, e o outro, apesar de o rei Fernando lhe ter
demonstrado à partida mui gram prazer, ter falecido quatro dias depois, sob a
suspeita de que o monarca, ao sabê-lo ilegítimo, ho afogara no collo de sua ama, não
fez mais do que associar a memória da realeza, contra a qual se rebelara o mestre de
Avis, a atitudes e pecados moralmente condenáveis e desprestigiantes. 130
______________________________________________________________________________________________
130 Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando, ed. G. Macchi, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1975, respectivamente, pp. 523-524 e 591.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
100
3 CRESCER Childhood shows the man
As morning shows the day.
John Milton1
Nascer era apenas ultrapassar um primeiro obstáculo; o
espectro da morte continuava a rondar o pequeno ser acabado de
sair do aconchego do ventre materno, recém entrado na vida e
num mundo pleno de adversidades. O primeiro grito era
considerado o primeiro sinal de vitalidade, a primeira vitória de
um processo normalmente moroso, complicado e sofrido.
Completamente indefeso, ficava, agora, à mercê dos cuidados e
atenções que lhe pudessem dispensar. Porque, em regra, era o
mesmo grupo de mulheres que assistira ao parto que se ocuparia
da assistência ao novo ser, um pós-parto mais complicado ou
uma mãe que necessitava de mais cuidados podiam deixar
esquecido o recém-nascido.
1 - A FRAGILIDADE
Temendo-se que, durante os primeiros tempos de vida, a fragilidade da criança
não resistisse às alterações que o seu organismo inevitavelmente iria sofrer,2 os tratados
médicos recomendavam que ela deveria ser bem tratada, protegida e fortificada. Nos
livros médicos hispano-árabes aconselhava-se, logo à partida, o resguardo do frio,
explicando-se como o recém-nascido deveria ser suavemente recebido nas mãos da
parteira e imediatamente colocado sobre um pano seco e levemente aquecido.3
1 John Milton, "Paradise Regained" in L. Schener & S. Black, Developmental Juvenile Osteology, Londres, Academic Press, 2000, p. 12. 2 Esta fragilidade era frequentemente comparada à da velhice, já que a falta de dentes e de memória dos idosos a aproximariam das crianças da primeira infância, assim como a dependência em que frequentemente caía a terceira idade: Didier Lett, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe. – XIIIe. siècle), Paris, Aubier, 1997, pp. 58-59. 3 El libro de la generation del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Árib Ibn Sa’id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ed. Antonio Arjona Castro, Cordova, 1983, pp. 102-104.
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
Prescrevia-se, depois, a prática de movimentos destinados a testar na criança o
funcionamento das articulações e a ossatura das clavículas. Para esse efeito, observava-
-se como a parteira lhe deveria dobrar e estender os membros, juntar os braços aos
joelhos e o tornozelo ao tornozelo. Pressionar a bexiga, verificar os reflexos do andar,
limpar as narinas e a boca com um pouco de mel para desencadear o apetite e o
consequente reflexo da mamada, devendo aproveitar-se o primeiro choro para observar
a abóbada palatina, eram os procedimentos a desenvolver posteriormente. Seguia-se
uma massagem no corpo, mais vigorosa nos rapazes do que nas raparigas, sendo, então,
o bebé lavado em água salgada uma hora antes do banho e devidamente perfumada
com plantas aromáticas. 4
Após a lavagem, que deveria poupar o nariz e a boca, referia-se a necessidade
de colocar um curativo sobre a ferida do umbigo, proceder ao corte das unhas e aplicar
gotas nos olhos. Tudo isto deveria ser executado de uma forma muito suave com grande
cuidado e doçura. A criança estava então preparada para que os seus membros fossem
envolvidos em
panos de tecido
leve, normalmente
uma faixa de li-
nho. Esta medida
era considerada de-
terminante para
precaver o recém-
-nascido de uma sem-
Figura 22 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII). O enfaixamento do Menino Jesus na iconografia da Natividade.
pre temida deformação involuntária do corpo, assim se explicando, quer o seu
enfaixamento, quer o uso de roupas apertadas e espessas durante os primeiros tempos de
vida das crianças. 5
______________________________________________________________________________________ 102
Na sequência das posições tomadas por Philippe Ariès, vários investigadores
têm considerado o enfaixamento infantil como uma confirmação da suposta indiferença
afectiva dos pais medievais pelos seus filhos. Nessa perspectiva, a tendência para
envolver as crianças pequenas ora em faixas apertadas, ora num vestuário rígido e
4 El libro de la generation del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos, ed. cit., p. 104. 5 Danièle Alexandre-Bidon, “Du drapeau à la cotte: vêtir l’enfant au Moyen Âge (XIIIe.et. XIVe. siècle)" in M. Pastoreau (dir.), Le Vêtement, histoire, archéologie et symbolique au Moyen Âge, Paris, Léopard d’Or, 1989, p. 126.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
pesado, testemunharia o facto de não serem consideradas merecedoras da atenção e dos
cuidados necessários a um saudável desenvolvimento, sendo antes tratadas na qualidade
de fardo ou incómodo de quem os pais se queriam defender e proteger.6 O enfaixamento
contemplaria, ainda, a conveniência dos adultos que, assim, raramente teriam de atender
às necessidades dos mais pequenos.
Uma tal leitura revela-se hoje demasiado preconceituada e apriorística. Segundo
Mireille Laget, o enfaixamento, por exemplo em meio rural, estaria longe de significar
qualquer desinteresse pelas crianças. Pelo contrário, independentemente dos maiores ou
menores malefícios que essa prática possa ter provocado no respectivo crescimento,
visava proporcionar o conforto e a segurança que impediria as crianças de poderem vir a
ser feridas ou mordidas pelos animais que partilhavam com os humanos as rudes
moradas camponesas. Pretendia-se, ainda,
ajudar os recém-nascidos a abandonar
rapidamente a posição fetal, a fim de
evitar o temido risco de poderem vir a
rastejar ou a movimentarem-se como
animais. 7 Figura 23 – Túmulo de D. Pedro I (Século XIV). O enfaixamento dos infantes na esculturafunerária Conforme salienta Danièle Alexan-
dre-Bidon, esta última razão para o enfaixa-
mento infantil era também comungada pelas famílias nobres medievais, já que os
perigos de uma deficiente aprendizagem da postura erecta por parte das suas crianças
significaria a perda simbólica da verticalidade que deveria orientar o crescimento dos
fidalgos e fidalgas. Acreditava-se que esta verticalidade física reflectir-se-ia na atitude
moral do futuro adulto, nos seus princípios de vida e na sua personalidade. De resto, as
preocupações com a prevenção de um correcto desenvolvimento da coluna e dos
membros das crianças nobres, chegaram a motivar a utilização de tecidos especialmente
ásperos e hirtos, com o fim de melhor evitar as malformações resultantes de excessivos
esperneares e bracejares, ou até o surgimento de hérnias provocadas pelos choros
_________________________________________________________________________________________________ 103
6 D. Hunt, Parents and Children in History: The Psychology of Family Life in Early Modern France, Nova Iorque, Harper Torchbooks, 1972; Lloyd DeMause, “The Evolution of Childhood” in Lloyd DeMause, (ed.), The History of Childhood. The Untold Story of Child Abuse, Nova Iorque, Harper Torchbooks, 1988. 7 Mireille Laget, Naissances. L’accouchement avant l’age de la clinique, Paris, 1982, p. 191.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
convulsivos, reservando-se o linho, fino e macio, para a confecção de uma roupa
interior especialmente destinada à protecção da pele dos bebés.8
Também o crânio e o rosto deveriam receber especiais cuidados. O
fortalecimento do primeiro aconselhava o seu envolvimento numa forte lã cardada a que
também se atribuía a função de protecção contra as doenças dos ouvidos. Para a face,
por sua vez, tanto se recomendava a utilização de um pano macio a colocar sobre os
olhos para os proteger da luz e das impurezas que geravam infecções, como, tendo em
conta a prevenção de malformações do nariz, se desaconselhava o serviço de amas de
leite com grandes seios, por se temer o perigo de poderem vir a contribuir para o
achatamento ou esmagamento das narinas das crianças.9
Por fim, a consciência da fragilidade dos recém-nascidos ainda motivava
diversos conselhos relacionados com o lugar onde deviam passar os seus primeiros
tempos. Nesse sentido, recomendavam-se aposentos sem demasiado calor, frio ou luz,
sugerindo-se uma atmosfera perfumada, capaz de afastar os cheiros reveladores da
presença de impurezas que podiam ameaçar a saúde das crianças, 10 se bem que os
objectivos deste último preceito fossem bastante difíceis de conseguir nas vilas e
cidades, onde a higiene e o saneamento públicos estavam ainda longe de ser eficientes e
generalizados. De facto, a limpeza das ruas das vilas e cidades deixava muito a desejar,
apesar dos esforços desenvolvidos para o seu melhoramento nos finais da Idade Média.
As próprias medidas promulgadas pelas Ordenações Afonsinas são em si elucidativas.
Com efeito, ao terem como objectivo fazer alimpar a cidade, cada um ante a sua porta
da rua, não deixam de referir como era comum acumular estercos e maus cheiros,
sendo pouco frequente existir em cada freguesia uma esterqueira cujo esterco fosse
periodicamente removido para lugares convenientes, visto se mencionar a acumulação
de esterco e outro lixo junto às muralhas, denunciando-se, também, como obstruía os
canos da cidade ou vila e as servidões das águas. É ainda referido o lançamento de
bestas, cães e outras coisas sujas e fedegosas na cidade ou vila. 11
______________________________________________________________________________________ 104
8 Danièle Alexandre-Bidon, “Du drapeau à la cotte: vêtir l’enfant au Moyen Âge (XIIIe.et XIVe. siècle)", ob. cit., ed. cit. 9 Cf. recomendava Aldebrandino de Siena : Le Régime du corps, ed. L. Landouzy et R. Pépin, Paris, 1911, p. 77. 10 El libro de la generation del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos, ed. cit., p. 103. 11 Ordenações Afonsinas, ed. M. J. Almeida Costa e E. Borges Nunes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, I, t. XXVIII, p. 185.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
A constante renovação das posturas municipais que interditavam um tal
conjunto de práticas faz supor que a população não seguia o que estava oficialmente
determinado. De resto, o costume da “água vai”, ou seja, o entornar dos camareiros,
isto é, os bacios, para as ruas, se bem que proibido em 1484, por uma lei de D. João II,
também não contribuía grandemente para a higiene pública, sendo ainda muito pouco
seguida a norma legislativa para que tôdalas ruas e travessas sejam mui limpas.12
Se as casas e as ruas das vilas e cidades medievais se apresentavam,
normalmente, húmidas e mal cheirosas, os aposentos onde a criança nascia, ou era
depois colocada, não ofereceriam melhores condições. Pouco ventiladas, comportariam
uma atmosfera não só contaminada pelos cheiros exteriores à casa, como também
saturada, sobretudo tratando-se do local onde ocorrera o parto, quer pelos fortes cheiros
das ervas, pós, unguentos, beberragens e emplastros antes utilizados na condição de
mezinhas, quer pelos odores provenientes do suor dos corpos e das respirações
ofegantes, ou seja, uma mistura muito pouco favorável para o frágil ser que acabara de
vir ao mundo.
2 - A HIGIENE
Tal não significa, porém, qualquer tipo de indiferença face à higiene pessoal do
recém-nascido. Com efeito, nos tratados de medicina hispano-árabes encontram-se
diversos conselhos sobre os banhos a dar aos bebés, primeiro com água quente, e,
depois, ao fim de alguns dias com fria, recomendando-se a utilização da água tépida
numa fase de transição para fazer subir o calor dos corpos das crianças e assim os
acostumar ao contacto com temperaturas inferiores.
Os mesmos textos contemplam também indicações sobre os preceitos a
cumprir durante o banho. Por um lado, explicam como a parteira devia acolher o bebé
no seu braço esquerdo e lavá-lo com a mão direita, sempre atenta a que não entrasse
água para os ouvidos da criança. Por outro lado, preconizam que a lavagem de todo o
corpo do bebé deveria compreender, numa fase final, a utilização do dedo da parteira
molhado em óleo aromático, para a limpeza da baba e do interior da boca, sobretudo a
língua e as gengivas. Por fim, também se aconselhava apenas retirar a criança do banho
_________________________________________________________________________________________________ 105
12 Cf. A.H. de Oliveira Marques, A Sociedade Medieval Portuguesa, Lisboa, Sá da Costa, 1974, p. 92. Consulte-se também Iria Gonçalves, "Posturas municipais e vida urbana na Baixa Idade Média: o exemplo de Lisboa" in Um olhar sobre a cidade medieval, Cascais, Patrimonia Histórica, 1996, pp. 77- -96.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
quando o seu corpo estivesse vermelho e quente, para depois, ao colo da parteira, ser
seca com um pano muito macio, sem esquecer os ouvidos e o nariz. Então, devidamente
refortificado, deveria depois o bebé ser massajado com óleo e deixado a repousar até se
ouvir o choro da lactância, considerado essencial para aumentar a precisão do ouvido, e
auxiliar a expulsão de secreções internas prejudiciais.13
Inspirados na medicina clássica de Hipócrates e Galeno, todos estes cuidados e
preceitos sobre a higiene infantil foram amplamente acolhidos pelos físicos cristãos dos
finais da Idade Média, chegando a recomendar-se o banho diário para as crianças com
menos de seis meses de vida, com água mais quente para as raparigas do que para os
rapazes.14 Nesse sentido torna-se necessário questionar o tão apriorístico estereótipo da
falta de higiene infantil durante toda a Idade Média.
______________________________________________________________________________________ 106
13 El libro de la generation del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos, ed. cit., pp. 111-112. 14 Ronald C. Finucane, The Rescue of the Innocents. Endangered Children in Medieval Miracles, Nova Iorque, St. Martin’s Press, 2000, p. 144.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
3 - A NUTRIÇÃO
No século XV, os tratados
cristãos de saúde infantil dão grande
relevo aos cuidados a ter com a
alimentação dos recém-nascidos. Por um
lado, recomendam que ela devia ter lugar
em aposentos protegidos das agressões do
mundo exterior, como a luz intensa, as
temperaturas extremas ou até os ventos
fortes.15 Por outro, repetindo preceitos
herdados da Antiguidade através da
medicina árabe, aconselham que ela devia
ser precedida pelo sugar infantil de um
dedo materno previamente embebido em
mel sem espuma, para limpar o estômago
dos bebés e abrir os seus canais de
absorção. Por fim, defendem que a mãe
deveria amamentar a criança nos seus pri-
meiros quatro dias, só depois podendo, se
necessário, ser substituída, por uma ama.16 Figura 24 – Virgem com o Menino (Século XIV).
A imagem de Maria onde o Menino procura tocar noseio da mãe é uma variante pudorosa darepresentação da Virgem do Leite.
De uma forma geral, a criança
medieval era amamentada até aos dois,
três ou quatro anos.17 Em Portugal, as
investigações paleoantropológicas e pa-
leobiológicas efectuadas em espólios provenientes de diversas necrópoles medievais,
testemunham um período de amamentação muito prolongado, já que os dados relativos
_________________________________________________________________________________________________ 107
15 E. Roy, «Un regime de santé du XV siècle pour les petits enfants et l’hygiène de Gargantua » in Mélanges offerts à E. Picot, Paris, 1913, t. 1, p. 153. 16 El libro de la generation del feto..., ed. cit., p. 103. 17 Perceval, por exemplo, ainda não tinha sido desmamado aos dois anos de idade: Micheline de Combarieu du Gres, “Les “apprentissages” de Perceval dans le Conte du Grall et de Lancelot dans le Lancelot en Prose” in Éducation, Apprentissages, Initiation au Moyen Age, Actes du Premier Colloque International de Montpellier, Université Paul Valéry, 1991, p. 131.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
às hipoplasias lineares do esmalte dentário18 dos
esqueletos analisados e a frequente debilitação física
das mulheres pelo desenvolvimento de patologias como
a osteoporose, apontam para que o desmame ocorresse
por volta dos quatro anos.19 Sendo assim, tratar-se-ia de
uma idade próxima à que Le Roy Ladurie encontrou
entre as crianças da aldeia transpirenaica de Montaillou,
durante o século XIV, tendo em conta a informação de
que traziam consigo uma pequena cadeira ou um banco a
que subiam para mamar nos seios da progenitora.20
À partida, o desmame tardio trazia vantagens
ao desenvolvimento infantil, visto o leite da mãe ou das
amas proteger melhor o bebé contra as doenças do que
qualquer outra forma de alimentação. Em meio rural,
a amamentação era sobretudo assegurada pelas
progenitoras, enquanto as famílias das elites fidalgas
ou citadinas se socorriam, maioritariamente, das amas de
leite, de acordo com um costume que tende a ser
contestado pelos médicos e pedagogos dos finais da
Idade Média.21 Figura 25 – Nossa Senhorae o Menino (Século XIV). A Virgem em pé segura oMenino no braço esquerdo.A face recebeu carnação eostenta uma expressãojovem. O Menino aponta,com a mão direita, umaportinhola que se rasga nopeito da Mãe.
Com efeito, segundo eles, seria pelo leite
materno que se transmitiam os carismas e as virtudes
da mãe e da respectiva linhagem, conforme a teoria que
o fazia resultar da pretensa transformação do sangue que
alimentara a criança durante a gestação. Sendo assim, era
______________________________________________________________________________________ 108
18 Redução da espessura do esmalte, na sequência de distúrbios que ocorreram durante o desenvolvimento dentário. Não tendo o esmalte capacidade de se remodelar, todos os episódios desfavoráveis ocorridos durante a sua formação (entre os seis meses uterinos e os doze anos de idade), ficam registados nos dentes: Cf. Eugénia Cunha, Cláudia Umbelino e Teresa Tavares, “A necrópole de S. Pedro de Marialva – Dados antropológicos” in Património Estudos, Instituto Português do Património Arqueológico, Lisboa, 2001, nº 1, p. 143 e Eugénia Cunha, "Paleobiologia, História e Quotidiano: critérios da transdisciplinaridade possível" in Amélia Aguiar Andrade e José Custódio Vieira da Silva (coord.), Estudos Medievais, Lisboa, Horizonte, 2004, p. 130. 19 Eugénia Cunha, “Populações medievais portuguesas (séculos XI-XV). A Perspectiva Paleobiológica” Arqueologia Medieval, 5, Mértola, ed. Afrontamento, 1997, p. 78. 20 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou Cátaros e Católicos numa aldeia occitana 1294-1324, Lisboa, Edições 70, 2000, p. 271. 21 Emmanuel Le Roy Ladurie, ob. cit., ed. cit., p. 270.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
lógico ser a mulher cuja gravidez
gerara o filho quem o deveria
continuar a alimentar através da
mesma substância.22
Uma tal convicção
encontra-se, aliás, consagrada em
diversas ficções literárias medievais,
justificando muitas vezes a
premonitória desventura de vários
cavaleiros fidalgos. Na refundição de
1380-1383 do Livro de Linhagens do
conde Pedro de Barcelos, esta
convicção aplica-se a Acaçat, um
gigantesco cavaleiro mouro que teria
sido desonrosamente vencido e
decapitado por um nobre cristão
galego, durante o cerco da conquista
Figura 26 – Virgem do Leite (Século XV). Maria, coroada, a amamentar o Menino. Para além da exaltação do prestígio do divino leite, sobressai arepresentação da dimensão humana dos gestos de ternuraesboçados. Nossa Senhora toca carinhosamente o pédescalço do Filho que a olha de forma enternecedora.
de Sevilha, já que para além de se re-
cordar como ele fora fruto de um in-
cesto praticado pelo rei da Tunísia
numa sua filha, também dele se lem-
bra a ignomínia de haver sido abando-
nado em criança pelos pais e apenas
ter subsistido a leite de camelas.23
Por outro lado, quer a fre-
quência com que, a partir do século XIII, se representava nas iluminuras o tema
iconográfico do seio de Abraão, pelo qual se evocava a genealogia materna de Cristo,24
_________________________________________________________________________________________________ 109
22 Danièle Alexandre-Bidon e Didier Lett, Les enfants au Moyen Âge (Ve. – XVe. siècles), Paris, Hachette Littératures, 1997, pp. 123 e 263. 23 Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, ed. José Mattoso, Lisboa, Academia das Ciências, 1981, 2169. 24 Jeróme Baschet, Le sein du père. Abraham et la paternité dans l'Occident médiéval, Paris, Gallimard, 2000. Sobre as representações do seio de Abraão, geralmente associadas à iconografia da Árvore de Jessé, na iluminura medieval produzida ou conservada no Portugal medieval, consulte-se Maria Adelaide Miranda, "A produção universitária e a iluminura em Portugal nos séculos XIII e XIV" in Idem (dir.), A Iluminura em Portugal. Identidade e influências, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1999, pp. 249-285.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
quer a proliferação desde a centúria de Trezentos, das imagens da Virgem do Leite,25
também contribuíram para a progressiva valorização social da importância do
aleitamento materno. As múltiplas esculturas onde se passou a representar a
amamentação do Menino Jesus pela sua
mãe, acabaram por permitir a gradual
sacralização desse acto, projectando na
Nossa Senhora o modelo das
progenitoras dignificadas e exaltadas
pela alimentação da sua estirpe.
Com efeito, as imagens das
Virgens do Leite, bastante presentes nos
altares de muitos templos e oratórios
familiares da Baixa Idade Média,
desempenharam um papel relevante para
a difusão social de um novo ideal de
maternidade, mais nutritivo e pro-
tector do que meramente reprodutor.
Por um lado, porque atribuíam um lugar
central aos seios da mãe do Menino
Jesus, seja por os apresentarem de
forma proeminente, ou mesmo realis-
ticamente expostos através de aberturas
______________________________________________________________________________________ 110
figuradas nas suas vestes, seja por ne-
les fazerem convergir a representação
das acções do aleitamento, como o tactear
Figura 27 – Nossa Senhora do Leite (Século XV). O tronco nu do Filho exalta a protecção dispensadapela mãe que lhe oferece o seio a tactear e a sugar.
ou o sugar infantis. Por outro lado, porque os passaram a associar à expressão de
diversificados gestos e sinais afectivos, tais como afagos, aconchegos ou rostos felizes e
radiosos.26
25 Mário Jorge Barroca, "Escultura gótica" in Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Mário Jorge Barroca, História da Arte em Portugal. O Gótico, Lisboa, Presença, 2002, pp. 157-179. 26 Consulte-se Rui Maurício, "A escultura portuguesa (1350-1500). Cultos. A Virgem" in Sérgio Guimarães de Andrade (dir.), O Sentido das Imagens. Escultura e Arte em Portugal [1300-1500]. Catálogo da Exposição, Lisboa, Ministério da Cultura, Instituto Português dos Museus, Museu Nacional de Arte Antiga, 2000, pp. 255-258.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
Neste contexto, justifica-se o
facto de alguns enciclopedistas da Baixa
Idade Média aproximarem os étimos de
mater e mamma, mãe e seio, propondo,
por vezes, a derivação do primeiro a partir
do segundo. Ao mesmo tempo, alguns
canonistas fazem figurar a recusa do
aleitamento materno na lista dos mais
graves pecados consagrados nos
Penitenciais, já que, ao privar os filhos da
substância que melhor podia contribuir
para o seu crescimento, as mães
comportar-se-iam como verdadeiras
assassinas, equiparando-se o seu desprezo
pela dádiva sagrada de um peito cheio de
leite a uma blasfémia merecedora de
severa punição. 27
Nos livros de milagres
medievais portugueses referem-se vários
casos de mães que recorreram aos bons
ofícios dos santos para poderem amamentar Figura 28 – Nossa Senhora do Leite (Século XV). A Virgem-Mãe aconchega o Filho ao colo,possibilitando à criança afagar-lhe os seios.
os seus filhos, ou até mesmo os netos. Em
Coimbra, por exemplo, contava-se como o
túmulo da rainha Isabel de Aragão atraía
tais peregrinas. A uma delas, seccando-se-lhe
os peitos por causa de uma grave enfermidade, teria aí sido restituído o leite necessário
para poder criar um filhinho de mui tenra edade. De outra, já com cinquenta anos,
_________________________________________________________________________________________________ 111
27 Henrietta Leyser, Medieval Women. A Social History of Women in England 450-1500, Londres, Phoenix, 1995, pp. 134-137.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
lembrava-se como,
havendo vinte e dois que não creava,
recorrendo à santa rainha, lhe acudiu leite,
com que pode crear um neto, que lhe tinha
ficado sem mãe, e ella sem posses para o dar
a crear.28
______________________________________________________________________________________ 112
Talvez as duas, e certamente muitas mais, se
tivessem socorrido de uma mezinha para
conseguir leite, que era dada como bebida
pelas freiras de Santa Clara em nome da
rainha Santa D. Isabel, como pelo de uma
gallinha branca. 29
No século XV, os cuidados postos
pelos leigos para que não faltasse às crianças o
valorizado leite materno encontram-se docu-
mentados nas receitas PerA as tetas das
molheres quando paryrem que o rei Duarte
incluiu no seu Livro dos Conselhos.
Destinadas, quer a aumentar a quantidade de
leite quer a tratar doenças do peito ocorridas
durante o período da amamentação, tanto
compreendem emplastros de mynhocas fritas Figura 29 – Virgem do Leite (Século XV) A abertura representada na veste daMãe descobre o seio ao Filho. em manteigua ou de semente d'algodom
amassada com vinagre, como beberagens
obtidas pela diluição de raizes d abroteas em olio de maçela ou semente d algodom
em agoa, também ainda se aconselhando, pera quando caem os mamilos, tomar as
galhas pisadas e poe las com o dedo nos mamylos.30
28 Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, Lisboa, 1869-1870, vol. 7, p. 57. 29 Id., ibidem, p. 58. 30 Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte, ed. J.J. Alves Dias e A.H. de Oliveira Marques, Lisboa, Estampa, 1982, respectivamente, pp. 257 e 264.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
Apesar da crescente valoriza-
ção letrada do aleitamento materno e
da sua efectiva presença entre a maior
parte das famílias camponesas
medievais, só muito lentamente foi
adoptado pelas elites aristocráticas
nobres ou urbanas. De facto, entre
estas continuava a dominar o recurso a
aias ou amas especializadas na
amamentação das crianças, sendo a sua
escolha efectuada segundo critérios
cada vez mais exigentes. A utilização
das amas de leite pela nobreza, tem
sido, por vezes, apontada como
consequência da suposta indiferença
medieval face à criança. Hunt chega
mesmo a mencionar, nesse sentido, a
hipotética relutância com que algumas
mães fidalgas se disporiam a
amamentar os filhos, visto os
considerarem pequenos seres ávidos
por sugar o fluido vital dos seus corpos, já de si muito enfraquecidos pelo parto,31
esquecendo-se, assim, de referir a já anteriormente desenvolvida situação de elevada
mortalidade feminina provocada pelos partos e suas directas maleitas.32 De facto,
frequentemente, o recurso às amas de leite revelou-se imprescindível para assegurar a
sobrevivência dos filhos da nobreza.
Figura 30 – Nossa Senhora do Leite (Século XV). A mãe majestática entrega o seio ao Filho para oamamentar.
_________________________________________________________________________________________________ 113
31 D. Hunt, ob. cit., ed. cit. 32 Vidé capítulo NASCER, em especial as pp. 67-83.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
Entre a fidalguia rural
minhota dos séculos XII e XIII,
era costume confiar o
aleitamento e a criação dos seus
filhos às mulheres das famílias
locais de camponeses livres, as
quais, ao amamentá-los em
conjunto com os seus próprios
bebés, no quadro de uma
irmandade de leite, passavam,
por via desse serviço, a isentar o
seu lar ao pagamento de tributos
régios. No Entre Cávado e Minho
de meados de Duzentos, era essa
a forma mais comum de
sonegação dos bens e direitos a
cobrar pela Coroa, corresponden-
do a cerca de 48% das usurpa-
ções aos interesses da realeza de-
tectadas pelos inquiridores de
1258, bem acima das obtidas por
via de compra e escambo (15,3%),
Figura 31 – Virgem com o Menino (Século XV). A imagem de Maria, premindo o seu peito num gesto deresposta ao anseio do Menino integra-se no tema daiconografia mariana da Virgem do Leite. Sobre o braçodireito da Mãe, segurando distraidamente a fímbria do seumanto, o Filho tacteia-lhe o peito com a sua mão esquerda.
incomuniação (9,6%), doações e
legados (4,4%) ou simples apro-
priação senhorial por recurso à
força (10,9%).33
Ora, ao confiar a sua estirpe aos cuidados das mães camponesas, a nobreza rural
minhota não fazia mais do que imitar uma prática já antes desenvolvida pelos próprios
reis portugueses, cujas proles, como já sucedera nos tempos dos condes portucalenses,
tinham sido aleitadas e criadas pelas famílias da fidalguia de Entre Douro e Minho, com
o intuito de lhes testemunhar uma superior confiança e protecção feudais. Permitia-lhes
ainda a vantajosa prerrogativa de poderem vir a relacionar e a aparentar, pela partilha
______________________________________________________________________________________ 114
33 Iria Gonçalves (dir.), "O Entre Cávado e Minho, cenário de expansão senhorial no século XIII" in Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2, 1978, pp. 399-440.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
do leite e por uma amizade comum de infância, os seus filhos aos futuros herdeiros dos
máximos poderes existentes na região.34 De facto, se bem que a prática do amádigo, tal
como era designada a isenção de tributação régia através da criação de crianças
fidalgas, fosse considerada, em meados de Duzentos, defraudadora dos interesses
centralizadores da Coroa portuguesa, dado contribuir para a anulação dos impostos a
solver por várias famílias de camponeses livres, ela permitia aos fidalgos minhotos fazê-
-los entrar na sua directa dependência feudal e senhorial e, assim, contribuir para a
elevação do respectivo estatuto social. Assim, em vez de se apresentarem sujeitos à
protecção de uma longínqua e por vezes contestada realeza, passavam a integrar o
círculo dos mais próximos e influentes senhores regionais, podendo contar com a
respectiva solidariedade e hipotético amparo. De resto, quando o rei Dinis começou a
contestar a legitimidade das honras fidalgas constituídas através da prática do amádigo,
pronunciou-se mais contra os abusos a que ela então dava lugar - como era o caso da
sua utilização por parte da pequena e numerosa nobreza dos cavaleiros para justificar a
apropriação senhorial dos bens de várias famílias de camponeses livres a quem
afirmavam haver confiado, durante breves períodos de tempo, o aleitamento e a criação
dos mesmos filhos - do que contra a sua total e universal utilização.
Durante a Baixa Idade Média, tornou-se mais comum confiar o aleitamento das
crianças nobres a aias ou amas residentes nos paços e cortes fidalgas, sendo escolhidas
de acordo com critérios semelhantes aos praticados entre as famílias das elites citadinas
que também necessitavam desses serviços. Em primeiro lugar, deviam cumprir
determinados requisitos físicos. Na opinião dos médicos e dos pedagogos, convinha
serem parecidas com a mãe biológica, suficientemente saudáveis e ter uma idade
situada entre os vinte e cinco e os trinta e cinco anos, próxima, portanto, da “idade
perfeita”. Atentas ao respeito das normas de higiene pessoal, as amas deveriam, ainda,
ser dotadas de seios nem gordos nem magros, nem duros nem moles, havendo
vantagem em terem já tido um ou mais filhos, visto tal situação ser considerada
propiciadora de um leite de boa qualidade, ou seja, branco, aromático, saboroso, nem
muito fluido, nem muito espesso ou gorduroso, conforme se poderia observar vertendo
_________________________________________________________________________________________________ 115
34 A. de Almeida Fernandes, "Proles régias criadas em meio rural nos séculos XII e XIII" in Esparsos de História, Porto, 1970, pp. 161-183.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
uma gota sobre a unha e examinando os respectivos aspecto e consistência.35 Como já
referimos, desaconselhava-se, também, o serviço de amas de leite com seios grandes
tendo em conta a prevenção de mal formações no rosto do bebé.36
Para além disso, a escolha da ama também aconselhava a avaliação de certas
qualidades comportamentais, não devendo, por exemplo, ser colérica, triste, medrosa ou
imbecil; não devia, ainda, ser excessivamente tagarela para que a criança a amamentar
não adquirisse tal hábito. Convinha, no entanto, saber cantar melodias capazes de
embalar e confortar os bebés, assim como conhecer o modo de lhes corrigir uma
eventual gaguez, bem como as técnicas recomendadas para lhes atenuar possíveis
deformações faciais, quer da boca ou do nariz, quer os muito frequentes estrabismos.37
Depois, já no exercício das suas funções, deveriam ser vigiadas para haver a
certeza de não prejudicarem as crianças a elas confiadas. Nesse sentido, era aconselhado
verificar se não comiam alimentos salgados, picantes ou ácidos, bem como pão de trigo,
arroz, carnes velhas e especiarias e se não bebiam vinho puro para não prejudicar o
cérebro da criança. Recomendava-se, pelo contrário, avaliar se consumiam suficiente
farinha de favas, arroz, pão de sêmola, peixe fresco, muito leite cru ou fervido, vinho
misturado com água e mel e, na quantidade certa, água que permitia não fluidificar ou
espessar demasiadamente o seu leite.
Por fim, ainda se lhes impunha evitarem as deslocações exteriores, para que o
cansaço não diminuísse a qualidade do alimento a fornecer e, sobretudo, a interdição
de relações sexuais, já que qualquer gravidez desviaria para o feto em gestação o sangue
destinado a fortalecer o leite da amamentação.38
______________________________________________________________________________________ 116
35 Também se atribuía a Hipócrates a comprovação da qualidade do leite através da sua observação depois de ter sido recolhido e guardado durante a noite num vaso de corno ou nácar; não seria bom se na manhã seguinte estivesse fluido ou sólido. Seria de óptima qualidade se aparentasse um estado intermédio.- Cf. El libro de la generatión del feto..., ed. cit., p . 115. 36 Vidé p. 104. 37 Cf. Charles de la Ronciére, « A vida privada dos notáveis toscanos no limiar do Renascimento » in Philippe Ariès e Georges Duby (dir.), História da Vida Privada, 2, Lisboa, Ed. Afrontamento, 1990, p. 281. 38 Danièle Alexandre-Bidon e Didier Lett, Les enfants au Moyen Âge, ed. cit., p. 124. Sobre a generalidade dos cuidados a ter com a escolha da ama, veja-se El libro de la generatión del feto..., ed. cit., pp. 114-116.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
Figura 32 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII). A visão celestial do aleitamento de Cristo.
Tentando fazer o desmame progressivo o bebé era, desde os primeiros dias,
alimentado também com papas de farinha e alimentos semi-líquidos esmagados.
Aldebrandino de Siena propunha que ele se iniciasse pela ingestão de pão previamente
mastigado pela ama e fosse depois gradualmente substituído por uma papa de migalhas
de pão, mel, leite e um pouco de vinho.39 A ingestão desta última bebida estava
relacionada com o pressuposto de que os resíduos vinícolas depositados após a
evaporação do álcool eram ideais para combater as diarreias infantis.40
No Al-Andaluz, por seu lado, aconselhava-se como um primeiro passo, fazer a
criança chuchar e mastigar bolas de farinha de sêmola com leite e açúcar, ao que se
39 Aldebrandino de Siena, Le Régime du corps, ed. cit., p. 78.
_________________________________________________________________________________________________ 117
40 Pierre Riché e Danièle Alexandre-Bidon, L'enfance au Moyen Âge, Paris, Ed. du Seuil, 1994, p. 76.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
devia seguir a ingestão de bocadinhos de peito de frango pequeno para que ela se
treinasse a deglutir; acrescentava-se, ainda, que tal regime alimentar devia começar por
volta dos dois anos de idade, e não ser iniciado nos meses quentes, particularmente no
Verão, a fim de evitar problemas gastrointestinais.41
De facto, a fase do desmame, durante a qual a criança abandonava a
amamentação, coincidia com um período de acentuada morbilidade, já que as alterações
alimentares que então ocorriam provocavam frequentes febres, infecções dentárias e
doenças gastrointestinais, em grande parte devido ao facto de a dentição, muito pouco
consolidada, tornar difícil a mastigação dos alimentos sólidos e a sua posterior absorção
por parte de um sistema digestivo ainda mal estruturado. As já mencionadas hipoplasias
lineares do esmalte dentário, presentes nos esqueletos de crianças exumados em várias
necrópoles medievais portuguesas,42 indiciam, no seu conjunto, as funestas
consequências de uma precipitada iniciação infantil aos hábitos alimentares comuns aos
restantes membros da família, ou seja, a uma dieta abrasiva onde predominavam os
cereais mal cozidos. 43
Entretanto, ao longo dos primeiros meses, o bebé crescia em tamanho e em
inteligência, reforçando o olhar nas coisas brilhantes e luminosas e a audição através da
distinção e imitação dos sons. Segundo Hipócrates, esse desenvolvimento, sendo
comum às crianças dos dois sexos, era mais lento entre os rapazes. Contudo, se as
raparigas os precediam no atingir da juventude e da puberdade, também mais depressa
chegavam à velhice e à decrepitude. Neste sentido, os meninos, a quem se atribuía uma
mais rápida evolução intra-uterina, eram comparados às plantas fortes, cujo lento
crescimento contrastava com a rapidez característica das mais fracas e débeis.44
______________________________________________________________________________________ 118
41 El libro de la generatión del feto..., ob. cit., p. 150. Para uma síntese do tipo de alimentação utilizado durante os primeiros anos de vida, consulte-se, Danièle Alexandre-Bidon e Monique Closson, L’enfant à l' ombre des cathédrales, Paris, Cahiers du Léopard d’Or, 1985, pp. 131-144. 42 Vidé nota 18. 43 Sobre as marcas deste tipo de alimentação na dentição infantil, veja-se, por exemplo para Serpa, Maria Teresa Ferreira, As crianças moçárabes de Serpa: análise paleobiológica de uma amostra de esqueletos exumados da necrópole do loteamento da zona poente de Serpa, Coimbra, Departamento de Antropologia, 2000 (Relatório de Investigação), p. 49 e Sónia C. F. Codinha, Uma necrópole medieval em Serpa: contribuição para o estudo de indivíduos não adultos, Coimbra, Departamento de Antropologia, 2001 (Relatório de Investigação), pp. 43 e 48. Para S. Pedro de Marialva, Eugénia Cunha, Cláudia Umbelino, Teresa Tavares, ob. cit.,ed. cit., p. 142. 44 El libro de la generatión del feto..., ed. cit., pp.121-122.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
4 - O SONO
Tido nos dias de hoje
como essencial ao crescimento
equilibrado de qualquer criança, o
sono reparador, diurno ou noc-
turno, encontra-se quase ausente
das preocupações dos pedagogos e
educadores medievais, talvez por-
que o seu transtorno ou dificuldade
pouco se fizesse então sentir. Com
efeito, o sono das crianças apenas
surge referenciado enquanto acti-
vidade infantil a proteger ou a
corrigir pelos adultos. A protecção
relaciona-se com a prática corrente
de deitar as crianças nas camas dos
adultos, sejam as mães, as amas, os
irmãos, os pais ou outros membros
da família. De facto, apesar dos
avisos relativos à temida ocor-
rência dos já atrás referidos infan-
ticídios por abafamento ou es-
magamento,45 não só é essa a si-
tuação mais frequente representada
na iconografia das iluminuras ga-
laico-portuguesas, como também a
_________________________________________________________________________________________________ 119
que surge recomendada na gene-
ralidade da tratadística médica,
para melhor fornecer o calor
necessário à sobrevivência dos recém-nascidos e ao bem-estar que o sono devia
proporcionar a todos os bebés.
Figura 33 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII). A partilha infantil do leite materno.
45 Vidé “O infanticídio” no capítulo NASCER.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
Para as cidades da Hispânia muçulmana menciona-se, no entanto, o uso de
uma cama infantil devidamente individualizada, quando se aconselha dever o respectivo
colchão encontrar-se nivelado para não
magoar a criança, e ser suficiente-
mente mole para não lhe deformar a
coluna. Recomendava-se, ainda, que a
cabeça do bebé deveria ficar, durante o
sono, um pouco mais alta que o seu
corpo.46 Mais tarde, nos paços da
nobreza portuguesa da Baixa Idade
Média, seriam visíveis os berços
situados nas câmaras das mães e amas Figura 34 – Túmulo de D. Pedro (Século XIV). Representação de um berço na tumulária medieval.
de leite, conforme se representa no
túmulo alcobacense do rei Pedro I.
Quanto às famílias não privilegiadas, apenas se alude aos berços nas
hagiografias, neles se identificando o lugar onde as mães das vilas e cidades punham os
filhos a repousar durante as suas ausências domésticas.47 Talvez não fossem muito
diferentes dos utilizados noutras regiões medievais europeias, podendo assemelhar-se,
no caso das moradas das famílias economicamente mais desfavorecidas, a uma caixa de
madeira muito pouco aparelhada que se encontrava suspensa por cordas nas traves dos
tectos das mais modestas casas da Toscâna, as quais, ao serem balançadas como redes,
permitiam facilmente embalar e adormecer as crianças. 48
______________________________________________________________________________________ 120
Seja no leito familiar ou no berço colocado perto dele, tanto o sono como o bem-
-estar dos bebés muito dependiam da presença e actuação das mulheres da casa, fosse a
mãe, a ama, ou qualquer parente mais ou menos próxima ou até conhecida, sendo nelas
que a literatura pediátrica produzida na Cristandade da Baixa Idade Média fazia recair
os cuidados a dispensar às crianças de tenra idade, enquanto reservava para os homens,
quer os pais, quer os seus possíveis substitutos, uma mais tardia formação moral e
intelectual.49 Na versão portuguesa do Foro Real de Afonso X, continha-se mesmo
uma disposição que obrigava a molher solteyra com filho dalguu ome solteyro a criá-lo
46 El libro de la generatión del feto..., ed. cit., p. 103. 47 Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), I, ed. José Joaquim Nunes, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, p. 247 . 48 Charles de la Roncière, ob. cit., ed. cit., p. 224. 49 Id., ibidem, p. 281.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
ata .III. anos mesmo que o ome solteyro o tivesse recebido por filho, só a partir de então
se admitindo que esse padre o criasse des ali adeante do seu e nõno tenha mays a
madre, senon quiser.50
5 - O ANDAR E O FALAR
Depressa chegava o tempo
em que a criança começava a querer
movimentar-se e a explorar o espaço
pelos seus próprios meios. Passados
os três anos iniciais, começava
progressivamente a autonomizar-se.
Entrava, então, numa nova fase da sua
jovem vida, já “muito grande” para
continuar a ser tratada como vinha
sendo, mas ainda pequena para
disciplinar os seus ímpetos e instintos.
A aquisição do andar repre-
sentava uma etapa importante desta
nova fase. Nos manuais médicos,
referia-se a idade de um ano ou pouco
mais, como aconselhável para a sua
iniciação, já que, conforme explica-
vam, antes seria difícil evitar que a
fraqueza do corpo infantil
ultrapassasse os acidentes próprios dos
perigos do andar muito cedo.51 Por vezes, chegava-se a recomendar não fazer andar
muito as crianças ou deixá-las permanecer muito tempo de pé antes dos sete anos, como
medida preventiva para o bem-estar dos seus membros, cuja fragilidade podia fazer
com que se torcessem ou partissem facilmente.52
Figura 35 – Iluminura (Século XV). O andador de madeira torna-se um auxiliarrecorrente na aprendizagem da deslocaçãoinfantil.
_________________________________________________________________________________________________ 121
50 Afonso X, Foro Real, ed. José de Azevedo Ferreira, Lisboa, I.N.C.M., 1987, p. 222. 51 Danièle Alexandre-Bidon e Monique Closson, ob. cit., ed. cit., p. 191. 52 Aldebrandino de Siena, Le Régime du corps, ed. cit. p. 78.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
Num tratado médico hispano-árabe peninsular sugeria-se que a vigilância sobre
a criança que começava a pôr-se em pé e a tentar andar fosse acompanhada pelo uso de
um andador de madeira, no qual a criança se deveria apoiar para se deslocar.53 Mais
tarde, um tal utensílio surge frequentemente referido nos textos pedagógicos cristãos da
Baixa Idade Média, neles se acrescentando dever ser respeitada a regra da utilização de
uma superfície lisa e homogénea durante os primeiros ensaios do andar da criança a fim
de evitar futuros coxeares.54
De uma forma geral, eram sobretudo temidos os acidentes incapacitadores de
um correcta postura, nomeadamente os que conduzissem a uma movimentação de tipo
animalesco, como a do vulgar “gatinhar”. Tratava-se, com efeito, de prevenir o andar
cuja deficiência ou irregularidade pudesse ser interpretada como incapacidade atribuível
a castigos divinos. Por isso, quer a angústia familiar por um tardio início da locomoção
dos filhos, quer a motivada por esta ter sido acompanhada por anomalias incapacitantes,
levavam muitas vezes os pais a solicitar a ajuda dos santos. 55 De facto, nos livros de
milagres medievais portugueses registam-se várias graças de cura ou correcção do andar
infantil, como o ocorrido a um rapaz de mais ou menos doze anos que desde o ventre de
sa madre era tão aleijado das pernas que se movia arrastando-se, ou o acontecido a
uma criança que não podia caminhar sem ser sobre as mãos e os joelhos.56 É também
desse tipo a graça que o cronista Duarte Galvão diz ter sido responsável pela cura do
aleijão com que Afonso Henriques nascera, quando, ao retomar anteriores escritos
lendários, refere o milagre pelo qual Nossa Senhora de Cárquere agraciara o rei menino,
que então seria de pernas tão encolheito que, a parecer dos Mestres e de todos,
julgavam que nunca poderia ser são delas.57
De resto, os cuidados a ter para a consolidação e desenvolvimento de um
correcto andar infantil, também foram objecto da atenção dos pedagogos. Conhecedores
da prática social de muitos jogos de destreza corporal, explicaram como deveriam ser
______________________________________________________________________________________ 122
53 El libro de la generatión del feto..., ed. cit., p. 150. 54 Pierre Riché e Danièle Alexandre-Bidon, L’enfance au Moyen Age, Paris, Ed. du Seuil, 1994, p. 78. 55 Na França medieval existiam santos especializados neste tipo de curas, como era o caso de S. Guinefort: Jean-Claude Schmitt, Le Saint Lévrier. Guinefort, guérisseur d’enfants depuis le XIIIe. siècle, Paris, Flammarion, 1979. 56 Vejam-se, respectivamente, “Vida de Santa Senhorinha” in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, IV, Lisboa, 1869/1870, p. 228, com passagem paralela em "Vida e Milagres de Santa Senhorinha", ed. Torquato Peixoto de Azevedo, Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães, Guimarães, Gráfica Vimaranense, 2000, p. 470; Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente", ed. Aires Nascimento e Saul António Gomes in S. Vicente de Lisboa e seus Milagres Medievais, Lisboa, Didaskalia, 1988, p. 71. 57 Duarte Galvão, Chronica de El Rei D. Affonso Henriques, Lisboa, I.N.C.M., 1995, p. 22.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
frequentemente praticados pelas crianças, já que garantiam ser o continuado exercício
de levantar alto o corpo e os braços, a melhor forma de reforçar a musculatura das
pernas.58
Quanto à aprendizagem e desenvolvimento do falar infantil, os tratados
médicos medievais consideravam essencial os cuidados a ter com o surgimento dos
dentes, uma vez que deles faziam depender a correcta, deficiente ou incompreensível
articulação das primeiras palavras a pronunciar pelas crianças. Nesse sentido,
começavam por prescrever a massagem das gengivas com manteiga, gordura de galinha
ou, mesmo, mioleira de lebre assada, a fim de propiciar o aparecimento e
desenvolvimento de uma saudável dentição. Depois, mal a criança começasse a
balbuciar as primeiras palavras, aconselhava-se a esfregar-lhe a boca com sal gema e
mel, assim como a lavá-la com água de cevada, para fortalecer a dentição e preparar o
bom funcionamento das articulações ósseas e musculares da cavidade bucal. 59
Por fim, no que respeita à aprendizagem das palavras, sugeria-se começar pelas
mais fáceis de pronunciar, ou seja, aquelas em que não existiam os sons que exigiam
mexer muito a língua, sendo recomendados para tal efeito os vocábulos "mamã" e
"papá". De resto, os letrados não deixavam de alertar para a natureza necessariamente
desordenada e descontrolada das frases produzidas pela criança nesta sua primeira
linguagem, atribuindo-a ao facto de ela ainda não ter atingido a idade da razão. 60
Neste contexto, não surpreende a chamada de atenção para os perigos morais
trazidos pelo contacto com as crianças. Para muitos letrados eclesiásticos, a imperícia e
a forma por vezes provocatória com que se iniciavam ao andar e ao falar, eram, por
vezes, interpretadas como consequência das más influências dos demónios que as
rodeavam, levando-as a prestar juramentos falsos e a dizer asneiras. 61 Supostamente
desprovidas de razão, as crianças eram muitas vezes vistas como seres inconsequentes
que apenas sabiam proferir obscenidades e cantar durante todo o dia, conforme o
expressou, no século XIV, o bispo de Silves, Frei Álvaro Pais no seu Estado e Pranto
da Igreja. 62
_________________________________________________________________________________________________ 123
58 Pierre Riché e Danièle Alexandre-Bidon, L’enfance au Moyen Age, Paris, ed. cit., p. 78. 59 Id., ibidem, p. 81. 60 El libro de la generatión del feto..., ed. cit., p. 149. 61 Citado em Didier Lett, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe. – XIIIe. siècle), ed. cit., p. 104. 62 Álvaro Pais, Estado e Pranto da Igreja, (Status et Planctus Ecclesiae), V, ed. Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, J.N.I.C.T., 1994-95, pp. 439-441.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
6 – O JOGAR E O BRINCAR
A saída da primeira infância e a entrada na segunda,63 representava um período
complicado e difícil para a criança. Afastando-se, progressivamente, do meio fechado
em que vivera, ela tendia então a manifestar uma oposição sistemática às normas que
até aí a haviam orientado. Hoje conhecida como a idade da afirmação, essa fase do
crescimento infantil traduzia-se, sobretudo, no desejo de transgredir interditos e na
procura de uma individualidade autonomizadora. Era esse, com efeito, não só o tempo
em que os futuros santos começavam a evidenciar as suas opções espirituais, como
aquele em que a maior parte das crianças se associava em grupos para se entregar a
actividades lúdicas cada vez mais praticadas longe da sua casa. Em suma, quando os
campos e as ruas se transformavam no prolongamento das suas moradas,64 definindo
novos espaços de lazer, aventura, descoberta e também de perigo, tal como evocavam os
livros de milagres quando relatavam as graças concedidas às crianças acidentadas em
brincadeiras de rua.
Noutros casos, porém, estas mesmas fontes fornecem-nos preciosos elementos
sobre a forma como decorriam as actividades lúdicas a que as crianças se dedicavam.
Por um lado, informam-nos sobre os passatempos solitários, como aqueles a que um
menino de muito pouca idade se dedicava junto a um muro 65 ou outro que, ainda de
berço, brincava com huuas pedrinhas.66 Por outro, registam a presença dos bandos
infantis que nas aldeias, vilas e cidades se entregavam a brincadeiras em huum canall
de huum rio çarrado, 67 ou que jogavam ao salto num balneário de água quente,68
também podendo, nas povoações litorâneas, ir folgar com outros moços aa ribeira do
mar. 69
______________________________________________________________________________________ 124
63 Este período era considerado acontecer entre os três e os cinco anos: vidé capítulo DIFERENCIAR 64 Cf. Iria Gonçalves, "Posturas municipais e vida urbana na Baixa Idade Média: o exemplo de Lisboa", in Um olhar sobre a cidade medieval, ed. cit., p. 78. 65 Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas, da Antiga, e Regular Observancia nestes reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, I, Lisboa, 1745, p. 488. 66 Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), I, ed. cit., p. 247. 67 Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), I, ed. cit., pp. 272-273. 68 Frei Baltazar de S. João, A vida do bem aventurado Gil de Santarém, ed. Aires A. Nascimento, Lisboa, 1982, p. 106. 69 Cousas Notaveis e Milagres de Santo António de Lisboa, ed. José Joaquim Nunes, Porto, 1912, pp. 30--31 e pp. 34-35.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
O crescer implica brincadeiras e brinquedos. Para ambos a informação
veiculada pelas fontes consultadas é escassa.70
Sabemos que em Lisboa, a principal cidade portuária do reino nos finais da
Idade Média, os jogos com a água envolviam o fabrico e a manipulação de objectos
miniatura, com os quais as crianças sonhavam futuras aventuras e vocações. Eram, por
exemplo, os barcos de cortiça que uma postura municipal de 1432, proibia aos moços
fazer navegar nas fontes públicas da cidade, o mesmo acontecendo, sob pena de
pagamento de uma comum multa de cinquenta reais, em relação às pedras que eles para
lá lançavam nas suas brincadeiras.71
No campo, por sua vez, a água servia como lugar de jogos relacionados com a
descoberta do corpo e dos seus prazeres, conforme o celebraram, em termos de forte
erotismo, muitas das cantigas de amigo dos cancioneiros galaico-portugueses. Com
efeito, os jograis e os trovadores de Duzentos e Trezentos consideraram a água das
fontes e dos rios, como cenário privilegiado para a exploração da temática dos jogos de
sedução, ao evocarem as muitas jovens donzelas que aí tomavam a consciência da sua
beleza e desejos.72 Ora, no motivo poético das amigas que iam lavar cabelos a la fonte
e lá descobriam a sua natureza louçãa e o desejo de agradar a um senhor d’eles,
podemos talvez detectar a realidade das moças que frequentavam a água dos rios e das
fontes em costumados jogos, brincadeiras e prazeres. 73
_________________________________________________________________________________________________ 125
70 Este facto foi também salientado por Piponnier: « L’activité ludique est une de celles qui sont susceptibles de laisser le moins de traces dans les archives comme sur le terrain”: F. Piponnier, « Les objects de l’enfance » in Annales de démographie historique, 1973, p. 71. 71 Cf. Iria Gonçalves, "Posturas municipais e vida urbana na Baixa Idade Média: o exemplo de Lisboa" in Um olhar sobre a cidade medieval , ed. cit., p. 95. 72 Maria do Rosário Ferreira, Águas doces, águas salgadas. Da funcionalidade dos motivos aquáticos na Cantiga de Amigo, Porto, Granito, 1999, pp. 83-150. 73 Cantigas d’Amigo dos Trovadores Galego-Portugueses, ed. José Joaquim Nunes, Lisboa, Centro do Livro Brasileiro, 1973, cantiga CXXII, p. 112.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
Entre os rapazes, por outro lado, as actividades lúdicas incluíam, muitas vezes,
práticas de ar livre mais desportivas ou até agressivas.74 Com efeito, a partir da análise
das cartas de perdão régio quatrocentistas, Luís Miguel Duarte refere como nelas se
menciona que algumas crianças, quer fossem espectadoras quer fossem vítimas dos
crimes sobre os quais recaía a graça do soberano, se entregavam a brincadeiras com
huum mancebo de paao em que se poynha a cadea e lhe arremessava cada
huum per sua vez huum espeto de ferro na cabeça,
ou, para além do caso dos que se entretinham a atirar pedras a porcos, simplesmente
andando-se empuxando huuns aos outros e fazendo outras travessuras que
fazem meninos.75
Figura 36 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII). Um grupo de crianças iradas injuria e persegue um suposto louco.
74 Claude Gauvard, “Les Jeunes à la fin du Moyen Âge: Une classe d’âge?” in Les entrées dans la vie – - Initiations et apprentissages, XII congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l ‘Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, pp. 225-244. 75 Luís Miguel Duarte, Justiça e criminalidade no Portugal medievo (1459-1481), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, pp. 274, 275 e 277.
______________________________________________________________________________________ 126
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
De resto, as iluminuras das Cantigas de Santa Maria dão-nos a representação
de algumas destas explosões de energia e agressividade infantis e juvenis, como os
casos do bando de jovens urbanos que ajudam numa assuada destinada a expulsar da
cidade um suposto louco, ou como contribuíram, na primeira fila de uma multidão de
adultos para o apedrejamento de um homem, já fora das muralhas do povoado.76
Figura 37 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII). Crianças participando na cena de apedrejamento de um marginal urbano que foraexpulso da cidade.
Em suma, nos campos e nas cidades medievais, as crianças das famílias menos
abastadas e, por isso, menos vigiadas e tuteladas, cresciam ao ar livre a saltar, a correr, a
atirar pedras, a escorregar, ou a imitar os animais e os adultos em muito diversificados
jogos e brincadeiras, utilizando os recursos que a natureza lhes oferecia - a água, a terra,
as pedras, as penas de aves ou os simples paus, como objectos para que transferiam
_________________________________________________________________________________________________ 127
76 Afonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial, respectivamente, cantigas LXV e CXXIIII.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
ludicamente situações e personagens reais ou imaginárias, a partir das quais construíam
e exploravam diversificados contextos de experimentação e aprendizagem sociais.
Entre as actividades lúdicas a que constantemente se dedicavam, também
deveriam figurar os vários desportos de precisão e adestramento físico a que se
entregavam os adolescentes das vilas e cidades em campos muitas vezes destinados a
esse uso, e, em geral, situados em terrenos baldios localizados no exterior das muralhas
de algumas povoações.77
O jogo da péla seria um dos mais populares, especialmente aconselhado pelo
rei português João I para o treino físico dos jovens cavaleiros, porque lhes fazia tender
os membros,78 se bem que o filho, o monarca Duarte, pelo contrário, o viesse a
considerar pouco dignificante para a educação dos jovens fidalgos, já que apenas lhes
ensinaria manhas de pouco proveito.79
Contudo, seja na situação
de meros espectadores, seja na de
praticantes que nele se iniciavam
quando os campos de jogo não
estavam a ser utilizados pelos
rapazes mais velhos, certamente que
as crianças encontravam no desporto
da péla um fascinante passatempo.
Paralelamente, as brinca-
deiras infantis ainda conheciam
as actividades lúdicas despertadas
pela posse e manipulação de
brinquedos produzidos para as crianças, tal como o provam diversos achados
arqueológicos recolhidos em Loulé e, sobretudo, em Silves. Fabricados em cerâmica,
destinavam-se a permitir às crianças das vilas e cidades do Gharb-al-Andalus a prática
de jogos e passatempos, quer propícios ao treino lúdico de futuras ocupações adultas,
Figura 38 - Miniatura de bule (Séculos XII-XIII).
______________________________________________________________________________________ 128
77 A. H. de Oliveira Marques, A Sociedade Medieval Portuguesa, ed. cit., p. 193. Em Lisboa, os campos para o jogo da péla situavam-se nas actuais praças do Martim Moniz e do Rossio, na parte exterior do troço ocidental das muralhas fernandinas. – Cf. A. Vieira da Silva, A cerca fernandina de Lisboa, I, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1987, pp. 62-63, 111. 78 D. João I, “Livro de Montaria,” in Obras dos Príncipes de Avis, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1981, capítulo II, p. 9. 79 D. Duarte, Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela, ed. Joseph, M. Piel, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1986, capítulo XIII, p. 115.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
quer destinados a manter-lhes a curiosidade e a familiaridade com a forma e a natureza
dos quotidianos próximos ou longínquos, tal como ocorria através das brincadeiras
feitas com os cavalos, peixes ou girafas miniaturais encontrados nos espólios
arqueológicos recolhidos em diversas povoações da Hispânia muçulmana. 80
Figura 39 - Miniaturas de umapanela, um bule, uma jarra euma lamparina (Séculos XII-XIII).
Na sua totalidade, os arqueo-brinquedos medievais até agora encontrados no
Algarve destinavam-se a meninas. A maior parte consiste em miniaturas de louça
doméstica, incluindo bules, jarras, panelas e lamparinas. O facto da composição da sua
pasta cerâmica ser idêntica à utilizada no fabrico dos objectos que pretendem imitar,
parece indiciar, segundo Rosa Varela Gomes, tratar-se de uma produção
especificamente destinada às crianças, pouco se conhecendo, no entanto, sobre a
respectiva amplitude.
80 Rosa Varela Gomes, Silves – Uma cidade do Gharb Al-Andalus – Arqueologia e História (séculos VIII-XIII), Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1999 (Tese de Doutoramento), pp. 1670-1672. Na opinião da autora estes brinquedos zoomórficos estariam relacionados com as festas do Nayruz ou Naweuz, que comemoravam o primeiro dia do ano solar persa e coincidiam, na Península Ibérica, com o equinócio da Primavera, sendo, então, oferecidos às crianças.
_________________________________________________________________________________________________ 129
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
Sabemos, também, que entre os brinquedos algarvios de cerâmica destinados às
meninas, se encontravam pequenas bonecas, cujas barrigas proeminentes aludiam à
maternidade. Para as raparigas, constituiriam, decerto, um pretexto para o
desenvolvimento de jogos e brincadeiras relativos à aprendizagem das suas futuras
vidas de mulheres casadas e de mães, tal como as miniaturas de louça doméstica
serviriam de treino para posteriores funções culinárias. 81
Globalmente, a presença de tais brinquedos testemunha como a sociedade
hispano-muçulmana atribuiu uma especial atenção à
educação das crianças, continuando, nesse sentido,
as tradições urbanas que haviam sido herdadas da
Antiguidade Clássica. Com efeito, Platão
reconhecera que "aos três, quatro, cinco e mesmo
seis anos, a criança precisa de divertimento” e
Aristóteles defendera, ao referir-se ao valor
formativo dos jogos infantis, a "necessidade de
orientar e dirigir esta actividade para que ela
fosse educativa.” 82
A partir do renascimento intelectual do
século XII, a própria sociedade cristã medieval
deixou de permanecer indiferente ou reactiva a um
tal legado. Na centúria de Duzentos, por exemplo,
já vários dos seus letrados urbanos reassumiram a
ideia da necessidade de divertimento por parte das
crianças, recomendando e explicando, por um lado,
que era preciso deixar brincar a criança porque a
sua natureza assim o requeria, e aconselhando, por outro lado, o incentivo das
brincadeiras infantis, porque elas permitiam desenvolver as vantagens que até aí apenas
eram atribuídas à prática dos exercícios físicos, ou seja, o treino de um corpo
suficientemente ágil e forte.
Figura 40 - Boneca de cerâmica (Séculos XII-XIII).
______________________________________________________________________________________ 130
81 Rosa Varela Gomes, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo da Exposição, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001, pp. 124-125. 82 Citado em Michel Manson, História do Brinquedo e dos Jogos, Lisboa, Teorema, 2002, pp. 123-124.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
Contudo, estas posições não se sobrepuseram de imediato às que antes haviam
sido defendidas pelos letrados da Cristandade rural. De facto, continuavam presentes as
tradições que denunciavam as brincadeiras das crianças como sinais preocupantes de
um apego precoce aos malefícios espirituais do jogo, visto nele verem a origem da
aquisição de estratagemas destinados a enganar e a explorar o próximo.83 Por exemplo,
ainda no século XIV, Álvaro Pais exprimia essa posição, quando descrevia como
moralmente ociosos os meninos que brincam todo o dia e dedicam-se a maus jogos.84
Neste sentido, permaneciam activos os valores que as hagiografias haviam
consagrado, sobretudo quando associavam à infância dos santos vários episódios de
explícita recusa à participação em jogos e brincadeiras infantis. A S. Rosendo, por
exemplo, atribuía-se a atitude supostamente modelar de sempre haver recusado qualquer
interesse pelos brinquedos próprios das crianças85 e de Santa Isabel da Hungria
registava-se como, logo em sua meninice começou a fugir e desprezar todas as levezas
dos jogos, recordando-se que depois, se, algua vez jogava qualquer jogo que fosse,
tudo aquilo que ganhava dava-o aas mininas proves.86
Mesmo na Itália dos começos de Quatrocentos, continuavam as discordâncias
sobre o valor do brinquedo e do jogo para o crescimento e a educação das crianças. De
facto, no entender de um célebre pedagogo dominicano, se era de admitir serem os
jogos muito apreciados pelas crianças, porque “o seu sangue ferve e pede movimento”,
nunca os pais lhos deviam facultar, visto só lhes virem a ser prejudiciais. Na sua
opinião, nada havia a ganhar com cavalos de madeira, címbalos, passarinhos artificiais,
tamborins dourados e toda essa quantidade incrível de brinquedos diferentes, que só
alimentavam a vaidade. Tidos, portanto, como um luxo despertador de frivolidades, os
brinquedos deviam ser banidos de qualquer projecto educativo, dado o perigo de
poderem fazer despertar na criança vocações ou personalidades supostamente nocivas.
“Se lhe comprarmos uma pequena espada, ou mesmo uma adaga, faremos dela um
soldado nato,” dizia o referido dominicano, ao mesmo tempo que aconselhava os pais a
nunca brincarem com os seus filhos. 87
_________________________________________________________________________________________________ 131
83 Cf. J. M. Mehl, « Les jeux de l’enfance au Moyen-Âge » in R. Fossier (ed.), La petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, p. 55. 84 Álvaro Pais, ob. cit., ed. cit., pp. 439-441. 85 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. Maria Helena da Rocha Pereira, Porto, 1970, p. 43. 86 'Da Sancta e muy piedosa Elisabeth, filha d’el Rey de Ungria', in "Adições Portuguesas no Flos Sanctorum de 1513", ed. Cristina Sobral, in Adições Portuguesas no Flos Sanctorum de 1513 (Estudo e Edição Crítica), Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa, 2000 (Tese de Doutoramento), p. 587. 87 Michel Manson, ob. cit., ed. cit., p. 52.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
Porém, em meados do século XV, já a maioria dos pedagogos italianos mais
prestigiados defendiam ideias diferentes. Uns recomendavam dever as famílias
incentivar e observar os jogos preferidos pelos seus filhos, já que isso lhes permitiria
adivinhar o caminho que a criança iria adoptar e assim agir em conformidade. Outros,
baseados na crescente adesão aos valores renascentistas, aconselhavam a prática da
ginástica e dos jogos desportivos, como via complementar de uma educação até aí
extremamente centrada nos esforços tendentes à aquisição dos saberes letrados,
explicando como um harmonioso desenvolvimento do corpo e do espírito das crianças
desviava a juventude dos vícios relacionados com o ócio moral. Neste contexto, a
generalização da concordância com um discurso pedagógico atento ao valor educativo
dos jogos que não fossem, logo de início, demasiado grosseiros nem, depois,
excessivamente calmos ou agitados, conheceu um decisivo impulso quando os textos do
humanista Eneias Silvino se tornaram referência obrigatória em toda a Cristandade
católica. Com efeito, foi depois de haver defendido, em 1450, deverem os exercícios
físicos ser considerados como um recreio necessário à saúde das crianças, que ele foi
eleito bispo de Roma, sob o nome de Pio II (1458-1464), permitindo, assim, que as suas
ideias pedagógicas adquirissem uma outra autoridade e representatividade88
Pensada, sobretudo, em função dos rapazes, a progressiva aceitação do valor
formativo dos jogos e passatempos juvenis também fora motivada pela necessidade de
os legitimar enquanto meio destinado a disciplinar as actividades desordeiras
provocadas pelos bandos de adolescentes que vagabundeavam na maior parte das vilas e
cidades da Baixa Idade Média Ocidental. 89 De facto, tornava-se cada vez mais urgente
o enquadramento público ou familiar dos grupos de crianças e rapazes que nelas
circulavam, conforme sintetiza Charles de la Roncière, quer como assombrosas caixas
de ressonância das emoções dos adultos, quer na qualidade de um perigoso fermento de
instabilidade e contestação sociais. 90
______________________________________________________________________________________ 132
Na realidade, desde o século XII que os letrados vinham chamando a atenção
para os problemas de ordem pública causados pelos rapazes a partir do momento em
que se libertavam do mundo doméstico e feminino onde até então decorrera a sua
infância. Gilberto de Nogent, por exemplo, recordava como a idade em que se afirmava
88 Idem, ibidem, p. 53. 89 Elizabeth Crouzet-Pavan, "Une fleur du mal? Les jeunes dans l'Italie médiéval" in Giovanni Levi e Jean-Claude Schmitt (dir.), Histoire des jeunes en Occident, t. I, De L’Antiquité à l’époque moderne, Paris, 1996, pp. 199-254. 90 Charles de la Roncière, ob. cit.,ed. cit., p. 246.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CRESCER ______________________________________________________________________________________________
a personalidade e por vezes se gerava a confiança e o reconhecimento por parte dos
adultos, era normalmente marcada pela imoderação,91 enquanto Julião de Vézelay
descrevia a adolescência como uma fase etária especialmente instável e indisciplinada,
já que os jovens tendiam a não se deixar guiar pela razão ou pelos conselhos dos mais
velhos, antes se abandonando aos prazeres e às paixões, ou seja, uma idade inconstante
e vagabunda em que, não só aquilo que hoje se amava era amanhã detestado, como o
que hoje se queria, logo se recusava no dia seguinte.92
Por seu lado, Filipe de Novara considera a adolescência como a mais perigosa
das quatro idades do homem, porque os jovens, desejosos de afirmação e de autonomia,
se tornavam audazes, imprudentes e desejosos de se expor.93 Era, em suma, a idade que
propiciava a reunião mais ou menos informal dos adolescentes, para, em conjunto,
provocarem os adultos e partilharem aventuras e gestos socialmente contestatórios ou
provocatórios, o que não os impedia de partilhar, por exemplo, devoções e
peregrinações, como se conta a propósito dos milagres de S. Frei Gil, quando se relata
haver um minino surdo ido com outros da mesma idade à sepultura do santo para
colocar um pouco desta terra nos ouvidos e assim obter a cura.94
Na Hispânia muçulmana do século XI, as energias e a natural rebeldia dos
adolescentes tiveram um privilegiado espaço de afirmação nas sociedades juvenis de
tipo iniciático, por elas se reconhecendo aos jovens uma mais ou menos regulamentada
liberdade de desenvolver actividades e comportamentos desviados dos padrões
dominantes, fosse o uso de cabelos compridos ou a utilização de um vestuário original e
pouco comum, ao mesmo tempo que também surgiam como um espaço propício à
afirmação de aptidões e gostos individualizados que, muitas vezes, se encontravam na
origem da adopção de alcunhas pelas quais os seus membros viriam a ser conhecidos
em adultos. Muito perto da cidade algarvia de Silves, terá sido essa a situação vivida por
Ibn Ammar, o futuro vizir do reino sevilhano dos Abábidas, conforme por ele foi depois
recordado ao lembrar como a sua entrada nesse tipo de grupo juvenil fora precedida
_________________________________________________________________________________________________ 133
91 Yves Ferroul, “Devenir adulte. L’exemple de Guibert de Nogent” in Éducation, Apprentissages, Initiation au Moyen Age, Actes du Premier Colloque International de Montpellier, Université Paul Valéry, 1991, p. 159. 92 Citado por Didier Lett, L’enfant des miracles, ed. cit., p. 120. 93 Filipe de Novara, Les Quatre Âges de l’homme, ed. M. De Fréville, Paris, 1888, Título 33, p. 21. 94 "S. Frei Gil" in Frei Luis de Sousa, História de S. Domingos, I, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, p. 242.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
_____________________________________________________________________________________________
pelo abandono ritual dos amuletos que lhe haviam sido oferecidos pelas mulheres do lar
familiar onde passara a sua infância. 95
Quanto às raparigas, a sua adolescência, mais vigiada e tutelada pelos pais, não
conheceu as mesmas liberdades e aventuras da vida levadas pelos rapazes fora do lar
familiar. Segundo o pedagogo Gil de Roma, as moças não deviam andar pelas ruas,
porque o lugar das mulheres e das donzelas era em casa, nada tendo a aprender fora
dela.96 Ora, esta dicotomia sexual de espaços não era, então, só teórica. De facto, todos
os acidentes fora de casa que encontrámos referidos nos livros de milagres medievais
portugueses, têm como protagonistas os rapazes, ocorrendo no interior do espaço
doméstico os dois únicos acidentes femininos referidos. De resto, uma tal diferenciação
permanecia ao longo da vida das mulheres, tal como reflecte a cronística medieval
portuguesa ao reservar quase sempre ao sexo feminino os espaços privados e
domésticos, enquanto associa a maioria dos homens aos espaços públicos e exteriores.97
No caso das hagiografias, são também notórias as diferenças existentes entre as
infâncias dos santos e das santas. De uma forma geral, nota-se a tendência para nestas se
exaltar uma infância dominada pelo respeito e observância das recatadas virtudes da
virgindade, do pudor e da castidade.98 Na Vida de Santa Senhorinha, por exemplo,
insiste-se numa educação modelarmente dominada pelo ideal de a castidade e a
virgindade do corpo ser uma cousa mui formosa, e santa, explicando-se como a alma
e o corpo virgem e casto a jovem dava a Deus.99 Por isso, não só resistira ao diabo que
lhe aparecera sob a forma de um belo homem, como recusara o casamento com um
mancebo mui louçaõ, filho de um conde mui rico que vinha de linhage dos Reis.100
______________________________________________________________________________________ 134
95 Stéphane Boisselier, Naissance d’une identité portugaise. La vie rurale entre Tage et Guadiana de L’Islam à la reconquête (Xe. – XIVe. Siècles), Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1999, p. 205. Sobre Ibn Ammar, consulte-se, Adalberto Alves e Hamdane Hadjadji, Ibn Ammar al-Andalusi. O drama de um poeta, Lisboa, Assírio e Alvim, 2000. 96 Gil de Roma, Le livre du gouvernement des Princes, (De regimine principum), ed. S. P. Molenaer, Paris, 1899, pp. 225 e 228. 97 Ana Rodrigues Oliveira, As representações da mulher na cronística medieval portuguesa (sécs. XII a XIV), Patrimonia Histórica, Cascais, 2000, pp. 91-147. 98 Virtudes, aliás, exaltadas em todas as jovens: Ana Rodrigues Oliveira, ob. cit., ed. cit., pp. 65-69 e 77- -78. 99 "Vida e Milagres de Santa Senhorinha" in ob. cit., ed. cit., p. 446. 100 Id., ibidem, pp. 448-449.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
4 APRENDER Porque como naturalmente aquellas cousas, que os moços recebem na tenra hidade, se lhe emprantam no coraçam, e em sua memoria pera sempre.
Cortes de Lisboa, Dezembro de 14391
Contrariamente ao que defendeu Philippe Ariès, a
sociedade medieval não perdeu o sentido da educação,2 tendo
reflectido bastante sobre a necessidade de transmitir os seus
valores, ideais e saberes às novas gerações. Um importante
reflexo dessa preocupação encontra-se nos muitos tratados de
educação então produzidos por pais e preceptores letrados nas
mais diversificadas regiões do Ocidente medieval cristão, sendo
também frequente a elaboração de várias cartas e recomendações
escritas, em que pais e as próprias mães reflectiam sobre a
educação a fornecer aos seus descendentes.3
Gil de Roma, no De regimine principum, uma obra
dedicada ao rei Filipe, o Belo, lembra como entre as qualidades que um monarca
deveria possuir, se encontrava a do cuidado posto na educação dos príncipes. Nesse
sentido, dedica dois capítulos ao assunto, desde o nascimento até aos sete anos, onde
explica ser um dever dos pais para com os filhos não só cuidar da sua correcta
alimentação, como habituá-los a resistir ao frio, e ensinar-lhes, com eles praticando,
jogos, canções e outras actividades adaptadas às suas idades, nomeadamente as que
compreendiam a aprendizagem de palavras e cânticos honestos; deviam, ainda evitar
que chorassem para que se tornassem mais fortes e resistentes.4
1 "Chronica do Senhor Rey D. Affonso V" in Rui de Pina, Crónicas, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, p. 644. 2 “A civilização medieval esqueceu a Paideia dos Antigos e ignorava ainda a educação dos modernos. O facto essencial é esse: o conceito de educação não existia.” – Philippe Ariès, A criança e a vida familiar no Antigo Regime, Lisboa, Relógio d’Água, 1988, p. 320. 3 Consulte-se Pierre Riché, “Sources Pédagogiques et Traites d’Éducation” in Les entrées dans la vie – - Initiations et apprentissages, XII congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, pp. 23-29. 4 Gil de Roma, Le Livre du gouvernement des Princes, ed. S.P. Molenaer, Paris, 1899, pp. 216-218.
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
1 - A EDUCAÇÃO
Para a sociedade medieval, a educação devia começar muito cedo, visto se
considerar que toda a criança, ao possuir uma espécie de memória inconsciente, seria
marcada por tudo o que visse ou ouvisse na mais tenra idade. A memória da criança era,
então, frequentemente comparada quer ao vidro ou à cera mole onde tudo se imprimia
de maneira indelével, quer a um frasco onde sempre permanecia o odor do que lá fora
colocado primeiro. 5 Segundo Afonso X, de Castela e Leão,
os mozos para aprender las cosas deviam ser pequeños, como la cera blanda
cuando la ponen el sello, que cuanto más tierna, tanto más pronto aprehende en
ella lo que está en el sello figurado. 6
Ao aprender-se muito cedo a virtude e a disciplina, as crianças sempre delas
guardariam a lembrança. Pelo contrário, se fossem mais crescidas depressa se
esqueceriam delas, voltando ao que já antes se haviam habituado.7
Segundo o pedagogo Gil de Roma, a educação das crianças destinava-se a
corrigir uma natural tendência para se portarem mal. A fim de a contrariar, os pais não
só deviam ensinar aos seus filhos a doutrina cristã, tanto mais assimilada quanto mais
precocemente iniciada, como evitar o seu contacto com as coisas feias e vilãs que logo
guardariam na memória. Nesse sentido, nunca deveriam ser colocados perante a estátua
ou a pintura de uma mulher nua, sob pena de poderem vir a desenvolver o apego aos
prazeres e às más tentações para que já estavam vocacionados.8
Na opinião do canonista Álvaro Pais, bispo de Silves, os progenitores deveriam
ter o máximo cuidado com a sua privacidade pois que, dormindo frequentemente no
mesmo quarto, e até na mesma cama, as crianças eram testemunhas da vida íntima do
casal. Esta intimidade convivida poderia vir a despertar-lhes desejos ilícitos para a sua
idade, ou seja, o pecaminoso prazer da imitação de hábitos carnais apenas legitimáveis
_______________________________________________________________________________________________ 136
5 Sobre este tema e respectiva bibliografia, consulte-se, Didier Lett, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe – XIIIe siècle), Paris, Aubier, 1997, p. 63. 6 Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey cotejadas con vários códices antiguos, Partida Segunda, Título 7, Lei 4 Madrid, Real Academia de la Historia, 1807. Também segundo Aldebrandino de Siena, “Comme la cire quand elle est molle prend la forme qui l’ont veut lui donner, l’enfant prend la forme que la nourisse lui donne” - Le Régime du corps, ed. L. Landouzy et R. Pépin, Paris, 1911, p. 75. 7 Alfonso el Sabio, id., ibidem. 8 Gil de Roma, ob. cit., ed. cit., pp. 194, 196, 206 e 207. Aliás, mesmo a visão da nudez dos pais durante os banhos era desaconselhada às crianças: Didier Lett, ob. cit., ed. cit., p. 63.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
pela procriação.9 Em suma, conforme sintetizou Raimundo Lúlio, era necessário salva-
guardar as crianças das tentações que a vista gerava no corpo para atingir a alma.10 Na
opinião deste último letrado, cabia aos pais educar todos os sentidos dos filhos, a fim
de os defender dos ataques do mundo. Era assim conveniente fornecer-lhes lugares de
infância agradáveis e arejados e evitar-lhes não só a visão de belas e ricas roupas que
lhes podiam alimentar o orgulho ou a inveja, como também o excesso de doces que
gerava a gulodice. A criança devia então ser educada para aprender a ser moderada e
dotada de hábitos e costumes virtuosos, incluindo os corporais, visto a prática do
exercício físico estar indicada para a prevenção da gordura e da preguiça.11
Relativamente à aplicação destes princípios educativos, os pedagogos da Baixa
Idade Média não afastaram o uso dos castigos corporais, mesmo sendo conhecidos
casos em que a sua aplicação imoderada chegara a provocar o homicídio involuntário de
algumas crianças. Foi o que aconteceu, por exemplo, com uma criança que, sem querer,
partiu uma jarra de água que pertencia ao seu pai adoptivo. Este, enfurecido, deu com
hua corda com que andava a dita jarra atada ao moço com desprezo que ouvera pello
castigar cuydando que lhe dava nas costas. O menino, instintivamente, baixou-se, e a
corda atingiu-o na cabeça; como ficara uma asa da jarra presa à ponta da corda, este
fragmento causou-lhe uma ferida mortal.12
Filipe de Novara não hesitou recomendar que, uma vez esgotadas as
advertências, se vergastassem, ou até mesmo se aprisionassem, as crianças mal
comportadas.13 Se tivermos em conta as recordações de infância do Mestre Estevão, um
monge do mosteiro de Celanova, verificamos como era habitual punirem-se os
desregramentos das crianças oferecidas ao cenóbio com chicotadas ou cadeias,
destinadas a prender-lhes os movimentos, sendo esses os castigos que ele confessa ter
recebido em menino, por não se submeter à disciplina dos estudos e procurar escapar às
punições ao fugir e esconder-se na floresta. 14
_______________________________________________________________________________________________ 137
9 Cf. Álvaro Pais, Estado e Pranto da Igreja (Status et Planctus Ecclesiae), V, ed. Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, J.N.I.C.T., 1994-95, p. 439. 10 Raimundo Lúlio, Doctrine d’enfant, ed. A. Llinares, Paris, 1969, Título 91. 11 Raimundo Lúlio, id., ibidem. Veja-se, também, Charles de la Ronciére, « A vida privada dos notáveis toscanos no limiar do Renascimento » in Philippe Ariès e Georges Duby (dir.), História da Vida Privada, 2, Lisboa, Ed. Afrontamento, 1990, p. 210. 12 Luís Miguel Duarte, Justiça e criminalidade no Portugal medievo (1459-1481), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 278. 13 Charles de la Ronciére, id., ibidem. 14 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. e trad. Maria Helena da Rocha Pereira, Porto, 1970, pp. 69-71.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
Contudo, nem sempre a pedagogia dos castigos corporais era tão taxativamente
recomendada, antes prevalecendo o aconselhamento de um seu uso excepcional e
moderado, de forma a que a punição física fosse compreendida pelas crianças a quem
era aplicada. De uma forma geral, os pedagogos apenas a sugeriam quando se
esgotavam as vias de repreensão por apelo à razão, submissão a ordens orais ou
obediência ao cumprimento de actos correctores.15 De facto, teria sido esse o caminho
utilizado pelo prior Teotónio em Santa Cruz de Coimbra, tendo em conta a informação
de como só depois de admoestar os seus cónegos em privado, os corrigia com
severidade, de forma a incutir nos mais novos o temor que depois os levava a
emendarem-se e a sempre seguirem uma recta conduta.16 Tais procedimentos, aliás,
também parecem deduzir-se da notícia hagiográfica de que S. Gonçalo de Amarante,
ainda menino, teria sido confiado pelo pai ao arcebispo de Braga para ser criado,
doutrinado e ensinado sob correiçom e castigo do mestre.17
Uma tal pedagogia encontra-se ainda expressa numa das histórias morais do
chamado Fabulário Português do século XV. Tendo como tema a situação de huu
ffilho de huu burgês que ssenpre fazia comtrayro do que lhe sseu padre emssynaua,
desenvolve-a do seguinte modo:
O padre nom ho podia castigar, e huu dia tomou huu paao ssem porquê, e
firiu huu sseu seruo na pressença de sseu filho. O ffilho, veendo tam seem
porquê espaancar este sseruo tam cruellmente, estaua com gram medo.
Depoys preguntarom ao burgês porque feria o seruo ssem seu mereçer; disse
o burgês (que era homem amtijguo e discreto) que o boy pequeno aprende
de arar do grande, e quem quer castigar o leom ffere o cam: - e portamto eu
nom quero fferir meu filho, porque je per feridas nom ho posso castiguar, mays
ffery o meu seruo, porque elle aja medo e tome emxemplo.
Ao comentar esta história, o texto do Fabulário Português conclui que a breve
narrativa
nos amostra e diz que nós deuemos auer maneira com discriçom nos nossos
_______________________________________________________________________________________________ 138
15 Didier Lett, ob. cit., ed. cit., p. 152. 16 "Vida de D. Teotónio," ed. Aires A. Nascimento, in Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra: Vida de D. Telo, Vida de D. Teotónio, Vida de S. Martinho de Soure, Lisboa, Ed. Colibri, 1998, p. 171. 17 Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. Maria Clara de Almeida Lucas,, Lisboa, I.N.I.C., 1988, p. 160.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
emssynos e castigamentos: e o padre deue castiguar sseus filhos com palauras e
boos emxemplos, quando vee que com fferidas ho nom pode castiguar, e que ho
pequeno deue tomar emxemplo do gramde. E elle foy d’elo louuado.18
Contudo, independentemente da maior ou menos divulgação dos conselhos
recomendados pelos manuais de pedagogia da Baixa Idade Média, a violência própria
de uma cidade maioritariamente rural e feudal continuava a permitir a existência de
muitos casos de uso e abuso de castigos corporais infantis, tal como, por vezes, surgem
referidos nos livros de milagres. Se bem que surjam muito pouco referenciados,19 não
seriam certamente raros os exemplos dos pais que davam com uma pedra num filho de
tal forma que este ficasse privado da acção dos seus membros,20 ou que os atingissem,
durante os castigos corporais, com uma meia de ilhoz pela cabeça ao qual se meteu uma
agulheta de ataca que na meia estava pegada,21 ferindo-lhe, deste modo, os olhos.
2 - A INSTRUÇÃO
Nos meios sociais privilegiados, os finais da Idade Média trouxeram, no entanto,
importantes inovações educativas. Uma das mais relevantes foi, sem dúvida, a defesa da
progressiva difusão da aprendizagem infantil da cultura letrada. Com efeito, muitos
pedagogos, fossem leigos ou eclesiásticos, começaram então a sugerir a generalização
do ensino infantil letrado, recomendando o seu começo desde os tempos da ama, já que
esperar pelos sete anos de idade para o seu início apenas contribuiria para alimentar nas
crianças a indisciplina e a preguiça intelectuais.22 No Cathecismo Pequeno do bispo
Diogo de Viseu, por exemplo, defendia-se como todas as crianças baptizadas deviam
_______________________________________________________________________________________________ 139
18 “Fabulário Português – manuscrito do século XV”, ed. J. Leite de Vasconcellos, Revista Lusitana, Lisboa, 1903, vol. 8, p. 129. 19 Com efeito, os estudos efectuados por Eleanora C. Gordon e Didier Lett sobre, respectivamente, os livros de milagres medievais ingleses e franceses, apontam para a escassa representatividade das curas das sevícias infantis: respectivamente, “Child Health in the Middle Ages as seen in the Miracles of Five English Saints A.D. 1150-1220” in Bulletin of the History of Medicine, 60, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986, pp. 516-517; L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe – XIIIe siècle), ed. cit., p. 152. 20 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente", ed. Aires A. Nascimento e Saúl António Gomes, S. Vicente de Lisboa e seus Milagres Medievais, Lisboa, Didaskalia, 1988, p. 69. 21 Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga, e Regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, Lisboa, 1745, vol. I, p. 500. 22 Charles de la Ronciére, ob. cit.,ed. cit., p. 281.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
ser calma e gradualmente introduzidas à literacia, per breves, chãas, palpavees e craros
principios, segudo a sua capacidade.23
De resto, nos começos do século XV, já o rei Duarte defendia que todos
os moços de boa lynhagem e criados em tal casa que se possa fazer, deviam
seer enssynados logo de começo a leer e a escrever e a fallar latym,
contynuando boos livros per latym e linguagem de boo encamynhamento per
vyda virtuosa.
Segundo ele, embora alguns opinassem que semelhante leitura não convinha a
homees de tal stado, todos eles deveriam ser instruídos no estudo e reflexão dos
livros da moral fillosofia, que som de muytas maneiras pera darem enssynança
de boos custumes e syguymento das virtudes, o mesmo ocorrendo sobre a
enssynança da guerra, nas cronycas aprovadas, de onde podiam extrair
os senhores e cavalleiros, e seus filhos, os grandes e boos exempros e sabedoria
que muyto prestam, com a graça do senhor, aos tempos da necessydade.24
Em suma, ainda que os letrados mais antigos e conservadores, como o
trecentista bispo Álvaro Pais de Silves, tivessem expresso a ideia de que a aprendiza-
gem da cultura letrada entre os meninos esbarrava com o seu manifesto desinteresse,
sendo essa a razão porque costumavam fugir das escolas,25 a maior parte dos
pedagogos da Baixa Idade Média considerava os sete anos como a idade aconselhável à
intensificação desse ensino, fosse através da frequência de uma escola, ou por via de um
preceptor privado, defendendo a superioridade desta última alternativa, visto ser
supostamente propícia a uma melhor difusão da palavra e do exemplo do mestre face
aos alunos. Nesse sentido, insistia-se na importância de uma correcta escolha do
preceptor, explicando-se como deveria estar isento de qualquer vício, já que lhe
competiria responder pelo seu aluno no Dia do Julgamento Final, tal como o prior ou o
abade o iriam fazer relativamente a cada um dos membros da sua comunidade.26
_______________________________________________________________________________________________ 140
23 O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz Bispo de Viseu, ed. de Elsa Maria Branco Silva, Lisboa, Ed. Colibri, 2001, p. 133. 24 D. Duarte, Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela, ed. Joseph M. Piel, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1986, pp. 120-121. 25 Álvaro Pais, ob. cit., ed. cit., p. 441. 26 Consulte-se Didier Lett, ob. cit., ed. cit., p. 149.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
3 - RAPAZES E RAPARIGAS
Paralelamente, os pedagogos dos finais da Idade Média também começaram a
abordar o tema da educação das meninas, sobretudo as oriundas da nobreza, dedicando-
-lhes passagens ou até partes dos seus tratados, embora sem as inovações introduzidas
na matéria destinada aos rapazes.27 Com efeito, de uma forma geral, o seu discurso
sobre a educação das raparigas encontra-se bastante condicionado pelo facto de as
conceberem na qualidade de grupo que, não só partilhava com as mulheres a suposta
condição de um sexo dotado de fraca racionalidade, como também correspondia a uma
idade, a infantil, considerada naturalmente indisciplinada e moralmente débil.28
Assim, tendo em conta tais pressupostos, bastante devedores de Aristóteles, os
pedagogos defendiam para as raparigas uma disciplina ainda mais rígida e rigorosa do
que a reservada às mulheres, porque a débil racionalidade da sua natureza feminina se
aliava à ainda incompleta racionalidade da condição infantil. Segundo eles, os pais
deviam “guardar” bem as suas filhas e protegê-las de todos os perigos exteriores,
sobretudo desde os doze anos e até virem a casar ou a entrar numa casa religiosa. Para
Gil de Roma deviam então cessar os passeios, as brincadeiras fora do lar e até as
conversas privadas com as amigas, para que fosse protegido o pudor natural que
preservava a castidade das raparigas; perdida a timidez e o carácter bravio, elas
tornavam-se desses “animais selvagens que, habituados à companhia do homem, se
tornam domésticos e se deixam tocar e acariciar.”29
Mesmo a frequência das celebrações religiosas era considerada perigosa, visto
poder desencadear o encontro e a troca de olhares sensuais com os rapazes, conduzindo
a enamoramentos e até a mais profundas ligações sentimentais. De resto, esses receios
encontram plena confirmação em muitas cantigas de amigo dos cancioneiros galaico-
-portugueses, nas quais é frequente a alusão aos jogos amorosos proporcionados às
raparigas durante a frequência das festas de romaria. Lembre-se, por exemplo, a forma
como o jogral Pedro Vivialz recriou poeticamente essa situação:
_______________________________________________________________________________________________ 141
27 Pierre Riché, “Sources Pédagogiques et Traites d’Éducation” in ob. cit., ed. cit., pp. 28-29. 28 Carla Casagrande, “A mulher sob custódia” in Georges Duby e Michelle Perrot (dir.), História das Mulheres, 2, Porto, Afrontamento, 1993, pp. 105-106. 29 Gil de Roma, ob. cit., ed. cit., p. 342.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
Pois nossas madres vam a San Simon Nossos amigos todos lá iram
de Val de Prados candeas queimar, por nos veer e andaremos nós
nós, as meninhas, punhemos d’andar bailand’ant’eles, fremosas, en cós,
com nossas madres, e elas enton e nossas madres, pois que alá van,
queimen candeas por nós e por si queimen candeas por nós e por si
e nós, meninhas, bailaremos i. e nós, meninhas, bailaremos i.
Nossos amigos iran por cousir
como bailamos e podem veer
bailar moças de [mui] bom parecer,
e nossas madres, pois lá queren ir,
queimen candeas por nós e por si
e nós, meninhas, bailaremos i.30
No fundo, para os pedagogos, todas estas alegrias adolescentes eram objecto de
uma rígida censura moral. As raparigas deviam permanecer em casa, bem resguardadas
dos olhares masculinos. Debruçar-se da janela era já “sair”, pois reflectia a condenada
possibilidade de se abandonar ao impulso de vaguear pela sociedade e pelo mundo dos
homens, pondo em causa o pudor e a honra que deviam pautar o comportamento ideal
das jovens donzelas.31
Aos rapazes, pelo contrário, aconselhava-se uma educação mais atenta à
mobilidade do corpo e do espírito e às necessidades de uma intensa relação com o
mundo exterior. De facto, se aos futuros guerreiros, camponeses, artesãos ou
mercadores se recomendava olhar longe e direito, às raparigas sugeria-se baixar os
olhos ou levantá-los para o céu, opondo-se, portanto, os ideais varonis da coragem e da
franqueza, à modéstia, à doçura e à contenção dos gestos e dos movimentos
femininos.32
_______________________________________________________________________________________________ 142
30 Cantigas d’Amigo dos Trovadores Galego-Portugueses, ed. José Joaquim Nunes, Lisboa, Centro do Livro Brasileiro, 1973, cantiga CLXIX, pp. 153-154. Sobre o assunto, consulte-se Custódia Luísa Gonçalves, A viagem na poesia trovadoresca galaico-portuguesa, Lisboa, Universidade Aberta, 1999, (Tese de Mestrado), pp. 66-103. 31 Charles de la Ronciére, ob. cit., ed. cit., p. 288. 32 Paulette L’Hermite-Leclercq, “A ordem feudal (séculos XI-XII)” in Georges Duby e Michelle Perrot (dir.), História das Mulheres, 2, Porto, Afrontamento, 1993, p 284. O modelo proposto pelos pedagogos teve um amplo acolhimento nas memórias cronísticas medievais portuguesas: Ana Rodrigues Oliveira, “A imagem da mulher nas crónicas medievais”, in Faces de Eva, Lisboa, Ed. Colibri, 2001, nº 5, pp. 131-147.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
Neste contexto, não se insistia muito na educação letrada das raparigas. Filipe
de Novara, ressalvando o caso das que se destinavam à vida religiosa, desaconselhava
mesmo a aprendizagem do alfabeto e da escrita, para que as raparigas não se sentissem
estimuladas a dizer secretamente por escrito o que não ousariam dizer oralmente.33
Contudo, alguns pedagogos não lhes recusavam o direito de aprender a ler e a escrever,
porque, ao aplicarem-se assiduamente nessas honestas ocupações, afastavam os maus
pensamentos e os consequentes pecados da carne e da vaidade.34
É certo, no entanto, que os finais da Idade Média conheceram notórios
progressos na formação letrada das raparigas que não se integravam em qualquer
comunidade eclesiástica. Pertenciam, em geral, às aristocracias urbanas e fidalgas,
sendo esse, por exemplo, o caso de Cristina de Pisano, cujo tratado de educação
feminina, conhecido pelo nome de O Livro das Tres Vertudes, chegou a ser traduzido
em português, nos tempos do rei João II.35 Porém, era sobretudo em função da
aquisição dos conhecimentos relativos à doutrina cristã e à aprendizagem da sua futura
condição de esposas e de mães que as raparigas eram educadas.
4 - AS APRENDIZAGENS
Muitas raparigas, tal como se passava com a maioria das crianças medievais,
não chegavam a participar na cultura letrada que estava reservada aos filhos dos
privilegiados. Não faziam parte da sociedade da escrita, nem eram objecto das reflexões
contidas nos tratados didácticos, se bem que partilhassem parte dos seus valores e
princípios, quer através da assistência às cerimónias religiosas cristãs, quer por via dos
rituais e das imagens por que publicamente se transmitiam e difundiam.36
De uma forma geral, todas essas crianças recebiam dos pais uma educação oral,
já que os conhecimentos letrados não lhes eram acessíveis ou até considerados
necessários e vantajosos. Podiam, no entanto, em alguns casos, recebê-los dos clérigos,
sobretudo nas vilas e cidades, quando, por algum motivo, participavam da sua casa
_______________________________________________________________________________________________ 143
33 Consulte-se Didier Lett, ob. cit., ed. cit., p. 164. 34 Segundo Rui de Pina, a rainha Isabel de Aragão, mulher de D. Dinis, por nom estar ocioza lia livros de couzas espirituaes, e devotas : "Coronica DelRey Dom Diniz" in Rui de Pina, Crónicas, ed. cit., p. 230. 35 Cristina de Pisano, O Livro das tres Vertudes ou O Espelho de Cristina, ed. Maria de Lurdes Crispim, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1995 (Tese de Doutoramento). 36 Se bem que por vezes, como assinala Charles de la Ronciére, a defesa do recato das raparigas levasse as mães a proibir-lhes a assistência aos sermões demasiado concorridos: ob. cit., ed. cit., p. 288.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
ou parentesco. São esses os casos, por exemplo, de dois irmãos de dez e seis anos que
viviam em casa de um tio clérigo que os criara, e o do filho de um sapateiro, que, aos
nove anos, habitava na casa de um cónego que o ensinava a ler.37
Salvo tais excepções, cada vez mais frequentes nas vilas e cidades dos finais da
Idade Média, a educação das crianças, ainda maioritariamente camponesas, decorria no
contexto dos contactos quotidianos mantidos com a família e com os grupos de trabalho
rural etariamente compósitos em que se inseriam, sobretudo por via das incessantes
conversas que mantinham com os adultos mais velhos, conversas essas que se
prolongavam para a casa e a mesa familiares. Teorizado por Le Roy Ladurie, um tal
modelo educacional estaria na base do costume de as crianças serem muitas vezes
utilizadas como mensageiros, ou de até funcionarem para as instituições exteriores à
comunidade como fornecedoras de informações e mesmo na qualidade de delatores.38
Assim, quer no campo, quer em muitas vilas e cidades medievais, as crianças
inseriam-se desde cedo no mundo do trabalho rural, artesanal e dos serviços, fornecendo
um suplemento de mão de obra precioso à sua família de origem, e desenvolvendo a
aprendizagem das tarefas e ofícios a que, muitas vezes, se viriam a dedicar depois de
adultos; simultaneamente, a prática dos jogos de competição, de adestramento e de
imitação preparava-os física, social e profissionalmente. Tanto no campo como nas
praças e ruas das vilas e cidades, as crianças eram uma presença constante.
Compartilhavam os espaços em que os pais trabalhavam e eram por eles vigiadas e
iniciadas na aprendizagem de uma futura ocupação.
Numa primeira etapa, as crianças familiarizavam-se com os trabalhos dos pais,
observando-os e imitando-lhes certos gestos, atitudes e perícias. Numa segunda,
começavam a ajudá-los, conforme as suas forças e habilidade, ao mesmo tempo que
recebiam conselhos e demonstrações pedagógicas. Por fim, começavam a assumir a sua
parte de responsabilidade na produção final dos trabalhos e das tarefas parentais.39
Nos livros de milagres medievais portugueses é bem visível este tipo de
aprendizagens infantis. Relativamente ao mundo rural, por exemplo, referem-se os
_______________________________________________________________________________________________ 144
37 Luís Miguel Duarte, ob. cit., ed. cit., pp. 274-275. 38 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou Cátaros e Católicos numa aldeia occitana 1294-1324, Lisboa, Edições 70, 2000, p. 281. 39 Sobre este ciclo de iniciação ao mundo laboral, veja-se Danièle Alexandre-Bidon, « Grandeur et renaissance du sentiment de l’enfance au Moyen Âge » in Éducations médiévales, l’enfance, l’école, l’Église en Occident (VIe-XVe siècle), J. Verger (dir.), Histoire de l’éducation, 50, 1991, pp. 61-62.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
casos de várias crianças acidentadas com utensílios agrícolas normalmente utilizados
pelos adultos, como sejam o moço que, ao andar na malhada levou com um remo da
eschama que se quebrou, metendo-lhe o testo por dentro em tal gujsa que jouue mujtos
dias sem falla, 40 o rapaz que cayo quando leuaua hua cana na maão e chentousse-lhe a
cana polla uerilha E sayo lhe pollo embigo. E quando lhe tiraram a cana sayramlhe as
tripas fora 41 ou o menino, de onze ou doze anos, que morreu ao ser atingido por um
coice de mula quando lançava o trigo que estava numa alcofa na moega da sua atafona, 42 ainda com eles se relacionando a criança que, ao pastorear o gado, engoliu uma
serpente ao baixar-se para apanhar o bastão com que conduzia os animais.43 Por outro
lado, no que se refere à faina marítima, também se noticia a morte de um moço que se
afogou quando acompanhava o seu pai nas lides do mar.44
De uma forma geral, apesar da referência a todos estes acidentes, o trabalho
infantil tendia a confinar-se a tarefas necessariamente subsidiárias das actividades
quotidianas realizadas pelos adultos. Tal como se representa em muitas iluminuras do
Ocidente cristão medieval, tratava-se sobretudo do desempenho de tarefas que não
exigiam grandes esforços físicos ou que bem se adaptavam à natural agilidade infantil,
incluindo actividades tão diversificadas como buscar água, apanhar bolotas, juntar os
pedaços de madeira previamente cortados ou rachados pelo pai, caçar os pássaros na
altura das sementeiras, apanhar os insectos e animais nocivos das hortas e jardins, subir
às árvores para apanhar fruta ou azeitonas.45 Contudo, o facto dos tratados de educação
insistirem na necessidade de poupar as crianças com menos de sete anos a trabalhos
muito pesados para não prejudicar o seu crescimento, revela como algumas destas
tarefas seriam, por vezes, demasiado violentas e rudes para os mais pequenos.46 De
facto, entre as famílias não privilegiadas, a infância das crianças acabaria tão depressa
como logo começava uma vida precocemente adulta.
_______________________________________________________________________________________________ 145
40 Frei João da Póvoa, “Livro dos Milagres de Nossa Senhora das Virtudes”, ed. F. Correia, in Revista da Biblioteca Nacional, 2ª série, 3, nº 1, 1988, p. 26. 41 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit, p. 26. 42 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 490-491. 43 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. cit., p. 61. 44 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 17. Referiremos em pormenor todos estes acidentes no capítulo ADOECER. 45 Consulte-se, por exemplo, Pierre Riché e Danièle Alexandre-Bidon, L'enfance au Moyen Age, ed. cit., pp. 162-165. 46 Didier Lett, ob. cit., ed. cit., p. 282.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 146
5 – A FUNÇÃO DAS
MÃES
No conjunto da
sociedade medieval, as
mães desempenhavam um
papel fundamental na
educação das crianças.47
Verdadeiras depositárias
dos valores e tradições
familiares, consagravam-se
inteira e convictamente à
sua defesa e transmissão
junto das novas gerações.
O ensino da fé
cristã era uma das suas
principais funções educati-
vas. Veiculado oralmente,
era acompanhado pelo inci-
tamento à aprendizagem
infantil dos gestos, orações
e rituais que contribuíam para
Figura 41 - Sant'Ana e a Virgem (século XIV) No século XIV difundiram-se por toda a Europa cristã representações de Sant' Ana ensinando a Virgem a ler. Nestaimagem, Sant' Ana abriga a Virgem no seu manto, enquanto estasegura um livro aberto.
inserir as crianças num espaço doméstico e comunitário devidamente sacralizado. Por
outro lado, também se atribui à mãe a introdução dos filhos na frequência dos templos,
o ensino da forma a como neles se comportar e a explicação do sentido das histórias e
das personagens sagradas cujos símbolos, estátuas e imagens se encontravam nas
igrejas.
47 Para Danièle Alexandre-Bidon, sem uma prévia história da mulher nunca se conseguirá elaborar uma história da infância, visto ser necessário conhecer o papel da mulher enquanto mãe para se ter um conhecimento perfeito da história da educação: “Grandeur et renaissance du sentiment de l’enfance au Moyen Âge” in ob. cit., ed. cit., pp. 53-54.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
O pedagogo Raimundo Lúlio
aconselhava mesmo as mães a aproveitar
todos os tempos e momentos das
ocupações domésticas para difundirem a
fé cristã junto dos seus filhos. Os
legumes a ferver na panela, por exemplo,
podiam fornecer a ocasião para lhes falar
do inferno e o tempo de cozedura de um
ovo, ou o da confecção de um doce de
noz, seriam, por seu lado, propícios a
fazer as crianças rezar, respectivamente,
uma Avé-Maria ou um Miserere.
Ensinar a fazer o sinal da cruz sobre o
pão que se ia comer, ou levar os filhos a
dizer uma oração quando fossem com a
mãe colher plantas medicinais ao
campo, ou a ajudassem a caçar os ratos
e ratazanas que, por vezes, invadiam os
lares, era um óptimo meio para que as
crianças compreendessem a importância Figura 42 – Sant'Ana e a Virgem (Século XV) Sant' Ana aponta para o Livro com o dedo indicador da mão direita, enquanto o seu braço esquerdo sustenta a Virgem que se apoia no códice.
dos favores divinos, já que os associariam
às graças de ter com que saciar a fome e a
sempre conseguirem executar com su-
cesso determinadas tarefas e acções.48
A primeira e principal oração ensinada pelas mães era o Pai-Nosso, conforme
recomendavam os sínodos diocesanos medievais portugueses.49
_______________________________________________________________________________________________ 147
48 Raimundo Lúlio, ob. cit, ed. cit., Título 99, p. 226. 49 Mário Martins, “O Pai-Nosso na Idade Média portuguesa até Gil Vicente” in Estudos de Cultura Medieval, III, Lisboa, Ed. Brotéria, 1983, p. 290.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
Contudo, à medida que progredia o culto mariano e se afirmava a devoção à avó
e à mãe de Cristo, ou seja, às Santas
Mães, depressa se lhe juntou a Avé
Maria e a Salvé Regina. Na tradução
medieval portuguesa da hagiografia de
Clara de Assis, todas essas orações já
se encontravam associadas num
mesmo e exemplar repertório,
contando-se como a Santa
_______________________________________________________________________________________________ 148
tãto que começou a falar
ensinou-lhe sua madre o Pater Noster,
a Ave Maria, o Credo e a Salve
Regina. E logo de pequena sempre hya
aa ygreja com sua madre.50
De resto, para além das
hagiografias, também os romances e as
novelas de cavalaria atribuem às mães
a iniciação religiosa dos filhos. Nos
textos da Bretanha, por exemplo,
refere-se como a mãe de Perceval lhe
fez aprender diversas orações e lhe falou
Figura 43 - Santas Mães (Século XV) A Virgem senta-se no joelho direito da mãe, Sant' Ana e Jesus ocupa o outro lado, voltando-se para o observador da escultura. A presença do livro sagrado, aqui fechado na mão de Sant' Ana, transmite a intimidade doméstica da imagem de uma mãe que comunica a sagrada sabedoria aos filhos.
sobre Deus, os Anjos e os demónios de
uma forma facilmente compreensível por uma criança nobre, explicando-lhe serem os
diabos as coisas mais feias do Mundo, os Anjos as mais belas e Deus o que ainda era
mais belo do que estes.51
50 'A vida da bemaventurada Sancta Crara' in "Adições portuguesas no Flos Sanctorum de 1513", ed. Cristina Sobral, Adições Portuguesas no Flos Sanctorum de 1513 (Estudo e Edição Crítica), Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa, 2000 (Tese de Doutoramento), p. 661. 51 Micheline de Combarieu du Gres, “Les “apprentissages” de Perceval dans le Conte du Grall et de Lancelot dans le Lancelot en Prose” in Éducation, Apprentissages, Initiation au Moyen Age, Actes du Premier Colloque International de Montpellier, Université Paul Valéry, 1991, pp. 134-135.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
No fundo, trata-se da representação literária de preceitos recomendados pelos
tratados de educação. Com efeito, muitos
deles aconselhavam as mães a começar por
ensinar aos filhos as noções elementares da
fé, sem grandes aprofundamentos e subtilezas
teológicas. O essencial seria transmitir as
certezas da existência de Deus, da Santíssima
Trindade e de Cristo, explicando-lhes como
Jesus tinha vindo resgatar a “linhagem
humana” e voltaria para a julgar.52
Contudo, nos finais da Idade Média
começa a ser frequente a recomendação para
que as próprias mães ensinassem as suas
crianças a ler,53 já que o binómio leitura-
-oração se começava a revelar fundamental
para desenvolver o diálogo a travar entre o
crente e a divindade, visto que, se as preces
permitiam falar com Deus, era pela leitura que
Ele comunicava com os fiéis. 54 Na prá-
tica, porém, um tal conselho tinha poucas
hipóteses de se concretizar; poderia apenas Figura 44 – Virgem com o Menino (Século XV) A Virgem ergue na sua mão direita uma romã, fruto simbólico alusivo à Ressurreição e, com o braço esquerdo, aconchega o Menino, sentado de perfil no seu colo, apresentando-se este com uma expressão concentrada, a redigir sobre um fólio.
ser seguido pelo muito escasso grupo das mães
que pertenciam aos mais altos escalões das
aristocracias urbanas e cortesãs, visto que só
entre algumas delas se encontrariam presen-
tes as capacidades letradas.
_______________________________________________________________________________________________ 149
52 Gil de Roma, ob. cit., ed. cit., p. 195. 53 Danièle Alexandre-Bidon, “Grandeur et renaissance du sentiment de l’enfance au Moyen Âge” in ob. cit., ed. cit., p. 58. 54 Sobre o tema da oração face à leitura, veja-se João Dionísio, “D. Duarte e a leitura” in Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, J.N.I.C.T., 1991, nº 2, pp. 7-17.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
No entanto, a progressiva difusão, através de frescos, pinturas, esculturas e
iluminuras, da imagem de Sant ' Ana, Maria, ou de ambas a desempenhar tais funções
educativas, contribuiu para prestigiar e consagrar o tema, antecipando-o
simbolicamente a uma prática social que se
viria a desenvolver durante o Renascimen-
to e a Reforma. Mesmo assim, foi ainda
nos finais da Idade Média que se
começaram a propor e a ensaiar
metodologias especificamente destinadas
ao ensino materno da leitura a desenvolver
pelas crianças. Uma delas sugeria que as
mães cortassem pedaços de fruta ou
fizessem pequenos bolos em forma de
letras, para dar a comer às crianças como
prémio sempre que elas as lessem
correctamente. Outra, atestada em França
nos finais do século XV, consistia no
fabrico de uma louça própria para a
criança que era ornamentada com o
abcedário, para lhe estimular e
desenvolver o gosto lúdico pela leitura.55
Figura 45 – Nossa Senhora com o Menino (Século XV) A Virgem, de pé, segura no seu braço direito o Menino Jesus que folheia o Livro que a Mãe segura na mão esquerda.
_______________________________________________________________________________________________ 150
55 Cf. Pierre Riché e Danièle Alexandre-Bidon, L’ enfance au Moyen Âge, ed. cit., p. 77.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
Figura 46 – Santas Mães (Século XV) As Santas Mães ensinam Jesus a ler através de um códice que ocupa ocentro da composição e onde se vêem nitidamente as letras que a criançaaponta numa postura própria de quem soletra.
Para além do ensino da fé e da leitura que a ampliava e aprofundava, competia
ainda à mãe medieval um papel importante na educação doméstica das filhas,
transmitindo-lhe as qualidades e os saberes necessários ao desempenho das suas futuras
funções de esposas e de mães. Uma tal tarefa teria como auxiliares os jogos e os
passatempos desenvolvidos pelas raparigas em torno dos brinquedos que reproduziam
bonecas ou miniaturas de louça de cozinha e de mesa, semelhantes ou iguais às já
referenciadas cerâmicas muçulmanas de uso infantil que foram ultimamente recolhidas
em intervenções arqueológicas efectuadas em Loulé e Silves. Nas louças, as meninas
_______________________________________________________________________________________________ 151
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
certamente imitariam os gestos culinários das mães, ao mesmo tempo que receberiam
exemplos e hipotéticos conselhos. Com as bonecas, ensaiariam, à luz dos modelos
maternos familiarmente observados e comentados, os modos, atitudes e cuidados a ter
com os seus futuros filhos.
Paralelamente, a educação doméstica das filhas ainda compreenderia o ensino e
o treino das artes da costura e da tecelagem, envolvendo tanto a aprendizagem da
confecção e remendo do vestuário e outra roupa, como o fiar, o tecer ou o bordar. Nas
cantigas de escárnio dos cancioneiros galaico-portugueses, a sátira às soldadeiras que
não sabiam ensinar às filhas o lavor ou mester de tecer/ nem a cordas nen a coser, e
apenas as treinariam a mui bem ambrar, ou seja, a andar com um requebro de ancas, a
saracotear-se, revela bem o facto de o ensino de tais predicados ser considerado
essencial para uma boa e correcta educação materna das filhas.56
A educação moral das raparigas também tinha nas suas progenitoras uma
primeira e decisiva instância. Como testemunha o tratamento poético dado às mães nas
cantigas de amigo galaico-portuguesas, competia-lhes, para além da constante
vigilância sentimental das filhas, afastá-las das más companhias e proibir-lhes a
participação nas danças e folguedos das romarias, para que o seu corpo fosse preservado
da suspeita ou da mancha de qualquer quebra da castidade.57 De facto, a fiscalização
da sexualidade da filha apresenta-se como âmbito privilegiado da pedagogia materna, o
principal, senão o único, pelo qual a progenitora era completamente responsável,
independentemente até da sua própria moralidade. Segundo o moralista Filipe de
Novara, mesmo as mulheres más podiam ser melhores mães do que as boas, hábeis
como eram em reconhecer nas filhas os sinais de loucura que elas haviam directamente
experimentado.58
Por fim, tanto para as filhas como para os filhos, a educação materna ainda
compreendia a fundamental missão de introduzir as novas gerações no conhecimento e
respeito das tradições familiares e comunitárias, transmitindo-lhes, sob a forma de
sentenças, provérbios, adágios e até fábulas, os saberes, ditos procedimentos relativos
_______________________________________________________________________________________________ 152
56 Pero da Ponte, "Quem as filhas quiser dar" in Cantigas d’escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses, ed. M. Rodrigues Lapa, Vigo, Ed. Galáxia, 1970, cantiga 367, pp. 543- -544. Consulte-se também Graça Videira Lopes, A sátira nos cancioneiros medievais galego-portu-portugueses, Lisboa, Estampa, 1994, pp. 221-229. 57 Veja-se Custódia Luisa Gonçalves, ob. cit., ed. cit., pp. 89-106. 58 Filipe de Novara, Les Quatre Âges de l’homme, ed. M. de Fréville, Paris, 1888, p. 20.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
ao espaço, ao tempo, à natureza, aos sentimentos, ao trabalho e às normas e conflitos
sociais, ou seja, uma cultura prática, muitas vezes oposta ou contestatária da cultura
oficial, produzida e transmitida pelos letrados.59 Auxiliadas pelas avós, as mães
contribuíam assim para a preservação e continuidade das memórias regionais,
comunitárias e familiares,60 sendo-lhes, por vezes, atribuídos os conhecimentos que
permitiam ultrapassar ameaças e catástrofes por elas previstas premonitoriamente, tal
como o expressa, entre outras figuras míticas, a Dama de Pé de Cabra, conforme surge
nos escritos compostos em função do prestígio da família dos senhores de Haro, na
Biscaia. De facto, seria a essa fundadora simbólica da linhagem, que os de Haro teriam
ficado a dever as protecções sobrenaturais que teriam preservado as suas primeiras
gerações e feito da família uma das mais valorosas e prestigiadas no mundo fidalgo
ibérico.61
Contudo, apesar da importância do papel desempenhado pelas mães na educação
das crianças, raramente foi reconhecida a realidade dessa intervenção nos textos e
tratados didácticos. De facto, em quase todos eles, mesmo no que diz respeito às
raparigas, tende a conceber-se a adolescência como uma idade que deveria decorrer sob
a supervisão paterna, cabendo aos pais começar então a impor alguma contenção ao
afecto e à condescendência feminina.
Neste sentido, aconselhava-se às mães mais responsáveis e sensatas a apenas se
preocuparem com o crescimento e a formação das crianças pequenas, confiando depois
a sua educação a uma tutela masculina, fosse a do marido, a de um aio, a de um mestre
ou, no caso das viúvas, à de um varão escolhido entre os parentes ou amigos do
falecido esposo.62 De acordo com S. Tomás de Aquino, cumprir-se-ia, assim, um
imperativo de ordem natural, já que só entre os animais era possível a fêmea criar o
filho sozinha. Ora entre os humanos, essa tarefa devia ser partilhada pelos dois cônjuges
em cujo matrimónio se geravam os filhos, corporalmente criados pela nutrição materna
e espiritualmente formados pela educação paterna.63
_______________________________________________________________________________________________ 153
59 José Mattoso, "O essencial sobre os provérbios medievais portugueses" in Obras Completas, VI, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp. 299-377. 60 José Mattoso, "Refranes que dizen las viejas tras el huego" in Obras Completas, VI, ed. cit., pp. 200-206. 61 Veja-se Luís Krus, "A morte das fadas: a lenda genealógica da Dama de Pé de Cabra" in Ler História, Lisboa, 6, 1985, pp. 3-34. 62 Claude Thomasset, “Da natureza feminina” in História das Mulheres, 2, Georges Duby e Michelle Perrot (dir.), Porto, Afrontamento, 1993, p. 167. 63 Veja-se Jean-Louis Flandrin, Familles, Parentés, Maison, Sexualité dans l’ancienne société, Paris, 1984, p. 171.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
A quase unânime aceitação letrada de uma tal orientação, mesmo entre os
tratados elaborados por mulheres – sendo essa a situação de vários textos produzidos
por Cristina de Pisano – não impediu, no entanto, o reconhecimento escrito de algumas
importantes competências educacionais maternas relativamente aos adolescentes, se
bem que, por vezes, surjam na qualidade de práticas recomendadas em complemento a
iniciativas paternas mais decisivas. Estão neste caso, por exemplo, os conselhos
fornecidos para que as mães vigiassem o ensino prestado aos seus filhos por parte dos
mestres e aios escolhidos pelo marido, implicando, desde a recomendação para que
fiscalizassem o comportamento moral desses homens, até sugestões relativas à
necessidade de verificarem os conteúdos a ensinar. Elas deviam confirmar se os mestres
estavam a educar os seus pupilos para aprenderem a servir a Deus, a progredirem no
conhecimento do latim e das ciências, a iniciarem-se nos saberes das artes laborais, a
praticarem a arte de viver no mundo e nos princípios da moral.
Outros conselhos, porém, chegavam a ultrapassar a área das competências
educativas tradicionalmente reservadas ao pai. Propunham, por exemplo, que as mães
zelassem pela educação letrada das filhas, e que, de acordo com a sua diferente
condição social, tanto procurassem instruir pessoalmente os filhos, devendo ser esse o
caso das burguesas, como diligenciassem, se fossem mulheres de artesãos, que a
educação dos filhos não ignorasse a aprendizagem do seu futuro ofício e a
aprendizagem das letras. Paralelamente, aconselhava as esposas dos serviçais e
trabalhadores a incutir nas suas crianças a moral disciplinadora dos comportamentos.64
No fundo, tratava-se de funções pouco reivindicadas pela educação paterna, não
colocando em questão o pressuposto de que o pai era o principal protagonista da obra
educativa. Não deixavam, contudo, de propor para as mães um inovador alargamento
das respectivas tarefas educativas, confiando-lhes o papel que, na prática, lhes era
reconhecido na esfera da educação moral e comportamental das filhas adolescentes.
Nesse sentido, a tratadística pedagógica dos finais da Idade Média contribuiu decisiva-
_______________________________________________________________________________________________ 154
64 Silvana Vecchio, “A boa esposa” in Georges Duby e Michelle Perrot, (dir.), História das Mulheres, 2, Porto, Afrontamento, 1993, pp.167-168.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
mente para que a generalidade dos educadores, mesmo os religiosos, passassem a
conceder uma maior atenção à função formativa das mães, sobretudo no tocante à
considerada necessária e quotidiana obra de correcção dos filhos.
Bernardino de Siena, por exemplo, incitava as mães a não só prestarem uma
atenção constante ao comportamento das filhas, de forma a mantê-las sempre ocupadas
e a puni-las devidamente se as vissem irrequietas ou frívolas, como também a
encarregarem-se da primeira instrução religiosa de toda a sua prole, ensinando-lhe as
orações fundamentais e reprimindo-lhe os pecados domésticos, blasfémias e mentiras.
“Quase fazendo da casa templo”, a mãe, sem sair do lar deveria assim moldar a alma
dos filhos, fazendo-lhes aprender, como um jogo, as práticas religiosas, ao mesmo
tempo que era solicitado o castigo das respectivas faltas com um misto de doçura e
rigor, para que as suas crianças gradualmente se transformassem em pequenos ministros
do culto doméstico.65
Contudo, permanecia ainda bastante activo o medo masculino de ver um rapaz
educado unicamente por uma mulher. Para a nobreza, a instrução materna dos filhos
nunca deixou de ser considerada centrada no lar e pouco aberta à aventura e ao
relacionamento exteriores. Para os religiosos, por outro lado, a “religião das mães”,
apresentava-se excessivamente secreta e individualista.66 De facto, nos finais da Idade
Média, a ficção cavaleiresca da infância problemática de Perceval ainda continuava a
representar a desconfiança com que a sociedade feudal encarava o excessivo
protagonismo materno na educação dos seus filhos. Com efeito, era à mãe de Perceval
que as novelas arturianas atribuíam a responsabilidade da sua educação fidalga
deficiente e escandalosa. Primeiro porque, ao apresentar-se na corte do rei Artur, o
jovem, que havia sido iniciado pela progenitora na oração e no conhecimento de Deus,
dos anjos e dos demónios, não sabia o que era uma igreja. Depois porque, ao contrário
do que acontecia com os seus pares, logo se revelou incapaz de ler, escrever ou sequer
apto para tocar um instrumento, ao mesmo tempo que também desconhecia a história e
o prestígio da sua linhagem. 67 Ora, conforme textualmente se afirma, nada disso se teria
passado se a formação de Perceval tivesse sido confinada a um experiente varão fidalgo.
_______________________________________________________________________________________________ 155
65 Silvana Vecchio, ob. cit., ed. cit., p. 178. 66 Cf. Nicole Bériou, « Femmes et Prédicateurs. La transmission de la foix aux XII et XIII.e siècles” in J. Delumeau (dir.), La Religion de ma mére, Paris, 1992, pp. 51-70. 67 Micheline de Combarieu du Gres, ob. cit., ed. cit., p. 146.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
Em suma, ao longo da Idade Média, a palavra feminina nunca deixou de ser
considerada perigosa e inconstante, justificando-se desse modo o facto de os clérigos
procurarem discipliná-la, ao mesmo tempo que alertavam os leigos para a necessidade
de vigiarem sempre a mensagem que a mãe transmitia aos seus filhos. Colocada sob a
autoridade do pater familias, a esposa, sobretudo a de origem fidalga, deveria ser
dirigida e corrigida pelo marido e respectiva linhagem. 68
6 - O MEIO NOBILIÁRQUICO
Entre a fidalguia, se era reconhecido ser a natureza das madres comunalmente
mais inclinada ao esguardo de seus filhos, devendo esse facto contribuir para que elas
desempenhassem um importante papel educativo durante os primeiros anos de vida da
criança, como a de primeiramente a ensinar a servir Deos, recomendava-se que mal os
filhos varões atingissem a puberdade logo fossem confiados a um mestre letrado, a
quem passaria a competir a tarefa de fazê-los
leer aas horas convinhavees de guisa que apraza a seu padre o saber de sua
ciencia, a qual cousa stá mui bem aos filhos dos grandes homeens.
Neste contexto normativo, enunciado entre outros pedagogos por Cristina de
Pisano, ainda que se defendesse dever competir à mãe zelar pela competência
do saber e dos costumes do mestre, e dos outros que seram a seu serviço e tirar
os que nom forem bõõs e poer outros em seu lugar,
era então pacificamente reconhecido dever a progenitora começar a ser
secundarizada na questão do estado e governança de seus filhos varões, limitando-se,
quanto muito, a vigiá-los e a repreendê-los asperamente no que for de repreender, para
que, ao temê-la, lhe hajam reverença e lhe façam honra.69
A tutela masculina da educação dos fidalgos adolescentes justificava-se pelo
lugar que nela desempenhava o adestramento físico e militar. Envolvendo a aprendiza-
gem da equitação, da caça e do manejamento das armas, ela remetia, logicamente, para
_______________________________________________________________________________________________ 156
68 Sobre o recomendável uso contido e controlado da palavra feminina e as consequências da mulher ousada e muito fallador, veja-se, Ana Rodrigues Oliveira, As representações da mulher na cronística medieval portuguesa (sécs. XII a XIV), Patrimonia Histórica, Cascais, 2000, pp. 70-78. 69 Sobre estes conselhos, veja-se Cristina de Pisano, ob. cit., ed. cit., pp. 187-188.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
a presença formativa de varões adultos não só bem experimentados nas artes da
cavalaria, montaria, cetraria e guerra feudal, como superiormente representativos dos
valores ético-morais que orientavam a prática nobiliárquica de todas essas actividades.
Durante os séculos XII e XIII, a aprendizagem juvenil da condição fidalga
implicava, frequentemente, o abandono da casa paterna, por vezes logo após o
desmame. Separados da mãe e das irmãs, os filhos dos nobres passavam, então, a
participar no mundo viril das cavalgadas, caçadas, armas e jogos de destreza guerreira,
ao mesmo tempo que se incorporavam nos quotidianos próprios das famílias nobres
onde passavam a viver, contribuindo deste modo para o reforço dos laços de
dependência feudal que os uniam às suas linhagens de origem. Esta integração numa
nova família podia, inclusivamente, sobrepor-se à própria consanguinidade, reforçando-
-a ou mesmo substituindo-a como laço vinculador. A expressão "criado de" ou "da
criação" designando uma relação de especial proximidade estabelecida entre duas
pessoas durante uma parte inicial das suas existências, se não implicava uma condição
jurídica específica, implicava, no entanto, uma ligação social e afectiva muito forte.
Uma vez estabelecida, era um elo duradouro e estruturante mesmo depois de se terem
interrompido o convívio e a protecção económica ou educacional que a
materializaram.70 Esta proximidade entre parentesco e criação, esta mistura de
obrigações e afectos, conhecida como "amor de dívedo" e ao qual se refere, por
exemplo, o rei Duarte,71 é bem visível no seguinte texto atribuído a Sancho IV:
E para mientes quand muy fuerte cosa es la criança que el omne faze, que el fijo
que es ajeno por la criança que le faze aquel que le cria, le ama e lo tiene bien
asi commo si fuese su fijo.E muchas vegadas acesce que le quiere el omne mas
que sy fuese su fijo72
No caso de serem filhos secundogénitos ou bastardos, esta verdadeira forma de
pseudo-parentesco fazia-os, em muitos casos, perder a memória da sua filiação
biológica, neutralizando-se, desse modo, as temidas e frequentes revoltas dos jovens
fidalgos deserdados.73
_______________________________________________________________________________________________ 157
70 Sobre o conceito de "criação", veja-se Rita Costa Gomes, A corte dos reis de Portugal nos finais da Idade Média, Lisboa, Difel, 1995, pp.179-231 71 Obras dos Príncipes de Avis, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1981, p. 328. 72 Castigos e documentos para bien vivir ordenados por el Rey don Sancho, ed. Agapito Rey, Bloomington, Indiana University Press, 1952, p. 57. 73 Georges Duby, Guilherme, o Marechal, O Melhor Cavaleiro do Mundo, Lisboa, Gradiva, 1994, p. 59.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
No seu conjunto, todas estas práticas de educação cavaleiresca encontram-se
bem documentadas para os filhos da realeza portuguesa. Com efeito, entre os primo-
génitos é bem conhecido como os ainda infantes Afonso Henriques, Sancho I ou Sancho
II foram confiados pelos pais à criação por famílias da grande nobreza nortenha. Nos
dois primeiros casos, trata-se de linhagens tradicionalmente consideradas como fun-
dadoras da fidalguia portuguesa, seja a dos senhores da Maia, onde foi educado o
primeiro rei de Portugal, tendo essa circunstância sido depois decisiva para a obtenção
dos apoios político-militares que lhe permitiram reivindicar e obter a chefia dos
territórios antes submetidos ao poder paterno, 74 seja a dos senhores de Riba Douro, na
qual se criou Sancho I, o monarca que mais tarde também lhes confiou a educação de
uma das filhas, a infanta Mafalda. Relativamente a Sancho II, sabe-se como foi entregue
pelo pai aos senhores de uma linhagem, a dos Riba de Vizela, que havia ascen-dido por
protecção régia na escala nobiliárquica lusa desde os finais do século XII. 75
Quanto aos filhos segundos e bastardos, se esta mesma prática régia de
delegação educativa e formativa também privilegiou a escolha das linhagens da alta
nobreza, como sucedeu, por exemplo, relativamente aos senhores de Baião por parte de
Sancho I, acabou sobretudo por recair em diversas famílias campesinas ou vilãs que
assim puderam adquirir protecção e privilégios régios, de acordo com um procedimento
largamente documentado entre os fidalgos minhotos, conforme já foi mencionado no
contexto das práticas sociais de aleitamento utilizadas para os respectivos filhos, a
propósito da chamada senhorialização por amádigo. 76 De facto, ainda em 1290, era um
dos principais objectivos da política centralizadora do rei Dinis a verificação de que em
nehuu logar hu criarem ffilho de baragaa nom seia onrrado per razom da criança.77
Aliás, o costume régio e fidalgo de confiar a educação cavaleiresca dos filhos
segundos e bastardos a famílias nobres feudalmente obrigadas e em condições de mais
tarde os virem a proteger e a favorecer, manteve-se activo durante os finais da Idade
_______________________________________________________________________________________________ 158
74 Vejam-se Torquato de Sousa Soares, “O governo de Portugal pela infanta-rainha D. Teresa (1112-1128)” in Colectânea de Estudos em honra do Prof. Doutor Damião Peres, Lisboa, 1974, p. 115 e José Mattoso, Ricos-homens, Infanções e Cavaleiros. A nobreza medieval portuguesa nos séculos XI e XII, Lisboa, Guimarães, 1985, p. 164. 75 Consulte-se A. de Almeida Fernandes, " Proles régias criadas em meio rural nos séculos XII e XIII" in Esparsos de História, Porto, 1970, pp. 161-183. 76 Vidé capítulo CRESCER, pp. 114-115. Consulte-se, também, Valdevez Medieval, Documentos I. 950- -1299, Amélia Aguiar de Andrade e Luís Krus (coord.), Arcos de Valdevez, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 2000, pp. 220-257. 77 Cf. Humberto Baquero Moreno, "Subsídios para o estudo da legitimação em Portugal na Idade Média (D. Afonso III a D. Duarte)" in Revista de Estudos Gerais Universitários de Moçambique, 4, Lourenço Marques, 1967, p. 219.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
Média. Com efeito, como esclarecem os cronistas, tanto o futuro rei João I como Nuno
Álvares Pereira, sendo ambos bastardos, foram criados fora da casa paterna. Sobre o
primeiro refere-se que o pai o entregou ao Mestre de Cristo, Nuno Freire, sublinhando-
-se como este o criou e teve em seu poder até que aos sete anos o fez entrar na cavalaria
da Ordem religiosa que chefiava.78 Quanto ao segundo, depois de se lembrar como
sem repugnancia às letras, sua particular inclinação era para as
armas,menciona-se como o seu pai, ao saber por huu gram leterado e mui
profumdo astrollogo, que o filho avia de seer veemçedor de batalhas pedira por
mercee ao rei Fernando I que tomasse NunAllvarez, moço de treze anos, que
ainda numca tomara armas, por seu morador, havendo sido a rainha Leonor
Teles quem o armara de sua mãao come seu escudeiro numa cerimónia em que,
porque NunAllvarez era de pouca hidade e não se podiã achar huu arnes tam
pequeno, lhe foi emprestado o do futuro rei João I, que o ouvera em seemdo
moço. Depois, por disposição régia, ainda se conta ter sido entregue a seu tio
Martim Gonçalves do Carvalhal, para que este cuidasse do necessário, em
benefício de sua pontual assistencia.79
A mesma situação ainda se encontra referida por Zurara para uma geração
posterior. De facto, a propósito de um outro bastardo fidalgo, Duarte de Meneses, o
cronista não deixa de mencionar como o pai, o senhor de Ceuta, entregara a sua
criaçom, quando ainda era mynyno de mama em ydade de noue meses, a João
Álvares Pereira, pela singullar amizade que auya com elle, possibilitando-lhe,
desse modo, uma adequada educação cavaleiresca já que, mal a criança
começou dandar logo teria mostrado sinaaes daquello que auya de seer ca
nunca podya fallar senom em cauallos e armas.80
Globalmente, uma tal educação fidalga procurava harmonizar um ensino de tipo
discursivo com uma disciplinada prática exemplificativa, ao mesmo tempo que visava
incutir nos jovens uma ética guerreira capaz de conciliar nos aprendizes de cavalaria
_______________________________________________________________________________________________ 159
78 Fernão Lopes, Crónica de D. Pedro, ed. A. Borges Coelho, Lisboa, Livros Horizonte, 1977, p. 163, capítulo XLIII. 79 Fernão Lopes, Crónica del Rei D. João I, ed. A. Braamcamp Freire e W. Entwistle, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1977, pp. 67-68; Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 289 - -290.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
duas distintas atitudes, a da dureza e impiedade para com os inimigos ou para com os
que aviltassem ou desonrassem os valores da fidalguia, e a da mesura e
condescendência para com os seus pares, superiores ou protegidos desarmados,
conforme se encontrava amplamente referido na tradicional literatura cavaleiresca
feudal. 81 Ora, nas infâncias que Zurara cronisticamente compôs acerca do futuro conde
Duarte de Meneses existem vários apontamentos memorialísticos acerca das
consequências comportamentais de uma tal aprendizagem, sobretudo as relativas à
interiorização da primeira das atitudes referidas.
No fundo, dever-se-iam ao sucesso de tais práticas educativas muitas das
maravilhas que o cronista atribui ao moço Dom Duarte, como seja a circunstância de,
em Ceuta,
assy pequeno como era nunca se fazya nenhuum mouimento na cidade pera sayr
fora a alguma vista que auyam de mouros que logo nom fosse em Joelhos ante o
padre a pedyrlhe que o leixasse sayr com os outros.
Ou então as valorizadas
contenença e ardileza que mostraua no cometimento dos contrayros, a força
com que ferya, e a alegria manifestada por que achaua comprimento do que sua
voontade tanto desejava. Em suma, o comportamento de um pequeno homem
que nom passava dos XV annos, a quem o pai, o conde D. Pedro, leuantou a
mãao com a espada e fezeo caualleyro.82
Na verdade, a apologia cronística de uma educação juvenil de tipo guerreiro não
se limitou ao registo das façanhas praticadas pelos muito novos filhos dos nobres que
estavam empenhados na guerra contra o Islão africano. Num contexto marcado pelo
ressurgir dos ideais cavaleirescos da cruzada, ela também consagrou a lembrança de
como os príncipes a partilhavam e exerciam. Nesse sentido, Rui de Pina ainda recorda
como o futuro rei João II, então com dezasseis anos, fora um notável guerreiro nos
combates travados contra os mouros de Arzila, levando a que seu pai, o monarca
Afonso V, pelo contentamento da
_______________________________________________________________________________________________ 160
80 Gomes Eanes de Zurara, Crónica do conde D. Duarte de Meneses, ed. L. King, Lisboa, Universidade Nova, 1978, p. 51. 81 Micheline de Combarieu du Gres, ob. cit., ed. cit., pp. 140 e 147-148. 82 Gomes Eanes de Zurara, ob. cit., ed. cit., pp. 53-54.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
gloria de ver aquelle dia na maaõ do Pryncepe sua espada de bravos golpes
torcida, e de sangue de infyees em todo banhada, o tivesse armado por
cavaleiro, com pallavras de grandes louvores.83
7 - O MODELO CORTESÃO
Entretanto, desde a segunda metade do século XIII que a educação dos príncipes
passara a estar mais centrada na corte régia, à medida que as moradas dos reis tendiam a
fixar-se nas principais cidades do reino. De facto, é então que se começa a abandonar a
prática régia de entregar a criação dos príncipes às famílias da grande nobreza do reino.
Os jovens infantes passaram, assim, a ser criados junto das mães, sabendo-se que, por
exemplo, a rainha Beatriz de Castela, mulher do rei Afonso IV, teve junto de si, entre os
anos de 1313 e 1347 os seus sete filhos (dos quais apenas as infantas Maria e Leonor e
Pedro, o futuro herdeiro do trono, sobreviveram), bem como os dois netos, após a
morte, em 1349, da nora Constança Manuel. Também Leonor Teles manteve junto de si
a filha Beatriz até à sua entrega ao rei de Castela em 1383, com dez anos de idade. Dos
descendentes de Filipa de Lencastre, só a partir dos treze/catorze anos se conhece um
conjunto de servidores para os mais velhos, Duarte e Pedro. Ainda Leonor de Aragão
conservou consigo até ao exílio, em 1440, os seus cinco filhos sobreviventes, partindo
depois apenas com a pequena infanta Joana, de um ano de idade.
_______________________________________________________________________________________________ 161
83 Rui de Pina, “Chronica do Senhor Rey D. Affonso V” in Crónicas, ed. cit., p. 822.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
A partir de Afonso III assiste-se, pelo contrário, através da institucionalização
das casas dos príncipes,84 à deslocação para os paços da coroa dos filhos das mais altas
linhagens fidalgas, que aí passavam a ser mantidos e educados.85
Assim, à medida que os reis iam dotando os seus herdeiros de
caza muy honrada, e de muitos vassallos, e de muy ricos homens, e de seu
asentamento grande contia de dinheyro, e muitos Lugares de sua jurdiçaõ,
conforme refere Rui de Pina a propósito da fundada pelo rei Dinis em intenção do
infante Afonso, então com sete anos de idade,86 tendia a inverter-se a primeira situação.
No século XV, por exemplo, já os procuradores às cortes do reino se queixavam dos
custos que acarretava a criação régia dos muitos filhos dos nobres que afluíam à corte,
criticando o monarca pela sobeja despesa e pejo de pousadas que provocava o facto de
o soberano dar cassa e moradia de homeens a tantos fidalgos de seyes ou sete annos,87
sobretudo após os tempos em que a menoridade de Afonso V, aclamado rei aos seis
anos de idade, 88 tornara a frequência juvenil da corte cada vez mais atractiva para os
vassalos da coroa aí colocarem os seus descendentes, em busca das vantagens que lhes
poderia trazer o desenvolvimento de uma amizade com o rei menino.
De uma forma geral, as alterações introduzidas pela sociabilização cortesã do
processo educativo dos príncipes e dos nobres que com ele partilhavam idade, casa e
quotidiano, possibilitaram a progressiva valorização do papel formativo a desempenhar
pelo pai, tal como, de resto, já antes se encontrava literariamente expresso no discurso
que a chamada Gesta de Afonso Henriques fizera o conde Henrique de Borgonha
pronunciar ao herdeiro pouco antes de morrer. Aí se encontra, com efeito, uma série de
conselhos e advertências sobre o futuro exercício do poder político que, no seu
conjunto, exaltam o dever paterno de zelar pelo futuro dos filhos.89
Será contudo em meados do século XIII que surge mais desenvolvido e
aprofundado um tal modelo formativo. Segundo Afonso X, o pai arquétipo, o rei, devia
criar os filhos con gran bondad y muy limpiamente. Primeiro, prodigalizando-lhes a
abundância de tudo o que necessitassem, pois assim crecerán por ello mas pronto y
_______________________________________________________________________________________________ 162
84 Leontina Ventura, A nobreza de corte de Afonso III, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1992 (Tese de Doutoramento), pp. 538-540. 85 Rita Costa Gomes, ob. cit., ed. cit., pp. 197-205. 86 Rui de Pina, “Coronica DelRey Dom Diniz”, in Crónicas, ed. cit., p. 254. 87 Citado por Rita Costa Gomes, ob. cit., ed. cit., p. 198. 88 Rui de Pina, “Chronica do Senhor Rey D. Duarte” in Crónicas, ed. cit., p. 575.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
serán más sanos y más recios y tendrán más nobles corazones. Depois, zelando pelo
seu saber e entendimento, visto que, ao serem criados na pureza e na perfeição, para
além de se virem a tornar mais nobres, dariam bom exemplo aos outros. Paralelamente,
ainda lhes competiria, para além de assegurar que ninguém falasse contra os seus filhos,
nem que eles dissessem ou fizessem mal a alguém, escolher muito bem quem deles
tomaria conta e ensinaria.90 Nesse sentido, logo à nascença dos filhos, não deveria o
pai alhear-se da questão da escolha das amas, uma matéria tradicionalmente reservada
às mães. Com efeito, segundo Afonso X, competir-lhe-ia verificar se elas eram
bien cumplidas y sanas, y hermosas y de buen linaje y de buenas costumbres, y
señaladamente que no sean muy sañudas, pues si tuvieren abundancia de leche
y fueren bien cumplidas y sanas, criarón los niños sanos y recios; y si fueren
hermosas y apuestas, las amarán más los hijos que críen, y habrán mayor
placer cuando las vieren, y se dejarán mejor criar.91
Porém, mais decisiva do que a função de superintender na escolha das aias a
atribuir aos filhos era agora o dever paterno de evitar que essa tutela feminina se
prolongasse após a criança ter atingido a sua primeira infância, visto considerar-se,
conforme viria a expressar mais tarde o cronista Rui de Pina, ser a criaçam em poder
de molheres muy danosa, porque propícia a tornar o adolescente fraco e feminado,
sendo esse um perigo que se pera qualquer homem pryvado he aleijam sobre todos,
quanto mais pera Rey. Sendo assim, convinha então que o pai cedo se impusesse como
presença educativamente actuante e interventora, levando o filho
ao monte e aa caça e introduzindo-o no exercício das armas e nos enxemplos e
doutryna, e merecimentos da cavallaria. E assy as outras cirimonias, manhas e
cousas que ao Estado de hum tal Pryncipe convem, assy pera os tempos
publicos, como secretos. 92
Para tudo isto continuava, contudo, a ser necessário o apoio de aios e de mestres
letrados, não só escolhidos pelo monarca entre os seus grandes e fiéis vassalos, como
entre os fidalgos e os eclesiásticos representativos dos sectores que se encontravam
_______________________________________________________________________________________________ 163
89 Consulte-se António José Saraiva, A épica medieval portuguesa, Lisboa, I.C.A.L.P., 1991, pp.30-33. 90 Alfonso el Sabio, Partida Segunda, Título 7, Lei 2 in Las Siete Partidas del Rey ..., ed. cit., p. 154. 91 Alfonso X el Sabio, Partida Segunda, Título 7, Lei 3 in Las Siete Partidas del Rey..., ed. cit., p. 155. 92 Rui de Pina, “Chronica do Senhor Rey D. Affonso V” in Crónicas, ed. cit., pp. 643-645.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
sintonizados com as suas políticas e decisões governativas. Nesse sentido, a principal
inovação do modelo régio de educação do príncipe consistia na escolha de coadjuvantes
recrutados entre os nobres e os eclesiásticos que moravam ou frequentavam
assiduamente a corte do soberano, encontrando-se, portanto, nas condições ideais para
iniciar o herdeiro da coroa em atitudes, aprendizagens e ensinamentos minimamente
articulados com os princípios orientadores do governo do pai.
No contexto da progressiva afirmação do primado da centralização régia do
poder, a educação dos príncipes ultrapassou então os objectivos e conteúdos até aí
dominantes, passando a envolver a necessidade de que o futuro herdeiro da coroa
adquirisse, para além dos atributos exigíveis a qualquer jovem fidalgo, os que lhe
viriam a permitir posicionar-se como garante e continuador de uma específica cultura e
sociabilidade cortesãs, conforme um programa educativo que, elaborado a nível
peninsular por Afonso X de Castela e Leão, acabou por ser aplicado e continuado nas
cortes portuguesas do genro e do neto, os reis Afonso III e Dinis.93 De facto, foi na
segunda metade do século XIII que se iniciou o costume de ensinar aos príncipes as
normas e os comportamentos próprios da corte régia, de acordo com uma etiqueta e um
cerimonial que, rapidamente, acabaram por figurar entre a matéria a ser tida em conta
na educação dos jovens fidalgos presentes na casa do rei, e, por imitação,
progressivamente, na dos que iam crescendo nas principais moradas senhoriais da
nobreza do reino.
Tratava-se, em primeiro lugar, de ensinar aos filhos dos reis e dos nobres cómo
hablen bien y apuestamente, ou seja, treiná-los para que não falassem nem muito alto
nem muito baixo, ou se expressassem demasiado depressa ou devagar, e, sobretudo,
através de uma gesticulação exagerada, pela qual a língua tendia a ser substituída pelos
membros, así como moviéndolos muy a menudo, en manera que semejasem a los
hombres que más se atreven a mostrarlo por ellos que por palabra já que tal atitude
seria publicamente interpretada como gran falta de compostura y mengua de razón. De
resto, para afastar a possibilidade de fornecer uma tal imagem, também deveriam os
jovens aprender, quer a controlar a sua postura corporal, evitando estar nem muito
direitos, nem muito curvados, andar depressa, devagar, arrastar os pés, pular ou
levantar-se e sentar-se brusca e arrebatadamente, quer a sempre se vestirem de forma
_______________________________________________________________________________________________ 164
93 Consultem-se Leontina Ventura e Rita Costa Gomes, obs. cits., eds. cits.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
conveniente e distinta, trajando roupas muy apuestas y muy limpias, así como conviene
a hijos de reys e de nobres.
Depois, para além da necessidade de aprenderem a saber escutar quem se lhes
dirigia, sem abrir a boca ou saudar despropositadamente, recomendava-se um especial
cuidado no treino do comportamento a ter durante as refeições e os banquetes, já que
correspondiam aos principais momentos em que os jovens se expunham perante a corte
dos pais. Assim, antes94 e depois de comer, convinha então que soubessem que se
deveria lavar as mãos e depois limpá-las a toalhas e não à roupa, como faziam os que,
não vivendo na corte, nada sabiam nem de limpieza ni de apostura. À refeição, por sua
vez, exigia-se-lhes que colocassem em prática a aprendizagem dos preceitos de bem
comer e beber.
Relativamente ao primeiro aspecto, era necessário saber não dar mostras de
glutonice ou prazer excessivo, pelo que deviam praticar os interditos de não meter à
boca comida quando ainda a tinham cheia, manipular ou reter na mão pedaços de
alimentos com tamanho superior ao que podiam deglutir, abocanhá-los feamente com
toda la boca à manera de bestias más que de hombres, ou devorá-los rapidamente sem
sequer os mastigar.95 Pelo contrário, fazia parte da educação a exibirem, manterem-se
afastados do prato durante as refeições e não falarem ou cantarem enquanto comiam,
sob pena de virem a ser censurados pelo gran desaliño e pela sofreguidão próprias dos
comensais vilãos que escondiam a comida com o corpo debruçando-se sobre o prato, ou
que exteriorizavam uma animação desencadeada más con alegría de vino que por otra
cosa.
Quanto ao beber, tanto fazia parte da educação dos jovens príncipes e nobres
conhecer que só deviam ingerir vinho às refeições fazendo-o moderadamente e depois
de nele se verter água, como saber nunca procurar bebê-lo, quer ao despertar, porque
lesivo do cérebro, quer em jejum, visto assim retirar o sabor dos alimentos, fazer tremer
os membros e diminuir a capacidade e entendimento. Mesmo depois de comer, também
não era aconselhado fazê-lo, por ser considerado responsável pelo desejo de prazeres
que, a serem concretizados, enfraqueceriam o corpo e o predisporiam para a produção
_______________________________________________________________________________________________ 165
94 Por exemplo, a carne se fosse comida com as mãos limpas, para além de ser mais saborosa fazia maior proveito: Alfonso el Sabio, Partida Segunda, Título 7, Lei 5 in ob. cit., ed. cit., p. 157. 95 Para além de demonstrar grande falta de educação, também a comida mal mastigada estragava-se e dava origem a doenças: Alfonso el Sabio, Partida Segunda, Título 7, Lei 5 in Las Siete Partidas del Rey, ed. cit., p. 157.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
de filhos pequenos e fracos. Em suma, mostrarem-se informados de que o vinho lhes
podia incendiar
la sangre de manera que por fuerza han de ser sañudos y mal mandados. Y
después, cuando son grandes, han de ser follones y contrarios a los que con
ellos viven
e até desencadear doenças como a sonolência que trazia os pesadelos, as postemas na
cabeça ou frequentes constipações.96
No seu conjunto, a aprendizagem de todos estes preceitos e comportamentos,
vigiados e modelados pelos pais, não só contribuíram para disciplinar as energias
próprias dos jovens príncipes e fidalgos que, paralelamente, se iniciavam nos exercícios
bélicos e nos jogos e actividades palacianas, sendo esse o caso da música ou da dança,
como também para os formar nos hábitos, costumes e cerimoniais que exaltavam e
consolidavam os poderes da realeza e da nobreza cortesãs. De resto, a aquisição das
regras e da etiqueta da corte ainda era incentivada nas crianças e nos jovens que nela se
criavam através da difusão oral e festiva de uma cultura literária específica, muito atenta
à necessidade de lhes fornecer exemplos relativos aos comportamentos, vivências e
ideais a praticar pelos bons e fiéis vassalos, tanto no que respeita às modalidades do seu
relacionamento com os respectivos pares, como no concernente aos seus dependentes e
senhores, disso fazendo o objectivo principal do correcto uso das aptidões adquiridas
pelos pequenos príncipes e cavaleiros fidalgos.97
Progressivamente, este novo modelo de educação dos filhos das mais poderosas
elites políticas do reino, onde se articulavam e complementavam ensinamentos de tipo
físico, bélico, intelectual e comportamental, acabou por se afirmar como condição
necessária para os jovens poderem atingir, igualar ou suplantar o estatuto detido pelos
pais que neles investiam a preservação da sua continuidade linhagística ou dinástica
sem olhar a meios e gastos. Em 1481, nas cortes do reino celebradas em Évora e Viana
do Alentejo, os representantes dos concelhos chegaram mesmo a recomendar ao rei
João II algumas restrições a efectuar nas despesas feitas pela coroa para financiar a
_______________________________________________________________________________________________ 166
96 Para todas estas regras e normas de cortesia: Id., ibidem. 97 Veja-se a síntese de António Resende de Oliveira, "A cultura das cortes" in Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem (coord.), Portugal em Definição de Fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV, Nova História de Portugal, III, Lisboa, Presença, 1996, pp. 660-692.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
educação cortesã dos filhos e muitas mais crianças fidalgas que eram criadas em sua
casa.98
Com efeito, sendo reconhecidas as vantagens trazidas à pacificação interna do
reino pela prática régia de fazer criar os filhos dos principais vassalos da coroa,
mandando-os no seu paço e em conjunto
ensinar gramática, a jogar a espada de ambas as mãos, a dançar e a bailar, e
todas as outras manhas e costumes que tiram os moços de vícios e os chegam a
virtudes,
recomendara-se então ao soberano restringir essa actividade aos primogénitos dos
nobres que eram educados com os infantes, para, ao excluírem-se os secundogénitos,
diminuir gastos e ostentação. Ao que o monarca centralizador, bem consciente do valor
político dessas despesas, logo respondeu não estar disposto a aceitar um tal pedido.99
Na verdade, o modelo cortesão de educar os jovens príncipes e fidalgos
dependia, em grande parte, do interesse e da vontade do rei ou do nobre que o promovia
ou aplicava em intenção dos filhos, resultando o seu funcionamento bem problemático
quando ele estava ausente, nomeadamente por morte. Segundo Armindo de Sousa,
teria sido determinante para o exercício da realeza por parte de D. Afonso V a sua
infância de órfão de pai aos seis anos e praticamente de mãe aos sete, vivendo separado
dos irmãos, e tendo sido educado por um tio “algoz” da mãe, o infante Pedro. Sem
sólidos referenciais familiares de nada lhe teria servido uma educação de tipo cortesão
em que faltara a experiência de uma iniciação paterna ao pragmatismo governativo.
Assim, educado no apreço retórico e literário dos grandes feitos e epopeias do passado,
ter-lhe-ia sido impossível “entender que entre o mundo" imaginado e aquele em que
realmente vivia "ia um abismo de séculos”.100
_______________________________________________________________________________________________ 167
98 Henrique da Gama Barros, História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII a XV, II, ed. Torquato Sousa Soares, Lisboa, Sá da Costa, 1945-54, p. 375. 99 Henrique da Gama Barros, ob. cit., ed. cit., p. 376. 100 Armindo de Sousa, “1325-1480” in José Mattoso (dir.), História de Portugal, 2, Lisboa, Estampa, pp. 505-508.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
8 - AS DONZELAS
Entretanto, embora também fossem, em princípio, criadas na corte paterna, as
pequenas princesas ou fidalgas recebiam uma educação relativamente diferenciada.
Mais confiadas à tutela materna do que à paterna, e naturalmente arredadas dos
exercícios físicos para adestramento cavaleiresco que eram reservados aos irmãos, tanto
desenvolviam, em contrapartida, uma aprendizagem aprofundada da gestão das tarefas
domésticas em que podiam, por vezes, chegar a ser iniciadas, sobretudo no que respeita
à costura ornamental, ou seja, ao bordado, como podiam aprofundar, numa perspectiva
tendencialmente pietista, os conhecimentos letrados indispensáveis ao desenvolvimento
das vivências religiosas. De facto, como salienta Costa Lobo, as duas irmãs do rei
Afonso V, as infantas Catarina e Joana, possuíam desde meninas, para lá de um comum
livro de orações, o seu próprio e indispensável “livro de grammatica de arte nova”.101
Traduzido para português nos finais da Idade Média, O Livro das Três Vertudes
de Cristina de Pisano continha algumas sugestões sobre o papel que a mãe deveria ter
na governança e doutrina de suas filhas, começando com a cuidadosa escolha de boas
e sajes mulheres para o exercício das funções de aia. A seleccionar entre fidalgas de bõõ
nome, devotas, honradas, prudentes e ajuizadas, competia-lhe ensinar as donzelas a
mostrar a contenença e o jeito que perteece aa filha do grande príncipe. Para isso
deveriam ter já alguma idade para que tivessem o siso mais maduro e inspirar o devido
respeito e temor, como sempre falarem às pupilas de bõõs costumes e nom de cousas
vããs nem dessalutas, ao mesmo tempo que as iam iniciando na leitura dos livros de
orações. Só assim, de facto, fariam adquirir às donzelas a maneira respeitosa, sisuda,
honesta e recatada que as faria enxempro de tomarem sua regra.102
Contudo, a frequente prática de um casamento muito precoce, por vezes
justificado pelo receio que os pais tinham de que a filha pudesse perder a virgindade
numa corte em que se encontravam presentes muitos rapazes,103 fazia com que esta
educação fosse frequentemente encurtada ou perturbada pela transferência das donzelas
para a casa de um futuro esposo ou do marido. Com efeito, era frequente o abandono da
casa paterna pelas raparigas fidalgas quando atingiam a idade requerida para o permitir,
_______________________________________________________________________________________________ 168
101 A. de Sousa Silva Costa Lobo, História da Sociedade em Portugal no século XV, Lisboa, Imprensa Nacional, 1903, pp. 439-440. 102 Cristina de Pisano, ob. cit., ed. cit., p. 188. 103 Danièle Alexandre-Bidon e Didier Lett, Les enfants au Moyen Âge, ed. cit., p.84.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
ou seja, a partir dos sete anos para os prometimentos que o direito chama esposórios, ou
desde os doze para um já efectivo casamento.104
Sendo assim, nos finais da Idade Média não se investia grandemente na
formação das donzelas, já que a sua principal função familiar consistia na possibilidade
de propiciar alianças matrimoniais que implicavam, amiúde, uma sua transferência para
a corte marital. Nesse sentido, não se tornava especialmente vantajoso um grande
investimento na respectiva formação infantil e juvenil. Para os pais, elas representavam
um capital bruto destinado a obter genros ou a fortalecer alianças com linhagens de
idêntico ou superior prestígio. Para os rapazes solteiros, os juvenes, as donzelas das
famílias fidalgas, representavam um precioso bem a conquistar para um casamento que
lhes forneceria, não só os meios para adquirir terras e direitos, ou seja, a possibilidade
de constituir uma domus própria, como também uma forma de lhes assegurar
descendência e continuidade familiar. Em ambos os casos, eram relativamente
secundárias as questões de uma sua esmerada educação infantil ou juvenil. 105
Conforme recorda Fernão Lopes, a infanta Beatriz, filha e herdeira do rei
Fernando I, constituiu um notável exemplo desta situação. Até aos onze anos de idade,
sem que o cronista forneça quaisquer informações relativas à sua criação, formação ou
educação, ela surge nas crónicas como um disputado objecto contratual, mencionando-
-se, no ano do seu primeiro aniversário, como prometida esposa do infante Fradique de
Castela, por ocasião da narrativa dos acordos de paz luso-castelhanos celebrados em
Santarém em 1373 e, depois, a partir dos seus oito anos, na sequência de notícias
respeitantes a renovados contratos de promessas de casamento, reaparece,
sucessivamente, como futura mulher dos infantes Henrique de Castela (1380), Eduardo
de Cambridge (1381), Fernando de Castela (1382), sendo finalmente relatado o seu
efectivo casamento, em 1383, com o rei João I de Castela, já viúvo de Leonor de
Aragão.106
_______________________________________________________________________________________________ 169
104 Veja-se, por exemplo, Synodicon Hispanum,II – Portugal, ed. Francisco Cautelar Rodriguez, Avelino de Jesus da Costa, António Garcia Y Garcia, Antonio Gutierrez Rodriguez, Isaías da Rocha Pereira,, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, p. 236. 105 Ana Rodrigues Oliveira, As representações da mulher na cronística medieval portuguesa (sécs. XII a XIV), ed. cit., pp. 31-62. 106 Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando, ed. G. Macchi, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1975, pp. 339-340, 405, 451, 460, 535, 545 e 549. Nos esponsórios celebrados entre a infanta e Eduardo de Cambridge, menciona-se a cerimónia durante a qual os moços muito pequenos forom ambos lançados em huua grande cama e bem corregida e os bispos e prelados rrezarom sobre elles, e os beenzerom: Id., ibidem, p. 460.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
De resto, Beatriz não figura isoladamente na cronística de Avis. Também nela se
mencionam outras meninas infantas que, muito novas, se viram obrigadas a abandonar a
corte paterna para cumprir um destino matrimonial que nada a tinha a ver com afectos
ou interesses despontados pela sua beleza, personalidade ou saber, mas que antes
implicaram forçadas e traumáticas rupturas com os quotidianos cortesãos em que
haviam crescido e se tinham educado. De facto, entre elas, tanto se mencionam infantas
castelhanas como portuguesas. No primeiro caso figuram uma criança de quatro anos de
idade, Beatriz Sanches de Castela, a futura rainha do monarca Afonso IV, que
seendo ainda muy moça, andou muy honradamente em caza delRey D. Diniz em
quanto ambos eraõ soomente cazados por palavras de futuro107
e Branca Peres de Castela, uma prometida esposa do ainda infante Pedro I, que
elRey Dom Afonso de Portugal, como propria filha trazia, & criava em sua
propria caza, pera que tanto que fosse em idade de cazar.108
No segundo, a infanta Isabel, uma filha bastarda do rei Fernando I, prometida
como esposa de um filho do rei Henrique de Castela, que andou em casa d’el-rrei, ataa
que cumprio os anos pera poder casar. 109 Desde cedo, todas estas jovens infantas,
assim como muitas outras fidalgas, eram objecto de uma cruel ruptura familiar. De
repente, as figuras familiares que as faziam saltar nos joelhos antes de as mandarem
brincar, transformavam-se em maridos exigentes, porque conscientes da necessidade de
possuir filhos legítimos a quem legar o seu património. Era, assim, bruscamente
interrompido o seu processo educativo, para logo dar lugar ao desempenho de uma
função materna a quem os interesses dinásticos ou linhagísticos exigiam a rápida
produção de filhos.
_______________________________________________________________________________________________ 170
107 Rui de Pina, “Coronica delRey Dom Diniz” in Crónicas., ed. cit., p. 254. Passagem paralela na Crónica dos Sete Primeiros Reis de Portugal, ed. C. Silva Tarouca, Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1952-1953, p. 246. 108 Rui de Pina, “Chronica d’El- Rei D. Affonso IV” in Crónicas, ed. cit., p. 345. Passagem paralela na Crónica dos Sete Primeiros Reis de Portugal, II, ed. cit., p. 154. 109 Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando, ed. cit., p. 335.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
9 – O EXEMPLO DOS SANTOS
A partir do século XII, as hagiografias compostas no Ocidente medieval
começam a desenvolver o tema da infância dos santos, visando propor modelos de
vivência e espiritualidade a incutir desde cedo nos jovens cristãos e respectivos
educadores. De uma forma geral, tanto insistem no tópico do precoce apego infantil
pelos mistérios e dogmas da fé, como no das aprendizagens do valor e da prática da
renúncia juvenil aos prazeres e ideais profanos.110
O primeiro aspecto compreende a narrativa de acontecimentos e situações em
que os santos evidenciam desde os seus primeiros annos signaes de uma futura
santidade. No caso de S. Gonçalo de Amarante, conta-se, por exemplo, como o futuro
frade pregador começara por revelar desde o baptismo uma providencial apetência pelo
conforto das graças espirituais, já que, no decorrer da sua iniciação ao cristianismo
nunca teria afastado os olhos da imagem do Cristo crucificado que se encontrava no
templo, de modo que todos que o viam se espantavam de tal maravilha. Repetida a
ocorrência sempre que o levavam à igreja, a criança teria começado a estender os
braços em direcção à imagem, num gesto interpretado como desejo de a abraçar e
afagar, até que começara a chorar e a gritar sempre que a ama, antes de lhe facultar a
primeira mamada do dia, não o conduzia ao templo, como que prefigurando a norma de
que
nenhuu catolico christaão devia tomar mantiimento corporal ante de ir aa
celebraçom da solennidade das missas.111
Uma idêntica precoce predisposição para a santidade também era referida a
respeito de S. Geraldo de Braga, S. Frei Gil de Santarém e Santa Clara de Assis,
explicando-se como no primeiro reluzia desde criança ha graça devinal 112 e como o
segundo, sendo ainda menino de peito, caía com tanta frequência da cama e ficava a
dormir em terra, interpretando-se o que assim era havido por mysterior, como o indício
de huma certa inclinação, e princípio d’aquella rigorosa penitência que depois
_______________________________________________________________________________________________ 171
110 Consulte-se Maria de Lurdes Rosa, "A santidade no Portugal medieval: narrativas e trajectos de vida" in Lusitania Sacra, Lisboa, 13-14, 2002, pp. 369-450. 111 “S. Gonçalo de Amarante” in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, I, Lisboa, 1869/1870, pp. 269-270; Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. Maria Clara de Almeida Lucas, ed. cit., p. 159. 112 'A vida e fim do bemaveturado Sam Giraldo arcebispo de Braga' in "Adições Portuguesas no Flos Sanctorum", ed. Cristina Sobral, ob. cit., ed. cit., p. 615.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
por toda a vida abraçou.113
Quanto a Santa Clara, a tradução portuguesa da sua hagiografia não deixa de
referir como, logo de pequena, sempre que ia à igreja com a mãe, apanhava pedrezinhas
pequenas pelo caminho, para depois, colocada ante o crucifixo em geolhos e, dizendo
orações, as contar, assim evidenciando uma precoce e providencial devoção pelo culto
do rosário.114
No que diz respeito à aprendizagem da renúncia juvenil aos prazeres e ideais
profanos, as hagiografias relatam frequentemente como os santos, ao serem ainda
crianças, logo a teriam começado a desenvolver, aprendendo, à semelhança de Cristo, a
verem a sua fé ser posto à prova, a sofrerem as tentações demoníacas e a resistirem
heróica e estoicamente ao pecado. De facto, os hagiógrafos tanto procuram omitir nos
relatos das infâncias dos santos, a referência aos gestos e às acções próprias das crianças
- seja dormir, comer, mandar, brincar ou cavalgar -, como a menção a situações
reveladoras da habitual passividade infantil, nomeadamente as que evidenciam
submissão, respeito ou obediência face aos adultos, optando por apenas lembrar
exemplos de afirmação precoce de várias atitudes de abstenção, renúncia ou
coragem.115 Enunciadas de forma a contrastar com as que caracterizavam a maioria das
crianças, elas permitiam apresentar os futuros santos como jovens excepcionais que
não se comportavam conforme o padrão próprio da sua idade.
No fundo, as hagiografias retratavam a infância dos futuros santos à luz da razão
dos adultos e da sabedoria dos anciãos. Faziam, por exemplo, semelhar a precocidade
do Menino Jesus que discursara em Jerusalém perante os doutores do templo e os
primeiros santos que haviam abandonado os seus companheiros de infância para se
isolar a rezar ou a meditar.116
_______________________________________________________________________________________________ 172
113 “S. Frei Gil” in Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, I, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, p. 21. 114 'A vida da bemaventurada Sancta Crara' in "Adições Portuguesas no Flos Sanctorum", ed. Cristina Sobral, ob. cit.,ed. cit., pp. 661 e 668, nota 19-20. 115 Sobre o gesto nas hagiografias, veja-se Jacques Le Goff, "Os gestos de São Luís: Encontro com um modelo e uma personalidade" in O Maravilhoso e o Quotidiano no Ocidente Medieval, Lisboa, Edições 70, 1990, pp. 74-78. 116 H. Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Paris, 1948, p. 299.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
Assim, à partida, a santidade preparava-se através da aprendizagem do
menosprezo pelos prazeres infantis. Nas hagiografias do século XII tal implicava,
conforme se diz ter sucedido a Santa Senhorinha de Basto, começar de mui pequena
idade, a vestir roupas muito ásperas que lhe arranhavam o seu corpo e a só se alimentar
de pão e água às sextas feiras para depois, a partir dos doze e até aos quinze anos, não
só jejuar mais frequentemente, como começar a praticar exigentes exercícios de
mortificação corporal, contando-se como a futura santa, então muito dada a martyrios,
asoutava cada dia sua carne até sangrar,117 à semelhança, aliás, do que teria feito S.
Geraldo, o santo que desde pequeno fora sempre contra sua carne mui aspro.118
A partir do século XIII, os textos hagiográficos redigidos em português deixam
de mencionar tão correntemente este tipo de aprendizagem juvenil da santidade.
Continuam, no entanto, a apresentar os futuros santos enquanto adolescentes
determinados a conservar o tesouro da sua virgindade e limpeza, como se lembra a
propósito das infâncias do franciscano António de Lisboa, explicando-se que, aos
quinze anos refreara mui trigosamete o corpo mortal por que nom empeecesse alguū
pouco ao espirito.119
Contudo, apesar do combate pela castidade permanecer entre os
comportamentos juvenis mais seguros para o caminho da santidade, tendem então a
valorizar-se outras modalidades de renúncia aos valores e bens profanos. No caso de
Isabel da Hungria, por exemplo, exalta-se a circunstância de, sendo ainda menina, haver
ordenado a si mesma huu certo cõto de oraçoões, o qual jamais passava sem as
dizer, e se algua vez, por necessidade ou occupaçam, passava ho dia sem as
dizer, aa noyte no leyto se dava aa oraçõ e nom dormia atee que acabasse suas
orações.120
No de Clara de Assis, por outro lado, realça-se sobretudo o facto de, logo em
sua meninice, todo aquello que honestamente podia aver de seus padres e ainda
_______________________________________________________________________________________________ 173
117 "Vida e Milagres de Santa Senhorinha", ed. Torquato Peixoto de Azevedo, in Memórias Resuscitadas da Antiga Guimarães, Gráfica Vimaranense, 2000, pp. 454-457. 118 Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. cit., p. 169. Sobre o tema da ascese e santidade, consulte-se André Vauchez, La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, Roma, Escola Francesa de Roma, 1988, pp. 224-234. 119 Id., ibidem, pp.303-204. 120 'Da sancta e muy piedosa Elisabeth, filha d’el Rey de Ungria' in "Adições Portuguesas no Flos Sanctorum", ed. Cristina Sobral, ob. cit., ed. cit., p. 588.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
do que ella podia aver pera sua pessoa todo ella dava aos proves e orfaãos que
conhecia,121
enquanto a propósito do futuro dominicano Gonçalo de Amarante, se elogia uma
infância preocupada em banir
todallas pompas e deleitaçoões deste mundo menos presadas aa devoçom e
contemplaçom. 122
As perfeições das crianças e dos adolescentes que haviam adquirido a santidade
por desígnio divino são amplamente glosadas pelos hagiógrafos. Filhos dilectos do
Criador, apresentam-se como comprovativos das excelências de uma vida inspirada e
educada pela divina Providência, por ela crecēdo en corpo e em virtudes, sciencia,
disciplina,123 devoçom e boõs costumes.124 Em última análise fora assim que D. Telo
teria adquirido a formação espiritual que não só o tornara forte de corpo, formoso de
rosto e prendado no aspecto físico, como também lhe facultara a posse das qualidades
morais de contenção, compreensão para com os inferiores, compaixão para com os
necessitados, afabilidade, justiça, misericórdia, castidade, prudência, honestidade e
firmeza em humildade e em qualquer momento de perturbação,125 ou que S. Rosendo
depois de, em idade juvenil, haver mostrado o juízo de um ancião, ganhara modéstia,
ponderação, austeridade, castidade, misericórdia para com os pobres, piedade para
com Deus, caridade para com todos.126 O mesmo se podia dizer a propósito da forma
como Santa Clara de Assis se tornara
pessoa muy fermosa a maravilha, em tal maneira que soava a sua fama per
muytas partes,127
_______________________________________________________________________________________________ 174
121 'A vida da bemaventurada Sancta Crara' in ob. cit., ed. cit., p. 661. 122 Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. cit., p. 160. Também Santa Isabel da Hungria tirava de muytas vaaydades e acrecētava em virtudes: 'Da sancta e muy piedosa Elisabeth, filha d’el Rey de Ungria' in ob. cit., ed. cit., p. 588. 123 'A vida e fim do bemaveturado Sam Giraldo arcebispo de Braga' in ob. cit., ed. cit., p. 615. 124 'A vida da bemaventurada Sancta Crara' in ob. cit., ed. cit., p. 661. 125 "Vida de D. Telo", ed. Aires A. Nascimento, in Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra, ed. cit., p. 57. 126 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. cit., p. 43. 127 'A vida da bemaventurada Sancta Crara' in ob. cit., ed. cit., p. 661.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
ou acerca da razão pela qual S. Geraldo crescera em
todallas virtudes mui perfeito, em humildade comprido, paciencia, piedade e
mansidom.128
Para além disso, as hagiografias ainda distinguem a superioridade educacional
das crianças que depois se viriam a tornar santas no que se refere à respectiva educação
letrada. Por um lado, porque nela baseiam a origem da elogiada preparação intelectual
de vários santos, citando-se Telo, Teotónio e Martinho de Soure como jovens
envolvidos na aprendizagem das artes liberais junto dos mestres das escolas
eclesiásticas de Coimbra.129 Por outro lado, porque essa juvenil preparação letrada é
considerada essencial para o imprescindível domínio da leitura, comentário e reflexão
das verdades da fé contidas nos textos sagrados, conforme se encontra expresso quando
se refere a gram maravilha que era saber-se ter Santa Senhorinha de Basto aprendido
em pequena a ler e saber as Escrituras todas de cor, bem assim como o texto da Regra
de S. Bento.130 Por fim, em ambos os casos, porque o estudo das letras permitia
diferenciar a educação dos santos da das crianças que formavam as suas primeiras falas
com ninharias e brincadeiras como costuma suceder na infância,131 identificando-as,
portanto, como modelo a seguir para quem devia crescer, em idade e sabedoria,
conforme se cita a propósito de S. Gonçalo de Amarante. 132
No seu conjunto, as aprendizagens infantis de todos estes santos nunca decorrem
sob uma directa tutela paterna ou materna. Na sua maior parte, essa função é atribuída a
religiosos ou religiosas que, se por vezes integram a parentela dos jovens, quase sempre
se apresentam na qualidade de providenciais iniciadores de uma santidade preparada e
gerida pela própria divindade. No caso de Senhorinha de Basto conta-se como, depois
de ter sido criada por uma ama de leite e de ter assistido, ainda muito pequena, à morte
da mãe, fora entregue a uma tia que era Dona religiosa, e de boa vida.133
Relativamente a S. Geraldo de Braga, Santo António de Lisboa e S. Gonçalo de
Amarante refere-se, por sua vez, para além da informação de que todos eles, como
_______________________________________________________________________________________________ 175
128 “A vida e fim do Bem Aventurado Sam Giraldo Arcebispo de Braaga” in Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. cit., p. 169. 129 "Vida de D. Telo", "Vida de D. Teotónio", "Vida de S. Martinho de Soure", ed. Aires A Nascimento, in Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra, ed. cit., respectivamente, pp. 57, 231 e 143. 130 "Vida e Milagres de Santa Senhorinha", ed. Torquato Peixoto de Azevedo, in ob. cit., ed. cit., p. 452. 131 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. cit., p. 21. 132 “De Sam Gonçalo de Amarante” in Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. cit., p. 159;
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
pertencia,134 haviam recebido educação da parte de religiosos, como o segundo, logo
em sua meninice e tenra idade, fora dado a criar e aprender na igreja lisboeta da Madre
de Deus,135 e como o terceiro, ainda menino de peito, havia sido encomendado a huu
devoto sacerdote que o enformasse em doctrina e honestos costumes,136 antes de, uma
vez crescido em hydade e sabedoria acerca de Deos e dos homes, vir a ser conduzido
pelo pai ao arcebispo de Braga. Explica-se, depois, como o progenitor, após uma
cõprida enformaçõ de todas as coisas que lhe aconteceram do nascimeto e baptismo,
pedira humildosamente ao prelado que
tevesse por be mãdá-lo notar ãtre os outros da hidade de seu filho e que fosse
criado, doctrinado e ensinado sob correiçõ e castigo do mestre dos outros
moços da sua hydade.137
De resto, se nos casos referidos ainda se recorda como eram os progenitores que
entregavam os filhos aos religiosos a quem abandonavam a respectiva educação e
instrução, algumas das hagiografias que haviam sido traduzidas para português durante
a Baixa Idade Média contribuíram para tornar presentes alguns exemplos de como essa
tutela eclesiástica chegara, por vezes, a ser obtida sem ou contra a própria vontade da
família das crianças. Um deles encontra-se na hagiografia do bispo S. Marçal, visto nela
se referir como ele, pelos quinze anos de idade,
nom se tornou mais a casa dos parentes mas, dando-se a verdadeiras obras e
encomendãdo-se a Nosso Senhor Jhesu Christo, se fez seu discipollo e passou a
viver com os eclesiásticos.138
Outro diz respeito a acontecimentos protagonizados por uma irmã mais nova de
Clara de Assis, a quem a santa, conhecendo-lhe a vontade de seguir a vida religiosa,
cortou os cabelos e vestiu o hábito quando ela a foi visitar ao onvento. Ao saber do
_______________________________________________________________________________________________ 176
133 "Vida e Milagres de Santa Senhorinha" in ob. cit., ed. cit., p. 446. 134 Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. cit., p. 169. 135 Id., ibidem, p. 203. 136 Id., ibidem, p. 159. 137 'A vida de Sam Gonçalo de Amarante' in "Adições Portuguesas no Flos Sanctorum", ob. cit.,ed. cit., p. 606 138 'A vida de Sam Marçal bispo' in "Adições Portuguesas no Flos Sanctorum", ob. cit., ed. cit., p. 635.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
sucedido, os pais e parentes
ouverõ grãde nojo e vierõ aaquelle logar e levarõ-na per força. Empero a
menina chorava muyto.
Uma oração de Clara resolveu então a situação, já que, miraculosamente, fez com que a
irmã se tornasse demasiado pesada para ser levada pelos revoltados parentes.
Enfadados leyxarõ-na e forõ-se. E ella cõ prazer tornou-se pera sua irmaã Crara.139
Independentemente da sua veracidade ou até verosimilhança, todas estas
histórias contribuem para reforçar a ideia de que a aprendizagem da santidade implica-
va um difícil abandono inicial das amarras profanas da vida terrena, funcionando a
família e os quotidianos sociais que envolviam a infância e a adolescência dos futuros
santos como uma alegoria dos obstáculos a ultrapassar para poder crescer no saber
da fé. Em certa medida, trata-se aqui de retomar as tradições que o texto sagrado dos
cristãos enunciara quando fizera dizer a Cristo que "Quem ama o pai ou mãe, mais do
que a mim, não é digno de mim; e quem ama o filho ou filha, mais do que a mim, não é
digno de mim",140 actualizando desse modo o sentido do episódio vetero-testamentário
em que Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho primogénito a Deus. De resto, também
os Evangelhos apócrifos tinham contribuído para a crescente difusão medieval da
suposta tradição de que a Virgem Maria apenas permanecera junto dos pais atee tres
annos, sendo por eles depois levada ao Templo do Senhor para nele ser preparada e
educada até aos annos de descriçõ, e assim poder vir a desempenhar cabalmente a sua
função de mãe de Jesus. 141
As hagiografias não se limitam a refuncionalizar o tópico do abandono ou o da
ruptura com a família para melhor exaltar a superior qualidade da educação e instrução
proporcionada aos santos que, em criança, haviam sido confiados ao magistério dos
máximos representantes terrenos da divindade. Também desenvolvem o registo de
episódios em que os progressos na aprendizagem da santidade ocorrem através da fuga,
contestação ou acomodação às regras que organizavam a sociabilidade leiga e profana.
_______________________________________________________________________________________________ 177
139 'A vida da bemaventurada Sancta Crara' in ob. cit.,ed. cit., pp. 662-663. 140 Evangelho de S. Mateus: 10,37, in Novo Testamento, Bíblia Sagrada em Português, ed. e trad. de João Ferreira de Almeida, Lisboa, Sociedades Bíblicas Unidas, 1968. 141 'Da vida e linhagem de Sancta Anna, madre de Nossa Senhora' in ob. cit., ed. cit., p. 704.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
Por um lado, conta-se como a criança-santo desde cedo se afastava das festas,
jogos e brinquedos infantis, conforme aparece explicitamente citado a propósito de S.
Rosendo de Celanova, 142 ou se recusava a participar nos divertimentos dos irmãos ou
dos amigos, preferindo passar o seu tempo a orar e a visitar as igrejas. Santa Isabel da
Hungria, por exemplo, logo em
sua meninice começou de fugir e desprezar todas as levezas dos jogos e das
festas teporaes que a tal hidade sooe abraçar. Seendo ainda de cinco annos,
hya-se aa ygreja cõ suas donzellas e outras mininas e ally assy longamente se
punha e se perseverava em oraçõ que apenas a podiom os servidores e
companheiras tirar da oraçã e ygreja.143
Por vezes, como teria ocorrido a Gil de Santarém, esse isolamento geracional
correspondia a uma precoce entrega ao exercício das letras, preferindo o jovem
que crescia para a santidade, aprofundar o conhecimento das Sagradas Escrituras,
pondo de lado a luquacidade capciosa em que os outros adolescentes
encontravam particular deleite.144
Isabel da Hungria, por seu lado, não lhe havendo sido possível pela sua condição
fidalga, praticar uma tal deserção social, teria sempre tentado desviar as suas
companhias infantis para fins edificantes, explicando-se como,
muytas vezes, por levar suas companheiras aa ygreja, mostrava que queria hir
folgar e trebelhar e, entrando na ygreja, fazia que se escondia em algua
capella ou logar mais remoto e secret o e ally de verdade e fiuza se punha
em oraçã e cõvidava as outras que assi orassem. Quando algua vez por
affincados requerimetos jogava qualquer jogo que fosse - e sempre honesto e
asessegado - sempre punha sua esperãça em Deos. E aquello que ganhava
dava-o aas mininas proves, cõvidãdo-as e amoestãdo que dissessem o
Pater Noster e Ave Maria e que saudassem muytas vezes a ymage da Virgē
Maria.145
_______________________________________________________________________________________________ 178
142 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. cit., p. 43. 143 'Da sancta e muy piedosa Elisabeth, filha d’el Rey de Ungria' in ob. cit., ed. cit., p. 587. 144 Frei Baltazar de S. João, A vida do bem aventurado Gil de Santarém, ed. Aires A. Nascimento, Lisboa, 1982, p. 26. 145 'Da sancta e muy piedosa Elisabeth, filha d’el Rey de Ungria' in ob. cit.,ed. cit., p. 587.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
Por outro lado, várias vidas de santos, sobretudo se oriundas da nobreza, dão um
grande relevo à questão do seu posicionamento face ao matrimónio, valorizando a
forma como, ainda adolescentes, contornaram ou recusaram um casamento que lhes
reforçava as ligações familiares e sociais ao mundo terreno de que tanto desejavam
afastar-se. No caso de Isabel da Hungria recorda-se então que ao ser costrãgida de seus
padres pera receber marido, acabara por obedecer e submeter-se
ao grãde carrego e ley do marido, nom tanto com desejo e
inclinaçã da carne mas soomete por nõ resistir aa obediencia dos padres e por
que Deos lhe desse fructo de que fosse servido.146
Nas hagiografias das santas Senhorinha de Basto e Clara de Assis, informa-se
haver a sua aprendizagem da santidade saído reforçada por uma sua recusa. Senhorinha
porque, ao ser, aos sete anos, pretendida por um mancebo mui louçaõ, filho de um conde
mui rico que vinha de linhage dos Reis, a ele se escusara, embora pressionada pelo pai,
por quanto seu talente era guardar a Deus o que lhe prometera e nom casar
assim como o padre lhe aconselhava.147
Clara de Assis porque, apesar de que tãto que foy em hidade, haver sido
requerida de muytos grãdes e nobres homes pera casamento, sempre o havia
negado para servir e esposar o Senhor Jhesu Christo, até que o pai, muito
devoto e amigo de Deos, nõ a forçou mais. 148
Um tal desfecho nem sempre seria tão pacífico e cordato, bastando lembrar
como a Infanta Joana, a filha do rei Afonso V, só em adulta viria a conseguir ver aceite
pela corte régia quer a sua recusa a qualquer matrimónio, quer o direito de passar a
viver num convento em cuja comunidade, aliás, nunca chegou a ingressar.149 Contudo,
nem a sua hagiografia, nem as que foram compostas nos finais da Idade Média em
louvor de Nuno Álvares Pereira ou do Infante Fernando, o Infante Santo, se detêm em
notícias sobre as respectivas infâncias e adolescências, já que todos eles haviam sido
_______________________________________________________________________________________________ 179
146 Id., ibidem, pp. 588-589. 147 "Vida e Milagres de Santa Senhorinha", in ob. cit., ed. cit., pp. 448-449. 148 'A vida da bemaventurada Sancta Crara' in ob. cit., ed. cit., p. 661. 149 João Gaspar, A princesa Santa Joana e a sua época (1452-1490), Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro, 1988.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
formados no quadro de um modelo educacional leigo e profano.150 De facto, durante a
centúria de Quatrocentos, até o próprio ensino ministrado nas escolas paroquiais,
catedrais e conventuais se havia aberto às solicitações e necessidades próprias da
sociedade leiga.
10 - A FORMAÇÃO CLERICAL
No século XII, o reanimar das cidades e da vida urbana no Ocidente cristão,
trouxe consigo o decisivo crescimento das instituições religiosas seculares. Detentora, a
partir do século VIII, de um quase monopólio do ensino e da aprendizagem da cultura
letrada, a Igreja viu então as suas estruturas paroquiais e diocesanas tornarem-se o
destino de muitos jovens que nelas procuravam vir a obter a preparação necessária ao
prestigiado e lucrativo desempenho de renovadas e cada vez mais extensas funções
religiosas.
Não estando canonicamente bem definida durante o século XII, a idade mínima
para o acesso às funções eclesiásticas situava-se na pré-puberdade, ou seja, antes dos
catorze anos, podendo à época qualquer varão aceder à clericatura através do ritual da
tonsura, o qual lhe possibilitava todas as vantagens e alguns dos inconvenientes de uma
entrada na ordem do clero. A partir do pontificado de Bonifácio VIII (1294-1303) a
idade mínima da tonsura foi definitivamente fixada nos sete anos, de acordo com o
princípio de ser então que os jovens atingiam a razão suficiente para a posse de um grau
aceitável de conhecimento e responsabilidade individuais. 151 Contudo, já antes Afonso
X lembrara, na Primeira Partida, como a criança
desque ouiere siete annos fasta a doze bien puede auer orden de corona e las
otras órdenes menores fasta aquella que llaman acólito,152
sendo frequente poder o papado autorizar, mesmo depois da fixação oficial da idade
mínima de acesso à clericatura, excepções a essa norma, permitindo assim que crianças
_______________________________________________________________________________________________ 180
150 Sobre o perfil histórico de todos estes santos consulte-se, Maria de Lurdes Rosa, "A religião no século: vivências e devoções dos leigos" in Ana Jorge e Ana Maria Rodrigues, História Religiosa de Portugal. I – - Formulação e limites da Cristandade, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 480-505. 151 Essa idade mínima manteve-se, aliás, vigente como regra geral até ao Código do Direito Canónico de 1917, sendo depois fixada, a partir de 1973, nos vinte e um anos. Consulte-se René Metz, "L'admission du mineur aux differents états de vie et aux actes religieux" in La femme et l’enfant dans le droit canonique médiéval, Londres, Variorum Reprints, 1985, p. 42. 152 Afonso X, Primeyra Partida, ed. José Azevedo Ferreira, Braga, I.N.I.C., 1980, Título VI, p. 152.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
mais jovens pudessem beneficiar dos rendimentos vinculados ao exercício da
clericatura.
Se a tonsura abria o acesso à vida eclesiástica, esta podia depois ser seguida no
sentido da obtenção de progressivos graus, desde o de porteiro até aos de, por ordem
hierárquica, leitor, exorcista, acólito, subdiácono, diácono, sacerdote e bispo, não sendo
possível aceder às duas últimas dignidades sem ultrapassar, em regra geral, as idades
mínimas de, respectivamente, vinte e cinco e trinta anos.153
Entretanto, antes de atingirem os catorze anos, a idade canónica considerada de
acesso à puberdade, já os jovens maiores de sete anos podiam receber os benefícios
eclesiásticos inerentes ao desempenho das funções clericais que não implicavam o
chamado encargo de almas, isto é, as relativas à distribuição de sacramentos aos fiéis
como o baptismo, a comunhão, a penitência ou a extrema-unção, podendo assim
dedicar-se, quer ao exercício da leitura ritual dos textos sagrados, quer a uma activa e já
especializada participação nos grupos corais que actuavam nos templos durante as
cerimónias litúrgicas. Contudo, conforme explicava Afonso X, mesmo antes dos sete
anos,
porque y ha algunos dellos que comiençan mas ayna a seer entendudos que
otros, a los que tales fueren e ouieren alguna orden, bien les pueden dar
benefícios menores de siete annos arriba porque aurán enetendimiento para
seruir.154
Por outro lado, era também frequente a ocorrência de diversos prelados
infringirem o preceito, estabelecido desde o pontificado de Alexandre III (1159-1181),
de não se dever confiar aos clérigos menores benefícios para os quais não estivessem
aptos, como, por exemplo, a jurisdição de igrejas a menores de dez anos. A esse respeito
a hagiografia de S. Gonçalo de Amarante resulta elucidativa, visto referir como, ao ter o
santo atingido a hydade pera tomar ordes de missa, logo o arcebispo de Braga,
veendo sua cõversaçom digna de louvor e castidade de sua vida, ho promoveo
ao grao sacerdocio e em hua abadia por emtõ o cõfirmou, dãdo-lhe auctoridade
de reger os parochianos da dita abadia.155
_______________________________________________________________________________________________ 181
153 Tal como se noticia na Primeira Partida de Afonso X, ed. cit., Título VI, p. 152. 154 Afonso X, Primeira Partida, ed. cit., Título XVI, p. 337. 155 “A vida de Sam Gonçalo de Amarante” in ob. cit., ed. cit., p. 606.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
No seu conjunto, o acesso e a progressão na carreira clerical implicavam a
aprendizagem de estudos letrados, nomeadamente os que funcionavam na sede das
dioceses, fosse numa dependência do paço episcopal, fosse num espaço situado na
própria catedral. Se podiam, por vezes, ser frequentadas por crianças que, à partida, não
estariam destinadas à vida clerical, eram sobretudo destinadas aos jovens a quem os pais
haviam determinado um futuro eclesiástico, ou então aos filhos dos serviçais ou
domésticos que prestavam serviços à Igreja, quando neles tivesse sido reconhecidas a
inteligência e as virtudes consideradas necessárias à preparação para o sacerdócio.156
Organizado por um dos cónegos do cabido das catedrais, o Mestre-escola, o
ensino diocesano começava pela aprendizagem da leitura e da escrita através do Livro
dos Salmos, devendo os seus cento e cinquenta poemas serem também decorados e
devidamente recitados. Para fixar os salmos, as crianças liam-nos em voz alta. Saber
ler, equivalia, assim, a conhecer o Livro dos Salmos. Seguia-se depois a aquisição dos
conhecimentos relativos ao Latim e respectiva Gramática, havendo também uma mais
ou menos desenvolvida iniciação à Dialéctica, quase resumida à Lógica, à Retórica, e,
por vezes, à Aritmética, à Geometria, à Astronomia e à Música teórica, já que o sempre
presente ensino diocesano da Música Coral, não só era muito mais desenvolvido, como
até confiado ao magistério de um outro dignitário do cabido, o Chantre.157
Completado depois pelo ocasional aprofundamento de conhecimentos jurídicos,
medicinais ou teológicos, este ensino primário e secundário era considerado
indispensável ao posterior exercício de funções eclesiásticas, encontrando-se
canonicamente consagrado desde o IIIº Concílio de Latrão no qual, em 1179, se legislou
no sentido de que "não só o bispo, no seu cabido, provesse ao ensino da Gramática e da
Teologia, mas que houvesse um mestre-escola em cada catedral para ensinar
gratuitamente os rapazes pobres."158 Este preceito estava assim de acordo com uma
norma que depois, em 1215, no IVº Concílio de Latrão se tornou extensiva às paróquias
servidas por uma comunidade de cónegos, as Colegiadas, visto se obrigar a que também
_______________________________________________________________________________________________ 182
156 Rómulo de Carvalho, História do Ensino em Portugal, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1996, p. 15. 157 Para uma síntese geral, consulte-se Saúl António Gomes, "A religião dos clérigos: vivências espirituais, elaboração doutrinal e transmissão cultural" in Ana Jorge e Ana Maria Rodrigues, História Religiosa de Portugal. I – Formação e Limites da Cristandade, ed. cit., pp. 339-422, especialmente as pp. 400-413. Sobre os primórdios de um tal ensino, veja-se Francisco da Gama Caeiro, "As escolas capitulares no primeiro século da nacionalidade portuguesa" in Dispersos, III, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1999, pp.25-65. 158 Citado por Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, I, Porto, Liv. Civilização-Ed., 1971, p. 491.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
elas assegurassem o funcionamento de uma escola. Na verdade, no que diz respeito à
Igreja hispânica, já muito antes, tanto o IVº Concílio de Toledo (633) como o de
Coiança (1051), haviam insistido na necessidade de todos os candidatos ao sacerdócio
deverem estar na posse dos conhecimentos letrados indispensáveis a um futuro clérigo.
Nos finais do século XIII, o ensino eclesiástico conheceu em Portugal a
especialização universitária, sendo a intenção dos seus promotores, o rei Dinis e vários
eclesiásticos do reino, permitir que o país fosse dotado de um Estudo Geral capaz de
assegurar o aprofundamento de saberes apenas iniciados nas escolas eclesiásticas
catedrais ou paroquiais, nomeadamente o Direito, a fim de evitar os custos inerentes ao
financiamento da ida de estudantes portugueses ao estrangeiro para nele adquirirem
uma formação jurídica superior.159 De facto, tanto o poder régio como o eclesiástico,
então em acentuado e conflitual processo de centralização de direitos e prerrogativas,
necessitavam de mais ou menos onerosos juristas, concertando-se, neste caso, para
limitar as despesas que levaram, por exemplo, em 1281, o sínodo diocesano de Braga a
ter de legislar no sentido de permitir aos clérigos beneficiados que se dispusessem a
prosseguir no exterior do reino os seus estudos letrados durante três anos, a
conservarem os benefícios e as rendas que lhes estavam atribuídas, desde que
deixassem no país alguém responsável pela cura das alma da sua paróquia.160
A falta de registos adequados não permite determinar a média etária com que se
iniciavam os estudos na universidade de Lisboa-Coimbra, sendo, no entanto,
conhecidos muitos casos de alunos com idades tão baixas que dificilmente lhes
permitiriam acompanhar o ritmo e o nível de um ensino superior, já que muitos deles,
sendo crianças de pouca idade, apenas deviam figurar como estudantes para poderem
vir a beneficiar das bolsas e rendimentos que permitiam, em geral, financiar os
respectivos estudos. No fundo, seria essa, por exemplo, a situação de Mendo Rodrigues
_______________________________________________________________________________________________ 183
159 Cf. Rómulo de Carvalho, ob. cit., ed. cit., p. 61. Veja-se também José Mattoso, "O suporte social da Universidade de Lisboa – Coimbra (1290-1537)" in Naquele tempo – Ensaios de História Medieval, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 395-420. 160 Synodicum Hispanum. II – Portugal, ed. cit., p. 13.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
de Magalhães, um clérigo da arquidiocese de Braga, que, em 1425, apenas com catorze
anos, foi autorizado a receber benefícios enquanto frequentasse o Estudo Geral, ou
então, com a mesma idade, a de Jorge da Costa, para quem o irmão, o arcebispo de
Lisboa, futuro cardeal Alpedrinha, pedira, em 1472, os rendimentos de uma paróquia da
cidade ou da diocese de Lisboa, a fim de prosseguir os estudos que já frequentava na
universidade portuguesa. Estes casos não deveriam ser muito diferentes quer do do
príncipe Afonso, para quem o pai, o rei Manuel I, solicitou a atribuição do priorado de
Santa Cruz de Coimbra para que ele se pudesse dedicar, aos oito anos de idade, aos
estudos superiores, quer ao de Francisco Lopes, um clérigo de Lisboa que, aos sete
anos, obteve do papa Leão X, para os mesmos fins e na sua diocese, um canonicato e a
respectiva prebenda.161
11 - A OPÇÃO MONÁSTICO-CONVENTUAL
A vida religiosa que exige a formulação de um acto individual de adesão, o
respeito por determinados interditos comportamentais e a partilha do regulamentado
quotidiano de uma comunidade separada da sociedade secular era acessível às crianças
de ambos os sexos. Muitas delas porém, embora vivessem num mosteiro ou num
convento por vontade própria, tinham sido entregues à comunidade de religiosos onde
moravam por exclusiva vontade dos pais, assim adquirindo a condição de oblatos, ou
seja, de crianças oferecidas a Deus nos seus primeiros anos de vida.
Por um lado, porque a sua educação religiosa para uma futura vivência exemplar
da espiritualidade era pensada como forma de propiciar à sua família especiais graças e
protecções celestes. Por outro, porque, frequentemente, era esse o processo mais
seguido por algumas famílias de fracos recursos para ultrapassar a angustiante falta de
meios destinados a criar um outro filho. Tanto num caso como no outro, a oblação
costumava efectuar-se durante os primeiros meses de vida, conforme teria sido o caso
de um dos filhos da rainha Isabel da Hungria, a infanta Gertrudes, a quem a mãe
entregara, antes de fazer um ano, ao mosteiro feminino de Altenberg, nele tendo mais
tarde vindo a exercer as funções de abadessa. 162
_______________________________________________________________________________________________ 184
161 Sobre este tema, consulte-se José Marques, "Os Corpos Académicos e os Servidores" in História da Universidade em Portugal, I, Universidade de Coimbra, Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, pp. 101- -106. 162 “Da sancta e muy piedosa Elisabeth, filha d’el Rey de Ungria” in ob. cit.,ed. cit., p. 600, nota 140.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
Contudo, a oferta familiar de filhos destinados a integrar uma comunidade
monástica ou conventual, também podia vir a ser decidida antes do nascimento ou já
depois de as crianças serem mais crescidas. A primeira situação surge referida na
hagiografia do bispo Geraldo de Braga, através da notícia de que os pais do santo,
antes que casassem, fezerom voto ao senhor Deos que o primeiro fruito do seu
matrimónio offerecessem a Deos pera sempre,163
sendo também mencionado numa passagem da vida de S. Frei Gil de Santarém, quando
se recorda como Maria Antioca, sendo casada há dez anos e sem filhos, obtivera a
intercessão do santo dominicano para obter a graça de poder conceber, mediante a
promessa de que se Deos lhe desse hum filho, ella lho tornaria, dando-o em oblação a
um dos seus conventos.164
A segunda situação, por sua vez, também surge registada nas hagiografias a
propósito dos pais que teriam decidido tornar oblatos os filhos miraculosamente salvos
pela acção dos santos. Na vida de S. Rosendo de Celanova, por exemplo, cita-se o caso
de um rapazinho endemoinhado que fora entregue ao mosteiro beneditino dirigido pelo
santo após o ter curado de seu mal.165 Em outros textos mais tardios, são sobretudo
frequentes as histórias de oblação feitas em intenção de comunidades carmelitas, tal
como se refere na menção ao rapaz de onze ou doze anos que teria sido ressuscitado
após morte causada pelo coice de uma mula,166 ou mendicantes, seja a do mocinho de
cinco anos que também teria recebido a graça de regressar à vida depois de perecer por
afogamento,167 seja a do minino que fora providencialmente curado das consequências
da queda num tanque de água quente.168
Quando oriundas da nobreza, as crianças oblatas identificavam muitas vezes
filhos segundos ou bastardos a quem os pais assim ofereciam uma alternativa à situação
de futuros marginalizados da fruição de uma herança familiar que tendia a ser
transmitida por via linhagística. De facto, se é certo que a nobreza procurava reservar
para os filhos primogénitos a sucessão no património familiar, assim como a
consequente perpetuação terrestre da linhagem, também o é a circunstância de permitir
_______________________________________________________________________________________________ 185
163 Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. cit., p.169. 164 “S. Frei Gil” in Frei Luis de Sousa, História de S. Domingos, I, ed. cit., pp. 218-219. 165 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. cit., pp. 71-73. 166 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 490-491. 167 Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), I, ed. José Joaquim Nunes, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, p. 271.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
que os filhos oblatos, para além de desempenharem a função de propiciadores das
graças celestes, capazes de favorecer a manutenção e o acrescento do poder da estirpe,
pudessem vir a ter acesso aos bens e aos direitos reservados ao exercício da direcção
das comunidades religiosas onde ingressavam em crianças, visto frequentemente
chegarem a exercê-la ou a partilhá-la uma vez adultos. Nesse sentido, Fernão Lopes
não se esquece de assinalar como o fundador da segunda dinastia dos reis de Portugal
ficara a dever à sua condição de filho do monarca Pedro I, o ter podido ingressar na
ordem religiosa militar de Avis, onde, apesar de bastardo e de ainda ser uma criança de
sete anos, lhe foram
tirados os vestidos sagrais e lançado o hábito da Ordem, após o que o
comendador-mor e os outros lhe beijaram a mão por seu mestre e senhor.169
As implicações da progressiva adopção do modelo linhagístico contribuíram
também para que as famílias fidalgas, no quadro geral de uma prática destinada a não
fragmentar excessivamente o seu património familiar, incentivassem o ingresso das
filhas nos mosteiros e conventos femininos que se começaram a multiplicar a partir do
século XIII, pretendendo assim evitar atribui-lhes as terras e os direitos que
constituiriam o dote a entregar a um eventual marido.170 De facto, se muitas das filhas
da nobreza começaram então a definir um grupo celibatário que permanecia na casa
dos pais ou dos irmãos primogénitos, várias outras tornaram-se oblatas logo em
criança, sendo até comum chegarem a partilhar a sua comunidade religiosa com tias,
irmãs ou primas, não sendo raro que as próprias mães, depois de enviuvar, se lhes
chegassem a juntar, embora quase sempre como devotas, não chegando, portanto, a
romper os laços que as ligavam aos interesses e assuntos profanos.171
Na cronística medieval portuguesa abundam, aliás, as notícias sobre a entrada
nos mosteiros e conventos de várias pequenas infantas e donzelas fidalgas.
Relativamente às primeiras, são assim recordadas duas filhas de Sancho I, Sancha e
_______________________________________________________________________________________________ 186
168 “S. Frei Gil” in Frei Luís de Sousa, ob. cit.,ed. cit., pp. 231-232. 169 Fernão Lopes, Crónica de D. Pedro, ed. cit., capítulo XLIII, p. 165. 170 Sobre as implicações da progressiva adopção da sucessão linhagística no desenvolvimento do monaquismo feminino, veja-se José Mattoso, "A nobreza medieval portuguesa e as correntes monásticas dos séculos XI e XII" in Portugal medieval. Novas interpretações, Lisboa, Imprensa Nacional. – Casa da Moeda, 1985, pp. 197-224. 171 Cf. Maria Helena da Cruz Coelho e Rui Cunha Martins, "O monaquismo feminino cisterciense e a nobreza medieval portuguesa (séculos XIII-XIV)" in Theologica, 28, 1993, pp. 481-508.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
Beringela,172 e, já numa época mais avançada, uma filha e uma neta de Afonso III,
respectivamente, Branca173 e Maria, uma bastarda do rei Dinis;174 são ainda lembradas
como oblatas duas Constanças, as homónimas filhas dos monarcas Afonso VIII de
Castela175 e Afonso IX de Leão.176 No que diz respeito às fidalgas, regista-se, por sua
vez, o caso de Joana Martins Teles, uma irmã da rainha Leonor Teles.177
Na verdade, todas estas crianças, fossem rapazes ou raparigas, de origem fidalga
ou plebeia, forçadas pelos pais ou por precoce decisão individual, actualizavam na
Idade Média antigas e prestigiadas tradições bíblicas. De facto, do mesmo modo que
Abraão demonstrara a sua fé ao dispor-se a sacrificar a Deus o seu único filho,178 ou
que Ana se sentira honrada por poder entregar o seu Samuel ao serviço do Senhor,179
também os pais medievais procuravam reforçar os laços que os uniam ao Criador
através da oferta das suas crianças a comunidades especialmente vocacionadas para as
educar a louvar o Deus que determinava o sentido das suas vidas, tanto mais quanto
para alguns, os mais humildes e carenciados, uma tal dádiva significava providenciar a
sobrevivência de descendentes que, por vezes, se sentiam forçados a abandonar ou a ver
definhar por falta de meios de sustento.180
No caso dos mosteiros beneditinos bastava aos pais mais pobres fazer
simprezmente a petiçom acompanhada da oferta do seu filho perante testemunhas, já
que os monges da comunidade de acolhimento podiam depois fazer beneficiar as suas
crianças dos muitos bens que recebiam dos progenitores dos oblatos oriundos das
poderosas famílias da nobreza. Com efeito, se per ventuira alguu dos nobres quisesse
offereçer a Deus no moesteiro seu filho, se o moço fosse de meyor ydade, seus parentes
_______________________________________________________________________________________________ 187
172 Crónica dos Sete Primeiros Reis de Portugal, ed. cit., vol. I, p. 144 e Rui de Pina, “Coronica DelRey D. Sancho I” in Crónicas, ed. cit., pp. 59-60. 173 Crónica Geral de Espanha de 1344, ed. L. Lindley Cintra, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1983-1990, vol. IV, p. 242; Crónica dos Sete Primeiros Reis de Portugal, ed. cit., vol. I, p. 253; Crónica Breve do Arquivo Nacional, ed. Fernando Venâncio Peixoto Fonseca, Guimarães, 1986, p. 23; Rui de Pina, “Coronica DelRey D. Affonso III” in Crónicas, ed. cit., p. 175. 174 Crónica dos Sete Primeiros Reis de Portugal, ed. cit., vol. II, p. 19 e Rui de Pina, “Coronica DelRey Dom Diniz” in Crónicas, p. 234. 175 Rui de Pina, “Coronica DelRey D. Affonso II” in Crónicas, ed. cit., p. 84. 176 “IV Crónica Breve de Santa Cruz”, in Anais, Crónicas Breves e Memórias Avulsas de Santa Cruz de Coimbra, ed. António Cruz, Porto, 1968, p. 145, Crónica Geral de Espanha de 1344, ed. cit., p. 237. 177 Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando, ed. cit., p. 197. 178 Génesis: 22,12, Antigo Testamento Bíblia Sagrada, ed. cit. 179 O Primeiro Livro de Samuel: 1,22-24, Antigo Testamento, Bíblia Sagrada, , ed. cit. 180 Segundo John Boswell, terá havido um escoamento do abandono infantil através da oblação a mosteiros e conventos: Au bon cœur des inconnus: Les enfants abandonnés de l'Antiquité à la Renaissance, Paris, Gallimard, 1993, p. 210.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
deviam não só fazer a petiçom como uma ofereçam capaz de fazer esmolla ao
moesteiro por seu merecimento e do moço,181 sendo a partir destes bens que os monges
retiravam uma parte dos rendimentos que lhes permitia financiar a criação das crianças
filhas de pais mais humildes; por vezes beneficiavam também o mosteiro com
ocasionais azemelas carregadas de muytas e boas carnes e aves, assy domesticas como
mõtesinhas e outras, cõ trebolhas e cõ escolheitos vinhos, tal como procedera o
progenitor de S. Gonçalo de Amarante quando o entregara ao arcebispo de Braga para
ser educado. 182
De uma forma geral, tanto os oblatos dos mosteiros beneditinos como os de
outras ordens permaneciam sujeitos a um quotidiano bastante austero. No caso dos
rapazes era comum dormirem numa camarata, em leitos separados uns dos outros, sob a
vigilância de religiosos adultos cujas camas ocupavam um espaço à parte. O seu
quotidiano diurno era minuciosamente regulamentado e observado, de forma a serem
punidos quaisquer desregramentos ou desleixos praticados no estudo, na liturgia, na
meditação ou nos comportamentos e atitudes. De resto, devendo, em princípio, respeitar
a regra do silêncio, as crianças que viviam nos mosteiros e conventos, também eram
aconselhadas a vigiar-se mutuamente, sendo aplicado a quem escondesse a infracção de
um companheiro o mesmo correctivo que era reservado ao infractor ocasionalmente
descoberto.
Contudo, no seu conjunto, se os regulamentos monásticos ou conventuais, quase
sempre inspirados na Regra de S. Bento, insistiam na necessidade de os oblatos sempre
guardarem sua hordem com toda disciplina, sobretudo os moços mais pequenos e
mançebos que não sabiam comportar-se no oratorio e aa mêsa, também recomendavam
que deveria não só aver misericordia com a fraqueza das ydades mas também ser
evitada a aspereza excessiva de algumas correcções. Aconselhava-se, portanto, a
moderação que apenas preconizava açoutes aos moços de menor ydade que não
quisessem com homildade correger aquello em que tinham errado per negligencia, ou
disso se penitenciassem com jejuus grandes. Isto não significava, contudo, deixar de
castigar com diligencia as faltas e pecados cometidos pelos moços ataa ydade de XV
annos.183
_______________________________________________________________________________________________ 188
181 Frei João Álvares, "Carta aos monjes professos do Moesteiro de Sam Salvador de Paaçoo de Sousa e Regra do Muy Bem Aventurado sam Bēeto Abade" in Obras, II, ed. Adelino de Almeida Calado, Coimbra, 1960, p. 78. 182 “A vida de Sam Gonçalo de Amarante” in ob. cit.,ed. cit., p. 606. 183 Frei João Álvares, ob. cit., ed. cit., pp., respectivamente, 83, 55, 63 e 90.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
Particularmente vigiados e punidos deviam ser os comportamentos sexuais
derivados de uma excessiva manifestação de afeição ou de carinho da parte dos monges
mais velhos para com os oblatos, ou os que se viessem a desenvolver entre estes, ou
seja, a prática de relações homossexuais que seriam quase inevitáveis no seio de uma
comunidade masculina ou feminina de celibatários. Neste caso, porém, as regras não se
limitavam a consagrar o dever de uma severa punição, contendo também várias normas
dissuasoras.
No que se refere à prevenção da possibilidade do aparecimento de desenvolvidas
relações sensuais entre os jovens oblatos, exigia-se que lhes fosse vedada a prática do
beijo da paz que era trocado entre os monges adultos no decorrer da missa e que se
zelasse para que os mais mançebos non tivessem os leytos huus açerca dos outros mas
mesturados com os velhos, a fim de evitar as tentações de uma demasiada proximidade
física. Também a continuada observação quer do interdito de se tocarem, entre si, a
si próprios ou às suas vestes, quer o de se levantarem de noite para a satisfação das suas
necessidades fisiológicas sem a companhia de um adulto e de um companheiro munido
de uma luz, os prepararia para não sentirem ou cederem a desejos carnais. Para
dissuadir o seu envolvimento em práticas pedófilas era-lhes, por outro lado, proibido
permanecer afastados de um qualquer outro oblato sempre que fossem chamados ou
encontrados por um dos adultos da comunidade de religiosos onde moravam.184
Até aos começos do século XII, a oblação parental era irrevogável, devendo a
criança, independentemente da sua futura opção, passar a viver para sempre no mosteiro
ou no convento. A vontade dos pais substituía, assim, a vocação própria. Pelo contrário,
se a decisão de integrar uma comunidade religiosa tivesse partido do menor, teria
depois de obter o consentimento parental, podendo o pai, a mãe, ou o tutor revogar o
anterior voto, dispondo para o efeito do prazo de um ano para o retirar. Este prazo
poderia ser alargado, se a grande distância que separava a sua casa do mosteiro ou do
convento, não permitisse cumpri-lo. No fundo, tanto num caso como no outro, a
vontade parental sobrepunha-se à do oblato já que a sua liberdade de escolha era
completamente ignorada visto se entender que um menor ainda não tinha discernimento
suficiente para tomar uma opção definitiva sobre o seu futuro.185
_______________________________________________________________________________________________ 189
184 Id., ibidem, p. 44. 185 René Metz, "L'entrée des mineurs dans la vie religieuse et l'autorité des parents d'après le droit classique" in La femme et l'enfant dans le droit canonique médiéval", ed. cit., pp. 187-200. Veja-se também Afonso X, Primeyra Partida, ed. cit., Título VII, p. 198.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
O reanimar das cidades e da vida urbana, com a consequente revalorização do
seguimento de uma vida de tipo sacerdotal, coincidiu com o surgir dos primeiros
escritos canónicos que contestavam a irrevogabilidade da oblação. De facto, em meados
do século XII, o canonista Graciano passou a defender que os jovens oferecidos em
pequenos aos mosteiros e conventos passassem a ter que ratificar pessoalmente o desejo
de prosseguir uma vida religiosa regular mal atingissem a maioridade, sendo
posteriormente essa medida confirmada pelo Papa Alexandre III (1151-1181) e, mais
tarde, tornada extensiva às raparigas pelo pontífice Clemente III (1187-1191).
Com efeito, é já com base nestas determinações que a tradução portuguesa da
Primeyra Partida de Afonso X refere as idades mínimas dos catorze e dos doze anos
como as que, respectivamente, deveriam permitir aos rapazes e às raparigas
ingressar definitivamente numa Ordem religiosa. Se tivessem ingressado antes, por
vontade própria ou parental, poderiam livremente sair, porque
no son de edad que deua ualer lo que fizieren; mas si después que llegassen a
esta edat fiziessen promissión o estudiessen y un anno demás deste tiempo dent
adelante no podríen ende salir.186
De facto, mesmo antes deste último texto, já o Papa Celestino III (1191-1198)
legislara, como medida tendente a desencorajar um considerado número excessivo de
oblatos, que fosse reconhecido às crianças em idade de poderem revogar o seu voto de
entrada na vida religiosa, o direito de virem a reivindicar a parte do património familiar
a que tinham direito. O Papa Inocêncio IV (1243-1254) acabou mesmo por estatuir o
dever de as crianças, de ambos os sexos, já confirmadas anteriormente, ao atingirem a
maioridade o fazerem novamente aos quinze anos. O concílio de Trento, mais restritivo,
exigiu a idade mínima de dezasseis anos para os rapazes e raparigas poderem ingressar
num mosteiro ou num convento. 187
Entretanto, quer o progressivo decréscimo do número de oblatos, quer a
crescente imposição de obstáculos a uma sua rápida entrada definitiva nas comunidades
regulares, fez com que várias ordens começassem a recusar a admissão de crianças no
seio dos seus mosteiros ou conventos, como foi o caso dos cluniacenses, cistercienses
ou templários, alegando para essa recusa as graves perturbações causadas pela presença
_______________________________________________________________________________________________ 190
186 Afonso X, Primeyra Partida, ed. cit., Título VII, p. 197. 187 Sobre o sentido destas várias disposições canónicas, veja-se John Boswell, "L'oblation à son zénith", in ob. cit., ed. cit., pp. 210-226.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
de muitas crianças turbulentas e indisciplinadas. Contudo, foi só em 1430 que o Papa
Martinho V aboliu definitivamente a existência de oblatos.188
Como já referimos, toda esta legislação canónica que, a partir do século XII, foi
colocando obstáculos à oblação como processo corrente de entrada nas ordens
religiosas, acabava por reflectir a progressiva emergência de uma nova consciência
sobre o valor e os direitos da criança, reconhecendo-a como idade a proteger e a
resguardar da exclusiva vontade dos adultos. No entanto, será talvez ingénuo sustentar
que o direito canónico foi necessariamente o factor determinante para que a maioria dos
oblatos passasse a poder conscenciosamente decidir sobre a sua anterior escolha
de uma adulta vida de religiosos. Por um lado, porque o sucessivo avanço da idade até
à qual o podiam fazer, nem sempre lhes permitiria efectuar uma livre e esclarecida
opção, já que decidir pelo regresso ao mundo profano, que só haviam conhecido numa
muito recuada infância, não seria fácil. Por outro, porque muitos não teriam os meios e
os apoios necessários a uma tal ruptura, continuando a ser, durante toda a Idade Média,
oriundos de famílias muitas vezes desfavorecidas, para quem a sua anterior entrega aos
mosteiros e aos conventos fora a única forma de assegurar a sua subsistência.
12 - COMPORTAMENTOS
De uma forma geral, a presença de muitos jovens e crianças nas comunidades
seculares ou regulares introduzia graves perturbações nos quotidianos dos adultos que
os criavam e educavam. O sínodo de Braga, celebrado em 1477, queixa-se, por
exemplo, do habitual mau comportamento dos moços que andam nas egrejas e
moesteiros que per minga de castigo arroidam e torvom os ofícios divinos, revelando-se
muito difícil fazê-los teer silencio e star honestos e assessegados em tal guisa que aas
Oras e ofícios divinos com grande assessego e honestidade stem, já para não referir a
grande destruiçom que faziam nos livros das egrejas e moesteiros por onde aprendiam
a ler e a escrever, assim como o facto de se apresentarem impropriamente vestidos no
desempenho da sua qualidade de moços que servem o altar, sem trazer muitas vezes
sobrepelizias.189 Nada disto, aliás, era novidade. Com efeito, mais de um século antes,
já o bispo de Silves, Álvaro Pais, denunciava, com o seu habitual excesso e azedume, o
_______________________________________________________________________________________________ 191
188 Sobre este tema, consulte-se René Metz, "L'enfant dans le droit canonique médiéval" in La femme et l'enfant dans le droit canonique médiéval", ed. cit., p. 51. 189 Synodicon Hispanum, ed. cit., pp. 85-87.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
mau comportamento dos meninos de mais de sete anos que não só batem nos clérigos,
como ainda batem e ferem outros meninos, muitas vezes até à morte.190
Os problemas causados pelo bulício e pela irreverência infantis também foram
abordados pelo rei Duarte no seu Leal Conselheiro, já que seriam frequentes entre as
crianças ao serviço da capela régia, atribuindo-se à sua natural indisciplina a
perturbação da seriedade e do esplendor das cerimónias aí realizadas. Segundo o
monarca, era difícil evitar que qualquer dos moços de idade de VII ou VIII annos, de
boa desposiçom em vozes, e entender, e
sotileza, e de boo assessego, estivesse
assessegado em seu logar, sem riir nem
scarnecer durante o ofício, ou andar
bulindo na estante ou coro, ou cantar com
desvairamento de boca. Para mais, se o
serviço requerido aos cachopos poderia
Figura 47 – O coro das crianças da catedral de
Braga
(Século XIV)
_______________________________________________________________________________________________ 192
190 Álvaro Pais, ob. cit., ed. cit., pp. 437-439.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
APRENDER ____________________________________________________________________________________________
ser feito por quatro deles, uus que hajam, sobre os outros, tres ou quatro annos, asi que
quando uuns forem d’oito que os outros sejam de doze, acabava por ser quase
necessário ter de contar com seis, porque aas vezes uu é doente ou torvado, e o outro
fica em seu logar. Definia-se, assim, um grupo cuja juventude e imprevisibilidade
tornavam bastante problemático, mais não seja devido ao facto de uma rápida mudança
de voz sempre provocar inevitáveis e frequentes substituições, em função das quais,
aliás, o soberano aconselhava que, enquanto servissem na capela régia, se lhes fizesse
leer e aprender latim para não lhes prejudicar a preparação numa futura carreira
eclesiástica. Entretanto, ao meestre que os no canto ensinasse competia, naturalmente,
ser boo em saber e jeito de cantar, e de boo entender e custumes, e zelar pela sua
disciplina, de forma a que nom tam soomente os castigue no canto, mes em toda outra
cousa que errem, e lhes dê sua boa ensinança pera seerem boos em sua vida e
custumes.191
Se as questões da pedagogia das crianças e dos jovens - aos quais era solicitado
um comportamento e uma postura cujos rigorosos contornos haviam sido enunciados a
partir de um modelo de vida, não só adulto, como também destinado a permitir uma
diferenciação face à gestualidade, às atitudes e aos valores profanos - eram
forçosamente complexas e problemáticas, ainda mais o eram as relativas à considerada
essencial renúncia adolescente do prazer do corpo e da sexualidade, tanto mais quanto
se apresentava como uma postura imprescindível à educação dos futuros clérigos,
religiosos e religiosas. Neste caso, tratava-se sobretudo da nunca totalmente conseguida
tarefa de reprimir e punir a homossexualidade masculina, considerando-a, apesar de as
condições em que decorria a educação dos jovens nas igrejas, mosteiros e conventos
muito a favorecer, como o mais nefando obstáculo à aprendizagem de uma vida a
dedicar ao serviço e ao louvor divinos.
Sendo particularmente reprimida e punida entre os jovens presentes nos
mosteiros e conventos, a homossexualidade masculina também era sentida como um
problema a enfrentar no ensino dos que viviam ou frequentavam as instituições
paroquiais e diocesanas durante a sua fase de formação eclesiástica. De uma forma
geral, procurava ser enfrentada através da permanente denúncia e punição das práticas
_______________________________________________________________________________________________ 193
191 D. Duarte, “Do regimento que se deve teer na capela pera seer bem regida”, in Leal Conselheiro, ed. Maria Helena Lopes de Castro, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998, pp. 342-345.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ____________________________________________________________________________________________
pederásticas, visando eliminar a circunstância de, como refere o franciscano Álvaro
Pais, ser frequente
dentro da santa Igreja muitos religiosos e clérigos em seus esconderijos e
conventículos abusaram dos adolescentes impudicamente.
Nesse sentido, recordava-se então como,
segundo os cânones, qualquer clérigo responsável por essa infâmia deveria ser
deposto e lançado num mosteiro rigoroso para fazer perpétua penitência, e o
religioso encarcerado segundo as constituições dos religiosos.
Ao mesmo tempo pretendia-se tornar bem presente, sempre dever ficar sujeito à
acção de injúrias quem atentasse contra o pudor dum menino, ou ser punido com a
pena capital quem dele abusasse.192
Contudo, embora sempre reiteradas e muitas vezes aplicadas, estas medidas
nunca chegaram a afastar a homossexualidade do quotidiano dos jovens educados nas
igrejas, mosteiros ou conventos, sendo mesmo reconhecida uma maior tolerância a
partir da Baixa Idade Média.193 De resto, segundo o Penitencial de Martim Pérez se a
homossexualidade masculina era geralmente mais penalizada entre os clérigos do que
entre os leigos, era menor no caso de pecado sodomitico comprido, por um jovem de
meores ordeens, taxado em VII annos de penitência, do que na de um homem casado,
que deveria fazer penitência de dez ou XII annos, conforme o tivesse praticado até duas
vezes ou o houvesse en uso, e até se se tratasse de um diacono ou sodiacano a quem se
deveria aplicar VIII annos. Seguia-se, portanto, uma casuística onde, pragmática e
realisticamente, os clérigos adolescentes chegavam a ser mais poupados do que os
leigos a quem sempre deveriam servir de exemplo, mesmo se mais jovens.194
_______________________________________________________________________________________________ 194
192 Álvaro Pais, ob. cit., ed. cit., pp. 35-37. 193 Cf. John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality. Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century, Chicago, University of Chicago Press, 1980, pp. 243-268. 194 O Penitencial de Martim Pérez em Medievo-Português, ed. Mário Martins, Lisboa, 1957, pp. 43-44.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
5 PROTEGER
Piedad y deudo natural debe mover a los padres para criar a sus hijos, dándoles y haciendóles lo que les es menester según su poder. Y otrosí los hijos obligados están naturalmente a amar y a temer a sus padres, y hacerles honra y servicio y ayuda en todas aquellas maneras que lo pudieren hacer.
Alfonso X El Sabio1
A preocupação medieval com um bem sucedido
crescimento infantil traduziu-se, também, pela progressiva
afirmação de diversas modalidades de protecção para as
crianças e adolescentes carentes de fortes e indispensáveis
apoios familiares. De facto, questões tão adversas como o
abandono por parte dos pais, a orfandade ou a bastardia
conheceram então diversas propostas de solução espiritual,
social ou jurídica.
1 - OS SACRAMENTOS
O baptismo à partida, era a rápida iniciação e integração das crianças na co-
munidade cristã, que lhes permitia desde logo passarem a usufruir, não só das protec-
ções espirituais consideradas necessárias à salvação da sua alma, como das destina-
das – no âmbito da solidariedade e da caridade que deveria unir os fiéis irmanados na
fé de Cristo - a poder remediar as dificuldades geradas pela ausência de efectivas ou
eficazes protecções familiares. Foi a partir do século XII que se começou a assistir a
um generalizado recuo da idade aconselhada para o baptismo,2 sobretudo no tocante
às crianças geradas em conjunturas marcadas pela ocorrência de fomes e pestes
ou provenientes de partos difíceis, começando a ser frequente realizar a
1 Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey cotejadas con vários códices antiguos, Madrid, Real Academia de la Historia, 1807, Partida Cuarta, Título 19. 2 Sobre esta modificação, veja-se Peter Cramer, Baptism and Change in the Early Middle Ages c.200 - c.1150, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
cerimónia no próprio dia do seu nascimento,3 ou, conforme passaram a determinar
vários textos canónicos dos começos do século XIII, durante as primeiras semanas
ou meses de vida. 4
Este último caso tornou-se corrente entre os filhos e as filhas das elites
sociais, já que o seu baptismo implicava a presença de parentes e convidados vindos
de longe, para além da necessidade de preparar alojamentos, refeições e cerimoniais
cuja complexidade e solenidade requeriam algum tempo de espera.5 No que respeita,
por exemplo, aos baptismos dos infantes Afonso e João, filhos, respectivamente, dos
reis João I e Afonso V, os cronistas referem apenas poderem ter ocorrido, por ordem
de referência, entre os dois e os três meses 6 e aos oito dias após o seu nascimento.7
Também a infanta Joana, primogénita do rei Afonso V, teria sido anteriormente
baptizada com oito dias de vida.8
No seu conjunto, porém, a Cristandade da Baixa Idade Média tendia a
promover o baptismo das suas crianças até aos oito dias decorridos sobre o
respectivo nascimento, considerando essa prática essencial para as livrar da má
morte que poderia ocorrer antes de receberem esse sacramento.9 Descrito pela
Primeyra Partida de Afonso X de Castela e Leão como a cosa que laua al omne de
_________________________________________________________________________________ 196
3 Em estudo realizado por Pierre Pegeot sobre as crianças da povoação francesa de Porrentruy, entre 1482-1500, calcula-se que 86% foi baptizada no próprio dia do nascimento, sendo o seu número muito próximo do das crianças então nascidas: Pierre Pegeot, “Un example de parenté baptismale à la fin du Moyen Âge” in Les entrés dans la vie - Initiations et apprentissages, XII congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, p. 55. 4 Quer uma decretal do Papa Inocêncio III, datada de 1201, quer as actas do concílio de Latrão (1215), insistem na obrigação de baptizar as crianças o mais cedo possível: René Metz, La femme et l’enfant dans le droit canonique médiéval, Londres, Variorum Reprints, 1985, p. 59. 5 Veja-se, por exemplo, a notícia das medidas preparatórias para o baptismo do príncipe João, um filho do rei Manuel I, que foram tomadas nas Cortes de 1502: Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1502), Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2001, pp. 11-34. 6 Fernão Lopes na Crónica de D. João I, (ed. M. Lopes de Almeida e A. de Magalhães Basto, Barcelos, Liv. Civilização, 1990 vol. II, p. 306), tanto indica como o infante nascera em Junho e fora baptizado em 3 de Outubro, como refere mais à frente (p. 320) ter o seu nascimento ocorrido em Julho. 7 Rui de Pina, Crónicas, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, p. 769. 8 João Gonçalves Gaspar, A princesa Santa Joana e a sua época (1452-1490), Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro, 1988, p. 34. 9 Em diversas regiões do Ocidente medieval encontra-se documentada a prática de vários rituais de protecção do recém-nascido tendentes a afastar das crianças ainda não baptizadas as ameaças de uma má morte, como, por exemplo, mantê-lo permanentemente em casa, desenhar um pentagrama à volta da sua habitação para impedir a entrada dos espíritos maléficos, esfregar-lhe o corpo com sal, um produto importante em muitas práticas exorcistas, ou manter junto dele uma vela sempre acesa: Jacques Gélis History of Childbirth: Fertility, Pregnancy and Birth in Early Modern Europe, Cambridge, Polity Press, 1991, pp. 194-196. Desconhecemos se estas práticas se realizavam em Portugal.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
fuera e sennala el alma de dentro,10 o baptismo era então considerado como o ritual
iniciático que, ao libertar as crianças da mancha do pecado original, não só lhes
facultava o direito de vir a beneficiar de sepultura num lugar sagrado, como o de
poderem vir a usufruir de uma prometida salvação eterna, já que, ao falecerem
baptizados, os filhos e as filhas dos cristãos seriam portadores de um estado de
pureza e de inocência capaz de lhes permitir ascender ao Paraíso. Neste contexto, o
baptismo precoce das crianças depressa se veio a tornar um imperativo teológico-
moral exigível a qualquer cristão, até porque permitia a muitos pais a consolação de
tudo terem feito para proteger o destino das almas dos filhos a quem a morte tantas
vezes levava.
Contudo, nos finais da Idade Média, a efectiva concretização do baptismo
precoce das crianças era ainda objecto de reiteradas prescrições eclesiásticas; com
efeito, nos sínodos diocesanos portugueses celebrados em Braga, nos anos de 1477 e
1505, ainda se insistia na necessidade de cumprir um tal preceito, ordenando-se que
os párocos mantivessem activo um
avisamento que saiba quantas criaturas nascerem em sua freiguisia, a fim de
evitar muitas criaturas morrerem sem bauptismo e seerem dapnados nom
por culpa sua, mas polla negligencia dos mezquinhos padres e madres que se
nom doem dos filhos que geraram e os lançam em tanta perdiçam eternal,
merecendo, por isso, virem a ser excomungados e por taaes os evitem e
façam evitar da egreja e oficios divinos.11
Pelo seu teor e tardio carácter repetitivo, estas prescrições sinodais parecem
colocar algumas dúvidas sobre a efectiva generalização social da prática cristã do
baptismo precoce das crianças. Contudo, tal não significará que as famílias
portuguesas não tenham sentido a necessidade de recorrer a este sacramento como
forma de desencadear as protecções celestes necessárias à salvação da alma das
crianças que lhes morriam em tenra idade. Até porque, tanto em Portugal como na
restante Cristandade, fora essa preocupação que forçara a aceitação eclesiástica de,
em caso de perigo de morte da criança, se poder prescindir de um sacerdote para a
________________________________________________________________________________________________
197
10 Afonso X, Primeyra Partida, ed. José de Azevedo Ferreira, Braga, I.N.I.C., 1980, Título IV, p. 18. 11 Synodicon Hispanum II - Portugal, ed. Francisco Cautelar Rodriguez, Avelino de Jesus da Costa, Antonio Garcia Y Garcia, Antonio Gutierrez Rodriguez, Isaías da Rocha Pereira, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, pp. 102-103 e 178.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
concretização do baptismo, autorizando-se, portanto, que um tal sacramento pudesse
ser então administrado por leigos conhecedores da forma de como efectuar tal ritual,
ou seja, de acordo com uma hierarquia que privilegiava o pai sobre a mãe e, na sua
falta ou impedimento, os homens sobre as mulheres,12 como era o já referido caso
das parteiras que muitas vezes se encarregavam de o pôr em prática. 13 Umas vezes
porque a criança se encontrava num estado de extrema debilidade e urgia permitir
que morresse cristã, outras porque, encravada no orifício uterino necessitava da
administração do sacramento, cabia também à parteira, por uma questão de pudor, a
respectiva aplicação.
Contudo, uma tal substituição no exercício dos poderes sacramentais, exigia,
no caso da criança escapar à morte, uma posterior intervenção eclesiástica, destinada
a certificar a validade do baptismo antes efectuado e, se necessário, o refazer de
gestos ou fórmulas rituais que haviam sido mal aplicados ou não efectuados,
devendo, para o efeito, dirigir-se a criança e o leigo que a baptizara a um credenciado
sacerdote.14 Em geral, essa posterior actuação clerical limitava-se a completar o que
faltava, ou seja, colocar sal na boca da criança e ungir-lhe as orelhas com saliva.
Havia, no entanto, o cuidado de não incorrer na falta de se rebaptizar a criança, já
que, conforme explicara Afonso X,
cuemo el omne de que es nascido no puede otra uez nascer naturalmientre,
assi el que es babtizado una uez, no se puede otra batear spiritalmientre.
Esta atitude deveria mesmo ser punida com a morte, tanto para o que administrasse o
sacramento como para aquele que o recebia, se fosse de edat complida.15 Por isso,
quando o sacerdote refazia ou completava o baptismo anteriormente feito por um
leigo, deveria pronunciar as seguintes palavras: “Se és baptizado, eu não te baptizo,
mas se não o és, eu te baptizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo”.16
_________________________________________________________________________________ 198
12 Afonso X, Prymeira Partida, ed. cit., Título IV, p. 22. 13 Veja-se, no capítulo NASCER, as pp. 80-83. 14 Afonso X, ob. cit., ed. cit., Título IV, p. 22. 15 Id., ibidem, pp. 21-22. 16 Synodicum Hispanum, ed. cit., p. 227 (Sínodo da Guarda, 1500). Consulte-se, sobre este tema, J. Corblet, Histoire dogmatique, liturgique et archéologique du sacrement du baptême, Paris, 1881, pp. 331-334 e 353-356.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
De resto, a pressão dos leigos para dotar as crianças em perigo de vida das
protecções espirituais geradas pelo baptismo, também foi, em parte, responsável por
outras concessões eclesiásticas. Uma delas, consistiu na legitimação das cesarianas
praticadas em parturientes já mortas ou moribundas, com o fim de lhes retirar, para o
baptismo, o filho ou a filha ainda vivos.17 Outra, a de conceber a existência de um
limbus puerorum, o lugar teológico onde as crianças mortas sem baptismo seriam
poupadas aos sofrimentos infernais. 18
Nascido para responder à profunda angústia dos pais das crianças que haviam
morrido sem a graça do baptismo e que, por isso, tinham adquirido a dimensão de
almas errantes, para sempre excluídas da glória do Paraíso, a existência de um
limbus puerorum permitia não só desculpabilizá-los pelo facto de não terem
desencadeado o ritual que teria possibilitado libertar os filhos das consequências do
pecado original, como também ajudá-los a realizar um luto mais sereno e tranquilo.19
Da parte dos poderes eclesiásticos, tratava-se, assim, de promover a manutenção da
fidelidade dos fiéis que encontravam entre os heréticos numerosas críticas às virtudes
de uma exclusiva ou dominante mediação clerical das relações entre os vivos e os
mortos. A emergência deste conceito aparece, assim, como o resultado do encontro
entre a vontade parental de se libertar da imagem do recém-nascido eternamente
torturado e a ofensiva da Igreja por controlar o ritual da morte.20
Contudo, o baptismo das crianças não se limitava a apenas assegurar as
graças indispensáveis à salvação das almas das crianças que morriam muito jovens,
permitindo também às que iam crescendo poderem vir a contar com a protecção,
amparo e auxílio dos adultos que haviam apadrinhado o seu ritual de entrada na
comunidade cristã. Com efeito, ao acompanharem publicamente o baptismo da
criança, os adultos escolhidos para o testemunharem e nele intervirem, colocando,
nomeadamente, a cabeça dos rapazes e das raparigas sobre a pia baptismal onde viria
a ser imergida três vezes, uma de cada lado e outra com a cara para baixo,21
________________________________________________________________________________________________
199
17 J.-F. Puntel, Histoire de la césarienne, Bruxelas, 1969, capítulo IX. 18 Tal como se encontrava referido em várias descrições literárias medievais: Colin Heywood, A History of Childhood, Cambridge, Polity Press, 2001, p. 51. 19 M. Dehan, e R.Gilly, La mort subite du nourisson, Paris, 1989, p. 287. 20 Retomaremos o assunto no capítulo MORRER E RESSUSCITAR. 21 Rui de Pina refere, por exemplo, como o príncipe João, herdeiro do rei Afonso V, foi levado aa pia nos braços do Ifante Dom Fernando Irmaõ d’ElRey: Crónicas, ed. cit., p. 769.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
tornavam-se pais espirituais do seu nascer para a Cristandade, tal como o expressa
Afonso X de Castela e Leão quando afirma que
Padrino tomó el nombre de padre, ca assí cuemo el omne es padre de su fijo
por nascimiento natural, assí el padrino es padre de su afijado, por nasci-
miento spirital. Esso mismo dezimos de las madrinas. 22
Todos estes novos parentes, distintos dos pais biológicos cujos pecados
haviam marcado os filhos durante a concepção, tornavam-se os pais espirituais das
crianças que haviam nascido para a Cristandade, competindo-lhes assegurar a
respectiva formação moral e religiosa para lhes transmitir e consolidar a fé que os
haveria de proteger em vida e depois da morte.23 Eram, portanto, os progenitores da
nova família espiritual em que a criança entrara pelo baptismo, não devendo esse
novo parentesco ser confundido ou misturado com o que fora gerado pelo sangue, tal
como o exigiam as prescrições canónicas que interditavam, desde os tempos
carolíngeos,24 as relações carnais desenvolvidas entre afilhados e padrinhos e entre
os pais terrenos e os espirituais, ou seja, entre compadres e comadres.25
Do ponto de vista, quer dos pais naturais do jovem ser baptizado, quer, na sua
falta ou desconhecimento, do dos seus parentes biológicos ou, não o sendo, dos que
até aí haviam assegurado a sua criação, não era indiferente a escolha dos padrinhos e
madrinhas a dar à criança, sendo preferidos os que melhor se posicionassem em
posses e influência, para lhes assegurar futuros apoios, protecções e auxílios. Aliás,
quantos mais, diversificados e poderosos fossem os padrinhos, melhor sairia
publicamente reforçado o prestígio e o protagonismo político da família ou do grupo
que os escolhera para novos parentes e aliados.
No caso dos baptismos dos príncipes, por exemplo, seria mesmo difícil
determinar com rigor quais seriam todos os seus padrinhos e madrinhas. De facto,
relativamente ao baptismo do infante João, o herdeiro do rei Afonso V, enquanto Rui
de Pina cita nessa condição o Duque de Bragança, o prior do Crato e D. Beatriz de
_________________________________________________________________________________ 200
22 Afonso X, Primeyra Partida, ed. cit., Título IV, p. 21. 23 Álvaro Pais criticava asperamente os padrinhos que não ensinavam aos afilhados os princípios da doutrina cristã: Estado e Pranto da Igreja, (Status et Planctus Ecclesiae), V, ed. Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, J.N.I.C.T., 1994-5, p. 443. 24 Sobre o baptismo na época carolíngea, consulte-se Michel Rubellin, "Entrée dans la vie, entrée dans la chrétienté, entrée dans la société: Autour du baptême à l' époque carolingienne" in Les entrées dans la vie – Initiations et apprentissages, XII congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, pp. 31-51.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
Vilhena,26 Damião de Góis, por seu lado, acrescenta à lista tanto os nomes dos
infantes Henrique e Catarina, como o da marquesa de Vila Viçosa, sendo certamente
difícil aos populares que assistiam à cerimónia, assinalá-los com muito rigor, uma
vez colocados perante um cortejo festivo de nobres que quase teriam integrado, para
além de outros, o
Infante D. Fernando, irmão del-Rei, que levou o Príncipe nos braços até à
Sé, coberto de um pálio de pano de ouro, o qual levavam D. Pedro de Mene-
ses, conde de Vila Real, e D. Vasco de Ataíde, prior do Crato, que iam
deante, e D. Fernando conde de Arraiolos, que dai a poucos dias el-rei fez
marquês de Vila Viçosa, e D. Fernando seu filho maior, que depois foi conde
de Arraiolos, que iam detrás. O saleiro levava D. Fernando de de Meneses, e
o gomil e bacio da oferta Leonel de Lima, que depois El-Rei D. Afonso fez
visconde de Vila Nova de Cerveira com título de dom para ele e para João
de Lima seu filho.27
Nos finais da Idade Média, os sínodos diocesanos portugueses denunciavam
o facto do
maao usu e abusu dos muitos padrinhos que os homens querem tomar, já
que os pais, por tomarem mais padrinhos e madrinhas des que o direito man-
da ou por aguardarem alguuns que venham de fora pera os tomarem por
compadres, muitas vezes acontece muitas criaturas morrerem sem bauptismo
e serem dapnados.28
Para contrariar e desencorajar essa prática, estipulam então pesadas penas aos
párocos que a autorizem, como seis meses de detenção na cadeia episcopal, e,
lembrando que o direito nom quer mais que huum padrinho, procuram obrigar os
________________________________________________________________________________________________
201
25 Pierre Pegeot, ob. cit., ed. cit., p. 55. 26 Rui de Pina, "Chronica do Senhor Rey D. Affonso V" in Crónicas, ed. cit., p. 769. 27 Damião de Góis, Chronica do Prinçipe Dom Ioam, Coimbra, ed. A.J. Gonçalves Guimarães, 1905, cap. II, pp. 4-5. Consulte-se, sobre a cerimónia referida, Ana Maria Alves, Entradas régias portuguesas. Uma visão de conjunto, Lisboa, Livros Horizonte, 1986, p. 20. 28 Synodicon Hispanum II - Portugal, ed. cit., p. 103 (Sínodo de 1477).
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
baptismos com gramdes comvites e solepnidades e multiplicaçom de padrinhos e
madrinhas, a respeitar o número máximo de três, ao homem dous homens e huua
molher e aa molher duas molheres e huum homem. 29
Contudo, tais medidas restritivas, que já haviam sido enunciadas na Prymeira
Partida de Afonso X, quando nela se explicou
porque el padre no puede seer naturalmientre sino uno, e otrossí la madre,
por ente touo por bien Sancta Eglesia que no ouiesse más de un padrino e de
una madrina a babtizar el afijado, 30
não teriam tido grande êxito. Terá sido talvez essa a razão pela qual o bispo da
Guarda decidiu aplicar, em 1500, a pena de quatrocentos reais, a metade para as
obras da Nossa Sé e a outra para o nosso meirinho,31 ou seja, capitalizar em função
do acréscimo dos rendimentos da diocese essa certamente infracção frequente.
Para os eclesiásticos, os apadrinhamentos múltiplos praticados com o intuito
de desenvolver e ampliar os laços de solidariedade parental com famílias de igual ou
superior estatuto social, contrariavam o princípio de fazer basear a unidade e a
coesão da Cristandade na justaposição relacional de células familiares biológicas e
espirituais, irmanando-as numa recíproca troca de bens e serviços enunciados e
disciplinados pelos clérigos. Nesse sentido, os eclesiásticos propunham que a
sociedade espiritual dos crentes contribuísse para atenuar as desigualdades e os
desníveis próprios da sociedade profana, em nome do modelo ideal de uma
comunidade de crentes onde, à semelhança da arquétipa Cidade de Deus, apenas
existisse a funcional hierarquia ético-moral que justificaria uma única distinção, a
que separava os clérigos dos leigos.32
Por isso, os eclesiásticos também combatiam a generalizada escolha de
clérigos e religiosos para padrinhos e madrinhas, por serem pessoas em direito
defesas para tal cognação espiritual, não devendo, portanto, tomarem-se por
compadres e comadres nem frade nem monge, nem monja, nem outro religioso, 33
sobretudo os sacerdotes, sob o nefasto perigo de se promover a abolição das
_________________________________________________________________________________ 202
29 Id., ibidem, p. 123. 30 Afonso X, Primeyra Partida, ed. cit., Título IV, p. 21. 31Synodicon Hispanum II - Portugal, ed. cit., p. 227. Já o Sínodo de Braga, de 1505, permite os apadrinhamentos múltiplos através do pagamento de duzentos reais brancos para as obras da igreja: ob. cit., ed. cit., p. 178. 32 Michel Rubellin, ob. cit., ed. cit., p. 51.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
diferenças existentes entre clérigos e leigos. Enquanto, por outro lado, também se
tentava fazer respeitar o princípio de que o exercício leigo das funções de padrinho e
madrinha se restringisse aos cristãos que já haviam atingido a “idade da razão”, ou
seja, os catorze anos para os rapazes e os doze para as raparigas, chegando-se mesmo
a propor, como foi estipulado no sínodo diocesano celebrado na Guarda no ano de
1500, a idade mínima de dezoito anos para ambos os sexos.34 Ficava assim melhor
garantida a possibilidade de, em caso de necessidade, poderem vir a desempenhar
cabalmente a obrigação de amparar ou até criar os seus afilhados.
A escrupulosa legislação canónica sobre a escolha e as funções dos
padrinhos e das madrinhas, pouco a pouco acolhida pela legislação civil, tinha ainda
em conta a preocupação de salvaguardar os direitos sucessórios dos afilhados por
parte dos compadres e comadres dos seus pais. De facto, ser ou não baptizado
influenciava os direitos da criança à herança paterna, tal como estipula o Fuero Real
de Afonso X quando determina, por exemplo, que o baptizado aya todo o aver do
padre se este morrer e lexar a molher prenhe e dela depoys nascer filho ou filha,35
sendo esses bens herdados pelos parentes do pai se o não fosse.36
Contudo, sabemos muito pouco acerca do cumprimento de todos estes
preceitos por parte dos leigos, assim como sobre as estratégias por eles efectivamente
seguidas para escolher os padrinhos e as madrinhas dos filhos. Os dados apurados
por Pierre Pegeot sobre as práticas do baptismo ocorridas na povoação francesa de
Porrentruy, entre 1482 e 1500, atestam como toda a comunidade se encontrava
envolvida na rede de parentesco baptismal, já que, em média, cada um dos seus
moradores fora escolhido 2,3 vezes para padrinho ou madrinha, sendo maior a
percentagem dos que se incluíam nas idades situadas entre a velhice e a juventude,
das quais, por outro lado, surge a segunda como a mais representativa, 37 certamente
devido à razão de se temer que a provável morte próxima desses compadres e
comadres retirasse eficácia às protecções a fornecer aos afilhados.
Porém, se esta situação parece não se afastar demasiado das instruções
fornecidas pelos eclesiásticos, o mesmo não se passa relativamente à sociologia dos
________________________________________________________________________________________________
203
33 Synodicon Hispanum II - Portugal, ed. cit., p. 227, (Sínodo da Guarda, 1500). 34 Id., ibidem. 35 Afonso X, Foro Real, ed. José de Azevedo Ferreira, Lisboa, I.N.C.M., 1987, p. 99. 36 Id., ibidem, p. 215 37 Pierre Pegeot, ob. cit., ed. cit., p. 61.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
padrinhos e madrinhas, visto os mais representados serem os clérigos, a quem se
atribuía uma média de quatro afilhados cada, talvez porque, para além dos pais os
poderem considerar como melhor qualificados para proteger económica e
espiritualmente os seus filhos, também figurarem como pais espirituais dos filhos e
filhas naturais que causavam a murmuraçam e escandalo do povo, conforme
denuncia e pune o sínodo diocesano celebrado em Braga, no ano de 1477.38
Por outro lado, se em Porrentruy não se encontra atestada a prática de tão
censurados apadrinhamentos múltiplos, são as famílias das elites fidalga e vilã que
figuram como as mais importantes dadoras de padrinhos e madrinhas, ao mesmo
tempo que se encontram entre os compadres e comadres dos seus filhos poucos
representantes dos grupos sociais mais desfavorecidos, contrariando, portanto, o
desígnio eclesiástico de encontrar no baptismo um processo atenuador das
desigualdades próprias da profana sociedade dos leigos, já que antes as consagram e
mantêm.
Nada nos garante que a prática baptismal referenciada para Porrentruy se
tenha verificado na sociedade medieval portuguesa. Contudo, se tivermos em conta
as já mencionadas censuras eclesiásticas aos compadrios múltiplos e ao hábito dos
clérigos apadrinharem os filhos e filhas bastardos, será talvez possível deduzir não
existirem grandes diferenças, nomeadamente no que diz respeito ao baptismo poder
ter sido utilizado como meio privilegiado para a obtenção de apoios e alianças entre
os representantes dos grupos sociais mais prósperos, prestigiados ou poderosos. O
que, na verdade, sendo assim, permitiria referenciar o baptismo como um forte
dispositivo social de protecção para as crianças oriundas das famílias mais carentes e
desfavorecidas.
Devido à progressiva generalização da prática do baptismo infantil, a
Cristandade medieval teve de introduzir preceitos específicos sobre a forma como as
crianças deviam receber e praticar os diversos sacramentos, porque deles dependia a
constante renovação das graças espirituais inerentes à sua condição de membros
efectivos da comunidade cristã.39 Logo à partida colocou-se a questão da idade
requerida para a confirmação, o ritual que permitia aos baptizados, através da
sua unção com os santos óleos, o crisma, receberem as protecções do Espírito Santo
_________________________________________________________________________________ 204
38 Synodicon Hispanum II - Portugal, ed. cit., p. 123. 39 Consulte-se Eric Palazzo, Liturgie et Société au Moyen Age, Paris, Aubier, 2000, pp. 40-57.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
e assim reforçarem a capacidade de testemunharem a sua fé e melhor resistirem às
tentações diabólicas.40
Reservado, a partir do século V, à autoridade episcopal, o sacramento da
confirmação ou crisma implicava a presença dos bispos e, em geral, a deslocação dos
baptizados às igrejas catedrais, acabando por ser considerado como um ritual de
entrada numa comunidade cristã, a diocesana, mais ampla, poderosa e actuante do
que a paroquial, ou seja, aquela onde, pelo baptismo, principiava a vida espiritual de
qualquer cristão. Ora, conforme refere a legislação sinodal portuguesa, esse
acontecimento, considerado como um progresso no aperfeiçoamento de qualquer
cristão, apenas deveria ser protagonizado pela criança quando atingisse o uso da
razão para ter dele lembrança,41 isto é, os sete anos, porque só então teria plena
consciência do seu significado vivencial.
Nada impedia, no entanto, que este sacramento pudesse ser recebido mais
cedo. O rei Duarte, por exemplo, decidiu, em 1435, mandar poêr, com grande
solepnidade e manificencia, ho Santo Olio a seus filhos, quando a infanta Filipa
teria cerca de cinco anos, três o infante Afonso, o futuro rei Afonso V e dois o
Infante Fernando, contando-se como então haviam sido ordenadas grandes festas, e
fectas para ysso muytas despesas, já que nelas viria a participar a gente principal do
Regno. 42
Por ocasião da confirmação, o sacramento que, tal como o baptismo, apenas
deveria ser recebido uma única vez por cada cristão, a criança poderia então fazer
firme a fé que recebera durante o baptismo, no pressuposto da posse de melhores
condições para entender como agir ē este mūdo o melhor per que ouere enoutro grã
melhoria,43 e para se aperceber das vantagens da pertença a uma mais lata e
poderosa Cristandade, cujo favor e protecção eram realçados pelo facto de o crisma
dever ser acompanhado pela criação de novos laços de parentesco espiritual. Ou seja,
através das relações criadas com padrinhos diferentes dos do baptismo,
________________________________________________________________________________________________
205
40 Sobre a problemática medieval do sacramento da confirmação, veja-se Rinaldo Falsini, "Confirmación" in Domenico Sartori, Achille Triacca (dir.), Nuevo Diccionario de Liturgia, Madrid, Ediciones Paulinas, 1987, pp. 424-451. 41 Synodicon Hispanum II - Portugal, ed. cit., p. 228 e p. 178, respectivamente, Sínodos da Guarda (1500) e de Braga (1505). 42 Rui de Pina, Crónicas, ed. cit., p. 509. Na verdade, a cerimónia acabou por não se realizar, porque o rei recebeu a notícia de que os irmãos da rainha Leonor, sua esposa, tinham sido presos pelos Genoveses. 43 Afonso X, Primeyra Partida, ed. cit., Título IV, pp. 114 e 116
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
aconselhando, no entanto, a não serem mais do que dois, para evitar os perigos do
compadradgo, através do qual se enbargam los casamientos.44
Quanto à comunhão, um sacramento cuja iniciação se encontrava
tradicionalmente associada ao momento do baptismo, foi durante o século XI que se
começou a defender dever a sua administração ser adiada até as crianças baptizadas
atingirem a idade da razão, no quadro da reflexão teológica sobre a necessidade de os
cristãos deverem ter a plena consciência do significado dos principais actos da sua
vida religiosa. O mesmo, aliás, tendo ocorrido relativamente à prática da confissão.
Contudo, o facto de o concílio de Latrão, celebrado em 1215, ter tornado
obrigatória uma comunhão anual para todos os cristãos que tivessem atingido a idade
da discrição sem contudo precisar os anos a que ela corresponderia, introduziu
significativas divergências interpretativas entre os canonistas e entre as normas
sinodais regulamentadoras. Com efeito, se em certos casos prevaleceu a leitura de
que a idade da discrição, deveria corresponder à idade da razão, noutras vingou a
interpretação de que a plena responsabilização religiosa dos crentes apenas seria
adquirida ao atingir a idade da puberdade, isto é, os doze anos para as raparigas e os
catorze para os rapazes, mantendo-se também divergências relativamente aos anos
aconselhados para o início da prática da penitência.45
Em Portugal, parece ter prevalecido a segunda das interpretações, visto
vários sínodos dos finais da Idade Média consagrarem o princípio de que a
comunhão deveria ser iniciada aos catorze anos, se bem que antecipem os começos
da confissão, com grande contrição e arrependimento dos seus pecados, para os sete
anos.46 Esse costume não deve, no entanto, ter sido muito seguido pelas crianças
_________________________________________________________________________________ 206
44 Id., ibidem, pp. 21-24 45 René Metz, ob. cit. ed. cit., pp 62-63. 46Synodicon Hispanum II - Portugal, ed. cit., pp. 103-105, p.375, p. 229 e pp. 158-159, respectivamente, Sínodos de Braga (1477), Porto (1496), Guarda (1500) e Braga (1505).
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
portuguesas, tendo em conta o facto de o bispo de Silves, o franciscano Álvaro Pais,
ter apontado como um vício dos meninos de mais de sete anos o seu geral
incumprimento.47 De resto, a circunstância de o Sínodo de Braga, de 1500, insistir
na obrigação de as crianças assistirem às missas dos dias festivos, ao menos de dez
anos para cima, também parece significar um pouco escrupuloso cumprimento dos
deveres religiosos por parte dos rapazes e raparigas portugueses. 48
Fosse como fosse, o certo é que a legislação canónica sobre a especificidade
infantil do cumprimento dos sacramentos acabou por se traduzir em importantes
avanços na protecção social das crianças, sobretudo no que respeita à
regulamentação do casamento. De facto, ao considerá-lo desde o século XII como
um sacramento, a Igreja contribuiu decisivamente, através da regulamentação da
idade a partir da qual deveria ser permitido, para salvaguardar os rapazes e as
raparigas de uma até aí total submissão à vontade parental de lhes destinar um
destino matrimonial muito precoce, de acordo, aliás, com práticas herdadas do
direito romano.49 Na realidade, deve-se à legislação eclesiástica, conforme se
encontra consagrada no texto de vários sínodos medievais portugueses, a iniciativa,
logo depois acolhida pelos civilistas, de interditar o casamento aos jovens menores
de catorze anos para os rapazes e de doze para as meninas, assim como o
estabelecimento, para os prometimentos que o direito chama esposórios, da idade
mínima de sete anos para ambos os sexos,50 contrariando a até aí muito usual prática
de idades bem inferiores.
Com efeito, até ao século XI, eram os pais que negociavam as alianças
matrimoniais a protagonizar pelos filhos, decidindo o respectivo devir familiar desde
a sua meninice, uma vez que então o concertavam através da celebração de um
princípio de matrimónio (matrimonium initiatum), para o qual deveria ser obtido o
consentimento das crianças a que se aplicava, sendo, por isso, indispensável que
tivessem atingido a idade da razão, ou seja, os sete anos que lhes permitiriam,
supostamente, compreender e aceitar o alcance desse acto contratual.
________________________________________________________________________________________________
207
47 Álvaro Pais, Estado e Pranto da Igreja, V, ed. cit., p. 441. 48 Synodicon Hispanum II - Portugal, ed. cit., p. 236. 49 Consultem-se Georges Duby, Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale, Paris, Hachette, 1981 e Jack Goody, The development of the family and marriage in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. 50 Synodicon Hispanum II - Portugal, ed. cit., p. 236, Sínodo da Guarda (1500).
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
Acolhendo esta posição, diversos Papas dos séculos XII e XIII, de Alexandre
III (1159-1181) a Bonifácio VIII (1294-1303), propuseram, então, que o
consentimento dos noivos fosse de novo expresso antes da efectiva consumação do
casamento (commixtio sexus), a qual, podendo concretizar-se ao ser atingida a idade
da procriação, fez com que esta idade passasse a ser requerida para a celebração do
ritual de sacralização da união conjugal a assim iniciar de presente. Sobretudo
porque ela era considerada indissolúvel, apenas estando canonicamente prevista a
possibilidade da sua quebra por excepcional autorização papal, não podendo, por
outro lado, haver qualquer recusa ao casamento se antes de atingirem os doze ou os
catorze anos já tivessem os noivos protagonizado qualquer precoce união sexual. 51
Figura 48 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (século XIII) Um menino e uma menina prometidos em casamento.
Em suma, embora seja hoje difícil aceitar o princípio de que, tomando um dos
lados, aos doze anos fosse possível a uma rapariga expressar, racional e
conscenciosamente, o seu consentimento a uma união conjugal apresentada como
indissolúvel, foi por via do processo da sacralização do casamento que os jovens
_________________________________________________________________________________ 208
51 Sobre este tema, veja-se René Metz, ob cit., ed. cit., pp. 23-32. Consulte-se também Gianni Colombo, "Matrimonio" in D. Sartore e A. Triacca (dir.), Nuevo Diccionario de Liturgia, ed. cit., pp. 1240-1253.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
começaram a ser poupados a uma ainda mais precoce e forçada relação matrimonial.
Mesmo que, a nível das práticas sociais, fosse difícil a uma menina de doze anos
contrariar a vontade parental de vir a concretizar um qualquer prometido casamento,
sem ser deserdada ou até familiarmente repudiada por "vício da ingratidão".52
Por fim, entre os sacramentos, também o da Extrema-Unção teve de se
adaptar ao facto, cada vez mais generalizado, da existência de crianças baptizadas a
quem ainda não fora concedido o direito à comunhão.53 Neste caso, se os sínodos
medievais portugueses insistiam na recomendação de que nenhum corpo morto posto
que de minino pequeno seja, como for baptizado, fosse sepultado sem seer presente
sacerdote que lhe faça o officio do encomendamento e enterraçom,54
salvaguardando, portanto, as protecções sagradas que abriam o caminho à salvação
das almas das crianças mortas antes dos sete anos de idade, parecem não ter posto em
causa, por ausência de qualquer indicação em contrário, o uso canónico de não lhes
ter sido facultada a extrema-unção, a qual chegou até a ser negada, durante os
séculos XIV e XV, aos menores de catorze anos. O anterior mínimo de idade só foi
reposto entre 1910 e 1917, já que o código do Direito canónico publicado neste
último ano impôs de novo o patamar de idade fixado nas centúrias de Trezentos e
Quatrocentos.55
2 - AS DEVOÇÕES
Para além dos sacramentos, as protecções espirituais concedidas às crianças
também tiveram expressão privilegiada nas devoções especialmente vocacionadas a
proporcionar-lhes as ajudas e as graças facultadas pelos santos. Muitas vezes é o
próprio nome da criança que as testemunha, sobretudo entre as oriundas das camadas
sociais mais desfavorecidas da população medieval, já que entre os filhos das
aristocracias, nomeadamente a fidalga, era frequente atribuir aos recém-nascidos, não
________________________________________________________________________________________________
209
52 Paulette L'Hermite-Leclercq, "A ordem feudal (séculos XI-XII) in Georges Duby e Michelle Perrot (dir.), História das Mulheres, 2, Porto, Afrontamento, 1993, p. 293. 53 René Metz, ob. cit., ed. cit., pp. 66-67. 54 Synodicon Hispanum II - Portugal, ed. cit., p. 185, Sínodo de Braga (1505). 55 René Metz, ob. cit., ed. cit., pp. 66-67.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
o nome de um qualquer santo protector, mas o de um dos seus mais poderosos e
prestigiados antepassados. 56
Nesse sentido, revela-se significativo o exame do elenco dos nomes próprios
das crianças constantes das hagiografias e livros de milagres medievais portugueses
que temos vindo a considerar, os quais referenciam, na sua maioria, uma população
juvenil proveniente de humildes famílias de várias vilas e cidades do reino. Ora, mais
de 73% desses antropónimos correspondem a nomes de santos, sobretudo
evangélicos,57 remetendo os restantes para uma onomástica quase sempre respeitante
a filhos e filhas da nobreza ou das elites urbanas. Sendo assim, esta pequena
amostragem não faz mais do que confirmar uma tendência que, tendo tido origem na
cristandade mediterrânea, se foi depois difundindo pelo norte europeu durante a
Baixa Idade Média, ou seja, a de se atribuir às crianças nomes de santos capazes de
para elas atrair benesses especiais, sobretudo ansiadas e procuradas por parte das
famílias de fracas posses e rendimentos, 58 como seria o da pobre mosa
endemoinhada a quem os pais, com o fim de apelar aos favores da mais alta
hierarquia celeste, deram o programático nome de Deus a deu.59
_________________________________________________________________________________ 210
56 Cf. Iria Gonçalves, “Amostra da antroponímia alentejana do século XV” in Imagens do Mundo Medieval, Lisboa, Livros Horizonte, 1988, p. 78. 57 Vidé Quadro III. 58 Na Toscâna florentina, por exemplo, treze dos quinze nomes mais populares masculinos provinham de santos e, nas raparigas, quinze entre dezassete: Colin Heywood, A History of Childhood, ed. cit., p. 54. Didier Lett refere, no entanto, que tanto na França como na Inglaterra dos séculos XII e XIII, os nomes cristãos estavam muito longe de ser significativos : L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe – XIIIe siècle), Paris, Aubier, 1997, p. 52. 59 Afonso Peres, "O Livro dos Milagres de Nossa Senhora da Oliveira", ed. Mário Martins, in Revista de Guimarães, 63, 1953, p. 124.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
Quadro III – Onomástica Infantil das Hagiografias e Livros de Milagres
Masculina Número Hagio-
-antropónimos
Feminina Número Hagio-
-antropónimos
Abril
Afonso
Baltazar
Bento
Fernando
João
Julião
Lourenço
Martinho
Nicolau
Pedro
Rodrigo
Vicente
1
2
1
1
2
3
1
1
2
1
5
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aldonça
Briolanja
Constança
Deus a deu
Francisca
Margarida
Maria
Senhorinha
1
1
1
1
1
1
8
1
X
X
X
X
TOTAL 22 16 15 11
Às especiais protecções que a posse do nome de um santo poderia trazer às
crianças medievais, juntavam-se as graças que elas conseguiriam obter através da
participação nas festas e solenidades religiosas que, anualmente, comemoravam os
poderes espirituais dos seus celestiais homónimos, assim como os favores e as
benesses dispensadas pela devoção prestada a cultos directa ou indirectamente
associados a presenças infantis ou juvenis. Entre estes últimos, já nos referimos aos
que se relacionavam com a concepção e as infâncias de Maria e de Jesus,
amplamente desenvolvidos na Cristandade a partir do século XII, e bastante
representados na iconografia dos templos, seja através da estatuária, dos frescos ou
até de relíquias.
Comemorados ao longo de todo o ano litúrgico, eram sobretudo celebrados
durante o Advento, nomeadamente por ocasião das festividades natalícias. Com
efeito, as devoções destinadas a propiciar o bem estar e o desenvolvimento das
crianças tendiam a concentrar-se em torno das imagens relativas ao presépio onde se
________________________________________________________________________________________________
211
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
evocava o nascimento de Cristo e a sua adoração pelos poderosos reis magos do
Oriente que não haviam hesitado em prestar homenagem a um menino desnudado na
palha de uma humilde manjedoura.60
Contudo, para além do nascimento de Cristo, o calendário cristão também
comemorava por alturas do Natal outros acontecimentos em que as crianças
medievais e as suas famílias podiam encontrar um meio privilegiado para a obtenção
de preciosas intercessões celestiais. Trata-se, em primeiro lugar, da celebração anual
do terrível episódio da Matança dos Inocentes que teria sido ordenada pelo rei
Herodes para garantir a eliminação do recém-nascido rei dos Judeus, ou seja, o dia da
festa dos Santos Inocentes. Celebrada a 28 de Dezembro, a Matança dos Inocentes
tornou-se uma festa bastante popular nos finais Idade Média, sendo então que a
devoção aos considerados primeiros mártires do Cristianismo passou a ter um amplo
acolhimento na iconografia dos templos, particularmente nas pias baptismais e na
tumulária infantil. De uma forma geral, o culto aos Inocentes, cuja veracidade
evangélica apenas se encontrava testemunhada entre os evangelistas canónicos, por
Mateus, acabou assim por representar um dos mais significativos testemunhos
da manifestação medieval da preocupação e da indignação para com o sofrimento
das crianças indefesas, sobretudo as mais pequenas, já que se atribui a Herodes a
ordem de mandar matar todas as crianças menores de dois anos que fossem
encontradas em Belém e nas suas proximidades.61
_________________________________________________________________________________ 212
60 Consulte-se Carlos Alberto Ferreira de Almeida, O Presépio na Arte Medieval, Porto, Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1983. 61 Sobre a importância que o culto dos Santos Inocentes teve na evolução da representação medieval da criança, veja-se, E. Berthon, "A l'origine de la spiritualité médiévale de l'enfance" in Robert Fossier, (ed.), La petite enfance dans l'Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, pp. 31-38.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
Também a Matança dos Inocentes
se encontra associada ao chamado
episódio da fuga para o Egipto, cuja
comemoração medieval, baseada em
Mateus e, sobretudo, nos evangelhos
apócrifos, assinalava como a viagem
durante a qual Nossa Senhora, ao
atravessar a Palestina de Herodes com o
filho ao colo e montada num pequeno
burro, teria passado por Jerusalém, sendo
aí festejada por muitas crianças que
aclamavam o Cristo do jumentinho.62 Ora,
um tal suposto acontecimento acabou
depois por ser simbolicamente integrado
pelos rituais medievais das entradas
régias, passando as crianças das vilas e
cidades a ser uma presença habitual nas
cerimónias dos cortejos destinados a
festejar as visitas locais feitas pelos
soberanos.63
Figura 49 - Livro de Horas de D. Duarte. (Século XV)
A Matança dos Inocentes encontra-se frequentemente representada nos Livros de Horas medievais.
________________________________________________________________________________________________
213
62 Lucette Valensi, La fuite en Égypte. Histoires d'Orient et d'Occident, Paris, Seuil, 2002, pp. 19-88. 63 Jacques Heers, Festas de Loucos e de Carnavais, Lisboa, D. Quixote, 1987, pp. 95-105. Sobre as entradas régias em Portugal, veja-se, Ana Maria Alves, Entradas régias portuguesas. Uma visão de conjunto, ed. cit.,
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
Figura 50 – Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, Guimarães (século XIV) Nossa Senhora protege o Menino durante a fuga para o Egipto.
Relativamente ao monarca João I, os cronistas Fernão Lopes e Zurara
referem-se a um tal costume com o propósito de exaltar a suposta providencial
realeza do soberano. Segundo o primeiro, quando o ainda Mestre de Avis chegara a
Coimbra,
começarom muitos cachopos de sair fora da çidade sem lho mamdamdo
neguem, pello caminho per hu viinham o Meestre, com cavallinhos de canas
que cada huu fazia, e nas mãos canaveas com pemdoões, corremdo todos e
braadamdo. Portugall! Portugall! por elRei dom Joham! E assi forom per
mui gramde espaço açerca dhuua legoa.64
De acordo com o segundo, quando o rei João I, no ano de 1415, entrara em
Évora, vinham muitas crianças à sua frente
todas ante ele cantando, como se fora alguma coisa celestial enviada a eles
pela sua salvação.65
64 Fernão Lopes, Crónica de D. João I, I, ed. cit., cap. CLXXXI.
_________________________________________________________________________________ 214
65 Gomes Eanes de Zurara, Chronica de el Rei D. João I, Lisboa, Bibliotheca de Classicos Portugueses, 1899, cap. CII.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
Para além dos cultos evangélicos directa ou indirectamente associados às
infâncias de Maria e de Jesus, as famílias medievais ainda dispunham de outras
devoções capazes de propiciar graças e protecções aos seus filhos. De facto, muitos
dos santos lembrados e festejados ao longo
do ciclo litúrgico anual podiam
desempenhar essa função, sobretudo
quando associados às memórias de uma
vida ou de milagres especialmente
centrados nos problemas mais frequentes
dos difíceis quotidianos infantis.
Entre os santos cultuados no
Inverno, encontravam-se dois antigos
bispos orientais cuja devoção crescera na
Cristandade ocidental urbana da Baixa
Idade Média: Nicolau, com festa assinalada
a 6 de Dezembro, e Brás, celebrado a 3 de
Fevereiro. O primeiro, a quem se
encontravam dedicadas onze igrejas
portuguesas nos começos do século XIV, 66
encontrava-se hagiograficamente associado
à recordação de vários milagres produzidos
em crianças, como sejam, o de ter salvo
três Figura 51 – S. Nicolau (século XIV) A popularidade do culto ao bispo Nicolau relaciona-se com o facto de o santo ser considerado um protector das crianças.
raparigas da prostituição por lhes haver,
transcendentalmente, obtido os três sacos de
ouro necessários ao pagamento dos dotes
que lhes depois garantiram a concretização de um matrimónio, ou o de ter
conseguido ressuscitar, quer três rapazes a quem um talhante assassinara e escondera
numa cuba de farelo, quer um menino que teria caído ao mar quando, com o pai,
seguia numa viagem marítima de peregrinação para agradecer o cumprimento
da promessa feita pelo seu progenitor para a obtenção da graça de vir a ter um
________________________________________________________________________________________________
215
66 "Catálogo de Igrejas – 1320-1321" in Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, IV, Porto, Liv. Civilização, 1971, pp. 90-144.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
filho.67 O facto de a festa de S. Nicolau se encontrar muito próxima do
calendário das celebrações natalícias, também contribuiu para que a sua memória
e o seu culto se tendessem, desde cedo, a associar às devoções medievais prestadas
ao Menino Jesus e aos Santos Inocentes. 68
Quanto ao bispo Brás, a sua
condição de santo protector das crianças
encontra-se desde logo atestada pelo
facto de, iconograficamente, sempre se
associar à sua imagem devocional a
presença de um menino a quem, de uma
forma mais ou menos explícita, retira
uma espinha da garganta,69 aludindo
essa representação à passagem da sua
hagiografia onde se conta como assim
impedira a morte por sufocação a um
rapaz a quem a mãe lhe pedira para
salvar.70 O culto português de S. Brás
encontra-se amplamente difundido nos
finais da Idade Média, conforme o
atestam os muitos exemplares da sua ima- Figura 52- S. Brás observando a garganta de uma criança. (século XV)
gem devocional que chegaram até nós.
Basta referir que entre as várias dezenas de estatuetas de cerca de trinta santos que
foram produzidas, durante o século XV, na oficina do mestre escultor conimbricense
João Afonso, é ele o santo mais representado logo a seguir ao apóstolo Pedro.71
Depois, durante as primeiras semanas do Verão, o mês de Julho trazia as
festas celebradas em honra de Santa Margarida, também conhecida por Marinha, e S.
Cristóvão, dois antigos mártires orientais cujo culto recaía, respectivamente, a 20 e
a 25 de Julho, e cuja popularidade devocional, resultante, em grande parte, das
_________________________________________________________________________________ 216
67 Jacques de Voragine, La Légende Dorée, I, Paris, Garnier-Flammarion, 1967, pp. 47-54. 68 Sobre este tema, consulte-se Jacques Heers, ob. cit. ed. cit., p. 99. 69 Maria João Vilhena de Carvalho, "São Brás" in Sérgio Guimarães de Andrade (dir.), O Sentido das Imagens. Escultura e Arte em Portugal, [1300-1500] Catálogo da Exposição, Lisboa, Ministério da Cultura, Instituto Português de Museus, Museu Nacional de Arte Antiga, 2000, p. 253. 70 Jacques de Voragine, ob. cit., pp. 196-199. 71 Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Mário Jorge Barroca, História da Arte em Portugal. O Gótico, Lisboa, Presença, 2000, pp. 174-175.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
muitas graças e milagres que se dizia poderem propiciar às crianças, se encontra
traduzida pela circunstância de, nos começos do século XIV, serem os principais
patronos de, por ordem, trinta e sete e quinze igrejas paroquiais portuguesas. 72
No tocante a santa Margarida/Marinha, já nos referimos à sua qualidade de
santa advogada do sucesso dos partos difíceis.73 Contudo, para além disso, ela
também era invocada como uma genérica protectora sagrada das crianças
abandonadas, sobretudo após a grande difusão da versão da sua hagiografia que foi
feita no século XIII, pelo dominicano Jacques de Voragine, visto ter contribuído
decisivamente para associar a sua memória à prática de sacrifícios e bondades em
intenção dos mais pequenos. Nomeadamente, através da recordação de como ela,
depois de haver sido injustamente acusada de ter tido um filho quando vivia como
monja num mosteiro, fora
dele expulsa com a criança
que sempre então
procurara criar e proteger,
durante os três anos em
que permanecera na rua, à
porta do cenóbio, até vir de
novo a ser recolhida pelos
monges que, só à sua
morte, descobriram não ser
ela a mãe do menino.74
________________________________________________________________________________________________
217
Quanto a Cristóvão,
o santo cujo nome etimo-
logicamente significava o
que transportara Cristo, foi
também devido à revisão da
sua hagiografia por Jacques de Voragine que se começou a difundir, a partir do
Figura 53 – S. Cristovão transportando o Menino (século XV)
72 “Catálogo de Igrejas – 1320-1321” in ob. cit., ed, cit., pp. 90-144. 73 Vidé o capítulo NASCER, p. 70. 74 Jacques de Voragine, ob. cit., ed. cit., pp. 397-398.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
século XIII, a história de como havia carregado Jesus aos ombros, quando, vivendo
junto a um rio, ajudava todos os que eram demasiado frágeis para o atravessarem a
vau. 75 Nesse sentido, contava-se então como, numa noite de tempestade, esse
auxílio aos viajantes mais necessitados ocorreu relativamente a uma criança cujo
transporte teria sido muito difícil, visto o menino ter parecido tão pesado como o
próprio mundo, conforme o santo acabaria por lhe confessar. Veio, então, a saber
pela boca da criança que não carregara o mundo aos ombros mas sim aquele que o
criara.76
As devoções aos santos protectores das crianças implicavam, frequentemente,
para além da utilização de um idêntico nome de baptismo, uma assídua participação
nas respectivas festas litúrgicas, ou a realização de mais ou menos frequentes
peregrinações aos lugares onde deles havia relíquias ou fama de um culto
particularmente milagroso, o hábito de lhes pedir auxílio através de orações próprias
para o efeito e a posse privada de medalhas, insígnias e até objectos e matérias que
tivessem estado em contacto com o seu túmulo ou imagens. Trazidos muitas vezes
em pequenos sacos de pano transportados junto ao corpo das crianças, esses
materiais funcionavam então como autênticos amuletos, tal como se noticia a
propósito de vários milagres relativamente a um rapaz endemoinhado, que, depois de
curado, passou a usar ao pescoço terra da sepultura do santo que o salvara para se
proteger.77 Também um
moçozinho que sendo muito amiude acometido e maltratado do demónio,
lançou-lhe a mãi ao pescoço huma nomina com terra do Santo: foi defensivo
com que ficou de todo livre. A cabo de hum anno torna o maldito a fazer-lhe
guerra. Sentidos os pais buscarão-lhe o pescoço; confessou, que dando-se
por são, largara a nomina. Armarão-no com outra e bastou pera ficar toda a
vida em paz. 78
_________________________________________________________________________________ 218
75 Id., ibidem, pp. 7-11. 76 Sobre o culto medieval a S. Cristóvão, veja-se, Dominique Rigaux, "Une image pour la route" in Voyages et Voyageurs au Moyen Age, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, pp. 235-266. 77 Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga e regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, Lisboa, 1645, p. 494. 78 Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, I, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, pp. 235.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
3 - A ASSISTÊNCIA
Um dos mais graves problemas sociais que atingiam as crianças medievais
era o seu frequente abandono. Conforme sublinha o principal investigador desta
questão, o medievalista John Boswell, não se tratava, porém, da simples renúncia
voluntária a uma tutela dos pais sobre os filhos, desde confiarem-nos a terceiros para
aleitamento ou aprendizagem profissional, até à sua possível venda ou colocação
numa instituição, como era o caso dos oblatos. Esta situação não punha fim à relação
oficial com os pais biológicos, conservando as crianças todos os seus direitos
patrimoniais. Com efeito, o abandono medieval das crianças também se verificava
sob a forma de uma total ruptura dos pais em relação aos filhos, feita através da sua
expulsão do lar de origem mediante a exposição num espaço público, ou seja, um
abandono que implicava para os assim expostos a perda de qualquer possibilidade de
virem a conhecer a identidade dos seus progenitores.79
Durante toda a Idade Média o abandono por exposição foi considerado uma
prática familiar e tolerável, de âmbito e responsabilidade privada, até que o seu
rápido crescimento nas vilas e cidades do Ocidente europeu suscitou apreensões e
censuras sociais. De facto, foi na centúria de Duzentos que a cada vez mais ampla
realidade das crianças expostas começou a conhecer diversas propostas de
enquadramento assistencial por parte da Cristandade. 80
Entretanto, entre as causas motivadoras do recrudescimento da exposição
pública das crianças encontra-se a rápida acentuação de antigos problemas sociais,
como sejam a pobreza dos pais e a saúde débil de muitos recém-nascidos, agora
potencializados entre a muito numerosa população rural que migrara para as vilas e
cidades sem aí encontrar significativas melhoras nas condições de vida. Com efeito,
tende a ser entre os muitos mendigos e vagabundos urbanos que um deficiente
sustento e alojamento faziam multiplicar as deformidades e as anomalias físicas
________________________________________________________________________________________________
219
79 John Boswell, Au bon cœur des inconnus : Les enfants abandonnés de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, Gallimard, 1993, p. 29. 80 John Boswell, “Expositio and Oblatio: the Abandonment of Children and the Ancient Medieval Family”, in American Historical Review, 89, 1984, pp. 10-33.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
infantis que promoviam o recurso familiar ao abandono público das crianças81 à,
como refere Boswell, "bondade de estranhos".82 Por outro lado, a falta de recursos e
até uma verdadeira luta pela sobrevivência por parte dos pais mais pobres também
faziam com que mesmo os filhos saudáveis passassem a conhecer um destino
idêntico.
Na tradução portuguesa da hagiografia de Santa Isabel da Hungria,
menciona-se neste contexto o caso de uma mulher de grande proveza que paryo hua
filha, tendo depois, passando poucos dias, fugido com o seu marido
escondidamente e leyxando a menina abandonada. Esta só não teria tido o difícil
destino das crianças expostas, porque Isabel, conhecendo a situação, e já depois de
haver tentado assistir a mãe e a menina com has suas joyas e qualquer outro
ornamento e das suas hirmaãs, fez com grande nojo sua horaçam contra o casal,
que, milagrosamente arrependido, voltou à cidade e aceitou a santa para madrinha da
filha.83
Por outro lado, a pobreza associada às crescentes assimetrias sociais que se
faziam sentir nas vilas e cidades de Duzentos, também faziam com que as mães mais
carenciadas se sentissem coagidas a abandonar os seus filhos mais pequenos à
exposição pública, para poderem vir a ser contratadas como amas para o aleitamento
das crianças das famílias mais abastadas. Na verdade, os rendimentos obtidos no
exercício dessas funções revelavam-se muitas vezes essenciais para o sustento dos
filhos que ainda permaneciam a seu cargo, para além de lhes permitir beneficiar de
_________________________________________________________________________________ 220
81 Em meio rural, eram os rituais religiosos que permitiam legitimar o enjeitamento das crianças como ocorria, por exemplo, no culto prestado ao santo Guinefort, na França do século XIII. Considerado como detentor dos poderes que permitiam trocar as crianças deficientes por crianças saudáveis, as primeiras eram mergulhadas nas águas geladas de um rio que corria próximo do templo onde se situava o túmulo do santo e depois abandonadas à escuridão nocturna, confiando-se ao arbítrio de Guinefort a possibilidade de virem a ser substituídas pelas segundas. Nadeije Laneyrie – Dagen (dir.), Les grands événements de l’histoire des enfants, Paris, Larousse, 1995, pp. 86-87. Veja-se tambéem Jean-Claude Schmitt, Le Saint Lévrier. Guinefort, guérisseur d’enfants depuis le XIIIe. Siècle, Paris, Flammarion, 1979, onde, no entanto, não se refere como o ritual referido podia legitimar a prática do enjeitamento infantil 82 Expressão frequentemente utilizada por John Boswell, na sua obra Au bon cœur des inconnus: Les enfants abandonnés de l' Antiquité à la Renaissance, ed. cit. 83 'Da sancta e muy piedosa molher Elisabeth, filha d’el Rey de Ungria', in "Adições Portuguesas no Flos Sanctorum de 1513", ed. Cristina Sobral, Adições Portuguesas no Flos Sanctorum de 1513 (Estudo e Edição Crítica), Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa, 2000 (Tese de Doutoramento), p. 595.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
um efeito anticoncepcional favoravelmente acolhido por quem assim se veria
protegida das dificuldades a suportar por uma nova gravidez.84
Contudo, para lá das cidades do Ocidente de Duzentos terem potencializado
os factores tradicionalmente responsáveis pela realidade social das crianças expostas,
também contribuíram para o seu rápido crescimento pelo facto de nelas se ter
assistido a um novo e exponencial aumento de filhos ilegítimos ou bastardos cuja
existência se tornava especialmente problemática para os pais. Um primeiro caso tem
a ver com a afirmação urbana da prostituição e de relacionamentos sexuais mais
livres do que os praticados entre os adultos das pequenas comunidades rurais, visto
conduzirem à multiplicação dos casos de mães solteiras, a quem as dificuldades
financeiras e a vergonha nascida da hostilização por parte da moral cristã tradicional
conduzirem ao frequente abandono dos filhos por exposição pública.85
Uma outra razão relaciona-se com as consequências sociais do
endurecimento dos interditos eclesiásticos lançados sobre o casamento e o celibato
dos sacerdotes, conduzindo-os, paralelamente, à sua cada vez maior presença na vida
religiosa das cidades e à produção das múltiplas barreganias e bastardias que faziam
crescer desmesuradamente o número das crianças expostas. De facto, apesar dos
muitos castigos e proibições presentes na legislação canónica, o certo é que o seu
reiterado enunciado deixa bem perceber como os clérigos continuavam a procriar
abundantes filhos e filhas. No Sínodo de Braga de 1477, por exemplo, apelava-se a
que os sacerdotes mostrassem vergonha dos seus pecados, encobrissem os filhos e
não lhes chamassem
filhos nem filhas, mas per seus proprios nomes ou criados ou sobrinhos ou
parentes, fazendo-os bauptizar ou criar honestamente e emcubertamento.86
Procura-se, sobretudo, punir e interditar o caso dos clérigos que levam os filhos
conssiguo aa egreja e consentem que os ajudem aa missa ou que emtrem e cantem
________________________________________________________________________________________________
221
84 Danièle Alexandre-Bidon e Didier Lett, Les enfants au Moyen Age (Ve-XVe siécles), Paris, Hachette, 1997, pp. 173-188. 85 Veja-se J. Rossiaud, "Prostitution, jeunesse et société dans les villes du Sud-Est au XVe. siécle" in Annalles, Esc., 31, 1972, pp. 289-305. 86 Este criar "encoberto" é visível, por exemplo, nas várias situações de casais que no meio rural criavam filhos de clérigos. Entre muitos outros, veja-se, Valdevez Medieval, I. e II., Amélia Aguiar de Andrade e Luís Krus (coord.), Arcos de Valdevez, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 2000- -2001, pp. 263 e 20, respectivamente.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
com elles no coro e em outros divinos oficios na egreja e fora della. Explica-se
depois como não os deviam mandar
fazer baptizar com grandes comvites e solepnidades e multiplicaçom de
padrinhos e madrinhas, nem trazer consiguo pellas vilas e pellas praças
como se fossem filhos legitimos, ou arranjar-lhes altos casamentos e taaes
pessoas que a poder de dinheiro se contentem pera com elles casarem no
meio de grandes festas e convites. 87
Ou seja, salvo a situação de filhos gerados antes do sacerdócio e de matrimónio
legítimo,88 nunca devessem os clérigos assumir publicamente a paternidade das suas
crianças.
É certo, como se depreende dos textos antes citados, que nem sempre os
filhos dos clérigos seriam publicamente abandonados pelas mães à "bondade dos
estranhos". Muitos deles, sobretudo os rapazes, acabaram mesmo por ver
reivindicada e até exercida uma sua responsável paternidade,89 ou então, no caso de
serem filhos de religiosos ou religiosas, virem a ser criados junto aos pais como
oblatos. Contudo, esta situação pressupunha que o pai ou a mãe fossem detentores de
um estatuto eclesiástico suficientemente forte para impor o reconhecimento dos
filhos, sendo mais comum que a maioria dessas crianças acabasse por alimentar a
multidão de jovens abandonados que mendigavam, roubavam, sofriam e morriam pe-
las ruas e praças das principais cidades da Cristandade dos finais da Idade Média.90
Ora nessa situação também acabavam por conviver com as crianças
enjeitadas na sequência das inúmeras bastardias originadas pelos leigos que
frequentavam ou moravam nos grandes núcleos urbanos, e até com os filhos e filhas
que haviam sido abandonados na sequência de casamentos anulados ou desfeitos. De
facto, a progressiva adopção, desde o século XII, de um modelo sacramental de
matrimónio consensual e indissolúvel, fora acompanhada pela proliferação não só de
inúmeros bastardos, muitas vezes repudiados pelas mães, sobretudo as solteiras, mas
também dos que adquiriam a condição de ilegítimos após a separação dos pais,
nomeadamente por via de uma assumida ou denunciada situação de existência de
_________________________________________________________________________________ 222
87 Antonio Garcia Y Garcia (dir.), Synodicon Hispanum. II – Portugal, ed. cit., pp.123-126. 88 Sínodo da Guarda de 1500 in Synodicon Hispanum. II – Portugal, ed. cit., p. 251. 89 Em meio rural essa situação era mais frequente, havendo ampla referência à criação campesina de muitos filhos de clérigos: vidé nota 86.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
impedimentos de parentesco entre os cônjuges. A fim de os evitar, tornou-se
obrigatória, desde o IVº Concílio de Latrão (1215), a prévia divulgação pública das
núpcias, os chamados banhos, para que então se pudessem obter informações
preventivas acerca da presença de eventuais relações de consanguinidade entre os
futuros esposos. No mesmo sentido se regulamentou a custódia desses filhos, assim
tornados bastardos, de forma a atribuir à mãe a sua criação até aos três anos de idade,
e ao pai a partir de então, salvo em casos de grande disparidade de meios financeiros
ou de confissão religiosa inadequada, como, de resto, também deveria suceder
relativamente à geração das mães solteiras.91
De facto, segundo Boswell, as grandes cidades da Cristandade dos finais da
Idade Média compreendiam uma numerosa população infantil de crianças enjeitadas
pelos pais, sobretudo lactantes do sexo feminino, cujo número subia em conjunturas
de guerra, fome ou pobreza. Em Florença, por exemplo, cerca de metade das crianças
abandonadas na primeira metade do século XV, encontram-se registadas como
bastardas, embora entre elas se contassem muitos filhos que haviam nascido,
sobretudo nas camadas mais populares, de uniões familiares não consagradas
matrimonialmente. 92
De uma forma geral, a preocupante realidade urbana das crianças
abandonadas não era especialmente condenada e punida pela legislação canónica e
civil da Cristandade da Baixa Idade Média, sendo mesmo admitida, directa ou
indirectamente a sua legalidade, salvo o caso de envolver a venda de filhos e filhas a
quem os maltratasse até à morte ou, no segundo caso, os entregasse à prostituição.93
Na Hispânia de Duzentos, porém, conforme testemunha o foro de Teruel, tanto o
abandono por exposição, como a venda de filhos eram severamente punidos,
reservando-se o açoitamento público para toda muger que su fijo en algún lugar
echará et provado, e a morte na fogueira para a venda paterna de meninos,94 a fim de
evitar os perigos de uma temida regressão demográfica nas comunidades cristãs
estabelecidas na fronteira contra o Islão.
________________________________________________________________________________________________
223
90 John Boswell, Au bon cœur des inconnus..., ed. cit., p. 240. 91 Didier Lett, Famille et parenté dans l' Occident médiéval, Ve.-XVe. siècle, Paris, Hachette, 2000, pp. 117-132. 92 Cf. John Boswell, Au bon cœur des inconnus…., ed. cit., p. 285. 93 Sobre esta legislação, veja-se, John Boswell, ob. cit., ed. cit., p. 229. 94 "El Fuero de Teruel", éd. Max Gorosch, in Leges Hispanicae Medii Aevi, I, Estocolmo, 1950, pp. 297-298, citado por John Boswell in ob. cit., ed. cit., p. 230.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
Em meados do século XIII, o Foro Real de Afonso X de Castela e Leão,
generalizava essa legislação e propunha a pena de morte para
tod' omen que enjectar alguu menio e nõ ouuer que lho tome e morreu,
porque poys que el fez cousa per que morresse, tanto e como se o matasse. 95
Por outro lado, com o objectivo de desencorajar a prática dos expostos, também se
determinava, quer a perda do poder paternal quando
alguu menio ou outro de mayor ydade for enjectado de seu padre ou per
outri sabendo el e cusentindo, explicitando-se que o meesmo seya da madre
ou doutra qualquer que o aya en poder,
quer, no caso de se tratar de uma criança de condição servil, que o
senhor perca todo o dereyto que enel auya se o enyectou ou mãdou ou
consentio, e que aquel que o criou, pero que fez merçee eno criar, nõ aya
nenhuu poder sobre'el ne de nenhua seruidoe.
Tudo isto, no entanto, apenas se o
menio liure ou seruo for enjectado se sabedoria do padre ou doutro que o
aya de teer en poder ou do senhor, não perdendo nenhuu delles o dereyto que
en el aya ou en seu auer se jurar que nõ o soube.96
No posterior código das Siete Partidas, onde se retoma, de uma forma geral,
a legislação do Foro Real, Afonso X de Castela e Leão introduz, contudo, atenuantes
significativas às censuras jurídico-morais lançadas contra um imoderado exercício
do poder paternal, visto reconhecer aos pais o direito de abandonar ou vender os
filhos no caso de lhes faltar os indispensáveis meios de sustento familiar,97 e, na
situação em que,
seyendo el padre cercado en algun Castillo que touiesse de Señor, si fuesse
tan cuytado de fambre que non ouiesse al que comer, puede comer al fijo, sin
mala estança, ante que diesse el Castillo sin mandado de su Señor. 98
_________________________________________________________________________________ 224
95 Afonso X, Foro Real, ed. cit., Livro IV, Título XXII. 96 Afonso X, ob. cit., ed. cit., Livro IV, Título XXII. 97 Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey..., ed. cit., Partida Cuarta, Título, 17, Ley 8. 98 Id., ibidem, Partida Cuarta, Título 18, Ley 18.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
Ora, embora não seja historicamente conhecido qualquer exemplo de uma tão terrível
morte, ela não deixa de reflectir como o exercício da patria potestas num contexto
feudal poderia incluir a legitimação do assassinato das suas crianças por parte dos
pais fidalgos. Uma destas situações encontra-se indirectamente referida por Fernão
Lopes na Crónica de D. Fernando, a propósito da forma como o alcaide de Zamora,
Afonso Lopes de Texeda, sacrificara os filhos, durante a guerra luso-castelhana de
1369-71, para não entregar a praça que defendia em nome do rei português, às forças
castelhanas que então a cercavam, sob a chefia da rainha Joana, a mulher do monarca
Henrique de Trastâmara. 99
Na verdade, segundo o cronista, Afonso Lopes, na espera de um hipotético
auxílio militar, teria combinado com as forças sitiantes um prazo para a eventual
rendição de Zamora, a qual fora aceite depois da entrega dos seus dois filhos como
reféns. Esgotado esse tempo, a rainha acabara por mandar recado ao alcaide de que
se ele
nom desse o logar como ficara com ella, pois o termo já era passado, que lhe
mandaria degollar os filhos ante seus olhos, se os ell oolhar quisesse.
Conta-se depois como Afonso Lopes nada fizera para o evitar, mesmo que entre os
castelhanos a muitos custasse acreditar que
dous seus filhos assi aazados pera amar leixasse morrer d’aquella maneira,
como assi seja que na morte do filho nehuu pode sentir moor dor que o
padre.100
Em suma, ainda que a legislação peninsular de Duzentos condenasse
globalmente os pais que, ao abandonarem os filhos, lhes provocavam a morte, não
deixava de referir excepções que heroicizavam essa realidade em nome dos
sacrifícios a exigir pela honra feudal da linhagem. Aliás, na literatura cavaleiresca,
essa situação acabara por se tornar num tópico literário correntemente utilizado nas
________________________________________________________________________________________________
225
99 Sobre este conflito, veja-se A.H. de Oliveira Marques, Portugal na crise dos séculos XIV e XV, Nova História de Portugal, vol. IV, Lisboa, Presença, 1987, pp. 511-513. Relativamente à forma como Fernão Lopes desenvolve o episódio, consulte-se Ana Rodrigues Oliveira, As representações da mulher na cronística medieval portuguesa (séculos XII a XIV), Patrimónia Histórica, Cascais, 2000, pp. 292-294. 100 Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando, ed. G. Macchi, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1975, pp. 133-135.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
narrativas sobre as infâncias de muitos heróis fidalgos, como Artur, o Pequeno, o
filho do rei Artur que sobrevivera à morte por abandono, que lhe teria sido destinado
pelo avô, quando o levara a uu monte esquivo u avia uu lago e leixou-o na Riba da
auga pollo comerem bestas feras. 101
De resto, se a legislação canónica, como a civil, também responsabilizara
genericamente os pais pela morte acidental de filhos enjeitados, não contempla
qualquer específica sanção relativamente aos progenitores de crianças cujo abandono
fora bem sucedido, ou seja, os meninos e as meninas que haviam sido recolhidos e
criados por cristãos piedosos, apenas se preocupando em enunciar as medidas que
lhes pudessem fazer evitar um pecaminoso segundo baptismo. Entre elas, conforme o
repetiram várias normas sinodais, chegava-se a encontrar-se a recomendação para
que os pais ou as amas das crianças expostas diligenciassem colocar entre as suas
roupas um pouco de sal, se já fossem baptizadas, para que assim pudessem ser
sepultadas no cemitério se encontradas mortas, ou então preservadas das
consequências de um indevido segundo baptismo.102
Independentemente da maior ou menor tolerância legislativa para com os
responsáveis directos do problema social dos expostos, a Cristandade da Baixa Idade
Média depressa promoveu o desenvolvimento de instituições reservadas à respectiva
guarda e sustento, sobretudo no âmbito da assistência urbana protagonizada, quer
pelas comunidades religiosas vocacionadas para a pastoral das populações mais
carenciadas das cidades, como eram as mendicantes, quer por grupos de leigos
associados em confrarias de ajuda mútua, quer ainda por destacados membros das
elites do reino que, para esse efeito, providenciavam vários bens e legados pios.103
Entre estes últimos contavam-se, desde o século XIII, as rainhas.
Senhoras de algumas das principais vilas e cidades do reino, onde moravam,
sustentavam uma corte e exerciam funções de caridade, misericórdia e assistência
para com os mais pobres e necessitados. Foram as rainhas de Duzentos que
_________________________________________________________________________________ 226
101 A demanda do Santo Graal, ed. Joseph-Maria Piel, I.N.C.M., 1988, capítulo CCCLXI . 102 John Boswell, Au bom coeur des inconnus..., ed. cit., pp.227-228. 103 Veja-se a síntese de Maria José Ferro Tavares, "Assistência. I – Época medieval" in Carlos Moreira de Azevedo (dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal, I, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 136-140. Consulte-se também, da mesma autora, "A assistência na Idade Média" in António Banha de Andrade (dir.), Dicionário de História da Igreja em Portugal, I, Lisboa, 1980, pp. 635-640.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
tomaram a iniciativa da fundação de instituições urbanas especialmente dedicadas a
recolher crianças que não tinham onde se abrigar, ou seja, os chamados Hospitais dos
Meninos, entendendo-se por hospital, de acordo com o seu sentido medieval, um
lugar destinado a albergar, sustentar e tratar populações carenciadas.104 O mais
antigo foi criado em Lisboa, a então principal cidade do reino, pela mulher do rei
Afonso III, a rainha Beatriz, sendo o primeiro hospital especialmente reservado à
assistência de meninos enjeitados ou expostos, que assim deixavam de se misturar –
conforme ocorria até aí noutras instituições de caridade existentes na cidade – com
pobres, mendigos, peregrinos, incapazes e doentes adultos.105
Protegido pela coroa, o Hospital dos Meninos de Lisboa passou a ser
largamente beneficiado pela realeza de Trezentos. Com efeito, tanto o rei Dinis como
a mulher, a rainha Isabel, legaram-lhe importantes quantias nos seus testamentos,
sendo as 300 libras que o soberano lhe testamentou em 1322 destinadas aos
esforços para criarem hi meninos engeytados e pera lhis manteer amas ata que
sejam despesas.106
De resto, em 1321, a rainha Isabel, em conjunto com o bispo Martinho, da
Guarda, fundava em Santarém um outro Hospital dos Meninos, o Hospital de Santa
Maria dos Inocentes, já documentado em 1280, 107 especificamente destinado a
receber as crianças
que alguuas molheres comceberam E tamto que os parem com medo e com
vergomça ou outros seos grandes pecados queremdo ante perder as almas
que lhi eo saberem e mandan nos deitar pellas augoas e pellas carreiras e
pellas carcouas e pollos Rios e em outros lugares hu os nam possam achar
senam de uentura,
________________________________________________________________________________________________
227
104 Fernando da Silva Correia, "Hospitais pré quinhentistas portugueses. A lição da História" in Imprensa Médica, 23-24, 1943, pp. 15-40. 105 Abílio e Anastácia Mestrinho Salgado, “Hospitais Medievais”, in Francisco Santana e Eduardo Sucena (dir.), Dicionário de História de Lisboa, Lisboa, 1994, pp. 442-446 106 Maria José Pimenta Ferro Tavares, Pobreza e Morte em Portugal na Idade Média, Lisboa, Ed. Presença, 1989, p. 92. Sobre os hospitais medievais de Lisboa, consulte-se, Abílio e Anastácia Mestrinho Salgado, “Hospitais Medievais”, in ob. cit., ed. cit., pp. 442-446. 107 Luís António Santos Nunes Mata, Ser, ter e poder. O Hospital do Espírito Santo de Santarém nos finais da Idade Média, Leiria, Magno, 2000, p. 37. Sobre a fundação dos hospitais medievais de Santarém, veja-se Jorge Custódio, "Cronologia dos hospitais e albergarias de Santarém" in João Afonso de Santarém e a assistência hospitalar escalabitana durante o Antigo Regime, Santarém, Câmara Municipal de Santarém, 2000, pp. 206-229.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
ou seja, uma instituição de assistência social integralmente dedicada à protecção dos
expostos, devendo
os filhos dos outros pobres que sas madres amdam per as portas e pellas
albergarias e os outros pobres cauooes que criam com sasa molheres por sa
lazeira
não ser aí recebidos mas antes enviados para outros centros de acolhimento social
existentes na cidade.108
De acordo com o regulamento de 1321, o Hospital de Santa Maria dos
Inocentes passava então a contar com a presença de várias amas de leite,
responsáveis pelas crianças de colo, e de dois capelães que nele asseguravam uma
missa diária, devendo os enjeitados permanecer na instituição até aos catorze anos de
idade, pelo que antes lhes era facultado o começo da aprendizagem de uma qualquer
profissão.
Após a morte da rainha Isabel, os administradores obtiveram do filho, o rei
Afonso IV, privilégios adicionais para a salvaguarda da autonomia económica da
instituição, comprometendo-se estes a utilizar, se necessário, os bens e os
rendimentos do hospital para nele albergarem de seis a doze pobres envergonhados
que comeriam e beberiam em comum.
Durante os séculos XIV e XV, o Hospital dos Inocentes viu aumentar os seus
bens urbanos e rurais através de várias doações feitas em vida ou por testamento,
continuando, portanto, a ser socialmente reconhecida e apoiada a missão assistencial
que desempenhava na cidade. Contudo, as dificuldades inerentes à gestão pública de
uma complexa rede de hospitais urbanos fizeram com que, à semelhança do que
aconteceu a outras unidades escalabitanas de assistência pública, viesse a ser
integrado, nos finais do século XV, no Hospital de Jesus Cristo, que então passou a
centralizar todos os cuidados de saúde e protecção prestados na cidade aos mais
desfavorecidos, perdendo-se, desde esse momento, o registo de uma específica
instituição de apoio às crianças expostas em Santarém.109
_________________________________________________________________________________ 228
108 Documento transcrito por Maria Ângela V. da Rocha Beirante, Santarém Medieval, Lisboa, Universidade Nova, 1980, p. 253. 109 Manuela Santos Silva, "A assistência social na Idade Média. Estudo comparativo de algumas instituições de beneficência de Santarém" in Estudos Medievais, 8, 1987, pp. 175-242.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
Entretanto em Lisboa, também os esforços realizados nos finais da Idade
Média para racionalizar e centralizar o fornecimento público de uma eficaz
assistência hospitalar, levaram à extinção do Hospital dos Meninos que fora fundado
na segunda metade de Duzentos, procedendo-se à sua incorporação no Hospital-de-
-Todos-os- Santos criado, em 1504, pelo rei Manuel I.110 De facto, segundo o seu
Regimento, passou então a ser na Casa dos Meninos ou Criandário do Hospital-de-
-Todos-os-Santos, que se começaram a receber todos os meninos emjeitados na
cidade, aí sendo acolhidos e tratados de acordo com os procedimentos antes
existentes no Hospital dos Meninos.
Em primeiro lugar, convinha imediatamente tentar saber se eram christãos e
nam o sendo os mandar loguo bautizar, só depois de bautizados se devendo loguo
buscar as hamas, para os amamentar, sendo eles criados por tempo de tres annos em
que se costuma os menynos serem criados das suas hamas. Estas convinha bem
remunerar para que andassem comtemtes e tivessem rezam de com amoor e boa
vomtade cryarem os taes emgeytados. Depois de decorridos os três anos iniciais,
passavam então a ser mamteudos de seu comer e vestiir atee que fossem de ydade
de sete annos pera deverem de ser dados a solldada ou os poerem a apremder
allguuns oficios segumdo a abellidade de cada huum moço. Deveriam sempre vestir
roupa de pano azull daquella sorte e preço que fosse conveniente e trazer nos peitos
huum .S. por synall que eram do dito estpritall. 111 Durante o período de
permanência no hospital, o provedor teria muy gramde cuydado d’ollhar por elles e
de os fazer curar e repairar como pudessem ser bem criados e provydos.
Paralelamente, a frequência infantil do Hospital-de-Todos-os-Santos ainda
era objecto de um rigoroso registo contabilístico. De facto, tanto se exigia o
assentamento num livro em cada huum anno, de todos os emgeitados com
decraraçam de seus nomes, bem como do dia mês e anno em que se ejeitaram as
crianças e asy o em que foram dados a criar às amas. Relativamente a estas últimas,
deveriam ainda ficar registadas indicações precisas sobre homde vivem e se forem
casados os nomes de seus maridos. Recomendava-se, também, anotar a identidade
dos adultos que resolvessem adoptar um dos enjeitados, devendo ser respeitada a
________________________________________________________________________________________________
229
110 Irisalva Moita, V Centenário do Hospital Real de Todos os Santos, Lisboa, Correios de Portugal, 1992. 111 Esta mesma obrigação de roupa azul com a respectiva letra era extensiva aos escravos e a todas as pessoas a quem, pelo regimento se ouver de dar o referido vestuário.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
condição de que, mesmo tratando-se dos seus pais biológicos, só o pudessem fazer
no caso de serem pesoa comvertida a fee de Nosso Sennhor, a fim de evitar a sua
possível inclusão em famílias de origem mourisca ou judaica.112
Tal como ocorria noutras regiões da Cristandade, as crianças expostas
passavam então a viver em grandes instituições de caridade pública, entregues ao
cuidado de funcionários cujos magros salários não promoviam a existência de uma
eficaz assistência sanitária e educacional. Por um lado, porque a nutrição fornecida
por amas mal pagas e frequentemente subalimentadas não favorecia um saudável
crescimento das crianças guardadas nos hospitais, mesmo tendo em conta a afeição
naturalmente transmitida aos pequenos seres a que davam o peito, e os cuidados
desenvolvidos para a sobrevivência dos meninos e meninas cuja morte significaria
uma preocupante perda de rendimentos, já que muitas das mulheres responsáveis
pelo aleitamento dos expostos assistidos nas instituições de caridade pública
amamentavam em simultâneo vários enjeitados, para conseguirem mais algum
dinheiro. 113
Por outro lado, porque uma grande concentração de crianças as tornava fáceis
vítimas das frequentes doenças contagiosas e endémicas que rapidamente se
propagavam tanto no hospício onde viviam, como nas próprias moradas das amas,
dadas as deficientes condições de higiene e a falta de medicamentos eficazes. De
facto, as taxas de mortalidade infantil revelavam-se extremamente elevadas em todos
os hospitais da Cristandade dos finais da Idade Média, sobretudo no que respeita às
crianças lactantes.114
É certo, no entanto, que a assistência hospitalar conseguia minimizar algumas
das terríveis consequências do abandono de crianças por exposição pública,
aumentando-lhe muitas vezes a esperança de vida e até permitindo-lhes virem a ser
mais facilmente procuradas e adoptadas por famílias abastadas e sem filhos,
conforme se encontrava juridicamente estabelecido.115 Foi esse, por exemplo, o
_________________________________________________________________________________ 230
112 Abílio e Anastácia Mestrinho Salgado (ed.), Regimento do Hospital de Todos-os-Santos, Lisboa, Comissão Organizadora do V Centenário da Fundação do Hospital Real de Todos-os-Santos, 1992. 113 Sobre os quotidianos das instituições urbanas de assistência social infantil, vejam-se Colin Heywood, ob. cit., ed. cit., p. 79 e Jacques Heers, ob. cit., ed. cit., pp. 88-91. 114 Nos hospitais medievais de Florença, por exemplo, cerca de 20% dos lactantes morriam menos de um mês após a sua chegada, 30% no espaço de um ano e só cerca de 32% chegava à idade de cinco anos : John Boswell, Au bon cœur des inconnus …, ed. cit., p. 287. 115 Sobre a jurisdição da adopção e perfilhação, consulte-se, Humberto Baquero Moreno, "Subsídios para o estudo da adopção em Portugal na Idade Média (D. Afonso IV a D. Duarte)", in Revista de Estudos Gerais Universitários de Moçambique, 3, Lourenço Marques, 1966, pp. 67-79.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
caso da menina de seis meses que o cidadão eborense Afonso Peres Cabelos,
resgatou de um hospital público durante o reinado de Afonso V, para a tornar sua
filha e herdeira.116
Porém, conforme salientaram Boswell e de la Roncière, a assistência
hospitalar urbana da Baixa Idade Média não conseguiu, nem impedir que muitas
das crianças por ela assistidas viessem a morrer como inocentes vítimas das
condições em que funcionavam essas instituições, nem sequer evitar o exponencial
aumento dos meninos e meninas abandonados à nascença pelos pais. Na realidade, o
facto da existência dos hospitais tornar-lhes-ia mais suportável e menos trágica a
decisão de entregar os filhos à “bondade dos estranhos”, desculpabilizando-os peran-
te a sociedade para quem uma tal prática não deixava de desempenhar uma impor-
tante função regularizadora do funcionamento dos quotidianos familiares. Com
efeito, o generalizado enjeitamento urbano das crianças cumpria medidas socialmen-
te estabilizadoras: permitia atenuar o insustentável crescimento demográfico das
populações citadinas, ao limitar as hipóteses dos expostos virem a casar e a repro-
duzir-se; contribuía para evitar o empobrecimento de várias famílias cujo património
deixava de vir a ser fraccionado por um muito elevado número de filhos herdeiros;
facultava aos pais guardar unicamente as crianças do sexo desejado ou, até oferecer-
lhes, quer a possibilidade de os outros acabarem por vir a ser adoptados por famílias
abastadas, quer a de poderem chegar a desempenhar prestigiadas e lucrativas funções
religiosas ou clericais nas instituições onde eram, por vezes, acolhidos. 117
A sociedade remetia-se, pois, à “bondade dos estranhos” para proteger as
suas crianças supranumerárias. Mas, como tal era o seu destino, estranhos
continuavam; criados por trás dos muros, afastados da sociedade e da família, sem
linhagem nem natural nem adoptiva, as crianças morriam entre estranhos ou
entravam na sociedade como estranhos.
No fundo, face à grande proveza que nas cidades europeias da Baixa Idade
Média conduzia a um crescente abandono infantil por exposição pública, a
________________________________________________________________________________________________
231
116 Maria José Tavares, Pobreza e Morte em Portugal na Idade Média, ed. cit., p. 52. 117 John Boswell, ob. cit., ed. cit., pp. 284-285. Referindo-se à Toscâna quatrocentista, Charles de la Roncière refere como o aumento dos abandonos infantis conduziu à criação de novos hospícios que, em pouco tempo, deixaram de poder acolher todos os enjeitados da cidade, sobretudo as muitas meninas, segundo este autor, as mais abandonadas, visto serem consideradas mais frágeis e menos desejadas: “A vida privada dos notáveis toscanos no limiar do Renascimento” in Philippe Ariès e Georges Duby (dir.), História da Vida Privada, 2, Lisboa, Ed. Afrontamento, 1990, p. 224.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
assistência hospitalar aos enjeitados conseguia evitar que os pais recorressem ao
aborto ou ao infanticídio dos filhos, oferecendo-lhes a hipótese de as crianças
poderem vir a sobreviver e até a crescer no seio de prósperas famílias de adopção.
Nesse sentido, as crianças expostas não só evitavam aos pais que as abandonavam a
culpa inerente à responsabilidade de haverem contribuído para a danação eterna das
respectivas almas,118 como lhes fazia protagonizar um gesto de amor parental, já que
implicava a renúncia aos filhos em nome da oferta de um possível melhor futuro.
No Antigo Testamento, o episódio do Julgamento de Salomão fornecia um
exemplo doutrinário. Perante duas mulheres que disputavam a maternidade de uma
criança, sendo uma delas a mãe natural e a outra a mãe adoptiva, a sentença
pronunciada pelo monarca no sentido de a criança vir a ser cortada os meio por uma
espada para que cada uma das suas metades fosse entregue às duas mães em litígio,
acabou por revelar a superioridade do amor reservado pela progenitora biológica ao
seu menino, já que, ao contrário da outra, logo se dispôs a abandonar o pleito em
nome da salvaguarda da vida do petiz.119 Neste sentido, também as mães medievais
que abandonavam os filhos para lhes assegurar a sobrevivência que não era possível
se recorressem ao aborto ou ao infanticídio, acabavam por protagonizar um acto de
amor maternal em que se começava a exprimir o respeito social pela vida e pelos
direitos das crianças, sobretudo durante a sua mais tenra e frágil infância.
4 – AS SALVAGUARDAS
Do ponto de vista das protecções jurídicas reservadas às crianças, a sociedade
medieval desenvolveu uma abundante legislação canónica e civil sobre a salvaguarda
dos seus direitos na sucessão do património familiar, nomeadamente no que diz
respeito às formas e às condições por que podiam herdar os bens e os direitos antes
detidos pelos pais. No entanto, à partida, essas protecções apenas se aplicavam aos
chamados filhos legítimos.
_________________________________________________________________________________ 232
118 Pierrette Paravy, “Angoisse collective et miracles au seuil de la mort: réssurections et baptêmes d’enfants mort-nés en Dauphine au XVe siècle”, in La Mort au Moyen Âge, Estrasburgo, Universidade de Estrasburgo, 1977, pp. 87-102. 119 Primeiro Livro dos Reis: 3, 16-28 in Antigo Testamento, Bíblia Sagrada em Português, ed. e trad. de João Ferreira de Almeida, Lisboa, Sociedade Bíblicas Unidas, 1968.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
Com efeito, desde o século XII, por influência do direito canónico, era apenas
neles que, em princípio, recaía o direito a sucederem, por morte dos pais nos bens e
privilégios que definiam o património familiar. Entendidos como gerados de acordo
com as leis divina e humana, já que correspondiam a filhos nascidos no seio de uma
sacramentada relação matrimonial, tendiam a ser vistos na qualidade de produto de
uma procriação legitimada por Deus, sendo entre eles que devia recair, quer a
titularidade do património detido pelos pais, quer o exercício de funções e cargos
religiosos e eclesiásticos.
Quanto aos filhos ilegítimos, oriundos de relações sexuais mantidas fora do
matrimónio sacralizado, ou seja, longe da lei divina, deveriam ser, à partida,
excluídos, com maiores ou menores excepções, da herança dos pais, a quem, aliás,
nem sequer se exigia a obrigação de os criar e manter. De acordo com Afonso X de
Castela e Leão incluíam várias modalidades, desde os filhos naturales, que eram
gerados pelas barregãs, aos fornecidos contra a lei divina e contra a razón natural,
como seria o caso das crianças tidas pelas religiosas ou havidas de relações
incestuosas, também se referindo os filhos mánceres, provenientes de mulheres que
están en la putería, y danse a todos cuantos a ellas vienen, os spuri, caracterizados
por não conhecerem o pai, visto as mães serem barregãs de vários homens, e os
bastardos, tidos pela esposa del marido que la tiene em casa, y no lo son. Nesta
sistematização, feita através do critério das diferentes condições da mãe, não se
mencionam os mais numerosos bastardos dos homens casados ou solteiros.120
De resto, na legislação europeia da Baixa Idade Média chegava a prever-se a
condição de ilegítimo para filhos de um matrimónio devidamente sacralizado, desde
que gerados antes do casamento dos pais ou após a sua dissolução. Seria esse, na
verdade, o caso das crianças nascidas antes do sétimo mês após a realização do
casamento ou depois de um divórcio, o mesmo sucedendo aos filhos concebidos
trinta e nove semanas e um dia depois da morte do marido.121
Na Hispânia medieval, a legislação revela-se menos rígida, chegando Afonso
X a recomendar que
________________________________________________________________________________________________
233
120 Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey..., ed. cit., Partida Cuarta, Títulos 13, 14 e 15. Relativamente aos mánceres, saliente-se como a etimologia do vocábulo remete, quer para o termo latino que significa pecado infernal, quer para a palavra, em língua vulgar, romance, designativa de mancha, associando-os a uma procriação conotada com a maldade e com origens vis.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
se ome solteyro cõ molher solteyra fezer filhos e depoys casar cu elha, estes
fillos seyã herdeyros122
Mantinha-se, contudo, o princípio de ilegitimar, e assim excluir da herança
familiar, os filhos gerados por incesto, adultério ou cujos pais fossem sacerdotes, tal
não impedindo, conforme já antes referimos,123 que esta última situação, fortemente
condenada pelos Sínodos diocesanos, fosse bastante comum e muitas vezes
ultrapassada.124
Entre os filhos legítimos, procurava-se assegurar que os bens a herdar por
morte de um dos pais de um matrimónio devidamente sacralizado, respeitassem as
regras de um regime sucessório baseado no direito de troncalidade.125 Segundo o
princípio paterna, paternis, materna, maternis, competia então ao cônjuge
sobrevivente dar a partição per meo aos filhos do que havia falecido, quer fossem de
ambos, ou só do que tinha morrido, se forem lidimos, devendo sempre ser
salvaguardado que os bens a herdar fossem devidamente repartidos. 126 No Foro
Real, por exemplo, estipulava-se que
se a molher ouuer fillos de dox maridos ou de mays, cada huu dos fillos
herdense enas arras que su de seu padre de guysa que os fillos duu padre nõ
partã enas arras conos que fore doutro padre.127
O caso específico da defesa jurídica dos direitos à herança familiar por parte
dos filhos legítimos de pais que se voltaram a casar, figura nos costumes locais
da região de Cima Coa, outorgados nos começos do século XIII.128 De facto, quer
_________________________________________________________________________________ 234
121 Didier Lett, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe.- XIIIe. siècle),Paris, Aubier, 1997, pp. 247-248. 122 Afonso X, Foro Real, ed. cit., Livro III, Título das heranças. 123 Vidé pp. 221-222. 124 No século XV, a legislação régia passou a prever que o filho do clérigo podia herdar do pai e do avô se tivesse nascido de casamento legítimo antes de o progenitor ter entrado em religião: Ordenações del-Rei Dom Duarte, ed. M. Albuquerque e E. Borges Nunes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1988, pp. 588-589. 125Guilherme Braga da Cruz, O Direito de Troncalidade e o Regime Jurídico do Património Familiar, vol. I, Braga, Livraria Cruz, 1941, pp. 19-20 e 81-136. 126 Ordenações Del-Rei Dom Duarte, ed. cit., Constituçom.Liiij, p. 89. 127 Afonso X, Foro Real, ed. cit., Livro III, Título das arras, p. 201. 128 Sobre este grupo de foros e costumes vejam-se: "Foros de Castelo Rodrigo", ed. Luís Filipe Lindley Cintra in A Linguagem dos foros de Castelo Rodrigo, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
nos foros de Castelo Melhor, quer nos de Castelo Rodrigo, encontra-se a
recomendação de que
ningun ome que morriere ó moler ó fillos ou fillas ouieren, e el baron tomar
muller, ó la moller marido, e non ouieren partido con suos fillos, e depoys
otros fillos fezieren, e despues moriere el ó ella, con los fijos primeros partan
la erencia e mueble que les pertenesce: e despues partan con los otros fijos:
e si alguna cosa mentire padre ó madre de auer de aquellos que son sin
padre ó sin madre que ouo mester de sua herencia e foren adelante partan
fillos ó fillas con padre ó con madre aquel auer que fue de suyo, ó parientes
a que pertenesçe: E despues partan su erencia e su mueble que ganarom
ambos, los otros fijos ó fillas partam, e de todo su auer otrosy partan. 129
Muito próximos, no seu teor, dos costumes locais da região de Riba Coa, os
foros da Guarda insistem, por outro lado, na exclusão dos filhos ilegítimos à herança
paterna, promulgando que filho de barragaa non herde sua madre en boa de seu
padre.130 No entanto, os costumes locais derivados do foral outorgado em 1179
a
Santarém, Coimbra e Lisboa revelam alguma abertura em relação à possibilidade de
os filhos bastardos poderem vir a partilhar com os legítimos a herança dos bens do
pai.131 Com efeito, tanto os forais de Santarém como os de Beja abriam uma
excepção relativamente aos bastardos dos peões, ao estipular ser
custume que peom possa seos filhos de barrega que aia rreceber por filhos e
partirem con os filhos liidimos da molher que ouuer de beeyçom
________________________________________________________________________________________________
235
Moeda, 1984; Gonzalo Martinez Díez, "Los fueros de la familia Coria Cima-Coa" in Revista Portuguesa de História, 13, 1971, pp. 343-375; José Mattoso, "Notas sobre a estrutura da família medieval portuguesa" in A nobreza medieval portuguesa. A família e o poder, Lisboa, Estampa, 1981, pp. 387-415. 129 "Costumes e Foros de Castelo-Rodrigo" in Portvgaliae Monvmenta Historiae, Leges et Consuetudines, vol. IV, Lisboa, 1868, p. 868. Vejam-se também, "Costumes e Foros de Castello- -Melhor", ibidem, p. 914. 130 "Costumes e Foros da Guarda" in Portvgaliae Monvmenta Historiae, Leges et Consuetudines, vol. II, ed. cit., p. 4. Sobre a proximidade tipológica dos foros da Guarda com os costumes locais da região de Cima Coa, veja-se José Mattoso, "Notas sobre a estrutura da família medieval portuguesa" in ob. cit., ed. cit., p. 392. 131 Relativamente à família dos forais derivados dos costumes de Santarém, Coimbra e Lisboa, consulte-se António Matos Reis, Origens dos municípios portugueses, Lisboa, Livros Horizonte, 1991, pp. 205-221.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
Ygualmente,132
sendo essa situação extensível aos cavaleiros vilãos que descessem de categoria
sócio-jurídica por falta de recursos económicos, conforme se encontra estabelecido
na norma de que
se alguu homem dementre que he solteyro, tem barragaa, e á dela faz filhos,
e está em onrra de cavaleyro; e depçois cazase com outra mulher e faz en ela
filhos, e morre em onrra de peon, os filhos que nom sum lydimos devem vijir
a partiçom com os filhos lijdimos.133
Durante o reinado de Afonso III, tal disposição jurídica começa a adquirir a
feição de lei geral do reino. De facto, os juristas do monarca legislaram no sentido de
os bastardos de piam solteiro poderem vir a herdar yrmaanmente com os posteriores
filhos lidimos do pai, no caso do progenitor os ter procriado na uergindade da mãe
ou se, posteriormente, com ela se tivesse vindo a casar. 134 O rei Dinis simplificou a
questão, ao fazer uma lei segundo a qual os filhos nascidos de peão solteiro e de
manceba também solteira, poderiam herdar e partilhar com os legítimos do pai a
respectiva herança, ao mesmo tempo que também lhes era atribuída a possibilidade
de, à falta de filhos legítimos, virem a herdar os bens paternos, salvo a terça parte
que o progenitor sempre poderia dispor conforme bem entendesse.135
Restrita ao caso dos peões concelhios, toda esta legislação ficava muito
aquém da que havia sido defendida por Afonso X no Foro Real, já que aí se
estabelecia que todos os bastardos podiam herdar por morte dos pais os respectivos
bens sempre que não existissem filhos legítimos,136 estando-lhes, no entanto,
interdita essa possibilidade no caso da sua existência.137 Contudo, em Portugal, a
_________________________________________________________________________________ 236
132 "Costumes e Foros de Santarém" in Portvgaliae Monvmenta Historiae, Leges et Consuetudines, ed. cit., p. 30. Vejam-se também os "Costumes e Foros de Beja", ibidem, p. 69. 133 Citado por Henrique da Gama Barros, História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII a XV, vol. VI, dir. Torquato S. Soares, Lisboa, Sá da Costa, 1945-54, p. 477. 134 Ordenações Del-Rei Dom Duarte, ed. cit., Constituçom.Cx, p. 109. Contudo, tais bastardos, embora herdando os bens do pai, nunca o poderiam fazer em relação aos bens avoengos, caso houvesse netos legítimos. 135 Citado por Henrique da Gama Barros, ob. cit., ed. cit., p. 474. 136 Afonso X, Foro Real, ed. cit., Livro III, Título das heranças, pp. 214-216 e Livro IV, Título XXI, p. 306. 137 Tod’ome que ouuer filhos ou netos ou - desende a iuso de molher de beeyçon, nom possam erdar cu elles outros fillos nenhuus que aya de barragaa. – Afonso X, Foro Real, ed. cit., Livro III, Título das heranças, p. 214.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
situação não se resumiria apenas aos bastardos dos peões. Com efeito, a
circunstância de Afonso III, em resposta a agravos que o clero lhe apresentava nas
cortes de Guimarães de 1250, ter ressalvado a existência de uma expressa vontade
paterna como suficiente para os bastardos fidalgos puderem reivindicar direitos de
herança relativamente ao padroado que fora exercido pelo pai numa, ou em várias
fundações eclesiásticas, 138 parece demonstrar como também entre os nobres se
praticava a infracção à regra de que os filhos ilegítimos careciam de direitos
sucessórios relativamente ao património paterno.
Durante o século XV, o rei Duarte forneceu um novo enquadramento
legislativo à questão. Determinou que os filhos bastardos tanto poderiam herdar os
bens paternos quando à morte do progenitor não existissem filhos legítimos, como os
possuídos pela mãe que não fosse nobre ou religiosa, o que assim lhes permitia
reivindicar a posse dos bens de avoenga.139
Uma vez resolvida a complexa questão da legitimidade dos candidatos à
sucessão da herança familiar que se encontrava disponível por morte do anterior
titular, procedia-se à sua divisão equitativa pelos respectivos descendentes directos
(Ygaes su en grao, ygaes son na partiçõ140), havendo que ressalvar o caso da
nobreza, já que, sobretudo a partir da centúria de Trezentos, se tende a generalizar no
seu seio a prática de privilegiar os filhos primogénitos, segundo os princípios
próprios da família linhagística. Contudo, mesmo entre os fidalgos, essa situação
sempre conheceu excepções decorrentes da adopção do princípio de uma partilha
mais ou menos equitativa da herança da família por todos os seus descendentes
directos, incluindo, por vezes, os filhos bastardos.141
Um tal princípio geral encontra-se presente na legislação do rei Afonso III
através da promulgação de diversos expedientes jurídicos destinados a evitar a
desintegração do património a herdar à morte dos pais, por todos os respectivos
filhos. Por um lado, o monarca determinou que qualquer filho que tivesse recebido
________________________________________________________________________________________________
237
138 Citado por Henrique da Gama Barros, ob. cit., ed. cit., p. 476. 139 Ordenações del-Rei D. Duarte, ed. cit., p. 586. 140 Foro Real, ed. cit., Livro III, Título das heranças, pp. 216-218: Se o morto leyxar netos que an dereyto d’erdar {...} e ouuer mays netos duu fillo herde aquella parte que seu padre erdaria se uiuo fosse e nõ mays, e os outros netos da parte do outro fillo, pero que seyã mays poucos, erde o que seu padre herdaria, o mesmo se aplicando a sobrinhos, primos ou outros parentes em igualdade de circunstâncias. 141 Veja-se José Augusto Pizarro, Linhagens medievais portuguesas. Geneaologias e estratégias (1279-1325), Porto, Universidade Moderna, 1999, pp. 565-591.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
bens familiares em vida dos pais, os viesse a aduzir despois morte delles a partiçam
com Seus yrmaãos.142 Por outro, como forma de garantir o direito dos netos aos bens
de avoenga, estabeleceu que qualquer minino ou a minina podia demandar uma
compensação aos pais que haviam vendido, no todo ou em parte, a herança que foy
de saa avoenga até huum ano E huum dia des que forem de rreuora, ou seja, os
catorze anos para o rapaz e os doze para a rapariga, não se prevendo, contudo, a
possibilidade de contestarem, quer a alienação paterna de património feita antes de
terem nascido, quer a relativa a bens que não tinham pertencido aos avós.143
Mais tarde, a questão da contagem do prazo para que os netos pudessem
contestar, ou ver recompensada, qualquer alienação paterna ou materna dos bens de
avoenga sofreu alterações, de forma a evitar que fosse feita sem o seu conhecimento.
Com efeito, o prazo passou a contar desde o dia da venda dos bens quando esta
tivesse sido feita por pregão e o neto estivesse na terra, ou então, no caso de se
encontrar ausente, a partir da altura em que dela tomasse conhecimento.144 No caso
de haver mais do que um neto, a parte do património de avoenga alienado, deveria
ser repartida
pello Juiz antre os netos per tal guisa scilicet que o juiz estime a parte
quanto pode valler o dereito que cada huum dos netos ha da cousa auoenga,
ou no caso de o bem não ser passível de divisão, entregue ao neto que primeiro o
demandasse, com a condição de depois recompensar os restantes pela respectiva
parte. Previa-se, ainda, que se este neto viesse a falecer após ter sido iniciado o
processo da demanda da herança, deveria o pai herdar sua posição.145 Em todas
estas modalidades, se o neto herdador quisesse vender ou penhorar qualquer bem de
avoenga, só o poderia fazer a algum estranho ou parente mais afastado quando não
existisse qualquer irmão ou parente próximo que cobrisse o preço pedido.146 Por
fim, a legislação do rei Duarte ainda confirma a lei em que o rei Afonso III
estabelecera não poderem os
ffilhos de barregaam que o piam fezer em ssolteiria tirar nem auer os beens
_________________________________________________________________________________ 238
142 Ordenações Del-Rei Dom Duarte, ed. cit., Constituçom Clbiij, p. 121. 143 Ordenações Del-Rei Dom Duarte, ed. cit., Constituçom Lbj, p. 95 e pp. 556-557. 144 Id., ibidem, p. 561. 145 Id., ibidem pp. 594-597. 146 Id., ibidem, p. 559.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
da auoenga de tanto por tanto se hj outros filhos ou netos lidemos ouuer,147
a não ser se habilitados por legitimação régia, já que assim teria sido purgado o
uiçio de nom poder soçeder.148
De uma forma geral, todas estas disposições jurídicas remetem para uma forte
tradição cognática, visto não só contemplarem o direito de tanto as mulheres como
os homens poderem fiscalizar e reivindicar a posse de bens de avoenga, como
estipularem não deverem eles ser alienados ou trocados, ao mesmo tempo que negam
aos pais a possibilidade de testarem livremente os seus bens ou privilegiarem
qualquer filho ou filha na herança. Contudo, conforme tem vindo a salientar José
Mattoso, esta tradição tendia a esbater-se, por influência das dinastias régias, no seio
da nobreza desde a centúria de Duzentos, sendo aí visíveis os progressos de
agnatismo quando os pais decidem “melhorar” um dos filhos ou netos, na sucessão à
sua herança, e dispõem de uma parte significativa dos seus bens para legados
pios,149 encontrando-se essas duas modalidades muitas vezes associadas na
instituição dos morgadios.150
Porém, a legislação geral do reino só muito secundariamente consagra esta
última opção, ao contrário, por exemplo, da mais romanista legislação castelhano- -
leonesa, tal como é visível nos costumes jurídicos locais derivados do foral de Soria,
ou nos códigos promulgados por Afonso X.151 Com efeito, nestes últimos atribui-se
um grande relevo a todos os procedimentos destinados a salvaguardar uma
transmissão agnática do património familiar, nomeadamente os relativos à
legitimação jurídica dos filhos únicos nascidos de uma mãe já viúva, a fim de evitar
qualquer tentativa de apropriação bastarda da herança do defunto pai.
Segundo o Foro Real, competia à viúva de um marido falecido antes do
nascimento do filho logo se dirigir com os parentes mays prouincos do morto
________________________________________________________________________________________________
239
147 Id., ibidem, Constituçom Cxj, p. 109. 148 Id., ibidem, p. 589. 149 Consulte-se, como síntese, José Mattoso, “Notas sobre a estrutura da família medieval portuguesa” in ob. cit., ed. cit., p. 387-415. 150 Maria de Lurdes Rosa, O morgadio em Portugal. Séculos XIV-XV, Lisboa, Presença, 1995. 151 José Mattoso, ob. cit., ed. cit., p. 386.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
dant’os alcaydes da vila ou cidade em que morava, para que publicamente se
registasse o auer do morto e fossem nomeadas,
per que sse nom possa fazer engano ena nacença do fillo ou da filla, duas
molheres que esten cu lume deante ena nacença e nõ entre y outra molher
aaquella ora que ouuer a parir, foras ende aquella que deue seruir a pariçõ.
E seya ben catada que nõ possa fazer y outro engano.152
O posterior código das Siete Partidas regista um procedimento mais
complexo e desenvolvido, multiplicando as acções destinadas a evitar a simulação de
uma gravidez por parte da viúva ou a possibilidade da ocorrência de uma qualquer
substituição de crianças. Por um lado, estipula-se deverem os parentes mais
próximos do falecido esposo recorrer a cinco buenas mujeres que sean libres, quer
para observarem a barriga da viúva logo após a declaração de gravidez e novamente
um mês antes do seu suposto termo, quer para entre elas ser escolhida a que,
vigilantemente, passaria a morar em casa da grávida até ao parto. Por outro,
determinam-se especiais cuidados a ter durante o nascimento da criança, ou seja,
verificar se a casa escolhida para a ocasião só tinha acesso livre por uma entrada,
colocar à sua porta três homens e três mulheres livres, assegurar-se de que em
nenhum dos seus compartimentos se encontrava qualquer grávida ou bebé escondido,
certificar-se que no momento do nascimento só aí estavam presentes até dez boas
e livres mulheres e até seis criadas, não podendo nenhuma delas estar grávida, e mais
duas outras mulheres sabedoras que sean usadas de ayudar a las mujeres cuando
paren. Para além de tudo isto, providenciar para que nessa noite sempre estivessem
três luzes acesas.153
Mais preocupadas com a questão de prevenir atentados aos direitos
sucessórios detidos pelos filhos e netos legítimos na herança dos bens familiares, a
legislação e a jurisprudência portuguesas procuravam sobretudo assegurar o
cumprimento das normas que os defendiam e promoviam, tanto dificultando o seu
deserdamento como evitando que pudessem vir a ser prejudicados quando adoptados
_________________________________________________________________________________ 240
152 Afonso X, Foro Real, ed. cit., p. 215. 153 Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey..., ed. cit., Título 6, Ley 17.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
em criança após a morte de um ou dos dois pais.154 Neste último caso, parece
significativo o deferimento por parte dos juristas da corte do rei Duarte de um pedido
apresentado ao monarca por Rui Gonçalves, um ferrador de Setúbal, solicitando a
confirmação régia da perfilhação de uma menina que a sua mulher ouera doutro
marido com que dantes delle fora casada, para que, por amor da dicta sua madre a
tomasse por sua filha adoutiva, e fizesse herdeira em seus beens asy como se fosse
sua filha carnal. Segundo o documento que se encontra transcrito na chancelaria do
soberano, foi necessário sobre ello tirar enquyriçam para saber se essa adopção era
em proueito da dicta moça e não em seu perJujzo. Tendo sido averiguada a
existência de consentimento da mãe e dos parentes do já defunto pai da criança,
nomeadamente o avô, um morador de Azeitão que exercia as funções de respectivo
tutor, e atestado que o ferrador agira sem nenhua prema nem endizimento nem per
outro nenhuu engano salvo por seer asy sua bontade e desejo, visto haver sido
apurado ter ele majs beens e ser maJs Rico que a dicta moça, foi, de facto
confirmado pelo rei o referido perfillamento.155
Contudo, se a legislação civil e canónica se revela bastante preocupada em
desenvolver a casuística das salvaguardas jurídicas destinadas a proteger os direitos
dos filhos e netos legítimos à herança familiar, mostra-se bastante indiferente à
solução dos problemas causados pelo deserdamento dos filhos bastardos, havendo
mesmo contribuído - ao sempre reiterar o seu destino de crianças estranhas aos
apoios a fornecer por uma família - para a sua progressiva exclusão e marginalidade
sociais. Com efeito, foi essa a progressiva consequência da legislação que passou a
proibir aos filhos ilegítimos o acesso aos cargos e funções civis e eclesiásticos, só
podendo os bastardos vir a ser alcaides ou juizes das vilas e cidades do reino por
dispensa régia e vir a receber ordens sagradas mediante autorização dos bispos ou do
Papa conforme se tratasse de Ordens Menores ou Maiores.156
Menos presentes ou melhor contornadas entre os filhos ilegítimos da nobreza,
as restrições públicas e familiares feitas aos bastardos acentuaram-se na segunda
________________________________________________________________________________________________
241
154 Consulte-se o Foro Real, ed. cit., Livro III, Títulos VI e IX e Livro IV, Título XXI, respecti-vamente pp. 214-219, 223-224 e 304-306. 155 Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. III, ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2002, pp. 181-182. 156 Consulte-se Humberto Baquero Moreno, "Subsídios para o estudo da legitimação em Portugal na Idade Média" in Revista dos Estudos Gerais Universitários de Moçambique, 4, Lourenço Marques, 1967, pp. 209-237.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
metade do século XIII, no contexto das queixas feitas ao rei pelos eclesiásticos
acerca da impossibilidade de continuarem a satisfazer os direitos de padroado
exigidos pelo sempre crescente número dos descendentes das suas antigas famílias
patronais. De facto, em 1261, ao responder às sugestões apresentadas pelo clero, o
rei Afonso III legislou a exclusão dos filhos das barregãs dos fidalgos, da herança
dos direitos de padroado paterno, nomeadamente os de aposentadoria, ao mesmo
tempo que os obrigava a indemnizar as igrejas e mosteiros por todas as coisas que
lhes tirassem ou danificassem.157
Mais tarde, em 1297, o filho, o rei Dinis, reiterou as proibições feitas pelo
pai, explicitando que nehuum homem nem nehua molher que non forem lidimos que
nom poussem nem comam nos moesteiros ne'nas Jgreias. Ressalvava, contudo, o
caso de todos os bastardos fidalgos a quem a merçee de uma legitimaçom régia
tornava pessoas come os outros filhos d'algo lidimos.158 Referia-se, então, o
monarca a um expediente jurídico que permitia afastar os impedimentos familiares e
sociais que se aplicavam a um grande número de filhos ilegítimos, ou seja, a outorga
régia de uma legitimação feita a pedido do pai, da mãe ou dos avós da criança
bastarda, e também por qualquer outra pessoa interessada ou pelo próprio no caso de
já ter atingido a maioridade. Cada vez mais frequente a partir do século XIV, a
prática das legitimações régias ou papais de bastardos, passou então a resolver o
_________________________________________________________________________________ 242
157 Ordenações Del-Rei Dom Duarte , ed. cit., pp. 62 e 64. 158 Id., ibidem, Ley bij, p. 166.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
problema social que implicava a dificuldade em prevenir e evitar as desordens e
violências praticadas no reino por um excessivo contingente de bastardos
marginalizados, sobretudo os de origem fidalga.
Conforme salienta Fernão Lopes, o próprio rei João I fora um bastardo
legitimado, recordando como chegara ao mestrado de Avis, apesar da sua não
legitima nascença, se bem que logo acrescente que o mereceu plenamente pelos seus
bons costumes e honroso proveito que dele vinha à ordem.159 Talvez por isso, haja
sido um monarca bastante generoso na concessão de legitimações, tendo deferido ao
longo do seu reinado uma média de quarenta e quatro pedidos anuais, sobretudo
respeitantes a varões e endereçados por eclesiásticos.160
Durante o governo do filho, o rei Duarte, manteve-se e até aumentou a
concessão de cartas de legitimação, tendo então atingido uma média anual de
quarenta e sete. A sua maior parte continua a responder a pedidos feitos pelos
próprios pais, relativamente a varões, talvez devido ao facto de se referirem a filhos e
filhas menores à data da legitimação, apenas surgindo um caso solicitado por um
avô e dois casos remetidos pessoalmente pelos indivíduos a agraciar, sendo ainda
única a situação de um Joane, cuja mãe se chamava Constança Vasques e a quem
nom lhe sabem pay.161.
Muito parcas quanto a informações sobre as funções, ocupações ou
profissões dos legitimados, talvez devido à sua provável menoridade, as cartas de
legitimação do rei Duarte registam, contudo, a presença de cavaleiros, escudeiros,
criados, tabeliães, corregedores e ouvidores. Mais abundantes, as notícias sobre as
ocupações dos familiares, sobretudo as dos pais, remetem, quer para o mundo dos
religiosos e dos clérigos, quer para actividades próprias da sociedade dos leigos.
Entre os primeiros, figuram comendadores e freires das ordens religiosas
militares, abades, priores, e, relativamente ao clero secular, sacerdotes e vários
cónegos, incluindo chantres e diversos tipos de raçoeiros. A sua presença entre os
pais de bastardos legitimados revela, em última análise, a preocupação sentida por
muitos clérigos e religiosos em tentar encontrar para os filhos uma alternativa à sua
________________________________________________________________________________________________
243
159 Fernão Lopes, Crónica de D. Pedro, ed. António Borges Coelho, Lisboa, Livros Horizonte, 1977, cap. XLIII. 160 Valentino Viegas, Subsídios para o estudo das Legitimações Joaninas (1383-1412), Póvoa de Santo Adrião, Heuris, 1984.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
mais que provável marginalização social, mais não seja porque globalmente
apontados como "fruto nascido do pecado, do erro e da luxúria".162 De facto, se a
legitimação permitia frequentemente aos varões vir a abraçar uma vida religiosa ou
eclesiástica bem apoiada e preparada pelos pais, facultava às raparigas, através da
promoção de casamentos com prósperos artesãos ou funcionários da administração
local e central, a possibilidade de passarem a integrar o grupo das elites das vilas e
cidades do reino.163
Quanto aos progenitores leigos, encontram-se representados, para além de
alguns cavaleiros, escudeiros e um ou outro prestigiado profissional urbano, como
sucede relativamente aos físicos, muitas funções e ocupações próprias do
funcionalismo régio ou concelhio, sendo esse o caso dos procuradores, corregedores,
tesoureiros, tabeliães, porteiros, contadores ou ouvidores. Na sua maior parte
registam-se na condição de solteiros, entre os quais se contam pais de mais de um
filho tido numa164 ou em duas mulheres,165 sendo também esse o estado civil
referenciado, embora numa muito mais alta percentagem, para as mães dos
legitimados. Já no que diz respeito aos pais e mães mencionados como sendo
casados, existe uma grande diferença, visto que se entre os homens se encontra nessa
situação um razoável grupo (42% dos pais para quem é assinalado o respectivo
estado civil), entre as mulheres não existe um único exemplo, apenas havendo o
registo, para além das solteiras a que se pode associar a referência, a três freiras e a
uma viúva.
Fazendo uma análise global, geral e numérica dos legitimados e respectivos
pais, podemos estabelecer os seguintes quadros e gráficos:
_________________________________________________________________________________ 244
161 Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. I, tomo 2, (1435-1438), ed. Centro de Estudos His-tóricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1998, p. 445. 162 Sónia Maria Teixeira, A Vida Privada entre Douro e Tejo: Estudo das Legitimações (1433-1521), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1996 (Tese de Mestrado), p. 260. 163 Isabel Queirós, Theudas e Mantheudas A criminalidade feminina no reinado de D. João II através das cartas de perdão (1481-1485), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999 (Tese de Mestrado), p. 42. 164 Vejam-se as cartas de legitimação de Pero Vaasquez e Catelina Vaasquez, ambos filhos de Joham Vaasquez, tesoureiro da moeda, e de Aldonça Gomez: Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. I, Tomo 2, ed. cit., pp. 52 e 53. 165 Nas cartas de legitimação de Gill e Diego, menciona-se serem filhos do procurador da corte, Gill Gomcaluez e de, respectivamente, Catelina Esteuez e Briatiz Annes : Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. III, ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2002, pp. 315-316.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
QUADRO IV : ESTADO E SITUAÇÃO FAMILIAR DOS BASTARDOS LEGITIMADOS PELO REI DUARTE 166
SEXO PAI MÃE
Ano M F Total Clero Leigos Não espec.
Soltei-ro
Casa-do
Não espec.
Soltei-ra
Não espec.
Viúva
1433 20 9 29 21 5 3 2 3 28 1 1434 28 11 39 33 3 3 1 2 34 5 1435 34 25 59 37 22 18 2 2 56 2 1 1436 21 16 37 22 12 3 5 7 36 1 1437 24 16 40 33 7 2 4 1 38 2 1438 23 9 32 21 7 4 2 4 1 31 1 Total 150 86 236 167 56 13 30 22 4 223
________________________________________________________________________________________________
245
12 1
GRÁFICO Nº 1 : SEXO DOS BASTARDOS LEGITIMADOS PELO REI DUARTE
20
9
28
11
34
2521
16
24
16
23
9
0
5
10
15
20
25
30
35
1433 1434 1435 1436 1437 1438
sexo masc. sexo fem.
150
86
sexo masc. sexo fem.
GRÁFICO Nº 2: ESTADO E SITUAÇÃO FAMILIAR DOS PAIS DOS BASTARDOS LEGITIMADOS PELO REI DUARTE
71%
24%
5%
CleroLeigosNão espec.
54%39%
7%
SolteirosCasadosNão espec
166 Estudo feito com base nas Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, 1998-2002.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
No seu conjunto, os legitimados por agraciamento do rei Duarte apontam
para bastardos cujos pais pertenciam em grande parte ao mundo letrado das vilas e
cidades do reino, quer por serem clérigos, quer por maioritariamente integrarem os
quadros do funcionalismo régio ou concelhio. Bem familiarizados com os meandros
jurídicos e detentores de razoáveis bens patrimoniais, eram eles, afinal, os principais
progenitores dos beneficiados pelas legitimações régias, nomeadamente os rapazes,
que assim lhes viam ser abertas as portas de acesso à herança familiar dos seus pais
visto que, no caso das raparigas, muito menos contempladas, nem sempre os valores
masculinos que dominavam a sociedade e a mentalidade medievais, facilmente
moviam o interesse paterno capaz de as libertar das amarras da condição de
bastardas.
Sendo assim, perante a globalidade dos filhos que eram juridicamente
deserdados por ilegitimidade, dos quais se excluíam, como já referimos, os bastardos
das muitas vilas e cidades estremenhas, alentejanas e algarvias que se regiam por
costumes derivados dos forais de Coimbra, Lisboa e Santarém, poucos seriam, na
verdade, os beneficiados pelas legitimações régias. Com efeito, a maioria dos filhos
espúrios do reino não deve ter beneficiado dos favores do rei nem do empenho dos
pais para a sua legitimação. Muitos, certamente, permaneceriam bastardos, para não
manchar o bom nome e a reputação familiar dos pais, continuando, por isso, a viver
até à morte sob o estigma da bastardia.
Paralelamente ao enunciado das condições e das vias processuais pelas quais
as crianças podiam ou deviam aceder à herança familiar, a lei e a jurisprudência
medievais portuguesas também se preocuparam com o caso concreto do salvaguardar
do património a receber pelos filhos menores a quem falecera um ou os dois
progenitores, isto é, pelos órfãos. Nos costumes locais de Riba Coa, considerados por
José Mattoso como exemplo da manutenção de um direito familiar tradicionalmente
cognático,167 conserva-se o princípio de que a protecção e gestão dos bens a herdar
pelos órfãos menores deveria ser partilhada pelo conjunto dos parentes
consanguíneos e a fins, escolhendo-se entre eles o que mais ferecesse quando esse
património, devidamente arrolado, fosse posto em almoeda pelo representante local
do monarca, o alcaide da povoação.
_________________________________________________________________________________ 246
167 José Mattoso, "Notas sobre a estrutura da família medieval portuguesa" in ob. cit., ed. cit., pp. 395-398.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
De facto, mesmo que um dos progenitores da criança permanecesse vivo não
lhe era imediatamente reconhecido o direito a exercer as funções de gestor e
protector dos bens a herdar pelo filho, só o podendo fazer se oferecesse tanto como
o que fora avançado pelo parente que antes arrematara essa posição.168 De resto,
mesmo nesse caso, previa-se uma nova intervenção do colectivo dos parentes se a
gestão dos bens da criança tivesse ficado nas mãos de uma mãe viúva que se voltasse
a casar, devendo ser então repetida a almoeda do património do órfão de pai para se
poder encontrar um novo gestor familiar para a sua herança, no pressuposto da
necessidade de salvaguardar os direitos da criança perante os interesses de um
padrasto estranho à respectiva parentela.169
Nos costumes e foros da Guarda, textualmente próximos, como já
mencionámos, dos das povoações de Riba Coa, embora mais tardios e, por isso,
melhor adaptados à progressiva afirmação da autoridade pública na gestão concelhia,
já não se prevê uma tão forte tutela familiar sobre a gestão dos bens dos órfãos,
atribuindo-se ao alcaide local a defesa de qualquer molher uiuua ou de orphao que
non á V anos,170 pelo que se considera caber ao representante local do poder régio a
vigilância e a protecção dos direitos dos órfãos de pai que antes haviam tido nos
parentes familiares a sua principal salvaguarda, sendo, por outro lado, omissa a
referência a uma necessária interrupção materna da custódia dos filhos órfãos de pai
por ocasião de um seu novo casamento. Na verdade, progressivamente, a legislação e
a jurisprudência do reino acabaram por quase inverter o sentido das normas previstas
nos foros e costumes locais de Riba Coa.
________________________________________________________________________________________________
247
168 Fillos ó fillas que orfanos remansieren que non han XV annos, suos parientes metan sua bona en almoneda com padre ó con madre, e quien mas bien les fesiere esse los tome: e tanto por tanto padre ó madre los tenga si quesiere, e moble estê en moble e eredat en eredat:."Costumes e Foros de Castelo-Melhor" in Portvgaliae Monvmenta Historiae, ed. cit., p. 914. Passagem paralela nos Foros de Alfaiates e de Castelo Bom: ibidem, p. 799 e 754. 169 Neste caso, torna-se nítida, tanto a aplicação do princípio da troncalidade como também a norma de se reservar aos dois grupos de parentes do órfão o exercício de uma vigilância permanentemente exercida para garantir os direitos dos seus sucessores comuns, conforme também se manifesta em outros foros e costumes locais de Riba Coa quando se determina que à manceba orphana los parentes de ambas partes la cassen: "Foros de Castelo Bom" in Portvgaliae Monvmenta Historiae, Leges et Consuetudines, ed. cit., p. 752, com passagem paralela nos "Foros de Castelo Melhor" in ibidem, p. 912. 170 "Costumes e Foros da Guarda" in Portvgaliae Monvmenta Historiae, Leges et Consuetudines, ed. cit., p. 13.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
Nos tempos de Afonso V, por exemplo, os juristas da corte justificaram a
decisão régia de confirmar a entrega da custódia da herança de seis enteados ao
cavaleiro Álvaro de Penedo, um escudeiro do herdeiro da coroa, em nome do amor
que ele tiinha aa dicta sua molher e pello conseguinte aos dictos horfãaos,
considerando, nesse sentido, que eles assim seriam melhor criados e repairados de
todo o que lhes mester fezesse do que no caso de virem a ser colocados em poder
doutra pessoa alguua, 171 ou seja, mesmo que tal função viesse a recair nalguns dos
seus parentes paternos ou maternos.
Entretanto, também a autoridade pública começava a sobrepor-se à familiar
no caso da vigilância do respeito pelo património a herdar pelos órfãos de mãe,
quando era o pai a exercer a respectiva guarda e gestão, mesmo que uma tal actuação
parental fosse pouco reivindicada, não existindo, na verdade, qualquer norma
jurídica que previsse a intervenção dos familiares por ocasião de um novo casamento
do pai.172 Deste modo, conforme se depreende do texto de uma recomendação feita
pelo rei Pedro I aos alvazis dos ovençais de Lisboa, tratava-se sobretudo de intervir
publicamente para que fossem respeitados os direitos dos órfãos menores à herança
materna, sendo então denunciada a situação de que pais não davam a esses filhos
partiçom dos beens que ficarom per mortes das dictas suas madres e conto e recado
delles em cada anno, recusando-se a admitir que eram theudos de o fazer e
reivindicando poderem comer e danjficar esses beens se o quisessem. Ora, segundo a
decisão atribuída ao soberano, não só deveriam ser obrigados pelos seus funcionários
concelhios a logo partir os beens que aujam com as madres dos órfãos mal elas
morressem, como a fazê-los anotar em liuro de tabeliom, de forma a que se saybham
quantos e quaaes são, para assim evitar que os danjfiquem nem straguem emquanto
em seu poder estiverem os filhos menores. Recomendava ainda o monarca deverem
ser esses bens apregoados de forma a prevenir que ninguém comprasse os beens de
raiz que assy ficarem aos meores sem mandado das Justiças.173
Contudo, ainda que a intervenção dos familiares tendesse cada vez mais a ser
substituída pela acção reguladora da autoridade pública, é certo que em ambos os
_________________________________________________________________________________ 248
171 Citado por Luís Miguel Duarte, Justiça e criminalidade no Portugal medievo (1459-1481), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 612. 172 Veja-se, por exemplo: Afonso X, Foro Real, ed. cit., Livro III, Título da guarda dos orphãos e de seus aueres, p. 221. 173 Chancelarias Portuguesas. D. Pedro I, ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, I.N.I.C., 1984, pp. 211-212.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
casos predominava o princípio de confiar a guarda dos bens dos órfãos menores de
pai ou de mãe ao progenitor vivo, sem que, sobretudo no primeiro caso fosse muito
contestada a permanência dessa função, em virtude da ocorrência de um posterior
casamento. De facto, conforme salienta Stéphane Boisselier, são muito raros os casos
em que alguém se identifica documentalmente como enteado de outrém.174
No entanto, a situação é diferente no que respeita a órfãos menores de pai e
de mãe, crescendo então o protagonismo das autoridades públicas em ordem à
salvaguarda dos direitos das crianças à herança familiar, nomeadamente quando não
existissem parentes próximos que estivessem interessados ou fossem capazes de
exercer uma tutoria, assumindo-se, portanto, como responsáveis pela família jurídica
em que passariam a ser criados os pequenos, até que a maioridade lhes permitisse
administrar os bens a herdar, uma vez deduzidas as despesas gastas com o seu
sustento e formação. À partida, o problema encontrava-se automaticamente resolvido
se as funções de tutor fossem assumidas perante os juizes locais por quem fora
nomeado para tal no testamento do pai ou da mãe dos órfãos. Porém, na falta de um
tutor testamentarius, haveria que seguir dois caminhos: ou instituir oficialmente um
parente mais próximo como o tutor legitimus, ou proceder-se à nomeação de um
tutor dativus, expressamente designado pelo juiz local.175
Em todos os casos deveria o tutor ser de XX anos almeos, creodo e cordo e
de boo testimonho e auerudo, 176 especificando as Ordenações Del-Rei Dom Duarte
que, para além de assesegado E de boa fama ainda possuísse algo em tall guissa que
seja pera jsso. Exigia-se-lhe, também, Jurar primeiramente cumprir as obrigações
inerentes a essa função e apenas receber os bens do órfão depois de os haver
discriminado per escripto. Esse documento deveria ser depois entregue aos órfãos
quando atingissem a maioridade, deãte o alcayde e os omees boos, junto com o conto
dos fruytos que ende recebeo o tutor.177
No seu conjunto, todos estes procedimentos e decisões promoveram a
necessidade de existência de um funcionalismo jurídico-administrativo especializado
e conhecedor dos respectivos meandros legislativos, processuais e contenciosos.
________________________________________________________________________________________________
249
174 Stéphane Boisselier, Naissance d'une identité portugaise. La vie rurale entre Tage et Guadiana de L'Islam à la reconquête (Xe. – XIVe. Siècles), Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1999, p. 246. 175 Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey..., ed. cit., Partida Sexta, Título 16, Ley 2. 176 Afonso X, Foro Real, ed. cit., Livro IV, Título XXI.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
Assim, nos grandes concelhos urbanos foram então surgindo os chamados juizes dos
órfãos cujo exemplo mais precoce são os que se documentam para Lisboa a partir de
1299.178
Paralelamente, a legislação concelhia passou a conceder um maior relevo ao
exercício das funções dos juizes dos órfãos. Nos costumes e foros de Beja, por
exemplo, fixa-se como sua principal obrigação
fazer uiir os tetores perdante sy e rreceberem lho conto e rrecado do auer
que teuerem dos horffaoos, para que huum tabalyam ou huum escripuam
jurado dado pello conçelho fizesse escrepuer toda a rreçepta e a despeza
pollo meudo por tall que os horffaoos nom aiam erro.
Por outro lado, para além da tarefa de
dar tetores aos orffaoos que os nom teem, também lhes são assinaladas as
funções de dar quitaçoees aos que derem boom conto e meter outros tetores e
tyrar os que o forem sse mester fezer, devendo para tudo isso, o escripuam ou
tabalyam organizar anualmente huum liuro onde se registe todo esto
estremado dos horphaoos. 179
Face à complexidade de todo este processo, nem sempre os tutores
designados pelos juizes dos órfãos assumiam de bom grado o exercício das suas
funções. Nos tempos do rei Duarte, por exemplo, Pedro Anes, caramixeiro da
cidade de Évora, obteve do monarca, por intermédio do escrivão da puridade do
soberano, o privilégio de vir a ser escusado de um tal cargo, mesmo sendo o
parente mais achegado do órfão a tutorar.180
De acordo com as actas das vereações concelhias medievais hoje
conservadas, os juizes dos órfãos, a quem se exigia bomdade e boãa discriçam,
_________________________________________________________________________________ 250
177 Ordenações Del-Rei Dom Duarte, ed. cit., Constituçom.xxijj, pp. 138-139. 178 Marcelo Caetano, A administração municipal de Lisboa durante a 1ª dinastia, Lisboa, Horizonte, 1990, p. 39. Veja-se também, do mesmo autor, História do direito português (1140-1495), Lisboa, Verbo, 1981, p. 321. 179 "Costumes e Foros de Beja" in Portvgaliae Monvmenta Historiae, Leges et Consuetudines, ed. cit., p. 73. 180 Chancelaria Portuguesas. D. Duarte, vol. III, ed. cit., p. 30. O mesmo soberano, aliás, chegou a promulgar privilégios colectivos onde explicitamente se concedia a isenção de tutorias, como sucedeu relativamente aos Privjlegios dos reguengueyros da terra de Refoyos ou aos Priujllegios dos lauradores e caseiros do conde d aRayollos: Chancelaria Portuguesas. D. Duarte, vol. I, Tomo I, ed. cit., pp. 90 e 116, respectivamente.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
iniciavam as suas funções após jurarem sobre os Santos evangelhos ir cumprir o seu
cargo bem e derreytamente como compre a servjço de Deus,181 sendo o seu ofício
considerado suficientemente importante para que, relativamente ao Porto, se
nomeasse um juiz provisório até que o efectivo se encontrasse em condições de o
poder vir a desempenhar,182 talvez devido ao facto de nessa cidade se considerar
possível o exercício vitalício de um tal cargo.183 Pelo contrário, em concelhos
urbanos de muito mais reduzidas dimensões, como o do Funchal, o juiz dos órfãos
exercia um mandato trienal,184 ou o de Loulé, para o qual se documenta a eleição
anual de um tal magistrado.185
Contudo, apesar de tais diferenças, os juizes dos órfãos dos três concelhos
apresentam-se socialmente próximos, remetendo, de uma forma global, para
representantes das elites locais, sejam económicas, como a que corresponde ao
mercador que exerceu o cargo em Loulé,186 sejam de serviço, como teria ocorrido
relativamente ao tabelião, ao escrivão e ao vereador a quem tal ofício competira no
Porto187 e no Funchal,188 ou de função, no caso dos cavaleiros que o desempenharam
em todos estes concelhos,189 registando-se para a cidade portuense a ocupação do
ofício por parte de um escudeiro do rei.190 Neste sentido, talvez se possa então
concluir que o exercício concelhio do cargo de juiz dos órfãos era suficientemente
prestigiado e lucrativo para não só ser pretendido e disputado ao mais alto nível
social local, como até sujeito a pressões ou intervenções da coroa no sentido de vir a
________________________________________________________________________________________________
251
181 Vereações da Câmara Municipal do Funchal (século XV), ed. José Pereira da Costa, Centro de Estudos de História do Atlântico, Região Autónoma da Madeira, 1995, pp. 101 e 237. 182 "Vereaçoens", anos de 1401-1449 in O segundo Livro de Vereações do Município do Porto, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1980, pp. 392-393. 183 Rui Vasquez, juiz dos órfãos, aja o Regimento do dito oficio per a cidade e que vago o dito oficio per morte do dicto Rui Vasques que fique aa cidade como dantes avia: "Vereaçoens", Anos de 1431- -1432, XLIV, ed. João Alberto Machado e Luis Miguel Duarte, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1985, p. 129. 184 Vereações da Câmara Municipal do Funchal (século XV), ed. cit., p. 101. 185 "Actas da vereação de Loulé (séculos XIV-XV)", ed. Luís Miguel Duarte, Separata da Revista al'-ulyã, nº 7, Loulé, 1999/2000, pp. 80, 116 e 174. 186 "Actas da vereação de Loulé (séculos XIV-XV)", ed. cit., p. 80. 187 Sobre o escrivão e o vereador do Porto que exerceram tal função: "Vereaçoens", Anos de 1401- -1449 in O segundo Livro de Vereações do Município do Porto, ed. cit., p. 393 e "Vereaçoens", Anos de 1431-1432, ed. cit., p. 42. 188 Vereações da Câmara Municipal do Funchal (século XV), ed. cit., p. 101. 189 Para Loulé e Funchal, respectivamente, "Actas da vereação de Loulé (séculos XIV-XV), ed. cit., p. 174 e Vereaçoens da Câmara Municipal do Funchal (século XV), ed. cit., p. 237. 190 "Vereaçoens", Anos de 1401-1449, O segundo Livro de Vereações do Município do Porto, ed. cit., p. 392.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
ser desempenhado, a título compensatório ou promocional, por homens da criação ou
da confiança política do monarca.
De facto, parece ser esse o sentido das várias confirmações feitas pelo rei
Duarte à manutenção das funções de juizes dos órfãos, quer por parte de cavaleiros
criados em sua casa, como sucedia ao de Avis, que acumulava esse ofício com o
desempenho local das funções de scpriuam de todollos fectos dos Judeus e mouros
que som auudos por orfaãos,191 quer por parte dos que já as exerciam nos tempos do
pai, o monarca João I, compreendendo, para além de um mercador que as assegurava
em Melgaço,192 o caso de dois cavaleiros que haviam sido criados pelo anterior
soberano, relativamente a, em simultâneo, Almada e Viana do Alentejo e, do mesmo
modo, a Alcáçovas e Alvito, ambos em acumulação com os também lucrativos
cargos de juizes locais dos judeus e das sisas.193 Também como escrivão dos órfãos
em Montemor-o-Novo, se conhece a nomeação de um "criado" do rei Duarte que,
durante o período em que ocupou o cargo, adquiriu várias propriedades agrícolas no
termo da vila.194
Assim sendo, tanto o conhecimento de situações relacionadas com o
exercício fraudulento do cargo, conforme teria ocorrido no Porto, quando a vereação
concelhia se viu obrigada a substituir o juiz João Anes por culpas em algumas
cousas nos dictos ofiçios por que os devia perder,195 como o facto de a coroa haver
sido várias vezes forçada a reiterar e a especificar os procedimentos jurídicos
destinados à salvaguarda judicial dos bens a herdar pelos órfãos, seriam reveladoras
da circunstância de um tal cargo tender a ser disputado e exercido mais pelas
vantagens económicas a retirar de um desempenho tendencioso e corrupto do que
para assegurar o cumprimento correcto das normas relativas à prestação de tutorias.
A denúncia social de uma tal realidade levou o rei Duarte, pese embora a sua
quota de responsabilidade na mesma, a promulgar tanto a hordenaçom que obrigava
os Juízes E escprivaaes dos horfoons a mostrar os seus Livros e a dar boa
emformaçom do que lhes fosse requerido pelos contadores das comarcas do reino,196
_________________________________________________________________________________ 252
191 Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. III, ed. cit., p. 147. 192 Id., ibidem, respectivamente, pp. 135, 168 e 342. 193 Id., ibidem, pp. 168 e 342. 194 Jorge Fonseca, Montemor-o-Novo no século XV, Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, 1998, p. 87. 195 "Vereaçoens", Anos de 1401-1449 in ob. cit., ed. cit., pp. 392-393. 196 Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. II, "Livro da Casa dos Contos", ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1999, p. 176.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
como a que encarregava os corregedores das comarcas de fiscalizar o correcto
cumprimento dos actos e dos preços fixados nos Regimentos régios que regulavam o
exercício das suas funções, respondendo, neste último caso, a queixas expressas
pelos procuradores dos concelhos nas cortes celebradas em Évora, no ano de 1436,
sobre o arbitrário aumento dos emolumentos pedidos pelos juizes dos órfãos, assy
dos auentairos como das contas das almoedas. 197 Desconhecemos o resultado
prático de tais medidas.
Entretanto, desde os tempos do rei Dinis, avançava a legislação relativa ao
exercício das tutorias, fixando-lhe deveres, responsabilidades e prazos. Entre os
primeiros, salientava como competia aos tutores, em paralelo com as obrigações
de alimentar, vestir e proteger os órfãos, zelar para que eles adquirissem os
fundamentos de uma cultura letrada, ou seja, as capacidades de ler, escrever e contar,
e fossem iniciados na aprendizagem de qualquer ofício.198 Entre as
responsabilidades, enunciava-se como função dos tutores, responder judicialmente
pelo não pagamento da tributação devida pelos rendimentos obtidos com a gestão
dos bens dos órfãos, nomeadamente o dyzymo de quanto elles ouuere per razõ de seu
trabalho,199 e pelas consequências criminais de uma gestão danosa ou fraudulenta,200
assim como sempre diligenciar para a anulação de qualquer sentença injustamente
proferida contra os menores a seu cargo. 201
Quanto à questão da duração das tutorias, se sempre foi mantida a norma de
deverem cessar quando os órfãos atingissem os catorze anos para os rapazes e os
doze para as raparigas, ou seja, a maioridade, assistiu-se a alguma variabilidade
legislativa no que se refere ao momento em que poderiam tomar posse efectiva do
património sob tutoria. Com efeito, nos tempos de Afonso IV alterou-se o costume
de os órfãos apenas entrarem na posse plena dos bens tutorados aos vinte e cinco
anos, baixando-se para os vinte a idade em que podiam prescindir de um curador que
________________________________________________________________________________________________
253
197 Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. I, Tomo 2, ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1998, p. 393. 198 Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey..., ed. cit., Partida Sexta, Título 16, Ley 16. 199 "Costumes e Foros de Santarém" in Portvgaliae Monvmenta Historiae, Leges et Consuetudines, ed. cit., p. 38. 200 Afonso X, Foro Real, ed. cit., Livro IV, Título XXI. 201 Ordenações Afonsinas, ed. M. J. Almeida Costa e E. Borges Nunes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, Livro IV, Título CXXVI, pp. 451-455.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
lhes guarde E procure os sseus beens E faça as outras cousas que a elles conprir,
salvo em aquelles casos que de direjto podem E deuem d’auer.202
Mais tarde, os juristas do rei Afonso V introduziram novas alterações.
Fixaram os vinte e os dezoito anos para, respectivamente, os rapazes e as raparigas
poderem solicitar a entrega dos bens tutorados e estabeleceram como condição para
essa transferência serem eles achados de boo cizo e descriçaõ, em tal guiza que
rezoadamente os possam bem reger e ministrar, conforme seria atestado pelos juizes
dos locais onde moravam e detinham os bens. Contudo, mesmo assim, mantinham-
se os vinte e cinco anos para o órfão poder dispor livremente dos bens herdados de
raiz, visto só então poderem por ele ser vendidos ou empenhados, no todo ou em
parte, sob pena de o contrato vir a ser objecto de anulação jurídica.203
A minuciosa regulamentação da questão da salvaguarda do património
familiar a herdar e a preservar pelas crianças mereceu ainda especiais atenções
processuais no âmbito da legislação relativa ao adultério e à adopção. No primeiro
caso, houve a preocupação de regulamentar, relativamente à situação da molher
casada cu marido alheo, não poder o marido da molher vir a deserdar os filhos
legítimos que dela tivera, sendo eles os verdadeiros garantes da continuidade do
património familiar a defender.204
Quanto à adopção, o enunciado dos direitos a garantir às crianças perfilhadas
surge no contexto de nelas poder vir a recair a transmissão de bens familiares
carentes de qualquer sucessão legítima. Com efeito, estando vedado à mulher o
direito de perfilhar, salvo no caso de ter perdido algum filho em batalha ao serviço
do rei, ou por expressa autorização do monarca,205 tratava-se de uma matéria jurídica
quase só regulamentada na qualidade de processo destinado a validar a transmissão
de um património sem herdeiro, permitindo ao varão que o possuía receber e herdar
por filho quem bem entendesse, desde que haya poder naturalmente de engendrar,
habiendo sus miembros para ello, y no siendo tan de fria naturaleza por la que se lo
_________________________________________________________________________________ 254
202 Ordenações Del-Rei Dom Duarte, ed. cit., pp. 421-422. 203 Ordenações Afonsinas, ed. cit., Livro III, Título CXX, pp. 431-433. 204 Afonso X, Foro Real, ed. cit., Livro IV, Título dos adultérios, p. 277. Sobre a problemática jurídica do adultério na Idade Média, veja-se Amélia Andrade, Teresa Teixeira, Olga Magalhães, "Subsídios para o estudo do adultério em Portugal no século XV" in Revista de História, Porto, 5, 1984, pp. 93- -129. 205 Afonso X, Foro Real, ed. cit., Livro IV, Título XXI e Las Siete Partidas del Rey, ed. cit., Partida Cuarta, Título 16, Ley 2.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
PROTEGER ____________________________________________________________________________________________________
impida. Teria ainda de escolher para adoptado alguém de cuja idade podesse auer
por filho, dado se conceber o recebemeto do filho semelhauil aa natura. 206
Neste contexto, a antiga e conservadora legislação local da região de Riba
Coa apenas se limitava a exigir que a perfilhação fosse conhecida e testemunhada
pela comunidade, bastando que qualquer ome qui quisier fazer fillo ou filla ou fillos
ou fillas o declarasse pos exida de missa matinal en domingo ou en sabado a las
uiesperas en collacion de uilla.207 Mais preocupada em prevenir conflitos e litígios, a
lei geral do reino acabou, no entanto, por regulamentar a crise de transmissão do
património familiar que poderia ser aberta pela morte do adoptado ou do adoptando,
impondo as normas de que a morte de cada um deles implicaria, respectivamente, o
direito à sua herança por parte dos parentes biológicos mais próximos e a sua
partilha entre a família natural, a quem ficaria reservada a quarta parte da herança, e
o perfilhado.208
Em suma, se a criança surge mencionada em muitas das leis e sentenças
produzidas pelo direito medieval português, apresenta-se quase sempre na qualidade
de perturbadora ou de garante de um património familiar mais valorizado e protegido
do que ela própria. Com efeito, enquanto elemento de um grupo de parentesco cuja
coesão se pretende proteger e salvaguardar na e pela herança, a criança tende a
diluir--se como pessoa jurídica, sendo remetida para um colectivo geracional de
filhos a quem a lei declarava obligados a amar e a temer os pais.209
No entanto, por vezes, sobretudo no campo do direito penal canónico ou
civil, a criança merece um tratamento diferenciado. De facto, Luís Miguel Duarte ao
investigar a criminalidade infantil no Portugal do século XV, menciona que a
pequena hidade das crianças, embora não as impedindo de ser judicialmente
declaradas culpadas, e como tal punidas, funciona muitas vezes na condição de
atenuante em relação às penas a que são condenadas. É esse, por exemplo, o caso de
um menino de sete ou oito anos, a quem o rei livrou da prisão, que numa das suas
brincadeiras acertou acidentalmente com uma pedra num primo da mesma idade,210
________________________________________________________________________________________________
255
206 Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey..., ed. cit., Partida Cuarta,Título 16, Ley 2. 207 "Costumes e Foros de Castelo-Rodrigo" in Portvgaliae Monvmenta Historiae, Leges et Comsue-tudines, ed. cit., Livro IV, p. 868. Passagem paralela nos "Costumes e Foros de Castello-Melhor": ibidem, p. 914. 208 Afonso X, Foro Real, ed. cit., Livro IV, Título XXII, p. 305. 209 Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey..., IV, ed. cit., Título 19, Leis 1 e 2. 210 Luís Miguel Duarte, ob. cit., ed. cit., p. 277.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
ou, já no campo dos manuais de confessores, a circunstância de a penitência
recomendada por furto para os moços menores, ser de V dias en pan e augua, uma
pena bastante inferior à sugerida para os adultos culpados de idêntico pecado.211
Noutros casos referidos por Luís Miguel Duarte, as penas aplicadas aos
delinquentes infantis não tiveram em conta quaisquer atenuantes etárias. De facto,
nem uma criança de nove anos que, também por acidente ocorrido em jogos infantis,
provocara a morte de uma de seis, deixou de ser condenada ao degredo por dois anos
para terra estranha, nem houve qualquer hesitação em decretar cinco anos de
trabalhos forçados em Ceuta para um jovem que, após ter provocado a morte do
irmão no decorrer de uma nova brincadeira, já estivera fugido em Castela por quatro
anos, sendo estas duas crianças órfãs de pai por altura do acidente. 212
De resto, no âmbito de uma discutível pedagogia criminal preventiva, até se
aplicavam às crianças penas superiores às sentenciadas para os adultos julgados
culpados por idênticos delitos. Na legislação concelhia de Lisboa, por exemplo, se se
reservava aos ladrões menores de idade a pena de vir a ser meetido no collar e
preguado pellas orelhas durante huua ora pera o verem os outros pelo simples roubo
de uuas ou fruyta, estipulava-se que aos adultos culpados pelo mesmo crime se
aplicasse uma multa acompanhada ou não pela exposição no colar, conforme a sua
menor ou maior condição social.213
_________________________________________________________________________________ 256
211 O Penitencial de Martim Pérez em Medievo-Português, ed. Mário Martins, Lisboa, 1957, p. 46. 212 Luís Miguel Duarte, ob. cit., ed. cit., pp. 276-278. 213 Livro das Posturas Antigas, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1974, p. 94. Citado e comen-tado por Iria Gonçalves, “Na Ribeira de Lisboa, em finais da Idade Média” in Um olhar sobre a cidade medieval, Cascais, Patrimonia Histórica, 1996, p. 74.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
6 ADOECER Desear los fijos parescen engaños
Porque sus dolores son nuestro dolor, E todos sus daños nuestro mesmo daño. Mirad, pues, que gozo nos da su amor, Mirad que plazer, mirad que dulçor Es tener com muchos muy grandes amores, Porque nos den vida com muy más sudo Y los sus delictos immensos dolores.
Garcia de Resende1
As doenças marcaram decisivamente os quotidianos das
crianças medievais, tal como o revelam os estudos
paleobiológicos feitos com base na análise de esqueletos
arqueologicamente recuperados em vários cemitérios dessa
época, ou as menções contidas em muitos tratados médicos e
textos hagiográficos então redigidos.
1 – TESTEMUNHOS
De entre todas estas referências, as mais objectivas são as fornecidas pelos
paleobiólogos, visto se basearem na identificação das doenças evidenciadas pelos
esqueletos das crianças que delas padeceram e cujos ossos conservaram os respectivos
efeitos.2 A utilização histórica dos dados facultados pela paleobiologia tem, no entan-
to, algumas limitações, sobretudo no que respeita à avaliação da mortalidade infantil.
Por um lado, porque nos informam sobre um número relativamente reduzido de não
sobreviventes a determinada doença. Por outro, porque a análise osteológica não
permite detectar todas as doenças, nomeadamente as de evolução fulminante e
1 Garcia de Resende, Cancioneiro Geral, I, ed. A. J. Costa Pimpão e A. Fernandes Dias, Coimbra, Universidade, 1973, p. 100. 2 Partindo do princípio que o osso encerra em si a memória dos acontecimentos passados e do comportamento das suas células até ao momento da morte, o esqueleto constitui, assim, a ponte entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos : Eugénia Cunha, “Contribuição da Paleobiologia para o Conhecimento dos Habitantes da zona de Corroios (Seixal) nos séculos XV e XVI" in Al-madan, IIª série, 4, Almada, 1995, pp. 34 e 39.
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
as contagiosas que não chegam a afectar e marcar os ossos do esqueleto, sendo essa,
de resto, a situação de muitas mortes acidentais que carecem de qualquer registo
osteológico.3
Mesmo assim, tendo em conta a progressiva quantidade dos vestígios
osteológicos analisados e as suas mais comuns patologias, os estudos
paleobiológicos começam a permitir formular algumas conclusões seguras sobre as
doenças infantis no período medieval. Uma delas diz respeito à frequência das
anemias durante a infância e a adolescência.4 Outra, a elas associada e decorrente
das inúmeras hipoplasias lineares do esmalte dentário verificadas em muitos dos
esqueletos analisados, tem a ver com a frequente existência, entre os dois e os seis
anos de idade, de doenças provenientes de subnutrição geradas por fomes, afecções
ou agressões ambientais, doenças infecciosas ou mudanças alimentares inadequadas
durante a fase do desmame.5 As também muito presentes reacções periósteas,
resultantes da presença de membranas fibrosas que revestem a superfície externa dos
ossos, 6 revelam ainda a comum ocorrência de múltiplas infecções não específicas
que podem também ter contribuído para a morte de crianças muito novas,7 seja a
partir de lesões nos tecidos moles adjacentes ao osso, implicando a prévia existência
de traumas e úlceras na pele, tanto hemorrágicas como crónicas, seja pela acção da
osteomielite, ou ainda pela manifestação de uma qualquer doença generalizada.
De uma forma geral, a ocorrência de elevados índices de mortalidade entre a
população infantil de idades compreendidas entre os dois e os quatro anos - sendo
__________________________________________________________________________________ 258
3 Sobre estas limitações e respectiva bibliografia, consulte-se Sónia Codinha, Uma necrópole medieval em Serpa: contribuição para o estudo de indivíduos não adultos, Coimbra, Departamento de Antropologia, 2001 (Relatório de Investigação), pp. 20-21 e Eugénia Cunha, "Paleobiologia, História e Quotidiano: critérios da transdisciplinaridade possível" in Amélia Aguiar Andrade e José Custódio Vieira da Silva (coord.), Estudos Medievais, Lisboa, Horizonte, 2004, pp. 132-134. 4 Cf. Eugénia Cunha, “Contribuição da Paleobiologia para o Conhecimento dos Habitantes da zona de Corroios (Seixal) nos séculos XV e XVI", ed. cit., p. 39 e “Populações medievais portuguesas (séculos XI-XV). A Perspectiva Paleobiológica", in Arqueologia Medieval, 5, Mértola, ed. Afrontamento, 1997, pp. 71 e 77. 5 Veja-se, por exemplo: Eugénia Cunha, Cláudia Umbelino e Teresa Tavares, "A necrópole de S. Pedro de Marialva – Dados antropológicos" in Património. Estudos, Instituto Português do Património Arqueológico, Lisboa, 2001, nº 1, p. 143; Marta Reis, Sónia Codinha, Ferreira et al, Un necrópolis medieval en Serpa: analisis paleobiológico, Póster apresentado no XII Congreso de la Sociedad Española de Antropologia Biológica, Universidade Autónoma de Barcelona, 2001. 6 Eugénia Cunha, Cláudia Umbelino e Teresa Tavares, ob. cit., ed. cit., p. 143. 7 Na necrópole de Corroios, por exemplo, foi exumada uma criança que terá morrido entre os seis e os doze meses de idade apresentando reacções periósteas a nível das mastóides: Eugénia Cunha, “Contribuição da Paleobiologia para o Conhecimento dos Habitantes da zona de Corroios (Seixal) nos séculos XV e XVI", ed. cit., p. 39.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
esse o caso, por exemplo, de 70% das crianças exumadas na necrópole medieval de
Serpa8 - coloca o fim da amamentação como um período particularmente ameaçador
para a saúde dos meninos e meninas, visto coincidir com o desencadear de infecções
gastrointestinais e respiratórias próprias de organismos cujos sistemas digestivos
revelariam grandes dificuldades para a adaptação a um novo, e muitas vezes mal
preparado, regime alimentar. De resto, a má nutrição, associada a febres e diarreias,
seria, por certo, uma das principais responsáveis pelas doenças infantis. Por um lado,
porque a sua insuficiência qualitativa e, sobretudo, quantitativa conduzia ao
enfraquecimento e à debilitação do sistema imunitário que, por sua vez, tornava a
criança mais susceptível ao desencadear de infecções; por outro, porque estas, ao
dificultarem a ingestão e a reabsorção dos nutrientes e minerais essenciais ao
desenvolvimento da criança, ainda mais lhe diminuíam as suas já reduzidas
capacidades de sobrevivência.9
No seu conjunto, todos estes e outros graves problemas de saúde infantil, não
deixam de figurar na tratadística médica medieval peninsular, como ocorreu,
exaustivamente, nos manuais de pediatria e obstetrícia hispano-árabes. Com efeito,
neles se contêm vários conselhos e terapêuticas destinadas a evitar as então
consideradas mais frequentes doenças das sucessivas etapas do desenvolvimento
infantil, desde o nascimento até ao aparecimento da dentição definitiva.
No que respeita aos primeiros tempos de vida da criança, durante os seus
quarenta dias após o nascimento, alerta-se para os perigos das aftas na boca ou na
língua, dos vómitos e da tosse. As aftas e os vómitos atribuem-se a problemas de
nutrição, surgindo explicados pelo facto de a criança ter passado a ser alimentada
pela boca em vez de o ser através do cordão umbilical, sendo esta nova porta de
entrada dos alimentos mais frágil e mais dificilmente controlada do que a primeira.
Quanto à tosse, chama-se a atenção para a necessidade de conservar o bebé num
ambiente pouco seco e de temperatura amena, elucidando-se como ele, ao nascer,
havia perdido o calor e a humidade do ventre materno, não tendo a sua língua ainda
________________________________________________________________________________________________ 259
8 Maria Teresa Ferreira e Eugénia Cunha, Les enfants médiavaux de Serpa, Comunicação apresentada na 1827.e Réunion Scientifique de la Société d'Antropologie de Paris, Paris, Museu Nacional de Historia Natural, 2002. 9 Maria Teresa Ferreira, As crianças moçárabes de Serpa: análise paleobiológica de uma amostra de esqueletos exumados da necrópole do loteamento da zona poente de Serpa, Coimbra, Departamento de Antropologia, 2000 (Relatório de Investigação), p. 13; Sónia Codinha, ob. cit., ed. cit., pp. 25-26.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
atingido a força capaz de proteger a garganta contra o ar frio que lhe entrava até aos
pulmões e lhe provocava a tosse.
Para além destas perturbações, também se relacionava o começo da vida das
crianças com uma temível propensão para a insónia e para os terrores nocturnos,
duplamente atribuídos à influência de um estômago pesado por uma amamentação
excessiva. Nesse sentido, não só era aconselhada a diminuição da quantidade de leite
a ingerir pelo lactante, como era sugerido à ama tudo fazer para melhorar a
respectiva qualidade, nomeadamente a prática de passeios destinados a fazer baixar
os humores corrompidos que havia no leite por ela produzido. Recomendava-se,
também, dever sempre manter-se junto da criança água com violetas cozidas para
que, ao respirar o seu aroma, se sentisse tranquila, ou, ainda, untar-lhe o nariz com
azeite de violetas misturado com um pouco de açafrão.
Preocupantes nesses primeiros meses de vida eram ainda as doenças
originadas por diversas infecções, como as do umbigo, agravadas com os gritos e o
choro dos recém-nascidos, e tratadas através de pensos de clara de ovo sobre ele
colocados durante três dias, ou as dos ouvidos, as dolorosas otites, atribuídas ao
excesso de humores existente no cérebro da criança desta idade, e cuja cura
implicaria colocar, sobre as orelhas, uma esponja de lã embebida em água e mel.
Também as inflamações provocadas pela comichão e pelo ardor das pústulas e
erupções surgidas na cabeça do bebé eram temidas. Para este caso, receitava-se uma
papa feita da mistura de vários produtos naturais a colocar sobre a cabeça rapada do
bebé. Ordenava-se, ainda, a quem o amamentava, abster-se dos alimentos quentes
que queimavam o sangue e amareleciam o leite.
Por fim, entre as deformações físicas que também então podiam ocorrer na
criança, chamava-se a especial atenção para o perigo de se vir a manifestar a
hidrocefalia, considerada como provocada pela acumulação de ar espesso entre a
membrana da cabeça e o crânio. Para a tratar, receitava-se a administração, por via
nasal, de um azeite de jasmim, nardo ou amêndoas. Após o enunciado da
sintomatologia, etiologia e até terapêutica de todas estas primeiras doenças, os
obstetras e pediatras hispano-árabes passavam a centrar-se nas perturbações de
saúde correspondentes a uma segunda etapa do crescimento infantil, ou seja, a que
terminava cerca dos sete meses de idade, com o aparecimento e consolidação da
primeira dentição. Aliás, é sobretudo a propósito do desencadear e da consolidação
__________________________________________________________________________________ 260
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
desta última ocorrência que eles desenvolveram a análise das doenças a então
prevenir e combater, antes de mais porque todas elas teriam origem no inchaço das
gengivas, nomeadamente as febres e as convulsões decorrentes das infecções das
feridas abertas pelo constante coçar dos respectivos pruridos e comichões. Ora, como
medida preventiva a utilizar, aconselhava-se, então, uma rápida propiciação do
romper dos dentes. Por um lado, aliviando a pressão provocada pelas mamadas sobre
as gengivas, devendo aquelas ser mais espaçadas e rápidas. Por outro, fornecendo ao
corpo maior energia e vitalidade, quer através de frequentes banhos quentes, quer por
via da utilização de unguentos destinados a massajar as gengivas. Caso, entretanto, já
se tivessem manifestado dores, infecções e febres, haveria que lhe reduzir a
alimentação, para além de manter sempre junto da criança murtas regadas com água,
para que lhe chegasse a respectiva frescura e perfume. Aconselhava-se, ainda, a
quem lhe dava o peito, prescindir de comer carne, beber vinho, tomar banhos quentes
ou fazer esforços que produzissem demasiado calor. Quanto às infecções
desencadeadas pela ulceração das feridas, muitas vezes acompanhadas por cólicas e
diarreias, e quase sempre conducentes à progressiva debilitação da criança,
aconselhava-se uma multiplicidade de mezinhas, desde emplastros, beberagens,
pílulas e pós a tomar tanto pelo lactente como pela mulher que o amamentava.
Paralelamente, também se atribui às sequelas do aparecimento da primeira
dentição, a possibilidade de se virem a produzir lesões no cérebro ou nos órgãos dos
sentidos, alertando-se, então, para o despiste da epilepsia e do estrabismo. Este
último, uma vez confirmado, implicava desde logo uma intervenção correctora,
sugerindo-se manter todas as noites diante dos olhos da criança, uma lamparina
acesa, um pouco desviada para o lado esquerdo se o estrabismo fosse do lado direito
e vice-versa.
Passados os tempos da primeira dentição, os pediatras hispano-árabes
consideravam que a saúde das crianças podia vir a ser gravemente ameaçada quando
elas começavam a falar ou deixavam a amamentação. O primeiro caso era por eles
associado à possibilidade do aparecimento de tumores na garganta ou deformações
ósseas produzidos pelo recuo das vértebras occipitais, arrastando consigo os
músculos inflamados para a parte anterior do pescoço. De acordo com a medicina
antiga, pensava-se que esta deformação era produzida pelo início da fala, visto que
esta, dada a suposta necessidade de um aumento da cavidade bucal para permitir uma
________________________________________________________________________________________________ 261
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
mais ampla movimentação da língua, implicava a deslocação das amígdalas em
direcção à nuca, deixando, assim, de exercer a sua função de filtrar os humores dos
resíduos de sangue existentes na cabeça.10
Menos teóricas e especulativas, as doenças relacionadas com um deficiente
desmame infantil referem-se, sobretudo, a patologias dos sistemas urinário e
digestivo. Os problemas renais encontram-se mencionados a propósito dos cálculos
obstrutivos, para cuja eliminação se aconselha, entre outras terapêuticas, banhos de
água quente duas vezes por dia. Relativamente ao aparelho digestivo citam-se as
parasitoses intestinais a propósito do aparecimento de lombrigas, supostamente
originadas pela putrefacção dos alimentos no estômago, e as alergias, descritas por
via das borbulhas, úlceras, verrugas e furúnculos que se espalhavam pelo corpo, e
que seriam devidas ao roçar da roupa e à corrupção do leite que tardaria a ser
abandonado como nutriente das crianças.
De resto, passada a etapa da aquisição de uma dentição definitiva, os tratados
de pediatria hispano-árabes tornam-se muito lacunares e evasivos, apenas registando
a possibilidade de as crianças poderem vir a ser perturbadas por asma, conjuntivites,
febres agudas, varíola ou sarampo, para cuja terapia aconselham o exame e a
consulta de um clinico geral. Entramos, assim, rapidamente nos domínios da
medicina para adultos, defrontando-nos com manuais e tratados que deixam de se
interessar pelas crianças.11
__________________________________________________________________________________ 262
10 Sobre a herança greco-latina da medicina hispano-árabe, bem assim como os seus progressos e inovações, veja-se Julio Samsé, Las ciencias de los antiguos en Al-Andalus, Madrid, MAPFRE, 1972, especialmente as pp. 110-124. 11 Sobre a etiologia e a terapêutica das doenças infantis referenciadas pela medicina pediátrica hispano-árabe, consulte-se o enciclopédico El libro de la generation del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de los recien nacidos de Árib Ibn As'id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ed. Antonio Arjona de Castro, Córdova, 1983, pp. 119-165.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
2 – MILAGRES
Para de novo nos situarmos no campo das doenças infantis temos então que
abandonar as certezas dos paleobiólogos e as referências contidas nos textos dos
médicos letrados hispano-árabes. Passaremos, de facto, a inquirir o difícil mundo dos
livros de milagres medievais portugueses, onde, entre os séculos XII e XV, se
compilaram várias dezenas de registos relativos às crianças doentes a quem os santos
teriam devolvido a saúde.
Muito atentos à recolha de testemunhos reveladores dos poderes
taumatúrgicos dos santos, os livros de milagres medievais portugueses reflectem, no
seu conjunto, uma sociedade para a qual a saúde e a doença se equacionavam em
termos de graça ou punição divinas, concebendo-se o corpo são ou enfermo na
qualidade de espelho de uma boa ou má alma. Neste contexto, dado que os males do
corpo traduziriam os efeitos de um castigo lançado pela divindade aos pecados
individuais ou sociais cometidos pelos crentes, as respectivas terapêutica e cura
implicavam o exercício de uma medicina simultaneamente física e espiritual, tal
como era de facto praticada pelos médicos-sacerdotes presentes nas comunidades das
grandes instituições eclesiásticas, sobretudo entre as que atraíam um grande número
de devotos em busca das protecções dispensadas pelas relíquias aí conservadas.12
Ora, sendo duplamente formados na aprendizagem escolar letrada dos saberes
medicinais herdados da Antiguidade e no conhecimento das práticas litúrgicas
destinadas à salvação e purificação penitencial das almas, eram os próprios médicos-
sacerdotes que atribuíam a reposição da saúde num corpo doente a uma medicina
miraculosa, feita através de votos, orações, promessas e rituais dirigidos aos santos e
às suas relíquias pelos peregrinos que, discretamente, assistiam nos hospitais e
albergarias existentes junto aos santuários de romaria.13 Numa sociedade marcada
por uma alimentação desequilibrada e frequentemente escassa, por deficientes
práticas higiénicas, pela ignorância de preceitos e regras rudimentares e por um
generalizado imaginário de culpa e de angústia face ao desencadear das doenças, os
santuários funcionavam então como os lugares onde mais facilmente se poderiam
encontrar os remédios e as intervenções que a medicina doméstica tradicional não
________________________________________________________________________________________________ 263
12 Jean-Claude Schmitt, "Corps malade, corps possédé" in Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais d' anthropologie médiévale. Paris, Gallimard, 2001, pp. 319-343.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
permitia resolver,14 já que o recurso aos físicos e boticários profissionais, que apenas
se encontravam disponíveis nas grandes cidades da Baixa Idade Média, era uma
solução difícil e dispendiosa. A sua relativa escassez fazia mesmo com que o rei e os
grandes senhores tendessem a fixá-los ao serviço das suas cortes.15
Conscientes então que a fama das curas milagrosas constituía um meio
bastante eficaz para captar devotos, os livros de milagres dão um grande relevo ao
respectivo registo, embora a sua frequência e desenvolvimento textuais variem em
função da maior ou menor antiguidade do culto que procuravam difundir e das
capacidades letradas dos seus redactores para expressarem por escrito o resultado de
uma eventual observação presencial ou os pormenores das circunstâncias da
respectiva ocorrência, quando provenientes de informações transmitidas oralmente
pelos romeiros e peregrinos dos santos. Conforme salienta Pierre-André Sigal, são
sobretudo os livros de milagres relativos a cultos então bastante activos e em expan-
são que concedem um maior relevo aos milagres de cura, já que se podem socorrer
mais facilmente das notícias veiculadas pelos agraciados vindos aos santuários em
cumprimento das promessas devidas pela recuperação da saúde, ou para
simplesmente testemunhar gratidão pelo desaparecimento de algum mal corporal.16
Contudo, mesmo assim, nem sempre as doenças das crianças miraculadas
surgem bem individualizadas ou descritas. Por um lado, nota-se a tendência para
apenas desenvolver as informações relativas a doenças pouco frequentes e que, por
isso, melhor podiam prestigiar os poderes taumatúrgicos dos santos. Por outro, os
males dos miraculados surgem quase sempre referenciados mais em função das suas
consequências físicas, sobretudo as corporalmente deformantes, do que da sua
precisa etiologia ou até sintomatologia, sendo frequente o uso de expressões do tipo
não poder caminhar sem ser sobre as mãos e os joelhos 17 ou encontrar-se tão
__________________________________________________________________________________ 264
13 Marie-Christine Pouchelle, Corps et chirurgie à l' apogée du Moyen Age. Savoir et imaginaire du corps, Paris, Flammarion, 1983. 14 Sobre este tema, consultem-se: A. H. de Oliveira Marques, “A Higiene e a Saúde” in A Sociedade Medieval Portuguesa, Lisboa, Sá da Costa, 1974, pp. 87-104; José Mattoso, “Saúde corporal e saúde mental na Idade Média” in Fragmentos de uma Composição Medieval, Lisboa, Ed. Estampa, 1993, pp. 233-252. 15 Sobre o exercício profissional da medicina, veja-se Iria Gonçalves, "Físicos e Cirurgiões quatrocentistas. As cartas de exame" in Imagens do Mundo Medieval, Lisboa, Horizonte, 1988, pp. 9--52. 16 Pierre-André Sigal, L'homme et le Miracle dans la France médiévale (XIe – XIIe siécle), Paris, Les Éditions du CERF, 1985, pp. 311-312. 17 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente", ed. Aires Nascimento e Saúl António Gomes, S. Vicente de Lisboa e seus Milagres Medievais, Lisboa, Didaskalia, 1988, p.71.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
enfermo da boca que não comia.18 De facto, entre os milagres infantis
considerados, apenas no relativo a huma grande inchação na cabeça de um menino,
para a qual se informa não haver remedio que lha modificasse ou resolvesse,
aparece referenciada uma possível causa, citando-se, na opinião dos medicos, dever
proceder de figado abrazado e corrupto.19
De uma forma geral, confirmando o apreço dos livros de milagres pelas
doenças infantis corporalmente deformantes e de difícil solução clínica, as maleitas
referenciadas tendem a identificar-se com enfermidades de longa duração, presentes
desde o nascimento, facto que poderia estar relacionado com as difíceis e demoradas
situações do parto,20 ou a partir dos primeiros meses de vida da criança. De facto,
quando se encontra expressa a antiguidade da doença (Gráfico nº 3), a maioria das
notícias referencia males originados antes dos dois anos de idade, sendo provável
que essa primeira infância também situe as doenças ditas padecidas há muito tempo.
de n
asce
nça
de n
asce
nça
4 m
eses
8 m
eses
1 an
o
2 an
os
3 ou
4 a
nos
10 a
nos
mui
to te
mpo
mui
to te
mpo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
NÚ
MER
O D
E C
ASO
S
GRÁFICO Nº 3 - ANTIGUIDADE DAS DOENÇAS DOS MIRACULADOS
rapazesraparigas
TEMPO
Contudo, se as curas infantis se encontram presentes em praticamente todos
os registos de milagres medievais portugueses, nem sempre figuram com a mesma
intensidade. Com efeito, se tivermos em conta a cartografia dos valores referenciados 18 Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga, e regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, I, Lisboa, 1745, p. 512. 19 Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, I, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, p. 238. ________________________________________________________________________________________________ 265
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
para os principais centros de peregrinação do reino (Mapa 1 – Milagres de Cura de
Crianças), ressalta a tendência para um seu maior protagonismo nos santuários da
Baixa Idade Média onde então se afirmaram cultos que disputavam devotos aos que
já antes se haviam confirmado local ou regionalmente.
Para Lisboa, por exemplo, é essa a situação do culto prestado a Nuno Álvares
Pereira no convento de Nossa Senhora do Carmo relativamente aos que há muito
eram reservados a S. Vicente e a S. Veríssimo na Sé catedral e no mosteiro de
Santos.21 Em Coimbra, por sua vez, as curas infantis obtidas por intercessão dos
Mártires de Marrocos, cujas relíquias se conservavam no convento de Santa Cruz,
começaram a suplantar, desde o reactivar quatrocentista do seu culto, as antes
credenciadas à rainha Santa Isabel, sepultada no muito próximo mosteiro de Santa
Clara.22 Por fim, no Entre Douro e Minho, se, durante o século XII e os começos do
XIII, eram as curas obtidas através do culto a S. Rosendo que suplantavam em
número as atribuídas aos santos minhotos de devoção mais antiga, nota-se, a partir
do século XIV, a progressiva afirmação dos milagres em crianças que seriam devidos
à intercessão de Nossa Senhora da Oliveira, o santuário que, em Guimarães,
começava a disputar a Celanova a fama e o prestígio da produção de tais graças.23
__________________________________________________________________________________ 266
20 Vidé capítulo NASCER. 21 Gilberto Moiteiro, "Da Lisboa de Nun' Álvares à Lisboa do Santo Condestável. Uma nova devoção na cidade dos reis de Avis" in A Nova Lisboa Medieval, Lisboa, Núcleo Científico de Estudos Medievais, (no prelo). 22 Luís Krus, "Celeiro e relíquias – o culto quatrocentista dos mártires de Marrocos e a Devoção dos Nús" in Passado, Memória e Poder na sociedade medieval portuguesa. Estudos, Redondo, Patrimónia, 1994, pp. 149-170. 23 Cristina Célia Oliveira Fernandes, "O Livro dos Milagres de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães" in Lusitânia Sacra, Lisboa, 13-14, 2002, pp. 597-608.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
MAPA 1 - MILAGRES DE CURA DE CRIANÇAS
Rates (São Pedro) Guimarães (N. Sª da Oliveira)
Amarante (S. Gonçalo)
Coimbra (Santa Isabel)
Basto (Santa Senhorinha)
Santarém (S. Frei Gil)
Aveiras (N. Sª das Virtudes)
Lisboa (Nuno Álvares Pereira)
Terena (Nossa Senhora)
Braga (S. Geraldo)
Celanova (S. Rosendo)
Rio Mondego
Rio Douro
Rio Tejo
1 - 56 - 9
10 - 20+ 20
Lisboa (S. Vicente)Lisboa (S. Veríssimo)Lisboa (Bom Jesus)
Coimbra (Mártires de Marrocos)
________________________________________________________________________________________________ 267
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
De resto, tanto nos mais recentes como nos mais antigos livros de milagres
medievais portugueses, a geografia da morada das crianças miraculadas também
funciona como meio destinado a celebrar o poder taumatúrgico dos santos e cultos
propagandeados. Alguns desses textos mostram-se sobretudo interessados em
registar as curas das crianças que moravam em povoações situadas perto ou nas
cercanias do santuário a celebrar, definindo, portanto, uma estratégia de desvio dos
peregrinos frequentadores dos templos situados numa mesma disputada área
populacional, já que a notícia da ocorrência de muitos desses milagres de cura
infantil permitia captar a devoção das várias famílias frequentemente atingidas pela
doença de algum dos seus mais jovens membros. A maior parte dos livros de
milagres mostra-se, no entanto, mais interessada em registar a memória de como a fé
nas virtudes taumatúrgicas dos seus santos, relíquias ou cultos motivara a
organização de longas e dispendiosas viagens dos acompanhantes das crianças que
só nesses santuários haviam encontrado remédio para os seus males. Nesse sentido,
conforme revela o Mapa 2 (Geografia da Morada das Crianças Miraculadas),
distinguem-se sobretudo os cultos a S. Vicente e a Santa Senhorinha de Basto, já que
a fama dos milagres por eles obtidos a favor das crianças doentes teriam motivado a
organização familiar de viagens extremamente longas e morosas, como as que se
conta haverem sido efectuadas pelos acompanhantes de, respectivamente, o menino
que, proveniente de Guimarães, só se curara de febres em Lisboa,24 e os de uma
criança natural de Zamora, a quem os pais tiveram de transportar até às terras de
Basto para a livrar de uma paralisia,25 tendo ambas as deslocações implicado um
percurso de 5 ou 6 dias de jornada.26
__________________________________________________________________________________ 268
24 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente" in ob. cit., ed. cit., p. 53. 25 "Vida da Bem Aventurada Virgem Senhorinha", ed. e trad. Maria Helena da Rocha Pereira, in Vida e Milagres de S. Rosendo, Porto, 1970, p. 143. 26 O cálculo dos dias de jornada necessários ao cumprimento das deslocações mencionadas é meramente aproximativo, tendo como base a média diária de 40 Km (cf. Iria Gonçalves, "Viajar na Idade Média: de e para Alcobaça na primeira metade do século XV" in Imagens do Mundo Medieval, ed. cit., p. 194) e um cômputo de distâncias apenas feito a partir da escala do mapa 2, sem ter em conta, portanto, a histórica realidade da rede dos caminhos medievais.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
MAPA 2 - GEOGRAFIA DA MORADA DAS CRIANÇAS MIRACULADAS
________________________________________________________________________________________________ 269
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
Noutros livros de milagres, a referência a tais percursos situa-se, porém, num
contexto de cumprimento de promessas e acções gratulatórias, ou seja, mencionando
viagens efectuadas aos santuários dos santos e das devoções por cujas intercessões se
havia desencadeado a cura das crianças. Assim, por exemplo, tanto os milagres
atribuídos ao conimbricense culto da rainha Santa Isabel, como os relativos à lisboeta
devoção de Nuno Álvares Pereira, reivindicam curas que haviam sucedido em Évora,
respectivamente, a um moço a quem uma sanguessuga entrara pelo nariz,27 e a uma
menina cega,28 ambas tendo sido obtidas através de promessas feitas pelos
respectivos pais. Aliás, num outro contexto geográfico, o mesmo teria ocorrido, desta
vez por intercessão de Nossa Senhora das Virtudes e de S. Frei Gil de Santarém,
relativamente a, por ordem de referência, uma criança cega que vivia na
transmontana povoação de Murça, curada através de uma graça obtida por promessa
feita pelo pai,29 e a um minino de Vouzela, a quem uma sua tia encomendara ao
santo escalabitano, para o salvar de morrer afogado num tanque.30
Em suma, conforme observa Finucane, cada santuário desenhava a sua
própria mistura de peregrinos, recorrendo, para esse efeito, à redacção dos livros de
milagres.31 Assim, se estas fontes nos podem fornecer importantes informações
sobre a natureza e a frequência das doenças infantis mais temidas pela sociedade
medieval portuguesa, torna-se necessário ter em conta como veiculam dados a
contextualizar em função dos objectivos da sua escrita, partindo do princípio de que,
por um lado, tendem a privilegiar a memória das doenças cuja cura se revelava mais
difícil e menos esperada, e que, por outro, raramente racionalizam as respectivas
origens e sintomatologias. Como salienta André Vauchez, “[...] nous ne saisissons
jamais les miracles à l’état brut" visto apenas termos acesso a "ceux que les clercs
ont jugés dignes d’être notés par écrit."32 Mesmo desses, de resto, pouco sabemos do
que teria acontecido à saúde das crianças que haviam beneficiado de um milagre, já
__________________________________________________________________________________ 270
27 Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, Lisboa, 1869/70, vol. 7, p. 57. 28 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 502. 29 Frei João da Póvoa, "Livro dos Milagres de Nossa Senhora das Virtudes", ed. F. Correia, in Revista da Biblioteca Nacional, 2ª série, 3, nº 1, 1988, pp. 7-42. 30 Frei Luís de Sousa, ob. cit., ed. cit, pp. 231-232. Todos estes milagres serão referidos mais pormenorizadamente no decurso deste capítulo. 31 Ronald C. Finucane, Miracles and Pilgrims. Popular Beliefs in Medieval England, Totowa, Nova Jersey, Rowman and Littlefield, 1977, pp. 142-143. 32 André Vauchez, La Sainteté en Occident aux Derniers Siècles du Moyen Age, Roma, Escola Francesa de Roma, 1988, p. 545.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
que os autores das fontes hagiográficas nada mais contam do que histórias bem
sucedidas e, de certo modo, exemplares.
3 – AS CRIANÇAS MIRACULADAS
A idade das crianças agraciadas com a cura dos seus males só muito
raramente surge minimamente precisada nos livros de milagres medievais
portugueses - apenas em 12% dos 146 casos registados – prevalecendo, portanto, a
sua menção através de um léxico cujo elenco e dificuldades semânticas já atrás
referimos.33 Quando expressamente mencionada, essa idade revela-se bastante
diversificada (Gráfico nº 4 - Idade em que as Crianças Miraculadas Adoeceram), ao
contrário, aliás, do que se verifica através da análise do mesmo tipo de fontes, para
outras regiões da Cristandade medieval, onde, de acordo com Finucane, se observa a
prevalência da menção de crianças com menos de 4 anos. 34
0
1
2
NÚ
MER
O D
E C
RIA
NÇ
AS
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14IDADE
GRÁFICO Nº 4 - IDADE EM QUE AS CRIANÇAS MIRACULADAS ADOECERAM
RapazesRaparigas
33 Vidé capítulo DIFERENCIAR.
________________________________________________________________________________________________ 271
34 Ronald C. Finucane, The Rescue of the Innocents Endangered Children in Medieval Miracles, Nova Iorque, St. Martin's Press, 2000, p. 97. Sabemos, no entanto, e conforme já foi referido anteriormente serem os primeiros anos de vida os mais perigosos. O gráfico não inclui os casos de complicações no parto nem os nados mortos referidos no capítulo NASCER. Se isso acontecesse, a percentagem de crianças com idade inferior a um ano aumentaria significativamente.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
Se considerarmos o conjunto das idades de –1 a 14 anos, verificamos como
no caso português só não se registam situações para os 9 e para os 10 anos, estando
todas as outras idades presentes sem grandes variantes de montante. Nesse sentido,
parece que os livros de milagres medievais portugueses transmitem a preocupação de
recordar como os santos e os cultos que enaltecem se revelariam eficazes para a cura
das doenças das crianças de qualquer idade, reflectindo, desse modo, um contexto de
ampla rivalidade entre vários centros de peregrinação no que respeita à disputa de
devotos.
Na sua totalidade, o processo conducente à cura dos moços, moças, jovens,
crianças ou filhos e filhas de alguém que se encontram referidos nos livros de
milagres medievais portugueses é atribuído à iniciativa dos respectivos pais e
parentes próximos, fosse porque se lhes credita a decisão de os levar até aos
santuários onde eles teriam recuperado a saúde, fosse porque, para a obter, haviam
invocado a especial protecção de um santo ou culto taumatúrgico, conforme se pode
observar no Quadro V - Contexto Familiar dos Milagres de Cura das Crianças.35 De
facto, só em muito poucos casos, e sempre após um prévio pedido feito por
intervenção dos pais, é que se noticia terem as crianças solicitado elas próprias a
graça da sua cura.36
__________________________________________________________________________________ 272
35 Para a elaboração deste Quadro considerou-se um conjunto de 166 registos de milagres, dos quais se excluíram, à partida, os relativos a ressurreições. Devido à imprecisão da linguagem utilizada no texto dos livros de milagres, nem sempre é possível determinar com rigor se o milagre envolveu ou não a peregrinação das crianças a um santuário. Nos casos em que se utilizam para os terceiros, as expressões encomendou, ofereceu e pôs na criança qualquer substância ou objecto a funcionar como relíquia, optou-se por excluir a possibilidade de uma romagem directa; esta hipótese foi considerada quando, a propósito da produção do milagre, se noticia como alguém prometeu levar o agraciado a um santuário ou se informa haver sido desencadeada a cura a partir de algo que, devidamente acompanhado, o miraculado foi buscar ou trouxe de um templo. 36 Referem-se os casos de um menino de três anos de idade e de uma menina de sete, com os rostos deformados, que foram colocados pelos pais junto às relíquias de S. Vicente e ensinados a rezar e a pedir saúde: Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente", ob. cit., ed. cit., respectivamente, pp. 45 e 49.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
QUADRO V - CONTEXTO FAMILIAR DOS MILAGRES DE CURA DAS
CRIANÇAS
ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS PEREGRINAS
PEDIDO DE INTERVENÇÃO MIRACULOSA
TOTAIS
PAI
MÃE
PAIS
32
21
12
30
25
4
62
46
16
65 59 124
AVÔ
AVÓ
TIO
TIA
IRMÃO
2
2
2
_
1
__
1
__
1
__
2
3
2
1
1
7 2 9
MULHER
AMA
VIZINHA
1
__
__
2
1
1
3
1
1
1 4 5
TOTAIS 73 65 138
No caso das deslocações aos santuários, a companhia e as iniciativas
atribuídas aos adultos resultam naturais, visto qualquer viagem medieval que
envolvesse um percurso a fazer em mais de uma jornada quase sempre implicar uma
protectora caminhada em grupo. Na verdade, sempre que os livros de milagres
relatam a deslocação a qualquer santuário de uma criança depois miraculada,
referenciam como aí fora conduzida quer pelos progenitores, nomeadamente o pai,
dada a menor mobilidade materna existente na sociedade medieval, quer, muito
secundariamente, por parentes próximos, como os avós, tios ou irmãos, neles talvez
se incluindo a rara referência às mulheres com quem, casualmente, também teriam
peregrinado, conforme se encontra expresso no Gráfico nº 5 - Acompanhantes das
Crianças Peregrinas.
________________________________________________________________________________________________ 273
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
GRÁFICO Nº 5 - ACOMPANHANTES DAS CRIANÇAS PEREGRINAS
44%
29%
16%
10% 1%
Pai Mãe Pais Parentes Outros
Contudo, mesmo no que respeita às curas milagrosas obtidas para as crianças
a pedido de outrém, regista-se um idêntico contexto devocional familiar, tal como se
representa no Gráfico nº 6 - Iniciativa dos Pedidos para a Produção dos Milagres das
Crianças. As frequências das iniciativas atribuídas ao pai e à mãe aparecem agora
mais equilibradas, visto, neste caso, o protagonismo materno não implicar a prática
de uma qualquer difícil ausência doméstica. O mesmo acontece com a presença de
outras mulheres próximas da criança miraculada, sejam suas parentes próximas,
como as avós ou as tias, sejam da sua criação ou convívio, sendo esses os casos das
amas e vizinhas, as quais, no seu conjunto, apenas se encontram referenciadas nesta
modalidade de registo do desencadear da acção miraculosa.
__________________________________________________________________________________ 274
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
GRÁFICO Nº 6 - INICIATIVA DOS PEDIDOS PARA A PRODUÇÃO DOS MILAGRES DAS CRIANÇAS
46%
38%
6%3% 7%
Pai Mãe Pais Parentes Outros
A valorização textual do contexto familiar das crianças agraciadas permite
ainda utilizar os livros de milagres como fontes susceptíveis de caracterizar
sociologicamente os jovens miraculados, visto consignarem várias informações sobre
a condição, ocupação ou profissão dos respectivos pais e parentes próximos, o que,
no entanto, apenas ocorre em cerca de 28% dos casos em análise. De acordo com os
dados constantes no Quadro VI - Condição e Profissão dos Familiares das Crianças
Miraculadas, ressaltam, desde logo, as origens vilã e urbana da maioria das famílias
das crianças miraculadas, dado a elas corresponderem, em geral, quer os diversos
níveis das funções jurídico-administrativas exercidas pelo funcionalismo referido
através dos almoxarifes, contadores, escrivães, licenciados, procuradores, tabeliães
ou tesoureiros (24% das referências), quer a prática dos ofícios relacionados com o
vestuário (alfaiates, sapateiros), comércio e transportes (mercadores, marinheiros),
serviços (estalajadeiros, coveiros), construção (mestres de obras), alimentação
(vendedor de fruta, carniceiros, hortelãos) e actividades artesanais transformadoras
(ourives, carpinteiros, tanoeiros, cordoeiros e cardadores), num total de 52% de todas
as ocorrências.
Para além disso, se a representatividade das elites político-sociais se revela
claramente minoritária (24%), nela também se incluem, para lá da referência a
elementos oriundos dos grupos senhoriais dominantes (reis, cavaleiros, escudeiros e
vassalos), outros que igualmente remetem para o mundo concelhio, como sejam os
homens bons e os lavradores. Assim sendo, as origens sociais das crianças
________________________________________________________________________________________________ 275
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
miraculadas acabam por apontar, quando expressas, e numa elevada percentagem de
casos, para famílias de devotos urbanos, tal como, na verdade, já testemunhava a
cartografia das povoações localizadas nos antes referidos e comentados Mapas nº 1 e
nº 2, onde surge visível, sobretudo a Sul do Douro e a Norte do Tejo, o protagonismo
das vilas e cidades que uniam os caminhos situados ao longo da faixa sub-litoral
atlântica, ou seja, a rede viária em torno da qual se estruturou e desenvolveu o reino
medieval de Portugal.37
QUADRO VI – CONDIÇÃO E PROFISSÕES DOS FAMILIARES DAS CRIANÇAS
MIRACULADAS
Alfaiate 2 Escudeiro 3 Procurador 1 Almoxarife 1 Estalajadeiro 2 Rainha 1 Carniceiro 2 Homem Bom 2 Rei 1 Cardador 1 Hortelão 1 Sapateiro 3 Carpinteiro 2 Lavrador 1 Tabelião 3 Cavaleiro 1 Licenciado 1 Tanoeiro 2 Contador 1 Marinheiro 1 Tesoureiro 1 Cordoeiro 3 Mercador 1 Vassalo 2 Coveiro 1 Mestre de obras 1 Vendedor de fruta 1 Escrivão 3 Ourives 1 TOTAL
46
Contudo, se todas estas circunstâncias permitem situar entre as comunidades
urbanas da Beira litoral e da Estremadura concelhias uma parte significativa dos
potenciais usufrutuários das curas de crianças fornecidas pelos santuários de
peregrinação, convém salientar como tal imagem pode em grande parte derivar do
tipo de informações prestadas pelos livros de milagres da Baixa Idade Média. Na
realidade, tendo sido efectivamente elaborados em meios sintonizados com a cultura
letrada das vilas e cidades do reino, revelam-se muito mais atentos à necessidade de
registar dados e elementos que apoiem e documentem a credibilidade e exemplar
vocação assistencial das graças apregoadas, até porque disso dependia o sucesso da
disputa de devotos feita entre os muitos templos de romagem, rivais e concorrentes
__________________________________________________________________________________ 27637 Suzanne Daveau, Portugal geográfico, Lisboa, João Sá da Costa, 1995, pp. 102-103.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
entre si, que se iam afirmando nas mais prósperas e povoadas povoações portugue-
sas. De facto, a maior parte dos registos de milagres considerados, cerca de 72%,
tendo sido redigidos em santuários cujos cultos e devoções eram mais antigos ou
rurais, carece de informações relativas à sociologia das crianças agraciadas. Tal, no
entanto, não constitui um obstáculo à consideração de que, progressivamente, fosse
entre a população dos mais dinâmicos e expansivos concelhos urbanos do centro do
país que se tendesse a encontrar os principais utilizadores da medicina miraculosa
fornecida pelos santuários onde actuavam os sacerdotes-médicos.
4 – AS CURAS MIRACULOSAS
De acordo com os livros de milagres, as curas obtidas por intercessão dos
cultos e dos santos caracterizavam-se pelas respectivas rapidez e eficácia, as quais se
opunham à morosidade e às recidivas que eram próprias das obtidas pelo recurso às
medicinas doméstica ou profissional. No fundo, era nisso que residia a
espectacularidade dos milagres. De facto, só por eles se poderia passar, quer pela
experiência de ver uma criança doente logo se transformar numa sã e salva38 e lympa
de tudo,39 recuperando o aspecto de quem, porque recebeo saude,40 de forma inteira
e perfeita,41 adquiriu a graça de um corpo saão,42 quer pelo júbilo de poder
observar como algum pequeno e infeliz paralítico ergueu-se sobre os pés e começou
a caminhar por seu pé, recuperando a vitalidade de antes43 ou como outro voltou
para casa muito alegre e encheu de gosto e prazer toda a sua gente,44 ou ainda a
maravilha de vir a presenciar como as faces deformadas de uma criança de três anos
retomaram a saúde e a formusura de tal modo que nunca depois a delicadeza do
rosto ficou maculado por qualquer traço de doença.45
________________________________________________________________________________________________ 277
38 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente", ob. cit., ed. cit., p. 47 39 "Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa", ed. Mário Martins, in Lavdes & Cantigas Espiritvais de Mestre André Dias, Lisboa, 1955, p. 294. 40 "Milagres de S. Veríssimo", ed. Mário Martins in "A Legenda dos Santos Mártires, Veríssimo, Máxima e Júlia do cod.CV/I – 23 d., da Biblioteca de Évora", in Revista Portuguesa de História, 6, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1964, p.45. 41 "S. Gonçalo de Amarante" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, I, Lisboa, 1869-1870, p. 280. 42 "Livro dos Milagres dos Santos Mártires", ed. Maria Alice Fernandes in Livro dos Milagres dos Santos Mártires. Edição e Estudo, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1988 (Tese de Mestrado), p. 125. 43 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente", ob. cit., ed. cit., pp. 71 e 69. 44 "S. Pedro de Rates" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, IV, ed. cit., p. 271. 45 Mestre Estevão, "Livro dos Milagres de S. Vicente", ob. cit., ed. cit., p. 45.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
A prodigiosa rapidez com que os milagres permitiriam às crianças doentes
recuperar a saúde encontra-se expressa nos cerca de 70% dos registos em que essa
informação é fornecida, pela majoritária utilização textual (81% dos casos expressos)
do advérbio logo, enfatizando-se, desse modo, como as graças dos santos, desde que
devidamente solicitadas, desencadeariam a cura instantânea dos males corporais. De
resto, conforme se pode observar através do Gráfico nº 7 - Tempo de Manifestação
de um Milagre de Cura, se nem sempre se credencia a produção imediata dos
milagres de cura, apenas se refere haver um deles levado cerca de duas semanas a
manifestar-se,46 já que, para todos os restantes, teria bastado o cumprimento do
prazo máximo de três dias após o respectivo pedido.
Logo
Logo
1 a
3 di
as
1 a
3 di
as
+ de
15
dias
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
PER
CEN
TAG
EM
GRÁFICO Nº 7 - TEMPO DE MANIFESTAÇÃO DE UM MILAGRE DE CURA
RapazesRaparigas
TEMPO
A superioridade da medicina miraculosa relativamente a todas as outras, tam-
bém se apresenta sugerida pelo prático silenciamento de qualquer caso de recaída na
doença curada. De facto, nas raras situações em que esta se encontra presente, tratar-
-se-ia de um castigo lançado pelos próprios santos aos que os tinham desrespeitado
ou desconsiderado. Num caso, o de um moçozinho, conta-se como fora por
incumprimento do preceito de sempre trazer ao pescoço huma nomina com terra do
Santo Frei Gil de Santarém, havendo por ele sido curado e protegido das possessões
__________________________________________________________________________________ 27846 "Vida da Bem Aventurada Virgem Senhorinha" in ob. cit., ed. cit., p. 143.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
demoníacas que, ao cabo de hum anno foi novamente atacado pelo maldito.47 Em
dois outros, tanto se relata ser da responsabilidade da mãe de um moço que nom teue
cujdado de comprir o que prometera a Nossa Senhora das Virtudes pela cura do
filho, o facto de este ter tornado a adoecer pior que da primeyra vez, 48 como se
informa haver uma outra mãe cegado novamente por não ter cumprido a vigília que
prometera a S. Rosendo, aquando da cura da endemoinhação do seu filho.49 A maior
parte das curas de crianças mencionadas nos livros de milagres pressupõe um prévio
pedido de auxílio, sendo muito raros os casos em que se refere ter a saúde sido
restabelecida através de um contacto directo com os santos, visto quase todas as
graças por eles obtidas serem realizadas já depois das respectivas mortes. As
excepções dizem respeito à Rainha Santa Isabel e a S. Frei Gil de Santarém, para os
quais se noticia haverem presencialmente curado, respectivamente, a cegueira de
uma criança50 e, entre outros males, os dolorosos inchaços ganglionares do pescoço
de um menino que veio à cela do Santo dizendo a doença que tinha e pedindo para
ele lhe fazer o sinal da Cruz na garganta.51
Contudo, num cenário post mortem, os escritos hagiográficos também
mencionam a presença sobrenatural dos santos por intermédio das visões, em que,
transcendentemente, são referidos a praticar milagres de cura ou a aconselhar algum
familiar das crianças doentes a conduzi-las aos seus santuários. Para a primeira
situação, tanto se refere, entre outros casos, quer ter S. Vicente assim curado uma
menina paralítica de sete anos, que, ao ficar sozinha na Igreja a rezar, teve a visão do
Santo52 quer como Santa Senhorinha o fizera quando aparecera a dois rapazes,
também paralíticos, a quem mandara levantar e andar,53 ou haver S. Rosendo
escolhido essa via para dar a vista a um menino cego.54
Muitas destas aparições visionárias surgem situadas durante o sono dos
doentes. São esses os casos, por exemplo, dos Santos Mártires de Marrocos, quando
________________________________________________________________________________________________ 279
47 Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, I, ed. cit., p. 235. 48 Frei João da Póvoa, " Livro dos milagres de Nossa Senhora das Virtudes", ob. cit., ed. cit., p. 27. 49 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. e trad. Maria Helena da Rocha Pereira, Porto, 1970, pp. 57- - 59. 50 Vida e milagres de D. Isabel, ed. J.J. Nunes, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1921, p. 32. 51 "S. Frei Gil" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, V, ed. cit., p. 184. 52 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente", ob. cit., ed. cit., p. 49. 53 "Santa Senhorinha" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, IV, ed. cit., pp. 228-229. 54 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. cit., pp. 95-97.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
teriam curado um moço doente das orelhas ao rodear-lhe o leito em que dormia55 e
de Nossa Senhora das Virtudes, quer ao fazer desaparecer huua aapostemaçom em
hum braço de uma menina de Évora quando esta repousava na sua cama,56 quer ao
escolher o sono de uma criança a quem o braço apodreceo, para, em visão, a socorrer
e sarar.57
Não propriamente como aparição, mas durante o período do sono, ocorreram
ainda os casos de um moço paralítico que a mãe ouviu falar durante a noite em que
foi curado,58 de uma criança endemoinhada que, após se ter deitado sobre o túmulo
do Santo adormeceu suavemente num doce sono, durante o qual o espírito imundo
lhe saiu do corpo59 e de dois rapazes com inchaços que durante a noite colocaram um
pano molhado em água santa sobre o mal e no outro dia estavam curados.60
De facto, mesmo que não sejam textualmente declaradas, as nocturnas e
visionárias intervenções curativas dos santos parecem ser um pressuposto de muitos
milagres, nomeadamente quando estes são referidos como tendo-se manifestado no
outro dia ou na outra manhã, tal como é frequente ocorrer nas narrativas relativas
às curas produzidas por intermédio de Nossa Senhora da Oliveira ou do Santo
Condestável.61 Também tende a ser durante o sono dos familiares das crianças
doentes que se localizam muitas das visões em que os santos teriam aconselhado
uma romaria ou uma peregrinação para a respectiva cura. Entre outros, são esses os
exemplos das mães a quem S. Veríssimo e Nossa Senhora recomendaram,
respectivamente, levar uma filha, doente de uma fístula, ao santuário lisboeta de
Santos62 e acompanhar um filho que estava em coma, devido a uma grande ferida na
cabeça, ao templo mariano das Virtudes.63
Apresentados como ajudas disponíveis, solícitas e infalíveis, os santos
acabam assim por ser uma presença assídua nas narrativas das curas de doenças
__________________________________________________________________________________ 280
55 "Livro dos Milagres dos Santos Mártires", ed. Maria Alice Fernandes, Livro dos Milagres dos Santos Mártires, ed. cit., p. 145; Tratado da vida e martírio dos Santos Mártires de Marrocos, ed. A. Rocha Madahil, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1928, p. 74. 56 Frei João da Póvoa, Livro dos Milagres de Nossa Senhora das Virtudes, ed. cit , p. 31. 57 Id., ibidem, p. 31. 58 Id., ibidem, pp. 26-27. 59 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. cit., p. 95. 60 "Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa" in ob. cit., ed. cit., pp. 294-295 e "Livro dos Milagres dos Santos Mártires" in ob. cit., ed. cit., p. 159. 61 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 125; Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 515, 524 e 548. 62 "Milagres de S. Veríssimo", ed. Mário Martins, ob. cit., ed. cit., p. 48. 63 Frei João da Póvoa, " Livro dos Milagres de Nossa Senhora das Virtudes" in ob. cit., ed. cit., p. 19.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
infantis dos livros de milagres medievais portugueses, contrastando em atitude e
segurança com os físicos e cirurgiões profissionais, frequentemente apresentados
como um recurso duvidoso e até dispensável. São frequentes, nos livros de milagres,
expressões como despois de tempo, e muito gasto perdido com médicos, ou
desconfiado dos cirurgioes, de poder ter vida, pelo mal naõ obedecer aos remedios,
que se lhe faziaõ ou ainda muitos remedios lhe fizeraõ sem nenhum lhe aproveitar.64
Nos milagres do condestável Nuno Álvares Pereira, por exemplo, a medicina leiga é
apenas referida como anunciadora de que o mal de qualquer jovem doente, depois
miraculado, não tinha cura e que em breves dias morreria,65 chegando mesmo a ser
registado o facto de que todos os médicos de Lisboa haviam confessado desconhecer
qual a doença de tão fatal prognóstico padecida por uma criança que logo se viu
curada pelo simples apelo à intercessão do santo carmelita.66
Mesmo sem qualquer intervenção presencial ou visionária, os santos
continuavam a considerar-se terrenamente presentes e actuantes através das relí-
quias que lhes conservavam e transmitiam os poderes taumatúrgicos, nomeadamente
os despojos corporais cultuados nos santuários de sepultura, os quais, por sua vez,
podiam reproduzir, através da água ou da terra que com eles tivesse sido posta em
contacto, as respectivas virtudes terapêuticas. Aliás, conforme se pode observar no
Gráfico nº 8 - Formas de Desencadeamento das Curas Milagrosas, onde se
encontram explicitados os meios utilizados para activar a produção de milagres de
cura de crianças, o que ocorre relativamente a 135 milagres, a terra e a água que
teriam estado em contacto com a sepultura dos santos, têm um peso muito
significativo nestas curas milagrosas. Se à água e à terra acrescentarmos outro tipo
de relíquias, mais propriamente uma peça de roupa que vestiu o corpo do santo,
________________________________________________________________________________________________ 281
64 Respectivamente:"S. Frei Gil" in Frei Luís de Sousa, ob. cit., ed. cit., p. 221; Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 531-532 e 549 . 65 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 544. 66 Id., ibidem, p. 555.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
constatamos que, no seu conjunto, trazidas ou colocadas directamente no santuário,
definem o mais citado processo de terapêutica miraculosa dos males infantis, ou seja,
35% dos casos referidos.
De facto, em muitos templos de peregrinação do Ocidente medieval,
recomendava-se a aplicação de terra e de água a dispensar pelos guardiães do
santuário, informando-se dever-se a sua eficácia curativa a um prévio contacto com
as relíquias dos santos. Nesse sentido, era especialmente valorizada a água que
supostamente faria parte da utilizada para lavar o cadáver dos corpos santificados,
visto nela se encontrarem dissolvidas as partículas dos respectivos despojos mortais.
A ingerir, a friccionar ou a aplicar sob a forma de emplastros, a água, e também, uma
vez diluída ou directamente espalhada sobre os corpos das crianças doentes, a terra
dos santos, poderiam então ser utilizadas como processo terapêutico feito à distância;
bastava, para o efeito, haverem sido obtidas nos templos por algum dos familiares
dos jovens de saúde abalada, não sendo de excluir que nela encontrassem dissolvidas
ou misturadas outras substâncias de tipo medicinal ou farmacológico, sobretudo no
caso de se tratar de uma água termal.67
No entanto, se a utilização da água e da terra dos santos se encontra registada
nos livros de milagres como terapêutica miraculosa a prosseguir dentro ou fora dos
santuários, a ida directa ao templo em romaria ou, nessa exacta condição, o contacto
físico com a sepultura ou o túmulo do santo não deixam de estar mencionadas em
32% dos casos registados. Pressupondo mais ou menos curtas estadas das crianças
doentes nos santuários, essas deslocações poderiam então beneficiar dos cuidados
discretamente dispensados pelos sacerdotes-físicos ou boticários estabelecidos nos
grandes centros de peregrinações.68
__________________________________________________________________________________ 282
67 Pierre-André Sigal, L’homme et le miracle dans la France médiévale (XIe. et XIIIe. siécles), Paris, Les Éditions du CERF, 1985, pp. 45-67. Sobre as origens cristãs de uma tal prática, consulte-se Aline Roussele, Croire et guérir. La foi en Gaule dans l' Antiquité tardive, Paris, Fayard, 1990. 68 Jean Verdon, Voyager au Moyen Age, Paris, Perrin, 1998, pp. 256-261. Veja-se também Mário Martins, Peregrinações e Livros de Milagres da Nossa Idade Média, Coimbra, Instituto de Estudos Históricos Doutor António de Vasconcelos, 1951.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
Terr
aTe
rra
Águ
aÁ
gua
Rel
íqui
as
Ida
ao s
antu
ário
Ida
ao s
antu
ário
Sepu
lt.Se
pult.
Enco
men
daçã
oEn
com
enda
ção
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%PE
RC
ENTA
GEM
GRÁFICO Nº 8 - FORMAS DE DESENCADEAMENTO DAS CURAS MILAGROSAS
Masculino Feminino
Por fim, refira-se que a encomendação69 das crianças doentes à protecção e às
graças dos santos também ocupa um importante lugar entre as formas de
desencadeamento das curas milagrosas (33% dos casos). Podendo ser feita fora do
santuário, no contexto de uma promessa que, ao ser cumprida, implicava, em geral, o
pagamento de um voto feito em romaria, encontra-se sobretudo referida nos livros de
milagres mais tardios. De facto, o aumento das crianças miraculadas a partir do
século XIV encontra-se bastante relacionado com a circunstância de deixar de ser
necessário visitar o templo do santo para invocar uma cura. Nados mortos, crianças
tolhidas, acamadas ou familiarmente incapazes de se deslocarem puderam, assim,
através de um voto pessoal ou parental, invocar a graça do fim de uma doença e do
seu sofrimento. Os poderes dos santos ganham então universalidade porque menos
ligados a um local único, aquele onde repousam os seus restos mortais.70
69 Devido à imprecisão das fontes foram aqui incluídas as situações referidas como "oferecer", "encomendar", "invocar", "prometer" e "fazer voto".
________________________________________________________________________________________________ 283
70Sobre as origens históricas desta mutação, veja-se André Vauchez, La Sainteté en Occident aux Derniers Siècles du Moyen Age, ed. cit., pp. 519-529. Como diz o autor “Le geste subsiste, mais il ne s’agit plus que d’un rite de satisfaction, nom d’un acte indispensable à la réalisation du miracle”.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
Conforme refere Finucane, numa época de forte mortalidade infantil e de
generalizada crença na ajuda prestada pela divindade aos pecadores, salvar a vida de
uma criança era considerada uma dádiva divina, sendo a fé posta pelos pais nos
poderes intercessores dos santos a quem solicitavam protecção um verdadeiro
princípio de cura, ou mesmo, uma específica terapêutica.71 De facto, quem clamava o
milagre acreditava na sua concretização e interpretava-o como um sinal da acção
divina. A percepção de que ele tinha efectivamente acontecido reforçava a crença
universal no poder curativo dos santos, o que não é de estranhar numa época em que
a medicina profissional ainda pouco tinha para oferecer.72 O milagre integra-se,
assim, na história social, económica, intelectual e literária da sua época, constituindo
um aspecto de uma história mais geral que é a das mentalidades.
Contudo, os livros de milagres medievais portugueses não deixam de
constituir uma fonte preciosa para melhor conhecer as doenças e os males que faziam
parte dos quotidianos infantis desse tempo, tanto no que diz respeito à sua tipologia
como à respectiva prevalência. Tendo como horizonte metodológico as tipologias
desenvolvidas por Pierre-André Sigal e José Mattoso, 73 passaremos então a analisar
as principais doenças que os clérigos letrados clamavam poderem vir a ser curadas
pelos seus santos.
__________________________________________________________________________________ 284
71 Ronald C. Finucane, Miracles and Pilgrims. Popular Beliefs in Medieval England, ed. cit., p. 81. 72O que não impede, na verdade, que os estudos paleobiológicos realizados em esqueletos exumados em várias necrópoles medievais portuguesas deixem de assinalar, com base na análise do sucesso com que foram feitas no reino diversas trepanações na sequência de traumas cranianos, a existência no Portugal dos finais da Idade Média de competentes e esclarecidos cirurgiões: Eugénia Cunha, Paleobiologia, História e Quotidiano ..., ed. cit., p. 128. 73 Pierre-André Sigal, L’homme et le miracle dans la France médiévale (XIe. et XIIIe. siécles), ed. cit.; José Mattoso, "Saúde Corporal e Saúde Mental na Idade Média Portuguesa" in ob. cit., ed. cit., pp. 233-252.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
GRÁFICO Nº 9 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS
14%
14%
13%
11%
10%
8%
8%
5%4%
13%
Paralisias Hem. e Feridas Ceg. e M. Ocul.Páp. e Inchaços D. Mentais S. MudezQuebraduras D. Gr. Inespecíficas Febres e PesteDoenças Diversas
A ordem seguida na enumeração das doenças está relacionada com o maior
número de casos relatados.
5 - PARALISIAS
Representadas por 21 casos, ou
seja, 14% das curas das crianças mira-
culadas, as paralisias constituíam doen-
ças bem visíveis e corporalmente iden-
tificáveis, fazendo-se os hagiógrafos,
muitas vezes, eco dos sentimentos de
medo e de horror despertados em quem
as via. Nesse sentido, parece
14
7
0
5
10
15
Masc. Fem.
GRÁFICO Nº 10 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS -
- PARALISIAS
________________________________________________________________________________________________ 285
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
representativa a notícia de que a paralisia facial de um menino de três anos, ao qual
a doença provocara no rosto tal deformação que os próprios pais se sentiam
horrorizados. 74
A utilização dos termos paralisia ou paralítico surge, no entanto, raramente.
Com efeito, as descrições da doença referem-se, sobretudo, às suas consequências,
mencionando-se como uma menina ficara doente da boca que não comia 75 ou como
um menino se apresentava coxo e aleijado das pernas,76 o que, na verdade, poderá
apenas indicar a mais simples presença de uma luxação ou de uma ciática, conforme
é explicitamente registado num caso.77 No entanto, numa significativa parte das
vezes, é possível reconhecer tratarem-se de verdadeiros distúrbios de paralisia. Entre
eles, contam-se várias situações de paralisia parcial da face e dos membros. As
incapacidades do primeiro tipo descrevem-se de forma pormenorizada, como sucede
quando se noticia apresentar-se uma criança com um
rosto de tal maneira contorcido e deformado que ficara incapaz de respirar
pelas vias naturais, e por força da enfermidade a boca se retorcera para uma
das orelhas e a custo e quase a intervalos executava a respiração,78
ou mais sinteticamente, registando-se os quadros clínicos de uma boca torcida e
voltada à orelha,79 ou ainda a boca na orelha e a lingoa fora, conforme seria o
aspecto de um menino de seis anos assim punido por Nossa Senhora das Virtudes,
porque a mãe não cumprira a promessa de ir em romaria até à santa para lhe
agradecer uma anterior cura feita ao filho. O moço tornou então a adoecer pior que
da primeyra. 80
Quanto aos casos de paralisia parcial dos membros, tanto se referencia a dos
superiores - conforme teria sucedido, por exemplo, a Pedro, um moço tolheito da
mão direita ou a Joane, moso piqueno com mão e dedos encolheitos81 - como a dos
inferiores. Para estes noticia-se, entre outras, a situação de um menino de um ano
__________________________________________________________________________________ 286
74 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente" in ob. cit., ed. cit., p. 45. 75 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 512. 76 "Santa Senhorinha" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, IV, ed. cit., p. 228. 77 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 532. 78 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente", ob. cit., ed. cit., p. 49. 79 "S. Pedro de Rates" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, IV, ed. cit., p. 271. 80 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 27. 81 Afonso Peres, "O Livro dos Milagres de Nossa Senhora da Oliveira", ed. Mário Martins, in Revista de Guimarães, 63, 1953, pp. 111 e 115.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
tolhido das pernas,82 ou a de uma criança que durante três anos estivera de tal
maneira sem andar que não podia caminhar sem ser sobre as mãos e os joelhos83 ou
ainda as das crianças que apresentavam os joelhos pegados ao peito84 ou a perna
deestra com ho calcanhar no pousadeyro.85
Por fim, para além da menção à paralisia parcial de um rapaz que ficou
tolhido de um dos lados do corpo,86 ainda se registam curas feitas a tetraplégicos que
apresentavam a paralisia total dos respectivos membros. São os casos de um menino
de seis anos que tolheosse dos pees E das maãos E de todo o corpo,87 de um rapaz
de catorze a quem deu o ar no corpo todo,88 ou ainda daquele a quem mãe deu
certa vez com uma pedra e, acto contínuo, ficou ele privado da acção dos seus
membros.89
Salvo este último caso e a possibilidade de várias destas paralisias
remontarem ao ventre de sa madre, ou de serem consequência de traumatismos e
sequelas do parto,90 não se registam considerações sobre as origens da doença,
podendo ser o reflexo de outras condicionantes. Uma delas, por exemplo, poderia ser
o reumatismo gerado por mais ou menos longas exposições ao frio, visto serem
susceptíveis de provocar uma progressiva imobilidade reactiva à flexão dolorosa das
articulações e dos músculos, e assim tornar “tolhidas” as crianças.
De uma forma geral, a cura das paralisias, uma doença que se apresenta
maioritariamente masculina, associa-se à produção de milagres imediatos, ou seja,
acontecidos logo ou muito pouco tempo depois de haver sido pedida ou invocada a
protecção de um santo. De facto, uma grande parte destas curas diz-se logo se ter
seguido a orações proferidas junto às relíquias ou ao túmulo dos santos, podendo
mesmo acontecer durante o sono feito pelas crianças doentes sobre a sepultura do
seu protector celeste. Contudo, também se menciona o uso de panos, água e terra que
previamente tivessem estado em contacto com o corpo e as relíquias dos santos.
________________________________________________________________________________________________ 287
82 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 509. 83 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente", ob. cit.,ed. cit., p. 71. 84 "Santa Senhorinha" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, IV, ed. cit., p. 229. 85 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 25. 86 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 508. 87 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 26. 88 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 504-505. 89 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente", ob. cit., ed. cit.,, p. 69. 90 Vidé capítulo NASCER.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
6 – HEMORRAGIAS E FERIDAS
15
5
0
5
10
15
Masc. Fem.
GRÁFICO Nº 11 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - - HEMORRAGIAS E FERIDASCom 20 ocorrências, correspon-
dentes a 14% das curas de crianças refe-
ridas nos livros de milagres medievais
portugueses, estancar o sangue e sarar
as feridas das hemorragias causadas por
diversas lesões internas e externas, tam-
bém figuram entre os mais frequentes
poderes taumatúrgicos atribuídos aos santos. Como seria de esperar, dada a normal
urgência com que deve ser iniciada qualquer terapêutica hemorrágica, a maioria dos
milagres que a referem insere-se na categoria das curas imediatas.91 Contudo, dez
deles não deixam de ser desencadeados a partir de substâncias santificadas, como foi
o caso da terra da sepultura de S. Frei Gil de Santarém colocada no aposthema que
um menino, já prestes a ser enterrado, tinha na cabeça, contando-se depois como
ele logo espertou gritando que hum Frade de S. Domingos lhe abrira a cabeça,
enquanto os presentes virão logo correr-lhe d’ella hum rio de materia como de
postema madura, e em poucos dias convaleceo de todo.92
Entre as hemorragias externas figuram as provenientes de maus tratos físicos,
como teria ocorrido a um rapaz a quem deram huua tal ferida na cabeça que logo
cayo em terra e durante tres dias ho teuerom como morto93 e, sobretudo, as
adquiridas em diversos acidentes quotidianos, desde o caso da menina de dois anos
que caiu pelas escadas e ficou quase morta,94 ao sucedido a uma criança de
Santarém que partiu um braço por ter ficado debaixo de um macho95 ou ainda o
acontecido a um moço, igualmente escalabitano, que quebrou um braço, desta vez
por atropelamento.96 Contudo, nesta última categoria também figuram curas
milagrosas de mais graves e complicadas hemorragias, referindo-se, por exemplo, a
ferida originada a um moço que leuaua huua cana na maão E cayo E chentousse-lhe
__________________________________________________________________________________ 288
91 Apenas se referenciam três situações em que a cura demorou três dias: Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 26; Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 526-527; "Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa" in ob. cit., ed. cit., p. 293. 92 Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, I, ed. cit., p. 238. 93 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 19. 94 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 554-555. 95 Frei Baltazar de S. João, A vida do Bem-Aventurado Gil de Santarém, ed. cit., pp. 106-108.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
a cana polla uerilha E sayo lhe pollo embigo. E quando lhe o caso de tiraram a cana
sayramlhe as tripas fora,97 as lesões que vitimaram um rapaz a quem deram hua tal
ferida na cabeça que logo cayo em terra ou as que atingiram um outro que andando
na malhada levou tam grande golpe na trincheyra que lhe meteeo ho testo por
dentro.98
Por vezes, a origem das lesões que teriam sido miraculosamente curadas não
se apresenta muito clara, sendo esse, por exemplo, o caso do moço de Vila Franca de
Xira que tinha um buraco muito grande nos ombros.99 Noutros, a intervenção
taumatúrgica já só teria actuado perante feridas associadas a muito mais complexas
doenças infecciosas, como a de uma menina de Évora aaqual naceo huua
aapostemaçom em huu braço tam grande que lhe apodreceo o braço todo,100 ou a de
um rapaz a quem naçera hua trama so o braço dereyto.101
A cura de hemorragias internas encontra-se representada desde a simples
interrupção de um corrimento sanguíneo do nariz102 até a feridas localizadas no
aparelho digestivo. Com efeito, parece ter sido esse o caso da origem dos
padecimentos de uma menina com dor de estomago que vomitava tudo, os de um
menino com dor de estomago que quase morria,103 os de um outro moço que muito
doente de door d’estamago não comeu durante quinze dias e estava quase morto104 e
os do menino que avya muyto grande door en no ventre, em tal guysa que pereçia
que o queria matar.105
Por fim, ressalte-se, como já ocorrera relativamente às paralisias, o
predomínio masculino das crianças miraculadas, devido, certamente, ao facto de as
presentes doenças se encontrarem, em grande parte, associadas a acidentes ocorridos
na rua, ou seja, fora de um mais feminino espaço doméstico e/ou familiar.
________________________________________________________________________________________________ 289
96 Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, I, ed. cit., p. 240, enquanto milagre atribuído a S. Frei Gil de Santarém. 97 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 26. 98 Id., ibidem, pp. 19 e 26. 99 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 526-527. 100 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 31. 101 "Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa" in ob. cit., ed. cit., p. 293. 102 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 550. 103 Id. ibidem, pp. 522 e 523. 104 Maria Alice Fernandes, Livro dos Milagres dos Santos Martires, ed. cit., p. 141. 105 "Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa" in ob. cit., ed. cit., p. 293.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
7 - CEGUEIRA E MALES
__________________________________________________________________________________ 290
OCULARES
Os problemas oftálmicos es-
tão representados nas curas mila-
grosas, com um total de 19 casos,
ou seja, 13 % do conjunto dos mila-
gres considerados. Contudo, sobre a
cegueira ou afecções relativas à
vista, não abundam descrições. De facto, só quando ela surgia marcada
118
0
5
10
15
Masc. Fem.
GRÁFICO Nº 12 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - CEGUEIRA E MALES
OCULARES
por sinais exteriores bem visíveis é que se registam alguns pormenores, como é o
caso da referência a uma criança cega dambollos olhos assi çarrados e pegados que
lhos nom podiom abrir.106
Existem, porém, algumas informações sobre a origem da doença, explicando-
-se, ocasionalmente, como ela estaria relacionada com uma ferida, com a presença
ocular de um corpo estranho ou com as consequências de algum traumatismo. A
primeira situação, está patente nas notícias relativas a um menino de Setúbal que
nasceu com uma belida no olho e não via nada 107 e a uma moça de Évora que
perdeu a vista por causa de uma belida. 108 A segunda, por sua vez, parece deduzir-
se da apresentação do caso de um moço de Lisboa a quem o pai deu com uma meia
de ilhoz pela cabeça ao qual se meteu uma agulheta de ataca que na meia estava
pegada, 109 enquanto a terceira, tanto se encontra enunciada no registo do milagre de
um moço de Santarém que cegou com uma pancada,110 como no de outro rapaz que,
para além de se apresentar como cego, se encontrava tolhido de um estupor.111
Tratando-se de um tipo de cura taumatúrgica bastante prestigiada, dado
remontar a um arquétipo explicitamente evangélico, e, por outro lado, assinalando
uma doença difícil de então combater através do recurso à medicina profissional, os
milagres oftálmicos surgem relativamente partilhados entre crianças de ambos os
sexos e correspondem à tipologia das curas imediatas, obtidas por via de romarias e
106 Afonso Peres, "O Livro dos Milagres de Nossa Senhora da Oliveira" in ob. cit., ed. cit., p. 125. 107 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 501-502. 108 Id. ibidem, p. 502. 109 Id. ibidem, p. 500. 110 Id. Ibidem, pp. 502-503.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
de orações proferidas nos santuários, apenas se mencionando o caso de um milagre
desencadeado pelo recurso à terra santa.112 Por outro lado, sempre que declarada, a
origem da doença surge registada como sendo de nascença em cerca de 64% dos
casos.
8 - PÁPULAS E INCHAÇOS
13
6
0
5
10
15
Masc. Fem.
GRÁFICO Nº 13 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - PÁPULAS E
INCHAÇOSNa sociedade medieval, o
doente identificava-se muitas vezes
através da presença de distúrbios
dermatológicos, nomeadamente os
provocados pelos diversos tipos de
pápulas e inchaços que maculavam
e deformavam o corpo, tornando-o espelho dos males que atormentavam a alma.
Nesse sentido, a respectiva cura, independentemente das suas diversas origens, figura
num razoável número de milagres medievais portugueses, ou seja, nos 13% dos
casos que correspondem a dezanove das graças registadas, identificando, portanto,
um importante testemunho para a credibilitação dos poderes taumatúrgicos dos
santos.
Alguns desses sintomas não se apresentam especialmente localizados. No
caso de um minino com sarna 113 espalhar-se-iam por diversas partes do corpo,
assim como teria acontecido a duas meninas a quem o Santo Condestável fizera
desaparecer, à vez, grandes empolas que se viam por todo o corpo,114 e uma
explícita hidropisia;115 também uma terceira, por graça do Bom Jesus do Convento
de S. Domingos de Benfica, antes que fosse quarta ora passada desde o pedido da
cura, ficou sã e lympa das muytas boboas per o rostro e per a garganta e per os
braços cujas dores lhe abafavam o coraçom muyto fortemente de tal forma que
estava em ponto de sse finar.116 Nos dois últimos registos, a generalização corporal
das pápulas pode ser interpretada de diferentes maneiras: desde estar-se perante uma
________________________________________________________________________________________________ 291
111 "S. Gonçalo de Amarante" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, I, ed. cit., pp. 279-280. 112 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 502. 113 Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, I, ed. cit., pp. 248-249, relativamente a um milagre de S. Frei Gil de Santarém. 114 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 555. 115 Id., ibidem, pp. 527-528. 116 "Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa" in ob. cit., ed. cit., p. 294.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
dermite de contacto, facilmente provocada, para além dos problemas decorrentes de
uma deficiente higiene pessoal que também decerto haveria colaborado para o
aparecimento da sarna atrás referida, pelo constante roçar da pele da criança com o
áspero material utilizado no vestuário infantil, nomeadamente a lã, até à evidência de
uma sintomatologia própria de qualquer doença infecciosa sistémica, como as actuais
varíola, varicela ou sarampo.
Ao contrário das pápulas, os inchaços referem-se de forma mais circunscrita,
parecendo derivar, seja de luxações ou contusões osteo-musculares, como a da
rapariga a quem inchou o braço e depois o corpo e a do rapaz com a perna muito
inchada,117 seja do ingurgitamento da cadeia ganglionar linfática do pescoço, devido
a hipotéticas anginas ou males dentários, conforme seria o caso de um menino cuja
garganta muito inchada não o deixava comer nem beber,118 de um outro com a
garganta inchada que sufocava119 ou ainda de outro com uma landoa no pescoço
devido a hua grande door em huum dente.120
Por seu lado, a referência a três meninos que sofriam de alporcas,121 isto é,
de escrófulas no pescoço, deve antes relacionar-se com o avolumar dos gânglios por
reacção à propagação de uma doença sistémica, talvez a tuberculose.
Preponderantemente masculinas, as curas das pápulas e inchaços quase
sempre imediatas, ou demorando, no máximo quatro dias a manifestar-se,122
registam-se como sendo maioritariamente desencadeadas a partir da utilização da
terra e água santas (72%), apenas se referindo os casos de um uso de relíquias
propriamente ditas123 e, excepcionalmente, o de uma directa intervenção de um
santo. Conta-se, então, para esta única situação, como um menino cujo pescoço
estava tão afeado de landoas grossas e escaras, e vermelhidões, que não se atrevia
a aparecer em público, fora procurar a cura à cela conventual onde se encontraria
S. Frei Gil de Santarém, explicando-se depois que do contacto com as mãos do
Santo,124
__________________________________________________________________________________ 292
117 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., respectivamente, pp. 524 e 536. 118 "S. Frei Gil" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, V, ed. cit., p. 194. 119 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 513. 120 "Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa" in ob. cit., ed. cit, pp. 294-295. 121 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 517; "S. Gonçalo de Amarante" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, I, ed. cit., p. 280; "S. Frei Gil" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, V, ed. cit., p. 184 e Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, I, p. 221. 122 "S. Gonçalo de Amarante" in Frei Diogo do Rosário, ob. cit., ed. cit., p. 194. 123 "S. Frei Gil" in Frei Diogo do Rosário, ob. cit., ed. cit., p. 194. 124 Feito através do sinal da cruz: "S. Frei Gil" in Frei Diogo do Rosário, ob. cit., ed. cit., p. 184.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
em poucos dias se lhe veio a juntar todo o humor venenoso em hum lugar,
onde suporando, e saindo em matéria podre deixou o pescoço enxuto, e sem
grossura nem pejo, ficando só algumas costuras leves como em memória do
milagre.125
9 - DOENÇAS MENTAIS
Num total de 16 casos, equi-
valentes a 11 % do conjunto das cu-
ras consideradas, as doenças mentais
englobam os casos de possessão
demoníaca. Compreendem, portan-
to, a situação dos jovens doentes
refe-
ridos como endemoinhados,126
tolhidos de um estupor,127 ou tomados/atormentados pelo demónio128 ou pelo
inimigo.129
11
5
0
5
10
15
Masc. Fem.
GRÁFICO Nº 14 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - DOENÇAS
MENTAIS
De uma forma geral, os sintomas descritos para os seus males incluem a
referência a uma agitação extrema, com paroxismos de agressividade dirigida contra
si ou contra os outros. Na sociedade medieval, o comportamento do possesso ou do
demente, tal como, aliás, o do deformado ou paralítico despertava reacções distintas
e até contraditórias, indo da repulsa e do pavor, à curiosidade, divertimento, respeito
ou compaixão. Se, por um lado, o possesso era considerado como um ser marcado
por um sinal sobrenatural, parecendo não pertencer a este mundo e sendo capaz de
penetrar na obscuridade do Além, por outro, ele inspirava uma grande e colectiva
animosidade e desprezo.
________________________________________________________________________________________________ 293
125 "S. Frei Gil" in Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, I, ed. cit., p. 221. 126 Afonso Peres, "Livro dos Milagres da Senhora da Oliveira" in ob. cit., ed. cit., pp. 108 e 124. 127 "S. Gonçalo de Amarante" in Flos Sanctorum, I, ed. cit., p. 279. 128 Vida e milagres de S. Rosendo, ed. cit., pp. 57, 71 e 95, e Frei Baltazar de S. João, ob. cit., ed. cit., p. 102. 129 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 29.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
De facto, frequentemente, o possesso manifestava comportamentos
perigosos, marcados por um excesso de brutalidade e violência, ou seja, os
considerados sinais da loucura que se desencadeava através de ataques repentinos e
incontroláveis.130 Era esse, por exemplo, o caso de um mancebo que tinha um
mal repentino e não entendido dos médicos: o qual lhe dava com uma dor de
coração, e das entranhas tão desmedida, que arrebentava em fúria, e
fernesis: e de maneira forcejava que muitos homens juntos o não podião ter,
nem tolher-se desfazer, e espedaçar quanto podia alcançar com os dentes,
tanto em si, como em outrem. E não havia remédio pera lhe defenderem
comer-se aos bocados, se não era tendo-o atado em aspa de pés, e mãos e
amarrando-lhe até a cabeça. Neste martyrio vivia o pobre, e confessava já
que era espírito mao, não humor, quem lh’o causava.131
A extrema agressividade da loucura das crianças possessas era atribuída às
forças demoníacas que nelas tinham entrado para as fazer porta-vozes da destruição
da ordem e dos poderes sagrados que regiam a sociedade dos crentes. Habitados por
Satanás, os rapazes e as raparigas possessos funcionavam assim como um veículo do
mal e do caos, particularmente angustiante para a presença terrena que exibia e
padecia dos efeitos dessa situação. A sua doença seria assim visível através de um
corpo exausto, no qual a dor era tão grande que o desacordava,132 e deformado,
porque contorcido pelo espírito imundo133 e deitando muitas escumas pela boca.134
A propósito de uma menina de oito anos, conta-se então como nela entrara
um inimigo tão molesto e ruim que de tal maneira a tormentava com suas
investidas três ou quatro vezes ao dia que a custo o seu espírito conseguia
aguentar os membros doloridos.135
Em vários registos de milagres, a loucura das crianças possessas tanto se
inicia durante o dormir, dado considerar-se o sono como susceptível de oferecer
menores resistências às forças do mal ou, mais genericamente, durante a noite, na
__________________________________________________________________________________ 294
130 Cf. Jacques Heers, Festas de Loucos e de Carnavais, Lisboa, D. Quixote, 1987, pp. 110-111. 131 Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, ed. cit., p. 234, relativamente a um milagre atribuído a S. Frei Gil de Santarém. 132 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 495. 133 Vida e Milagres de S. Rosendo , ed. cit., p. 95. 134 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 495.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
altura em que as trevas escondiam os contornos e as realidades das coisas terrenas.136
Contudo, por vezes, a possessão infantil também se diz ter ocorrido num cenário
diurno. Nesse caso, as crianças aterrorizadas, como um menino que avia spanto em
tal guisa que quando lhe vinha este espanto cuidava que morresse,137 viam
anunciada a sua temida endemoinhação quando, ou se deparavam com o Maligno
indo hum dia pera entrar em casa, o qual as esperava da banda de dentro cercado
de hum numero infinito de Demónios, que lhe tinhão a porta tomada,138 ou
encontravam os omes negros que eram diabos e os queriam levar, conforme se
informa ter ocorrido ao filho de uma mulher que apenas fora então salvo porque um
homem branco, que depois se apresentara como sendo S. Veríssimo, o disputara aos
negros.139
Relativamente à terapêutica miraculosa, a loucura dos possessos era sarada
pelos santos nom sem pequeno tormento, conforme teria sido o caso de uma moça
Demonjnhada a quem lhe prometeera ho demo que nom se partiria senam em sancta
maria das virtudes.140 A cura apresentava-se, por vezes, acompanhada pela expulsão
de objectos e seres serpentiformes que tendiam a simbolizar a expulsão corporal do
mal provocado por forças maléficas exteriores.141 Aliás, num caso em que a criança
doente se cura pelo contacto com terra santificada, teria sido o próprio diabo a dela
ser desalojado gritando,142 também se assinalando, tanto a situação de o maligno
prometer pela voz de um rapaz miraculado que se saya del pera sempre,143 como a
circunstância de, antes de o fazer relativamente a uma moça endemoinhada, se ter
identificado e dito a razão pela qual a possuía.144
________________________________________________________________________________________________ 295
135 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente" in ob. cit., ed. cit., p. 47. 136 O pensamento e o comportamento do homem medieval eram dominados por um maniqueísmo mais ou menos consciente – de um lado Deus, do outro, o Diabo. Esta grande divisão dominava a vida, e a luta entre ambos explicava todos os acontecimentos. A realidade era preta (cor do Diabo) ou branca (cor dos Anjos, fiéis servidores de Deus), sem meio-termo: Jacques Le Goff, A Civilização no Ocidente Medieval, I, Lisboa, Estampa, 1990, pp. 200-201. Sobre a noite enquanto tempo satânico, veja-se Jean Verdon, La nuit du Moyen Age, Paris, Perrin, 1994. 137 "Milagres de S. Veríssimo", ed. Mário Martins, in ob. cit., ed. cit., p. 49. 138 Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, I, ed. cit., p. 234, relativamente a um milagre de S. Frei Gil de Santarém. 139 "Milagres de S. Veríssimo", ed. Mário Martins, ob. cit., ed. cit., p. 49. 140 Frei João da Póvoa, "O Livro dos milagres de Nossa Senhora das Virtudes" in ob. cit., ed. cit., pp. 29-30. 141Sobre este tema consulte-se José Mattoso, “Saúde corporal e saúde mental na Idade Média Portuguesa” in Fragmentos de uma Composição Medieval, Lisboa, Estampa, 1993, pp. 240-241. 142 Frei Baltazar de S. João, A vida do Bem-Aventurado Gil de Santarém, ed. cit., p. 102. 143 Afonso Peres, "Livro dos Milagres da Senhora da Oliveira" in ob. cit., ed. cit., p. 108. 144 Id. ibidem, p. 124.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
Entre as crianças possessas objecto de um milagre de cura, salienta-se a
preponderância do sexo masculino, invertendo-se, portanto, o princípio de se
considerar a mulher, porque mais frágil, como a vítima preferencial do império dos
demónios. Talvez porque os demónios possuidores de rapazes fossem considerados
mais temíveis e aguerridos dos que se alojavam nas raparigas, melhor assim
prestigiando os poderes dos santos capazes de os domar e vencer.
10 - SURDEZ E MUDEZ
Tal como as curas
milagrosas da cegueira e das
possessões demoníacas, também
as relativas à surdez e à mudez se
inserem numa longa tradição
hagiográfica de origem
evangélica. Nos livros de milagres
medievais portugueses contam-se catorze registos, quase todos a respeito da mudez.
Com efeito, a surdez apenas se apresenta no caso de um menino de cinco anos que
era surdo-mudo porque a mãe não cumpriu a promessa de o oferecer à Santa
Senhorinha de Basto,145 surgindo aqui a doença como uma forma de castigo divino.
9
5
0
5
10
Masc. Fem.
GRÁFICO Nº 15 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - SURDEZ E MUDEZ
No seu conjunto, os milagres de cura da mudez não são objecto de grandes
descrições, já que se reportam a uma doença fácil de identificar e caracterizar. Em
geral, surgem associados a crianças vítimas de outros males, conforme seria a
situação de uma moça de Santarém, que, para além de muda padecia de outras
enfermidades146 ou mais especificamente às paralisias, nos casos de um moço com a
boca torcida e voltada à orelha147 e de um rapaz de seis anos que tolheosse dos pees
E das maãos E de todo o corpo E da falla, 148 ou também a possessões, explicitando-
-se, nesse sentido, as histórias de Maria, uma rapariga de Santarém que perdeu a
__________________________________________________________________________________ 296
145 Santa Senhorinha in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, IV, ed. cit., p. 228. 146 "S. Frei Gil" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, vol. V, ed. cit., pp. 194-195. 147 "S. Pedro de Rates" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, IV, ed. cit., p. 271. 148 Frei João da Póvoa, "O Livro dos milagres de Nossa Senhora das Virtudes" in ob. cit., ed. cit., p. 26.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
fala num ataque qualquer do maligno149 e de uma menina muda e sujeita a ataques
do demónio.150
As informações relativas à antiguidade das lesões são escassas, existindo três
casos de mudez desde o nascimento e uma referência a outra criança que por muitos
anos não falou. O desencadear da cura milagrosa da mudez remete, à excepção de
quatro casos resolvidos através do recurso à terra sagrada das relíquias, para uma
prévia, ou posterior romagem aos santuários. A propósito de uma delas, conta-se
então como uma moça muda que ía em romaria, se teria perdido dos seus
acompanhantes, acabando por recuperar a voz, livre já do impedimento da fala,
quando eles, ao darem pela sua ausência, a chamaram e ela lhes respondeu.151
Numa época marcada por frequentes conjunturas de violência e de conflitos
sociais, tanto a mudez como a gaguez poderiam significar uma resposta infantil a
traumatismos existenciais. Por outro lado, conforme observa Eleanora Gordon, a
frequência com que figuram nos livros de milagres medievais também possibilita a
interpretação de uma então forte presença de crianças que só muito tardiamente
teriam aprendido a expressar-se através de uma linguagem oral, pelo que o
respectivo mutismo não derivaria tanto de uma privação sensorial mas antes de um
simples atraso na aprendizagem da fala.152
________________________________________________________________________________________________ 297
149 Frei Baltazar de S. João, A vida do Bem-Aventurado Gil de Santarém, ed. cit., p. 100. 150 Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente" in ob. cit., ed. cit., p. 65. 151 "S. Gonçalo de Amarante" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, I, ed. cit., pp. 280-281. 152 Eleanora C.Gordon, "Child Health in the Middle Ages as seen in the Miracles of Five English Saints. A.D. 1150-1220" in Bulletin of the History of Medicine, 60, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986, p. 518.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
11 - QUEBRADURAS
__________________________________________________________________________________ 298
A etiologia das deforma-
ções da postura e da locomoção
infantis provocadas pelo surgi-
mento de hérnias de esforço,
sobretudo inguinais, era bem
conhecida pelos médicos da
medievalidade. Segundo Finucane, eram por eles atribuídas a rupturas provocadas,
quer por choro excessivo, por descaída do estômago, por flatulência contida nos
intestinos, ou imoderado consumo de leite, quer por gritar ou tossir fortemente.153
12
02468
1012
Masc.
GRÁFICO Nº 16 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - QUEBRADURAS
Exclusivamente masculinas, as quebraduras infantis dos livros de milagres
medievais portugueses apresentavam-se como afectando desde os recém nascidos
aos rapazes já crescidos, implicando quase sempre a sua cura uma ida em romaria ao
templo protector de algum santo, precedida ou não pela utilização da respectiva terra
santa. Salvo uma excepção,154 todas as curas referenciadas são atribuídas aos cultos
lisboetas do santo condestável e ao dos Mártires de Marrocos no mosteiro de Santa
Cruz de Coimbra.
Relativamente ao culto ministrado pelos crúzios, as quebraduras associam-se
a graças dispensadas durante a chamada Procissão dos Nus, anualmente organizada
no Inverno, em torno da propiciação da protecção de tipo viril e fecundante.155 De
facto, a miraculosa obtenção de uma cura de quebradura tende a ser interpretada
como a dádiva da restauração das capacidades reprodutivas dos rapazes que
padeciam da doença.156
153 Ronald C. Finucane, The Rescue of the Innocents. Endangered Children in Medieval Miracles, ed. cit., p. 63. 154 “S. Gonçalo de Amarante” in Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, ed. cit., p. 279. 155 A procissão iniciou-se por alturas da peste de 1423, quando Vicente Martins, um camponês que trabalhava numa das granjas de Santa Cruz de Coimbra, fez voto de visitar todos os anos o sepulcro dos Mártires de Marrocos na companhia dos filhos, todos nus das pernas e da cintura para cima. Progressivamente, a procissão começou a tornar-se famosa e a congregar inúmeros aderentes. Realizando-se a 16 de Janeiro, compreendia um cada vez maior cortejo masculino, de homens e jovens vestidos apenas com um calção ou com uma toalha até aos joelhos, implorando aos Santos Mártires a preservação da sua força e identidade varonis, até que foi extinta, por demasiado escandalosa, nos finais do século XVIII. Consulte-se Fortunato de Almeida, História da Igreja em Portugal, II, Porto, Civilização-Ed., 1971, p. 479. 156 Luís Krus, "Celeiro e relíquias", ob. cit., ed. cit.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
12 - DOENÇAS GRAVES
________________________________________________________________________________________________ 299
INESPECÍFICAS
Entre as enfermidades
das crianças agraciadas nos
livros de milagres medievais
portugueses figuram em onze
casos (cerca de 8% do total)
8
3
0
2
4
6
8
Masc. Fem.
GRÁFICO Nº 17 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - DOENÇAS GRAVES
INESPECÍFICAS
doenças que, embora não especificadas, são referidas como sendo graves, visto se
registarem na qualidade de maleita prolongada,157 longa,158grande159 ou
trabalhosa,160 por vezes acompanhada de uma dor de quebranto.161
Muito laconicamente referidas, correspondem a registos carentes de dados e
informações complementares, talvez porque a falta de sintomatologias de exuberante
expressão corporal não as tornasse muito atractivas para o alarde dos poderes
taumatúrgicos dos santos. Por vezes, porém, descrevem-se as crianças doentes como
se estivessem num estado terminal de existência. De facto, é essa a impressão que
parece querer sugerir-se quando se menciona o caso de um menino que estava muito
doente quase a morrer162 ou se lembra como a pequena Maria Godinha sofrera uma
longa doença que a tornara seca e mirrada das carnes,163 talvez em consequência do
padecimento de raquitismo.
157 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 549; Frei Luís de Sousa, ob. cit., ed. cit., p. 232, relativamente a um milagre atribuído a S. Frei Gil de Santarém. 158 Frei Luís de Sousa, ob. cit., ed. cit., p. 221, relativamente a um milagre de S. Frei Gil de Santarém. 159 Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), ed. José Joaquim Nunes, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, p. 271, relativamente a um milagre de Santo António; Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 487. 160 Frei Luís de Sousa, ob. cit., ed. cit., p. 233, relativamente a um milagre de S. Frei Gil de Santarém. 161 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 553. 162 Id., ibidem, p. 555. 163 Frei Luís de Sousa, ob. cit., ed. cit., p. 221, relativamente a um milagre de S. Frei Gil.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
13 - FEBRES E PESTE
__________________________________________________________________________________ 300
Por vezes, tal como
sucede relativamente às pápulas
e inchaços, os hagiógrafos
classificam as doenças infantis
saradas pelos santos através de
sintomas que, hoje em dia,
se
6
2
0
5
10
Masc. Fem.
GRÁFICO Nº 18 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - FEBRES E PESTE
revelam insuficientes para as identificar, já que são consideradas comuns a variados
tipos de enfermidades. É o casa das febres que podem acompanhar um muito
diversificado leque de doenças, desde simples infecções locais, externas ou internas,
até muito graves enfermidades de tipo sistémico, como são as virais ou
epidémicas.164
Do mesmo modo que as doenças graves inespecíficas, e com elas
comungando de uma nítida prevalência masculina, as febres também não mereceram
aos hagiógrafos grandes desenvolvimentos, talvez porque os seus registos, pelas
mesmas razões, dificilmente pudessem vir a oferecer matéria para o relato de um
glorioso e dramatizado milagre. Com efeito, os dados disponíveis quase só se
limitam a noticiar como as crianças doentes de febres poderiam recuperar a saúde,
quer através das relíquias presentes nos templos, quer das substâncias sagradas neles
fornecidos, ou, em alternativa, mediante uma devida recompensa após a obtenção da
graça por directa encomendação aos santos, nada se adiantando, nem sobre a
antiguidade, nem sobre a gravidade do mal miraculado, talvez porque correspondesse
a enfermidades víricas de tipo sazonal.
Existe, contudo, uma importante excepção: a da menina que se afirma ter
sido ressuscitada através de um milagre atribuído ao Santo Condestável, após ter
morrido de grande dor e febre e depois de morta ter ficado toda negra.165 De facto,
neste caso a febre associa-se a um quadro típico de peste negra, como, aliás, também
o poderá indiciar, relativamente à peste bubónica, a utilização no registo de vários
164 A. H. de Oliveira Marques, por exemplo, sugere que a menção às febres poderia referenciar, muitas vezes, tuberculoses de fácil progresso: A Sociedade Medieval Portuguesa, ed. cit., p. 211. 165 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 490.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
milagres atrás referenciados a propósito, quer das hemorragias e feridas, quer das
pápulas e inchaços, dos termos aposthema,166 boboa,167 landoa168 ou trama,169 visto
terem muito tempo funcionado na qualidade de sinónimos dos bubões pestíferos, um
vocábulo que só tardiamente entrou na terminologia clínica corrente da Idade Média.
Com efeito, segundo Mário da Costa Roque, não só os termos “apostema,”
“inchaço”, “landoa”, “nascença” ou até “levação,” foram usados durante muito
tempo para referir o bubão pestoso, como se chegou mesmo a denominar a doença
por "trama", tomando de tal forma o sintoma pela enfermidade que era comum
referir-se o finar-se de tramas ou morrer de tramas.170 Assim sendo, as referências à
peste, bastante presente no Portugal da Idade Média,171 não se encontram
isoladamente referidas nos livros de milagres analisados, antes atingindo um total de
pelo menos sete referências. Na cronística medieval portuguesa, pelo contrário,
embora a febre contynua seja referida como a causa da morte de um neto muy moço
do monarca João I,172 a peste surge referenciada como a causa explícita da morte da
infanta Filipa, filha do rei Duarte, com onze anos de idade.173
De resto, a própria tratadística médica redigida em português durante os
finais da Idade Média, não só descreveu cuidadosamente os sintomas da temida peste
bubónica, como até teorizou sobre o sentido de se ser ou não atingido pela doença.
De facto, no Regimento proueytoso contra ha pestenença defende-se a tese de que
________________________________________________________________________________________________ 301
166 Vejam-se os casos da menina que nasceu com huua aapostemaçom em huu braço tam grande que lhe apodreceo o braço todo, e o do menino ao qual nasceu um aposthema na cabeça mui duro: Frei João da Póvoa, "O Livro dos milagres de Nossa Senhora das Virtudes", ob. cit., ed. cit., p. 31; "S. Frei Gil" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, V, ed. cit., p. 192. 167 Refira-se a menina que tinha boboas no corpo que lhe apertavam o coração : "Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa" in ob. cit., ed. cit., p. 294. 168 Uma landoa no pescoço é referida no "Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa" in ob. cit., ed. cit., pp. 294/295. 169 Consultem-se as referências ao menino a quem naçera hua trama so o braço dereyto e à menina que teue cinquo tramas E steve tres dias que pareçia finada que nom respiraua nenhua cousa.: "Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa" in ob. cit., ed. cit., p. 293; Frei João da Póvoa, "O Livro dos milagres de Nossa Senhora das Virtudes" in ob. cit., ed. cit., p. 29. 170 Sobre a Peste Negra e respectivos sintomas e variações, consulte-se, Mário da Costa Roque, As Pestes Medievais Europeias e o "Regimento proueytoso contra ha pestenença", Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1979. 171 Sobre a história da Peste Negra no Portugal medieval, consulte-se a síntese de A.H. de Oliveira Marques, Portugal na crise dos séculos XIV e XV, Nova História de Portugal, IV, Lisboa, Presença, 1987, pp. 20-22. 172 Rui de Pina, "Chronica do Senhor Rey D. Affonso V" in Crónicas, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, pp. 688-689. 173 Id., ibidem, pp. 607-608.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
os corpos mais dispostos à enfermidade e à morte são os corpos quentes e
que têm os poros mais largos, e os corpos peçonhentos que têm os poros
opilados e cerrados de muitos humores. E portanto os corpos nos quais se
faz a grande resolução, assim como são os corpos desordenados em luxúria
e coito e os que vão a miúdo aos banhos.174
14 - DOENÇAS DIVERSAS
Nas doenças diversas
agrupam-se vários tipos de
enfermidades infantis que teriam
sido objecto de uma cura
milagrosa. Algumas registam-se a
propósito da morte de crianças que
teriam depois sido ressuscitadas,
4
2
0
2
4
Masc. Fem.
GRÁFICO Nº 19 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - DOENÇAS
DIVERSAS
sendo esses os casos da cardiopatia responsável pela morte de uma menina falecida
por dor no coração175 e o das convulsões, talvez epilépticas, de um moço que
morrera quando lhe tremia o corpo todo.176
Nas restantes, incluem-se disfunções reumatológicas, sendo esse o caso da
gota que o Santo Condestável teria curado a uma menina177 e diversificadas
perturbações do funcionamento do aparelho respiratório, digestivo e urinário, como
sejam, respectivamente, a asma que atingira um moço que quase morria,178 a crise
hemorroidal que atormentava um outro,179 e os cálculos renais que, sob o nome de
pedra, adoentavam um terceiro.180 Esta última enfermidade era descrita pela
tratadística médica medieval na qualidade de maleita comum às crianças de idade
situada entre a fase do desmame e os começos da puberdade.
De facto, de acordo com os princípios hipocráticos, os médicos letrados da
Baixa Idade Média consideravam os cálculos renais como a doença que nas crianças
__________________________________________________________________________________ 302
174 "Regimento proueytoso contra ha pestenença", ed. Mário da Costa Roque in As Pestes Medievais Europeias, ed. cit., p. 321. 175 Frei José de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 521. 176 "S. Frei Gil" in Flos Sanctorum, V, ed. cit., p. 195. 177 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 542. 178 Id., ibidem, pp. 519-520. 179 Id., ibidem, p. 533.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
resultava de um rápido aquecimento do corpo, em particular a zona da bexiga, a
partir do momento em que se iniciavam num regime alimentar próximo do dos
adultos, os quais, por sua vez, não sofriam tanto essa doença porque já tinham um
corpo mais frio. Nesse sentido, a tratadística médica dos finais da medievalidade,
recomendava, como profilaxia dos cálculos renais infantis uma dieta isenta, a partir
dos sete anos de idade, de leite, fruta e queijo, aconselhando-se, inclusive, que as
mães se abstivessem de comer este último.
Na análise feita por Eleanora C. Gordon, o facto de os cálculos renais se
encontrarem muito presentes entre as curas registadas nos livros de milagres
medievais ingleses, dever-se-ia certamente, como ainda era comum na Inglaterra
oitocentista, a uma dieta excessivamente rica em hidratos de carbono após o
desmame.181 Ora, na verdade, os estudos paleobiológicos desenvolvidos por
Eugénia Cunha e seus colaboradores em espólios osteológicos recolhidos nos
cemitérios medievais portugueses, como os de Fão e de S. Jorge de Almedina,
testemunham uma alimentação muito rica em alimentos abrasivos, nomeadamente
grandes quantidades de cereais,182 o mesmo sucedendo em relação ao estudo de
esqueletos provenientes dos cemitérios de crianças localizados em S. Pedro de
Marialva e em Serpa, 183 encontrando-se, portanto, reunidas as circunstâncias para o
aparecimento de cálculos renais entre a mais jovem população do Portugal medieval.
Aliás, se uma tal doença deixou de apresentar uma apreciável incidência nas
crianças da Europa Ocidental e da América do Norte, a partir dos finais do século
XIX, é ainda hoje uma enfermidade endémica infantil no Noroeste da Índia, Sul da
China, Tailândia, Japão e outras regiões asiáticas. Existirá, então, conforme
preconizavam os médicos medievais, uma ligação entre a alimentação materna e
a predisposição infantil para contrair cálculo renais, ou estará a tendência relaciona-
________________________________________________________________________________________________ 303
180 Id., ibidem, p. 533. 181 Eleanora C. Gordon, ob. cit., ed. cit., pp. 512-513. 182 Eugénia Cunha, “Populações medievais portuguesas (séculos XI-XV). A Perspectiva Paleo-biológica”, Arqueologia Medieval, 5, Mértola, Ed. Afrontamento, 1997, pp. 71 e 79. 183 Eugénia Cunha, Cláudia Umbelino e Teresa Tavares, "A necrópole de S. Pedro de Marialva - Dados Antropológicos", in Património Estudos,1, Instituto Português do Património Arqueológico, Lisboa, 2001, p. 142; Maria Teresa Ferreira, As crianças moçárabes de Serpa: análise paleobiológica de uma amostra de esqueletos exumados da necrópole do loteamento da zona poente de Serpa, Coimbra, Departamento de Antropologia, 2000 (Relatório de Investigação), p. 49.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
da com uma precoce e deficiente alimentação infantil? Com efeito, nos locais onde a
doença ainda se encontra disseminada, aparece frequentemente declarada em
crianças de fracas condições económicas, normalmente oriundas de comunidades
rurais e com prevalência nos rapazes pré-púberes.184
15 - PREVALÊNCIAS
A evolução dos registos das curas infantis presentes nos livros de milagres
medievais portugueses encontra-se sistematizada, no que respeita às diferentes
doenças, ao sexo da criança agraciada e a uma cronologia ampla, onde se
distinguem dois grandes períodos balizados pelo século XIII,185 no Quadro VII -
- Tipologia, Cronologia e Género das Curas dos Miraculados.
Ao longo dos séculos XII a XV, encontra-se registada a totalidade dos tipos
de doença referenciados para os jovens miraculados. Existem, no entanto,
importantes diferenças no que respeita à evolução da respectiva representatividade.
De facto, enquanto nos séculos XII e XIII prevalecem as menções às curas de
crianças possessas (23%), paralíticas (18%) e mudas (16%), na Baixa Idade Média
são sobretudo as vítimas de hemorragias e feridas (17%), cegueira (16%) e pápulas e
inchaços (15%), as mais registadas, ao mesmo tempo que o número de milagres
recenseados aumenta para mais do dobro relativamente ao período anterior (de 44
para 102).
__________________________________________________________________________________ 304
184 Num simpósio celebrado pela Organização Mundial de Saúde, em Bangkok no ano de 1972, foi focada a correlação existente entre a incidência da doença nas crianças e o grau sócio económico (e consequentemente alimentar) das respectivas famílias e regiões, não ficando ainda bem esclarecido o facto de serem os rapazes o alvo principal da doença. De qualquer forma, e com base em dados publicados, entre 1960 e 1962, num hospital da Tailândia, foram removidas 506 pedras de adultos, 161 de meninas e 1.113 de rapazes antes dos nove anos, ocorrendo a mais alta incidência entre o ano e meio e os dois anos. Sobre estes dados, veja-se Ronald C. Finucane, The Rescue of the Innocents. Endangered Children in Medieval Miracles, ed. cit., pp. 66-67. 185 Foram considerados como milagres registados durante os séculos XII e XIII, independentemente de, em alguns casos, se encontrarem disponíveis através de posteriores tradições manuscritas, os relativos a S. Geraldo, S. Rosendo, Santa Senhorinha de Basto, S. Vicente, Santo António, S. Frei Paio e Nossa Senhora de Terena. No que respeita aos séculos XIV e XV, não obstante referenciarem, por vezes, santos anteriores, incluíram-se os relativos a S. Frei Gil de Santarém, S. Gonçalo de Amarante, Nossa Senhora de Oliveira, Santa Isabel, Mártires de Marrocos, Nossa Senhora das Virtudes, Bom Jesus de S. Domingos, S. Veríssimo, Santo Condestável e S. Pedro de Rates. Sobre as cronologias destes milagres, veja-se o capítulo FONTES UTILIZADAS.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
QUADRO VII - TIPOLOGIA, CRONOLOGIA E GÉNERO DAS CURAS DOS
MIRACULADOS
TIPOLOGIA
DAS DOENÇAS
VALOR GÉNERO SÉCULOS
Nº % M F XII-XIII XIV-XV
PARALISIAS 21 14 14 7 8 13
HEMORRAGIAS
E FERIDAS
20 14 15 5 3 17
CEGUEIRA E
MALES OCULARES
19 13 11 8 3 16
PÁPULAS E INCHAÇOS 19 13 13 6 4 15
DOENÇAS MENTAIS 16 11 11 5 10 6
SURDEZ E MUDEZ 14 10 9 5 7 7
QUEBRADURAS 12 8 12 ___ 1 11
DOENÇAS GRAVES
INESPECÍFICAS
11 8 8 3 5 6
FEBRES E PESTE 8 5 6 2 2 6
DOENÇAS DIVERSAS 6 4 4 2 1 5
146 100% 103 43 44 102
71% 29% 30% 70%
Mais raros, os milagres dos séculos XII e XIII parecem privilegiar a memória
de curas próprias da tradição evangélica, como aliás também ocorre, de acordo com
os estudos efectuados por Didier Lett, nos textos hagiográficos contemporaneamente
produzidos na França medieval. 186 Nesse sentido, os milagres portugueses parecem
reflectir uma época em que os santuários de peregrinação tendiam a ser sobretudo
frequentados para a obtenção da cura de doenças mentais, como o seriam, em última
análise, para além das endemoinhações, muitas das paralisias e das mudezes,
conforme assinala Pierre-André Sigal,187 dada a sua forte componente psico-so-
mática. Sendo assim, durante os séculos XII e XIII, os santuários dispensadores de
curas milagrosas para as crianças acabariam por funcionar, numa época em que a 186 Didier Lett, L' enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe – XIIIe siècle), Paris, Aubier, 1997, p. 59, nota 18.
________________________________________________________________________________________________ 305
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
saúde mental não seria, como sublinha José Mattoso, tão firme quanto se poderia
pensar,188 na qualidade de espaços sagrados onde a fé das crianças e dos seus
parentes próximos encontrava as condições ritualmente eficazes, para, em nome da
reactualização do passado de triunfalismo cristão contra o mal, apaziguar e
neutralizar os desequilíbrios emocionais e afectivos sofridos pelas crianças e pelas
suas famílias.
A partir da Baixa Idade Média, a progressiva afirmação de santuários de
romaria frequentados pelas populações das vilas e cidades do reino fez com que eles
passassem a procurar responder a outras solicitações de terapêutica miraculosa,
menos centradas na cura dos males do espírito e mais na das enfermidades do corpo,
sobretudo o sofrimento trazido pelas pestes que protagonizaram as maiores ameaças
feitas à saúde pública da Cristandade dos finais do período medieval.
Mais abertas a estes anseios, as instituições eclesiásticas do Portugal de
Trezentos e Quatrocentos, já de si sensibilizadas, desde Duzentos, para o
desenvolvimento de actividades de tipo assistencial e caritativo, nomeadamente o
auxílio aos pobres e doentes urbanos que por vezes acolhiam nos albergues e nos
hospitais anexos, souberam então adaptar-se a tais solicitações. Sem deixar de
recolher a memória da ocorrência de milagres sucedidos a crianças possessas,
surdas ou paralíticas, passaram a dar maior relevo às notícias testemunhatórias de
como os poderes taumatúrgicos dos santos também curavam, para além de cegueiras,
igualmente inseridas na longa tradição dos milagres evangélicos, quer hemorragias e
feridas, quer pápulas e inchaços, ou seja, as doenças cujas sintomatologias incluíam
os distúrbios corporais provocados pelos efeitos e consequências das pestes.
Especialmente desejadas e solicitadas, todas estas últimas curas milagrosas
acabaram por inflacionar o registo dos milagres medievais portugueses dos séculos
XIV e XV, contribuindo, por um lado, para a rápida subida do seu montante
relativamente ao período anterior, e por outro, para uma maior representatividade das
crianças do sexo feminino, conforme evidencia o Gráfico nº 20 – Evolução da
__________________________________________________________________________________ 306
187 Pierre-André Sigal, L’homme et le miracle dans la France médiévale (XIe - XIIe siécle), ed. cit., p. 257. 188 José Mattoso, “Saúde corporal e saúde mental na Idade Média portuguesa”, ob. cit., ed. cit., p. 243.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
Representatividade do Sexo das Crianças Miraculadas. De facto, embora seja duran-
te os séculos XIV e XV que os valores relativos às quebraduras, uma enfermidade
exclusivamente masculina,189 alcançam a sua maior expressão, a circunstância de os
homens que redigiram os livros de milagres dos finais da Idade Média se revelarem
mais próximos das angústias e enfermidades terrenas da generalidade das crianças,
fez com que os seus textos passassem a dar uma nova atenção às doenças das
meninas e das raparigas,190 no quadro geral da crescente visibilidade social
alcançada pela mulher das vilas e cidades do Portugal de Trezentos e
Quatrocentos.191
Mas
culin
o
Mas
culin
o
Fem
inin
o
Fem
inin
o
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PER
CEN
TAG
EM
GRÁFICO Nº 20 -EVOLUÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE DO SEXO DAS CRIANÇAS MIRACULADAS
Até ao séc. XIIISécs. XIV e XV
SEXO
189 Como se passa, aliás, na generalidade dos livros de milagres medievais: Ronald C. Finucane, The rescue of the Innocents. Endangered Children in Medieval Miracles, ed. cit., p. 96. 190 Segundo Robert Fossier, citado por Didier Lett, a própria sociedade medieval teria globalmente conhecido uma taxa de feminilidade menor do que a da masculinidade devido, em grande parte, à maior mortalidade infantil feminina que fora gerada pela sistemática desvalorização da menina em relação ao rapaz, tornando-a mais frequentemente abandonada, mais tardiamente alimentada e criada com menos cuidados: Didier Lett, L’enfant des miracles, Enfance et société au Moyen Âge (XIIe – XIIIe siécle), ed. cit., p. 161. De resto, conforme defende Susan Scrimshaw, o maior cuidado dispensado aos rapazes pode ser encarado, segundo alguns autores, como uma forma passiva, indirecta ou atenuada, de infanticídio feminino ou de negligência selectiva: "Infanticide in Human Populations: Society and Individual Concerns", in Infanticide: Comparative and Evolutionary Perspectives, Glenn Hausfater and Sarah Hrdy (eds.), Nova Iorque, 1984.
________________________________________________________________________________________________ 307
191 O mesmo se passa relativamente à cronística dos finais da Idade Média: Ana Rodrigues Oliveira, As representações da mulher na cronística medieval portuguesa (sécs. XII a XIV), Patrimonia Histórica, Cascais, 2000, pp. 30-62.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
16 - ACIDENTES
__________________________________________________________________________________ 308
Para além da menção à
cura de várias doenças orgânicas
ou epidémicas, os livros de
milagres medievais portugueses
também referem vários
acidentes infantis que teriam sido ultrapassados graças aos poderes dos santos e dos
cultos disponíveis nos santuários de peregrinação existentes no reino. Num total de
26, neles se incluem quer seis milagres já antes referenciados na abordagem das
curas de hemorragias e feridas,192 dada a sua posterior evolução para graves
enfermidades quer outros dez cujo desfecho letal teria sido depois contrariado
através da graça de uma ressurreição.193
24
205
10152025
Masc. Fem.
GRÁFICO Nº 21 - TOTAL DE CASOS REFERIDOS NOS LIVROS DE MILAGRES
Na sua grande maioria, em 75% dos casos, os milagres relativos a acidentes
infantis registam-se em textos hagiográficos compostos nas duas últimas centúrias
medievais, reportando-se quase sempre a situações ocorridas nas vilas e cidades do
reino.194 De facto, mesmo as notícias datáveis dos séculos XII e XIII apenas num
caso, o do milagre pelo qual S. Rosendo teria feito sair do corpo do filho de um
camponês servil do seu mosteiro a serpente não muito grande que lhe saltara para a
boca e se alojara no estômago, se evoca de forma explícita um contexto rural,195 já
que, tanto a intervenção através da qual S. Geraldo teria contribuído para soltar da
garganta de um menino de Braga o osso que o estava a sufocar,196 como as que se
atribuem a Santo António, em várias cidades, no sentido de ter salvo a vida de
192 Veja-se o ponto 6 do presente capítulo. Trata-se de milagres atribuídos a S. Frei Gil de Santarém (Frei Baltazar de S. João, A vida do Bem-Aventurado Gil de Santarém, ed. cit., p. 106; Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, ed. cit., p. 240), Nossa Senhora das Virtudes (Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 26) ao Santo Condestável (Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 544,554). 193 Veja-se o capítulo seguinte. Compreendem milagres credenciados a Santo António (Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), ed. cit., pp. 265, 271, 272-273), S. Frei Gil de Santarém (Frei Luís de Sousa, ob. cit., ed. cit., pp. 231-232) e ao Santo Condestável (Frei José de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 488, 490-491). 194 Sobre a cronologia seguida para datar os livros de milagres em análise, veja-se, neste capítulo, a nota 185. 195 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. cit., p. 61. 196 "S. Geraldo" in Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. Maria Clara Almeida Lucas, Lisboa, I.N.I.C., 1988, p. 178.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
crianças afogadas ou queimadas,197 também ocorrem em cenários urbanos. Aliás,
quando explicitada, a condição social dos pais dos pequenos acidentados acaba
sempre por remeter, à excepção do já referido camponês de Celanova, para
residência ou ocupação citadinas, sendo esses os casos de um nobre morador em
Santarém, a quem S. Frei Gil teria miraculado um filho,198 ou os dos lisboetas
escrivão dos órfãos do concelho, tanoeiro e sapateiro cujas crianças haviam sido
salvas por intercessão do Santo Condestável.199
Como seria de esperar relativamente a graças concedidas a crianças
acidentadas, os milagres que a elas respeitam são quase sempre apresentados como
de ocorrência imediata, conforme se sintetiza no Gráfico Nº 22 - Tempo de
Manifestação dos Milagres Feitos a Crianças Acidentadas. Contudo, se essa regra
surge em 88% das ocorrências, também se noticiam situações em que o milagre se
apresenta como tendo demorado o muy largo tempo necessário para que se
descobrisse o corpo de uma criança soterrada sob os escombros de um muro,200 ou
apenas se havendo manifestado em três201 ou antes que fossem três dias.202 Nestes
casos, trata-se de milagres em que o acidente só surge superado após uma
ressurreição feita por intercessão dos santos, remetendo as referências aos prazos
citados para o prestígio de poderes taumatúrgicos exercidos em tempos directa ou
indirectamente aproximados aos que teriam ocorrido entre a morte e a ressurreição
de Cristo.
________________________________________________________________________________________________ 309
197 Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), ed. cit., pp. 247, 265, 271, 272-273. 198 Frei Luís de Sousa, ob. cit., ed. cit., p. 240. 199 Frei José de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., respectivamente, pp. 512 e 554-555. 200 Id., ibidem, p. 488. 201 Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), ed. cit., p. 265. 202 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 26.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
13
2 1 10
4
8
12
16
Nº D
E C
ASO
S
Logo 1 a 3 dias Outro
TEMPO
GRÁFICO Nº 22 - TEMPO DE MANIFESTAÇÃO DOS MILAGRES FEITOS A CRIANÇAS ACIDENTADAS
MasculinoFeminino
Por outro lado, se a natural urgência da obtenção de ajudas sagradas para as
crianças acidentadas fazia quase sempre incluir a sua salvação na categoria dos
milagres imediatos, também propiciava o seu registo enquanto objecto de uma
intervenção taumatúrgica maioritariamente desencadeada pela simples e rápida
invocação de um santo protector, conforme se pode observar através da consulta do
Gráfico Nº 23 - Forma de Desencadeamento dos Milagres a Crianças Acidentadas.
FORMAS
17
6
3
0
4
8
12
16
20
Nº D
E C
ASO
S
GRÁFICO Nº 23 - FORMAS DE DESENCADEAMENTO DOS MILAGRES A CRIANÇAS ACIDENTADAS
EncomendaçãoIda ao santuárioÁgua e Terra santas
Com efeito, quando mencionado o processo de desencadeamento do milagre,
só em 25% das ocorrências (6 casos), é que ele teria resultado do transporte do
acidentado até ao templo de um santo, como sucede relativamente a intervenções
__________________________________________________________________________________ 310
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
taumatúrgicas atribuídas a S. Geraldo,203 S. Rosendo,204 Santo Condestável,205 Santa
Isabel206 e S. Frei Gil, contando-se para este último, como a sua intercessão fora
desencadeada através da utilização de terra santa que estivera em contacto com a
respectiva sepultura.207
De facto, em 75% das situações registadas (18 casos), os milagres das
crianças acidentadas não teriam implicado uma prévia e directa relação dos
agraciados com os templos dos santos e devoções que os teriam salvado, figurando,
quanto muito, essa presença através da água e da terra sagradas rapidamente obtidas
para desencadear uma cura à distância, como se informa ter ocorrido quando o pai de
um moço mordido por um furão danado fora buscar ao convento de Santa Cruz de
Coimbra a água santa dos Mártires de Marrocos para socorrer o filho.208 À excepção
deste caso, todos os outros milagres são noticiados como havendo sido produzidos
após se ter invocado o auxílio do santo através de uma oração, quase sempre
acompanhada pelo voto de, se concretizada a graça, vir a ser depois seguida por uma
ida ao seu templo em pagamento de uma promessa, a qual tanto poderia incluir a
dádiva simbólica de bens, surgindo citado o exemplo da oferta de pão cozido com o
peso equivalente ao da criança miraculada,209 como a própria oferta dos moços
agraciados, na condição de oblatos a integrar em alguma comunidade religiosa
relacionada com o santo.210
Conforme se encontra representado no Gráfico Nº 24 - Idade dos Miracula-
dos por Acidente, 70% dos milagres de acidentados teria ocorrido, de acordo com os
dados registados, antes dos quatro anos de idade, sendo essa, com efeito, uma
característica comum à revelada através da análise dos livros medievais de milagres
________________________________________________________________________________________________ 311
203 "S. Geraldo" in Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. cit., p. 178. 204 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. cit., p. 61. 205 Frei José de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 554-555. 206 Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, Lisboa, 1869/1870,vol. 7, p. 57. 207 Frei Baltazar de S. João, A Vida do bem aventurado Gil de Santarém, ed. Aires A. Nascimento, Lisboa, 1982, pp. 106 e 240. 208 Tratado da vida e martírio dos 5 Mártires de Marrocos, ed. A. Rocha Madahil, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1928, p. 71; "Livro dos Milagres dos Santos Mártires", ed. Maria Alice Fernandes, in Livro dos Milagres dos Santos Mártires, Edição e estudo, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1988 (Tese de Mestrado), p. 133. 209 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 26. 210 Cousas Notaveis e Milagres de Santo António de Lisboa, ed. José Joaquim Nunes, Porto, 1912, pp.30-31, com passagem paralela na Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), ed. cit., pp. 265 e 271; Frei Luís de Sousa, ob. cit., ed. cit., pp. 231-232, num milagre atribuído a S. Frei Gil; Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 490-491.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
produzidos em outras regiões da Cristandade ocidental.211 De facto, as crianças que
conseguiam sobreviver aos acidentes do parto e aos primeiros meses de vida
enfrentavam ainda múltiplos perigos conhecendo durante os seus primeiros anos de
vida um sério risco de virem a ser vítimas de sinistralidade, sobretudo doméstica. Na
realidade era esse o período em que se aventuravam, iludindo a vigilância dos
adultos, pelos espaços menos seguros das casas, fosse a cozinha, o pátio ou o quintal,
como se dedicavam a, inadvertidamente, introduzir substâncias ou objectos nocivos
na boca ou no nariz. Quedas, asfixias ou queimaduras eram, assim, entre outros
acidentes, naturalmente numerosas e preocupantes.
<1
1-4
5-9
>9
0
1
2
3
4
5
6
NÚ
MER
O D
E C
ASO
S
GRÁFICO Nº 24 - IDADE DOS MIRACULADOS POR ACIDENTE
Ac. DomésticoAc. Não Doméstico
IDADE
Passada esta primeira fase, os acidentes domésticos tendiam a ser
ultrapassados pela sinistralidade ocorrida no exterior da casa, já que as crianças se
iam autonomizando das casas familiares e passavam a integrar-se em grupos infantis
ou juvenis, cujos quotidianos decorriam em espaços públicos susceptíveis de lhes
proporcionar brincadeiras, jogos, actividades e aventuras colectivas que, por sua
vez, geravam novos e não menos graves riscos. Afogamentos, ataques de animais,
traumatismos e pancadas provenientes de actividades lúdicas, lutas ou participações
__________________________________________________________________________________ 312
211 Vejam-se: Ronald C. Finucane, The Rescue of the Innocents. Endangered Children in Medieval Miracles, ed. cit., p. 142; Barbara Hanawalt, The Ties That Bound.,Peasent Families in Medieval England, Nova Iorque, Oxford University Press, 1986, p. 182; Eleanora C. Gordon, “Accidents Among Medieval Children as seen From the Miracles of Six English Saints and Martyrs", in Medical History, 35, 1991, p. 149.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
precoces nas ocupações e trabalhos dos adultos representavam, então, os principais
perigos da sinistralidade.212
No que respeita aos dados relativos à idade dos miraculados, este segundo
grupo de acidentes revela-se minoritário, dado apenas corresponder a 30% dos
milagres que apresentam uma tal informação. Contudo, se tivermos em conta os
valores relativos à tipologia dos acidentes dos miraculados, conforme se apresenta no
Gráfico Nº 25 alteram-se as posições, já que os sinistros ocorridos fora de casa (69%
do total) suplantam em muito os sucedidos no espaço doméstico (31%), talvez
porque os hagiógrafos considerassem ser sobretudo prestigiante para os cultos e
santos que pretendiam promover, salientar as idades das crianças sobre que incidia
uma maior taxa de mortalidade infantil, ou seja, as mais novas, frágeis e
desprotegidas.
Afo
gam
ento
Ata
ques
de
anim
ais
Trau
mat
ism
os e
pan
cada
s
Asf
ixia
Asf
ixia
Que
das
Que
das
Que
imad
uras
0
1
2
3
4
5
6
7
NÚ
ME
RO
DE
MIL
AG
RE
S
GRÁFICO Nº 25 - TIPOLOGIA DOS ACIDENTES DOS MIRACULADOS
Ac. fora de casa
Ac. domésticos masculinos
Ac. domésticos femininos
________________________________________________________________________________________________ 313
212 Consulte-se Shulamith Shahar, Childhood in the Middle Ages, Londres, Routledge, 1990, em particular a p. 26.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
De resto, sendo estatisticamente a representação dos acidentes fora de casa
mais do dobro da reservada aos domésticos, justifica-se o tão baixo montante das
crianças do sexo feminino presentes na totalidade dos milagres, apenas duas em 26
ocorrências. Com efeito, o facto de não ser muito comum figurarem entre os grupos
infantis e juvenis, tendencialmente masculinos, que passavam uma grande parte do
seu tempo no exterior do lar, faz com que a presença das raparigas se encontre
apenas assinalada entre as vítimas dos acidentes domésticos típicos de uma primeira
infância, com um déficit semelhante, e pelas mesmas razões, ao referido a propósito
dos milagres de cura das doenças.
17 – SINISTRALIDADE DOMÉSTICA
Correspondentes a 31% dos acidentes miraculados nos livros de milagres
medievais portugueses, as asfixias, quedas e queimaduras representam o conjunto da
sinistralidade doméstica infantil e juvenil. Ao comparar os tipos de acidentes de
crianças registados em escritos hagiográficos procedentes de diversas regiões
medievais europeias, Pierre-André Sigal define como padrão tipicamente
mediterrâneo o predomínio de uma sinistralidade doméstica, representada sobretudo,
de acordo com um modelo italiano, pelas quedas ocorridas nas escadas dos prédios
com vários andares, quando os pais se ausentavam para trabalhar.213 Sendo assim, os
dados relativos ao caso português não o parecem permitir integrar neste contexto, já
que os milagres por acidente doméstico não só se revelam muito inferiores aos
acontecidos fora de casa, como, entre eles, não predominam as quedas, se bem que
duas delas figurem na qualidade de graças concedidas em Lisboa por intercessão do
Santo Condestável, sendo esses os casos de uma menina de dois anos, filha de um
tanoeiro da cidade, que caiu pelas escadas e ficou quase morta,214 e de um menino
de muito pouca idade, a quem a também queda por uma escada fizera ficar logo
morto de todo.215
__________________________________________________________________________________ 314
213 Pierre-André Sigal, ob. cit., ed. cit, pp. 62-63. 214 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 554-555. 215 Id., ibidem, p. 488.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
Contudo, no que diz respeito às queimaduras, os acidentes domésticos
recordados nos livros de milagres medievais portugueses não desmentem uma
proximidade a um claro perfil mediterrânico. De facto, se Barbara Hanawalt
considera as queimaduras provocadas pelos incêndios das casas ou por quedas nas
lareiras domésticas como um acidente infantil típico das crianças agraciadas nos
livros de milagres redigidos no Ocidente medieval nórdico e atlântico, sobretudo
inglês, onde se chegam a mencionar fogos provocados pelas galinhas que, ao
debicarem restos de comida em redor do lume doméstico, espalhavam pela casa
brasas incendiárias, 216 nada de semelhante aparece registado nos livros portugueses.
De facto, o único exemplo da ocorrência de queimaduras infantis apenas se noticia a
propósito da graça concedida por Santo António, numa cidade mediterrânica não
portuguesa, a um menino de berço, para o livrar das consequências de a mãe o ter
acidentalmente colocado em cima de uma caldeira com água a ferver.217
No entanto, mais do que o reflexo cruzado dos contextos civilizacionais
atlântico e mediterrânico, sobre os quais, aliás se afirmou e estruturou o reino de
Portugal, a tipologia dos acidentes domésticos infantis registada nos livros de
milagres produzidos no País parece sobretudo remeter para o desenvolvimento de
estratégias elaboradas pelos santuários urbanos no sentido de melhor captarem os
devotos das cada vez mais povoadas vilas e cidades. De facto, parece ser esse o
objectivo pelo qual os acidentes infantis devidos a quedas domésticas começam a
ganhar algum protagonismo nos mais recentes livros de milagres, e que neles passe a
figurar a notícia de várias intervenções taumatúrgicas destinadas a salvar as crianças
das frequentes mortes por asfixia. Esse tipo de sinistralidade, provocada pela
presença na faringe ou na traqueia de substâncias ou objectos de efeito inflamatório
e/ou simplesmente obstrutivo de uma normal respiração pulmonar, não é, no entanto,
apontado como específico dos escritos hagiográficos mediterrâneos ou atlânticos.
Sendo esse o mais corrente tipo de acidente doméstico presente nos livros de
milagres medievais portugueses, ele tende a figurar em textos hagiográficos
relativamente recentes, salvo a excepção do registo que, no século XII, atribui ao
bispo S. Geraldo a salvação de um menino de Braga que asfixiava com um osso
________________________________________________________________________________________________ 315
216 Barbara Hanawalt, The Ties That Bound. Peasent Families in Medieval England, ed. cit., p. 175. 217 Crónica da Ordem dos Frades Menores, I, ed. cit., p. 247 e Cousas Notaveis e Milagres de Santo Antonio de Lisboa, ed. cit., p.17.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
atravessado na garganta,218 ao mesmo tempo que por ele se visa assinalar a
superioridade dos poderes taumatúrgicos de santos de culto ou devoção urbanos,
como, aliás, já era o caso do prelado bracarense antes referido. De facto, é
neste contexto que, por um lado, se atribuem aos santos mendicantes S. Frei
Gil de Santarém e S. Gonçalo de Amarante, os socorros prestados, respectivamente,
a um minino de peito asfixiado por engolir um anel,219 e de um menino de sete ou
oito meses que engoliu um ceitil que se lhe atravessou na garganta, e começou a
lançar sangue pela bocca e estava quasi expirando,220 e que, por outro, se credencia
ao Santo Condestável as intercessões que teriam aliviado o filho de pouca idade do
escrivão dos órfãos de Lisboa, que, com uma espinha encravada na garganta sufocou
e estava negro e uma menina de muy tenra idade, asfixiada por ter engolido um
outro anel.221
18 – OS ACIDENTES NO EXTERIOR DA CASA
Fora do lar familiar, as proverbiais curiosidade, indisciplina e agressividade
das crianças, quase sempre agrupadas em ruidosos e desordeiros grupos juvenis,
enfrentavam os riscos e os obstáculos colocados pela natureza, pelo mundo dos
adultos e pela própria violência com que, por vezes, desenvolviam os seus jogos e
actividades lúdico-desportivas. Na tipologia dos acidentes registados nos livros de
milagres medievais portugueses, são sobretudo os contactos com as águas e com os
animais que se associam a um maior número de acidentes, motivando 78% da
sinistralidade registada para o exterior da casa familiar.
Nos textos hagiográficos da Cristandade nórdica e atlântica, bastante
devedora de um clima particularmente húmido e chuvoso, onde os cursos de água, as
lagoas e os pântanos se afirmavam como grandes obstáculos ao deambular e à
aventura infantis e juvenis, são os afogamentos que figuram na qualidade de
acidentes mais representados entre as crianças miraculadas.222 No Portugal medieval
a situação é idêntica, se bem que equiparável à sinistralidade provocada pelos
__________________________________________________________________________________ 316
218 “Sam Giraldo” in Ho Flos Sanctorum em Linguagē: Os Santos Extravagantes, ed. cit., p. 178. 219 "S. Frei Gil" in História de S. Domingos, ed. cit., p. 240. 220 "S. Gonçalo de Amarante" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, I, ed. cit., p. 282. 221 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 512 e 514. 222 Barbara Hanawalt, "Chilrearing Among the Lower Classes of Late Medieval England" in Journal of Interdisciplinary History, t. VIII, 1, 1977, pp. 11-13; Pierre-André Sigal, "Les accidents de la petite
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
acidentes ocorridos com animais. De facto, em muitos dos livros de milagres
medievais portugueses, o cenário formado pelas praias, rios, ribeiras, canais ou
mesmo tanques de água corrente ou parada configura uma paisagem associada a
numerosos e quase sempre letais acidentes infantis.
Num país oceânico como o português, o mar surge citado como fonte de
inúmeros perigos. Nele, por exemplo, se noticia o caso de um rapaz que cayo ao
mar, quando, ao viajar com o pai, deu huu grande rebolaais na barca que navegava
junto à costa. 223 Noutros casos, as águas marítimas apresentam-se associadas a
trágicas brincadeiras, como se diz ter sucedido ao rapaz menor de idade que se
afogara ao ir andar de barco com os seus amigos para se divertir,224 ou, com a
mesma fatal consequência, quer o menino de cinco anos que as ondas levaram
quando se encontrava a folgar com outros à ribeira do mar,225 quer ao moço
sumido nas vagas por ter ido brincar com outros à praia.226
Contudo, não são apenas as águas salgadas que sinalizam o afogamento de
crianças que teriam sido depois salvas pela fé nos poderes dos santos. Também as
águas doces e termais situam idênticos perigos e acidentes. As primeiras figuram
num milagre atribuído a Santo António para o caso de um rapaz de sete anos que
andava
jugando com outros nove moços em no canall de huum rio, e as agoas de
aquele ryo estavam reteudas em huum canall çarrado pera regar as meses,
assy que o lugar omde os moços andavam estava sequo, (e) acomteçeo que
sse abrio o canall, donde as aguas estavam represadas, e correrom as
agoas com arrevatamento e tomarom todos os dez moços e forom ally
afogados.227
________________________________________________________________________________________________ 317
enfance à la fin du Moyen Age" in Robert Fossier (ed.), La petite enfance dans l'Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, p. 62. 223 Frei João da Póvoa, "Livro dos milagres de Nossa Senhora das Virtudes" in ob. cit., ed. cit., p. 17. 224 Crónica da Ordem dos Frades Menores, I, ed. cit., p. 271 e Cousas Notaveis e Milagres de Santo Antonio de Lisboa, ed. cit., pp. 34/35. 225 Crónica da Ordem dos Frades Menores, I, ed. cit., p. 265; Cousas Notaveis e Milagres de Santo Antonio de Lisboa, pp. 30-31. 226 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 490. 227 Crónica da Ordem dos Frades Menores, I, ed. cit., pp. 272-273.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
As segundas, tanto localizam uma piscina balneária onde uma criança que
jogava ao salto com outra escorregou e mergulhou tragicamente228 como o tanque de
águas quentes termais por cujas escadas caíram em tombos à agoa dois meninos que
brincavam na sua borda, havendo um deles, depois de trazido do fundo já morto e
meio cozido, com a tez do rosto denegrida, e todo o corpo inchado e azulado, sido
ressuscitado e salvo por um milagre atribuído a S. Frei Gil de Santarém. No entanto,
o minino enquanto viveu ficou sempre amarelo e sem cor de rosto. 229
__________________________________________________________________________________ 318
228 Frei Baltazar de S. João, A vida do bem aventurado Gil de Santarém, ed. cit., p. 106. 229 "S. Frei Gil" in Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, I, ed. cit., pp. 231-232.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
Figura 54 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (século XIII). Entre os milagres hispânicos atribuídos nas Cantigas de Santa Maria de Afonso X a Nossa Senhora, conta-se o do salvamento de uma menina afogada quando fora beber água a um canal de rega urbano.
________________________________________________________________________________________________ 319
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
Para além dos perigos das águas, a natureza também se encontra
equitativamente presente enquanto factor desencadeador de acidentes acontecidos a
crianças miraculadas, através dos desastres provocados por animais. Em alguns
textos hagiográficos essa presença evoca, sobretudo, um meio rural, quer ligado à
pastorícia, quer ligado à caça. No primeiro caso, conta-se como S. Rosendo fizera o
milagre de retirar uma serpente que se alojara no estômago do filho de um camponês
do seu mosteiro que andava a guardar gado, e que, ao ver o réptil lhe atirou com o
bastão. Ao inclinar-se para apanhar o pau que caíra no meio de uns espinhos, o
animal saltou-lhe para a boca e desceu-lhe até ao ventre.230 O segundo caso ocorre
no registo onde se lembra terem os Mártires de Marrocos salvo um moço mordido
por um furão danado.231 Também aponta para uma cena campestre o caso da
sanguexuga que teria sido expulsa da garganta de um menino por graça da rainha
Santa Isabel.232
Noutros textos, os acidentes provocados por animais de montada ou de carga,
parecem antes situar-se num contexto urbano, sendo corrente verificarem-se muitos
sinistros desse tipo, nas vilas e cidades do reino onde o transporte era assegurado por
cavalos, mulas e jumentos. 233 De facto, teria sido essa a situação, tanto do menino de
Lisboa que andava brincando junto à porta da sua casa, quando foi trilhado por uma
cavalgadura desenfreada,234 como a do moço de Santarém que se encontrava na rua
com outros rapazes quando um macho, cujo dono é referido como sendo mais bruto
que o animal e sem cuidado com as criançinhas, o atropelou e fez partir um braço.235
Ainda se aproximam deste mesmo tipo de sinistralidade urbana quer um outro
atropelamento noticiado em Santarém para mais um jovem vitimado com um braço
partido,236 quer a referência à criança lisboeta que levara o mortal coice de uma
mula, apenas lhe valendo uma ressurreição atribuída aos poderes taumatúrgicos do
Santo Condestável.237
__________________________________________________________________________________ 320
230 Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. cit., p. 61. 231 Tratado da Vida e Martírio dos 5 Mártires de Marrocos, ed. cit., p. 71. 232 "Santa Isabel" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, VII, ed. cit., p. 57 233 Iria Gonçalves, Um olhar sobre a cidade medieval, ed. cit., p. 86. 234 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 554. 235 Frei Baltazar de S. João, A vida do bem-aventurado Gil de Santarém, ed. cit., p. 106. 236 "S. Frei Gil" in Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, ed. cit., p. 240. 237 Frei José de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 490-491
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
Por fim, vários outros acidentes infantis inserem-se em contextos sociais
relacionados com a participação das crianças em actividades ou trabalhos de adultos,
seja por obrigação, seja por aprendizagem ou simples desejo de imitação, saldando-
-se, em geral, por mais ou menos graves traumatismos. Dois deles encontram-se
referidos com algum pormenor, sem que contudo sejam fornecidos dados específicos
sobre a idade exacta das crianças ou sobre uma sua possível condição de
envolvimento num trabalho infantil de gestão familiar e/ou patronal. Ambos relativos
a milagres dispensados por graça de Nossa Senhora das Virtudes, surgem
referenciados como acidentes respeitantes a uma cabeça amassada e a um
esbarrigado. O primeiro teria ocorrido a um moço pequeno que andava na malhada,
quando um mancebo que com ele se encontrava,
tirando huu remo da eschama quebrou per meo E ha meetade do remo deu
ao moço na trincheyra tam grande golpe que lhe meteo o testo por dentro em
tal gujsa que jouue mujtos dias sem falla, de modo que todos ho julgauam
por morto.238
O segundo refere como um rapaz, a quem os pais haviam enviado
por huu asno, leuaua hua cana na maão E cayo E chentousse-lhe a
cana polla uerilha E sayo lhe pollo embigo. E quando lhe tiraram a cana
sayramlhe as tripas fora.239
Também enquadrável num acidente por traumatismo teria sido a circunstân-
cia que levara um moço com a perna partida em dois sítios a ser miraculado pelo
Santo Condestável, apesar de os cirurgioes haverem dito logo que não tinha cura e
que em breves dias morreria.240 Não existem, contudo, indicações sobre o modo
como teria ocorrido o sinistro, bem como as exactas condições em que teria sido
subterrado, devido à derrocada de um muro, o menino de muito pouca idade que o
mesmo santo salvara de uma morte certa, após muy largo tempo para tirar as pedras
que o cobriam. De facto, apenas nos é fornecida a informação de que andava a
brincar junto ao muro quando tal acontecera.241
________________________________________________________________________________________________ 321
238 Frei João da Póvoa, "Livro dos milagres de Nossa Senhora das Virtudes" in ob. cit., ed. cit., p. 26. 239 Id., ibidem, p. 26. 240 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 544. 241 Id., ibidem, p. 488.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
Neste caso, tal como já referimos a propósito de alguns afogamentos, a
sinistralidade infantil fora de casa teria sido originada pelos perigos decorrentes do
exercício de actividades lúdicas e desportivas pouco vigiadas pelos adultos e
comportando riscos dificilmente previsíveis pelas crianças cujos jogos, competições
e passatempos conheciam escassas regras e limites de risco. Aliás, não são só os
registos dos livros de milagres que nos dão a conhecer essa realidade neles bem
presente pelo facto de 35% das graças outorgadas a crianças acidentadas figurarem
como tendo ocorrido quando elas brincavam na rua sozinhas ou em grupo. Também
a própria documentação régia, como é o caso das cartas de perdão estudadas por
Luís Miguel Duarte nos oferece abundantes testemunhos. Assim, João, menino com
menos de dez anos, andava a brincar com o seu irmão, Diogo, de seis, com um
boneco descrito como
huum mancebo de paao em que se poynha a cadea e lhe arremessava cada
huum per sua vez huum espeto de ferro aa cabeça do dito mancebo a quem
lhe primeiro daria.
Ora quando foi a vez de João lançar o espeto, este ricocheteou na cabeça do boneco e
penetrou, pela ponta, na vista do irmão, provocando-lhe a morte. Por sua vez, um
outro João, criança de nove anos que era filho de um sapateiro, também andava um
dia folgando com outros, quando chegou um moço a
verter augoa, e se afastara dos outros e acabando de fazer seus fectos
mostrara o cuu aos outros moços, os quaees por ello lhe começarom de
deitar pedras.
João atirou-lhe também uma, causando-lhe uma pequena ferida que mais tarde
acabaria por o vitimar.242
Outro caso conhecido é o de Estevão, de sete ou oito anos de idade, filho de
um lavrador, o qual andava brincando e trebelhando com outros moços,
andando-se empuxando huuns aos outros e fazendo outras travesuras que
fazem meninos. E amdando asi todos folgando e tirando a porcos com pedras
__________________________________________________________________________________ 322
242 Luís Miguel Duarte, Justiça e criminalidade no Portugal medievo (1459-1481), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, pp. 274-275.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
aconteceu que Estevão atirou com hua pedra a huum porco e em atravessando um
seu primo da mesma idade per diamte lhe dera com a dicta pedra na testa e lhe
fezera com ella hua belizcadura pequena da qual acabou por morrer.
Também dois irmãos, Afonso e Fernando, órfãos de pai, que andavam
joguetando (...) sobre hua violla que Afonso estava tamjendo por lhe elle
lançar mão por ella o dicto Fernando lhe dera huum enpuxom e por seu
pecado o dicto seu irmãao fora cayr sobre elle e fora dar com os peitos na
pomta de huum punhall que elle trazia na mãao que era do dicto seu irmãao
que lhe emprestara pera fazer hua choça a huum perdigam que fora chamar.
Como consequência, Fernando morreu.
Um último caso refere Diogo que andava, como de costume, jogando a besta
em uns cortinhais e atirando à barreira; então
sobrelevara a dicta besta e fora dar o virotam em hua pedra chãa e
barafustara per cima de huas sebes e fora dar na cabeça a huum moço que
estava detras de huum adro de hua igreja com hum menyno no collo o quall
moço seria de hidade de sete ou oyto anos,
e que acabou por falecer.243
19 - RESPONSABILIZAÇÕES
O pedagogo Filipe de Novara assinalava, no século XIII, que os três
principais perigos que corria uma criança mal vigiada, eram o fogo, a água e as
quedas, recomendando a necessidade de uma vigilância por parte dos adultos até à
idade dos sete anos, ou mesmo até aos dez.244 Contudo, se mesmo entre os
pensadores medievais se condenava algum desleixo e negligência para com as
crianças, sobretudo as da segunda infância,245 eles seriam quase inevitáveis por pais
e sobretudo mães muito jovens, por vezes em plena adolescência, e com filhos
________________________________________________________________________________________________ 323
243 Id, ibidem, pp. 227 e 278. 244 Filipe de Novara, Les Quatre Âges de l'homme, ed. M. de Fréville, Paris, 1888, p. 103. 245 Danièle Alexandre-Bidon e Monique Closson opõem a sobreprotecção da criança pequena ao laxismo verificado em relação à criança um pouco maior, correspondendo a um risco conscientemente aceite: L’enfant à l’ombre des cathédrales, Paris, Cahiers du Léopard d’Or, 1985, pp. 229-232.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________
consecutivos. A pouca maturidade e experiência destas jovens podiam, concerteza,
originar situações como estas.
De facto, pesem embora as críticas que os pedagogos medievais lançavam
às mães que deixavam os filhos sozinhos em casa quando tinham de se ausentar, 246
tal não se verifica nos livros de milagres medievais portugueses, chegando-se mesmo
a desculpar as progenitoras que, para ir ouvir a pregaçam de um santo chagavam a
provocar acidentes infantis tão graves como colocar, por engano, a sua criança numa
caldeira de água a ferver, julgando tratar-se de um berço, 247 ou demorar-se tanto
que, ao chegar, encontravam o filho morto e jazendo papariba.248 Com efeito, em
ambos os casos, quando as mães lembraram ao santo as boas razões que tinham
estado na origem dos acidentes dos filhos, logo dele teriam alcançado um milagre de
salvação, tendo bastado a sua condição de progenitoras dorossas pela morte dos
seus meninos, para as suas lágrimas alcançarem a ressurreição das crianças.
Na verdade, o amor e o arrependimento eram factores de grande peso para os
crentes. No Penitencial de Martin Perez, a grande contriçon, grande ffe, grande
amor e corrigimento de vyda definiam cousas muito importantes para Deus, que as
reçebe de melhor mente por emenda que aa pena de fora. Para isso, funcionariam,
então, as penitençias em alvidro dos confessores que deviam ter ainda em
consideração
as compreisoões, as idades, as forças, as condiçõoes, as conversaçoões, as
companhias, as moradas, as terras, as qualidades dos pecadores.
Referindo-se a Deus o Penitencial refere que
se Ele é tão largo, nom deve o despenseiro seer escaso. Se Deus he benino e
manso, porque quer o seu sacerdote seer cruel e bravo? Mays val’ dar a
Deus conta da grande misericordia que da grande justiça.249
__________________________________________________________________________________ 324
246 Raimundo Lúlio, Doctrine d' enfant, ed. A. Llinares, Paris, 1969, p. 207. 247 Crónica dos Frades Menores, I, ed. cit., p. 247 e Cousas Notaveis e Milagres de Santo Antonio de Lisboa, ed. cit., p.17. 248 Crónica dos Frades Menores, I, ed. cit., p. 247 e Cousas Notaveis e Milagres de Santo Antonio de Lisboa, ed. cit., p.18.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ADOECER _________________________________________________________________________________________
De uma maneira geral, a grande maioria dos acidentes relatados reflectem
situações comuns a todas as épocas. Em relação à contemporaneidade, um ponto
comum se salienta: o peso dos acidentes domésticos, sobretudo entre os mais
pequenos. Ontem como hoje, as crianças muito activas ou curiosas que ficam por
alguns momentos sem atenção por parte dos adultos, continuam a ser vítimas de
muitos acidentes ocasionais.
É também sintomático que as mesmas percentagens de acidentes por sexo se
mantenham na actualidade. Estudos recentes salientam como, na globalidade, tanto
nos países desenvolvidos como nos em vias de desenvolvimento, a ratio de acidentes
masculinos e femininos (excluindo os acidentes com armas de fogo e os rodoviários)
é de cerca de dois para um. De resto, ainda no campo estatístico, é também um facto
comprovado que, entre o nascimento e os nove meses/um ano de idade, o período em
que a criança está completamente dependente dos outros, a taxa de acidentes para
ambos os sexos é semelhante. A partir de um ano, altura em que a criança começa a
desenvolver maior mobilidade, curiosidade e independência, os acidentes masculinos
ultrapassam largamente os femininos. Se para alguns investigadores a razão
predominante se prende com a tradicional tendência de os rapazes se exporem mais
frequentemente ao perigo do que as meninas, para outros a situação é vista não tanto
como o resultado de tradições culturais mas sim de ordem genética; assim, uma
maior actividade física e um mais alto nível de agressividade entre os rapazes será
biológico e propiciará uma infância de maiores riscos.250
________________________________________________________________________________________________ 325
249 O Penitencial de Martim Pérez em Medievo-Português, ed. Mário Martins, Lisboa, 1957, pp. 53- -55. 250 Ronald C. Finucane, The Rescue of the Innocents. Endangered Children in Medieval Miracles, ed. cit., pp. 141-142.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
MR7 ORRER E ESSUSCITAR
O passado nunca morre completamente para o homem. O homem pode esquecê-lo, Mas deste passado guardará sempre a recordação.
Fustel de Coulanges 1
A morte das crianças encontrava-se inscrita nos quotidianos
sociais da Idade Média. Com efeito, raras eram então as famílias,
mesmo as das elites, que desconheciam a perda de um ou mais filhos
antes da adolescência. Os próprios reis portugueses, à excepção de
Afonso II, passaram por essa experiência. Segundo Oliveira
Marques, o número de filhos sobreviventes de uma família
portuguesa dos séculos XII a XIV rondaria, em média, os dois,
sendo muito frequentes os lares em que só um filho ultrapassava a
maioridade.2 Conhecedores desta realidade, os pedagogos medievais
salientavam como as crianças corriam sempre um grande perigo de
morte até atingirem os dez anos.3
1 – AS VIDAS BREVES
Na iconografia medieval da morte, a brevidade da vida dos meninos e das
meninas encontra expressão na tendência para figurar a alma que abandona um corpo
defunto através de uma criança nua, exalada pelo último suspiro do moribundo em
direcção ao Além, conforme surge representada numa cena do túmulo de Egas Moniz
de Riba Douro (fig. nº 55), elaborada no mosteiro de Paço de Sousa nos finais do
século XIII,4 ou na iluminura do missal cisterciense de Alcobaça,5 (fig. nº 56)
1 Fustel de Coulanges, A cidade antiga, Porto, Clássica Editora, 1988, p. 8. 2 A. H. de Oliveira Marques, "A morte" in A Sociedade Medieval Portuguesa, Lisboa, Sá da Costa, 1974, p. 210. 3 Filipe de Novara, Les Quatre Âges de l'homme, ed. M. de Fréville, Paris, 1888, p. 103. 4 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal. O Românico, Lisboa, Ed. Presença, 2001, p. 166. 5 José Mattoso, "Mutações" in José Mattoso (coord.), A Monarquia Feudal, História de Portugal, 2, Lisboa, Estampa, 1993, p. 258.
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
Figura 55 - Túmulo de Egas Moniz, Mosteiro de Paço de Sousa (2ª metade do século XIII). No seu leito de morte, o nobre portucalense Egas Moniz de Riba Douro, liberta, num últimosuspiro, a sua alma, que, ao ser acolhida por dois anjos, figura a certeza de uma subida até aoParaíso.
Figura 56 – Iluminura de um missal cisterciense de Alcobaça (Século XIII) Deus recebe a alma de um moribundo sob a forma de uma criança que sai da boca do defunto.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
328
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
Esta forma de representação da alma estará relacionada, por um lado, com a
simbologia da criança como o renascer para uma outra e superior vida, a celestial, de
acordo com tradições neoplatónicas herdadas da Antiguidade.6 Por outro, porque, tal
como a criança acabada de nascer, ou pelo menos ainda não protegida pelo ritual
purificador do baptismo, se encontrava à mercê de um combate travado entre as
forças demoníacas e as angélicas, mantendo-se então indecisa a questão da sua
salvação eterna, também a alma dos mortos só atingiria a sua possível morada
celestial, depois de ver avaliado e sentenciado o sentido da sua existência terrena,
visto que a morte do corpo apenas sinalizava um compasso de espera no caminho do
espírito para o Além, fosse o desejado Paraíso, o condenatório Inferno ou o
transitório Purgatório.
Figura 57 - Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) Os diabos tentam apoderar-se da alma de um romeiro que acabou de falecer.
_____________________________________________________________________________________
3296 Jean-Pierre Nérandan, Être enfant à Rome, Paris, Payot, 1996, pp. 223-250.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
Contudo, se a angústia e a dor pelo destino da alma de uma criança morta e
não baptizada a tornava imagem e metáfora da Humanidade terrena que ansiava pela
prometida eternidade celestial, a sociedade medieval não deixava de tentar assegurar-
lhe garantias susceptíveis de permitir a salvação espiritual. Já nos referimos aos
sacramentos possibilitados pelo baptismo e à procura de protectores celestiais, como
os Santos, a Virgem ou o Menino Jesus.7 Existiam, no entanto, outras práticas
religiosas relacionadas com a iniciação social à aprendizagem infantil da morte e da
sua preparação.
De facto, à partida, as crianças eram levadas a participar nas cerimónias
relativas à agonia e à morte dos seus próximos, fossem irmãos, pais, parentes ou
vizinhos. Com efeito, existem múltiplos testemunhos escritos e iconográficos sobre a
efectiva presença de crianças nos cerimoniais que acompanhavam as vigílias da
agonia dos moribundos e os seus posteriores velórios e funerais, conforme se
encontra exemplificado através da figura seguinte.
Figura 58 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII)
A participação das crianças nas cerimónias da morte dos adultos encontra-sefrequentemente representada na iconografia hispânica medieval.
7 Cf. Capítulo 5 – PROTEGER.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
330
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
Uma tal participação, aliás, era mesmo um dever social imposto aos
pequenos órfãos ou estudantes, acreditando-se que a sua condição de jovens
baptizados e inocentes de graves pecados reflectiria a presença de forças espirituais,
não só capazes de afastar os diabos que lutavam pela posse das almas dos defuntos,
como também de atrair para os mortos a misericórdia divina. 8
Segundo Le Roy Ladurie, os camponeses medievais da aldeia pirenaica de
Montaillou consideravam ser a presença das crianças no passamento e nos funerais
dos seus familiares por eles depois recompensada, atribuindo-se aos mortos mais
idosos, os avós, o posterior exercício da actividade de guardiães nocturnos dos seus
mais jovens descendentes, nomeadamente as protecções destinadas a que os netos
fossem salvos de muitos perigos, doenças e acidentes a que sempre estavam sujeitos.
De resto, para os aldeões de Montaillou, a morte de um dos membros adultos da
comunidade seria acompanhada pela libertação de uma alma que daria, depois,
entrada na primeira criança a nascer na sua família. Acreditava-se, ainda, serem os
respectivos choros nocturnos da primeira infância uma manifestação da vontade de
os antepassados mortos despertarem a ternura e os carinhos a exercer pelos seus
descendentes vivos .9
Indo no sentido da defesa da generalização medieval das crenças descritas
por Le Roy Ladurie, Françoise Loux aponta outros exemplos de comunidades onde,
do mesmo modo que em Montaillou, vigorava a ideia de que os defuntos adultos
reencarnariam nas primeiras crianças nascidas dos seus descendentes, ao mesmo
tempo que também refere o uso terapêutico de embrulhar os meninos e meninas
doentes nos lençóis que haviam coberto algum dos seus antepassados mortos durante
o velório.10 Por seu lado, Christiane Klapisch-Zuber ressalta dever-se ao hábito
medieval florentino de atribuir a um recém-nascido o nome próprio de algum
antepassado recentemente falecido, a consideração de se estar perante uma sociedade
que, ao contrário de fazer luto pelos mortos, os procurava conservar entre os vivos,
_____________________________________________________________________________________
331
8 J. Delumeau, La Religion de ma mére, le rôle des femmes dans la transmission de la foi, Paris, Fayard, 1992, pp. 118-119 e 419-420. 9 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou Cátaros e Católicos numa aldeia occitana, 1294-1324, Lisboa, Edições 70, 2000, p. 269. 10 Françoise Loux, Le Jeune Enfant e son corps dans la médecine traditionnelle, Paris, 1978, p. 252.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
fazendo com que, ao pronunciar-se o nome de um dos seus jovens membros, sempre
se reactivasse a lembrança de algum defunto, discreta maneira de o fazer regressar.11
A assistência infantil e juvenil à morte e ao enterro dos adultos e de outros
jovens, era também recomendada como decisiva contribuição para a aprendizagem
de uma boa morte, nomeadamente por permitir o conhecimento dos gestos e das
orações que a deviam propiciar, visto que o estado da infância não os dispensava dos
últimos sacramentos. De facto, muitos pedagogos da Baixa Idade Média
consideravam essencial que a doutrinação cristã das crianças incluísse saber de cor
as orações próprias dos agonizantes, referindo os trecentistas Contos de Cantuária o
exemplo de um menino de oito anos que sabia muito bem cantar de cor a Alma
Redemptoris Mater, uma oração em que se pedia a intercessão de Nossa Senhora
para a salvação da alma à hora da morte.12
Mesmo aos jogos e aos passatempos era atribuída uma idêntica função. De
facto, entre os jovens da nobreza Ocidental dos séculos XII e XIII, jogar xadrez
permitia-lhes reflectir sobre os meios e as estratégias capazes de enganar ou deter o
maior dos seus adversários, ou seja, a Morte que jogava nas casas pretas, opondo-se
à vida que era simbolizada pelas brancas.13
11 Citado por Didier Lett, L'enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe – XIIIe siècle), Paris, Aubier, 1997, p. 217. 12 Daniéle Alexandre-Bidon, "Apprendre à vivre; l 'enseignement de la mort aux enfants", in Danièle Alexandre-Bidon e C. Treffort, (dir.), À reveiller les morts. La mort au quotidien dans l'Occident médiéval, Lyon, 1993, pp. 39-40. 13 Danièle Alexandre-Bidon, La mort au Moyen Âge (XIIIe. – XVIe. siècle), Paris Hachette, 1998, pp. 45-51. Sobre a recepção medieval do jogo indiano do xadrez e das transformações que então sofreu na Cristandade Ocidental, consulte-se Titus Burokhardt, La civilización hispano-árabe, Madrid, Alianza, 1977, pp. 131-158.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
332
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
2 – AS SEPULTURAS
Nas várias necrópoles medievais recentemente estudadas por arqueólogos e
antropólogos,14 verifica-se não só uma notória sub-representação dos menores de
dezoito anos entre os cadáveres exumados, já que oscilam entre os 12% e os 25% do
respectivo total, como de recém nascidos e de lactantes.15 Ora, atendendo a que a
mortalidade infantil e juvenil era muito elevada na Idade Média, parece difícil
considerar estes dados como representativos da respectiva morbilidade. Importa, no
entanto, realçar quer o facto de terem sido encontrados cadáveres de crianças muito
novas em várias necrópoles, sendo isso uma prova de que elas eram inumadas no
mesmo local reservado aos adultos, quer o de existirem importantes excepções à sua
fraca representatividade, nomeadamente no que respeita às necrópoles da Quinta de
S. Pedro (Corroios, Seixal), S. Saturnino (Sintra), S. Pedro de Marialva e Serpa.
De facto, nestas necrópoles a representatividade das sepulturas infantis
oscila entre os 38% relativos à segunda fase da intervenção arqueológica do
cemitério da Quinta de S. Pedro, ocorrida em 1996, tendo-se dois anos antes, durante
a primeira fase, obtido o valor de 48%,16 e os 74% encontrados em Serpa.17 Entre
estes valores situam-se, então, os 57% não adultos, incluindo oito (68%) que
morreram antes da primeira infância, facultados pela intervenção arqueológica
desenvolvida no cemitério medieval de S. Saturnino, uma necrópole utilizada entre
_____________________________________________________________________________________
333
14 Veja-se a relação apresentada em Eugénia Cunha, "Paleobiologia, História e Quotidiano: critérios da transdisciplinaridade possível", in Amélia Aguiar Andrade e José Custódio Vieira da Silva (coord.), Estudos Medievais, Lisboa, Horizonte, 2004, p. 121. 15 Na necrópole de S. João de Almedina a percentagem infantil é de 12% (catorze crianças para cento e um adultos) - três com idades entre os quinze e os dezanove anos; quatro terão morrido entre os dez e os catorze; um morreu entre os cinco e os nove anos; cinco, mais cedo, entre o primeiro e o quarto ano e um terá perecido antes de completar um ano: Eugénia Cunha, “Populações medievais portuguesas (séculos XI-XV). A Perspectiva Paleobiológica", Arqueologia Medieval, 5, Mértola, Ed. Afrontamento, 1997, p. 72. Em Barreiras de Fão foram localizados 24% de indivíduos não adultos, destacando-se a existência de algumas crianças muito novas, num total de sete com menos de doze anos.- Ibidem, p. 68. Também na necrópole islâmica de Rossio do Carmo, em Mértola, que funcionou até ao século XIII, se encontrou a pequena representação infantil de 25% (dezoito num total de setenta e um) : Candón Morales, "La colección antropológica del campo arqueológico de Mértola (s. II-XVI)" Arqueologia Medieval, 6, Mértola, Ed. Afrontamento, 1999, p. 287. 16 Eugénia Cunha e Célia Lopes, "Necrópole da Quinta de S. Pedro: análise antropológica de uma série do século XV", Al-madam, 7, Almada, IIª série, 1998, p. 43. 17 Maria Teresa Ferreira e Eugénia Cunha, Les enfants médiavaux de Serpa, Comunicação apresentada na 1827.e Réunion Scientifique de la Société d'Anthropologie de Paris, Paris, Museu Nacional de História Natural, 2002.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
os finais do século XII e os finais do século XV,18 e os 40% dos corpos exumados na
necrópole de S. Pedro de Marialva, uma percentagem que não tem em conta as cerca
de 31% de sepulturas vazias que, pela sua dimensão inferior a 100 cm, e por
inferência feita a partir de outras com idêntica medida onde se encontraram
vestígios osteológicos de não adultos, corresponderiam a crianças de pouca idade, os
quais, contudo, por impossibilidade de saber quantas crianças nelas teriam sido
enterradas conjuntamente, não chegaram a ser contabilizadas. 19
No seu conjunto, a maioria das crianças recenseadas nas várias necrópoles
atrás mencionadas corresponde à segunda infância.20 No entanto, também se
registam vestígios osteológicos de crianças muito novas, incluindo bebés que teriam
morrido durante o primeiro ano de vida,21 tal como, aliás, o fazia prever a forte
mortalidade infantil existente durante todo o período medieval.22
18 Sete séculos (séc. XII-XVII) da ermida de S. Saturnino estudados através dos seus enterramentos, Coimbra, Departamento de Antropologia, Laboratório de Paleodemografia e Paleopatologia, 1996, (Relatório antropológico da 2ª campanha de escavação), pp. 46-47. 19 Eugénia Cunha, C. Umbelino, e Teresa Tavares, "A necrópole de S. Pedro de Marialva – Dados antropológicos" in Património Estudos, Instituto Português do Património Arqueológico, 1, Lisboa, 2001, pp. 139-141. 20 A estimativa da idade à data da morte é calculada pela paleobiologia através da determinação dos estados maturacionais dos ossos e dentes recuperados, obtendo-se, assim, não uma verdadeira idade cronológica, mas antes uma idade biológica. Sabe-se, por exemplo, que a má nutrição pode atrasar a maturação em cerca de dois anos, porque, durante os períodos de deficiência nutricional, os ossos continuam a crescer numa razão inversamente proporcional à severidade e duração da deficiência nutricional. Assim, numa população bem nutrida, um determinado grau de maturidade esquelética pode indicar uma idade cronológica de cinco anos, enquanto que uma população mal nutrida poderá não atingir o mesmo grau antes dos sete anos de idade. A idade biológica atribuída a um esqueleto não é, assim, o mesmo que a sua idade cronológica, podendo indivíduos com a mesma idade cronológica apresentar diferentes graus de desenvolvimento. Sobre este tema e respectiva bibliografia, consulte-se Sónia Codinha, Uma necrópole medieval em Serpa: contribuição para o estudo de indivíduos não adultos, Coimbra, Departamento de Antropologia, 2001 (Relatório de Investigação), p. 23. 21 No âmbito dos estudos paleobiológicos, considera-se a primeira infância como o período que vai do nascimento até aos três anos, sendo caracterizado por uma dieta baseada no leite materno, por uma dentição decidual, por um sistema imunitário imaturo e pelo crescimento rápido do encéfalo. Este período é crucial para um bom crescimento, sendo também o mais crítico. A segunda infância é, por sua vez, definida como o período que começa com o fim da amamentação e que dura enquanto a criança continuar a depender dos adultos para a alimentação e protecção. Situando-se entre os três e os sete anos, é o período em que se inicia a mudança de dentição e se produz uma alteração da dieta, já que as crianças começam, então, a ingerir alimentos próprios dos adultos, apesar do seu sistema digestivo ainda não se apresentar suficientemente maduro. Sobre tudo isto consulte-se, Maria Teresa Ferreira, As crianças moçárabes de Serpa: análise paleobiológica de uma amostra de esqueletos exumados da necrópole do loteamento da zona poente de Serpa, Coimbra, Departamento de Antropologia, 2000 (Relatório de Investigação), p. 12. 22 Segundo Eugénia Cunha, a mortalidade durante o primeiro ano de vida rondaria os 30%: Eugénia Cunha & E. Crubézy, "Comparative biology of the medieval populations (IX-XV centuries) of the Iberian Peninsula and Southwest of France; problematics and perspectives", in Journal of Iberian Archaeology, 2, Porto, ADECAP, 2000, p. 146.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
334
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
A presença de fetos é uma constante em várias das necrópoles medievais
recentemente estudadas. No cemitério do Rossio do Carmo, em Mértola, exumou-se,
por exemplo, um feto já plenamente formado, cuja estrutura leva a pressupor uma
morte ainda ocorrida no ventre da mãe.23 Nas necrópoles da Quinta de S. Pedro e de
S. Pedro de Caneferrim, em Sintra, foram encontrados, por sua vez, fetos de oito,
nove e dez meses lunares, os chamados fetos de fim de tempo.24 Ora, de uma forma
geral, todos eles devem corresponder, dada a sua sepultura num espaço sacralizado, a
fetos que, retirados por cesariana dos corpos mortos de suas mães, teriam sido
rapidamente baptizados antes de falecerem.
De facto, segundo as normas eclesiásticas, tanto as crianças retiradas já
mortas do ventre materno, como as que não chegavam a ser separadas do corpo de
uma mãe falecida durante o parto, não tinham direito a uma sepultura individualizada
num cemitério, as primeiras porque não eram baptizadas, e as segundas porque,
como o "fruto" fazia parte das entranhas da mãe, esta se era baptizada, seria então
enterrada com o ser que dela não chegara a autonomizar-se.25 Sendo assim, os fetos
de Mértola, Corroios e Sintra teriam protagonizado e testemunhado um intenso
drama familiar.
Face à já de si angustiante e dolorosa experiência da morte de uma
parturiente, a sua família tivera que decidir arriscar a prática de uma cesariana para
tentar salvar a vida do feto que ela transportava, pesando o dilema, ou de não o fazer
para que a criança pudesse ir repousar num lugar santo, embora sem lhe dar qualquer
hipótese de sobreviver à mãe, ou o de o consentir, pese embora o risco de ela vir a
morrer à nascença, e que, sem ser baptizada, fosse banida do cemitério onde poderia
aguardar a ressurreição propiciada pelo Juízo Final.26 A menos que, e talvez tivesse
sido esse o caso dos fetos de Mértola, Corroios e Silves, houvesse sido baptizada, em
risco de vida, por algum leigo, ou que então os seus parentes mais próximos tivessem
falsamente testemunhado a existência de um baptismo capaz de vir a abrir a um
nado-morto o direito ao repouso no cemitério e à salvação da alma, já que então
podiam vir a assegurar a inumação da criança em terra consagrada. Contudo, neste
_____________________________________________________________________________________
335
23 Candón Morales, ob. cit., ed. cit., p. 288. 24 Eugénia Cunha, "Paleobiologia, História e Quotidiano: critérios de transdisciplinaridade possível" in ob. cit., ed. cit., p. 123. 25 Sobre estas normas eclesiásticas, vejam-se Didier Lett, L'enfant des miracles, ed. cit., p. 211 e Danièle Alexandre-Bidon, La mort au Moyen Âge (XIIIe. – XVIe. siècle), ed. cit., p. 261.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
último caso, os seus parentes próximos sabiam que se o corpo da criança repousava
em terra bendita, não era certo ter a sua alma voado até ao Paraíso.
Quanto à questão da sub-representação dos restos mortais infantis
encontrados nos cemitérios medievais recentemente investigados, os arqueólogos e
paleobiólogos avançam várias explicações. Por um lado, lembram como o actual
conhecimento científico dos cemitérios medievais é ainda escasso e lacunar, nem
sempre tendo existido a preocupação de distinguir e classificar os corpos exumados
por classes de idade, conforme o revela o facto de, em alguns casos, como o relativo
ao estudo da conimbricence necrópole de S. João de Almedina, não se encontrar
marcado qualquer osso infantil.27 Por outro, salientam a possibilidade de virem a
encontrar necrópoles especificamente destinadas à sepultura de crianças, tendo em
conta o facto de já se conhecerem cemitérios destinados a populações
seleccionadas,28 como parece ser a situação de S. João de Almedina, para o qual
Eugénia Cunha concluiu dever ter sido o local de enterramento de uma população
relativamente idosa e privilegiada,29 ou, de uma forma mais evidente, os casos das
necrópoles de Santa Clara-a-Velha, constituída exclusivamente por mulheres
religiosas e a do campo de Aljubarrota, onde apenas se exumaram ossos masculinos
de antigos combatentes.30
Não se deve, contudo, incluir nesta hipótese o cemitério medieval de Serpa,
já que, apesar de nele se terem identificado 74% de sepulturas infantis, não deixam
de se referenciar várias outras destinadas a adultos, sendo também de excluir, dado o
tipo de enterramento presente, sem reutilização dos sepulcros e com abundante
espólio funerário, pensar-se poder uma tão grande percentagem de crianças mortas
ter-se ficado a dever aos efeitos de alguma grave epidemia infantil. 26 Já nos referimos a esta situação no capítulo NASCER, pp. 80-83. 27 Eugénia Cunha, “Populações medievais portuguesas (séculos XI-XV). A Perspectiva Paleobiológica", ed. cit., p. 72. 28 No âmbito da paleodemografia, entende-se por população seleccionada a que inclui um forte desvio ao padrão regular, sendo, por exemplo, constituída, total ou maioritariamente, por indivíduos de apenas um dos sexos ou indiciando uma distribuição estatística anormal no que se refere aos grupos etários representados. Pelo contrário, uma população natural será a constituída por uma série de esqueletos de indivíduos de ambos os sexos e de vários grupos etários, perfazendo, no todo, um efectivo numérico que se possa considerar representativo da população em causa. - Cf. Eugénia Cunha, "Paleobiologia, História e Quotidiano: critérios de transdisciplinaridade possível" in ob. cit., ed. cit., pp. 118-119. 29 Eugénia Cunha, “Populações medievais portuguesas (séculos XI-XV). A Perspectiva Paleobiológica", ed. cit., pp. 72 e 78. 30 Eugénia Cunha, "Paleobiologia, História e Quotidiano: critérios de transdisciplinaridade possível" in ob. cit., , ed. cit., p. 118.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
336
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
Por fim, os estudiosos das necrópoles medievais portuguesas também
relacionam a sub-representação infantil com factores de ordem tafonómica31 e
cultural. Os primeiros derivam do facto de o esqueleto de uma criança, por ser mais
pequeno, menos denso e mineralizado do que o de um adulto, ser de difícil
preservação. De facto, a grande fragilidade dos ossos imaturos faz com que estes se
fragmentem e/ou se desintegrem facilmente, sendo de realçar como essa
fragmentação atingiu os 93% dos cadáveres infantis exumados na necrópole de
Serpa.32 Os segundos têm a ver com os interditos respeitantes à sepultura de crianças
baptizadas nos cemitérios. Com efeito, pensa-se poder dever-se ao seu respeito os
inúmeros vestígios arqueológicos da sepultura de crianças muito pequenas fora dos
cemitérios medievais, nomeadamente nos chãos e entradas das casas familiares.33
Aliás, a própria Igreja procurou solucionar teologicamente, desde os finais
do século XII, a angústia dos pais que não podiam baptizar os filhos antes de
morrerem, os quais não só se sentiam culpabilizados por não terem permitido a
salvação das respectivas almas, como por elas não conseguirem interceder num lugar
sacralizado para o culto da memória dos mortos. Assim, para atenuar o peso da
lembrança dos filhos banidos dos rituais relativos aos mortos e condenados a uma
perpétua errância, na qualidade de almas penadas que, para sempre excluídos do
Paraíso, assombravam os vivos nos momentos da passagem da manhã à tarde e do
dia à noite,34 criou-se o Limbus Puerorum, uma espécie de Purgatório onde as
_____________________________________________________________________________________
337
31 A tafonomia remete para o processo de transformação que o corpo sofre desde a altura da morte, nele intervindo factores endógenos como o tipo de osso, e factores exógenos, como o tipo de solo em que o osso está enterrado, contribuindo a sua acidez para o desaparecimento dos ossos, e as raízes das plantas não só para lhes provocar fracturas, como, através dos ácidos que segregam, para uma grande corrosão da superfície óssea. De resto, também a microfauna pode levar à formação de pequenos orifícios arredondados nos ossos que, à primeira vista, podem ser confundidos com patologias. Os fenómenos tafonómicos resultam, assim, quer das condições diversas da decomposição do corpo, quer da intervenção de agentes naturais na sepultura, como sejam a erosão, a concreção, as alterações físico-químicas, ou, entre outros, a actividade de microorganismos: Maria Teresa Ferreira, As crianças moçárabes de Serpa: análise paleobiológica de uma amostra de esqueletos exumados da necrópole do loteamento da zona poente de Serpa, ed. cit., p. 9; Eugénia Cunha, C. Umbelino e Teresa Tavares, "A necrópole de S. Pedro de Marialva – Dados antropológicos", ed. cit., p. 140. 32 Sónia Codinha, Uma necrópole medieval em Serpa: contribuição para o estudo de indivíduos não adultos, ed. cit., p. 11. 33 Shelley Saunders, "Subadult Skeletons and Growth Related Studies" in Saunders, S. and Katzenberg, M.A. (ed.), Skeletal Biology of Past Peoples: Research Methods, Wiley, Liss, 1992, p. 2. 34 Id. ibidem. De facto, já os Gregos concebiam que as pessoas mortas acidentalmente ou os nados- -mortos erravam sem fim. Eneias, ao descer aos infernos, encontrou uma multidão de mortos que
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
crianças podiam esperar a definição do seu destino no Além. Para esse efeito, seriam
ajudadas pelas orações e obras pias feitas em sua intenção pelos seus mais próximos
entes terrenos. 35
Ora, ao mesmo tempo que o Limbus Puerorum permitiu, conforme salienta
Jean-Claude Schmitt, pacificar as relações que os vivos mantinham com as crianças
que haviam morrido sem esperança de salvação, exorcizando os medos e os temores
relativos à sua vingança,36 também deu origem a que os pequenos não baptizados
começassem a ter um lugar em muitos cemitérios do Ocidente medieval, sendo-lhes,
por vezes, destinada uma área contígua à respectiva terra sagrada, ou seja, uma terra
religiosa onde podiam vir a ser lembrados e cultuados. Contudo, só com o concílio
de Trento foi essa solução devidamente consagrada.37
Até lá, durante a Baixa Idade Média, a Igreja preocupou-se sobretudo em
pregar a necessidade de um rápido baptismo para as crianças pequenas, facilitando
ou simplificando, como já antes referimos,38 a administração de um tal sacramento
no caso de se encontrarem gravemente doentes, acidentadas ou em perigo de vida.
Quanto muito, foram incentivados os chamados santuários de espera, onde,
nomeadamente a partir do século XIV, podiam ser conduzidas as crianças mortas
sem baptismo, para que, em contacto com as relíquias dos santos, fossem por eles
ressuscitadas durante o tempo necessário à recepção do sacramento de iniciação à
vida cristã que depois lhe abriria os cemitérios e a salvação das suas almas. 39
Ora, na Hispânia cristã medieval pareceu poder associar-se ao desempenho
dessa função o santuário aragonês de Salas e os templos portugueses dedicados aos
tentava convencer Caronte a deixá-los passar o rio na sua barca e assim conseguir escapar. Caronte recusava alguns porque deveriam errar durante cem anos antes de ser autorizados a passar o rio. Eneias, ao encontrar-se na outra margem, ouviu, então, o choro e os queixumes das crianças mortas ao nascer. - Eneida (1, VI, 426-429). 35 Didier Lett, “De l’errance au deuil. Les enfants morts sans baptême et la naissance du limbus puerorum aux XIIe et XIIIe siècles" in Robert Fossier (ed.), La petite enfance dans l'Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, pp. 77-92. 36 Jean-Claude Schmitt, Les revenants, les vivants et les morts dans la société médiévale, Paris, Bibliothèques des histoires, Gallimard, 1994. 37 Danièle Alexandre-Bidon, La mort au Moyen Âge (XIIIe. – XVIe. siècle), ed. cit., pp. 261-262. 38 Vidé "Os Sacramentos" no capítulo PROTEGER, pp. 195-200. 39 Étienne de La Vaissière, “Les sanctuaires à répit” in Nadeije Laneyrie-Dagen (dir.), Les grands événements de l’histoire des enfants, Paris, Larousse, 1995, pp. 114-115.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
338
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
cultos do Santo Condestável e de Nossa Senhora das Virtudes. O primeiro aparece,
de facto, conotado com a ressurreição de crianças de pouca idade em dois milagres
das cantigas que Afonso X compôs nos finais do século XIII, se bem que nelas não
se mencione a realização de um posterior baptismo seguido por uma segunda morte.
Contudo, ambos os cantares atribuem a duas sofredoras mães a quem haviam
morrido os filhos únicos, longas viagens até ao santuário de Salas, para que às
crianças já defuntas pudesse acontecer a graça de virem a ser ressuscitadas por Nossa
Senhora e assim voltarem a uma vida que os libertava dos efeitos de uma má e
impreparada morte.40
Figura 59 - Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) Os ressuscitados de Salas. No santuário aragonês de Nossa Senhora de Salas as crianças mortas ganhavam uma nova vida, capaz de lhes proporcionar uma futura boa morte.
_____________________________________________________________________________________
339
40 Alfonso X, o Sábio, Cantigas de Santa Maria, ed. Walter Mettman, Madrid, Castália, 1986-1988, cantigas nºs. 43 e 168.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
No caso dos templos portugueses, os livros de milagres compostos no
século XV em louvor dos poderes taumatúrgicos do Condestável e de Nossa Senhora
das Virtudes noticiam, por seu lado, como nas mesmas circunstâncias e com
idênticos efeitos, Nuno Álvares Pereira agraciou uma nova vida a três meninos
mortos, um à nascença, outro ainda de leite e um terceiro com a idade de cinco anos,
sem que actuasse para os livrar da doença, acidente ou outro qualquer referido mal,41
tendo o mesmo sido atribuído à Virgem dos arredores de Santarém, relativamente a
outros dois moços, um deles que queriam Já leuar a enterrar e outro que foy passado
desta ujda per hua hora toda.42
Entretanto, as crianças que puderam ter lugar nas necrópoles medievais
portuguesas recentemente intervencionadas, encontram-se dotadas de sepulturas
feitas com tanto cuidado como as dos adultos. As covas foram abertas de acordo com
o seu tamanho43 e apresentam-se, quase sempre, cuidadosamente cercadas por
aprimoradas “cofragens” de pedras. Nelas, os corpos também se encontram
regularmente posicionados em decúbito dorsal, com a cabeça inclinada na direcção
dos pés ou então virada para o alto, estando os braços estendidos ao longo do corpo
ou cruzados sobre ele, sendo a única excepção encontrada, a de uma criança
sepultada na necrópole da Quinta de S. Pedro, no Seixal, visto se encontrar deposta
sobre o seu lado direito.44 Verifica-se, ainda, a maioritária orientação O-E, das
sepulturas, de acordo com as normas relacionadas com a crença na Ressurreição,45
ou, menos significativamente, na direcção SO-NE.46 Contudo, nos cemitérios do
41 Frei José de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga, e Regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, Lisboa, 1745, respectivamente, pp. 489, 491 e 488- 489. 42 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 22. 43 Na necrópole de Fão o nível etário dos primitivos ocupantes de sepulturas encontradas vazias foi mesmo avaliado com base nas dimensões dos sepulcros, partindo-se do princípio arqueologicamente verificável em outros cemitérios medievais intervencionados, de que as covas com menos de 100 cm de altura correspondiam a enterramentos de crianças. A maior facilidade de degradação dos ossos infantis é uma das explicações para o facto de haver maior quantidade de sepulturas de crianças vazias do que de adultos: Eugénia Cunha, “Populações medievais portuguesas (séculos XI-XV). A Perspectiva Paleobiológica", ed. cit., p. 68. 44 Eugénia Cunha e Célia Lopes, "Necrópole da Quinta de S. Pedro: análise antropológica de uma série do século XV", ed. cit., p. 39. 45 Maria Teresa Ferreira, As crianças moçárabes de Serpa: análise paleobiológica de uma amostra de esqueletos exumados da necrópole do loteamento da zona poente de Serpa, ed. cit., p. 6 e Sónia Codinha, Uma necrópole medieval em Serpa: contribuição para o estudo de indivíduos não adultos, ed. cit., p. 5. 46 Jorge Raposo e Ana Luisa Duarte, "Intervenção arqueológica na Quinta de S. Pedro (Corroios)", Al-madan, 4, Almada, IIª série, 1995, p. 29; Eugénia Cunha e Célia Lopes, "Necrópole da Quinta de S. Pedro: análise antropológica de uma série do século XV", ed. cit., p. 39.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
340
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
Rossio do Carmo, em Mértola, e no de Serpa referenciam-se sepulturas infantis
orientadas na direcção S-N,47 seguindo, portanto, uma característica própria das
inumações muçulmanas, segundo as quais o corpo era normalmente colocado em
decúbito lateral, com as pernas ligeiramente flectidas e as mãos sobre a zona púbica.
Nesse sentido, o facto de os cadáveres de Mértola e de Serpa apenas apresentarem a
mão direita sobre a zona púbica e se posicionarem em decúbito dorsal, tem sido
interpretado como não se tratando de crianças muçulmanas, mas antes cristãs que
não teriam recebido o baptismo à data da morte, até porque se tratavam de crianças
ainda muito jovens.48 A ser assim, estaríamos perante uma infracção às normas
canónicas respeitantes ao interdito da sepultura de não baptizados numa necrópole
cristã.
Figura 60 - Sepulturas individuais de crianças na necrópole medieval de Serpa.
47 Candon Morales, ob. cit., ed. cit., p. 289.
_____________________________________________________________________________________
341
48 Sónia Codinha, Uma necrópole medieval em Serpa: contribuição para o estudo de indivíduos não adultos, ed. cit., pp. 5-6.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
Por fim, tanto o facto de ser muito rara a reutilização de sepulturas ocupadas
por crianças, como o de os seus sepulcros serem, em geral, individuais ou duplos, 49
testemunham, mais uma vez, a tendência para se reservar aos mais pequenos uma
atenção funerária semelhante à dispensada para a maior parte dos adultos que
repousavam nas necrópoles medievais lusas. Aliás, quer a circunstância de as
sepulturas individuais infantis se encontrarem frequentemente na proximidade de um
sepulcro feminino,50 quer a de que, quando as crianças partilham uma sepultura
dupla o fazerem em companhia de um adulto masculino ou feminino,51 parece
referenciar também a vontade de dotar os jovens mortos de particulares protecções e
afectos familiares, seja para os acompanhar durante o tempo de espera para o Juízo
Final, seja para lhes propiciar a futura felicidade de com eles poderem contar quando
reencarnassem para o gozo de uma eterna e celestial existência.52
Um idêntico cuidado posto pelos vivos relativamente a intervenções
destinadas a apoiar e suavizar o tempo que os seus jovens mortos deveriam passar
nas respectivas sepulturas até à prometida ressurreição dos seus corpos, ainda se
pode deduzir pelo facto de algumas sepulturas de crianças revelarem que os corpos
foram nelas enterrados com os seus adornos próprios, sejam as três pulseiras feitas
com vidro verde escuro, encontradas numa sepultura infantil da necrópole da Quinta
de S. Pedro, em Corroios, no Seixal, devidamente acompanhadas, na qualidade de
viático, por um pequeno fragmento metálico de moeda ou de medalha,53 sejam as
missangas e os pendentes de metal e de vidro oxidado que acompanhavam o espólio
funerário de outros jovens cadáveres exumados em Serpa.54 Entendíveis como
objectos destinados a acompanhar as crianças mortas cujos sepulcros eram
49 Eugénia Cunha, “Populações medievais portuguesas (séculos XI-XV). A Perspectiva Pa-leobiológica", ed. cit., p. 68; Maria Teresa Ferreira, As crianças moçárabes de Serpa: análise paleobiológica de uma amostra de esqueletos exumados da necrópole do loteamento da zona poente de Serpa, ed. cit., p. 6; Sónia Codinha, Uma necrópole medieval em Serpa: contribuição para o estudo de indivíduos não adultos, ed. cit., p. 27. 50 Candon Morales, ob. cit., ed. cit., p. 288. 51 Eugénia Cunha, C. Umbelino e T. Tavares, "A necrópole de S. Pedro de Marialva – Dados antropológicos" in ob. cit., ed. cit., p. 140. 52 Eugénia Cunha, "Populações medievais portuguesas (séculos XI-XV). A Perspectiva Paleo-biológica", ob. cit., ed. cit., p. 67. 53 Jorge Raposo e Ana Luisa Duarte, "Quinta de S. Pedro: breves notas sobre a segunda campanha de trabalhos arqueológicos", Al-madan, 7, Almada, IIª série, 1998, p. 32. 54 Maria Teresa Ferreira, As crianças moçárabes de Serpa: análise paleobiológica de uma amostra de esqueletos exumados da necrópole do loteamento da zona poente de Serpa, ed. cit., p. 7.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
342
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
considerados como um lugar provisório na vida do Além, 55 representam, em última
análise, uma forma de afeição familiar ou social prestado à memória dos pequenos
mortos. Conforme expressa Morales, seria muito difícil para os pais desligar um
filho morto em tão tenra idade dos objectos de que se tinha rodeado nos seus
primeiros anos de vida.56
3 - OS TÚMULOS
A partir da Baixa Idade Média as crianças passaram a ser consideradas
como tendo direito a uma sepultura privilegiada, reflectindo os seus túmulos a
vontade dos vivos em lhes perpetuar e cultuar a memória. Os custos de um tal
empreendimento fizeram, contudo, que estes túmulos se restringissem às crianças
dos grupos sociais privilegiados. De facto, de todos esses monumentos funerários
apenas chegaram até nós os que os reis mandaram construir para os seus filhos.57
Ausentes do primeiro panteão dos monarcas lusos, o existente nos séculos
XII e XIII no convento de Santa Cruz de Coimbra, os túmulos dos infantes
encontram um primeiro testemunho conservado no mosteiro de Santa Maria de
Alcobaça, em cujo galilé se fizeram sepultar os vários soberanos portugueses das
centúrias de Duzentos e Trezentos. Transferidos nos finais do século XVIII para o
actual panteão régio, os túmulos infantis alcobacences compreendem duas arcas
funerárias expostas em arcossólios abertos nas respectivas paredes laterais e três
outras assentes em colunelos, dispostos em diferentes pontos da sala funerária.58
As arcas das paredes laterais referem-se aos túmulos de dois filhos do rei
Afonso III, os infantes Fernando, falecido por volta de 1269, com cerca de um ano de
idade, e Vicente morto, ainda muito jovem, entre 1268 e 1271. Extremamente
austeras, sem qualquer decoração para além de uma tardia inscrição epigráfica,
_____________________________________________________________________________________
343
55 Veja-se Isabel Castro Pina, "Ritos e imaginário da morte em testamentos dos séculos XIV e XV" in José Mattoso (dir.), O reino dos mortos na Idade Média Peninsular, Lisboa, Ed. João Sá da Costa, 1996, pp. 125-140. 56 Citado por Boiça, J. & Lopes, V., A necrópole e a ermida da achada de S. Sebastião, Mértola, Museu de Mértola, 1999. 57 Sobre as necrópoles régias medievais portuguesas, veja-se Saul António Gomes, "Os panteões régios monásticos portugueses nos séculos XII e XIII" in IIº Congresso Histórico de Guimarães. Actas, vol. 4, Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães / Universidade do Minho, 1996, pp. 280-295. 58 José Custódio Vieira da Silva, O panteão régio do mosteiro de Alcobaça, Lisboa, Instituto Português do Património Arquitectónico, 2003.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
reproduzindo, pelo menos no caso do infante Vicente, um original medieval, as duas
arcas apenas diferem daquela em que repousa uma das irmãs dos referidos príncipes,
a infanta Sancha, falecida em 1264, aos 37 anos de idade, pelas suas menores
dimensões.59
Quanto às arcas assentes cobre colonelos, a ausência de inscrições
epigráficas não permite identificar os infantes cujos corpos primitivamente
guardaram, sendo em geral referenciadas, pelo seu reduzido tamanho, como as "arcas
dos príncipes". Do ponto de vista escultórico e iconográfico revelam-se muito mais
elaboradas e complexas do que as anteriores. Duas delas, as mais antigas, combinam
uma exuberante decoração vegetalista com a figuração dos escudos das armas régias
portuguesas, encontrando-se reproduzida numa das faces menores da mais recente,
dois altos relevos sobrepostos, tendo no plano inferior a imagem de um paço
estilizado e no superior as muralhas de um grande castelo, de acordo com uma
simbologia interpretada como a vontade de inscrever na pedra o sentido da
existência do infante tumulado, ou seja, a passagem de uma palaciana vida terrena à
eternidade da Jerusalém celeste.60
Figura 61 - Arca tumular, Mosteirode Alcobaça (Século XIII). Na arca tumular de um dos infantessepultados em Alcobaça figura o temada morte como passagem da vidaterrena palaciana para uma eterna eprotegida morada na cidade celestepara onde são conduzidas as almas dosjustos.
59 Mário Jorge Barroca, Epigrafia medieval portuguesa, Lisboa, Fundação Gulbenkian, 1999, respectivamente, pp. 965-966, 951-953 e 1273-1274. 60 José Custódio Vieira, ob. cit., ed. cit., pp. 45-50.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
344
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
Por fim, numa terceira arca, certamente a mais recente, as respectivas faces
laterais apresentam a figuração de um Apostelado, enquanto numa das menores se
encontra reproduzida uma Anunciação, intensificando-se, portanto, a vontade de
dotar os túmulos dos infantes de uma explícita iconografia relativa à propiciação de
uma vida paradisíaca no Além.61 Em suma, no seu conjunto, os túmulos
alcobacenses dos infantes exaltam a memória dinástica das crianças mortas e o
desejo de lhes assegurar um culto capaz de as fazer encontrar a salvação eterna das
almas.
Figura 62 - Arca tumular, Mosteiro de Alcobaça (Século XIII) Figuração de um Apostolado(face lateral) e de umaAnunciação (dianteira) numa das"arcas de infantes" do panteãorégio de Alcobaça.
_____________________________________________________________________________________
34561 Id., ibidem, pp. 50-55.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
No século XIV, com a desactivação momentânea do panteão régio de
Alcobaça, os túmulos de infantes apenas voltaram a associar-se a necrópoles régias
no convento conimbricense de Santa Clara-a-Velha, onde se fez sepultar a rainha
Isabel de Aragão e na Sé de Lisboa, em cuja capela-mor mandou Afonso IV construir
o seu túmulo e o da mulher, a rainha Beatriz. No primeiro dos santuários, figura o
túmulo da infanta Isabel, uma neta homónima da rainha santa, falecida em 1326, aos
dois anos de idade,62 para quem a avó encomendou, cerca de 1330, uma condigna
sepultura ao escultor aragonês, Mestre Pêro.63
Reproduzindo, a uma muito menor escala, o túmulo mais tarde executado
também por Mestre Pêro para a própria rainha Isabel, o monumento funerário da
infanta apresenta um jacente particularmente cuidado, onde se figura, idealmente,
uma jovem de longo manto que ergue os braços em tranquila e devota oração, com a
cabeça coroada repousando sobre uma dupla almofada, enquadrada por um
baldaquino e por quatro anjos. Aos pés, três leões simbolizam a esperança na
ressurreição.64 Bordejado por escudos heráldicos com as armas de Portugal, Aragão,
Leão e Castela, o jacente, em cuja arca se representam, lateralmente, freiras clarissas,
e, no facial, uma Virgem com o Menino, testemunha o desejo de conservar a
memória salvífica e dinástica de uma pequena criança a quem a morte teria
encontrado orante e bem preparada para o caminho da eternidade.65
62 Cf. A.H. de Oliveira Marques, Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, Nova História de Portugal, IV, Lisboa, Presença, 1987, genealogia da dinastia de Borgonha, inserida entre as pp. 240-241. 63 Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Mário Jorge Barroca, História da Arte em Portugal. O Gótico, Lisboa, Ed. Presença, 2002, pp. 225-226. 64 Sobre o simbolismo do leão, consulte-se Pedro Chambel, A simbologia dos animais n'A Demanda do Santo Graal, Cascais, Patrimónia, 2000, pp. 26-42. 65 Relativamente às características formais do túmulo, consulte-se Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Mário Jorge Barroca, ob. cit., ed. cit., p. 226.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
346
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
Figura 63 – Monumento funerário da Infanta Isabel, convento de SantaClara-a-Velha (Século XIV). Quatro anjos amparam e incensam a cabeça coroada de uma princesa mortaainda muito menina. Lateralmente, podem observar-se os escudos heráldicosdas dinastias régias que lhe reivindicam e cultuam a memória.
Por último, os túmulos medievais de crianças ainda compreendem o
monumento funerário que, na Sé de Lisboa, foi dedicado, em meados do século XIV,
a uma infanta cuja identidade tem permanecido problemática, embora, na sequência
de investigações desenvolvidas por Luís Gonzaga de Lencastre e Távora,66 tenda a
ser hoje aceite tratar-se de Constança Afonso, uma filha de um tio do rei Afonso IV,
o monarca que decidira sepultar-se com a mulher, a rainha Beatriz na catedral
lisboeta, para aí fundar uma nova necrópole régia.67 De facto, parecem hoje afastadas
as hipóteses de se tratar, quer do túmulo da infanta Branca, uma filha do rei João I,
66 Luís Gonzaga de Lencastre e Távora, A heráldica medieval na Sé de Lisboa, Lisboa, Ramos Afonso e Moita, 1984. 67 Vejam-se: Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Mário Jorge Barroca, ob. cit., ed. cit., p. 232; Carla Varela Fernandes, Memórias de Pedra Escultura Tumular Medieval da Sé de Lisboa, Lisboa, Instituto Português do Património Arquitectónico, 2001, pp. 61-72.
_____________________________________________________________________________________
347
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
quer do da princesa Beatriz, uma também neta de Afonso IV, tida pelo rei Pedro de
Aragão da sua rainha portuguesa Leonor Afonso.
A primeira, referida no século XV pelo cronista Rui de Pina, 68 porque o
facto de a filha do rei João I ter morrido com cerca de um ano de idade69 dificilmente
pode corresponder à idade estimada para a criança sepultada no túmulo em questão,
ou seja, uns aproximados oito anos, conforme determina o estudo feito ao espólio
encontrado no túmulo quando foi aberto nos começos do século XX. 70
A segunda, porque, se é verdade que o testamento da mulher de Afonso IV,
a rainha Beatriz, contém uma cláusula em que se determina dever enterrar-se no
moimento funerário que ela mandara construir na Sé de Lisboa, a ossada da infanta
D. Beatriz, uma neta criada pela avó na corte lusa, após a morte prematura da mãe,
carece de sentido, visto implicar o desrespeito pelas ordens da soberana sem que seja
perceptível a quem se teria devido a decisão de dotar a criança de um túmulo
autónomo.71
Aliás, se a destruição dos túmulos dos reis Afonso IV e Beatriz, durante o
terramoto de 1755, torna hoje impossível confirmar a presença do corpo da neta no
túmulo da soberana, não deixa de ser significativo o facto de ela ter pelo menos sido
prevista e ordenada. À semelhança do que se passava, como vimos, em vários
cemitérios medievais portugueses, onde a sepultura de crianças era colocada junto ou
em companhia das de adultos que assim lhe garantiriam o afecto e a protecção na
vida do Além, também o mesmo se passava no que diz respeito aos túmulos
mandados erigir pelos grupos privilegiados.
Em relação ao monumento funerário de Leonor Afonso, cujas reduzidas
dimensões logo permitiram identificar como pertencente a uma criança, mantêm-se
algumas das características já presentes no anterior túmulo gótico da neta da rainha
Isabel de Aragão, se bem que surja mais acentuada a vontade de lhe associar uma
memória dinástica e socialmente privilegiada. Primeiro, porque as paredes da arca
funerária prescindem da representação de uma iconografia especificamente religiosa,
68 "Chronica D' El-Rei D. Affonso IV" in Rui de Pina, Crónicas, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, pp. 462-463. 69 Cf. A. H. de Oliveira Marques, ob. cit., ed. cit., genealogia da dinastia de Avis inserida entre as pp. 528-529. 70 Carla Varela Fernandes, ob. cit., ed. cit., p. 65. 71 Id., ibidem, p. 63.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
348
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
preferindo-se apenas exibir mais nítidos e trabalhados símbolos heráldicos. Em
segundo lugar, porque o respectivo jacente, embora continue a acentuar o carácter
devoto da jovem sepultada, figurando-a a ler e a meditar um livro onde se reproduz
uma passagem do Miserere, não prescinde da figuração de adornos profanos e de
marcas de um elevado estatuto social, como o são o cinto com pequenas flores em
relevo que cinge o precioso vestido exibido pela imagem da morta, ou os dois anéis
que lhe ornamentam os dedos das mãos que seguram o códice.
Figura 64 - Monumento funerário da infanta Leonor Afonso, na Sé de Lisboa (Século XIV). A arca e o jacente sublinham a memória dinástica e socialmente privilegiadade uma princesa morta ainda menina.
_____________________________________________________________________________________
349
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
Para além disso, não surgem representados quaisquer anjos propiciatórios
ou anunciadores da salvação eterna da alma da defunta, sendo essa ideia sugerida
pela representação, junto aos pés da imagem do jacente, de dois pequenos cães que
prendem com as patas a cabeça de um galináceo. Aludindo às virtudes da fidelidade
e da vigilância, os canídeos sugerem a convicção de que a vida depois da morte seria
sempre acompanhada por guias que reproduziriam no Além os hábitos e os valores
próprios da vida terrena dos mortos, enquanto o galo, celebrado por sempre saudar,
pelo canto, o começo de um novo dia, simbolizaria a quase certeza de que a alma do
defunto atingiria a meta de uma certa e feliz eternidade. De olhos abertos, a imagem
da criança defunta evoca assim uma tranquila e serena espera da ressurreição que lhe
assegurará e prolongará o lugar privilegiado que ocupara na transitória sociedade
terrena. Em termos de memória, Leonor é então evocada e apresentada sob o signo
da certeza de uma nova e perene vida.72
A semelhança destes dois túmulos de infantas com outros de mulheres
adultas remete-nos para a ideia de que, também na morte, a criança era tratada com o
cuidado e a preocupação de um adulto, merecendo também ela um lugar próprio
junto das memórias familiares.
4 - UMA SEGUNDA VIDA
Na literatura hagiográfica do Ocidente medieval não são muito frequentes
os santos celebrados pelos poderes de anulação das mortes físicas e consequente
outorga de uma segunda vida terrena, tendo como principal arquétipo bíblico a
própria ressurreição de Cristo. Com efeito, é apenas a partir da Baixa Idade Média
que tais milagres começam a adquirir alguma representatividade, nomeadamente
quando desencadeados a favor de crianças dramaticamente falecidas.73
Os escritos hagiográficos medievais portugueses confirmam estas
tendências. Por um lado, os vinte e cinco milagres de ressurreição de crianças que se
encontram registados nas fontes consultadas74 só surgem associados a santos
72 Sobre a iconografia e simbolismo do túmulo em questão, veja-se Carla Varela Fernandes, ob. cit., ed. cit., pp. 67-72. 73 Pierre-André Sigal, L'homme et le Miracle dans la France médiévale (XIe.-XIIe. siècle), Paris, Les Éditions du CERF, 1985, pp. 253-255. 74 Nestes vinte e cinco milagres incluem-se oito já referenciados a propósito da cura de doenças infantis e outros oito mencionados no contexto de acidentes ocorridos a crianças.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
350
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
cultuados a partir do século XIII, como são os casos de Santo António, S. Frei Gil e
Nossa Senhora de Terena, correspondendo a sua maioria a devoções apenas
difundidas durante o século XV, ou seja, os do Santo Condestável e de Nossa
Senhora das Virtudes.75 Por outro lado, os poucos santos credenciados com poderes
de dar vida aos mortos apenas tendem a manifestá-los relativamente a crianças, as
quais, de resto, representam o único grupo etário agraciado pelo santo mais prolixo
em tais milagres, o condestável Nuno Álvares Pereira. 76
Conforme se pode observar no Gráfico Nº 26 – Idades à Morte dos
Miraculados por Ressurreição, quando mencionada, a idade dos jovens miraculados
remete, à excepção do caso de dois moços de cinco anos,77 um de sete78 e outro de
onze ou doze anos,79 para crianças muito jovens, compreendendo desde um nado
morto,80 três recém-nascidos81 ou bebés de berço,82 entre os quais se incluiriam duas
meninas falecidas porque não mamavam, 83 uma outra que encontrara a morte ao ano
e tal,84 até aos dois pequenos de muito pouca idade a quem Nuno Álvares Pereira,
mais uma vez, teria agraciado com uma segunda vida. 85 Ora, no seu conjunto, todas
estas crianças tendem assim a identificar a fragilidade de seres situados numa
imprecisa fronteira entre a vida e a morte, a Terra e o Além, sendo o seu falecimento
sentido como particularmente doloroso, tanto a nível familiar como social.
_____________________________________________________________________________________
351
75 São atribuídos ao Santo Condestável e a Nossa Senhora das Virtudes, respectivamente, 12 e 4 milagres de ressurreição de crianças, os quais correspondem, no seu conjunto, a 64% do respectivo total. 76Consulte-se Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga, e Regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, Lisboa, 1745. 77 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 488-489; Cousas Notáveis e Milagres de Santo António de Lisboa, ed. José Joaquim Nunes, Porto, 1912, pp. 34-35, com passagem paralela em Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), I, ed. José Joaquim Nunes, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918, p. 271. 78 Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), I, ed. cit., pp. 272-273. 79 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 490-491. 80 Id., ibidem, p. 489. 81 Id., ibidem, pp.489 e 491. 82 Cousas Notáveis e Milagres de Santo António de Lisboa, ed. cit., p. 18, com passagem paralela em Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), I, ed. cit., p. 247. 83 Frei João da Póvoa, " Livro dos milagres de Nossa Senhora das Virtudes", ob. cit., ed. cit., pp. 24- -25 e Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 489. 84 Alfonso X, o Sábio, Cantigas de Santa Maria, ed. cit., p. 224. 85 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 488.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
N.M
orto R/N
asc
R/N
asc
Pouc
a Id
ade
1 an
o 5 an
os
7 an
os
11 a
nos
N. I
nd.
N. I
nd.
0123456789
NÚ
MER
O D
E C
ASO
S
GRÁFICO Nº 26 - IDADES À MORTE DOS MIRACULADOS POR RESSURREIÇÃO
Masculino FemininoIDAD
Perante o sofrimento e o desalento manifestados pelos vivos face à morte de
crianças para quem não tinham conseguido mobilizar as ajudas capazes de anular as
doenças que as haviam feito morrer, os milagres de ressurreição apresentavam-se
como uma derradeira esperança. Sobretudo quando a morte das suas crianças
ocorrera de forma repentina ou inesperada, fosse por acidente, fosse por causa
indeterminada, angustiando-os pela culpabilização de nada terem feito para lhes
proporcionar a salvação das almas.
Aci
dent
e
Doe
nça
Doe
nça
Cau
sa In
dete
rmin
ada
Cau
sa In
dete
rmin
ada
012345678
NÚ
MER
O D
E C
ASO
S
GRÁFICO Nº 27 - CAUSAS DA MORTE DOS MIRACULADOS POR RESSURREIÇÃO
Masculino FemininoCAUSA
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
352
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
Nestes tempos, a dificuldade em distinguir cabalmente uma morte de uma
síncope ou de um coma, tornava por vezes possível identificar uma reanimação com
uma ressurreição feita pela especial intercessão de algum santo.86 Por um lado,
porque a aflição dos familiares levava a que a rapidez ocasionalmente posta na
preparação dos funerais das suas crianças nem sempre permitia confirmar uma morte
com segurança, servindo de exemplo o caso da notícia de um menino morto há três
horas a quem o pai logo procurara enterrar. 87 Por outro, porque certos acidentes
indutores de síncopes ou de comas, como sucede com uma grande parte dos
traumatismos obstétricos e dos afogamentos, estando muitas vezes associados a
paralisias, a paragens respiratórias, a quebras de pulsação, a rigidez ou a uma pele
fria e pálida, eram frequentemente interpretados como meros sintomas de morte, não
sendo raros os casos de enterramentos de crianças ou de adultos simplesmente
desmaiados ou desfalecidos. 88
Assim, poderiam ter sido atribuídos aos poderes dos santos cuja invocação
possibilitara adiar um apressado funeral, várias reanimações a médio ou a longo
prazo. Talvez, na verdade, tenham sido esses os casos de um moço de Lisboa
falecido com uma grande dor, cuja mãe já tinha tudo preparado para o enterrar
quando se lembrou dos milagres,89 o de uma recém nascida que esteve quatro dias
sem mamar e morreu, quando o pai, que já tinha a oferta preparada e tudo prestes
para a levar a enterrar, invocou o auxílio do Santo Condestável, 90 o de uma moça
que steve tres dias que pareçia finada que nom respiraua nenhua cousa e tinha a
coua feita pera a enterrarem, antes de ser salva por Nossa Senhora das Virtudes, 91
ou de um outro rapaz a quem a mesma Virgem ressuscitou ao estar ja encomendado
e a ser levado a enterrar, e que depois tornou a abrjr os olhos, a falar e a levantar-
-se.92
_____________________________________________________________________________________
353
86 Eleanora C.Gordon, "Child Health in the Middle Ages as seen in the Miracles of Five English Saints. A.D. 1150-1220", in Bulletin of the History of Medicine, 60, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986, p. 510. 87 Cousas Notaveis e Milagres de Santo António de Lisboa, ed. cit., p. 35. 88 Consulte-se Isabel M.R.M. Drumond Braga, Milagres de Nossa Senhora de Monserrat num Códice da Biblioteca Nacional de Lisboa, Braga, 1995 p. 675. 89 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 487. 90 Id., ibidem, p. 489. 91 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 29. 92 Id., ibidem, p. 22.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
Segundo Didier Lett, os hagiógrafos medievais franceses estavam bem
conscientes da possibilidade de alguns dos seus milagres de ressurreição poderem vir
a ser desacreditados como sendo meras reanimações, havendo sempre o cuidado de
referir a ocorrência de um alargado prazo de tempo entre a morte do miraculado e o
seu despertar para uma nova vida terrena.93 No que respeita aos escritos
hagiográficos portugueses, essa cautela parece não ter sido considerada essencial,
utilizando-se o vocábulo “logo” em 77 % dos casos para que se menciona o tempo
decorrido entre a morte de uma criança e a sua posterior ressurreição miraculosa.
Contudo, mesmo assim, não deixam de ser utilizadas, para o mesmo efeito, as
expressões muy largo tempo,94 duas largas horas,95 alguus96 ou mesmo os
simbólicos três dias97 que evangelicamente separavam a morte e a ressurreição de
Cristo.
Mais próxima do exemplo francês revela-se a circunstância de os pedidos
para a graça de uma ressurreição serem, em geral, proferidos longe dos santuários
onde se cultuavam os santos credenciados pelo exercício de um tal milagre,98
conforme se encontra representado no Gráfico Nº 28 - Formas de Desencadeamento
dos Milagres de Ressurreição. Com efeito, as ressurreições portuguesas também se
tendem a concretizar na periferia da sacralidade dos templos onde se encontravam as
relíquias dos santos, as quais, no entanto, deles poderiam ser transportadas, directa
ou indirectamente, até ao local onde jazia a criança a miracular.99
Ora, segundo André Vauchez, teriam sido os milagres de ressurreição de
crianças os primeiros a promover os cultos à distância, depois largamente
generalizados nos finais da Idade Média no que respeita à cura das doenças infantis
ou à anulação entre os jovens dos efeitos gerados por graves acidentes.100
93 Didier Lett, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe – XIIIe siècle), ed. cit., p. 195. 94 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 488. 95 Id., ibidem., pp. 488-489. 96 Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 29. 97 Cousas Notaveis e Milagres de Santo António de Lisboa, ed. cit., pp. 30-31; Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), I, ed. cit., p. 265. 98 Pierre Sigal, ob. cit., p. 61. 99 São esses os casos da terra santa obtida no convento lisboeta de Nossa Senhora do Carmo e o das relíquias de S. Frei Gil trazidas de S. Domingos de Santarém: Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 487-488; "S. Frei Gil" in Frei Luís de Sousa, ob. cit., ed. cit., pp. 232-233. 100 André Vauchez, La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age, Roma, Escola Francesa de Roma, 1988, p. 522.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
354
MORRER E RESSUSCITAR _________________________________________________________________________________________
Corroborando essa opinião Didier Lett, defende, aliás, ter sido essa a via
seguida para acrescente “deslocação” da devoção local e regional dos santos
taumatúrgicos.101
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Nº D
E C
ASO
S
Encomendação Ida ao Santuário Transporte derelíquias
GRÁFICO Nº 28 - FORMAS DE DESENCADEAMENTO DOS MILAGRES DE RESSURREIÇÃO
PaiMãePaisOutros
De facto, como referem os livros de milagres medievais portugueses, a
morte das crianças era especialmente sentida pelas famílias, sendo frequente o
registo da angústia de mães e pais apresentados em grandes choros e prantos,102
sobretudo no caso de os filhos defuntos serem muito jovens, dilectos ou únicos.103
Sem dúvida não se vivia a morte - e não só a das crianças - como se vive hoje. A
101 Didier Lett, L'enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe – XIIIe siècle), ed. cit., pp. 76-77. 102 Entre outros exemplos, citem-se as muitas lágrimas do pai e dos vizinhos de um rapaz afogado que foi depois ressuscitado pelo Santo Condestável (Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 490), os brados lançados por uma mãe que pos os giolhos em terra nuos para que Nossa Senhora das Virtudes desse uma nova vida ao filho (Frei João da Póvoa, ob. cit., ed. cit., p. 22) e o pranto dos pais, e parentes, e sobre todos huma avó relativamente `a morte de um moço a quem S. Frei Gil depois miraculou, noticiando-se como toda essa família antes acompanhara o defunto toda a noite carpindo ("S. Frei Gil" in Frei Luís de Sousa, ob. cit., ed. cit., p. 232). Sobre os usos funerários do pranto e das lágrimas, vejam-se: José Mattoso, "O pranto fúnebre na poesia trovadora galego-portuguesa" in José Mattoso (dir.), O reino dos mortos na Idade Média Peninsular, ed. cit., pp. 201-216; Piroska Nagy, Le don des larmes au Moyen Age, Paris, A. Michel, 2000, pp. 387-412.
_____________________________________________________________________________________
355
103 Como teriam sido, entre outros, os casos de uma criança miraculada por Nossa Senhora de Terena a quem o pai amava muito (Alfonso X, o Sábio, Cantigas de Santa Maria, ed. cit., p. 197), o neto miraculado por S. Frei Gil a quem a avó tinha por lume dos seus olhos ("S. Frei Gil" in Frei Luís de Sousa, ob. cit., ed. cit., p. 232), ou o moço salvo pelo mesmo santo de uma morte por afogamento, explicando-se como tinha sido criado por uma tia com amor de filho próprio e como adoptivo, por carecer dos naturais (Id., ibidem, pp. 232-232).
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA _________________________________________________________________________________________
morte, inevitável, fazia parte das estruturas da vida e a sua presença, quase
quotidiana, deveria implicar uma maior aceitação do que hoje desta situação. Talvez
até custasse menos enterrar uma criança mais pequena do que um dos seus irmãos
mais velhos. Possivelmente chorar-se-ia de forma diferente as crianças conforme a
sua idade. Por certo chorar-se-ia mais, e por mais tempo, o filho preferido, fosse ele
o mais velho ou o mais novo. No entanto, ao contrário das teses defendidas por
Philippe Ariès, as famílias medievais parecem longe de ter resignadamente aceite a
existência de um Deus todo poderoso que dava e retirava os filhos conforme a Sua
vontade.104 Não se teriam também limitado a enterrar os seus cadáveres em qualquer
lugar,105 já que, como vimos, quando morriam, mesmo se fetos, procuravam
propiciar-lhes a sepultura nos espaços ritualmente destinados ao culto dos mortos,
escolhendo, muitas vezes, os mais disputados, fossem as fundações de uma igreja, os
seus coros, capelas ou átrios, fossem os espaços adjacentes aos muros, para que, sob
as goteiras, ficassem simbolicamente protegidos pela água lustral do baptismo, 106 ou
até num túmulo individualizado em função de uma memória a preservar e a cultuar.
Sendo assim, não surpreende como o júbilo familiar e social pela
manifestação da graça de uma ressurreição infantil, constituía um dos mais eficazes
meios para angariar devotos, dádivas e peregrinos a um santuário de milagres.
Citando Didier Lett, eram as crianças presentes nas romarias dos finais da Idade
Média que acabavam por fornecer aos santuários de peregrinação o mais importante
certificado de eficácia e sacralidade dos cultos neles assegurados.107
104 Tal como, aliás, se encontrava expresso no Antigo Testamento, quando se atribuía a Job, após ter tido conhecimento da morte dos filhos, a seguinte reflexão: “Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá; o Senhor o deu, e o Senhor o tomou; bendito seja o nome do Senhor". Job: I. 21 in Antigo Testamento, Biblia Sagrada, em Português, ed. e trad. de João Ferreira de Almeida, Lisboa, Soc. Bíblicas Unidas, 1968. 105 Philippe Ariès, A criança e a vida familiar no Antigo Regime, Lisboa, Relógio d' Água, 1988, p. 66. 106 Pierre Riché e Danièle Alexandre-Bidon, "L'enfant au Moyen Âge: état de la question", in Robert Fossier, (ed.), La petite enfance dans l'Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, p.19. 107 Didier Lett, L'enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe – XIIIe siècle), ed. cit., pp. 76-77.
_________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
356
8 AMAR
Regista a história o que se veste, onde se vive, às vezes o que se come. Mais dificilmente narra como se ama. A intensidade e a forma do afecto só aqui e além, a muito custo, se vislumbram, num levantar fortuito da cortina do pudor ou da muralha do natural.
A. H. de Oliveira Marques1
Ainda nos seus primórdios, a história medieval dos
afectos apenas tem privilegiado a família como rede social
significante no que diz respeito ao amor conjugal.2 De facto, os
afectos que uniam entre si os pais e os filhos e estes aos restantes
parentes e agentes educativos só muito raramente merecem a
atenção dos medievalistas, prevalecendo, neste campo, a tese de
que o amor pela infância seria uma realidade histórica posterior.
Iniciada na época moderna a partir das elites sociais, ou seja, da
nobreza e da burguesia, ela só se teria mais tarde expandido entre
as classes populares, para as quais, antes disso, a morte de uma
criança pouco significaria, visto que, em breve, uma outra viria
substituir a que não chegara a sair de uma espécie de anonimato.3
1 – OS CONTEXTOS FAMILIARES
Na sociedade medieval da Cristandade ocidental, uma parte significativa das
crianças vivia numa família recomposta, sobretudo devido à frequente morte de um ou
de ambos os pais biológicos. Entre a nobreza da Baixa Idade Média, por exemplo, a
média de duração de um matrimónio extinto pela morte de um dos cônjuges rondava os
dez ou quinze anos.4 Em Portugal, por sua vez, a prática de um segundo casamento
1 A.H. de Oliveira Marques, A Sociedade Medieval Portuguesa, Lisboa, Sá da Costa, 1974, p. 105. 2 José Mattoso, "Sobre a história da sexualidade e da afectividade" in Naquele tempo. Ensaios de história medieval, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 39-44. Sobre as problemáticas e as dificuldades de uma história medieval do amor e dos afectos, veja-se C. Stephen Jaeger, Enabling love. In search of a lost sensibility, Filadélfia, University of Pennsylvania Press, 1999. 3 Philippe Ariès, A criança e a vida familiar no Antigo Regime, Lisboa, Relógio d' Água, 1988, p. 10. 4 Claudia Opitz, , "O quotidiano da mulher no final da Idade Média (1250-1500)" in Georges Duby e Michelle Perrot (org.), História das Mulheres, 2, Porto, Afrontamento, 1993, p. 374.
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
entre a fidalguia dos séculos XII e XIII encontra-se assinalada em cerca de 12% dos
matrimónios documentados.5
De resto, tanto entre a nobreza como entre os grupos sociais não privilegiados,
quer o direito processual familiar, quer as práticas sociais de abandono ou de entrega
dos filhos a terceiros para criação ou educação implicavam, frequentemente, como já
referimos, a transferência familiar de muitas crianças.6 A título exemplificativo, citem-
-se as situações de um pescador lisboeta que criava como próprio um filho
anteriormente tido pela sua mulher, com sete ou oito anos de idade, ou a de um
escudeiro que igualmente trazia como suas as seis crianças menores tidas pela esposa de
um anterior casamento.7
A frequência das famílias recompostas também se encontra, muitas vezes
testemunhada nos livros de milagres medievais portugueses, quando neles se referem
vários casos de crianças que, por motivo de doença ou de acidente, haviam sido levados
aos santuários pelos tios, sendo essa a situação, por exemplo, quer de um moço de onze
anos, quebrado, assim conduzido até às relíquias dos Santos Mártires de Marrocos,8
quer a do rapaz que vira terminado o sofrimento provocado por um inchaço na garganta,
quando também um tio o transportara até à campa do santo Condestável.9 Mais
explícita aparece, contudo, a notícia de como um minino, a quem a tia que por filho
criava, e como filho amava, teria ficado a dever às muitas lastimas e lágrimas por ela
endereçadas a S. Frei Gil o milagre de uma ressurreição. Na realidade, a criança que
caíra e se afogara num tanque de águas quentes fora por ela transportada, já morta, ao
templo onde jazia o corpo do santo.10
O desempenho de funções paternais e maternais por parte dos tios também se
encontra recordado na cronística dos finais da Idade Média. Rui de Pina, por exemplo,
não deixa de referir, quer como o Infante Fernando, filho do rei Duarte, fora adotado
5 José Augusto de Sotto Mayor Pizarro, Linhagens medievais portugesas. Genealogias e estratégias (1279-1325), Porto, Universidade Moderna, 1999, p. 485. 6 Vidé capítulos CRESCER, e APRENDER, respectivamente pp.114-115 e 157-160. 7 Luís Miguel Duarte, Justiça e criminalidade no Portugal medievo (1459-1481), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, respectivamente, p. 278 e p. 612. 8 Tratado da vida e martírio dos Santos Mártires de Marrocos, ed. A. Rocha Madahil, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1928, p. 74, com passagem paralela em "Livro dos Milagres dos Santos Mártires", ed. Maria Alice Fernandes, in Livro dos Milagres dos Santos Mártires, Edição e Estudo, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1988 (Tese de Mestrado), p. 147. 9 Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga, e Regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, I, Lisboa, 1745, pp. 515-516. 10 Frei Luís de Sousa, “S. Frei Gil” in História de S. Domingos, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, pp. 231-232.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
358
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
por fylho pelo tio, o também infante Henrique,11 quer a circunstância do monarca João
II haver recolhido em sua casa o primo Duarte, filho do tio Fernando, e, mais tarde, o
também primo e depois seu sucessor, Manuel, ainda muy moço, explicando-se como o
criara
em sua cama, e mesa, e nos conselhos, e boas doctrinas com mostranças, e
obras de verdadeiro amor, nam como a primo que era, mas como a proprio
filho que gerara.12
Aliás, no contexto do destino familiar dos filhos ilegítimos, o mesmo cronista
também lembra como o futuro rei João I, fora entregue pelo pai, o monarca Pedro,
desde muito moço, aos cuidados do então mestre da Ordem de Cristo, Nuno Freire de
Andrade, o qual o teria tratado como filho.13
Para a generalidade da sociedade medieval, a circulação familiar das crianças
funcionava quase sempre como um importante factor de promoção político-social. Por
um lado, a circulação descendente, feita, por exemplo, através do amádigo ou da
colocação de uma criança em aleitamento, permitia-lhes reforçar os laços de
dependência devidos ou aceites por elementos familiares menos abastados ou
poderosos. Por outro, a circulação ascendente, possibilitada pela entrega de crianças
para aprendizagem, abria-lhes a possibilidade de poderem vir a beneficiar do estatuto e
da influência detidos por parentes social e politicamente mais bem colocados, tal como
seriam os casos, quer dos dois meninos, de seis e nove anos, que sabemos terem vivido
com cónegos de Santa Cruz que lhes ensinaram a leer14 ou o dos rapazes nobres
entregues à guarda e criação dos tios, de acordo, como o dá a entender Rui de Pina, com
uma prática que visava reforçar o poder da sua linhagem através da amizade a
desenvolver entre primos.
No âmbito das elites aristocráticas, sobretudo fidalgas, as crianças ainda podiam
ser conduzidas a integrar uma nova família por outros motivos. Quando raparigas
prometidas muito novas em casamento, era frequente passarem a ser criadas por
familiares ligados a instituições religiosas, nelas aguardando a idade convencionada
para a concretização dos matrimónios previamente negociados, ou até, por vezes, na
11 Rui de Pina, "Chronica do Senhor Rey D. Affonso V" in Crónicas, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977, p. 791. 12 Id., ibidem, respectivamente, pp. 817 e 924. 13 Rui de Pina, "Chronica d'El-Rei D. Affonso IV" in ob. cit., ed. cit., p. 462. 14 Luís Miguel Duarte, ob. cit., ed. cit., pp. 274-275.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
359
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
própria casa dos futuros sogros, onde passavam a integrar uma nova família que as
tratava como filhas. 15
Quando rapazes, embora, ao contrário das raparigas, mantivessem a
patrilocalidade familiar quando prometidos em esponsórios, podiam, também ser
entregues como arrefees a uma outra família para salvaguardar tratados de tréguas ou
promessas de casamento. Fernão Lopes, por exemplo, refere o caso do iffante dom
Fernando, um moço pequeno pouco mais de dous annos, que era filho do rei João I de
Castela, noticiando como fora entregue à criação de Leonor Teles porque nos trautos
do casamento da filha desta, a infanta Beatriz, com o rei de Castela
era contheudo que el-rrei dom Fernando tevesse consigo ataa que a iffante sa
filha ouvesse hidade d’onze anos compridos e entrasse por os doze em que o
casamento podia seer firme, e que entonce fosse aquele iffante entregue em
Castella.16
Aliás, mais tarde, Rui de Pina volta a recordar uma situação paralela, acontecida
ao infante Afonso, o filho do rei João II, contando como ele passara à criação da rainha
do reino vizinho, a sua tia Beatriz, como penhor para o cumprimento de um acordo de
pazes luso-castelhanas.17
Em suma, mesmo nos casos extremos, em que os interesses familiares,
sobretudo os das linhagens régias, promoviam a deslocação das crianças do lar de
origem, sem terem em conta as perturbações psíquicas e afectivas que esse corte
vivencial lhes poderia acarretar, prevalecia o princípio de as procurarem confiar aos
cuidados de mulheres de uma mais ou menos próxima parentela, ao mesmo tempo que
as faziam acompanhar, na sua transferência familiar, por muitos daqueles que lhes
haviam seguido os primeiros tempos, como amas, aias, aios ou serviçais domésticos.
Ora, uma tal situação não difere muito da que na legislação medieval regulamentava a
entrega em tutoria ou guarda das crianças a quem passara a faltar a protecção das
respectivas famílias de origem. Com efeito, nesses casos verifica-se a tendência para
15 Veja-se o capítulo APRENDER, pp. 168-170 onde foram referidos alguns exemplos destas situações. Sobre a sua contextualização, consulte-se, Ana Rodrigues Oliveira, As representações da mulher na cronística medieval portuguesa (sécs. XII a XIV), Cascais, Patrimónia Histórica, 2000, pp. 138-140. 16 Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando, ed. G. Macchi, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1995, p. 567. 17 "Chronica do Senhor Rey D. Affonso V" in Rui de Pina, ob. cit., ed. cit., p. 875. Sobre a conjuntura deste conflito com Castela, veja-se João José Alves Dias, "A conjuntura" in Portugal do Renascimento à Crise Dinástica, Nova História de Portugal, Lisboa, Presença, 1998, pp. 689-700.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
360
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
promover um novo enquadramento familiar da criança entre os agregados domésticos
constituídos por parentes mais ou menos próximos.18
Durante o século XV, de acordo com as
investigações prosseguidas por Pierre Charbonnier, essa
mesma prática também se aplicava relativamente aos
órfãos de várias regiões do Ocidente medieval, já que
eram cada vez mais acolhidos por tios, tias, ou irmãos
mais velhos.19 Esta prática de preservação dos laços de
proximidade com a família, este compromisso entre a lei
do sangue e a lei da adopção, evidencia uma crescente
sensibilidade face às necessidades afectivas e
educacionais das crianças que haviam ficado
familiarmente desprotegidas. Nestes casos, conforme
sublinha Didier Lett, os múltiplos afectos documentados
no que respeita às crianças órfãs resultariam, na verdade,
de naturais prolongamentos familiares de um amor
originariamente parental.20
Neste sentido, quando as fontes portuguesas
noticiam vários e inequívocos testemunhos de afectos
reservados às crianças por parte das famílias que os
haviam adoptado, talvez se refiram a sentimentos
manifestados por membros onde se incluiriam parentes
mais ou menos próximos dos respectivos pais entretanto
falecidos. Como, por exemplo, se poderia ter passado
relativamente ao menino afogado num tanque de águas
quentes que, havendo sido criado como adoptivo por
carecer dos naturais, vira a sua morte provocar pranto, lastimas e lágrimas mais que de
mãi por parte de quem como filho o amava.21
Figura 65 – A protecçãofeminina às crianças semfamília. A solidariedade feminina pa-ra com as viúvas e as crian-ças órfãs e abandonadasconstitui um dos temas maisiluminados das Bíblias me-dievais, sobretudo no querespeita à ilustração do livrovetero-testamentário deRute.
18 Vidé capítulo PROTEGER. pp. 246-250. 19 Pierre Charbonnier, "L' entrée dans la vie au XVe. siècle, d'après les lettres de rémission" in Les entrées dans la vie – Initiations et apprentissages, XII congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, p. 78. 20 Didier Lett, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe –XIIIe siècle), Paris, Aubier, 1997, p. 285. 21 Frei Luís de Sousa, "S. Frei Gil" in História de S. Domingos,I, ed. cit., pp. 231-232
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
361
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
2 - AMOR MATERNAL
O amor maternal
durante a Idade Média
continua a ser pouco
conhecido, dado que a maior
parte das fontes disponíveis,
quase sempre escritas por
homens, não lhe atribui muito
relevo. A este propósito, um
estudo sobre a história da
maternidade refere-se ao
período medieval como um
"tempo do silêncio,"22 ressal- Figura 66 - Afonso X, Cantigas de Santa Maria (século XIII) A iconografia do amor maternal encontra-se abundantemente representada nas iluminuras das Cantigas de Santa Maria.
tando, comparativamente a
outras épocas históricas, as
dificuldades em encontrar tes-
temunhos sobre a afectividade expressa pelas mães em relação às suas crianças.
No entanto, embora dispersas e lacunares, essas informações não deixam de se
encontrar presentes em várias fontes. Nos livros de milagres, por exemplo, surgem
muito evidentes as expressões de um visível amor maternal, sobretudo quando noticiam
a dor e o sofrimento manifestados pelos acidentes ou doenças sofridas pelos filhos.
Neste contexto, referem-se, com efeito, vários casos em que a visão de um corpo
doente, deformado ou acidentado suscita grandes aflições e desesperos. Mencionam-se,
a título exemplificativo, os casos de uma mãe, que dando grandes vozes e chorando,
pedia aos pescadores para retirarem do mar o seu filho afogado,23 o grande pranto feito
por uma outra ao ver o filho sufocar com um osso na garganta,24 a grande afflicção
expressa por uma terceira quando o filho, de sete ou oito meses, deixara de respirar ao
22 Yvonne Knibiehler e Catherine Fourquet, L'Histoire des mères du moyen-âge à nos jours, Paris, Éditions Montalba, 1980, p. 8. 23 Cousas Notaveis e Milagres de Santo António de Lisboa, ed. José Joaquim Nunes, Porto, 1912, p. 30. 24 Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, XII, Lisboa, 1869-1870, p. 60, com passagem paralela em Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. Maria Clara de Almeida Lucas, Lisboa, I.N.I.C., 1988, p. 178.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
362
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
engolir uma moeda,25 ou a grande magoa que uma quarta havia de seu filho muito
doente de door d’estamago.26
Por vezes, o registo destas reacções inclui a referência a angustiadas
manifestações rituais de dor, como as relatadas a propósito de uma mãe que, tendo ido
ouvir um sermão de Santo António, deixara o seu filho em casa, çerca da caldeira a
cabo do fogo que o queria lavar e correger e que, ao lembrar-se onde tinha deixado o
petiz, e avendo medo que seria queimado, começou de arrancar os cabellos da cabeça
e de sse carpir.27 Noutros casos, prevalece a apresentação de um quadro de profunda
angústia materna provocada pela morte dos filhos, levando as progenitoras a desejar
associar-se ao respectivo falecimento, conforme se conta acerca de uma mãe que, ao ter
conhecimento de como o seu menino de cinco anos morrera afogado, se teria recusado
a deixá-lo enterrar, se não fosse com ele sepultada. 28
Também na cronística se alude a tais reacções. É, por exemplo, o caso da rainha
Leonor, mulher do monarca João II, que ao ter conhecimento da morte do filho, o
infante Afonso, teria considerado ter perdido o nome de May, pelo qual se avia por
mais bemaventurada, expressando depois a vontade de morrer no quarto onde ele
nascera, quando nele entrou após o falecimento do príncipe.29
No fundo, seriam estas dores maternais que teriam dado a força e o ânimo
necessários às mães que, nos livros de milagres, pedem aos santos ou à Virgem a
ressurreição dos filhos, chegando a permanecer nos respectivos santuários vários dias e
noites em oração, conforme se noticia ter ocorrido à progenitora de um menino de cinco
anos que lhe caiu morto aos pés e que logo fora por ela levado ao templo onde jazia o
santo condestável, para ser deitado sobre a respectiva campa. 30 Por outro lado, também
se podem considerar como expressões de um mesmo emotivo sentimento maternal, as
notícias sobre o entusiasmo e o júbilo com que as mães festejavam os milagres de cura
feitos aos filhos, servindo de exemplo os muitos louvores feitos por uma mãe a S.
Gonçalo de Amarante por este haver curado o seu menino de quatro anos que sofria de
25 “S. Gonçalo de Amarante” in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, I, ed. cit., p. 282. 26 "Livro dos Milagres dos Santos Mártires", ed. Maria Alice Fernandes, in Livro dos Milagres dos Santos Mártires. Edição e Estudo, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1988 (Tese de Mestrado), p. 141. 27 Cousas Notaveis e Milagres de Santo António de Lisboa, ed. cit., p. 17. 28 Id., ibidem, pp. 34-35. 29 Rui de Pina, "Chronica D'ElRey D. Joaõ II" in Crónicas, ed. cit., p. 991. 30 Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga, e Regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, I, ed. cit., pp. 488-489
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
363
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
dolorosas alporcas, indo depois acordar o marido para, em conjunto, continuarem a dar
graças a Deus e ao santo.31
A expressão emocional deste amor tende, em geral, a ser retoricamente
exacerbada pelos homens que redigem as fontes. Nos livros de milagres, apresenta-se
semelhante a uma paixão descontrolada, como teria sido a aflição demonstrada pela mãe
de uma criança de dois anos que padecia de um inchaço muito grande no pescoço,32 ou
a um sentimento de incontrolável intensidade, sendo esse o caso do sofrimento
vivenciado pela progenitora que teria ficado casy morta, ao deparar-se com as feridas de
uma sua criança.33 Em Rui de Pina essa retórica também é utilizada, novamente a
propósito da rainha Leonor, referindo-a o cronista ao noticiar como tomara
conhecimento do acidente do filho, na condição de mãe ferida de mortal door, com
grande desacordo, e sem ho resguardo exigível a uma personagem régia, já que logo
correra para o lugar onde o infante jazia, nas margens do Tejo, montada, sem qualquer
aparato, numa mula que encontrara pelo caminho. Depois, junto ao seu cadáver, com
muita door, e amor lhe descobriu os peitos, e sobre o coraçam, o beijou muitas vezes.34
Em todas estas descrições, a mãe apresenta-se como o elemento familiar que
melhor protagonizava o afecto devido pelos progenitores às suas crianças, conforme
decorria, aliás, das funções maternais que lhe eram socialmente atribuídas, ou seja, as
relativas a uma permanente e protectora presença na criação e educação dos filhos mais
pequenos.35 Contudo, se a mãe, pela relação física e quotidiana que a ligava às suas
crianças, nelas deveria reencontrar a parte de si mesma pela qual se deveria afadigar e
sofrer, não raro era também vista como agente de uma protecção que, por vezes,
funcionava de forma excessiva e contraproducente.
Sendo assim, o amor por ela demonstrado aos filhos era ocasionalmente
denunciado pela predominante moral masculina como negativo ou prejudicial à
respectiva educação, apresentando-se a intensidade dos seus afectos como
perturbadoramente nociva, se incontrolada ou desmesurada. Então, em vez de uma
virtude louvável, tornava-se uma fraqueza condenável, sobretudo se comparada ao amor
paternal, sempre firme e constante, menos visível e emotivo, porque mais ponderado e
31 "S. Gonçalo de Amarante" in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, ed. cit., p. 280. 32 "Livro dos Milagres dos Santos Mártires" in ob. cit., ed. cit., p. 159. 33 Frei João da Póvoa, "Livro dos Milagres de Nossa Senhora das Virtudes", ed. F. Correia, in Revista da Biblioteca Nacional, 2ª série, 3, nº1, 1988, p. 26. 34 Rui de Pina, "Chronica D'ElRey D. Joaõ II" in Crónicas, ed. cit., respectivamente, p. 983 e p. 984. 35 Sobre este tema já nos debruçámos no capítulo APRENDER, "A função das mães", pp. 146-156.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
364
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
racional. Nestes casos tendia-se, então, a registar os afectos maternais como
prolongamentos negativos de um amor carnal e passional, que, privilegiando os corpos,
ou seja, a saúde e o bem estar dos filhos, arriscava-se a fazer perder as respectivas
almas. A sua intensidade era, afinal, a sua fraqueza.36
No entanto, na perspectiva dos cronistas, o registo de desmesuradas
manifestações de amor maternal também permitia politizar, pela sua dramatização, a
narrativa dos acontecimentos. Em Fernão Lopes, por exemplo, a referência feita às mães
que, durante o cerco de Lisboa de 1384, veemdo lazerar seus filhos a que acorrer nom
podiam, choravam ameude sobrelles a morte amte que os a morte privasse da vida,37
consegue suscitar entre o auditório das suas crónicas o procurado efeito de um
emocional discurso anti-castelhano. Em Rui de Pina, por outro lado, o relato de como a
rainha Leonor, à morte do marido, o rei Duarte, se despedira dos filhos que passaram a
estar confiados à guarda do tio regente, o infante Pedro, pondo em destaque o grande
amor que lhes tinha, os receos manifestados por deles se vir a separar e o tamanho
pranto que teria feito ao despedir-se, como se os leixaram soterrados pera os nunca
mais ver, servem como matéria destinada a preludiar os posteriores dramas político-
-familiares que conduziriam à batalha de Alfarrobeira.38
De uma forma geral, as personagens femininas recordadas nas crónicas
medievais do passado do Reino são quase sempre valorizadas ou depreciadas em função
dos respectivos desempenhos maternais, já que as memórias da história dinástica
relatada pelos cronistas marginaliza sistematicamente o relato das vidas de mulheres
solteiras, mesmo sendo virgens dedicadas a opções religiosas. Foi o que sucedeu, por
exemplo, a Senhorinha de Basto, a santa cuja hagiografia exaltava uma educação
decorrida sob o lema de que
o parto e o emprenhar enche o mundo e a castidade enche o Paraízo, e a
castidade ha por parceiro os Anjos, e o parir, e emprenhar filhos é com
trabalho, e com dor, e com tristeza. 39
36 Claude Thomasset, "Da natureza feminina", in Georges Duby e Michelle Perrot, (dir.), História das Mulheres, 2, ed. cit., pp. 164-165. 37 Fernão Lopes, Crónica del Rei D. João I, I, ed. M. Lopes de Almeida e A. de Magalhães Basto, Barcelos, Liv. Civilização, 1990, p. 307. 38 Rui de Pina, "Chronica do Senhor Rey D. Affonso V" in Crónicas, ed. cit., p. 647. 39"Vida e Milagres de Santa Senhorinha", ed. Torquato Peixoto de Azevedo, in Memórias Resuscitadas da Antiga Guimarães, Guimarães, Gráfica Vimaranense, 2000, pp. 446-447.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
365
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
Ao sonegarem qualquer significativo protagonismo histórico às mulheres para as
quais a renúncia à maternidade se poderia apresentar como meritória ou edificante, as
narrativas das efemérides dinásticas da linhagem dos reis de Portugal, tanto
desvalorizam a memória das viúvas a quem os afectos reservados a um segundo marido
faziam descurar o amor devido aos filhos, como exaltam o comportamento das que
renunciavam a um novo matrimónio ou que, mesmo em vida do primeiro esposo,
acolhiam como seus os bastardos régios.
O primeiro caso aplica-se à forma como os cronistas recordam a condessa
portucalense Teresa, a quem Duarte Galvão acusa de um peccado próprio de mãis com
novos esposos se tornarem madrasta,40 referindo-se, concretamente, ao de, em nome do
amor prestado ao seu terceiro marido, o conde galego Fernão Peres de Trava, haver
recusado ao filho, Afonso Henriques, a herança devida por morte do pai, o conde
Henrique da Borgonha.
Contudo, no caso das viúvas imunes ao amor terreno e carnal que as fazia
procurar um outro marido, a sua memória surge cronisticamente valorizada, como foi o
caso, por exemplo, da rainha Isabel de Aragão que, à morte do marido, o rei Dinis, ficou
tanto como morta passando a viver com doo e tristeza pera sempre.41
Também como madrasta de bastardos antes havidos pelo marido, o compor-
tamento de algumas rainhas é enaltecido, visto que nesse contexto, se exalta a sua
capacidade de ultrapassar os condicionalismos físicos e biológicos da normal
manifestação de um sempre louvável amor maternal. Assim, por um lado, tanto se
elogia Isabel de Aragão por sempre dar de vestir às amas, que criavam os filhos
ilegítimos do rei Dinis, e fazer, e procurar merces ahos ayos, que hos ensinavam,42
como, por outro, se mencionam as perfectas bondades e grandes vertudes manifestadas
pela rainha Leonor quando, ao ser-lhe pedido pelo marido, o rei João II, para que, sem
algua paixam das muitas que em seu nacimento recebera, quisesse consentir que viesse
e se criasse na Corte o seu bastardo Jorge, devido à morte da tia, a infanta Joana, que
até então o criara em Aveiro, publica e honradamente como pertencia a filho d’El Rey.
Ou seja, quer o seu consentimento, quer a formulação de um pedido feito ao rei para que
40 Duarte Galvão, Chronica de El Rei D. Affonso Henriques, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1995, p. 51. Sobre as circunstâncias e o significado político deste comportamento da rainha Teresa, veja-se Ana Rodrigues Oliveira, ob. cit., ed. cit., pp. 151-157. 41 Rui de Pina, "Coronica DelRey Dom Diniz" in Crónicas, ed. cit., p. 311. 42 Id., ibidem, p. 235.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
366
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
ele lhe entregasse o bastardo, a fim de ela o trazer, e criar em sua casa, como por ser
seu filho merecia, são exemplos dignos de realce pelo cronista. 43
No fundo, os juízos de valor expressos pelos cronistas relativamente ao
verdadeiro exercício de um amor maternal exemplar, parecem inspirar-se no sentido
moral tradicionalmente atribuído ao episódio bíblico em que o rei Salomão teria
sentenciado o pleito posto à sua consideração por duas mães que reivindicavam a tutela
maternal de uma mesma criança. De acordo com a história contada no Antigo
Testamento, o rei teria começado por ouvir as alegações por que uma das mulheres
acusava a outra, não só de haver morto acidentalmente o verdadeiro filho, como de se
ter depois apropriado da sua criança, sendo tudo isto declarado falso pela outra
contendedora. Então, sem poder contar com testemunhas independentes, Salomão teria
decidido pô-las à prova, propondo-lhes, de espada em riste, matar a criança para a
dividir pelas duas. A primeira mulher, porque as suas entrannhas se enterneceram por
seu filho, teria respondido preferir que o monarca entregasse a criança viva à outra,
ficando assim evidente qual era a verdadeira mãe e como decidir o pleito. 44
Uma tal história encerrava em si o exemplo do que seria uma boa e uma má
mãe, correspondendo o primeiro modelo às progenitoras capazes de prescindir das
alegrias da maternidade para manter os filhos vivos e saudáveis. Assim, por extensão,
qualquer mãe, mesmo adoptiva, que assim procedesse, seria digna de ser considerada
uma boa e justa mãe.
No imaginário feudal, a história de Salomão encontra paralelo nas circunstâncias
relativas às "aprendizagens" de Perceval e de Lancelot. De facto, nas histórias do Graal
tende a considerar-se mais acertada a forma como a mãe adoptiva de Lancelot o teria
educado, tudo fazendo para que, ao abandonar o lar, fosse capaz de seguir o seu destino
cavaleiresco, do que os procedimentos utilizados para idênticos fins, pela mãe biológica
de Perceval, bastante censurada por sempre ter procurado mantê-lo junto de si,
chegando a ocultar-lhe a identidade da sua linhagem e as obrigações por ela exigidas,
nomeadamente o abandono do lar familiar, para se devotar ao serviço cortesão a prestar
ao rei Artur e à sua demanda.45
43 Rui de Pina, "Chronica D'ElRey D. João II" in id., ibidem, p. 965. 44 I, Reis, 3:26, Antigo Testamento in Bíblia Sagrada em Português, ed. e trad. de João Ferreira de Almeida, Llisboa, Sociedades Bíblicas Unidas, 1968. 45 Micheline de Combarieu du Gres, "Les "aprentissages" de Perceval dans le Conte du Grall et de Lancelot dans le Lancelot en Prose", in Éducation, Apprentissages, Initiation au Moyen Age, Actes du Premier Colloque International de Montpellier, Université Paul Valéry, 1991, p. 138.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
367
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
Entretanto, paralelamente à progressiva formulação cortesã dos valores inerentes
ao exercício de uma benéfica prática do amor maternal, também a arte gótica começava
a procurar fornecer-lhe modelos e posturas exemplares, sobretudo através da estatuária
respeitante aos cultos de Nossa Senhora e do Menino Jesus. Com efeito, é a partir dos
séculos XII e XIII que se começa a abandonar a representação hierática e majestática do
tema, para se adoptar uma imagem mais humanizada e afectiva da maternidade sagrada.
Na escultura românica, muito fiel a padrões conceptuais herdados da
Cristandade bizantina, a mãe de Deus simbolizava o poder da Igreja-instituição.
Majestaticamente exposta num trono e ostentando na cabeça uma coroa, a imagem da
Nossa Senhora, sem traços faciais ou corporais individualizantes, deveria sugerir a
solidez, a segurança e a eternidade da Igreja que oferecia o Cristo a todos os pecadores,
abençoando-os com uma mão e expondo-lhes com a outra o Filho que, por sua vez, com
um olhar fixo e adulto, também reproduzia um mesmo gesto ritual de benção.46
Expostas quase sempre em altura e em espaços difíceis à aproximação dos fiéis,
as imagens românicas da mãe de Deus pouco diferiam de templo para templo. Formal e
conceptualmente abstractas, reproduziam arquétipos próprios de uma Cristandade rural,
pouco receptiva às inovações que pudessem desvirtuar ou atraiçoar as devoções e os
cultos tradicionais. Em grande parte encomendadas ou até produzidas pelas
comunidades de religiosos, quase sempre monásticas e masculinas, reproduziam a
imagem de um sagrado distante que apenas era acessível pela liturgia e pelo ritual.47
46 Sobre a iconografia da Maternidade sagrada no românico, consultem-se Andreas Petzold, Romanesque Art, Londres, Calmann, 1995, pp. 123-160; Maria Adelaide Miranda e José Custódio Vieira da Silva, História da Arte Portuguesa. Época medieval, Lisboa, Universidade Aberta, 1995, pp. 79-90; Carlos Alberto Ferreira de Almeida, História da Arte em Portugal. O Românico, Lisboa, Presença, 2001, pp. 154-167. 47 Georges Duby, O tempo das catedrais. A arte e a sociedade (980-1420), Lisboa, Estampa, 1978, pp. 83-96.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
368
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
Figuras 67 e 68 - Nossas Senhoras de tradição românica. As Nossas Senhoras românicas apresentam uma maternidade majestática e hierática,exibindo a frontalidade e a verticalidade própria dos símbolos iconológicos do dogma e da fé.
Este modo românico de celebrar a maternidade divina começa progressivamen-
te a ser posto em causa entre os religiosos e os crentes a quem os progressos
demográficos e civilizacionais dos séculos XII e XIII geravam a vontade da vivência de
um sagrado mais próximo e individualizado, não apenas protector e ordenador, mas
também propiciador de abundância, crescimento e prosperidade. Assim, as imagens da
maternidade sagrada começam a abandonar as composições solenes e hieráticas
presididas pela procura de simetria, volumetria e frontalidade. A arte gótica introduz,
então, decisivas inovações formais e conceptuais. As esculturas da Senhora e do
Menino abandonam as até aí preponderantes funções de símbolo da fé e do dogma,
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
369
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
ganhando a naturalidade, o movimento e a diversidade formal que melhor as podiam
aproximar dos crentes. 48
Figura 69 - Nossa Senhora gótica O Menino Jesus olha sorridente ebrincalhão para Nossa Senhora, segurandocom as suas mãos uma pomba que simbolizao Espírito Santo.
Figura 70 - Nossa Senhora gótica
A divina mãe apresenta a cabeça inclinada,aproximando-se do Menino que, ternamente,estende a mão direita para lhe afagar oscabelos. Jovem, doce e serena, NossaSenhora envolve carinhosamente o Menino noseu manto.
48 Henri Focillon, Arte do Ocidente. A Idade Média românica e gótica, Lisboa, Estampa, 1978, pp. 241- -275.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
370
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
O Menino Jesus adquire gestos e posturas infantis à medida que o seu rosto é
esculpido à semelhança do de uma criança, e que a diminuição da volumetria do seu
vestuário paralelamente à utilização de vestes pregueadas permitem visualizar-lhe a
presença de formas e atitudes próprias de um menino. Nossa Senhora, por seu lado,
adquire a postura de uma Virgem cuja beleza e juvenil serenidade remetem para a
graciosidade de uma mãe adolescente, delicada, doce, feliz e fecunda.49
A acentuação da feminilidade mariana e das expressões de afecto por Ela
dedicadas a Cristo, conferem então às
representações góticas da maternidade
divina uma superior e superlativa eficácia
devocional. No fundo, transpõem para as
manifestações artísticas do tema a
progressiva valorização social, presente,
sobretudo, entre as famílias das vilas e
cidades da Baixa Idade Média, das funções
maternais e educativas reservadas às
mães.50
Em termos iconográficos, torna-se
cada vez mais frequente a vontade de
traduzir por imagens os afectos maternais,
multiplicando-se a introdução de objectos,
gestualidades e atitudes capazes de
despontar a adesão emotiva dos crentes,
como sejam os sorrisos trocados entre mãe e Figura 71 - Virgem e o Menino (Século XV) A pintura dos finais da Idade Médiarepresenta frequentemente o contacto entreNossa Senhora e o Menino Jesus através dafiguração do manuseamento de objectossimbólicos como a maçã que remete para atemática da Redenção.
filho, o tocar ou entrelaçar das respectivas
mãos ou a expressão de lúdicas e afectivas
intimidades, muitas vezes através da simbó-
lica troca de objectos.
O par divino, cada vez mais inspirado
nas mães e filhos terrenos, anima-se então com gestos e atitudes que espelham os 49 Maria Adelaide Miranda e José Custódio Vieira da Silva, ob. cit., ed. cit., pp. 163-165. Consulte-se também Sérgio Guimarães de Andrade (dir.), O Sentido das Imagens. Escultura e Arte em Portugal [1300-1500]. Catálogo da Exposição, Lisboa, Ministério da Cultura, Institurto Português dos Museus, Museu Nacional de Arte Antiga, 2000. 50 Sobre a inovação da iconografia gótica da Maternidade divina, veja-se Émile Mâle, L'art religieux du XIIIe. siècle en France, Paris, A. Colin, 1993, pp. 424-467.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
371
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
afectos próprios dos quotidianos da maternidade. Nossa Senhora passa a afagar os pés
nus do Menino Jesus e a brincar com o Filho que lhe estende os braços, tocando-lhe o
corpo ou acariciando-lhe as vestes. O Menino, por sua vez, passa a sentar-se
lateralmente no regaço materno, e, cada vez mais, deixa de ostentar a Esfera do Mundo
e o Livro Sagrado, os símbolos do Poder e da Sabedoria da Igreja, para surgir figurado a
brincar com flores, frutos ou pequenas aves.51
Paralelamente, também a iconografia do Presépio sofre notáveis transformações
formais e conceptuais. 52 Antes da difusão do estilo gótico, o Menino Jesus costumava
ser figurado na manjedoura/altar, completamente enfaixado ou vestido, abençoando
com um olhar adulto e sapiente, os crentes que se aproximavam da imagem, enquanto a
sua relação com Nossa Senhora carecia de qualquer referência a afectos maternais, já
que a Virgem, deitada num leito espacialmente separado do lugar onde se figurava o
filho, tendia a ser representada mais como espectadora de um mistério sagrado do que
como sua decisiva protagonista. Ora, a partir dos séculos XII e XIII, o modo gótico de
representar o presépio começa a alterar radicalmente a representação da relação
existente entre a mãe e o filho. Por um lado, o Menino Jesus abandona a manjedoura e
passa quase sempre a figurar no leito onde a mãe o toma nos braços, acariciando-o,
aleitando-o ou aconchegando-o. Por outro, a criança assemelha-se cada vez mais a um
recém-nascido, perdendo as faixas ou as vestes, à medida que se vai progressivamente
acentuando a representação de um corpo infantil, no todo ou em parte, associado a uma
nudez que o torna frágil e necessitado de uma forte protecção materna.
Em suma, tanto as imagens da Maternidade da Virgem como as da Natividade
de Cristo perdem, durante a Baixa Idade Média, a função de símbolos dogmáticos e
teológicos, para adquirirem a finalidade de evocarem, naturalmente, a humanidade de
Cristo, aproximando o seu nascimento do que era terrenamente comum ou desejável. De
resto, terá sido essa renovação da iconografia dos temas da Maternidade e da Natividade
de Jesus que motivaram a proliferação de tais imagens nos finais da medievalidade.53
51 Sobre a nova iconografia das Virgens de Ternura, consulte-se, Mário Jorge Barroca, "Escultura gótica" in Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Mário Jorge Barroca, História da Arte em Portugal. O Gótico, Lisboa, Ed. Presença, 2002, pp. 157-176. 52 Carlos Alberto Ferreira de Almeida, O Presépio na Arte Medieval, Instituto de História de Arte, Faculdade de Letras do Porto, 1983, pp. 12-13. 53 Michael Camille, Gothic art. Visions and revelations of the medieval world, Londres, Calmann, 1996, pp. 163-183.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
372
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
3 - AMOR PATERNAL
Ao contrário do amor manifestado pelas mães, os afectos paternos eram, em
geral, considerados como devendo ser pouco emotivos mas intrinsecamente virtuosos,
já que se destinariam a viabilizar não tanto o crescimento e o bem-estar físico das
crianças, mas antes os progressos a atingir no aperfeiçoamento das respectivas almas.54
Nesse sentido, competir-lhes-ia expressarem-se de uma forma mais contida, discreta e
privada. Contudo, tanto os livros de milagres medievais portugueses como a cronística
lusa fornecem vários exemplos de como os pais acabavam por exteriorizar publicamente
e sentimentalmente o amor dedicado aos seus filhos.55
Nos livros de milagres essa atitude revela-se bastante comum. Por um lado,
como se noticia a propósito de Afonso X de Castela e Leão numa das suas Cantigas de
Santa Maria, ser socialmente credível un ome de paz apregoar em alta voz que amava
mui mais d’al ou mais d’outra ren o seu filho.56 Por outro, porque se menciona várias
vezes como os pais se juntavam, ou até se substituíam às mães, seja para expressarem as
dores e as angústias provocadas pela notícia de doenças ou acidentes sofridos pelas suas
crianças, seja para exteriorizarem as alegrias proporcionadas pelos milagres que lhes
teriam devolvido a saúde ou até uma nova vida.
A primeira situação apresenta-se claramente visível em notícias relativas a
vários pais. Uma delas, referindo como um progenitor andava mui cuitado por seu filho
sofrer de uma repentina surdez; 57 outra, ao relatar como um pay se partyo chorando de
uma sua criança, quando ela, devido a uma ferida, fora dada por morta em tres dias.58
Por fim, uma terceira, onde se refere o caso de outro que encomendou com lágrimas e
amor de pai um filho ao qual tinha nascido na cabeça um aposthema mui duro.59
54 Cf. Claude Thomasset, ob. cit., ed. cit., pp. 165-166. 55 Situação semelhante encontrou Finucane no seu estudo sobre os milagres medievais europeus. – Ronald C. Finucane, The Rescue os the Innocents. Endangered Children in Medieval Miracles, Nova Iorque, St. Martin's Press, 2000, p. 155. 56 Alfonso X, o Sábio, Cantigas de Santa Maria, ed. Walter Mettmann, Madrid, Castália, 1986-1988, p. 197. 57 'Milagres de S. Veríssimo', ed. Mário Martins, in "A Legenda dos Santos Mártires, Veríssimo, Máxima e Júlia do cod. CV/1 – 23 d., da Biblioteca de Évora", Revista Portuguesa de História, 6, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1964, p. 45. 58 Frei João da Póvoa, “Livro dos Milagres de Nossa Senhora das Virtudes”, ed. cit., p. 19. 59 Frei Luís de Sousa, "S. Frei Gil" in História de S. Domingos, I, ed. cit., p. 238.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
373
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
Tal como as mães, também os pais dos livros de milagres se apresentam
especialmente tristes e combalidos ao saberem da morte acidental dos filhos. No caso de
afogamentos, por exemplo, recorda-se como um pai cheio de dor acorreu de imediato
ao local do acidente, para, após levar o filho para casa, ter ficado a chorar sem nada
lhe poder valer60 e lembra-se como um outro, com muitas lagrimas logo começou a
bradar de dor.61
De resto, todas estas expressões públicas de desespero sentido pela doença ou a
morte dos filhos, ainda constitui matéria hagiográfica quando se refere dever-se a essa
angústia o desenvolvimento de iniciativas destinadas a procurar a ajuda dos santos. De
facto, é neste contexto que tanto se menciona haver um progenitor procurado muitas
mezinhas e romarias para conseguir curar o filho endemoinhado,62 como se refere ter
um outro, apesar de desenganado pelos cirurgiões que diziam que o filho morria,
insistido em transportá-lo até ao túmulo do santo, onde acabaria por ser miraculado.63
Encontram-se, ainda, os registos de um pai que veio dormir uma noite na Igreja do
Santo Condestável para lhe implorar a cura de um filho que padecia de uma dor numa
perna,64 e o de um outro que, depois de ter estado na igreja com o filho cerca de 16
dias para obter um milagre de cura para uma sua criança coxa desde o nascimento, foi
ainda trabalhar para as vinhas da Santa Senhorinha.65
Quanto à expressão paternal de regozijo pela cura ou salvação dos filhos, ela
surge referida várias vezes na sequência de notícias relativas à ocorrência de milagres
restituidores da saúde ou até da vida infantis. A título exemplificativo, cite-se o caso do
pai que, mal se produzira o milagre que permitiu a ressurreição do filho, logo exprimiu
uma tão gramde alegria e prazer que sse nom podia comtar.66
Em suma, contrariamente ao que se poderia pensar e mesmo chegar a defender-
-se, o pai não figura nos livros de milagres como um grande ausente na questão dos
afectos familiares dispensados às crianças, antes se apresentando como uma
personagem bastante presente junto dos filhos, pequenos ou grandes, rapazes ou
60 Frei Baltazar de S. João, A vida do bem aventurado Gil de Santarém, ed. Aires, A. Nascimento, Lisboa, 1982, p. 106. 61 Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga, e Regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, I, ed. cit., p. 490. 62 Id., ibidem, p. 494. 63 Id., ibidem, p. 544. 64 Id., ibidem, p. 536. 65 "Vida da Bem Aventurada Virgem Senhorinha", ed. e trad. Maria Helena da Rocha Pereira, in Vida e Milagres de S. Rosendo, Porto, 1970, p. 143. 66 Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), I, ed. cit., p. 273.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
374
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
raparigas. Com efeito, conforme se pode observar através da análise do Quadro VIII -
- Invocantes e Acompanhantes dos Milagres feitos a Crianças, sozinhos, os pais
totalizam 42% das referências feitas aos responsáveis pela invocação dos santos a que
se atribuem milagres infantis, e 44% dos respeitantes aos adultos por cuja iniciativa
foram as crianças conduzidas aos templos onde teriam sido miraculadas, aparecendo
isolada ou globalmente mencionados numa destas funções em 43% dos casos em que
surgem referenciadas, enquanto a mãe apenas se referencia em 34% das vezes. Este é,
sem dúvida, um sinal de que as decisões familiares relativas à saúde ou à vida das
crianças tenderiam a ser praticamente repartidas entre ambos os progenitores, pelo
menos no que respeita às famílias vilãs e urbanas da Baixa Idade Média portuguesa a
que se referem grande parte dos milagres recenseados.
QUADRO VIII - INVOCANTES E ACOMPANHANTES DOS MILAGRES FEITOS A
CRIANÇAS
PEDIDO POR (73) LEVADO POR (76)
PAI MÃE PAIS OUTROS PAI MÃE PAIS OUTROS
31 29 7 6 33 22 13 8
Aliás, nos escritos hagiográficos, o amor dedicado pelo pai e pela mãe às suas
crianças surge frequentemente indiscriminado como sucede, nas vidas de santos
propriamente ditas. A propósito, por exemplo, de S. Frei Gil de Santarém, noticia-se
como ambos os progenitores lhe haviam dedicado mais predilecção, carinho e afeição
que aos outros filhos anteriores,67 sendo essa informação semelhante à que antes já
havia sido relatada para S. Martinho de Soure, apresentado como uma criança a quem os
pais teriam criado com um afecto muito particular.68 Contudo, quando os santos depois
se associam ao exercício de funções de direcção de comunidades religiosas, é ao pai a
quem se faz assemelhar a boa prática do cargo, como se afirma, por exemplo,
67 Frei Baltazar de S. João, A vida do bem aventurado Gil de Santarém, ed. cit., p. 26. 68 "Vida de S. Martinho de Soure", ed Aires A., Nascimento, in Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra: Vida de D. Telo, Vida de D. Teotónio, Vida de S. Martinho de Soure, Lisboa, Ed. Colibri, 1998, p. 229.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
375
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
relativamente a S. Teotónio, o prior de Santa Cruz de Coimbra, para o qual é lembrado
ter dirigido os seus cónegos com dedicação e afecto de pai.69
No que respeita aos livros de milagres, é a notícia da doença ou da morte dos
filhos que nos permite aproximar-nos à realidade do que seria o funcionamento efectivo
de uma célula familiar, já que o dramatismo próprio dessas circunstâncias nos
possibilita vislumbrar como ela funcionaria num momento privilegiado para a afirmação
da coesão do grupo dos parentes cuja missão seria a de preservar ou atenuar as trágicas
consequências de uma ruptura ou desequilíbrio geracional. Nesses momentos, o pai e a
mãe revelam-se equitativamente intervenientes, encontrando-se igualmente presentes
em todas as fases do processo miraculoso e na origem do desencadear de iniciativas
promotoras do auxílio a buscar entre os médicos, boticários ou em romagens a realizar
aos santuários.
Quanto à cronística, embora escassas e breves, não deixam de ser significativas
muitas das notícias referenciadoras dos afectos paternais dedicados pelos reis e grandes
senhores aos seus filhos. Relativamente aos primeiros, conservava-se a memória da
profunda afeição sentida pelas filhas, contando-se, por um lado, considerar o rei Afonso
X de Castela e Leão, a rainha Beatriz, a mulher de Afonso III de Portugal, como filha a
quem
mostrou elle querer moor bem, e ha que mais se devia por serviço e benefícios,
e socorros que della em suas tribulações mais que doutro algum tinha
recebidos, e ha que mais desejou gualardoar, e dar muito do seu se pudera, 70
e, por outro lado, sempre haver o Infante Pedro, o regente do reino, na menoridade de
Afonso V, recordado ao seu soberano ter-lhe entregue por esposa a fylha que tanto
amava. 71
Relativamente à alta nobreza, distingue-se, sobretudo, a forma como o cronista
Gomes Eanes de Zurara noticia os afectos paternais manifestados pelo conde Pedro de
Meneses, ao seu herdeiro, o bastardo Duarte. Com efeito, Zurara atribui ao pai a
confissão de o filho ser a cousa que ele neste mundo mais amava, afora a filha Beatriz,
porque a amava como a sua alma, não só pelo amor que tinha tido por ssua madre, mas
69 "Vida de D. Teotónio", ed. Aires A. Nascimento, in Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra, ed. cit., p. 171. 70 Rui de Pina, "Coronica DelRey D. Affonso III" in Crónicas, ed. cit., p. 171. 71 Rui de Pina, "Chronica do Senhor Rey D. Affonso V", id., ibidem p. 710.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
376
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
também por ela lhe ter ficado no berço e a ter criado ao seu bafo. De resto, o cronista
acaba por depois desenvolver como o velho conde sentiria um profundo orgulho
paternal pelos feitos militares que o ainda muito jovem Duarte começara a praticar
contra os mouros, referindo-se-lhe como expressão do natural prazer que a natureza
geera nos padres contra os filhos quando lhe ueem obrar o que desejam.72
Para além disto, os cronistas ainda ocasionalmente referem como os monarcas se
condoíam com a ausência ou com a morte dos filhos, conforme se informa
relativamente a João II. Por um lado, noticiando que a partida do filho, o infante
Afonso, para a corte castelhana, aos cinco anos, a fim de nela permanecer até ter idade
para desposar a herdeira do reino vizinho e assim tirar a guerra e a morte dos Reynos
73 provocara em João II e na sua mulher intensas dor e saudade, como se a sua
ausência lhes levara os coracoões d’ambos, e o arrancassem da sua propria carne. 74
Por outro, quando, após a prematura morte do príncipe, aos dezasseis anos, se conta
como o seu régio pai se trosquiou em sinal de doo pela perda do filho, e como ele e a
rainha vestiram os corpos de negro luto, e os corações de mortal door e tristura. 75
É certo, no entanto que, relativamente a algumas das famílias das elites do reino,
sobretudo as da nobreza, existem memórias cronísticas pouco abonatórias da
generalização de profundos e desenvolvidos afectos paternos para com os filhos,
conforme parece deduzir-se da já anteriormente mencionada narrativa sobre a forma
como o alcaide de Zamora, Afonso Lopes de Texeda, então ao serviço do rei português
Fernando I, decidiu nada fazer pela salvação dos filhos, quando o exército castelhano
que o cercava o ameaçou de os vir a degollar ante seus olhos, se os ell oolhar quisesse,
porque ele não cumprira a prometida entrega da praça que defendia, conforme antes
acordara, ao mesmo tempo que entregara aos sitiantes as crianças em penhor da sua
palavra. 76
De facto, segundo Fernão Lopes, não só o alcaide teria então provocado as
hostes castelhanas ao responder que, se matassem os filhos ainda ell tiinha a forja e o
72 Gomes Eanes de Zurara, Crónica do Conde D. Duarte de Meneses, ed. L. King, Lisboa, Universidade Nova, 1978, pp. 54 e 66. 73 Sobre esta conjuntura, veja-se João José Alves Dias, Portugal do Renascimento à Crise Dinástica, ed. cit., pp. 689-700. 74 Rui de Pina, "Chronica do Senhor Rey D. Affonso V" in Crónicas, ed. cit., p. 875. 75 "Chronica D'EdlRey D. João II" in id., ibidem, p. 986. 76 Sobre este conflito, veja-se A.H. de Oliveira Marques, Portugal na crise dos séculos XIV e XV, Nova História de Portugal, IV, Lisboa, Presença, 1987, pp. 511-513. Consulte-se, também, Ana Rodrigues Oliveira, ob. cit., ed. cit., pp. 292-294.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
377
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
martello com que fezera aquelles, e que assi faria outros, como nem sequer se teria
condoído pelos braados dos filhos quando forom mortos aaquella ora por ele fallecer
d’o que prometido tiinha.77
Ora, de uma forma geral, todo este episódio parece levantar dúvidas sobre a
existência de sólidos afectos paternais entre algumas das famílias da nobreza guerreira
do reino, antes parecendo evidenciar como algumas delas acabavam por se subordinar a
mais valorizados valores feudais, talvez porque o constante exercício de funções
político-militares por parte dos pais não permitisse, pelas suas longas ausências,
aprofundar as relações afectivas que os deviam ligar aos filhos, ou que as práticas
matrimoniais de tipo linhagístico, ao não estimularem a consolidação do amor conjugal,
também acabassem por não favorecer uma nítida afirmação dos afectos paternais.
Tal não significa, porém, que mesmo entre as famílias das elites do reino,
sobretudo as correspondentes à nobreza guerreira e feudal, deixasse de se afirmar o
valor pedagógico e formativo do amor paternal a dedicar aos filhos. Conforme salientou
o rei Duarte no seu Leal Conselheiro, tais afectos seriam mesmo considerados
politicamente essenciais, recordando como ele e todos os seus irmãos sempre tinham
sabido como o pai, o rei João I, os considerara e prezara muito, sendo bem firme em esta
boa voontade e havendo segura sperança que nunca jamais antre eles houvesse
mudamento de todo boo amor,78 ao mesmo tempo que, por outro lado, refere a própria
dor de perder um filho na qualidade de um sacrifício ante Deos, apenas comparável aa
door do Deus Padre enquanto orfam do seu filho Cristo.79
77 Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando, ed. cit., pp. 133-135. 78 D., Duarte, “Da pratica que tinhamos com El Rei, meu Senhor e Padre, cuja alma Deos haja”, in Leal Conselheiro, ed. Maria Helena Lopes de Castro, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1998, pp. 350-351. 79 D. Duarte, “Do dicto livro sobre a dicta virtude de liberaleza”, in Leal Conselheiro,ed. cit., pp. 327- -328.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
378
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
Durante a Baixa Idade
Média, a crescente valorização
social e doutrinal dos afectos
paternos também se reflecte na
evolução apresentada pela figura
de S. José na iconografia da
Natividade. Durante muito
tempo surgiu, em geral,
representado sentado e muitas
vezes dormitando, assumindo a
simbologia de um pai adoptivo.
A partir de Quatrocentos
apresenta-se muito interveniente
e activo, figurando alguém que
entra e, com uma luz na mão, ou
com uma postura protectora,
ilumina ou desvenda o sentido da
maternidade sagrada. Figura 72 – Presépio (Séculos XIV-XV) Dominando centralmente o plano superior de umaNatividade, S. José, encostado a um bastão de poder,assume a postura de um guardião seguro e protector damaternidade sagrada.
4 - AMOR FILIAL
Entre os pedagogos dos finais da medievalidade, os afectos filiais identificavam
sentimentos menos fortes que os parentais. Segundo Gil de Roma, o amor dos pais
pelas suas crianças era superior porque baseado no conhecimento e na certeza de que o
ente amado era seu filho. Pelo contrário, os afectos filiais, incapazes de discernir a
identidade parental, apenas se expressavam natural e instintivamente.80
Complementando este pensamento, Filipe de Novara explica que os primeiros afectos
manifestados pelas crianças provinham da sua própria percepção, afeiçoando-se elas a
quem as alimentava ou com elas brincava, acarinhava ou erguia ao colo, sendo tais
80 Gil de Roma, Le Livre du gouvernement des Princes, (De regimine principum), ed. S.P. Molenaer, Paris, 1899, p. 192.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
379
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
sentimentos progressivamente atenuados, ou até substituídos, à medida que progredia o
crescimento e o desenvolvimento infantis. 81 Então, os afectos das crianças tornavam-se
menos sensitivos e corporais, abandonando as referências maternas e matrimoniais para
se centrarem nos afectos próprios do mundo paterno ou patrimonial, permitindo-lhes
nele reconhecer o princípio activo da geração e a fonte dos bens e das honras que lhes
estavam hereditariamente reservados.82
Contudo, se os pedago-
gos e pensadores da Baixa
Idade Média Ocidental atri-
buem uma reduzida importância
à expressão dos afectos infantis,
desvalorizando-os como estru-
turalmente imperfeitos, confu-
sos e volúveis, eles não deixam
de se encontrar referidos ou
aludidos nas fontes medievais
portuguesa, sejam iconográfi-
cas, cronísticas ou tratadísticas.
Entre as primeiras,
encontr
i já viúvo, todas
encontram-se representadas de forma a transparecer
a-se a imagem que
figura prantos infantis numa das
faces da arca tumular de uma
rainha portuguesa do século
XIII, cuja identidade perma-
nece controversa.83 Apresenta-
das a rodear um adulto
coroado, o re
Figura 73 - Túmulo de rainha, Mosteiro de Alcobaça. (Século XIII) O pranto dos infantes pela morte da mãe.
as crianças, certamente infantes,
uma grande dor e sofrimento, conforme sugerem os gestos de puxar os cabelos, bater na
cabeça ou arranhar as faces. Ora, todas estas manifestações de descontrolo emocional,
81 Filipe de Novara, Les Quatre Âges de l'homme, ed. M. de Fréville, Paris, 1888, artºs 2 e 3, pp. 2 e 3. 82 Sobre estas formulações teóricas, veja-se, Claude Thomasset, ob. cit., ed. cit., p. 166. 83 De facto, segundo os investigadores que ultimamente referiram o túmulo em questão, tanto poderá ser o da rainha Urraca, esposa de Afonso II (Carlos Alberto Ferreira de Almeida e Mário Jorge Barroca, ob. cit., ed. cit., pp. 216-217), como o da rainha Beatriz, a mulher de Afonso III (José Custódio Vieira da Silva, O Panteão Régio do Mosteiro de Alcobaça, Lisboa, IPPAR, 2003, pp. 57-65).
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
380
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
provocadas pela morte de um progenitor, foram consideradas suficientemente dignas
para se esculpirem num túmulo do panteão régio de Alcobaça, destinado a prestigiar a
memória de uma rainha a cultuar e a recordar enquanto merecido alvo de tão pungentes
afectos filiais.
No que diz respeito às crónicas, por seu lado, nelas também se registam vários
casos d
nd, e
uanto à tratadística, a prática e os objectivos de um perfeito amor filial,
merece
eer mostrado a poucas e certas pessoas, ca se os virem os que som fora de tal
e um amor filial exemplarmente valorizado e elogiado, servindo de exemplo o
que a rainha Beatriz, a esposa de Afonso III de Portugal, sempre teria reservado a seu
pai, o rei Afonso X de Castela e Leão. Com efeito, para Rui de Pina, foi sobretudo a
lembrança desse permanente afecto que o levou a conceder-lhe um breve momento na
sua história dos senhores reis de Portugal. Ou seja, o episódio onde se narra como, já
viúva, rumara até Sevilha para acompanhar os últimos dois anos de vida de Afonso X,
que então enfrentava a rebelião do filho herdeiro, dispondo-se, generosamente, a
socorrer, e confortar, e aconselhar o pai, com todo ho dinheyro de sua faze
com todalas joyas de sua pessoa, e com todalas rendas, e gentes, que tinha, e
podia aver de Portugual. 84
Q
ram ao rei Duarte um capítulo do seu livro Leal Conselheiro,85 pensado em
função da educação dos príncipes e baseado em lembranças pessoais e familiares de
como ele e os irmãos haviam amado e respeitado o pai, o monarca João I, cuja alma
Deos haja. No seu conjunto, as reflexões assim desenvolvidas foram redigidas num
tempo já marcado pelas tensões e conflitos existentes entre os filhos do já defunto
fundador da nova dinastia de Avis, encontrando-se, portanto, muito marcadas pela
nostalgia de uma perdida concórdia familiar. Aliás, o próprio rei Duarte dá-se conta
desse facto, quando, no final do seu capítulo confessava parecer-lhe que o mesmo
deveria
s
proposito e pratica, mais querrám prasmar e contradizer-me, que filhar delo,
pera senhor ou amigos proveitosa ensinança.
84 Rui de Pina, “Coronica DelRey Dom Diniz”, in Crónicas,, ed. cit., p.p. 232-233. 85 D. Duarte, Leal Conselheiro, ed. cit., pp. 349-361.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
381
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
Tal não significa, no entanto, que o rei eloquente não reconhecesse alguma
utilidad
efeito, é neste contexto que o rei Duarte insiste na necessidade de os filhos
sempre
modelo de amor filial, que ordena e reflecte o amor pelo rei e pelo
reino, n
do pai, visto que nos olhos seus, e de todos cada vêz mais lagrimas se renovavam.87
e às suas reflexões e tenha deixado de considerar os afectos filiais como uma
decisiva questão de ética política e de exercício do poder dinástico. De facto, no seu
texto, o pai encontra-se projectado num monarca e os filhos em vassalos, abordando o
monarca a questão do amor filial como uma disciplina e um imperativo a seguir por
todos os súbditos, ou seja, na qualidade de um dispositivo político-afectivo destinado a
que o amor ao dicto Senhor rei, se traduza no temor de fazer cousa errada ou
desonesta.
Com
respeitarem o que o pai mais queria, sabendo que melhor era obediencia que
sacrificio e recordando como ele e os seus irmãos, nas cousas que falavamos ou
trautavamos, não levavam a sua teençom em diante sem a sua autorização, antes, nas
cousas que nos mandava ou viamos que lhe prazia de fazermos, com grande deligencia
simprezmente obedecendo as compriamos, sem nunca lhe mostrar per jeito, dicto ou
mostrança que nos esfingiamos ou arrufavamos. Por fim, o exemplo supostamente
vivenciado pelos filhos do monarca da Boa Memória, ainda fez com que o rei Duarte
incluísse entre as qualidades próprias de um forte amor filial, o constante louvor,
quando aazo se dava, das muitas virtudes e grandes feitos paternos, o cuidado de em
jogos, perfias e openiões, não ir contra o dicto senhore a atenção de nunca lhe motivar
desprazer em monte e caça, tudo fazendo para que as suas folganças sempre fossem
acrescentadas.
Ora este
ão deixou de ter consequências na escrita da história cronística. Fernão Lopes,
por exemplo, caracteriza como antídoto à maa e peçonhenta desobediencia dos infantes
rebeldes contra a realeza paterna, 86 o amor e a lealdade sempre testemunhados ao pai
pelos filhos de João I. Rui de Pina, por seu lado, exalta no colectivo dos filhos do rei da
Boa Memória a mágoa e a dor por eles reveladas no officio de tristeza que fora o funeral
86 Continuando a enaltecer a obediência e humildade destes infantes, o cronista passa depois a citar uma
de Pina, "Chronica do senhor Rey D. Duarte" in Crónicas, ed. cit., p. 491.
epístola sobre um infante herdeiro de Inglaterra muito rebelde contra o seu pai: Sae da geraçaom e nam com verdade della o que per seu grado desobedece a seu pai, porque tira o raio ao ssoll e loguo nã he soll nem luz. Estrema o rio da fomte e loguo deixa de ser rio. Talha o ramo da arvore e muito cedo se faaz seco. Aparte o filho da obediencia do padre, e loguo nam parece filho. – Fernão Lopes, Crónica de D. João I, II, ed. M. Lopes de Almeida e A. de Magalhães Basto, Barcelos, Liv. Civilização, 1990, p. 322. 87 Rui
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
382
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
Anos mais tarde não deixa o mesmo cronista de utilizar este tema na narrativa do
reinado de Afonso V. Por um lado, mencionando o tanto amor e affeiçam que o
monarc
a existência na tratadística médica medieval de
diversos procedimentos para adivinhar, induzir ou provocar a concepção de um filho ou
de uma
oesão e a reprodução do grupo familiar, enquanto as
filhas contribuíam pelo dote, para a respectiva fragmentação patrimonial, e, pela
a, ainda de tam pequena hydade, dedicava à mãe.88 Depois, quando se agudiza
o conflito entre o rei Afonso V e seu tio, conta como a rainha, filha de D. Pedro, porque
nella o amor e piadade pera elle lhe nom faleceo bem como a natural divida de sangue,
ajoelhou em frente ao marido e lhe pediu compaixão e tréguas para com seu pai. Mais
tarde, ao saber da triste certydam da morte de seu padre, com pubrycos synaaes de
mortal dor muito sentio e chorou, e nom como alhea mas como sua propria morte. 89
5 - RAPAZES OU RAPARIGAS
Como já atrás mencionámos,
filha, tende a testemunhar como não era então indiferente o sexo das crianças,
sobretudo a vontade de conceber varões. Com efeito, essa preferência parece deduzir-se
da forma como os preceitos destinados a prever o sexo de um filho, valorizavam a
esperança de um rapaz, já que só as respectivas grávidas gozavam de uma grande
alegria, de boas cores, de uma maior agilidade e serenidade, ao mesmo tempo que,
apenas nelas, se notaria a proeminência do ventre à direita e um menor volume do seio
esquerdo.90 Num mundo de preponderância masculina,91 numa sociedade rural e
guerreira que valorizava a resistência e a força físicas no quadro de uma economia de
guerra, o princípio do domínio masculino era inquestionável, fosse qual fosse o real
peso demográfico das mulheres.
Entre as elites, no seio das linhagens, competia aos filhos varões, pelo mando e
pela descendência, assegurar a c
88 Rui de Pina, "Chronica do senhor Rey D. Affonso V" in Crónicas, ed. cit., p. 648. 89 Id., ibidem, respectivamente p. 734 e p. 754. 90 Vidé capítulo NASCER. 91 Segundo Fossier, no século XII e durante uma parte do XIII, o número de mulheres adolescentes e adultas era inferior ao dos homens (90-95 contra 100-110), enquanto a mortalidade da primeira infância se revelava, de um modo geral, mais elevada no sexo masculino, nitidamente menos resistente. Na opinião deste medievalista, estes valores tanto podiam resultar de uma flagrante diferença de tratamento entre os dois sexos, como de uma grande mortalidade feminina de origem puerperal. Veja-se Robert Fossier, “A Era Feudal (séculos XI a XIII)” in História da Família, Lisboa, Terramar, 1989, p. 104 e também Henri Bresc, "A Europa das cidades e dos campos (séculos XII a XV), in História da Família, ed. cit., p. 131.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
383
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
matern
, se limita a fornecer o
pretext
exemplo, o que se
tendia
stência
físicas
preocupações e atenções prestados pelos pais tanto aos filhos como às filhas, gerando as
idade, para o crescimento de famílias concernentes ou rivais. Como sublinha
Henri Bresc, neste contexto, a criança representava “o habitáculo, perecível e
transitório, do património simbólico da linhagem, sobretudo o paterno, tudo conduzindo
o indivíduo para um parentesco exclusivamente masculino”. 92
Na cronística de Avis, as informações respeitantes ao nascimento régio de
infantes variam conforme o seu sexo. Em Fernão Lopes, por exemplo, se a notícia do
nascimento da primeira filha do rei João I, a infanta Branca
o para a indicação genealógica das datas dos respectivos nascimento, morte e
local de sepultura, já a relativa ao nascimento do infante Afonso é seguida pela menção
às justas reaes e as outras alegrias que o monarca então ordenara.93
Na sociedade cavaleiresca e feudal do Ocidente medieval, a discriminação
afectiva e educativa das filhas relativamente aos filhos ocorria, sobretudo, durante os
primeiros anos de vida, reservando-se, em geral, aos varões, por
a recusar às meninas. De facto, estas só começavam a ser alvo de maiores
atenções familiares à saída da primeira infância, quando adquiriam para a linhagem o
valor estratégico de potenciais promotoras de decisivas alianças de parentesco.94
Entre os camponeses, no entanto, as filhas forneciam, desde a sua infância, um
valorizado suplemento de mão-de-obra familiar. Contudo, quer o trabalho da terra, quer
o da maior parte das actividades artesanais domésticas exigiam a força e a resi
que justificavam a valorização dos filhos varões. Nesse sentido, no seu conjunto,
tanto a sociedade cavaleiresca como a camponesa surgem dominadas por uma
hierarquia masculina de funções e de valores. No fundo, as raparigas eram pensadas
mais como fonte de encargos do que de proventos. Só durante a Baixa Idade Média, no
quadro das vilas e cidades, é que as filhas começaram, decisivamente, a merecer uma
crescente consideração social, à medida que se iam complexificando e atenuando as
hierarquias baseadas na divisão sexual do trabalho e do mando.
Nos livros de milagres evidencia-se, no entanto, os mesmos cuidados,
92 Henri Bresc, ob. cit., ed. cit., pp. 117-118. 93 Fernão Lopes, Crónica de D. João I, ed. cit., vol. II, p. 320. De acordo com Henri Bresc, as notícias cronísticas relativas à diversidade das manifestações pelo nascimento de um filho ou de uma filha na corte de Borgonha, testemunham uma muito maior discriminação sexual, contando-se como o duque Filipe o Bom, se recusara a assistir ao baptismo da primogénita do seu filho e sucessor “porque não era senão uma rapariga, mas se aprouvera a Deus enviar-lhe um filho, teria feito uma grande festa”. - Henri Bresc, ob. cit., ed. cit., p. 131. 94 Robert Fossier, ob. cit., ed. cit., p. 97.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
384
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
suas doenças ou acidentes idênticas iniciativas parentais. Com efeito, conforme se pode
observar nos Gráficos Nº 29 - Invocações Parentais para Milagres Infantis e
Nº 30 - Acompanhamento Parental das Crianças Miraculadas aos Santuários), os pais
não parecem discriminar sexualmente as suas crianças no que diz respeito à procura de
meios sagrados capazes de lhes atenuar o sofrimento e devolver a saúde.
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%
PER
CEN
TAG
EM
Pai Mãe Pais
GRÁFICO Nº 29 - INVOCAÇÕES PARENTAIS PARA MILAGRES INFANTIS
Rapaz Rapariga
Num corpus de cento e quarenta e nove referências aos
invocantes/acompanhantes parentais das crianças miraculadas, cento e catorze referem-
-se aos rapazes e trinta e cinco às meninas. Para os primeiros, surgem referidos os pais
em 46 casos (40%), as mães em 41 (36%), e ambos em 14 (12%); para as raparigas
contabi se tiv
lizam- , respec amente, 18 (51%) menções feitas pelo pai, 10 (29%) feitas
pela mãe e 6 (17%) por ambos, ou seja, uma proporção praticamente idêntica, conforme
se pode visualizar no Gráfico Nº 31 – Total de Invocações e Acompanhamentos
Parentais nos Milagres de Crianças.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
PER
CEN
TAG
EM
Pai Mãe Pais
MENTO RACULADAS
AOS SANTUÁRIOS
GRÁFICO Nº 30 - ACOMPANHAPARENTAL DAS CRIANÇAS MI
Rapaz Rapariga
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
385
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%PE
RC
ENTA
GEM
Pai Mãe Pais
GRÁFICO Nº 31 - TOTAL DE INVOCAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS PARENTAIS NOS MILAGRES DE CRIANÇAS
Rapaz Rapariga
Para além do sexo, também a idade das crianças não parece ter pesado nas
preferências maternas ou paternas. De facto, tanto o pai como a mãe surgem igualmente
preocupados com crianças de todas as idades. Entre as mais pequenas, por exemplo,
tanto se inclui a recém nascida que esteve quatro dias sem mamar e morreu vindo a ser
ressuscitada através de uma invocação do pai, contando-se depois como este fez uma
romaria gratulatória à sepultura do santo que a salvara, como a menina de dois anos cuja
mãe, ao ver a filha quase morta por ter caído pelas escadas, a foi oferecer à sepultura do
santo condestável.95 Entre as mais velhas, por seu lado, contam-se, quer a rapariga de
catorze anos à qual deo o ar no corpo todo e que o pai prometeu levar até à sepultura de
Nuno Álvares Pereira, quer o de um moço cego e tolhido de um estupor, então com
quinze anos, a quem a mãe levou, por duas vezes, ao santuário de Gonçalo de Amarante
para o curar.96
Não podemos, no entanto, deixar de referir que, se nos casos mencionados, o
interesse e a atenção demonstrados pela progenitura masculina ou feminina se apresenta
proporcionalmente semelhante, existe uma enorme disparidade numérica entre as
95 Respectivamente: Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga, e Regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, I, ed. cit., pp. 489 e 554-555. 96 Respectivamente: Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., pp. 504-505 e "S. Gonçalo de Amarante", in Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, I, ed. cit., pp. 279-280.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
386
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
referências feitas aos dois sexos,97 podendo esta disparidade sugerir uma maior atenção
ou preocupação para com o sexo masculino por parte da própria mãe.
6 - AMOR DE IRMÃOS E DE AVÓS
Na sociedade medieval, marcada por baixas taxas de esperança de vida, a
coabitação entre irmãos era, por vezes, mais frequente do que a existente entre filhos e
pais. Com efeito, visto a diferença de idades entre irmãos ser normalmente muito
pequena, abundam os exemplos de uma grande convivência fraternal nos jogos e nas
brincadeiras de rua, sendo, portanto, frequente uma grande ligação afectiva entre os
irmãos. No seu Leal Conselheiro, o rei Duarte reflecte essa realidade, ao recordar como
ele e os seus irmãos nunca haviam sentido entre eles enveja, desordenada cobiiça,
avareza, desejo ou mostrança de sobrançaria.98
Também a cronística de Avis sublinha a existência desses afectos fraternais. Por
um lado, noticiando como o infante Pedro sempre demonstrara obediência e amor ao
seu irmão primogénito, o rei Duarte, conforme devia e tynha.99 Por outro,
relativamente ao infante João, referindo como ele sentira a morte do irmão e rei Duarte,
com contynuas lagrimas, e dorosas palavras que testemunhavam o sentymento de seu
coraçam, e como, quando ele próprio falecera, provocara um grande desgosto ao infante
Pedro porque eram Irmãos, que sem cautella e muy verdadeiramente se amaram, e
foram sempre em todo muy conformes. 100
Mesmo entre os grupos não privilegiados, sentir-se-ia o mesmo tipo de afecto.
Nos milagres que Afonso X de Castela e Leão compilou relativamente a Nossa Senhora
de Terena, conta-se, por exemplo, como a Virgem aconselhara o irmão de um seu
miraculado a acompanhá-lo ao templo de Terena ou aí o levar em romaria, o que, tendo
sido feito, devolvera a saúde e a razão ao pobre endemoinhado.101
Entre os irmãos de sexo diferente a proximidade afectiva não seria tão notória,
já que a maturação e crescimento das raparigas, sendo mais precoce e doméstica,
implica aprendizagens e quotidianos separados dos dos rapazes. No seio da nobreza, as
irmãs tendiam a casar-se muito novas, após uma breve educação para irem desempenhar
97 Sobre esta disparidade veja-se o capítulo ADOECER. 98 D. Duarte, Leal Conselheiro, ed. cit., p. 358. 99 Rui de Pina, "Chronica do Senhor Rey D. Duarte" in Crónicas, ed. cit., p. 495. 100 Id., ibidem, respectivamente, p. 605 e p. 688. 101 Alfonso X, Cantigas de Santa Maria, ed. cit., p. 197.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
387
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
as funções de mães e gestoras domésticas do lar, educação que era, por vezes,
completada em casa da futura sogra. Precocemente separadas da sua família e da sua
linhagem, as jovens perdiam, frequentemente, os laços afectivos que as tinham unido
aos irmãos.
Essa situação não seria tão frequente nas famílias dos grupos sociais não
privilegiados. De facto, para os camponeses e para os artesãos, o crescimento e a
formação dos filhos não envolveria uma tão nítida separação sexual, podendo supor-se a
existência de uma maior solidariedade geracional entre os rapazes e as raparigas e,
consequentemente, uma mais sólida presença dos afectos existentes entre ambos.
Já no que diz respeito aos afectos que eram testemunhados às crianças pelos
avós, a situação seria diferente. É certo que os livros de milagres medievais portugueses
citam, por vezes, o desespero e a aflição sentidos pelos avós perante as doenças ou os
acidentes sofridos pelos netos, referindo-se, por exemplo, quer como uma avó chorou o
neto falecido que era o lume dos seus olhos,102 quer como um avô fora buscar terra
sagrada ao mosteiro lisboeta de Nossa Senhora do Carmo, quando os seus dois netos
tinham muita febre.103 São também citados os casos de avós que, ou tomaram uma
idêntica iniciativa para curar a quebradura104 ou o espanto dos netos,105 ou tentaram
aliviar-lhes a dor ao lavar-lhes, com água santa, as boboas do corpo.106
Contudo, todos estes exemplos referem-se a situações familiares ocorridas em
vilas e cidades, sendo nulas as que registam contextos familiares rurais, já que aí, os
baixos índices de esperança de vida terão, certamente, condicionado a possibilidade do
desenvolvimento de duradouras ou frequentes relações quotidianas entre netos e avós.
Ora, num contexto feudal e cortesão marcado pela plausibilidade de se alcançarem
idades mais avançadas e pelo culto das protecções a desenvolver entre as gerações de
uma mesma linhagem, essas relações e afectos seriam certamente mais possíveis e
incentivados.
Nesse sentido, parece significativo o facto de os cronistas os considerarem
matéria histórica e exemplarmente relevante, noticiando, por um lado, como o rei
Afonso X de Castela e Leão, recebeu em Sevilha, com sinaes de grande amor, o neto, o
futuro rei Dinis de Portugal, para lhe outorgar, posto que fosse moço mas jáa em idade 102 Frei Luís de Sousa, “S. Frei Gil” in História de S. Domingos, ed. cit., p. 232. 103 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., p. 548. 104 Id., ibidem, pp. 531-532. 105 "Milagres de S. Veríssimo", ed. Mário Martins, in ob. cit., ed. cit., pp. 49-50 106 "Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa", ed. Mário Martins, in Lavdes & Cantigas Espiritvais de Mestre André Dias, Lisboa, 1955, p. 294
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
388
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
para poder caminhar, parte dos direitos de soberania sobre o reino de Algarve107 e, por
outro, salientando ter a rainha Beatriz, a esposa do rei Afonso IV de Portugal, decidido
em testamento, ordenar o depósito dos restos mortais de uma sua neta homónima morta
muy moça, a filha da infanta Leonor e do rei de Aragão, no mesmo túmulo que lhe
estava destinado na catedral de Lisboa, porque, sendo por ela criada na corte
portuguesa, em menina faleceo.108
7 – OUTROS AFECTOS
Por fim, as fontes medievais portuguesas também registam o amor e os cuidados
dispensados às crianças pelos respectivos aios e amas. No primeiro caso, a progressiva
historização da chamada Gesta de Egas Moniz fez com que a cronística de Avis
pudesse referir a mui grão dó sentida pelo fictício aio de Afonso Henriques, ao receber
para criar uma criança que, embora muito fremosa tinha um aleijão nas pernas,
dizendo-se que o senhor de Riba Douro, confiando em Deus, que lhe poderia dar
saude, a teria educado não com menos amor e cuidados como se fora muito sã.109
Quanto às amas de leite, bastante utilizadas pelas elites fidalgas e urbanas, os
afectos direccionados às crianças que amamentavam surgem especialmente
referenciados na literatura hagiográfica. Em certas vidas de santos, são recordadas como
responsáveis pelo respectivo crescimento, contando-se haver S. Gonçalo recebido
mantiimento das tetas da ama110 ou então na qualidade de dispensadoras de especiais
carinhos e aconchegos, conforme se lembra a propósito de S. Frei Gil que, ainda de
peito, dormia na cama da ama.111
Nos livros de milagres, por seu lado, menciona-se, por exemplo, o sofrimento
sentido por uma ama a quem o menino que aleitava ficou com a garganta muito
inchada, sem conseguir comer ou beber. De facto, é a ela que se atribui a iniciativa da
respectiva cura, ao invocar o auxílio de S. Frei Gil de Santarém, ao mesmo tempo que
107 Rui de Pina, "Coronica DelRey D. Affonso III" in Crónicas, ed. cit., pp. 195-196 108 Rui de Pina, "Chronica D'El-Rei D. Affonso IV" in Crónicas, ed. cit., p. 462. 109 Duarte Galvão, Chronica de El Rei D. Affonso Henriques, ed. cit., p. 22. Sobre as origens e transmissão textual da Gesta, veja-se José Mattoso, "João Soares Coelho e a gesta de Egas Moniz" in Portugal medieval. Novas interpretações, Lisboa, I.N.C.M., 1985, pp. 409-435. 110 Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. cit., p. 159. 111 Frei Luís de Sousa, ob. cit.,ed. cit., p. 21, num milagre atribuído a S. Frei Gil de Santarém.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
389
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
colocava sobre a garganta da criança enferma um pedaço de roupa que fora usada pelo
santo. 112
De resto, nos tratados pedagógicos dos finais da Idade Média, o tópico dos
carinhos e dos afectos a dispensar às crianças pelas suas amas de leite está quase sempre
presente. Para Bartolomeu, o Inglês, por exemplo, nada as devia distinguir das mães no
tocante ao carinho e ternura a dispensar aos mais pequenos. Tal como verdadeiras
progenitoras, competir-lhes-ia ficar feliz se a criança o estava ou sofrer quando ela
sofria. Para além disso, também lhes competiria, à semelhança de uma mãe, levantar a
criança se ela caía, dar-lhe de mamar se ela chorava, beijá-la e mimá-la se estava
doente, limpá-la se se sujava, alimentá-la enquanto ela brincava, ensinar-lhe a falar
sempre que a criança não o conseguia, tagarelando e não hesitando em magoar a sua
própria língua para exemplificar a linguagem, procurar remédios para a curar, aliviar-
-lhe o choro pegando-lhe ao colo, esmagar primeiro a comida que a criança iria engolir
para que ela não se engasgasse, cantar e acariciá-la para adormecer e ainda atar-lhe os
membros infantis com ligaduras de linho para evitar curvaturas deformantes no
corpo.113
De uma forma geral, a companhia e os afectos dispensados pelas amas de leite
geravam a formação de sólidas e duradouras irmandades de leite, nomeadamente entre
os colaços cujo relacionamento se mantinha após o desmame. Nesse sentido, os livros
de linhagens medievais portuguesas conservam a prestigiada memória fidalga desse
parentesco artificial, sobretudo se desenvolvido durante uma infância comum a futuros
reis e rainhas. Assim, por exemplo, consagram a recordação de como Miguel Fernandes
de Lisboa,114 ou as mulheres de Lourenço Martins de Avelal115 e de Vasco Fernandes
Leitão,116 haviam sido, respectivamente, colaço de Afonso III de Portugal e colaças da
rainha Beatriz, a esposa de Afonso IV de Portugal e do rei Dinis.
112 “S. Frei Gil” in Flos Sanctorum, V, ed. cit., p. 194. 113 Citado por Henrietta Leyser, Medieval Women. A Social History of Women in England 450-1500, Londres, Phoenix Press, 1995, p. 135. 114 Consultem:se: "Livro do Deão" in Livros Velhos de Linhagens, ed. Joseph Piel, José Mattoso, Lisboa, Academia das Ciências, 1980, 6AU10; Livro de Linhagens do conde D. Pedro, I, ed. José Mattoso, Lisboa, Academia das Ciências, 1981, 38510. 115 Livro de Linhagens do conde D. Pedro, ed. cit., 14U7. 116 Id., ibidem, 44U56.
________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
390
AMAR __________________________________________________________________________________________________________
Por último, saliente-se como os livros de milagres medievais portugueses
também registam os afectos dedicados às crianças pelos vizinhos das suas famílias,
mencionando como também se angustiavam pelas suas doenças ou pelos acidentes que
as atingiam, ou se alegravam pelas respectivas cura ou ressurreição. Entre outros, citam-
-se os casos da vizinha de um minino de peito que fez uma promessa a S. Frei Gil
quando a criança asfixiou ao engolir um anel,117 de outras que fizeram deprecação para
que uma criança fosse ressuscitada pelo santo condestável e ainda dos vizinhos que,
com a aflição de saber que a criança se tinha afogado quando andava a brincar, com
muitas lagrimas começaram a bradar. 118
117 Frei Luís de Sousa, “S. Frei Gil” em História de S. Domingos, ed. cit., p. 240. 118 Frei José Pereira de Santa Anna, ob. cit., ed. cit., respectivamente, pp. 490 e 491.
_____________________________________________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
391
CONCLUSÃO
A escrita da história deve conservar o gosto do inacabado, recusando-se a encerrar seja o que for, evitando qualquer forma soberana de saberes adquiridos.
Arlette Farge 1
Durante muito tempo pensou-se que, num mundo onde a morte levava uma em
cada três crianças de pouca idade, estas apenas seriam consideradas como vidas em
suspenso, ou mortes anunciadas, a que não se reservariam grandes dedicações e afectos.
Para além disso, também a raridade da presença infantil nos textos ou nas representações
artísticas, confirmaria o desinteresse medieval pelas crianças. Estas teriam vivido, então,
na opinião de muitos, uma longa noite a que Santo Agostinho parecia referir-se quando
dizia que as crianças prefeririam morrer a recomeçar a sua infância, se tal escolha lhes
fosse proposta.
Presente à partida do nosso trabalho, esta imagem foi-se desvanecendo à medida
que a investigação progredia. Nos últimos anos, a consulta de múltiplas e variadas fontes,
fez com que as crianças medievais passassem a surgir-nos de forma muito diferente.
Depois de as começarmos a situar nos respectivos contextos familiares e sociais, e após
as percepcionarmos no campo, nas vilas e cidades, no trabalho, na escola, no mosteiro ou
no castelo, em sucessivas conjunturas de carência e abundância, de guerra e de paz, elas
começaram a ganhar nitidez e realidade, apresentando-se bastante longe da sua pretensa
identificação com um grupo etário, social e civilizacionalmente ignorado, desprezado e
oprimido.
Nesse sentido, começámos, então, a pôr em causa, ou a relativizar, conclusões e
interpretações demasiado apriorísticas ou estereotipadas. Um primeiro aspecto tem a ver
com a consideração de que as altas taxas de mortalidade infantil existentes na Idade
Média testemunhariam a incúria e a indiferença que as crianças teriam então merecido
aos adultos, esquecendo-se como também estes se encontravam globalmente
confrontados com grandes índices de mortalidade, sobretudo em conjunturas de guerra ou
de peste.
1 Arlette Farge, Le Goût de l'Archive, Paris, Seuil, 1989, p. 146.
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
Depois, a leitura de que as altas taxas de natalidade próprias da sociedade
medieval traduziriam, paralelamente aos elevados índices de mortalidade infantil, a
prática inexistência de gravidezes desejadas, o que, por sua vez, explicaria o corrente
recurso à contracepção, ao aborto e, sobretudo, ao infanticídio.
Ora, por um lado, as atestadas variações da taxa de natalidade de acordo com o
meio ou com os grupos sociais, implicando diferenças relativas ao rural, ao urbano e aos
distintos níveis de riqueza ou de poder, mostram como a reprodução medieval esteve
longe de ser totalmente condicionada por meros factores biológicos ou ético-religiosos.
Por outro lado, considerar que as mortes infantis por aborto ou infanticídio reflectiriam
uma demonstrada indiferença social pelo destino das crianças, revela-se, quanto a nós,
bastante problemático e duvidoso. Com efeito, essa leitura terá que ser pelo menos
matizada, ao considerarmos, quer que todo o aborto tendia a ser considerado como um
infanticídio, visto o feto ser entendido como criança desde o 40º dia de gravidez, quer
que então eram muito frequentes as mortes acidentais infantis, sendo extremamente
ténue a fronteira existente entre um infanticídio e uma morte por negligência ou
homicídio voluntário praticado pelos pais. Deve ainda também ser tido em conta como a
elevada mortalidade e a frequência dos abortos espontâneos seriam suficientes para que a
sociedade medieval não tivesse sentido a necessidade de recorrer com tanta frequência, e
a todo o custo, ao aborto voluntário e, ainda menos, ao infanticídio na qualidade de meios
de controlo dos nascimentos. Na realidade, o verdadeiro problema seria, sem dúvida, o de
gerar e de manter crianças suficientes para assegurar a renovação das gerações.
Todas estas considerações parecem, assim, inviabilizar a tese, exposta por Phillipe
Ariès, de que “a vida da criança era, então, considerada com a mesma ambiguidade que a
do feto hoje”,2 mais não seja porque o feto era considerado na Idade Média não só uma
criança, mas também uma pessoa. De facto, mesmo no ventre materno ele dispunha de
um estatuto jurídico e legal idêntico ao dos seus irmãos e irmãs vivos, visto serem-lhe já
atribuídos direitos à herança dos pais. Aliás, para além dos legistas, também os médicos
consideravam o feto como um ser a proteger. Com efeito, a tratadística médica medieval
desenvolveu numerosos cuidados destinados a preservá-lo, recomendando às
grávidas uma correcta alimentação, evitarem trabalhos pesados, sofrerem pancadas
e darem saltos, ao mesmo tempo que deveriam sempre mostrar-se alegres e bem
dispostas, no pressuposto de que tudo o que afectava a mãe afectava o feto.
_________________________________________________________________________________________________ 394
2 Philippe Ariès, A criança e a vida familiar no Antigo Regime, Lisboa, Relógio d' Água, 1988, p. 20.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CONCLUSÃO ______________________________________________________________________________________________
De resto, a consideração do discurso médico, simultaneamente normativo e
sensível, revela-se imprescindível para melhor compreender a forma como a sociedade
medieval considerava a infância, mais não seja porque nos seus tratados, ao definirem a
especificidade das idades da vida, melhor desenvolveram e divulgaram os conselhos
destinados a proteger e a assegurar a sobrevivência das crianças. Desempenharam, por
isso, um importante papel no reconhecimento medieval da infância multiplicando e
disponibilizando recomendações relativas ao aleitamento e à melhor maneira de vestir,
deitar e alimentar as crianças.
Também os escritos dos teólogos e canonistas constituíram fontes indispensáveis
para o conhecimento aprofundado do lugar reservado à criança pela sociedade medieval.
É neles, com efeito, que se encontram decisivos esforços para assegurar os meios
destinados a uma sua crescente protecção espiritual, seja através da preocupação em
efectivamente assegurar a administração do sacramento do baptismo pouco depois do
nascimento, na tentativa de evitar aos pequenos seres uma morte "impura", seja através
da vontade em lhes fornecer, por via da teorização, desde o século XII, o conceito de
Limbus Puerorum, um lugar teológico onde as suas almas pudessem vir a alcançar a
salvação eterna
Tudo isto, enquanto progrediam as normas destinadas a disponibilizar às crianças
que morriam sem baptismo condignos espaço e culto funerários e se incentivava a prática
onomástica de colocar os recém-nascidos sob a especial protecção dos santos
homónimos.
Contudo, embora a leitura atenta da tratadística civilista, médica, teológica e
canonista tenha contribuído para atenuar a convicção de que a sociedade medieval
desconheceria uma sólida e fundamentada percepção da especificidade da criança, o que,
na verdade, se apresentou como consolidado nos finais da medievalidade, através da
consulta de vários textos didáctico-morais especialmente centrados em problemáticas
pedagógicas, permaneceram as interrogações motivadas pela raridade da presença infantil
nos textos literários propriamente ditos, sendo essa carência, em geral, interpretada como
convincente testemunho do pouco interesse que ela despertaria social e culturalmente. É
certo, na verdade, que se confirma essa ausência, sobretudo no âmbito da poética e da
ficção cortesãs. Contudo, essa situação não se verifica nos casos da cronística e,
sobretudo, no dos escritos hagiográficos, nomeadamente no que respeita aos livros de
milagres, onde as crianças figuram com o mesmo peso e relevância reservados aos
__________________________________________________________________________________________ 395
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
adultos. Aliás, de uma forma geral, a escrita permaneceu muito tempo como uma
actividade culturalmente minoritária na sociedade medieval, tendo-se quase sempre
confinado a um universo masculino, clerical ou cortesão, para quem os quotidianos e as
emoções, em cujo âmbito poderia inserir-se a referência às crianças, contavam pouco.
Mas, se é verdade que a Cristandade medieval não foi uma civilização da escrita e
que antes teve na oralidade, na imagem e no ritual o seu principal meio de comunicação
social e cultural, que dizer das imagens, onde, durante muitos séculos figuravam poucas
crianças, quase sempre inexpressivas e sem quaisquer marcas de emoção ou específica
infância? Não será tudo isto, afinal, o reflexo de como a medievalidade permanecera
insensível às crianças e aos seus valores?
Também aqui, o longo contacto com as imagens medievais, ajudou a relativizar e
problematizar a questão. Com efeito, por um lado, permitiu-nos verificar que se as
imagens das crianças, sobretudo as românicas, se revelavam inexpressivas e pouco
apostadas numa figuração naturalista, o mesmo se passava com as relativas às mães, ou
seja, as que representavam Nossa Senhora. Por outro lado, verificámos também que essas
características formais não se mantinham uniformes ao longo de toda a Idade Média,
surgindo as figurações do Menino Jesus como uma criança frágil e emotiva no âmbito da
arte gótica, ou seja, quando Ele e a mãe perderam as referências teológicas de uma
iconografia dogmática, para passarem a espelhar as vivências e as atitudes terrenas.
De facto, foi a partir da Baixa Idade Média que a iconografia da Natividade e da
Maternidade sagradas começou a ser transmitida através de imagens atentas à
representação dos temas da ternura face aos recém-nascidos e da aflição perante a
fragilidade das crianças, conforme a sensibilidade dos crentes a uma figuração emotiva
da infância, ao mesmo tempo, aliás, que também se multiplicavam as imagens
devocionais dos santos protectores de crianças.
À partida, a emergência de uma iconografia relativa à infância na arte gótica
urbana de finais da Idade Média, assim como a afirmação de um certo naturalismo na
figuração das crianças, parece apontar para uma tardia descoberta medieval da identidade
infantil. É essa, de facto, a leitura proposta por Philippe Ariès, quando, ao afirmar que, “a
arte medieval até ao século XIII não conhecia a infância, ou não se esforçava por a
representar”,3 depois de comparar todos estes novos testemunhos com a pintura
renascentista das Nossas Senhoras e o Menino, conclui estar-se então perante os
_________________________________________________________________________________________________ 396
3 - Philippe Ariès, ob. cit., ed. cit., pp. 58-59.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CONCLUSÃO ______________________________________________________________________________________________
primórdios de uma descoberta europeia da criança que depois seria desenvolvida e
acentuada durante a Idade Moderna.
Contudo, se se tiver em conta a existência de uma continuidade entre a arte
românica e a gótica, no que diz respeito à iconografia dos temas da infância, apenas
variando por aspectos relacionados com diferentes modelos de produção e função de
imagens devocionais, tais conclusões têm necessariamente que ser matizadas no
concernente à tese da inexistência de um sentimento de infância na medievalidade
anterior ao século XIII. Com efeito, foi sobretudo devido ao facto de as representações da
Natividade e da Maternidade divinas deixarem de ser produzidas em meios religiosos,
onde a arte, num contexto rural e monástico, era tradicionalmente pensada enquanto meio
de difusão ritual e dogmático da crença, para passarem, na transição do românico para o
gótico, a definir objectos devocionais encomendados por comunidades religiosas e
patronos muito sintonizados com os quotidianos e os valores urbanos, que se assistiu à
necessidade de proceder a inovações estético-formais destinadas a melhor reflectirem os
gostos e a espiritualidade próprios de uma Cristandade tendencialmente leiga e profana.
Ora, foi exactamente no âmbito dos contactos então ocorridos entre os artistas e
os crentes urbanos, que a iconografia da Natividade e da Maternidade divinas passou a
dar maior relevo a temas e motivos susceptíveis de melhor aproximar o sagrado cristão
aos crentes que então reivindicavam um maior protagonismo religioso no seio da Igreja,
conforme testemunham os inúmeros saltérios, livros de horas e imagens devotas que as
elites urbanas da Baixa Idade Média possuíam ou cultuavam privadamente. Assim, ao
tornar-se mais atenta às marcas e aos valores urbanos, a arte gótica começou a incorporar
uma parte significativa dos quotidianos leigos e profanos, para melhor os educar e
doutrinar.
No entanto, se os artistas começaram a moldar a arte sacra aos comportamentos e
hábitos dos leigos, humanizando a iconografia do sagrado para mais facilmente captarem
a devoção dos crentes urbanos, continuam a revelar-se extremamente selectivos. Por um
lado, raramente figuram cenários ou atitudes rurais, a não ser a propósito de imagens
evocativas da mística da sucessão das estações ou dos meses do ano. Por outro, só muito
ocasionalmente retratam o viver do povo miúdo das vilas e cidades, ignorando a
realidade do trabalho, das ruas ou das feiras. De facto, a sua arte, revela-se longe de
poder reflectir ou espelhar a realidade social situada para além do mundo que envolve e
emociona as elites urbanas e cortesãs que a patrocinam e consomem. As lacunas e os
__________________________________________________________________________________________ 397
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
silêncios da iconografia são também documentos históricos, pois a selecção feita nas
imagens não é neutra nem ocasional.
Em suma, o modo gótico de representar a infância não se apresenta tanto como o
reflexo artístico de uma mutação histórica que teria conduzido à posterior descoberta e
valorização da identidade infantil mas mais como uma estética desenvolvida pela arte
sacra medieval para responder e disciplinar as aspirações e inquietações espirituais
próprias das elites leigas urbanas da Baixa Idade Média. Nesse sentido, em vez da sua
iconografia da infância se poder exclusivamente interpretar, como defende Ariès, na
qualidade de "prova pela arte" de um até aí inexistente "sentimento sobre a especificidade
da infância", pode antes ser lido como testemunho de uma sua prévia e consolidada
existência. Artisticamente ausente, porque alheio à estética e funções da arte sacra
românica. Arqueologicamente presente através dos bonecos, jogos e miniaturas de louça
encontrados em vários sítios intervencionados nos últimos anos e pelos cuidados
evidenciados nas sepulturas infantis estudadas em muitas necrópoles medievais.
De facto, se uma análise mais simples da arte prova efectivamente que na pintura
e na escultura, a criança é representada diferentemente, nada prova que na realidade ela
seja tratada diferentemente. É a passagem da arte à realidade que é preciso considerar
com maior prudência e rigor, assim como a diferença entre “sentimento de infância” e
“sentimento pela criança”.
De um modo geral, a investigação e a redacção da dissertação que agora termina
decorreram sob o signo destas problemáticas e controvérsias, procurando responder à
questão de saber se as crianças medievais seriam ou não amadas, protegidas e cuidadas.
Nesse sentido, começámos por assistir às invocações, promessas, romarias e mezinhas
utilizadas por muitas mulheres para que Deus lhes desse alguu fruyto de geraçõ; umas,
porque consideradas maninhas, outras porque, embora parindo muytos filhos, lhes
morriam todos.
_________________________________________________________________________________________________ 398
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CONCLUSÃO ______________________________________________________________________________________________
Depois, após a alegria do cõcebimento, acompanhámos os cuidados médicos e
alimentares seguidos pelas grávidas até chegarmos ao tão temido e ansiado momento do
parto. Assistimos, então, às suas dores e medos, ouvimos os seus gritos lastimosos, e
participámos do júbilo de ver nascer sem nenhuu perijgo os filhos tão desejados.
Seguidamente, fomos observando o crescimento das crianças, os cuidados postos na sua
higiene e alimentação e novamente a angústia de muitas mães que, seccando-se-lhe os
peitos, tiveram de recorrer aos santuários para procurar algo que lhes fizesse outra vez
acudir o leite. Entretanto, também fomos vendo surgir os primeiros dentes e os primeiros
passos das crianças, ouvindo as suas primeiras palavras e observando os seus primeiros
jogos, brinquedos e também as suas primeiras travessuras. Assistimos ainda à aflição e
ao choro dos pais quando os seus filhos adoeciam e com eles deambulámos por diversos
santuários ouvindo-os implorar a cura ou até a ressurreição dos filhos, e constatando
como os pais e as mães se uniam, acreditando, talvez, que a sua união multiplicaria as
possibilidades de obtenção das graças divinas.
É certo que em toda esta longa caminhada nos fomos, por vezes, deparando com
vários sinais de uma aparente indiferença maternal para com os filhos, patente em
algumas situações de aborto, infanticídio ou abandono. Terão sido, no entanto, suficientes
para que se possa falar de uma ausência de amor parental durante a Idade Média? Será
que ao caminharmos por esta via não estamos a esquecer (voluntária ou
involuntariamente), que muitas coisas podem dificultar ou entravar o amor parental, a
começar pelo próprio nível de vida? Quando a miséria económica, física ou psicológica
surge demasiado grave, o coração pode esfriar ou secar e, até cantar uma simples canção
de embalar pode exigir um clarão de esperança. Não diminuirá o instinto maternal de
uma mãe sobrecarregada pelo trabalho e por consecutivas gravidezes?
De facto, parece difícil comparar e generalizar os comportamentos e as emoções
das “boas" e das "más" mães, se conhecemos melhor as primeiras e consideramos
estranhas e indignas as de que só sabemos terem abandonado ou morto as suas crianças.
Antes disso, na verdade, torna-se necessário ter em conta a forma como a sociedade da
época esperava que as mães se comportassem e tentar identificar os sentimentos então
reconhecidos como “maternais”.
__________________________________________________________________________________________ 399
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
De uma forma geral, existem abundantes testemunhos sobre os mimos e afectos
dedicados às crianças durante toda a Idade Média,4 se bem que a tratadística didáctico-
-moral visse numa excessiva demonstração desses carinhos e ternuras algo de nocivo
porque contribuiriam para envaidecer os jovens e para os tornar indisciplinados e
rebeldes.5 Contudo, como vimos nas fontes menos normativas e eruditas e, portanto, mais
próximas dos hábitos e comportamentos sociais, as demonstrações de afectividade dos
adultos para com as crianças revelam-se uma constante.
No entanto, essa atestada valorização sentimental e emotiva dos mais pequenos,
tende a expressar-se num quadro diferente do actual, visto que se repartia por uma muito
mais numerosa progenitura e exercia-se num contexto familiar correntemente
confrontado com a dor pela morte de vários filhos. Por um lado, os fracos recursos
materiais implicavam a impossibilidade de alimentar convenientemente todos os filhos
gerados. Por outro, porque a frequência das concepções e dos partos impedia as mães de
cumprir cabalmente os cuidados materno-infantis, conduzindo ao desmame prematuro e
à incapacidade de dedicar a cada um dos filhos toda a vigilância e atenção minimamente
requeridas. Sendo assim, muitos pais eram levados a atitudes de um certo distanciamento
e até afastamento relativamente aos filhos, disso dependendo a necessidade de
salvaguardarem a estabilidade emocional posta muitas vezes em causa pela morte de um
filho, e assim continuarem a dispensar os cuidados devidos à sua restante prole.
Neste contexto, marcado pela dolorosa presunção da morte prematura dos filhos,6
torna-se difícil aceitar o severo juízo de uma total ausência de afectos parentais ou o
grande desinteresse que os pais e as mães manifestariam pelos seus filhos, tanto mais
quanto os múltiplos registos referidos ao longo deste estudo patenteiam a ternura
reservada às crianças e o desgosto e a angústia provocadas nos adultos pelas suas dores e
mortes, 7 sobretudo quando esta, se ocorrida antes do baptismo, lançava dúvidas e
receios pela salvação das respectivas almas.
_________________________________________________________________________________________________ 400
4 Sobre a sua frequência e função social, veja-se Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou Cátaros e Católicos numa aldeia occitana 1294-1324, Lisboa, Edições 70, 2000, p. 275. 5 Conforme era defendido por Filipe de Novara, Les Quatre Âges de l'homme, ed. M. de Fréville, Paris, 1888, p. 6, artº 8. 6 Em Portugal, a mortalidade infantil rondava os 24,4% do total das mortes, avultando neste conjunto as crianças entre um e dois anos, e entre os dois e os seis, portanto na infância: Maria Helena da Cruz Coelho, "Os Homens ao longo do Tempo e do Espaço" in Maria Helena da Cruz Coelho e Armando Luís de Carvalho Homem (coord.), Portugal em Definição de Fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV, Nova História de Portugal, III, Lisboa, Presença, 1996, p. 180. 7 Vejam-se os casos referidos nos capítulos ADOECER e MORRER E RESSUSCITAR.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CONCLUSÃO ______________________________________________________________________________________________
Sem dúvida que muitas crianças foram negligenciadas, abandonadas, rejeitadas e
abusadas na sociedade medieval, tal como ainda hoje continuam a ser. Contudo, as fontes
disponíveis também nos relatam como muitos pais e mães logo se mobilizavam para
encontrar ajudas destinadas a curar ou a assistir os filhos doentes ou acidentados. Muitos
deles, sacrificando, generosamente, o seu tempo, o seu trabalho e os seus bens, amiúde
acompanhados e ajudados pelos parentes e pelos próprios vizinhos.
Para além disso, os dados respeitantes aos afectos profundos e continuados
dedicados pelos adultos às crianças, desde os seu nascimento, encontram-se presentes
em todos os grupos sociais e não apenas, conforme defendeu Philippe Ariès, nas famílias
das elites citadinas e cortesãs que depois os teriam difundido, por imitação social, entre
os sectores mais desfavorecidos da sociedade.8 Com efeito, mesmo entre os camponeses,
se encontram notícias sobre a dor e a tristeza manifestadas em relação aos filhos doentes
ou falecidos, os quais não seriam afinal assim tão sentidos como um encargo ou um
fardo, podendo mesmo ser considerados como uma valorizada ajuda e mais-valia
familiares. De facto, no mundo rural, onde as crianças eram precocemente introduzidas
nos labores familiares, tanto os braços infantis de hoje seriam amanhã os braços de
trabalho de um jovem adulto,9 como constituiriam uma garantia futura para o sustento da
velhice dos pais. Poderá considerar-se uma forma egoísta de colocar o problema mas,
também por este facto, pensamos que as crianças não seriam tão facilmente vítimas de
infanticídio ou de abandono.
Haverá, certamente, importantes diferenças entre os sentimentos, afectos e
atitudes reservados hoje às crianças e os que os homens e as mulheres medievais lhes
dedicavam. No entanto, os laços de dependência das crianças mais pequenas para com os
pais, particularmente para com as mães ou as amas, eram muito maiores, pois passavam
mais tempo em conjunto e tinham maiores contactos físico-afectivos, quer através da
amamentação, quer do hábito de andar ao colo ou do facto de, sendo o berço um luxo,
partilharem o calor do mesmo leito.
__________________________________________________________________________________________ 401
8 Le Roy Ladurie, no seu estudo sobre a aldeia occitana de Montaillou conclui que o afecto dos camponeses pelos filhos é “de fundação”, nada sugerindo que se “deva ver neles o produto de uma enxertia afectiva, de origem externa, elitista e da época baixa” : Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou Cátaros e Católicos numa aldeia occitana 1294-1324, Lisboa, Edições 70, 2000, p. 273. 9 Refira-se, por exemplo, o caso de um moço quebrado para quem o pai pediu um milagre porque o moço lhe podia ainda fazer muitos serviços: Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga, e Regular Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, I, ed. cit., p. 529.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
Quanto aos tão apregoados maus tratos a que as crianças medievais estariam
sujeitas, indo desde o espancamento até ao infanticídio, convém salientar-se que as
sociedades contemporâneas pós-industriais se distinguem por um muito maior recurso às
sevícias físicas no relacionamento das crianças com os adultos, sobretudo se, para além
de serem filhos provenientes de uma gravidez não desejada ou problemática, se incluírem
nos grupos ligados ao desenraizamento geo-cultural ou à exclusão social, ou seja, a
realidades e a comportamentos cuja dimensão actual está longe de ter qualquer
equivalente na civilização medieval.10
Por outro lado, mesmo que as crianças medievais partilhassem com os adultos da
sua família difíceis condições materiais de existência, quase sempre conseguiam
encontrar na Cristandade em que se integravam protecções e cuidados de parentesco e/ou
vizinhança bem como institucionais. Nesse sentido, quando se viam privadas, conforme
frequentemente acontecia, do pai ou da mãe, eram muitas vezes acolhidas por parentes ou
por comunidades que assumiam as funções e as competências maternais ou paternais,
desempenhando, por substituição, o papel de uma família de acolhimento capaz de zelar
pelos respectivos crescimento, aleitamento, aprendizagem, educação e formação afectiva
e sentimental.
É certo, porém, que ao serem entregues ou confiados, mesmo pelos próprios pais,
a certas instituições eclesiásticas de tipo comunitário, muitas crianças perdiam autonomia
e liberdade, tendo de se sujeitar, conforme ocorria com as crianças oblatas, a rígidas e
duras normas de comportamento. Contudo, mesmo neste caso, a Idade Média foi
conhecendo nítidos progressos no respeito pela liberdade das decisões a tomar por esses
jovens. Assim, por exemplo, os oblatos viram ser-lhes progressivamente adiada a idade
da expressão da vontade de virem a abandonar ou a ingressar na vida das comunidades
onde haviam crescido, num espaço tendente a reconhecer-lhes o direito a uma escolha
ponderada e pensada, paralelo, aliás, à discussão feita pelos teólogos e canonistas sobre a
necessidade de adaptar às crianças o cumprimento de certas obrigações religiosas.
Com efeito, foi a partir do século XIII que os canonistas, tendo como exemplo
casuístico as crianças oblatos, fizeram depender do atingir da puberdade a liberdade de
todos os jovens confirmarem ou renunciarem a decisões tomadas na infância sobre o seu
futuro, de acordo com uma medida que tendia, com efeitos protectores, a adiar para a
_________________________________________________________________________________________________ 402
10 Sobre a situação actual vejam-se, entre outros, o relatório elaborado por Ana Nunes de Almeida, Isabel André e Helena Nunes de Almeida, Famílias e maus tratos às crianças em Portugal, Lisboa, Assembleia da República, 2001.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
CONCLUSÃO ______________________________________________________________________________________________
adolescência os actos decisivos para opções individuais irrevogáveis. Para além do
ingresso na vida religiosa também a proibição não só de contrair casamento aos jovens
menores de catorze anos, no caso dos rapazes e doze para as meninas, mas também o
estabelecimento dos esponsórios, cuja idade mínima foi fixada nos sete anos para ambos
os sexos, foram outras deliberações protectoras da liberdade individual dos mais
pequenos. A Igreja colocava-se, assim, na vanguarda jurídica que pretendia adaptar o
rigorismo das leis à defesa dos direitos das crianças.
Em suma, integradas em famílias biológicas ou de acolhimento, as crianças
medievais tendiam a ser encaradas como grupo etário a proteger, respeitar e educar em
função de uma especificidade própria, pela qual se lhes reconhecia o direito de virem a
ser acompanhadas e amparadas pelos adultos. Neste sentido, parece descabida a tese,
defendida por Ariès, de que a criança medieval cedo se afastava dos pais e da família
para se sociabilizar e adquirir os valores e os saberes necessários ao seu crescimento.11
Por um lado, porque eram as próprias famílias que assumiam essas preocupações, sendo
essa uma característica particular da educação medieval, devendo, por isso, ser vista e
considerada de acordo com a mentalidade da época; por outro, porque, tal como
observámos através dos livros de milagres, seria relativamente frequente a permanência
dos filhos jovens junto dos pais que com eles acorriam aos santuários em busca de um
remédio espiritual capaz de os curar ou recuperar de doenças e de acidentes.12
Ao longo do nosso estudo sobre a história medieval da criança deparámo-nos com
várias infâncias cronológicas, geográficas, sociais e até etárias, visto as diversas fontes
consultadas apenas nos elucidarem sobre específicos fragmentos da realidade a
reconstruir. De uma forma geral, muita da informação disponível tende sobretudo a
esclarecer os condicionalismos que rodearam a vida dos mais pequenos, desde o
nascimento até aos três anos de idade. Esse período tanto prendeu a atenção dos
médicos, pedagogos, civilistas e canonistas, a propósito dos cuidados materno-infantis e
__________________________________________________________________________________________ 403
11 Philippe Ariès, ob. cit., ed. cit., p. 10. 12 Também Pierre Charbonnier no seu estudo sobre as cartas de perdão do século XV, confirmou a larga integração dos jovens na família, verificando ser esse a situação ocorrida para dois terços dos casos estudados entre os dez e os dezanove anos. Este autor reforça mesmo a ideia contrária, salientando a prolongada integração da maioria dos jovens em contraste com a actualidade. Veja-se "L'entrée dans la vie au XVe. siècle, d'après les lettres de rémission" in Les entrées dans la vie – Initiations et apprentissages, XII congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, p. 80.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
dos direitos materiais e espirituais a ter ou a atribuir às crianças, como a dos teólogos, a
propósito do respectivo posicionamento relativamente às vivências da vida religiosa e
eclesiástica. São também esses os tempos infantis mais presentes nas fontes
iconográficas. Ora, esta fase da vida das crianças, que tende a representá-la e a referi-la
como um ser amado e protegido, necessita ser confrontada com a história familiar e
socialmente menos testemunhada e esclarecida das infâncias mais tardias. Mais não seja,
porque será nelas que, tal como hoje, se encontrarão os exemplos mais significativos das
crianças mal-amadas, abandonadas, espancadas, ou até escravizadas e abusadas, ou seja,
as que consubstanciam a imagem que Ariès forneceu acerca da infância medieval.
De facto, será esse estudo, a realizar futuramente em torno das fontes
documentais, que permitirá a construção de uma história da criança medieval mais
completa e matizada. Contudo, parece-nos que ele não alterará demasiado o sentido do
passado infantil apresentado neste trabalho. Primeiro, porque o lado negro da infância
medieval será sempre menos trágico do que é maioritariamente vivido na
contemporaneidade. Depois, porque se é verdade que os actuais adultos souberam
reconhecer e enunciar os direitos a respeitar nas crianças, ao contrário de uma
medievalidade em que todos os crentes, independentemente da idade, tendiam a ser
unilateralmente considerados, também é importante salientar como o direito e as práticas
sociais então reconheciam nos mais jovens um grupo etário que, por ainda não ser adulto,
recebia um tratamento diferenciado, tornando a infância uma condição ou um "estado"
protegido e amparado.
Como afirma Pierre Riché, a criança constitui a grande esquecida dos
historiadores medievais, se bem que sempre presente nas fontes escritas e
iconográficas.13 Neste contexto, à semelhança de Danièle Alexandre-Bidon, procuramos
poder ter contribuído para reabilitar o homem e a mulher da Idade Média nas suas
capacidades de amar e educar as suas crianças.14
_________________________________________________________________________________________________ 404
13 Pierre Riché, “Réflexions sur l’histoire de l’éducation dans le Haut Moyen Âge (Ve-XIe siècles)” in J. Verger (dir.), Éducations médiévales, l' enfance, l'école, l' Église en Occident (VIe - XVe siècle), Histoire de l'éducation, 50, 1991, p. 38. 14 Danièle Alexandre-Bidon, “Grandeur et renaissance du sentiment de l’enfance au Moyen Âge” in J. Verger (dir.), ob. cit., ed. cit., p. 63.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA
FONTES
1 –ANAIS, CRÓNICAS E GENEALOGIAS - Anais, Crónicas Breves e Memórias Avulsas de Santa Cruz de Coimbra, ed. António Cruz, Porto, 1968.
- Crónica Breve do Arquivo Nacional, ed. Fernando Venâncio Peixoto Fonseca,
Guimarães, 1986. - Crónica de 1344, ed. Diégo Catalán, María Soledad de Andrés, Madrid, Gredos,
1971. - Crónica dos Cinco Reis de Portugal, ed. A. de Magalhães Basto, Porto, Civilização,
1945. - Crónica dos Sete Primeiros Reis de Portugal, ed. C. Silva Tarouca, Lisboa,
Academia Portuguesa de História, 1952-1953, 3 vols. - Crónica Geral de Espanha de 1344, ed. L. Lindley Cintra, Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1983-1990, 4 vols - Damião de Góis, Chronica do Prinçipe Dom Ioam, Coimbra, ed. A.J. Guimarães,
1905. - Duarte Galvão, Chronica de El Rei D. Affonso Henriques, Lisboa, Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, 1995. - Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando, ed. G. Macchi, Lisboa, Imprensa Nacional-
- Casa da Moeda, 1975. - Fernão Lopes, Crónica de D. Pedro, ed. A. Borges Coelho, Lisboa, Livros
Horizonte, 1977. - Fernão Lopes, Crónica de D. João I, ed. M. Lopes de Almeida e A. de Magalhães
Basto, Barcelos, Liv. Civilização, 1990, 2 vols. - Gomes Eanes de Zurara, Chronica de el Rei D. João I, Lisboa, Bibliotheca de
Clássicos Portugueses, 1899. - Gomes Eanes de Zurara, Crónica da Tomada de Ceuta, ed. F. Esteves Pereira,
Coimbra, Academia das Ciências, 1915. - Gomes Eanes de Zurara, Crónica do Conde D. Duarte de Meneses, ed. L. King,
Lisboa, Universidade Nova, 1978. - Gomes Eanes de Zurara, Crónica do Conde D. Pedro de Meneses, Porto, 1988. - “IV Crónica Breve de Santa Cruz,” ed. António Cruz, in Anais, Crónicas Breves e
Memórias Avulsas de Santa Cruz de Coimbra, Porto, 1968, pp. 130-147.
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Livro de Linhagens do conde D. Pedro, I, ed. José Mattoso, Lisboa, Academia das Ciências, 1981.
- Livros Velhos de Linhagens, ed. Joseph Piel, José Mattoso, Lisboa, Academia das
Ciências, 1980. - Rui de Pina, Crónicas, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão, 1977. 2 – CANCIONEIROS - Cantigas d’Amigo dos Trovadores Galego-Portugueses, ed. José Joaquim Nunes,
Lisboa, Centro do Livro Brasileiro, 1973. - Cantigas d’escarnho e de mal dizer dos cancioneiros medievais galego-portugueses,
ed. M. Rodrigues Lapa, Vigo, Ed. Galáxia, 1970. - Garcia de Resende, Cancioneiro Geral, ed. A. J. Costa Pimpão e A. Fernandes
Dias, Coimbra, Universidade, 1973, 2 vols. 3 - HAGIOGRAFIAS E LIVROS DE MILAGRES
- "Adições Portuguesas no Flos Sanctorum de 1513", ed. Cristina Sobral, in Adições Portuguesas no Flos Sanctorum de 1513 (Estudo e Edição Crítica), Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa, 2000 (Tese de Doutoramento).
- Afonso Peres, “O Livro dos Milagres de Nossa Senhora da Oliveira”, ed. Mário
Martins, in Revista de Guimarães, 63, 1953, pp. 83-132. - Alfonso X, o Sábio, Cantigas de Santa Maria, ed. Walter Mettmann, Madrid,
Castália, 1986-1988. - Bernardo, Vida de S. Geraldo, trad. de José Cardoso, Braga, Livraria Cruz, 1959. - Brihuega, Bernardo de, Vidas e Paixões dos Apóstolos: ms alcobacense 280 da BN
de Lisboa, 1505, I, ed. Isabel Vilares Cepeda, Lisboa, INIC, 1982. - Castro, Ivo (dir.), "Vidas de Santos de um Manuscrito Alcobacense" in Revista
Lusitana, 4, 1983 e 5, 1985. - Cousas Notaveis e Milagres de Santo António de Lisboa, ed. José Joaquim Nunes,
Porto, 1912. - Crónica da Ordem dos Frades Menores (1209-1285), ed. José Joaquim Nunes,
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1918.
- Frei Baltazar de S. João, A Vida do bem aventurado Gil de Santarém, ed. Aires A. Nascimento, Lisboa, 1982.
- Frei Diogo do Rosário, Flos Sanctorum, Lisboa, 1869/1870, 12 vols.
______________________________________________________________________________________________________ 406
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Frei João Álvares, “Trautado da vida e feitos do muito vertuoso Sor Ifante D. Fernando” in Obras, vol. I, ed. Adelino de Almeida Calado, Coimbra, 1960.
- Frei João da Póvoa, “Livro dos Milagres de Nossa Senhora das Virtudes”, ed. F.
Correia, in Revista da Biblioteca Nacional, 2ª série, 3, nº 1, 1988, pp. 7- 42. - Frei José Pereira de Santa Anna, Chronica dos Carmelitas da Antiga, e Regular
Observancia nestes Reynos de Portugal, Algarves e seus Domínios, Lisboa, 1745. - Frei Luís de Sousa, História de S. Domingos, ed. M. Lopes de Almeida, Porto,
Lello & Irmão, 1977, 2 vols.
- Frei Manuel da Esperança, História Seráfica da Ordem dos Frades Menores, Lisboa, 1656.
- Ho Flos Sanctorum em Linguagē: os Santos Extravagantes, ed. Maria Clara de
Almeida Lucas, Lisboa, I.N.I.C., 1988. - "Livro dos Milagres de Santo António de Lisboa", Fernando Félix Lopes, in
Henrique Pinto Rema (dir.), Fontes Franciscanas, III, Braga, Ed. Franciscana, 1998, pp. 65-140.
- “Livro dos Milagres do Bom Jesus de S. Domingos de Lisboa”, ed. Mário Martins,
in Lavdes & Cantigas Espiritvais de Mestre André Dias, Lisboa, 1955, pp. 283-298.
- "Livro dos Milagres dos Santos Mártires", ed. Maria Alice Fernandes, in Livro dos Milagres dos Santos Mártires, Edição e Estudo, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1988 (Tese de Mestrado).
- Mestre Estevão, "Milagres de S. Vicente", ed. Aires A. Nascimento e Saúl António
Gomes, in S. Vicente de Lisboa e Seus Milagres Medievais, Lisboa, Didaskalia, 1988. - Miragres de Santiago, ed. José L. Pensado, Madrid, 1958. - "Milagres de S. Veríssimo", ed. Mário Martins, in “A Legenda dos Santos Mártires,
Veríssimo, Máxima e Júlia do cod. CV/I - 23 d., da Biblioteca de Évora”, Revista Portuguesa de História, 6, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1964, pp. 44-50.
- "Notícia da Fundação do Mosteiro de S. Vicente de Lisboa", ed. e trad. de Aires A.
Nascimento, in A conquista de Lisboa aos Mouros. Relato de um cruzado, Lisboa, Vega, 2001, pp. 178-197.
- "O Livro dos Milagres da Bem-Aventurada Virgem Maria”, ed. Mário Martins,
in Brotéria, vol. LXX, 5, 1960, pp. 517-532.
- "O Livro dos Milagres de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães", ed. Cristina Oliveira Fernandes, in Lusitania Sacra, Lisboa, 13-14, 2002, pp. 597-607.
-"O Livro dos Milagres de Santo António em Medievo-Português”, ed. J.J. Nunes, in Brotéria, vol. LXXI, 10/60, pp. 299-307. - Ordonho de Celanova, "Libro de la Vida y Milagros del obispo San Rosendo", ed. e trad. de M. C. Díaz y Díaz, in Vida y Milagres de San Rosendo, Corunha, Galicia, 1990, pp. 112-231.
__________________________________________________________________________________________________________ 407
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Tratado da vida e martírio dos 5 Mártires de Marrocos, ed. A. Rocha Madahil, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1928.
- “Vida da Bem Aventurada Virgem Senhorinha”, e "Outra Vida de Santa
Senmhorinha", ed. e trad. Maria Helena da Rocha Pereira, in Vida e Milagres de S. Rosendo, Porto, 1970, pp. 113-157.
- "Vida de D. Telo", ed. Aires A. Nascimento, in Hagiografia de Santa Cruz de
Coimbra: Vida de D. Telo, Vida de D. Teotónio, Vida de S. Martinho de Soure, Lisboa, Ed. Colibri, 1998, pp. 55-137.
- "Vida de D. Teotónio", ed. Aires A. Nascimento, in Hagiografia de Santa Cruz de
Coimbra: Vida de D. Telo, Vida de D. Teotónio, Vida de S. Martinho de Soure, Lisboa, Ed. Colibri, 1998, pp. 138-223.
- "Vida de S. Martinho de Soure", ed. Aires A. Nascimento, in Hagiografia de Santa
Cruz de Coimbra: Vida de D. Telo, Vida de D. Teotónio, Vida de S. Martinho de Soure, Lisboa, Ed. Colibri, 1998, pp. 224-244.
- Vida de S. Teotónio, ed. Maria Helena da Rocha Pereira, Coimbra, Santa Cruz, 1987. - Vida e Milagres de D. Isabel, ed. J.J. Nunes, Coimbra, Imprensa da Universidade,
1921. - "Vida e Milagres de D. Isabel Rainha de Portugal", ed. Maria Isabel da Cruz
Montes, in Vida e Milagres de D. Isabel Rainha de Portugal (Edição e Estudo), Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1999 (Tese de Mestrado).
- "Vida e Milagres de Santa Senhorinha", ed. Torquato Peixoto de Azevedo, in
Memórias Ressuscitadas da Antiga Guimarães, Guimarães, Gráfica Vimaranense, 2000, pp. 444-479.
- Vida e Milagres de Santo António de Lisboa, ed. Fernando Thomaz de Brito, Lisboa, 1894.
- Vida e Milagres de S. Rosendo, ed. e trad. Maria Helena da Rocha Pereira, Porto, 1970.
- Voragine, Jacques de, La Légende Dorée, Paris, Garnier-Flammarion, 1967,
2 vols.
4- ILUMINURA - Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de
la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial, Siglo XIII.
- Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice B.R. 20 de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, Siglo XIII.
______________________________________________________________________________________________________ 408
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
5 – JURÍDICO-NORMATIVAS
- "Actas da Vereação de Loulé (séculos XIV-XV)", ed. Luís Miguel Duarte, Separata da Revista al'-ulyã, nº 7, Loulé, 1999/00. - Afonso X, Foro Real, ed. José de Azevedo Ferreira, Lisboa, I.N.C.M., 1987.
- Afonso X, Primeyra Partida, ed. José Azevedo Ferreira, Braga, I.N.I.C., 1980. - Alfonso el Sabio, Las Siete Partidas del Rey cotejadas con vários códices antiguos,
Madrid, Real Academia de la Historia, 1807. - Alfonso X, Espéculo, ed. G. Martinez Diez, Ávila, Fundación Claudio Sánchez
Albornoz, 1985.
- Chancelarias Portuguesas. D. Afonso IV, ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, I.N.I.C., 1990-1992, 3 vols.
- Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. I, Tomo 1, (1433-1435), ed. Centro
de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1998. - Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. I, Tomo 2, (1435-1438), ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1998. - Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. II, "Livro da Casa dos Contos," ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1999. - Chancelarias Portuguesas. D. Duarte, vol. III, ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2002. - Chancelarias Portuguesas. D. Pedro I, ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, I.N.I.C., 1984.
- Chancelarias Portuguesas. D. João I, vol. I, Tomo I, (1384-1385), ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2004.
- Concílios visigóticos e hispano romanos, ed. José Vives, Barcelona – Madrid, CSIC, 1963.
- Cortes Portuguesas. Reinado de D. Afonso IV (1325-1357), ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa. I.N.I.C., 1982.
- Cortes Portuguesas. Reinado de D. Fernando (1367-1383), vols. I e II, ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, I.N.I.C., 1990 e 1993. - Cortes Portuguesas. Reinado de D. Pedro I (1357-1367), ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa. I.N.I.C., 1986. - Cortes Portuguesas. Reinado de D. Manuel I (Cortes de 1502), ed. Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2001.
__________________________________________________________________________________________________________ 409
- "Forais e Foros da Guarda", ed. Maria Helena Cruz Coelho, Guarda, Câmara Municipal, 1999.
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Forais Manuelinos do Reino de Portugal e do Algarve, ed. Luís Fernando Carvalho
Dias, 5 vols, Beja, L.F. e D., 1961-69. - "Foros de Castelo Rodrigo", ed. Luís Filipe Lindley Cintra, in A Linguagem dos
Foros de Castelo Rodrigo, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1984. - Livro das Leis e Posturas, ed. Maria Teresa C. Rodrigues, Lisboa, Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, 1971.
- Livro das Posturas Antigas, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1974. - Livro das Vereações de Montemor-o-Novo", ed. Jorge Fonseca, in Montemor-o-
Novo no século XV, Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, 1998, pp. 91-187. - Ordenações Afonsinas, ed. M. J. Almeida Costa e E. Borges Nunes, Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, 5 vols. - Ordenações del-Rei D. Duarte, ed. M. Albuquerque e E. Borges Nunes, Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, 1988. - Portvgaliae Monvmenta Historiae, Leges et Consuetudines, Lisboa, 1868. - Regimento do Hospital de Todos-os-Santos, ed. Abílio e Anastásia Salgado, (edição
fac-similada), Lisboa, Comissão Organizadora do V Centenário da Fundação do Hospital Real de Todos-os-Santos, 1992.
- Synodicon Hispanum. II - Portugal, ed. Francisco Cautelar Rodriguez, Avelino de
Jesus da Costa, Antonio Garcia Y Garcia, Antonio Gutierrez Rodriguez, Isaías da Rocha Pereira, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982.
- Valdevez Medieval, Documentos I. 950-1299, Amélia Aguiar de Andrade e Luís Krus (coord.), Arcos de Valdevez, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 2000. - Valdevez Medieval, Documentos II. 1300-1479, Amélia Aguiar de Andrade e Luís Krus (coord.), Arcos de Valdevez, Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 2001. - "Vereaçoens", Anos de 1390-1395, ed. A. de Magalhães Basto, in O mais antigo Livro de Vereações do Município do Porto, II, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1937. - "Vereaçoens", Anos de 1401-1449, in O segundo Livro de Vereações do Municí- pio do Porto, XL, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1980. - "Vereaçoens", Anos de 1431-1432, XLIV, ed. João Alberto Machado e Luís Miguel Duarte, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1985.
- Vereações da Câmara Municipal do Funchal (século XV), ed. José Pereira da Costa,
Funchal, Centro de Estudos de História do Atlântico, Região Autónoma da Madeira, 1995.
______________________________________________________________________________________________________ 410
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
6 – LITERATURA DIDÁCTICO-MORAL
- A Demanda do Santo Graal, ed. Joseph- Maria Piel, I.N.C.M., 1988.
- Álvaro Pais, Espelho dos Reis, ed. Miguel Pinto de Meneses, Lisboa, I.A.C., 1955. - Álvaro Pais, Estado e Pranto da Igreja, (Status et Planctus Ecclesiae), ed. Miguel
Pinto de Meneses, Lisboa, J.N.I.C.T., 1994-5. - Bíblia Sagrada, em Português, ed. e trad. de João Ferreira de Almeida, Lisboa, Sociedades Bíblicas Unidas, 1968.
- Castelo Perigoso, ed. Maria Branca da Silva, Lisboa, Colibri, 2001.
- Castigos e documentos para bienvivir ordenados por el Rey don Sancho, ed. Agapito Rey, Bloomington, Indiana University Press, 1952. - Corte Enporial, ed. Adelino Almeida Calado, Aveiro, Universidade, 2000.
- Cristina de Pisano, O Livro das tres Vertudes ou O Espelho de Cristina, ed. Maria de
Lurdes Crispim, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1995 (Tese de Doutoramento). - Duarte (D.), Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela, ed. Joseph M. Piel,
Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1986.
- Duarte (D.), Leal Conselheiro, ed. Maria Helena Lopes de Castro, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1998.
- “Fabulário Português - manuscrito do século XV”, ed. J. Leite de Vasconcellos,
Revista Lusitana, Lisboa, 1903, vol. 8, pp. 99-151. - Filipe de Novara, Les Quatre Âges de l’homme, ed. M. de Fréville, Paris, 1888. - Frei João Álvares, “Carta aos monjes professos do Moesteiro de Sam Salvador de
Paaço de Sousa e Regra do Muy Bem Aventurado Sam Bēeto Abade”, ed. Adelino de Almeida Calado, in Frei João Álvares, Obras, II, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1960, pp. 1-90.
- Gil de Roma, Le Livre du gouvernement des Princes, (De regimine principum), ed.
S. P. Molenaer, Paris, 1899.
- Isidoro de Sevilha, Etimologias, II, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1982. - João I (D.), “Livro de Montaria” in Obras dos Príncipes de Avis, ed. M. Lopes de
Almeida, Porto, Lello & Irmão Ed., 1981, pp. 7-232. - Livro dos Conselhos de El-Rei D. Duarte, ed. J.J. Alves Dias e A. H. de Oliveira
Marques, Lisboa, Estampa, 1982. - Methodo novo, facil, e abbreviado para ensinar os meninos a estudar, a entender,
e a reter na memoria a sagrada Bíblia, ou História do Novo e Velho Testamento, Lisboa, Imprensa Regia, 1807.
__________________________________________________________________________________________________________ 411
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- O Cathecismo Pequeno de D. Diogo Ortiz Bispo de Viseu, ed. Elsa Maria Branco Silva, Lisboa, Colibri, 2001.
- O Penitencial de Martim Pérez em Medievo-Português, ed. Mário Martins, Lisboa,
1957. - Obras dos Príncipes de Avis, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão Ed.,
1981.
- Orto do Esposo, ed. Bertil Maler, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1956- -1964.
- Pedro (D.), “Virtuosa Benfeitoria”, in Obras dos Príncipes de Avis, ed. M. Lopes de Almeida, Porto, Lello & Irmão Ed., 1981, pp. 525-763.
- Raimundo Lúlio, Doctrine d’enfant, ed. e trad. de A. Llinares, Paris, 1969. - Tratado de Confissom (Chaves, 8 de Agosto de 1481), ed. José V. de Pina Martins,
Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1973. 7 - TRATADOS DE MEDICINA
- Aldebrandino de Siena, Le Régime du corps, ed. L. Landouzy et R. Pépin, Paris, 1911.
- El libro de la generación del feto, el tratamiento de las mujeres embarazadas y de
los recien nacidos de Árib Ibn Sa’id (Tratado de Obstetricia Y Pediatria hispano árabe del siglo X), ed. Antonio Arjona Castro, Córdova, 1983.
- Pedro Hispano, Obras Médicas, ed. e trad. Maria Helena da Rocha Pereira,
Coimbra, Universidade de Coimbra, 1973. - Roque, Mário da Costa, As Pestes Medievais Europeias e o “Regimento proueytoso
contra ha pestenença”, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1979. ESTUDOS 1 – ESTUDOS SOBRE AS FONTES - Almeida, Carlos Alberto Ferreira de, O Presépio na Arte Medieval, Porto,
Instituto de História de Arte, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1983.
- Almeida, Carlos Alberto Ferreira de, A Anunciação na Arte Medieval em Portugal. Estudo Iconográfico, Porto, Instituto de História de Arte, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1983.
- Almeida, Carlos Alberto Ferreira de, História da Arte em Portugal. O Românico, Lisboa, Ed. Presença, 2001.
______________________________________________________________________________________________________ 412
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Almeida, Carlos Alberto Ferreira de, e Barroca, Mário Jorge, História da Arte em Portugal. O Gótico, Lisboa, Ed. Presença, 2002.
- Andrade, Sérgio Guimarães de (dir.), O Sentido das Imagens. Escultura e Arte em Portugal [1300-1500]. Catálogo da Exposição, Lisboa, Ministério da Cultura, Instituto Português dos Museus, Museu Nacional de Arte Antiga, 2000.
- Barroca, Mário Jorge, Necrópoles e sepulturas medievais de Entre Douro e Minho
(séc. V a XV), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1987 (Tese de Mestrado). - Barroca, Mário Jorge, Epigrafia Medieval Portuguesa (862-1422), Lisboa,
Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. - Barroca, Mário Jorge, "Escultura gótica" in Almeida, Carlos Alberto Ferreira de,
e Barroca, Mário Jorge, História da Arte em Portugal. O Gótico, Lisboa, Ed. Presença, 2002, pp. 157-179.
- Barroca, Mário Jorge, "Ourivesaria e eborária" in Almeida, Carlos Alberto
Ferreira de, e Barroca, Mário Jorge, História da Arte em Portugal. O Gótico, Lisboa, Ed. Presença, 2002, pp. 247-275.
- Boiça, J. & Lopes, V., A necrópole e a ermida da achada de S. Sebastião, Mértola,
Museu de Mértola, 1999.
- Bonifácio, Horácio Pereira, Teixeira, Luís Manuel e Barbosa, Pedro Gomes, "Da Temática da Decoração" in Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, Guimarães, Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 1981, pp. 49-74.
- Brito, A. da Rocha, “A gestação na escultura religiosa portuguesa – Nossa Senhora
do Ó, in O Tripeiro, V série, Ano I e segs., 1945.
- Camille, Michael, Gothic art. Visions and revelations of the medieval world, Londres, Calmann, 1996.
- Campos, Correia de, A Virgem na arte nacional, Braga, 1956.
- Carvalho, Maria João Vilhena de, "São Brás" in Sérgio Guimarães de Andrade (dir.), O Sentido das Imagens. Escultura e Arte em Portugal [1300-1500]. Catálogo da Exposição, Lisboa, Ministério da Cultura, Instituto Português dos Museus, Museu Nacional de Arte Antiga, 2000, p. 253.
- Carvalho, Maria João Vilhena de, "Virgem da Expectação" in Sérgio Guimarães de Andrade (dir.), O Sentido das Imagens. Escultura e Arte em Portugal [1300-1500]. Catálogo da Exposição, Lisboa, Ministério da Cultura, Instituto Português dos Museus, Museu Nacional de Arte Antiga, 2000, p. 255.
- Cepeda, Isabel Vilares, Ferreira, Teresa Duarte (dir.), Inventário dos Códices Iluminados até 1500, I e II, Lisboa, Instituto da Biblioteca e do Livro, 1995 e 2001.
- Cintra, Luis Filipe Lindley, A Linguagem dos Foros de Castelo Rodrigo, Lisboa,
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1984.
__________________________________________________________________________________________________________ 413
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Codinha, Sónia C. F., Uma necrópole medieval em Serpa: contribuição para o estudo de indivíduos não adultos, Coimbra, Departamento de Antropologia, 2001 (Relatório de Investigação).
- Crispim, Maria de Lurdes, O Livro das tres Vertudes ou O Espelho de Cristina, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1995 (Tese de Doutoramento).
- Cunha, Arlindo, S. Gonçalo de Amarante, um vulto e um culto, Gaia, Câmara
Municipal, 1996. - Cunha, Eugénia M. Guedes Pinto Antunes da, Paleobiologia das Popula- ções
Medievais Portuguesas - os casos de Fão e S. João de Almedina, Coimbra, Universidade, 1994 (Tese de Doutoramento).
- Cunha, Eugénia M. Guedes Pinto Antunes da, “Contribuição da Paleobiologia
para o Conhecimento dos Habitantes da zona de Corroios (Seixal) nos séculos XV e XVI”, Al-madan, IIª série, 4, Almada, 1995, pp. 34-40.
- Cunha, Eugénia M. Guedes Pinto Antunes da e Lopes, Célia, “Necrópole da
Quinta de S. Pedro: análise antropológica de uma série do século XV”, Al-madan, 7, Almada, IIª série, 1998, pp. 37-44.
- Cunha, Eugénia M. Guedes Pinto Antunes da, Umbelino, Cláudia e Tavares,
Teresa, “A necrópole de S. Pedro de Marialva - Dados antropológicos”, in Património. Estudos, Instituto Português do Património Arqueológico, Lisboa, 2001, nº 1, pp. 139-143.
- Fernandes, Carla Varela, Memórias de Pedra. Escultura Tumular Medieval da Sé de Lisboa, Lisboa, IPPAR, 2001. - Fernandes, Cristina Célia Oliveira, "O Livro dos Milagres de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães" in Lusitania Sacra, Lisboa, 13-14, 2002, pp. 597- -608. - Fernandes, Maria Alice, Livro dos Milagres dos Santos Mártires, Edição e Estudo, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1988 (Tese de Mestrado).
- Ferreira, Maria Teresa, As crianças moçárabes de Serpa: análise paleobiológica de uma amostra de esqueletos exumados da necrópole do loteamento da zona poente de Serpa, Coimbra, Departamento de Antropologia, 2000 (Relatório de Investigação).
- Ferreira, Maria Teresa, Codinha, Sónia, Reis, Marta, et al, Problemas de
desarrollo dentário en los niños medievales de Serpa (Portugal), póster apresentado no VI Congresso Nacional de Paleopatologia, Universidade Autónoma de Madrid, 2001.
- Ferreira, Maria Teresa e Cunha, Eugénia, Les enfants médiavaux de Serpa,
Comunicação apresentada na 1827.e Réunion Scientifique de la Société d’Anthropologie de Paris, Paris, Museu Nacional de História Natural, 2002.
- Focilon, Henri, Arte do Ocidente. A Idade Média românica e gótica, Lisboa,
Estampa, 1978. - Gomes, Rosa Varela, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo da
Exposição, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001.
______________________________________________________________________________________________________ 414
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Macedo, Francisco Pato de, "Manifestações artísticas" in Coelho, Maria Helena da Cruz Coelho, Homem, Armando Luís Carvalho (coord.), Portugal em Definição de Fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à crise do século XIV, Nova História de Portugal, III, Lisboa, Presença, 1996, pp. 692-745.
- Mâle, Émile, L'art religieux du XIIIe. siècle en France, Paris, A. Colin, 1993. - Martínez Díez, Gonzalo, "Los fueros de la familia Coria Cima-Coa" in Revista
Portuguesa de História, 13, 1971, pp. 343-375.
- Martins, Mário, “Os Autos dos Apóstolos e o Livro de Santiago”, in Broté-ria, 48, 1949, p.p. 304-315.
- Martins, Mário, “Os “Santos Meninos de Santarém” e os Livros de Milagres de
Nossa Senhora”, in Brotéria, vol. LXV, 12, 1957, p.p. 555-568. - Martins, Mário, “A Legenda dos Santos Mártires e o Flos Sanctorum de 1513”, in
Brotéria, vol. LXXII, 2, 1961, p.p. 155-165. - Martins, Mário, “Os Fragmentos da Legenda Áurea em Medievo-Português”, in
Itinerarium, 8, 1962, p.p. 47-51. - Martins, Mário, “As omissões do “Livro e Legenda que fala de todolos feitos e
paixões dos Santos Mártires”, in Brotéria, vol. LXXVI, 5, 1963, p.p. 568-575. - Martins, Mário, “A Legenda dos Santos Mártires, Veríssimo, Máxima e Júlia do
cod. CV/I - 23 d., da Biblioteca de Évora”, Revista Portuguesa de História, 6, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1964, pp. 44-50.
- Martins, Mário, Guia Geral das Horas d’El-Rei D. Duarte, Lisboa, Brotéria, 1982. - Martins, Mário, “O Pai-Nosso na Idade Média portuguesa até Gil Vicente” in
Estudos de Cultura Medieval, Lisboa, Ed. Brotéria, 1983, vol. III, pp. 289-319.
- Maurício, Rui, "Santa Margarida" in Sérgio Guimarães de Andrade (dir.), O Sentido das Imagens. Escultura e Arte em Portugal [1300-1500]. Catálogo da Exposição, Lisboa, Ministério da Cultura, Instituto Português dos Museus, Museu Nacional de Arte Antiga, 2000, p. 250. - Maurício, Rui, "A escultura portuguesa (1350-1500). Cultos. A Virgem" in Sérgio Guimarães de Andrade (dir.), O Sentido das Imagens. Escultura e Arte em Portugal [1300-1500]. Catálogo da Exposição, Lisboa, Ministério da Cultura, Instituto Português dos Museus, Museu Nacional de Arte Antiga, 2000, pp. 255-258.
- Mcmillan, Garnett P., “A Preliminary analysis of the Paleochristian and islamic cemeteries of Rossio do Carmo, Mértola, Portugal”, Arqueologia Medieval, 5, Mértola, Ed. Afrontamento, 1997, pp. 13-22.
- Miranda, Maria Adelaide, A iluminura românica em Santa Cruz de Coimbra e
Santa Maria de Alcobaça, Subsídios para o estudo da iluminura em Portugal, Lisboa, Universidade Nova, 1996 (Tese de Doutoramento).
- Miranda, Maria Adelaide (dir.), A Iluminura em Portugal. Identidade e
Influências. Catálogo da Exposição, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1999.
__________________________________________________________________________________________________________ 415
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Miranda, Maria Adelaide, "A produção universitária e a iluminura em Portugal nos séculos XIII e XIV" in A Iluminura em Portugal. Identidade e Influências. Catálogo da Exposição, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1999, pp. 249-285.
- Miranda, Maria Adelaide, Silva, José Custódio Vieira da, História da Arte
Portuguesa. Época medieval, Lisboa, Universidade Aberta, 1995. - Montes, Maria Isabel da Cruz, Vida e Milagres de D. Isabel Rainha de
Portugal (Edição e Estudo), Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1999 (Tese de Mestrado). - Morales, Candón, “La colección antropológica del campo arqueológico de Mértola
(s. II-XVI)”, Arqueologia Medieval, 6, Mértola, Ed. Afrontamento, 1999, pp. 277-292. - Nascimento, Aires A., Hagiografia de Santa Cruz de Coimbra: Vida de D. Telo,
Vida de D. Teotónio, Vida de S. Martinho de Soure, Lisboa, Ed. Colibri, 1998. - Nascimento, Aires A. e Gomes, Saúl António, S. Vicente de Lisboa e
Seus Milagres Medievais, Lisboa, Didaskalia, 1988. - Nascimento, Aires A., "Notícia da Fundação do Mosteiro de S. Vicente de Lisboa"
in A conquista de Lisboa aos Mouros. Relato de um cruzado, Lisboa, Veja, 2001, pp. 178-197. - Pereira, Paulo, (dir.), Hospital Real de Todos os Santos: Séculos XV a XVII.
Catálogo da Exposição, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1993.
- Pereira, Paulo (dir.), História da Arte Portuguesa, I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995.
- Petzold, Andreas, Romanesque Art, Londres, Calmann, 1995. - Pidal, Gonzalo Menendez, La España del Siglo XIII Leida en Imagens, Madrid,
Real Academia de la Historia, 1986. - Ponte, Salete da, “Necrópoles Medievais de Tomar”, Arqueologia Medieval, 5,
Mértola, Ed. Afrontamento, 1997, pp. 47-56.
- Porfírio, José Luís (coord.), O Museu Nacional de Arte Antiga, Instituto Português dos Museus, 1994.
- Raposo, Jorge M. C. e Duarte, Ana Luísa, “Intervenção arqueológica na
Quinta de S. Pedro (Corroios)”, Al-madan, 4, Almada, IIª série, 1995, pp. 26-33. - Raposo, Jorge M. C. e Duarte, Ana Luisa, “Quinta de S. Pedro: breves notas
sobre a segunda campanha de trabalhos arqueológicos”, Al-madan, 7, Almada, IIª série, 1998, p. 38.
- Reis, Marta, Codinha, Sónia, Ferreira et al, Un necrópolis medieval en Serpa:
analisis paleobiológico, Póster apresentado no XII Congreso de la Sociedad Española de Antropologia Biológica, Universidade Autónoma de Barcelona, 2001.
- Rodrigues, Jorge, "A escultura românica", in Pereira, Paulo (dir.), História da Arte
Portuguesa, I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1995, pp. 265-331.
______________________________________________________________________________________________________ 416
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Salgado, Abílio, Salgado, Anastásia (ed.), Regimento do Hospital de Todos os Santos, Lisboa, Comissão Organizadora do V Centenário da Fundação do Hospital Real de Todos-os-Santos, 1992.
- Serra, Maria Teresa Botelho B., Dois Livros de Horas do século XV da Biblioteca
Pública e Arquivo Distrital de Évora, Dissertação de Mestrado, Lisboa, Universidade Nova, 1998.
- Sete séculos (séc. XII-XVII) da ermida de S. Saturnino estudados através dos seus enterramentos, Coimbra, Departamento de Antropologia, Laboratório de Paleodemografia e Paleopatologia, 1996 (Relatório antropológico da 2ª campanha de escavação).
- Silva, José Custódio Vieira da, O Panteão Régio do Mosteiro de Alcobaça, Lisboa,
IPPAR, 2003.
- Soares, António M. Monge, Santos, Ana Luisa, Umbelino, Cláudia, “A Necrópole Paleocristã do assento de Chico da Roupa (Vila Verde de Ficalho, Serpa)”, Arqueologia Medieval, 5, Mértola, Ed. Afrontamento, 1997, pp. 23-33.
- Sobral, Cristina, Adições Portuguesas no Flos Sanctorum de 1513 (Estudo e Edição Crítica), Lisboa, Faculdade de Letras de Lisboa, 2000 (Tese de Doutoramento).
- Sobral, Cristina, "O Flos Sanctorum de 1513 e suas adições portuguesas" in Lusitania Sacra, Lisboa, 13-14, 2002, pp. 531-568.
- Torres, Cláudio, Macias, Santiago (dir.), Portugal islâmico. Os últimos sinais do Mediterrânico. Catálogo da Exposição, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1998. 2 - ESTUDOS GERAIS
- Aigran, René, L’Hagiographie: Ses Sources, Ses Méthodes, Son Histoire, Paris,
Blond and Gay, 1953. - Albuquerque, Rui e Martim de, História do Direito Português, I, Lisboa, Pedro
Ferreira, 1999. - Almeida, Fortunato, História da Igreja em Portugal, Porto, Liv. Civilização- Ed.,
1971. - Alpalhão, Maria Margarida Santos, L'Image du Monde de Gossonin de Metz.
Apresentação, leitura interpretativa, tradução e notas, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1996 (Tese de Mestrado).
- Alves, Adalberto e Hadjadji, Hamdane, Ibn Ammar al-Andalusi. O drama de um
poeta, Lisboa, Assírio e Alvim, 2000. - Alves, Ana Maria, Entradas régias portuguesas. Uma visão de conjunto, Lisboa,
Horizonte, 1986. - Andade, Amélia, Teixeira, Teresa, Magalhães, Olga, "Subsídios para o estudo do
adultério em Portugal no século XV" in Revista de História, Porto, 5, 1984, pp. 93-129. - Andrés-Gallego, José, História de gente pouco importante, Lisboa, Estampa, 1993.
__________________________________________________________________________________________________________ 417
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Antunes, José, A cultura erudita portuguesa nos séculos XIII e XIV (Juristas e
Teólogos), Coimbra, Universidade de Coimbra, 1995 (Tese de Doutoramento). - Ariès, Philippe, “ O amor no casamento”, in Sexualidades ocidentais, Lisboa,
1983. - Ariès, Plilippe e Duby, Georges (dir.), História da Vida Privada, Lisboa, Ed.
Afrontamento, 1990, vol. 2. - Barnay, Sylvie, La Vierge. Femme au visage divin, Paris, Gallimard, 2000. - Barros, Henrique da Gama, História da Administração Pública em Portugal
nos séculos XII a XV, ed. Torquato Sousa Soares, Lisboa, Sá da Costa, 1945-54. - Beirante, Maria Ângela V. da Rocha, Santarém Medieval, Lisboa,
Universidade Nova de Lisboa, 1980.
- Beirante, Maria Ângela V. da Rocha, Confrarias Medievais, Lisboa, Publicação do Autor, 1990.
- Boisselier, Stéphane, Naissance d’une identité portugaise. La vie rurale entre Tage
et Guadiana de L’Islam à la reconquête (Xe. – XIVe. siècles), Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1999.
- Boussel, P., Des Reliques et de leur bom usage, Paris, 1971.
- Braga, Isabel M. R. Mendes Drumond, Milagres de Nossa Sra. de Monserrat num
Códice da Biblioteca Nacional de Lisboa, Braga, 1995. - Bresc, Henri, “A Europa das cidades e dos campos (séculos XII a XV)" in História
da Família, Lisboa, Terramar, 1986, pp. 109-138.
- Buescu, Ana Isabel, Imagens do príncipe. Discurso normativo e representação (1525-49), Lisboa, Cosmos, 1996.
- Burokhardt, Titus, La civilización hispano-árabe, Madrid, Alianza, 1977. - Butler, Alban, Vidas de Santos, Lisboa, Dinalivro, 1992. - Caeiro, F. da Gama, Dispersos, III, Lisboa, I.N.C.M., 2000 - Caetano, Marcello, Caminhos de Santiago, Caminhos de Portugal e Espanha,
Lisboa, Secretaria de Estado da Informação e Turismo, 1970. - Caetano, Marcello, A Administração Municipal de Lisboa durante a 1ª dinastia,
Lisboa, Horizonte, 1990. - Caetano, Marcello, História do Direito Português (1140-1495), Lisboa, Ed. Verbo,
1994. - Caetano, Marcello, Estudos de História da Administração Pública Portuguesa, Coimbra, Coimbra Editores, 1994.
______________________________________________________________________________________________________ 418
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Casagrande, Carla, “A mulher sob custódia” in Duby, Georges e Perrot, Michelle (dir.), História das Mulheres, 2, Porto, Afrontamento, 1993, pp. 99-141.
- Cepeda, Isabel Vilares, Biblioteca da Prosa Medieval em Língua Portugue-sa,
Lisboa, Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 1995.
- Chambel, Pedro, A simbologia dos animais n'A Demanda do Santo Graal, Cascais, Patrimonia, 2000. - Coelho, Maria Helena da Cruz, Martins, Rui Cunha, "O monaquismo feminino cisterciense e a nobreza medieval portuguesa (séculos XIII-XIV)" in Theologica, 28, 1993, pp. 481-508. - Coelho, Maria Helena da Cruz, “Os Homens ao longo do Tempo e do Espaço” in Coelho, Maria Helena da Cruz, e Homem, Armando Luís de Carvalho (coord.), Portugal em Definição de Fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV, Nova História de Portugal, vol. III, Lisboa, Presença, 1996, pp. 166-184.
- Coelho, Maria Helena da Cruz, “A acção dos particulares para com a pobreza nos
séculos XI e XII” in A pobreza e a assistência aos pobres na Península Ibérica durante a Idade Média, Actas das 1ªs Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval, 1973.
- Coelho, Maria Helena da Cruz, e Homem, Armando Luís de Carvalho, Origines
et évolution du registre de la chancellerie royale portugaise (XIIIe. -XVe. Siècles), Porto, 1995. - Coelho, Maria Helena da Cruz, e Homem, Armando Luís de Carvalho (coord.),
Portugal em Definição de Fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV, Nova História de Portugal, vol. III, Lisboa, Presença, 1996.
- Colombo, Gianni, "Matrimonio" in Sartori, Domenico e Triacca, Achille (dir.),
Nuevo Diccionario de Liturgia, Madrid, Ediciones Paulinas, 1987, pp. 1240- -1253. - Correia, Fernando da Silva, "Hospitais pré-quinhentistas portugueses. A lição da
História" in Imprensa Médica, 23-24, 1943, pp. 15-40. - Correia, Fernando da Silva, "Os Hospitais Medievais Portugueses", separata de
Medicina Contemporânea, Ano LXI, nºs 11, 12 e 15, 1943. - Costa, Américo, Dicionário Corográfico de Portugal Continental e Insular, Porto,
Liv. Civilização, 1929-1949. - Costa, Avelino de Jesus da, "A Virgem Maria Padroeira de Portugal na Idade
Média", in Lusitânia Sacra, 2, Lisboa, 1957, pp. 7-49. - Costa, Avelino de Jesus da, O bispo D. Pedro e a organização da Arquidiocese de
Braga, 2ª ed., Braga, Ed. da Irmandade de S. Bento da Porta Aberta, 1997. - Costa, Mário Júlio de Almeida, História do Direito Português, Coimbra,
Almedina, 1989. - Cruz, António, Santa Cruz de Coimbra na cultura portuguesa da Idade Média,
Porto, Ind. Gráfica do Porto, 1964.
__________________________________________________________________________________________________________ 419
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Cruz, Guilherme Braga da, O Direito de Troncalidade e o Regime Jurídico do Património Familiar, Braga, Liv. Cruz, 1941-1947, 2 vols.
- Cunha, Eugénia M. Guedes Pinto Antunes da, “Populações medievais portuguesas (séculos XI-XV). A Perspectiva Paleobiológica”, Arqueologia Medieval, 5, Mértola, Ed. Afrontamento, 1997, pp. 57- 81.
- Cunha, Eugénia M. Guedes Pinto Antunes da, "Paleobiologia, História e
Quotidiano: critérios da transdisciplinaridade possível" in Amélia Aguiar Andrade e José Custódio Vieira da Silva (coord.), Estudos Medievais, Lisboa, Horizonte, 2004, pp. 117-141.
- Cunha, Eugénia M. Guedes Pinto Antunes da & Crubézy, Eric, “Comparative
biology of the medieval populations (IX- XV centuries) of the Iberian Peninsula and Southwest of France: problematics and perspectives”, in Journal of Iberian Archaeology, Porto, ADECAP, 2000, vol. 2.
- Custódio, Jorge, "Cronologia dos hospitais e albergarias de Santarém" in João
Afonso de Santarém e a assistência hospitalar escalabitana durante o Antigo Regime, Santarém, Câmara Municipal de Santarém, 2000, pp. 206-229.
- Daveau, Suzanne, Portugal Geográfico, Lisboa, João Sá da Costa, 1995. - Dias, José João Alves (coord.), Portugal do Renascimento à Crise Dinástica, Nova
História de Portugal, Lisboa, Presença, 1998, vol. 5. - Dionísio, João, “D. Duarte e a leitura”, in Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa,
J.N.I.C.T., 1991, nº 2, pp. 7-17. - Duarte, Luís Miguel, Justiça e criminalidade no Portugal medievo (1459-1481),
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. - Duby, Georges, Hommes et structures au Moyen Age, Paris, 1973. - Duby, Georges, O tempo das catedrais. A arte e a sociedade (980-1420), Lisboa,
Estampa, 1978 - Duby, Georges, Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France
féodale, Paris, Hachette, 1981. - Duby, Georges, Guilherme, o Marechal, O Melhor Cavaleiro do Mundo, Lisboa,
Gradiva, 1994. - Duby, Georges e Perrot, Michelle (dir.), História das Mulheres, Porto,
Afrontamento, 1993, vol. 2. - Falsini, Rinaldo, "Confirmación" in Sartori, Domenico e Triacca, Achille (dir.),
Nuevo Diccionario de Liturgia, Madrid, Ediciones Paulinas, 1987, pp. 424-451. - Farge, Arlette, Le Goût de l' Archive, Paris, Éditions du Seuil, 1989. - Fernandes, A. de Almeida, Dom Egas Moniz de Ribadouro, Lisboa, Editorial
Enciclopédia, 1946.
______________________________________________________________________________________________________ 420
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Fernandes, A. de Almeida, "Proles régias criadas em meio rural nos séculos XII e XIII" in Esparsos de História, Porto, 1970, pp. 161-183.
- Fernandez, Angela Muñoz, “El Milagro como Testemonio Historico - Propuesta de
una Metodologia para el Estudio de La Religiosidad Popular” in La Religiosidad Popular, C. Álvarez Santaló, Maria Jesús Buxó e S. Rodriguez Becerra, (coord.), Barcelona, 1989, 3 vols.
- Ferreira, José de Azevedo, "A obra legislativa de Afonso X em Portugal" in
Estudos de história da língua portuguesa, Braga, Universidade do Minho, 2001, pp. 75--90. - Ferreira, Maria do Rosário, Águas doces, águas salgadas. Da funcionalidade dos
motivos aquáticos na Cantiga de Amigo, Porto, Granito, 1999. - Finucane, Ronald C., “The use and abuse of medieval miracles”, History, 60, 1975,
pp. 1-10. - Finucane, Ronald C., Miracles and Pilgrims. Popular Beliefs in Medieval England,
Totowa, Nova Jersey, Rowman and Littlefield, 1977. - Fonseca, Jorge, Montemor-o-Novo no século XV, Câmara Municipal de Montemor-
o-Novo, 1998. - Fontes, João Luís, Percursos e memória: do infante D. Fernando ao Infante Santo,
Cascais, Colibri, 2000. - Fossier, Robert, Enfance de l’Europe: X - XII siècles: Aspects économiques et
sociaux, Paris, P.U.F., 1989. - Fossier, Robert, “A Era Feudal (séculos XI a XIII)” in História da Família, Lisboa,
Terramar, 1986, pp. 89-108. - Foucault, Michel, “O combate pela castidade”, in Sexualidades ocidentais, Lisboa,
1983. - Fumat, Yveline, “Apprendre à aimer: Les gestes de la tendresse dans
l’iconographie de la Vierge à l’ Enfant”, in Éducation, Apprentissages, Initiation au Moyen Age, Actes du Premier Colloque International de Montpellier, Université Paul Valéry, 1991, pp. 165-172.
- Gameiro, Odília Alves, A construção das memórias nobiliárquicas medievais. O
passado da linhagem dos Senhores de Sousa, Lisboa, Sociedade Histórica da Independência de Portugal, 2000.
- Gaspar, João Gonçalves, A princesa Santa Joana e a sua época (1452-1490),
Aveiro, Câmara Municipal de Aveiro, 1988. - Gauvard, Claude, De grace especial: Crime, État et Société en France à la fin du
Moyen Âge, Paris, 1991, 2 vols. - Gilissen, John, Introdução Histórica ao Direito, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1988. - Glénisson, J., Le Livre au Moyen Âge, Paris, 1988.
__________________________________________________________________________________________________________ 421
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Gomes, Rosa M. M. G. Varela, Silves - Uma cidade do Gharb Al-Andalus - Arqueologia e História (séculos VIII-XIII), Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1999 (Tese de Doutoramento).
- Gomes, Rita Costa, A corte dos reis de Portugal nos finais da Idade Média, Lisboa,
Difel, 1995. - Gomes, Saúl António, "Os panteões régios monásticos portugueses nos séculos XII
e XIII" in IIº Congresso Histórico de Guimarães. Actas, vol. 4, Guimarães, Câmara Municipal de Guimarães/Universidade do Minho, 1996, pp. 280-295.
- Gomes, Saúl António, "A religião dos clérigos: vivências espirituais, elaboração
doutrinal e transmissão cultural" in Jorge, Ana, Rodrigues, Ana Maria, História Religiosa de Portugal I – Formação e Limites da Cristandade, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 339- -422.
- Gonçalves, Custódia Luísa, A viagem na poesia trovadoresca galaico-portuguesa, Lisboa, Universidade Aberta, 1999, (Tese de Mestrado).
- Gonçalves, Iria (dir.), "O Entre Cávado e Minho, cenário de expansão senhorial no
século XIII" in Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2, 1978, pp. 399-440.
- Gonçalves, Iria, Imagens do Mundo Medieval, Lisboa, Livros Horizonte, 1988. - Gonçalves, Iria, Um olhar sobre a cidade medieval, Cascais, Patrimonia Histórica,
1996. - Goody, Jack, The development of the family and marriage in Europe, Cambridge,
Cambridge University Press, 1983. - Hallam, Elizabeth (coord.), Os Santos, Livros e Livros, 1998. - Heers, Jacques, Festas de Loucos e de Carnavais, Lisboa, D. Quixote, 1987. - Hespanha, António Manuel, A História do Direito na História Social, Lisboa,
Livros Horizonte, 1978. - Hespanha, António Manuel, História das Instituições. Épocas Medieval e
Moderna, Coimbra, Livraria Almedina, 1982. - Hespanha, António Manuel, Panorama histórico da cultura jurídica europeia,
Lisboa, Europa-América, 1998. - História da Literatura Portuguesa. Das origens ao Cancioneiro Geral, Lisboa, Alfa,
2001. - História da Universidade em Portugal, vol. I, Tomo I, 1290-1536, Universidade de
Coimbra/ Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. - Jaeger, C. Stephen, Enabling love. In search of a lost sensibility, Filadélfia,
University of Pennsylvania Press, 1999. - Krus, Luís, "A morte das Fadas: a lenda genealógica da Dama de Pé de Cabra" in
Ler História, Lisboa, 6, 1985, pp. 3-34.
______________________________________________________________________________________________________ 422
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Krus, Luís, "A vivência medieval do tempo", in Passado, Memória e Poder na sociedade medieval portuguesa. Estudos., Redondo, Patrimónia, 1994, pp. 11-24.
- Krus, Luís, "Celeiro e relíquias – o culto quatrocentista dos Mártires de Marrocos e
a Devoção dos Nus" in Passado, Memória e Poder na sociedade medieval portuguesa. Estudos., Redondo, Patrimónia, 1994, pp. 149-170.
- Krus, Luís, "Historiografia. Época medieval" in Azevedo, Carlos Moreira (dir.),
Dicionário de História Religiosa de Portugal, IV, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001, pp. 512-523.
- La Roncière, Charles de, “A vida privada dos notáveis toscanos no limiar do Renascimento”, in Ariès, Plilippe e Duby, Georges (dir.), História da Vida Privada, Lisboa, Ed. Afrontamento, 1990, vol. 2, pp. 163-310.
- Ladurie, Emmanuel Le Roy, Montaillou Cátaros e Católicos numa aldeia occitana
1294-1324, Lisboa, Edições 70, 2000. - Langhans, Franz Paul, As corporações dos ofícios mecânicos - subsídios para a
sua história,2 vols., Lisboa, Imprensa Nacional, 1943 e 1946. - Le Goff, Jacques, A Civilização no Ocidente Medieval, Lisboa, Ed. Estampa,
1983/84, 2 vols. - Le Goff, Jacques, L’Imaginaire Médiéval, Paris, Ed. Gallimard, 1985. - Le Goff, Jacques et al, O Homem Medieval, sob a direcção de Jacques Le
Goff, Lisboa, Presença, 1989. - Le Goff, Jacques, O Maravilhoso e o Quotidiano no Ocidente Medieval, Lisboa,
Edições 70, 1990. - Le Goff, Jacques, As doenças têm história, Lisboa, Terramar, 1991. - Lemos, Maximiano, História da Medicina em Portugal, Doutrinas e Insti- tuições,
Lisboa, Publicações D. Quixote, 1991, 1º vol. - Leyser, Henrietta, Medieval Women. A Social History of Women in England 450- -
1500, Londres, Phoenix Press, 1995. - L’Hermite-Leclercq, Paulette, “A ordem feudal (séculos XI-XII)”, in Duby,
Georges e Perrot, Michelle (dir.), História das Mulheres, Porto, Afrontamento, 1993, vol. 2, pp. 273-329.
- Lobo, A. de Sousa Silva Costa, História da Sociedade em Portugal no século XV,
Lisboa, Imprensa Nacional, 1903. - Lopes, F. Félix, “Breve apontamento sobre a rainha Santa Isabel e a pobreza”, in
Pobreza e Assistência aos Pobres na Península Ibérica durante a Idade Média, Actas das 1ªs Jornadas Luso Espanholas de História Medieval, Lisboa, 1973.
- Lopes, Graça Videira, A sátira nos cancioneiros medievais galego-portu-gueses,
Lisboa, Estampa, 1994.
__________________________________________________________________________________________________________ 423
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Lucas, Maria Clara de Almeida, Hagiografia Medieval Portuguesa, Lisboa, I.C.L.P. - M.E., 1984.
- Marques, A. H. de Oliveira, A Sociedade Medieval Portuguesa, Lisboa, Sá da
Costa, 1974.
- Marques, A. H. de Oliveira, Portugal na crise dos séculos XIV e XV, Nova História de Portugal, vol. IV, Lisboa, Presença, 1987.
- Marques, A. H. de Oliveira, Novos Ensaios de História Medieval Portuguesa,
Lisboa, Presença, 1988. - Marques, A. H. de Oliveira, História de Portugal, I, Lisboa, Presença, 1997. - Marques, José, "Os Corpos Académicos e os Servidores" in História da Universida
-de em Portugal, I, Universidade de Coimbra, Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, pp. 101 - -106.
- Martins, Mário, Peregrinações e Livros de Milagres da Nossa Idade Média, Coimbra, Instituto de Estudos Históricos Doutor António de Vasconcelos, 1951.
- Martins, Mário, “Um poema ovidiano de John Gower e a sua tradução do português
para o castelhano”, in Estudos de Cultura Medieval, Lisboa, Ed. Brotéria, 1983, vol. III, pp. 95--118.
- Martins, Mário, “Pais e filhos no “Leal Conselheiro”, in Estudos de Cultura
Medieval, Lisboa, Ed. Brotéria, 1983, vol. III, pp. 199-206. - Mata, Luís António Santos Nunes, Ser, ter e poder. O Hospital do Espírito Santo
de Santarém nos finais da Idade Média, Leiria, Magno, 2000. - Mattoso, José, "As enciclopédias medievais" in Prelo, 4, 1984, pp. 43-51. - Mattoso, José, "João Soares Coelho e a gesta de Egas Moniz" in Portugal medieval.
Novas interpretações, Lisboa, I.N.C.M., 1985, pp. 409-435. - Mattoso, José, Ricos-homens, Infanções e Cavaleiros. A nobreza medieval
portuguesa nos séculos XI e XII, Lisboa, Guimarães Ed., 1985. - Mattoso, José, "A nobreza medieval portuguesa e as correntes monásticas dos
séculos XI e XII" in Portugal Medieval – Novas Interpretações, Lisboa, INCM, 1985, pp. 197-224.
- Mattoso, José, “Notas sobre a estrutura da família medieval portuguesa” in A nobreza medieval portuguesa - a Família e o Poder, Lisboa, Ed. Estampa, 1987, pp. 389-417.
- Mattoso, José (coord.), A Monarquia Feudal, História de Portugal, 2, Lisboa,
Estampa, 1993. - Mattoso, José, “Saúde Corporal e Saúde Mental na Idade Média Portuguesa”,
Fragmentos de uma Composição Medieval, Lisboa, Ed. Estampa, 1993, pp. 233-252. - Mattoso, José (dir.), O reino dos mortos na Idade Média Peninsular, Lisboa, Ed.
João Sá da Costa, 1996.
______________________________________________________________________________________________________ 424
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Mattoso, José, "O pranto fúnebre na poesia trovadoresca galego-portuguesa" in Mattoso, José (dir.), O reino dos mortos na Idade Média Peninsular, Lisboa, Ed. João Sá da Costa, 1996, pp. 201-216.
- Mattoso, José, "Le Portugal de 950 à 1550" in Philippart, Guy (dir.),
Hagiographies, II, Turnhout Brepols, 1996, pp. 83-102. - Mattoso, José, "Sobre a história da sexualidade e da afectividade" in Naquele
Tempo – Ensaios de História Medieval, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 39-44. - Mattoso, José, "O suporte social da Universidade de Lisboa-Coimbra (1290- -
1537)" in Naquele Tempo – Ensaios de História Medieval, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 395-420.
- Mattoso, José, Obras Completas, VI, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001. - Mendes, Isabel M. R., O Mosteiro de Guadalupe e Portugal, séculos XIV-XVIII,
Lisboa, J.N.I.C.T., 1994. - Milton, John, “Paradise Regained” in Schener, L. & Black, S., Developmental
Juvenile Osteology, London, Academic Press, 2000. - Mira, M. Ferreira de, História da medicina portuguesa, Lisboa, 1947. - Moita, Irisalva, V Centenário do Hospital Real de Todos os Santos, Lisboa,
Correios de Portugal, 1992. - Moita, Irisalva (org.), O Livro de Lisboa, Lisboa, Horizonte, 1994. - Moita, Irisalva, Vº Centenário do Hospital Real de Todos os Santos, Lisboa,
Correios de Portugal, 1992. - Moiteiro, Gilberto, "Da Lisboa de Nun' Álvares à Lisboa do Santo Condestável.
Uma nova devoção na cidade dos reis de Avis" in A Nova Lisboa Medieval, Lisboa, Núcleo Científico de Estudos Medievais, (no prelo).
- Moreno, H. Baquero, Marginalidade e conflitos sociais em Portugal nos séculos
XIV e XV, Lisboa, Presença, 1985. - Mourão, José Augusto Miranda, A Visão de Túndalo. Da Fornalha de Ferro à
Cidade de Deus (Em torno da semiótica das Visões), Lisboa, I.N.I.C., 1988. - Nagy, Piroska, Le don des larmes au Moyen Age, Paris, A. Michel, 2000. - Nascimento, Aires A., “Hagiografias”, Dicionário de Literatura Medieval Galega,
org. e coordenação de Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani, Lisboa, Ed. Caminho, 1993, pp. 307-310.
- Nascimento, Aires A.,“Milagres Medievais”, Dicionário de Literatura Medieval Galega, org. e coordenação de Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani, Lisboa, Ed. Caminho, 1993, pp. 459-461.
- Oliveira, Ana Rodrigues, As representações da mulher na cronística medieval
portuguesa (sécs. XII a XIV), Cascais, Patrimónia Histórica, 2000.
__________________________________________________________________________________________________________ 425
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Oliveira, Ana Rodrigues, “A Imagem da Mulher nas Crónicas Medievais”, in Faces de Eva, Lisboa, Ed. Colibri, 2001, nº 5, pp. 131-147.
- Oliveira, António Resende de, "A cultura das cortes" in Coelho, Maria Helena da
Cruz, e Homem, Armando Luís de Carvalho (coord.), Portugal em Definição de Fronteiras (1096-1325). Do Condado Portucalense à Crise do Século XIV, Nova História de Portugal, vol. III, Lisboa, Presença, 1996, pp. 660-692.
- Opitz, Claudia, “O quotidiano da mulher no final da Idade Média (1250-1500)”, in
Duby, Georges e Perrot, Michelle (org.), História das Mulheres, 2, Porto, Afrontamento, 1993, pp. 353-435.
- Palazzo, Eric, Liturgie et société au Moyen-Age, Paris, Aubier, 2000, pp. 40 -57. - Pereira, Armando de Sousa, Representação da guerra no Portugal da
Reconquista, Lisboa, Comissão Portuguesa de História Militar, 2003. - Pina, Isabel Castro, "Ritos e imaginário da morte em testamentos dos séculos XIV e
XV" in Mattoso, José (dir.), O reino dos mortos na Idade Média Peninsular, Lisboa, Ed. João Sá da Costa, 1996, pp. 125-140.
- Pizarro, José Augusto de Sotto Mayor, Linhagens medievais portuguesas,
Genealogias e estratégias (1279-1325), Porto, Universidade Moderna, 1999. - Pouchelle, Marie-Christine, Corps et chirurgie à l'apogée du Moyen Age. Savoir et
imaginaire du corps, Paris, Flammarion, 1983. - Puntel, J.-F., Histoire de la césarienne, Bruxelas, 1969. - Queirós, Isabel Maria M. R., Theudas e Mantheudas. A criminalidade feminina no
reinado de D. João II através das cartas de perdão (1481-1485), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1999 (Tese de Mestrado).
- Ramos, João, "Genealogia dos Reis de Portugal" in Biblos, X, 1934. - Reis, António Matos, Origens dos municípios portugueses, Lisboa, Livros
Horizonte, 1991. - Rigaux, Dominique, "Une image pour la route" in Voyages et voyageurs au Moyen
Age, Paris, Publications de la Sorbonne, 1996, pp. 235-266.
- Rodrigues, Maria Teresa Campos, Aspectos da administração municipal de Lisboa no século XV, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, 1968.
- Rodriguez, Carmen Garcia, El culto de los Santos en la España Romana y
Visigoda, Madrid, 1966. - Rosa, Maria de Lurdes, O morgadio em Portugal. Séculos XIV-XV, Lisboa,
Presença, 1995. - Rosa, Maria de Lurdes, "Hagiografia e Santidade" in Azevedo, Carlos Moreira
(dir.), Dicionário de História Religiosa de Portugal, II, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 326-361.
______________________________________________________________________________________________________ 426
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Rosa, Maria de Lurdes, "A Religião no século: vivências e devoções dos leigos" in Jorge, Ana, Rodrigues, Ana Maria, História Religiosa de Portugal I – Formação e Limites da Cristandade, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 480-505.
- Rosa, Maria de Lurdes, "A Santidade no Portugal medieval: narrativas e trajectos
de vida" in Lusitania Sacra, Lisboa, 13-14, 2002, pp. 369-450. - Rossiaud, J., "Prostitution, jeunesse et société dans les villes du Sud-Est au XV.e
siècle" in Annales, ESC, 31, 1972, pp. 289-305. - Roussele, Aline, Croire et guérir. La foi en Gaule dans l'Antiquité tardive, Paris,
Fayard, 1990. - Russel, J.C., “La población en Europa del ano 500 al 1500”, in La Edad Media,
Barcelona, Ariel, 1981. - Salgado, Abílio e Anastácia Mestrinho, “Hospitais Medievais”, in Santana,
Francisco e Sucena, Eduardo (dir.), Dicionário da História de Lisboa, Lisboa, 1994, pp. 442- -446. - Samsé, Julio, Las ciencias de los antiguos en Al-Andaluz, Madrid, MAPFRE, 1972. - Santa Cruz de Coimbra do século XI ao século XX - Estudos, Coimbra, Comissão Executiva do IX Centenário do nascimento de S. Teotónio, 1984.
- “Santa Iria e Santarém - Revisão de um problema hagiográfico e toponímico”, ed. A. de Jesus da Costa, Revista Portuguesa de História, 14, 1972, pp. 1-63 e 521- -530.
- Saraiva, António José, A épica medieval portuguesa, Lisboa, I.C.A.L.P., 1991. - Sartori, Domenico e Triacca, Achille (dir.), Nuevo Diccionario de Liturgia, Mdrid,
Ediciones Paulinas, 1987. - Saunders, Shelley R., “Subadult Skeletons and Growth Related Studies” in
Saunders, S. and Katzenberg, M.A. (ed.), Skeletal Biology of Past Peoples: Research Methods, Wiley, Liss, 1992, pp. 1-20.
- Schener, L. & Black, S., Developmental Juvenile Osteology, Londres, Academic
Press, 2000. - Schmitt, Jean-Claude, La Raison des gestes, Paris, 1990. - Schmitt, Jean-Claude, Les Revenants. Les vivants et les morts dans la société
médiévale, Paris, Bibliothèques des histoires, Gallimard, 1994. - Schmitt, Jean-Claude, Le corps, les rites, les rêves, le temps. Essais
d'anthropologie médiévale, Paris, Gallimard, 2001. - Sears, Elizabeth, The Ages of Man: Medieval Interpretations of the Life Cycle,
Princeton, Princeton University Press, 1986. - Sigal, Pierre-André, L’homme et le Miracle dans la France médiévale (XIe - XIIe
siécle), Paris, Les Éditions du CERF, 1985. - Silva, A. Vieira da, A cerca fernandina de Lisboa, I, Lisboa, Câmara Municipal de
Lisboa, 1987. __________________________________________________________________________________________________________ 427
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Silva, Manuela Santos, "A assistência social na Idade Média. Estudo comparativo
de algumas instituições de beneficência de Santarém" in Estudos Medievais, 8, 1987, pp. 175- -242.
- Silvério, Carla, Representações da realeza na cronística medieval portuguesa. A
dinastia de Borgonha, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1999 (Tese de Mestrado). - Soares, Torquato de Sousa, “O governo de Portugal pela infanta-rainha D. Teresa
(1112-1128)”, in Colectânea de Estudos em honra do Prof. Doutor Damião Peres, Lisboa, 1974.
- Sousa, A. Caetano de, Provas de História Genealógica da Casa Real Portuguesa, 12 vols., Coimbra, Atlântida, 1946-1954 (reed.).
- Sousa, Armindo de, As Cortes Medievais Portuguesas (1385-1490), Porto, INIC,
Centro de História da Universidade do Porto, 1990, 2 vols. - Sousa, Armindo de, “1325-1480” in Mattoso, José (dir.), História de Portugal, vol.
2, Lisboa, Estampa, 1993, pp. 310-556. - Tavares, Jorge Campos, Dicionário de Santos, Porto, Lello & Irmão, 1990. - Tavares, Maria José Pimenta Ferro, "A assistência na Idade Média" in Dicionário
de História da Igreja em Portugal, I, António Banha de Andrade (dir.), Lisboa, 1980, pp. 635- -640.
- Tavares, Maria José Pimenta Ferro, “Para o estudo do pobre em Portugal na Idade Média”, in Revista de História Económica e Social, nº 11, Jan/Junho - 83, pp. 29-54.
- Tavares, Maria José Pimenta Ferro, Pobreza e Morte em Portugal na Idade
Média, Lisboa, Ed. Presença, 1989. - Tavares, Maria José Ferro, "Assistência. I – Época Medieval" in Carlos Moreira de
Azevedo (dir.), Dicionário da História Religiosa de Portugal, I, Lisboa, Círculo de Leitores, 2000, pp. 136-140.
- Távora, Luís Gonzaga de Lencastre e, A heráldica medieval na Sé de Lisboa,
Lisboa, Ramos Afonso e Moita, 1984. - Thomasset, Claude, “Da natureza feminina”, in Duby, Georges e Perrot, Michelle
(dir.), História das Mulheres, Porto, Afrontamento, 1993, vol. 2, pp. 65-97. - Valensi, Lucette, La fuite en Égipte. Histoires d' Orient et d' Occident, Paris, Seuil,
2002. - Van Honts, Elisabeth, Memory and Gender in Medieval Europe, Londres,
MacMillan, 1999. - Vauchez, André, “Santidade” in Enciclopédia Einaudi, vol. 12, Mythos/Logos,
Sagrado/Profano, Lisboa, I.N.C.M., 1987, pp. 287-300. - Vauchez, André, La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Age,
Roma, Escola Francesa de Roma, 1988.
______________________________________________________________________________________________________ 428
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Vauchez, André, “O Santo” in Le Goff, Jacques (dir.), O Homem Medieval, Lisboa, Ed. Presença, 1989, pp. 211-230.
- Vecchio, Silvana, “A boa esposa”, in Duby, Georges e Perrot, Michelle (dir.),
História das Mulheres, Porto, Afrontamento, 1993, vol. 2, pp. 143-213. - Ventura, Leontina, A nobreza de corte de Afonso III, Coimbra, Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, 1992 (Tese de Doutoramento). - Verdon, Jean, La nuit du Moyen Age, Paris, Perrin, 1994. - Verdon, Jean, Voyager au Moyen Age, Paris, Perrin, 1998. - Viegas, Valentino, Subsídios para o estudo das legitimações Joaninas (1383-1412),
Póvoa de Santo Adrião, Heuris, 1984. - Viterbo, Joaquim Santa Rosa de, Elucidário das palavras, termos e frases que
em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram, ed. crítica de Mário Fiúza, 2 vols., Porto, Civilização, 1983.
- Ward, Benedicta, Miracles and the Medieval Mind, Philadelphia, University of
Pennsylvania Press, 1982. - Zumthor, Paul, Parler du Moyen Âge, Ed. de Minuit, Coll. Critique, 1980. 3 – HISTÓRIA DA CRIANÇA - Alexandre-Bidon, Danièle, “Du berceau au trotteur: vie et mœurs familiales à
travers les miniatures de la fin du Moyen-Âge” in Bulletin de la société historique, artistique et archéologique du vieux papier, t. 31, fasc. 301, 1986, pp. 97-107.
- Alexandre-Bidon, Danièle, “Du drapeau à la cotte: vêtir l’enfant au Moyen Âge
(XIII et XIV siècles)" in Pastoureau, Michel (dir.), Le Vêtement, histoire, archéologie et symbolique au Moyen Âge, Paris, Cahiers du Léopard d’Or, 1989, pp. 123-168.
- Alexandre-Bidon, Danièle, "La Lettre volée: apprendre à lire à l'enfant au Moyen
Age" in Annales, E.S.C., 44, 1989, pp. 953-992. - Alexandre-Bidon, Danièle, “Grandeur et renaissance du sentiment de l’enfance au
Moyen Âge” in Éducations médiévales, l’enfance, l’école, l’Église en Occident (VIe-XVe siècle), J. Verger (dir.), Histoire de l’éducation, 50, 1991, pp. 39-63.
- Alexandre-Bidon, Danièle, “Apprendre à vivre: l’enseignement de la mort aus
enfants”, in Alexandre-Bidon, Danièle e Treffort, C. (dir.), À reveiller les morts. La mort au quotidien dans l’Occident médiéval, Lyon, 1993, pp. 31-41.
- Alexandre-Bidon, Danièle, "La vie en miniature: dînettes et poupées à la fin du
Moyen Age" in Ludica, 3, 1997, pp. 141-150. - Alexandre-Bidon, Danièle, "Images du pére de famille au Moyen Age" in Cahiers
de Rcherches Médiévales (XIIIe. – XVe. siècles), 4, 1997, pp. 41-60.
__________________________________________________________________________________________________________ 429
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Alexandre-Bidon, Danièle, La Mort au Moyen Âge (XIIIe. – XVIe. siècle), Paris, Hachette Littératures, 1998.
- Alexandre-Bidon, Danièle e Closson, Monique, L’enfant à l’ombre des
cathédrales, Paris, Cahiers du Léopard d'Or, 1985, pp. 131-144.
- Alexandre-Bidon, Danièle e Treffort, C. (dir.), À reveiller les morts. La mort au quotidien dans l’Occident médiéval, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1993.
- Alexandre-Bidon, Danièle e Lett, Didier, Les enfants au Moyen Âge (Ve.-XVe. siécles), Paris, Hachette, 1997.
- Andrade, António Banha de, Contributos para a história da mentalidade
pedagógica portuguesa, Lisboa, 1982. - Ariès, Philippe, “Interprétation pour une histoire des mentalités”, in La
Prévention des Naissances dans la Famille, Institut National d’ Études Démographiques, Travaux et Documents 35, Paris, 1960, pp. 211-227.
- Ariès, Philippe, “La infancia”, in Revista de Educación, nº 281, 1986. - Ariès, Philippe, A criança e a vida familiar no Antigo Regime, Lisboa, Relógio
d’Água, 1988. - Atkinson, Clarissa W., The Oldest Vocation : Christian Motherhood in the
Middle Ages, Ithaca, Nova Iorque, Cornell University Press, 1991. - Badinter, Elisabeth, The Myth of Motherhood: An Historical View of the Maternal
“Instinct”, Londres, Souvenir Press, 1981. - Barbaut, Jacques, O nascimento através dos tempos e dos povos, Lisboa, Terramar,
1991. - Barraqué, Jean-Pierre e Blazquez, Adrian, “Quelques aspects de l’enfance dans
l’Espagne médiévale et moderne”, in Fossier, Robert (ed.), La petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, pp. 109-131.
- Baschet, Jeróme, Le sein du père. Abraham et la paternité dans l'Occident
médiéval, Paris, Galimmard, 2000. - Becchi, Egle e Julia, Dominique (eds.), Histoire de l’enfance en Occident, Paris,
Editions du Seuil, 1996. - Bériou, Nicole, “Femmes et Prédicateurs. La transmission de la foix aux XII et
XIII.e siècles” in J. Delumeau (dir.), La Religion de ma mére, Paris, 1992, pp. 51-70. - Berkvam, Doris Desclais, Enfance et maternité dans la littérature française des
XIIe et XIIIe siècles, Paris, Honoré Champion, 1981. - Berkvam, Doris Desclais, “Nature and Norreture: A Notion of Medieval Childhood
and Education”, in Mediaevalia, 9, 1983, pp. 165-180. - Berthon, E., “Le Sourire aux anges. Enfance et Spiritualité au Moyen Âge (XIIe-
-XVe siécle), Médiévales, 25, 1993, pp. 93-111. ______________________________________________________________________________________________________ 430
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Berthon, E., "À l'origine de la spiritualité médiévale de l' enfance”, in Fossier, Robert (ed.), La petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, pp. 31-38.
- Biraben, Jean-Noël, “La Médicine et l’enfant au Moyen Âge”, in Annales de
démographie historique, 1973, pp. 73-75. - Boswell, John, Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Gay People in
Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century, Chicago, University of Chicago Press, 1980, pp. 243-268.
- Boswell, John, “Expositio and Oblatio: the Abandonment of Children and the
Ancient Medieval Family” in American Historical Review, 89, 1984, pp. 10-33. - Boswell, John, Au bon cœur des inconnus: Les enfants abandonnés de l'Antiquité à
la Renaissance, Paris, Éd. Gallimard, 1993. - Boubli, Myriam, Psicopatologia da criança, Lisboa, Climepsi, 2001. - Brissaud, Y.-B., “L’infanticide à la fin du Moyen Âge. Ses motivations psycho-
logiques et sa répression”, Revue historique du droit français et étranger, 2, 1972, pp. 229-256. - Carron, Roland, Enfant et parenté dans la France Médiévale, Xe.-XIIe. siècles,
Genebra, Droz, 1989. - Carvalho, Augusto da Silva, “Subsídios para a história das parteiras portuguesas”,
in Medicina Contemporânea, 1931. - Carvalho, Rómulo, História do ensino em Portugal. Desde a fundação da
nacionalidade até ao fim do regime de Salazar-Caetano, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1986.
- Charbonnier, Pierre, “L’entrée dans la vie au XVe. siècle, d’après les lettres de rémission” in Les entrées dans la vie - Initiations et apprentissages, XII congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, pp. 71-103.
- Coleman, Emily, “Infanticide in the early Middle Ages” in Women in Medieval Society, ed. S.M. Stuard, University of Pennsylvania Press, Filadélfia, 1976, pp. 47-71.
- Combarieu du Gres, Micheline de, “Les “apprentissages” de Perceval dans le
Conte du Grall et de Lancelot dans le Lancelot en Prose” in Éducation, Apprentissages, Initiation au Moyen Age, Actes du Premier Colloque International de Montpellier, Université Paul Valéry, 1991, pp. 129-153.
- Corblet, J., Histoire dogmatique, liturgique et archéologique du sacrement de
baptême, Paris, 1881. - Couturier, Marcel, "L’insertion des jeunes dans la vie active dans la France
coutumière 1368-1789" , in Actes du Colloque International Historicité de L´enfance et de la Jeunesse, 1984, Atenas, 1986.
- Cramer, Peter, Baptism and Change in the Early Middle Ages c.200 – c.1150,
Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
__________________________________________________________________________________________________________ 431
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Crouzet-Pavan, Elizabeth, "Une fleur du mal? Les jeunes dans l'Italie médiéval" in Levi, Giovanni e Schmitt, Jean-Claude (dir.), Histoire des jeunes en Occident, t. I, Paris, 1996, pp. 199-254.
- Dehan, M e Gilly, R., La mort subite du nourisson, Paris, 1989. - Delumeau, J., Rassurer et protéger. Le sentiment de securité dans l’Occident
d’autrefois, Paris, Fayard, 1989. - Delumeau, J. (dir.), La Religion de ma mére, le rôle des femmes dans la
transmission de la foi, Paris, Fayard, 1992. - Delumeau, J., Roche, Daniel, Histoire des Pères et de la Paternité, Paris, Larousse,
2000. - Demaitre, Luke, “The Idea of Childhood and Child Care in Medical Writings of the
Middle Ages”, in Journal of Psychohistory, 4, 1977, pp. 461-490. - DeMause, Lloyd (ed.), The History of Childhood. The Untold Story of Child Abuse,
Nova Iorque, Harper Torchbooks, 1988. - DeMause, Lloyd, “The Evolution of Childhood” in DeMause, Lloyd (ed.), The
History of Childhood. The Untold Story of Child Abuse, Nova Iorque, Harper Torchbooks, 1988.
- Dillard, Heath, Daughters of the Reconquest: Woman in Castillian Town Society,
1100-1300, Cambridge University Press, Cambridge, 1988. - Duby, Georges, “Au XIIe siècle: les “jeunes” dans la société aristocratique”,
Annales, E.S.C., 1964, pp. 835-846. - Dubuis, P., “Enfants refusés dans les Alpes occidentales (XIVe. - Xve. siècles)”, in
Enfance abandonée et sociétés au Moyen Âge, Roma, 1991, pp. 573-590.
- Ferreira, António Gomes, Gerar Criar Educar. A criança no Portugal do Antigo Regime, Coimbra, Quarteto, 2000.
- Ferroul, Yves, “Devenir adulte. L’exemple de Guibert de Nogent”, in Éducation, Apprentissages, Initiation au Moyen Age, Actes du Premier Colloque International de Montpellier, Université Paul Valéry, 1991, pp. 155-164.
- Finucane, Ronald C., The Rescue of the Innocents. Endangered Children in
Medieval Miracles, Nova Iorque, St. Martin’s Press, 2000. - Flandrin, Jean-Louis, “Enfant et Société” in Annales, Économies, Sociétés,
Civilisations, Mars-Avril, 1964, pp. 322-329. - Flandrin, Jean-Louis, L'Eglise et le contrôle des naissances, Paris, Flammarion,
1970. - Flandrin, Jean-Louis, Le sexe et l’Occident. Évolution des attitudes et des
comportements, Paris, Seuil, 1981. - Flandrin, Jean-Louis, Un Temps pour Embrasser: Aux Origines de la Morale
Sexuelle Occidentale,( VIe-XIe siècle), Paris, Seuil, 1983. ______________________________________________________________________________________________________ 432
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Flandrin, Jean-Louis, Familles, Parentés, Maison, Sexualité dans l’ancienne société, Paris, 1984.
- Forsyth, Ilene H., “Children in Early Medieval Art: Ninth through Twelfth
Centuries”, in Journal of Psychohistory, 4, 1977, pp. 31-70. - Fossier, Robert (ed.), La petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne,
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997. - Gauvard, Claude, “Les Jeunes à la fin du Moyen Âge: Une classe d’âge?”, in Les
entrées dans la vie - Initiations et apprentissages, XII congres de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, pp. 225-244.
- Gélis, Jacques, History of Childbirth: Fertility, Pregnancy and Birth in Modern
Early Europe, Cambridge, Polity Press, 1991. - Gélis, Jacques, Laget, Mireille e Morel, Marie-France, Entrer dans la vie.
Naissances et enfances dans la France tradicionnelle, Paris, Gallimard/Julliard, 1978. - Gies, Frances e Joseph, Marriage and Family in the Middle Ages, Harper and Row,
Nova Iorque, 1987. - Gittins, Diana, The Child in Question, Londres, Macmillan, 1998. - Goodich, Michael, “Bartholomaeus Anglicus on Child-Rearing”, in History of
Childhood, Quarterly, 3, 1975, pp. 75-84. - Goody, Jack, The development of the family and marriage in Europe, Cambridge,
Cambridge University Press, 1983. - Gordon, Eleanora C., “Child Health in the Middle Ages as seen in the Miracles of
Five English Saints. A.D. 1150-1220” in Bulletin of the History of Medicine, 60, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986, pp. 502-522.
- Gordon, Eleanora C., "Accidents Among Medieval Children as Seen From the
Miracles of Six English Saints and Martyrs", Medical History, 35, 1991, pp. 145-163. - Greilsammer, M., L’Envers du tableau. Mariage et maternité en Flandre
médiévale, Paris, Armand Colin, 1990.
- Hanawalt, Barbara A., “Childrearing Among the Lower Classes of Late Medieval England”, in Journal of Interdisciplinary History, t. VIII, 1, 1977, pp. 1-22.
- Hanawalt, Barbara A., The Ties That Bound, Peasent Families in Medieval
England, Nova Iorque, Oxford University Press, 1986. - Hanawalt, Barbara A, Growing up in Medieval London: The Experience of
Childhood in History, Nova Iorque, Oxford University Press, 1993. - Hausfater, Glenn and Sarah Hrdy, (eds.), Infanticide: Comparative and
Evolutionary Perspectives, Nova Iorque, 1984. - Heywood, Colin, A History of Childhood, Cambridge, Polity Press, 2001.
__________________________________________________________________________________________________________ 433
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Holmes, Urban T., “Medieval Childhood”, in Journal of Social History, 2, 1968-69, pp. 164-172.
- Hunt, D., Parents and Children in History: The Psychology of Family Life in Early
Modern France, Nova Iorque, Harper Torchbooks, 1972. - Joaquim, Teresa, Dar à luz: ensaio sobre as práticas e crenças da gravidez, parto e
pós-parto em Portugal, Lisboa, D. Quixote, 1983. - Jong, Mayke de, In Samuel’s Image: Child Oblation in the Early Medieval West,
Leiden, E. J. Brill, 1996. - Jordanova, Ludmilla, “Children in History: concepts of Nature and Society”, in
Geoffrey Scarre (ed.), Children, Parents and Politics, Nova Iorque, Cambridge University Press, 1989, pp. 3-24.
- Kellum, Barbara A., “Infanticide in England in the Later Middle Ages”, in History
of Childhood, Quarterly, 1, 1974, pp. 367-388. - Klapisch-Zuber, Christiane, “Holy Dolls: Play and Piety in Florence in the
Quattrocento” in Women, Family and Ritual in Renaissance Italy, Chicago, 1985. - Klapisch-Zuber, Christiane, "A Mulher e a Família", in Le Goff, Jacques (dir.), O
Homem Medieval, Lisboa, Presença, 1989, pp.193-208. - Knibiehler, Yvonne e Fourquet, Catherine, L’Histoire des mères du moyen-âge à
nos jours, Paris, Éditions Montalba, 1980. - Kroll, Jerome, “The Concept of Childhood in the Middle Ages”, in Journal of the
History of the Behavioural Sciences, 13, 1977, pp. 384-393. - Krotzl C., “Parent-Child Relations in Medieval Scandinavia according to
scandinavian Miracle Collections”, in Scandinavian Journal of History, vol. 14, 1989, p.p. 21-37.
- La Vaissière, Étienne de, "Les sanctuaires à répit" in Laneyrie - Dagen, Nadeije (dir.), Les grands événements de l’histoire des enfants, Paris, Larousse, 1995, pp. 114-115.
- Laget, Mireille, Naissances. L’accouchement avant l’âge de la clinique, Paris, 1982. - Laneyrie - Dagen, Nadeije (dir.), Les grands événements de l’histoire des enfants,
Paris, Larousse, 1995. - Laurent, Sylvie, Naître au Moyen-Âge: De la conception à la naissance, la
grossesse et l’accouchement (XIIe.-XVe siècle), Paris, Cahiers du Léopard d’Or, 1989. - Les entrées dans la vie - Initiations et apprentissages, XII congrès de la Société des
Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981. - Lebrun, François, "Os primórdios da contracepção", in Duby, Georges (dir.),
Amor e Sexualidade no Ocidente, Lisboa, Terramar, 1998, pp. 115-124. - Lett, Didier, “La mère et l’enfant au Moyen Âge”, in L’Histoire, 152, 1992, pp. 6-
-14. - Lett, Didier, “Faire le deuil d’un enfant mort sans baptême au Moyen Âge: la
naissance du limbe pour enfants aux XIIe. et XIIIe. siècles”, Devenir, 1995, vol, 7, pp. 101-112. ______________________________________________________________________________________________________ 434
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Lett, Didier, “Les pères du Moyen Âge aimaient-ils leurs enfants?” in L’Histoire,
187, 1995, pp. 46-49. - Lett, Didier, L’enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Âge (XIIe - XIIIe
siécle), Paris, Aubier, 1997. - Lett, Didier, “De l’errance au deuil. Les enfants morts sans baptême et la naissance
du limbus puerorum aux XIIe et XIIIe siècles”, in Fossier, Robert (ed.), La petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, pp. 77-92.
- Lett, Didier, “Dire la mort de l’enfant qui va ressusciter dans quelques récits de
miracles des XIIe. et XIIIe. siècles”, L’enfant et la mort, journée d’études organisée par le Laboratoire d’histoire et archéologie antiques et médiévales de Reims, 1995, Reims, 1997.
- Lett, Didier, “Les lieux périlleux de l’enfance. Les accidents des enfants dans
quelques récits de miracles des XII et XIII siècles”, in Médiévales, 34, 1998. - Lett, Didier, Famille et parenté dans l'Occident médiéval, Ve. –XVe. Siècle, Paris,
Hachette, 2000. - Lett, Didier e Alexandre-Bidon, Daniéle Les enfants au Moyen Âge Ve-XVe
siécles, Paris, Hachette, 1997. - Levi, Giovanni e Schmitt, Jean-Claude (dir.), Histoire des jeunes en Occident, t. I,
De L’Antiquité à l’époque moderne, Paris, 1996. - Loux, Françoise, Le Jeune Enfant et son corps dans la médecine traditionnelle,
Paris, 1978. - McLaughlin, Mary Martin, “Survivors and Surrogates: Children and Parents from
the Ninth to the Thirteenth Centuries”, in DeMause, Lloyd (ed.), The history of childhood. The untold story of child abuse, Nova Iorque, 1988, pp.101-181.
- Manson, Michel, “Le droit de jouer pour les enfants grecs et romains” in Recueils de
la Société Jean Bodin, t. XXXIX, Bruxelas, 1975, pp. 117-150. - Manson, Michel, História do Brinquedo e dos Jogos, Lisboa, Teorema, 2002. - Marrou, H., Histoire de l’éducation dans l’Antiquité, Paris, 1948. - Martin, Francisco Javier, “La imagem del niño a traves de los sermonario”, in
Historia de la Educación, 1987, nº 6. - Martindale, Andrew, “The Child in the Picture: A Medieval Perspective”, in Diane
Wood (ed.), The Church and Childhood, Oxford, Blackwell Publishers, 1994, pp. 197-232. - Mclaren, Angus, História da Contracepção - Da Antiguidade à Actualidade,
Lisboa, Terramar, 1997. - Meens, Rob, "Children and Confession in the Early Middle Ages" in Wood, Diana
(ed.), The Church and Childhood, Oxford, 1994, pp. 53-65.
__________________________________________________________________________________________________________ 435
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Mehl, J. M., “Les jeux dans l’éducation de la jeunesse médiévale”, in Les Cahiers du CERFEE, IV, 1990, pp. 21-31.
- Mehl, J. M., “Les jeux de l’enfance au Moyen Âge”, in Fossier, Robert (ed.), La
petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997 pp. 39-58.
- Metz, René, La femme et l’enfant dans le droit canonique médiéval, Londres,
Variorum Reprints, 1985. - Moreno, H. Baquero, "Subsídios para o estudo da adopção em Portugal na Idade
Média (D. Afonso IV a D. Duarte)" in Revista dos Estudos Gerais Universitários de Moçambique, 3, Lourenço Marques, 1966, pp. 67-79.
- Moreno, H. Baquero, "Subsídios para o estudo da legitimação em Portugal na Idade
Média (D. Afonso III a D. Duarte)" in Revista dos Estudos Gerais Universitários de Moçambique, 4, Lourenço Marques, 1967, pp. 209-237.
- Musallem, B. F., Sex and Society in Islam: Birth Control before the Nineteenth
Century, Cambridge University Press, 1983. - Nelson, Janet L., “Parents, Children, and the Church in the Earlier Middle Ages”, in
Diane Wood (ed.), The Church and Childhood, Oxford, Blackwell Publishers, 1994, pp. 81-114. - Nérandan, Jean-Pierre, Être enfant à Rome, Paris, Payot, 1996. - Orme, Nicholas, “Children and the Church in Medieval England”, in Journal of
Ecclesiastical History, 45, 1994, pp. 563-587.
- Orme, Nicholas, “The Culture of Children in Medieval England”, in Past and Present, 148, 1995, pp. 48-90.
- Orme, Nicholas, Medieval Children, New Haven e Londres, Yale University Press,
2003. - Paravy, Pierrette, “Angoisse collective et miracles au seuil de la mort: réssurections
et baptêmes d’enfants mort-nés en Dauphine au XVe siècle”, in La Mort au Moyen Âge, Estrasburgo, Universidade de Estrasburgo, 1977, pp. 87-102.
- Pastoureau, Michel (dir.), Le Vêtement, histoire, archéologie et symbolique au
Moyen Âge, Paris, Cahiers du Léopard d’Or, 1989.
- Pastoureau, Michel, “Les emblèmes de la jeunesse”, in Levi, Giovanni e Schmitt, Jean-Claude (dir.), Histoire des Jeunes en Occident de l’Antiquité à l’Époque Moderne, Paris, Seuil, 1996, pp. 255-275.
- Paterson, Linda, “L’enfant dans la littérature occitaine avant 1230”, Cahiers de
civilization médiévale, 32, 1989, pp. 233-245. - Pegeot, Pierre, “Un exemple de parenté baptismale a la fin du Moyen Âge”, in - Les
entrées dans la vie - Initiations et apprentissages, XII congres de la Société des Historiens Médiévistes de l' Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, pp. 53-70.
- Piponnier, F., “Les objects de l’enfance” in Annales de démographie historique,
1973.
______________________________________________________________________________________________________ 436
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Pollock, Linda, Forgotten Children: Parent-Child Relations from 1500 to 1900,
Cambridge, Cambridge University Press, 1985. - Renault, Alain, La libération des enfants. Contribution philosophique à une histoire
de l'enfance, Calmann-Lévy, 2002. - Riché, Pierre, Éducation et culture dans l’Occident barbare, VIe-VIIIe siècles,
Paris, L’Univers historique, Seuil, 1962. - Riché, Pierre, “Sources Pédagogiques et Traités d’Éducation” in Les entrées dans
la vie - Initiations et apprentissages, XII congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l' Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, pp. 15-29.
- Riché, Pierre, “Réflexions sur l’histoire de l’ éducation dans le haut Moyen Âge (Ve
- XIe siècles) in Éducations médiévales, l’enfance, l’école, l’Église en Occident (VIe-XVe siècle), J. Verger (dir.), Histoire de l’éducation, 50, 1991, pp. 17-38.
- Riché, Pierre e Alexandre-Bidon, Danièle, L’enfance au Moyen Âge, Paris,
Editions du Seuil, 1994. - Riché, Pierre e Alexandre-Bidon, Danièle, "L' enfant au Moyen Âge: état de la
question" in Fossier, Robert (ed.), La petite enfance dans l'Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, pp. 7-29.
- Rodriguez, José Olivares, A criança com medo de falar, McGraw-Hill de Portugal,
Lda. 2001. - Ross, James Bruce, “The Middle-Class Child in Urban Italy, Fourteenth to Early
Sixteenth Century”, in DeMause, Lloyd (ed.), The History of Childhood. The Untold Story of Child Abuse, Nova Iorque, Harper Torchbooks, 1988, pp. 183-228.
- Roy, E., “Un régime de santé du XV siècle pour les petits enfants et l’hygiène de
Gargantua”, in Mélanges offerts à E. Picot, Paris, 1913, t. 1, pp. 151-158. - Rubellin, Michel, “Entrée dans la vie, entrée dans la chrétienté, entrée dans la
société: autour du baptême à l’époque carolingienne”, in Les entrées dans la vie - Initiations et apprentissages, XII congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public, Nancy, 1981, pp. 31-51.
- Schmitt, Jean-Claude, Le Saint Lévrier. Guinefort, guérisseur d’enfants depuis le
XIIIe. siècle, Paris, Flammarion, 1979. - Schmitt, Jean-Claude e Levi, Giovanni, Histoire des Jeunes en Occident, Paris,
Éditions du Seuil, 1996. - Schultz, James A., The Knowledge of Childhood in the German Middle Ages, 1100-
1350, Filadélfia, University of Pennsylvania Press, 1995. - Scrimshaw, Susan C.M., “Infanticide in Human Populations: Society and
Individual Concerns”, in Infanticide: Comparative and Evolutionary Perspectives, Glenn Hausfater and Sarah Hrdy (eds.), Nova Iorque, 1984.
- Shahar, Shulamith, Childhood in the Middle Ages, Londres, Routledge, 1990.
__________________________________________________________________________________________________________ 437
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA ______________________________________________________________________________________________
- Shorter, Edward, The Making of the Modern Family, Londres, Fontana/Collins,
1977. - Sigal, Pierre-André, “Le vocabulaire de l’enfance et de l’adolescence dans les
recueils de miracles latins des XIe. et XIIe. siècles”, L’enfant au Moyen Âge, (Littérature et Civilisation), Senefience, 9, Université de Provence, 1980, p.p. 141-160.
- Sigal, Pierre-André, “La grossesse, l’accouchement et l’attitude envers l’enfant
mort-né à la fin du Moyen Âge d’après les récits de miracles” in Santé, Médicine et Assistance au Moyen Âge, Actes du 110e. Congrès National des Sociétés, Montpellier, 1985, Section d’histoire médiévale et de philologie, tome I, Paris, C.T.H.S., 1987, pp. 23-41.
- Sigal, Pierre-André, “Les accidents de la petite enfance à la fin du Moyen- Âge”, in
Fossier, Robert (ed.), La petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, pp. 59-76.
- Silva, José Gentil da, “ L’historicité de l’enfance et de la jeunesse dans la
production historique récent“ in Actes du Colloque International Historicité de L’enfance et de la Jeunesse, 1984, Atenas, 1986.
- Simonetta, Uliviere, “ Historiadores y sociólogos en busca de la infancia. Apuntes
para una bibliografía razonada”, in Revista de Educación, 1986, nº 281. - Stone, Lawrence, Family, Sex and Marriage in England, 1500-1880, Londres,
Weidenfeld and Nicolson, 1977. - Teixeira, Carla Maria de Sousa Amorim, Moralidade e Costumes na Sociedade de
Além-Douro: 1433 – 1521 (a partir das Legitimações), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1996 (Tese de Mestrado).
- Teixeira, Sónia Maria de Sousa Amorim, A Vida Privada entre Douro e
Tejo:Estudo das Legitimações (1433 – 1521), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1996 (Tese de Mestrado).
- Thane, Pat, “Childhood in History”, in Michael King (ed.), Childhood, Welfare and
Justice, Londres, Batsford, 1981, pp. 6-25. - Treffort, Cécile, "Archéologie funéraire et histoire de la petite enfance. Quelques
remarques à propos du haut Moyen Âge" in Fossier, Robert (ed.), La petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, pp. 93-107.
- Trexler, Richard, C., “Infanticide in Florence: New Sources and First Results” in
The Children of Renaissance Florence, Nova Iorque, 1993, vol. 1. - Tucker, M.J., “The Child as Beginning and End: Fifteenth and Sixteenth Century
English childhood”, in DeMause, Lloyd, (ed.). - van Walle, Etienne, “Motivations and technology in the decline of French fertility”,
in Familiy and Sexuality in French History, eds. Tamara Hareven e Robert Wheaton, University of Pennsylvania Press, Filadélfia, 1980.
______________________________________________________________________________________________________ 438
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
BIBLIOGRAFIA ______________________________________________________________________________________________
- Walle, E. e F. Van de, “Allaitement, stérilité et contraception: les opinions jusqu’au XIXe siècle“, in Population, 1972.
- Wilson, Adrian, “The Infancy of the History of Childhood: An Appraisal of Philippe Ariès”, in History and Theory, 19, 1980, pp. 132-153. - Zelizer, Viviana A., Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children, Nova Iorque, Basic Books, 1985.
__________________________________________________________________________________________________________ 439
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
ÍNDICE DE GRAVURAS
CAPíTULO 2 – NASCER
• Fig. 1 - Santas Mães (Século XIV-XV) ...................................................................... Escultura. Madeira policromada. Alt.90 x Larg.38 x Prof. 26cm Col. Comandante Ernesto Vilhena.Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa ( Inv. 1394 Esc.)
•Pg. 44
• Fig. 2 – Santas Mães (Século XV) ............................................................................... Escultura. Calcário policromado. Alt. 73 x Larg. 37 x Prof. 28cm Col. Comandante Ernesto Vilhena. Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa ( Inv. 1045 Esc.)
•Pg. 44
• Fig. 3 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) .................................... Iluminura. Cantiga XXI Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 50
• Fig. 4 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) .................................... Iluminura. Cantiga CXVIII Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 62
• Figura 5 – Virgem do Ó (Séc. XIV) ............................................................................ Escultura. Pedra policromada. Alt.91 x Larg. 25,5 x Prof. 6cm Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa (Inv. 1226 Esc.)
•Pg. 63
• Fig. 6 – Nossa Senhora do Ó (século XIV) ............................................................... Escultura. Calcário policromado. Alt.130 x Larg. 44 x Prof. 34cm Museu Nacional Machado de Castro - Coimbra ( Inv. 645; E20)
•Pg. 64
• Fig. 7 – Virgem da Expectação (Século XIV) ........................................................... Escultura. Calcário policromado Alt. 111 x Larg. 35 x Prof. 31cm Col. Comandante Ernesto Vilhena. Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa (Inv. 1090 Esc.)
•Pg. 66
• Fig. 8 – Virgem do Ó (Séc. XIV) ................................................................................ Escultura. Calcário branco e policromado. Alt. 134 x Larg. 33cm Museu de Lamego (Inv. 130)
•Pg. 67
• Fig. 9 – Nossa Senhora do Ó (Séc. XV) ...................................................................... Escultura. Calcário. Alt. 104 x Larg.31 x Prof. 37cm Museu de Grão Vasco – Viseu (Inv. 881; 6 Esc.)
•Pg. 67
•Fig. 10 – Santa Marinha ou Santa Margarida (Século XV) .................................. Escultura. Calcário policromado. Alt. 68,5 x Larg. 44,5 x Prof. 20cm Col. Comandante Ernesto Vilhena. Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa ( Inv. 2351 Esc.)
•Fig. 11 – Igreja Paroquial de Adeganha (Século XIII) ........................................... Baixo – relevo. Fachada da Igreja paroquial de Adeganha, concelho de Mirandela.
•Pg. 70
•Pg. 72
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
• Fig. 12.- Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) ................................. Iluminura. Cantiga XVII. Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 73
• Fig. 13 - Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) .................................. Iluminura Cantiga LXXXIX Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 74
• Fig. 14 – Iluminuras (Século XIII) .............................................................................. Iluminura. Colecção de tratados médicos, França, Paris, BNF, ms. latin 7056, fº 88 vº 89. Reproduzidas a partir de Pierre Riché e Danièle Alexandre-Bidon, L'enfance au Moyen Age, Paris, Seuil, 1994, pp. 42-43.
•Pg. 76
• Fig. 15 - Afonso X, Cantigas de Santa Maria, (Século XIII) ................................. Iluminura. Cantiga CLXXXIIII Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 82
• Fig. 16 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) .................................. Iluminura. Cantiga I Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 86
• Fig. 17 – Igreja de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães (Século XIV) .. Pintura. Pormenor do tecto reproduzido a partir de Horácio Pereira Bonifácio, Luís Manuel Teixeira e Pedro Gomes Barbosa, "Da Temática da Decoração" in Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, Guimarães, Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 1981, pp. 49-74.
•Pg. 86
•Fig. 18 – Túmulo de D. Inês de Castro (Século XIV) – Mosteiro de Alcobaça. Tumulária. Pormenor do túmulo de Inês de Castro no braço esquerdo do transepto da Igreja.
•Pg. 87
•Fig. 19 - Tríptico da Natividade da Colegiada de Guimarães - Século XV ....... Retábulo. Pormenor do retábulo de prata dourada. Alt. 135 x Larg. 175cm Museu Alberto Sampaio – Guimarães
•Pg. 87
•Fig. 20 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) ................................... Iluminura. Cantiga XVII Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 96
• Fig. 21 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) .................................. Iluminura. Cantiga não numerada. Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice B.R. 20 de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia.
•Pg. 98
CAPÍTULO 3 – CRESCER
•Fig. 22 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) .................................. Iluminura. Cantiga I Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 102
_____________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
442
FONTES ICONOGRÁFICAS __________________________________________________________________________________________________________
•Fig. 23 – Túmulo de D. Pedro I (Século XIV) - Mosteiro de Alcobaça ............... Tumulária. Pormenor do túmulo do rei Pedro I no braço direito do transepto da Igreja.
•Pg. 103
•Fig. 24 – Virgem com o Menino (Século XIV) ......................................................... Escultura. Calcário policromado. Alt. 68,5 x Larg. 26 x Prof. 16cm Col. Comandante Ernesto Vilhena. Museu Nacional de Arte Antiga - Lisboa (Inv. 967 Esc)
•Pg. 107
•Fig. 25 – Nossa Senhora e o Menino (Século XIV) .................................................. Ourivesaria. Prata branca e dourada com pedras preciosas Tesouro da Rainha D. Isabel. Alt. 61,5 Museu Nacional Machado de Castro - Coimbra (Inv. Our. 6034)
•Pg. 108
•Fig. 26 – Virgem do Leite (Século XV) ....................................................................... Escultura. Calcário policromado Alt. 75,7 x Larg. 30 x Prof. 21cm. Col. Comandante Ernesto Vilhena. Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa (Inv. 980 Esc)
•Pg. 109
•Fig. 27 – Nossa Senhora do Leite (Século XV) .......................................................... Escultura. Alt. 70 x Larg. 18,5 x Prof. 27cm Museu de Grão Vasco – Viseu (Inv. 882;7 Esc)
•Pg. 110
•Fig. 28 – Nossa Senhora do Leite (Século XV) .......................................................... Escultura. Madeira dourada e policromada. Alt. 79 x Larg. 31 x Prof. 14cm. Museu Nacional Soares dos Reis – Porto (Inv. 53 Esc.)
•Pg. 111
•Fig. 29 – Virgem do Leite (Século XV) ....................................................................... Escultura. Alt. 62,5 x Larg. 26,5 x Prof. 19cm Museu Nacional Machado de Castro – Coimbra (Inv. 4030; E 29)
•Pg. 112
•Fig. 30 – Nossa Senhora do Leite (Século XV) .......................................................... Escultura. Calcário. Alt. 38 x Larg. 21 x Prof. 15,5cm Museu de Alberto Sampaio – Guimarães (Inv. E 27)
•Pg. 113
•Fig. 31 – Virgem com o Menino (Século XV) ............................................................ Escultura. Calcário policromado. Alt. 10,5 x Larg. 37,5 x Prof. 37,5cm Col. Comandante Ernesto Vilhena. Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa (Inv. 1782 Esc)
•Pg. 114
•Fig. 32 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) ................................... Iluminura. Cantiga XXVI Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 117
•Fig. 33 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) ................................... Iluminura. Cantigas XXI e XLIII Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 119
•Fig. 34 – Túmulo de D. Pedro (Século XIV) - Mosteiro de Alcobaça ..................... Tumulária. Pormenor do túmulo do rei Pedro I no braço direito do transepto da Igreja.
•Pg. 120
_____________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
443
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
•Fig. 35 – Pormenor de uma miniatura (Século XV) ................................................ Iluminura. Bartolomeu, o Inglês, Livre des Propriétés des Choses Paris, BNF, ms. Francês 218, fº 95 Reproduzido a partir de Nadeije Laneyrie-Dagen (dir.), Les grands événements de l' histoire des enfants, Paris, Larousse, 1995, p. 89
•Pg. 121
•Fig. 36 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) ................................... Iluminura. Cantiga LXV Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 126
•Fig. 37 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) ................................... Iluminura. Cantiga CXXIIII Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 127
•Fig. 38 – Miniatura de bule (Séculos XII-XIII) ........................................................ Cerâmica. Miniatura de bule. Época islâmica. Museu de Loulé.
•Pg. 128
•Fig. 39 - Miniaturas de panela, bule, jarra e lamparina (Séculos XII--XIII) ... Cerâmica. Miniaturas. Panela – Alt. 4,3 x Diâm. 7cm; Bule – Alt. 7,5 x Diâm. 10cm; Jarra – Alt. 9 x Diâm. 7,6cm; Lamparina – Alt. 1,9 x Larg. 4,5cm Museu Nacional de Arqueologia de Silves. Reproduzido a partir de Rosa Varela Gomes, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo da Exposição, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001.
•Pg. 129
•Fig. 40 – Boneca de cerâmica (Séculos XII-XIII) ..................................................... Cerâmica. Alt. 7,9 x Larg. 3cm Museu Nacional de Arqueologia de Silves. Reproduzido a partir de Rosa Varela Gomes, Palácio Almoada da Alcáçova de Silves. Catálogo da Exposição, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 2001.
•Pg. 130
CAPÍTULO 4 – APRENDER
•Fig. 41 – Sant'Ana e a Virgem) .................................................................................... •Pg. 146 Pintura. Alt. 156 x Larg. 12cm Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa (Inv. 1643 Pint.)
•Fig. 42 – Sant'Ana e a Virgem (Século XV) ............................................................... Escultura. Alabastro. Alt. 91 x Larg. 35 x Prof. 14cm Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa (Inv. 654 Esc.)
•Pg. 147
•Fig. 43 – Santas Mães (Século XV) ............................................................................. Escultura. Calcário policromado. Alt. 109 x Larg. 60 x Prof. 45cm Museu Nacional Machado de Castro – Coimbra (Inv. 2622 E41)
•Pg. 148
•Fig. 44 – Virgem com o Menino (Século XV) ............................................................ Escultura. Calcário policromado. Alt. 92,5 x Larg. 46,5 x 31cm Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa (Inv. 1001 Esc.)
•Pg. 149
_____________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
444
FONTES ICONOGRÁFICAS __________________________________________________________________________________________________________
•Fig. 45 – Nossa Senhora com o Menino (Século XV) .............................................. Escultura. Madeira policromada. Alt. 29 x Larg. 10,5 x Prof. 5,7cm Museu Nacional Soares dos Reis (Inv. 51 Esc.)
•Pg. 150
•Fig. 46 – Santas Mães (Século XV) .............................................................................. Iluminura. Livro de Horas de D. Duarte, Fl. 32 v. Arquivo Nacional da Torre do Tombo – Lisboa
•Pg. 151
•Fig. 47 – Túmulo do arcebispo de Braga, D. Gonçalo Pereira (Século XIV) .... Tumulária. Capela da Glória da Sé de Braga.
•Pg. 192
CAPÍTULO 5 – PROTEGER
•Fig. 48 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) ................................... Iluminura. Cantiga CXXXV Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 208
•Fig. 49 – Matança dos Inocentes (Século XV) ........................................................... Iluminura. Livro de Horas de D. Duarte, Fl. 134 v. Arquivo Nacional da Torre do Tombo – Lisboa
•Pg. 213
•Fig. 50 – Igreja de Nossa Senhora da Oliveira de Guimarães (Século XIV) ..... Pintura. Pormenor do tecto reproduzido a partir de Horácio Pereira Bonifácio, Luís Manuel Teixeira e Pedro Gomes Barbosa, "Da Temática da Decoração" in Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, Guimarães, Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, 1981, pp. 49-74.
•Pg. 214
•Fig. 51 – S. Nicolau (Século XIV) ................................................................................ Ourivesaria. Prata dourada e branca. Alt. 59cm Museu Nacional Machado de Castro – Coimbra (Inv. 6034 Our.)
•Pg. 215
•Fig. 52 – S. Brás (Século XV) ........................................................................................ Escultura. Calcário policromado. Alt. 67 x Larg. 25 x Prof. 17,5cm Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa (Inv. 2341 Esc.)
•Pg. 216
•Fig. 53 – S. Cristovão (Século XV) ............................................................................... Iluminura. Livro de Horas, Fl. 172. Évora, Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Évora.
•Pg. 217
CAPÍTULO 6 – ADOECER
• Fig. 54 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) .................................. Iluminura. Cantiga CXXXIII Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 319
_____________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
445
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 7 – MORRER E RESSUSCITAR
•Fig. 55 – Túmulo de Egas Moniz (Século XIII) ........................................................ Tumulária. Cabeceira do túmulo de Egas Moniz - Mosteiro do Paço de Sousa (Penafiel)
•Pg. 328
•Fig. 56 – Missal cisterciense de Alcobaça (Século XIII) ......................................... Iluminura. Lisboa, Biblioteca Nacional, Alcob. 26, fol. 5r
•Pg. 328
•Fig. 57 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) ................................... Iluminura. Cantiga XXVI Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 329
•Fig. 58 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) ................................... Iluminura. Cantiga XLI Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 330
•Fig. 59 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) ................................... Iluminura. Cantigas CLXVIII e XLIII Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 339
•Fig. 60 – Sepulturas individuais de crianças na necrópole medieval de Serpa. Tumulária. Foto gentilmente cedida pela Prof. Doutora Eugénia Cunha.
•Pg. 341
•Fig. 61 – Arca tumular (Século XIII) - Mosteiro de Alcobaça ............................ Tumulária. Arca de infante no Panteão do Mosteiro. Pormenor da face dos pés. Foto reproduzida a partir de José Custódio Vieira da Silva, O Panteão Régio do Mosteiro de Alcobaça, Lisboa, IPPAR, 2003, p. 49.
•Pg. 344
•Fig. 62 – Arca tumular (Século XIII) - Mosteiro de Alcobaça ............................ Tumulária. Arca de infante no Panteão do Mosteiro. Foto reproduzida a partir de José Custódio Vieira da Silva, O Panteão Régio do Mosteiro de Alcobaça, Lisboa, IPPAR, 2003, p. 51.
•Pg. 345
•Fig. 63 – Monumento funerário da Infanta Isabel (Século XIV) - Convento de Santa-Clara-a-Velha ................................................................................................... Tumulária. Foto gentilmente cedida pelo Prof. Doutor José Custódio Vieira da Silva.
•Pg. 347
•Fig. 64– Monumento funerário da Infanta Leonor Afonso (Século XIV) - Sé de Lisboa ............................................................................................................................. Tumulária. Foto reproduzida a partir de Carla Varela Fernandes, Memórias de Pedra. Escultura Tumular Medieval da Sé de Lisboa, Lisboa, IPPAR, 2001, p. 62.
•Pg. 349
CAPÍTULO 8 – AMAR
•Fig. 65 – Bíblia Sagrada (Século XIII) ......................................................................... Iluminura. Biblioteca Nacional de Lisboa, Bíblia Sagrada, Iluminados, 51, Fl. 67 v.
•Pg. 361
•Fig. 66 – Afonso X, Cantigas de Santa Maria (Século XIII) ................................... Iluminura. Cantiga CXXXIX Reproduzida a partir de Alfonso X El Sabio, Cantigas de Santa Maria, Edición Facsímil del Códice T.I.1 de la Biblioteca de San Lorenzo el Real de el Escorial.
•Pg. 362
_____________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
446
FONTES ICONOGRÁFICAS __________________________________________________________________________________________________________
•Fig. 67 – Virgem coroada (Século XIII) ..................................................................... Escultura. Madeira policromada. Alt. 69 x Larg. 27 x Prof. 26cm Col. Comandante Ernesto Vilhena. Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa (Inv. 1290 Esc.)
•Pg. 369
•Fig. 68 – Nossa Senhora com o Menino (Século XIV) ........................................... Escultura. Madeira policromada. Alt. 56,5 x Larg. 22 x Prof. 11,7cm Museu Nacional Soares dos Reis – Porto (Inv. 54 Esc.)
•Pg. 369
•Fig. 69 – Virgem com o Menino (Século XIV) .......................................................... Escultura. Pedra calcária. Alt. 130 x Larg. 43,5 x Prof. 27 cm Col. Comandante Ernesto Vilhena. Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa (Inv. 1087 Esc.)
•Pg. 370
•Fig. 70 – Virgem com o Menino (Século XV) ............................................................ Escultura. Madeira policromada. Alt. 83,5 x Larg. 29 x Prof. 20cm Col. Comandante Ernesto Vilhena. Museu Nacional de Arte Antiga – Lisboa (Inv. 2398 Esc.)
•Pg. 370
•Fig. 71 – Vigem com o Menino (Século XV) .............................................................. Pintura a óleo sobre madeira. Alt. 44 x Larg. 32cm Museu Nacional de Arte Antiga - Lisboa (Inv. 1065 Pint.)
•Pg. 371
•Fig. 72 – Presépio (Século XIV-XV) ............................................................................ Baixo-relevo. Alabastro. Alt. 43 x Espes. 5,2 x Comp. 29,7cm Museu Nacional Machado de Castro – Coimbra (Inv, 8028; E78)
•Pg. 379
•Fig. 73– Túmulo de Rainha (Século XIII) – Mosteiro de Alcobaça .................... Tumulária. Face dos pés do túmulo localizado no Panteão do Mosteiro.
•Pg. 380
_____________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
447
ÍNDICE DE QUADROS __________________________________________________________________________________________________________
INDICE DE QUADROS
CAPÍTULO 1 – DIFERENCIAR
QUADRO I – O LÉXICO SOBRE A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA NOS LIVROS DE MILAGRES MEDIEVAIS PORTUGUESES ................................
Pg. 38
CAPÍTULO 2 – NASCER
QUADRO II – A VIRGEM-MÃE NA ESTATUTÁRIA MEDIEVAL DO MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA. DIMENSÕES E TIPOLOGIAS .............................
Pg. 45
CAPÍTULO 5 – PROTEGER
QUADRO III – ONOMÁSTICA INFANTIL DAS HAGIOGRAFIAS E LIVROS DE MILAGRES ..........................................................................................
Pg. 211
QUADRO IV – ESTADO E SITUAÇÃO FAMILIAR DOS BASTARDOS LEGITIMADOS PELO REI DUARTE ......................................................................
Pg. 244
CAPÍTULO 6 – ADOECER
QUADRO V – CONTEXTO FAMILIAR DOS MILAGRES DE CURA DAS CRIANÇAS ...................................................................................................................
Pg. 273
QUADRO VI – CONDIÇÃO E PROFISSÕES DOS FAMILIARES DAS CRIANÇAS MIRACULADAS .......................................................................................................
Pg. 276
QUADRO VII – TIPOLOGIA, CRONOLOGIA E GÉNERO DAS CURAS DOS MIRACULADOS ......................................................................................................
Pg. 305
CAPÍTULO 8 – AMAR
QUADRO VIII – INVOCANTES E ACOMPANHANTES DOS MILAGRES FEITOS A CRIANÇAS .............................................................................................................
Pg. 375
________________________________________________________________
ANA RODRIGUES OLIVEIRA
448
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA __________________________________________________________________________________________________________
INDICE DE GRÁFICOS
CAPÍTULO 5 – PROTEGER
GRÁFICO Nº 1 – SEXO DOS BASTARDOS LEGITIMADOS PELO REI DUARTE ...................
Pg. 245
GRÁFICO Nº 2 – ESTADO E SITUAÇÃO FAMILIAR DOS PAIS DOS BASTARDOS LEGITIMADOS PELO REI DUARTE .................................................................
Pg. 245
CAPÍTULO 6 – ADOECER
GRÁFICO Nº 3 - ANTIGUIDADE DAS DOENÇAS DOS MIRACULADOS .................................
Pg. 265
GRÁFICO Nº 4 - IDADE EM QUE AS CRIANÇAS MIRACULADAS ADOECERAM ................
Pg. 271
GRÁFICO Nº 5 – ACOMPANHANTES DAS CRIANÇAS PEREGRINAS .....................................
Pg. 274
GRÁFICO Nº 6 – INICIATIVA DOS PEDIDOS PARA A PRODUÇÃO DOS MILAGRES DAS CRIANÇAS .............................................................................
Pg. 275
GRÁFICO Nº 7 – TEMPO DE MANIFESTAÇÃO DE UM MILAGRE DE CURA .........................
Pg. 278
GRÁFICO Nº 8 – FORMAS DE DESENCADEAMENTO DAS CURAS MILAGROSAS ......................................................................................................
Pg. 283
GRÁFICO Nº 9 – DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS .................................................
Pg. 285
GRÁFICO Nº 10 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - PARALISIAS ......................
Pg. 285
GRÁFICO Nº 11 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - HEMORRAGIAS E FERIDAS ............................................................................................................
Pg. 288
GRÁFICO Nº12 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - CEGUEIRA E MALES OCULARES .............................................................................................
Pg. 290
GRÁFICO Nº 13 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - PÁPULAS E INCHAÇOS ...........................................................................................................
Pg. 291
GRÁFICO Nº 14 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - DOENÇAS MENTAIS ..............................................................................................................
Pg. 293
GRÁFICO Nº 15 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS -SURDEZ E MUDEZ ..................................................................................................................
Pg. 296
GRÁFICO Nº 16 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS – QUEBRADURAS ...............
Pg. 298
GRÁFICO Nº 17 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS – DOENÇAS GRAVES INESPECÍFICAS ..................................................................................
Pg. 299
GRÁFICO Nº 18 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - FEBRES E PESTE ...............
Pg. 300
GRÁFICO Nº 19 - DOENÇAS DAS CRIANÇAS MIRACULADAS - DOENÇAS DIVERSAS ............................................................................................................
Pg. 302
GRÁFICO Nº 20 – EVOLUÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE DO SEXO DAS CRIANÇAS MIRACULADAS ...................................................................
Pg. 307
GRÁFICO Nº 21 – TOTAL DE CASOS DE ACIDENTE REFERIDOS NOS LIVROS DE MILAGRES .....................................................................................
Pg. 308
_________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
449
ÍNDICE DE GRÁFICOS E MAPAS __________________________________________________________________________________________________________
GRÁFICO Nº 22 – TEMPO DE MANIFESTAÇÃO DOS MILAGRES FEITOS A CRIANÇAS ACIDENTADAS .........................................................................
Pg. 310
GRÁFICO Nº 23 – FORMAS DE DESENCADEAMENTO DOS MILAGRES A CRIANÇAS ACIDENTADAS .............................................................................
Pg. 310
GRÁFICO Nº 24 – IDADE DOS MIRACULADOS POR ACIDENTE ..............................................
Pg. 312
GRÁFICO Nº 25 – TIPOLOGIA DOS ACIDENTES DOS MIRACULADOS ...................................
Pg. 313
CAPÍTULO 7 – MORRER E RESSUSCITAR
GRÁFICO Nº 26 – IDADE S À MORTE DOS MIRACULADOS POR RESSURREIÇÃO ..............
Pg. 352
GRÁFICO Nº 27 – CAUSA DA MORTE DOS MIRACULADOS POR RESSURREIÇÃO .................................................................................................
Pg. 352
GRÁFICO Nº 28 – FORMAS DE DESENCADEAMENTO DOS MILAGRES POR RESSURREIÇÃO .................................................................................................
Pg. 355
CAPITULO 8 – AMAR
GRÁFICO Nº 29 – INVOCAÇÕES PARENTAIS PARA MILAGRES INFANTIS ...........................
Pg. 385
GRÁFICO Nº 30 – ACOMPANHAMENTO PARENTAL DAS CRIANÇAS MIRACULADAS AOS SANTUÁRIOS ..............................................................
Pg. 385
GRÁFICO Nº 31 – TOTAL DE INVOCAÇÕES E ACOMPANHAMENTOS PARENTAIS NOS MILAGRES DE CRIANÇAS ...............................................
Pg. 386
INDICE DE MAPAS
CAPÍTULO 6 – ADOECER
MAPA 1 – MILAGRES DE CURA DE CRIANÇAS ..........................................................................
Pg. 267
MAPA 2 – GEOGRAFIA DA MORADA DAS CRIANÇAS MIRACULADAS ................................
Pg. 269
_________________________________________________________________________________________________ ANA RODRIGUES OLIVEIRA
450
A CRIANÇA NA SOCIEDADE MEDIEVAL PORTUGUESA
MODELOS E COMPORTAMENTOS
- INTRODUÇÃO ......................................................................................................
• Pg. 1
- FONTES .......................................................................….......................................
• Pg. 9
1 – DIFERENCIAR .................................................
• Pg. 27
2 – NASCER .............................................................
• Pg. 41
1 . A MATERNIDADE SAGRADA ............................................................................................ • Pg. 41 2 . A ESTERILIDADE E A CONCEPÇÃO............................................................................... • Pg. 46 3 . A GRAVIDEZ ......................................................................................................................... • Pg. 57 4 . O PARTO................................................................................................................................. • Pg. 67 5 . A CONTRACEPÇÃO............................................................................................................. • Pg. 88 6 . O ABORTO ............................................................................................................................. • Pg. 91 7 . O INFANTICÍDIO ................................................................................................................. • Pg. 94
3 – CRESCER ............................................................
• Pg. 101
1 . A FRAGILIDADE ................................................................................................................. • Pg. 101 2 . A HIGIENE ........................................................................................................................... • Pg. 105 3 . A NUTRIÇÃO ........................................................................................................................ • Pg. 107 4 . O SONO .................................................................................................................................. • Pg. 119 5 . O ANDAR E O FALAR ....................................................................................................... • Pg. 121 6 . O JOGAR E O BRINCAR .................................................................................................. • Pg. 124
4 – APRENDER .......................................................
• Pg. 135
1 . A EDUCAÇÃO...................................................................................................................... • Pg. 136 2 . A INSTRUÇÃO .................................................................................................................... • Pg. 139 3 . RAPAZES E RAPARIGAS ................................................................................................ • Pg. 141 4 . AS APRENDIZAGENS ....................................................................................................... • Pg. 143 5 . A FUNÇÃO DAS MÃES ...................................................................................................... • Pg. 146 6 . O MEIO NOBILIÁRQUICO .............................................................................................. • Pg. 156 7 . O MODELO CORTESÃO .................................................................................................. • Pg. 161 8 . AS DONZELAS .................................................................................................................... • Pg. 167 9 . O EXEMPLO DOS SANTOS .............................................................................................. • Pg. 170 10 . A FORMAÇÃO CLERICAL ............................................................................................. • Pg. 179 11 . A OPÇÃO MONÁSTICO-CONVENTUAL. .................................................................... • Pg. 184 12 . COMPORTAMENTOS ...................................................................................................... • Pg. 191
5 – PROTEGER ....................................................
• Pg. 195
1 . OS SACRAMENTOS ........................................................................................................... 2 . AS DEVOÇÕES ....................................................................................................................
• Pg. 195 • Pg. 209
3 . A ASSISTÊNCIA .................................................................................................................. • Pg. 219 4 . AS SALVAGUARDAS ......................................................................................................... • Pg. 232
451
6 – ADOECER .................................................................
• Pg. 257
1 . TESTEMUNHOS............................................................................................................... • Pg. 257 2 . MILAGRES ....................................................................................................................... • Pg. 263 3 . AS CRIANÇAS MIRACULADAS ................................................................................... • Pg. 271 4 . AS CURAS MIRACULOSAS ........................................................................................... • Pg. 277 5 . PARALISIAS ...................................................................................................................... • Pg. 285 6 . HEMORRAGIAS E FERIDAS ........................................................................................ • Pg. 288 7 . CEGUEIRA E MALES OCULARES .............................................................................. • Pg. 290 8 . PÁPULAS E INCHAÇOS ................................................................................................. • Pg. 291 9 . DOENÇAS MENTAIS ...................................................................................................... • Pg. 293 10 . SURDEZ E MUDEZ .......................................................................................................... • Pg. 296 11 . QUEBRADURAS ............................................................................................................... • Pg. 298 12 . DOENÇAS GRAVES INESPECÍFICAS ......................................................................... • Pg. 299 13 . FEBRES E PESTE ............................................................................................................. • Pg. 300 14 . DOENÇAS DIVERSAS ..................................................................................................... • Pg. 302 15 . PREVALÊNCIAS .............................................................................................................. • Pg. 304 16 . ACIDENTES ...................................................................................................................... • Pg. 308 17. SINISTRALIDADE DOMÉS.TICA .................................................................................. • Pg. 314 18 . ACIDENTES NO EXTERIOR DA CAS.A ...................................................................... • Pg. 316 19 . RESPONSABILIZAÇÕES ................................................................................................ • Pg. 323 7 - MORRER E RESSUSCITAR .....................................
• Pg. 327
1 . AS VIDAS BREVES ........................................................................................................... • Pg. 327 2 . AS SEPULTURAS .............................................................................................................. • Pg. 333 3 . OS TÚMULOS .................................................................................................................... • Pg. 343 4 . UMA SEGUNDA VIDA ..................................................................................................... • Pg. 350
8 – AMAR ............................................................
• Pg. 357
1 . OS CONTEXTOS FAMILIARES ...................................................................................... • Pg. 357 2 . AMOR MATERNAL ........................................................................................................... • Pg. 362 3 . AMOR PATERNAL ............................................................................................................ • Pg. 373 4 . AMOR FILIAL .................................................................................................................... • Pg. 379 5 . RAPAZES E RAPARIGAS ...................................................................................... .......... • Pg. 383 6 . AMOR DE IRMÃOS E DE AVÓS ..................................................................................... • Pg. 387 7 . OUTROS AFECTOS ........................................................................................................... • Pg. 389 - CONCLUSÃO .........................................................................................................
• Pg. 393
- BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................
• Pg. 405
- FONTES ICONOGRÁFICAS ............................................................................... • Pg. 441 - ÍNDICE DE QUADROS ......................................................................................... • Pg. 448 - ÍNDICE DE GRÁFICOS E MAPAS ..................................................................... • Pg. 449 - ÍNDICE GERAL .....................................................................................................
• Pg. 451
452