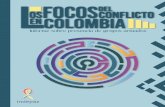BONAVITA, Renan. Produção, Estocagem e Emprego de Munições em Cacho em Conflitos Armados na...
-
Upload
fundaogetuliovargas -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of BONAVITA, Renan. Produção, Estocagem e Emprego de Munições em Cacho em Conflitos Armados na...
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE DIREITO INTERNACIONAL E COMPARADO
- DIREITO INTERNACIONAL PENAL (DIN0513) -
PROF.ª CLÁUDIA PERRONE MOISÉS
PRODUÇÃO, ESTOCAGEM E EMPREGO DE
MUNIÇÕES EM CACHO EM “CONFLITOS
ARMADOS” NA PERSPECTIVA DO DIREITO
INTERNACIONAL HUMANITÁRIO
Renan Peppe Bonavita
Nº USP 6489174
São Paulo
14 de junho de 2012
I - INTRODUÇÃO
A fim de discorrermos sobre o tratamento das munições em cacho no Direito
Internacional Humanitário, convém realizar uma breve exposição histórica acerca do
desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário sob a perspectiva na qual o tema
em questão se insere, qual seja, a do regramento dos "métodos e meios" utilizados nos
“conflitos armados”.
Cumpre ressaltar que este corte temático, bem verdade, é por vezes deficiente,
pois atualmente é impossível apartar, ainda que frouxamente, o regramento dos
"métodos e meios" da questão da “proteção internacional dos direitos humanos” nos
“conflitos armados”.
A despeito disso, destacamo-la por que expressa mais uma divisão histórica do
Direito Internacional Humanitário, tornando-se útil na medida em que aponta a maior
ou menor importância, no âmbito internacional, do tema do regramento dos "métodos e
meios" em um dado período histórico, bem como a respectiva conjuntura subjacente.
A fim de atingir a essência das questões que perpassam por seu objetivo - o
tratamento das munições em cacho no Direito Internacional Humanitário, a metodologia
adotada no presente estudo busca compreender o âmago do seu objeto de análise - as
munições em cacho - e o fundamento jurídico subjacente - os Princípios e as normas de
Direito Internacional Humanitário.
Essa metodologia se traduz na própria estrutura de organização do trabalho, de
modo que se inicia com a evolução histórica do Direito Internacional Humanitário,
notadamente quanto aos “métodos e meios”, passa-se por uma análise mais detida ao
objeto do trabalho em si, perquirindo a produção, o desenvolvimento e emprego, ao
longo da história, das munições em cacho, assim como as suas características
destrutivas, e, avançando, alcançamos o cerne do trabalho, o tratamento deste meio pelo
Direito Internacional Humanitário, para, por fim, tecermos as conclusões finais.
II - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO INTERNACIONAL HUMANITÁRIO
QUANTO AOS MEIOS EMPREGADOS EM “CONFLITOS ARMADOS”
Apesar de a humanidade já há muito tempo sofrer com as moléstias da guerra, o
Direito Internacional Humanitário começou a surgir apenas após a Guerra da Criméia,
que resultou na Convenção da Cruz Vermelha de Genebra de 1864.
"O direito internacional foi nos seus primórdios o direito da guerra, e só depois
de GRÓCIO é que as relações entre os estados em tempo de paz passaram a ser
preocupação dos juristas.” 1
Assim, ao início de seu desenvolvimento, o Direito Internacional Público
confundia-se com o Direito Internacional Humanitário, compondo uma só esfera do
Direito Internacional.
Esta situação viria a se alterar profundamente somente a partir das Convenções
de Haia de 1899 e 1907, as quais fizeram emergir um sistema institucional e normativo
de Direito Internacional Humanitário, mas apenas enquanto um direito atinente à
condução da guerra propriamente dita e aos "métodos e meios" de guerra ou de combate
permissíveis.2
Neste sentido, o Artigo 22 dos Regulamentos anexos às Convenções de Haia de
1899 e 1907 dispõe: “Os beligerantes não têm direito ilimitado quanto à escolha dos
meios de prejudicar o inimigo”. Assim, este dispositivo estabeleceu o ponto de partida
para a distinção, segundo o Direito Internacional Humanitário, dos meios lícitos e
ilícitos dos quais os Estados poderiam lançar mão em um eventual “conflito armado”.
O “direito de Haia”, a despeito de consideráveis avanços, especialmente com o
reconhecimento dos fenômenos da beligerância e insurgência, logo se mostrou incapaz
de expandir a abrangência do Direito Internacional Humanitário, porque "(...) se viu
gradualmente superado pelo impacto dos avanços tecnológicos nos "métodos e meios"
1 ACCIOLY, Hildebrando et al. Manual de Direito Internacional Público. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2003. p.811. 2 Interessante assinalar que a Declaração de São Petersburgo, já em 1868, dispunha que os Estados
beligerantes deveriam atenuar, tanto quanto possível, as calamidades da guerra, e que o único fim
legítimo da guerra era o enfraquecimento militar do inimigo.
de combate;"3 e também porque prescrevia, conforme operado pelo Pacto Briand-
Kellog de 1922, a guerra como um “instrumento de política nacional”.
Essa insuficiência do “direito de Haia” transpareceria também em sua
incapacidade de estabelecer regras para os “conflitos armados”, haja vista que o mero
“direito de guerra” exclui do âmbito do Direito Internacional Humanitário fenômenos
típicos do século XX, como as "lutas de libertação nacional".
A I Guerra Mundial e o Período Entre Guerras não marcaram uma evolução
concreta do sistema normativo-institucional do Direito Internacional Humanitário,
sendo que, em alguma medida, significou o seu retrocesso, haja vista a indiferença dos
Estados em garantir o cumprimento de regras mínimas de combate.
Ressalta-se apenas uma exceção, o Pacto Briand-Kellog, celebrado em 1928, que
colocou, sob a perspectiva jurídica internacional, a guerra de agressão definitivamente
fora da lei, permanecendo válida a guerra defensiva.
Ocorre que poucos anos depois, por ocasião da II Guerra Mundial, a “guerra
total” subverteria não só os parâmetros jurídicos como também civilizatórios, levando
ao extremo a transgressão das regras de combate, mesmo as consuetudinárias.
O flagelo da guerra ajudou a irromper com esse imobilismo do “direito de Haia”,
oportunidade na qual foram celebradas as Convenções de Genebra de 1949, que
emergem na "(...) busca de soluções satisfatórias aos problemas gerados pela
experiência em situações de luta armada, e da realização mais eficaz do princípio
humanitário consoante a ideia básica, inspiradora e subjacente, da necessidade da
preservação da pessoa humana e da garantia do respeito à sua dignidade e integridade
nos países em conflito armado.”4
Destarte, valendo-se da dura experiência da II Guerra Mundial, o “direito de
Genebra”, voltando-se ao respeito e proteção das vítimas de guerra, consagra a primazia
dos direitos do indivíduo e dos princípios de humanidade, obrigando os Estados a não
criar obstáculos à ação humanitária em favor das vítimas.
3 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Prefácio à “Introdução ao Direito Internacional
Humanitário de Christophe Swinarski, in SWINARSKI, Christophe. Introdução ao Direito Internacional
Humanitário. Brasília: Escopo Editora, 1988. p.10. 4 Idem, p.8.
Nesse esteio, a Carta das Nações Unidas serviria para reafirmar a vedação à
“Guerra de Agressão”, e para inovar, permitindo a “legítima defesa individual e
coletiva” e o “emprego da força armada” por deliberação do Conselho de Segurança.
Alguns autores, como KALSHOVEN, apontam ainda uma terceira vertente,
sucessora do "direito de Haia" e do "direito de Genebra", alcunhada de "direito de Nova
York", que advém, primariamente, dos esforços e realizações no âmbito das Nações
Unidas.
O ponto de partida desta terceira corrente foi a Conferência de Teerã sobre
Direitos Humanos de 1968, que seria seguida por uma série de Resoluções da
Assembleia Geral da ONU e de seus principais órgãos, todas versando sobre um
espectro temático mais largo, abrangendo desde questões envolvendo movimentos de
libertação nacional até proibições ou restrições ao uso de determinadas armas
convencionais.
Para muitos estudiosos o "direito de Nova York" marcaria a confluência entre as
três correntes (Genebra, Haia, e Nova York) para um movimento único e multiespectral,
que restou consolidado a partir da Resolução de nº 2444 (XXIII) de 1968 da Assembleia
Geral da ONU.
Destarte, segundo esse entendimento, temos hoje um movimento único que
engloba múltiplas preocupações, notadamente, a proteção das vítimas de guerra, as
regras de combate, e a proteção internacional dos direitos humanos nos “conflitos
armados”.
O "direito de Nova York" atingiu o seu ponto culminante com os dois Protocolos
Adicionais resultantes da Conferência Diplomática sobre a Reafirmação e o
Desenvolvimento do Direito Internacional Humanitário Aplicável em Conflitos
Armados, realizada em Genebra entre 1974 e 1977.
Nesta, os Estados-membros lograram expandir consideravelmente o âmbito de
aplicação do Direito Internacional Humanitário, estendendo-o à proteção de pessoas
civis, especialmente com a ampliação da definição de prisioneiro de guerra, a
introdução de garantias fundamentais de respeito à pessoa humana, e a inclusão das
lutas dos povos contra a dominação colonial, a ocupação estrangeira e os regimes
racistas no catálogo de conflitos internacionais.
A questão do regramento dos "métodos e meios" utilizados nos “conflitos
armados” foi, no entanto, silenciada pelos Protocolos Adicionais de 1977; de modo que
o problema latente das possíveis proibições ou restrições ao uso de certas armas
convencionais emergiu poucos anos depois, em 1980, quando foi realizada a Convenção
das Nações Unidas sobre Proibições ou Restrições ao Uso de Certas Armas
Convencionais.
E mesmo realizando-se, já no último quartel do século XX, essa Convenção
específica sobre os "métodos e meios" utilizados nos “conflitos armados” no âmbito da
ONU, muitas questões de suma importância, e que não raro envolviam a “proteção
internacional dos direitos humanos” restaram sem nenhum tratamento.
Um dos exemplos é a questão das armas nucleares, que, muito embora
envolvesse a preservação de toda a comunidade mundial, restou sem positivação em
razão da então Guerra Fria; outra, dentre muitos outros exemplos, é a que concerne o
presente estudo, qual seja, o emprego de munições em cacho.
Já no último quartel do século XX, Celso Albuquerque Mello aponta "(...) a
necessidade de se expandir ainda mais a penetração do direito internacional na guerra
interna no propósito de humanizá-la e assegurar maior proteção à pessoa humana
através do direito internacional humanitário.” 5
A questão do regramento dos meios empregados em “conflitos armados”,
notadamente das munições em cacho, acompanha, substancialmente, as circunstâncias
de evolução do Direito Internacional Humanitário; primeiro porque se ampliou o
espectro de preocupações de seu tratamento, partindo das “regras de combate”,
passando pela “proteção das vítimas”, e alcançando a temática da “proteção
internacional dos direitos humanos”; segundo porque se ampliou a sua abrangência,
partindo da guerra para abranger uma pluralidade de “conflitos armados”, especialmente
os conflitos internos; e terceiro porque a construção desse direito está sempre alguns
passos atrás dos avanços nos “métodos e meios”, revelando-se perigosamente
anacrônico e, por vezes, carente de mecanismos capazes de lhe conferir efetividade.
5 MELLO, Celso A. Guerra Interna e Direito Internacional, 1ª ed., Rio de Janeiro, Livr. Edit. Renovar,
1985, pp. 1-189.
III - PANORAMA GERAL DAS MUNIÇÕES EM CACHO NO MUNDO E NO
BRASIL
As munições em cacho, bombas cacho, bombas de dispersão, bombas de
fragmentação, bombas cluster, ou munições agregadas são armas constituídas por uma
cápsula, bomba ou ogiva cluster, que contem dezenas de submunições explosivas,
também denominadas bomblets ou granadas.
Esta cápsula, uma vez projetada de uma aeronave ou disparada por sistemas de
artilharia, ao alcançar determinada altitude ou determinado instante, se abre e libera as
submunições, sendo que, ao atingirem o solo, todas estas submunições deveriam
explodir.
Ocorre que "após serem lançadas [as munições em cacho] acabam afetando
quase invariavelmente a população civil, seja no momento do bombardeio seja
posteriormente, em razão de serem explosivos extremamente instáveis que ao caírem no
solo não deflagram e continuam no terreno ferindo ou matando civis inocentes, mesmo
ao final do conflito. Passam a ser denominados de restos explosivos de guerra".6
“Cluster bombs were first used in World War II by German and Soviet forces.
During the 1970s, the USA used massive numbers of cluster bombs in Cambodia, Laos
and Vietnam. More recently, cluster bombs were used extensively in the Gulf War,
Chechnya, the former Yugoslavia, Afghanistan, Iraq, in Lebanon in 2006 and in
Georgia in 2008.”7
Há fortes indícios de que, durante a Operação Justa Recompensa em 2006, Israel
teria lançado aproximadamente quatro milhões de submunições a partir de bombas em
cacho, das quais estudiosos afirmam que cerca de um milhão atingiram o solo sem
explodir.
A Cluster Munition Coalization (CMC) elaborou um linha do tempo, abaixo
transcrita, que aponta os principais eventos nos quais as munições em cacho foram
empregadas, e que bem demonstra a extensão do problema:
6 FERREIRA, Marcos Antônio H. A Normativa Internacional de Desarmamento e Controle de Armas:
uma visão atual. Rio de Janeiro: Escola Superior de Guerra, 2011, p.24. 7 http://www.stopclustermunitions.org/the-problem/history-harm/
“1943 USSR: Soviet forces use air-dropped cluster munitions against German
armour. German forces use SD-1 and SD-2 butterfly bombs against artillery on
the Kursk salient.
1943 United Kingdom: German aircraft drop more than 1,000 SD-2 butterfly
bombs on the port of Grimsby.
1960s-1970s Cambodia, Laos, Vietnam: US forces make extensive use of
cluster munitions in bombing campaigns. The ICRC estimates that in Laos
alone, 9 to 27 million unexploded submunitions remain, and some 11,000
people have been killed or injured, more than 30 percent of them children. An
estimate based on US military databases states that 9,500 sorties in Cambodia
delivered up to 87,000 air-dropped cluster munitions.
1973 Syria: Israel uses air-dropped cluster munitions against non-state armed
group (NSAG) training camps near Damascus.
1975-1988 Western Sahara: Moroccan forces use cluster munitions against
NSAG.
1978 Lebanon: Israel uses cluster munitions in southern Lebanon.
1979-1989 Afghanistan: Soviet forces make use of air-dropped and rocket-
delivered cluster munitions. NSAG also use rocket-delivered cluster munitions
on a smaller scale.
1982 Lebanon: Israel uses cluster munitions against Syrian forces and NSAG in
Lebanon.
1982 Falkland Islands (Malvinas): UK aircraft drop cluster munitions on
Argentinean infantry positions near Port Stanley, Port Howard, and Goose
Green.
1986-1987 Chad: French aircraft drop cluster munitions on a Libyan airfield at
Wadi Doum. Libyan forces also used AO-1SCh and PTAB-2.5 submunitions.
1991 Iraq, Kuwait, Saudi Arabia: The US and its allies (France, Saudi Arabia,
UK) drop 61,000 cluster bombs containing some 20 million submunitions. The
number of cluster munitions delivered by surface-launched artillery and rocket
systems during the Gulf War is not known, but an estimated 30 million or more
DPICM submunitions were used in the conflict.
1992-1994 Angola: PTAB submunitions found in various locations.
1992-1994 Nagorno-Karabakh: Submunition contamination has been identified
in at least 162 locations. Submunition types cleared by deminers include PTAB-
1, ShOAB-0.5, AO-2.5.
1992-1995 Bosnia & Herzegovina: Forces of Yugoslavia and NSAG use
available stocks of cluster munitions during civil war. NATO aircraft drop two
CBU-87 bombs.
1992-1997 Tajikistan: Use by unknown forces in civil war. ShOAB and AO-
2.5RT submunitions have been found in the town of Gharm in the Rasht Valley.
1994-1996 Chechnya: Russian forces use cluster munitions against NSAG.
1995 Croatia: On May 2-3, 1995, an NSAG uses Orkan M-87 multiple rocket
launchers to attack civilians in Zagreb. Additionally, the Croatian government
claimed that Serb forces used BL-755 bombs in Sisak, Kutina, and along the
Kupa River.
1996-1999 Sudan: Sudanese government forces use air-dropped cluster
munitions in southern Sudan, including Chilean made PM-1 submunitions.
1997 Sierra Leone: Nigerian ECOMOG peacekeepers use Beluga bombs on the
eastern town of Kenema.
1998 Ethiopia / Eritrea: Ethiopia and Eritrea exchange aerial cluster munition
strikes, Ethiopia attacking the Asmara airport and Eritrea attacking the Mekele
airport. Ethiopia also dropped BL-755 bombs in Gash-Barka province of
western Eritrea.
1998-1999 Albania: Yugoslav forces launch cross-border rocket attacks and
NATO forces carry out six aerial cluster munition strikes.
1998-2003 DR Congo: BL-755 bombs used by unknown forces in Kasu village
in Kabalo territory.
1999 Yugoslavia (including Serbia, Montenegro,and Kosovo): The US, UK,
and Netherlands drop 1,765 cluster bombs, containing 295,000 bomblets.
2001- 2002 Afghanistan: The US drops 1,228 cluster bombs containing
248,056 bomblets.
Unknown Uganda: RBK-250/275 bombs and AO-1SCh submunitions found in
the northern district of Gulu.
2003-2006 Iraq: The US and UK use nearly 13,000 cluster munitions
containing an estimated 1.8 to 2 million submunitions in the three weeks of
major combat. A total of 63 CBU-87 bombs were dropped by US aircraft
between May 1, 2003 and August 1, 2006.
2006 Lebanon: Israeli forces use surface-launched and air-dropped cluster
munitions against Hezbollah. The UN estimates that Israel used up to 4 million
submunitions.
2006 Israel: Hezbollah fires more than 100 Chinese-produced Type-81 122mm
cluster munition rockets into northern Israel.
2008 Georgia: Russia uses several types of cluster munitions, both air- and
ground-launched, in a number of locations in Georgia’s Gori district. Also
Georgia uses cluster munitions in the August 2008 conflict with Russia.
2011 Cambodia: Thailand uses cluster munitions on Cambodian territory
during a border conflict in February 2011.
2011 Libya: Gaddafi’s forces use cluster munitions in Misrata, Libya.”
"Os números apresentados colocam uma interrogação acerca da legitimidade
do uso de certas armas, estimulando e reforçando discussões em foros internacionais
na busca de um equilíbrio entre as considerações de cunho militar e os impactos
humanitários.” 8
No Brasil as munições em cacho são produzidas pela empresa Ares Aeroespacial
e Defesa Ltda., sendo que o Exército Brasileiro emprega as mesmas no sistema de
artilharia Astros II da Avibrás Indústria Aeroespacial S.A.
Para o Exército Brasileiro, dentre as vantagens deste tipo de armamento,
destacam-se (i) a vultosa economia de meios, porque o emprego de munições em cacho
possibilita que uma mesma missão seja cumprida com um número menor de recursos,
(ii) o maior alcance e a grande vantagem de fogo, (iii) o fator de dissuasão, porque esta
arma é fabricada no país com tecnologia nacional, preservando a autonomia e afastando
o controle externo quanto ao acesso de armas e outros produtos de defesa nacional, etc.
8 FERREIRA, Marcos Antônio H. idem, p.24.
IV - AS MUNIÇÕES EM CACHO NO DIREITO INTERNACIONAL
HUMANITÁRIO
Pode-se afirmar que os vetores do longo e penoso processo de afirmação
histórica do Direito Internacional Humanitário se traduzem por meio de três princípios
fundantes, sem os quais esse direito ruiria, e dos quais defluem regras viscerais.
O primeiro é o “Princípio da Humanidade” que, dada sua importância e
abrangência, prescinde de conceituação; o segundo é o “Princípio da Necessidade”, para
o qual “(...) um Estado só ataca outro como ultima ratio, só depois de ter esgotado
todos os recursos para alcançar, pacificamente, ou até por meios coercitivos,
determinado objetivo nacional.” 9; e o terceiro e último é o “Princípio da Utilidade”,
que é nada mais que a tradução moderna dos conceitos de lealdade e honra na guerra, ou
seja, grosso modo, um Estado não deve empregar armas com poder destrutivo superior
aos fins, segundo as “regras de combate”, que o conflito se destina.
Na seara das munições em cacho, os Princípios da Humanidade e da Utilidade
são particularmente violados, o primeiro porque essa arma causa, em grande parte das
vezes, um número elevado de vítimas civis, seja na sua descarga ou durante anos a fio
nos quais as submunições permanecem ao solo como minas terrestres, sem falar no
sofrimento dos mutilados e das famílias das vítimas, já o segundo porque essa arma não
possui precisão (“bomba-burra”) e parte de suas submunições permanecem ativadas,
isto é, as munições em cacho acabam por gerar um efeito destrutivo muito superior ao
objetivo militar original.
"Parties to an armed conflict are limited in their choice of weapons, means and
methods of warfare by the rules of international humanitarian law (IHL) governing the
conduct of hostilities. Relevant rules include the prohibition on using means and
methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering and
the prohibition on using means of warfare that are incapable of distinguishing between
civilians or civilian objects and military targets,1 which are the ‘‘cardinal rules’’ of
IHL applying to weapons. In addition, particular treaties and customary rules impose
9 ACCIOLY, Hildebrando et al. Manual de Direito Internacional Público. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2003. p.815.
specific prohibitions or limitations on the use of certain weapons, for example anti-
personnel mines and blinding laser weapons."10
De pronto temos que as munições em cacho violam as duas normas viscerais de
Direito Internacional Humanitário quanto às "regras de combate", citadas acima.
Primeiro porque estas, não raro, causam destruição supérflua, atingindo pessoas e bens
não objetivados, inclusive civis, bem como causam sofrimento desnecessário,
principalmente em razão de mutilações geradas pelas submunições que falharam e
permaneceram ativas ao solo. Segundo porque, considerando o seu extenso poder
destrutivo e a sua imprecisão, as munições em cacho, não raro, atingem alvos militares e
civis indistintamente, inclusive alguns não previamente objetivados.
Tradicionalmente, as regras, no âmbito do Direito Internacional Humanitário,
que regem os “conflitos armados”, notadamente quanto aos “métodos e meios”, se
dividem em regras aplicáveis à guerra terrestre, marítima e à guerra aérea, sendo que,
por óbvio, durante um conflito, essas regras se entrecruzam e, atualmente, determinadas
categorias de armas são abrangidas pelas três modalidades.
As munições em cacho são regidas, preponderantemente, por regras aplicáveis à
guerra aérea, sendo que na ausência ou lacuna desta, o que não é raro, aplicam-se as
regras da guerra terrestre, o que também ocorrerá quanto às submunições porventura
não detonadas que permanecerem no solo.
A primeira regra, aplicável às três modalidades de guerra, é a da não agressão
aos indivíduos que não participem das operações de guerra; esta é constantemente
violada pela utilização das munições em cacho, seja pela elevada e imprecisa extensão
de seu poder destrutivo como pela presença de submunições não detonadas ao solo.
Outro eixo fundamental, e cujo elevado grau de abstração permite abarcar
inclusive violações futuras, é o dever de evitar a crueldade desnecessária. Esta máxima,
que decorre diretamente do Princípio da Humanidade, é o critério que permitiu a
distinção, a partir do Artigo 22 do Regulamento das Convenções de Haia de 1899 e
1907, dos meios lícitos e ilícitos dos quais os Estados poderiam lançar mão em um
eventual “conflito armado”, sendo certo que, pelo quanto já exposto sobre as munições
10
LAWAND, Kathleen. Reviewing the Legality of New Weapons, means and methods of warfare.
International REVIEW of the Red Cross, Reports and Documents. Vol. 88, Num. 864, Dec. 2006. p.01.
em cacho e o sofrimento que causam as vítimas civis, podemos certamente classificá-las
como meio ilícito.
“As armas, matérias e instrumentos proibidos pelas leis e costumes da guerra
são todos os que causam sofrimentos inúteis ou agravam feridas, cruelmente. Entre
eles, podem ser citados os seguintes: a) os projéteis de peso inferior a 400 gramas,
explosivos ou carregados de matérias fulminantes ou inflamáveis; b) as balas que se
dilatam ou se achatam facilmente no corpo humano (balas dum-dum); c) os gases
asfixiantes, tóxicos ou deletérios, bem como todos os líquidos, matérias ou processos
análogos, e os projéteis que tenham por fim único espalhar tais gases; d) o veneno ou
as armas envenenadas; e) as culturas bacteriológicas.” 11
Quanto ao Direito Marítimo, a vedação de ataque aos navios mercantes e ao
bombardeio, por meio de força naval, de povoações civis, pode ser interpretada
analogamente à vedação de lançamento de aeronaves ou de disparo de artilharia de
munições em cacho sobre a população civil e seus bens.
As regras de Direito Internacional sobre Guerra Aérea pouco se desenvolveram,
a despeito das duas Guerras Mundiais, de modo que, em razão de incipiente regulação,
deve-se servir da aplicação extensiva das normas aplicáveis à Guerra Terrestre, o que,
não raro, é de difícil adaptação e integração.
Uma ponderação muito importante é a de que a vida dos civis não comporta
sopesamento com as “necessidades militares”, pois o segundo é apenas a lógica de
combate, ao passo que primeiro decorre diretamente do Princípio da Humanidade.
Outra regra de combate que pode ser aplicada extensivamente às munições em
cacho é o Artigo 25 dos Regulamentos de Haia de 1899 e 1907 sobre Guerra Terrestre,
que dispõe a proibição de ataque ou bombardeio, por qualquer meio, das cidades,
aldeias, habitações ou edifícios não defendidos.
Ainda, o Artigo 46 dos Regulamentos de Haia de 1899 e 1907 declara “A honra
e os direitos da família, a vida dos indivíduos e a propriedade privada, bem como as
convenções religiosas e o exercício dos cultos, devem ser respeitados”.
A Assembleia das Sociedades das Nações, em resolução adotada em setembro
de 1938, recomendou princípios nesse mesmo sentido, assim formulados: 1) o
bombardeio internacional de populações civis é ilegal; 2) os objetivos visados do ar
11
ACCIOLY, Hildebrando et al. Manual de Direito Internacional Público. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2003. p.825.
devem ser legítimos objetivos militares e suscetíveis de ser identificados; 3) qualquer
ataque sobre legítimos objetivos militares deve ser levado a efeito de tal maneira que as
populações civis das vizinhanças não sejam bombardeadas por negligência.
“Durante a segunda guerra mundial, esses princípios foram frequentemente
desrespeitados. A chamada “guerra total”, com os seus métodos brutais, inventada e
iniciada pela Alemanha, determinou, desde o primeiro dia, bombardeios aéreos cruéis,
alguns sem objetivo militar, outros destinados apenas a aterrorizar as populações civis
dos inimigos. Varsóvia e outras cidades polonesas, Londres e outras cidades inglesas,
Roterdam, etc. Figuram entre as primeiras vítimas. Sabe-se que as represálias dos
Aliados foram tremendas, aniquilando cidades de pouco ou nenhum interesse militar
como Dresden, em fevereiro de 1945, quando já estava tecnicamente derrotada a
Alemanha, ou varrendo do mapa com bombas atômicas despejadas por aviões, as
cidades de Hiroshima e Nagasaki, na fase final da guerra contra o Japão. E os
bombardeios aéreos deixaram, por assim dizer, de obedecer a quaisquer regras que
não fossem o interesse legítimo ou ilegítimo do beligerante que os praticava”.12
Ao término da guerra, seja por meio de tratado de paz, cessação das hostilidades,
ou de submissão total, deve-se respeitar, para a maioria dos estudiosos, o status quo post
bellum ou uti possidetis, isto é, o estado de coisas (situação de pessoas ou coisas)
existentes no momento da cessação das hostilidades.
Ocorre que o “conflito armado” pode continuar gerando efeitos mesmo após a
sua cessação, a exemplo das submunições em cacho que alcançaram o solo sem
deflagrarem e que muito provavelmente atingirão civis por anos a fio; o que reforça a
importância e necessidade de se criar mecanismos, no âmbito do Direito Internacional
Humanitário, de responsabilização do Estado que lançou/disparou essas submunições.
A importância do objeto deste trabalho não reside tanto na sua perversidade, que
é, indistintamente, propriedade de todos os “métodos e meios” utilizados nos “conflitos
armados” modernos, mas na pluridimensionalidade, sob a perspectiva Direito
Internacional Humanitário, que atinge em razão das suas particularidades.
Assim, vejamos:
12
ACCIOLY, Hildebrando et al. Manual de Direito Internacional Público. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2003. p.852.
(a) as munições do tipo cluster, também conhecidas por “bombas
burras”, constituem um método cruel13
utilizado nos “conflitos
armados”, na medida em que, afim de reduzir custos e majorar seu
poder militar, o respectivo Estado espalha dezenas ou até centenas de
submunições explosivas sobre áreas extensas para atacar,
indistintamente, alvos difusos, como agrupamentos humanos,
construções, instalações e veículos, ocasião na qual acaba por gerar
vítimas civis;
(b) as munições do tipo cluster constituem um meio cruel utilizado nos
“conflitos armados”, na medida em que "(...) as submunições nem
sempre explodem imediatamente depois de tocarem o solo, e podem
ficar alojadas até que haja contato físico, como se fossem minas
terrestres de pequeno alcance"14
, podendo causar, ao longo de
décadas, ferimentos, mutilações e mortes, muito próximos dos
causados por minas terrestres; e,
(c) as munições do tipo cluster constituem uma agressão cruel aos
direitos humanos das vítimas dos “conflitos armados”, na medida
em que os mutilados "(...) necessitam de tratamento a longo prazo e
reabilitação, que inclui assistência médica, reabilitação física, apoio
psicológico e reintegração socioeconômica"15
, não se olvidando dos
problemas causados aos familiares e aos civis que perderam seus
bens.
Destarte, pode-se afirmar que o uso de munições do tipo cluster atinge todas as
esferas de preocupação do Direito Internacional Humanitário atual, quais sejam, a
proteção das vítimas de guerra, as regras de combate, e, por fim, a proteção
internacional dos direitos humanos nos “conflitos armados”.
Ademais, além das visíveis violações de Fundamentos e Princípios de Direito
Internacional Humanitário, é plausível argumentar que o emprego de munições em
13
No excerto, quando se afirma que um meio, método ou ação é “cruel” quer se dizer, objetivamente, que
estes entram em choque com o Direito Internacional Humanitário em sua conformação atual. 14
MODENESE, Felipe. Entenda o que são as bombas cluster. Folha de São Paulo, São Paulo,
25/02/2008. 15
Idem.
cacho já estaria vedado, pois que se pode interpretar que tal vedação já estaria abrangida
em convenções ratificadas por grande parte dos Estados.
Assim, a Convenção sobre certas Armas Convencionais ou Convenção sobre a
Proibição ou Restrição do Emprego de Certas Armas Convencionais que podem ser
Consideradas Excessivamente Lesivas ou Geradoras de Efeitos Indiscriminados
(CCAC), ou simplesmente Convenção de Armas Desumanas de 1980, nos seus
Protocolos II e V, poderia ensejar tal interpretação – de que a produção, estocagem e
emprego de submunições em cacho já estariam vedados no âmbito do Direito
Internacional Humanitário.
Logo, na medida em que o Protocolo II de 1996 da referida Convenção restringe
o emprego de minas e armadilhas, e as submunições não deflagradas podem ser
consideradas minas, sobretudo na perspectiva das vítimas, teríamos então uma possível
restrição ao uso de munições em cacho. Ademais, como o referido Protocolo veda o uso
de minas e armadilhas em certas situações nas quais o perigo de efeitos indiscriminados
é particularmente grave, talvez poderíamos vislumbrar até uma eventual proibição de
emprego de munições em cacho.
No mesmo sentido, o Protocolo V da referida Convenção, que trata sobre restos
explosivos de guerra, poderia servir de parâmetro para a responsabilidade dos Estados
na desativação das submunições não deflagradas.
Atualmente, pode-se afirmar que a Assembleia Geral da ONU, no esteio de
promover a cooperação na manutenção da paz e segurança internacionais, é o principal
órgão deliberativo quanto ao regramento dos “métodos e meios” empregados nos
“conflitos armados”.
Há ainda a Comissão da ONU para o Desarmamento que é um órgão
deliberativo e especializado, composto por todos os membros das Nações Unidas, que
tem por função apresentar recomendações concretas sobre assuntos específicos de
desarmamento e de fazer o acompanhamento necessário no que se refere às decisões
adotadas pelas sessões extraordinárias da Assembleia Geral sobre o tema.
Um dos mais importantes órgãos nesta seara, e que atua de forma independente,
é o Instituto das Nações Unidas para Pesquisa sobre Desarmamento (United Nations
Institute for Disarmament Research - UNIDIR).
"Com sua gênese na Primeira Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações
Unidas de 1978 e considerada o único fórum multilateral de negociações voltadas para
o desarmamento, a Conferência do Desarmamento (Conference on Disarmament - CD),
sediada em Genebra, reveste-se no marco regulatório dos órgãos envolvidos com
desarmamento nas Nações Unidas”.16
Tentativas frustradas de elaboração de um novo Protocolo à Convenção de 1980
realizadas em sede deste fórum estimularam alguns governos a estabelecer Tratados de
restrição à produção, armazenagem e ao emprego de munições em cacho fora do
sistema da ONU, oportunidade na qual foi criada a Convenção sobre Munições
Agregadas, ou Convention on Cluster Munitions (CCM), na Conferência de Dublin.
Nesta foi estabelecida a restrição da produção, armazenagem e do emprego de
munições em cacho, permitindo-se apenas bombas cacho com características técnicas
específicas, notadamente menor taxa de falibilidade no instante da explosão.
O Governo brasileiro não se posiciona inteiramente contra a Conferência de
Dublin, mas alega que a Convenção é discriminatória, pois que não veda a produção de
artefatos de segunda e terceira gerações fabricados apenas pelos países mais
desenvolvidos.
Ainda, afirma que esta discussão deveria ocorrer no âmbito da ONU, onde as
negociações poderiam ser guiadas pelo multilateralismo e menos por interesses
particulares, no caso, dos países mais desenvolvidos.
Os fatos parecem indicar, na verdade, que o Governo brasileiro busca, em seu
posicionamento contra a Conferência de Oslo, preservar um mínimo de capacidade
dissuasória, dado o sucateamento das forças armadas das últimas décadas, de modo a
preservar a autonomia e independência na produção nacional de alguns artefatos
militares.
Alguns alegam que haveria ainda um interesse econômico na exportação de
munições em cacho, mas é muito difícil comprovar esta alegação considerando a falta
de transparência do Governo nesta seara. A verdade é que já há alguns anos surgem
indícios esporádicos de emprego de armas brasileiras no exterior, sobretudo no mundo
árabe.
16
FERREIRA, Marcos Antônio H. A Normativa Internacional de Desarmamento e Controle de Armas:
uma visão atual. Rio de Janeiro: Escola Superior de Guerra, 2011, p.52.
Os dados referentes às exportações brasileiras de armas, seja quanto ao valor ou
participação no mercado mundial, são incontestáveis no sentido de apontar para um
vertiginoso crescimento atual, que em poucos anos provavelmente alcançara o seu auge
que ocorreu na década de 1980, conforme demonstra o gráfico abaixo.17
Desapercebidamente, assistimos a um movimento silencioso e crescente do
governo brasileiro no sentido de privilegiar as “necessidades militares” frente às
questões humanitárias. A neutralidade do Brasil frente a casos recentes de patente crime
contra a humanidade, como vem ocorrendo na Síria, apontam neste sentido.
“O governo tem empreendido, em período recente, algumas ações destinadas a
promover um fortalecimento militar do país. (...) Uma das características deste
processo é que sua ênfase está não apenas na modernização tecnológica das Forças
Armadas, a ser alcançada mediante estas e outras aquisições, mas na articulação entre
esta modernização e a busca pela revitalização da indústria bélica brasileira, buscando
reverter o processo de enfraquecimento pelo qual este passou durante os anos 1990. De
um modo geral (...) tanto os integrantes/representantes da indústria bélica nacional
como o governo brasileiro têm demonstrado que pretendem elevar a participação do
país no mercado internacional de armas.”18
17
MORAES, Rodrigo Fracalossi de. A Inserção da Indústria Brasileira de Defesa: 1975-2010. Brasília,
fevereiro de 2012: IPEA, Textos para Discussão, 1715. p.24. 18
MORAES, Rodrigo Fracalossi de. Rodrigo. O Mercado Internacional de Equipamentos Militares:
Negócios e Política Externa. Brasília, março de 2011: IPEA, Textos para Discussão, 1596. p.07
V - CONCLUSÃO
"A partir de 1991, a comunidade internacional é obrigada a reconhecer que,
contrariamente à expectativas iniciais, os grandes conflitos armados não
desapareceram. Ao contrário, eles persistem, tanto na esfera interestatal quanto na
esfera intraestatal, e são marcados por violências e brutalidades de massa."19
O surpreendente aumento dos gastos militares após a Guerra Fria e a explosão de
“conflitos armados” internos deixaram claro que um mundo de paz foi apenas um
delírio, e que agora, como nunca antes, o Direito Internacional Humanitário deveria
criar, em sede multilateral, instrumentos para lhe garantir maior efetividade.
Ocorre que “a guerra em direito internacional tem sido descuidada, e o silêncio
ou pouca importância dada às normas jurídicas que devem nortear as relações entre
beligerantes e neutros entre si é tão mais lamentável tendo em vista as violações que
vêm ocorrendo desde as duas últimas guerras mundiais. Esta atitude da doutrina e da
própria prática dos Estados pode ser explicada, mas não justificada. Além do mais, as
regras que podem ser invocadas, principalmente as codificadas em 1907, são na sua
maioria anacrônicas.”20
Nota-se que a própria evolução do Direito Internacional Humanitário acaba
sendo obstada por estes conflitos e, atualmente, em que se pese a globalização dos
mercados, pela insegurança econômica em nível mundial.
Na verdade o problema da afirmação e evolução do Direito Internacional
Humanitário sempre foi, e sempre será, uma questão problemática porque, nas palavras
de CANÇADO TRINDADE, "subjacente a todo este domínio do direito encontra-se
(...) o problema fundamental da busca de um equilíbrio entre os imperativos
humanitários e as chamadas "necessidade militares”.” 21
Destarte, quanto à questão das submunições em cacho, “uma saída consensual
em torno deste tema vem sendo protelada, em particular, por aqueles que desejam que
19
FERREIRA, Marcos Antônio H. A Normativa Internacional de Desarmamento e Controle de Armas:
uma visão atual. Rio de Janeiro: Escola Superior de Guerra, 2011, p.16. 20
ACCIOLY, Hildebrando et al. Manual de Direito Internacional Público. 17. ed., São Paulo: Saraiva,
2003. p.811 21
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Prefácio à “Introdução ao Direito Internacional
Humanitário de Christophe Swinarski, in SWINARSKI, Christophe. Introdução ao Direito Internacional
Humanitário. Brasília: Escopo Editora, 1988. p.12
o eventual Protocolo espelhe os resultados da Convenção de Dublin – o que significa
banir as munições em cacho, com exceção daquelas permitidas pela supramencionada
Convenção. Quanto a isso, o Brasil mantém sua posição de que o foro adequado para o
trato desse assunto deve ser a CCAC.”22
Internamente tem-se iniciado um movimento em defesa do banimento das
munições em cacho, o que pode ser percebido principalmente a partir de alguns projetos
de lei que acabaram arquivados, dentre eles o Projeto de Lei Nº 4590/2009, apresentado
pelo Deputado Fernando Gabeira em três de fevereiro de 2009.
Um dos caminhos apontados pelos estudiosos para enfrentar este tema perpassa
por mecanismos de assunção de compromissos internacionais de desarmamento e
controle de armas, que buscam vergar os “interesses militares” aos imperativos de
Direito Humanitário.
Ademais, no sentido de aferir a legalidade, perante o Direito Internacional
Humanitário, dos "métodos e meios" empregados por um Estado, este deveria, de modo
a preservar a efetividade das normas humanitárias, adotar "mecanismos de revisão", isto
é, manter uma organização, preferencialmente de natureza institucional, que possa
continuamente avaliar a legalidade dos dinâmicos "métodos e meios".
Ocorre que, rigorosamente, o meio mais eficaz para restrição da produção, do
armazenamento e emprego de munições em cacho é a autolimitação da soberania pelos
Estados, isto porque “as guerras nascem no espírito dos homens, e é nele,
primeiramente, que devem ser erguidas as defesas da paz”.23
Percebe-se, no entanto, que o Brasil recentemente resgatou uma opção política
no primado de majorar a sua capacidade dissuasória, especialmente porque o mito do
Brasil potência foi hodiernamente revigorado com a descoberta do pré-sal, com uma
economia pujante, e demais riquezas biológicas (“amazônia azul”), minerais (“terras
raras”), etc., de modo que os meios diplomáticos, ao invés de servirem como
instrumento de persuasão e afirmação internacionais dos imperativos humanitários, tem
sido cada vez mais utilizados com vistas a defesa de interesses tidos por estratégicos
pelo governo brasileiro.
22
FERREIRA, Marcos Antônio H. A Normativa Internacional de Desarmamento e Controle de Armas:
uma visão atual. Rio de Janeiro: Escola Superior de Guerra, 2011, p.53. 23
Preâmbulo do Ato Constitutivo da UNESCO
VI - BIBLIOGRAFIA
ACCIOLY, Hildebrando et al. Manual de Direito Internacional Público. 17. ed., São
Paulo: Saraiva, 2003;
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Prefácio à “Introdução ao Direito
Internacional Humanitário de Christophe Swinarski, in SWINARSKI, Christophe.
Introdução ao Direito Internacional Humanitário. Brasília: Escopo Editora, 1988;
MELLO, Celso A. Guerra Interna e Direito Internacional, 1ª ed., Rio de Janeiro,
Editora Renovar, 1985.
FERREIRA, Marcos Antônio H. A Normativa Internacional de Desarmamento e
Controle de Armas: uma visão atual. Rio de Janeiro: Escola Superior de Guerra, 2011.
LAWAND, Kathleen. Reviewing the Legality of New Weapons, means and methods of
warfare. International REVIEW of the Red Cross, Reports and Documents. Vol. 88,
Num. 864, Dec. 2006.
MODENESE, Felipe. Entenda o que são as bombas cluster. Folha de São Paulo, São
Paulo, 25 de fevereiro de 2008.
FRACALOSSI DE MORAES, Rodrigo. A Inserção da Indústria Brasileira de Defesa:
1975-2010. Brasília: IPEA, Textos para Discussão, 1715. Fevereiro de 2012.
http://www.stopclustermunitions.org/the-problem/history-harm/