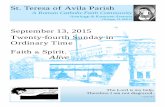A participação do concelho de Santarém em cortes nos séculos XIV e XV. 1. Documentação
Avila, R. 2011. Arqueologia Amazônica - Questões Cronológicas e o Período Formativo da Região...
Transcript of Avila, R. 2011. Arqueologia Amazônica - Questões Cronológicas e o Período Formativo da Região...
unesp UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
Faculdade de Ciências e Letras Campus de Araraquara - SP
ROBERTO ÁVILA FILHO
AARRQQUUEEOOLL OOGGII AA AAMM AAZZÔÔNNII CCAA::
QQUUEESSTTÕÕEESS CCRROONNOOLLÓÓGGIICCAASS EE OO PPEERRÍÍOODDOO FFOORRMMAATTIIVVOO DDAA RREEGGIIÃÃOO
DDEE SSAANNTTAARRÉÉMM -- PPAA
ARARAQUARA – S.P. 2011
ROBERTO ÁVILA FILHO
AARRQQUUEEOOLL OOGGII AA AAMM AAZZÔÔNNII CCAA::
QQUUEESSTTÕÕEESS CCRROONNOOLLÓÓGGIICCAASS EE OO PPEERRÍÍOODDOO FFOORRMMAATTIIVVOO DDAA RREEGGIIÃÃOO
DDEE SSAANNTTAARRÉÉMM -- PPAA
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Conselho de Curso de Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências e Letras – Unesp/Araraquara, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciências Sociais.
Orientadora: Prof a. Dra. Renata Medeiros Paoliello
ARARAQUARA – S.P. 2011
AGRADECIMENTOS
Possivelmente cometerei injustiça, pois faltaria memória para lembrar todos os que
fizeram parte da minha formação. Que fique claro que não se trata de serem menos ou mais
importantes, mas qual a importância que tiveram em determinados momentos da minha vida
ou por toda ela. Dessa maneira, farei um pouco diferente e não citarei nomes, pois penso que
basta essas pessoas saberem que elas foram ou são importantes para mim. Elas irão entender.
Primeiramente agradeço aos meus avós por serem o início de tudo e por serem a base
da formação de caráter de toda a minha família.
Aos meus pais que com todas as dificuldades nunca deixaram me faltar nada, nem
carinho, nem dinheiro, nem alimentação, nem broncas e nem liberdade.
Às minhas irmãs que, apesar de todos os atritos, sempre demonstramos carinho e
respeito mútuos e à minha família que mesmo à longas distâncias por praticamente toda a
minha vida, sempre esteve presente.
A um amigo que há 15 anos compartilha comigo suas tristezas, alegrias, angústias e
jeito único de levar a vida. Aos amigos(as) de Ribeirão Preto e Sertãozinho pelos inúmeros
momentos de diversão, de risadas, de alegria, e por terem sido a família que eu escolhi quando
a minha estava longe.
Aos amigos(as) de Araraquara por terem trilhado comigo os - muitas vezes penosos -
caminhos universitários, mesmo quando não eram tão universitários assim. Aos seis
companheiros de casa que me conhecem como ninguém e junto comigo passaram os melhores
dias de nossas vidas; e aos outros três companheiros que posteriormente tive o grande prazer
de conviver na mesma casa por um semestre.
O meu muito obrigado a um grande (também no sentido literal) tutor que abriu as
portas da arqueologia para mim. À minha orientadora de iniciação científica por alguns meses
que possibilitou que eu agregasse conteúdo para fazer esse estudo e a FAPESP pelo amparo
fornecido nesse período. À minha orientadora da monografia que em nenhum momento
hesitou em me ajudar em qualquer ocasião e por ser tão prestativa.
E finalmente, a certa pessoa que de surpresa apareceu em minha vida há três anos e a
quem desejo que não saia nunca mais.
"It's a dangerous business going out of your door (…) you
step into the Road, and if you don't keep your feet, there is no
knowing where you might be swept off to."
J. R. R. TOLKIEN, 1954
RESUMO
A Amazônia desperta interesse em acadêmicos e curiosos das mais diversas áreas de estudo e
de várias nacionalidades por sua incrível biodiversidade, recursos hídricos inigualáveis e
aspectos culturais por muitos considerados fascinantes. Na área arqueológica, desde os fins
do século XIX, busca-se adquirir informações a respeito das antigas populações indígenas que
viveram na Amazônia antes mesmo da colonização portuguesa no Brasil. No entanto, mesmo
com as intensificações das pesquisas na região, as informações obtidas não permitem aos
pesquisadores chegar a conclusões concretas acerca dos antepassados dos índios brasileiros.
Cada vez mais interessados buscam respostas para suas indagações, pois o passado da região
continua a ser uma incógnita. Essa dissertação se propõe a apresentar um panorama geral das
discussões desenvolvidas, desde os anos 40, sobre as questões cronológicas dos complexos
cerâmicos nelas envolvidos. Também busca analisar as diferentes interpretações referentes ao
desenvolvimento cultural dos povos da floresta amazônica, levando em consideração aspectos
ambientais bem como as teorias de surgimento e extinção dos supostos cacicados amazônicos.
Além disso, a utilização de dados coletados em recentes pesquisas na região de Santarém-PA,
Brasil, auxiliará na tentativa de adentrar nas discussões que envolvem o período formativo da
Amazônia.
Palavras - chave: Amazônia pré-colonial, Arqueologia de Santarém, Arqueologia
Amazônica, Cacicados, Cerâmica, Cronologia, Período Formativo, Parauá
ABSTRACT
The Amazon awakes interest in academics and curious from various fields of study and of
various nationalities for its incredible biodiversity, water resources and unique cultural
aspects considered by many as fascinating. In the archaeological area, since the late XIX
century, the acquisition of information about the ancient aboriginal people who lived in the
Amazon even before the Portuguese colonization of Brazil is pursued. However, even if the
research in the region has augmented, the information obtained does not allow researchers to
reach firm conclusions about the ancestors of Brazilian aborigines. Day after day, there are an
increasing number of people seeking answers to their questions, for the region's past remains
a mystery. This dissertation intends to present an overview of the discussions developed,
since the 40's, about the complex issues of pottery chronology involved in them. It also
examines the different interpretations considering the cultural development of the peoples of
the Amazon forest, taking into account environmental aspects and theories of emergence and
extinction of the alleged Amazonian chiefdoms. In addition, the use of data collected in recent
surveys in the region of “Santarem-PA”, Brazil, helps in trying to enter in discussions
involving the formative period of the Amazon.
Keywords: Archaeology of Santarem, Amazonian Archaeology, Chiefdoms, Chronology,
Formative Period, Parauá, Pottery, Pre-colonial Amazon
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 2
1. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS ............................................................ 4
2. DESENVOLVIMENTO DOS SUPOSTOS CACICADOS AMAZÔNICOS ..................... 15
2.1. Discussões sobre o meio-ambiente amazônico ........................................................ 15
2.2. Informações etno-históricas sobre as populações amazônicas................................. 18
2.3. Teorias de surgimento dos cacicados amazônicos ................................................... 20
2.4. A Cerâmica de Santarém e o Cacicado Tapajônico ................................................. 25
3. CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO FORMATIVO DE SANTARÉM .......................... 30
3.1. Questões cronológicas sobre a Amazônia. ............................................................... 30
3.2. O caso de Parauá ...................................................................................................... 33
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 40
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 41
2
INTRODUÇÃO
O problema para a construção dessa dissertação de conclusão de curso surgiu como
conseqüência do projeto de iniciação científica intitulado “Análise Iconográfica da Cerâmica
Formativa de Santarém – PA” (Processo FAPESP nº 2010/06260-6), do qual fui bolsista entre
abril de 2010 e janeiro de 2011, e que era vinculado ao projeto “Análise das Sócio-
Cosmologias Amazônicas Pré-Coloniais” (Processo FAPESP 2008/58701-6) da pós-doutora
Denise M. C. Gomes. A pesquisa de iniciação científica tinha o propósito de analisar a
iconografia relacionada às indústrias cerâmicas formativas do Sítio-Aldeia, localizado na
região urbana da cidade de Santarém, e de outros sítios a serem escavados na região, que faz
parte da área de encontro dos rios Amazonas e Tapajós, O projeto previa a realização de
pesquisas bibliográficas sobre as indústrias formativas amazônicas, o desenvolvimento de
trabalhos de registro e documentação (desenhos e fotos) das amostras escavadas em julho de
2010 e a elaboração de um ensaio interpretativo sobre as representações destas cerâmicas.
Contudo o projeto foi interrompido devido à mudança de instituição da coordenadora, e por
essa razão a análise laboratorial prevista não pôde ser concluída a tempo.
Com o decorrer dos estudos, pela falta dos dados analíticos e pelas características
apresentadas pelos fragmentos cerâmicos escavadas em campo, o projeto, que à priori deveria
ter um foco iconográfico e simbólico, passou a tomar um caminho diferente, mais voltado
para a cronologia da cerâmica formativa da região. Assim surgiu a questão de entender os
processos cronológicos ocupacionais da região e relacioná-los ao contexto da cronologia de
toda a região Amazônica.
Dessa forma, a dissertação está dividida em três capítulos: Pressupostos Teórico-
Metodológicos da Arqueologia Amazônica, Questões sobre o Desenvolvimento dos
Cacicados e Características do Período Formativo da Região de Santarém. No primeiro
3
capítulo estarão expostas as idéias fundamentais dos textos utilizados para contextualizar os
debates referentes aos períodos pré-coloniais e à época de contato. Serão abordados autores
como Pedro Paulo Funari, Curt Nimuendajú, Antonio Porro, Miguel Angel Menendéz, Denise
Gomes, Anna Roosevelt e Betty Meggers, em ordem de aproximação espacial com a região
de Santarém.
No segundo, os textos do primeiro capítulo serão melhores explorados, dando ênfase à
elaboração dos tópicos que se referem às diversas visões sobre influências do meio ambiente
de floresta tropical no desenvolvimento cultural das populações indígenas, as interpretações
dos dados etno-históricos sobre as crônicas dos primeiros europeus na Amazônia, as
diferentes teorias sobre o surgimento dos cacicados no norte da América do Sul e por fim os
dados sobre a cerâmica de Santarém e as discussões sobre o suposto cacicado Tapajônico.
No terceiro capítulo, serão abordados hipóteses e dados referentes ao período
formativo da Amazônia, as discussões sobre a cronologia das ocupações humanas e possíveis
locais de origem da cerâmica na região setentrional da América do Sul, assim como as
possíveis relações entre as regiões Andinas e as diferentes regiões Amazônicas. Também
estarão contidas as informações produzidas em pesquisas recentes pela arqueóloga e
historiadora Denise Gomes sobre a cerâmica de Parauá, que fornece dados contestadores em
relação à idéia de que Santarém teria sido um grande centro hegemônico que dominava toda a
região. De qualquer forma, todas as discussões inseridas nesse texto só servem para aguçar
ainda mais a curiosidade sobre as antigas populações indígenas da Amazônia.
4
1. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
Alguns temas essenciais foram escolhidos para agregar conhecimento e possibilitar
construir um panorama básico sobre a arqueologia da região amazônica: arqueologia geral,
etno-história, meio ambiente da Amazônia, arqueologia amazônica, interpretações sobre o
desenvolvimento cultural dos povos amazônicos e questões sobre a cerâmica de Santarém –
PA. Dentro desses temas, foram feitas revisões bibliográficas que permitiram que fosse
possível escrever algumas breves linhas expondo as especificações do que era necessário para
compor o contexto dos estudos já feitos em relação aos povos indígenas da Amazônia.
Primeiramente, apenas um livro foi utilizado para compreender, basicamente, do que
trata a Arqueologia e para apresentar o contexto atual dessa ciência no Brasil. Por conterem
informações introdutórias bastante importantes, os textos escolhidos foram os dois primeiros
capítulos do livro “Arqueologia”, do arqueólogo Pedro Paulo Funari (1998), que tratam de
explicar o que é Arqueologia e como pensa o arqueólogo.
No livro, Funari (1998) expõe cronologicamente como se desenvolveram a
Arqueologia e o pensamento arqueológico no Brasil, apresenta um histórico de alguns
arqueólogos famosos, mostra a influência dos modelos de interpretação no trabalho do
arqueólogo contemporâneo e desenvolve um panorama atual dessa ciência e das áreas de
pesquisa a ela relacionadas.
O autor explica – contrariando um ponto de vista muito corriqueiro – que, em
arqueologia, não se trata apenas de estudar os artefatos ou “as coisas” criadas pelos homens,
mas da relação de todas as coisas das quais os humanos fazem parte. Para dar um exemplo,
atualmente existe a arqueologia da paisagem, que estuda o ambiente no qual os humanos
viveram ou vivem e onde estão inseridos os sítios e os artefatos. Funari sustenta que “(...) a
Arqueologia estuda, diretamente, a totalidade de material apropriada pelas sociedades
humanas, como parte de uma cultura total, material e imaterial, sem limitações de caráter
5
cronológico.” (FUNARI, 1998, p.15)
Então, Funari se pergunta, se a cultura humana refere-se tanto ao mundo material
quanto ao imaterial, como estudaríamos esse segundo mundo? E o próprio autor responde que
a arqueologia é uma ciência que apresenta caráter multidisciplinar e por isso sempre trabalha
relacionada a outras disciplinas. É fundamental que o arqueólogo dialogue com as outras
ciências para englobar todas as possibilidades e adquirir as informações necessárias que
muitas vezes não são encontradas apenas nas teorias arqueológicas. Muitas vezes é necessário
que o arqueólogo tenha conhecimentos, ainda que básicos, de biologia, química, física, além
de geológicos e arquitetônicos, entre outras ciências humanas e naturais. Exemplificando, no
caso da cultura, a ciência que dialoga com a arqueologia é a antropologia, que passa
informações essenciais para que o arqueólogo evite o “fetichismo” da cultura material, ou
seja, para que o arqueólogo entenda que ele não está estudando a cerâmica ou o instrumento
lítico, mas sim quem produziu tais artefatos: o homem.
Dessa maneira é necessário estudar não somente a arqueologia, mas entender também
os vínculos que ela possui com outras disciplinas e ciências. Por isso foi necessária uma
aproximação com os outros temas escolhidos para construir o panorama básico e facilitar a
compreensão dessa pesquisa.
São bastante claras as relações entre a etno-história e a arqueologia, principalmente
nos assuntos relacionados aos povos amazônicos. A etno-história é uma disciplina que
consiste em abordar a história com um olhar antropológico, e busca reconstituir o universo
indígena, aproveitando-se de dados arqueológicos e etnográficos contidos em documentos
históricos, a exemplo dos relatos de viajantes. Os textos lidos sobre esse tema permitiram
obter dados descritos na ocasião dos primeiros contatos dos conquistadores com os povos
indígenas da Amazônia, e que nada mais são do que as crônicas de viajantes e padres tais
como Betendorf, José Daniel, Carvajal, e Fritz, sempre tendo em mente o contexto em que os
6
textos foram escritos e qual era o pensamento dos cronistas da época para compreender
melhor o que diziam.
Em um dos textos lidos, “O Povo das Águas”, de Antonio Porro (1995) observa-se que
os cronistas foram surpreendidos pela quantidade de pessoas que encontraram na Amazônia.
Alguns estudos sugerem que a população da Amazônia chegou a ter em torno de cinco
milhões de habitantes; estimativas essas que, no entanto, têm pouca precisão, pois os censos e
os registros começaram a ser feitos muito tempo após o contato, quando a doença e a
violência já haviam dizimado muitos índios. Percebe-se também que os povos que mais
sofreram com o avanço dos brancos foram, a princípio, os índios da várzea dos grandes rios,
visto que o principal meio de penetração na floresta era a navegação, e os afluentes só seriam
explorados a partir do século XVIII. O contato era catastrófico para os indígenas, que,
segundo Porro, rapidamente tinham sua cultura e sociedade desintegradas, sendo notório que,
já nos fins do século XVIII, essas tribos haviam sido praticamente extintas e, em seu lugar,
havia começado um novo povoamento, dos chamados caboclos, que eram uma mescla de
portugueses, de mamelucos e dos índios que desceram dos altos cursos dos rios.
Os textos lidos não só deram uma idéia geral, como também nos deram panoramas
locais, mais voltados para a área a ser estudada, como no caso do texto de Menéndez (1992),
que descreve os eventos relacionados aos nativos das áreas dos rios Madeira e Tapajós. Ele
destaca que, até o século XII, houve expansão dos povos Tapajó e Tupinambá, produzindo-se
assim relações de contato, como vassalagem, escravidão e migração (sempre pensando na
visão eurocêntrica dos cronistas) de grupos que anteriormente viviam na região. Alguns
desses grupos – Menéndez cita os Munduruku, Apiaká, Mawé, e Kawahiwa – movimentaram-
se ocupando regiões periféricas aos aglomerados Tapajó e Tupinambá, assentando-se ao longo
da bacia do Madeira-Tapajós. O autor especifica que em relação aos rios Mawé e Tapajós, no
século XVII, prevaleciam as ocupações dos Mawé e dos Munduruku, esses últimos parecendo
7
estar em expansão. Já em relação ao rio Madeira são encontradas quase com unanimidade
referências aos grupos Mura, Parintintins, Munduruku, Avora e Tora. Menéndez aborda
essencialmente o que ocorreu com os índios frente às mudanças que as incursões portuguesas
e as mineradoras - nos séculos XVI e XVII - trouxeram, assim como a catequização, com o
estabelecimento das missões. A construção de estradas, a abertura dos rios para navegação, o
povoamento do Mato Grosso, todas essas ações desestabilizaram completamente o status e o
nicho da época, causando a diminuição (seja por migrações, seja por violência) e muitas vezes
a dizimação desses povos, algo bastante perceptível entre os Tupinambá, Tapajó e Iruri. Além
disso, como fizeram com os Munduruku e seus vizinhos, as frentes portuguesas aproveitavam-
se das hostilidades já existentes para afervorar conflitos e usar alguns povos para adquirir
escravos ou exterminar grupos que atrapalhavam suas operações.
Afunilando ainda mais, foi lido o texto “Os Tapajó”, de Curt Nimuendajú (1949), que
contém uma etnografia dos índios Tapajó, além de mostrar a maneira como os cronistas os
viam e a relação que os índios tiveram com os conquistadores. Aqui, Nimuendajú traça as
características do povo Tapajó: o habitat em que viviam, os aspectos demográficos, a língua
que falavam, o caráter aguerrido e temível, a organização social, como eram seus casamentos,
como era sua religião e o tratamento dos mortos, como se vestiam e se alimentavam, sua
indústria cerâmica e lítica. O autor fala ainda sobre as armas e suas “terríveis flechas
envenenadas”, tudo de forma bastante sucinta, porém esclarecedora. Por fim, explica onde e
em que parte dos terrenos se encontravam as famosas terras pretas que tanto ajudam na
descoberta de novos sítios arqueológicos.
A partir das crônicas desses viajantes podemos começar a interpretar como viviam os
povos indígenas na época dos primeiros contatos. No entanto, como já foi enfatizado
anteriormente, as visões dos cronistas, muitas vezes eurocêntricas e exageradas, nos deixam
com muitas dúvidas nos aspectos etnográficos. Desse modo o entendimento do meio ambiente
8
da Amazônia torna-se essencial para a compreensão do desenvolvimento cultural das
populações indígenas, e por isso, a arqueóloga Betty Meggers (1970) propôs um modelo que
afirmava que a floresta tropical não era propícia a um desenvolvimento cultural que pudesse
contribuir para a existência de grandes sociedades complexas, e apontou que as limitações
determinadas pelo meio foram o motivo que não teria permitido o surgimento de
assentamentos de longo prazo e de grandes concentrações populacionais. Dessa maneira,
Meggers estabelece que as sociedades da floresta amazônica eram caracterizadas pela baixa
densidade populacional, pela hierarquia baseada nas relações de parentesco, pela divisão
social do trabalho relacionadas ao sexo e idade, e pela subsistência baseada na caça, na pesca
e na horticultura. Ela ainda afirma que, devido à falta de complexidade social, essas
populações não poderiam ter elaborado cerâmicas tão sofisticadas – como, por exemplo, a
cultura Marajoara, principal alvo das pesquisas de Meggers e Evans (1957) no Brasil – e
que, por isso, devem ter sido influenciadas por sociedades mais complexas, provavelmente
derivadas das populações andinas.
Porém, essa teoria não mais se sustentaria devido aos recentes estudos realizados por
diversos arqueólogos, principalmente os estudos de Ana Roosevelt (1991, 1992),
essencialmente no Sambaqui de Taperinha (Santarém-PA), mostrando que as tecnologias
cerâmicas não podem ter se difundido dos Andes para a Amazônia, principalmente porque as
cerâmicas mais antigas da América do Sul foram encontradas exatamente na Amazônia.
Roosevelt, no entanto, concorda com os teóricos deterministas1 em relação aos
recursos da terra firme da floresta tropical serem escassos e não propiciarem uma agricultura
extremamente produtiva. Mas Roosevelt também afirma que esses teóricos esquecem os 2%
de áreas de inundação, denominadas várzeas, que, juntamente com estratégias de
subsistências baseadas na agricultura intensiva de mandioca e milho e com grande potencial
1 Conceito que Anna Roosevelt utiliza para se referir à Betty Meggers e aos pesquisadores que apóiam a teoria do “Determinismo Ecológico”, por isso será utilizado essa denominação durante todo o texto.
9
de pesca e recursos aquáticos, proporciona a oportunidade do desenvolvimento das sociedades
complexas, tal como teria ocorrido em Santarém. Roosevelt diz, assim como Robert Carneiro
em “A Base Ecológica dos Cacicados Amazônicos”, que “(...) a emergência de culturas
complexas na Amazônia parece ter ocorrido apenas quando a intensificação do crescimento
populacional ao longo das várzeas dos rios provocou uma competição pelas ricas áreas
agricultáveis e de pesca (...)” (ROOSEVELT, p.51, 1992).
Percebendo a divergência entre as condições de subsistência dos dois ambientes, é
possível estabelecer alguns raciocínios sobre as diferenças culturais entre as populações que lá
viveram. E foi isso que fez a mesma Betty Meggers, quando descreveu, em seu livro
“Amazônia: Ilusão do Paraíso” (1971), as diferentes adaptações de povos da várzea e de terra
firme da floresta amazônica, sendo que, no quarto capítulo, apresentou uma etnografia de
cinco povos diferentes – Jívaro, Sirionó, Waiwai, Kayapó e Kamayurá – e os comparou,
mostrando aspectos de sua vida cotidiana em relação às adaptações culturais das populações
da terra firme. Nessa época, Meggers já aceitava que os povos da várzea tinham uma
complexidade maior do que os de terra firme.
Uma das adaptações apresentadas foram as técnicas para maximizar o rendimento da
alimentação, quando Meggers compara as populações quanto ao que consideram comestível, à
maneira de preparar os alimentos, à proporção ingerida relativa às proteínas, e ainda, quanto à
prática da caça ou à domesticação de animais.
Outras adaptações referem-se às técnicas de controle do tamanho da população
(MEGGERS 1977, p.136):
“(...) O principal problema de adaptação com que uma cultura que precisa manter uma
população estável se defronta é o de saber como melhor inibir o ritmo de crescimento
natural sem sacrificar a elasticidade da capacidade reprodutiva. Se a produtividade é baixa a
ponto de que a cada indivíduo caiba a responsabilidade de produzir para o seu próprio
consumo, então poucos indivíduos não-produtores serão permitidos (...)”
10
Desse modo, a autora diferencia as tribos quanto ao infanticídio, aplicação do aborto,
controles pré-natais, tabus sexuais e comportamento da família durante o período de gestação.
Meggers, no tópico em que fala das técnicas de controle da densidade de população,
afirma que o objetivo dessas técnicas é “(...) conseguir um equilíbrio entre a densidade ótima
em termos de situação ecológica (...) e a densidade ótima para satisfação das necessidades
básicas (...)” (MEGGERS, 1977, p.142). Dessa maneira, discorre sobre a estrutura das aldeias,
o abandono do lar em caso de morte de algum morador, o medo da feitiçaria (pois a segurança
pessoal só estaria assegurada dentro do vínculo familiar), além da guerra, já que, segundo ela,
as incursões não levavam à aquisição de territórios; esses fatores seriam meios controladores
da densidade populacional.
Ao criticar as idéias de Betty Meggers, a arqueóloga Anna Roosevelt afirma que o
determinismo ecológico estabelece que “(...) a pobreza de recursos ambientais na Amazônia
limitou o desenvolvimento das sociedades indígenas, impedindo assim, a concentração e o
crescimento populacional e a intensificação econômica, fatores esses considerados pré-
requisitos para o desenvolvimento da complexidade cultural” (ROOSEVELT, 1991, p.103).
Segundo esta idéia, o meio ambiente amazônico não poderia suportar uma agricultura com
produção de alimentos em larga escala, já que possui solos ácidos e pobres em nutrientes,
impossibilitando assim os assentamentos de longo prazo, o que limitaria um desenvolvimento
cultural e, naturalmente, o crescimento de uma grande civilização. A autora menciona, ainda,
que os deterministas desconsideraram registros empíricos arqueológicos e etno-históricos.
Dessa maneira, os teóricos do determinismo concluíram que a complexidade social foi trazida
para a Amazônia através dos Andes e da Mesoamérica, por terem meios mais favoráveis e por
serem os grandes centros das civilizações americanas.
No entanto, Roosevelt se opõe a essa teoria com argumentos também ecológicos,
agregando outras informações sobre clima, solos e vegetação, que mostram que grandes
11
regiões da Amazônia não são “(...) iguais aos ecossistemas de floresta tropical de terra firme
dos escudos e de seus arredores...” (Ibid., p.108), mas que muitas áreas “são habitats
ribeirinhos e de terra firme sazonais, ricos em nutrientes, formados por sedimentos recentes e
espessos, geologicamente heterogêneos.” (Ibid., p.108). A arqueóloga compara os solos das
várzeas da Amazônia aos solos do fundo dos rios do Oriente Próximo e do Sudeste Asiático,
que são perfeitos para agricultura intensiva, e suas águas, ótimas para pesca; e, fazendo um
interessante paralelo, ela afirma que se o Egito, tendo o maior deserto do mundo ao redor do
rio Nilo, viu crescer um dos berços da civilização, então a Amazônia, por ser uma floresta
tropical e possuindo tantos rios, tem um potencial de subsistência muito mais favorável para o
desenvolvimento de uma grande civilização. Com isso, Roosevelt também utiliza o
argumento ecológico (mesclando com outras teorias também propostas por ela) para sustentar
sua teoria dos grandes cacicados indígenas.
Com esse panorama básico chegamos superficialmente às discussões acerca da
arqueologia amazônica e sobre as questões da arqueologia de Santarém – PA. Nesse debate,
Ana Roosevelt defende que, ao contrário do que se pensava, os povos amazônicos se
desenvolveram na própria Amazônia, já que suas pesquisas indicam uma longa e complexa
seqüência de desenvolvimento indígena e de prolongadas ocupações, sem vestígios de que
tenha sido um resultado de fatores externos. Para ela, está claro que os cacicados originaram-
se dos antigos ceramistas do baixo Amazonas, e que, a partir daí, sua influência foi “subindo”
os rios em direção às terras altas.
Roosevelt, no texto “Arqueologia Amazônica” faz um histórico desde os primeiros
caçadores-coletores, passando pelos períodos paleoindígena2 (entre 15000 e 10000 AP) e
2 O paleoindígena é caracterizado por uma tecnologia de subsistência baseada na caça e na coleta, não tendo sido observada nenhuma forma de organização social além de pequenos grupos. É aceito que ocorre desde a dispersão do homem pela América até o início das produções cerâmicas, quando começa o chamado período Arcaico. (De Blasis, 2001)
12
arcaico3 (entre 10000 e 3000 AP), chegando até os complexos cerâmicos incipientes4. Nessa
passagem a autora afirma que “diversos complexos pré-cerâmicos, possivelmente do período
Arcaico tardio, têm sido identificados e podem ilustrar a transição da subsistência baseada na
caça e coleta para a agricultura incipiente, e do estágio pré-cerâmico ao cerâmico”.
(ROOSEVELT, 1992, p.60). Nessa época, houve uma transição da coleta de moluscos para a
coleta intensiva de plantas e para um cultivo inicial já com a presença de cerâmica. No
Sambaqui de Taperinha, próximo a Santarém – PA, foi encontrada a mais antiga cerâmica
conhecida das Américas, com datação de aproximadamente 8000 A.P., que, segundo
Roosevelt, contradiz o que os “arqueólogos ambientalistas” dizem sobre a “a transitoriedade
dos assentamentos indígenas e o retardamento cultural da região”. (Ibid, p.63).
Neste texto também foram apresentadas informações arqueológicas sobre a economia,
o habitat, os padrões de assentamento, e a funcionalidade e a iconografia de artefatos das
populações tardias5, assim como os horizontes presentes na Amazônia6, enfaticamente os
horizontes Saladóide-Barrancóide e o Hachurado Zonado7, datados do período formativo
da região amazônica8, que têm a grande maioria de sua iconografia representada por animais,
e algumas vezes por animais antropomorfizados.
3 O arcaico seria o período da formação de alguns dos principais grupos etnolingüísticos que ocuparam a região (Arawak, Tupi, Karib, Jê) e quando acontece a domesticação de espécies que mais tarde seriam a base do sistema agrícola desses povos, como a mandioca. Nesse período percebe-se uma descontinuidade temporal, com um intervalo de aproximadamente 5000 anos entre o surgimento dessas inovações até a sua total adoção. As hipóteses para esse hiato ainda não chegaram a uma conclusão. 4 Ainda fazem parte do período arcaico, no entanto é possível perceber características comuns a essas produções cerâmicas no que tange aos estilos e à tecnologia de produção dessas cerâmicas. 5 São as populações comumente caracterizadas por estudiosos como sendo mais complexas do que as anteriores, ou como muitos defendem, seriam os povos que construíram os famosos cacicados. Teriam vivido no que hoje é o território brasileiro desde 2000 AP até a época da colonização. 6 Existe na arqueologia alguns termos para caracterizar certos estilos da produção de cerâmica ou de instrumentos líticos. Para explicar com melhores palavras é a “(...) distribuição no tempo e no espaço de diferentes estilos artísticos para a definição de diferentes culturas passadas (em geral definidas por diferentes termos como “horizonte”, “tradição”, “fase”, “cultura arqueológica”, etc.) (Cristiana Barreto, 2005, p.4) 7 Saladóide-Barrancóide: caracterizado por incisões retilíneas e curvilíneas, e pinturas em vermelho e branco. Provavelmente foram produzidas entre 4750 AP e 2750 AP; Hachurado-Zonado: caracteriza-se pelas incisões retas paralelas bem próximas umas das outras que muitas vezes dão forma de sombra ao desenho. Existem datações que indicam que foram produzidas em alguns lugares de 3950 AP até 2750 e em outros de 3450 AP a 2450 AP. 8 O período formativo refere-se ao período imediatamente anterior ao período tardio. É o período que possibilitou a formação das sociedades tardias devido adoção da agricultura como tecnologia primária de subsistência (De Blasis 2001). Em diversas partes do mundo é observada a relação entre adoção e expansão de sistemas agrícolas, o aumento populacional e o estabelecimento do sedentarismo como fatores de desenvolvimento cultural (Lathrap 1977).
13
Conforme Roosevelt, o desenvolvimento da cerâmica tardia estaria, devido as suas
características, associado às formações dos cacicados e ao estabelecimento de sociedades
complexas, bélicas e expansionistas. Além disso, parece ter havido “ comunicações
estilísticas” inter-tribais nas cerâmicas, o que indicaria que existiam relações próximas entre
as elites, tais como casamentos, guerras, e alianças.
Já em relação à arqueologia de Santarém existe uma obra de referência
importantíssima para a compreensão dessa discussão, intitulada “Cerâmica Arqueológica da
Amazônia: vasilhas da Coleção Tapajônica MAE-USP”, resultado do pós-doutorado de
Denise Maria Cavalcante Gomes, de 2002, que apresenta os dados obtidos pela análise da
coleção e, conjuntamente, busca sintetizar o que já se conhece das populações ceramistas da
região do médio e do baixo Amazonas, utilizando-se das informações históricas e da revisão
bibliográfica produzida por arqueólogos sobre os estudos dessas áreas.
Nos dois primeiros capítulos, a autora fala sobre a aquisição das peças e descreve a
seqüência dos estudos arqueológicos sobre a área Tapajós-Trombetas desde as primeiras
escavações no século XIX, passando pelo impacto das pesquisas de Nimuendajú, e avançando
até as pesquisas mais recentes, relacionadas inclusive com o projeto Baixo-Amazonas. Além
disso, ela discorre de maneira crítica sobre os modelos teóricos que influenciaram esses
estudos, facilitando o entendimento de todas as idéias e discussões desenvolvidas pelos
pesquisadores e contextualizando essa área na arqueologia da região amazônica.
No terceiro capítulo, Gomes descreve seus procedimentos, esclarecendo a metodologia
utilizada, os critérios aplicados e os resultados obtidos na análise da coleção, e identifica
ainda os oito grupos estilísticos encontrados nesta, que são: Santarém, de Influência
Santarém, Konduri, de Influência Konduri, Inciso e Ponteado, Barrancóide, Globular e
Intrusivo . Já no quarto capítulo, a autora define seus modelos cronológicos de acordo com o
que propôs Ana Roosevelt: “(...) Roosevelt escolheu como indicadores cronológicos as
14
variáveis: tempero, forma, tratamento de superfície e decoração. Cada atributo discernível foi
examinado com este propósito e sua distribuição relacionada aos níveis de escavação”.
(GOMES, 2002, p.113). Com base nisso, Gomes faz uma análise interpretativa da iconografia
e das técnicas decorativas, buscando construir agrupamentos, denominados “modos”, de
possível expressão cronológica, a fim de compreender a cronologia e as influências sociais
nos estilos cerâmicos.
Após esboçar uma “seqüência hipotética da área Tapajós-Trombetas” (GOMES,
2002), incluindo-se aí a área do rio Nhamundá, a autora faz uma interpretação sobre a própria
seqüência exprimindo seus pontos de vista, concluindo sobre os resultados das datações feitas,
sugerindo, inclusive, que muitas vezes a diversidade das decorações existentes na coleção
analisada pode nos indicar não somente diferenças cronológicas, mas também funcionais.
Finalmente, após esse arcabouço teórico básico, podemos agora nos infiltrar um pouco
mais nas discussões que se desenrolam desde os anos 50, e assim, será possível compreender
os pontos de vistas dos teóricos que tentam desvendar os mistérios dos muitos povos que
viveram na Amazônia. E a principal pergunta que se faz é: existiam cacicados na região
amazônica?
15
2. DESENVOLVIMENTO DOS SUPOSTOS CACICADOS AMAZÔNICO S
Este texto pretende sintetizar em algumas páginas os temas estudados a partir de
bibliografia específica para a compreensão do contexto atual das teorias e conceitos aplicados
às pesquisas de arqueologia amazônica. Por isso, serão abordadas, principalmente,
interpretações de Betty Meggers, Anna Roosevelt, Robert Carneiro e Denise Gomes e como
apoio, trechos das obras de Curt Nimuendajú, Miguel A. Menéndez e Antônio Porro,
fundamentais para adentrar esta discussão de maneira coerente.
Esses estudos têm seu início na década de 40 quando Julian Steward propôs uma teoria
de estágios de desenvolvimento social das tribos da floresta tropical e percebeu que algumas
populações tinham uma cultura mais evoluída que outras, e por isso, as separou em categorias
diferentes. Para essas culturas complexas, ele denominou The Circum-Caribbean Tribes, um
estágio hoje conhecido como “cacicado”.
A questão na época era: porque os povos da floresta tropical eram tão “aparentemente
subdesenvolvidos” em relação aos povos das terras altas áridas dos Andes, já que estes
desenvolveram sociedades complexas, hierarquizadas, com centralização de poder, e centros
urbanos? A resposta da arqueóloga Betty Meggers foi que o ambiente era o fator que limitava
as populações amazônicas de atingirem uma maior complexidade social.
2.1. Discussões sobre o meio-ambiente amazônico
A hipótese da autora era que o habitat de floresta tropical não poderia suportar uma
agricultura intensiva devido aos solos pobres e ácidos característicos de sua formação
geológica. Meggers defendia que o potencial agrícola era a principal razão que determinava o
nível máximo que uma cultura poderia atingir de complexidade e a floresta teria colocado
16
limites rigorosos a esse nível. Dessa maneira, a produção de alimentos estaria comprometida
impossibilitando os assentamentos a longo prazo e o crescimento populacional, que por sua
vez impediriam um adensamento populacional e que do mesmo modo inibiria o
desenvolvimento cultural.
Robert Carneiro debate essa idéia com uma experiência pessoal que teve com uma
população indígena do cerrado brasileiro. Diz ele: “Eu podia mostrar, entretanto, que, no que
tange à produção de alimentos, seja medida por unidade de terra ou por unidade de trabalho, a
agricultura Kuikuru poderia facilmente superar a dos Incas! Mas, é claro, os Kuikuru nunca
tinham dado origem a um cacicado, enquanto que os Incas tinham desenvolvido um império.
Por quê?” (CARNEIRO, apud SCHAAN, 2007, p.122).
Anna Roosevelt também refuta essa teoria, proposta por Meggers, com dados
ecológicos, dizendo que “Não foram seriamente consideradas, igualmente, as vastas extensões
dos ricos solos aluviais das várzeas amazônicas que se desenvolveram a partir de sedimentos
erodidos dos Andes.”. A autora concorda que a terra firme não seria propícia ao aparecimento
de sociedades complexas dizendo (ROOSEVELT, 1991, p.108):
“(...) antigos e novos dados sobre clima, solo e vegetação mostram que áreas muito
extensas da Amazônia não são iguais aos ecossistemas esgotados de floresta tropical de
terra firme dos escudos e de seus arredores, mas, ao contrário, são habitats ribeirinhos e de
terra firme sazonais, ricos em nutrientes, formados por sedimentos recentes e espessos,
geologicamente heterogêneos.”
Porém, ela afirma que nas áreas inundáveis o aparecimento desses cacicados é perfeitamente
possível e está decidida que realmente existiram, baseando-se principalmente em registros
etno-históricos. Desse modo, compara ela, a Amazônia tem maior potencial de subsistência do
que as regiões consideradas berços da humanidade.
17
Ainda segundo Carneiro, após alguns anos, Meggers admitiu a existência de cacicados
na Amazônia e também aceitou que realmente existiam diferenças importantes entre a várzea
e a terra firme, e isso fica claro em seu livro “Amazônia: a Ilusão do Paraíso” (1976), no qual
ela descreve os povos da várzea (Omágua e Tapajós) e os povos de terra firme (Sirionó,
Jívaro, Kayapó, Waiwai e Kamayurá) como tendo divergências culturais em relação às suas
complexidades. Dessa maneira, segundo Carneiro, “(...) tanto Meggers quanto Roosevelt
cantam as maravilhas da planície inundável ou várzea. Roosevelt (1991:8) descreve os solos
de Marajó como “sedimentos densos e ricos...”, e os relacionada com os solos férteis ao longo
do Mississipi, o rio Amarelo, e o Nilo (op.cit.:10)”. (CARNEIRO, apud SCHAAN, 2007,
p.140)
Robert Carneiro reconhece que as várzeas tem um grande potencial agrícola graças aos
sedimentos ricos em nutrientes depositados todos os anos e que devido a renovação anual de
sua fertilidade não é necessário abandonar o local após alguns anos de plantio como acontece
na terra firme, tendo como consequência uma disputa acirrada por essas regiões férteis. No
entanto, ele aponta dois graves problemas da várzea: o primeiro é que a região permanece
inundada pelo menos seis meses por ano, e que por isso, alimentos como a mandioca, que
normalmente demoram mais de 15 meses para crescer o ideal, não poderiam ser plantados; a
segunda desvantagem é a irregularidade das cheias, já que, como é conhecido, em alguns anos
a estação chuvosa faz os rios subirem mais do que o normal, atrasando a liberação dos
espaços cultiváveis da várzea e impossibiltando o plantio em algumas épocas. Dessa maneira
a terra firme não poderia ser totalmente descartada para o cultivo por essas populações.
Carneiro, assim como Roosevelt, aceita que os cronistas são uma fonte essencial para
a comprovação da existência de cacicados, assim, diz ele (Ibid, 2007, p.148):
18
“se os relatos desses exploradores são verdadeiros, não se questiona que o nível cultural
existente ao longo do Amazonas no século XVI era muito maior do que o nível geral da
floresta tropical que prevalece na Amazônia de hoje. Enquanto os relatos dos cronistas se
estendem por centenas de anos, eles são consistentes uns com os outros em reportadas
sociedades prontamente reconhecíveis como cacicados”.
2.2. Informações etno-históricas sobre as populações amazônicas
Segundo Antonio Porro, em meados do século XVI os primeiros viajantes foram
supreendidos por “(...) uma população numerosíssima, internamente estratificada e assentada
em povoados extensos produzindo excedentes que alimentavam um significativo comércio
intertribal de produtos primários e manufaturados” (PORRO, 1996, p.37), e também pela
densidade populacional dessas aldeias localizadas nas várzeas.
Os cronistas são quase unânimes quanto à existência de aldeias com quilômetros de
extensão, de redes de estradas e chefias regionais. Um desses cronistas, o português Heriarte,
uma vez relatou que “(...) governam-se estes índios por principais, em cada rancho um, com
vinte ou trinta casais. E a todos governa um principal grande sobre todos que é muito
obedecido.” (HERIARTE, 1637).
Ainda existem alguns relatos em relação aos Omágua, que ocupavam o alto
Amazonas, sendo vistos como uma população grande e poderosa, e que se estabeleceram na
região de várzea. Segundo os cronistas, a ocupação Omágua “estendia-se por mais de
seiscentos quilômetros desde o baixo Napo até a região de São Paulo de Olivença, entre o
Jarari e o Iça. Cerca de vinte povoados com até cinquenta casas grandes sucediam-se pelas
duas margens do rio, separados por extensas roças de milho e mandioca.”, e ainda, “os
Omágua tinham linhagens consideradas ‘nobres’...” (PORRO, 1996, p.49).
Com isso, Anna Roosevelt utiliza-se destes relatos para sustentar o seu modelo de
sociedades complexas levando a crer que são demasiadas informações parecidas, em diversas
19
épocas e em diferentes regiões, para serem descartadas levianamente. No entanto, essas
mesmas crônicas mostram certas incoerências nos estudos da própria Roosevelt, conforme
mostra Robert Carneiro. Ele afirma que para qualquer sociedade se desenvolver como
cacicado, é necessário uma fonte ininterrupta e regular de proteínas. Já que a caça não oferece
isso, sobram duas opções: ou a pesca e coleta de recursos aquáticos ou o cultivo; dos recursos
cultiváveis da Amazônia, o que fornece mais proteína é o milho, e por esse motivo Roosevelt
aplica essa informação em sua afirmação de que o crescimento do milho foi o que
proporcionou o aparecimento dos cacicados, sendo os peixes e os outros recursos aquáticos
minimizados pela autora. Diz Carneiro que os dados de cronistas como Orellana e Carvajal
sempre mencionavam a existência de recursos aquáticos em abundância nas
aldeias(CARNEIRO, apud. SCHAAN, 2007, p.130):
“Em resumo, então, a evidência acumulada das antigas fontes, tanto para o Amazonas como
para o Orenoco, parece esmagadora e incontroversa. Peixes, tartarugas e peixes-bois
existiam nessa águas em quantidades prodigiosas. E eles proporcionaram aos índios
vivendo ao longo desses rios um suprimento de proteína variado, de fácil obtenção, anual e
inexaurível. Por comparação, a quantidade de proteína que o milho poderia contribuir à sua
dieta perde em significância. Logo, qualquer teoria que sustente que o crescimento de
grandes populações e a emergência de cacicados ao longo do Amazonas e Orenoco não
poderia ter ocorrido na base de recursos aquáticos, mas teria que aguardar a chegada do
milho, parece insustentável”.
Robert Carneiro também utiliza as fontes etno-históricas para argumentar sobre sua
própria teoria de aparecimento dos cacicados, que estaria baseado na guerra. A teoria era de
que a pressão populacional decorrida do crescimento demográfico em função da pequena área
de várzea na floresta Amazônica teria causado disputas territoriais entre as diferentes etnias, e
que isso fez surgir redes de alianças com chefes para coordenar os guerreiros. Alguns relatos
etno-históricos sustentariam sua hipótese, segundo Carneiro, “Quando uma expedição de
guerra estava para ser realizada, diversas aldeias juntavam forças. Cordas com nós ou um arco
era mandados a aldeias vizinhas e os guerreiros reunidos. Entre esses parece que havia um
20
grupo definido de chefes de guerra, dentre os quais o líder da expedição seria escolhido”
(WHITEHEAD 1988:60-61, apud CARNEIRO, 2007). Ainda diz Carneiro, que nas pequenas
Antilhas “poderosos chefes de guerra tinham sucedido em estabelecer hegemonia sobre todas
as aldeias da ilha. E essa autoridade era evidentemente substancial. Então, de acordo com
Padre Roquefort, “na presença do cacique da ilha nenhum homem fala se ele não pergunta ou
mando-o fazê-lo (citado por Roth 1924:568)”. Carneiro está convencido de que a origem dos
cacicados foi consequência da guerra de conquista territorial.
2.3. Teorias de surgimento dos cacicados amazônicos
Robert Carneiro em seu artigo “A Base Ecológica dos Cacicados Amazônicos” (2007)
faz uma ótima apresentação das discussões e das teorias propostas para explicar os cacicados,
desde suas origens até suas decadências. Ele começa explicando a teoria de Steward, que teria
dividido os povos amazônicos em quatro tipos: marginal, floresta tropical, circum-caribenho e
andino, que, conforme Carneiro, eram “mais do que simples áreas culturais. Elas eram
também estágios evolutivos...”. Atualmente é feita a relação “marginal com bando, floresta
tropical com tribo, circum-caribe com cacicado e andino com estado.”
Steward então propôs que uma cultura formativa, dita por ele que era do nível circum-
caribenho originária dos Andes Centrais, teria se movido primeiramente para a região onde
hoje é a Colômbia e depois, indo mais para leste, estabeleceu-se na floresta tropical.
Encontrando solos menos férteis e climas mais chuvosos não conseguiram manter a
agricultura intensiva antes praticada nas terras altas. Dessa maneira, diz Carneiro sobre
Steward (CARNEIRO, apud. SCHAAN, 2007, p.120):
“(...) a cultura circum-caribenha foi forçada a declinar para o nível de floresta tropical.
Cacicados desfizeram-se em aldeias autônomas. Chefes supremos foram reduzidos a chefes
de aldeias locais. Especialistas em tempo integral perderam seus empregos. E os cultos
ídolo-templo-sacerdote se desintegraram, deixando em seu lugar somente simples
21
xamanismo. Para Steward, então, a cultura de floresta tropical não tinha se desenvolvido a
partir das culturas marginais, mas tinha involuído a partir da cultura circum-caribenha.”
No entanto, se essa teoria fosse verdadeira, a sequência estratigráfica encontrada no
local deveria ser a seguinte:
1. “Uma série de Culturas Marginais, representando a ocupação original da área.
2. Cultura Circum-Caribenha, indo dos Andes e se disseminando por toda a parte.
3. Cultura de Floresta Tropical, desenvolvendo na parte central da área e se
espalhando em direção sul para as Guianas ...” (ROUSE 1953:189).
No entanto, em nenhuma das escavações feitas nos lugares pesquisados, a cultura de
Floresta Tropical vinha antes da Circum-Caribenha na sequência, o que mostraria que os
cacicados desenvolveram-se a partir de culturas locais simples, contrariando as idéias de
Steward.
Na mesma época, Evans e Meggers desenvolviam pesquisas e escavações na ilha de
Marajó e encontraram o que parecia confirmar a teoria de Steward, a cultura que eles
chamaram Marajoara. Segundo eles “essa cultura parece ter chegado na ilha de Marajó no
ápice de seu desenvolvimento” e “sua história local revelada no registro arqueológico é de
uma lenta deterioração” (MEGGERS E EVANS 1957:593), exatamente como propunha
Steward. Contudo, os dois também descobriram outra cultura claramente de floresta tropical
que antecedia os Marajoara, e com isso, descartaram Steward quanto à deterioração ser a
origem da cultura de floresta tropical, tendo que construir outra teoria. Desse modo Meggers
elaborou a teoria da limitação imposta pelo meio ambiente ao surgimento de um cacicado,
ponderando que se uma sociedade complexa tinha existido em Marajó, mas não havia surgido
naquele local, logo, ela era uma cultura intrusiva, e se possuía cerâmicas tão sofisticadas,
22
provavelmente veio de sociedades culturalmente complexas, concluindo que teria migrado
dos Andes ou da Mesoamérica.
Já no início dos anos 1970, Lathrap, ao contrário da maioria, acreditava que a
Amazônia na verdade influenciou a cultura de outras áreas e não o contrário. Elaborou uma
teoria – que Robert Carneiro apelidou de “modelo cardíaco” – sugerindo que (CARNEIRO,
apud. SCHAAN, 2007, p.123):
“(...) quando a pressão populacional ao longo do Amazonas central atingiu um certo nível,
“ventrículos” ecológicos começaram a contrair, empurrando rios de pessoas para fora do
lotado coração do Amazonas em direção a suas muitas “artérias”, quer dizer, seus
tributários. (...)Por contrações sucessivas dos “ventrículos” ecológicos, rios de Arawaks,
Caribes e Tupis foram, no curso de milênios, impulsionados aos pontos mais distantes do
Amazonas (op.cit.:74). (...) Ele (Lathrap) proporciona um mecanismo efetivo para dar conta
de grande parte das distribuições lingüísticas e tribais que existiam em 1500”.
Foi então que o próprio Carneiro entrou na discussão quando publicou “The Theory of
the Origin of State” (1970) propondo que as pequenas áreas de várzea eram bastante
cobiçadas devido às cheias anuais que reabasteciam os solos com nutrientes podendo-se
plantar todos os anos sem ter que deixar a terra descansar. Além disso, o rio é fornecedor de
peixes, animais aquáticos e alimentos típicos da região ribeirinha de maneira inesgotável.
Essa concentração de recursos teria causado guerras nas áreas ribeirinhas e os perdedores
muitas vezes submetiam-se aos vencedores para ter acesso aos recursos dos rios, “(...) por
essa subordinação de aldeias a um chefe supremo que surgiu ao longo do Amazonas,
cacicados representaram um passo além na evolução política que tinha ocorrido em outras
partes da bacia Amazônica.” (CARNEIRO 1970: 736-737).
Em 1971, Betty Meggers publicou “Amazonia, Man and Culture in a Counterfeit
Paradise” com algumas idéias diferentes de sua inicial teoria e, segundo Carneiro, havia
23
“ampliado e aprofundado” seu conhecimento sobre a pré-história da Amazônia. Ele diz sobre
Meggers (CARNEIRO, apud. SCHAAN, 2007, p.124):
“(...) ela estava, agora, totalmente consciente da existência prévia de cacicados ao longo do
Amazonas,(...) não mais sustentava que qualquer cacicado encontrado na bacia amazônica
fosse necessariamente intrusivo,(...) claramente reconhecia a diferença crucial entre várzea
e terra firme, e enfatizou como algo importante essa distinção,(...) a várzea era totalmente
capaz de dar origem a culturas do tipo cacicado, enquanto a terra firme não era.”
O autor faz uma crítica à Meggers dizendo que apesar de reconhecer essas
características da Amazônia, ela não elaborou nenhuma teoria para a origem dos cacicados na
região e também critica Evans que de forma menos cautelosa afirmou que as crônicas não
indicavam que houve pressão populacional suficiente para mobilizar diferentes grupos para
guerra e que, pelo contrário, mostravam que a aquisição de terras nunca era produto de guerra.
Carneiro responde que essa explanação não se aplica aos povos ribeirinhos do Amazonas, que
como as primeiras fontes deixam claro, “lutavam precisamente sobre a possessão de áreas
junto ao rio.”(Ibid, p.125).
Já em 1980, Anna Roosevelt lança o seu livro Parmana, no qual destrincha
criticamente todas as interpretações teóricas acerca da Amazônia e suas populações.
Utilizando as próprias palavras de Carneiro, ela “(...) pega os argumentos de todos os teóricos
antropológicos conectados com a Amazônia, e cada um deles cai sentindo a dor de sua
chicotada”. Roosevelt acredita que, os cacicados desenvolveram-se localmente e ainda
influenciaram outras áreas da América, exatamente o oposto do que afirmavam os teóricos
que ela chama de deterministas. Da teoria de Carneiro ela parece ter aceitado dois elementos e
os utilizou em sua própria: que os cacicados foram produto de guerra territorial e que essas
guerras foram consequência de pressão populacional; contudo, algumas críticas que ela fez à
24
teoria de Carneiro, acusando que sua hipótese possuía pontos de “voluntarismo” por parte dos
perdedores das guerras, o obrigaram a reformulá-la em pontos específicos. Após a
reformulação de sua hipótese, ele deduz que trabalhando junto com a pressão populacional
estava a circunscrição social, que ele explica resultar “(...) quando densidade populacional
cresce em uma dada área, chegando ao ponto em que as pessoas são impedidas de se mover
de seus locais porque todas as terras em volta estão ocupadas. (...) Um grupo vencido na
guerra, não tendo para onde ir, é então subjugado à incorporação forçada na unidade política
dos vencedores.” (Ibid, p.126).
Em relação à Marajó, os estudos de Roosevelt apontam a existência de centenas de
tesos habitacionais, inclusive os considerando centros urbanos. Um desses tesos, propõe ela,
teria mais de mil habitantes: “(...) uma vez que as centenas de tesos conhecidos devem ... ser
pensados ... como centros permanentemente habitados, antes do que sítios cerimoniais vazios
ou habitações temporárias, a população da cultura como um todo parece ter sido de bom
tamanho, possivelmente maior do que 100.000 pessoas (...)”. (ROOSEVELT 1991:404)
Carneiro critica Roosevelt no sentido de que esses tesos só seriam centros urbanos se fossem
contemporâneos, sendo que as datações não parecem ser muito precisas em relação a essas
construções para provar que eram realmente ocupações simultâneas. E, tendo sido provado
que a cultura Marajoara se estendeu por aproximadamente 900 anos não seria nenhum
absurdo pensar que os tesos foram construídos e habitados em diferentes épocas. Além disso,
diz Carneiro, ela sugere diversas características da sociedade Marajoara mas não aponta a
natureza precisa desse tipo de sociedade, também não ponderando, se Marajoara representava
um cacicado ou vários, já que se esses tesos foram construções defensivas para uma ocupação
habitacional, muito provavelmente haviam tensões políticas e hostilidades entre essas
sociedades que lá provavelmente viveram.
25
Após todo esse debate, Carneiro e Rossevelt concluem de forma a apontar as
dificuldades que a Arqueologia tem em agregar informações suficientes para inferir sobre as
questões políticas do passado. Ele pondera dizendo “parece-me inevitável que Arqueologia
está condenada a ser uma importadora de teoria, não uma geradora.”
Carneiro não está totalmente correto nesse ponto, pois a arqueologia possui plenas
condições, apesar das dificuldades, de gerar hipóteses e teorias sobre o passado de sociedades
humanas graças ao seu caráter multidisciplinar. Se um arqueólogo tem dificuldades em
entender questões políticas e religiosas do passado, que peça ajuda à antropologia ou à
história; se tem dificuldades em perceber mudanças não-antrópicas do terreno, que peça
auxílio à geografia; se tem dificuldades para identificar ossos ou vestígios arqueobotânicos
que busque dados biológicos. Pensar que a arqueologia é apenas uma “importadora de
teorias” da história ou da antropologia, seria o mesmo que pensar que a física é uma
importadora de teorias da filosofia ou da matemática, porém, são ciências interligadas,
incapazes de serem praticadas e entendidas de maneira independente.
2.4. A Cerâmica de Santarém e o Cacicado Tapajônico
Curt Nimuendajú foi o primeiro a chamar atenção para o grande número de sítios de
terra preta e a vasta área em que estão distribuídos na região de Santarém, sendo que, ao todo,
foram encontrados por ele 140 sítios arqueológicos. Nimuendajú enfatizou também a
sofisticação da cerâmica atribuída aos Tapajó, as variadas estruturas artificiais encontradas na
área e aproveitou os relatos dos primeiros cronistas em suas pesquisas.
Roosevelt constrói seu modelo baseando-se nas pesquisas e escavações do próprio
Nimuendaju na região de Santarém e se apóia também nos relatos etno-históricos em relação
aos vastos assentamentos, às grandes populações e a existência de hierarquia e estratificação
26
social nas populações indígenas. Dessa forma ela defende que o ambiente era favorável à
adaptação humana, propõe que essas sociedades, como estratégia de subsistência, eram
fundamentadas na colheita do milho ao invés da mandioca, e ainda que desenvolveram-se de
maneira independente, isso é, sem influências externas dos Andes, como se pensava
anteriormente. Sabendo de evidências de estilos não atribuídos aos Tapajó presentes aos
arredores de Santarém, Roosevelt diz que a explicação para a presença de outras tradições na
região é que poderia haver “comunicações estilísticas inter-regionais” através de relações
inter-tribais como alianças, guerras e casamentos.
Já nos fins dos anos de 1980, Roosevelt inicia um extenso projeto com o objetivo de
fixar uma sequência cronológica de desenvolvimento cultural na região de Santarém. Segundo
ela, é uma sequência “(...) antiga de considerável extensão e complexidade...” que
compreende uma fase Paleoindígena, uma fase Arcaica da pré-cerâmica e uma fase Arcaica
de cerâmica incipiente. Isto indicaria uma ocupação de caçadores-coletores nômades
praticantes da caça de grandes animais seguida por outra ocupação de caçadores-coletores,
dessa vez mais sedentária, que dedicavam-se ao apresamento de pequenos animais e à
horticultura incipiente (ROOSEVELT, 1992, p.58). Em escavações feitas pela arqueóloga, na
Caverna de Pedra Pintada, em Monte Alegre, foram encontradas evidências de ocupações de
caçadores-coletores paleo-indígenas com datação de 12000 A.P. (ROOSEVELT 1996); no
sambaqui de Taperinha, próximo a Santarém – o sambaqui possui 6,5 metros de profundidade
e vários hectares de extensão – foi encontrada cerâmica datada em 7000 A.P. associada à
pescadores e a coletores de moluscos, sendo a cerâmica conhecida mais antiga das Américas
(ROOSEVELT, 1995); o período formativo, no entanto, não é publicado por Roosevelt, que
parece não abordar empiricamente com dados arqueológicos concretos, períodos mais
recentes do que aproximadamente 4000 AP. Parte daí uma das principais críticas de Denise
Gomes, afirmando que faltam dados comprobatórios para Roosevelt sustentar sua teoria dos
27
cacicados na região de Santarém. Diz Gomes que “quanto ao período pré-colonial tardio,
relativo à emergência das chefias complexas, embora alguns dados arqueológicos tenham sido
produzidos, o que permanece é um quadro hipotético, derivado em grande parte de projeções
etno-históricas, que implicam num uso literal e não crítico da documentação histórica, por parte
desta autora.” (GOMES, 2007, p.195) 9
Para testar o modelo de cacicados, Gomes partiu da idéia de existência de comunidade
satélites: “Segundo os estudiosos, uma das premissas de um cacicado é a existência de um
sistema regional, ou de uma rede supra local constituída por comunidades satélites,
governadas por um poder central10 (Carneiro 1970; Earle 1997)”. (Ibid, p.198). A autora
tratou de pesquisar áreas adjacentes e próximas à Santarém, a fim de encontrar vestígios de
dependência política e ideológica que provassem uma relação com o centro do cacicado
tapajônico e escolheu o que hoje se refere à comunidade de Parauá, a 100 km sul de Santarém.
Segundo ela, “o objetivo deste estudo foi testar os limites e a influência ideológica e política
do cacicado Santarém numa área periférica, utilizando dados sobre os padrões de povoamento
e da organização interna dos sítios, bem como a compreensão das práticas de
subsistência diária”11. (Ibid, p.198). As observações de Gomes sobre os padrões de
assentamento, as formas dos sítios arqueológicos e como estão postos na paisagem foram
consideradas, percebendo-se grandes diferenças entre os mesmos. Ainda, os vestígios
cerâmicos encontrados sugerem isolamento dos grupos que ocuparam essa área em relação a
um centro hegemônico, não tendo sido encontrado mais do que algumas amostras de cerâmica
Santarém. As cerâmicas do período formativo encontradas estão associadas à tradição Borda
9 “Finally, although some archaeological data has been produced for the late pre-colonial period relating to the emergence of complex chiefdoms, this scenario remains largely hypothetical, derived in large part from ethnohistorical projections that involve the author’s literal and uncritical use of historical documentation.” (GOMES, 2007, p.195) 10 “According to most scholars, a fundamental condition for a chiefdom is the existence of a regional system, or a supralocal network constituted by satellite communities governed by a central power. (Carneiro 1970; Earle 1997)” 11 “The objective of this study was to test the limits and the ideological and political influence of the Santarem chiefdom in a peripherical area, using data on settlement patterns and the internal organization of the sites, as well as the comprehension of the daily subsistence practices.” (Ibid, p.198)
28
Incisa da Amazônia, enquanto as cerâmicas do período tardio estão mais próximas das
indústrias do Alto Xingu e do Brasil Central. Portanto, nada que foi encontrado nessa região
demonstra ter alguma relação com o grande centro tapajônico das teorias de Roosevelt.
Além disso, apesar dos mais de 20.000 km² de influência da cultura Santarém proposto
por Roosevelt, recentes pesquisas mostram que em Lago Grande de Vila Franca, no rio
Arapiuns e em Monte Alegre, áreas que estão inseridas na região santarena, foram
encontradas características estilísticas de outras indústrias cerâmicas, algumas apresentando
afinidades com o complexo Valloide, da Venezuela, com datações de 1000-1500 A.D., outras
tendo características Barrancóide, no Lago Grande, e outras ainda, com características da
tradição Borda Incisa da Amazônia. Outras escavações feitas no médio e no alto Tapajós no
começo dos anos 80 indicaram também a presença da tradição Incisa e Ponteada com mínima
presença de cerâmica de Santarém, mostrando que a ocupação Tapajó estava restrita ao baixo
curso desse rio. Desse modo, pode-se inferir que a diversidade cultural da região é bastante
vasta, o que contradiz essencialmente a teoria proposta por Roosevelt.
Esses dados de padrões de organização, indicadores cerâmicos de interações regionais,
padrões tecno-estilísticos perceptíveis na cerâmica utilitária e também “(…) a análise da
cerâmica de Parauá, cujas datações mais tardias, contemporâneas à fase inicial das chefias de
Santarém, sugerem não só grande continuidade temporal deste complexo Borda Incisa,(...)
como uma autonomia em relação a um possível centro hegemônico12” (GOMES, 2007, p.201)
demonstra que várias formas de organização social e diversas relações inter-étnicas podem ter
se desenvolvido na região de Santarém. Durante o período tardio, poucas cerâmicas de
influência Santarém foram encontradas, e ainda destacam-se as vasilhas mamiformes
utilizadas em rituais públicos de iniciação feminina que teriam sido, conforme interpretações 12 “The analysis of Parauá pottery, whose later datings, contemporaneous with the initial phase of the Santarem chiefdoms, suggests not only the long-term temporal continuity of the Incised Rim complex, (…), but also a large degree of autonomy in relation to any hypothetical hegemonic center…” (GOMES, 2007, p.201)
29
de Gomes, parte de uma identidade comunitária como um tipo de símbolo de resistência ao o
centro político emergente. O contexto das atuais pesquisas permite argumentar contra os
defensores da existência de centralização e hegemonia de poder na Amazônia tardia,
possibilita constatar que a região de influência tapajônica era bem mais restrita do que a
sugerida por Roosevelt, e inferir que existiram diferentes formas em diferentes graus de
formações sócio-políticas que talvez não tivessem uma idéia de dominação de povos ou até
mesmo expansionista. Talvez, concordando com Gomes, as hipóteses criadas por alguns
pesquisadores tenham sido elaboradas essencialmente com um olhar etnocentrista das
relações de guerra e poder.
30
3. CARACTERÍSTICAS DO PERÍODO FORMATIVO DE SANTARÉM
3.1. Questões cronológicas sobre a Amazônia.
Desde o fim do século XIX e começo do século passado, estudiosos como Ladislau
Neto, Barbosa Rodrigues e Curt Nimuendajú, tentavam compreender o modo de vida das
populações indígenas pré-coloniais. Algumas pesquisas da época já apontavam a existência de
relações entre o norte da América do Sul, o Caribe e a Amazônia, sendo essas regiões bem
diferentes do resto da América. No entanto, as relações históricas entre essas regiões ainda
são bastante nebulosas, havendo muitas lacunas cronológicas a serem preenchidas com a
intensificação de pesquisas sistemáticas na área. Dessa forma, há a necessidade de se
estabelecer seqüências cronológicas dos complexos cerâmicos já descobertos, e para isso é
preciso entender quais são as bases dessa sequência, ou seja, aonde foram criadas as primeiras
cerâmicas.
Alguns modelos explicativos sobre o surgimento da cerâmica na Amazônia já foram
propostos com base em pressupostos histórico-culturalistas e datações radiocarbônicas, e que
geram muitas discussões até hoje. Betty Meggers e seus colaboradores, utilizando-se das
idéias de Steward e sempre levando em conta as dificuldades ambientais da floresta tropical,
deduziram que a Amazônia estava na periferia das inovações tecnológicas e que teria sido o
destino de migrações a partir das terras altas e não a origem. Esta idéia diverge bastante das
crônicas que averiguamos nos estudos etno-históricos, que contam sobre grandes e populosas
aldeias e dos registros arqueológicos que realmente mostram extensos aldeamentos nas
regiões de várzea. No entanto, segundo ela, esses registros seriam frutos de múltiplas
reocupações não contemporâneas. Dessa forma, Meggers defende que a cerâmica teve início
no norte dos Andes em San Jacinto, na Colômbia, e que a partir daí se difundiu por toda a
região norte da América do Sul criando outros complexos cerâmicos.
31
Lathrap entende todo o contexto de maneira diferente de Meggers, colocando a
Amazônia em um papel central na pré-história da América do Sul com a elaboração do
“Modelo Cardíaco”. Ele afirma que as terras baixas da América do Sul foram onde
inicialmente se desenvolveu processos de complexidade sócio-política, de adensamento
populacional e de adaptações ribeirinhas e agrícolas bem sucedidas, conseqüentemente sendo
um dos primeiros centros produtores de cerâmica. Ele acredita que a cerâmica começou a ser
produzida em algum lugar na Amazônia Central13 por volta de 5000 AP e que se espalhou
para outras regiões juntamente com as técnicas agrícolas. Segundo Lathrap, este também teria
sido o centro de dispersão das populações ancestrais às de tronco lingüístico Arawak e Tupi.
(LIMA, 2008, p.16)
Figura 1 – Mapa indicando as diferentes hipóteses de dispersões populacionais pré-coloniais, em distintos períodos, no norte da América do Sul (LIMA, 2008, p.7)
13 Esse lugar teria sido a região da confluência dos rios Negro e Solimões, segundo Eduardo G. Neves.
32
Todavia, com base na grande variedade de características das cerâmicas encontradas e
em dados temporais, autores como Hoopes e Roosevelt falam sobre o surgimento da cerâmica
em vários centros independentes por toda a Amazônia, sem nenhuma relação com os Andes.
Roosevelt sustenta que o que possibilitou o surgimento dessas sociedades complexas foi o
início da agricultura do milho ao invés da mandioca14, já que o primeiro possuiria mais
proteína e precisaria de um tempo menor de cultivo. A partir dos dados de sua pesquisa e
utilizando dados arqueológicos, paleontológicos e antropológicos, e assimilando com relatos
etno-históricos, Roosevelt elabora uma longa sequência de desenvolvimento cultural para a
ocupação humana na Amazônia que começa (GUAPINDAIA, 2008, p.7):
“(...) por volta dos 11000 AP com uma ocupação paleoindígena de caçadores-coletores-
pescadores; é seguida por culturas de pescadores e coletores de moluscos durante o
Holoceno entre 7500-4000 AP que são responsáveis pelas primeiras cerâmicas na
Amazônia; depois por volta de 4000 e 3000 AP surgem os horticultores de raízes (...); e por
final surgem as culturas construtoras de tesos15 por volta de 1000 a.C. que são sucedidas
por sociedades complexas e hierarquizadas, associadas às tradições Policrômica e Incisa
Modelada.”
Segundo ela, não somente na Amazônia, mas também na bacia do Rio Orenoco a
descoberta do cultivo do milho criou as bases para que o adensamento populacional e o longo
tempo de permanência em tais locais fossem possíveis. Conseqüentemente as populações
foram crescendo e, aceitando a teoria de Carneiro, essa circunscrição social fez com que
algumas sociedades que tinham talvez uma melhor posição geográfica dominassem outras que
não tinham acesso a abundância de recursos. Isso teria causado hostilidades e conflitos que
resultaram em hierarquização e centralização de poder.
Ainda não sabemos qual é o modelo explicativo correto, mas atualmente os
pesquisadores já reconhecem o Baixo Amazonas como sendo um grande centro produtor de
14 Hipótese duramente criticada por Carneiro que considera insustentável qualquer teoria que não considerar que o adensamento populacional e o surgimento dos cacicados teve como base o acesso à abundância de recursos aquáticos (tartarugas, peixes-bois e peixes). 15 Tesos são estruturas de até 90 hectares e 20 metros de altura que poderiam ser utilizados como base para aldeias ou cemitérios como forma de proteção contra os alagamentos constantes ou até mesmo por proteção bélica.
33
cerâmica, ao lado de San Jacinto (5900-4656 AP) e Puerto Hormiga (5000 AP) na Colômbia,
e Valdívia (5300-4300 AP) no Equador. Em sambaquis localizados no litoral do Pará foram
encontradas cerâmicas simples associadas à fase Mina (5500 AP). Na Ilha de Marajó, a fase
Ananatuba (3400 AP) inicia o período formativo no local, e pesquisas realizadas a partir da
década de 90 indicam que Santarém também foi um centro de produção cerâmica.
3.2. O caso de Parauá
Em seus estudos, Denise Gomes constatou que a cerâmica de Parauá que antecede o
surgimento das sociedades hierarquizadas de Santarém, é um dos complexos formativos mais
antigos da Amazônia e sugere-se que a população que ali viveu teria ocupado a região entre
3800 e 3600 AP, seguida por diversas reocupações ao longo do tempo, que se intensificam
entre 1300 AP e 910 AP, sendo estas últimas correlacionadas ao surgimento da terra preta
antropogênica, tendo sido, inclusive, parcialmente contemporânea à ocupação Ananatuba, na
Ilha de Marajó. Esses estudos se estenderam por quatro anos, e os dados adquiridos na região
da margem esquerda do rio Tapajós, próxima à Santarém, permitiram identificar uma
seqüência ocupacional de grupos diferentes dos Tapajó, que mantiveram afinidades culturais
ao longo do tempo.
Através da análise do material encontrado foi possível identificar e classificar
características tecnológicas e formais que permitiram perceber que os sítios tinham diferentes
funções. Foram encontrados sítios-habitação às margens do Tapajós, acampamentos de pesca
próximos a igarapés, áreas de cultivo que foram detectadas a partir da observação de solos
antropogênicos, e também sítios-habitação em terraços além da área de inundação a mais de 5
km do rio Tapajós, que evidenciaram diferentes padrões de assentamento. Dessa forma foi
possível identificar o “desenvolvimento do modo de vida dos primeiros coletores-
34
horticultores ceramistas da região, além de preencher uma lacuna existente na sequência
cronológica desta área” (GOMES, 2008b, p.6).
Figura 2 – Mapa da região de Santarém. Parauá se encontra na margem esquerda do rio Tapajós
A tabela a seguir apresenta as datações adquiridas através das amostras de carvão
recolhidas nos três sítios arqueológicos escolhidos pela arqueóloga Denise Gomes para
representar as suas pesquisas em Parauá. Percebe-se que por volta de 2400 a.C. a área
começou a ser povoada e a partir daí prevaleceu uma ocupação longa e contínua com
pequenos intervalos, até se extinguir entre 1100 e 1200 A.D. (Ano Domini).
35
Tabela 1. Datações radiocarbônicas, sítios de Parauá, Santarém, PA (Gomes 2005).
Esses três sítios (Lago do Jacaré 1, Terra Preta e Zenóbio) , segundo Denise Gomes,
foram selecionados por serem bastante distintos quanto ao tamanho, à forma de implantação
na paisagem e à provável função. Não haveria forma melhor de apresentá-los senão com as
próprias palavras da pesquisadora (GOMES 2007a, p.199):
“Desse modo, a forma do sítio Lago do Jacaré corresponderia a uma aldeia circular, com
deposição mais intensa do refugo no limite do assentamento, além de várias concentrações
extensivas em áreas periféricas. Já sítio Zenóbio, implantado no topo de um morro com
vertentes ravinadas, possivelmente deve sua forma circular a estas características. Este sítio
caracteriza-se pela ausência de refugo estruturado, apresentando uma lente difusa de
vestígios cerâmicos. Manchas dispersas de terra preta antropogênica, inseridas em amplos
setores de terra de cor marrom, foram interpretadas como indicadores de uma casa isolada
ou de acampamentos temporários, com utilização desta mesma área para atividades de
cultivo. Quanto ao sítio Terra Preta, este teria sido uma aldeia linear, de margem de rio,
com nítidos padrões de deposição do lixo nas laterais do assentamento. As datações obtidas
para os três sítios indicaram que a comunidade era formada por aldeias autônomas, uma vez
que os sítios não eram contemporâneos.16
16 “To summarize these results, the form of the Lago do Jacaré site corresponds to a circular village, with more intense refuse deposits found on the outer edge of the settlement, as well as several extensive concentrations in peripheral areas. Set on a hilltop with gullied slopes, the Zenóbio site possibly owes its circular form to this local topology. The site is characterized by the absence of structured refuse deposits, resenting a diffuse lens of pottery sherds. Patches of anthropogenic dark earth dispersed within broad sectors of brown earth were taken to indicate an isolated house or temporary encampments, with use of the same area for cultivation activities. Finally, the Terra Preta site reveals a linear village located along the river shore with clear refuse deposit patterns on the sides of the settlement. The carbon dating obtained for the three sites indicated that the community was formed by autonomous villages, since the sites were not contemporary to each other.” (GOMES, 2007, p.199).
36
Os sítios Zenóbio e Lago do Jacaré 1 mostram ocupações esparsas não relacionadas ás
terras pretas antropogênicas, o que faz deduzir que eram grupos semi-sedentários. As
ocupações mais tardias, entre 700 e 1100 AD foram associadas às terras pretas e apresentam
maior intensidade. Os dados obtidos a partir desses dois sítios, mais o sítio Terra Preta, fazem
concluir que houve re-ocupação dessas áreas ao longo do tempo e possibilita refletir sobre as
motivações para que esse processo de abandono e re-ocupação acontecesse.
A cerâmica de Parauá é basicamente utilitária com traços decorativos associados à
tradição Borda Incisa da Amazônia e a cerâmica mais tardia parece possuir afinidades com
indústrias do Alto Xingu e do Brasil Central. Foram identificadas, a partir de reconstituição
hipotética baseada em analogias etnográficas, cerâmicas utilizadas em técnicas de subsistência
relacionadas a atividades de cocção, transporte, serviço e armazenamento e também cerâmicas
com funções rituais, já que foram observadas grandes vasilhas para fermentação de bebidas de
mandioca e vasilhas com formas de seios femininos que, segundo Gomes (Ibid, 2007a,
p.201):
“(...) teriam sido possivelmente utilizadas como artefatos para o consumo de bebidas,
durante cerimônias coletivas de iniciação feminina, que fazem parte de processos mais
amplos de construção do corpo e da pessoa, comuns entre sociedades amazônicas,
conforme atestam relatos históricos e etnográficos”.17
Aqui é necessário citar uma discussão levantada por Lathrap, que diz que a utilização
do termo “Borda Incisa” seria um “eufemismo” em relação ao termo Barrancóide, utilizado
para caracterizar uma das primeiras culturas formativas cerâmicas emergentes na Amazônia,
nas regiões próximas ao rio Orenoco. No entanto, essa distinção parece ser necessária, pois a
classificação Barrancóide estaria associada a uma dimensão continental, já que as primeiras
17 “(…) may have been used as artifacts for consuming drinks during collective female initiation ceremonies, which themselves form part of more general processes of constructing the body and the person (…) commonly found among Amazonian societies, as corroborated by some archaeological evidence and ethnohistorical accounts.” (GOMES, 2007a, p.201)
37
análises indicam o início do horizonte Saladóide-Barrancóide na Venezuela. Outras
classificações posteriormente foram verificadas no Caribe, sendo as séries Saladóides
(apresentam pintura vermelha sobre branco) anteriores às Barrancóides (cerâmica incisa e
modelada). Além disso, as séries Barrancóides do Orenoco possuem diferenças importantes
em relação às da Bacia Amazônica, e, inclusive, as próprias séries Barrancóides amazônicas
tem diferenças e são denominadas por Brochado e Lathrap como: “(a) Barrancóide
Amazônico, que enfatiza a incisão e modelagem; (b) Barrancóide que se desenvolve em
direção da pintura policrômica e incisão; e (c) Barrancóide que se direciona à fase Itacoatiara,
com incisões finas, extremamente controladas.” (GOMES, 2008b, p.9).
Gomes afirma que apesar de serem denominações de caráter crono-estilístico, essas
referências não podem ser utilizadas para todos os estilos que possuam decoração modelada e
incisa. Quando se faz uma comparação entre as cerâmicas Barrancóides do Caribe e da
Venezuela com a de Parauá observa-se que elas não são semelhantes, pois, em Parauá, não
estão presentes as incisões curvilíneas amplas e nem os apêndices zoomorfos e antropomorfos
com essas mesmas incisões, que são característicos daqueles Barrancóides. É importante
estabelecer relações comparativas entre estilos diferentes, pois os traços diagnósticos são
marcadores de relações históricas (MEGGERS, 1997:20). Meggers estipula 14 motivos
diagnósticos de cerâmica como sendo esses marcadores, e seis deles, segundo Gomes, estão
presentes na cerâmica dos três sítios selecionados de Parauá (GOMES, 2008b, p.8):
“(a) círculo com ponteado central, feito por incisão, excisão, carimbado ou modelado; (b)
faixa de incisões finas verticais na superfície ou dentro de um canal limitado ou não por
incisões; (c) hachurado cruzado largo; (d) áreas com incisões amplas paralelas; (e)
ponteado em zonas; e (f) adornos zoomorfos pequenos. As incisões verticais e transversais
são predominantes na cerâmica de Parauá. Já o hachurado largo é mais raro, bem como o
ponteado em zonas e os adornos zoomorfos pequenos.”.
38
Pela visão de Meggers, estes seriam os indicadores da antiguidade da cerâmica dessa
área do rio Tapajós. O que se percebe, é que, concordando com Gomes, é necessário que se
faça “distinções crono-estilísticas” entre complexos formativos que sejam identificados por
possuírem decoração incisa-modelada, pois está claro que as variações Barrancóides não estão
presentes em todos eles. As características de horizonte-estilos e as datações referentes a eles,
realmente são muito variadas, como podemos ver nos exemplos da tabela a seguir:
Tabela 1 – Diferentes complexos cerâmicos encontrados por toda a região Amazônica. A datação está em idade convencional AP (Antes do Presente).
Pode-se dizer que a principal contribuição das pesquisas de Parauá foi a de evidenciar
que se desenvolveram várias formas diferentes de organização social, ocupação, e relações
inter-étnicas no Baixo Amazonas e especialmente na região de Santarém. Os indicadores
cerâmicos e as datações contemporâneas à fase das chefias da região de Santarém sugerem
que houve uma longa continuidade temporal desse complexo Borda Incisa da cerâmica de
COMPLEXO TRADIÇÃO LOCAL IDADE CONVENCIONAL
FONTE
BARRANCAS Barrancóide Rio Orinoco 1700 AP Gomes, 2008
HACHURADA ZONADA
Hachurada Zonada
Sítio Aldeia, Santarém - PA
1800 AP Gomes, 2010
POCÓ Borda Incisa ou Barrancóide?
Baixo curso dos rios Trombetas e Nhamundá
2015 AP a 1745 AP
Hilbert, 1992
POCÓ Borda Incisa ou Barrancóide?
Sítio Aldeia, Santarém - PA
2040 AP Gomes, 2010
FASE AÇUTUBA Barrancóide Vários locais da Amazônia Central
2250 AP a 1590 AP
Gomes, 2008 (Lima et al 2006:28)
POCÓ Borda Incisa ou Barrancóide?
Sítio-Aldeia, Santarém - PA
2370 + 60 AP Gomes, 2010
POCÓ Borda incisa ou Barrancóide?
Sítio-Aldeia, Santarém - PA
3000 AP Gomes, 2010
FASE ANANATUBA
- Ilha de Marajó 3400 AP Gomes, 2008. (Meggers e Evans, 1988. Schaan, 2004)
PARAUÁ Borda Incisa da Amazônia
Baixo Tapajós 3800 AP a 3600 AP
Gomes, 2003
LA GRUTA Barrancóide Médio Orinoco 4100 e 3600 AP Gomes, 2008
39
Parauá e que apesar de basicamente utilitária de subsistência, as características dessa cerâmica
não mostram nenhuma subordinação em relação a algum centro indígena hegemônico.
Além disso, nas escavações feitas pela equipe de bolsistas vinculados ao projeto
“Análise das Sócio-Cosmologias Amazônicas Pré-Coloniais” em julho de 2010, na área
urbana da cidade de Santarém, encontramos cerâmicas com claras evidências que nos
permitem dizer que são do período formativo e fomos além: percebemos que suas
características sugerem que essa cerâmica seja do estilo denominado Pocó, encontrado
inicialmente ao longo das bacias dos rios Trombetas e Nhamundá, em camadas inferiores à
cerâmica de estilo Konduri, também encontradas nos sítios escavados. Datações (Hilbert e
Hilbert, 1980) sugerem que alguns grupos produtores da cerâmica Pocó ocuparam essa região
entre o primeiro século antes de cristo e o primeiro século depois de cristo. Segundo
Guapindaia, nas regiões estudadas “(...) os sítios Pocó pertencem ao período imediatamente
anterior ao aparecimento das grandes aldeias e anterior a formação das terras pretas (Neves,
2007:55-56, Lima, Neves & Petersen, 2006:47)” (GUAPINDAIA, 2008, p.19). Enquanto o
estilo Konduri, devido às suas características estilísticas e cronológicas, é normalmente
associado à cerâmica Santarém, o estilo Pocó possui traços decorativos bastante variados,
alguns com características parecidas com os Barrancóides da Venezuela. Segundo a sequência
hipotética proposta por Gomes para a área de Santarém, vistos através da análise modal, os
estilos Barrancóide e Saladóide-Barrancóide estão na base da cronologia da área do Tapajós-
Trombetas. Tudo indica que a cerâmica Pocó está nos intermédios dessa base, tanto em
Santarém quanto na Amazônia Central, no entanto, estamos em um estágio ainda muito
recente e por isso nos faltam muitas informações para chegar a qualquer conclusão.
40
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este é um estudo inicial das questões cronológicas da cerâmica na região Amazônica,
que permitem apenas inferir sobre os dados obtidos a partir de relatos etno-históricos e
registros arqueológicos. No entanto, também é importante não se afastar da etnologia, que
muitas informações traz para conter um pouco as deduções exageradas que certas vezes tiram
o foco do empirismo das pesquisas sistemáticas. Claro que muitas vezes os estudiosos querem
acreditar que existiram aqui, tão perto, sociedades complexas, hierarquizadas, com poder
político centralizado com caráter expansionista. Seria realmente fascinante. Porém, não
deixam de ser fascinantes as culturas encontradas ainda hoje nas populações indígenas que
vivem em território brasileiro, e não podemos levar as pesquisas para uma distância histórica
tão grande a ponto de esquecermos quem as minorias indígenas de hoje são.
As discussões estão, ainda hoje, muito acirradas e com tantos anos de pesquisa, alguns
arqueólogos não chegaram a conclusões absolutas sobre os nossos antepassados. Por isso,
espero que essa dissertação tenha contribuído para facilitar o entendimento de tais debates,
não para adentrá-los com opiniões próprias. Talvez essa pesquisa tenha sido um ponto de
partida para futuras investidas teóricas nas questões arqueológicas, etnológicas e históricas do
desenvolvimento cultural dos antigos povos Amazônicos.
41
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CARNEIRO, Robert. - A base ecológica dos cacicados amazônicos. In: Revista de
Arqueologia/SAB. São Paulo: SAB, 2007, p. 117 - 154.
FUNARI, Pedro Paulo. - Arqueologia. São Paulo: Ática, 1988.
GOMES, Denise M. C. - Cerâmica arqueológica da Amazônia: vasilhas da Coleção
Tapajônica da Amazônia MAE-USP. São Paulo, EDUSP/Imprensa Oficial, 2002.
GOMES, Denise M. C. - Cotidiano e poder na Amazônia pré-colonial. São
Paulo: EDUSP/FAPESP, 2008.
GOMES, Denise M. C. – The Diversity of Social Forms in Pre-Colonial Amazon. Revista de
Arqueologia Americana nº 25. 2007, p. 189 – 225
GOMES, Denise M. C. – O uso social da cerâmica de Parauá, Santarém, Baixo Amazonas:
uma análise funcional. Revista de Arqueologia Suramericana v.4 nº1, 2008, p. 5 – 33.
GUAPINDAIA, Vera Lucia C. - Além da margem do rio - a ocupação Konduri e Pocó na
região de Porto Trombetas, PA, Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2008
HECKENBERGER, Michael; NEVES, Eduardo G. – Amazonia Archaeology. Reviews in
Advance 38, 2009, p. 251 – 266.
LIMA, Helena P. - A História das Caretas: A Tradição Borda Incisa na Amazônia
Central. 2008. Tese (Doutorado em Arqueologia) - Museu de Arqueologia e Etnologia,
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
MEGGERS, Betty Jane; RIBEIRO, Darcy (Apresentação). - Amazônia: a ilusão de um
paraíso. Tradução de Maria Yedda Leite Linhares. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1977.
MENÉNDEZ, Miguel A. - A área Madeira – Tapajós. In: CUNHA, Manuela Carneiro da.
História dos índios no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1992, p. 281-296.
NIMUENDAJU, Curt. - Os Tapajó. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Belém:
MPEG, v. 10, 1949, p. 93-106.
42
PORRO, Antonio. - O Povo das Águas. Ensaios de etno-história amazônica. Rio de Janeiro:
Vozes, 1995.
ROOSEVELT, Anna C. - Determinismo ecológico na interpretação do desenvolvimento
social indígena da Amazônia. In: NEVES, W. (Org.). Origens, adaptações e diversidade
biológica do homem nativo da Amazônia. Belém: MPEG/CNPq, 1991, p. 103-141.
ROOSEVELT, Anna C. - Arqueologia amazônica. In: CUNHA, Manuela Carneiro da.
História dos índios no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1992, p. 53-86.
TOLKIEN, J. R. R. – The Lord of the Rings. The Fellowship of the Ring. Boston: Houghton
Mifflin, 1982.