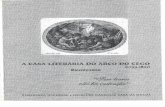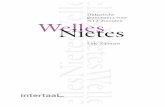As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo
Centro de estudos em Letras
departamento de Letras, artes e ComuniCação
universidade de trás-os-montes e aLto douro
11Departamento de Letras, Artes e ComunicaçãoUniversidade de Trás-os-Montes e Alto DouroApartado 10135001-801 Vila Real — Portugal
Dez
embr
o de
201
2R
evis
ta d
e L
etra
s
Revista de Letras
Série IIDezembrode 2012
11
REVISTA DE LETRAS
DIREÇÃOCarlos Assunção
CONSELHO DE REDAÇÃOAlexandre Parafita, Álvaro Cairrão, Anabela Oliveira, Armindo Mesquita, Carlos Assunção, Carlos Cardoso, Elisa Torre, Fernando Moreira, Galvão Meirinhos, Gonçalo Fernandes, Henriqueta Gonçalves, Inês Aroso, Isabel Alves, José Belo, José Eduardo Reis, José Esteves Rei, José Machado, Laura Bulger, Luciana Pereira, Maria da Assunção Monteiro, Maria da Felicidade Morais, Maria do Céu Fonseca, Maria Helena Santos, Maria Luísa Soares, Marlene Loureiro, Mónica Augusto, Natália Amarante, Olinda Santana, Orquídea Ribeiro, Rebeca Fernández Rodríguez, Rolf Kemmler, Rui Guimarães, Sónia Coelho, Susana Fontes, Teresa Moura
CONSELHO CIENTÍFICOAmadeu Torres † (1924-2012), Universidade Católica Portuguesa e Universidade do Minho António Fidalgo, Universidade da Beira InteriorAurora Marco, Universidad de Santiago de CompostelaBernardo Díaz Nosty, Universidad de MálagaCarlos Assunção, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroDaniel-Henri Pageaux, Sorbonne Nouvelle Paris IIIFátima Sequeira, Universidade do MinhoFernando Moreira, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroGonçalo Fernandes, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroHenriqueta Gonçalves, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroJorge Morais Barbosa, Universidade de CoimbraJosé Cardoso Belo, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroJosé Esteves Rei, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroMaria da Assunção Monteiro, Universidade de Trás-os Montes e Alto DouroMaría do Carmo Henríquez Salido, Universidade de VigoMaria do Céu Fonseca, Universidade de ÉvoraMário Vilela, Universidade do PortoMilton Azevedo, University of California, BerkeleyNair Soares, Universidade de CoimbraNorberto Cunha, Universidade do Minho
CAPAJosé Barbosa Machado
COMPOSIÇÃO E REVISÃOMaria da Felicidade Morais
EDITORDLAC / CEL
IMPRESSÃOCreateSpace
REVISTA DE LETRASRevista de Letras / ed. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Departamento de Letras, Artes e Comunicação; Centro de Estudos em Letras; dir. Carlos Assunção; org. Armindo Mesquita, Luísa Soares, José Barbosa Machado, Teresa Moura; Comp. Maria da Felicidade Morais – Série II, n.º 11 (Dezembro de 2012) - .- Vila Real: UTAD, 2012 - .- Continuação de: Anais da UTAD.- Contém referências bibliográficas. – Anual.
ISSN: 0874-7962 ISBN: 978-1494303242
I. Assunção, Carlos, dir. / II. Mesquita, Armindo, org. / III. Morais, Maria da Felicidade, org. / IV. Universidade de Trás--os-Montes e Alto Douro. Departamento de Letras. Centro de Estudos em Letras, ed. Lit./ 1. Linguística - - [Periódicos] / 2. Literatura Portuguesa - - estudos críticos - - [Periódicos] / 3. Didática - - [Periódicos] / 4. Cultura Portuguesa - - [Periódicos] / Comunicação - - Didática.
CDU: 81 (05) / 821.134.3.09 (05) / 37.02 (05) / 008 (469)(05) / 808.56 (05) / 37.02 (05)
ÍNDICE
LINGUÍSTICA
A imagem e o imaginário da identidade regional num texto inédito
do Auto de Santa Catarina António Bárbolo Alves .................................................................................................. 7-20
Primeiros Ecos de Ferdinand de Saussure
na Gramaticografia de Língua Portuguesa Evanildo Bechara .......................................................................................................... 21-27
Un parcours de vie: les mots de Cavaco Silva Ana Clara Birrento, Maria Helena Saianda & Olga Baptista Gonçalves ................... 29-46
O ensino da língua portuguesa nos manuais gramaticais:
uma proposta de reformulação Telma Maria Barrias Maio Coutinho ........................................................................... 47-65
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo Sónia Duarte …............................................................................................................. 67-104
La presencia del marcador conversacional “¿me entiendes?”
en los corpus lingüísticos CREA e Mark Davies
como indicador de culturas de alejamiento o de acercamiento" José Manuel Giménez García ....................................................................................... 105-118
Argote e o pioneirismo em variação linguística e dialectologia
em Portugal, séc. XVIII Rui Dias Guimarães ...................................................................................................... 119-131
Subsídios inéditos para o estudo das primeiras gramáticas portuguesas
do século XIX Rolf Kemmler ................................................................................................................ 133-144
Aspetos da Sintaxe do Português Falado no Sul de Moçambique Diocleciano João Raúl Nhatuve & Maria do Céu Fonseca ......................................... 145-156
Étude de quelques particularités du vocalisme oral du dialecte vulgairement parlé dans la municipalité de Fundão (Castelo Branco) Maria Celeste Nunes & Paulo Osório .......................................................................... 157-174
LITERATURA
Poesia e Compromisso em Vladimir Maiakovski – Criação e Construção António José Borges ...................................................................................................... 177-191
A vida sem qualidade: o efeito catártico da Literatura Gótica Maria Antónia Lima ...................................................................................................... 193-199
Representações do direito em Aquilino Ribeiro Carlos Nogueira ............................................................................................................ 201-211
Notas breves para uma reflexão sobre as relações entre literatura
e meio ambiente José Eduardo Reis ......................................................................................................... 213-218
Leituras intermitentes e releituras circunstanciais Celina Silva ................................................................................................................... 219-234
Um olhar sobre o humanismo e o telurismo da poetisa angolana Alda Lara Maria Luísa de Castro Soares ...................................................................................... 235-253
Em busca do sentido do homem e da arte: Pensamento e palavra
nas letras europeias Nair Nazaré de Castro Soares ...................................................................................... 255-282
António Cabral, o suor da tradição:
Apontamentos para uma abordagem ao autor transmontano Elisa Gomes da Torre …............................................................................................... 283-290
CULTURA
Autobiography: A Text of Life in a New Landscape Ana Clara Birrento ……............................................................................................... 293-304
O direito à informação no Estado de direito: aspetos da sua efetivação António Francisco de Sousa ......................................................................................... 305-326
COMUNICAÇÃO
A importância da inovação na tomada de decisão na microempresa:
o caso TOK BOLSAS Gilbert Angerami …...................................................................................................... 329-338
Os blogues corporativos como meio de comunicação organizacional Álvaro Cairrão, Galvão Meirinhos & Joana Costa ..................................................... 339-377
Comunicação não verbal: a influência da indumentária e da gesticulação na credibilidade do comunicador Maria de Fátima Ribeiro & Galvão Meirinhos ............................................................ 379-405
DIDÁTICA DAS LÍNGUAS
Leituras com Arte: da literacia crítica ou da arte de ler o mundo Maria da Graça Sardinha ……..................................................................................... 409-414
Leitura, literacia e escola: construções (im)perfeitas Maria da Graça Sardinha & João Machado …............................................................ 415-427
VÁRIA
Recensão: Alexandre Parafita, Antropologia da Comunicação.
Ritos, Mitos, Mitologias. Lisboa, Âncora Editora, 2012. Carlos Nogueira …........................................................................................................ 431-433
_______________________________________________
Revista de Letras, II, n.º 11 (2012), 67-104.
As edições da Arte da Grammatica Portugueza
de Pedro José de Figueiredo*
Sónia Duarte
Centro de Linguística da Universidade do Porto
Abstract
The present study aims to contribute to increase the knowledge of Figueiredo’s grammatical work (Arte da Grammatica Portugueza, Lisbon, 1799), updating
bibliographical data and establishing an inventory of editorial differences between the portuguese prints. The presentation of these variants will allow the identification of three groups of editions: i) the first two; ii) the third; iii) the last two. The results will be interpreted considering the evolution of Figueiredo’s doctrinal affinities, taken into account on the frame of the late eighteenth and early nineteenth centuries’ Portuguese and European grammatical tradition, in which stands out the influence of French rationalist grammar, whose impact on Figueiredo progressively increases from one edition to another.
Keywords: Historiography of Linguistics, Grammar, Pedro José de Figueiredo.
Resumo O presente trabalho pretende contribuir para aumentar o conhecimento da obra
gramatical de Figueiredo (Arte da Grammatica Portugueza, Porto, 1848), procedendo à atualização dos dados bibliográficos e ao inventário das diferenças entre as edições publicadas em Portugal. A exposição das variantes permitirá identificar três grupos de
edições: i) as duas primeiras; ii) a terceira; iii) as duas últimas. Os resultados serão interpretados à luz da evolução das afinidades doutrinais de Figueiredo, no quadro da tradição gramaticográfica portuguesa e europeia de finais do século XVIII e inícios do século XIX, onde se destaca a influência da gramática racionalista francesa, cujo reflexo em Figueiredo aumenta progressivamente ao longo das edições. Palavras-chave: Historiografia linguística, gramática, Pedro José de Figueiredo.
* Este trabalho foi realizado no âmbito das atividades financiadas pela Fundação de Ciência y
Tecnologia (SFRH/BD/74989/2010), em suporte da investigação realizada para o projeto de dissertação de doutoramento intitulado “La lengua y la gramaticografía españolas desde la historiografía gramatical portuguesa (1623-1848)” e inscrito no Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Universidad de León, sob orientação da Professora Doutora María
Dolores Martínez Gavilán. Este estudo foi primeiramente apresentado em comunicação oral ao XXVIII Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, realizado em Faro, entre 25 e 27 de outubro na Faculdade de Ciências sociais e Humanas da Universidade do Algarve. Agradeço ao Prof. Doutor Rolf Kemmler os seus comentários à versão escrita que aqui se publica.
68 Sónia Duarte
1. Nota biobibliográfica
Os principais dados biobibliográficos sobre Pedro José de Figueiredo (1762-
1826) encontram-se coligidos por Inocêncio Silva no Diccionario
Bibliographico Português. Como esta informação já se encontra reunida, limitar- -me-ei a chamar a atenção para atualizações recentes no tocante à biografia
(Kemmler 2012: 105-107)1 e bibliografia (Duarte 2012a: 235-236),
desenvolvendo somente este último aspeto, pela sua coincidência com o tema deste estudo. No tocante à sua produção bibliográfica, é de assinalar que,
segundo, mais uma vez, os dados recolhidos em Silva (1862: tomo VI, 415-419),
a obra em estudo constitui a única obra gramaticográfica de Figueiredo, embora o seu contributo linguístico se estenda também à lexicografia
2. Observe-se ainda
que, no que toca à sua receção, a obra em análise alcançou maior projeção no
exterior que em território nacional, como foi já apontado em Duarte (2012a,
2012b), considerando, por um lado, o destaque que lhe foi dado nas entradas
relativas a Portugal de algumas enciclopédias estrangeiras3, e, por outro, a sua
escassa repercussão sobre os gramáticos portugueses e as críticas que lhe foram
dirigidas4.
Segundo Inocêncio da Silva (1862: tomo VI, 417), o texto em estudo teria
contado com quatro edições (1799, 1804, 1811, 1837) sendo errada a informação
prestada a este respeito por Vilela da Silva (1828: 76) sobre a existência de uma
edição de 18275. Efetivamente, o problema sobre a data da quarta edição decorre
da informação na folha de rosto das últimas edições, onde o mesmo número de
edição surge a par com diferentes datas.
1 No referido artigo, Kemmler contribui para a correção de alguns dados veiculados no Diccionario Bibliographico Português, nomeadamente no que diz respeito à data de óbito do gramático, que faleceu no dia 12 de fevereiro de 1826, e não no dia anterior, como estabelece
Inocêncio. 2 Com efeito, segundo Silva (1862: tomo VI, 418), para além dos muitos vocábulos que terá acrescentado à terceira edição do Diccionario da Lingua Portugueza (Lisboa 1823) de António de Morais Silva, Figueiredo terá ainda deixado um dicionário de sua própria autoria, cujo manuscrito,
segundo Verdelho (2003: 489) se terá perdido. 3 Entre elas está a Encyclopaedia Americana (Filadélfia 1844) de Francis Lieber, onde a gramática de Figueiredo é apresentada como sendo a melhor gramática portuguesa conhecida. 4 Desta questão se trata em Duarte 2010 e Duarte 2012a, focando concretamente a censura que lhe
foi feita por Jerónimo Soares Barbosa. 5 Segundo informa ainda Vilela da Silva (1828: 76), para além das edições portuguesas, terá
havido ainda uma edição brasileira não autorizada (Baía 1817).
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 69
Figura 1: Folhas de rosto (edições de 1827 e 1837).
Segundo Inocêncio da Silva (1862: tomo VI, 417), a gralha estaria na data e apenas existiria a edição de 1837, embora posteriormente, o seu testamenteiro
Brito Aranha, no trabalho de ampliação e revisão do Diccionario Bibliographico
de Inocêncio Silva (1894: tomo XVII), como adverte Schäfer-Prieß (no prelo:
1.9.)6, pareça reconhecer a edição de 1827, sustentando “pelo confronto das
circunstâncias da impressão, que a edição que apareceu com o millesimo 1837, é
a mesma, só com a diferença do rosto”7. De facto, para além da impossibilidade
de Vilela da Silva ter conhecido em 1828 uma impressão de 1837, os dados do Registo de Obras da Impressão Régia, conforme se adverte já em Duarte (2012
a
e 2012b), confirmam que a gralha não está na datação, mas, eventualmente, na
numeração das edições, já que as edições de 1827 e 1837 correspondem,
6 A obra citada corresponde à tradução do trabalho de agregação (Habilitationsarbeit) da autora, originalmente publicado em 2000: Die portugiesische Grammatikschreibung von 1540 bis 1822: Entstehungsbedingungen und Kategorisierungsverfahren vor dem Hintergrund der lateinischen, spanischen und französischen Tradition. Tübingen: Max Niemeyer Verlag (Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie; Band 300). Agradeço ao Prof. Doutor Rolf Kemmler a
cedência do texto inédito. 7 A investigadora alemã interpreta tal passagem como indicadora de que para Inocêncio da Silva teria havido uma “reimpressão sem alterações”.
70 Sónia Duarte
efetivamente, a duas edições diferentes8. Posto isto, considerando as fontes
arquivísticas anteriormente mencionadas, o texto de Figueiredo, no total das suas
cinco edições, contou com seis mil exemplares, impressos ao longo de trinta e
sete anos e com a seguinte distribuição:
INCM/AIN - Registo de Obras, 1797-1803 (AH/9A/1- lv. 28)
1.ª edição (1799) - acabada de imprimir e divulgada em 1800 - 1000 exemplares
INCM/AIN - Registo de Obras, 1804-1808 (AH/9A/1- lv. 29)
2.ª edição (1804) - acabada de imprimir e divulgada em 1805 - 1000 exemplares
INCM/AIN - Registo de Obras, 1810-1814
(AH/9A/1- lv. 31) 3.ª edição (1811) - 2000 exemplares
INCM/AIN - Registo de Obras, 1825-1828 (AH/9A/1- lv. 35)
4.ª edição (1827) - 1000 exemplares
INCM/AIN - Registo de Obras, 1836-1837 (AH/9A/1- lv. 39)
5.ª edição (1837) - 1000 exemplares
Quadro 1: edições segundo documentação do Arquivo da Imprensa Nacional.
Importa ainda chamar a atenção para o distinto valor destas edições
enquanto expressão fidedigna da intenção do autor, na medida em que apenas
três foram publicadas em vida do autor e apenas a primeira foi custeada pelo mesmo
9. É, no entanto, significativo que tenha havido edições póstumas, já que,
segundo Silva (1862: tomo VI, 416), o autor teria destruído parte dos seus
manuscritos, cuja publicação não desejava. Com efeito, segundo a mesma fonte (Silva 1862: tomo VI, 417), o manuscrito desta obra já se encontrava pronto para
publicação à data da morte do autor e foi vendido por uma criada e herdeira do
autor à casa que o veio a editar.
2. Cotejo de edições Antes de passar ao comentário das conclusões do cotejo, importa tecer
algumas considerações preliminares. A primeira, de ordem metodológica,
prende-se com o modo de realização do confronto textual. Nesse sentido, convém esclarecer que, tendo sido identificados três grupos de edições - as duas
primeiras por um lado, a terceira por outro, e, ainda por outro lado, as duas
últimas - na impossibilidade, por razões logísticas, de aceder diretamente a todas
as edições em simultâneo, foram definidos, como exemplares de base, os consultados da edição de 1804, 1811 e 1827, considerando critérios de ordem
prática e a quase identidade entre as edições de 1799 e 1804, por um lado, e as
8 Agradeço à Doutora Margarida Ramos, Diretora do Arquivo da Imprensa Nacional, e ao Prof. Doutor Rolf Kemmler, por meio de quem pude aceder aos resultados da consulta do referido arquivo, a sua valiosa ajuda nesta matéria. 9 Segundo a informação recolhida nos registos de obras da INCM/AIN, a segunda edição foi custeada por António Manoel Policarpo da Silva, a terceira, por João Henriques e as duas seguintes, pela Viuva Bertrand & Filhos. Observe-se, contudo, que, segundo os mesmos registos,
na segunda edição, ainda é o nome do autor que consta na figura do devedor. Em todos os três casos foi, portanto, custeada pelos livreiros, pelo que não se sabe qual o papel exato do autor no processo final de edição, a partir da primeira.
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 71
de 1827 e 1837, por outro. Como tal, por razões de economia de citação, sempre que os exemplares coincidam, será citada apenas uma dessas edições
10.
A segunda ordem de considerações incide sobre o objeto de estudo.
Primeiro, é conveniente justificar desde já que, pela impossibilidade de aceder a
todos os exemplares em suporte papel, não serão aqui tratadas questões de bibliografia material. Finalmente, deve ser esclarecido que o objeto central deste
estudo corresponde aos aspetos da teoria gramatical que fazem divergir as
edições e não tanto às questões de crítica textual. Não obstante, previamente à imersão naquele que pretende ser o foco do presente trabalho, será oportuno
fazer referência às diferenças observadas nos campos excluídos, ainda que não
seja senão para as apontar. A essa luz, há a registar variantes na informação oferecida pelos paratextos no tocante à indicação do autor
11, às autorizações dos
10 Da primeira edição foi consultado o exemplar conservado em microfilme na Biblioteca Nacional de Portugal (BN) com a cota L. 294 V. Da segunda edição consultou-se o exemplar guardado na Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP) com a cota I-4-8. Para a terceira e quarta edição recorreu-se a digitalizações disponíveis em linha e de cuja hiperligação se dá conta na bibliografia final. Da quinta e última edição, consultou-se o exemplar conservado na BPMP com a cota I-4-9. Agradeço ainda a disponibilidade do Prof. Doutor Rolf Kemmler para a cedência dos seus exemplares das edições de Figueiredo. 11 Apenas nas duas últimas edições surge o nome do autor na folha de rosto, como se comprova da informação que na mesma aparece em cada edição: “ARTE / da / GRAMMATICA PORTUGUEZA, / ordenada / EM METHODO BREVE, FACIL, E
CLARO, / offererecida / a / SUA ALTEZA REAL / o serenissimo senhor / DOM ANTONIO, / PRINCIPE DA BEIRA. // LISBOA, / NA REGIA OFFICINA TYPOGRAFICA. / Anno m. dcc. xcix. / Com licença da Meza do Desembargo do Paço” (Figueiredo 1799: [1]).
“ARTE / da / GRAMMATICA PORTUGUEZA, / ordenada / EM METHODO BREVE, FACIL, E CLARO, / offererecida / a / SUA ALTEZA REAL / o serenissimo senhor / DOM ANTONIO, / PRINCIPE DA BEIRA. / segunda impressão / para uso do Real Collegio dos Nobres. //
LISBOA, / NA IMPRESSÃO REGIA. / Anno m. dccciv. / Por ordem Superior” (Figueiredo 1804: [1]).
“ARTE / da / GRAMMATICA PORTUGUEZA, / ordenada / EM METHODO BREVE, FACIL, E CLARO, / offererecida / a / SUA ALTEZA REAL / o serenissimo senhor / DOM ANTONIO, / PRINCIPE DA BEIRA. / Terceira Edicção para uso do Collegio Real de Nobres / e do Seminario do Patriarchado. // LISBOA, / NA IMPRESSÃO REGIA. / Anno m. dccc. xi. / Com licença (Figueiredo 1811: [1]).
ARTE / da / GRAMMATICA PORTUGUEZA, / em methodo / BREVE, FACIL, E CLARO /
REFORMADA NESTA QUARTA EDIÇÃO / para uso / DO COLLEGIO REAL DE NOBRES, / e do / REAL SEMINARIO DO PATRIARCHADO, / por / PEDRO JOSÉ DE FIGUEIREDO, / Socio da Academia das Sciencias de Lisboa. // LISBOA: / NA IMPRESSÃO REGIA. Anno 1827. / Com Licença. / Vende-se em Casa da Viuva Bertrand, e Filhos, junto á Igreja / de Nossa Senhora dos Martyres, N.o 45 (Figueiredo 1827:[1]).
ARTE / da / GRAMMATICA PORTUGUEZA, / em methodo / BREVE, FACIL, E CLARO / REFORMADA NESTA QUARTA EDIÇÃO / para uso / DO COLLEGIO REAL DE NOBRES, / e do / REAL SEMINARIO DO PATRIARCHADO, / por / PEDRO JOSÉ DE FIGUEIREDO, /
Socio da Academia das Sciencias de Lisboa. // LISBOA: / NA IMPRENSA NACIONAL. / 1837. / Vende-se em Casa da Viuva Bertrand e Filhos, junto á Igreja / de Nossa Senhora dos Martyres, N.o 45 (Figueiredo 1837: [1]).
72 Sónia Duarte
respetivos órgãos censórios12
, à introdução de modificações13
, destinatários14
e referências teóricas
15. São igualmente identificáveis lições divergentes em
resultado de opções ortográficas, de opções de redação e de gralhas. Tanto num
como noutro caso, contudo, são questões que, pela sua especificidade e pela sua
dimensão, mereciam visibilidade e enquadramento noutro lugar, como seja o de um estudo no domínio da teoria ortográfica ou mesmo de uma edição crítica do
texto em estudo – trabalho este que se encontra ainda por fazer.
No que concerne especificamente à teoria gramatical em sentido estrito, as divergências indiciam-se, num primeiro plano, a partir da forma como as edições
diferem em termos de estrutura, embora parte dessas diferenças também revelem
opções metodológicas distintas no que toca à didatização da teoria gramatical. Estas últimas, por constituírem matéria que escapa ao escopo definido para o
presente estudo, também não terão aqui desenvolvimento16
. Quanto às restantes
divergências, procurando reconstituir um índice a partir das diferentes partes da
obra e dos capítulos que as integram ou observando o índice analítico final, as opções de organização da informação permitem aferir sintonias ou desacordos
teóricos, de edição para edição. Reservar-se-á, contudo, o desenvolvimento
destes assuntos para mais adiante, já que a eles se dedicará espaço próprio seguidamente, organizando os resultados do cotejo de acordo com a própria
estruturação da obra: i) definição de gramática e consideração das suas partes;
ii) as partes da oração; iii) prosódia; iv) sintaxe.
2.1. A gramática e as suas partes
Contrastando as definições de gramática nas diferentes edições, registam-se
diferenças significativas entre as três primeiras e as duas últimas.
Grammatica he a Arte de fallar, e escrever bem, ou correctamente (Figueiredo 1811: 5). Grammatica (a) é a arte de fallar, e escrever correctamente segundo o uso recebido (Figueiredo 1827: 5).
No caso das três primeiras edições, a informação da autoria é, contudo, expressa na dedicatória,
assinada por Pedro José de Figueiredo. 12 Como se pode comprovar nas passagens transcritas na nota anterior, observando as diferenças a este respeito entre as quatro primeiras edições e a ausência, na quinta edição, de qualquer indicação deste teor. 13 Com efeito, a partir da edição de 1827, figura no frontispício da obra a indicação de “reformada”. 14 A partir de 1811, é fornecida igualmente na folha de rosto a indicação de que a obra é concebida para o uso também do Seminário do Patriarcado, além do Colégio Real de Nobres, já indicado nas edições anteriores. 15 Apenas nas duas últimas edições aparece uma citação da Minerva, de Francisco Sánchez de las Brozas, transcrita em epígrafe, numa página entre a folha de rosto e a dedicatória. 16 Sucintamente, nas duas últimas edições, observa-se um maior investimento na informação em
nota, o qual passa tanto pela ampliação da mesma (em qualidade e número) como pela sua diferenciação entre notas de rodapé (estritamente informação bibliográfica e remissão para notas de fim) e notas de fim (desenvolvimento teórico).
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 73
Tais diferenças residem fundamentalmente na ênfase dada, na quarta e quinta edições, ao valor do uso
17 e na nota final com que, nas mesmas edições,
tal definição é complementada18
. Nessa nota, desenvolve-se a explicação do
conceito de gramática, sublinhando a sua aplicabilidade também à oralidade, e
introduz-se informação acerca da etimologia da palavra e sobre a teorização acerca deste conceito, quer na tradição clássica quer coeva.
Outro aspeto que separa as edições é o facto de apenas nas duas últimas se
fazer referência às partes da gramática, conforme também já pôs em evidência Moura (2012: 187) e como se expõe seguidamente.
As palavras ou se consideram soltas, isto é, cada uma por si; ou ligadas, e reunidas no contexto da oração [...].
Daqui vem as quatro partes, em que se divide a Grammatica: Orthografia, Prosodia, Etymologia, e Syntaxe (b) (Figueiredo 1827: 5).
Nas duas edições finais, justifica-se ainda em nota19
a opção tomada em
termos da ordem no tratamento das referidas partes, pela prevalência da “ordem da doutrina” (o exemplo e autoridade da tradição gramaticográfica anterior) em
detrimento da “ordem natural” (ordem lógica). Pela mesma razão, como justifica
também na mesma nota, Figueiredo exclui da sua obra o tratamento da
ortografia. Na sua conceção quadripartida de gramática, destaca-se igualmente, a opção pela designação etimologia. Como explica Schäfer-Prieß (no prelo: 4.2.3),
se bem que na tradição clássica este conceito está associado à origem das
palavras, a partir da Idade Média, a noção de etimologia vem a assumir entre alguns gramáticos um sentido próximo ao que tem atualmente o termo
morfologia20
, embora outros gramáticos preferissem a expressão analogia.
A opção de Figueiredo é partilhada, como esclarece Schäfer-Prieß (no prelo:
4.2.3), por destacados gramáticos coevos, como José António dos Reis Lobato e
17 Neste aspeto, Moura (2012: 187) identifica semelhanças com a definição de César Dumarsais: “[...] la Grammaire est l’art qui apprend les réfléxions que l’on a faites sur les mots & sur les façons de parler d’une langue pour parvenir à la parler et à l’écrire corectement, c’est-à-dire, selon l’usage reçu” (Dumarsais 1731: 6). 18 “Grammatica é vocabulo latino de origem grega da voz γρὰμμα, que quer dizer letra, como significando arte, que tèm por fundamento as letras de que se formam as palavras, que esta arte tem como materia propria de suas indagações. Não só compréhende o escrever bem, senão tambem o bem fallar, como disse Quintiliano liv. I. cap. 5. Começou rude, e imperfeita como todas
as artes. Nestes ultimos tempos acha-se muito aperfeiçoada pela mediante applicação com que se tem dado a seu estudo muitos de conhecida erudição» (Figueiredo 1827: 115, n. 1). 19 “Ainda que seja a ordem natural das partes da Grammatica, a que seguimos, de orthografia, prozodia, etymologia, e syntaxe, porque primeiro está tratar das letras, depois das syllabas, em terceiro lugar das palavras, e ultimamente da oração, contudo grammaticos mui doutos, seguindo com razão a ordem da doutrina, tratam em primeiro lugar da etymologia, depois da prozodia, e ultimamente da syntaxe: e omittem de ordinario em seus compendios a orthografia: e assim o pratiquei tambem a exemplo delles” (Figueiredo 1827: 115, n.2). 20 Como referência adota-se aqui a definição disponibilizada na edição em linha de Xavier & Mateus (1990-1992): “disciplina da linguística que descreve e analisa a estrutura interna das palavras e os mecanismos de formação de palavras”.
74 Sónia Duarte
Jerónimo Soares Barbosa, não obstante, nestes últimos, como adverte a mesma investigadora (Schäfer-Prieß no prelo: 4.2.3), o conceito em questão esteja mais
associado ao de partes do discurso (designadas como “espécies de palavra”21
)
que ao de voz ou palavra, como se observa em Figueiredo:
A Etymologia é a parte da Grammatica, que ensina a conhecer e distinguir entre si as diversas vozes ou palavras da oração (Figueiredo 1827: 6).
2.2. As partes da oração
Na linha da tradição gramatical racionalista inspirada em Sánchez de las
Brozas – a quem Figueiredo apresenta como modelo nas duas últimas edições (Duarte 2012
b) – o autor do texto em estudo sustenta - com pequenas variações
de formulação entre as três primeiras e as duas últimas edições - uma mesma
proposta de divisão das partes do discurso, que apenas difere do esquema triádico sanctiano pela adição do artigo, inexistente na língua latina.
Pedro José de Figueiredo
As partes da Oração Portugueza são quatro: Artigo, Nome, Verbo, e Particula (1811: 5).
As vozes ou palavras de que se compõe a oração portugueza, são quatro: Articulo, Nome, Verbo e Particula (1827: 6).
Sánchez de las Brozas
Pues bien, puesto que el objetivo del gramático es la oración, veamos de qué consta la oración, de manera que no haya entre ello nada que no pueda estar en la oración. Son tres las cosas: nombre, verbo y partícula (1995[1587]: I, 2).
Quadro 2: As partes da oração.
Apesar da divisão quadripartida, a estrutura da obra denuncia uma conceção
ternária, como se pode concluir do facto de artigo e nome integrarem, em todas
as edições, a mesma parte do livro relativo à etimologia, sendo que às restantes categorias (verbo e partículas) correspondem diferentes partes do mesmo (parte
II e III respetivamente). Seja como for, como também se expôs já em Duarte
(2012b: 301) no que concerne às suas fontes e considerando a informação
21 É o que se conclui da leitura das seguintes passagens:
“A Etimologia, que ensina as especies de palavras, que entrão na composição de que qualquer Oração, e analogia de suas variações e propriedades geraes” (Barbosa 1822: 1).
“A Etymologia, de que havemos de tratar em primeiro lugar, (a) he a parte da Grammatica, que ensina as diversas especies de palavras, que entrão na oração portugueza, e as suas propriedades.
(a) Sem embargo de ser a Etymologia a terceira parte da Grammatica, commummente os Grammaticos della tratão em primeiro lugar, por dar a noticia da diversidade, e propriedades das palavras, que entrão na oração, cuja sciencia, he necessaria para se entender bem a Orthografia e Prosodia” (Lobato 1825[1770]: 2; 2, n. a).
Apesar de se ter consultado uma das edições da Arte de Lobato mais próxima da terceira
edição da de Figueiredo, tal definição e advertência remontam já à primeira edição, datada de 1770. Observe-se ainda, na terceira destas passagens, a semelhança entre Lobato e Figueiredo no tocante à justificação da ordem escolhida para tratamento das partes da Gramática.
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 75
recolhida por Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.2.2.2.) a respeito de propostas tripartidas de gramáticos portugueses que antecederam Figueiredo, é possível
que este se tenha baseado na tradição portuguesa precedente e não diretamente
no Brocense. Seguidamente, tratar-se-ão as diferenças entre edições no âmbito
das diferentes partes da oração, organizando-as a partir da proposta de Figueiredo.
2.2.1. Artigo Quando cotejadas as definições do artigo nas diferentes edições, destacam-
se dois aspetos: i) a oposição entre a noção de caso (presente nas três primeiras
edições) e a de relação (nas duas últimas), sendo que desta matéria se tratará mais adiante no âmbito da sintaxe; ii) o desaparecimento do critério semântico
nas edições de 1827 e 1837, para se manter apenas o critério sintático-
-colocacional e funcional.
Artigo he uma voz, que nada significa, mas precede ao Nome, e serve para denotar o genero, o caso, e o numero do mesmo Nome (Figueiredo 1804: 6)22
Artigo he huma voz, que nada significa determinadamente, mas precede ao Nome, e
serve para denotar o genero, o caso, e o numero do mesmo Nome (Figueiredo 1811: 6)23. Articulo é a voz, ou a parte da oração, que precede ao Nome como signal, ou distinctivo
de suas propriedades,[sic] As propriedades do Nome são tres: Genero, Numero, e Relação (Figueiredo 1827: 6).
A evolução verificada não se processa, contudo, de acordo com o que
Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.3.5) identifica como sendo a tendência evolutiva
geral no corpus de gramáticas por si estudado:
um inequívoco desenvolvimento a partir do critério morfológico 2-m-fle («serve para a flexão do substantivo») e sintagmático 2-pos («está antes do substantivo») até chegar ao critério semântico 2-s-rel («modifica o significado do substantivo») o que, por sua vez, se pode fazer derivar de uma mudança dos texto-modelo de tradição latina para a Grammaire
Générale (cf. Schäfer 1993a: 66, 69).
Finalmente, as edições divergem ainda no facto de, nas notas finais das duas últimas edições (Figueiredo 1827: 116-118 n. 3, n 4), se dar conta de aspetos da
teoria de Figueiredo sobre o artigo que foram objeto de censura por Barbosa:
nomeadamente, a consideração das formas de, do(s), da(s) como artigo e, intimamente ligada à mesma, a noção do papel do artigo como indicador das
propriedades do nome, especialmente no que concerne à sua variação de acordo
com a função sintática assumida. Tal matéria não será, contudo, desenvolvida aqui, pois dela já se tratou com detalhe noutro lugar (Duarte 2010 e 2012
a).
22 Todos os negritos em citações são meus. 23 É de registar que, nas edições anteriores, esta ideia de determinação aplicada ao artigo só aparece no contexto da distinção entre definido e indefinido.
76 Sónia Duarte
2.2.2. Nome Na definição desta categoria gramatical, as edições de 1827 e 1837
diferenciam-se das três anteriores pela tónica no papel oracional do nome, o que
parece mais acorde com o acrescido valor da sintaxe na teoria gramatical dos
séculos XVIII e XIX. Essa orientação é identificável quer na alusão explícita ao contexto oracional, quer na correspondência com a função sintática de sujeito.
O nome he a palavra, com que significamos alguma cousa, ou a sua qualidade, como:
Homem, Prudente (Figueiredo 1804: 6). O Nome é a voz, ou a palavra, com que na oração, designamos o sujeito, ou a sua
qualidade, como: homem, prudente (Figueiredo 1827: 7).
Como foi já apontado por Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.3.1) e por Assunção
(2004: 39), Figueiredo segue a divisão entre nome adjetivo e nome substantivo proposta por Lobato – embora com antecedentes na tradição gramatical
portuguesa desde a Grammatica da Lingua Portuguesa de João de Barros
(Lisboa 1540), como refere Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.3.1). No quadro da
descrição da primeira das duas espécies de nomes referidas, registam-se igualmente diferenças entre as edições, que passam, sobretudo, pela ampliação,
em nota final nas duas últimas, da informação sobre as fontes e da reafirmação
da rejeição da declinação em português, que, como já foi dito, carateriza estas mesmas edições
24.
Também no que toca à formação do plural, observa-se uma mudança de
perspetiva quanto ao conceito de declinação: enquanto nas três primeiras edições, a exposição se organiza primeiramente em função da declinação a que
pertencem os nomes, nas duas últimas edições, a estruturação do texto é feita
exclusivamente em função da terminação daqueles. Além disso, nestas mesmas
edições (Figueiredo 1827: 118-119, n. 19), são ampliadas as fontes de Figueiredo para os casos terminados na grafia <-ão>, abrangendo para além da
ortografia de Duarte Nunes de Leão (Orthographia da lingoa portuguesa,
Lisboa 1536), as de Álvaro Ferreira de Vera (Ortographia ou arte para escrever certo na lingua portuguesa, Lisboa 1631) e a de João Franco Barreto
(Ortografia da Lingua Portugueza, Lisboa 1671). Observa-se ainda ao longo das
edições um investimento progressivo na informação sobre os modelos de Figueiredo para o caso concreto do plural da palavra mel (Figueiredo 1804: 10,
n. 4; 1811: 10, n. 4; 1827: 120, n. 11).
24 “A divizão dos nomes pelas letras, em que acabam, para distinguir as suas differentes relações, é de Barros em sua grammatica pag. 102; adopteia-a até com os mesmos paradigmas, não por admittir declinação nos nomes, como os gregos, e latinos, porque todos sem nenhuma mudança são em cada numero iguaes entre si, tirada a differença de singular a plural, mas por acabarem
unicamente todos nestas letras, como trazem em suas orthografias Leão pag. 35, Vera pag. 27 R e 43, Pereira pag. 21, e Barreto cap. 47, pag. 189, e julgar, que ficariam por este modo com maior clareza as regras de formação dos pluraes” (Figueiredo 1827: 118, n.5).
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 77
No tocante à descrição do nome adjetivo, destaca-se apenas o facto de as três primeiras edições apresentarem paradigmas de declinação que desaparecem
nas de 1837 e 1827, bem como o facto de que os exemplos e modelos teóricos a
respeito da formação do superlativo se vão ampliando ao longo do percurso
editorial da obra em estudo25
. Estando a teoria pronominal incluída na parte que respeita aos nomes
adjetivos, é de registar ainda algumas divergências editoriais no domínio
específico dos pronomes. Uma dessas diferenças concerne à classificação, observando-se que, no corpo do texto, a subcategoria dos pronomes possessivos
só aparece nas três primeiras edições, conforme é observável abaixo, no quadro
3. Contudo, as edições de 1827 e 1837 revelam incoerência entre o exposto a este respeito no corpo do texto e o disposto no índice final, onde os pronomes
possessivos figuram juntamente com os restantes. Parece provável que se trate
de um erro de edição, no entanto, uma vez que, ao contrário do que sucede com
as restantes classes de pronomes, em nenhuma edição se dá tratamento específico dos pronomes demonstrativos no resto desta secção, a dificuldade está
em determinar se tal corresponderá a erro de adição no índice a partir de cópia
de edição anterior ou de um erro por omissão no corpo do texto.
“Divide-se o Pronome em Demonstrativo, Reciproco, Possessivo, Relativo, e Interrogativo” (Figueiredo 1804: 15).
“Divide-se o Pronome em demonstrativo, reciproco, relativo, e interrogativo” (Figueiredo 1827: 14).
(Figueiredo 1804: [114])
(Figueiredo 1827: [110])
Quadro 3: Pronomes.
25 Com efeito, a partir da terceira edição, ampliam-se exemplos das exceções à regra geral para os superlativos terminados em <o> e <e> (Figueiredo 1804: 13; 1811: 13; 1827: 12-13). De resto, nas duas últimas edições (Figueiredo 1827: 121, n. 13), acrescenta-se uma nota sobre a introdução do superlativo em português, remetendo-se para Sá de Miranda como primeiro utilizador. Para além
de haver mais notas sobre o superlativo nas duas últimas edições (sete, versus cinco, nas três primeiras), as que são partilhadas entre edições são consideravelmente ampliadas nas de 1827 e 1837.
78 Sónia Duarte
Para além da situação anteriormente referida, as edições diferem ainda no grau de aprofundamento da reflexão sobre as tipologias propostas e em algumas
formas dos paradigmas. Com efeito, diferem na informação prestada sobre as
formas neutras, sendo que esta, a partir da terceira edição, é ampliada, com
ligeiras diferenças, por uma reflexão sobre a natureza categorial destas formas.
Comtudo, como no Portuguez da mesma sorte que nas outras linguas vulgares não ha nomes neutros, tomam se sempre estas terceiras formas substantivadamente (Figueiredo 1811: 16, n. 11).
Como no Portuguez da mesma sorte que nas outras linguas vulgares não ha nomes neutros, com quem elles hajam de concordar, alguns entendem estas terceiras formas como substantivos particulares, a que se podem unir adjetivos, que tem só genero masculino, e carecem de plural (Figueiredo 1827: 125, n. 20).
No caso dos demonstrativos, apenas nas duas últimas edições é feita
referência à ambivalência categorial das suas formas compostas.
Algumas vezes não são estes rigorozos pronomes, mas usam-se como adjectivos,
acompanhando, e modificando os mesmos nomes, que por si só podiam significar (Figueiredo 1827: 15).
Observam-se ainda diferenças entre as três primeiras e as duas últimas
edições nos paradigmas dos demonstrativos (e recíprocos), nas formas do caso
acusativo / relação de paciente (Figueiredo 1804: 15-16; 1827: 14-15), bem
como divergências no tocante aos pronomes relativos, pela referência nas três primeiras edições (Figueiredo 1799: 17) à declinação de qualquer, quemquer,
inexistente nas de 1827 e 1837.
As edições diferem ainda na exposição acerca do género dos nomes. Para além de variações na terminologia usada para referir-se ao que hoje designamos
como epicenos26
e do acréscimo de informação resultante da revisão e aumento
das últimas edições27
, destacam-se outras situações. Uma dessas situações
corresponde, como se ilustra nas passagens transcritas no quadro 4, ao recurso a tipologias diferentes de acento no âmbito do reconhecimento do género:
enquanto, nas primeiras edições, há opção pelo acento de quantidade, nas
últimas, recorre-se ao de intensidade. Outra questão a salientar é o facto de que, enquanto as três primeiras
edições, recorrem à noção de declinação articulada com a de terminação, as
duas últimas omitem a primeira, recorrendo em seu lugar à classificação dos sons e letras, como é visível nos fragmentos do índice geral reproduzidos no
quadro 4.
26 Opção pelo termo promíscuos nas três primeiras edições (Figueiredo 1799: 19) em lugar de epicenos (Figueiredo 1827: 18). 27 Tal é feito, sobretudo, através das notas complementares, como é observável pelo cotejo do texto das primeiras edições (Figueiredo 1804: 19, n. 1; 20, n. 2, n. 3; 21, n. 4) com o das últimas (Figueiredo 1811: 19, n. 1; 20, n. 2, n. 5; Figueiredo 1827: 125, n. 21 e n. 22, n. 23; 126, n. 24).
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 79
“[São femininos] os Nomes que tem no final ice com a penultima longa, como; Velhice, Sandice, e os que acabam em é longo, assimcomo: Galé, Polé, Maré, com os monosyllabos Fé, Sé [...]” (Figueiredo 1804: 20).
“[São femininos] os que tem no final ice com a penultima aguda, como; velhice, sandice, e os que acabam em é agudo, assimcomo: galé, polé, maré, com os monosyllabos fé, cré, sé [...]” (Figueiredo 1827: 18).
(Figueiredo 1804: [114]).
(Figueiredo 1827: [110]).
Quadro 4: Género dos nomes.
Tanto a opção de acentuação como a que é feita no quadro das noções de
declinação/terminação parecem relacionar-se com um contexto teórico de
rejeição da aplicação às línguas vulgares de conceitos próprios da tradição de
descrição do latim, o qual, na obra de Figueiredo, como se aponta ao longo deste estudo, se acentua das primeiras para as últimas edições.
2.2.3. Verbo Como se pode constatar nas passagens seguidamente transcritas, as edições
da obra em estudo não coincidem nos critérios que suportam a definição desta
categoria.
Verbo he a voz, com que na Oração significamos acção, affirmando uma cousa de outra; não se declina por casos, como o Nome, mas conjuga se por Modos, Tempos, e Pessoas (Figueiredo 1804: 23).
Verbo he a voz, com que na oração significamos acção, que alguem pratica, ou recebe
(Figueiredo 1827: 21).
Se bem que todas revelam a presença do critério semântico, apenas nas três primeiras este remete cumulativamente para os conceitos de ação e afirmação e
apenas nessas, igualmente, está presente o critério formal (flexão). Sendo que
ambos os critérios anteriormente referidos caraterizam a definição de verbo na tradição gramatical de tendência descritivo-normativa que precede esta obra
(Schäfer-Prieß no prelo 4.5.3.6. 1.), observa-se, por outro lado, que apenas na
quarta e quinta edições a definição apresentada comporta uma alusão aos papéis
80 Sónia Duarte
lógico-sintáticos do verbo, o que, inversamente, aponta para a sua sintonia com a tendência racionalista, para a qual se reorienta a gramaticografia europeia a
partir da Grammaire Générale et Raisonnée (GGR) de Antoine Arnauld e
Claude Lancelot (Paris 1660), pese embora o abandono da noção de afirmação,
igualmente cara aos autores de Port-Royal28
, como observa Schäfer-Prieß (no prelo 4.5.3.6.1.). Se bem que, como põe de manifesto a mesma investigadora
(Schäfer-Prieß no prelo 4.5.3.6.1.), Figueiredo é dos poucos gramáticos
portugueses a incluir ainda o critério morfológico posteriormente ao termo do primeiro quartel do século XVIII
29, por outro lado, segundo a mesma autora, é
neste ponto seguidor do modelo da GGR, sendo o primeiro a oferecer uma
definição claramente assente na componente semântica e lógica, que é a que, a partir de finais do século XVIII, impera na teoria verbal europeia.
Relativamente ao plano da tipologia verbal, também nesta se observam
divergências assinaláveis, indiciadas no seguinte quadro:
(Figueiredo 1804: [115])
(Figueiredo 1811: [117])
(Figueiredo 1827: [111])) Quadro 5: O verbo - classificação.
Considerando a classificação assente no género dos verbos, todas as edições
dividem primeiramente esta categoria em ativos e passivos, no que, como já se apontou noutro lugar (Duarte 2012
b: 301-302), poderá ver-se certa aproximação
à doutrina do Brocense, para quem apenas existem estas duas subclasses30
,
28 “Et c’est proprement ce que c'est le verbe, un mot dont le principal usage est de signifier l'affirmation: c'est à dire, de marquer que le discours où ce mot est employé, est le discours d'un homme qui ne conçoit pas seulemẽt les choses, mais qui en juge & qui les affirme (Arnauld &
Lancelot 1660: 90). 29 Para além da obra de Figueiredo, a investigadora apenas identifica o caso da Gramática filosófica, e ortografia racional da língua portuguesa de Bernardo de Lima e Melo Bacelar (Lisboa 1783) e o do Breve compendio da gramática portuguesa, publicado anonimamente (Lisboa 1786), mas cuja autoria Kemmler / Assunção / Fernandes (2010) e Kemmler (2011) atribuem a Francisca de Chantal Álvares. 30 “Todos los verbos son activos o pasivos; no existen los neutros y comunes, ni las especies inventadas por gramáticos” (Sánchez de las Brozas 1995[1587]: III, 2). Tal, contudo, não significa
necessariamente que a referência teórica de Figueiredo seja o próprio Brocense, já que, como adverte Ponce de León (2005: 450, 458-461; 2006: 159-160), a teoria sanctiana teve uma importante repercussão nas artes latino-portuguesas dos séculos XVII e XVIII, da qual Ponce de
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 81
negando a tradicional divisão em ativo e passivo, neutro, comum e depoente, que remonta a Prisciano (Moura 2012: 293) e é observável na tradição portuguesa
desde João de Barros, como indica Schäfer-Prieß (4.5.3.6.1.). Contudo, as
diferenças entre edições relativizam essa aproximação ao Brocense, na medida em que respeitam precisamente à expansão dessa primeira bipartição (em ativo e
passivo) e, mais concretamente, à forma como se concebem as subespécies do
verbo ativo. Como é visível acima, no quadro 5, enquanto que, nas três primeiras
edições, o transitivo – e, em 1811, também o intransitivo – estão entre as restantes subclasses do verbo ativo, nas duas últimas, formam um segundo nível
dessa tipologia, o qual, por sua vez, deriva num terceiro nível, pela subdivisão
do verbo transitivo em recíproco e reflexivo. Na quarta e quinta edições, destaca-se ainda o desaparecimento da subcategoria do verbo neutro, apontando,
para mais um traço de coincidência com o Brocense, como evidencia a passagem
da Minerva já citada (Sánchez de las Brozas 1995[1587]: III, 2) e como já foi
comentado em Duarte (2012: 302). Tal categoria figura nas três primeiras edições coincidindo com a do verbo intransitivo, mas, ao contrário da edição de
1811, em que essa identificação também está expressa no Índice Geral, nas duas
primeiras, tal apenas é visível no corpo do texto.
Verbo Neutro, ou Intransitivo, he o que manifesta a acção simplesmente, sem haver pessoa, ou cousa, em quem recaia fóra do sujeito, que a faz, assimcomo: Durmo, Folgo, Rio, Desmaio, Adoeço, pois a significação destes Verbos não sahe fóra de si, nem recahe, ou se emprega em cousa differente (Figueiredo 1804: 23).
[...] Os verbos Neutros, ou Intransitivos carecem todos da voz Passiva [...] (Figueiredo 1804: 85). No seu conjunto, é possível que as divergências entre edições no sentido da
pulverização e redução da tradicional tipologia procurem certa harmonização da
proposta da tradição gramaticográfica de cunho descritivo-normativo com a de inspiração sanctiana.
Considerando a classificação em função das propriedades do verbo,
é comum a todas as edições a divisão em verbo substantivo e verbo adjetivo. As divergências editoriais não residem, portanto, nas subespécies propostas, mas
León oferece como exemplo, em termos de teoria verbal, a proposta bipartida de Amaro de Roboredo (Methodo grammatical para todas as línguas, Lisboa, 1619) ou a insistência nas categorias de ativo, passivo e neutro presente no Novo methodo de grammatica latina para uso das escholas da Congregação do Oratorio de António Pereira Figueiredo (Lisboa, 1752) e na Gramatica Latina (Barcelona, 1758) de Luis António Verney. Entre os textos gramaticográficos do português publicados no século XVIII, aparece já claramente na Arte da grammatica da lingua portugueza de António José dos Reis Lobato (Lisboa, 1770) e em João Joaquim Casimiro (Método
gramatical resumido da língua portuguesa, Porto, 1792), como expõe Moura (2011: 621) e ainda, como refere Ponce de León (2006: 160-161), nas Proluzões (Lisboa, 1794) de João Pinheiro Freire da Cunha.
82 Sónia Duarte
sim na descrição das mesmas31
, no tratamento das propriedades verbais32
e no desenvolvimento da sua explicação
33.
Outro dos pontos em que há a registar divergências editoriais diz respeito
aos paradigmas verbais. Entre elas, sobressai a ampliação dos tempos34
através
de formas compostas, o que, por um lado, corresponde ao desdobramento dos paradigmas das três primeiras edições
35. É, a título de exemplo, o caso das
formas de pretérito do indicativo, aqui ilustrada com o verbo ser:
31 É o caso (i) dos conceitos associados ao verbo substantivo e (ii) da informação sobre
correspondência dos verbos auxiliares na língua latina, que diferem das três primeiras para as duas últimas edições.
(i) “O Verbo Passivo ou he Substantivo, ou Adjetivo. O Primeiro significa substancia, e leva em si significação Passiva, e sómente he o Verbo Ser [...]” (Figueiredo 1811: 24). “O passivo ou é substantivo, ou adjetivo. O primeiro significa ser, ou existencia do sugeito, e leva em si significação passiva, e sómente é o verbo Ser [...]” (Figueiredo 1827: 22).
(ii) “[...]Verbo Haver Activo, e significa Ter, Possuir, Alcançar [...]” (Figueiredo 1811: 25, n. 1). “[...] o verbo haver activo, que corresponde ao verbo habeo latino, que significa ter, possuir, alcançar [...]” (Figueiredo 1827: 127, n.27).
As edições diferem ainda em que, nas três primeiras, na aceção impessoal de haver, não se inclui, juntamente com a noção de existir, a ideia de permanecer, como ocorre em 1827 e 1837. Nas três primeiras edições, inclui-se, em seu lugar, a de ser.
“[...] e o terceiro he o Verbo Haver Impessoal, que significa Ser, ou Existir [...]” (Figueiredo 1811: 25, n. 1).
“[...] e o terceiro o verbo haver impessoal, que significa permanecer, existir [...]” (Figueiredo 1827: 127, n.27).
32 Essas propriedades são três, nas três primeiras edições (Figueiredo 1799: 24): modo, tempo e
pessoa; e quatro, nas duas últimas (Figueiredo 1827: 22): modo, tempo, número e forma. No fundo, o conceito de pessoa, que figura nas edições de 1799, 1804 e 1811, desdobra-se, nas posteriores, nos de número e forma.
“Chamamos propriedades no Verbo as suas differentes fórmas, que seguem nos Modos, Tempos, e Pessoas; e neste sentido se divide o Verbo em Regular, e em Irregular” (Figueiredo 1811: 24).
“Dão-se no verbo quatro propriedades: modo, tempo, numero, e forma. [...] Emquanto a estas propriedades divide-se o verbo em regular, e irregular” (Figueiredo 1827: 22).
A primeira proposta coincide com a de Lobato e Casimiro, como advertem Fontes (2006: 139) e Moura (2011: 624). 33 Apenas em 1827 e 1837 se descreve em que consiste cada uma dessas propriedades (Figueiredo 1827: 22; 148: n. 2). 34 Para além das diferenças no conteúdo, são também observáveis diferenças na designação dos tempos verbais: i) “Participio do Preterito Passivo” e “Participio da Passiva”, nas primeiras edições, versus “participio passivo” ou “participio”, nas duas últimas; ii) “infinito”, nas três primeiras edições, versus “infinitivo”, nas duas últimas; “mais que perfeito” nas três primeiras,
versus “pluscuamperfeito”, nas duas últimas. 35 Embora Lobato também inclua tempos compostos no seus paradigmas (Lobato 1825[1770]: 61-142), esses tempos em concreto não coincidem num e noutro gramático.
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 83
(Figueiredo 1811: 26)
(Figueiredo 1827: 24)
Quadro 6: Formas compostas – paradigmas.
Como demonstra o quadro 7 – com destaque para as formas em negrito –,
tal ampliação respeita aos seguintes casos: pretérito perfeito composto, pretérito
mais-que-perfeito composto e futuro primeiro composto (em ambos os casos,
tanto no indicativo como no conjuntivo) e gerúndio composto.
1799, 1804 e 1811 1827, 1837 Modo Indicativo
Tempo Presente Preterito Imperfeito Preterito Perfeito
Preterito mais que Perfeito Futuro Primeiro Futuro Segundo
Modo Imperativo
Presente
Modo Conjunctivo Tempo Presente Preterito Imperfeito Preterito Perfeito Preterito mais que perfeito Futuro Primeiro
Futuro Segundo
Indicativo Prezente Pretérito Imperfeito Pretérito Perfeito
Pretérito Perfeito composto Pretérito Plusquamperfeito
Pretérito Plusquamperfeito composto Futuro Primeiro
Futuro Primeiro composto Futuro Segundo
Imperativo
Prezente
Conjunctivo Prezente Pretérito Imperfeito Pretérito Perfeito
Pretérito Perfeito composto Pretérito plusquamperfeito
Pretérito plusquamperfeito composto Futuro Primeiro
Futuro Primeiro composto Futuro Segundo
84 Sónia Duarte
Modo Infinitivo Tempo Presente, e Preterito Imperfeito Preterito Perfeito, e mais que Perfeito Futuro Gerundio Supino
Infinitivo Prezente, e Pretérito imperfeito Pretérito Perfeito, e plusquamperfeito Futuro Gerundio
Gerundio composto Supino
Quadro 7: Paradigmas verbais.
Outro dos aspetos a realçar nos paradigmas concerne aos verbos auxiliares. Em 1827 e 1837, regista-se a admissão de ter paralelamente a haver como
auxiliar de todos os tempos compostos, enquanto que, nas três primeiras edições,
isso acontece apenas no modo infinitivo36
. Convém ainda referir a existência de diferenças quanto à ampliação da informação sobre este tipo de verbos
37, apesar
de, na maioria, serem questões de maior pormenor.
No caso da formação da voz passiva, registam-se fundamentalmente duas diferenças entre as edições: i) manutenção das formas compostas do indicativo e
conjuntivo no pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro primeiro, e
do gerúndio nas três primeiras edições versus o seu total desaparecimento nas
subsequentes, como se deduz da observação dos paradigmas (Figueiredo 1811: 44-47; 1827: 49-52); ii) associação, nas três primeiras edições, da passiva reflexa
36 Os casos em que, nas três primeiras edições se admitem explicitamente os dois auxiliares (ter e haver) são os seguintes: modo infinitivo – pretérito perfeito e mais que perfeito, futuro e gerúndio. Figueiredo considera ainda que tanto haver como ter “ajudam a formar alguns tempos compostos, ou por circumloquio tanto na voz Activa, como na Passiva” (Figueiredo 1804: 25), o que leva a pensar que tem em mente outras situações além das indicadas. 37 Enquanto que, nas três primeiras edições (Figueiredo 1804: 25-34), os auxiliares são apenas identificados pela forma de infinitivo, no caso das duas últimas, são agrupados e identificados da
seguinte forma: auxiliar passivo (ser), auxiliares activos (haver e ter) (Figueiredo 1827: 23-35). Acresce ainda que, no caso do verbo ser, observa-se variação na grafia com que nas diferentes edições se regista a forma arcaica da terceira pessoa do plural do presente do indicativo: sam (Figueiredo 1804: 26, n. 2 ) vs. são (Figueiredo 1827, 127, n. 28). Note-se, contudo, que a variação <-am> / <-ão> não é uma das marcas distintivas entre os diferentes grupos de edições. Outra questão é ainda a ampliação desta nota das três primeiras para as duas últimas edições, pela alusão, a partir da de 1827, à forma de segunda pessoa do plural e do modo conjuntivo, bem como a indicação de fontes textuais e a especulação sobre o papel do espanhol no caso do conjuntivo. No
caso do verbo haver, regista-se a ampliação, nas duas últimas edições (Figueiredo 1827: 128, n. 29), da nota que já aparece nas edições anteriores sobre as duas formas de terceira pessoa plural do verbo em questão (Figueiredo 1804: 28, n. 3), pela inclusão de uma crítica e denúncia da prática corrente de não concordância destas formas com o singular e pela ampliação dos exemplos oferecidos na referida nota. Do mesmo modo, regista-se, nas três primeiras edições (Figueiredo 1804: 31), a não consideração do futuro do infinitivo no paradigma de haver (presente, por outro lado, nas duas últimas edições), embora esse tempo esteja contemplado nos demais verbos auxiliares e nos regulares. Por fim, a terceira edição reveste-se de algumas singularidades
relativamente às restantes, como seja o admitir, no caso do verbo ser, na terceira pessoa do singular, a variação ortográfica “He, ou É” (Figueiredo 1811: 28, n. 3) e proceder à ampliação dos compostos de ver, com precaver e prover (Figueiredo 1811: 64).
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 85
a sujeitos inanimados38
e associação da mesma, nas duas últimas, à negação do caráter reflexivo do pronome e à terceira pessoa do singular. Tal é o que se
conclui do confronto das seguintes passagens:
Além desta Passiva ordinaria feita com o Verbo Ser, e o Participio do Preterito, temos outra maneira de supprir a voz Passiva, principalmente quando se diz de cousas inanimadas, que se faz tomando as mesmas vozes da Activa e accrescentando a cada uma d’ ellas antes ou depois o Pronome pessoal Indefinido, Se, que perde então a natureza de Reciproco [...] (Figueiredo 1804: 47).
Além desta passiva ordinaria supprida com o auxiliar Ser, e o participio, temos outra maneira de formar a voz passiva, tomando as terceiras vozes do singular da activa, em qualquer dos tempos, e accrescentando a cada uma dellas antes ou depois o pronome pessoal indefinido, se, que perde então a natureza de reflexivo e reciproco [...] (Figueiredo 1827: 52).
Outra questão de teoria verbal sobre a qual divergem as edições respeita aos
verbos irregulares. Nas edições de 1827 e 1837, existe uma tentativa de reduzir a
irregularidade procurando a regra na sua descrição.
Ainda que os verbos irregulares, ou anomalos tenham em suas conjugações variedade, ou mudança, por não guardarem em parte a ordem dos antecedentes, admittem todavia em sua
irregularidade regra, para que todos hajam de seguir constantemente uns aos outros. Dá-se a irregularidade, ou na troca da figurativa, ou das iniciaes, ou das terminativas, ou de todas.
Donde se vê que uns verbos são rigorozamente irregulares, outros tem apenas leve mudança na ordem commum das conjugações regulares. Uns são irregulares da primeira conjugação, outros da segunda, outros da terceira (Figueiredo 1827: 53).
Os verbos que tem por figurativas c e g como Atacar, ficar, trocar, rogar, affagar, negar, etc, sem que por isso se reputem rigorozamente irregulares, tem mudança só nas vozes em que se lhe segue a letra e (Figueiredo 1827: 56).
Nas edições anteriores, não existem comentários deste teor; apenas é feita
referência, no fim de cada paradigma de verbo irregular, à afinidade com verbos da mesma conjugação, mas não se questiona o seu caráter irregular nem se
descrevem as transformações operadas39
. Até mesmo a forma como nas duas
38 Uma ideia que pode ter retomado de autores coevos, como Pedro José da Fonseca, que afirma que a ação do verbo passivo pode exprimir-se “pelo pronome se, ajuntando-se este ás terceiras pessoas dos verbos activos em qualquer dos dous números, sendo as taes terceiras pessoas de cousas inanimadas” (Fonseca 1799: 85). 39 Aliás nas três primeiras edições (Figueiredo 1804: 51-54), é apresentado um modelo próprio
para os verbos terminados em –car (ficar) e –gar (rogar), o que não acontece em 1827 e 1837 (Figueiredo 1827: 55-56), porque são reduzidas as diferenças e incorporados ao mesmo modelo (o de estar e dar). Da mesma forma, nas duas últimas edições, omitem-se os paradigmas de eleger e ler que deixam de ser perspetivados como paradigmas com caraterísticas próprias, embora, no termo dos paradigmas dos irregulares da segunda conjugação (Figueiredo 1827: 65), se mantenham as notas a este respeito que aparecem nas edições anteriores (Figueiredo 1804: 59 e 60). Nas duas últimas edições, acrescenta-se, contudo, o paradigma do verbo valer, embora juntando-o ao de querer. Como consequência, há ampliação das notas pela introdução de uma
outra nota respeitante ao primeiro dos verbos referidos anteriormente (Figueiredo 1827: 129, n. 31). Regista-se igualmente ampliação em nota (Figueiredo 1827: 129: 32) das fontes para determinadas formas do verbo querer. Nas duas últimas edições, desaparecem ainda os
86 Sónia Duarte
últimas edições se agrupam estes verbos num esquema de conjugação plural, em vez de os apresentar separadamente, como nas edições anteriores, parece
acentuar a consciência de que partilham os mesmos traços e de que existe nisso
certa regularidade. Tal aparenta ter significado doutrinal, já que, como expõe
García Folgado (2003: 59) a propósito da tradição espanhola, a procura da regularidade constitui uma preocupação herdada do racionalismo francês.
Para além de algumas diferenças isoladas e de maior pormenor no
concernente à formação dos tempos40
, como é visível no quadro 8, as edições diferem ainda num ponto do esquema ilustrado no índice final, embora
coincidam na exposição teórica a respeito da matéria em questão: a formação do
mais que perfeito do indicativo a partir do pretérito perfeito do indicativo ou do presente do infinito.
Do Preterito Perfeito do Indicativo formam se o Perfeito do Conjunctivo, os Preteritos mais que perfeitos, o Supino, e o Participio do Preterito na voz Passiva
(Figueiredo 1811: 84).
Do preterito perfeito do indicativo formam-se o perfeito do conjunctivo, os plusquamperfeitos, o supino, e o participio (Figueiredo 1827: 73).
(Figueiredo 1811: [117]).
(Figueiredo 1827: [111]).
Quadro 8: Formação do pretérito perfeito do indicativo.
paradigmas dos verbos subir, pedir, servir, no entanto, no final dos paradigmas apresentados, mantêm-se de certa forma as notas de edições anteriores relativas à sua especificidade e aos verbos análogos, com exceção de uma nota (Figueiredo 1804: 74, n.7), que revela ampliação da informação nas edições de 1827 e 1837. 40 Uma dessas situações é relativa a uma nota sobre a formação do supino (Figueiredo 1811: 92-93 n. 16) cuja explicação se amplia nas duas últimas edições (Figueiredo 1827: 138-139, n. 55). Outra
situação consiste em que as últimas edições (Figueiredo 1827: 47) distinguem os conceitos de letra figurativa, iniciais e terminativas, enquanto nas três primeiras apenas figura o primeiro desses conceitos (Figueiredo 1804: 42).
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 87
Considerando tanto a exposição teórica como o índice, conclui-se que é em 1827 e 1837 que não há sintonia entre a teoria exposta e o esquema final. Tal parece tratar-se de um erro de edição, já que não se identifica entre os
gramáticos portugueses coevos uma proposta idêntica de formação de tempos
verbais que sugira uma mudança de modelo gramaticográfico. Como esclarece Moura (2012: 432), a respeito dos autores por si estudados, as propostas dos
gramáticos setecentistas não coincidem com a de Figueiredo.
Para além de certas variações de maior pormenor na exposição acerca do supino e particípio
41, na definição do particípio, destacam-se, em primeiro lugar,
as diferenças quanto ao suporte na noção de caso, nas três primeiras edições
(Figueiredo 1804: 85) versus a de relação, nas duas últimas (Figueiredo 1827: 73), apontando, nestas, para uma atualização dos conceitos que auxiliam a
descrição linguística.
Em segundo lugar, nas três primeiras edições, salienta-se a insistência, na
consideração do particípio como nome adjetivo42
, enquanto que, nas edições subsequentes, é apresentado genericamente como parte da oração, sem que,
contudo, lhe seja reconhecida tal autonomia - como se viu anteriormente, quando
se enumeraram as partes da oração -, sendo tratado juntamente com o verbo43
.
Participio, como a sua mesma voz significa, he um Nome Adjectivo, que participa juntamente da natureza do Nome, e do Verbo; isto he, tira do Nome o genero, e o caso; e do Verbo, o tempo e a acção; mas he de ordinario incluido nas Conjugações (Figueiredo 1804: 85).
41 Pelo seu menor significado teórico, não se desenvolverão aqui as mesmas, remetendo, em seu lugar, para as passagens a elas relativas e procurando descrever em que consistem: i) diferenças na formulação da nota acerca da tradição de uso do supino pelo particípio (Figueiredo 1804: 84, n. 1; 1827: 132, n. 39); ii) diferenças (sobretudo no sentido da sua redução) nos verbos selecionados
para ilustrar a formação do particípio e supino (Figueiredo 1804: 87-90; 1827: 74-76); iii) ampliação dos modelos literários e outra informação sobre formas concretas de supino e particípio (Figueiredo 1804: 88, n.5, 89, n. 6; 89, n. 7, 90, n. 11, 91, n. 13, 91, n. 14 ; 1837: 136, n. 44, 136, n. 45, 137, n. 46, 137, n. 50, 138, n. 52); iv) ampliação dos exemplos sobre particípios com significação ativa e desenvolvimento sobre o papel dos auxiliares na distinção entre supino e particípio (Figueiredo 1804: 91-92; 1827: 78). 42 Segundo Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.3.7.), é o que fazem, na tradição precedente, Roboredo (1619) e Lobato (1770), mas apenas Roboredo se situa na linha do esquema ternário sanctiano,
porque Lobato considera o particípio como parte autónoma. Segundo Moura (2012: 452), os gramáticos do século XVIII dividem-se em dois grupos, consoante reconhecem ou não essa autonomia, e Lobato estaria, efetivamente, entre os que a reconhecem, contrariamente a Figueiredo, que, neste aspeto difere, além de Lobato, de todos os gramáticos constantes do corpus estudado por Moura (2012: 464). 43 Aliás, segundo Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.3.7.), “Figueiredo é o primeiro, fora do sistema ternário, a não o considerar como categoria própria de palavra”. A exclusão de Figueiredo do referido sistema, levada aqui a cabo pela investigadora e reforçada pela mesma noutro lugar
(Schäfer-Prieß no prelo: 4.5.2.2.2), deveria talvez ser relativizada, dado que, noutra passagem da obra citada e ainda em revisão (Schäfer-Prieß no prelo: 4.5.2.2.4.), designa expressamente a proposta de partes da oração de Figueiredo como um “sistema triádico”.
88 Sónia Duarte
Participio, como a sua mesma voz significa, é a parte da oração, que participa juntamente da natureza de nome, e de Verbo; isto é, tira do nome o genero, e relação; e do verbo, o tempo e a acção; mas é de ordinario incluido nas conjugações (Figueiredo 1827: 73).
Não se pode ter certezas quanto à intenção por detrás do texto, mas tal
evolução acaba por esbater a contradição de tratar o nome no capítulo relativo à teoria verbal, contradição essa da qual partilha, aliás, a gramática de Port-Royal,
como salienta Schäfer-Prieß (no prelo: 4.5.3.7.).
Por último, na linha do que já se referiu a respeito da tentativa de redução da irregularidade verbal, sobressai igualmente, nas duas últimas edições, um
apontamento de reforço do caráter negativo da anomalia das formas de
particípio, onde, pela sua afinidade com o ideário racionalista, destaca o argumento utilizado:
[...] Nos verbos Gastar, Pagar, Affligir, a que os nossos antigos davam sempre os Participios Gastado-a, Pagado-a, Affligido-a, feito do Supino Regular [...] (Figueiredo 1804: 92, n. 16).
[...] Nos verbos gastar, pagar, affligir, a que os nossos antigos mui cuidadozos em
evitar anomalias quazi sempre contrapostas á razão davam sempre davam sempre os participios gastado-a, pagado-a, affligido-a, feito do Supino Regular [...] (Figueiredo 1827: 138, n. 55).
2.2.4. Partículas Relativamente à definição geral desta categoria, verifica-se que, ao longo do
percurso editorial da obra, há modificação nos critérios de construção da mesma.
Particula he uma voz indeclinavel sem significação particular, e sem tempo, que na ordem do discurço serve como de soccorro às outras partes para sua inteira composição (Figueiredo 1804: 93).
Particula he a voz, que na ordem do discurço serve de manifestar a relação, ou circumstancias da pessoa, ou couza significada, e da acção, isto he, do Nome, e do Verbo (Figueiredo 1811: 93).
Partícula é a voz, ou palavra invariavel, que carece de propriedades, e que só serve de marca, ou signal com que na ordem do discurso se manifestam as circumstancias (Figueiredo
1827: 93).
No que toca ao critério morfológico, nas duas primeiras edições, ele é
expresso em função da ideia de declinação, na terceira, está omisso e, nas
seguintes, é recuperado, mas substituindo o conceito de declinação pelo de
variação. No que toca ao critério funcional – presente em todas as edições – , a partir da terceira edição (inclusive), ele assume uma orientação mais lógico-
-sintática que estritamente sintática. De certa forma, nas duas últimas edições,
parece haver lugar a uma síntese das propostas anteriores, na medida em que recuperam das primeiras o critério morfológico e, da terceira e seguintes, o
funcional. Não obstante, o resultado final, por abandonar traços da descrição do
latim (a declinação) e por assentar numa perspetiva lógico-sintática, revela uma orientação progressiva para uma descrição de índole racionalista, para além de,
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 89
a partir da terceira edição, beneficiar da revisão e ampliação de informação erudita, como já se tem visto
44.
Por sua vez, na definição das diferentes espécies de partículas, e começando
pelo advérbio, observa-se, em primeiro lugar, a ampliação de informação erudita
nas duas últimas edições45
. No que toca aos critérios de construção da definição, embora o critério sintático-colocacional e o funcional estejam presentes em toda
as edições, há diferenças na informação acerca da possibilidade de combinação
com o nome, já que, nas duas últimas edições, para além da restrição ao nome-adjetivo, tal é feito numa perspetiva lógico-sintático (em substituição da
perspetiva estritamente semântica das edições anteriores), em coerência com a
definição geral de partícula e com as orientações racionalistas que marcam a tradição gramaticográfica desta época.
Adverbio he a Particula, que se ajunta ao Verbo, e algumas vezes também ao Nome
para lhe determinar, ou modificar a sua significação, como Amo muito, onde o Adverbio Muito determina, e augmenta respectivamente a significação do Verbo Amo (Figueiredo 1804: 93).
Adverbio é a particula, que denota as circumstancias da acção, isto é, a voz, que se junta ao verbo para lhe modificar, ou determinar a sua significação (b).
Tambem se junta ao nome, em quanto serve para modificar a qualidade, ou attributo
annexo á pessoa, ou sugeito da acção, mas só ao nome adjectivo; por isso se diz
qualidade, ou attributo, como: amo muito, Pouco diligente (Figueiredo 1827: 79).
Relativamente à definição da preposição, para além da ampliação da
informação em nota nas últimas edições46
, mais uma vez, a noção de caso, presente nas três primeiras edições, distingue-as das seguintes, e sublinha o
afastamento de uma descrição assente na tradição gramatical do latim:
A preposição he a segunda especie de Particula, a qual na Oração se costuma antepôr ao
Nome, ou ao Verbo, e mais ordinariamente ao Nome, para mostrar o caso, em que deve
estar, ou de acusativo, ou de Ablativo (Figueiredo 1804: 95).
A preposição, segunda especie de particula, é a voz, que denota a circumstancia
manifestada pelo nome, a que ella sempre precede (c). Dezigna da mesma sorte que o adverbio o tempo, o lugar, a ordem, o modo, ou
qualidade, mas differença-se delle, porque o adverbio manifesta por si só a circumstancia, e a preposição juntamente com o nome, que se lhe segue (d).
Algumas vezes se antepõe immediatamente ao verbo, e ao nome adjectivo, para também lhe modificar, e variar a sua significação (e) (Figueiredo 1827: 80).
44 A partir da terceira edição, fica corrigida uma errata de edições anteriores (Figueiredo 1804: 98; 1811: 98) e reformula-se, pela uniformização do número, a redação global dessa passagem. A partir da quarta edição, esta definição é ainda acompanhada de uma nota sobre o valor das partículas (Figueiredo 1827: 139, n. 56). 45 A esta definição, a partir da quarta edição, acresce ainda uma nota sobre a etimologia do vocábulo (Figueiredo 1827: 139, n. 57). 46 Neste caso, a definição, nas duas últimas edições, é complementada por notas de carácter etimológico e sobre a afinidade “funcional” entre adverbio e preposição” (Figueiredo 1827: 141, n 63 e n. 64).
90 Sónia Duarte
Por seu turno, a definição da conjunção também difere significativamente de edição para edição.
A Conjunção he uma Particula, que tambem em si nada significa, mas na oração serve
para unir, e juntar entre si as partes, de que ella se compõe, para sua perfeita composição (Figueiredo 1804: 97).
A Conjunção he a particula, que na Oração serve de unir, e ligar entre si tanto os
nomes, ou cousas significadas como as differentes acções ou verbos (Figueiredo 1811: 97).
A conjunção é a particula caracteristica da dependencia ou a voz que designa a
dependencia que as acções tem entre si no discurso para formarem sentido perfeito, e completo (a) (Figueiredo 1827: 82).
Como é observável nas passagens acima transcritas, a partir da terceira
edição, desaparece o critério semântico, e o critério funcional evolui da
referência à união das partes da oração (nas duas primeiras edições) para expressar, primeiro, a união tanto das partes como das orações (na edição de
1811), e, depois (nas edições de 1827 e 1837), centrar-se na união exclusiva de
orações, introduzindo ainda a identificação com o conceito de dependência, o que transporta o valor da conjunção do plano morfológico para o sintático. Tal
confere à terceira edição um papel de transição nesta mudança, num sentido de
aproximação ao racionalismo de inspiração sanctiana47
, cuja referência neste
âmbito é, aliás, explicitamente assumida por Figueiredo, nas duas últimas edições, como se comprova na passagem que se segue e como já foi apontado
noutro lugar (Duarte 2012b: 300).
Aindaque seja doctrina commum dos grammaticos, que a conjunção une as partes da
oração em particular, isto é, o verbo com o verbo, o nome com o nome, o attributo com o attributo, e as circumstancias umas com as outras, alguns dos melhores entre os modernos seguindo a Sanches Brocense, são hoje de opinião, que o officio da conjunção é somente unir as clauzulas inteiras, ou orações umas com outras, e que para formarem sentido completo se devem substituir ellypses (Figueiredo 1827: 143-144, n. 68).
No fragmento acima transcrito, é de observar ainda o papel que, na
descrição da conjunção, assume a elipse como recurso da explicação gramatical, à semelhança do que acontece igualmente em Sánchez de las Brozas, em cuja
teoria, como é sabido, a elipse assume um papel central48
.
Os diferentes grupos de edições parecem, portanto, corresponder a diferentes tradições de descrição da conjunção: as duas primeiras seguem a linha
que, conforme informa Schäfer-Prieß (no prelo 4.5.3.9.), podemos também
encontrar nas já referidas obras de Amaro de Roboredo e Casimiro (1792), e ainda em Regras da língua portuguesa, espelho da língua latina de Jerónimo
47 “La conjunción no une palabras, como neciamente se dice, sino oraciones” (Sánchez de las
Brozas 1995[1587]: I, 18). 48 Como refere Schäfer-Prieß (no prelo 4.5.3.8.), o Brocense explica as ligações de palavras como sendo elipses de junções de frases.
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 91
Contador de Argote (Lisboa 1725); as três últimas edições encontram-se mais próximas de Lobato (1770), que parece admitir para a conjunção a função de
unir tanto palavras como frases, embora, como explica também Schäfer-Prieß
(4.5.3.9.), o exemplo dado por Lobato pareça apontar para a prioridade à união
de frases49
. Finalmente, no que diz respeito à definição da interjeição, as edições
divergem fundamentalmente na menção ou omissão do carácter indeclinável
desta partícula, denunciando, sobre o significado desta situação, o que já foi dito a respeito de outras estruturas: afastamento dos conceitos de descrição da língua
latina.
Chama se Interjeição a Particula, ou voz indeclinavel breve, e curta, que declara, ou manifesta as varias paixões da nossa alma, como Amor, Odio &c. (Figueiredo 1804: 97) .
Chama se interjeição a particula, ou voz breve, e curta, que exprime as varias paixões da nossa alma, como amor, odio etc. (Figueiredo 1827: 82).
A respeito da classificação das partículas, cumpre dizer que nem todas as espécies apresentam diferenças com o mesmo relevo. Na classificação da
conjunção, coincidem as tipologias, mas há diferenças nas formas concretas que
as preenchem e o mesmo relativamente à interjeição (Figueiredo 1799: 97; 1827: 82). Relativamente aos advérbios, as diferenças entre edições residem sobretudo
na ampliação das duas últimas com notas de erudição e desenvolvimento de
aspetos teóricos muito particulares50
, o que se verifica também no caso da preposição
51, mas ao que acresce outra diferença de maior significado, relativa
49 É o que se pode comprovar na seguinte passagem: “Conjunção he huma voz indeclinavel, que por si só não tem significação completa; mas posta no discurso, serve de ajuntar os membros, ou partes delle, do que lhe provém o nome. Exemplo. Quando digo v.gr. Pedro lê, e Paulo escreve, a palavra e he conjunção; porque neste discurso, que consta de dous membros, ou sentenças, ata, e une a sentença, ou oração Pedro lê á sentença, ou oração Paulo escreve” (Lobato 1825[1770]:
155-156). 50 São eles os seguintes: i) sobre a classificação dos advérbios derivados, regista-se um comentário no qual, com suporte na tradição gramatical precedente, se discute a natureza do sufixo – mente, destacando-se, em termos de enquadramento doutrinal, a referência (Figueiredo 1827: 139-140, n. 58) a Elémens de Grammaire Géneral Appliqués a la Langue Française, de R. A. Sicard (Paris 1799); ii) nas duas últimas edições (Figueiredo 1827: 140, n. 59), surge associada aos advérbios de tempo a nota sobre formas em desuso que, nas anteriores, surge associada aos de quantidade (Figueiredo 1799: 94, n.1); iii) nas duas últimas edições, na nota que surge desde a primeira edição
sobre o advérbio só, a informação amplia-se com uma referência ao papel do mesmo na língua latina (Figueiredo 1799: 94, n. 3; 1827: 140-141, n. 61). 51 Ampliação da informação a este respeito, comentando o significado e construção da preposição fóra, distinguindo as preposições per e por e retomando, a esse respeito, a discussão sobre certas estruturas que não são, em rigor, preposições, embora consideradas como tal pelos gramáticos. Tal informação, nas três primeiras edições, surge apenas no corpo do texto (Figueiredo 1804: 95-96.) e não em nota, como acontece a partir da quarta edição, onde surge no corpo do texto e em nota (Figueiredo 1827: 81, 143, n.65, n.66). Nessas notas, amplia-se o número dessas estruturas e
reforça-se a justificação, para, não obstante, as tratar como preposições, com base, não apenas no uso (como ocorre nas três primeiras edições), mas também na sua significação e correspondência das mesmas em latim.
92 Sónia Duarte
ao critério em que assenta a proposta tipológica para as preposições. Tal critério, nas três primeiras edições afigura-se duplo: segundo a sua capacidade para
serem elemento compositivo de palavras ou segundo o caso que regem, o que
como já observou Fontes (2006: 162) encontra bastante semelhança na proposta
de Lobato. Já nas edições de 1827 e 1837, o critério de classificação corresponde exclusivamente ao modo de combinação com o artigo, o qual, nesta formulação
concreta, não parece encontrar-se em nenhum dos gramáticos precedentes
estudados por Schäfer-Prieß (no prelo 4.5.3.10.).
Daqui vem dous generos de Preposições, humas, que pertencem á composição das palavras, isto he, que servem para com ellas se formarem muitas palavras, nem dellas se usa separadamente, mas são reputadas como parte das mesmas palavras d’ellas compostas; (...)
Outro genero de Preposições são as que denotam os casos dos Nomes, a que precedem: destas humas regem, ou são signaes de Accusativo; outras de Ablativo; outras de Accusativo, ou Ablativo (Figueiredo 1804: 95).
São as preposições de tres maneiras, umas recahem immediatamente sobre o nome que lhes serve de complemento sem admittir articulo, ou admittem unicamente o definido o, a; outras levam em meio o indefinido de, ou o definido do, da; outras fazem mediar promiscuamente ora um, ora outro articulo (Figueiredo 1827: 81).
Particularmente interessante é ainda uma nota que surge apenas nas duas
últimas edições, incidindo sobre a polivalência categorial das partículas52
e vincando a distinção dos papéis assumidos pelo conjunto dessas estruturas.
Quando alguma das particulas muda de especie, já não a devemos considerar a mesma particula, senão outra verdadeiramente diversa, e mui distincta. Para isto bem se perceber convẽ notar o officio que cadauma dellas exerce, e o modo com que se usa. Correspondem muito o adverbio, e a preposição, servindo promiscuamente ambas para designar as circumstancias da acção, admittem todavia mui clara differença entre si. O adverbio denota per si só a circumstancia; a preposição depende de complemento; o adverbio, como sua
mesma voz manifesta, junta-se mais ao verbo do que ao nome; a preposição mais ao nome do que ao verbo; o adverbio precede ao verbo, ou vai depois delle; a preposição somente ao substantivo: o adverbio ou se junte ao verbo, ou ao adjectivo vai sempre separado, sendo cadaum dicção distincta: a preposição vai com qualquer delles tão ligada, quando se junta, que formam ambos uma só dicção composta. A mesma fifferença se pode facilmente notar a respeito da conjunção, considerando o seu officio, e uso (Figueiredo 1827: 144, n. 69).
2.3. Prosódia
Uma primeira diferença entre edições está na distribuição desta matéria. Nas três primeiras, ela já é introduzida no primeiro capítulo do Livro I, pela menção
das letras, ditongos e partes em que assenta a oração portuguesa, enquanto que,
nas restantes edições, tudo o que respeita à prosódia é tratado, separadamente, no Livro II.
No tocante ao conteúdo, nas três primeiras edições, a matéria anunciada
resume-se à quantidade das sílabas. Já em 1827 e 1837, o título desta secção
52 Há ainda outra nota sobre a ampliação com as estruturas agora e quando (Figueiredo 1827: 83).
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 93
revela um propósito mais amplo e é revelador disso que só nestas edições haja lugar à definição desta parte da Gramática.
Prozodia é a parte da Grammatica, que ensina a devida pronunciação das palavras a fim de fallar com pureza, e policia (Figueiredo 1827: 84).
Da mesma forma, denunciado igualmente um investimento teórico
diferenciado, apenas nas duas últimas edições se oferecem as definições de palavra e de letra, sob influência assumida do Brocense, como se desenvolve
em nota final.
A palavra é o espirito proferido pela voz distinta, e articulada, instituida para significarmos os pensamentos, e conceitos da alma; e compõe-se de letras, e syllabas.
É a letra uma voz indivizivel, não qualquer senão aquella unicamente da qual se possa formar palavra intelligivel (a); e se nota per uma simples figura, como: a, b, c, etc. (Figueiredo 1827: 84).
A definição, que se dá de letra, adoptada de quazi todos os nossos grammaticos, é de Sanches Brocense (Figueiredo 1827: 144-145, n.1).
Relativamente à descrição dos ditongos, as diferenças entre edições
respeitam primeiramente ao número dos mesmos (ampliado pelo ditongo grafado <ao> a partir da de 1827) e à terminologia de classificação que lhes é
aplicada.
Do concurso, ou ajuntamento de duas vogaes diversas dentro da mesma syllaba formam se os Dithongos, de que ha na Lingua Portugueza oito proprios, como AI, AU, EI, EU, IU, OU, UI; e tres improprios ÃE, ÃO, ÕE, assim chamados porque na primeira das duas vogaes se sente um som nasal” (Figueiredo 1804: 5).
Da união, ou ajuntamento de duas vogaes diversas dentro da mesma syllaba formase os dithongos [...]. Ha na lingua portugueza nove communs, como: ai, ao, au, ei eu, iu, oi, ou, ui; e tres proprios, ou nazaes, ãe, ão, õe, assim chamados, porque na primeira das duas vogaes se sente um som nazal (Figueiredo 1827: 84). Sobressai ainda, pelo seu significado doutrinal, o desenvolvimento, somente
nas duas últimas edições, das bases teóricas para a divergência entre os
gramáticos quanto ao número de ditongos. Como se vê na passagem abaixo transcrita, segundo Figueiredo, tal deriva da consideração ou não de que têm que
ser diferentes as vogais que formam ditongo, recorrendo, para justificar a sua
diferenciação, às obras de Barros, de Sánchez de las Brozas e de Poliziano.
Dithongo é vocabulo grego, formado de δις dous, e φθογγος som quasi significando som dobrado, como escreveu Barros, Orthograf. pag. 180; porque é a união, ou concurso de duas vogaes em que retem ambas o seu som, e guardam sua força em uma só syllaba: por
onde julgo necessario declarar, como está em sua definição, que as duas vogaes sejam diversas; pois sendo o dithongo um som composto, e derivado das duas vogaes, que formam unidas em uma só syllaba, duae vocales in unum confictae; e retendo cadauma dellas o seu som; de nenhuma sorte poderia resultar um som mixto dentre ambas, que isto quer dizer dobrado, a serem unisonas. De se isto bem não advertir nasce o não convirem os nosso
94 Sónia Duarte
grammaticos entre si, e darem maior numero de dithongos. Os primeiros, ou communs ai, au, ei, etc. são os mesmos que antigamente conheceram os gregos e latinos, como largamente mostram Sanches Brocense, em sua grammatica grega, e na Minerva; e Angelo Policiano, nas miscelan. cap. 43 (Figueiredo 1827: 145, n.2).
O maior desenvolvimento teórico das duas últimas edições é ainda
conseguido com referência a questões como as que se seguem: i) associação
entre consoantes e articulação, por um lado, e vogais e som, por outro (Figueiredo 1827: 84); ii) justificação para a exclusão de sons onomatopaicos
(Figueiredo 1827: 144-145, n. 1); iii) referência ao modelo de Pedro Sanches
para a pronúncia das consoantes (Figueiredo 1827: 145, n.3).
No que concerne à classificação dos ditongos de acordo com o acento,
destacam-se igualmente diferenças entre as três primeiras edições e as
posteriores.
A Syllaba ou he breve, que só um tempo gasta na pronunciação, deprimindo se, ou não se carregando a voz na vogal, como na primeira syllaba do Nome Gôsto, e na ultima de Lêra na voz do Peterito; ou he longa, e gasta dous tempos, ferindo se com toda a força a vogal,
como em Gósto, quando he verbo, e em Lerá na voz do Futuro (Figueiredo 1804: 99).
O accento nas palavras é o tom, ou a varia modulação na voz em pronunciar cada syllaba;
e é ou alto, ou baixo, isto é, agudo ou grave, segundo o tempo que a voz nelle se demora. O agudo se diz assim, porque se levanta a voz mais na syllaba, e se demora nella mais tempo
do que nas outras; o grave ao contrario é menor, tem mais baixo som, e pronuncia-se mais velozmente (Figueiredo 1827: 85).
Fontes (2006: 172, n. 211) considera que, na opção das três primeiras
edições, Figueiredo se aproxima de Lobato53
para se afastar de outros gramáticos que o antecederam
54 e dos quais se aproxima posteriormente na sua opção de
descrever a acentuação através de conceitos menos característicos da gramática
latina.
No capítulo intitulado “som e accento regular” (Figueiredo 1827: 85-89), as duas últimas edições revelam algumas particularidades
55, que, contudo, não se
desenvolverão aqui. Nestas mesmas edições, salienta-se, no entanto, a
introdução de um capítulo simetricamente intitulado “Som e accento irregular” (Figueiredo 1827: 89-94) e expandido em notas de fim (Figueiredo 1827: 146-
147, n. 5; 147, n. 6, n. 7; 147-148, n. 8) com informação de natureza diacrónica,
matizações teóricas e ampliação de referências gramaticográficas e modelos literários.
Outra diferença está ainda na inclusão, a partir da edição de 1811, de um
capítulo sobre figuras de dicção, sendo que esta matéria não tem qualquer
tratamento nas duas primeiras edições.
53 A mesma autora (Fontes 2006: 172, n. 211) observa, contudo, que Lobato, em rigor, reconhece
que tal distinção (entre longas e breves) não é aplicável ao português. 54 Fontes (2006: 172) nomeia Barros, Roboredo e Argote. 55 Sobretudo quanto ao número de acentos prosódicos e à consideração dos monossílabos.
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 95
(Figueiredo 1811: [118])
Figura 2: Prosódia – figuras.
A sua inclusão parece vir reforçar a coerência interna da obra, na medida em
que, no âmbito sintático, as figuras já eram consideradas desde a primeira
edição.
2.4. Sintaxe
Previamente à identificação das diferenças, parece pertinente notar –independentemente de algumas variações na formulação – a convergência entre
todas as edições, relativamente a um conceito sintático basilar, introduzido logo
no inicio da obra e intimamente associado, pela sequência do texto, à noção de
gramática: o conceito de oração. A partir da quarta edição, opera-se contudo uma modificação no que diz respeito à continuidade desta definição: onde nas
três primeiras edições se procede ao foco exclusivo nas unidades menores que
compõem a palavra, nas edições subsequentes, assiste-se ao desenvolvimento da noção de oração à luz de dois eixos fundamentais da sintaxe.
Oração he a união, ou um aggregado de palavras ordenadas, com que exprimimos nossos pensamentos.
Consta a Oração de palavras; as palavras de syllabas e as syllabas de letras [...] (Figueiredo 1804: 5).
Oração é a união conveniente, ou bem disposta ordem de palavras, com que exprimimos nossos pensamentos.
As palavras ou se consideram soltas, isto é, cada uma por si; ou ligadas, e reunidas no contexto da oração.
Nas soltas, ou separadas deve-se attender ás letras com que se escrevem; ao tom ou accento da sua pronunciação; e ao valor ou differença que entre si tem, pelo que significam: nas ligadas ou reunidas no contexto á ordem, e correspondencia, que devem guardar entre si (Figueiredo 1827: 5).
Portanto, já nesta fase inicial do texto, as duas últimas edições associam ao conceito de ordem, a ideia de correspondência, entendida como concordância,
96 Sónia Duarte
como se depreende do desenvolvimento desta matéria, no capítulo que lhe é reservado mais adiante na obra em estudo (Figueiredo 1827: 96). Em termos de
possíveis modelos téoricos, nas três primeiras edições, a abordagem do conceito
de oração revela-se, na sua segunda parte, bastante próxima daquela que,
segundo dados recolhidos em Schäfer-Prieß (no prelo: 4.6.4.), parece ser a primeira definição de oração nas gramáticas do português:
Grammatica he arte de fallar, que tem por fim a Oração bem concertada: a qual he hũa
coherente disposição de palavras, de que consta, como de partes. Procedese para a Oração per Letras, Syllabas, & Dições, ou Palavras (Roboredo 2007: 64).
De acordo ainda com a informação veiculada em Schäfer-Prieß (no prelo:
4.6.4.), a centralidade conferida à palavra situa estas definições numa fase relativamente incipiente da teoria sintática dentro da gramaticografia do
português. As diferenças observadas na descrição deste conceito nas edições de
1827 e 1837 da Arte de Figueiredo, embora representem um maior investimento sintático, não revelam, neste ponto do texto, uma identificação com o esquema
de descrição sintática centrado na proposição que carateriza as gramáticas
racionalistas francesas e de cuja repercussão na tradição gramatical do português dá conta Schäfer-Prieß (no prelo: 4.6.4.), sem – sublinhe-se –, fazer menção a
Figueiredo.
No que concerne propriamente à definição de sintaxe, destaca-se que a
partir de 1827, pelo menos ao nível da definição, já não há equivalência explícita entre o referido conceito e o de construção, como acontece nas três primeiras
edições da obra e já foi apontado noutro lugar (Duarte 2010: 18-19).
Syntaxe ou construção he a conveniencia, harmonia, ou bem ordenada estructura das
Partes da Oração entre si, na qual se devem considerar tres cousas muito principaes, que ella comprehende, que são Agente, Acção, ou verbo e Paciente (Figueiredo, 1799: 106).
Syntaxe é a parte da Grammatica que ensina a conveniencia, harmonia, ou bem ordenada contextura das partes da oração entre si.
As partes da oração, em quanto á Syntaxe, devem considerarse de duas maneiras; umas primarias ou essenciaes, e outras menos principaes ou accessorias (a) (Figueiredo 1827: 95).
A esta luz, as duas últimas edições, apontam para uma certa proximidade à proposta dos enciclopedistas, os quais introduzem uma diferenciação clara dos
dois conceitos, como se ilustra no fragmento abaixo transcrito de uma entrada de
Dumarsais:
Je crois qu'on ne doit pas confondre construction avec syntaxe. Construction ne presente que l'idée de combinaison & d' arrangement. Ciceron a dit selon trois combinaisons
differentes, accepi litteras tuas, tuas accepi litteras, & litteras accepi tuas: il y a là trois constructions, puisqu' il ya trois differentes arrangements des mots; cependant il n'y qu' une syntaxe; car dans chacune des ces constructions a les mêmes signes des rapports que les mots ont entr' eux ainsi ces rapports sont les mêmes dans chacune de ces phrases. Chaque mot de l' une indique également le même correlatif qui est indiqué dans chacune des autres; [...] La syntaxe est donc la partie de la Grammaire qui donne la conoissance des signes établis dans une langue pour exciter un sens dans l' esprit (D' Alembert & Diderot 1751-1765: IV, 73).
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 97
As duas últimas edições diferenciam-se ainda por um maior investimento teórico, que, neste domínio, se traduz da seguinte forma: amplia-se a explicação
do que são partes essenciais e acessórias (Figueiredo 1827: 148, n. 1), descreve-
se em que consiste a conjugação verbal (Figueiredo 1827: 148, n. 2) e discorre-
se sobre a natureza das variações em função da noção de relação indicando, entre os teóricos de referência, nomes importantes da tradição racionalista, como
Júlio César Escalígero - De causis linguae latinae (Lião, 1540) – e Antoine Isaac
Silvestre de Sacy - Principes de grammaire générale mis à la portée des enfans, et propres à servir d’ introduction à l’etude de toutes les langues, Paris,
1803[1799] - (Figueiredo 1827: 148- 149, n. 3). Para além disto, acrescenta-se
informação sobre o artigo e a partícula no quadro do seu papel como partes acessórias da oração, na qual se destaca ainda um apontamento de censura a
Barbosa quanto ao étimo grego de artigo (Figueiredo 1827: 150, n. 4), conforme
foi já posto em evidência noutro trabalho (Duarte 2012a: 240).
No tocante à classificação, apesar de as edições coincidirem na tipologia proposta para a sintaxe regular (Figueiredo 1804: 106; 1827: 96), apenas nas
duas últimas se define sintaxe de concordância e sintaxe de regência, e se
estabelece a sua correspondência com as noções de sintaxe intransitiva e sintaxe transitiva.
A Syntaxe de concordancia ou intransitiva ensina as regras da mutua correspondencia, ou connexão, que as partes da oração devem guardar entre si.
Esta só tẽ lugar nas partes primarias ou essenciaes; porque as accessorias, como não admittem propriedades, não podem ser susceptiveis de concordancia.
As regras de concordancia são tres: do verbo com o agente: do nome substantivo com outro; do nome adjectivo com o substantivo (Figueiredo 1827: 96).
A Syntaxe de regencia, ou transitiva, mostra a dependencia que as partes da oração tem umas a respeito das outras, ensinando a usar dellas variamente segundo as differentes
occasiões. Sómente nas duas partes primarias verbo, e nome se pode dar o reger, ou ser regido. As
outras como não figuram per si na oração, nem são mais do que demonstrativos dellas, não podem ter efficacia para reger, e por não serem susceptiveis de modificação não podem admittir em si o serem regidas.
Do que está dito se infere 1º que só o verbo parte essencial, e a mais principal da oração tem virtude de reger: 2º que só o nome polas varias modificações, que em algumas de suas relações admitte, pode ser regido.
Diz-se em algumas de suas relações, porque nem todas são regidas (Figueiredo 1827: 98).
Registam-se igualmente diferenças na descrição de cada uma das espécies
de sintaxe destacando-se, no plano da regência nominal, a substituição da noção
de caso pela de relação nas últimas edições, e a inexistência de correspondência,
entre as três primeiras e as últimas edições, na ordem da exposição dos casos/relações e na informação sobre os mesmos. Observa-se ainda que, nas
98 Sónia Duarte
duas últimas edições, se ampliam os exemplos e fontes (Figueiredo 1827: 97-98) e detetam-se variações de formulação no caso da sintaxe de concordância
56.
No que toca à regência verbal, as edições diferem quanto à informação que
transmitem a respeito da capacidade de regência das diferentes categorias, em
particular do verbo, sendo que, apenas nas duas últimas edições, se apresenta o mesmo como a mais principal das partes da oração pela sua dupla capacidade de
reger e ser regido.
Destas poucas Regras facilmente se collige, que só tres Partes na Oração tem virtude de
reger caso, que são o Nome Substantivo, o Verbo Activo, e a Preposição; e que unicamente ha outros tres casos por ellas regidos: o Genitivo do Nome Substantivo, o Accusativo ou do Verbo Activo, ou da Preposição, e o Ablativo da Preposição (Figueiredo 1804: 109).
Da doutrina destas poucas regras claro está 1º que só ha uma parte da oração com valor para reger ou determinar as outras, que é o verbo ou acção: 2º que das seis relações do nome ou sugeito da acção as duas primeiras agente, e pessoa não são regidas: 3º que das ultimas apenas o recipiente, e o paciente são regidas sem preceder a cada uma dellas mais do que o seu
caracteristico proprio, que é o articulo: e as outras restringente, e circumstancia além do articulo levam antes de si a primeira sempre expresso o substantivo apellativo, cuja significação restringe; a segunda a preposição, que pode estar clara ou occulta (Figueiredo 1827: 103).
Neste ponto, como revela o confronto das passagens supracitadas com as imagens do quadro 9, as edições de 1827 e 1837 revelam uma contradição entre
o exposto ao longo do texto e o esquematizado no respetivo índice geral, onde se
admite que além do nome também a preposição possa reger. Tal contradição existe também nas edições de 1799 e 1804, mas pelo inverso: embora se admita
no corpo do texto a capacidade de regência das três categorias, no índice geral,
apenas se regista o nome e o verbo. Somente, a edição de 1811 - que segue, no
corpo do texto, a redação das anteriores - apresenta coerência entre o texto e o índice final. Coloca-se, portanto, a possibilidade de que, pelo menos
relativamente ao índice, a edição de referência para a edição de 1827, tivesse
sido a de 1811, e, uma vez que a de 1837 decalca a de 1827, terá mantido o erro de cópia.
56 A partir da edição de 1827, regista-se preferência por formular a concordância do verbo com a função (agente) (Figueiredo 1827: 96), em lugar de com a categoria gramatical, como acontece nas
primeiras edições (Figueiredo 1804: 107). Introduz-se igualmente, a partir da quarta edição (Figueiredo 1827: 96), a noção de que o sujeito pode ser verdadeiro ou virtual, retomada depois na descrição das relações que não são regidas (Figueiredo 1827: 98).
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 99
(Figueiredo 1804: [116])
(Figueiredo 1811: [119])
(Figueiredo 1827: [113])
Quadro 9: Sintaxe de regência.
No tratamento da regência de casos/relações, as diferenças registadas não
podem ser aqui tratadas em pormenor, dado que, pela sua extensão, poderiam
justificar por si só outro estudo. Saliente-se unicamente que, para além da ampliação da informação sobre fontes e modelos, nas duas últimas edições, uma
parte significativa das modificações introduzidas nas mesmas diz respeito ao
papel do artigo neste processo, sendo que das diferenças mais destacadas a esse respeito já se deu conta noutro lugar (Duarte 2012
a: 237-245), no âmbito da
controvérsia que tal questão produziu entre Figueiredo e Barbosa.
Todas as edições dedicam ainda uma parte à sintaxe dos verbos, na qual diferem desde logo pela designação da mesma: Do Verbo Passivo (1799, 1804);
Construcção dos verbos (1811, 1827, 1837). Quanto ao conteúdo dessa secção,
uma das diferenças entre edições está em que, a partir da quarta edição,
estabelece-se uma correspondência entre modos verbais e tipo de construção.
Acção absoluta forma per si só sentido completo, e designando-se pelo verbo no modo indicativo ou no imperativo, demonstra affirmação simples e sem dependencia de outra [...].
Acção incidente manifesta-se na oração pelo verbo no conjunctivo, ou no indicativo condicional, não indica per si affirmação simples, depende de outra antecedente, e não sem
ella sentido completo [...]. A acção subalterna é indefinida, e indeterminada, exprime-se pelo verbo no modo
infinitivo, e vai sempre incluida em alguma antecedente ou seja absoluta, ou incidente [...] (Figueiredo 1827: 102-103).
100 Sónia Duarte
Nesta mesma secção, observam-se ainda, a respeito do tratamento da voz passiva, as diferenças expectáveis entre edições, pela substituição, nas duas
últimas, da noção de caso pela de relação e pela adequação às propriedades
verbais tal como concebidas nas duas últimas edições. As edições diferem ainda
nas preposições que antecedem a voz passiva e nos exemplos oferecidos, bem como no facto de que apenas nas duas últimas edições há indicação das fontes
dos mesmos.
A Oração da voz Activa póde resolver se, ou mudar se para a voz Passiva facilmente por
este modo. O que era Accusativo na Activa vai para Nominativo; o que era Nominativo passa para Ablativo como a preposição Por; e o Verbo muda se para a voz Passiva para o mesmo Modo, e Tempo, e concordando em numero, e pessoa com o novo Nominativo; e tudo o mais, que estiver na Activa, fica da mesma sorte. Ex. O Imperador Constantino Magno concedeu paz universal a toda a Igreja. A qual será na Passiva: Foi concedida paz universal a toda a Igreja por o Imperador Constantino Magno (Figueiredo 1804: 109).
A oração da voz activa pode resolver-se, ou mudar-se para a voz passiva facilmente por este modo. O que era paciente na activa vai para agente: o que era agente passa por circumstancia com a preposição per ou aos; e o verbo muda-se para o meso modo e tempo da voz passiva e concordando em numero, e forma com o novo agente: e tudo o mais que estiver
na activa fica da mesma sorte. Ex. O Amo a verdade a qual será na passiva: A verdade é amada de mim [f]57 (Figueiredo 1827: 103).
Relativamente à sintaxe figurada, nota-se que, embora as tipologias
principais das figuras coincidam nas diferentes edições (cf. quadro 10)58
, há,
efetivamente, diferenças no tratamento das mesmas. No entanto, estas
diferenças, pela sua profusão, não podem ser tratadas aqui exaustivamente e poderiam mesmo justificar um estudo próprio. Como tal, procurar-se-á aqui
restringir o comentário às situações que se revestem de maior significado para a
compreensão das divergências editoriais. Nesse sentido, é importante fazer uma referência – ainda que genérica – às diferenças que, também sobre esta matéria,
se verificam no domínio dos exemplos, bem como à situação de ampliação de
fontes59
e de substituição da noção de caso pela de relação, que separa as três primeiras edições das duas últimas
60. Posto isto, tratar-se-á aqui de ressaltar o
modo como varia entre edições a definição de figura, assim como a consideração
ou não, nesta parte da gramática, dos vícios da oração.
57 A nota f figura em rodapé com o seguinte texto: “Barr. Grammatic. fol. 118. 58 Observa-se apenas, nas duas últimas edições, a redução das tipologias secundárias, pela exclusão da síntese. 59 Entre as quais merece destaque a referência ao Brocense, pela dimensão que a presença do mesmo alcança nas últimas edições, como se põe em relevo em Duarte (2012b). Importa ainda sublinhar que tal ampliação de fontes, no caso concreto do hipérbato, está relacionada com necessidade de defesa e justificação relativamente às críticas que, também neste assunto específico, lhe foram dirigidas por Jerónimo Soares Barbosa, como já foi desenvolvido em Duarte
(2010) e Duarte (2012a: 246-253). 60 Pontualmente, na edição de 1811, assiste-se igualmente a tal substituição (Figueiredo 1811: 112, 113, 114).
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 101
No que toca à definição, as edições de 1799, 1804 e 1811 diferem das seguintes, pela tónica que as primeiras colocam na expressividade, enquanto as
últimas, focam prioritariamente o desvio realizado e especificam os âmbitos de
incumprimento gramatical (regras de regência e concordância) implicados.
Entende se por Figuras as varias fórmas, ou as maneiras mais expressivas de fallar, que não seguem as regras communs da Grammatica, mas que estão auctorisadas pelo uso, e
costume da Linguagem (Figueiredo 1804: 110).
Entende-se por figura a locução apartada do commum uso de fallar, parecendo não
guardar a direita concordancia, ou regencia polas regras communs da Grammatica, está todavia authorizada elegantemente pelo uso, e costume da linguagem sem se oppor a ellas (Figueiredo 1827: 104).
Finalmente, resta referir que apenas nas duas últimas edições se considera o tratamento dos vícios de linguagem como parte integrante da sintaxe irregular,
como revelam os fragmentos do índice geral aqui reproduzidos:
Figueiredo 1804: [116])
Figueiredo 1827: [113])
Quadro 10: Sintaxe irregular/figurada.
3. Nota final
Apesar de, num estudo desta natureza, não ser possível realizar um
inventário exaustivo das diferenças entre edições, o presente trabalho procurou
chamar a atenção para o seu significado, demonstrando que, nas duas últimas, parece acentuar-se o pendor racionalista e o investimento na ampliação da
informação. Tal ajuda a relativizar e situar as ideias linguísticas do autor em
função da evolução experimentada ao longo do seu percurso editorial. Para dar conta do mesmo com detalhe, continua, contudo, a faltar uma edição crítica do
texto de Figueiredo.
102 Sónia Duarte
Referências bibliográficas
i) Fontes arquivísticas
1800, 22 de fevereiro, Lisboa – Registo da obra «Arte da Grammatica Portugueza». INCM / AIN, Registo de obras, Livro 28 (1797-1803).
1805, 3 de janeiro, Lisboa - Registo da obra «Arte da Grammatica Portugueza». INCM / AIN, Registo de obras, Livro 29 (1804-1808).
1811, 1 de abril, Lisboa - Registo da obra «Arte da Grammatica Portugueza». INCM /
AIN, Registo de obras, Livro 30 (1810-1814).
1827, 28 de fevereiro, Lisboa – Registo da obra «Arte da Grammatica Portugueza». INCM / AIN, Registo de obras, Livro 35 (1825-1828).
1837, 20 de maio, Lisboa – Registo da obra «Arte da Grammatica Portugueza». INCM / AIN, Registo de obras, Livro 39 (1836-1837).
ii) Fontes primárias
[Arnauld, Antoine & Lancelot, Claude] (1660): Grammaire générale et raisonnée. Contenant les fondements de l'art de parler; expliquez d'une maniere claire &
naturelle; les raisons de ce qui est commun à toutes les langues, & des
principales differences qui s'y rencontrent; Et plusieurs remarques nouvelles sur
la Langue Françoise. Paris: Pierre Le Petit.
B[arbosa], J[erónimo] S[oares] (1822): Grammatica Philosophica da Lingua Portugueza ou Principios da Grammatica Geral Applicados á nossa Linguagem. Lisboa: na
Typographia da Academia das Sciencias.
Diderot, Denis & D' Alembert, Jean le Rond (1751-1765): Encyclopédie ou Dictionnaire
raisonné des sciences, des arts et des métiers. Paris: Briasson, David, Breton,
Durand.
Dumarsais, César Chesneau (1731): Les Véritables principes de la grammaire ou Nouvelle grammaire raisonnée pour apprendre la langue latine, suivi de:
Epitome de diis et heroibus poeticis auctore Josepho Juvencio. Paris: Brocas.
[Figueiredo, Pedro José de] (1799): Arte da Grammatica Portugueza. Lisboa: Na Regia Officina Typographica.
―― (1804): Arte da Grammatica Portugueza. Lisboa: na Impressão Regia.
―― (1811): Arte da Grammatica Portugueza. Lisboa: na Impressão Regia.
Figueiredo, Pedro José de (1827): Arte da Grammatica Portugueza. Lisboa: na
Impressão Regia.
―― (1837): Arte da Grammatica Portugueza. Lisboa: na Imprensa Nacional.
[Fonseca, Pedro José da] (1799): Rudimentos da Grammatica portugueza. Lisboa: Oficcina de Simão Thaddeo Fereira.
Lobato, Antonio José dos Reis (1825): Arte da grammatica da lingua portugueza.
Lisboa: na Typ. de M. P. de Lacerda.
As edições da Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo 103
Roboredo, Amaro de (2007): Methodo Grammatical para todas as Linguas: Edição
Facsimilada, com prefácio e estudo introdutório de Carlos Assunção e Gonçalo
Fernandes. Vila Real: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro; Centro de Estudos em Letras (Colecção Linguística; 1).
Sánchez de las Brozas, Francisco (1995): Minerva o de causis linguae latinae. Ed. por
Eustaquio Sánchez Salor & César Chaparro Gómez. Cáceres: Institución Cultural
El Brocense / Servicio de Publicaciones da la Universidad de Extremadura.
Disponible en línea en: http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/minerva/
(última consulta: 6 de março de 2013).
iii) Fontes secundárias
Assunção, Carlos (2004): “O nome na historiografia linguística portuguesa. Do primeiro
período da linguística portuguesa ao final do séc. XIX”. In Linguística histórica e
história da língua portuguesa. Porto: Faculdade de Letras, 29-50.
Duarte, Sónia (2010): "A censura, por Jerónimo Soares Barbosa, à Arte da Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo: o debate sobre a ordem das palavras, na
esteira da gramática racionalista". Estudios Portugueses 9. Salamanca:
Universidad de Salamanca, 9-26.
―― (2012a): “A defesa perante Jerónimo Soares Barbosa nas ‘Annotações’ à Arte da
Grammatica Portugueza de Pedro José de Figueiredo”. In Costa, Maria Armanda
/ Flores, Cristina / Alexandre, Nélia (orgs.) (2012): XXVII Encontro Nacional da
Associação Portuguesa de Linguística: Textos Selecionados, Lisboa 27, 28 e 29
de Outubro de 2011. Lisboa: Associação Portuguesa de Linguística, CD-ROM
(ISBN 978-989-97440-1-1), 235-255.
―― (2012b): “La presencia castellana en el Arte da Grammatica Portugueza de Pedro
José de Figueiredo”. In Battaner Moro, Elena / Calvo Fernández, Vicente / Peña,
Palma (eds.). Historiografía lingüística: líneas actuales de investigación I.
Münster: Nodus Publikationen, 295-395.
Fontes, Susana (2006): «Pedro José de Figueiredo: ideias linguísticas no quadro cultural setecentista». Dissertação de mestrado. Vila Real: Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro.
García Folgado, María José (2003): “El Arte del Romance Castellano de Benito de San
Pedro: los fundamentos de la principal Gramática preacadémica del siglo XVIII”.
Boletín de la Real Academia Española, Tomo 83, Cuaderno 287, 51-111.
Kemmler, Rolf (2011): "Le rôle du français dans la grammaire visitandine de Francisca de Chantal Álvares (Lisbonne, 1786)". Trabalho apresentado em Vers une
Histoire Générale de la Grammaire Française Matériaux et Perspectives, In Vers
une Histoire Générale de la Grammaire Française? Matériaux et Perspectives, 27-
29 janvier 2011, Université Paris-Diderot (Paris 7), Paris.
―― (2012): «Diccionario Bibliographico Portuguez (1858-1958): contributos e
limitações para a disciplina da historiografia linguística portuguesa». In: Petrov,
Petar et al (eds.). Avanços em Ciências da Linguagem. Santiago de Compostela:
Associação Internacional de Lusitanistas; Através editora, 93-116.
104 Sónia Duarte
Kemmler, Rolf / Assunção, Carlos / Fernandes, Gonçalo (2010): “A primeira gramática
portuguesa para o ensino feminino (Lisboa, 1786)”. Diacrítica: Série ciências de
linguagem 24,1, 373-3.
Moura, Teresa (2011): “Contribuições para o estabelecimento de uma tipologia verbal
setecentista”. In Assunção, Carlos / Fernandes, Gonçalo / Loureiro, Marlene.
Ideias Linguísticas na Península Ibérica (séc. XIV a séc. XIX), I . Münster: Nodus
Publikationen, 177-188.
―― (2012): «As Ideias Linguísticas Portuguesas no século XVIII». Vila Real: Centro
de Estudos em Letras / Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Ponce de León, Rogelio (2005): "Os verbos em confronto: considerações sobre a tipologia verbal nas Artes gramaticais portuguesas setecentistas (1699-1758)". In:
Miguel Gonçalves et al. Gramática e Humanismo. Actas do Colóquio de
Homenagem a Amadeu Torres, I. Braga: Aletheia, 449-464.
―― (2006): "Notas sobre la presencia de la gramática y los gramáticos españoles en la
gramaticografía portuguesa (siglos XVI-XVIII)". Romanistik in Geschichte und
Gegenwart 12:2, 147-165.
Schäfer-Prieß, Barbara (no prelo): A Gramaticografia Portuguesa de 1540 até 1822: Condições da sua génese e critérios de categorização, no âmbito da tradição
latina, espanhola e francesa. Tradução de Jaime Ferreira da Silva, revista e
atualizada pela autora.
Silva, Inocêncio da & Aranha, P.V. Brito (1862, VI; 1894, XVII): Diccionario bibliographico portuguez. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.
Silva, Luiz Vilela da (1828): Observações críticas sobre alguns artigos do ensaio
estatístico do Reino de Portugal e Algarves publicado em Paris por Adriano
Balbi, seu auctor. Lisboa: Impresão Regia.
Verdelho, Telmo (2003): "O dicionário de Morais Silva e o início da lexicografia moderna". In Head, Brian et al. História da língua e história da gramática - actas
do encontro. Braga: Universidade do Minho / ILCH, 473-490.
Xavier, Maria Francisca & Mateus, Maria Helena (org.) (1990-1992). Dicionário de Termos Linguísticos. Dicionário de Termos Linguísticos, Volume I. Lisboa:
Edições Cosmos. Em: http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.
php?action=terminology (última consulta: 6 de março de 2013).