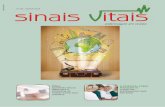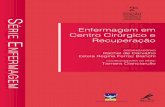A produção do cuidado no Programa de Atenção Domiciliar de uma Cooperativa Médica
aplicabilidade do processo de enfermagem na atenção ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of aplicabilidade do processo de enfermagem na atenção ...
APLICABILIDADE DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE UMA REGIONAL DE SAÚDE DOESTADO DO PARANÁ
1EMILLI KARINE MARCOMINI, 2NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA, 3DAIANE CORTEZ RAIMONDI
1Discente de Enfermagem. PIBIC/UNIPAR1Enfermeira e Docente do Curso de Enfermagem- UNIPAR2Enfermeira, Mestre e Docente do Curso de Enfermagem-UNIPAR.
Introdução: O processo de enfermagem (PE) e a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) são metodologiascientíficas que oferecem subsídio para a assistência de enfermagem, organizando o trabalho profissional do enfermeiro,permitindo a identificação das necessidades e as intervenções necessárias a serem aplicadas na assistência e garantindoassistência integral, resolutiva e de qualidade aos usuários (GIEHL et al.,2016). Instituído pela Resolução no 358/2009, a qualestabelece ser uma ação privativa do enfermeiro, o PE deve ser aplicado em todos estabelecimentos de saúde, que ofereçamassistência por este profissional (COFEN, 2009).Objetivo: Analisar a aplicabilidade do processo de enfermagem pelos enfermeiros assistenciais atuantes na atenção primária deuma regional de saúde do estado do Paraná.Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com abordagem quanti-qualitativa. A população foiconstituída pelos enfermeiros atuantes nas equipes de atenção primária dos municípios que compõe uma Regional de Saúde doEstado do Paraná. A coleta de dados foi realizada durante os meses de outubro a dezembro de 2018, através de um formuláriosemiestruturado contendo questões objetivas e discursivas que foi aplicado online por meio da tecnologia de formulárioeletrônico, Google Forms. Os enfermeiros foram convidados a participar da pesquisa via e-mail onde receberam o link doformulário da pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), permitindo ao participante a possibilidade deconcordar ou não em participar da pesquisa. Cabe mencionar que o presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética emPesquisas Envolvendo Seres Humanos da Universidade Paranaense (UNIPAR), sob parecer no. 2.865.638.Resultados: Participaram da pesquisa 44 enfermeiros, totalizando 60,3% dos enfermeiros atuantes na APS da regional de saúdeestudada, destes 39 (88,6%) pertenciam ao sexo feminino, 5 (11,4%) ao masculino, a qual identifica-se uma resistência dosenfermeiros em participarem do presente estudo, provavelmente por envolver a prática profissional dos mesmos. Em relação aaplicabilidade do processo de enfermagem, 9 (20,5%) enfermeiros relatam que aplicam todas as etapas, 29 (65,9%) aplicamparcialmente o processo e 6 (13,6%) enfermeiros não realizam a aplicabilidade. Verifica-se ainda que a maioria dos profissionaisnão aplicam a sistematização por completo em sua rotina profissional, citando a existência de dificuldades em seu âmbito detrabalho que afastam a aplicabilidade, conforme explícito nos falas dos participantes: É um processo que requer muitaorganização do processo de trabalho, pois exige uma atenção maior do profissional enfermeiro, que hoje em dia encontra se commuitas funções e sobrecarga na unidade . (Enf 16) Não existem capacitações no Município para atualização quanto ao tema .(Enf 20) Não existem comissões, protocolos para seguir a SAE nas unidades de saúde . (Enf 25) Muitas vezes a rotinaassoberbada de trabalho não contribui para que consiga aplicar a SAE em todas as situações . (Enf 33)Discussão: Mesmo diante da importância da aplicabilidade para intensificar a qualidade do cuidado do enfermeiro, ainda évisível a resistência da enfermagem à operacionalização de uma assistência sistematizada. Assim, o atendimento deenfermagem sem a utilização do processo torna-se fragmentado, ocasionando maior probabilidade de ocorrência de erros,diagnósticos menos efetivos, menor segurança nas práticas de cuidado, bem como na avaliação restrita das necessidades dopaciente (GIEHL et al., 2016). Pontua-se que o processo de enfermagem é cercado por desafios e dificuldades que acabam porafastar a aplicabilidade, como identificado em outras pesquisas, aos quais mencionam problemas pessoais e institucionais,sobrecarga de trabalho dos enfermeiros, ausência de recursos materiais e humanos e ausência de apoio por parte dos órgãossuperiores (COSTA et al., 2018; GOMES et al., 2018). Vale ressaltar que é um processo fundamental na APS, pois esta é aprincipal porta de entrada dos usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS), onde tem se consolidado e expandido cada vez maiso papel da enfermagem (CAÇADOR et al., 2015; DAMACENO et al., 2016). Por haver uma preocupação constante com aqualidade do atendimento na área da enfermagem dentro da APS, verifica-se ser essencial a aplicabilidade da SAE nas equipesde atenção primária, objetivando garantir um cuidado integral, resolutivo, humanizado e de qualidade, em concordância com osprincípios da assistência básica em saúde (CAMPOS et al., 2014).Conclusão: A aplicabilidade do processo de enfermagem pelos enfermeiros atuantes nas unidades básicas de saúde da regionalé considera baixa e fragmentada, visto que existem muitos profissionais aplicando a sistematização de forma parcial, contribuindoassim para redução da qualidade da assistência prestada. Deste modo, cabe aos gestores analisarem o índice de aplicabilidade
e assim repensarem formas de incentivar a aplicabilidade, seja desenvolvendo instrumentos específicos para a operacionalizaçãodo processo ou ofertando capacitações sobre a temática.
ReferênciasCAÇADOR, B. S. et al. Ser enfermeiro na estratégia de saúde da família: desafios e possibilidades. Revista Mineira deEnfermagem, Belo Horizonte-MG, v.19, n.3, p.620-626, 2015. Disponível em:http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/1027Acesso em:10 jul. 2019.CAMPOS, R.T.O. et al. Avaliação da qualidade do acesso na atenção primária de uma grande cidade brasileira na perspectivados usuários. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v.38, n. esp. p.252-264, 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042014000600252 Acesso em:10 jul. 2019.CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN nº 358 de 15 de outubro de 2009. Dispõe sobre aSistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ouprivados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Brasília-DF: COFEN, 2009. COSTA, A.S. et al. O processo de enfermagem na atenção básica em um município de alagoas, brasil. Revista de Enfermageme Atenção Saúde, v.7, n.1, p.143-151, 2018. Disponível em:http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/enfer/article/view/2201 Acesso em:10 jul. 2019.DAMACENO, A. N. et al. Acesso de primeiro contato na atenção primária à saúde: revisão integrativa. Rev. APS, Minas Gerais,v.19, n.1, p.122-138, 2016. Disponível em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/15624 Acesso em:10 jul. 2019.GIEHL, C. T. et al. A equipe de enfermagem frente ao processo de implantação da sistematização da assistência deenfermagem. Revista de Enfermagem e Atenção Saúde, v.5, n.2, p.84-91, 2016. Disponível em:http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/enfer/article/view/1621 Acesso em:10 jul. 2019.GOMES, R.M. et al. Sistematização da assistência de enfermagem: revisitando a literatura brasileira. Id on Line RevistaMultidisciplinar e de Psicologia, v.12, n.40, 2018. Disponível em: https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1167 Acessoem:10 jul.2019.
PERFIL QUANTITATIVO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE DISPENSAÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARESINDUSTRIALIZADAS
1EDYANE SILVA DE LIMA, 2LUZIA LAUREANO LOVO
1Centro de Saúde Osvaldo I Ishida1Centro de Integração de Assistência em Saúde Pública
Introdução: O leite materno e a ingestão de alimentos de origem naturais são adequadas fontes de nutrientes para o organismohumano. No entanto, em situações de insuficiência de absorção e/ou acometimento de doenças, onde tais componentes não sãosuficientes, tem-se como conduta médica e nutricional a prescrição de fórmula e/ou suplementação alimentar, sobretudodirecionada a crianças e pessoas idosas (BRASIL, 2008). Portanto, desde 2016 o município de Assis Chateaubriand/PR possuipara dispensação de fórmula alimentar um protocolo, formalizando e norteando a implementação desta ação em âmbito local,garantindo melhor organização a atendimento de demanda desta natureza, sob acompanhamento dos usuários/as desteprograma profissionais de nutrição e serviço social.Objetivo: Objetivamos apresentar um levantamento quantitativo sobre o programa de dispensação de fórmulas alimentaresespeciais no município de Assis Chateaubriand/PR.O acesso aos dados ocorre em virtude de sermos as profissionais responsáveis pelo programa e estes serem publicizados emaudiências públicas quadrimestralmente na Câmara de Vereadores da localidade. Sendo que o mesmo não foi submetido aocomitê de ética, devido somente traçaar um perfil dos beneficiários no período descrito. Material e métodos: Utilizamos leitura bibliográfica, levantamento e análise de relatórios do programa de dispensação defórmulas alimentares das fórmulas dispensadas no município de Assis Chateaubriand/PR no período de 2016 a 2018, denotandoum perfil quantitativo dos beneficiários.Resultados: Após levantamento dos dados, observamos que o programa de dispensação de fórmulas especiais regulamentadopor protocolo, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de Assis Chateaubriand/PR, fora iniciado em Abril/2016. Sendo queneste primeiro ano atendeu 11 pessoas, sendo 05 do sexo feminino e 06 do masculino, estando distribuídos em 05 crianças, 02adolescentes, 02 adultos e 02 idosos. Já em 2017, atendeu 31 pessoas, sendo 13 do sexo feminino e 18 do sexo masculino,difundidas em 14 crianças, 05 adultos/as e 12 idosos. Quanto a 2018, o público atendido cresceu significativamente, sendoatendidas 114 pessoas, correspondendo a 51 do sexo feminino e 63 do sexo masculino, estando distribuídos em 58 crianças, 18adultos e 37 idosos. Neste intervalo de 2016 a 2018, foram atendidas um total de 161, sendo que 66 pessoas utilizaram fórmulase 118 pessoas utilizaram dietas e/ou suplementos, sendo desligadas 103 pessoas neste período. Discussão: Nota-se uma crescente na demanda pelo programa, pois o mesmo foi sendo publicizado no seu desenrolar pelosbeneficiários e/ou responsáveis, acrescido que o critério norteador do programa versa sobre estado clínico e nutricional, e nãosobre questão de renda, compreendendo a elevação significativa no número de atendidos (BRASIL, 2008 e 2015). Os resultadosrevelam que o público de crianças e idosos sobressai, derivando na dispensação recorrente de fórmulas e/ou suplementos.Observa-se que no foram atendidos mais pessoas do sexo masculino, entretanto, não se denota preponderância significativa dealgum sexo.Conclusão: A partir deste levantamento do perfil quantitativo notou-se que o programa tem aumento significativo ao longo doperíodo analisado. Quanto a necessidade das pessoas que precisam de fórmula, suplemento e/ou dieta, conforme citado oatendimento ocorre em virtude do quadro clínico e não por critérios econômicos e sociais, cumprindo a universalidade de acessoda política de saúde. Revelou também rotatividade em virtude de situações de desligamento, cuja esta última ocorre por:recuperação do estado clínico e/ou nutricional; falecimento; e, mudança para outra cidade.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Marco de referência davigilância alimentar e nutricional na atenção básica. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento deAtenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 56 p._____. Ministério da Saúde. Disponibilização de fórmulas alimentares no SUS, 2008. Apresentado no VII Encontro da rede denutrição no SUS. Disponível em: . Acesso em: 12 jul. 2018.ASSIS CHATEAUBRIAND. Relatório Social: Analítico por unidade detalhado: Fornecimento de leite 01/04/2016 à 31/12/2018.Assis Chateaubriand, 2019.
O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PRESCRIÇÃO DE FITOTERÁPICOS
1PAMELLA DA SILVA ROMAN, 2IRINEIA PAULINA BARETTA
1Discente de Enfermagem da UNIPAR/TCC1Docente Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica/UNIPAR
Introdução: As plantas medicinais são utilizadas pelo homem desde a pré-história, disposta na forma natural ou secacaseiramente, predominando folhas e raízes como medicamentos. A fitoterapia, por ser de fácil acesso, é praticada em grandeparte dos países em desenvolvimento (BRASIL, 2006). No Brasil, apesar da criação de Políticas Públicas para incentivar aimplementação da fitoterapia nas Unidades Básicas de Saúde, muitos municípios ainda não oferecem esta terapêutica em nívelsecundário (MATTOS et al., 2018). A fim de contribuir para a implantação das ações de enfermagem na área de plantasmedicinais, faz-se necessário a construção deste conhecimento na graduação, sendo que a maiorias das Instituições nãooferecem esses conteúdos de forma obrigatória nem optativa.Objetivo: Identificar as habilidades necessárias ao enfermeiro na prescrição e orientação do uso de fitoterápicos.Desenvolvimento: A fitoterapia pode ser definida como uma forma de tratamento com a utilização de plantas medicinais, emassociação ou não com substâncias ativas isoladas. A planta medicinal pode ser qualquer espécie vegetal utilizada com finsterapêuticos, desde que comprovada sua eficácia. Já o fitoterápico é oriundo de uma planta medicinal e derivados, com finalidademedicamentosa (BRASIL, 2009). Sua utilização data desde o período pré-histórico, onde os primatas instintivamente utilizavamplantas como medicamentos, utilizando ervas e raízes. Além disso, existem registros arqueológicos sobre o conhecimento dospovos orientais na utilização das plantas medicinais como remédio (COSTA, 2017). Até o início do século XX entretanto, osconhecimentos relacionados às plantas medicinais foram marginalizados pela maioria dos cientistas, devido à falta decomprovação científica do uso popular. Este cenário mudou a partir dos anos 80 e 90 com estudos pré-clínicos e clínicos deeficácia e segurança, servindo como complemento às práticas de saúde vigentes (ABRANCHES, 2015). Por ser de fácil acesso,a adoção das plantas medicinais e/ou fitoterápicos deu-se em grande escala nos países em desenvolvimento, especialmente empopulações carentes (BRASIL, 2006). Apesar disso, muitos municípios não utilizam esta terapêutica, mesmo com programas epolíticas de incentivo para sua adoção nas unidades básicas de saúde, oferecendo apenas a acupuntura na atenção secundária(MATTOS et al., 2018). Outro fator que dificulta a adoção da fitoterapia é o fato de que muitas grades curriculares na graduaçãode enfermagem são focadas no modelo biomédico, e não oferecem à disciplina de fitoterapia, levando os profissionais adesvalorizarem o uso de plantas medicinais por falta de conhecimento (BADKE et al., 2017). O enfermeiro deve ter a habilidadede compreender a realidade na qual o paciente está inserido para identificar seus saberes e valores culturais, e assim realizar,com segurança, uma orientação eficaz (SAMPAIO et al, 2013), o que é importante pois cabe ao profissional de enfermagemorientar a população sobre a utilização correta de plantas medicinais e da fitoterapia (SANTOS; TRINDADE, 2017). A educaçãoem saúde é um instrumento do qual o enfermeiro pode utilizar para orientar a população no uso correto das plantas medicinais eda fitoterapia. Esta educação deve ser embasada no conhecimento cultural da região em que o profissional está inserido, comoas plantas que são utilizadas, suas finalidades e o perigo da intoxicação e do uso indiscriminado (SANTOS; TRINDADE, 2017). Aespecialização do profissional de enfermagem em fitoterapia atualmente é regulamentada pela resolução COFEN-581/2018,junto com outras Práticas Integrativas Complementares. A prescrição de fitoterápicos é regulamentada pela Lei Nº 7.498, de 25de junho de 1986, que habilita o enfermeiro a prescrever medicamentos estabelecidos em Programas de Saúde Pública e rotinasaprovadas pela instituição de saúde em que ele atua (BRASIL, 1986).Conclusão: A maior adesão da fitoterapia como tratamento pela sociedade aumentaria a gama de opções de prevenção etratamento de agravos e doenças, facilitando o acesso às plantas medicinais. No que diz respeito às habilidades do enfermeiro,este deve ter consciência do ambiente, cultura e valores no qual está inserido para realizar a orientação de forma eficaz. Paraprescrever fitoterápicos os profissionais devem se especializar na área uma vez que a graduação não disponibiliza osconhecimentos necessários. Também se faz necessário que as universidades incluam em suas propostas curriculares disciplinasrelacionadas à fitoterapia, para que os profissionais desenvolvam habilidades que permitam a orientação ao usuário sobre o usocorreto e racional de plantas medicinais e fitoterápicos.
ReferênciasABRANCHES, M. V. Plantas Medicinais e Fitoterápicos: abordagem teórica com ênfase em nutrição. Viçosa: A.S. Sistemas,2015. 147 p.BRASIL. Lei nº 7.498, de 25 de julho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá outrasprovidências. Brasília: Senado Federal, 1986. Disponível em: . Acesso em: 04 jun. 2019.
______. Ministério da Saúde. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 60p. Disponível em: . Acesso em: 30 jun. 2019.______. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.136 p. Disponível em: . Acesso em: 30 jun. 2019.MATTOS, G. et al. Plantas medicinais e fitoterápicos na Atenção Primária em Saúde: percepção dos profissionais. Ciência &Saúde Coletiva, [S. l.], v. 23, n. 11, p. 3735-3744, nov. 2018. Disponível em: . Acesso em: 30 jun. 2019.SANTOS, V. P.; TRINDADE, L. M. P. A Enfermagem no Uso das Plantas Medicinais e da Fitoterapia com Ênfase na SaúdePública. Revista Científica FacMais, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 16-34, fev/mar. 2017. Disponível em: . Acesso em: 04 jun. 2019.
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS DE TUBERCULOSE NOS ANOS DE 2014 A 2018 NOESTADO DO PARANÁ
1TAZIANE MARA DA SILVA , 2MATHEUS ALEXANDRE VICTORIO, 3PRISCILA LUZIA PEREIRA NUNES, 4MARCELAMADRONA MORETTO DE PAULA
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmico do PIC/UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: A Tuberculose (TB), doença infecto contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, se encontra no rankingdas dez patologias que mais ocasionam óbito no contexto mundial por um único agente infeccioso, estando acima de índice demortalidade ocasionado por HIV/AIDS, segundo o último relatório epidemiológico emitido pela Organização Mundial da Saúde(OMS). Tal patologia é considerada uma importante questão de saúde pública que exige estratégias específicas para a suaredução e erradicação, especialmente por levar em consideração os determinantes sociais da doença nas politicas públicasestipuladas (BRASIL, 2019).Objetivo: Realizar um levantamento epidemiológico a respeito dos casos confirmados de tuberculose no estado do Paraná entreos anos de 2014 a 2018, a fim de que se conheça melhor o comportamento da patologia no contexto estadual.Materiais e métodos: Utilizou-se para esta pesquisa dados provenientes do Ministério da Saúde/SVS, por meio da plataforma doTABNET, viabilizado pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram analisadas as variáveis: gênero,faixa etária, apresentação clínica da doença, cura, abandono de terapêutica e óbito decorrente de TB.Resultado e Discussão: No estado do Paraná, entre os anos de 2014 a 2018, 12.537 pessoas foram notificadas com TB.Destes, 69,9% são do gênero masculino e 30,1% do feminino .Quanto a faixa etária, notou-se que o maior índice de TB foi entre20-39 anos, correspondendo a 43,9%, seguido da grupo etário 40-59 anos, com 34,6%. No que diz respeito à forma da doença, aapresentação clínica pulmonar foi a mais presente, acometendo 82% dos casos. Cabe ressaltar que, do total das pessoasacometidas pela patologia, 61% tiveram cura, 5,5% abandonaram o tratamento e 3,5% morreram em decorrência da TB.Marques et al. (2010, apud CARDOSO, et al. 2018), relatam que diferenças de gênero podem ser advindas de uma maiorexposição do sexo masculino ao bacilo, as condições de vida e trabalho que podem contribuir para um maior adoecimento doshomens. Condizente a faixa etária, verifica-se que maiores incidências correspondem a indivíduos que se encontram em sua faseeconomicamente ativa, o que acarreta em consequências econômicas e sociais tanto para o próprio paciente quanto para afamília e sociedade (CARVALHO et al., 2006; MUNIZ et al., 2006, apud CARDOSO et al., 2018). Quanto a característica clínicapredominante pulmonar, deve-se pela presença de altas concentrações de oxigênio nos pulmões, o que confere a este órgão, olocal ideal e de preferência para que o M. tuberculosis se instale, já que é uma bactéria estritamente aeróbia (MASCARENHAS;ARAÚJO; GOMES, 2005, apud CARDOSO, et al., 2018). Além disso, Pereira, et al. (2015) ainda aponta que um dos pontosfundamentais e que ocasiona o comprometimento dos mecanismos de combate e cura da TB se refere ao abandono dotratamento pelo indivíduo, que tem impacto tanto nos custos da saúde pública em relação ao tratamento, como apresentaconsequências nas taxas de mortalidade, de recidiva da doença, aparecimento de bacilos resistentes. Conclusão: Mesmo sabendo que a TB é uma doença curável apesar de ser grave, ainda é grande o desfio para a eliminaçãodessa doença no Brasil. Desta forma, percebe-se a importância de identificar as fragilidades que envolvem as estratégias decontrole bem como elaborar novas estratégias envolvendo os profissionais da área da saúde, comunidade e o autocuidadovisando a contenção dessa enfermidade na população.
ReferênciasBRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das DoençasTransmissíveis. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria deVigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponívelem: < http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/marco/28/manual-recomendacoes.pdf>. Acesso em 05 de jul. 2019.BRASIL. DATASUS. Portal da Saúde. Tuberculose Notificações registradas no sistema de informação de agravos denotificação Paraná. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/tubercpr.def. Acesso 26 de mai.2019.CARDOSO, L. C.; et al. Aspectos epidemiológicos dos pacientes notificados com Tuberculose na microrregião de Umuarama
Noroeste Paranaense de 2009 a 2014. Arq. Ciênc. Saúde UNIPAR, Umuarama, v. 22, n. 3, p. 157-163, set./dez. 2018.Disponível em: . Acesso em 26 de mai. 2019.PEREIRA, J. D. C.; et al. Perfil e seguimento dos pacientes com tuberculose em município prioritário no Brasil. Rev SaúdePub, V. 49, p. 1-12, 2015. Disponível em: . Acesso em: 14 de Mai. 2019.WORLD HEALTH ORGNIZATION (WHO). Global tuberculosis report 2017. Geneva: WHO, 2018. Disponível em:. Acesso em05 de jul. 2019.
ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DOS EXTRATOS AQUOSOS DAS FOLHAS DE Zingiber Officinale Roscoe EAlpinia Purpurata (VIELL.) K. SCHUM. (ZINGIBERACEAE) DO HORTO MEDICINAL DA UNIPAR, CAMPUS 2 UMUARAMA-
PR
1DIRCE CONSUELO CORONATO CORREIA, 2MAURO FERNANDES APARECIDO JARDIM, 3ISABEL CRISTINA DA SILVACAETANO, 4LETÍCIA MARTIM LAGO, 5ANDRÉIA ASSUNÇÃO SOARES
1Acadêmica Ensino Médio PEBIC EM-JR/CNPq/UNIPAR-IFPR1Mestre Profissional de Plantas Medicinais/UNIPAR2Acadêmica do Doutorado em Ciência Animal com Ênfase em Produtos Bioativos/UNIPAR3Acadêmica Ensino Médio PEBIC EM-JR/CNPq/UNIPAR-Colégio Estadual Pedro II4Docente da UNIPAR
Introdução: Os alimentos nutracêuticos são aqueles que, além de cumprir funções nutricionais básicas, também produzemefeitos metabólicos, fisiológicos e benéficos à saúde, incluindo a prevenção e tratamento de doenças, sendo consideradosseguros para uso sem supervisão médica (SOARES, 2002). A funcionalidade desses alimentos é atribuída aos compostosbioativos, que são produzidos pelas plantas, tais como os compostos fenólicos, que possuem atividade antioxidante, que podemagir contra danos em macromoléculas como lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos (PERALTA et al., 2008; SOARES et al., 2013).A Alpinia purpurata conhecida como gengibre-vermelho (ornamental), e que apresenta compostos fenólicos, dentre eles osflavonoides que são referidos como agentes terapêuticos promissores para o tratamento de doenças cardiovasculares(SUBRAMANIAN; SUJA, 2011). E o Zingiber officinale, conhecido popularmente como gengibre, é amplamente cultivado para ouso de especiarias, condimentos e com potencial medicinal (SUHAD et al., 2012).Objetivos: Verificar a capacidade antioxidante dos extratos aquosos das folhas de Zingiber officinale Roscoe e Alpinia purpurata(Vieill.) K. Schum. (Zingiberaceae) cultivadas no Horto Medicinal da Unipar, Campus 2 Umuarama-PR.Materiais e métodos: As duas espécies Z. officinale e A. purpurata cultivadas em canteiros experimentais do Horto Medicinal doCampus 2 da Unipar, Umuarama, foram coletadas e o processo de secagem foi realizado em estufa de circulação forçada (35oC)por 20 dias. Para a extração das folhas dos gengibres foi utilizado a metodologia de acordo com Otunola, (2013). Os filtradosforam liofilizados (Liofilizador, Vir Tis K, Vir Tis, Gardiner, Nova York, EUA) e armazenados no freezer. A concentração doscompostos fenólicos totais foi determinada de acordo com Singlenton; Rossi, (1965) e o ácido gálico foi utilizado como referência.As atividades antioxidantes: Ensaio 1,1 difenil 2 picril-hidrazil - DPPH: EC50 (menor concentração do extrato que expressa 50%de atividade antioxidante) e capacidade antioxidante total - FRAP foram realizadas de acordo com Thaipong et al. (2006) e Choiet al. (2006), Pulido; Bravo; Saura-Calixto, (2000), Benzie; Strain, (1996) respectivamente. O antioxidante sintético butil-hidroxi-tolueno - BHT (0,2mg/ml) foi utilizado como controle positivo para o ensaio DPPH e o padrão Trolox ® (Sigma) foi utilizado para oensaio FRAP.Resultados: A determinação dos compostos fenólicos totais foram de 637,47± 6,80 µg equivalentes de ácido gálico/mg para oextrato A. purpurata e de 160,86±0,17µg equivalentes de ácido gálico/mg para o extrato Z. officinale, O EC50 - DPPH, o foi de0,063± 0,16 mg/mL para o extrato A. purpurata e de 0,291± 2,87 mg/mL para o extrato Z. officinale. Na atividade antioxidantetotal - FRAP foi 38,60±3,42 nmols eq. Trolox/mg extrato de A. purpurata e de 19,36±0,15 nmols eq. Trolox/mg extrato Z.officinale. Discussão: Rahmani et al. (2014), apresentou que os compostos bioativos, principalmente os compostos fenólicos, estãorelacionadas a atividades biológicas no gengibre como a atividade antioxidante. Os compostos bioativos apresentam umafunções importantes, contudo o mecanismo de ação biológica ainda não é completamente compreendido. Principalmente asatividades antioxidantes relacionadas ao gênero Alpinia, que é mais conhecida como ornamental, e tem sido pouco investigadaem seu potencial medicinal, no qual várias partes da planta possuem compostos bioativos com eficiência terapêutica (GHOSH;RANGAN, 2013). Entretanto, o Zingiber officinale, apresenta vários compostos bioativos conhecidos, como por exemplo ogingerol com atividades farmacológicas, antioxidante, anti-inflamatória, analgésica, hipoglicêmica, anti-trombótica eantimicrobiana, apresentada em estudos anteriores (SHAREEF et al., 2016), todavia, observa-se através dos resultados obtidosque o ideal para consumo apresentado neste estudo é a alpinia purpurata pois a mesma apresentou maior composição decompostos bioativos com função de antioxidantes, visto que os antioxidantes apresentam potencial para prevenir doenças eretardar o envelhecimento precoce causado pelos radicais livres quando produzidos em excesso e inadequadamente noorganismo, sendo portanto um meio alternativo e atrativo para o consumo de forma natural, possibilitanto futuramente o
desenvolvimento de fórmulas para manipulação e fabricação de remédios partindo deste uso.Conclusão: Conclui-se que os extratos aquosos das folhas de Z. officinalle e A. purpurata possuem compostos bioativos,entretanto a espécie de Alpinia purpurata possui um potencial antioxidante maior em relação a espécie Zingiber officinale, devidoao maior teor de compostos fenólicos totais.Para estabelecer e compreender a eficácia dos agentes antioxidantes e ou terapêuticos isolados (compostos bioativos) daespécie A. purpurata (Zingiberaceae), são necessários mais estudos bioquímicos e farmacológicos, para colaborar com acompreensão dos mecanismos biológicos dos compostos bioativos e consequentemente, novas alternativas de extratos efármacos para prevenção e tratamento de doenças que acometem os indivíduos.
ReferênciasBENZIE, F. F. I.; STRAIN, J. J. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: The FRAPassay. AnalyticalBiochemistry, v. 239, p. 70-76, 1996.PULIDO, R.; BRAVO, L.; SAURA-CALIXTO, F. Antioxidant activity of dietary polyphenols as determined by a modified ferricreducing/antioxidant power assay. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 48, p. 3396-3402, 2000.OTUNOLA GA, OLOYEDE OB, OLADIJI AT, AFOLAYAN AJ: Hypolipidemic effect of aqueous extracts of selected spices andtheir mixture on diet-induced hypercholesterolemia in Wistar rats. Can J Pure Appl Sci 2012, 6:2063 2071.OTUNOLA et al.: Selected spices and their combination modulate hypercholesterolemia-induced oxidative stress in experimentalrats. Biological Research 2014 47:5.
CLASSIFICAÇÃO DAS CRISES EPILÉPTICAS
1PRISCILA LUZIA PEREIRA NUNES, 2TAZIANE MARA DA SILVA, 3THALYA VITORIA BECHER, 4KAMUNI AKKACHECOUTINHO, 5CAMILA MORENO GIAROLA, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Acadêmica do PIC/UNIPAR4Acadêmica do PEBIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Epilepsia é o mais frequente transtorno neurológico sério. Cinquenta milhões de pessoas são acometidas no mundo,40 milhões vivendo em países em desenvolvimento. Pessoas de todas as raças, sexos, condições socioeconômicas e regiõessão acometidas. Ela pode provocar consequências profundas, incluindo morte súbita, ferimentos, problemas psicológicos etranstornos mentais (MARCHETTI, 2005).Objetivo: A presente revisão busca fazer um breve levantamento sobre a classificação das crises convulsivas emepilépticos.Desenvolvimento: As epilepsias caracterizam-se por alterações crônicas, recorrentes e paroxísticas na função dasáreas corticais e subcorticais envolvidas (SILVA et al, 2013). A presença de epilepsia é definida pela recorrência de crisesepilépticas (pelo menos duas) espontâneas, isto é, não provocadas por febre, insultos agudos ao sistema nervoso central (SNC)ou desequilíbrios tóxico-metabólicos graves (MARCHETTI et al, 2005). Desse modo, muitas crises epilépticas manifestam-seatravés de alterações sensitivas, emocionais ou cognitivas (SILVA et al, 2013). Como se depreende da definição de epilepsia, ascrises epilépticas dividem-se em dois grandes grupos de acordo com o seu início electroclínico: as que se iniciam numa regiãolocalizada do córtex são intituladas crises focais ou parciais, as que se iniciam por uma descarga generalizada, são as crisesgeneralizadas. As crises generalizadas aparecem sobretudo em epilepsias primárias ou idiopáticas, mas podem aparecertambém em epilepsias secundárias, as lesões extensas do córtex cerebral que acompanham, por exemplo, as doençasdegenerativas da infância ou as crianças com atraso de desenvolvimento mental. São exemplos destas crises: Ausências,Mioclonias, Convulsões tônico-clônicas, Convulsões tônicas e Crises atónico-astáticas. As crises parciais, por sua vez, aparecemcomo consequência de uma descarga anômala e síncrona de um conjunto, ou foco, de células corticais que, quando atingem umlimiar mínimo, dão lugar a um comportamento anômalo, que é a crise epiléptica. A sintomatologia resultante vai ser muito variadae depender da função que tenha a zona cortical influenciada pelo foco epiléptico. Clinicamente, separam-se estas crises em trêsgrupos: crises parciais simples (motora, sensitiva, sensoriais, psíquicas ou dismnésicas) crises parciais complexas e crisesparciais secundariamente generalizadas (LIMA, 2005).Conclusão: Caracterizada pela repetição espontânea de crises epilépticas, a epilepsia é um termo que engloba múltiplasmanifestações anormais do comportamento cerebral. As crises convulsivas em epilépticos são classicamente divididas emparciais ou generalizadas. Ambas podem gerar desdobramentos de diferentes níveis de gravidade.
ReferênciasMARCHETTI, Renato Luiz, et al. Transtornos mentais associados à epilepsia. Rev. psiquiatr. clín., São Paulo , v. 32, n. 3, p.170-182, junho,2005.SILVA, Cléber Ribeiro Álvares da, et al. Considerações sobre epilepsia. Bol Cient Pediatr. v. 2, n.3, p. 71-76, 2013.LIMA, José M. Lopes. Epilepsia: a abordagem clínica. Revista Portuguesa de Clínica Geral. v. 21, n.3.p.291-298.2005.
ANÁLISE DE AÇÕES PARA COMBATER O MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE
1PRISCILA LUZIA PEREIRA NUNES, 2DENISE ALVES LOPES, 3AMANDA PINHEIRO PRADO, 4IRINEIA PAULINA BARETTA,5SIMONE CASTAGNA ANGELIM COSTA, 6ROSILEY BERTON PACHECO
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Docente da UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Docente do Programa de Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O incremento da dengue está relacionado a diversos fatores que propiciam a dispersão do vetor e do vírus, como aurbanização desordenada e a intermitência da distribuição de água a população (SOUZA et al., 2018). Tendo em vista talsituação, vários mecanismos de ação tem sido utilizados e também meios de tecnologias otimizados para o controle do Aedesaegypti (ZARA et al., 2016). Objetivo: Analisar e demonstrar ações para combater o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.Desenvolvimento: Para combater o mosquito da dengue, são adotados três tipos de mecanismos:mecânico,biológicos equímicos (ZARA et al., 2016). O controle mecânico é baseado na aderência de medidas capazes de impossibilitar a reproduçãodo mosquito da dengue, como exemplo: otimização da coleta de resíduos sólidos, designição adequada de pneumáticos eproibição de depósitos de armazenamento de água, com o emprego de capas e tampas (BRASIL; 2009). Já o controle biológico ébaseado na utilização de predadores do tipo peixes larvófagos e copépodos.Hormônios miméticos, os quais são reguladores decrescimento sintéticos, também são utilizados para o controle do vetor (DONALÍSIO, GLASSER; 2002). E por fim, o controlequímico é realizado pelo o uso de produtos químicos, como a borrifação de inseticida de ação residual denominada de tratamentoperifocal e o uso espacial de inseticida a ultra baixo volume (DONALÍSIO, GLASSER; 2002). Diferentes ações, envolvendotecnologias, têm sido desenvolvidas para o combate do Aedes aegypti, tais como: monitoramento da infestação, pulverização deinseticidas e a utilização de controle químico e biológico correlacionando com as combinações entre diversas técnicas (ZARA etal., 2016).Considerando-se que não há uma solução singular para a contenção do Aedes aegypti no Brasil, são necessáriosrecursos e meios interligados para o combate do mosquito da dengue (ZARA et al., 2016).Portanto, o governo precisa aplicarmedidas relevantes para o combate da dengue,tendo em vista que tais ações devem ser realizadas durante o ano todo e concentrando-as nas regiões em que há maior prevalência da dengue.Entretanto,não se deve desconsiderar outras áreas ondehá menor incidência, pois nestes locais também podem ocorrer a dengue se houver displicência(SILVA,MARIANO,SCOPEL;2008).Conclusão: A união de diferentes estratégias de controle vetoriais,sendo estas químicas, físicas, biológicas ou tecnológicos, éum mecanismo eficaz para a redução da infestação dos mosquitos. Tanto nas estratégias de erradicação como nas de controle,tem sido orientado o uso das várias técnicas agregadas para o combate ao Aedes aegypti.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Diretrizesnacionais para prevenção e controle de epidemias de dengue. Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 55 p.DONALISIO, Maria Rita; GLASSER, Carmen Moreno. Vigilância entomológica e controle de vetores do dengue. Rev. bras.epidemiol., São Paulo , v. 5, n. 3, p. 259-279, Dez. 2002.SILVA, J. S; MARIANO, Z. F; SCOPEL, I. A dengue no Brasil e as políticas de combate ao Aedes aegypti: da tentativa deerradicação às políticas de controle - THE DENGUE FEVER IN BRAZIL AND COMBAT DENGUE FEVER TO THE AEDESAEGYPTI: OF THE TRY ERADICATION TO CONTROL POLICIES. Hygeia - Revista Brasileira de Geografia Médica e daSaúde, v. 4, n. 6, 25 jun. 2008.SOUZA, Kathleen Ribeiro et al . Saberes e práticas sobre controle do Aedes aegypti por diferentes sujeitos sociais na cidade deSalvador, Bahia, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 34, n. 5, e00078017, 2018.ZARA, Ana Laura de Sene Amâncio et al . Estratégias de controle do Aedes aegypti: uma revisão. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília , v. 25, n. 2, p. 391-404, jun. 2016.
DENGUE: PRINCIPAIS MARCADORES DA DENGUE CLÁSSICA E HEMORRÁGICA
1AMANDA PINHEIRO PRADO, 2THALYA VITORIA BECHER, 3DANIELE GARCIA DE ALMEIDA SILVA, 4DENISE ALVESLOPES, 5IRINEIA PAULINA BARETTA, 6ROSILEY BERTON PACHECO
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Docente da UNIPAR3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A dengue é uma doença de etiologia viral, com quatro tipos de vírus identificados (1, 2, 3 e 4) e causada pelo vírusdo gênero Flavivirus, através da picada da fêmea do mosquito do gênero Aedes de hábito diurno. Apresenta uma evoluçãobenigna (dengue clássica) e uma grave, conhecida como Dengue Hemorrágica (COSTA, 2002). O mosquito Aedes aegypti oualbopictus, que transmite a dengue, apresenta um ciclo de vida de 45 a 60 dias, da fase de ovo até a sua morte na fase demosquito, a qual dura de 36 a 47 dias. Atualmente, este é considerado um problema de saúde pública, visto que além do vírus dadengue, também transmite a Febre Chikungunya e Febre Zika, sendo que a primeira está relatada em 55 países e territórios docontinente americano e a segunda em 18, ambas possuindo sequelas e complicações importantes pós infecção (BIASSOTI,2018).Objetivo: Discorrer sobre os principais marcadores da Dengue Clássica e Hemorrágica.Desenvolvimento: O vírus da dengue utiliza depósitos de água limpa para deposição dos ovos. Por ser uma doença viral, nãopossui tratamento específico, tendo como único método disponível para a sua prevenção o combate ao vetor Aedes aegypti, pormeio do cuidado com depósitos de água parada, por exemplo (Ministério da Saúde, 2007). O primeiro sintoma presente nadengue é a febre alta (39 ºC) associada à cefaleia, mialgia, artralgia e dor retroorbitária, com uma duração de 5 a 7 dias. NaDengue Hemorrágica os sintomas iniciais são semelhantes aos da dengue clássica, porém evoluem rapidamente paramanifestações hemorrágicas, instabilidade hemodinâmica, hipotensão arterial, taquisfigmia, febre alta (41 ºC), hepatomegalia echoque, podendo levar a morte, se abordado tardiamente. Apresenta marcadores importantes para o diagnóstico, comotrombocitopenia com hemoconcentração concomitante devido à efusão do plasma, que se manifesta através de valorescrescentes do hematócrito e da hemoconcentração, sendo de extrema importância o diagnóstico rápido e adequado para otratamento correto e eficaz (Ministério da Saúde, 2002). Podendo o diagnóstico ser realizado por meio de dados clínicos,epidemiológicos e laboratoriais, por meio de exames inespecíficos, como a prova do laço e o hemograma, exames específicos(direcionados ao isolamento viral) e sorológicos para pesquisa da presença de anticorpos (BIASSOTI, 2018). Ainda, não hávacinas eficientes e antivirais específicos, para tratamento da doença, sendo de extrema importância para redução do número eo combate ao vetor à conscientização da população (FERREIRA, 2019).Conclusão: Conclui-se que os sintomas da doença é um marcador de extrema importância para o diagnóstico e tratamentoeficiente da doença.
ReferênciasBIASSOTI, Amabile Visioti; ORTIZ, Mariana Aparecida Lopes. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA DENGUE. REVISTAUNINGÁ REVIEW, v. 29, n. 1, 2018. Disponível em < http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1921/1518>.BRASIL. Ministério da Saúde. Dengue - Aspectos Epidemiológicos, Diagnóstico e Tratamento. 2002. Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_aspecto_epidemiologicos_diagnostico_tratamento.pdf>.BRASIL. Ministério da Saúde. Dengue - Diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança. 2007. Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_adulto_crianca_3ed.pdf>.COSTA, Abigail Ester do Amaral; FERREIRA, Levy Gomes. Considerações sobre o dengue clássico e o hemorrágico. PharmaciaBrasileira, v. 3, n. 30, p. 49-54, 2002.FERREIRA, Vanessa Machado; et al. UM MOSQUITO E TRÊS DOENÇAS: AÇÃO DE COMBATE AO Aedes aegypti ECONSCIENTIZAÇÃO SOBRE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA EM DIVINÓPOLIS/MG, BRASIL. REVISTA BRASILEIRA DEEXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, v. 10, n. 2, p. 49-54, 2019. Disponível em .
MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA O CONTROLE DO Aedes aegypti
1THALYA VITORIA BECHER, 2LEONARDO LUIZ CASTELLI JUNIOR, 3DANIELE GARCIA DE ALMEIDA SILVA, 4DENISEALVES LOPES, 5ROSILEY BERTON PACHECO
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmico do PIC/UNIPAR2Docente da UNIPAR3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A dengue é uma doença endêmica no Brasil, que tem como agente etiológico um arbovírus (DENV) transmitidoprincipalmente pelo mosquito Aedes aegypti, seu principal vetor. Entretanto, as adaptações do Aedes Aegypti ao ambientedomiciliar e peridomiciliar, juntamente com as condições ambientais que facilitam sua proliferação, como o clima tropical (quentee úmido), presente em nosso país, contribuem consideravelmente para o elevado número de casos e a grande dificuldadeencontrada na eliminação desse vetor. (SILVA; MARIANO; SCOPEL, 2007).Objetivo: Reconhecer as medidas alternativas para controlar o Aedes aegypti.Desenvolvimento: O controle do vetor ocorre por meio de ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes deCombate a Endemias (ACE) em conjunto com a população, segundo as diretrizes do Programa Nacional de Controle da Dengue(PNCD), o qual visa o controle químico, mecânico e biológico do Aedes Aegypti (ZARA et al, 2016). Entretanto, essas estratégiasnão levam em consideração fatores socioeconômicos, ambientais e culturais presentes, nem o conhecimento da populaçãoacerca da doença. A partir disso, pode-se justificar a baixa efetividade das ações adotadas (SANTOS; CABRAL; AUGUSTO,2011). Diante de tais dificuldades e da resistência do Aedes Aegypti à ação dos inseticidas em uso, torna-se necessária a adoçãode novas estratégias para o controle vetorial, por meio de inovações tecnológicas. Uma das estratégias consiste na utilização edistribuição à população do biolarvicida Bti (Bacillus thuringiensis israelenses), que possui alta eficácia na ação larvicida e, alémdisso, é inofensivo aos mamíferos, podendo assim, ser consumido na água (PENNA, 2002). Ademais, também vem sendoutilizados compostos naturais, como óleos essenciais de plantas (a exemplo, tem-se o limoneno, encontrado na casca de frutascítricas), que são aditivos aromatizantes inócuos ao consumo humano e que apresentam boa atividade larvicida. Na Austrália,estão sendo realizadas pesquisas com uma espécie de bactéria, a Wolbachia, encontrada em mais de 60% dos insetos, que écapaz de torná-los estéreis. Esse método de controle biológico consiste em liberar semanalmente mosquitos contendo a bactériano ambiente para que se reproduzam com os Aedes Aegypti existentes, infectando-os e interrompendo seu ciclo reprodutivo.Combinado a isso, pode ser realizada a esterilização dos insetos (SIT) por irradiação, expondo-os a raios X ou raios gama, apósinfectá-los com Wolbachia. Nesse sentido, também existem estratégias genéticas, pela liberação de mosquitos geneticamentemodificados, com genes capazes de tornar os insetos estéreis. Ainda, como opção para ambientes domiciliares, há dispositivoscontendo inseticidas (metoflutrina) que duram até 20 dias, com liberação contínua e lenta, capazes de matar cerca de 80 a 90%dos mosquitos em menos de uma hora e causar a desorientação das fêmeas. Outra estratégia, a nebulização espacialintradomiciliar residual (IRS), promove efeito imediato na eliminação de mosquitos adultos, através da utilização de inseticidaresidual em áreas estratégicas das residências, como atrás dos móveis, por exemplo. Do mesmo modo, as estações dedisseminação são certos locais táticos, como pequenos recipientes, que contêm o inseticida piriproxifeno. As fêmeas sãoatraídas até essas estações, e as micropartículas do inseticida grudam em seu corpo, podendo ser carregadas por até 400metros. Assim, durante a oviposição, as partículas são deixadas na água, tornando os reservatórios letais para as larvas. Outrasmedidas alternativas incluem o mapeamento de risco, o uso de roupas e telas impregnadas com inseticidas e a abordagem eco-bio-social, realizada por setores da comunidade, utilizando a educação social e o cuidado com o meio ambiente como aliados nocontrole do Aedes Aegypti (ZARA et al, 2016).Conclusão: Diante da grande expansão das arboviroses pelo mundo e das dificuldades encontradas no controle do vetor, devidoa sua rápida adaptação e proliferação em áreas suscetíveis, faz-se necessário que sejam implementadas estratégias específicas,por meio de inovações tecnológicas e investimentos adequados, fornecendo, dessa maneira, medidas alternativas para ocontrole do Aedes Aegypti.
ReferênciasPENNA, Maria Lucia. Um desafio para a saúde pública brasileira: o controle do dengue. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.19, n. 1, p. 305-309, jan-fev. 2003.
SANTOS, Solange Laurentino dos; CABRAL, Ana Catarina dos Santos Pereira; AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva. Conhecimento,atitude e prática sobre dengue, seu vetor e ações de controle em uma comunidade urbana do Nordeste. Ciência & SaúdeColetiva, Rio de Janeiro, v. 16, p. 1319-1330. 2011.SILVA, Jeziel Souza; MARIANO, Zilda de Fátima; SCOPEL, Irací. A influência do clima urbano na proliferação do mosquito aedesaegypti em Jataí (GO) na perspectiva da Geografia Médica. Hygeia, Uberlândia, v. 2, n. 5, p. 33-49, dez. 2007.ZARA, Ana Laura de Sene Amâncio et al. Estratégias de controle do Aedes aegypti: uma revisão. Epidemiol. Serv. Saúde,Brasília, v. 25, n. 2, p. 391-404, jun. 2016.
DENGUE: ABORDAGEM EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
1KAMUNI AKKACHE COUTINHO, 2MARIO MARQUES PEREIRA FILHO, 3DENISE ALVES LOPES, 4IRINEIA PAULINABARETTA, 5MARIA ELENA MARTINS DIEGUES, 6ROSILEY BERTON PACHECO
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Docente da UNIPAR3Docente do Programa de Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica4Coordenadora do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A dengue é uma doença viral, transmitida pelas espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus (BRASIL, 2009). Aabordagem em Unidade Básica de Saúde de pacientes com dengue é feita por meio de classificação de prioridade deatendimento que tem correlação com o período de instalação da doença e qual tipo de dengue o paciente apresenta: dengueinaparente (DI); dengue clássico (DC); febre hemorrágica da dengue (FHD) ou síndrome do choque da dengue (SCD) (BRASIL,2002).Objetivo: Compreender a abordagem de casos de dengue em Unidade Básica de Saúde.Desenvolvimento: A dengue tem como agente etiológico um arbovírus, gênero Flavivírus, família Flaviviridae (BRASIL, 2002).São quatro sorotipos conhecidos: DENV 1, DENV 2, DENV 3 e DENV 4, nos quais os vetores responsáveis pela transmissão naAmérica são as espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus, sendo a dengue típica de países tropicais e recorrente no Brasil(BRASIL, 2002). Sob essa ótica, com relação à abordagem em Unidade Básica de Saúde (UBS), a dengue pode ser classificadade acordo com os sinais e sintomas de risco, a fim de reduzir o tempo de espera no serviço de saúde, sendo assim, no grupo A oatendimento é feito segundo o horário de chegada; grupo B prioridade não urgente; grupo C de urgência, atendimento maisrápido possível; grupo D de emergência, atendimento imediato (BRASIL, 2016). Essa identificação de grupos esta ligada com otempo de ocorrência dos sintomas e com a classificação da dengue: dengue inaparente (DI), dengue clássico (DC), febrehemorrágica da dengue (FHD) ou síndrome do choque da dengue (SCD) (BRASIL, 2002). A DI também é conhecida comoassintomática, já as outras três são sintomáticas, que podem causar uma doença sistêmica e dinâmica com vários aspectosclínicos, por isso, é fundamental a execução de anamnese e exame físico preciso para eliminação de hipóteses diagnostica(BRASIL, 2016). Sendo assim, no paciente em que há suspeita de dengue, são feitas perguntas como data de início da febre ede outros sintomas, se presentes; se há alterações gastrointestinais; alterações do estado da consciência; frequência da diuresenas últimas 24 horas; se há familiares com dengue ou dengue na comunidade; perguntar sobre histórico de viagem recente paraáreas endêmicas de dengue; antecedentes pessoais que geram condições pré-existentes como lactentes de 29 dias a 6 mesesde vida, adultos maiores de 65 anos, gestante, obesidade, asma, diabetes mellitus, hipertensão (BRASIL, 2016). No examefísico, deve ser realizada ectoscopia; sinais vitais; analisar presença de exantema e petéquias; pesquisar manifestaçõeshemorrágicas espontâneas ou provocadas (prova do laço) e; avaliação de exames laboratoriais (BRASIL, 2016). Os principaissinais e sintomas observados na clínica são febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC) e de início repentino; cefaleia; adinamia;mialgias; artralgias e a dor retroorbitária (BRASIL, 2016). É essencial questionar o paciente sobre organização social do localonde ele mora e onde trabalha, visto que o ambiente em que esse está inserido pode criar condições favoráveis para aproliferação do vetor, sendo um fator de risco para que haja casos de dengue (BARRETO; TEIXEIRA, 2008). Quando há suspeitaou confirmação de dengue, deve ser feita a notificação compulsória obrigatoriamente da UBS para a Vigilância Epidemiológica domunicípio (BRASIL, 2009). O paciente que apresentar dengue receberá tratamento medicamentoso para a sintomatologia ehidratação oral, sendo esse acompanhado pela UBS de seu setor (BRASIL, 2009).Conclusão: Em Unidades Básicas de Saúde é feita classificação de risco conforme sinais e sintomas. Ademias, essa doençapode ser classificada em quatro formas clínicas, devendo ser realizado o diagnostico diferencial a partir de anamnese, examefísico, exame laboratorial e conhecimento epidemiológico. Por fim, a dengue é uma doença de notificação compulsória, visto queela é de caráter viral agudo e de rápida disseminação.
ReferênciasBARRETO, Maurício; TEIXEIRA, Maria Glória. Dengue no Brasil: situação epidemiológica e contribuições para uma agenda depesquisa. Estudos avançados, v. 22, n. 64, p. 53-72, 2008. BRASIL. Ministério da Saúde. Dengue: aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento, Brasília, Brasília: Fundação
Nacional de Saúde, 2002.BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes nacionais para prevenção e controle de epidemias de dengue, Brasília, Brasília:Ministério da Saúde, 2009.BRASIL. Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança, Brasília, Brasília: Ministério da Saúde,2016.
REGANHO DE PESO EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA
1THAISSA EDUARDA BARICHELLO, 2CLARA EDUARDA MATTOS ROSSA, 3EDINEIA MARIZA SIEROTA, 4FERNANDAPEGORINI PADILHA, 5MAYARA JAKLINE RAMOS MATOS, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A obesidade é uma doença metabólica, cuja origem pode envolver fatores genéticos, endócrinos e ambientais,acarretando problemas psicológicos, sociais e diminuição da qualidade de vida, sendo considerado um grave problema de saúdepública (OLIVEIRA; PONTO, 2016). Tavares et al. (2016) relatam que a obesidade no Brasil vem alcançando um percentual cadavez maior e alarmante, necessitando de tratamento especializado. Lacerda et al. (2018) descreveram que a percepção corporal éuma construção multidimensional que envolve aspectos fisiológicos, culturais e cognitivos. As distorções na imagem corporalgeralmente provocam um sentimento de repulsa e insatisfação. Além dos impactos físicos, a obesidade acarreta um impactopsicológico que pode repercutir em diversos distúrbios, como ansiedade, depressão, além de impactos sociais que se refletemnegativamente na vida profissional e nas relações interpessoais.Objetivo: O objetivo deste estudo de revisão bibliográfica foi investigar o reganho de peso após o procedimento da cirurgiabariátrica. Desenvolvimento: Tentativas frustradas de emagrecimento por métodos convencionais envolvendo restrições dietéticas,atividade física, modificações comportamentais e tratamento medicamentoso influenciam o indivíduo a escolher por uma técnicacirúrgica, a gastroplastia, também nomeada por cirurgia bariátrica ou redução de estomago (SEGURA et al., 2017). Oprocedimento tem sido considerado importante no tratamento de obesos graves e atualmente é o tratamento mais eficaz eduradouro no controle das doenças associadas. No entanto, alguns pacientes não atingem uma perda de peso significativa ouapresentam reganho de peso após um tempo de operados (KORTCHMAR et al., 2018). Schakarowski et al. (2018) descreveramque a partir do início do tratamento para a cirurgia bariátrica o paciente deve se conscientizar do diagnóstico da obesidade,avaliar riscos, benefícios e consequências. Por isso, é necessário estar ciente das mudanças comportamentais intrínsecas aoprocedimento, que são decisivas para o resultado desejável do tratamento em longo prazo. Deste modo, a cirurgia bariátrica deveser um complemento para outras formas de tratamento da obesidade. A mudança não está apenas em se sujeitar à cirurgia, épreciso fazer a mudança de hábitos alimentares para o resto da vida. Os comportamentos pós-cirurgia são significativos, sendodeterminantes para a perda e manutenção do peso (ROCHA; HOCIKO; OLIVEIRA, 2018). Rodrigues e Seidl (2015) realizaramum estudo com o objetivo de identificar os motivos do reganho de peso em 203 pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e osresultados mostraram que 79% dos participantes relataram reganho de peso, sendo que 13% informaram um aumento de maisde 15% do total de peso perdido, o que é considerado reganho significativo. O reganho de peso é uma das possíveiscomplicações e geralmente acontece após os primeiros dois anos da cirurgia, visto que ocorre uma adaptação que envolve osmecanismos neuro-hormonais que são responsáveis pela regulação do apetite e do metabolismo. Outro fator de relevância é onão comparecimento às consultas no pós-operatório por acreditarem que não é necessário o acompanhamento em longo prazo(SILVA; KELLY, 2014). Rodrigues e Seidl (2015) descrevem como forma da manutenção de peso, variáveis como controle dacompulsão alimentar e engajamento em atividades físicas. Por outro lado, a falta de apoio familiar e uso de álcool e outras drogasestiveram associadas ao reganho de peso.Conclusão: A cirurgia bariátrica é uma opção cirúrgica com eficácia comprovada em inúmeros estudos, entretanto é umprocedimento que tem limitações e o reganho de peso é uma delas. Possíveis causas do reganho apontam a falta de atividadefísica, a compulsão alimentar, o não comparecimento às consultas e o consumo excessivo de alimentos hipercalóricos.
ReferênciasKORTCHMARL, E.; MERIGHIL, M.A.B.; CONZL, C.A.; JESUS, M.C.P.; OLIVEIRA, D.M. Reganho de peso após a cirurgiabariátrica: Um enfoque da fenomenologia social. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 31, n. 4, p. 417-422, set. 2018.LACERDA, R.M.R.; CASTANHA, C.R.; CASTANHA, A.R.; CAMPOS, J.M. Percepção da imagem corporal em pacientessubmetidos à cirurgia bariátrica. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Recife, v. 45, n. 2, p. 26-32, mai. 2018.
OLIVEIRA, C.C.A.; PONTO, S.L. Perfil nutricional e perda de peso de pacientes submetidos à cirurgia de Bypass Gástrico em Yde Roux. Revista Brasileira de Nutrição Clínica, Tocantins, v. 31, n. 1, p. 18-22, jan./mar. 2016.ROCHA, A.C.; HOCIKO, K.R.; OLIVEIRA, T.V. Comportamentos e hábitos alimentares dos pacientes pós-cirurgia bariátrica.Contextos da Alimentação Revista de Comportamento, Cultura e Sociedade, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 89-94, dez. 2018.RODRIGUES, M. A.; SEIDL, E. M. F. Apoio social e reganho de peso pós-cirurgia bariátrica: Estudo de caso sobre intervençãocom cuidador. Temas em Psicologia, Brasília, v. 23, n. 4, p. 1003-1016, jan. 2015.SILVA, R.F.; KELLY, E.O. Reganho de peso após o segundo ano do Bypass Gástrico em Y de Roux. Revista Comunicação emCiências Saúde, Brasília, v. 24, n. 4, p. 341-350, jun. 2014.SEGURA, D.C.A.; WOZNIAK, S.D.; ANDRADE, F.L.; MARRETO, T.M.; PONTE, E.D. Deficiências nutricionais e suplementaçãoem individuas submetidos a gastrolastia redutora do tipo Y de Roux. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição eEmagrecimento, São Paulo, v. 11, n. 65, p. 338-347, set./out. 2017.SCHAKAROWSKI, F.B.; PADOIN, A.V.; MOTTIN, C.C.; CASTRO, E.K. Percepção de risco da cirurgia bariátrica em pacientescom diferentes comorbidades associadas à obesidade. Temas em Psicologia, Porto Alegre, v. 26, n. 339-346, mar. 2018.TAVARES, E.R.; ANDRADE, A.A.; MACEDO, T.S.S.; SILVA, A.M.T.C.; ALMEIDA, R.J. Contribuição de aspectos psicossociais noreganho de peso em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. ESV PUC, Goiânia, v. 43, n. 1, p. 90-97, jan./mar. 2016.
MORTALIDADE INFANTIL DE CRIANÇAS MENORES DE UM ANO NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA-PR: UM ESTUDOLONGITUDINAL
1EMILLI KARINE MARCOMINI, 2ANA GABRIELA FERNANDE FRANK, 3NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA, 4ADALBERTORAMON V. GERBASI
1Discente do Curso de Enfermagem. PIBIC-UNIPAR1Discente do Curso de Enfermagem. PIC-UNIPAR2Mestre e Docente do Curso de Enfermagem-UNIPAR3Doutor Docente da UNIPAR
Introdução: A vigilância do óbito infantil consiste em uma ferramenta imprescindível para a identificações dos índices demortalidade infantil, permitindo a análise da causalidade e a ocorrência de falhas na assistência, que contribui em grande partepara a elevação das taxas de mortes (OLIVEIRA; BONFIM; MEDEIROS, 2017). Mesmo diante das mudanças registradas nasaúde materno-infantil, ainda há desafios para o controle deste indicador (FRANÇA; LANSKY, 2008). Assim, é fundamental aidentificação das doenças e/ou causas que possibilitem o estudo e uma análise mais detalhada da mortalidade em criançasmenores de um (01) ano.Objetivo: Analisar as causas de óbitos infantis no Município de Umuarama-PR no período de 2015 a 2017.Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico, longitudinal em que se utilizaram dados secundários de óbitosinfantis coletados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC),através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A população foi constituída por todos os óbitosinfantis de menores de um ano ocorridos no Município de Umuarama-PR entre os anos de 2015 a 2017.Resultados: Os dados indicam que ocorreram no período 69 óbitos infantis no município de Umuarama, o qual origina uma taxamédia de mortalidade infantil de 15,2 óbitos por mil nascidos vivos, sendo 48 (69,6%) do sexo masculino e 21 (30,4%)do feminino. Na literatura não há explicação para a diferença de óbitos segundo o gênero, pois na faixa etária de zero a um (01)ano, a morte não é seletiva. Com relação ao capítulo CID-10 das doenças e/ou causas , 50 (72,4%) óbitos estão relacionadosàs afecções originadas no período perinatal no qual consiste em complicações da gravidez, transtornos relacionaos aocrescimento fetal, traumatismo de parto, transtornos respiratórios, endócrinos e digestivos, 14 (20,3%) correspondem às
anomalias congênitas incluindo as deformidade e anomalias cromossômicas, e cinco (7,3%) a outras doenças ou causas .Discussão: A taxa de mortalidade infantil apesar de ter se reduzido ao longo do tempo ainda tem preocupado o país como umtodo, uma vez que o declínio dos índices não foi suficiente para enquadrar a taxa no valor aceitável pela organização dasaúde (10 mortes por mil nascidos vivos) (ARAUJO FILHO et al., 2017; FRANÇA; LANSKY, 2008). Essa afirmativa corrobora comos resultados deste estudo, onde observa-se que a taxa média de mortalidade infantil (15,2 óbitos por mil nascidosvivos) constitui-se em um índice superior a taxa máxima aceitada. Em se tratando das causas desses óbitos, o município deUmuarama-PR destacou-se alta incidência para as afecções originadas no período perinatal , destacando a necessidade demaior qualidade de saúde na atenção pré-natal, parto e puerpério. Ressalta-se ainda que não houve ocorrências para as
doenças do aparelho respiratório , sintomas, sinais e afecções mal definidas e doenças infecciosas e parasitárias , oque subentende que as políticas sanitárias podem ter surtido efeito na localidade. Vianna et al (2016), reforça ainda que oEstado do Paraná, por meio do programa Rede Mãe Paranaense, tem se empenhado em busca de mudanças na assistênciamaterno-infantil, contudo, há necessidade de intervenções e condutas resolutivas tanto no pré-natal como no parto e naassistência ao recém-nascido. Desta maneira, vale ressaltar a indispensabilidade de políticas públicas mais abrangentes,capazes de intensificarem a qualidade do atendimento ao pré-natal, parto e puerpério e o comprometimento dos gestores eprofissionais de saúde, o que de fato influirá diretamente nos coeficientes de mortalidade infantil (ARAUJO FILHO et al., 2017).Conclusão: Por todo o exposto, evidencia-se que a mortalidade infantil no Município de Umuarama-PR mostrou-se elevada paraas afecções originadas no período perinatal e, portanto, necessita ser revista pelas autoridades em busca de melhorias quecorrespondam à saúde infantil. Sugere-se que os profissionais de saúde, em especial as equipes de atenção primária, direcionemcuidados correlacionados a tríade gestação, parto e puerpério, objetivando prevenção de agravos e diagnóstico prévio decomorbidades.
ReferênciasARAUJO FILHO, A. C.; ARAÚJO, A. K. L; ALMEIDA, P. D.; ROCHA, S. S. . Mortalidade infantil em uma capital do nordeste
brasileiro. Enfermagem em Foco, v.8, n.1, p.32-36, 2017. Disponível em: >. Acesso em: 08 de jul. de 2019.FRANÇA, E.; LANSKY, S. Mortalidade Infantil Neonatal no Brasil: Situação, Tendências e Perspectivas. In: XVI EncontroNacional de Estudos Populacionais, 2008, Caxambu (MG). Anais do XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2008.Caxambu: Associação Brasileira de Estudos Populacionais, 2008. Disponível em: Acesso em: 04 de jul. de 2019.OLIVEIRA, C. M.; BONFIM, C. V.; MEDEIROS, Z. M. Mortalidade infantil e sua investigação: reflexões sobre alguns aspectos dasações da vigilância do óbito. Revista Enfermagem UFPE online, Recife, v.11, Supl. 2, p.1078-85, 2017. Disponível em: >.Acesso em: 05 de jul. de 2019.VIANNA, R. C. X. F; FREIRE, M. H. S.; CARVALHO, D.; MIGOTTO, M. T. Perfil da mortalidade infantil nas Macrorregionais deSaúde de um estado do Sul do Brasil, no triênio 2012 2014. Espaço para a Saúde Revista De Saúde Pública Do Paraná,Londrina, v. 17, n. 2, p. 32-40, 2016. Disponível em: . Acesso em: 02 de jul. de 2019.
A FRAGILIDADE DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO
1SUSANA MINCHIGUERRE PEREIRA, 2EMILLI KARINE MARCOMINI, 3NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA
1Discente do Curso de Enfermagem-UNIPAR1Discente do Curso de Enfermagem. PIBIC-UNIPAR2Mestre e Docente do Curso de Enfermagem-UNIPAR
Introdução: Atualmente as pirâmides demográficas do país estão sendo ocupadas por um novo eixo populacional, composto poruma numerosa população de indivíduos com idade superior a 60 anos (VERAS; OLIVEIRA, 2018). Esta modificação etária éresultado da redução acentuada da taxa de fecundidade e natalidade, assim como das melhorias de condições de saúde queelevaram a expectativa de vida brasileira, auxiliando nesta modificação de perfil populacional (VERAS, 2016). Deste modo, diantedessa nova população com necessidade de saúde heterogêneas, é indispensável o conhecimento sobre a fragilidade dos idososatravés de escalas de avaliação geriátricas, visto que elas são capazes de expressar a verdadeira situação com que se encontraum indivíduo bem como permitem a observação clínica para sugestões de tratamento mais efetivas (ANDRIOLO et al.,2016).Objetivo: Estratificar a fragilidade dos idosos institucionalizados.Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa observacional, transversal, do tipo quantitativa, fragmento de um trabalho deconclusão de curso, desenvolvida em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), na região noroeste do Paraná.Para atingir ao objetivo proposto utilizou-se de um formulário embasado no Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional-20 (IVCF-20). A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (CEPEH) daUniversidade Paranaense UNIPAR sob parecer número 3.291.301.Resultados: A escala de vulnerabilidade Clínico Funcional foi aplicada a 75 idosos institucionalizados residentes no período decoleta de dados. Identificou-se que 37 (49,3%) idosas pertenciam ao sexo feminino e 38 (50,7%) ao sexo masculino. Quanto àfaixa etária, 31 (41,3%) idosos possuíam idade entre 60 a 74 anos, 28 (37,3%) possuíam entre 75 a 84 anos e 16 (21,4%) tinham85 anos ou mais. No que se refere a presença de doenças crônicas, notou-se uma alta prevalência entre os idosos, pois apenasdois idosos não possuíam patologias. Das patologias que mais acometem os idosos na ILPI avaliada destaca-se a hipertensão(40%), AVC (30,6%), depressão (29,3%), diabetes (17,3%), doença psiquiátrica (17,3%). Em relação ao IVCF aplicado nainstituição, foram identificados que 67 (89%) idosos eram frágeis, oito (10,7%) estavam em risco de fragilização e quatro (5,3%)eram idosos robustos. Percebe-se que os domínios mais afetados foram auto percepção da saúde, AVD (Atividade de VidaDiária) instrumental, AVD básica, humor, marcha e continência esfincteriana. Por outro lado, observa-se que o domínio dealcance, preensão e pinça e o histórico de quedas, foram os menos afetados entre os idosos.Discussão: A polipatologia observada na então pesquisa revela o acometimento dos idosos a doenças crônicas relacionadas atranstornos mentais, patologias do sistema nervoso central e do aparelho circulatório. Este fator também foi encontrado emoutros estudos presentes na literatura, aos quais reforçam a presença de um envelhecimento com senilidade (AZEVEDO et al.,2017). Neste mesmo contexto o Ministério da Saúde destaca que a presença destas condições afetam diretamente a assistênciaa saúde, a qual deverá ser mais ampla, pois não se trata de um condição fisiológica e natural, mas de uma alteração patológicaque acarretará maiores danos ao idoso (BRASIL, 2007). A fragilidade identificada em 89% dos idosos está diretamenterelacionada com as polipatologias. Corroborando Duarte et al (2018) afirmam que a fragilidade com que se encontra os idososinstitucionalizados não é uma condição presenciada em todo o processo de envelhecimento, mas é originada na maioria dasvezes por mudanças fisiológicas, presença de doenças e sarcopenia (processo de perda de massa muscular). Além disso, afragilidade aproxima o idoso da vulnerabilidade, provocando maior risco de quedas, internações hospitalares, declínio funcional emortes (BRASIL, 2007). Percebe-se que a AVD influencia diretamente na qualidade de vida dos idosos, representada pelaausência de autonomia nas atividades do cotidiano. Deste modo, o declínio funcional e a fragilidade são circunstâncias queafetam a qualidade de vida e bem estar do idoso, pois estão estreitamente ligadas a autonomia e independência do indivíduo,assim, a identificação de fatores que levam a essas condições são ferramentas que devem ser trabalhadas por profissionais dasaúde, para que haja o reconhecimento precoce e consequentemente uma assistência a saúde condizente com a necessidade(FREITAS; SOARES, 2019).Conclusão: A fragilidade identificada nos idosos institucionalizados revela a associação de doenças crônicas com o processo deenvelhecimento. Sendo assim, evidencia-se a importância da identificação dessas condições de saúde nos idosos, para que sejaaplicado uma assistência condizente com as condições de fragilidades encontradas nesta população institucionalizada.
ReferênciasANDRIOLO, B. N. et al. Avaliação do grau de funcionalidade em idosos usuários de um centro de saúde. Revista da Sociedade
Brasileira de Clínica Médica, v.14, n.3, p.139-44, 2016. Disponívelem: http://www.sbcm.org.br/ojs3/index.php/rsbcm/article/view/211/207. Acesso em: 10 jul. 2019.AZEVEDO, L. M. et al. Perfil sociodemográfico e condições de saúde de idosos institucionalizados. Rev. Bras. Pesq. Saúde,v.19, n3, p.16-23, 2017. Disponível em: http://www.periodicos.ufes.br/RBPS/article/viewFile/19560/13121. Acesso em: 09 jul.2019. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília, DF:Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad19.pdf. Acesso em: 10 jul. 2019.DUARTE, Y. A. O. et al. Fragilidade em idosos no município de São Paulo: prevalência e fatores associados. Rev. bras.epidemiol., 21 (Suppl 02), e180021, 2018. Disponível em: https://dx.doi.org/10.1590/1980-549720180021.supl.2. Acesso em: 10jul. 2019.FREITAS, F. F. Q.; SOARES, S. M. Índice de vulnerabilidade clínico-funcional e as dimensões da funcionalidade em idosos. RevRene, v.20,e39746, 2019. Disponível em: http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/41810/1/2019_art_ffqfreitas.pdf. Acesso em: 21jun.2019. VERAS, R. É possível, no Brasil, envelhecer com saúde e qualidade de vida? Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v.19, n.3, p. 381-382, 2016. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/4038/403846785001.pdf. Acesso em: 21 fev. 2019. VERAS, R. P.; OLIVEIRA, M. Envelhecer no Brasil: a construção de um modelo de cuidado. Ciência e saúde coletiva, v.23, n.6,2018. Disponível em: https://www.scielosp.org/article/csc/2018.v23n6/1929-1936/pt/. Acesso em: 21 fev. 2019
PRESCRIÇÃO DE FITOTERÁPICOS NO SUS
1MONICA MICHELI ALEXANDRE, 2ADRIANE CORDEIRO, 3MARINA GIMENES
1Acadêmica do Curso de Medicina - PIC/UNIPAR1Acadêmica Mestrado Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica PIC/UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: Alvo de resistência e preconceito por profissionais no passado, por estar associado a tratamentos com chás e ervas,os fitoterápicos está em crescente desenvolvimento no mundo e representa uma oportunidade para o setor farmacêutico noBrasil, que além de possuir rico patrimônio de biodiversidade, tem conhecimento tradicional e científico acumulado sobre aatividade biológica dessas plantas pela sociedade civil e pelas instituições de ciência e tecnologia (HASENCLEVER et al., 2017). As plantas medicinais já fazem parte da cultura popular, mas nas últimas décadas o interesse pela fitoterapia teve um aumentoconsiderável entre usuários e serviços de saúde (ROSA, CÂMARA e BERIA, 2011) e é uma prática disseminada e incentivadapela Organização Mundial da Saúde em especial para países em desenvolvimento (MATTOS et al., 2018). A Alemanha estáentre os países que mais incentiva o uso de terapias naturais no sistema médico, onde os fitoterápicos representam cerca de40% das prescrições médicas (SANTOS et al., 2011). No Brasil, os registros de 2017, mostram 66.445 atendimentos deFitoterapia, em 1.794 estabelecimentos da Atenção Básica, distribuídos em 1.145 municípios, (BRASIL, 2019).Objetivo: Verificar nos estudos nacionais o entendimento dos profissionais médicos para a prescrição da fitoterapia no SistemaÚnico de Saúde (SUS).Desenvolvimento: A credibilidade e o vasto uso das plantas medicinais pela população fizeram com que o Ministério da Saúdena década de 80 criasse um regulamento que oficializasse o uso de plantas medicinais e fitoterápicos nos municípios brasileiros,porém foi em 2006, que duas políticas contribuíram para a abertura de mercado e a efetivação da prescrição e uso defitoterápicos, a primeira foi a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e a segunda a Política Nacional dePlantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), que teve como um dos princípios orientadores a ampliação das opções terapêuticase melhoria da atenção à saúde aos usuários do SUS (BRASIL, 2006). A prescrição e utilização da fitoterapia no Sistema Único deSaúde (SUS), tem como protagonista decisivo o profissional médico, onde as ações e os conceitos praticados por esseprofissional são interpretados pelo povo como legítimos e adquirem caráter de verdade e segundo Rosa, Câmara e Beria (2011)esse posicionamento pelo médico é fundamental para a compreensão da utilização de fitoterapia na atenção básica à saúde. Asprescrições dos fitoterápicos no Brasil, são inferiores às dos países desenvolvidos e dentre os principais problemas apontadosestá a falta de informação para prescritores (DANTAS DE BRITO e RODRIGUES, 2015). Para conhecer os anseios dosprofissionais a respeito da prescrição, a Associação Médica Brasileira de Fitomedicina, realizou um estudo com 2.100 médicos, edentre as perguntas incluía, o que o médico precisava saber para respeitar, dar credibilidade e, assim prescrever produtos à basede plantas medicinais; cem por cento que responderam, usaram o mesmo argumento: o embasamento científico (ALVES,2013). Porém a prática da prescrição médica enfrenta desafios maiores que o embasamento científico, o que é mostrado peloestudo realizado por Mattos et al. (2018), envolvendo 157 profissionais de 66 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) emBlumenau, que buscou identificar conhecimentos e práticas em relação à prescrição de fitoterápicos pelos profissionais de saúde,onde 65,6% diz conhecer a PNPMF, mas 85,4% desconheciam a existência desses produtos na Relação Nacional deMedicamentos Essenciais. A maioria, 96,2%, acredita no efeito terapêutico, mas não prescrevem e 98,7% concordam com ainiciativa de ofertar esta prática integrativa e complementar no SUS após uma capacitação na área. O estudo de NascimentoJunior (2016), entre 96 profissionais da ESF em Petrolina mostraram que os fitoterápicos foram indicados apenas por 5,2%médicos e 36,5% se sentem preparados para prescrever. Em 2016, foi aprovado um documento para orientar a prescrição e ouso de fitoterápicos no Brasil, com informações sobre o uso terapêutico e características das plantas medicinais, nomes, contra-indicações, efeitos adversos, formas de apresentação e posologia, e por ser o primeiro documento padronizado do país deveajudar no trabalho dos profissionais que utilizam a fitoterapia (CFF, 2016).Conclusão: A utilização de fitoterápicos e plantas medicinais é considerada uma alternativa terapêutica importante aos usuáriosdo SUS, mas ainda existem obstáculos como a falta de informação para os profissionais prescritores. Observa-se a necessidadede capacitação e motivação para a utilização correta e segura das Plantas Medicinais e Fitoterapia.
ReferênciasALVES, Lúcio. Produção de Fitoterápicos no Brasil: História, Problemas e Perspectivas. Rev. Virtual Quim., Rio de Janeiro, v.5,n.3, p.450-513, 2013.BRASIL. Ministério da Saúde. Decreto n. 5813, de 22 de junho de 2006. Aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos. Diário Oficial da União. Brasília, 10 jun. 2006.BRASIL. Ministério da Saúde. Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS. Disponível em: . Acesso em: 07 ago. 2019.DANTAS DE BRITO, Sonia Cristina; RODRIGUES, Waldecy. Avaliação do marco regulatório na produção de medicamentosfitoterápicos no Brasil. Rev. de Pol. Púb., São Luís, v. 19, n. 2, p. 531-538, 2015.HASENCLEVER, Lia et al. A indústria de fitoterápicos brasileira: desafios e oportunidades. Ciênc. Saúde coletiva, Rio deJaneiro, v. 22, n. 8, p. 2559-2569, ago. 2017.MATTOS, Gerson et al. Plantas medicinais e fitoterápicos na Atenção Primária em Saúde: percepção dos profissionais. Ciênc.Saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 11, p. 3735-3744, nov. 2018.NASCIMENTO JUNIOR, Braz José; et al. Avaliação do conhecimento e percepção dos profissionais da estratégia de saúde dafamília sobre o uso de plantas medicinais e fitoterapia em Petrolina-PE, Brasil. Rev. bras. plantas med., Botucatu, v. 18, n. 1, p.57-66, mar. 2016.ROSA, Caroline da; CAMARA, Sheila Gonçalves; BERIA, Jorge Umberto. Representações e intenção de uso da fitoterapia naatenção básica à saúde. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 311-318, Jan. 2011.SANTOS, Ravely Lucena; et al. Análise sobre a fitoterapia como prática integrativa no Sistema Único de Saúde. Rev. bras.plantas med., Botucatu, v. 13, n. 4, p. 486-491, 2011.
SÍNDROME DO DESEQUILÍBRIO NO IDOSO
1MONICA MICHELI ALEXANDRE, 2PRISCILA LUZIA PEREIRA NUNES, 3TAZIANE MARA DA SILVA, 4VICTOR FAJARDOBORTOLI, 5DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Acadêmico do PIC/UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O incremento da expectativa de vida no Brasil gerou o aumento da população de terceira idade e, por conseguinte, aelevação da incidência de doenças relacionadas a esse período da vida. O envelhecimento compromete a funcionalidade doSistema Nervoso Central que tem função de realizar o processamento dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivosresponsáveis pela manutenção do equilíbrio corporal, bem como restringe a capacidade de modificações dos reflexosadaptativos. Esses processos degenerativos são responsáveis pela ocorrência de vertigem e/ou tontura e de desequilíbrio napopulação geriátrica (RUWER; ROSSI; SIMON, 2005).Objetivo: Revisar a literatura no que diz respeito ao envelhecimento natural do organismo, especificamente no que se refere aosistema mantenedor do equilíbrio humano.Desenvolvimento: Os pacientes idosos apresentam características clínicas clássicas de desequilíbrio crônico e maior tendênciaà queda, quando comparados à população mais jovem (BITTAR et al., 2002). Distúrbios de equilíbrio na população idosarefletem a heterogeneidade da prevalência de etiologias específicas que afetam o sistema mantenedor do equilíbrio humano(MEIRELES et al., 2008). A síndrome do desequilíbrio no idoso compromete a habilidade do sistema nervoso em realizar oprocessamento dos sinais vestibulares, visuais e proprioceptivos responsáveis pela manutenção da estabilidade corporal, bemcomo diminui a capacidade de modificações dos reflexos adaptativos. Esses processos degenerativos são responsáveis pelaocorrência de presbivertigem e de presbiataxia na população geriátrica (MEIRELES et al., 2008). Os principais agentes causaisda síndrome do desequilíbrio no idoso contemplam os sistemas: auditivos, vestibular e visual (MEIRELES et al., 2008). A perdaauditiva, bem como a presença de zumbido e vertigens, encontrados comumente em idosos, são resultados da alta sensibilidadedos sistemas auditivo e vestibular a problemas clínicos comuns aos processos de deterioração funcional destes sistemas com oenvelhecimento (MEIRELES et al., 2008). A degeneração do sistema vestibular ocorre principalmente no Sistema NervosoPeriférico, havendo importante redução no número das cristas vestibulares; o número de fibras que inervam as células ciliadastambém se encontra acentuadamente reduzido resultando em déficits na transmissão de informação, perda da plasticidade, oque acentua a síndrome do desequilíbrio no idoso (MEIRELES et al., 2008). Além disto, com o avançar da idade, ocorremtambém alterações oculares, como catarata e glaucoma, responsáveis por levar a um decréscimo da acuidade visual e queacabam por contribuir, por conseguinte, na instabilidade estática e dinâmica do corpo. Ademais, o tônus muscular sofre os efeitosdo processo de envelhecimento, determinando o declínio da força, atrofias e fibrose, especialmente por desuso ou emdecorrência às condições patológicas, ou não (MEIRELES et al., 2008). A integração dos vários sistemas corporais, sob ocomando central, é fundamental para o controle do equilíbrio corporal. Portanto, a prevenção e reabilitação, baseadas noconhecimento das características individuais do equilíbrio de cada paciente e o trabalho de estimulação das aferências sensoriaisremanescentes, apresentam importante papel no tratamento dessas limitações (BITTAR et al., 2002).Conclusão: Com o passar dos anos, o organismo humano passa por um processo natural de envelhecimento, gerandomodificações funcionais e estruturais, que podem provocar sinais e sintomas como tontura, vertigem e desequilíbrio. Estes,podem comprometer não somente o cotidiano da vida do idoso como a sua qualidade de vida, bem como aumentar o índice deacidentes nessa população. Dessa forma, a prevenção e reabilitação são ferramentas que podem auxiliar no processo deenvelhecimento, contribuindo para uma menor alteração funcional e estrutural possível.
ReferênciasRUWER, Larissa Ruwe, ROSSI, Angela Garcia; SIMON, Larissa Fortunato. Equilíbrio no idoso. Rev. Bras.Otorrinolaringol., São Paulo, v. 71, n. 3, p. 298-303, Jun. 2005.MEIRELE, Aline Estrela et al. Alterações neurológicas fisiológicas ao envelhecimento afetam o sistema mantenedor do equilíbriodos idosos. Rev. Neurocienc., v. 18, n. 1, p. 103-108, 2010.BITTAR, Roseli Saraiva Moreira et al. Síndrome do desequilíbrio do idoso. Pró-fono, v.14, n. 1, p. 119-128, jan.-abr., 2002.
MEDIDAS ALTERNATIVAS COMO FORMA DE REDUZIR CASOS DE DENGUE EM UMUARAMA-PR
1LEONARDO LUIZ CASTELLI JUNIOR, 2DANIELI FERREIRA ONORIO, 3DENISE ALVES LOPES, 4MARIA ELENA MARTINSDIEGUES, 5KAMUNI AKKACHE COUTINHO, 6ROSILEY BERTON PACHECO
1Acadêmico do PIC/ UNIPAR1Tutora da Educação a Distância da UNIPAR 2Docente da UNIPAR3Coordenadora do Curso de Medicina da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A dengue, em suas diferentes formas de manifestação, é identificada como a principal arbovirose humana,consolidando-se como grave problema de saúde pública e doença negligenciada, principalmente em regiões tropicais, uma vezque essas possuem condições que favorecem a proliferação do Aedes aegypti (Ministério da Saúde, 2005), sendo, no caso, asituação do município de Umuarama. Além dessa ampla disseminação, este vírus possui quatro sorotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4), o que implica na possibilidade de uma pessoa poder manifestar a doença até quatro vezes, uma vez que a proteçãocruzada é transitória, preocupando ainda mais o quadro (DIAS et al, 2010), referindo-se desta forma pelo fato de já sercomprovado a presença do sorotipo 1 e 2 no estado do Paraná (BONA; TWERDOCHLIB; NAVARRO-SILVA, 2012).Objetivo: Discutir sobre as alternativas que visem reduzir os casos de dengue no município de Umuarama-PR.Desenvolvimento: Notoriamente conhecida as consequências que a dengue causa no ser humano, podendo evoluir paracomplicações que requerem um cuidado mais extremo como os casos da febre hemorrágica, é imprescindível que, apesar daredução dos casos nos últimos anos, o controle de tal enfermidade seja mais rigoroso. Essas complicações se devem, entreoutras causas, principalmente pela presença de mais de um sorotipo na mesma região, por este motivo se deve fazer a profilaxianão só para caso clássicos de dengue, mas para que não se intensifique e evolua os casos já existentes (DIAS et al, 2010). Deforma abrupta, nos períodos chuvosos e quentes do ano, o controle da dengue se faz de maneira mais efetiva a partir dainterrupção da proliferação do mosquito vetor e seu ciclo, evitando assim a disseminação de ovos, a partir da eliminação doscriadouros (CINQUINI, 2013). No entanto, o combate ao vetor não é o único componente envolvido no Plano Nacional deControle da Dengue (PNCD), esse projeto, apoiado pelo Ministério da Saúde, também engloba a vigilância epidemiológica,assistência aos infectados, capacitação de recursos humanos e a educação em saúde, comunicação e mobilização social, que sefaz uma ótima alternativa para reduzir os casos de dengue (ZARA et al, 2016). Essa opção é colocada em pauta uma vez que érelativamente simples e economicamente vantajosa, contudo, a real proposta é intensificar essas ações educativas, comunicaçãoe mobilização social em locais estratégicos, como escolas e igrejas, a fim de complementar as estratégias de combate clássicasque não surtem mais tanto efeito (FERREIRA, 2015). Para efetivar essas ações de combate, em questão na regional deUmuarama-PR, é pertinente, por exemplo na educação em saúde nas escolas, que se façam no começo e no final do ano letivo,os quais se mostram, na região, os períodos de maior prevalência de dengue, segundo dados do SINAN Ministério da Saúde.Ainda neste exemplo, o projeto de educação em saúde se faz a partir da conscientização da população, desde as crianças nasescolas, como a família em geral a partir de propagandas, entre outros exemplos, para que aprendam a se prevenir e cuidar desuas residências (FERREIRA, 2015).Conclusão: Excepcionalmente se tem a necessidade de medidas que proporcionam a maior ênfase no autocuidado dapopulação como forma alternativa para complementar as medidas tradicionais de combate à dengue, uma vez que essasmesmas, apesar de terem reduzido significativamente o número de casos, não fazer total controle, o que contribui também, naregional de Umuarama, para a profilaxia de outras arboviroses.
ReferênciasBONA, Ana Caroline Dalla; TWERDOCHLIB, Adriana Lacerda; NAVARRO-SILVA, Mário Antônio. Genetic diversity of denguevirus serotypes 1 and 2 in the State of Paraná, Brazil, based on a fragment of the capsid/premembrane junction region. Revistada Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 45, n. 3, p. 297-300, 2012.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância epidemiológica. 6. ed. Brasília: Ministério daSaúde, 816 p. 2005.CINQUINI, Denise de Almeida Flabis. Plano de intervenção para redução dos casos de dengue em uma equipe Saúde daFamília de Capinopolis/MG. 2013. Tese (Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família) - Universidade Federal de
Minas Gerais, Minas Gerais, 2013.DIAS, Larissa B. A. et al. Dengue: transmissão, aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento. Medicina (Ribeirão Preto). V. 43, n.2, p. 143-152, 2010.FERREIRA, Marcelo Alves. Plano de ação no combate a dengue: educar para evitar. 2015. Tese (Especialização em AtençãoBásica em Saúde da Família) - Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2015.ZARA, Ana Laura de Sene Amâncio et al. Estratégias de controle do Aedes aegypti: uma revisão. Epidemiologia e Serviços deSaúde, v. 25, p. 391-404, 2016.
CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA NOS ANOS DE 2011 A 2017
1TAZIANE MARA DA SILVA , 2PRISCILA LUZIA PEREIRA NUNES, 3IRINEIA PAULINA BARETTA, 4DANIELE GARCIA DEALMEIDA SILVA, 5DENISE ALVES LOPES, 6ROSILEY BERTON PACHECO
1Acaêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmico do PIC/UNIPAR2Docente do Programa de Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O Ministério da Saúde afirma que a dengue é uma arbovirose de grande importância que aflige o ser humano,constituindo uma grave problemática de saúde pública, principalmente em países tropicais, uma vez que as característicasambientais contribuem para desenvolvimento e reprodução do mosquito Aedes aegypti (Ae.Aegypti) e Aedes Albopictus (Ae. Albopictus), que são os vetores dessa patologia (BRASIL, 2002). O conhecimento da incidênciade casos confirmados da dengue torna-se de extrema importância, pois é a partir da análise dos fatores que envolvem estadoença e seus determinantes, que medidas preventivas e de controle podem ser pensadas e viabilizadas. Também é preciso quefatores ambientais e sociais possam ser incluídos nessa etapa de análise para que estas medidas profiláticas sejam maisdiretivas e eficazes.Objetivo: Verifica-se que a dengue é uma patologia endêmica e que o Município de Umuarama-Pr possui condições climáticasfavoráveis ao desenvolvimento da doença. Assim, presente trabalho tem como objetivo comparar os casos confirmados dedengue no município de Umuarama nos anos de 2014 a 2017.Método: Utilizou-se para esta pesquisa dados provenientes do Ministério da Saúde/SVS, por meio da plataforma do TABNET,viabilizado pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).Discussão: De acordo com os dados coletados no SINAN, percebe-se que o Município de Umuarama-PR, no ano de 2013,registrou apenas um caso de dengue. Em contrapartida, o município registrou uma quantidade elevada de casos de dengue nosanos subsequentes, tendo 174 casos de dengue em 2014, 809 pessoas com dengue em 2015, 98 indivíduos infectados em 2016e 43 casos de dengue em 2017. Verifica-se, dessa forma, que o ano de menor incidência de casos confirmado foi no ano de 2013e o ano de maior registros de dengue ocorreu no ano de 2015. De acordo com o Informativo Técnico 23, que descreve a situaçãode dengue no Estado do Paraná, mostra que em meados do ano de 2014 até metade do ano de 2015, Umuarama se encontravacomo um dos municípios que apresentavam alta incidência de dengue tendo registro de 1 caso de dengue grave e 1 óbito,exibindo condição climática favorável a produção e desenvolvimento de focos e dispersão do mosquito Aedes Aegypti, sendoclassificado em Risco Médio. De acordo com o exposto, Catão (2012) pontua que existem vários fatores de ordem social eambiental que colaboram para aumentar o risco de ocorrência da dengue, além dos fatores relacionados a interrelação estável dovírus, vetores, pessoas infectadas ou susceptíveis e o espaço geográfico. Os fatores sociais e ambientais participam de maneiraativa na distribuição desproporcional da dengue no país. Donalisio et al. (2017, p.1) complementa que as consequências namorbimortalidade é intensificada conforme a existência de grandes epidemias que infere em uma alta quantidade de pessoasacometidas, gravidade dos casos, impacto sobre os serviços de saúde e principalmente diante da ausência de tratamento,vacinas e medidas efetivas de prevenção e controle . Ainda é importante salientar que a dengue é uma patologia de notificaçãocompulsória, e medidas de controle como manejo ambiental e controle químico são adotadas no sentido de reduzir a suaincidência, bem como execução de melhoria de saneamento básico e participação comunitária (BRASIL, 2002).Conclusão: Diante do exposto, verifica-se que o ano de 2015 se apresentou como o período de maior incidência de dengue emUmuarama-Pr, tendo um decréscimo no registro da patologia até o ano de 2017. Isso pode ter decorrido de uma análise dopanorama de 2015 pelas instituições responsáveis pela saúde pública do município, verificando esses dados, juntamente com ocontexto ambiental e social para adoção de medidas profiláticas com maior eficácia, que refletiu em diminuição de notificação dadoença nos anos seguintes.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Fundacão Nacional de Saúde. Dengue: aspectos epidemiológicos, diagnóstico e tratamento /Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2002. BRASIL. DATASUS. Portal da Saúde - SUS. Dengue Notificações registradas no sistema de informação de agravos de
notificação Paraná. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/denguebpr.def. Acesso em: 25de jun. 2019.CATÃO, R. C. Dengue no Brasil: abordagem geográfica na escala nacional. 2012. 169f. Dissertação (Especialização emGeografia) Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2012. Disponívelem: http://www.geosaude.com/resources/catao_rc_me_prud.pdf. Acesso em: Acesso em: 25 de jun. 2019.DONALISIO, M. R.; FREITAS, A. R. R.; VON ZUBEN, A. P. B. Arboviroses emergentes no Brasil: desafios para a clinica eimplicações para saúde pública. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 51, n. 30, p. 01-06, 2017. Disponível emhttp://www.scielo.br/pdf/rsp/v51/pt_0034-8910-rsp-S1518-87872017051006889.pdf. Acesso em: 25 de jun. 2019.
Psidium Guajava L.: UMA ESPÉCIE PROMISSORA PARA A CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS?
1GLESIE BERTULUCI MARTINS, 2BARBARA BERTAGNA, 3VICTOR FAJARDO BORTOLI, 4MARINA CHAVES ORBEN,5GUSTAVO RATTI DA SILVA, 6FRANCISLAINE APARECIDA DOS REIS LIVERO
1Discente do curso de Medicina - PIC/UNIPAR1Discente do curso de Medicina - PIC/UNIPAR2Discente do curso de Medicina - PIC/UNIPAR3Discente do curso de Medicina - PIC/UNIPAR4Discente do PPG Ciência Animal com Ênfase em Produtos Bioativos - Bolsista PIT/ UNIPAR5Docente da Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e do PPG em Ciência Animal-UNIPAR
Introdução: Segundo Okamoto (2010), a Psidium guajava L. caracteriza-se por ser um arbusto perene, nativo das AméricasCentral e do Sul. A planta, conhecida popularmente por goiabeira, é frutífera e está inserida na família das Mirtaceas, sendo aespécie do gênero Psidium a mais constatada e dotada de diversas funções, tanto na indústria como in natura. A planta possuiem suas folhas e caules metabólitos, em especial taninos e flavonoides, que apresentam diversas atividades farmacológicas,como ação cicatrizante, antimicrobiana, antioxidantes, anestésicas e antidiarreicas (YOSHIDA et al., 2015). A ação cicatricial dasplantas é de grande importância, já que este processo é comum as feridas, seja ela sistêmica ou dinâmica. A cicatrização deferidas baseia-se em um ordenada cascata de fatores celulares, moleculares e bioquímicos que se integram para que areconstrução do tecido ocorra e, com o uso terapêutico destas plantas, como a da Psidium guajava, para a cicatrização,desenvolve-se novos agentes cicatrizantes para uso medicinal (CAMPOS et al., 2007).Objetivos: Relacionar a utilização terapêutica da Psidium guajava e o processo de cicatrização de feridas.Desenvolvimento: De acordo com Alves et al. (2006), no que compete a morfoanatomia e histoquímica das folhas da Psidiumguajava, destacam-se: taninos (9-10%), óleo essencial (90,3%) rico em cariofileno, nerolidiol, β-bisaboleno, aromadendreno, p-selinemo, α-pineno e 1,8-cineol; e triterpenoides (ácido oleanólico, ursólico, catecólico, guaiavólico, maslínico e β-sitosterol).Referente ao caule, possui principalmente taninos, em uma concentração que pode variar de 12 a 30%, não sendo de muito usopara tais funções cicatrizantes. Carvalho et al. (2002) caracterizam que a espécie é reconhecida popularmente como medicinal,pois seus extratos têm mostrado atividade antimicrobiana, cicatrizante, auxiliar no tratamento de diabetes e atua contra cólicas ediarreias. A folha da P. guajava oferece grande competência para reduzir polimerizações e agregações de moléculas dehemoglobina, o que a torna muito eficaz em casos em que há sangramentos ou feridas, já que tem por reação o tamponamentodos mesmos, isso devido a presença de flavonoides e os triterpenoides presentes na folha, tornando-a em uma planta compropriedades medicinais (BARBALHO, 2012). As folhas da Psidium guajava podem ser também usadas como agentesimunoestimulantes, segundo Díaz-De-Cerio (2017), já que modulam a resposta de proliferação de linfócitos. Além disso, estudoscomparativos foram feitos em células endoteliais da aorta bovina e da veia umbilical de humanos, utilizando extratos de folhas degoiabeira. No estudo, enquanto nas células bovinas observou-se um atraso na oxidação da lipoproteína, nas células de humanoshouve uma delimitação da viabilidade das células, suspendendo a produção de oxigênio, o que significa que houve um processode cicatrização nas células utilizadas. As folhas de Psidium guajava serviram como anticoagulantes no plasma, agindo naredução do tempo de coagulação das trombinas, a qual tem por característica converter fibrinogênio em fibrina, podendo, assim,agir no processo de coagulação das feridas, por exemplo (DÍAZ-DE-CERIO, 2017). É notável, segundo Gutiérres (2008), que aPsidium guajava possui diversos benefícios, estes advindos dos extratos e fitoquímicos isolados da folha, os quais possibilitam aatividade antimicrobiana, defendendo o corpo humano de bactérias, fungos, vírus e parasitas, contribuindo, dessa maneira, paraa qualidade de vida daqueles que usam o extrato da folha para cura terapêutica. Esta opção de tratamento, de acordo com Alveset al. (2006), se torna um apelo para a população geral, visto que o uso de plantas medicinais para uso fitoterápico é de extremaimportância, já que é de acessibilidade à todos, são de baixo custo e há uma menor ocorrência de efeitos adversos quandocomparado com medicamentos industrializados.Conclusão: Diante do exposto, conclui-se que o extrato da folha de Psidium guajava possui grande atividade cicatrizante, sejaem feridas ou lesões, devido a presença de flavonoides e os triterpenoides presentes nas folhas. Além de um potente cicatrizanteé também antimicrobiano, protegendo a pele de agentes invasores. Tornando, assim, esta planta em um grande potencial parausos fitoterapêuticos, que além de fácil acesso é de baixo custo.
ReferênciasALVES, P. M. et al. Atividade antifúngica do extrato de Psidium guajava Linn.(goiabeira) sobre leveduras do gênero Candida da
cavidade oral: uma avaliação in vitro. Rev Bras Farmacogn, v. 16, n. 2, p. 192-196, 2006.BARBALHO, Sandra M. et al. Psidium guajava (Guava): A plant of multipurpose medicinal applications. Med Aromat Plants, v. 1,n. 104, p. 2167-0412.1000104, 2012.CAMPOS, A. C. L.; BORGES-BRANCO, A.; GROTH, A. K. Cicatrização de feridas. Arq Bras Cir Dig, v. 20, n. 1, p. 51-58, 2007.CARVALHO, A. A.T., et al. Atividade antimicrobiana in vitro de extratos hidroalcoólicos de Psidium guajava L. sobre bactériasgram-negativas. Acta Farm Bonaerense, v. 21, n. 4, p. 255-258, 2002.DÍAZ-DE-CERIO, E., et al. Health effects of Psidium guajava L. Leaves: An overview of the last decade. International journal ofmolecular sciences, v. 18, n. 4, p. 897, 2017.GUTIÉRREZ, R. M. P.; MITCHELL, S.; SOLIS, R. V. Psidium guajava: a review of its traditional uses, phytochemistry andpharmacology. Journal of Ethnopharmacology, v. 117, n. 1, p. 1-27, 2008.OKAMOTO, Marise Kiyoko Hasegawa. Estudo das atividades cicatrizante e antimicrobiana do extrato glicólico e do gel dePsidium guajava L. e estudo da estabilidade do gel. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2010.YOSHIDA, S. Y. et al. Extrato glicólico das folhas de Psidium guajava (goiabeira). Revista Pesquisa e Ação, v. 1, n. 1, p. 110-120, 2015.
LEISHMANIOSE VISCERAL: CICLO E FATORES DE INCIDÊNCIA NA REGIÃO SUL
1VICTOR FAJARDO BORTOLI, 2MARINA CHAVES ORBEN, 3MICHELE AYUMI CHAVES, 4AMANDA HECK SCHEUER, 5JULIATAMIOZZO BENINI, 6ALTAIR DE SOUZA CARNEIRO
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina UNIPAR4Acadêmica do Curso de Medicina UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A patologia em questão é uma doença causada por um protozoário da espécie Leishmania chagasi, que estando emsua forma promastigotametacíclica é capaz de parasitar o homem (ANTOINE, 1995, MEREDITH et al, 1995). A leishmaniosevisceral normalmente afeta populações economicamente vulneráveis, podendo levar a sintomatologias graves como perda depeso e anemia. Esses sintomas são claramente uma problemática para saúde populacional, devendo ser tomadas medidasprofiláticas para evitar a disseminação da doença nas regiões do país. Objetivo: Descrever os fatores que levaram a disseminação dos casos de Leishmaniose no Sul visando contribuir com a saúdepública, analisando ainda as profilaxias de propagação da doença.Desenvolvimento: Nas Américas, a L. chagasi é a responsável pela transmissão da Leishmaniose visceral (LV), a qual é umadoença infecciosa sistêmica de ampla distribuição geográfica. A mesma é transmitida aos hospedeiros vertebrados através dapicada do inseto hematófago Lutzomyia longipalpissp, sendo o cão o reservatório mais comum e a maior fonte de transmissão doparasito para o homem (ASHFORD, 1998; SLAPPENDEL & FERRER, 1998). O inseto vetor desta doença, apesar de estardisseminado em quase todo país, não acometia a região Sul, sendo que o mais próximo desta era o estado de São Paulo.Entretanto, o Sul passou a ser mais uma das regiões com casos de L. visceral, acredita-se que tal motivo seja as modificaçõesambientais tão suscetíveis as mudanças nos últimos anos pela ação antrópica, pelo grande movimento migratório e pelainteração de cães infectados com cães não infectados em áreas antes não contaminadas (MAIA-ELKHOURY, 2008). Dessamaneira, a doença pode se manifestar de forma aguda e crônica, sendo que esta se caracteriza pela forma grave e quando nãotratada corretamente apresenta aspectos letais. Os principais sintomas dessa parasitose são febres intermitentes, palidez demucosas, emagrecimento progressivo, diarréia, dor abdominal, aumento dos linfonodos, seguido de sinais biológicos como,anemia, leucopenia, trombocitopenia, hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia e ainda em casos mais crônicos, pode ocorreresplenomegalia associada ou não a hepatomegalia (NEVES, 2005). Segundo o Ministério da saúde (BRASIL, 2006), na tentativade reduzir as taxas de letalidade e o grau de morbidade, o Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral vemimplementando ações de vigilância e assistência ao paciente. Estas ações nada mais são que a diferenciação entre um casosuspeito de leishmaniose visceral de um caso confirmado da mesma, a qual possui para tal, identificação de critérios clínicoslaboratoriais, devendo ser feita a exclusão de outros diagnósticos.Conclusão: Em decorrência dos fatores que levaram a disseminação dos casos de Leishmaniose no Sul, os quais são ainteração das mudanças ambientais, os movimentos migratórios e a interação dos vetores, espera-se que seja estagnada aproliferação desta protozoose. Entretanto, além de se promover o tratamento, é de extrema necessidade a disseminação daprofilaxia, baseada em três aspectos: diagnóstico e tratamento dos doentes, eliminação dos caẽs que apresentaram sorologiapositiva e combate às formas adultas do inseto vetor através de campanhas adotadas pelo Ministério da Saúde.
ReferênciasANTOINE J. C. Co-stimulatoryactivity of Leishmania infectedmacrophages. Parasitology Today. v. 11, n. 7, p. 242-243, 1995.ASHFORD, R. W. The leishmaniases. In: PALMER, S.R. et al. Zoonoses. Oxford: Oxford University, 1998. Cap.43, p.527-543.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Leishmaniose visceral grave: normas e condutas / Ministério daSaúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. - Brasília: Editora do Ministério daSaúde, 2006.GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Goldman-Cecil. Elsevier Health Sciences Spain-R, 2016.MAIA-ELKHOURY, Ana Nilce Silveira et al. Visceral leishmaniasis in Brazil: trends and challenges. Cadernos de saúde pública,v. 24, p. 2941-2947, 2008.NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 11ª ed. São Paulo, Atheneu, 2005.p.56-67.
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES METABÓLICAS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA
1CLARA EDUARDA MATTOS ROSSA, 2MAYARA JAKLINE RAMOS MATOS, 3THAISSA EDUARDA BARICHELLO,4CAROLINE HAMMERSCHMITT EDUARDO, 5FERNANDA PEGORINI PADILHA, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do PIC/UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo Catalán et al. (2018), a obesidade é uma doença crônica, que se caracteriza principalmente pelo acúmuloexcessivo de gordura corporal de origem metabólica, ambiental e/ou genética. Está associada a um risco aumentado de diversasdoenças, dentre elas, infarto agudo do miocárdio, diabetes tipo 2, acidente vascular encefálico, tornando o distúrbio uma dasprincipais causas de morbidade e mortalidade nas últimas décadas. Para Silva et al. (2017), diante do insucesso do tratamentopor meio de técnicas conservadoras, como dieta e prática da atividade física, o procedimento cirúrgico é recomendável. A buscapor cirurgia bariátrica ocorre por indivíduos com diagnóstico de obesidade grave, de ambos os gêneros e geralmente em idadeprodutiva, sendo que o procedimento é predominante entre as mulheres. Possui resultados extremamente satisfatórios para aperda do excesso de peso, porém possui complicações pós-operatórias a serem consideradas, como diversas alteraçõesmetabólicas.Objetivo: Explanar os principais distúrbios metabólicos após o procedimento de cirurgia bariátrica.Desenvolvimento: A cirurgia bariátrica é o método de tratamento da obesidade mais utilizado no Brasil em casos de índice demassa corporal igual ou maior a 40kg/m² também conhecido como obesidade grau III ou mórbida. Entre os anos de 2008 e 2017o número de cirurgias bariátricas cresceu 215%, considerando um crescimento anual médio de 13,5% (STIVAL et al., 2019).Sousa e Johann (2014) explicam que são várias as tentativas de emagrecimento anterior à decisão pela cirurgia, comodieta alimentar, reeducação alimentar, atividade física e tratamentos farmacológicos. Fandiño et al. (2004) complementam quevários pacientes não respondem de forma significativa as formas de emagrecimento convencional necessitando de umtratamento mais eficaz e duradouro. Martins et al. (2018) afirmam que mesmo sendo um tratamento poderoso, seguro eperdurável podem ocorrer problemas em longo do prazo, levando a deficiências nutricionais consideráveis e reganho de pesoacerca de 30% dos pacientes entre 18-24 meses após a cirurgia. Cordás, Lopes Filho e Segal (2004) citam que o padrãoalimentar incorreto tende a permanecer após o tratamento cirúrgico modificando e agravando a condição clínica do pacientecontribuindo assim, para o reganho de peso. As complicações precoces pós-opératorias ocorrem em 5-10% dos indivíduos, 25%são complicações tardias, como problemas nutricionais, envolvendo anemia e deficiência de vitamina B12. Outras carências sãoevidenciadas em micronutrientes essencias, como em vitaminas A, D, E e K, cálcio, cobre e zinco, gerando alterações corporaissubstanciais comprometendo a qualidade de vida do indivíduo (SOUZA; JOHANN, 2014).Conclusão: A cirurgia bariátrica apresenta diversos benefícios físicos e psicossociais, porém são evidenciados distúrbiosmetabólicos relacionados a diversas deficiências nutricionais no pós-operatório precoce e tardio, sendo imprescindível oacompanhamento clínico em longo prazo para assegurar uma perda de peso segura e eficaz, sendo a suplementação demicronutrientes uma alternativa de garantir a saúde e o sucesso da técnica.
ReferênciasCATALÁN, V.; SALVADOR, J.; FRÜHBECK, G.; GÓMEZ-AMBROSI, J.Mejora em lacalidadde vida trascirugía bariátrica. Analesde Sistema Sanitário de Navarra, Pamplona, v.41, n.2, p.287-289, mai./ago. 2018.CORDÁS, T. A.; LOPES FILHO, A. P.; SEGAL, A. Transtorno alimentar e cirurgia bariátrica: Relato de caso. ArquivosBrasileiros de Endocrinologia & Metabologia, São Paulo, v.48, n.4, p.564-71, ago. 2004.FANDIÑO, J.; BENCHIMOL, A. K.; COUTINHO, W. F.; APPOLINÁRIO, J. C. Cirurgia bariátrica: Aspectos clínico-cirúrgicos epsiquiátricos. Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v.26, n.1, p. 47-51, jan./abr. 2004.MARTINS, N.S.; KANNO, P.S.; SALOMON, A.L.R.; CUSTÓDIO, M.R.M. Disbiose em pacientes bariátricos. Revista Brasileira deObesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo, v.12, n.70, p.145-154, mar./abr. 2018.SILVA, C. D. A. et al. Perfil clínico de pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição eEmagrecimento, São Paulo, v.11, n.64, p.211-216, jul./ago.2017.
SOUSA, K. O.; JOHANN, R. L. V. O. Cirurgia bariátrica e qualidade de vida. Psicologia Argumento, Curitiba, v. 32, n. 79, p. 155-164, out./dez. 2014.STIVAL, N. L. et al. Perspectiva da pessoa submetida à cirurgia bariátrica. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição eEmagrecimento, São Paulo, v. 13, n. 77, p.79-89, jan./fev. 2019.
ETIOLOGIA E OPÇÕES DE TRATAMENTO PARA LESÕES DE FURCA
1RAFAELLA BRITO CARBELIM, 2BEATRIZ AYUMI SHIOTANI, 3SABRINA PAIXAO DOS SANTOS RODRIGUES, 4STEFANIAGASPARI, 5EDUARDO AUGUSTO PFAU
1Acadêmica PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Diagnostico Bucal - Turma I da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Endodontia Automatizada - Turma Iv da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O tratamento dos defeitos de furca ainda é uma tarefa complexa, pois estão associados à reabsorção óssea e perdade inserção no espaço inter-radicular, o que pode levar à perda dentária. Na periodontia encontramosdiversas formas de tratamento com o objetivo de manter os elementos dentários importantes no planejamento odontológico,restabelecendo uma anatomia que possibilite ao paciente a remoção do biofilme dental na área comprometida. Objetivos: Mostrar através de uma revisão de literatura os fatores etiológicos e condições clínicas que podem desencadearlesões de furca, além de apresentar formas de tratamentos cirúrgicos para dentes afetados por essa complicação.Desenvolvimento: A lesão de furca pode ser definida como uma reabsorção óssea localizada no espaço inter-radicular dedentes multirradiculares, e que resulta na perda de inserção dental. Essa condição clínica possui vários fatores que podem ser deorigem periodontal, endodôntica ou até mesmo devidos ao excesso de remoção de tecido ósseo em exodontias de terceirosmolares. Deliberador e colaboradores (2008) destacam o papel principal do acúmulo de biofilme dental ocasionando inflamação alongo prazo, mas também apontam a presença de fatores anatômicos que influenciam a perda de inserção em áreas debifurcação ou trifurcação de dentes multirradiculares. De acordo com Silva et al. (2014) após definido o diagnóstico de lesão defurca, a escolha do modo terapêutico irá depender de fatores como profundidade de sondagem da área, e grau de envolvimentoda mesma, pois, além do exame clínico preciso, também deve-se obter uma análise radiográfica. Quanto à perda de inserção docomplexo radicular, Newman et al. (2016) classificam em quatro tipos de graus. A Classe I implica os defeitos de furcaincipientes, passíveis de receber terapia periodontal conservadora. Já na Classe II há um envolvimento horizontal raso sem perdaóssea vertical, podendo ser tratada por meio de cirurgia de retalho com odontoplastia e osteotomia. Por fim, as Classes III eIV englobam os defeitos avançados, onde há o desenvolvimento de um componente horizontal significativo em uma ou maisfurcas de um dente multirradicular, ou desenvolvimento de um componente vertical profundo na furca. Existem dois tipos declassificações que podem ser usadas juntas: a) baseado na perda óssea horizontal. Hamp et al. (1975) classificaram em GrauI casos em que há perda horizontal de suporte periodontal menor que 3 mm; Grau II quando há uma perda horizontal de suporteperiodontal maior que 3 mm, sem atingir toda extensão da furca; e o Grau III onde há perda horizontal de suporte periodontal naextensão da furca. B) baseado na perda óssea vertical - para (TARNOW & FLETCHER, 1984) são classificados em subclasses:Subclasse A, onde a profundidade de sondagem do teto da furca é de 0-3 mm; Subclasse B, tendo como profundidade desondagem do teto da furca de 4-6mm; Subclasse C, com 7mm ou mais de profundidade de sondagem do teto da furca. SegundoSilva et al. (2014) a raspagem e o alisamento radiculares é são indicados para todos os tipos de tratamento de lesões de furca.Já os tratamentos ressectivos compreendem a tunelização, uma técnica que consiste no alargamento da área de furca através daosteotomia na região inter-radicular, criando um amplo espaço que permite o acesso para higiene oral e manutenção(DESANTICS & MURPHY, 2000). A tunelização não requer tratamento endodôntico ou reconstruções protéticas, contudo, podeapresentar desvantagens como cáries radiculares. Outra forma de tratamento citada por Silva et al. (2014) é a ressecçãoradicular, que é o tratamento de escolha para lesão de furca classe II avançado e classe III. Nessa técnica pode ser feita aamputação radicular de dentes multirradiculares. Um outro procedimento é hemissecção radicular, que consiste na separação dedentes multirradiculares através da área de furca seguida da remoção de uma ou mais raízes com suas porções coronárias. Autilização de enxerto ósseo é uma alternativa para indivíduos não colaborativos que apresentam lesão de furca classe III ou IVque acabam impossibilitando a realização de terapias mais complexas. A terapia de ressecção radicular é uma boa opção detratamento para situações onde há manutenção de molares com uma ou mais raízes comprometidas por problemas periodontaise/ou endodônticos (DE CONTO et al 2010). Além disso, em um trabalho recente, Derks et al. (2017) avaliaram a longevidade emum período de 10 anos em que os resultados obtidos em molares foram semelhante ao encontrado no tratamento com implantesdentários, com a vantagem que essa técnica é menos traumática e com menor morbidade. Conclusão: Conclui-se que dentes com lesão de furca podem ser tratados por meio de diferentes tipos de tratamento, incluindoraspagem e alisamento radicular, plastia de furca, tunelização, ressecção radicular, enxerto ósseo e exodontia. A escolha do
tratamento mais adequado e seu sucesso dependerão de cada caso clínico específico e características individuais dospacientes.
ReferênciasNEWMAN, Michael G. et al. Carranza periodontia clínica. Elsevier Brasil, 2016.DE CONTO, Kelly Cristina et al. Ressecção radicular: uma opção de tratamento para molares com complicaçõesendodônticas. Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research, 2011.DELIBERADOR, Tatiana Miranda et al. Regeneração tecidual guiada no tratamento dos defeitos de furca classe II. RSBORevista Sul-Brasileira de Odontologia, v. 5, n. 3, p. 57-65, 2008.DERKS, Hermann et al. Retention of molars after root-resective therapy: a retrospective evaluation of up to 30 years. Clinical oralinvestigations, v. 22, n. 3, p. 1327-1335, 2018.DESANCTIS, Massimo; MURPHY, Kevin G. The role of resective periodontal surgery in the treatment of furcationdefects. Periodontology 2000, v. 22, p. 154-168, 2000. HAMP, Sven‐Erik; NYMAN, Sture; LINDHE, Jan. Periodontal treatment of multi rooted teeth. Results after 5 years. Journal ofclinical periodontology, v. 2, n. 3, p. 126-135, 1975.SILVA, Gracileyde Pinheiro et al. Classificação e tratamento de lesões de furca. Revista de Ciências da Saúde, v. 16, n. 2,2014.TARNOW, Dennis; FLETCHER, Paul. Classification of the vertical component of furcation involvement. Journal ofperiodontology, v. 55, n. 5, p. 283-284, 1984.
FATORES DESENCADEANTES E CONSEQUÊNCIAS DA AUTOMEDICAÇÃO: UM ESTUDO DE REVISÃO
1Lorena Eduarda Campestrini Gobbi, 2FRANCISLAINE APARECIDA DOS REIS LIVERO
1Aluna de Ensino Médio bolsista PIBIC-EM/CNPq1Docente da Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e do PPG em Ciência Animal-UNIPAR
Introdução: Com o passar dos anos, os medicamentos vem apresentando um crescimento em produção e vendas,consequência das propagandas, acessibilidade e preços cada vez mais acessíveis ao consumidor. Tal situação tornou frequentequestões relacionadas com a automedicação, processo que tem como característica a iniciativa de comprar ou produzirmedicamentos, acreditando que os mesmos irão contribuir para a melhora dos sintomas apresentados principalmente emsintomas comuns como dor de cabeça, febre, tosse, dentre outros (SILVA et al., 2013). Como consequência da falta de políticasque promovam o uso racional e consciente de medicamentos em 50% dos países, ocorre prescrições inadequadas de cerca de50% dos medicamentos presentes no mercado, tendo metade dos usuários fazendo o uso incorreto dos mesmos (SILVA et al.,2013). Deste modo, a automedicação vem se tornando um problema de saúde pública crescente que oferta riscos à saúde e aobem-estar da população.Objetivo: Identificar aspectos notórios na prevalência e fatores da automedicação no Brasil.Desenvolvimento: Na automedicação, medicamentos que são isentos de prescrição são os mais frequentes. A justificativa vematravés de uma experiência boa com o medicamento, anteriormente prescrito por um médico; o acúmulo de medicamentos emcasa, que levam a pessoa a consumirem-no quando apresenta um dos sintomas que a levou a comprar; propagandasirresponsáveis em mídias, que apresentam apenas o lado bom do medicamento (SILVA et al., 2013). Levando em consideraçãoque os grupos de medicamentos mais utilizados nesse processo são anti-inflamatórios não esteroidais, analgésicos, relaxantesmusculares e remédios caseiros, os riscos mais comuns da automedicação, são: resistência antimicrobiana, reações adversasaos fármacos, erros na dosagem, tempo de medicação, desperdício de recursos e o fácil acesso de crianças à estas farmáciascaseiras (SILVA et al., 2013). Porém comparando os resultados de Carvalho et al. (2005) com os dados de Arrais et al.(2016), onúmero de pessoas que praticam automedicação no Brasil vem diminuindo com base nas transformações na área de saúde.Contudo, ainda há uma maioria adepta a automedicação e as pesquisas indicam que em sua maior parte são mulheres, devidoao papel pré-estabelecido socialmente a elas. Apesar de dados recentes apontarem declínio nas taxas de automedicação, hánecessidade de maior responsabilidade das instituições de saúde e políticas públicas que diminuam o número de pessoasautomedicadas, prevenindo efeitos prejudiciais ao indivíduo e à Sociedade (SILVA et al., 2013; ARRAIS et al.,2016).Conclusão: A automedicação é um problema decorrente na saúde pública brasileira. É preciso que a população seja envolvida eque se estabeleçam medidas de prevenção e reflexão sobre o tema, buscando solucionar problemas que levam àautomedicação. Ainda, é preciso maior supervisão das propagandas apresentadas na mídia e restrições na compra dessesfármacos, melhorando o panorama da automedicação no Brasil, que se mostra prática aos olhos populares, mas que pode trazergraves consequências ao bem-estar.
ReferênciasSILVA, J. A. C. et al. Prevalência de automedicação e os fatores associados entre os usuários de um Centro de SaúdeUniversitário. Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, v. 11, n. 1, p. 27-30, 2013.ARRAIS, P. S. D. et al. Prevalência da automedicação no Brasil e fatores associados. Revista de Saúde Pública, v. 50, p. 1s-11s, 2016.CARVALHO, M. F. et al. Utilization of medicines by the Brazilian population, 2003. Cadernos de Saúde Pública, v. 21, p. 100s-108s, 2005.DOMINGUES, P. H. F. et al. Prevalência da automedicação na população adulta do Brasil: revisão sistemática. Revista deSaúde Pública, v. 49, n. 36, p. 1-8, 2015.
ALCALOSE RESPIRATÓRIA POR HIPERVENTILAÇÃO EM CRISES NERVOSAS
1THALYA VITORIA BECHER, 2KAMUNI AKKACHE COUTINHO, 3PRISCILA LUZIA PEREIRA NUNES, 4TAZIANE MARA DASILVA, 5CAMILA MORENO GIAROLA, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI BOLETA CERANTO
1Acadêmica de Medicina da UNIPAR1Acadêmica de Medicina da UNIPAR2Acadêmica de Medicina da UNIPAR3Acadêmica de Medicina da UNIPAR4Acadêmica de Medicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A alcalose respiratória ocorre devido a distúrbios de hiperventilação, como em casos de estresse, que levam a umaalteração do pH sanguíneo, tornando-o mais básico (TORTORA; NIELSEN, 2013). Assim, quando a ventilação alveolaraumenta, como resultado da hiperventilação, sem aumento da produção metabólica de gás carbônico (CO2), a pressão de CO2(Pco2) plasmática cai, ocorrendo a alcalose. Diante disso, uma das principais causas de alcalose respiratória são as crisesnervosas, principalmente, aquelas relacionadas à ansiedade (SILVERTHORN, 2017).Objetivo: Revisar a literatura sobre a ocorrência de alcalose respiratória por hiperventilação em crises nervosas.Desenvolvimento: A variação do pH do sangue arterial sistêmico normal está entre 7,35 e 7,45. Na alcalose (ou alcalemia), o pHdo sangue é maior do que 7,45. Isso ocorre, entre outros fatores, devido à mudança do mecanismo respiratório. Nesse sentido, aalcalose respiratória é um distúrbio causado por variações da pressão parcial de CO2 no sangue arterial sistêmico e,consequentemente, do distúrbio de variações da concentração plasmática de bicarbonato (HCO3) de hidrogênio (H+), em queambos encontram-se reduzidos, sendo reguladas por meio da função renal (TORTORA; NIELSEN, 2013). Pacientes comtranstorno de pânico ou ataques de pânico, em resposta a isso, podem desencadear surtos de hiperventilação e consequentealcalose respiratória, tornando hipersensível o circuito de medo composto por certas áreas cerebrais. Desse modo, emdecorrência do medo e da ansiedade, ocorrem sinais e sintomas como tontura, tremores, palpitações, hiperhidrose, parestesia,falta de ar, sensação de sufocamento, entre outros. O medo ativa o sistema nervoso autônomo, elevando a frequênciarespiratória, reduzindo a concentração de CO2 e intensificando os sintomas causados pela hipocapnia (redução do dióxido decarbono no sangue arterial devido à hiperventilação). Esse fenômeno cria um feedback positivo, aumentando a reação de pânicoe causando, assim, o ataque de pânico (SARDINHA, et al, 2009). A alcalose respiratória aguda estimula o Centro RespiratórioBulbar (CRB), responsável pelas emoções (ÉVORA, et al 1999). Dessa maneira, os sintomas neurológicos causados por elapodem ser parcialmente revertidos, fazendo com que o paciente respire dentro de um saco de papel, por exemplo, combatendoassim, a hiperventilação em pacientes ansiosos e histéricos. Por conseguinte, a PCO2 arterial aumenta e o paciente volta arespirar o CO2 exalado (SILVERTHORN, 2017). Conclusão: A hiperventilação pode ser considerada como uma consequência das crises nervosas, que são desencadeadas pordiversos fatores, dentre eles o estresse, pânico e a ansiedade. Nesse sentido, a alcalose respiratória é uma problemáticafrequentemente encontrada, visto que, devido à hiperventilação alveolar induzida pelo hipocapnia, pode levar a sintomas maisseveros, como a redução do fluxo sanguíneo para o cérebro. Desse modo, para evitar tais riscos, pode ser facilmente controladapela prática respiratória em sacos de papel, normalizando a concentração de CO2 e o pH sanguíneo, e retornando à homeostasedo organismo do paciente.
ReferênciasÉVORA, Paulo Roberto B., et al. Distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e do equilíbrio ácido básico - Uma revisão prática,Medicina, Ribeirão Preto, v. 32, n. 4, p. 463-464, out./dez. 1999.SARDINHA, Aline, et al . Manifestações respiratórias do transtorno de pânico: causas, consequências e implicações terapêuticas.J. bras. pneumol., São Paulo, v. 35, n. 7, p. 698-708, julho 2009.SILVERTHORN, D. U. Fisiologia Humana: uma abordagem integrada. Porto Alegre: Artmed, 2017. TORTORA, G. J.; NIELSEN, M. T. Princípios de anatomia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA
1FERNANDA PEGORINI PADILHA, 2THAISSA EDUARDA BARICHELLO, 3CAROLINE HAMMERSCHMITT EDUARDO,4EDINEIA MARIZA SIEROTA, 5CLARA EDUARDA MATTOS ROSSA, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Sendo considerada uma importante desordem nutricional, a obesidade tem demonstrado um aumento expressivo deincidência na sociedade mundial. É classificada como uma doença crônica, grave, caracterizada por depósitos abundantes degordura corporal evidenciando inúmeras comorbidades (WANDERLEY; FERREIRA, 2010). Segundo Leiro e Melendez-Araujo(2014), existem diversos tipos de tratamentos para a obesidade, mas o método que tem demonstrado mais eficiência é a cirurgiabariátrica, porém, a intervenção pode causar algumas complicações pós-operatórias, como significativas deficiências nutricionais.Esse problema é causado pela redução da ingestão alimentar, consequentes intolerâncias e absorção limitada de determinadasvitaminas. De acordo com Bordalo, Mourão e Bressan (2011), a junção dos fatores pré-operatórios torna o indivíduo maissuscetível a desenvolver a carência dos micronutrientes essenciais e o não diagnóstico dessas deficiências gera efeitosnegativos na qualidade de vida dos pacientes. Portanto, a adequação nutricional se faz necessária para uma melhor obtenção deresultados diante do procedimento.Objetivo: Dissertar sobre as principais deficiências nutricionais observadas em pacientes pós-cirurgia bariátrica.Desenvolvimento: A obesidade é caracterizada pelo excessivo acumulo de gordura corporal, é de natureza multifatorial queenvolve alterações genéticas, psicológicas, endócrinas juntamente com o estilo de vida do indivíduo (WANDERLEY; FERREIRA,2010). Com o aumento de indivíduos obesos, foram surgindo diversos tipos de tratamento para a doença, mas a gastroplastiatem se mostrado mais eficaz em longo prazo. A técnica de by-pass gástrico é a que possui maior incidência de realização pelobaixo índice de mortalidade e solução das comorbidades no pós-operatório (LEIRO; MELENDEZ-ARAUJO, 2014). Sampaio Netoet al. (2016) citam que a absorção insatisfatória em conjunto com uma baixa ingestão de alimentos e a perda de peso aceleradaresultam em deficiências nutricionais e disfunções eletrolíticas significativas. Algumas delas envolvem déficit de albumina,hemoglobina, ferro, zinco e vitaminas diversas, em especial vitamina B12 e D3, componentes os quais exercem funçõescorporais importantes, resultando em problemas diante das deficiências. O estoque de vitaminas presentes no corpo conseguesuprir a falta por um tempo, mas se essas circunstâncias forem apresentadas no pré-operatório o procedimento pode agravar asituação. Rocha (2012) cita que a deficiência de vitamina B12 é observada em cerca de 30 a 37% dos pacientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica. As funções realizadas por esse micronutriente são importantes e seu déficit está associado asintomas como anemia megaloblástica, problemas psiquiátricos e depressão. A proteína é o principal macronutriente em carênciaobservado em pacientes bariátricos, que quando não diagnosticada pode causar hipoalbuminemia, anemia, inchaço e astenia.Esse problema metabólico ocasiona, também, perda de massa muscular, circunstância que pode ajudar no reganho de peso(BORDALO; MOURÃO; BRESSAN, 2011).Conclusão: Concluiu-se que apesar da cirurgia bariátrica ser o método mais eficiente em resolução das disfunções referentes aobesidade, muitos pacientes pós cirúrgicos apresentam deficiências nutricionais significativas, sendo assim, se faz necessário umacompanhamento nutricional para não haver complicações após o procedimento.
ReferênciasBORDALO, L. A.; MOURÃO, D. M.; BRESSAN, J. Deficiências nutricionais após cirurgia bariátrica. Por que ocorrem? ActaMédica Portuguesa, Viçosa, v. 24, n. S4, p. 1021-1028, dez. 2011.LEIRO, L. S.; MELENDEZ-ARAÚJO, M. S. Adequação de micronutrientes da dieta de mulheres após um ano de bypass gástrico.Arquivo Brasileiro de Cirurgia Digestiva, São Paulo, v. 27, supl.1, p. 21-25, jan./mai. 2014.ROCHA, J. C. G. Deficiência de vitamina B12 no pós-operatório de cirurgia bariátrica. International Journal of Nutrology,Goiânia, v. 5, n. 2, p. 82-89, mai./ago. 2012.SAMPAIO NETO, J.; BRANCO FILHO, A. J.; NASSIF, L. S.; NASSIF, A. T.; MAIS, F. D. J. D.; GASPERIN, G. Proposta decirurgia revisional para tratar deficiência nutricional grave by-pass pós-gástrico. Arquivo Brasileiro de Cirurgia Digestiva, São
Paulo, v. 29, supl. 1, p. 98-101, jan./jun. 2016. WANDERLEY, E. N.; FERREIRA, A. F. Obesidade: Uma perspectiva plural.Ciência & Saúde Coletiva, Diamantina, v. 15, n. 1, p. 185-194, jan. 2010.
UMA ABORDAGEM DOS EFEITOS DA OBESIDADE E DO SEDENTARISMO EM ENDIVÍDUOS IDOSOS
1DOUGLAS VINICIUS MOREIRA DE FARIA, 2ANA LAURA ESPINDOLA, 3DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1ÁREA E SUBÁREA: CIÊNCIAS DA SAÚDE/EDUCAÇÃO FISICA 1Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo Pêgo-Fernandes, Ribas e Deboni (2011), a obesidade é um dos maiores problemas da última década,tornando-se um grave problema de saúde pública, com elevados custos aos sistemas de saúde no Brasil. Trata-se de umadoença que afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo, incidindo em aproximadamente 15% da população mundial. Destaforma, torna-se fundamental orientar quanto à alimentação apropriada, a fim de diminuir problemas de saúde e aperfeiçoar aqualidade de vida. A educação alimentar vem se tornando uma parceira para atingir mudanças de costumes e comportamentosalimentares, evitando a obesidade em todas as fases da vida. O estímulo para a prática de atividade física, a fim de evitar osedentarismo, compõe uma alternativa eficaz na busca por um corpo mais saudável, sobretudo, em uma fase da vida em que oenvelhecimento agrega sobrecargas funcionais ponderáveis (SILVA; BARATTO, 2015).Objetivo: Descrever como a obesidade e o sedentarismo influenciam na súde de indivíduos idosos.Desenvolvimento: O envelhecimento dos cidadãos brasileiros e a modificação de costumes simbolizam novos desafios aosistema de saúde. Envelhecer é um procedimento natural que identifica uma fase da vida do ser humano e transcorre através demodificações físicas, psicológicas, sociais e biológicas que sucedem um aspecto característico de individual, particularmentedepois dos 60 anos. Entre estas transformações, observa-se o aumento no número de doenças crônicas não transmissíveis e asvariações na condição nutricional e antropométrica, na qual é capaz de afetar a saúde e a qualidade de vida dos idosos (ALVES,2014). A respeito deste assunto, Oliveira, Bertolini e Martins Júnior (2014) evidenciam que a atividade física é capaz de auxiliaras pessoas na terceira idade a conservarem omelhor vigor possível, aprimorando a função em muitas atividades diárias. Aexecução de atividade física, além de se opor ao sedentarismo, colabora de forma significativa para a manutenção da disposiçãofísica do idoso, quer na sua tendência da saúde, como nas competências funcionais, especialmente para aqueles que nãoapresentam ocupação profissional. Outro privilégio proporcionado pela prática de exercícios físicos é o aumento das funçõesorgânicas e cognitivas, provando maior liberdade pessoal e prevenindo doenças, como é o caso da obesidade, fator decisivo nodesenvolvimento de diversas comorbidades que incidem na morbidade e mortalidade. Com a prática regular de exercícios oenvelhecer se tornará mais saudável.Conclusão: Concluiu-se que o número da população idosa não só no Brasil, mas no mundo, vem crescendo nos últimos anos,tornando um público importante a ser estudado, a fim de melhorar a qualidade de vida e a longevidade. A prática de atividadefísica regular irá assegurar ao indivíduo no processo do envelhecimento um corpo mais sadio, controlando, sobretudo aobesidade, tornando o indivíduo mais ágil, seguro e independente.
ReferênciasALVES, J. E. D. Transição demográfica, transição da estrutura etária e envelhecimento. Revista Portal de Divulgação, MinasGerais, v. 40, Ano IV, p.08-16, mar./mai. 2014.OLIVEIRA, D. V.; BERTOLINI, M. M. G.; MARTINS JÚNIOR, J. Qualidade de vida de idosas praticantes de diferentesmodalidades de exercício físico. Conscientiae Saúde,São Paulo, v.13, n.2, p. 187-195,abr./jun. 2014.PÊGO-FERNANDES, P.M.; RIBAS, B.J.; DEBONI, M. Obesity: The greatestepidemicofthe 21stcentury?São Paulo MedicalJournal,São Paulo, v.129, n.5, p.283-284, jul. 2011.SILVA, J. V.; BARATTO, I. Nutrição: Avaliação do conhecimento e sua influência em universidade aberta à terceira idade.Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo, v.9, n. 53, p.176-187, set./out. 2015.
FATORES PREDISPONENTES PARA DEPRESSÃO EM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
1MICHELI YURI OSHIAMA KIMURA, 2BRENDA AYUMI TSUKAMOTO, 3ALINE SAYURI MORITA, 4TANIARA EMANUELLEBERNARDI, 5RAFAELLA GUEDES DE LIVIO NAVES, 6ANDRESSA PAOLA DE OLIVEIRA Q MARTINS
1Acadêmica do curso de Enfermagem da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A depressão é uma patologia de importância entre os estudos da saúde mental e dos trabalhadores da saúde, écaracterizada por lentificação dos processos psíquicos, humor depressivo e/ou irritável, redução da energia, incapacidade parcialou total de sentir alegria ou prazer, desinteresse, apatia ou agitação psicomotora, dificuldade de concentração, pensamento decunho negativo, com perda da capacidade de planejamento e alteração do juízo da verdade (SCHMIDT et al. 2011). Não é raro ofato de que a depressão muitas vezes é confundida com desânimo, preguiça, estresse e mau humor, no entanto, fatorespsicológicos, como ansiedade, angústia e medo, são em boa parte dos casos, consequências e não a causa dadepressão (CAMARGO et al. 2014).Objetivo: Analisar os fatores que contribuem para predisposição do diagnóstico clínico da Depressão na Enfermagem. Desenvolvimento: A depressão é um evento profundo e obscuro de um ser humano, que não só prejudica a vida do indivíduo,mas todos em sua volta, e que se não tratada corretamente, acarretará consequências críticas ao paciente. Profissionais desaúde tem longas e exaustivas jornadas de trabalho, principalmente os enfermeiros que se dedicam integrativamente à suaprofissão e ao seu ambiente de trabalho, muitos executam tarefas sem pensar em sua própria saúde sendo suscetível a muitasdoenças psicológicas, como depressão, ansiedade e outros transtornos mentais (SILVA D; et al 2015). Entender sobre a doençaé necessário para compreender as diversas situações agonizantes e que um enfermeiro vive em seu local de trabalho, tendomuitas vezes que exercer muitas funções, tornando-se fatores de risco para a enfermidade. Ter que lidar com cenas de mortes,dor e sofrimento rotineiramente afeta diretamente o psicológico desses profissionais, o que gera desgaste físico e mental(ANTUNES, 2017). Dessa forma, muitos profissionais da enfermagem, devido à rotina estressante e a sobrecarga de trabalho,tem insônia, o que acarreta em dificuldades no organismo em recuperar as energias, e facilita o desenvolvimento de outraspatologias como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, etilismo, estresse, Distúrbios Osteomusculares Relacionado aoTrabalho (DORT), além de que, para se manterem acordados, ingerem cafeína e energéticos inadequadamente (PEREIRA etal., 2017). Além da própria forma de trabalhar dos enfermeiros, aqueles que atuam em serviços de emergência, necessitam deatenção maior, pois, de acordo com BEZERRA et al (2012) apud ANTUNES (2017), o ambiente em que atuam, em conjunto comuma equipe multiprofissional, exige cuidados rápidos, práticos e do melhor resultado, atribuindo-o pela qualidade do atendimentoao paciente. Ademais, esses profissionais têm de carregar o peso do risco à morte, a pressão da agilidade do serviço em poucotempo, o que então, desencadeia o estresse e o sofrimento psíquico.Conclusão: Tendo em vista os aspectos observados, com a carga de trabalho, e rotina severa, é comum o diagnóstico tardio, equando se percebe, o quadro tende a ser grave, desse modo, identificar inicialmente os sintomas e começar o tratamentoadequado, reflete na melhora do quadro clínico e qualidade de vida do enfermeiro. Evidenciou-se a importância do cuidado dasaúde mental, pois saber lidar com emoções positivas e negativas faz parte da vivência de um enfermeiro, entretanto, é essencialreconhecer relações abusivas de trabalho e combatê-las admitindo que são os principais fatores para a depressão naenfermagem.
ReferênciasAGUIAR, S. Depressão na enfermagem: uma revisão bibliográfica. Universidade federal de roraima. Boa Vista, v. 1. n. 1, p. 45,nov. 2017.ANTUNES, M. Produção científica brasileira sobre sofrimento psíquico e depressão da equipe de enfermagem naemergência. Revista Enfermagem Contemporânea. Rio Grande do Sul, v. 06, n. 01, p. 62-67, abr 2017.CAMARGO, R; SOUSA, C; OLIVEIRA, M. Prevalência de casos de depressão em acadêmicos de enfermagem em umainstituição de ensino de Brasília. Revista Mineira de Enfermagem, v. 18, n. 2, p. 398-403, abr/jun. 2014.PEREIRA, I. F; Faria, L.C; Vianna, R. S; Corrêa, P. D; Freitas, D. A; Soares, W. D. Depressão e uso de medicamentos em
profissionais de enfermagem. Arquivos de Ciências da Saúde, [S.l.], v. 24, n. 1, p. 70-74, mar. 2017.SCHMIDT, D.; DANTAS, R.; MARZIALE, M. Anxiety and depression among nursing professionals who work in surgicalunits. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 45, n. 2, p. 487-493, 1 abr. 2011.SILVA, D. S. D; TAVARES, N. V. S; ALEXANDRE, A. R. G; FREITAS, D. A; BRÊDA, M. Z; ALBUQUERQUE, M. C. S; NETO, V.L. M. Depressão e risco de suicídio entre profissionais de Enfermagem: revisão integrativa. Revista da Escola de Enfermagemda USP. São Paulo. V. 49.n. 6, set/2015.
REGISTROS NO DATASUS DE INTERNAMENTOS E MORTALIDADE POR PNEUMONIA EM CRIANÇAS NO PRIMEIROANO DE VIDA
1JESSICA ZANQUIS FERREIRA, 2EDUARDO AUGUSTO PFAU, 3SILVANA NUNES FERNANDES, 4RAFAEL BEZERRAMARIM, 5ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Doenças respiratórias como a pneumonia são responsáveis por um elevado número de mortes infantis no Brasil eno mundo, esse número se torna ainda maior quando se trata de países em desenvolvimento (RUDAN et al., 2004). Dentre asdiversas dificuldades no tratamento contra pneumonia, podemos citar principalmente a identificação do agente etiológico, umavez que pode ser de origem viral, bacteriana ou mista, com diversos agentes etiológicos envolvidos (IBIAPINA et al., 2004).Assim como em várias outras patologias, as principais infecções do trato respiratório acometem grupos etários consideradosvulneráveis, como crianças e idosos (CARDOSO, 2010). Crianças menores de 1 ano de idade estão mais susceptíveis a taisinfecções, e ainda com maior gravidade em crianças com menos de 2 meses de idade devido ao sistema imune ainda emformação (NEWTON; ENGLISH, 2007), dentre outras causas de maior incidência e gravidade das pneumonias podemos citar,prematuridade, desnutrição e baixo nível socioeconômico (BOHLAND; JORGE, 1999).Diante de índices elevados de mortalidadeinfantil devido a pneumonia, se fez necessário campanhas para conscientização e incentivo a vacinação, no Brasil essacampanha também foi realizada e houve melhoria significativa dos índices avaliados, levando em consideração o períodoproposto (RODRIGUES et al., 2011).Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo avaliar a incidência de internações e óbitos por pneumonia em crianças brasileiras até1 ano de idade notificados no sistema DATASUS no período de 2008 a 2018. Material e Métodos: Esse estudo foi realizado através de análise retrospectiva baseado em banco de dados do Departamentode Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), do qual foram extraídos o número de internações e mortalidade porpneumonia, envolvendo crianças de até 1 ano de idade em todo Brasil. O período estudado foi de janeiro de 2008 a dezembro de2018. Resultados: Após análise, do número de internações e de óbitos por pneumonia em crianças menores de 1 ano de idade, pode-se observar que houve significativa redução em algumas regiões do país no período de 2008 a 2018. Em relação ao número deinternamentos por pneumonia no período descrito, foram notificados cerca de 1.075.158, com maiores concentrações nas regiõessudeste, nordeste, sul, norte e centro-oeste. Ao observar a relação de óbitos por pneumonia notificados no período de 2008 a2018,totalizam cerca de 8.742 casos, com maiores concentrações nas regiões nordeste, sudeste, norte, sul e centro-oeste, houveredução desses casos notificados nas regiões Sul, Nordeste e Sudeste, já as regiões do Norte e Centro-Oeste permaneceramcom percentuais semelhantes comparadas as informações no período descrito. Ao realizar a comparação com o número deinternações e óbitos infantis notificadas em todo Brasil a partir do ano de 2008 até 2018, pode-se observar que ocorreu umaredução de 36,7% no número de internações e 35,7% no número de óbitos.Discussão: Nossos estudos mostram que entre 2008 e 2018 houve uma redução de 36,7% no número de internações e de35,7% no número de óbitos por pneumonia na infância. A redução mais expressiva ocorreu na região sul 64%, seguida donordeste com 46% e 40% no sudoeste. Esses índices melhorados podem estar relacionados ao Programa Nacional deVacinação, que se mostra bastante atuante em suas campanhas. Quanto a discrepância de mortalidade entre as regiões, fatoressocioeconômicos e desigualdade social podem ter impacto.Assim a pneumonia ainda é considerada a principal causa de óbitosem crianças no período neonatal e nos primeiros anos de vida (LIU et al., 2015). Cerca de 90% das mortes por doençasrespiratórias são causadas pelas infecções do trato respiratório inferior (HEMMING, 1994). Segundo Hooven e Polin (2017) aspneumonias em crianças menores de 1 ano de idade podem ser organizadas em três subtipos de acordo com a idade da criançaafetada, formas de aquisição da doença e principais patógenos envolvidos. Juvén e colaboradores (2000) analisaram 254crianças hospitalizadas devido à pneumonia comunitária observou que em 85% das crianças foi possível identificar a etiologia dapneumonia, sendo que 62% tinham etiologia viral, 53% etiologia bacteriana e 30% infecção viral e bacteriana. Conclusão: Portanto, podemos concluir que a pneumonia ainda é responsável por um elevado número de internações e óbitosde crianças menores de 1 ano de idade. Para que continue ocorrendo a redução desses índices, algumas medidas preventivas
podem ser adotadas como o cumprimento rigoroso do calendário de vacinação e cuidados relacionados à promoção e prevençãode doenças do trato respiratório. Em determinadas regiões que não apresentaram redução dos índices de óbitos por pneumoniano período de 2008 a 2018, se faz importante um rigoroso monitoramento para melhor entendimento e planejamento deestratégias futuras com o objetivo de controlar este problema de saúde pública.
ReferênciasBOHLAND, Anna Klara; JORGE, Maria Helena P. Mortalidade de menores de um ano de idade na região Sudoeste do Estado deSão Paulo. Revista de Saúde Pública, v. 33, p. 366-373, 1999.CARDOSO, Andrey Moreira. A persistência das infecções respiratórias agudas como problema de saúde pública. Cad SaudePublica.v. 26, p.1270-1271, 2010. HEMMING, Val G. Viral respiratory diseases in children: classification, etiology, epidemiology, and risk factors. J. Pediatr.v:124,p.S13-S16, 1994.HOOVEN, Thomas A; POLIN, Richard A. Pneumonia. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine. v:22, p. 206-213, 2017.IBIAPINA, Cassio da Cunha et al. Pneumonias comunitárias na infância: etiologia, diagnóstico e tratamento. Rev Med MinasGerais, v. 14, n. 1 Supl 1, p. S19-S25, 2004.JUVÉN, Taina et al. Etiology of community-acquired pneumonia in 254 hospitalized children. Pediatr. Infect. Dis. J. v:19, p. 293-298, 2000.LIU, Li et al. Global, regional, and national causes of child mortality in 2000-13, with projections to inform post-2015 priorities: anupdated systematic analysis. Lancet. v:385, p. 430-440, 2015. NEWTON, Opiyo; ENGLISH, Mike. Young infant sepsis: aetiology, antibiotic susceptibility and clinical signs. Trans R Soc TropMed Hyg. v.101(10):p.959-966, 2007.RODRIGUES, Felipe E. et al. Mortalidade por pneumonia em crianças brasileiras até 4 anos de idade. J. Pediatr. v:87, p.111-114, 2011.RUDAN, Igor et al. WHO Child Health Epidemiology Reference Group. Global estimate of the incidence of clinical pneumoniaamong children under five years of age. Bull World Health Organ. v.82, p.895-903, 2004.
AS DIFICULDADES DE ENFERMAGEM NO ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO A PACIENTES COM TRANSTORNOMENTAL EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS
1ALINE SAYURI MORITA , 2MICHELI YURI OSHIAMA KIMURA, 3TANIARA EMANUELLE BERNARDI, 4ALEX MARTINS DONASCIMENTO, 5RODRIGO OLIVA
1Acadêmico do curso de Enfermagem da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: As novas diretrizes da Reforma Psiquiátrica que dispõe aos pacientes com transtornos mentais um apoio e suportepor meio das Redes de Atenção Psicossocial, ainda é um modelo recente e requer um entendimento e comprometimento doprofissional de Enfermagem para atuar no atendimento destas pessoas, principalmente, nos episódios de surtos psiquiátricos quenecessitam do apoio da assistência de urgência e emergência (KONDO et al., 2011). Este estudo tem como propósito apresentaro enfrentamento da Enfermagem perante os obstáculos no acolhimento e suporte a população com transtorno mental emcircunstâncias de emergências psiquiátricas.Objetivo: Apontar as atribuições e adversidades da Enfermagem diante o atendimento de urgências e emergências psiquiátricasaos pacientes com transtornos mentais.Desenvolvimento: Seguindo a evolução e transformações das práticas médicas e das políticas ao tratamento do doente mentalao longo dos anos, o papel da Enfermagem na psiquiatria acompanhava o modelo tecnicista e hospitalocêntrico, focando apenaso tratamento médico, com o conhecimento baseado na designação de alienados e psicopatas, provocando uma reclusão socialcom o intuito de evitar a perturbação e a desordem (COSTA; MORAES-FILHO; SOUZA, 2019). Devido às críticas deste modeloclássico psiquiátrico, foi necessário novas práticas assistenciais para superar esse paradigma, gerando grandes transformaçõesno cuidado de enfermagem visando a socialização e reabilitação psicossocial e um novo modelo de atenção psiquiátrica voltadona desinstitucionalização da pessoa com doença mental (VARGAS et al., 2018). Dentro deste novo contexto da ReformaPsiquiátrica, Kondo et al. (2012), ressaltam a importância dos profissionais de saúde estarem preparados e comprometidos noatendimento ao paciente com transtorno mental durante uma emergência psiquiátrica, sendo necessário que a equipe de saúde,principalmente, os enfermeiros, construa uma relação de confiança com o paciente, favorecendo o diálogo, realizando umacontenção psicológica, e em casos mais graves, fazer a contenção química ou física, devendo realizar uma abordagem de formafirme, calma, e sem entonação de ameaça e violência, promovendo um rápido serviço, com a segurança e atenção necessáriosdurante a assistência. Além disso, Costa, Moraes-Filho e Souza (2019) destacam que se deve realizar uma abordagem traçandoações que preservem a integridade física do paciente, controlando suas manifestações de agressividade e agitação, no entanto,a Equipe de Enfermagem atualmente está demonstrando despreparo em suas ações no atendimento e acolhimento nesses tiposde intervenções. Conforme Vargas et al. (2018), uma das coisas que contribui para essa inaptidão, é a deficiência nas instituiçõesde ensino e pouca demanda de cursos especializados ofertados, demonstrando que os conhecimentos dos estudantes deenfermagem sobre os transtornos psiquiátricos são insuficientes para a atuação profissional completa e eficaz. Quando umpaciente apresenta um surto psicótico, o serviço de urgência e emergência deve estar preparado a acolher de forma humanizadaatendendo as diretrizes de atenção às redes de urgências e emergências e em especial a equipe de Enfermagem, sendofundamental, dotar além do conhecimento técnico- científico, desenvolver um elo com empatia, envolvimento, afabilidade eproximidade com finalidade terapêutica, contudo, a falta de uma educação contínua, a dupla jornada dos profissionais de saúde,a ausência de uma legislação que estabelece a obrigatoriedade da disciplina de saúde mental na graduação de Enfermagem,falta de comprometimento e saberes por parte dos profissionais durante o atendimento, e o preconceito contra as pessoas nessasituação de saúde mantendo uma visão manicomial com exclusão social, são fatores que demonstram que a Enfermagem aindase mostra despreparada de treinamentos para agirem na prestação de assistência e abordagem ao doente mental em situaçõesde emergências psiquiátricas.Conclusão: Os dados epidemiológicos atuais revelam que os transtornos mentais estarão dentre os mais incapacitantes naspróximas décadas, compreendendo com este estudo que é imprescindível uma nova postura da equipe de Enfermagem nasações de atendimento às urgências e emergências psiquiátricas no surto psicótico, procurando frequentemente a capacitação eaperfeiçoamento na área de saúde mental com o desenvolvimento de práticas e estratégias efetivas, levando em consideração asubjetividade da pessoa na relação de cuidado de forma humanizada e respeitável, e deixando de realizar uma abordagem
clínica para uma mais humana. Portanto, estes fatores contribuem para a desconstrução do olhar manicomial, dando autonomiade escolha e direito à cidadania para qualquer indivíduo vivenciar a sua loucura de forma digna.
ReferênciasCOSTA, J. M.; MORAES-FILHO, I. M.; SOUZA, S. A. N. A percepção da equipe de Enfermagem mediante as emergênciaspsiquiátricas. Rev Inic Cient Ext., v. 2, n. 1,p. 15-23, 2019.KONDO, E. H. et al. Abordagem da equipe de Enfermagem ao usuário na emergência em saúde mental em um prontoatendimento. Rev. esc. enferm. USP, v. 45, n. 2, p. 501-507, 2011.VARGAS, Divane de et al . O ENSINO DE ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA E SAÚDE MENTAL NO BRASIL: ANÁLISECURRICULAR DA GRADUAÇÃO. Texto contexto - enferm., Florianópolis , v. 27, n. 2, e2610016, 2018 .
DADOS PRELIMINARES DO PERFIL FITOQUÍMICO POR CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA À ESPECTROMETRIADE MASSAS (CG/EM) DO EXTRATO BRUTO DE Aptenia cordifolia L. (AIZOACEAE)
1MARIA CAROLINA SCUIZATO HIDALGO, 2KIMBERLY HAYANI MOREIRA MIRANDA, 3JOICE KARINA OTENIO, 4ELOISASCHNEIDER SILVA, 5ZILDA CRISTIANI GAZIM, 6EZILDA JACOMASSI
1Discente do Curso de Farmácia PIBIC UNIPAR1Discente do Curso de Nutrição PIBIC UNIPAR2Mestranda do PPG Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica UNIPAR3Mestranda do PPG em Biotecnologia Aplicada à Agricultura - UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Aptenia cordifolia L., conhecida popularmente como rosinha-de-sol, pertencente à família Aizoaceae é uma plantaherbácea, suculenta, rasteira, nativa da África e predominantemente de uso ornamental pela sua beleza e versatilidade, tendocomo característica seu ciclo de vida perene (LORENZI, 2013). Existem relatos na literatura, de que essa espécie também éutilizada popularmente para fins medicinais, principalmente com efeito sedativo, anti-inflamatório e ansiolítico (IDOWU et al.,2006). Porém, inexistem comprovações científicas sobre os efeitos e propriedades farmacológicas dessa espécie, por isso se faznecessário a realização da caracterização fitoquímica, para a verificação e/ou identificação dos principais compostos bioativospresentes na A. cordifolia.Objetivo: Avaliar o perfil químico do extrato bruto de Aptenia cordifolia L. (Aizoaceae) pelo método de cromatografia gasosaacoplada à espectrometria de massas (CG/EM).Matérias e Métodos: As folhas da Aptenia cordifolia L. foram coletadas e desidratadas em dezembro de 2017, ondeposteriormente foi obtido o extrato bruto (EB) pelo processo de maceração dinâmica com esgotamento de solvente (etanol),seguido de rota evaporação. A composição fitoquímica foi determinada por Cromatografia Gasosa Acoplada à Espectrometria deMassas (CG/EM), onde os compostos foram identificados pela comparação de seus espectros de massas com os espectros demassas da biblioteca WILEY 275 libraries e pelos índices de retenção (ADAMS, 2012).Resultados: Entre os componentes majoritários do extrato bruto etanólico das folhas de Aptenia cordifolia L., destacam-se oácido hexadecanóico (16,61%), o sitosterol (13,67%), a efedrina (10,78%) e α-amirina (11,18%). Discussão: A importância deste extrato está relacionada com as atividades biológicas dos seus principais componentes. O ácidohexadecanóico, mais conhecido como ácido palmítico, é bastante comum nas espécies vegetais, especialmente nos frutos daspalmeiras (Arecaceae). Estudos realizados por Marin et al. (2004) relatam este composto como o principal constituinte nacomposição percentual de óleo volátil de espécies de butiá (Butia capitata (Martius) Beccari var. odorata. Os mesmos autoresenfatizam ainda a importância nutracêutica/funcional do ácido hexadecanóico presentes nos frutos do butiá que auxiliam namanutenção de baixos níveis de lipoproteínas de baixo peso molecular (LDL), como fazem os ácidos graxos poli-insaturados. Ositosterol é o principal fitoesterol presente nos vegetais e frutas, com ação anti-inflamatória, imunomoduladora e hipoglicêmica(LÓPEZ-RUBALCAVA et al., 2006). Esses autores também encontraram o sitosterol no extrato com hexano das folhas secas deAnnona cherimolia Miller (Annonaceae). A efedrina é um alcaloide comum nas plantas medicinais e muito empregado notratamento de asma com potente ação broncodilatadora, estimulante do sistema nervoso central e da musculatura cardíaca. Noestudo realizado por Mengying et al. (2015), foi observado, no extrato metanólico das partes aéreas de Ephedra sinica, apresença de altos níveis de efedrina. As amirinas pertencem a classe dos triterpenos pentacíclicos, e estão relacionadas adiversas atividades, em especial, a ação antitumoral elucidada por Taylor et al. (2006), onde foi possível identificar a presençadesse triterpeno no extrato etanólico das cascas de Protium heptaphyllum e Protium unifoliolatum. Esse extrato, posteriormente,foi utilizado para verificar a atividade antitumoral, demonstrando que as amirinas atuaram no combate a células tumorais depulmão linhagem A549 e CALU-6 e ainda inibindo uma enzima importante relacionada à tumores de fígado (TAYLOR et al.,2006). Fernandes et al. (2013) realizaram testes in vitro, em bactérias gram positivas, usando o extrato etanólico dos frutos deManilkara subsericea (Mart.) Dubard, empregada popularmente como antimicrobiana. Os resultados desse trabalho mostraram ainibição do crescimento dessas bactérias. A análise fitoquímica desse extrato mostrou a presença de grandes quantidades docomposto alfa-amirina (FERNANDES et al., 2013).Conclusão: Os compostos químicos identificados (ácido hexadecanóico, sitosterol, efedrina, e o amirina) nesse perfilcromatográfico demonstram que Aptenia cordifolia L. possui um grande potencial terapêutico, porém para garantir a segurança eeficácia na utilização desta espécie, estudos científicos farmacológicos e toxicológicos são necessários para colaborar com a
compreensão dos mecanismos biológicos dos compostos bioativos dessa espécie e consequentemente, novas alternativas deextratos e fármacos para prevenção e tratamento de doenças.
ReferênciasADAMS, Robert. Identification of essential oil componentes by gas chomatography/mass spectrometry, 4th edn. AlluredPublishing Corporation. Illinois, USA, 2012.FERNANDES, Caio Pinho et al. Triterpene Esters and Biological Activities from Edible Fruits of Manilkara subsericea (Mart.)Dubard, Sapotaceae. BioMed Research International, v. 2013, p. 1-7, 2013.IDOWU, Thomas et al. Antinociceptive anti-inflammatory and antioxidant activities of eleagnine: an alkaloid isolated fromChrysophyllum albidum seed cotyledons. Journal of Biological Sciences, v. 6, n. 6, p.1029 1034, 2006.LÓPEZ-RUBALCAVA, Carolina et al. Anxiolytic-like actions of the hexane extract from leaves of Annona cherimolia in two anxietyparadigms: possible involvement of the GABA/benzodiazepine receptor complex. Life Sci, v. 78, n. 7, p. 730-737, 2006.LORENZI, Harri. Plantas para jardim no Brasil: herbáceas arbustivas e trepadeiras. São Paulo: Instituto Plantarum, 2013.MARIN, Rafaela et al. Propriedades nutracêuticas de algumas espécies frutíferas nativas do sul do Brasil. In: RASEIRA, Maria doCarmo Bassols; ANTUNES, Luis Eduardo Corrêa; TREVISAN, Renato; GONÇALVES, Emerson Dias. Espécies frutíferasnativas do sul do Brasil. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2004. p. 107-122. (Documentos, 129).MENGYING, Lv et al. Metabolomics based on liquid chromatography with mass spectrometry reveals the chemical difference inthe stems and roots derived from Ephedra sinica. J. Sep. Sci, v. 38, p. 3331 3336, 2015.TAYLOR, Peter Gerrard et al. Evaluation of Venezuelan Medicinal Plant Extracts for Antitumor and Antiprotease Activities.Pharmaceutical Biology, v. 44, n. 5, p. 349 362, 2006.
USO DO ÓLEO DE MELALEUCA NO TRATAMENTO DA ACNE: RELATO DE CASO
1ELIANE DA SILVA PAULO, 2PAMELLA ROBERTA DIAS TONON, 3ELEANDRO APARECIDO TRONCHINI
1Acadêmica do Curso de Estética e Cosmética da Universidade Paranaense1Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: A acne é uma doença crônica do folículo pilossebáceo, que acomete, frequentemente, na adolescência, devido ainfluência hormonal própria da idade. Caracterizada por comedões, pápulas, pústulas e nódulos (FIGUEIREDO et al., 2011).Possui etiologia multifatorial, que compreende fatores genéticos, hiperplasia sebácea, hipercornificação ductal folicular ealteração da flora microbiana da pele, como a colonização do Propioniobacterium acnes, que provocam inflamação no local(FRANCO; MEIJA, 2014). De origem australiana, a Melaleuca alternifolia conhecida também como Tea Tree, pertence à famíliaMyrtaceae (SIMÕES et al., 2002 apud FRANCO; MEIJA, 2014). Sendo seus principais componentes: o terpineol, destacadocomo o principal responsável pela propriedade antisséptica (VIEIRA et al., 2004 apud CORDEIRO; LUBI, 2014); e cineol,considerado irritativo à pele pelo fato de sua toxicidade (NEVES, 2012 apud CORDEIRO; LUBI, 2014). Objetivo: Observar a eficácia do óleo essencial de melaleuca frente ao tratamento de acne classificada como grau II.Relato do caso: É importante ressaltar que para realização do estudo, o responsável assinou o Termo de Consentimento,autorizando a publicação deste estudo. O presente relato de caso foi realizado com um paciente do sexo masculino, com faixaetária de 16 anos. Na qual deu entrada, junto a sua responsável, em uma clínica de estética na cidade de Rondon PR, no dia25 de abril de 2018. Onde foi realizado a ficha de anamnese, com queixa de acne e oleosidade. Após a avaliação, foi possívelclassificar seu quadro, segundo a literatura, como acne grau II. A partir de então, sugerimos como método de tratamento, o usodo óleo essencial de Melaleuca. O jovem diagnosticado com quadro de acne classificado como grau II, ou seja, presença decomedões, pápulas e pústulas. Foi resignado ao tratamento proposto, que iniciou no dia 28 de abril 2018, na qual fez uso do óleoessencial de Melaleuca, sendo carreado em argila verde, semanalmente, com intervalos exatos de 6 (seis) dias, durante 1 (um)mês, totalizando 4 (quatro) aplicações. O protocolo proposto teve início com a higienização da face com sabonete neutro(BUONA VITA), seguido por esfoliação física (ADCOS) e tonificação da pele (com loção tônica BIOAGE). Após, foi preparado amistura de 15g de argila verde em 10 ml de água filtrada e 1gt do óleo essencial de Melaleuca (WNF). Aplicada em toda face,permaneceu por 15 minutos. Durante esse tempo a argila foi mantida úmida, para não ocorrer à absorção do óleo pela argila.Para finalizar cada sessão, foi aplicado, novamente, o tônico (BIOAGE) e o filtro solar de fator 30 (BIOAGE).Metodologia: É importante ressaltar que para realização do estudo, o responsável assinou o Termo de Consentimento,autorizando a publicação deste estudo. O presente relato de caso foi realizado com um paciente do sexo masculino, com faixaetária de 16 anos. Na qual deu entrada, junto a sua responsável, em uma clínica de estética na cidade de Rondon PR, no dia25 de abril de 2018. Onde foi realizado a ficha de anamnese, com queixa de acne e oleosidade. Após a avaliação, foi possívelclassificar seu quadro, segundo a literatura, como acne grau II. A partir de então, sugerimos como método de tratamento, o usodo óleo essencial de Melaleuca. O jovem diagnosticado com quadro de acne classificado como grau II, ou seja, presença decomedões, pápulas e pústulas. Foi resignado ao tratamento proposto, que iniciou no dia 28 de abril 2018, na qual fez uso do óleoessencial de Melaleuca, sendo carreado em argila verde, semanalmente, com intervalos exatos de 6 (seis) dias, durante 1 (um)mês, totalizando 4 (quatro) aplicações. O protocolo proposto teve início com a higienização da face com sabonete neutro(BUONA VITA), seguido por esfoliação física (ADCOS) e tonificação da pele (com loção tônica BIOAGE). Após, foi preparado amistura de 15g de argila verde em 10 ml de água filtrada e 1gt do óleo essencial de Melaleuca (WNF). Aplicada em toda face,permaneceu por 15 minutos. Durante esse tempo a argila foi mantida úmida, para não ocorrer à absorção do óleo pela argila.Para finalizar cada sessão, foi aplicado, novamente, o tônico (BIOAGE) e o filtro solar de fator 30 (BIOAGE).Resultados e Discussão: No dia 28 de abril de 2018, o paciente, que apresentava acne grau II e consequentemente oleosidadee hiperemia, iniciou seu tratamento com o protocolo proposto, que fez uso do óleo essencial de Melaleuca. A acne é constituídapor um conjunto de lesões, as quais definem o tipo e gravidade: comedão, surge da hiperceratose de retenção no folículo pilo-sebáceo; pápula, área de eritema e edema ao redor do comedão; pústula, sobrepõe-se à pápula, por inflamação da mesma;nódulo, semelhante a pápula, porém apresenta dimensões maiores; quisto, grande comedão que sofre várias rupturas erecapsulações; e cicatriz, depressão irregular coberta de pele atrófica, resultante da destruição do folículo pilo-sebáceo(FIGUEIREDO et al., 2011). No dia 5 e 12 de maio de 2018, foi realizada, respectivamente, a segunda e terceira sessão detratamento. Dia 19 de maio de 2018, quarta e última aplicação do programa de tratamento. Na qual, ao suceder, observamos queo tratamento de acne grau II junto ao óleo essencial de melaleuca carreado por argila verde obteve uma melhora satisfatória nahiperemia, no controle da oleosidade da pele e na diminuição das pápulas e pústulas e a cicatrização das mesmas. Isso ocorre
devido as propriedades do óleo de Melaleuca, como: antifúngicas, hemostático, antiviral, antiparasitário, cicatrizante, anti-inflamatória, bactericida podendo destacar frente ao Propionibacterium acnes e antisséptico (FLORES, 2011). As argilas sãocompostas por muito minerais, a argila verde, particularmente, possui maior variedade de oligoelementos, rica em silício eapresenta pH neutro. Com isso, possui ação secativa, absorvente, antisséptica, bactericida, cicatrizante, entre outras, que a tornaa mais indicada para peles acneicas e lipídicas, pois regula a produção de sebo (SOUZA; JUNIOR, 2009 apud BROD; OLIVEIRA,2012).Conclusão: Pode-se concluir que o estudo realizado sobre o tratamento da acne de grau II com o óleo essencial de Melaleucaobteve resultados satisfatórios, pois foi observado diminuição da hiperemia e da oleosidade da pele e início do processo decicatrização das acnes.
ReferênciasBROD, M. E.; OLIVEIRA, S. P. Tratamento da acne com argiloterapia. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso. UniversidadeTuiuti do Paraná, Curitiba, 2012.CORDEIRO, J. M. P.; LUBI, N.. Utilização do Óleo Essencial de Melaleuca alternifólia Como Coadjuvante no Tratamento daOnicomicose. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2014.FIGUEIREDO, A. et al. Avaliação e tratamento do doente com acne- Parte I: epidemiologia, etiopatogenia, clínica, classidicação,impacto psicossocial, mitose realidades, diagnóstico diferencial e estudos complementares. Revista Portuguesa de ClínicaGeral, v. 27, n. 1, p. 59-68, 2011.FLORES, F. C.. Sistemas nanoestruturados contendo óleo essencial de Melaleuca alternifolia: desenvolvimento deformulações e atividades biológicas. 2011. Dissertação de Mestrado Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria - RS,2011.FRANCO, W. M. C.; MEIJA, D. P. M.. Óleo de melaleuca do tratamento da acne. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-graduação em Estética e Cosmetologia) Faculdade Bio Cursos.
POSSÍVEIS FORMAS DE TRATAMENTO PARA O MELASMA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
1PAMELLA ROBERTA DIAS TONON, 2ELIANE DA SILVA PAULO, 3ELEANDRO APARECIDO TRONCHINI
1Acadêmica do Curso de Estética e Cosmética da Universidade Paranaense1Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: O melasma é uma desordem hipermelanótica adquirida que acomete as áreas fotoexpostas da pele, principalmentea face (MARTINS; OLIVEIRA, 2015). Caracterizado por lesões acastanhadas, circunscritas e maculares, sua coloração éuniforme e vai do marrom acinzentado ao escuro (FARIA; LUBI, 2017). O indivíduo que é acometido pela doença, podeapresentar comportamento social e psicológico afetado, levando ao desencadeamento da má qualidade de vida. Desta forma, omelasma não é apenas uma disfunção estética (BODO; RODRIGUES; RABITO-MELO, 2018). Em geral, os tratamentos para omelasma apresentam-se insatisfatórios, pois não oferecem clareamento definitivo, tornando a fotoproteção e ativos clareadorescomo principal medida de tratamento (MIOT et al., 2009). Entre outros tratamentos propostos a tal disfunção, encontram-se naliteratura: ativos despigmentantes, ativos esfoliantes, microdermoabrasão, microagulhamento e laser.Objetivo: Verificar as possíveis formas de tratamento estético para o melasma.Desenvolvimento: O trabalho em questão foi realizado através de uma revisão de literatura, por intermédio de pesquisa em sitescientíficos como Google Acadêmico, fazendo uso de palavras-chave como: hipergmentação, tratamento melasma, laser entreoutras. Abrangendo estudos publicados entre os anos de 2009 a 2018. O melasma embora possa ocorrer em ambos os sexos etodas as raças, acomete mais frequentemente fototipos intermediários que habitam em áreas tropicais e mulheres adultas naidade fértil, entre 30 e 55 anos, enquanto o sexo masculino representa apenas 10% dos casos (MIOT et al., 2009). São vários osfatores empregados como responsáveis dessa disfunção, entre eles, a influência genética, exposição à radiação ultravioleta (UV),gravidez, menopausa, terapias hormonais, anticoncepcionais orais, cosméticos, drogas fototóxicas, endocrinopatias emedicações anticonvulsionantes (FARIA; LUBI, 2017). Alguns dos princípios ativos destinados a clarear a pele e manchaspigmentares possuem diferentes mecanismos de ação, na qual estão ligados à interferência na produção de melanina ou natransferência da mesma. Estes podem estar associados com ativos esfoliantes, responsáveis pela renovação celular da pele(MOURA et al., 2017). O Ácido Kójico, obtido inicialmente a partir da fermentação do arroz, atua diretamente na atividade daenzima tirosinase, inibindo a oxidação necessária para formação da melanina. Considerado seguro, por não ser citotóxico, éencontrado nas formulações cosméticas na concentração de 1% a 4%, com potencial hidrogeniônico (pH) entre 3 e 5 (FARIA;LUBI, 2017). O Alpha-Arbutin é um ingrediente ativo puro, biossintético, considerado despigmentante, atua através da inibição daoxidação da tirosina. Eficaz, promove o clareamento da pele de forma rápida, minimizando manchas já existentes (MILREU,2012). O ácido glicólico, composto derivado da cana-de-açúcar, é um dos alfa-hidroxiácidos mais utilizados, que emconcentrações altas é capaz de afinar o estrato córneo e diminuir a coesão entre os corneócitos. Dessa forma, torna-se indicadopara o tratamento de manchas hipercromicas, principalmente com associação de ativos despigmentantes (MARTINS; OLIVEIRA,2015). O ácido tranexâmico é um fármaco hidrofílico, derivado sintético da lisina, que reduz níveis de tirosinase e inibe o ativadorplasminogênio, processo ativado tanto por uso de anticoncepcionais quanto na gravidez, que estão presentes nas células basaisepidérmicas, e induzidos pela exposição UV resulta no processo de melanogênese (NOGUEIRA; FERREIRA, 2018). Amicrodermoabrasão é um método que consiste em uma esfoliação por meio de uma ponteira de diamantes ou micro cristais deóxido de alumínio que desliza pela pele de forma controlada, sem provocar descamação ou marcas na pele, é um tratamento derenovação celular. Pode ser usado para preparo da pele pra peelings químicos, assim como associado a ativos despigmentantes,ou até mesmo de forma isolada (FURTADO; OLIVEIRA, 2017). O microagulhamento é usado para diversas disfunções estéticasda pele, com indução de colágeno percutâneo através das microlesões que geram processo inflamatório local e aumento daproliferação celular, e pela veiculação de princípios ativos, como os despigmentantes no tratamento das desordenshiperpigmentares. O microagulhamento é realizado através de um sistema de rolo com diversas agulhas finas de 0,1 mm dediâmetro e comprimento que variam entre 0,5 a 3,0 mm (MOURA et al., 2017). O laser é uma terapia que emite luz a umcomprimento de onda que é absorvido especificamente pelos cromóforos alvo. No caso das hipercromias, o cromóforo alvo é amelanina. Responsável por absorver e gerar uma explosão rápida de luz, que corresponde ao tempo de relaxamento térmico damelanina, essa técnica destrói o pigmento (MAZON, 2017).Conclusão: Demonstramos por meio dessa revisão as principais causas do melasma e os principais métodos de tratamento quesão utilizados atualmente na busca por resultados satisfatórios. Todos apresentam-se como eficientes, porém se faz necessário ede extrema importância o uso continuo de filtro solar e a não exposição a radiação UV, afim de evitar recidiva.
ReferênciasBODO, Larissa Fernandes Leite; RODRIGUES, Thaissy da Silva; RABITO-MELO, Mirela Fulgêncio. Eficácia e segurança deagentes despigmentantes em comparação à hidroquinina. Rev. Terra & Cult.: v. 34, n. especial, 2018.FARIA, Karolina Silveira da Silva de; LUBI, Neiva. A utilização do ácido kójico no tratamento de melasma.Universidade Tuiutido Paraná Curitiba, 2017).FURTADO, Aline Gonçalves Neto; OLIVEIRA, Silvia Patrícia de. Alteração melanocítica na gestação: melasma. UniversidadeTuiuti do Paraná Curitiba, 2017.MARTINS, Vanessa Cristiane dos Santos; OLIVEIRA, Silvia Patricia de. Estudo dos benefícios do tratamento de melasma porintermédio do ácido kójico associado ao ácido glicólico. Pós-graduação em MBA em Estética Clínica Avançada eCosmetologia. Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2015.MAZON, Vanulza de Fátima Pinto. Utilização do laser no tratamento do melasma. Revista Maiêutica, Indaial, v. 1, n. 01, p. 75-84, 2017.MILREU, Poliana Galindo de Almeida. Cosmetologia. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.MIOT, Luciane Donida Bartoli; et al. Fisiopatologia do melasma. AnBrasDermatol, v. 84, n. 6, p. 623-35,2009.MOURA, Maria Cristiana de; et al. O uso de ácidos e ativos clareadores associados ao microagulhamento no tratamento demanchas hipercrômicas: estudo de caso. Revista Científica da FHO UNIARARAS, v. 5, n. 2, 2017.NOGUEIRA, Marcela Nara; FERREIRA, Lílian de Abreu. A eficácia do ácido tranexâmico tópico no tratamento do melasma:evidências clínicas. Rev. Ciênc. Méd. Biol., Salvador, v. 17, n. 2, p. 236-241, mai./jun. 2018.
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: ADESÃO A PRÁTICA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO
1BRUNA CAROLINA CANDIL FONSECA, 2EMILLI KARINE MARCOMINI, 3NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: A higienização das mãos consiste em uma profilaxia eficaz para prevenção das IRAS (Infecção Relacionada aAssistência à Saúde), uma vez que as mãos são o principal veículo de transporte de microrganismos para o paciente, através dainfecção cruzada entre paciente-profissional-paciente para superfícies e ainda para outros profissionais (BARRETO et al., 2012).Devido a assistência à saúde se tornar de maior qualidade contribuindo para segurança do paciente com esta prática simples ede baixo custo, os profissionais devem se conscientizar sobre a relevância desta prática durante na prestação da assistência,incluindo o contato com o paciente ou o ambiente próximo a ele (JORGE; RACHED, 2018). Objetivo: Observar a adesão da equipe de Enfermagem à pratica de higienização das mãos em Unidade de Terapia Intensiva.Metodologia: Estudo observacional realizado em três Úteis da região noroeste do Paraná. As observações foram feitas nosperíodos matutino, vespertino e noturno por dois dias consecutivos. Os dados foram coletados através de um checklis específico,aplicado por uma estudante de Enfermagem, no qual continha os 5 momentos de extrema importância para higienização dasmãos: antes de tocar o paciente/ antes do procedimento limpo/asséptico/ após o risco de exposição a fluidos corporais ouexcreções/ após tocar o paciente/ e após tocar superfícies próximas do paciente. Ressalta-se que o estudo foi aplicado somentecom a equipe de enfermagem, onde os observados não sabiam da natureza do trabalho. A pesquisa foi autorizada pelo Comitêde Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPEH) da UNIPAR, sob o parecer nº.3.364.173.Resultados: Foram observadas durante duas horas 12 equipes de enfermagem, totalizando 74 profissionais. Entre as pessoasanalisadas, 12 (17%) eram enfermeiras e 62 (83%) eram técnico(a)s de enfermagem. Em relação aos momentos de higienizaçãodas mãos, 66 (89%) profissionais higienizaram as mãos antes de tocar no paciente, 24 (32%) antes da realização deprocedimento limpo/asséptico, 74 (100%) após riscos de exposição a fluidos corporais ou excreções, 58 (78%) após tocar opaciente e 15 (20%) após tocar superfícies próximas dos pacientes.Discussão: A prática de higienização das mãos e a sua realização de forma efetiva nos cinco momentos cruciais da assistênciaé um grande desafio para os profissionais de enfermagem, que representam a equipe de maior transmissão de riscos biológicosao paciente, especialmente pelo contato relevante entre paciente-profissional (SANTOS, 2013). Essa afirmativa se relaciona aosdados encontrados neste estudo, onde observa-se que as indicações de momentos de higienização das mãos não foramcumpridos fielmente, ressaltamos dessa forma que a higienização das mãos pode favorecer a elevação da incidência de IRAS noambiente de cuidado intensivo. Dentre os cinco momentos analisados, os de menor adesão da equipe foram antes da realizaçãode procedimento limpo/asséptico e após tocar superfícies próximas do paciente, corroborando com o estudo de Souza et al(2015), indicando fragilidade da equipe de enfermagem na assistência. Nota-se que a prática da higienização das mãos aindarequer maior adesão pelos profissionais de saúde, pois várias práticas da assistência que incluem o contato paciente-profissionalestão sendo aplicadas sem a higienização, assim, é relevante que haja sensibilização dos profissionais da assistência sobre aimportância desta técnica para redução e prevenção das IRAS (ALVIM et al., 2019).Conclusão: Apesar da relevante importância da técnica de higienização das mãos no ambiente intensivo, avaliou-se que estatécnica não está sendo realizada de forma correta em um de seus cinco momentos de indicação. Assim, torna-se indispensável ainserção de programas de educação permanente nas instituições, como ferramenta que incentiva a adesão a técnica dehigienização das mãos em seus momentos primordiais, de modo a melhorar a qualidade da assistência prestada pela equipe deenfermagem e reduzir consequentemente as IRAS.
ReferênciasALVIM, A. L. S. et al. Avaliação das práticas de higienização das mãos em três unidades de terapia intensiva. Revista deEpidemiologia e Controle de Infecção, Santa Cruz do Sul, V. 9, N. 1, fev. 2019. Disponível em:https://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/11605/7911. Acesso em: 08 de ago. de 2019.BARRETO, R. A. S. S; et al. A antissepsia cirúrgica das mãos de profissionais no cotidiano de um centro cirúrgico. RevistaSaúde (Santa Maria) .v. 38. n. 2 juldez. 2012. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/revistasaude/article/view/4163. Acessoem: 08 de ago. de 2019.JORGE, A. M.; RACHED, C. D. A. Adesão da equipe de enfermagem na higiene das mãos. IJHMReview, v.4, n.2, 2018.Disponível em: http://ijhmreview.org/ijhmreview/article/view/137. Acesso em: 08 de ago. de 2019.
SANTOS, P. D. Adesão às práticas de biossegurança pela equipe de enfermagem frente às situações de risco ocupacional.Monografia (Aprimoramento em Enfermagem em Infectologia). Instituto de Infectologia Emílio Ribas. São Paulo: 2013. 67 f.Disponível em: http://search.bvsalud.org/gim/resource/en/ses-31393. Acesso em: 08 de ago. de 2019.SOUZA, L. M. et al. Adesão dos profissionais de terapia intensiva aos cinco momentos da higienização das mãos. Rev GaúchaEnferm. v.36, n.4, p.21-8, 2015. Disponível em:https://www.seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/view/49090/35654. Acesso em: 08 de ago. de 2019.
DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: EXAME CITOPATOLÓGICO
1TATIANE SILVA CASTELLINI, 2ANNE GABRIELLA PACITO MONTEIRO, 3HELOYSE NATHELLY RODRIGUES DUTRA,4JULIANA DA SILVA VIGO, 5DAIANE CORTEZ RAIMONDI
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O câncer do colo do útero é ocasionado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento uterino,classificado em duas principais categorias de carcinomas invasores: o carcinoma epidermoide, forma mais incidente e que agrideo epitélio escamoso, e o adenocarcinoma, sendo mais raro e agride o epitélio glandular do colo uterino (INCA, 2017). Destaca-seque a multiplicidade de parceiros, história de infecções sexualmente transmissíveis como pelo papilomavírus humano - HPV e aidade precoce na primeira relação sexual são fatores de risco para doença (CASARIN, 2011). Cabe ressaltar que o câncer decolo do útero é o terceiro tipo mais frequente na população feminina, com estimativas mundiais de 530 mil casos novos e 265 milóbitos por ano, sendo que no Brasil, este tipo de câncer foi responsável por 6.385 óbitos, no ano de 2017 (BRASIL, 2018). Em2018, as estimativas divulgadas pelo Instituto Nacional do Câncer foram de 16.370 casos novos a cada 100 mil mulheres e riscoestimado de 15,43 casos (INCA, 2017). Dessa forma, estes dados reforçam que o câncer é considerado um problema de saúdepública para os países desenvolvidos e em desenvolvimento (INCA, 2017). Pode-se salientar que a deficiência nos recursoshumanos e materiais disponíveis na rede pública de saúde sobre os métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncerdo colo do útero, além da má articulação entre os serviços de saúde na sensibilização da população e na prestação daassistência nos diversos níveis de atenção são também responsáveis pelos altos índices de câncer e a não adesão ao examepreventivo do colo uterino, visto que muitas mulheres não reconhecem sua importância (BRASIL, 2013). É válido enfatizar que avacinação contra o HPV é a melhor forma de prevenção deste câncer, visto que está infecção é um fator necessário para odesenvolvimento do câncer de colo uterino; já como método de prevenção secundária visando o diagnóstico e tratamentoprecoce destaca-se que a realização do exame citopatológico do colo uterino é a principal estratégia, sendo realizado emunidade básica de saúde principalmente pelo profissional enfermeiro (LEITE, 2018; CASARIN, 2011).Objetivo: Descrever a importância do exame citopatológico do colo do útero no diagnóstico e tratamento precoce do câncer decolo do útero.Desenvolvimento: Constata-se que a realização do exame citopatológico do colo do útero permite a detecção precoce dadoença, eleva a possibilidade de cura, melhorando a qualidade de vida e consequentemente uma maior efetividade notratamento (INCA, 2017). Vale mencionar que é possível alcançar uma redução de 80% da mortalidade pelo câncer do colo doútero através do rastreamento de mulheres que fazem parte do grupo de risco; para isto é necessário garantir a integralidade daatenção e a qualidade do programa de rastreamento, além da adesão das mulheres a prática do exame (SANTOS, 2012). Trata-se de um exame simples de rápida e fácil realização, ofertado para população feminina gratuitamente nas unidades básicas desaúde que pode detectar precocemente lesões precursoras do câncer do colo do útero, melhorando o prognóstico e aprobabilidade de cura, no entanto, apesar dos benefícios do exame, sua cobertura ainda é baixa frente ao preconizado pelaOrganização Mundial da Saúde que é a realização do exame em 80% das mulheres entre 25 e 64 anos (MARTINS, 2005). Dessaforma o papel da atenção primária é desenvolver ações para prevenção do câncer do colo do útero, através de educação emsaúde, vacinação de grupos indicados e detecção precoce do câncer e de suas lesões precursoras por meio de seu rastreamento(INCA, 2016). Estratégias de prevenção para neoplasia são essenciais, visto que se trata de um problema de saúde pública(LEITE, 2018). A não realização do exame é uma das causas de aumento do número de mortes, e está relacionada com odesconhecimento do câncer de colo uterino, da técnica e da importância do exame preventivo; sentimento de medo na realizaçãodo exame; medo de se deparar com resultado positivo para câncer; sentimentos de vergonha e constrangimento; necessidade demodelo de comportamentos adequados à prevenção de saúde; dificuldades para a realização do exame (FERREIRA, 2009).Decorrente da alta morbimortalidade da doença cabe aos gestores e profissionais de saúde elaborar ações que visem o controledo câncer do colo do útero e que possibilitam a integridade do cuidado, a detecção precoce e garanta o acesso a procedimentosdiagnósticos e terapêuticos com qualidade e no momento adequado (BRASIL, 2013).Conclusão: Pode-se concluir que o exame citopatológico do colo do útero é primordial para detecção precoce do câncer de colodo útero e para redução das mortes decorrentes da doença, devido ao melhor prognóstico quando a doença é diagnosticada
precocemente. Verifica-se também a necessidade de novas estratégias de sensibilização da comunidade para adesão ao exame.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Controle dos cânceres de colo de útero e de mama. Brasília:Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica de Saúde, Ministério da Saúde; 2013.BRASIL. Ministério da Saúde. Informe técnico da ampliação da oferta das vacinas papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18(recombinante) vacina HPV quadrivalente e meningocócica C (conjugada). Brasília: 2018.CASARIN, Micheli Renata; PICCOLI, Jaqueline da Costa Escobar. Educação em saúde para prevenção do câncer de colo doútero em mulheres do município de Santo Ângelo/RS. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 16, n. 9, p. 3925-3932, Sept. 2011 .FERREIRA, Maria de Lourdes da Silva Marques. Motivos que influenciam a não-realização do exame de papanicolaou segundo apercepção de mulheres. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v.13, n.2, p.378-384, June 2009 . INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Diretrizes brasileiras, para o rastreamento do câncer docolo do útero. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: INCA, 2016.INCA. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva. ABC do câncer: abordagens básicas para o controle docâncer. Rio de Janeiro: INCA, 2017.LEITE, Franciele Marabotti Costa, AMORIM, Maria Helena Costa, GIGANTE, Denise PetruccI. Implicações das violências contraas mulheres sobre a não realização do exame citopatológico. Rev Saúde Pública. 2018;52:89.MARTINS, Luís Felipe Leite; THULER, Luiz Claudio Santos; VALENTE, Joaquim Gonçalves. Cobertura do exame dePapanicolaou no Brasil e seus fatores determinantes: uma revisão sistemática da literatura. Rev. Bras. Ginecol. Obstet. Rio deJaneiro, v. 27, n. 8, p. 485-492, Ago 2005. SANTOS, Raíla de Souza; MELO, Enirtes Caetano Prates; SANTOS, Keitt Martins.Análise espacial dos indicadores pactuados para o rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil. Texto contexto -enferm., Florianópolis , v. 21, n. 4, p. 800-810, Dec. 2012.
FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE LINFEDEMAS EM PACIENTES MASTECTOMIZADAS
1ALINE ARGENTON JARETTA, 2MILLENA ANGELI DOMINGUES PEREIRA, 3ELLEN CHRISTINE OLIVEIRA BIAVA, 4MARIAEDUARDA ZAGO FERNANDES, 5THAUANI ISABEL DA SILVA, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do curso de Fisioterapia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Alves et al. (2010) denotaram que o tratamento mais empregado no câncer de mama é a mastectomia, umprocedimento invasivo e agressivo, ocasionando traumas na vida das mulheres pela retirada da mama. Após a cirurgia,independente de qual técnica seja utilizada, a paciente pode desenvolver várias complicações, sendo destaque o linfedema demembro superior (LEAL et al., 2011). A fisioterapia complexa descongestiva é um dos métodos fisioterapêuticos mais utilizadosno caso da presença de linfedemas. É a terapia destaque nas indicações da Sociedade Internacional de Linfologia, garantindoexcelente êxito na minimização do edema e no ganho funcional do membro afetado (TACANI et al., 2013).Objetivo: O objetivo deste estudo foi ressaltar a importância do método terapêutico promovido pela fisioterapia no tratamento delinfedemas pós-mastectomia.Desenvolvimento: O linfedema compõe o quadro clínico mais presente no pós-operatório da retirada de mama, intervindodiretamente no bem estar das pacientes. É caracterizada pela presença de um acúmulo de proteínas no interstício, que temcomo decorrência a incapacidade do funcionamento do sistema linfático, originando a diminuição do deslocamento da linfa,consequentemente gerando edema e inflamação crônica. É comumente uma complicação incapacitante e de difícil tratamento(REZENDE; ROCHA; GOMES, 2010). Luz e Lima (2011) destacaram que no tratamento de linfedema a fisioterapia sobreleva-se,e pode ser executada em duas etapas: a intensiva e a de manutenção. A primeira etapa é constituída por uma terapia físicadescongestiva, sendo uma técnica que realiza drenagem linfática manual, com os seguintes métodos: compressão funcional deenfaixamento, kinesiotape, bandagem elástica, exercícios terapêuticos e cuidados da pele. E na segunda etapa, de manutenção,as técnicas mais aplicadas são: exercícios funcionais, automassagem linfática e uso de bandagem elástica. Um material muitoeficaz na contenção de linfedema nas mãos são as luvas, que permitem uma redução significativa e manutenção do edema.Conclusão: Concluiu-se neste estudo que a intervenção fisioterapêutica no tratamento de linfedemas pós-mastectomia é desuma importância, por seu alto índice de melhora nas pacientes. Tornando a fisioterapia imprescindível na recuperação dasfunções, devolvendo até mesmo a autoestima das mulheres submetidas ao procedimento da mastectomia.
ReferênciasALVES, P. C.; SILVA, A. P. S.; SANTOS, M. C. L.; FERNANDES, A. F. C. Conhecimento e expectativas de mulheres no pré-operatório da mastectomia. Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 44, n. 4, p. 989-95, dez. 2010.LEAL, N. F. B. S.; DIAS, L. A. R.; CARRARA, H. H. A.; FERREIRA, C. H. J. Linfedema pós-câncer de mama: comparação deduas técnicas fisioterapêuticas . Fisioterapia e Movimento, Curitiba, v. 24 n. 4, p. 647-654, out./dez. 2011.LUZ, N. D.; LIMA, A. C. G. Recursos fisioterapêuticos em linfedema pós-mastectomia: Uma revisão de literatura. Fisioterapia eMovimento, v. 24, n. 1, p. 191-200, jan./mar. 2011.REZENDE, L. F.; ROCHA, A. V. R.; GOMES, S. C. Avaliação dos fatores de risco no linfedema pós-tratamento de câncer demama. Jornal Vascular Brasileiro, São Paulo, v. 9, n. 4, p. 233-238, dez. 2010.TACANI, P. M.; CAMARGO, R. A. L.; SILVA, G.; MOREIRA, B. C.; BATISTA, P. A. N.; MONTEZELLO, D. Fisioterapiadescongestiva no linfedema de membros superiores pós-mastectomia. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, João Pessoa,v. 11, n. 37, p. 17-20, jul./set. 2013.
EFEITOS DA HIDROTERAPIA NA LOMBALGIA
1MILLENA ANGELI DOMINGUES PEREIRA, 2RENATO HENRIQUE CAETANO JUNIOR, 3JOYCE PORFIRIO BATISTA,4GABRIELE FERNANDA LOPES, 5POLYANA ALCANTARA DOS SANTOS, 6JEFFERSON J AMARAL DOS SANTOS
1Acadêmico Bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmico do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A dor lombar é vista como uma condição comum,que pode afetar diversos indivíduos mesmo em difrentes níveis decondicionamento físico desde atletas e não atletas. Cerca de 60 a 80% das pessoas relatam essa dor em algum momento davida (POLITO; NETO; LIRA, 2003). Seus sintomas são referidos na altura da cintura pélvica, ocasionando: dor, diminuição nodesempenho ao se movimentar e trabalhar (TOSCANO; EGYPTO, 2001). A fisioterapia aquática (hidroterapia) vem sendoutilizada por muito tempo na área de disfunções musculoesqueléticas, entre elas a dor lombar. Durante o tratamentohidroterapêutico, a carga axial sobre a coluna vertebral sofre uma redução quando o indivíduo está imerso na água e por meiodos efeitos da flutuabilidade, sendo assim, o meio líquido permite também a realização de diferentes movimentos que seriamnormalmente difíceis ou incapazes de serem realizados em solo. (RAINVILLE ET AL., 1997) Objetivo: Apresentar a abordagem do tratamento de hidroterapia em relação a pacientes que possuem a dor lombar. Desenvolvimento: Segundo PEREIRA (2010) a dor lombar é classificada por um quadro de dor e fadiga muscular situada naregião inferior da coluna vertebral. Sua origem é por diversos fatos, apresentando causas por processos degenerativos,inflamatórios, alterações congênitas e posturais. Para Cole et al. (2000) a hidroterapia é utilizada no tratamento das doreslombares decorrentes de diversas causas, incluindo dores pós-cirúrgicas, lesões dos tecidos moles, artrite, fraturas e patologiasdos discos, promove um resultado eficaz na diminuição da rigidez lombar e na melhora da amplitude de movimentos. Nalombalgia que possui componentes sensoriais, cognitivos, emocionais e comportamentais SIMMONDS (2002). Para (MAHER ETAL.,2004) é um termo que define o incomodo persistente no segmento lombar sendo caracterizada e responsável por perda dedesempenho funcional, alterações emocionais entre outros. Segundo (EVCICK ET AL., 2002) a hidroterapia é vista como ummétodo de tratamento que pode ser utilizado na lombalgia, pois possui a capacidade de promover benefícios através dos efeitosfisiológicos da imersão do corpo ou parte dele em meio aquático. Em atribuição da temperatura, a água pode promover efeitotérmico, estimulante, calmante, tônico. Como atividade terapêutica deve ser realizada por profissional capacitado e autorizado,sendo ele, o fisioterapeuta. Entre seus inúmeros benefícios para o tratamento estão o relaxamento e fortalecimento muscular; adiminuição de espasmos musculares; melhora da ansiedade; e principalmente a diminuição da dor . Conclusão: Face às evidências apresentadas conclui-se que a eficiência da hidroterapia na colaboração para o tratamento dador lombar é de extrema importância, tornando-se um método alternativo que promove a diminuição do quadro álgico dopaciente, relaxamento, fortalecimento muscular entre outros, o qual busca a melhoria na qualidade de vida do praticante.
ReferênciasCOLE AJ, MORRIS DM, RUOTI RG. Reabilitação aquática,São Paulo Manole,2000. EVCIK D, KIZI B, GOKÇEN E. The effects of balneotherapy on fibromyalgia patients. Rheumatol Int, 2002.MAHER, C.G. Effective physical treatment for chronic low back pain. Orthopaedic Clinical of North America, 2004. PEREIRA NT. Efetividade de exercícios de estabilização segmentar sobre a dor lombar crônica mecânico-postural. FisioterMov2010. POLITO MD; NETO GAM; LIRA VA. Componentes da aptidão física e sua influência sobre a prevalência de lombalgia. R.Bras. Ci. e Mov. Brasília 2003. PRESCINOTTI AA, PEREIRA CFJ, SANTOS JR, SEBBEN ML, BONZANINI M, CASÁRIO NR. Fisioterapia aquática: aplicaçãodos princípios do Método Watsu na fibromialgia. Fisioterapia Pesquica 2005.RAINVILLE, J.; SOBEL, J.; HARTIGAN, C. et al. Decreasing disability in chronic back pain through aggressive spine rehabilitation.Journal of Rehabilitation Researchand Development, 1997. RICARD F. Tratamento osteopático das lombalgias e ciáticas. Rio de Janeiro: Atlântica 2006.
SIMMONDS MJ. Fisiologia do exercício clínico, afecções musculoesqueléticas, neoplásicas, imunológicas e hematológicas. Riode Janeiro:Guanabara Koogan ,2002. TOSCANO JJO;EGYPTO EP. A influência do sedentarismo na prevalência de lombalgia. Rev Brasil Medicina Esporte,2001.
ATUAÇÃO DA EQUOTERAPIA EM CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL
1MILLENA ANGELI DOMINGUES PEREIRA, 2ALINE ARGENTON JARETTA, 3THAUANI ISABEL DA SILVA, 4MARIAEDUARDA ZAGO FERNANDES, 5MARIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Paralisia Cerebral é uma causa comum de deficiência física nos primeiros anos da infância. É um termo que defineas desordens do desenvolvimento, movimento e da postura, descritos como síndromes do desenvolvimento motor secundário àlesões ou anomalias decorrentes do cérebro na fase inicial de maturação, sendo este um sintoma complexo com vários tipos egraus de envolvimento neuropsicomotor (CARNAHAN; ARNER; HAGGLUND, 2007). A equoterapia compõe um processoterapêutico e educacional que utiliza o cavalo como ferramenta, a fim de proporcionar ganhos físicos e psíquicos para pessoascom necessidades especiais. É vista como uma forma de tratamento complementar que pode trazer benefícios aos portadores deParalisia Cerebral, principalmente no que se refere ao tônus postural e equilíbrio (CUDO, 2000; ANDE-BRASIL, 2011).Objetivo: Apresentar a abordagem da equoterapia no estímulo e desenvolvimento das habilidades motoras, sensoriais ecognitivas de crianças com Paralisia Cerebral.Desenvolvimento: Buch et al. (2014) descrevem que o termo Paralisia Cerebral é aplicado para lesões que afetam o cérebro emseu processo de desenvolvimento provocando distúrbios motores e alterações na postura de forma definitiva, aumentando apossibilidade de realizar movimentos voluntários descoordenados, estereotipados e limitados. Para Valdiviesso, Cardillo eGuimarães (2005), diversas abordagens de intervenção clínica devem ser indicadas, entre elas, a equoterapia, que de maneiraadequada utiliza o cavalo como recurso alternativo de tratamento, objetivando obter benefícios físicos e/ou psicológicos notratamento de pessoas que apresentam deficiências como a Paralisia Cerebral. São diversas as indicações do métodoterapêutico, entre elas a progressão do equilíbrio, reações de posturas corretas, noção de espaço, estimulação da propriocepção,e também estímulo visual e auditivo. O paciente será privilegiado e estimulado, de acordo com a sua incapacidade e dificuldade,sendo que quanto maior for a criatividade do terapeuta, maiores serão os resultados, sempre dentro dos limites que a técnicaproporciona. Segundo Pierobon e Galetti (2008), na montaria, a posição de encaixe ao montar no cavalo o paciente obtémalongamento dos músculos adutores do quadril, estimulação vestibular lenta provocando movimentos lentos de flexão e extensãoda cabeça; tronco e membros, que associados colaboram para o relaxamento do tônus muscular corporal.Conclusão: Em virtude dos fatos mencionados, concluiu-se que a equoterapia é de grande importância no estímulo de criançasportadoras de Paralisia Cerebral, compondo uma terapia alternativa, que proporciona melhorias de quadros posturais, equilíbrio eautonomia do desenvolvimento de capacidades como memória, concentração e autoestima. Classifica-se como uma ferramentaque auxilia a redução da espasticidade, além de promover um aumento das amplitudes dos movimentos articulares beneficiandoo ganho do movimento funcional.
ReferênciasANDE-BRASIL (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA). Apostila do Curso Básico de Equoterapia. Brasília, 2011.BUCH, V. D. et al. A análise da demanda para o desenvolvimento da tecnologia assistida direcionada a educandos com ParalisiaCerebral. Revista HFD, Brasília, v. 3, n. 5, p. 129-142, dez. 2014.CARNAHAN, K. D.; ARNER, M.; HAGGLUND, G. Association between gross motor function (GMFCS) and manual ability (MACS)in children with cerebral palsy. A population based study of 359 children. BMC Musculoskel Disord, New York, v.8, p.01-07, jun.2007.CUDO, C. Benefícios da Equoterapia. Revista Brasileira de Equoterapia, Brasília, n. 4, p. 07-12, set. 2000.PIEROBON, J. C. M.; GALETTI. F. C. Estímulos sensório-motores proporcionados ao praticante de equoterapia pelo cavalo aopasso durante a montaria. Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, Campo Grande, v. XII, n. 2, p. 63-79,jun. 2008.VALDIVIESSO, V.; CARDILLO, L.; GUIMARÃES, E. L. A influência da equoterapia no desempenho motor e alinhamento posturalda criança com paralisia cerebral espástico atetóide acompanhamento de um caso. Revista Uniara, Araraquara, v. 9, n. 1,
EFEITOS DOS NUTRACÊUTICOS E UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE
1CRISLAINE MARTINS DA LUZ, 2MARIANA DALMAGRO, 3JHENEFER MARTINS FERREIRA, 4JANICE LEITE DE SOUZA,5DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do curso de farmácia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Os suplementos nutracêuticos também comumente utilizados como terapêuticos, ou seja, indicados na prevenção etratamento de algumas desordens corporais. Trata-se de produtos administrados para auxiliar na nutrição humana, com efeitosna saúde e na cosmética, podem ser administrados tanto por uso tópico como ingeridos por via oral (NASCIMENTO; PILOTO;TIYO, 2017). De acordo com Poli et al. (2018), o profissional da saúde é responsável por decidir e recomendar o uso denutracêuticos ao seu paciente, tratando dos cuidados clínicos necessários nesta prescrição, baseado no conhecimento atualizadodeste assunto, inferindo sobre a dose e a posologia adequada. Além disso, devem realizar acompanhamento objetivandoassegurar a eficiência do tratamento e monitoria da segurança da saúde do indivíduo mediante aconselhamento.Objetivo: Descrever os aspectos legais envolvidos na fabricação dos nutracêuticos, bem como os efeitos causados pelo uso noorganismo dos pacientes.Desenvolvimento: De acordo com Silva e Martins (2018), as alterações no padrão de vida da população têm ocasionadomudanças na qualidade de vida da sociedade moderna, sendo uma considerável o hábito alimentar. Nota-se que tem sidosignificativa a procura por alimentos funcionais, caracterizados por conterem substâncias que auxiliam na promoção da saúde,ocasionando melhoria do estado nutricional. O assunto de alimento funcional surgiu na década de 80, no Japão, com o objetivode promover um envelhecimento saudável e aumentar a expectativa de vida (NASCIMENTO; PILOTO; TIYO, 2017). Não existeuma definição universal para os nutracêuticos, sendo em diversas vezes considerados como sinônimo de alimento funcional,porém, considera-se o conceito de alimentos disponibilizados em formas farmacêuticas, que apresentam doses maiores do queencontradas em alimentos (MACHADO; PUTON; BERTOL, 2019). Wang et al. (2016) corroboram que o termo nutracêutico éutilizado para produtos específicos de compostos bioativos que exercem benefícios medicinais ou fisiológicos, além de efeitosnutricionais. Sendo utilizados por suas propriedades de promoção da saúde ou prevenção de doenças associadas aoenvelhecimento, incluindo estresse, depressão, osteoporose, doenças gastrointestinais, cardiovasculares, diabetes e câncer.Demandas globais por nutracêuticos de valor agregado para prevenção e tratamento de doenças ganharam espaço, tornandoeste nicho de mercado extremamente lucrativo, porém existem limitações de fornecimento e dificuldades de extração de fontesnaturais, como animais, plantas ou fungos. Os nutracêuticos são divididos em três grupos: fonte alimentar, de formasfarmacêuticas e de natureza química; cada um com indicações clínicas importantes, porém, em alguns casos, com a presença deefeitos indesejados em alguns indivíduos. Grande parte dos nutracêuticos não apresentam estudos aprofundados quanto àtoxicidade, outro fator de impacto é o uso associados à medicamentos, pois as interações podem ser silenciosas e de granderisco à saúde, desta forma, é importante que seu uso seja prescrito e acompanhado por um profissional de saúde (GOMES;MAGNUS; SOUZA, 2017). A fabricação, prescrição e comercialização deste produto é amparada na legislação brasileira atravésdas normas que envolvem as resoluções RDC número 16, de 30 de abril de 1999, e a resolução número 2, de 7 de janeiro de2002, que abrangem as ações de prevenção e controle sanitário na área de alimentos, considerando os efeitos benéficos dosnutrientes e substâncias bioativas dos mesmos, visando a estabelecer condições para a avaliação da segurança do uso destassubstâncias (ANVISA, 1999; ANVISA, 2002).Conclusão: Pode-se concluir que os nutracêuticos proporcionam efeitos benéficos à saúde e seu uso está em constantecrescimento, porém, ressalta-se efeitos adversos, visto que possuem componentes biologicamente ativos que podem interagircom os nutrientes do organismo e demais medicamentos administrados pelo paciente. Desta forma, ressalta-se a necessidade daatuação do profissional da saúde, a fim de tratar dos cuidados clínicos necessários nesta prescrição. Quanto à legislação évisível a necessidade de uma legislação atualizada que defina oficialmente o termo nutracêutico e regulamente o processo deprodução e comercialização desses produtos.
ReferênciasANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasil. Resolução RDC nº 16, de 30 de abril de 1999. Publicação: D.O.U. -
Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 03 de dezembro de 1999.ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasil. Resolução RDC nº 2, de 07 de janeiro de 2002. Publicação: D.O.U. -Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 09 de janeiro de 2002.GOMES, A. S; MAGNUS, K.; SOUZA, A. H. Riscos e benefícios do uso de nutracêuticos para a promoção da saúde. RevistaSaúde e Desenvolvimento, Curitiba, v. 11, n. 9, p. 57-75, jan. 2017.MACHADO, G.; PUTON, B. F.; BERTOL, C. Nutracêuticos: Aspectos legais e científicos. Revista Eletrônica de Farmácia,Goiânia, v. 16, n. E, p.01-09, mar. 2019.NASCIMENTO, C. J.; PILOTO, J. A. R.; TIYO, R. Nutracêuticos para o emagrecimento: Uma revisão. Revista UNINGÁ, Maringá,v. 29, n. 2, p. 64-69, jan./mar. 2017.POLI, A. et al. Nutraceuticals and functional foods for the control of plasma cholesterol levels. An intersociety position paper.Pharmacological Research, Milão, v. 134, p.51-60, ago. 2018.SILVA, C. A.; MARTINS, G. A. S. Alimentos funcionais: Tecnologia aliada à saúde. Revista Desafios, Tocantins, v. 5, n. 3, p. 01-02, set. 2018.WANG, J. et al. Microbial production of value-added nutraceuticals. Current Opinion in Biotechnology, Londres, v. 37, p. 97-104, fev. 2016.
RESISTÊNCIA BACTERIANA DA VANCOMICINA FRENTE AO Staphylococcus aureus RESISTENTES A METICILINA(MRSA) EM AMBIENTES HOSPITALARES
1ELAINE CRISTINA BIRSSI, 2JAZMIN ARACELLI BRITEZ FERREIRA, 3GIULIANA ZARDETO SABEC
1Acadêmica da Especialização em Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar, UNIPAR1Acadêmica do curso de Farmácia, UNIPAR2Coordenadora e Docente da Especialização em Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar, UNIPAR
Introdução: O Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA - meticilin resistant Staphylococcus aureus) é uma bactériado grupo cocos gram positivos, está frequentemente associado a infecções adquiridas na comunidade e no ambiente hospitalar.As infecções mais comuns envolvem a pele e feridas em sítios diversos, podendo disseminar provocando focos metastáticos.Episódios mais graves, como bacteremia, pneumonia, osteomielite, endocardite, miocardite, pericardite e meningite, tambémpodem ocorrer (DA SILVA et al., 2010). A resistência bacteriana constitui um grave problema de saúde pública na atualidade, eestá associada ao aumento da morbidade e letalidade principalmente em ambientes hospitalares a nível de UTIs (DREES et al.,2008). Com o surgimento de MRSA, o antibacteriano de combate ao S. aureus deu-se para os glicopeptídeos vancomicina eteicoplanina, devido aos surtos de infecções hospitalares (SANTOS, 2004).Objetivo: Avaliar a resistência bacteriana da vancomicina no Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) emambientes hospitalares.Desenvolvimento: O combate à resistência bacteriana é um problema de saúde pública mundial e deve ser abordado sob váriosaspectos. O Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), é um poderoso agente etiológico associado a infecçõeshospitalares e na comunidade, estando relacionado à morbidade e mortalidade de pacientes, internados principalmente em UTIs,podendo causar infecções respiratórias, cardiovasculares, sanguíneas, ósseas, articulares entre outras. A resistência a meticilinaé conferida pelo gene mecA que está no SCCmec (staphlylococcal cassete chromosome mec), responsável pela expressão deproteína ligante de penicilina PBP2 ou PBP2a. Cepas de MRSA produzem PBP2 com baixa afinidade de ligação aos betas-lactâmicos impendido sua ligação e efeito farmacológico. Treze tipos SCCmec estão descritos em cepas de S. aureus, onde otipo I, II e III estão relacionados a infecções em ambientes hospitalares classificado como multirresistentes, já os demais tipos,estão relacionados a infecções estafilacócicas adquiridas na comunidade, sensíveis aos antibacterianos não beta-lactâmicos(NAVES et al., 2012). O tratamento farmacológico contra MRSA torna-se um desafio, onde o antibacteriano de primeira escolha éo glicopeptídeos vancomicina (LUQUE et al., 2018). A vancomicina é amplamente utilizado em ambientes hospitalares, com afinalidade de tratamento contra bactérias gram positivas MRSA, o Staphylococcus epidermidis, o Enterococcus faecalis e oEnterococcus faecium (SANTOS, 2004; MANFREDINI et al. 2011). Em 1996 no Japão, foi identificado o primeiro S. aureus comsensibilidade reduzida à vancomicina (VISA: vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus) e a partir dessa data, outrascepas de VISA foram descritas em várias partes do mundo. Em 2002, foi identificado o primeiro S. aureus com resistência plenaà vancomicina (VRSA: vancomycin-resistant Staphylococcus aureus) em Michigan-EUA. Essa resistência advém da transferênciade um plasmídeo contendo o transposon do gene vanA (Tn1546) derivado do Enterococcus faecalis já resistente à vancomicinapara MRSA (DA SILVA et al., 2010). Normalmente o serviço de farmácia clínica fica direcionado ao acompanhamento e aomonitoramento dos pacientes através do perfil farmacocinético/farmacodinâmico (PK/PD) (PAIVA et al., 2015). Os índices PK/PDe suas expressões têm sido amplamente utilizados para atingir a efetividade clínica e bacteriana contra infecções porMRSA através da utilização da vancomicina, é aceito que a razão entre a área sob a curva dentro de 24 horas da concentração-tempo (AUC0-24)/ concentração inibitória mínima (CIM) seja igual ou superior a 0,4 mg/mL (MANFREDINI et al., 2011). Por outrolado, segundo dados da Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (BrCAST) (2019), o ponto de corte para aCIM de vancomicina superiores a 2 mg/mL, resulta na resistência da bactéria frente ao antibacteriano. O combate às cepas debactérias resistentes aos antibacterianos é consideravelmente difícil, por isso devem-se adotar medidas que levem à redução dorisco de desenvolvimento dessas cepas, aliando um tratamento criterioso com a orientação no sentido de que os pacientescumpram a posologia da droga e o tempo do tratamento estabelecido na sua totalidade (BADDOUR et al., 2006). Paralelamentea isso, medidas complementares devem ser assumidas pelas autoridades responsáveis pelo controle da saúde pública, nodesenvolvimento de condições sanitárias apropriadas e nos investimentos que visem a descoberta de novos antibacterianos esubstâncias para administração em conjunto com a vancomicina contra cepas multirresistentes (DA SILVA et al., 2010). Conclusões: Considerando o efeito que a resistência bacteriana tem na saúde humana e no impacto econômico que elarepresenta, muito esforço e investimento ainda serão necessários para vencermos a resistência bacteriana. Entretanto, osantibacterianos glicopeptídeos, em particular a vancomicina, ainda são os mais populares para o tratamento de cepas do tipoMRSA. Sendo assim, julga-se necessário a importância de estudarmos e avaliarmos os casos de resistência ao MRSA e
implantarmos medidas de prevenção para que não aumente os casos.
ReferênciasBADDOUR, M. M.; ABUELKHEIR, M. M.; FATANI, A. J. Trends in antibiotic susceptibility patterns and epidemiology of MRSAisolates from several hospitals in Riyadh, Saudi Arabia. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, v. 5, n. 1, p. 30,2006.BRAZILIAN COMITTEE ON ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY TESTING (BRCAST). Tabela de ponto de corte para ainterpretação de CIMs e diâmetros de halos, 2019. 70p. Disponível em: http:// www.eucast.org. Acesso em: 29 de julho de2019.DA SILVA, A. M.; DE CARVALHO, M. J.; DA SILVA CANINI, S. R. M.; CRUZ, E. D. A.; SIMÕES, C. L. A. P.; GIR,E. Staphylococcus aureus resistente à meticilina: conhecimento e fatores associados à adesão da equipe de enfermagem àsmedidas preventivas. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 18, n. 3, p. 50-56, 2010.DREES, M.; SNYDMAN, D. R.; SCHMID, C. H.; BAREFOOT, L.; HANSJOSTEN, K.; VUE, P. M.; CRONIN, M.; NASRAWAY, S.A.; GOLAN, Y. Prior environmental contamination increases the risk of acquisition of vancomycin-resistant enterococci. Clinicalinfectious diseases, v. 46, n. 5, p. 678-685, 2008.LUQUE, Y.; MESNARD, L. Vancomycin nephrotoxicity: Frequency and mechanistic aspects. Nephrologie & therapeutique, v.14, p. S133-S138, 2018.MANFREDINI, C.; PICOLI, S. U.; BECKER, A. P. Comparação de métodos na determinação de sensibilidade à vancomicina emStaphylococcus aureus resistente à meticilina. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, v. 47, n. 2, p. 141-145,2011.NAVES, K. S. C.; TRINDADE, N. V.; GONTIJO-FILHO, P. P. Infecção de corrente sanguínea por Staphylococcusaureus resistente à meticilina: fatores de risco e evolução clínica em unidades não críticas. Revista Sociedade Brasileira deMedicina Tropical, v. 45, n. 2, p. 189-193, 2012.PAIVA, R. M.; MENDES, G.A.; NICOLAIDIS, R.; D, AZEVEDO, P. A. Modelo PK/PD de Antimicrobianos: uma Revisão Conceitual.Laes & Haes, v. 5, p. 126-136, 2011.SANTOS, N. Q. A. Resistência Bacteriana no Contexto da Identificação Hospitalar. Texto & Contexto Enfermagem, v. 13, p. 64-70, 2004.
COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS CIRÚRGICAS PARA CORREÇÃO DO SORRISO - RELATO DE CASOS
1ELOISE COSTA CORDEIRO, 2AMANDA LIDIA DECOSIMO, 3EDUARDO AUGUSTO PFAU
1Acadêmica de Odontologia bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmica de Odontologia bolsista do PIBIC/UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: O sorriso gengival pode ser causado por vários fatores e é considerado um problema estético, sendo queixafrequente entre os pacientes. Diante disso, associadas à etiologia, existem várias técnicas para o tratamento do sorriso gengivalque podem ser de ordem esquelética, muscular ou periodontal. Em diversos estudos, as técnicas cirúrgicas periodontais são umadas opções efetivas de tratamento para correção do sorriso gengival. Um dos tratamentos de eleição para correção do sorrisogengival é o aumento de coroa clínico estético (gengivectomia e gengivoplastia, associadas ou não a osteotomia). O sucesso dotratamento está relacionado ao correto diagnóstico, identificando a etiologia, a um plano de tratamento adequado e aoconhecimento teórico e técnico do profissional. Quando indicada a realização de osteotomia para o restabelecimento do espaçobiológico, há opções ressectivas executados por diferentes métodos, tendo como exemplo o ultrassom Piezoelétrico,apresentando um menor trauma cirúrgico, não acometendo tecidos moles e caracterizado por seus cortes milimétricos e umaoutra opção sendo o rebatimento de retalho total e osteotomia realizada com ponta diamantada, o que causa maior morbidadeao paciente comparado à técnica do Piezoelétrico (ZANGRANDO et al, 2017; PEDRON, 2018; PILALAS et al, 2016; SOUZA,2017; SANTOS, 2018). Esse trabalho tem como objetivo comparar os resultados obtidos por duas diferentes técnicas cirúrgicasperiodontais executadas para correção do sorriso gengival. Relato de Caso: Foram selecionadas duas pacientes do gênero feminino, sem nenhuma alteração sistêmica, e que procurarama Clínica Odontológica da Universidade Paranaense - UNIPAR queixando-se de sorriso gengival. Após apresentado o plano detratamento de acordo com as necessidades das pacientes e assinado o termo de consentimento livre e esclarecido aprovadopelo Comitê de Ética dessa Instituição de acordo com a Resolução 466/12, com parecer sob o número 34973, foi verificada anecessidade de gengivectomia com bisel interno na região ântero- superior seguida de osteotomia. Dessa forma uma paciente foisubmetida à osteotomia com um inserto específico do aparelho Piezo, o qual foi posicionado no fundo de sulco apósgengivectomia, realizando movimentos sincrônicos, sem a necessidade de rebater retalho. Já na segunda paciente, foi realizada rebatimento de retalho total, descolando toda a gengiva inserida para uma melhor visualização do tecido ósseo e então foirealizada a osteotomia com instrumentos rotatórios (pontas diamantadas número 1014 e 2173). Após os procedimentoscirúrgicos as pacientes foram acompanhadas quanto a cicatrização da área operada por 12 meses.Discussão: Segundo Dantas (2012) a osteotomia deve ser realizada a fim de restabelecer as dimensões do espaço biológico,onde a distância da crista óssea alveolar à margem gengival necessita ter entre 3 e 5mm para que não ocorram recidivas. Paraisso, existe a técnica cirúrgica ressectiva de rebatimento de retalho com instrumentos rotatórios, no qual apresenta em 15 diasum resultado favorável na cicatrização. Kfouri e seus colaboradores (2009) mostraram em seus estudos e diante da literatura,que o aparelho ultrassônico piezoelétrico apresenta vantagens comparado aos métodos convencionais, e tem como exemplo:cortes precisos e milimétricos, menor morbidade ao paciente e nenhuma injúria aos tecidos moles, porém apresentando tempooperatório maior. Em nosso trabalho pudemos observar que a técnica onde foi utilizado a osteotomia com piezoelétrico acicatrização pós operatória foi melhor quando comparada com a paciente que recebeu a técnica clássica do rebatimento deretalho e osteotomia. Além disso, o desconforto relatado pela presença de aftas pós operatórias decorrentes do traumatismo dofio de sutura, foi mais um ponto de desvantagem quando comparada com a técnica em que foi usado apenas o piezoelétrico semrebater retalho. Foi observado também que o tempo de cicatrização para estabilização da margem gengival dos dentes operadosfoi igual para as duas pacientes operadas por técnicas diferentes, sendo observada a estabilização da margem gengival após 3meses da cirurgia .Conclusão: Pode-se concluir que ambas as técnicas cirúrgicas empregadas foram efetivas para a correção do sorriso.Independente da técnica empregada o tempo de cicatrização dos tecidos é o mesmo. A técnica usada sem o rebatimento doretalho e por consequência disso sem a presença de sutura foi a que apresentou menor morbidade pós operatória relatada pelapaciente.
ReferênciasDANTAS, Andrea Abi Rached; SILVA, Eloá Rafaele Cardoso da; SAKO, Jaqueline Sayuri. Tratamento estético periodontal:revisão de literatura sobre alguns tipos de cirurgias. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo, p. 226-234, 2012. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/125848. Acesso em: 12 ago. 2019.
DE ÁVILA KFOURI, Flávio et al. Cirurgia piezoelétrica em implantodontia: aplicações clínicas/Piezoelectric surgery in implantdentistry: clinical applications. RGO-Revista Gaúcha de Odontologia, v. 57, n. 1, 2009. Disponível em:http://revistargo.com.br/viewarticle.php?id=1548&layout=abstract. Acesso em: 13 ago. 2019.DOS SANTOS, PÂMELA LETÍCIA et al. APLICAÇÕES CLÍNICAS DA CIRURGIA PIEZOELÉTRICA EM IMPLANTODONTIA.REVISTA UNINGÁ REVIEW, v. 20, n. 2, 2018. Disponível em: http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1582.Acesso em: 10 ago. 2019.PEDRON, Irineu Gregnanin; MANGANO, Alessandro. Gummy Smile Correction Using Botulinum Toxin With Respective GingivalSurgery. Journal of Dentistry, v. 19, n. 3, p. 248, 2018. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6092459/.Acesso em: 16 jul. 2019.PILALAS, Ioannis; TSALIKIS, Lazaros; TATAKIS, Dimitris N. Pre‐restorative crown lengthening surgery outcomes: a systematicreview. Journal of clinical periodontology, v. 43, n. 12, p. 1094-1108, 2016. Disponível em:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcpe.12617. Acesso em: 09 jul. 2019.SOUZA, Gabriella de Sá; BATISTA, Isabelle Maria Andrade dos Santos; SANTOS, Thiago de Santana. Tratamentocontemporâneo do sorriso gengival (UNIT-SE). 2017. Disponível em: https://openrit.grupotiradentes.com/xmlui/handle/set/1886.Acesso em: 11 jul. 2019.ZANGRANDO, Mariana S. Ragghianti et al. Altered active and passive eruption: a modified classification. Clinical Advances inPeriodontics, v. 7, n. 1, p. 51-56, 2017. Disponível em: https://aap.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1902/cap.2016.160025.Acesso em: 24 jun. 2019.
DISLIPIDEMIA EM PACIENTES SUBMETIDOS À GASTROPLASTIA REDUTORA DO TIPO DE ROUX
1EDINEIA MARIZA SIEROTA, 2THAISSA EDUARDA BARICHELLO, 3CAROLINE HAMMERSCHMITT EDUARDO, 4FERNANDAPEGORINI PADILHA, 5MAYARA JAKLINE RAMOS MATOS, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1acadêmico do PIC UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo Souza et al. (2018), a obesidade é definida como excesso de gordura corporal, considerada uma doençaepidêmica com ampla repercussão no cenário mundial. Consequentemente, a falta de atividade física inferindo em pouco gastode energia e o consumo de alimentos altamente energéticos, tem como consequência o acúmulo de gordura. Para Silva et al.(2017), a obesidade mórbida vem representando um importante problema de saúde pública em nível mundial, estando associadaao aumento da ocorrência de várias comorbidades, como a diabetes mellitus, hipertensão arterial e a dislipidemia, causadoras dedoenças cardiovasculares, que são responsáveis pelo aumento significativo da mortalidade. Souza et al. (2018) complementamque tais comorbidades são inseridas no grupo de doenças crônicas não transmissíveis, responsáveis por cerca de 63% dasmortes no mundo, sendo 80% delas ocorridas em países de baixa e média renda.Objetivo: Dissertar sobre os efeitos da cirurgia bariátrica sobre a dislipidemia.Desenvolvimento: A obesidade pode ter como causa fatores metabólicos, sociais, genéticos, ambientais, econômicos, culturaise de estilo de vida ou ainda estar relacionada a fatores demográficos. Para avaliar a concentração de gordura em adultos éutilizado o Índice de Massa Corporal, sendo definido como a razão entre o peso do indivíduo dado em quilogramas (kg) e suaaltura ao quadrado (m²). Sendo classificados como obesos indivíduos com valores ≥ 30kg/m2 (SOUZA et al., 2018). Adislipidemia vem sendo apontada como um dos principais fatores associados à aterosclerose e à doença coronariana. Aprevalência desta comorbidade entre obesos é duas vezes maior do que em pessoas com peso adequado. Compõe umaenfermidade estabelecida pelo aumento dos triglicerídeos, pela alteração da fração de colesterol ligada à lipoproteína de baixadensidade (LDL) e pela diminuição na concentração de colesterol ligado à lipoproteína de alta densidade (HDL) (LIRA et al.,2018). De acordo com Vieira et al. (2015) e Lira et al. (2018), manter os níveis séricos de colesterol total menor do que 200mg/dl,de colesterol LDL menor do que 130mg/dl, triglicerídeos menor do que 150mg/dl e os níveis do HDL colesterol maior do que50mg/dl para mulheres e maior do que 40mg/dl para homens assegura uma vida mais saudável. Os fosfolipídios, ostriglicerídeos, o colesterol e os ácidos graxos, são os lipídeos que apresentam maior relevância clínica. O colesterol e osfosfolipídios compõem as membranas celulares. O colesterol faz parte também da composição da vitamina D, dos hormôniosesteroidais e dos ácidos biliares. Já os triglicerídeos são formados pela ligação de moléculas de ácidos graxos ao glicerol ecompõe a forma de armazenamento energético mais importante do organismo (LIRA, 2015). A hipercolesterolêmica é aconsequência do acúmulo de lipoproteínas ricas em colesterol, como o LDL, que comumente é decorrente da interação entrefatores ambientais e genéticos, como a obesidade e o sedentarismo. Diante de tais fatos, Vieira et al. (2015) demonstram que emportadores de obesidade mórbida, a gastroplastia é o método mais eficaz para produzir uma perda de peso eficiente e por longotempo, com benefícios comprovados na redução das comorbidades frequentes, incluindo a dislipidemia e a redução dos riscoscardiovasculares.Conclusão: Assim sendo, com o agravamento da obesidade, indivíduos desencadeiam comorbidades consideráveis como adislipidemia, grande causadora de doenças cardiovasculares, responsável pelo aumento significativo da mortalidade. Devendoser incluído na avaliação elegível para a cirurgia bariátrica. A intervenção cirúrgica apresenta resultados benéficos na diminuiçãoponderal do peso, consequentemente nos níveis de gordura corporal, sendo mais expressiva e sustentada do que os tratamentosconservadores.
ReferênciasLIRA, N. S. Análise do perfil lipídico de pacientes submetidos à gastrectomia vertical e a derivação gástrica em Y deRoux. 2015. 106 f. Dissertação (Mestrado em Cirurgia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015.LIRA, N. S.; MACEDO, C. E. S.; BELO, G. M.; SANTACRUZ, F.; SIQUEIRA, L. T.; FERRAZ, A. A. B. Análise do perfil lipídico de
pacientes submetidos à gastrectomia vertical e à derivação gástrica em Y de Roux. Revista do Colégio Brasileiro deCirurgiões, Recife, v. 45, n. 6, p.76-72, out. 2018.SILVA. S.; MILHEIRO, A.; FERREIRA, L.; ROSETE, M.; CAMPOS, J. C.; ALMEIDA, J.; SERGIO, M.; TRALHÃO, J.G.; SOUZA, F.C. Gastrectomia vertical calibrada no tratamento da obesidade mórbida. Resultados em longo prazo, comorbidades e qualidadede vida. Revista Portuguesa de Cirurgia, Lisboa, v. 40, p. 11-20, mar. 2017.SOUZA, S. A.; SILVA, A. B.; CAVALCANTE, U. M. B.; LIMA, C. M. B. L.; SOUZA, T. C. Obesidade adulta nas nações: umaanálise via modelos de regressão beta. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 34, n. 8, p. e00161417, ago. 2018.VIEIRA, R. A. L.; SILVA, R. A.; TOMIYA, M. T. O.; LIMA, D. S. C. Efeito da cirurgia bariátrica sobre o perfil lipídico maisaterogênico em curto prazo. Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria, Madrid, v. 35, n. 1, p. 24-31, fev. 2015.
IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DA ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
1ADRIAN FERNANDES DA SILVA NOVAIS, 2NATANI GRAZIELA GRABNER, 3NICOLY EDUARDA NIEDERMAYER MARTELO,4MARIA VITORIA SCHOLZ, 5DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do Curso de Fisioterapia UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O fisioterapeuta tem sido cada vez mais presente nas unidades de terapia intensiva (UTI), onde suas técnicas desuporte são de notável importância para uma recuperação efetiva e a conservação da funcionalidade do paciente. O ofício dafisioterapia, através de técnicas imprescindíveis, assegura em conjunto com a equipe multidisciplinar, uma recuperação célere notratamentode diversos processos patológicos que requerem de um atendimento mais especializado (MANDADORI et al., 2016). Afunção primordial da colaboração fisioterapêutica na unidade de terapia intensiva é a prevenção e redução de possíveisimplicações respiratórias, através de técnicas manuais de expansão torácica e higiene brônquica, além do suporte da ventilaçãomecânica, desenvolvendo a função pulmonar, possibilitando efetiva troca gasosa e uma evolução mais rápida do paciente(VASCONCELOS; ALMEIDA; BEZERRA, 2011).Objetivo: Este trabalho teve como objetivo dissertar sobre a importância do profissional da fisioterapia em âmbito hospitalar nasunidades de terapia intensiva.Desenvolvimento: A participação do profissional da fisioterapia em equipes multidisciplinares tem contribuições em melhora dasfunções respiratórias e/ou motora. Com a contribuição em período integral em unidades intensivas expõe resultados nadiminuição de complicações, tempo de hospitalização e custo hospitalares (OLIVEIRA et al., 2019). Em uma unidade detratamento intensivo existe uma lista abrangente constituída por uma série de atendimentos multidisciplinares em que afisioterapia pode atuar, desde atendimento de pacientes em estado crítico que demandam de suporte ventilatório, pacientes emrecuperação de pós-operatórios, e vítimas de traumas graves, objetivando evitar complicações respiratórias, motoras eneurológicas (JERRE et al., 2007). De acordo com Pinheiro e Christofolett (2012), a assistência realizada por profissionais dasaúde em ambiente hospitalar tem intuito na recuperação de condições clínicas, para que assim possam regressar a vida normal.Entretanto, pacientes críticos, se encontram em estado instável e crítico podendo gerar sucessivos problemas relacionados auma maior incapacidade e uma reabilitação prolongada.Conclusão: Pode-se concluir através deste estudo que o fisioterapeuta em âmbito hospitalar, mais precisamente nas unidadesde terapia intensivas, contribui para uma rápida recuperação do paciente, através da diminuição no tempo de permanênciahospitalar, reduzindo também os custos da internação para as instituições de saúde. Resultados positivos para a evolução dopaciente têm colocado o profissional em patamar de importância dentro de instituições hospitalares, como descrito no estudo osresultados trazem benefícios ao hospital e principalmente ao paciente.
ReferênciasJERRE, G.et al. Fisioterapia no paciente sob ventilação mecânica. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, São Paulo,v.19, n.3, p. 400-406, jul./set. 2007.MANDADORI, A. G. et al. Humanização da fisioterapia em unidade de terapia intensiva adulto. Fisioterapia e Pesquisa, SãoPaulo, v.23, n. 3, p. 294-300, jul./set. 2016.OLIVEIRA, A. M.et al. Benefícios da inserção do fisioterapeuta sobre o perfil de prematuros de baixo risco internados em unidadede terapia intensiva. Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo, v.26, n.1, p.52-58, jan./mar. 2019.PINHEIRO, A. R.; CHRISTOGOLETT, G. Fisioterapia motora em pacientes internados na unidade de terapia intensiva: umarevisão sistemática. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, São Paulo, v.24, n.2, p. 188-189, abr./jun.2012.VASCONCELOS, G.A.R.; ALMEIDA, R.C.A.; BEZERRA, A.L. Repercussões da fisioterapia na unidade de terapia intensivaneonatal. Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v.24, n.1, p.65-73, 2011.
ASSOCIAÇÃO ENTRE ENVELHECIMENTO E O SURGIMENTO DA POLIMEDICAÇÃO
1AMANDA CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA, 2BRUNA APARECIDA SOARES FAVARO, 3DOUGLAS FERNANDES TOMAZI,4GABRIELA FARTH, 5HELOISA MACHINESKI, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do curso de Farmácia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A polimedicação, também intitulada como polifarmácia ou polifarmacoterapia, refere o uso simultâneo e de formacrônica de fármacos para sintomas e doenças dissemelhantes pelo mesmo indivíduo (SANTOS; ALMEIDA, 2010). O uso de ummedicamento para reparar o efeito adverso de outro ou o aumento da quantidade de medicamentos, levando em consideraçãocinco ou mais associações, pode acarretar em não adesão, reações adversas, erros de medicação, alto risco de hospitalização ecustos com a saúde (BRICOLA et al., 2011).Objetivo: Realizar uma abordagem da polimedicação em idosos.Desenvolvimento: O envelhecimento condiz ao conjunto de alterações anatômicas e fisiológicas que ocorrem normal einevitavelmente com o passar dos anos, afetando universalmente todos os indivíduos através do acúmulo progressivo demudanças múltiplas e falência dos mecanismos de reparação celular que debilitam os mecanismos de defesa e o equilíbrio doorganismo (VERISSÍMO, 2014). A existência de múltiplas comorbidades é uma importante condição de risco para apolimedicação. São constatados problemas de saúde como hipertensão arterial, diabetes mellitus e doença cardíaca coronáriacomo preditivos ao desenvolvimento da polifarmacoterapia (NOBILI et al., 2011). Acha-se uma linha tênue entre risco e vantagemdo uso de polimedicação por idosos. Uma elevada taxa de utilização de medicamentos pode influenciar negativamente naqualidade de vida do idoso devido a maiores episódios de efeitos adversos e interações medicamentosas, em contrapartida,esses mesmos medicamentos são os que auxiliam no prolongamento da vida. Assim sendo, não é absolutamente apolimedicação que expõe o idoso aos potenciais riscos para eventos adversos, mas sim a irracionalidade de seu uso (MARIN etal., 2008).Conclusão: A abordagem da polifarmácia em idosos revela que o grande desafio dos profissionais da área da saúde é contribuirna promoção do uso racional dos medicamentos, visto que utilizam um número elevado de especialidades.
ReferênciasBRICOLA, S.A.P.C. et al. Envelhecimento da população e a polifarmácia. Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica,São Paulo, v.1, n.1, p.259-270, jul. 2011.MARIN, Maria Jose Sanches et al. Caracterização do uso de medicamentos entre idosos de uma unidade do Programa Saúde daFamília. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.24, n.7, p.1545-1555, jul. 2008.NOBILI, Alessandro et al. Association between clusters of diseases and polypharmacy in hospitalized elderly patitents: Resultsfrom the Reposi Study. European Journal of Internal Medicine, Philadelphia, v.22, n.6, p.597-602, nov./dec. 2011.SANTOS, Mónica; ALMEIDA, Armando. Polimedicação no idosos. Revista de Enfermagem Referência, Coimbra, n.2, p.149-162, dez. 2010.VERÍSSIMO, Manuel Teixeira. Geriatria Fundamental. Revista Saber e Praticar. Editora LIDEL: Lisboa, 2014.
INTERDISCIPLINARIDADE NAS AÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE
1EDUARDO HENRIQUE PEREIRA SANDIM, 2IGOR MELCHIADES PRADO DE OLIVEIRA, 3VANDA ZAGO LUPEPSA,4CRISTIANE CLAUDIA MEINERZ, 5ERICK ANTONIO SIGOLO, 6ROSILEY BERTON PACHECO
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmico do Curso de Engenharia Civil da UNIPAR2Docente da UNIPAR3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Quando observamos a dengue e seus impactos na sociedade, em especial na vida das pessoas acometidas poreste agravo é notório que a clínica apresentada compromete não só o estado geral dos indivíduos, mas a qualidade de vida emum contexto no qual o cotidiano e sua produtividade são afetados. Essa relação é percebida com base na sintomatologia destaarbovirose, sendo algumas delas febre alta, mialgia e dor retro orbitária. Sua estimativa anual é de 50 a 100 milhões de infecçõese dentre estes casos em média 2,5 bilhões de pessoas estão vivendo em países em que a dengue caracteriza-se como umadoença endêmica (BRASIL, 2017).Objetivo: Reconhecer a importância das ações interdisciplinares no combate ao mosquito transmissor da dengue.Desenvolvimento: A dengue caracteriza-se como uma doença viral, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e que vem seexpandindo de maneira muito rápida em diversos países, o que a coloca numa posição de importante arbovirose, pois têmafetado muitos indivíduos, ou seja, torna-se também um relevante problema de saúde pública (VIEIRA et al., 2017). Geralmente oquadro inicial da dengue é abrupto apresentando-se com febre alta, cefaleia e dores por todo o corpo. Em alguns casos, ocorreepistaxe e gengivorragias. É importante frisar que o único meio de ficar doente é através da picada do mosquito Aedes(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Prevenir a dengue é uma ação inerente ao campo da educação, sendo assim o âmbito escolartorna-se um espaço propício para se implementar atividades direcionadas à educação em saúde (VIEIRA et al., 2017). Pelo fatodo Brasil possuir um clima tropical, a proliferação do mosquito acontece com grande facilidade, contribuindo deste modo tambémpara a disseminação do vírus (VALLE; AGUIAR; PIMENTA, 2015). A atenção deve ser dada no sentido de não se permitir apresença de ovos em pneus velhos, latas, garrafas, vidros, caixas dʼágua sem tampa e vasos de planta, pois ao seremdepositados, em torno de sete dias transformam-se em larvas e mosquitos (SANTOS, 2017 apud COSTA; FERREIRA, 2002).Conclusão: Uma das estratégias com possibilidade de sucesso para o controle da dengue é a implementação de atividades emâmbito escolar. A integração educação e saúde tornam-se neste momento, uma ferramenta de grande valor no sentido decontribuir para a redução dos elevados números de casos registrados da doença.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia emServiços. Guia de Vigilância em Saúde: volume único. 2. Ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasil. Portal da Saúde. Dengue [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; c2016 [cited 2016 Sept 18].Available from: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/linksde-interesse/301-dengue/14608-sintomasSANTOS, Rafaelle Pereira de Lara.; MANCIO, Sabrina dos Santos.; CRUZ, Renato Araújo.; BARBOSA, Andréia Aparecida.;PEREIRA, Mariana Donato. Casos de dengue no estado de são Paulo. Revista Saúde em Foco, ed. 9, 2017.VALLE, Denise.; AGUIAR, Raquel.; PIMENTA, Denise. Lançando luz sobre a dengue. Revista Ciência e Cultura, v. 67, n. 3,São Paulo, set, 2015. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252015000300002.Acesso em: 23 jun. 2019.VIEIRA, Sheylla Nayara Sales.; FRANÇA, Lays Santos.; LIMA, Juliana de Jesus Peixoto.; SOUZA, Fernanda Santos.; CARDIM,Saluana de Queiroz. Educação em saúde e o combate à dengue: um relato de experiência. Revista de Enfermagem UFPE OnLine, v. 11 (supl. 5), p. 2227-30, mai, 2017.
A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA UTI NEONATAL
1MARIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, 2ALINE ARGENTON JARETTA, 3ELLEN CHRISTINE OLIVEIRA BIAVA, 4THAUANIISABEL DA SILVA, 5MARIA EDUARDA ZAGO FERNANDES, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do curso de Fisioterapia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O progresso das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal tem permitido uma diminuição acentuada nos óbitos deneonatos. No entanto, o enredamento e o acréscimo de meios invasivos que perpetua o período de vida acarretam na exposiçãodos recém-nascidos a situações excruciantes. Eventos dolorosos são viáveis de acarretar consequências orgânicas eemocionais, promovendo a evolução e o desenvolvimento do neonato, tendo em consideração que os receptores sensoriais emotores são extremamente sensíveis aos estímulos exteriores (CARNEIRO et al., 2016). Os pacientes internados nas unidadesde terapia intensiva podem ter variantes por conta de sua enfermidade particular ou em decorrência dos métodos efetivados, damesma forma pela aplicação de medicamentos ou por conta da ventilação mecânica. Tais circunstâncias podem contribuir paraque ocorram infecções ou quaisquer outras adversidades nos neonatos, possivelmente amenizadas através daindispensabilidade do profissional de fisioterapia (VASCONCELOS; ALMEIDA; BEZERRA, 2011).Objetivo: Evidenciar a atuação do fisioterapeuta dentro do âmbito da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.Desenvolvimento: É importante verificar a evolução do neonato em vínculo com o ponto de vista do fisioterapeuta no interior daUnidade de Terapia Intensiva Neonatal, constatando antecipadamente possíveis patógenos, com o propósito de prevenir,interceptar e minimizar sequelas. A fisioterapia tem apresentado uma função notável, por proporcionar a evolução da respiração,e tornar simples a relação de trocas gasosas, melhorando a conexão ventilação-perfusão e conservando a capacidade das viasaéreas de absorver, levando em consideração que quanto mais cedo for encontrado o problema e realizada a abordagemcorreta, a sequela na vida futura do neonato será irrelevante. O uso das práticas fisioterapêuticas inclui técnicas, tais como acompressão torácica e a vibração, no qual se executa vibrações com as mãos na caixa torácica do paciente e compressões notranscorrer da expiração, respectivamente (MARTINS et al., 2013; MAIA, 2016). Com a ciência de que o fisioterapeuta atua, emcomum com o grupo multidisciplinar e, exerce suporte ao recém-nascido internado na unidade de terapia intensiva, ficaindispensável que o capacitado entenda e pesquise sobre os meios fisioterapêuticos que amenizem a dor ou estresse, a fim deadequar as abordagens de acordo com as urgências dos pacientes, tornando a abordagem humanizada (CARNEIRO et al.,2016). Os métodos que proporcionam essa abordagem mais humanizada com os neonatos envolvem toques terapêuticos,prática de massagens, estimulação sensório motora e a realização da fisioterapia aquática (ZENI; MONDADORI; TAGLIETTI,2016).Conclusão: Deste modo, pode-se concluir que o uso da fisioterapia dentro do âmbito hospitalar intensivo se torna indispensável,fazendo com que o atendimento seja mais humanizado pelos toques das mãos utilizados em certas práticas terapêuticas eacarretando melhora no aumento das condições respiratórias e motoras. Sendo assim, o profissional de fisioterapia é necessáriopara complementar o grupo multidisciplinar que atua nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.
ReferênciasCARNEIRO, T.L.D.P et al. Avaliação da dor em neonatos prematuros internados na unidade de terapia intensiva neonatal apósfisioterapia respiratória. Journal of the Health Sciences Institute, São Paulo, v. 34, n. 4, p. 2019-23 out./dez. 2016.MAIA, F.E.S. A fisioterapia nas unidades de terapia intensiva neonatal. Revista da Faculdade de Ciências Médicas deSorocaba, Sorocaba, v. 18, n. 1, p. 64-5, jan./mar. 2016.MARTINS, R. et al. Técnicas de fisioterapia respiratória: Efeito nos parâmetros cardiorrespiratórios e na dor do neonato estávelem UTIN. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v. 13, n. 4, p. 317-327, out./dez. 2013.VASCONCELOS, G.A.R.; ALMEIDA, R.C.A.; BEZERRA, A.L. Repercussões da fisioterapia na unidade de terapia intensivaneonatal. Fisioterapia e Movimento, Curitiba, v. 24, n. 1, p. 65-73, jan./mar. 2011.ZENI, E.M.; MONDADORI, A.G.; TAGLIETTI, M. Humanização da assistência de fisioterapia em unidade de terapia intensivapediátrica e neonatal. ASSOBRAFIR Ciência, Cascavel, v. 7, n. 3, p. 33-40, dez. 2016.
ALTERAÇÕES PSICONEUROFISIOLÓGICAS INDUZIDAS PELO PLACEBO NO ORGANISMO
1KAMUNI AKKACHE COUTINHO, 2LEONARDO LUIZ CASTELLI JUNIOR, 3NATHALIA POSSAGNOLO PAGANINI, 4THALYAVITORIA BECHER, 5MARIA FERNANDA MARIOT, 6FRANCISLAINE APARECIDA DOS REIS LIVERO
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente da Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e do PPG em Ciência Animal-UNIPAR
Introdução: O placebo é um agente sem atividade terapêutica, que age por meio de um mecanismo psicológico e é usadoclinicamente para testar o valor real de um medicamento a fim de obter respostas semelhantes ao de um fármaco, sendopossível a produção de reações adversas (nocebo) (MICHELS; RUZZON; JÚNIOR, 2007).Objetivo: Analisar o mecanismo de funcionamento do placebo e seus efeitos psiconeurofisiológicos no organismo.Desenvolvimento: O placebo é uma substância inerte, sem ação específica na doença e nem nos sintomas do paciente(MICHELS; RUZZON; JÚNIOR, 2007). As experiências sensoriais e pensamentos podem afetar a neuroquímica dentro dosistema nervoso central. Nesse olhar, o placebo age no indivíduo de forma psicológica, ocasionando uma melhora no quadropatológico (MICHELS; RUZZON; JÚNIOR, 2007). Ademais, é notório que o placebo fornece inúmeros benefícios como, ausênciados efeitos colaterais que uma droga farmacológica provocaria, contribui para pacientes sensíveis ou alérgicos a certosmedicamentos, sendo evidenciado principalmente no modelo de condicionamento. (RIBEIRO et al., 2012). Há três modelos baseque explicam o efeito do placebo (CAMARGO; TEIXEIRA, 2002), sendo eles: modelo opioide, modelo de condicionamento emodelo das expectativas. O mecanismo psiconeurofisiológico do efeito placebo ocorre da seguinte forma: tendo-se qualquer tipode interferência do placebo com expectativa positiva de recompensa, os neurônios do córtex pré-frontal são ativados, assim,estas células enviam impulsos glutamatérgicos excitatórios diretos e impulsos gabaérgicos inibitórios indiretos aos neurôniosdopaminérgicos distribuídos ao longo do corpo, estando na combinação destes sinais o requisito para sua ativação tônica.Ademais, os neurônios do córtex pré-frontal, estriado dorsal e estriado ventral ainda podem exibir ativações tônicas durante aexpectativa de recompensa. Por fim, tem-se a existência da ativação dopaminérgica fásica, que ocorre em recompensa efetiva,sendo muito forte quando esta surge de forma abrupta. (TEIXEIRA, 2009). Para mais, a utilização do placebo também se faz nacomparação com um novo medicamento, comprovando sua eficácia, e assim corroborando para a criação de um novomedicamento (CAMARGO; TEIXEIRA, 2002).Conclusão: O placebo é o mais puro dos medicamentos, o mais difícil de prescrever, entretanto, ainda é um psicotrópico. Seuprincípio ativo é o sentido, e a qualidade de sua relação, sua posologia.
ReferênciasCAMARGO, E. P; TEIXEIRA, M. Sobre placebo e efeito placebo. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São Paulo, v. 1, n. 2, p. 118-125, junho. 2002.MICHELS, M. A.; RUZZON, J.; JÚNIOR, H. P. Placebo: Efeitos psicológicos da cura. Anais do V Encontro Internacional deProdução Científica da Cesumar, Maringá, v. 1, n. 1, outubro, 2007. Disponível em: <http://www.cesumar.br/prppge/pesquisa/epcc2007/anais/michelli_michels.pdf >. Acesso em: 21 mar. 2019.RIBEIRO, I. N.; et al. Compreendendo o efeito placebo nos animais e no homem. Revista da Universidade Ibirapuera, v. 3, n. 1,p. 36-44, 2012.TEIXEIRA, M. Z. Bases psiconeurofisiológicas do fenômeno placebo-nocebo: evidências científicas que valorizam a humanizaçãoda relação médico-paciente. Rev Assoc Med Bras, v. 55, n. 1, p. 13-8, 2009.
EFEITOS DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM A DOENÇA DE PARKINSON
1MARIA EDUARDA ZAGO FERNANDES, 2ALINE ARGENTON JARETTA, 3ELLEN CHRISTINE OLIVEIRA BIAVA, 4MILLENAANGELI DOMINGUES PEREIRA, 5MARIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do curso de Fisioterapia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A Doença de Parkinson é considerada o segundo maior acontecimento neurológico senil no mundo. Acontece commaior frequência no gênero masculino, afetando aproximadamente 1% a 2% das pessoas acima de 65 anos (GONÇALVES;LEITE; PEREIRA, 2011). É caracterizada como uma doença neurológica e degenerativa causando a inibição dos movimentosnormais do paciente. Afeta o sistema nervoso central, pela ausência da produção de dopamina (SANTOS et al., 2012). SegundoMello e Botelho (2010), os sintomas mais comuns envolvem letargia ao realizar tarefas motoras, bradicinesia, tremor em repouso,modificações do equilíbrio, marcha e postura. Pompeu et al. (2013) acrescentam que a fisioterapia aquática relacionada aoexercício físico pode gerar vantagens sensoriais e motoras, por meio do equilíbrio, estimulação proprioceptiva, o que resulta naajuda da independência ao realizar tarefas cotidianas.Objetivo: Investigar a ação dos exercícios físicos aquáticos para melhorar o quadro clínico da Doença de Parkinson.Desenvolvimento: Sendo a Doença de Parkinson uma desordem neurológica que compromete a independência funcional dosportadores, a indicação de atividade física se torna imprescindível e altamente reabilitativa do sistema musculoesquelético (VANDER KOLK; KING, 2013). Os exercícios realizados no ambiente aquático facilitam a realização dos movimentos comprometidosna doença. Ajuda a exercer movimentos mais complexos e atividades mais desafiadoras. O tratamento em meio líquidoproporciona o aspecto lúdico, resultando em aumento do grau de relaxamento, além dos movimentos serem feitos com maiorsegurança. Isso acontece decorrente da diminuição da ação gravitacional e empuxo, com isso, oferece possibilidades motorasmaiores aos pacientes, facilitando a aquisição de capacidades que muitas vezes é mais difícil de serem executadas em solo(SOUZA et al., 2014). Outras vantagens observadas através do exercício físico aquático para portadores da Doença deParkinson envolvem a redução de impactos, a facilidade do meio aquático para executar os movimentos e a inclusão de umaterapia na forma de entretenimento (AYÁN; CANCELA, 2012). A atividade realizada em água aquecida também ajuda na reduçãode dores articulares e outros distúrbios existentes na doença (ZOTZ et al., 2013).Conclusão: Através deste estudo, concluiu-se que a fisioterapia aquática é eficiente para melhorar as habilidades motoras empacientes diagnosticados com a Doença de Parkinson. Oferece como benefícios a melhora da mobilidade corporal, maiorsegurança, treino de equilíbrio, coordenação e força muscular, promovendo um grau de independência funcional extremamenteimportante aos portadores.
ReferênciasAYÁN, C.; CANCELA, J. Feasibility of 2 different water-based exercise training programs in patients with Parkinsonʻs disease: apilot study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Pontevedra, v.93, n.10, p.1709-14, out. 2012.GONÇALVES, G. B.; LEITE, M. A. A.; PEREIRA, J. S. Influência das distintas modalidades de reabilitação sobre as disfunçõesmotoras decorrentes da Doença de Parkinson. Revista Brasileira Neurologia, Rio de Janeiro, v. 47, n.2, p.22-30, abr./jun. 2011.MELLO, M. P. B.; BOTELHO, A. C. G. Correlação das escalas de avaliação utilizadas na Doença de Parkinson comaplicabilidade na fisioterapia. Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v.23, n.1, p.121-127, jan./mar. 2010.POMPEU, J.E.; GIMENES R. O.; PEREIRA R.P; ROCHA S.L; SANTOS M.A. Effects of aquatic physical therapy on balance andgait of patients with Parkinsonʻs disease. Journal of the Health Sciencis Institute, São Paulo, v.31, n.2, p.201-4, apr. 2013.SANTOS, T. B. et al. Facilitação neuromuscular proprioceptiva na Doença de Parkinson: Relato de eficácia terapêutica.Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v.25, n.2, p.281-289, abr./jun. 2012.SOUZA, C. A.; NASCIMENTO, P. L.; MORAES, A. L.; BRAGA, D. M. Abordagem da fisioterapia aquática na Doença deParkinson: Estudo de caso. Revista Neurociências, São Paulo, v.22, n.3, p.453-457, out. 2014.VAN DER KOLK, N. M.; KING, L. A. Effects of exercise on mobility in people with Parkinsonʼs Disease. Movement DisordersJournal, Milwaukee, v.28, n.11, p.1587-1596, out. 2013.
ZOTZ, T. G. G.; SOUZA, E. A.; ISRAEL, V. L.; LOUREIRO, A. P. C. Aquatic physical therapy for Parkinsonʼs Disease. Advancesin Parkinsonʼs Disease, v.2, n.4, p.102-107, aug. 2013.
CONDUTA DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NO CONTROLE DE GESTANTES PORTADORAS DE DIABETES MELLITUS:COMPREENDENDO GRAU E FATORES DE RISCO UMA REVISÃO INTEGRATIVA
1LETICIA VENTRAMELI DE ANDRADE, 2TOANE CAMILA LEME GOMES
1Acadêmica do Curso de Enfermagem UNIPAR1Docente do curso de Enfermagem da UNIPAR
Introdução: A Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) desenvolve-se durante o período gestacional e pode ou não persistir após oparto, isso pode acarretar problemas tanto para a mãe quando para o bebê (SOUSA, et al, 2016). Paciente que receber odiagnóstico de DMG deverá seguir uma dieta adequada, orientação, educação em saúde para adaptar-se a sua nova condiçãonaquele momento, sendo a consulta de enfermagem perante o pré-natal de suma importância tendo em vista buscar um históricodessa mulher, procedimentos como: aferição de pressão arterial, cálculo do índice de massa corporal, verificação dos níveis deaçúcar no sangue acompanhando essa gestante durante sua gestação evitando ou reduzindo possíveis complicações devidoessa patologia (KARSTEN, et al, 2016).Objetivo: Constatar a atuação do enfermeiro sobre as gestantes portadoras de Diabetes Mellitus, ressaltando os fatores de riscoa essa patologia.Desenvolvimento: A gestação é uma condição onde pode provocar uma hiperinsulinemia, que caracteriza uma resistência ounecessidade à insulina, sendo que em grávidas com essa deficiência nas ilhotas de Langherans sendo parcial ou completa, vistoque quando diagnosticada no período gestacional é intitulada de DMG (COSTA, et al, 2015). A gestante com DMG deverámudar seus hábitos alimentares, realizar exercícios físicos, uso de hipoglicemiantes orais e uso de insulina se necessário eseguir com acompanhamento com equipe multidisciplinar, sendo grupo familiar de suma importância dando apoio a essagestante (KARSTEN, et al, 2016). A secretaria do estado do Paraná, implantou em 2012 a Rede Mãe Paranaense, uma redematerno infantil, para dar suporte tanto a gestantes quanto aos seus bebês menores de um ano de idade, está rede conta comuma estratificação de risco e uma equipe multidisciplinar para melhor adequar essas gestantes a prestação de assistência,desde o seu pré-natal até puerpério, composta por cinco componentes, Atenção primaria, secundaria, terciaria, sistema logísticoe sistema de governança da rede (BRASIL, 2018). Dentre essa assistência destaca-se o acompanhamento do pré-natal dessagestante com uma equipe multiprofissional capacitada para atender necessidades de cada paciente e intercorrências quevenham a acontecer no percurso até seu puerpério (SCHMALFUSS, et al, 2014). O acompanhamento regular as consultasdesenvolvendo ações educativas a portadoras da mesma patologia visando autocuidado e autonomia, com uma assistência decaráter humanizado e com técnica de ensino e aprendizado no processo saúde-doença, contribuindo a adesão dessa paciente aotratamento, buscando um prognóstico que melhor enquadra-se a cada paciente levando em conta suas condições tanto sociaiscomo emocionais (SOUSA, et al, 2016).Conclusão: Tendo em vista os aspectos observados a inserção do profissional enfermeiro e sua equipe é de extremaimportância à gestante portadora de DMG, buscar um histórico dessa paciente, desde a primeira consulta ao pré-natal, aferiçãode pressão arterial, controle glicêmico para que essa gestante não venha a desenvolver mais complicações durante suagestação. O enfermeiro ele avalia, detecta, previne, identifica e trata o paciente, além das orientações feitas por ele aopaciente/família acalmando assim qualquer dúvida sobre essa nova fase de sua vida, diminuindo sua ansiedade sobre tratamentoe sua nova rotina diária, para não causar complicações à sua gestação e puerpério, sem causar sequelas ao seu organismo e aode seu bebê.
ReferênciasCOSTA, Rosiana Carvalho; CAMPOS, Márcia Oliveira Coelho; MARQUES, Lidia Audrey Rocha Valadas; NETO, Edilson MartinsRogrigues; FRANCO, Maria Celsa; DIÓGENES, Érika Sabóia Guerra. Diabetes gestacional assistida: perfil e conhecimento dasgestantes. Rev. saúde santa Maria, v. 41, n.1, p. 131 140, Santa Maria, 2015. KARSTEN, Lucia Ferreira; SOUZA, Deisi Luciene; VIEIRA, Mariana Ramos; SILVA, Jean Carl. Influência do diagnóstico dediabetes mellitus gestacional na qualidade de vida da gestante. Rev.Saúde e Pesquisa, v. 9, n. 1, p. 7 14, Maringá, 2016.MANÇU, Tatiane de Souza; ALMEIDA, Olivia Souza Castro. Knowledge and feelings of diabetic pregnant women aboutgestational diabetes mellitus and treatment. Rev. enfer. UFPE, v. 10, n. 3, p. 1474 1482, Recife, 2016.PARANÁ. Secretaria de estado da Saúde do Paraná. Linha guia Rede Mãe Paranaense. 7° ed. 2018.SCHMALFUSS, Joice Moreira; PRATES, Lisie Alende; SCHNEIDER, Melissa de Azevedo Vânia. Diabetes Mellitus gestacional eas implicações para o cuidado de enfermagem no pré-natal. Rev. Cogitare Enf. v. 19, n. 14, p. 815 822, Chapecó, 2014. SOUSA, Ana Maria da Silva; FIUZA, Daiane; MIKAMI, Fernanda Cristina Ferreira; ABRÃO, KAren Cristine; FRANCISCO,
Rossana Pulcineli Vieira; ZUGAIB, Marcelo. Evaluation of information retention and adherence to treatment in patients withgestational diabetes mellitus after multidisciplinary group. Rev. Assoc. Med.Bras. v. 62, n. 3, p. 212 217, São Paulo, 2016.
DESAFIOS DA PRODUÇÃO DE QUEIJO FRENTE A CONTAMINAÇÃO MICROBIOLOGICA
1GEISIELE GOMES DA SILVA, 2GLEICIANE SANTOS AGUIAR, 3ISABELA CARVALHO DOS SANTOS, 4JESSICA MANFRINDA SILVA, 5MARIA EDUARDA GRAEFF, 6LIDIANE NUNES BARBOSA
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmico do Curso de Nutricao da UNIPAR2Pós-Graduando, PPG em Ciência Animal,UNIPAR3Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Medicina Veterinaria da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O queijo é um alimento produzido a partir de diversos tipos de leite e tecnologias que possibilita o aprimoramento ea diversidade deste produto. Por ser considerado um alimento saudável, de boa aceitação e de alto valor biológico, o queijo é umcomponente relevante nos hábitos alimentares da população, e com isso seu consumo aumentou expressivamente nos últimosanos (GOUVEA; ROSENTHAL; FERREIRA, 2017). No entanto, os queijos são mais suscetíveis a contaminação microbiológica,devido ser um produto pronto para o consumo, não sendo submetido a nenhum tratamento posterior garantindo sua segurançaao consumidor. Deste modo, deve se prevenir e controlar a contaminação dos principais patógenos de queijo e os meios peloqual contaminam sua produção (REIJ & DEN AANTREKKER, 2004).Objetivo: Abordar os principais aspectos relacionados a contaminação microbiológica de queijos e os produtos que podem serusados em sua conservação.Desenvolvimento: O consumo de queijos contaminados, através do leite cru, manipuladores, utensílios e equipamentos, porbactérias patogênicas, principalmente, Listeria monocytogenes, Salmonella spp. e Staphylococcus aureus estão relacionadas àsdoenças transmitidas por alimentos (KOUSTA et al., 2010). O conhecimento e o monitoramento da contaminação microbiológicaé relevante para a indústria alimentícia, pois a existência desses patógenos acarreta na produção final perdas econômicas, nãoestando de acordo com as exigências legais, envolvendo a imagem da indústria, e consequentemente, aumentando os riscospara a saúde do consumidor (EFSA/ECDC, 2014). De acordo com Tayel et al. (2015), a contaminação do leite cru porStaphylococcus aureus é causada por uma infecção nos úberes das vacas com mastite estafilococia, elevando os riscos quandoo leite não pasteurizado é utilizado na fabricação dos queijos, visto que, Listeria monocytogenes, Salmonella spp. e Escherichiacoli O157:H7 são frequentemente associadas no âmbito da fazenda ou do processamento. Para minimizar a contaminação porestas bactérias é essencial a pasteurização do leite, período de maturação e temperatura de armazenamento adequado, aliadosa fatores intrínsecos como, atividade de água, pH e a influência de compostos antimicrobianos formados pelas bactérias lácticas.Além desses fatores, é necessário o controle higiênico sanitárias de todo o ambiente de produção (KOUSTA et al., 2010). Destaforma, além da pasteurização e outras alternativas tecnológicas para reduzir a contaminação dos queijos, alguns produtosnaturais como extratos vegetais e óleos essenciais comprovaram ser conservantes naturais eficientes com ação inibitória contraos microrganismos patogênicos e deteriorantes do queijo. Porém, mais estudos são necessários relacionando a segurança e asconcentrações utilizadas, a agregação de várias combinações diferentes de extratos e óleos essenciais e a qualidade dosmesmos, sendo de suma relevância o melhor aproveitamento para a indústria alimentar (GOUVEA; ROSENTHAL; FERREIRA,2017).Conclusão: Os aspectos citados no estudo, como não pasteurização do leite e as condições higiênicos sanitárias inadequadas,ligados aos fatores intrínsecos como o pH e atividade de água, favorecem a contaminação microbiológica na produção do queijo.Os produtos naturais adicionados aos queijos, apresentam potencial na sua conservação, no entanto, ainda depende de analisessensoriais, a fim de entender os possíveis impactos na aceitação do consumidor.
ReferênciasEFSA (EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY) AND ECDC (EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION ANDCONTROL). The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borneOutbreaks in 2012. EFSA Journal, v. 12, n. 2, p. 312, 2014. Disponível em:https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2014.3547. Acesso em: 07 Ago. 2019.GOUVEIA, F.S.; ROSENTHAL, A.; FERREIRA. E. H. R. Plant extract and essential oils added as antimicrobials to cheeses: areview. Ciência Rural, Santa Maria, v. 47, n. 08, jun. 2017.TAYEL, A. A. et al. Foodborne Pathogens Prevention and Sensory Attributes Enhancement in Processed Cheese via Flavoring
with Plant Extracts. Journal of Food Science, Boston, v. 80, n. 12, dez. 2015.REIY. M.W.; DEN AANTREKKER. E. D. Recontamination as a source of pathogens in processed foods. International Journal ofFood Microbiology, Amsterdam, v. 91, n. 1, p. 1 11, fev. 2004.KOUSTA, M. et al. Prevalence and sources of cheese contamination with pathogens at farm and processing levels. FoodControl, Oxford, v. 21, n. 6, p. 805-815, jun. 2010.
OPÇÕES DE TRATAMENTO PARA CORREÇÃO DE SORRISO GENGIVAL
1AMANDA LIDIA DECOSIMO, 2ELOISE COSTA CORDEIRO, 3EDUARDO AUGUSTO PFAU
1Acadêmica do curso de Odontologia - Bolsista PIBIC/UNIPAR1Acadêmica do curso de Odontologia - Bolsista PIBIC/UNIPAR2Docente do curso de Odontologia - UNIPAR
Introdução: A estética vem tomando grandes proporções e está se tornando cada vez mais essencial para o aumento da autoestima da sociedadeatual, isso porque o sorriso exerce um papel fundamental na harmonia facial e expressa inúmeras sensações. O padrão de beleza cada dia maisexigente e estereotipado tem feito com que crescentemente pacientes busquem por tratamentos odontológicos estético com intuito de melhorar aaparência. O conceito de sorriso ideal esteticamente agradável ocorre quando há equilíbrio nos seus elementos formadores, como lábios, gengivas edentes, estes dispostos numa localização e proporção adequadas. O excesso de gengiva a mostra, comumente descrita como \"sorriso gengival\",pode influenciar no relacionamento social (ARAÚJO e BARROS, 2018; KITAYAMA, 2016).Objetivo: avaliar através da pesquisa clínica, opções de tratamento para correção do sorriso gengival, correlacionando-as com o tempo decicatrização necessário para que ocorra a estabilização da posição gengival marginal pós-operatória. Material e métodos: Essa pesquisa ocorreu na Clínica Odontológica da Universidade Paranaense, UNIPAR, campus sede, entre o ano de 2017 e2019. Participaram de forma voluntária, 24 mulheres com a faixa etária entre 17 e 35 anos, todas apresentaram condições clínicas de saúdeperiodontal e queixa de sorriso gengival, além de fenótipo periodontal considerado espesso e festonado. Para classificar o fenótipo foi utilizada ométodo da visualização da sonda periodontal utilizado no trabalho de Holzhausen et al (2019). Após serem informadas sobre a pesquisa, as queconcordaram participar receberam e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética dessa Instituição deacordo com a Resolução 466/12, com parecer sob o número 34973. Todas pacientes foram avaliadas clinicamente e radiograficamente e de acordocom a identificação da causa do sorriso gengival e de características fenotípicas a cada paciente foi indicado uma opção de técnica cirúrgica. A partirdeste levantamento pode ser formado 4 grupos com diferentes formas cirúrgicas de abordagem. Sendo eles: Grupo A- técnica de gengivectomia combisturi eletrônico e sem necessidade de osteotomia; Grupo B- técnica de cirurgia bisel interno e osteotomia de 2 milímetros realizada com instrumentalmanual (microcinzéis), sem rebatimento do retalho sendo realizada pela técnica Flapless; Grupo C- técnica de cirurgia bisel interno, rebatimento deretalho total e osteotomia de 2 milímetros realizada com instrumental rotatório (pontas diamantadas); Grupo D- técnica de cirurgia bisel interno eosteotomia de 2 milímetros realizada com instrumental piezoelétrico, sem rebatimento do retalho sendo realizada pela técnica Flapless. Resultados: De acordo com os resultados obtidos pode-se observar que o tempo de cicatrização para estabilização da margem gengival foi igualpara todos o grupos avaliados, sendo observado a estabilização da margem gengival após 3 meses da cirurgia. Com relação às técnicas cirúrgicasempregadas pode-se observar que elas não interferem no tempo de cicatrização, entretanto a técnica usado no grupo D foi a que apresentou maiorquantidade de dentes com alteração de margem gengival pós operatória. As demais técnicas apresentaram modificações de posicionamentogengival, porém de forma menos significativa quando relacionadas ao grupo D e A. De um total de 144 dentes operados apenas 34 dentes (23%)apresentaram alguma alteração da margem gengival no período pós-operatório. Essa alteração foi mais observada nos primeiros 3 meses póscirurgia e depois disso se manteve estável até 12 meses pós operatória. Discussão: Segundo Zangrando et al (2017) o sorriso gengival tem sido considerado um problema estético, e pode ser causado por vários fatores,tais como: crescimento vertical maxilar, extrusão dentoalveolar anterior, lábio superior curto, hiperatividade labial superior, erupção passiva alterada,hiperplasia gengival e/ou uma combinação destes fatores. Pilalas et al (2016) afirmaram também que além do biotipo periodontal, existem outrosfatores que influenciam na cicatrização do tecido gengival como o posicionamento do retalho e a osteotomia. Quando há necessidade de umaressecção óssea, seja ela manual ou com o ultrassom Piezoelétrico, retardará a cicatrização gengival. Nos casos de rebatimento de retalho eosteotomia com broca, a cicatrização será relativamente mais demorada. Existem várias formas de tratamento para o sorriso gengival, entretantocada uma delas está diretamente relacionada à identificação do motivo pelo qual esse problema estético se originou (OLIVEIRA e ROCHA, 2015). Conclusão: De acordo com os resultados observados nos grupos pertencentes a este estudo pode se notar que as técnicas destinadas a correçãodo sorriso gengival são efetivas para alterar o tamanho das coroas clínicas dentais e que o padrão de cicatrização do periodonto durante o período deacompanhamento realizado foi semelhante independente da técnica cirúrgica empregada. Assim com relação ao posicionamento da margem gengivaldos dentes operados parece que está se estabiliza até três meses pós operatório.
ReferênciasARAÚJO, Ana Karla Conceição; BARROS, Tony Kennedy Mendonça. Sorriso gengival: Etiologia, diagnóstico e tratamento por intermédio degengivectomia e gengivoplastia. 2018. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Odontologia) - Centro Universitário São Lucas. Disponívelem: http://encurtador.com.br/nDFJ5. Acesso em: 21 jul. 2019. HOLZHAUSEN, Marinella et al. Sistema de classificação das doenças e condiçõesperiodontais. São Paulo:Faculdade de Odontologia da USP, 2019. Disponível em:http://repositorio.fo.usp.br:8013/jspui/bitstream/fousp/43/2/E_book%20Holzhausen%20et%20al%202019.pdf. Acesso em: 02 ago. 2019.KITAYAMA, Suemy Simplício. Diagnóstico e tratamento do sorriso gengival. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do RioGrande do Norte, 2016. Disponível em:https://monografias.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/4814/1/%5b2016.2%5d%20Diagnóstico%20e%20tratamento%20do%20sorriso%20gengival.PDF.Acesso em: 26 jul. 2019.OLIVEIRA, Alexandre Cardoso de; ROCHA, Bruno Gonzaga. Correção do sorriso gengival. 2015. Monografia (Bacharelado em Odontologia) -Faculdade de Pindamonhagaba - FUNVIC, 2015. Disponível em: http://177.107.89.34:8080/jspui/bitstream/123456789/381/1/OliveiraRocha.pdf.Acesso em: 23 jun. 2019. PILALAS, Ioannis; TSALIKIS, Lazaros; TATAKIS, Dimitris N. Pre‐restorative crown lengthening surgery outcomes: a systematic review. Journal ofclinical periodontology, v. 43, n. 12, p. 1094-1108, 2016. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcpe.12617. Acesso em: 22jul. 2019.
ZANGRANDO, Mariana S. Ragghianti et al. Altered active and passive eruption: a modified classification. Clinical Advances in Periodontics, v. 7, n.1, p. 51-56, 2017. DOI: https://doi.org/10.1902/cap.2016.160025. Disponível em:https://aap.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1902/cap.2016.160025. Acesso em: 24 jul. 2019.
A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO FRENTE ÀS INTERCORRÊNCIAS DURANTE A HEMODIÁLISE
1RAFAELLA GUEDES DE LIVIO NAVES, 2TANIARA EMANUELLE BERNARDI, 3MICHELI YURI OSHIAMA KIMURA, 4ALINESAYURI MORITA, 5SUELY BALEEIRO DA SILVA CAMOSSATO, 6ANDRESSA PAOLA DE OLIVEIRA Q MARTINS
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Dados apontam que no Brasil, há cerca de 100.400 pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica (IRC) emtratamento, sendo que mais de 60% tem idade entre 19 e 64 anos (SOUSA et al. 2018). Esta doença é caracterizada pela percairreversível da atividade renal de forma gradual e progressiva, e apresenta como principais causas a diabetes do tipo 1 ou 2,hipertensão arterial sistêmica, obesidade, histórico familiar de IRC e tabagismo (BRASIL, 2019). Pivatto e Abreu (2010) afirmamque, dentre as causas mais comuns, pode-se ainda citar as ocasionadas por infeções e obstruções do trato urinário, medicaçõese agentes nefrotóxicos. À medida que a insuficiência renal avança, os pacientes podem apresentar sintomas que modificam suavida. Nas fases mais avançadas, o seu impacto sobre o estado funcional e a qualidade de vida torna-se bastante notável.Visando minimizar esses impactos, a principal forma de tratamento, é o tratamento renal substitutivo, a hemodiálise, porém, esteprocedimento não substitui 100% da função renal (LOPES et al. 2014). Objetivo: Descrever as principais intercorrências observadas durante o tratamento renal substitutivo e o papel do enfermeirofrente a elas. Desenvolvimento: A hemodiálise se caracteriza pela simulação da atividade fisiológica renal utilizando de mecanismos para oprocesso de filtração e limpeza do sangue, retirando substâncias, como creatinina e ureia indesejáveis para o organismohumano, que o paciente portador da insuficiência renal é incapaz de eliminar da corrente sanguínea (FERREIRA, 2014). Assim, opaciente é conectado a uma máquina especifica, através de fistula arteriovenosa ou cateter, permanecendo de 3 a 4 horas, emmédia, e no mínimo 3 vezes na semana. Tendo em vista o tempo que o paciente se encontra em tratamento, o enfermeiro temum papel imprescindível referentes às intervenções, pois é o profissional que esta a frente do planejamento e execução decuidados diretos com o paciente. As principais intercorrências encontradas durante o procedimento de hemodiálise de acordocom Coitinho et al. (2015) são a hipotensão na maioria das diálises, seguida de cãibras, náuseas e vômitos, cefaleia, dortorácica, dor lombar, febre e calafrios. A atuação do enfermeiro diante destas complicações vai desde a monitorização dopaciente, a detecção do foco dos problemas até a rápida intervenção, sendo essencial para a garantia de um procedimentoseguro e eficiente para o paciente. Como o enfermeiro é o profissional que assiste mais de perto o paciente nas sessões dehemodiálise, ele deve estar apto a prontamente intervir e assim evitar outras potenciais complicações (FERREIRA, 2014). Conclusão: A presente revisão revelou que o enfermeiro e sua equipe assumem papel imprescindível e privilegiada, pois é acategoria que acompanha por maior tempo o paciente durante as sessões de hemodiálise, o que favorece ao enfermeiroconhece-lo, observa-lo e a possibilidade de detectar precocemente alterações para assim evitar possíveis intercorrências,permite também ao enfermeiro orientar o paciente quanto a dieta, ao cuidado quanto a fistula e/ou cateter, a integridade da pele,e a realização de atividade física leve, tendo como base o Diagnóstico de Enfermagem da Nanda I para auxiliar nas intervençõesa serem tomadas pelo profissional enfermeiro para uma melhor qualidade de vida do paciente renal crônico.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Doenças renais: causas, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção. Brasília.(DF); 2019.Disponível em: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/doencas-renais Acesso em: 13 ago. 2019. FERREIRA, Alexandre Frederico Andrade Ferreira. O papel do enfermeiro na assistência de enfermagem ao paciente emtratamento hemodialítico: revisão de literatura. Orientadora: Ana Márcia Tenório Cavalcanti. 2014. Monografia (Pós graduaçãoem Nefrologia) - Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa, Recife, 2014.LOPES, Jéssica Maria; FUKUSHIMA, Raiana Lidice Mor; INOUYE, Keika; PAVARINI, Sofia Cristina Lost; ORLANDI, FabianaSouza. Qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes renais crônicos em diálise. Acta Paul. S., São Paulo, v. 27, n. 3, p.230-236, jun. 2014. PIVATTO, Daiane Roberta; ABREU, Isabella Schroeder. Principais causas de hospitalização de pacientes em hemodiálise no
município de Guarapuava, Paraná, Brasil. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 31, n. 3, p. 515-520, set. 2010. SOUZA, Francy Bruna Nascimento; PEREIRA, Wellison Amorim; MOTTA, Elizângela Araújo Pestana. Pacientes cominsuficiência renal crônica em hemodiálise: tratamento e diagnóstico. Investig Biomed. São Luis, v. 10, n. 2, p. 2003-213, 2018.COITINHO, Daiana; BENETTI, Eliane Raquel Rieth; UBESSI, Liamara Denise; BARBOSA, Dulce Aparecida; KIRCHNER, RosaneMaria; GUIDO, Laura Azevedo; STUMM, Eniva Miladi Fernandes Intercorrências em hemodiálise e avaliação da saúde depacientes renais crônicos. Av. Enferm. Rio Grande do Sul, v. 33, n. 3. p. 362-371. Out, 2015.
PERFIL FITOQUÍMICO DE Echinodorus Grandiflorus
1MARIANA DALMAGRO, 2CARLA INDIANARA BONETTI, 3PAULO SERGIO DANIEL, 4EMERSON LUIZ BOTELHOLOURENCO
1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR1Pós Graduanda - UEM2Professor assistente, UNIPAR/TOLEDO3Docente da UNIPAR
Introdução: O uso de plantas com a finalidade terapêutica vem desde as antigas civilizações. Porém, com o desenvolvimentocientífico e tecnológico, foi possível realizar o estudo e a caracterização fitoquímica de plantas medicinais (SANTOS et al., 2016).Os métodos extrativos para obtenção de metabólitos secundários incluem maceração, infusão, percolação, decocção, extraçãocontínua quente (Soxhlet)...(OLIVEIRA et al., 2016).O menor rendimento das extrações a quente pode ser devido a muitassubstancias serem termolábeis e outras podem sofrer modificações estruturais irreversíveis em altas temperaturas (TIWARI et al.,2011).Objetivo: Determinar o perfil fitoquímico e os métodos extrativos de Echinodorus grandiflorus.Materiais e métodos: As análises para a determinação do perfil fitoquímico foram baseadas na metodologia descrita porSimões, 2009, com alterações. Os testes fitoquímicos foram realizados por meio de análise qualitativa simples a partir de extratohidroalcoólico obtido por maceração. Para flavonóides totais foi utilizado o método espectrométrico Woisky e Salatino(1998).Taninos: O teste se deu por meio da formação de precipitado colorido quando adicionado FeCl3, onde a cor azuldeterminou a presença de taninos hidrolisáveis ou gálico e a cor verde, taninos condensados ou catéquico. Alcaloides: Adetecção de alcaloides deu-se por meio dos reativos gerais de alcaloides (RGA): Bertrand, Bouchardat, Dragendorff e Mayer.Flavonoides: Na presença dos compostos de Mg metálico e HCl observou-se o aparecimento de coloração rósea a vermelha.Antraquinonas: Após a separação das fases, observou-se a presença de uma camada rósea ou vermelha, e a etérea incolor.Saponinas: A formação de espuma por mais de 15 minutos. Esteroides/Triterpenos: Na presença de anidrido acético e ácidosulfúrico, observou-se a coloração azul ou verde e lilás, púrpura ou castanha-avermelhada. Métodos extrativos: Seguindo ametodologia de Oliveira et al. (2016), para os cinco métodos extrativos propostos foi utilizado a mesma proporção da drogavegetal com o solvente extrator a qual foi de 10 g para 100,00 mL. Foram utilizados dois solventes diferentes nas extrações,etanol 90% e o hidroalcoólico 70% e todos os extratos vegetais foram filtrados e concentrados em rota-evaporador. Turbólise: Oextrato bruto foi preparado utilizando equipamento liquidificador (Britânia) por um período de 10 minutos a 4000 rpm emtemperatura ambiente.Maceração: Preparado utilizando frascos ambares fechados hermeticamente por um período de 7 diassem iluminação agitando-se uma vez ao dia. Decocção: Utilizou-se frascos ambares em banho-maria a 90°C por um período de15 minutos. Infusão: Os solventes foram levados até a temperatura de ebulição, e, após este processo, foram vertidos em frascosâmbares que continham o material vegetal e tampados por 30 minutos. Soxhlet: Foi observado a limpidez do solvente extrator.Determinação do resíduo seco: 1,00 mL de cada extrato foi medido e transferido para cápsulas de porcelana, previamentetaradas. As cápsulas foram colocadas em estufa sob temperatura de 105 °C, até a secura e peso constante. Foram novamentepesadas e calculados o teor de sólidos em 10 g da droga vegetal e o desvio padrão. Os resultados foram submetidos à análisede variância (ANOVA) e as diferenças significativas entre as médias (p≤0,05) determinadas pelo teste de Scott-Knott com auxíliodo software SISVAR DEX UFLA.Resultados: O extrato hidroalcoólico das folhas de Echinodorus grandiflorus demonstraram a presença de compostosorgânicos. A partir de folhas secas trituradas foi realizado um extrato hidroalcoólico de Echinodorus grandiflorus, foram obtidosresultados positivos para taninos, saponinas, flavonoides e alcaloides. Referente aos métodos extrativos, estatisticamentemaceração na proporção 1:5 demonstrou melhor resultado com solvente etanólico a 90% e solvente hidroalcoólico a 70%. Issose deve a uma maior proporção de extrato e uma menor quantidade de solvente comparado aos outros métodos deextração. Levando em consideração ambos os solventes utilizados na extração, observa-se que o solvente hidroalcoólico a 70%possui melhor rendimento em praticamente todos os métodos extrativos, exceto maceração 1:10 e 1:5. Discussão: Brito (2014) em uma análise fitoquímica utilizou extrato hidroalcoólico das folhas de Echinodorus grandiflorus edetectou a presença de taninos, flavonas, xantonas, chalconas, auronas, saponinas e alcaloides. A extração tem como objetivo aretirada de constituintes a partir de uma matéria prima natural, sendo realizada constantemente com solventes líquidos (SIMÕESet al., 2017).Conclusão: A realização dos testes fitoquímicos confirmaram a presença de metabólitos secundários, os quais podem estar
correlacionados com ações farmacológicas descritas em literatura e desta forma, mostram que o método realizado é de extremaimportância como revelador de controle de ativos desta espécie medicinal para fins de controle de qualidade. Na análise dosmétodos extrativos, observa-se que o mesmo influencia diretamente nos rendimentos dos extratos e que, o solvente tambéminfluencia no conteúdo final da extração.
ReferênciasBRITO, V. R. Controle de qualidade de amostras da espécie Echinodorus macrophyllus comercializadas no munícipio dePalmas TO. 2014. 40 f. Monografia (Ciências Farmacêuticas) - Centro Universitário Luterano de Palmas, Palmas, 2014.OLIVEIRA, V. B. et al. Efeito de diferentes técnicas extrativas no rendimento, atividade antioxidante, doseamentos totais e noperfil por clae-dad de dicksonia sellowiana (presl.). Hook, dicksoniaceae. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.18, n.1, p.230-239, 2016.SANTOS, L. T. M. et al. Plantas medicinais com ação antiparasitária: conhecimento tradicional na etnia Kantaruré, aldeia Baixadas Pedras, Bahia, Brasil. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.18, n.1, p.240-241, 2016.SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia do produto natural ao medicamento. Ed. Artemed, Porto Alegre, 2017.SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA. 2009. Disponível em: . Acesso em: 26 de Jul. 2019.TIWARI, P. et al. Phytochemical screening and Extraction: A Review. Internationale Pharmaceutica Sciencia, v.1, n.1, p.98-106, 2011.WOISKY, R. G.; salatino, g. Analysis of propolis: some parameters and prodecodures for chemical quality control. Journal ofApicultural Research. v. 37, n. 2, p. 99-105, 1998.
EFEITOS ADVERSOS DA QUIMIOTERAPIA EM PACIENTES COM CÂNCER
1MARIANA DALMAGRO, 2CRISLAINE MARTINS DA LUZ, 3JHENEFER MARTINS FERREIRA, 4JANICE LEITE DE SOUZA,5DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O câncer é um termo genérico que se refere a um grande grupo de doenças, cuja definição científica remete aotermo neoplasia e tumores malignos, ocorrendo crescimento anormal e desordenado de células, as quais invadem os tecidos eórgãos, sendo capaz de espalhar-se para outras regiões do corpo, processo designado como metástase (SILVA; COMARELLA,2013). Certos tipos de quimioterapias podem ocasionar efeitos secundários como ardor, formigamento, lesões na boca, dor decabeça, nas mãos, pés, músculos e órgãos, como o estômago, podendo ser causados tanto pelo tratamento quimioterápicoquanto pela doença (MATOSO; ROSÁRIO, 2014).Objetivo: Realizar uma abordagem dos principais efeitos adversos da quimioterapia antineoplásica na qualidade de vida depacientes com câncer.Desenvolvimento: A quimioterapia antineoplásica convencional é a escolha mais constante e se fundamenta no emprego desubstâncias químicas (agentes citotóxicos), podendo ser isoladas ou em combinação (poliquimioterapia), com a finalidade detratar neoplasias malignas (SILVA; COMARELLA, 2013). Todavia, ainda que essas drogas sejam desenvolvidas para cessar ascélulas tumorais, elas agridem também os tecidos normais com intensa proliferação, devido não possuírem especificidade,ocasionando vários efeitos colaterais e comprometendo assim, a qualidade de vida dos pacientes (PÚBLIO; SILVA; VIANA,2014). A depender do protocolo quimioterápico estabelecido, diversos efeitos colaterais relacionados aos sistemas hematológico,cardíaco, pulmonar, gastrintestinal, neurológico, vesical e renal, dermatológico e hepático, além de disfunção reprodutiva,metabólica, reações alérgicas e anafiláticas podem surgir (CRUZ et al., 2015). Além dos efeitos sistêmicos, a quimioterapia podeacarretar diversas alterações cognitivas nos pacientes. Essas funções são compostas por memória, raciocínio, atenção,aprendizado, imaginação, linguagem, cálculo e habilidades, sendo essenciais na relação do indivíduo consigo e com o meio emque ele vive (UNTURA; REZENDE, 2012).Conclusão: Pode-se perceber uma grande influência do tratamento quimioterápico acerca dos pacientes oncológicos. Ressalva-se a importância de acompanhamento multidisciplinar antes, durante e após o tratamento a fim de minimizar esses efeitosindesejáveis.
ReferênciasCRUZ, F. O. A. M. et al. Conhecimento de pacientes acerca da quimioterapia antineoplásica. Revista Eletrônica Gestão &Saúde, Brasília, v. 6, n. 3, p. 2623-38, jun. 2015.MATOSO, L. M. L.; ROSÁRIO, S. S. D. Efeito colateral da quimioterapia e o papel da enfermagem. C&D-Revista Eletrônica daFainor, Vitória da Conquista, v. 7, n. 2, p. 42-57, jul./dez. 2014.PÚBLIO, G. B.; SILVA, L. O.; VIANA, G. F. S. Qualidade de vida de pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia. C&D-Revista Eletrônica da Fainor, Vitória da Conquista, v. 7, n. 2, p. 244-257, jul./dez. 2014. SILVA, F. C. M.; COMARELLA, L. Efeitos adversos associados à quimioterapia antineoplásica: Levantamento realizado compacientes de um hospital do estado do Paraná. Revista UNIANDRADE, Curitiba, v. 14, n. 3, p. 263-277, jul./set. 2013.UNTURA, L. P.; REZENDE, L.F. A função cognitiva em pacientes submetidos à quimioterapia: uma revisão integrativa. RevistaBrasileira de Cancerologia, Rio de Janeiro, v. 58, n. 2, p. 257-265, abr./jun. 2012.
FISIOTERAPIA AQUÁTICA NO CUIDADO DO NEONATO PREMATURO
1NICOLY EDUARDA NIEDERMAYER MARTELO, 2ADRIAN FERNANDES DA SILVA NOVAIS, 3MARIA VITORIA SCHOLZ,4NATANI GRAZIELA GRABNER, 5DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Diante das complicações do zelo com os neonatos prematuros em ambientes de cuidados intensivos há umaimediata urgência do uso de artifícios e ações terapêuticas, elencadas no auxílio humanizado, a fim de diminuir o choque nocivodos bebês (CUNHA; CAROMANO, 2003). Assim sendo, o profissional da fisioterapia, junto com uma equipe multiprofissional ecom as instruções passadas aos pais, ajudam na recuperação do bebê, acatando o limite do mesmo, e fazendo-o adquirirliberdade com as atividades do desenvolvimento humano (SILVA, 2017). Ao abordar a fisioterapia aquática exclusivamente pararecém-nascidos prematuros, Souza (2002) descreve que a técnica é realizada, sobretudo, para promover o relaxamento eanalgesia dos bebês, empregando táticas que simulam o ambiente do útero da mãe.Objetivo: Descrever sobre a técnica da fisioterapia aquática e seus benefícios no tratamento de neonatos.Desenvolvimento: Prematuros são aqueles provindos anteriormente as 37 semanas de gravidez, geralmente com o agravantedo baixo peso ao nascer. Diversas causas levam ao nascimento prematuro, como a alteração defeituosa uterina, o uso detabaco, situação socioeconômica precária, rompimento prévio da bolsa, além de várias gestações, implicando em um sistemamusculoesquelético com diminuição do tônus muscular e força, com a contração voluntária prejudicada (SILVA, 2017). Afisioterapia aquática se refere às atividades executadas em meio hídrico, com instrução total e exclusiva do profissional dafisioterapia. As ações fisiológicas produzidas ocorrem logo após a imersão, sendo alusivas às particularidades físicas da água,como a tensão hidrostática, a capacidade de flutuar, a viscosidade e as reações ao aquecimento A técnica é aplicada em recém-nascidos com mais de 72 horas de vida, e sem nenhuma instabilidade clínica. O tempo das sessões é sempre em torno de 10minutos, evitando gerar fadigas. A água é sempre aquecida entre 36° a 37,5° C, para que o bebê fique tranquilo e aproveite osbenefícios promovidos (VIGNOCHI; TEIXEIRA; NADER, 2010). Cunha e Caromano (2003) afirmam que, ainda que a formaaluda, conhecida como banho de ofurô , promove o efeito da potência de empuxo da água para alavancar movimentosvoluntários, de propriocepção, movimentação das articulações, arranjo da postura e alongamento da musculatura. Considera-seque essas ações dos efeitos fisiológicos da fisioterapia aquática promovam redução de quadros álgicos, maior mobilidade erelaxamento corporal, com melhora considerável inclusive do sono, o que incita um desenvolvimento sensório motor maisprecoce e satisfatório (CARREGARO; TOLEDO, 2008; CUNHA; CAROMANO, 2003).Conclusão: Pode-se concluir que a fisioterapia aquática para neonatos é realizada para minimizar alterações fisiológicas e doressofridas durante a internação causadas pelo nascimento prematuro. A técnica busca melhorar o sono, a algia e o relaxamentocorporal, propiciando um desenvolvimento motor mais próximo a normalidade.
ReferênciasCARREGARO, R.L.; TOLEDO, A.M. Efeitos fisiológicos e evidências científicas da eficácia da Fisioterapia aquática. RevistaMovimenta, Goiânia, v. 1, n. 1, p. 23-27, jan. 2008.CUNHA, M.G.; CAROMANO, F.A. Efeitos fisiológicos da imersão e sua relação com a privação sensorial e o relaxamento emhidroterapia. Revista Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 95-103, mai./ago. 2003.VIGNOCHI, C.; TEIXEIRA, P.P.; NADER, S.S. Efeitos da fisioterapia aquática na dor e no estado de sono e vigília de recém-nascidos pré-termo estáveis internados em unidade de terapia intensiva neonatal. Revista Brasileira de Fisioterapia, SãoCarlos, v. 14, n.3, p. 214-220, mai./jun. 2010.SILVA, C.C.V. Atuação da fisioterapia através da estimulação precoce em bebês prematuros. Revista Eletrônica AtualizaSaúde, Salvador, v. 5, n. 5, p. 29-36, jan./jun. 2017.SOUZA, E.L.L. Fisioterapia aplicada à obstetrícia: Aspectos de ginecologia e neonatologia. 3 ed. Rio de Janeiro: Medsi,2002.
CUIDADOS INTEGRAIS DE ENFERMAGEM A PACIENTES IDOSOS COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
1JULIANA FUENTES ALVES, 2BARBARA ANDREO DOS SANTOS LIBERATI
1Acadêmica do curso de enfermagem UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: Sabe-se que o acidente vascular encefálico (AVE) é uma condição frequente, é a principal doença que causaincapacidade no mundo e a que mais causa mortes no Brasil (SBDCV, 2019). A doença ocorre quando o sangue que supre asnecessidades do cérebro é interrompido ou reduzido, deixando as cédulas com insuficiência de oxigênio e de nutrientes, ouquando um vaso sanguíneo se rompe, causando uma hemorragia cerebral. O AVE pode ocorrer em qualquer idade, porém émais comum em indivíduos acima de 65 anos. O processo de envelhecimento ao longo dos tempos vem se acelerando,aumentando a vulnerabilidade e as taxas de morbimortalidade por diferentes doenças, o que aumenta significativamente oscuidados com a saúde dos idosos Moraes et al, 2012. Diante disso, cabe ao enfermeiro planejar os cuidados específicos do idosocom AVE, exigindo para isso conhecimento sobre vários aspectos relacionados a doença (MORAES et al, 2012).Objetivo: Descrever a importância do atendimento integral do profissional enfermeiro ao idoso com acidente vascular encefálico. Desenvolvimento: Trata-se de uma revisão da literatura. Os dados foram obtidos em meio eletrônico, disponíveis na integra, noperíodo de junho a julho de 2019. Identificou-se nos artigos selecionados que o enfermeiro tem como principalresponsabilidade planejar os cuidados de pacientes com AVE, visando a melhoria, recuperação e/ou reabilitação destes. Oacompanhamento do enfermeiro de acordo com Lima et al. (2016), demonstra uma extrema importância na realização dodiagnostico de idosos com AVE, tornando o papel do enfermeiro imprescindível para o atendimento e tratamento destespacientes, porém esses profissionais devem ser capacitados, a fim de, oferecer um atendimento integral, especializado, dequalidade e continuo. O idoso com AVE requer um cuidado intensivo para uma possível recuperação das suas capacidades, econsequente melhoria da qualidade de vida. O enfermeiro deve gerenciar as atividades realizadas a esses idosos, tanto emorganização de visitas quanto em cuidados físicos, incluindo liderança e mantendo a necessidade do paciente com AVE emprimeiro lugar. Segundo Faro (2006), a reabilitação engloba várias técnicas e ações, que devem ser realizadaspelos enfermeiros, com o objetivo de melhorar as funções deficientes ou perdidas, que para a maioria dos idosos, essareabilitação preserva a vontade de viver a cada dia. O processo de reabilitação é difícil e longo, e que envolve vários aspectos,sejam eles psicossócio-espirituais, econômicos, culturais e fisiológicos, onde muitas vezes, essa reabilitação se torna um grandedesafio para o paciente como para o enfermeiro. Desta forma, o enfermeiro envolvido no tratamento e reabilitação do idoso comAVE deve ser capacitado, a fim de, melhorar a qualidade dos procedimentos realizados e ações que envolvem a melhoria daqualidade de vida deste paciente. Conclusão: Com o desenvolvimento deste estudo foi possível destacar a importância do enfermeiro no cuidado integral do idosocom AVE. O enfermeiro dentre o processo de enfermagem, observa, avalia, identifica e trata o paciente, além de, ter aresponsabilidade de manter a instrução e treinamento adequados, do familiar e/ou responsável, na realização de procedimentospara um bom tratamento e continuidade do cuidado.
ReferênciasFARO, A.C. Enfermagem em Reabilitação: ampliando os horizontes, legitimando o saber. Revista da Escola de Enfermagemda USP. v. 40, n. 1, p. 128-133, 2006.LIMA, A.C.M.A.C.C.; SILVA, A.L.; GUERRA, D.R.; BARBOSA, I.V.; BEZERRA, K.C.; ORIÁ, M.O.B. Nursing diagnoses in patientswith cerebral vascular accident: an integrative review. Revista Brasileira de Enfermagem. v. 69, n. 4, p. 738-745, 2016. MORAIS, H.C.C.; HOLANDA, G.F.; OLIVEIRA, A.R.S.; COSTA, A.G.S.; XIMENES, C.M.B.; ARAUJO, T.L. Identificação dodiagnóstico de enfermagem risco de quedas em idosos com acidente vascular cerebral . Revista Gaúcha de Enfermagem. v.33, n. 2, p. 117-124, 2012.
DEPRESSÃO RELACIONADA AO PARKINSON: ATENDIMENTO TERAPÊUTICO DE ENFERMAGEM
1JULIANA FUENTES ALVES, 2ALINE SAYURI MORITA, 3ANDREIA FUENTES DOS SANTOS, 4BARBARA ANDREO DOSSANTOS LIBERATI
1Academica do curso de enfermagem UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Doutorado Em Ciencia Animal Com Enfase Em Produtos Bioativos da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: A depressão é uma doença crônica que produz alteração do humor caracterizado por tristeza profunda e fortesentimento de desesperança, sendo um quadro muito frequente e comum em pessoas com doença de Parkinson (DP). E se nãotratada de forma adequada pode dificultar e regredir o tratamento e alívio dos sintomas. Segundo Mattos e Azevedo Filho (2014),o enfermeiro deve exercer seu papel com um olhar minucioso, onde oferece um atendimento voltado ao envelhecimentosaudável, assegurando todas as necessidades do idoso e preservando a sua saúde física, mental, intelectual e espiritual com ummelhor desenvolvimento de suas condições de autonomia e dignidade. Objetivo: Demonstrar a importância do enfermeiro frente ao atendimento terapêutico de idosos portadores de Parkinson comdepressão.Desenvolvimento: A depressão de acordo com Argimon et al. (2016), é um problema comum em idosos, que acabam não sendodiagnosticados pelos profissionais de saúde, pois os sintomas podem não ser claramente expressados pelos idosos. Christofolettiet al. (2012) relatam que a depressão pode estar associada a um declínio motor na DP, geradando escores insuficientes narealização das atividades básicas da vida diária (ABVDs), e enfatiza a importância de tratar as variáveis neuropsiquiátricas comuma abordagem que promova uma melhora na qualidade de vida do paciente. No que tange à saúde da pessoa idosa, oPrograma Nacional de Atenção ao Idoso (PNAI), assim como as outras políticas de saúde, preconiza ações com foco na saúdedessa população, com destaque para o eixo da promoção de um envelhecimento saudável e prevenção de doenças, e dessemodo, compete à equipe de saúde, disponibilizar apoio ao indivíduo com DP sempre que necessário, ofertando as possibilidadesde tratamento que auxiliem na melhora dos sintomas da doença e a manutenção da independência e da autonomia, cabendo àenfermagem exercer ações que incluem atenção ao paciente e à família, e assim, favorecer o acompanhamento, planejamento,intervenções e suporte familiar constante na sua recuperação (KUSTER et al., 2014). Diante da dificuldade dos idosos com DP, Mattos e Azevedo Filho (2014) afirmam que com a evolução para a uma depressão, muitos familiares ou responsáveis deixamde ter a capacidade adequada para os cuidados e manutenção das necessidades dessa patologia, levando-os a procurarestabelecimentos especializados para a função como as instituições de longa permanência para idosos, que oferecem umatendimento integral com uma equipe multidisciplinar para atender o paciente de forma holística, no entanto, a mudança deambiente pode agravar o quadro exigindo da Enfermagem um planejamento individualizado e introduzindo a arte do cuidar deforma criativa, com táticas e atividades no combate à depressão, ajudando o idoso a entender e aceitar o processo desenescência, proporcionando- lhe confiança de vivenciar uma nova fase de vida com reintegração social. Pensando então nessespacientes, a equipe de enfermagem como forma de intervenção amplia as ações de tratamento e reabilitação dos idososparkinsonianos depressivos, utilizando métodos de terapias ocupacionais, desde a realização terapêutica como os cuidadosfísicos onde o profissional auxilia na prática de atividades, estabelecendo funções e responsabilidade para o auxilio de se sentirútil preservando, principalmente, as necessidades fisiológicas e psicológicas do idoso.Conclusão: A depressão é uma doença muito comum em idosos com Parkinson, e este estudo demonstra que apesar dostratamentos atuais serem apenas sintomáticos e paliativos, a Enfermagem desempenha um papel de suma importância eresponsabilidade na recuperação e promoção da saúde desses pacientes, que requer conhecimentos do processo de senilidade,com planejamento e intervenções personalizadas, suprindo as necessidades e demandas de cada indivíduo, e juntamente com aequipe multiprofissional e a família, proporcionar condições ao idoso de redescobrir maneiras de enfrentar e vencer os sintomasde tristeza e desesperança com autonomia dentro de suas limitações.
ReferênciasARGIMON, Irani Iracema de Lima et al. Aplicabilidade do Inventário de Depressão de Beck-II em idosos: uma revisão sistemática.Aval. psicol. v. 15, n. spe, p. 11-17. 2016 .CHRISTOFOLETTI, Gustavo et al . Efeito de uma intervenção cognitivo-motora sobre os sintomas depressivos de pacientes comdoença de Parkinson. J. bras. psiquiatr. v. 61, n. 2, p. 78-83, 2012 .
KÜSTER, Barbara Juliana Konig et al. Cuidados de enfermagem aos usuários com doença de parkinson na atenção básica desaúde. Revista de Enfermagem da UFSM, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 10 - 18. 2014.MATTOS, Margarete Conceição do Egyto; AZEVEDO FILHO, Elias Rocha de. Cuidados de enfermagem ao idosoinstitucionalizado: percepções acerca da depressão. In: Simpósio ICESP, Brasília, 2014. Disponível em: . Acesso em: 03Ago, 2019.
AVALIAÇÃO In Vitro DA ESTABILIDADE DE COR DA RESINA COMPOSTA E3 (VITTRA) SOBRE DIFERENTES FORMASDE POLIMENTO
1LETICIA CRISTINA MULLER, 2IZADORA KRUCZKEVICZ, 3RAFAEL BELOTTO CÉLLIO, 4WAGNER BASEGGIO
1Acadêmica PIC/UNIPAR 1Acadêmica PIC/UNIPAR2Acadêmico PIC/UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: A utilização das resinas compostas tem se tornado cada vez mais intensas ao longo dos anos, especialmente pelaspropriedades estéticas e benéficas desse material, entre elas temos, uma resistência considerável, adesividade, custo acessível,possibilidades de preparos cavitários mais conservadores e controle no tempo de trabalho. No entanto, a mesma, apresentaalgumas limitações, tais como às relacionadas as suas propriedades mecânicas, contração de polimerização, toxicidade eprincipalmente instabilidades ou alteração de cor (SILVA, 2017). Desta forma, o sistema de polimento adequado, pode propiciarum grande impacto na manutenção de uma superfície mais lisa e com menor rugosidade superficial, minimizando o desgaste,suscetibilidade a manchas, aderência bacteriana e, potencialmente, reduzir o risco de ocorrência de cáries secundárias (SILVA,2015).Objetivo: Avaliar in vitro, as diferentes técnicas de polimento sobre a estabilidade de cor da resina composta de esmalte E3(VITTRA), nanoparticulada.Materiais e Métodos: Com o auxílio da resina composta de esmalte (E3), da marca comercial VITTRA, foram confeccionadostrinta espécimes, com dimensões de 10mm x 10 mm x 2mm e divididos em 2 grupos com 15 amostras, em função dacombinação entre resina composta e técnica de polimento de superfície: Grupo 1 borrachas abrasivas (Optimize TDV); Grupo 2Disco de Lixa (Diamond Pro FGM) + borrachas abrasivas (Optimize TDV). A cor inicial foi determinada de acordo com oaparelho Vita Easyshade. Os espécimes foram submetidos aos diferentes sistemas de polimento, conforme as recomendaçõesdo fabricante. Em seguida, os mesmos, ficaram armazenados em solução de café à 37ºC e umidade de 100% por 4 dias. Osresultados foram submetidos aos testes ANOVA 1 critério e Tukey com nível de significância de 5%, com p<0,05.Resultados: as médias de valores de ∆E foram: Grupo 1 borrachas abrasivas (Optimize TDV) 8,4; Grupo 2 discos de Lixa(Diamond Pro FGM) + borrachas abrasivas (Optimize TDV) 4,70.Discussão: A técnica de polimento com o uso sequencial de discos de lixa e borrachas abrasivas, demonstrou-se eficaz naobtenção de uma superfície mais lisa para a resina testada. Isto pode ser explicado pela capacidade de o disco de óxido dealumínio produzir superfícies lisas, que está relacionado à eficácia de reduzir a partícula e matriz de forma igual, dessa maneira,entende-se que os sistemas de polimento de múltiplos passos (discos de lixas + borrachas abrasivas) investigados durante esteestudo foram superiores na eficiência do alisamento, diferentemente do polimento do passo único (borrachas abrasivas), que,resultaram em maior rugosidade sobre a superfície do material. Desta forma, quanto mais lisa a superfície, menor é o acúmulo depigmentos e manchamentos da mesma.Conclusão: A técnica de polimento empregando-se a sequência de discos de lixa associados as borrachas abrasivaspromoveram superfícies de resina mais lisas e resistentes ao manchamento, diferentemente das de passo único, as quais,fizeram-se uso apenas de borrachas abrasivas, que propiciaram uma menor lisura sobre a superfície e, consequentemente maiorpigmentação e manchamento estrutural. Dessa forma, percebe-se que é de suma importância que o profissional dentista possuamaiores conhecimentos perante os tipos de materiais empregados e a sequência de ambos durante a técnica preconizada, paraque assim, possa promover melhores resultados aos procedimentos restauradores executados, incluindo a estética, longevidadee funcionalidade.
ReferênciasSILVA, Juliana Cândido; SILVA, Diego Romário; BARBOSA Danielle Nascimento BARBOSA. Color stability of compositeresins: a challenge for restorative dentistry Estabilidad de las resinas compostas: un desafío para la restauración dental.Arch Health Invest (2017) 6(10): 451-457 © 2017 - ISSN 2317-3009 http://dx.doi.org/10.21270/archi.v6i10.2240.SILVA, Paula Barcelos. Fatores que influenciam o manchamento marginal e superficial de restaurações de resinacomposta em dentes anteriores. Orientador: Maximiliano Sergio Cenci. 2015. 73 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Dentística, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Pelotas, 2015.
UMA ABORDAGEM DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS
1NATANI GRAZIELA GRABNER, 2ADRIAN FERNANDES DA SILVA NOVAIS, 3NICOLY EDUARDA NIEDERMAYER MARTELO,4MARIA VITORIA SCHOLZ, 5DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do curso de Fisioterapia da Unipar1Acadêmico do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: De acordo com Berlezi et al. (2016), oenvelhecimento da população brasileira vem ocorrendo de formaacelerada. De 1980 até 2005 ocorreu um crescimento de 126,3 % no número de idosos. Acredita-se na estimativa de que apopulação idosa brasileira chegue a 32 milhões até o ano de 2025, colocando o país em 6º lugar no mundo em número depessoas idosas. Segundo Ferreira et al. (2016), o declínio funcional deixa a pessoa idosa mais suscetível à quedas, comprometesua habilidade funcional e sua independência, compondo um problema grave e com repercussão considerável. A queda resultaem uma série de sequelas que afetam o idoso tanto fisicamente como psicologicamente, prejudica a mobilidade, reduzo equilíbrio postural e o torna dependente para realizar as atividades gerando medo e isolamento social, o que reduz a qualidadede vida. A realização contínua de práticas de atividade física propicia maior segurança e desenvoltura corporal na prevenção dasquedas. Objetivo: Descrever sobre a importância da atividade física na prevenção de quedas em idosos. Desenvolvimento: O envelhecimento de forma saudável retarda significativamente problemas funcionais e estruturais dosistema musculoesquelético, favorecendo uma melhor interação social e uma qualidade de vida mais desejável, contribuindopara o maior desempenho ecapacidade funcional do idoso, auxiliando na redução do risco de quedas (PIOVESAN; PIVETTA;PEIXOTO, 2011). Gomes et al.(2014) ressaltam que quedas entre pessoas senis está entre um dos principais motivos de mortena terceira idade, indicando a necessidade de uma intervenção através de ações preventivas para estimular a responsabilidadede se auto cuidar e praticar exercícios físicos, contribuindo para manutenção da saúde e da interaçãosocial. Segundo Bento et al. (2010) compete aos profissionais da saúde desempenhar função importante no processo deenvelhecimento dos indivíduos, principalmente no que diz respeito ao sistema musculoesquelético. Um programa de atividadefísica preventiva ajuda a elevar a capacidade funcional do idoso, preservando sua função e retardando a instalação deincapacidades e disfunções, diminuindo assim, o risco de quedas, hospitalização e consequentemente gastos com a saúde. Otrabalho de fortalecimento e flexibilidade muscular, em conjunto com atividades de coordenação, equilíbrio e metria, assegurammaior vitalidade e segurança na rotina diária.Conclusão: Através deste estudo pode-se concluir que as quedas em pessoas idosas promovem graus severos de incapacidadefuncional, sendo de suma importância o acompanhamento de um profissional da saúde, habilitado na indicação de atividadefísica, para prevenção e manutenção das habilidades corporais pelo maior tempo possível.
ReferênciasBENTO, P. C. B. et al. Exercícios físicos e redução de quedas em idosos: Uma revisão sistemática. Revista Brasileirade Cineantropometria e Desempenho Humano, Florianópolis, v.12, n.6, p.471-479, nov./dez. 2010.BERLEZI, E. M. et al. Como está a capacidade funcional de idosos residentes em comunidades com taxa de envelhecimentopopulacional acelerado? Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, v.19, n.4, p.643-52, jul./ago. 2016.FERREIRA, L. M. B. M. et al. Prevalência de quedas e avaliação da mobilidade em idosos institucionalizados. Revista Brasileirade Geriatria e Gerontolologia, Rio de Janeiro, v. 19, n. 6, p.995-1003, nov./dez. 2016. GOMES, E. C. C. et al. Fatores associados ao risco de quedas em idosos institucionalizados: uma revisão integrativa. Ciência &Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.19, n.8, p.3543-3551, ago. 2014.PIOVESAN, A. C.; PIVETTA, H. M. F.; PEIXOTO, J. M. B. Fatores que predispõem à quedas em idosos residentes na regiãooeste de Santa Maria, RS. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, v.14, n.1, p.75-83, jan./fev. 2011.
ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA REABILITAÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DO JOELHO
1MARIA VITORIA SCHOLZ, 2ADRIAN FERNANDES DA SILVA NOVAIS, 3NATANI GRAZIELA GRABNER, 4NICOLY EDUARDANIEDERMAYER MARTELO, 5DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do Curso de Fisioterapia da Unipar1Acadêmico do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O joelho é composto por três articulações, femuro tibial, patelo femural e tibio fibular superior. Compõe uma áreacorporal complexa e que sustenta grande parte do peso, sendo uma articulação instável destacada por inúmeras lesões, em suamaioria ligamentar (OLIVEIRA; CHIAPETA, 2016). O ligamento cruzado anterior é um dos ligamentos mais susceptíveis à lesão,levando a instabilidade durante os diferentes graus de movimentação (AGEBERG; MCKEON, 2010). Yu, Kirkendall e Garret(2002) denotaram que as lesões do ligamento cruzado anterior ocorrem com maior frequência na prática esportiva, subsequentesàs entorses, paradas repentinas, saltos, contato joelho com joelho ou outro objeto. Decorrente de lesões tornam-se necessáriosprocessos de recuperação e tratamento articular com a finalidade de recuperar a força, estabilidade e funcionalidade dosegmento. A fisioterapia é de suma importância no pré e pós-operatório da reconstrução ligamentar, bem como no treino de forçamuscular e propriocepção em tratamentos conservadores.Objetivo: Descrever a intervenção do fisioterapeuta na reabilitação do ligamento cruzado anterior.Desenvolvimento: O ligamento cruzado anterior é composto por fibras de grande capacidade de cicatrização intrínseca devido àhipervascularização fornecido pelo líquido sinovial e fibroblastos que produzem o colágeno (GAO et al., 2018). A ausência dacomunicação proprioceptiva por conta da ruptura ligamentar favorece a piora da instabilidade por conta da atenuação dapercepção dos movimentos musculares e da privação dos estímulos de contração musculo esquelética (ALONSO; BRECH;GREVE, 2010). Eversden et al. (2011) relataram que entre os recursos da fisioterapia, a hidroterapia é um dos principaismecanismos na recuperação e tratamento, pois a água é de grande contribuição para a amplitude de movimento e adequaçãodas etapas da reabilitação. Além de aumentar a flexibilidade, a fisioterapia aquática ajuda diminuir o quadro álgico, tanto antescomo depois do procedimento cirúrgico, em função do aquecimento da água que providencia relaxamento e redução do edema(VALTONE et al., 2011). O uso dos recursos da eletroterapia e da cinesioterapia, bem como as bandagens elásticas, são muitoutilizadas e assegura alívio álgico, melhora da força e flexibilidade muscular, diminuição do edema e manutenção da estabilidadearticular (OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2017).Conclusão: Pode-se concluir que a fisioterapia é de grande importância tanto no tratamento conservador, quanto no pré e pós-operatório de tratamento cirúrgico do ligamento cruzado anterior do joelho. Os recursos terapêuticos propostos amenizam a dor eo edema, melhora a força e flexibilidade muscular, estabilizam a articulação promovendo uma melhora funcional considerável.
ReferênciasAGEBERG, E.; MCKEON, P. Controle postural em pacientes com lesão do ligamento cruzado anterior. Fisioterapia e Pesquisa,São Paulo, v.17, n.4, p. 342-5, out./dez. 2010.ALONSO, A. C.; BRECH, H. C.; GREVE, J. M. D. Técnicas de avaliação proprioceptiva do ligamento cruzado anterior do joelho.Acta Fisiátrica, v.17, n.3, p.134-140, ago. 2010.EVERSDEN, L. et al. A atuação da hidroterapia na lesão do ligamento cruzado anterior (LCA). Brazilian Journal of Health, SãoPaulo, v.2, n.3, p.151-156, set./dez. 2011.GAO, F. et al. Estudio histopatológico en rotura aguda del ligamento cruzado anterior de rodilla. Revista de la AsociaciónArgentina de Ortopedia y Traumatología, Buenos Aires, v.4, p.20-24, abr./jul. 2018OLIVEIRA, T. G.; CHIAPETA, A. V. Intervenção fisioterapêutica nas lesões do ligamento cruzado anterior (LCA). RevistaCientífica Univiçosa, Minas Gerais, v.8, p.548-554, dez. 2016.OLIVEIRA, A. S.; SILVA, D. P. G.; SILVA, J. G. Efeito agudo da kinesio taping na dor e estabilidade do joelho. Relato de caso.Revista Dor, São Paulo, v.18, n.1, p.88-91, jan./mar. 2017.VALTONEN, A. et al. A atuação da hidroterapia na lesão do ligamento cruzado anterior (LCA). Brazilian Journal of Health, SãoPaulo, v.2, n.3, p.151-156, set./dez. 2011.YU, B.; KIRKENDALL, T.; GARRET, W. E. Anterior cruciate ligament injuries in female athletes: Anatomy, physiology and motor
ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO PARA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
1BRUNO FLORIANO DE FARIA, 2NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA
1Acadêmico do Curso de Enfermagem UNIPAR 1Docente do Curso de Enfermagem da UNIPAR
Introdução: Considerada um problema de saúde pública mundial, a doença renal crônica atinge milhões de pessoas em todo omundo, com grande impacto na qualidade de vida e elevados custos com tratamentos e internações. Segundo a SociedadeBrasileira de Nefrologia (SBN), o número de casos novos de insuficiência renal (IR) aumenta gradativamente, destacandoque um em cada dez brasileiros tem problemas nos rins, representando em 2017 um total de 126.000 pacientes (SBN, 2018).Segundo Tavares (2015), a IR é uma síndrome clínica caracterizada por uma perda da função renal, podendo ser subdividida eminsuficiência renal aguda (IRA) e insuficiência renal crônica (IRC), sendo definida como um decrescimento abrupto da filtraçãoglomerular dos rins com consequente alteração no equilíbrio hidroeletrolítico no organismo.Objetivo: Destacar estratégias para a busca de prevenção da doença renal crônica (DRC) evidenciando o papel do enfermeirofrente a esses pacientes.Desenvolvimento: A IR favorece o acúmulo de substâncias no sangue como a ureia e a creatinina, sendo que o reconhecimentonos estágios iniciais é fundamental para o retardo de sua evolução, tornando possível a recuperação renal e evitando que oindivíduo evolua para forma crônica e seja submetido à terapia de substituição renal (MACHADO, 2016). Os indivíduos comogrupo de risco para o desenvolvimento da insuficiência renal são formados pelos diabéticos, hipertensos, portadores de doençascardiovasculares, histórico familiar de insuficiência renal, entre outras patologias (CERQUEIRA, 2014; ANJOS, 2015). Em geral ainsuficiência renal é de árduo combate, porém de grande importância para prevenção em minimizar os riscos, a tal patologiapode ser encontrada de modo assintomáticos ou sintomático com alguns sinais e sintomas que podem indicar insuficiência renal,entre elas como diminuição de diurese, retenção de líquidos, edema em membros inferiores e dispneia (AGUIAR, 2016). Souza(2017) destaca algumas profilaxias como: tomar medicamentos conforme instruções e sem mudar as doses, manter o tratamentocomo diabetes e hipertensão, possuir um estilo de vida saudável sendo ativo, evitar o excesso de sal, controle do colesterol e daglicose, ter uma dieta equilibrada, evitar fumar e acompanhamento de exames periódicos. Colaborando Salgado (2016),acrescenta que a melhor forma de prevenir esta doença que acomete milhões de pessoas no mundo é o diagnóstico precoce empacientes com risco potencial, ressaltando ainda consumir água em torno de 2 litros por dia, controlar o ganho excessivo de pesocom práticas saudáveis e interromper o tabagismo. Segundo Silva (2015), o enfermeiro deve atuar na prevenção e na progressãoda doença renal com ações para atender às necessidades dos pacientes acometidos por essa doença. Entretanto, para isso, énecessário detectar os grupos de risco e os indivíduos, para os quais é imprescindível a avaliação da função renal. A ação doenfermeiro na prevenção da DRC deve atender diretamente às necessidades dos pacientes. De acordo com o Ministério daSaúde a atuação do enfermeiro em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no atendimento a portadores de DRC, é identificar osfatores de risco de cada paciente na consulta de enfermagem, sendo de extrema importância examinar os cuidados e buscaruma abordagem educativa para preconizar medidas e hábitos saudáveis (BRASIL, 2018). De acordo com Santiago (2017), oEnfermeiro atuante em UBS identifica pessoas com diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS) onde necessitaum processo de educação em saúde que auxilie o indivíduo a conviver melhor com a sua condição crônica, diante da consultaesse indivíduo é orientado para modificação de sua rotina diária como prática de atividade física e ingesta de água. Assimquando diagnosticada a IRC, o indivíduo deve ser submetido precocemente ao tratamento, seja conservador ou dialítico, otratamento é caracterizado como uma experiência difícil e dolorosa sendo essencial para a manutenção no padrão de qualidadede vida, os pacientes renais devem se adaptar às mudanças como os novos hábitos alimentares, rotina modificada, dependênciafamiliar e perda da autonomia (HOLANDA, 2016)Conclusão: O enfermeiro tem papel desafiador como profissional da UBS na detecção e acompanhamento de pacientes comdoenças crônicas, no intuito de postergar a perda da função renal. Trabalhar com metas de orientações, educação em saúde eacompanhamentos são estratégias simples que podem ser utilizadas no dia a dia da saúde pública.
ReferênciasAGUIAR, F.L. Fatores preditivos da insuficiência renal e algoritmo de controle e tratamento. Revista interdisciplinar. V. 5, n. 2,p. 36-54. 2016.ANJOS, M.C. Prevenção da doença renal crônica no dia mundial do rim: relato de experiência. Revista Brasileira deCardiologista. V. 22, n.4, p. 2-5. 2015.BRASIL. Ministério da Saúde. Acesso em 05 de Ago, 2019.
CERQUEIRA, C.S. Novas estratégias para conter o avanço da doença renal. Revista Sociedade Brasileira de Nefrologia. V. 8,n.1, p. 105. 2014.HOLANDA, M.S. Consulta de enfermagem à pessoa com diabetes na atenção básica. Revista Mineira de Enfermagem.V. 18, n.2, p. 5. 2015.MACHADO, R.C. Os principais fatores associados ao desenvolvimento da Insuficiência renal. Revista Latino Americana deEnfermagem. V. 27, n.2, 678-698. 2016.SANTIAGO, P. R. Atendimento em unidade básica de saúde com profissionais de enfermagem. Revista de São Paulo. V. 4, n.6,p. 256-269. 2018.SBN. Sociedade Brasileira de Nefrologia. Acesso em 29 de Jul, 2019TAVARES, O. A. Caracterização e etiologia da insuficiência renal crônica em unidade de nefrologia do interior do Estado de SãoPaulo. Acta Paulista de Enfermagem. V. 21, n. 13, p. 194-198. 2015.SILVA, A.C. A ação do enfermeiro na prevençãop de doenças renais crônicas renais: uma revisão integrativa. 2015.Acesso em 31 de Jul, 2019.SALGADO, T.S. Doença renal crônica: Prevenir para evitar. Revista Universidade Federal do Maranhão. V. 2, n.6, p. 45-46.2016.SOUZA, A.L. Proposta de intervenção para o controle de doenças crônicas. Revista de Minas Gerais. V. 10, n.3, p. 205-223.2017.
PROGNÓSTICOS DO USO DO CANABIDIOL NO TRATAMENTO DA EPILEPSIA
1ANA PAULA BORTOLOTO SANTOS, 2ALINE FREDO, 3MARIM ANTERO DA SILVA JUNIOR, 4DORA DE CASTRO AGULHONSEGURA
1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: French e Pedley (2008) apontam a epilepsia como uma doença neurológica que afeta mais de 40 milhões depessoas no mundo. As ocorrências súbitas e assíduas de episódios breves ou prolongados de atividade neuronal excessivacaracterizam a doença. Como técnica terapêutica, um composto derivado da planta Cannabis Sativa chamou a atenção depesquisadores por ter significantes potenciais medicinais que contribuem no tratamento da epilepsia. O canabidiol é o principalcomponente não psicoativo da planta e vários mecanismos pelo qual o mesmo exerce seus efeitos antiepilépticos estão inclusos,porém, na ciência, ainda não foram bem definidos (CILIO; THIELE; DEVINSK, 2014).Objetivo: Averiguar os efeitos terapêuticos do canabidiol no tratamento da epilepsia.Desenvolvimento: Matos et al. (2017) elucidam que condições neurobiológicas, cognitivas e sociais alteradas sãocaracterísticas de pacientes com epilepsia, o que implica em consequências sérias e danosas para os portadores e familiares.Blümcke et al. (2016) descrevem que pacientes epiléticos fármaco resistentes estão chamando atenção para estudos comcanabinóides devido as suas propriedades anticonvulsivantes e componentes. A descoberta desses ativos aumentou o interessepelo potencial do consumo nas crises graves em crianças e adolescentes. Considerado livre de efeitos psicotrópicos, o canabidiolé redutor da ansiedade, contribui na concentração e reduz os efeitos do tetrahidrocanabinol, que é responsável pela maioria dosefeitos psicoativos, sendo considerado eficaz como medicamento para o transtorno (TRINDADE; ANJOS; OLIVEIRA, 2017).Matos et al. (2017) apontam segurança e eficácia no uso terapêutico do canabidiol, o que pode torná-lo o primeiro canabinóideaplicado no tratamento da epilepsia. Os benefícios contra crises epiléticas foram analisados primeiramente em ratos e,posteriormente, em humanos. Oito pacientes foram tratados no principal estudo clínico com doses diárias de canabidiol (200 a300 mg/dia, por quatro meses), quatro dos indivíduos apresentaram-se livres de convulsões, três manifestaram uma melhoraparcial e apenas um não apresentou resposta ao tratamento. Em contrapartida, apenas um dos pacientes que recebeu placeboobteve melhora clínica. Efeitos tóxicos significativos não foram observados durante o tratamento com canabidiol, apenassonolência. Foi verificada ausência de toxidade através de exames de sangue, de urina, análise da atividade elétrica e cerebral,exames neurológicos e clínicos.Conclusão: Concluiu-se com este estudo que o canabidiol possui amplo potencial terapêutico em nível do sistema nervosocentral, o que poderá ser um divisor de águas na vida de pacientes epiléticos gerando possivelmente respostas surpreendentespara os portadores das epilepsias intratáveis, de difícil controle. Deve ser ressaltado também que além da diminuição das crisesepiléticas, o tratamento será capaz de propiciar uma vida livre de constrangimentos, estigmas, preocupações exacerbadas, autoexclusão social e todas as limitações impostas ao paciente e sua família.
ReferênciasBLÜMCKE, I.; ARONICA, E.; MIYATA, H.; SARNAT, H. B; THOM, M.; ROESSLER, K; RYDENHAG, B.; JHI, L.; KRSEK, P.;WIEBE, S.; SPREAFICO, R. International recommendation for a comprehensive neuropathologic workup of epilepsy surgery braintissue: A consensus task force report from the ILAE. Commission on diagnostic methods. Official Journal of the InternationalLeague Against Epilepsy, Flower Mound, v. 57, n. 3, p. 348 358, fev. 2016.CILIO, M. R.; THIELE, E. A.; DEVINSKY, O. The case for assessing cannabidiol in epilepsy. Official Journal of the InternationalLeague Against Epilepsy, Flower Mound, v. 55, n. 6, p. 787 790, jun. 2014.FRENCH, J. T.; PEDLEY, A. T. Initial management of epilepsy. The New England Journal of Medicine, Massachusetts, v. 359,n. 2, p. 76-166, jul. 2008.MATOS, R. L. A.; SPINOLA, L. A.; BARBOZA, L. L.; GARCIA, D. R.; FRANÇA, T. C. C. e AFFONSO, R. S. O uso do canabidiolno tratamento da epilepsia. Revista Virtual de Química, v. 9, n. 2, p. 786-814, mar./abr. 2017.TRINDADE, R. L. A.; ANJOS, S. G. N. M.; OLIVEIRA, S. G. J. S. Canabinóides para tratamento de epilepsia em crianças.Anais do International Nursing Congress, Universidade Tiradentes, Tiradentes-MG, p. 09-12, mai. 2017.
TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DAS ALTERAÇÕES POSTURAIS PROVOCADAS POR AGRAVAMENTO DASDISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES
1ELLEN CHRISTINE OLIVEIRA BIAVA, 2MARIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, 3MILLENA ANGELI DOMINGUES PEREIRA,4MARIA EDUARDA ZAGO FERNANDES, 5THAUANI ISABEL DA SILVA, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do curso de Fisioterapia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Monteiro et al. (2011) denotaram que a modificação em um segmento do corpo pode alterar várias partes estruturaisosteomioarticulares modificando todo aporte postural, inclui-se neste, quando afetado, o sistema estomatogmático com potencialde danificar e causar dor, de forma indireta na região cervical e nos músculos envolvidos, provocando danos posturais. Afisioterapia com seus meios multimodais, incluindo aparelhos e métodos de liberação manual tem garantido um resultado deeficácia no tratamento das alterações posturais evidenciadas (MOTTA et al., 2012; FREIRE et al., 2014).Objetivo: O objetivo desse estudo foi ressaltar como a fisioterapia auxilia na reeducação postural e mandibular em portadores dedisfunções temporomandibulares.Desenvolvimento: O desvio postural em indivíduos comprometidos com disfunções temporomandibulares é ocasionado por umasérie de fatores, dentre deles, o mau funcionamento da articulação temporomandibular, porção ponderável do aparelhoestomatogmático, responsável por todas as atividades funcionais da boca. É comprovado que essas estruturas quando afetadaslevam a alternações posturais ocasionando um quadro álgico importante, por aumentar o trabalho muscular e causar fadiga(VIANA et al., 2015). De acordo com o estudo de Toledo et al. (2012), a avaliação postural em indivíduos com disfunçãotemporomandibular é fundamental para o alcance de resultados mais eficientes e os exercícios com grande êxito de excelênciapara o tratamento desses envolvem a cinesioterapia e a reeducação postural global. A fisioterapia se baseia em uma técnicaconfortável e não invasiva, considerando a terapia manual, liberação facial e orientações domiciliares de maior eficácia para otratamento do paciente (KINOTE et al., 2011; FREIRE et al., 2014). Conclusão: Pode-se concluir que a fisioterapia ementa total importância sobre as disfunções mandibulares e a postura corporal,já que a mesma ajuda no alívio do quadro álgico e diminui significativamente as manifestações de sintomas dos pacientesatravés de técnicas manuais.
ReferênciasFREIRE, B.A. et al. Abordagem fisioterapêutica multimodal: Efeitos sobre o diagnóstico e a gravidade da disfunçãotemporomandibular. Revista Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v.27, n.02, p.2019-227, abr./jun. 2014.KINOTE, P.A. et al. Perfil funcional de disfunção têmporo mandibular em tratamento fisioterápico. Revista Brasileira de Promoçãoda Saúde, Fortaleza, v.24, n.04, p.306-312, out./dez. 2011.MONTEIRO, D.M. et al. Associação entre a alteração postural e da oclusão em portadores de sinais e sintomas de DTM. RevistaPesquisa em Fisioterapia, Salvador, v.01, n.01, p.29-44, jan. 2011.MOTTA, J.L. et al. Temporomandibular dysfunction and cervical posture and occlusion in adolescents. Brazilian Journal of OralScience, Campinas, v.11, n.03, p.401-405, sept. 2012.TOLEDO, J.R. et al. The interrelationship between dentistry and physioterapy in the treatment of temporo mandibular disorders.The Journal of Contemporary Dental Practice, New Delhi, v.13, n.5, p.579-583, sept. 2012.VIANA, O.M. et al. Avaliação de sinais e sintomas da disfunção têmporo mandibular e sua relação com postura cervical. Revistade Odontologia da Unesp, Araraquara, v.44, n.3, p.125-130, mai./jun. 2015.
A IMPORTÂNCIA DAS HORTAS COMUNITÁRIAS NA COMUNIDADE: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1LARISSA KOZIKOSKI, 2CLEUSA FERNANDES RAMOS, 3GUSTAVO DA SILVA RATTI, 4LETÍCIA MARTIM LAGO, 5LIDIANENUNES BARBOSA, 6ANDREIA ASSUNCAO SOARES
1Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária, PIBIC/UNIPAR 1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal com Ênfase em Produtos Bioativos, UNIPAR 2Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal com Ênfase em Produtos Bioativos, UNIPAR 3Acadêmica Ensino Médio PEBIC EM-JR/CNPq/UNIPAR-Colégio Estadual Pedro II4Docente Mestrado e Doutorado em Ciência Animal com Ênfase em Produtos Bioativos, UNIPAR 5Docente da UNIPAR
Introdução: A horta comunitária é importante sob o ponto de vista nutricional, e também como forma de terapia ocupacional, namelhoria do hábito de consumo das pessoas, na economia das famílias e até na manutenção e/ou melhoria da saúde eprevenção de doenças. Outro fator de grande importância é a manipulação dos alimentos que deve ser segura para o consumo,incluindo as boas práticas de higiene, que devem ser adotadas em toda a preparação dos alimentos (TERSO, 2013).A implantação da horta comunitária é como um espaço educador sustentável e é necessário, pois estimula a incorporação, avalorização da dimensão educativa a partir do meio ambiente.Objetivos: Relatar a importância das hortas comunitárias para a comunidade através de uma revisão bibliográfica Desenvolvimento: Esta revisão foi realizada através das bases dos seguintes dados: Scielo, siencedirect, portal periódicoscapes nos últimos 5 anos. As hortas comunitárias são hortas instaladas em local de uso coletivo, cedido por um grupo depessoas. A horta pode funcionar coletivamente, onde todas as atividades são realizadas por todos e a produção é repartida, ou oespaço da horta é dividido em canteiros, que fica sob a responsabilidade de uma pessoa ou família. A produção que excederpode ser comercializada ou trocada por outros alimentos (HENZ; ALCÂNTARA, 2009). Estas têm vários objetivos, dentre eles:utilização de espaços, evitando que as áreas se tornem depósitos de lixo e entulhos, ambientes propícios para a proliferação deinsetos e bichos peçonhentos que podem ser prejudiciais à saúde; segurança alimentar. A produção é normalmente orgânica,sem a utilização de agrotóxicos, levando aos consumidores um alimento mais seguro e mais saudável; (EMBRAPA, 2002). Estas características das hortaliças contribuem de maneira positiva para saúde, pois elas agem como alimentosfuncionais/nutracêuticos, que são aqueles que beneficiam uma ou mais funções orgânicas, além da nutrição básica, colaborandopara a melhoria do estado de saúde e bem-estar e/ou reduzir o risco de doenças, além de proporcionar prazer/gosto de plantar,cultivar, ocupação e terapia. (CARVALHO et al., 2006). As atividades de horta instituídas nos espaços das Unidades Básicas deSaúde (UBS) tem como uma estratégia de implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PIC),por se caracterizar como uma prática complementar às biomédicas tradicionais e integrativa por serem modelos eficazes queprivilegiam técnicas naturais, incentivando o uso de fitoterápicos, promovendo maior autonomia, participação social e bem-estarfísico e mental dos indivíduos (TESSER; BARROS, 2008).Além da prática das hortas se mostrar uma estratégia complementarao tratamento de doenças crônicas, alinhada às diretrizes da PIC, que buscam combinar aspectos de sistemas antigos de curacom a biomedicina moderna (OTANI; BARROS, 2011). Atualmente, o Ministério da Saúde (MS) disponibiliza a utilização de 12medicamentos fitoterápicos na rede pública de saúde (BRASIL, 2013). Estes medicamentos disponibilizados pelo MS são:espinheira-santa, guaco, alcachofra, aroeira, cáscara-sagrada, garra-do-diabo, isoflavona-de-soja, unha-de-gato, hortelã, babosa,salgueiro e plantago (BRASIL, 2012). Segundo o Ministério da Saúde, os fitoterápicos são medicamentos que desempenham umpapel importante em cuidados contra dores, inflamações, disfunções e outros incômodos, ampliando as alternativas detratamento seguras e eficazes. Indicado para o alívio sintomático de doenças de baixa gravidade e por curtos períodos de tempo,esse tipo de remédio pode ser produzido a partir de plantas frescas ou secas e de seus derivados e têm várias diferentes formasfarmacêuticas, como xaropes, soluções, comprimidos, pomadas, géis e cremes (BRASIL, 2012). Cada vez mais os espaçospúblicos são ocupados por ações coletivas e que estimulam a convivência e a harmonia com o ambiente. Uma destas ações nasgrandes cidades são as hortas comunitárias. Além de promoverem a integração, revitalizam o uso de espaços ociosos e são umaalternativa de produção e acesso a alimentos frescos e saudáveis. Não obstante as produções serem, em sua maioria,pequenas, a relevância da prática talvez seja muito maior pelo seu aspecto educacional e social (HENZ; ALCÂNTARA, 2009).Conclusão: A disponibilidade de diferentes tipos de hortaliças e plantas medicinais produzidas nas hortas comunitárias motiva ohábito de consumi-las regularmente e em quantidade suficiente, proporcionando uma melhoria no desenvolvimento efuncionamento do organismo humano. Além do benefício para a saúde e bem-estar da comunidade envolvida, as estratégias desustentabilidade e integração entre o homem com o meio ambiente proporciona um ambiente equilibrado possibilitando uma
melhoria na qualidade de vida da comunidade.
ReferênciasBRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portal da Saúde: Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 2013.Disponível em: prt0533_28_03_2012.html> Acesso em: nov. 2018. CARVALHO, P.G.B.; MACHADO, C.M.M.; MORETTI, C.L.; FONSECA, M.E.N. Hortaliças como alimentos funcionais.Horticultura Brasileira, v. 24, n. 4, p. 397-404, 2006.EMBRAPA. Critérios para o levantamento de sistemas de produção na Embrapa. Brasília, DF: Embrapa SGE, 2002. 17 p.HENZ, G. P.; ALCÂNTARA, F. A. de. Hortas: o produtor pergunta, a Embrapa responde / editores técnicos, Brasília, DF:Embrapa Informação Tecnológica, 2009. 237 pOTANI, M.A.P, BARROS, N.F. A Medicina Integrativa e a construção de um novo modelo na saúde. Cien Saúde Colet, v. 16,n. 3, p. 1801-1811, 2011.TERSO, M. M. Horta Orgânica: Alimentação Saudável/Qualidade de Vida, vol. 1, Paraná: Governo do Estado. Secretaria daEducação - Cadernos PDE, 2013.TESSER CD, BARROS NF. Medicalização social e medicina alternativa e complementar - pluralização terapêutica do SistemaÚnico de Saúde. Rev Saude Publica, v. 42, n. 5, p. 914-920, 2008.
ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DE Bidens pilosa, Tanacetum vulgare eBidens sulphurea EM INFECÇÕES NO TRATO URINÁRIO
1ALANNA FERNANDES DE CASTRO, 2ANA KARINA VARGAS SOARES, 3MARCELA OLIVEIRA CHIAVARI FREDERICO,4LOURIVAL FALCAO MARTINS DE OLIVEIRA, 5EVELLYN CLAUDIA WIETZIKOSKI LOVATO
1Acadêmica Bolsista do PEBIC/CNPQ 1Acadêmica do Curso de Psicologia da UNIPAR2Mestre Em Plantas Medicinais e Fitoterapicos Na Atencao Basica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Farmacia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: As infecções do trato urinário (ITU) são as infecções bacterianas mais comuns em mulheres, principalmente na fasede pós menopausa, por causa da diminuição da produção de estrogênio nesta idade. Uma das grandes dificuldades notratamento de ITU é a resistência bacteriana aos antibióticos(PERROTTA, 2008), por esse motivo foi analisado o efeitoantibacteriano de plantas medicinais, que já tem seu uso popular relatado na literatura, frente a bactérias coletadas de amostrasde secreção vaginal em clinica privada e em CEPAS padrão de bactérias encontradas comumente no trato geniturinário.Objetivo: Avaliar o efeito antibacteriano do extrato hidroalcoólico de Bidens pilosa, Tanacetum vulgare, e Bidens sulphurea,frente a cepas padrão e bactérias isoladas de cultura de urina de mulheres menopausadas com o diagnóstico ITU de repetição(rITU).Metodologia: O estudo foi conduzido de acordo com a política de Farmacologia e toxicologia Básica e Clínica para estudosexperimentais e clínicos (TVEDEN‐NYBORG, 2018). O estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa EnvolvendoSeres Humanos da UNIPAR (CAEE nº 90949218.2.0000.0109). Os participantes forneceram consentimento verbal e por escrito,para coleta de urina e secreção vaginal, para fins de pesquisa. OS critérios de inclusão foram mulheres no período pós-menopausa (45-70 anos) com diagnóstico de rUTI (três episódios de ITU nos últimos 12 meses ou dois episódios nos últimos 6meses) (PERROTTA, 2008). Trinta e três amostras bacterianas foram isoladas de 15 mulheres na pós-menopausa que foramdiagnosticadas com rUTI, As bactérias Gram-positivas (Staphylococcus spp.) E Gram-negativas (Escherichia coli e Proteusmirabilis) foram identificadas em amostras de urina e de secreção vaginal. A resistência aos antibióticos foi determinada pelométodo de difusão de disco usando antibióticos que são rotineiramente utilizados para o tratamento de ITUs.Resultados e Discussão: No geral, observamos isolados multirresistentes, na maioria das secreções vaginais (48; 57,83%) eurina (18; 51,42%). Nas amostras de urina, as bactérias Gram-positivas eram resistentes à amoxicilina (20%), metronidazol(100%), norfloxacina (20%) e oxacilina (60%), e as bactérias Gram-negativas eram resistentes à amoxicilina (40%), metronidazol(100%) e norfloxacina (25%). Nas amostras de secreção vaginal, as bactérias Gram-positivas foram resistentes à amoxicilina(28,57%), metronidazol (85,71%), norfloxacina (28,57%) e oxacilina (64,28%) e bactérias Gram-negativas resistentes àamoxicilina (66,66%) metronidazol (100%) e norfloxacina (44,44%). Os resultados do índice MAR indicaram que todos osisolados do trato geniturinário de Staphylococcus spp. (19 isolados), E. coli (11 isolados) e P. mirabilis (3 isolados) apresentaramum índice MAR elevado, classificando as amostras como de alto risco. Os valores de CIM dos extratos de B. pilosa, T. vulgare eB. contra cepas padrão de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas variaram de 7,81 a 125,00 mg mL-1. Os valores de MBCvariaram de 7,81 a> 500,00mg ml-1. O one-way ANOVA indicou uma diferença, entre os extratos, significativa na atividade contraS. aureus (F2,6 = 8,64, p <0,05), P. aeruginosa (F2,6 = 7,79, p <0,05) e E. coli (F2,6 = 67,00, p<0,001). O teste post hoc deTukey mostrou que os extratos de B. pilosa (MIC = 13,02 mg mL-1) e B. sulphurea (MIC = 7,81 mg mL-1) foram os mais ativoscontra a cepa de S. aureus em comparação com T. vulgare ( MIC = 41,66 mg mL-1, p<0,05). P. aeruginosa foi mais suscetível aoextrato de B. sulphurea (7,81 mg mL-1). E. coli foi significativamente inibida (p <0,05) pelos extratos de T. vulgare (52,08 mg mL-1) e B. sulphurea (31,25 mg mL-1). A análise cromatográfica dos extratos indicou que a artemetina, um flavonóide com efeitosantioxidantes (SRIDEV, 2002), era um componente importante dos extratos de B. sulphurea (21%), T. vulgare (11%) e B. pilosa(11%). A atividade antimicrobiana da artemetina já foi relatada em outros estudos (MATIAS, 2010; HERNANDEZ, 1999). O s-sitosterol, um fitoesterol antimicrobiano potente, foi identificado nos extratos de B. sulphurea (15%) e B. pilosa (6%) (SEN, 2012).Adicionalmente, a presença de 5-metil heptan-2-amina, isohumulona, costunolide, ido tridecanoico eter metilico deidooctadecanoico a penas foi observada no extrato de B. sulphurea. Os efeitos antimicrobianos desses compostos são bemdescritos na literatura (CHOI et. al., 2016). As ações desses compostos explicam o maior efeito antimicrobiano do extrato de B.sulphurea comparado com T. vulgare e B. pilosa.Conclusão: Neste estudo, foram observados efeitos antimicrobianos sinérgicos dos extratos brutos de Bidens pilosa, Tanacetum
vulgare, e Bidens sulphurea contra infecções do trato urinário.
ReferênciasCHOI, K. et al. Mechanistic Toxicity Assessment of Hexahydroisohumulone in Canine Hepatocytes, Renal Proximal Tubules,Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells, and Enterocyte-like Cells. Int J Vet Health Sci Res, v. 4, n. 2, p. 88-103, 2016.HEMAISWARYA, S.; KRUTHIVENTI, A. K.; DOBLE, M. Synergism between natural products and antibiotics against infectiousdiseases. Phytomedicine, v. 15, n. 8, p. 639-652, 2008.HERNANDEZ, M. M. et al. Biological activities of crude plant extracts from Vitex trifolia L.(Verbenaceae). Journal ofethnopharmacology, v. 67, n. 1, p. 37-44, 1999.MATIAS, E. F. et al. Atividade antibacteriana In vitro de Croton campestris A., Ocimum gratissimum L. e Cordia verbenaceaDC. Revista Brasileira de Biociências, v. 8, n. 3, 2010.PERROTTA, Carla et al. Oestrogens for preventing recurrent urinary tract infection in postmenopausal women. Cochranedatabase of systematic reviews, n. 2, 2008.SEN, A. et al. Analysis of IR, NMR and antimicrobial activity of β-sitosterol isolated from Momordica charantia. Sci Secure JBiotechnol, v. 1, n. 1, p. 9-13, 2012.SRIDEVI, V. K. et al. Antioxidant and hepatoprotective effects of ethanol extract of Vitex glabrata on carbon tetrachloride-inducedliver damage in rats. Natural product research, v. 26, n. 12, p. 1135-1140, 2012.TVEDEN‐NYBORG, P.; BERGMANN, T. K.; LYKKESFELDT, J. Basic & clinical pharmacology & toxicology policy for experimentaland clinical studies. Basic & clinical pharmacology & toxicology, v. 123, n. 3, p. 233-235, 2018.
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFUNGICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE Litsea cubeba EM Aspergillus nomius
1Denise Tiemi Uchida, 2ALINE AMENENCIA DE SOUZA, 3MIGUEL MACHINSKI JUNIOR
1Mestranda em Ciências da Saúde, bolsista CAPES, UEM, Maringá PR.1Mestranda em Ciências da Saúde, bolsista CAPES, UEM, Maringá PR.2Docente Associado da Universidade Estadual de Maringá, UEM, Maringá-PR
Introdução: A contaminação fúngica é um dos principais causadores de deterioração de alimentos e produtos agrícolas, quepode trazer problemas não só econômicos, mas também problemas a saúde humana e animal. O fungo filamentoso Aspergillusnomius, produtor de aflatoxinas, metabólitos secundários classificados pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer(IARC) como grupo I - Carcinógeno Humano (IARC, 2002). Devido à alta toxicidade e hepatocarcinogenicidade para humanos ocombate ao fungo se torna importante e cada vez mais pesquisas vêm sendo realizadas para o descobrimento de agentesantimicrobianos naturais para serem aplicados na substituição de fungicidas e conservantes químicos, como por exemplo, osóleos essenciais (KHAN;AHMAD, 2011). A Litsea cubeba Pers., distribuída no sul e sudeste da Ásia pertence à família Lauraceaee dentre os principais constituintes químicos em seu óleo essencial estão o neral, b-terpineno, 1,8-cineol, β-phellandreno,terpinen-4-ol, sabineno elinalol (SON et al. 2014). Estudos de LI et al.(2014, 2016) demonstraram efeitos antifúngicos eantibacterianos do óleo essencial de Litsea cubeba (OELC) em micro-organismos patogênicos de alimentos.Objetivo: Avaliar a atividade antifúngica do OELC frente ao fungo A. nomius.Material e Métodos: O OELC foi adquirido no comércio local da cidade de Maringá-PR e o A. nomius do Laboratório deToxicologia da Universidade Estadual de Maringá (UEM) adquirido do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde(INCQS). Os testes de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Fungicida Mínima (CFM) foram realizados seguindoa norma M38-A2 preconizada pelo National Committee for Clinical Laboratory Standart. Para a CIM o meio de cultura utilizado foio RPMI, realizada em triplicata e determinada pela menor concentração capaz de inibir o crescimento visual do fungo, pelométodo de microdiluição em microplacas com 96 poços com o inóculo de 105 conídio/mL e o OELC numa faixa de concentraçãode 7,81 a 4000 μg/mL. Como controle fúngico foi utilizado a solução de conídeo+meio, as placas foram incubadas a 25 ºCdurante 72 horas, em câmara BOD. A CFM foi determinada de acordo com a ausência do crescimento de colônias na placacontendo meio de cultura Batata-Dextrose-Ágar, nela foram pipetados 10 μL da CIM, duas concentrações abaixo e acima da CIM,seguindo técnica de Shukla et al. (2012) com modificações e mais o controle positivo e negativo, a placa foi incubada em câmaraBOD a 25 ºC durante 24 horas.Resultados: A CIM para o OELC foi de 1000 μg/mL abaixo desta concentração os poços apresentavam característicassemelhantes ao do controle positivo. Para o teste de CFM foram testadas as concentrações de 250, 500, 1000, 2000 e 4000μg/mL do OELC. Não houve crescimento nas concentrações de 1000, 2000 e 4000 μg/mL, portanto o CFM foi igual ao CIM, 1000μg/mL.Discussão: Na literatura não há uma classificação unanime quanto aos valores de CIM. Para Webster et al. (2008) um valor deCIM satisfatório é ≤ 1000 µg/mL, já Aligiannis et al. (2001) apresentaram a seguinte classificação: CIM até 500 µg/mL sãoinibidores potentes; CIM entre 600 e 1500 µg/mL são inibidores moderados; CIM acima de 1600 µg/mL são inibidores fracos,desta forma verificamos que o OELC apresentou ser um inibidor moderado no combate ao fungo A. nomius, pois apresentou umaCIM e CFM de 1000 µg/mL.Conclusão: Os dados demonstram que o OELC apresentou atividade antifúngica moderada sobre o fungo toxigênico A. nomius.
ReferênciasALIGIANNIS, N.; KALPOTZAKIS, E.; MITAKU, S.; CHINOU, I.B. Composition and antimicrobial activity of the essential oils of twoOriganum species. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 40, n. 9, p. 4168-4170, setembro, 2001.IARC. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. World Health Organization, International Agencyfor Research on Cancer press.[acesso em 07 Agosto de 2019]. Disponível em: https://monographs.iarc.fr/agents-classified-by-the-iarc/.KHAN, Mohd Sajjad Ahmad; AHMAD, Iqbal. In vitro antifungal, anti-elastase and anti keratinase activity of essential oils ofCinnamomum-, Syzygium- and Cymbopogon-species J. against Aspergillus fumigatus and Trichophyton rubrum. Phytomedicine,v. 19, n. 1, p. 48-55, dezembro, 2011.LI, Wen Ru; SHI, Qing Shan; LIANG, Qing; XIE, Xiao Bao; HUANG, Xiao Mo; CHEN, Yi Ben. Antibacterial activity and kinetics ofLitsea cubeba Oil on E. coli. PLoS One, v. 9, n. 11, e110983, novembro, 2014.
LI, Yanjun; KONG, Weijun; LI, Menghua; LIU, Hogmei; ZHAO, Xue; YANG, Shihai; YANG, Meihua. Litsea cubeba essential oil asthe potential natural fumigant: inhibition of Aspergillus flavus and AFB1 production in licoreice. Industrial Crops and Products, v.80, p. 186-193, fevereiro, 2016.SHUKLA, Ravindra; SINGH, Priyanka; PRAKASH, Bhanu; DUBEY, N. K. Antifungal, aflatoxin inhibition and antioxidadnt activity ofCallistemon lanceolatus (Sm) Sweet essential oil and its major component 1,8-cineole against fungal isolates from chickpeaseeds. Food Control, v. 25, n. 1, p. 27-33, maio, 2012.SON, Le. C., DAI, Do. N., THANG, Tran. D., HUYEN, Duong. D., OGUNWANDE, Isiaka. A. Analysis of the essential oils from fiveVietnamese Litsea species (Lauraceae). Journal of Essential Oil Bearing Plants, Londres, v. 17, n. 5, p. 960-971, dezembro,2014.WEBSTER, Duncan; TASCHEREAU, Pierre; BELLAND, Rene J.; SAND, Crystal; RENNIE, Robert P. Antifungal activity ofmedicinal plant extracts; preliminary screening studies. Journal of Ethnopharmacology, v. 115, n. 1, p. 140-146, setembro,2008.
PREVALÊNCIA DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS ILÍCITAS POR ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADASDE UM MUNICÍPIO PARANAENSE
1BRUNA BARP, 2KETLIN MARGARIDA WARMLING, 3DANIELA TAVARES CAMERA, 4GESSICA TUANI TEIXEIRA,5FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão5Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: A adolescência é caracterizada pela passagem da infância para a fase adulta, sendo que esta é considerada umperíodo de inúmeras mudanças físicas, psíquicas, emocionais e sociais, que alteram os padrões de comportamentos, ficandosucessíveis a várias situações de risco para a saúde (MELO; PICHELI; RIBEIRO, 2016). De acordo com uma estimativaelaborada pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) e também reafirmado pela OrganizaçãoMundial da Saúde (OMS), aproximadamente 90% da população brasileira entre 5 a 19 anos de idade são dependentes danicotina (RIBEIRO et al. 2017). O consumo de drogas em idade escolar, principalmente em ensino médio, vem sendo umagrande preocupação de saúde pública como um dos principais fatores de risco para adolescentes (DIAS; SAITER; CUNHA,2015).Objetivo: Identificar a prevalência do uso de álcool e drogas ilícitas por adolescentes de escolas públicas e privadas de ummunicípio paranaense Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva e de campo, de abordagem quantitativa, desenvolvida em escolas públicas eprivadas de ensino médio de um município Paranaense entre os meses de maio a julho de 2018. Para coleta de dados foiutilizado um questionário fechado, validado e adaptado pelos autores, com as seguintes variáveis: sexo, idade, se segue algumareligião, se já fumou cigarros, se já consumiu bebida alcoólica, motivos que levam a pessoa a beber, o que aconteceu sob oefeito de álcool e se já usou outras drogas (maconha, crack, ecstasy, cocaína etc.). Salienta-se que, os estudantes sóparticiparam da pesquisa mediante apresentação do Termo de Consentimento Livre Esclarecido assinado pelos pais ouresponsáveis. A análise estatística descritiva foi realizada pelo programa estatístico SPSS 25.0. O projeto foi aprovado peloComitê de Ética sob o protocolo 2.596.383 e atendeu todos os preceitos éticos.Resultados: A pesquisa foi constituída por 470 estudantes, sendo 351 adolescentes de escolas públicas e 119 de privadas.Considerando o sexo dos estudantes, constatou-se que a maioria eram do sexo feminino e de escolas públicas (76,3%). Emrelação à religiosidade, a grande maioria seguia alguma religião (382) e não possuía filho (467). Quanto ao risco familiar, notou-se que 293 adolescentes moram com os pais e 178 moram apenas com um dos genitores, desses, 80,9% são de escolaspúblicas e 19,1% de escolas privadas. Quanto ao uso do cigarro, 95 estudantes já fumaram pelo menos 1 cigarro, sendo que68,4% eram de escolas públicas. Em relação ao consumo de álcool, a grande maioria em ambas as escolas já consumiram,26,6% e 73,4%, respectivamente. Também é evidenciado o uso de drogas ilícitas, sendo que 56 dos estudantes já consumiram,desses, 75% eram de escolas públicas.Discussão: No Brasil, vários estudos têm avaliado o comportamento de risco entre adolescentes. Realizando um monitoramentocontínuo nas escolas desde 2009, com a realização da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PENSE), promovida peloInstituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a partir de um convênio com o Ministério da Saúde (MS) e o apoio doMinistério da Educação. Tais pesquisas alertam sobre a importância do monitoramento nesta faixa etária (IBGE, 2016). Verificou-se na presente pesquisa que maioria dos estudantes possuem uma religião, residem com os pais (293) ou um de ambos osresponsáveis (178), comparando com o estudo de Malta et al. (2018) residir com um dos pais e realizar refeições diárias com osfamiliares (cinco ou mais vezes), garante ser um fator protetor para o uso de substâncias, contraditório aos estudantes que seausentam das aulas sem permissão dos pais são mais propícios a utilização de substâncias. Outro achado relevante foi àprevalência do consumo álcool, uso de cigarros e drogas ilícitas, comparando aos dados da Pense (2015) foram de 55,5%,18,4% e 9,0% respectivamente, sendo o álcool a substância mais prevalente, utilizada por um quarto dos adolescentes,principalmente por meninos. Neste contexto, estudo de Guedes e Carvalho (2018), afirma que as bebidas alcoólicas estãoinseridas no meio social, associada às festas e prazer, desde a antiguidade e portanto tornam-se mais acessíveis para crianças eadolescentes, mesmo que, proibidas para menores de 18 anos. Ainda assim, toda substância psicotrópica, possuem
consequências, desde dependência, aumento da violência e interrupção familiar, até risco de suicídios e óbitos prematuros.Conclusão: Conclui-se diante deste cenário que, a supervisão dos pais, acompanhada de diálogo neste núcleo é fundamental,cabendo a realização de intervenções junto ao contexto familiar, escolar e profissionais da saúde, fornecendo acolhimento einformações seguras. Contundo, é indispensável, o papel do enfermeiro que atua como facilitador neste processo, alertandosobre os efeitos que estas substâncias podem acarretar na vida desses adolescentes.
ReferênciasDIAS, A.; SAITER, M.; CUNHA, N. Avaliação de fatores de risco na adolescência. Revista Cientifica de Educação, v. 1, n. 1, p.115-132, 2015.GUEDES, M. F.; CARVALHO, M. H. O uso precoce de bebidas alcoólicas e seus reflexos na vida dos adolescentes. I Simpósiode Enfermagem da FACIG, Minas Gerais, p. 1-17, 2018, IBGE. Ministério da Saúde. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar2015. Rio de Janeiro: IBGE; 2016. 131 p.MALTA, D. C.; MACHADO, I. E.; FELISBINO-MENDES, M. S.; PRADO, R. R.; PINTO, A. M. S.; OLIVEIRA-CAMPOS, M.;SOUZA, M. F. M.; ASSUNÇÃO, A. A. Uso de substâncias psicoativas em adolescentes brasileiros e fatores associados: PesquisaNacional de Saúde dos Escolares, 2015. Rev. Bras. Epidemiol., v. 21, p.1-16, 2018.MELO, C. C.; PICHELI, A. A. W. S.; RIBEIRO, K. C. S. Um estudo comparativo entre o consumo de álcool e tabaco poradolescentes: Fatores de vulnerabilidade e suas consequências. Rev. InterScientia, João Pessoa, v.4, n.1, p.21-30, 2016.RIBEIRO, C. S.; et al. Consumo de álcool e tabaco e associação com outras vulnerabilidades em jovens. Rev. Psicologia,Saúde e Doenças, João Pessoa, v.18, n.2, p.348-359, 2017.
COMPORTAMENTO SEXUAL ENTRE ADOLESCENTES DE ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS PÚBLICAS DE PRIVADAS DEUM MUNICÍPIO PARANAENSE
1KETLIN MARGARIDA WARMLING, 2BRUNA BARP, 3DANIELA TAVARES CAMERA, 4GESSICA TUANI TEIXEIRA,5FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão5Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: A sexualidade na adolescência ainda é um assunto que causa controvérsias, principalmente para algumas famíliasque evitam falar sobre sexo com seus filhos, fazendo com que o adolescente busque sobre o assunto fora de casa e em lugarescujas informações podem estar equivocadas ou erradas. Desta forma, este público parece estar cada vez mais vulnerável aoinício precoce e desprotegido da atividade sexual, a gravidez indesejada e a contrair infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)(KRABBE et al., 2016). Considerando-se que atualmente as ISTs são um importante para saúde pública mundial, e entre outrosdesafios requer maior empoderamento por parte dos profissionais da área da saúde para realizar eficientes intervenções(UNAIDS, 2014).Objetivo: Observar o comportamento sexual e conhecimento de métodos contraceptivos entre adolescentes de ensino médio deescolas públicas e privadas de um município paranaense.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva e de campo, de abordagem quantitativa, desenvolvida em escolas públicas eprivadas de ensino médio de um município do Sudoeste do Paraná. Para coleta de dados foi utilizado um questionário fechado,validado e adaptado pelos autores, com as seguintes variáveis: sexo, idade, se já teve relação sexual, sexarca, com quem foi, seusa algum método para evitar gravidez e se usou camisinha na primeira e última relação sexual. Ainda assim, os estudantes sóparticiparam da pesquisa mediante apresentação do Termo de Consentimento Livre Esclarecido assinado pelos pais ouresponsáveis. A análise estatística descritiva foi realizada pelo programa estatístico SPSS 25.0. O projeto foi aprovado peloComitê de Ética sob o protocolo 2.596.383 e respeitou todos os preceitos éticos.Resultados: Participaram da pesquisa 470 estudantes, sendo 351 adolescentes de escolas públicas e 119 de escolas privadas.Em relação ao comportamento sexual desses adolescentes, a maioria ainda não teve a primeira relação sexual, contudo, 190estudantes já iniciaram atividades sexuais, número significativo por ser uma faixa etária inferior a 18 anos. Quanto ao uso decamisinha na primeira e última relação, evidenciou-se que alguns adolescentes ainda não usam camisinha como forma deprevenção de ISTʼs e gravidez, porém, a maioria tem conhecimento sobre métodos contraceptivos, contudo ainda assim não fazuso. Para aqueles que já iniciaram sua vida sexual, grande parte possui parceiro fixo, sendo estes, por sua vez, um fator deproteção para a contração de ISTʼs.Discussão: A relevância do início da sexualidade na adolescência apresenta vários fatores biológicos, tendo grande influêncianos agravos a saúde nesta faixa etária, carecendo de intervenções precoces, pela alta vulnerabilidade de gravidez precoce esurgimento de IST (SILVA et al., 2015). De maneira geral, com relação no comportamento dos estudantes, identificou-se ainiciação sexual precoce, mesmo com alto índice de estudantes que não tiveram relação sexual. Azevedo e colaboradores(2015), evidencia que a ausência de conhecimento sobre sexualidade e método contraceptivos é importante fator, influenciandonestes índices. A pesquisa indicou que alta taxa de estudantes usou preservativo na primeira relação, entretanto, comparandocom o estudo de Costa et al., (2018), realizada em no Acre com duas escolas do ensino médio, obteve porcentagem semelhante,20% da amostra estudada escola particular, e 33% dos estudantes de escola pública que realizaram sexo desprotegido,afirmando que comportamentos como estes, os tornam os estudantes suscetíveis a aquisição de infecções. Neste contexto,também foi possível avaliar a prevalência do uso de preservativos na última relação. Cancino e Valencia (2015), afirmam que osexo desprotegido não é apenas uma dificuldade brasileira, ao passo que 40% dos adolescentes dos Estados Unidos mantémrelação sexual sem o uso de preservativos. No presente estudo, observou-se que as maioria dos estudantes possuem parceirofixo, corroborando com o estudo Lima e colaboradores (2019) onde prevalece apenas um parceiro. Entretanto, Lowry et al.,(2014), afirma que o fato de adolescentes terem mais que um parceiro, é explicado por ser uma fase descobertas, apresentando-se comum a mudanças de companheiros, elevando a probabilidade de contrair IST. Wang et al (2014) destaca que éfundamental o diálogo familiar sobre educação sexual. O vínculo entre pais e filhos proporciona boa comunicação, facilitando
abordagem de assuntos como sexo em geral e uso de preservativos, contribuindo para prevenção de disseminação de IST eoutros agravos de saúde.Conclusão: Conclui-se que é necessário a intervenção e apoio entre escolas, famílias e sociedade, desempenhando estratégiaspara orientar e apoiar adolescentes, fornecendo informações seguras, promovendo melhoria de qualidade de vida e segurança.O enfermeiro se mostra como um importante profissional que pode atuar na prevenção do agravo, assim como nas orientaçõesde promoção a saúde em todos os seus ciclos da vida.
ReferênciasAZEVEDO, W. F.; DINIZ M. B.; FONSECA, E. S. V. B.; AZEVEDO, L. M. R.; EVANGELISTA, C. B. Complications in adolescentpregnancy: systematic review of the literature. Ciência saúde coletiva, v.13, n.4, p.618-626, 2015.CANCINO, A. M. M.; VALENCIA, M. H. Embarazoenlaadolescencia: cómoocurreenlasociedadactual. Perinatol Reprod Hum,v.29, n.2, p.47-88, 2015.COSTA, R. S. L.; SILVA, W. B.; NASCIMENTO, K. J. O. Percepção de risco de adolescentes escolares em relação às infecçõessexualmente transmissíveis em duas escolas de ensino médio do acre. Dê Ciência em Foco, v.2, n.2, p. 59-72, 2018.KRABBE, E. C.; et al. Escola, sexualidade, práticas sexuais e vulnerabilidade para infecções sexualmente transmissíveis (IST).Rev. Interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão, Rio Grande do Sul, v.4, n.1, p.75-84, 2016.LOWRY, R.; ROBIN, L.; KANN, L.; GALUSKA, D., Associations of body mass index with sexual risk-taking and injection drug useamong US high school students. J Obes, 2014.SILVA, et al. Nursesʼ perceptions of the vulnerabilities to STD/AIDS in light of the process of adolescence. Rev Gaúcha Enferm,v.36, n.3, p.72-78, 2015.UNAID- Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. The Gap Report. Genebra: UNAIDS; 2014.WANG, B. O. et al. The impact of parent involvement in an effective adolescent risk reduction intervention on sexual riskcommunication and adolescent outcomes. AIDS Educ Prev, v.26, n.6, p.500, 2014.
A PRÁTICA DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA
1LUCIMARA DE MACEDO BORGES, 2MARCELA GONCALVES TREVISAN, 3LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Docente do Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Docente do Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: Atualmente, o parto deixou de ser visto como um evento fisiológico e passou a ser tratado de forma mecânica ehospitalizado (SANTOS; SOUZA, 2015). A institucionalização do parto se deu ao longo da década de 1940 com a utilização detécnicas e intervenções invasivas durante o parto. A falta de protagonismo da mulher e à adesão de práticas desnecessáriaspelos profissionais configuram-se como violência obstétrica (PÉREZ; OLIVEIRA; LAGO, 2015). De acordo com Diniz (2015) asprincipais formas de violência obstétrica se dão por meio de xingamentos, constrangimentos, ofensas a gestante e sua família,humilhações, piadas contra seu corpo, raça, crença ou situação socioeconômica, não permitir acompanhante, realização deprocedimentos sem comunicar e/ou solicitar autorização e ainda, a utilização de manobras e procedimentos para acelerar oparto. Dados avaliados pelo Ministério da Saúde (MS) mostram que no ano de 2017 foram realizados 2,7 milhões de partos noBrasil, destes, 58,1% foram partos normais e 41,9% cesarianas. Apesar da taxa de cesarianas ser alta comparando com o que épreconizado pela OMS que é de apenas 15%, foi à primeira vez em 10 anos que houve uma redução no Brasil (LABOISSIÈRE,2017). Objetivando minimizar o índice de mortalidade materno-infantil e garantir uma assistência humanizada e de qualidade, aolongo dos anos foram instituídas Políticas Públicas e Programas para modificar o cenário atual e fortalecer medidas de prevençãoe promoção em saúde.Objetivo: Realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a prática da violência obstétrica por profissionais de saúde eapresentar as principais evidências encontradas nos artigos selecionados.Desenvolvimento: A violência é demostrada desde a negligência na assistência, discriminação social, violência verbal eviolência física até o abuso sexual, o uso inadequado de tecnologia, resultando em numa cascata de intervenções com potenciaisriscos e sequelas para o binômio (RODRIGUES, 2015). A violência vem muitas vezes disfarçada em forma de poder, em que oprofissional usa seu conhecimento científico, com autoridade, coagindo e humilhando a mulher (PÉREZ; OLIVEIRA; LAGO,2015). Desigualdade de gênero, mulheres negras, baixa escolaridade atrelada à falta de informação, autonomia e conhecimentoda mulher favorecem as desigualdades, tornando as relações de poder no trabalho de parto e parto autoritário e humilhante(PEREIRA et al., 2016). De acordo com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (2015) asmaternidades no Brasil estão superlotadas e com infraestrutura bastante precária, além do déficit de profissionais obstetras,capacitação profissional e sua baixa remuneração no setor público levam os profissionais a usarem manobras como a deKristeller, injeção de ocitocina sintética, episiotomia e vários outros procedimentos realizados a fim de acelerar o processo departo e acabam sendo realizados de forma agressiva e não permitem o tempo fisiológico do parto. Esses métodos são muitasvezes frutos da intolerância e impaciência dos profissionais da saúde. A manobra de Kristeller se enquadra em violênciaobstétrica e consiste em uma manobra na qual é exercida pressão sobre a porção superior do útero, no intuito de fazer o bebêsair mais rápido. Porém, essa tentativa de agilizar o processo pode trazer prejuízo tanto para a mãe quanto para o bebê. Amãe pode fraturar as costelas e também pode haver descolamento da placenta, já o bebê pode sofrer traumas encefálicos(RODRIGUES, 2015). Estudo que buscou descrever as boas práticas de atenção ao parto apontou que, em 37% dos partos foiutilizado a manobra (Leal et al., 2014). A episiotomia, um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns em obstetrícia é, noentanto, realizado muitas vezes sem qualquer consentimento específico da paciente. É uma intervenção ainda realizadarotineiramente pelos profissionais de saúde, presos a conceitos e práticas que não contemplam evidências científicas atuais,insistem na realização deste procedimento, violando assim, os direitos das mulheres (COHEN; LIMA, 2016). Em um estudorevisado por Souza et al (2016) mostra que 25,5% das mulheres referem a realização da episiotomia e consequente episiorrafia.Como qualquer ato cirúrgico, essa prática também tem algumas complicações. Os riscos associados são, entre outros, aextensão da lesão, hemorragia significativa, dor no pós-parto, edema, infecções, hematoma, dispareunia, fístulas retovaginais e aendometriose da episiorrafia (PEREIRA et al., 2016). De acordo com estudo de Santos e Souza (2015) a utilização de ocitocina érotineiramente usada, com complicações frequentes de sofrimento fetal agudo, na qual a parturiente pode sofrer complicações,rotura uterina e podendo levar a um trauma perineal, devido ao desprendimento abrupto cefálico fetal.Conclusão: Durante toda a gestação e o trabalho de parto as mulheres possuem direitos que devem ser respeitados pelosprofissionais da saúde para que se tenha um atendimento integral e de qualidade. Sendo assim, sugere-se que as práticasdurante o parto devem ser repensadas pelos profissionais, para que possam garantir e promover uma melhor condição de saúdepara a mãe e o seu bebê.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde fará monitoramento online de partos cesáreos no País.07 mar.2018. Disponível em: http://saúde.gov.br/noticias/agencia-saude/42714-ministerio-da-saude-fara-monitoramento-online-de-partos-cesareos-no-pais. Acesso em: 10 maio 2019.COHEN, Gabrielle Bardella; LIMA, Rikson Silva. Prevalência e critério de indicação da episiotomia. 2016. DINIZ, Simone Grilo, et al. Violência obstétrica como questão para saúde publica no Brasil: origens, definições, tipologia, impactosobre a saúde materna, e propostas para sua prevenção. Journal of Human Growth and Development., v. 25, n. 3, p. 376-377, 2015.FEBRASCO. Manual de anticoncepção / Marta Finotti.- São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia eObstetrícia (FEBRASGO), 2015.LEAL, Maria do Carmo, et al. Intervenções obstétricas durante o trabalho de parto e parto em mulheres brasileiras de riscohabitual. Cad. Saúde Pública, p.17-47, Rio de Janeiro, 2014.PEREIRA, Jéssica Souza, et al. Violência obstétrica: ofensa à dignidade humana. Brazilian Journal of Surgery and ClinicalResearch-BJSCR., v.15, n.1, p. 103-108, jun./ago. 2016.PÉREZ, Bárbara Angélica Gómez; OLIVEIRA, Edilaine Varjão; LAGO, Mariana Santos. Percepções de puérperas vítimas deviolência institucional durante o trabalho de parto e parto. Revista Enfermagem contemporânea, v.4, n.1, p. 66-77, jan./jun.2015. RODRIGUES, Diego Pereira, et al. A violência obstétrica como prática no cuidado na saúde da mulher no processo parturitivo:análise reflexiva. Revista de enfermagem UFPE online, Recife, v. 9, n. 5, jun., 2015.SANTOS, Rafael Cleison Silva dos; SOUZA, Nádia Ferreira de. Violência institucional obstétrica no Brasil: revisãosistemática. Estação Cientifica (UNIFAP), Macapá, v. 5, n. 1, p. 57-68, jan./ jun. 2015.SOUZA, Ana Maria Magalhães, et al. Práticas na assistência ao parto em maternidades com inserção de enfermeiras obstétricasem Belo Horizonte, Minas Gerais. Esc. Anna Nery, v. 2, n. 20, p.324-331, abr./jun. 2016.
PRINCIPAIS CONDUTAS INSTITUÍDAS COM PARTURIENTES EM TRABALHO DE PARTO EM DUAS MATERNIDADES DOSUDOESTE DO PARANÁ
1LUCIMARA DE MACEDO BORGES, 2THALIA DAL CERO, 3THAYNA GABRIELLA DE SOUZA MENDES, 4MARCELAGONCALVES TREVISAN, 5LEDIANA DALLA COSTA
1 Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Docente do Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente do Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: O cuidado à saúde da mulher passou por diversas mudanças a partir de 1980, quando sofreu influência direta dePolíticas e Programas de Saúde, contribuindo para a melhoria do acesso à atenção ao pré-natal, parto e nascimento(MEDEIROS, 2016). Estudo de Nakano, Bonan e Teixeira (2016) aponta que a hospitalização e mercantilização do parto vêmcrescendo no Brasil, além, dos avanços tecnológicos em medicina que acabam por aumentar ainda mais esse processo. Aspráticas utilizadas rotineiramente em maternidades costumam ser de forma liberal, muitas vezes, sem o consentimento dasgestantes. As intervenções que são frequentemente usadas no trabalho de parto (TP) de modo inadequado, são claramenteprejudiciais ou ineficazes, como: o uso rotineiro de enema, episiotomia, toques vaginais repetitivos, tricotomia, restrição hídrica ealimentar (PÉREZ; OLIVEIRA; LAGO, 2015). Esse contexto, sem dúvida revela a realidade das maternidades brasileiras, ondesão empregadas condutas rotineiras, sem evidências científicas.Objetivo: Identificar quais são as principais intervenções e condutas realizadas com parturientes durante o trabalho de parto emduas maternidades de um município do Sudoeste do Paraná.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, documental e descritiva, de abordagem quantitativa, desenvolvida em duasmaternidades públicas entre junho a agosto de 2019. Para coleta de dados foi utilizado um questionário fechado, validado eadaptado pelos autores, baseado na literatura. A amostra foi composta por puérperas internadas nas referidas maternidades. Aanálise estatística foi realizada pelo programa SPSS 25.0. A pesquisa foi aprovada sob o protocolo 3.364.970, respeitando todosos preceitos éticos.Resultados: Participaram da pesquisa 128 puérperas, sendo a maioria 74,8% da raça branca, com predominância de 71,7%entre 16 a 34 anos. Quanto a escolaridade, cerca de 52,0% afirma ter concluído o ensino médio e houve prevalência da rendafamiliar em dois salários mínimos com 45,7%. Quando questionadas sobre a realização da tricotomia, 78,0% diz que fez emcasa, 10,2% fez no hospital e 11,8% afirmaram que não foi feito. Vale destacar também que, o enema não foi realizado namaioria das parturientes, 5,5%. No que tange a hidratação venosa, 84,3% recebeu durante o TP. Em relação ao uso de ocitocinapara estimulação do parto, 33,1% receberam o hormônio. Quanto aos toques vaginais, 63,8% foram submetidas por mais de umprofissional. Ao passo que, a amniotomia não foi empregada em 89,0% delas. Quanto a posição adotada na hora do parto, 27,6%responderam litotômica. Frente ao estímulo de força, 28,3% foram estimuladas no momento expulsivo sendo que, a manobra deKristeller foi utilizada em apenas 6,3% dos partos vaginais. Referente à utilização da episiotomia, 14,2% receberam essaintervenção e o mesmo número de participantes sofreram laceração, dessas 22,8% foram submetidas a episiorrafia.Discussão: A pesquisa aponta predomínio de puérperas jovens, em idade fértil, de raça branca, com ensino médio completo erenda familiar de até 1 salário mínimo. Acerca das principais condutas, observou-se que a tricotomia ainda é uma práticaadotada. Em estudo de Souza et al (2016) essa técnica não foi constatada como rotina no ambiente hospitalar, uma vez que,evidenciou-se a presença de enfermeiros e médicos obstetras. Observou-se que a utilização de hidratação venosa é umaconduta rotineira nas instituições hospitalares. Indo de encontro com o estudo de Leal et al (2014), onde revela que essa práticaé utilizada em 70% das internações como forma de apoio caso aja intercorrências durante o TP. É perceptível que o usoindiscriminado de ocitocina está presente no ambiente hospitalar, dados comparados com o estudo de Souza et al (2016),demonstram que essa técnica é reflexo da forte influência do modelo tecnocrático sobre as práticas dos profissionais, de umaassistência intervencionista (41,7%). Constatou-se no presente estudo que o toque vaginal apresentou índice elevado, apesar doexpressivo número de partos cesarianos, ao passo que pesquisa de Apolinário e colaboradores (2016) vai de encontro com opresente estudo quando 63% das gestantes foram submetidas a toques vaginas por mais de um profissional em 1 hora, sendoque o preconizado é o toque não repetitivo e com intervalos de 2 horas. No quesito realização de amniotomia apenas 11,0%realizou esta intervenção, justificado pelo alto índice de cesárea. Já no estudo de Souza et al (2016) essa conduta é realizadacom frequência em Centros de Parto Normal, em contrapartida quando a assistência é conduzida por enfermeiros obstetras é
empregada em menos de 6% dos casos. Ao falamos em boas práticas obstétricas não podemos levar em conta à posiçãolitotômica, a força no momento expulsivo, manobra de Kristeller, episiotomia e episiorrafia, sendo esses considerados um ato deviolência, segundo Leal et al (2014) esses procedimentos são vistos com menor frequência no setor público, devido ao trabalhodo Ministério da Saúde em implantar um atendimento mais humanizado. Conclusão: A partir da observação realizada, é possível identificar que a assistência ao parto deve ser revista pelosprofissionais. Devendo considerar uma assistência mais humana e integral, sem o uso de intervenções clinicas, levando essamulher a um momento de prazer e satisfação durante o trabalho de parto e parto.
ReferênciasAPOLINÁRIO, Debora, et al. Práticas na atenção ao parto e nascimento sobre a perspectiva das puérperas. Rev.Rene,v.1,n.17,pp.20-28,jan./fev.2016.LEAL, Maria do Carmo, et al. Intervenções obstétricas durante o trabalho de parto e parto em mulheres brasileiras de riscohabitual. Cad. Saúde Publica, pp.17-47, Rio de Janeiro, 2014. MEDEIROS, Maxsuênia Queiroz. Intervenções obstétricas durante o trabalho de parto e parto em mulheres de riscohabitual de uma maternidade de referencia do Ceará. Orientador: Francisco Carvalho. 2016.90f. Dissertação (Mestrado emSaúde Coletiva)- Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Medicina, Fortaleza, 2016.NAKANO, Andreza Rodrigues; BONAN, Claudia; TEIXEIRA, Luiz Antônio. Cesárea, aperfeiçoando a técnica e normatizando aprática: uma análise do livro Obstetrícia. In: REZENDE, Jorge de: História, Ciências, Saúde. São Paulo: Manguinhos, 2016. v.23, n.1, p.155-172.PÉREZ, Bárbara Angélica Gómez; OLIVEIRA, Edilaine Varjão; LAGO, Mariana Santos. Percepções de puérperas vítimas deviolência institucional durante o trabalho de parto e parto. Revista Enfermagem contemporânea, v.4, n.1, pp. 66-77, jan./jun.2015. SOUZA, Ana Maria Magalhães, et al. Práticas na assistência ao parto em maternidades com inserção de enfermeiras obstétricasem Belo Horizonte, Minas Gerais. Esc. Anna Nery, v.2, n. 20, pp.324-331, abr./jun. 2016.
INFORMAÇÕES REPASSADAS AS GESTANTES PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ACERCA DO ALEITAMENTOMATERNO
1CAROLINE MARIA DA SILVA, 2SUELLEN PESSETTI, 3ALINE MARA MARTINS OTTOBELI, 4MARLI OLIVEIRA DE PAULA,5JOLANA CRISTINA CAVALHEIRI, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Docente do curso de Enfermagem da Universidade Paranaense. Unidade de Francisco Beltrão.5Docente do curso de Enfermagem da Universidade Paranaense. Unidade de Francisco Beltrão.
Introdução: O aleitamento materno é considerado a melhor forma de nutrir e proteger o bebê, já que oferece nutrientesnecessários para o melhor desenvolvimento da criança e proporciona proteção para a mãe e o lactante (RODRIGUEZ et al.,2014), pois protege a criança contra a diarreia, pneumonia, alergias, diminui o risco de hipertensão, colesterol, diabetes,obesidade, desnutrição e mortalidade, além de estar relacionado a uma melhor cognição e desenvolvimento da cavidade bucal.Para a mãe, observa-se como benefícios, a proteção para o câncer de mama, anemia, diabetes, hemorragias, auxílio no retornodo peso pré-gestacional, bem como menores custos financeiros (DE SA et al., 2019). Os profissionais de saúde sãoimprescindíveis para a prática do aleitamento materno na orientação e manejo clínico junto a mãe e familiares (UCHOA et al.,2016).Objetivo: Identificar quem são os profissionais de saúde que orientam sobre o aleitamento materno e quais as informaçõesrepassadas as gestantes.Metodologia: Estudo de campo, exploratório-descritivo, de caráter quantitativo e longitudinal, realizado em Francisco Beltrão,Paraná, em oito Estratégias Saúde da Família que foram selecionadas para coleta de dados, por localizarem-se em bairrosde maior vulnerabilidade. A amostra foi constituída por gestantes, com idade gestacional a partir de 28 semanas que procuraramos serviços para consulta do pré-natal e aceitaram participar da pesquisa, excluindo-se as gestantes HIV positivo, as que nãoaceitaram preencher o questionário e as com menor idade gestacional. Os dados foram coletados por questionário formuladopelos próprios autores, segundo literatura, durante os meses de maio a agosto de 2019. Após a coleta de dados, as informaçõesforam compiladas no Excel 2010 e no Statistical Package for the Social Sciences. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Éticaem Pesquisa com Seres Humanos pelo parecer 3.291.332.Resultados: Das 80 gestantes participantes, 100% (80) informaram ter acompanhamento por um profissional de saúde no pré-natal, sendo o médico o profissional prevalente para 60% (48), seguido de médico/enfermeiro para 40% (32) e 67,5% (54)relataram terem sido informadas sobre o aleitamento materno. Quando perguntadas se algum profissional as informou sobre asdificuldades que poderão surgir com o aleitamento, 56,3% (45) responderam que sim, prevalecendo as informações através degrupos de apoio para 15% (12) das gestantes. Quando solicitadas sobre orientações repassadas referentes as técnicas deamamentação, 55% (44) afirmaram que receberam orientação, no qual 17,5% (14) foram por grupos de apoio.Discussão: Observa-se neste estudo que o acompanhamento do pré-natal era realizado em sua maioria pelo profissionalmédico, entretanto, cabe ressaltar que de acordo com a lei do exercício profissional, cabe ao enfermeiro privativamente aassistência de enfermagem a gestante, parturiente e puérpera (COFEN, 1986). Dessa forma, o profissional que atua na atençãobásica pode realizar o acompanhamento das gestantes de baixo risco, de acordo com os protocolos do município, emconsonância com as diretrizes nacionais, sendo este espaço privilegiado para a introdução de orientações adequadas ecompartilhamento de experiências e vivências (COSTA et al., 2019). Observou-se que 67,5% das mulheres recebeu orientaçãosobre o aleitamento materno, inclusive sobre as dificuldades que poderiam surgir neste período. Ressalta-se que após onascimento, é comum o aparecimento de dúvidas e incertezas, sendo que as orientações repassadas pelos profissionaisacalmam e confortam a família. A escuta ativa e qualificada do enfermeiro pode amenizar as dificuldades, desde os cuidadoscom higiene corporal e do coto umbilical, posicionamento e aleitamento materno, além de poder ofertar conhecimento e estimulara técnica adequada de amamentação, o que diminui as chances do desmame precoce (MENDES et al., 2016). Quanto a técnicade amamentação quando realizada de forma adequada, traz benefícios a mulher na liberação de ocitocins que contribui nacontração uterina, prevenção de hemorragias e favorece a involução uterina, além disso, proporciona o leite materno emquantidade e qualidade adequada, já que este contém agua, proteínas e gordura, protegendo, hidratando e nutrindo o recém-nascido (ROLINS et al., 2015). Percebeu-se também que, a maioria das orientações neste estudo foram realizadas em grupos de
apoio, organizados por uma equipe multiprofissional e intercalados ao atendimento de pré-natal das Unidades de Saúde. Aopasso que, os grupos permitem um acesso à maior número de informações, troca de experiências e conhecimentos, além deproporcionar autocuidado, bem-estar, encorajamento, ânimo, autoconfiança e auxílio na aceitação das mudanças corporais dagestação facilitando a prática da amamentação (LIMA et al., 2019).Conclusão: As informações repassadas sobre o aleitamento materno foram realizadas nos grupos de apoio, ressaltando-sedificuldades advindas desta prática e a técnica de amamentação adequada. O profissional que prevaleceu no acompanhamentodo pré-natal foi o médico, seguido da atuação conjunta com o enfermeiro.
ReferênciasCONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Lei n 7.498/86, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação doexercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil: Seção I. Brasília, jun.1986, p. 9.273- 9.275.COSTA, Felipe dos Santos et al. Promoção do aleitamento materno no contexto da estratégia de saúde da família. Revista Redede Cuidado em Saúde, Niterói, v.13, n.1, p.1-15, jul. 2019.DE SA, Fernanda Maria dias Loureiro et al. Imagens do ato de amamentar como cuidado em saúde: a percepção das própriasnutrizes. Journal of Nursing and Health, Niterói, v.35, n.1, p.19-29, abr. 2019.LIMA, Vanessa Kelly da Silva et al. Educação em saúde para gestantes: A busca pelo empoderamento materno no ciclogravídico-puerperal. Revista Online de Pesquisa, Rio de Janeiro, v.11, n.4, p.968-975, jul./set. 2019.MENDES, Pamela Driely Georges et al. O papel educativo e assistencial de enfermeiros durante o ciclo gravídico-puerperal: apercepção das puérperas. R. Interd, Maranhão, v.9, n.3, p.49-56, jul./ago./set. 2016.
CONHECIMENTO DAS GESTANTES PARA O ALETAMENTO MATERNO
1MARLI OLIVEIRA DE PAULA, 2SUELLEN PESSETTI, 3TAINARA NOTH JOB DA SILVA, 4CAROLINE MARIA DA SILVA,5JOLANA CRISTINA CAVALHEIRI, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão5Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: O aleitamento materno é uma estratégia eficaz e importante para a saúde da criança, já que reforça vínculo, afeto eproteção, além de garantir a nutrição adequada e constituir a maior intervenção para redução da morbimortalidade infantil(MENDES et al., 2019). Dessa forma, por ser uma prática multidimensional, amamentar envolve aspectos biológicos,socioeconômicos, culturais e familiares, sendo importante que a gestante possua conhecimento sobre as práticas de aleitamento,para que além de conseguir amamentar, mantenha o vínculo por tempo duradouro (LIMA et al., 2018).Objetivo: Identificar o conhecimento das gestantes a respeito do aleitamento materno.Metodologia: Estudo de campo, exploratório-descritivo, de caráter quantitativo e longitudinal, realizado em Francisco Beltrão,Paraná, em oito Estratégias Saúde da Família que foram selecionadas para coleta de dados, por localizarem-se em bairros quemaior vulnerabilidade. A amostra foi constituída por gestantes, com idade gestacional a partir de 28 semanas que procuraram osserviços para consulta do pré-natal e aceitaram participar da pesquisa. Foram excluídas as gestantes HIV positivo, as que nãoaceitaram preencher o questionário e as com menor idade gestacional. Os dados foram coletados por questionário formuladopelos próprios autores, segundo literatura, durante os meses de maio a agosto de 2019. Após a coleta de dados, as informaçõesforam compiladas no Excel 2010 e no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21.0. A pesquisa foi aprovadapelo Comitê de Ética-Pesquisa com Seres Humanos através do parecer 3.291.332.Resultados: Participaram da pesquisa 80 gestantes, sendo que 93,8% (75) acreditavam que o aleitamento traz vantagens a elase 100% (80) ao bebê. Além disso, 60% (48) das mulheres relataram saber o momento ideal para primeira mamada do recém-nascido e 77,5% (62) conseguem identificar a necessidade de ofertar a mama para a lactação. Sobre o tempo que deve durar amamada, 53,8% (43) das mulheres não possuíam conhecimento quanto a duração e em relação ao leite materno do início serdiferente do leite final, 77,5 % (62), afirmaram que sim. Da mesma forma, em relação, a se existe situações em que não se podeamamentar, 45% (32) afirmaram existir, sendo que 41,3% (33) das mulheres referiram que devem manter o aleitamento até os 2anos. Quanto ao entendimento sobre aleitamento materno exclusivo, 78,8% (63) das mulheres apresentaram conhecimentoadequado sobre a terminologia e 73,8% (59) aludiram o período de amamentação com exclusividade até os 6 meses. Járeferente ao aleitamento materno, juntamente com outros alimentos, 55% (44) das gestante referiram que este pode ser mantidoaté os 2 anos de idade.Discussão: Observou-se que as gestantes acreditavam que o aleitamento materno traz vantagens as mulheres, o que corroboracom estudo desenvolvido em São Paulo, no qual o benefício imediato foi o retorno dos seus corpos as formas normais em poucotempo (CHAGAS et al., 2017). Quanto as vantagens ao recém-nascido, Flores et al., (2017) evidencia que as crianças estãoprotegidas contra doenças infecciosas, crônicas e agudas. Quando observado o momento ideal para amamentar, estudo emPernambuco, obteve que 85% das mães possuíam a concepção que este instante acontece já nas primeiras horas após onascimento, onde o recém-nascido esta alerta e o reflexo de sucção ativo (SANTOS et al., 2019), da mesma que Costa et al.,(2017) evidenciou que as mulheres possuíam conhecimento quanto ao momento certo para amamentar, sendo o choro aexpressão do sentimento de fome. Entretanto, observou-se desconhecimento quanto a duração da mamada, dados semelhanteaos encontrados em estudo de Costa et al., (2017) com 53,3%. Quando questionadas sobre as concentrações do leite inicial efinal estas relataram ser diferentes, sendo que o leite do início é constituído por uma concentração maior de água e anticorpos,enquanto o final é composto por gordura (BRASIL, 2015). Quando questionadas sobre situações as quais ao aleitamento deveser interrompido, 45% relataram possuir conhecimento, da mesma forma, que sobre o período de amamentação, grande partedas mulheres, apresentou respostas assertivas, entretanto, estudo nordestino, encontrou que 86,7% das mulheres tinhamconhecimento sobre a manutenção do aleitamento exclusivo (SANTOS et al., 2017), dados superiores ao estudo. Já quanto aotempo do aleitamento, Costa (2018) referem que com o crescimento do lactente, inicia-se a alimentação complementargradativamente, permitindo a inclusão de alimentos, água e chás. Santos et al., (2019) referem ainda que a criança deve ser
amamentada até 2 anos, pois o leite continua sendo uma fonte de nutrientes, como proteínas, gorduras e vitaminas.Conclusão: Conclui-se a partir dos resultados obtidos que grande parte das gestantes entrevistadas tem conhecimento daimportância do aleitamento materno, com benefícios para a mãe e o bebê. Compreendem que até os seis meses o aleitamento éexclusivo e não necessita complemento, no entanto tem fragilidades em saber quanto tempo deve durar a mamada e até queidade o bebê precisa ser amamentado.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à Saúde. Departamento de Atenção à Saúde. Saúde da criança:aleitamento materno e alimentação complementar. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 185p.CHAGAS, Deysiane Costa das et al. Efeitos do ganho de peso gestacional e do aleitamento materno na retenção de peso pós-parto em mulheres da coorte Brisa. Cad. Saúde Pública, São Paulo, v. 37, n. 5, p. 1-15, jun. 2017.COSTA, Larissa Horrana Pontes. Importância do aleitamento materno exclusivo. Orientador: Maria Cláudia da Silva. 2018. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Nutrição) Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, CentroUniversitário de Brasília, Brasília, 2018.COSTA, Ruth Silva Lima et al. Dificuldades encontradas pelas mães ao amamentar em uma unidade de Referência em AtençãoPrimária. Rev. DêCiência em Foco, v. 1, n. 1, 2017.FLORES, Thaynã Ramos et al. Consumo de leite materno e fatores associados em crianças menores de dois anos; PesquisaNacional de Saúde, 2013. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 33, n. 11, p. 1-15, nov. 2017.LIMA, Simone Pedrosa et al. Desvelando o significado da experiência vivida para o ser-mulher na amamentação comcomplicações puerperais. Texto Contexto Enferm., v. 27, n. 1, p. 1-8, 2018.MENDES, Sara Cavalcanti et al. Fatores relacionados com uma menor duração total do aleitamento materno. Rev. Ciênc. SaúdeColet., v. 24, n. 5, Rio de Janeiro, maio 2019.SANTOS, Eryka Maria dos et al. Avaliação do aleitamento materno em crianças até dois anos assistidas na atenção básica doRecife. Rev. Ciênc. Saúde Colet., v. 24, n. 3, p. 1211-1222, 2019.SANTOS, Yasmim Costa et al. Caracterização do perfil de doadoras do banco de leite humano da maternidade escola deSalvadorBA. Enfermagem Brasil, v. 17, n. 6, p. 580-584, 2017.
MOBILIZAÇÃO NEURAL E A EFICÁCIA NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA CRÔNICA
1POLYANA ALCANTARA DOS SANTOS, 2MILLENA ANGELI DOMINGUES PEREIRA, 3GABRIELE FERNANDA LOPES,4RENATO HENRIQUE CAETANO JUNIOR, 5JOYCE PORFIRIO BATISTA, 6JEFFERSON J AMARAL DOS SANTOS
1Acadêmico bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR2Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR3Acadêmico do PIC/UNIPAR4Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: De acordo com Cecin (1997) a dor lombar é anatomicamente presente na extensão entre o fim da região torácicaaté o cóccix podendo ser irradiada para membros inferiores, é comumente referida nas vértebras L4-L5. Walker (2000) e Hoy etal. (2012) discutem a prevalência da dor lombar na população mundial, que pode chegar cerca de 11,6% no total eaproximadamente 65% das pessoas podem referir ter lombalgia anualmente. A lombalgia crônica pode ser tratada como tambémdiagnóstica através da mobilização neural, que trabalha especificamente com o sistema nervoso e sua estrutura dinâmica,propiciando o reequilíbrio do mesmo aliviando consequentemente a dor (BUTLER, 1989).Objetivo: Analisar os efeitos terapêuticos da mobilização neural na sintomatologia dolorosa dos pacientes diagnosticados comlombalgia crônica.Desenvolvimentos: Oliveira e Teixeira (2007) discorrem que a técnica de mobilização neural é antiga porém pouco conhecida eutilizada no tratamento da dor, é existente desde de 1800 e vem se evoluindo na prática e na teoria desde então. Butler (2003)descreve o sistema nervoso com duas especificidades únicas que são a elasticidade, compreendendo este como sua estrutura ea condutividade elétrica como sua principal função, devido estas duas características, originou-se o termo neurodinâmica. Sendoassim, partindo desta informação foi elaborada a técnica de mobilização neural que tem como objetivo diminuir a tensão tanto dosistema nervoso central quanto do periférico, contribuindo desta forma no quadro álgico. Negrelli (2001) descreve hérnia discalcomo uma comum causa da dor lombar crônica, caracterizando-se como um extravasamento do núcleo pulposo devido aorompimento dos ânulo fibroso, causando uma compressão nervosa e consequentemente a dor, por este motivo se mostra umapatologia crônica de possível tratamento empregando a mobilização neural.Conclusão: O presente estudo, por meio dos artigos levantados, demonstra a efetividade da mobilização neural no tratamentoda lombalgia, porém, destacamos a necessidade de mais estudos referentes a está área devido a poucos relatos de casosassociados à técnica (MACHADO; BIGOLIN, 2010).
ReferênciasBUTLER D. S. A mobilização do sistema nervoso.1. ed. São Paulo: Manole, 2003.BUTLER, D. S. Adverse mechanical tension in the nervous sistem: a model for assessmente and treatment. Australian Journalof Physiotherapy, Australian. v.35 n. 4, p. 227-238, oct./dec. 1989.CECIN, H. A. Proposição de uma reserva anatomofuncional, no canal raquidiano, como fator interferente na fisiopatologia daslombalgias e lombociatalgias mecânico degenerativas. Revista Associação Médica Brasileira, São Paulo, v.43, n.4, p.295-310,abr. 1997.HOY, D.; BAIN, C.; WILLIAMS, G.; MARCH, L.; BROOKS, P.; BLYNTH, F. et al. A systematic review of the global prevalence oflow back pain. Arthristis Rheum, Queensland, v.64, n.6, p. 2038-37, june, 2012.MACHADO, G. F.; BIGOLIN, S. E. Estudo comparativo de casos entre a mobilização neural e um programa de alongamentomuscular em lombálgicos crônicos. Fisioterapia e Movimento, Curitiba, v.23, n.4, p. 545-544, out/dez 2010.NEGRELLI, W. F. Hérnia discal: procedimentos de tratamento. Acta. Ortopédica Brasileira, São Paulo, v.7, n.4, p. 39-45, out/dez 2001.OLIEIRA, J. H.F.; TEIXEIRA, A. H. Mobilização do sistema nervoso: avaliação e tratamento. Fisioterapia e movimento, Curitiba,v.20, n.3, p. 41-53, jul./ set. 2007.WALKER, B. F. The prevalence of low back pain: a systematic review of the literature from 1966 to 1998. Journal of SpinalDisorders, Philadelphia, v.13, n.3, p. 205-217, june, 2000.
TERAPIA MANUAL INTENSIVA NO TRATAMENTO DE PARALISIA CEREBRAL
1POLYANA ALCANTARA DOS SANTOS, 2GISLAINE THAINA HEMKEMEIER, 3ANIELE MARIA PEREIRA, 4ARIELE REGINASTRALIOTTO, 5DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo Hernandez, Solanes e Gonzáles (1998), a Paralisia Cerebral é uma lesão encefálica presente no SistemaNervoso Central, considerada uma das desordens mais comuns da primeira infância. A sintomatologia se evidência como umaaparente dificuldade de coordenação, inaptidão de sustentar posturas e efetuar movimentos, sendo está uma afecção nãoprogressiva. Estudos demostram que a aplicação terapêutica precoce realizada de maneira contínua pode aumentar odesempenho motor, sendo inúmeros métodos fisioterapêuticos indicados, indo de acordo com a necessidade individual de cadapaciente (HOWARD et al., 2005; MENDONÇA et al., 2012).Semenova (1997) e Neves et al. (2014) descrevem que a terapianeuromotora intensiva é uma evolução das técnicas convencionais, porem, consiste em estimulações neuroproprioceptivas domovimento com objetivo de promover as posturas neuroevolutivas.Objetivo: Descrever sobre o método de terapia manual intensiva como tratamento de reabilitação para pacientes com ParalisiaCerebral.Desenvolvimento: De acordo com e Morris et al. (2006) são cinco níveis, em uma sequência decrescente que definem aindependência e funcionalidade dos portadores de Paralisia Cerebral, iniciando com a capacidade de execução de tarefassimples sem apresentar dificuldades até dificuldade extrema de motricidade mesmo com auxílio de equipamentos que propiciemmaior desenvoltura. Segundo Neves et al. (2014) a terapia manual intensiva tem como protocolo de efetuação sequencial oaquecimento, aplicação de cinesioterapia, treinamento de coordenação fina e por último treino de marcha, de preferência emsessões realizadas diariamente. O uso da suspenção do paciente por equipamentos modernos da Técnica Pediasuit associadosà terapia manual intensiva demonstram resultados ainda mais promissores para o desenvolvimento infantil, sendo eficaz namelhora da flexibilidade e força muscular, normalização do tônus, aquisição de equilíbrio e coordenação (MORRIS et al., 2006;MENDONÇA et al., 2012).Conclusão: Concluiu-se que a terapia manual intensiva compõe uma técnica terapêutica eficaz para crianças com ParalisiaCerebral, devendo ser iniciada precocemente, realizada de forma contínua e ir progredindo nos objetivos de acordo com aspotencialidades do paciente.
ReferênciasHERNÁNDEZ, M. C.; SOLANES, J. B.; GONZÁLEZ, R. J. Compêndio de Pediatria. 1. ed. Barcelona: Espaxs, 1998. p. 601-603HOWARD, J. et al. Cerebral Palsy in Victoria: Motor types, topography and gross motor function. Journal Paediatric ChildHealth, Melbourne, v.41, p. 479-83, feb. 2005.MENDONÇA, S.E. et al. Descrição do protocolo PediaSuit. Fisioterapia em Movimento, Curitiba, v.25, n.3, p. 473-80, jul./set.2012.MORRIS, C. et al. Reliability of the manual ability classification system for children with cerebral palsy. DevelopmentalMededicine & Child Neurology, Sydney, v.48, n.12, p.950-53, dec. 2006.NEVES, E. B. et al. Terapia neuromotora na reabilitação da atrofia muscular espinhal: Estudo de caso. Revista Neurociências,Curitiba, v.22, n.1, p.66-74, jan./mar. 2014.SEMENOVA, K. A. Basis for a method of dynamic proprioceptive: Correction in the restorative of patients with residual stageinfantile Cerebral Palsy. Neuroscience Behavioral Physiology, Netherlands, v.27, n. 6, p. 639-43, nov. 1997.
PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR EM PACIENTES ONCOLÓGICOS ATRAVÉS DA ESTÉTICA PALIATIVA
1ADRIELI NAIARA FAUNE DA SILVA, 2KARINA MARIA DE BARROS, 3GIOVANA MIOTO DE MOURA
1Discente do Curso de Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética UNIPAR CIANORTE.1Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo a definição da OMS, revista em 2002, Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a qualidade devida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio da prevenção e doalívio do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física,psicossocial e espiritual (ANCP, 2009). As terapias complementares/alternativas é uma das vertentes na área da saúde, quebusca proporcionar conforto, melhor qualidade de vida e assistência física e emocional para pacientes oncológicos e de seusfamiliares (ALFANO, 2013). Nos EUA, o Centro Nacional para Medicina Complementar e Alternativa [National Center forComplementary and Alternative Medicine (NCCAM)] propõe uma divisão em cinco categorias: produtos naturais: incluindo plantasmedicinais; intervenção corpo‐mente: meditação, ioga, relaxamento, oração, entre outras; manipulação ou método baseado nocorpo: técnicas de massagem, quiropraxia; terapias energéticas: Qi Gong, reiki, reflexologia, ou baseada em bioeletromagnética;sistema médico alternativo: por exemplo, a medicina Ayurvédica (ALFANO, 2013). Com isso, diante das alterações psicossociaise emocionais vividas pelos pacientes com câncer e os seus familiares, o profissional graduado em estética e cosmética, éhabilitado em realizar o tratamento através do toque terapêutico, com objetivo de melhorar a qualidade de vida e restabelecer oequilíbrio energético, o bem-estar físico, emocional e psicológico do indivíduo (SADEGHI, 2012 apud SILVA, 2018).Objetivo: Explanar os benefícios da estética paliativa para promoção de bem-estar em pacientes oncológicos.Desenvolvimento: O câncer é uma enfermidade gerada por células que se multiplicam de forma rápida e agressiva, atingindoqualquer região do corpo, alterando o DNA da célula e transformando-a em cancerígena (INCA, 2019). Caminhandoparalelamente ao tratamento médico dessa doença, o uso de técnica manual como o toque terapêutico, visa minimizar sintomascomo dor (SILVA, et al. 2018). O toque terapêutico trata-se de uma intervenção não invasiva, realizada com o uso das mãossobre ou próxima do corpo na forma de transferência de energia. É a interpretação de uma antiga experiência de tratamento naera moderna (INCA, et al. 2012). A medicina paliativa dispõe de uma equipe multidisciplinar, da qual inclui médicos, enfermeiros,psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, entre outros. Em vista disso, os cuidados paliativos devem focar aadequada avaliação e o manuseio dos sintomas físicos, psíquicos, sociais e espirituais do paciente e da sua família e estarpresentes em todas as fases da trajetória da doença. Neles, há maior entendimento dos mecanismos das doenças e dossintomas, além das diversas opções terapêuticas para os sintomas físicos e psíquicos (ANCP, 2009). Weze, et al. (2004) atravésdo questionário EuroQol(EQ-5D) constatou em 35 pacientes a melhora na qualidade de vida, através da diminuição de estresse,ansiedade e da depressão principalmente em indivíduos de estágio avançado da doença. Já Alfano (2013), relatou que mulherescom câncer de mama perceberam a melhora nos níveis de ansiedade, e equilíbrio entre corpo e mente, através do uso deprodutos naturais. Os princípios dos cuidados paliativos são para reafirmar vida e a morte como processos naturais; integrar osaspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente; oferecer um sistema de suporte paraajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possível até a sua morte; usar uma abordagem interdisciplinar para acessarnecessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto (MONTEIRO,2019).Conclusão: A estética paliativa não possui como objetivo garantir a cura do câncer, mas sim, permitir aos pacientes a reduçãode sintomas e desconfortos físicos e psicológicos através dos cuidados paliativos, com a utilização do toque terapêutico: como amassagem relaxante, drenagem linfática, meditação, dentre diversas outras terapias. Com intuito de promover a sensação debem estar, gerar qualidade de vida, além de oferecer ânimo e força para enfrentar essa doença.
ReferênciasALFANO, Ana Camila Callado. Padrão do uso de terapias alternativas/complementares por pacientes com câncer demama metastático em quimioterapia e sua influência na qualidade de vida. 2013. 133f. Dissertação (Mestrado em Ciênciasda Saúde) Fundação Pio XII Hospital de Câncer de Barretos, 2013. Acesso em: 25 jul, 2019.Instituto Nacional do Câncer (INCA) Ministério da Saúde. O que é câncer? Disponível em: https://www.inca.gov.br/o-que-e-cancer. Acesso em: 25 jul, 2019.Manual de Cuidados Paliativos / Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP). Rio de Janeiro: Diagraphic, 2009. 1º edição.320p.
SILVA, Natália Cristina Lima; BARROS. Zâmia Aline; SOARES. Jessika Novaes; FERREIRA. Juliana Barros.Toque Terapêutico eQualidade de Vida em Pacientes Oncológicos. Id on Line Revista Multidisciplinar e de Psicologia. v. 12, n. 40, 2018 / 04 ag.2019.MONTEIRO, Vanessa Menezes. Estética Paliativa e Oncologia Estética Acompanhamento paliativo melhorando a qualidade devida dos pacientes. Revista Vida Estética. Rio de Janeiro, n. 175/2019. Página 8 14.WEZE, Clare; LEATHARD, Helen L.; GRANGE, John; TIPLADY, Peter; STEVENS, Gretchen. Evaluation of Healing by gentietouch in 35 clients with cancer. European Journal of Oncology Nursing, v. 8, n. 1, março, 2004. Página 40-49.
IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
1THAUANI ISABEL DA SILVA, 2MILLENA ANGELI DOMINGUES PEREIRA, 3MARIANA GONCALVES DE OLIVEIRA, 4ALINEARGENTON JARETTA, 5ELLEN CHRISTINE OLIVEIRA BIAVA, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do Curso de Fisioterapia da UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Compondo a equipe interdisciplinar das unidades de terapia intensiva neonatais é extremamente indicativa eimportante a intervenção de um fisioterapeuta possibilitando auxílio terapêutico no desenvolvimento e evolução da saúde dorecém-nascido, pois, são primordiais para reabilitações com base nas avaliações e prevenção das alterações cinéticas funcionaisdos sistemas respiratório e motor (JOHNSTON et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2019). Segundo Maia (2016), a interferência desseprofissional diminui e pode precaver complicações neuropsicomotoras, além de possibilitar um tempo reduzido deinternamento hospitalar.Objetivo: Retratar a função do profissional da fisioterapia no tratamento neonatal em unidades de terapia intensiva.Desenvolvimento: Através de um tratamento específico para neonatos, ofertado precocemente nas unidades de terapiaintensiva, os fisioterapeutas proporcionam um progresso psicomotor importante, que contribui para prevenir transtornosrespiratórios, favorecendo o desenvolvimento da função pulmonar (MAIA, 2016). Oliveira et al. (2019) corroboram que as técnicasofertadas por este profissional objetivam diminuir o período de internamento hospitalar minimizando complicações respiratórias,como infecções e atelectasias. Zanelat et al. (2017) descrevem que a prematuridade do sistema respiratório pode causardoenças, e a fisioterapia tem função importante no tratamento preventivo e reabilitatório. As técnicas, muitas de habilidademanual, conseguem promover analgesias e preservação das funções fisiológicas normais, acelerando o processo dedesenvolvimento e qualidade funcional (NOVAKOSKI et al., 2018). Conforme Johnston et al. (2012), a introdução desteespecialista propõe impedir o avanço de síndromes aspirativas, atelectasias, pneumonias, precaução na complicaçãoconsequente da ventilação mecânica, diminuição das consequências de disfunções pulmonares, afetando positivamente osprognósticos.Conclusão: Desta forma, concluiu-se que a fisioterapia é fundamental para reabilitação precoce e funcional de recém-nascidosinternados em unidades de terapia intensiva. Este profissional é apto e imprescindível na composição da equipe multidisciplinar eatravés de diferentes técnicas pode ser decisivo na reabilitação e prevenção, diminuindo complicações respiratórias epsicomotoras, assegurando uma alta hospitalar o mais breve possível.
ReferênciasJOHNSTON, C.; ZANETTI, N. M.; COMARU, T.; RIBEIRO, S. N. S.; ANDRADE, L. B.; SANTOS, S. L. L. I Recomendaçãobrasileira de fisioterapia respiratória em unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal. Revista Brasileira de TerapiaIntensiva, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 119-129, abr./jun. 2012.MAIA, F. E. S. A fisioterapia nas unidades de terapia intensiva neonatal. Revista da Faculdade de Ciências Médicas, Sorocaba,v. 18, n. 1, p. 64-5, jan. 2016.NOVAKOSKI, K. R. M.; VALDERRAMAS, S. R.; ISRAEL, V. L.; ANDREAZZA, M. G. Back to the liquid environment: effects ofaquatic physiotherapy intervention performed on preterm infants. Revista Brasileira de Cineantropometria e DesempenhoHumano, Curitiba, v. 20, n. 6, p. 566-575, set./out. 2018.OLIVEIRA, A. M.; SOARES, G. A. M.; CARDOSO, T. F.; MONTEIRO, B. S.; PERES, R. T.; SANTOS, R. S.; RIBEIRO, M. G.;FERREIRA, H. C. Benefícios da inserção do fisioterapeuta sobre o perfil de prematuros de baixo risco internados em unidade deterapia intensiva. Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 51-57, jan./mar. 2019.ZANELAT, C. F.; ROCHA, F. R.; LOPES, G. M.; FERREIRA, J. R.; GABRIEL, L. S.; OLIVEIRA, T. G. The respiratoryphysiotherapy causes pain in newborns? A systematic review. Fisioterapia e Movimento, Curitiba, v. 30, n. 1, p. 177-86,jan./mar. 2017.
HIPOPLASIA DE ESMALTE - REVISÃO DE LITERATURA
1FERNANDA FERREIRA MARQUES, 2MARIANA CAPARROZ ALENCAR, 3ANA CAROLINA SOARES FRAGA ZAZE
1Acadêmica Bolsista do PIBIC/UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: O esmalte dental, assim como qualquer elemento do corpo humano, está passível de sofrer alterações durante suaformação, seja de maneira qualitativa, quantitativa, ambiental ou genética (SEOW, 2014). Um acervo de matriz orgânicadeficiente e defeituosa no órgão do esmalte pode acometer uma variante denominada de hipoplasia de esmalte, alteração maisfrequente na camada dental externa, podendo se manifestar em ambas as dentições. Objetivo: O objetivo deste trabalho é expor, através de uma revisão de literatura, a hipoplasia de esmalte, considerando suaetiologia, diagnóstico, implicância clínica e tratamento.Desenvolvimento: Considera-se hipoplasia de esmalte uma lesão não cariosa com manchas esbranquiçadas, rugosas, sulcos,ranhuras e irregularidades presentes no elemento dental, que aumentam a susceptibilidade da doença cárie nos dentesacometidos (SOUZA et al., 2009). A amelogênese (processo de formação do esmalte) é dividida em etapas, e para Bendo(2007), a influência de fatores intrínsecos ou extrínsecos sobre os ameloblastos do germe dentário em desenvolvimento durantea fase descrita, causa ao tecido mineralizado uma anomalia em espessura e cor, aparentando clinicamente e radiograficamente acalcificação insuficiente no período de maturação do esmalte. A localização e extensão do defeito dependerá da intensidade eduração do estímulo, e o tratamento diferencia-se conforme a extensão e o tipo de lesão. O esmalte é um tecido mineralizadoque tem como função revestir e proteger o elemento dental, porém com a ocorrência dessa alteração se torna mais fino e maisretentor de biofilme do que em seu estado de normalidade (SALANITRI; SEOW, 2013). As hipoplasias podem ser classificadasde acordo com seu fator etiológico em dois tipos: sistêmica ou local. Os fatores etiológicos sistêmicos são resumidos emdeficiências nutricionais, diabetes materno não controlado, radiação X, parto prematuro, traumatismos no nascimento, baixo pesoao nascimento, doenças da infância com estados febris comuns, ingestão de medicamentos específicos como tetraciclina,talidomida, anti-inflamatórios não esteroidais e derivados do ácido pirazolônico, traumatismos cerebrais, defeitos neurológicos,distúrbios respiratórios e manifestações de síndromes (BRAGA, 2005; PITHAN et al., 2002; PINHEIRO et al., 2003). Por sua vez,a hipoplasia de esmalte local, ainda descrita pelos autores citados, é conhecida como Dente de Turner, que inclui infecções etraumas na dentição decídua, causando a sequela em seus sucessores permanentes, com prevalência relevante em incisivossuperiores e pré-molares. O tratamento da hipoplasia de esmalte inclui desde técnicas de microabrasão dental, restauraçõesdiretas ou indiretas em resina composta ou cerâmica e até clareamento dental, sendo de suma importância o acompanhamentoprofissional, uma vez que a instalação da doença cárie é facilitada nessa condição. Conclusão: À luz do exposto, pode-se concluir que a hipoplasia de esmalte é considerada uma das alterações maisfrequentemente observadas na dentição humana, cabendo ao cirurgião dentista compreendê-la num todo, desde etiologia, até opreferível tratamento.
ReferênciasBENDO, Cristiane Bacin., et al. Hipoplasia de esmalte em incisivos permanentes: um acompanhamento de 6 meses. RevistaGaúcha de Odontologia, Porto Alegre, v. 55, n. 1, p. 107-112, 2007.BRAGA, Luiz Carlos Campos.; et al. Hipoplasia de Esmalte Localizada - Dente de Turner. Revista RGO, v. 53, n. 4, p. 329-334,2005. Disponível em: http://www.revistargo.com.br/include/getdoc.php?id=400&article=179&mode=pdf. Acesso em 15 ago. 2019. PINHEIRO, Isauremi Vieira de Assunção., et al. Lesões brancas no esmalte dentário: como diferenciá-las e tratá-las. RevistaBrasileira de Patologia Oral, Natal, v.2, n.1, p.11-18.ilus, jan/mar. 2003.PITHAN, José Carlos de Abreu., et al. Amelogênese imperfeita: revisão de literatura e relato de caso clínico.Revista Associação Brasileira de Odontologia, São Paulo, v.10, n.2, p.88-92, abr/mai. 2002. SALANITRI, S.; SEOW, W Kim. Developmental enamel defects in the primary dentition: aetiology and clinical management.Australian dental Journal, v. 58, n. 2, p. 133-140, 2013. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/adj.12039.Acesso em: 13 ago. 2019.SEOW, W. K. Developmental defects of enamel and dentine: challenges for basic science research and clinical management.Australian Dental Journal, v. 59, p. 143-154, 2014. Disponivel em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/adj.12104.Acesso em: 13 ago. 2019.SOUZA, João Batista., et al. Hipoplasia do esmalte: tratamento restaurador estético. Revista Odontológica do Brasil Central,
BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DA MUSCULAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA
1THAIS REGINA DE SOUZA, 2GABRIELA ANDREIA NERI MARTINI, 3MARIANA GRILLO LAMBRECHT, 4JAQUELINEKRICHAK, 5MAYRA DE FATIMA GMACH, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do curso de Educação Física da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A adolescência é uma fase que se caracteriza por transformações físicas e fisiológicas, bem como odesenvolvimento intelectual dos interesses e das atitudes, sendo um período de evolução que deve ser considerado a partir deaspectos biopsicossociais (CATALAN et al., 2011). Da mesma forma, este período da vida está marcado por perdas, é o luto docorpo que não é mais infantil, mas, que também não é adulto, além disso, o cérebro do adolescente passa por modificaçõesbiológicas, hormonais e psíquicas, e precisam construir uma nova imagem corporal que até então se encontra desorganizada(FROIS; MOREIRA; STENGEL, 2011). Diante dessas transformações a percepção do corpo, para ambos os gêneros, estávoltada para padrões de normalidade e perfeição (BRAGA; MOLINA; FIQUEIREDO, 2010). Frois, Moreira e Stengel (2011)afirmam que a mídias apresentam grande influencia na publicação e valorização do corpo perfeito, resultando em uma procuraimediata por corpos esculpidos e artificializados. Sendo a prática musculação nesta fase da adolescência favorável para melhoriada autoestima, bem como para o aumento nas chances de socialização.Objetivo: Evidenciar os benefícios da prática da musculação na adolescência.Desenvolvimento: Segundo Frois, Moreira e Stengel (2011), a prática da musculação por adolescente, por vezes, se tornaduvidosa pelos pais, que possuem receio que a prática interfira no desenvolvimento, entretanto, é notório que a prática deexercícios resistidos promove diversos benefícios ao corpo do adolescente, que necessita de força muscular e habilidade para arealização de diversas atividades da vida cotidiana. São visíveis modificações ponderáveis adquiridas pela prática regular damusculação, envolvendo aumento da força muscular, melhoria da autoestima, correção postural, socialização, aumento daconcentração, maior flexibilidade e condicionamento físico, aumento da densidade mineral dos ossos, além de afastar osindivíduos do sedentarismo. Tavares, Navarro e Franzen (2007) descrevem em um estudo de exercícios resistidos emadolescentes, de ambos os gêneros, que o treinamento de força proporcionou além do aumento das atividades metabólicas eresultados fisiológicos, uma melhora positiva na reconstrução da autoimagem, resultando em melhor qualidade biopsicossocial.No entanto, se esta prática for conduzida de maneira imprópria, poderá resultar em lesões ósseas, articulares e musculares,diante disso é de extrema importância que as atividades sejam orientadas e acompanhadas por um profissional qualificado, queirá oferecer um treinamento seguro, respeitando o aporte físico, enérgico e a individualidade de cada aluno para que não ocorramdanos à saúde e não comprometa o seu crescimento e desenvolvimento (BENEDET et al., 2013).Conclusão: Foi possível concluir que a prática da musculação deve ser indicada e executada em adolescentes, sendo capaz depromover inúmeros benefícios. Entretanto, é necessário o acompanhamento de um profissional capacitado na área a fim deevitar lesões osteomioarticulares assegurando a prática segura da atividade.
ReferênciasBENEDET, J. et al. Treinamento resistido para crianças e adolescentes. Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde - HealthSciences, Santo André, v.38, n.1, p.40-46, jan. 2013.BRAGA, P. D.; MOLINA, M. C. B.; FIGUEIREDO, T. A. M. Representações do corpo: Com a palavra um grupo de adolescentesde classes populares. Revista Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.15, n.1, p.87-95, jan. 2010.CATALAN, V. G. et al. Percepção corporal de adolescentes em ambientes escolares. Revista Brasileira em Promoção daSaúde, Fortaleza, v.24, n.4, p.390-395, out./dez. 2011.FROIS, E.; MOREIRA, J.; STENGEL, M. Mídias e a imagem corporal na adolescência: O corpo em discussão. Psicologia emEstudo, Maringá, v.16, n.1, p.71-77, mar. 2011.TAVARES, K. S.; NAVARRO, R.; FRANZEN, C. Treinamento de força para adolescentes depressivos e com baixaautoestima. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo, v.1, n.3, p.1-12, mai./jun. 2007.
CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DOS SETORES DE EMERGÊNCIA AO PACIENTE COM DORTORÁCICA
1MARINA DENTTI RISSO, 2JOLANA CRISTINA CAVALHEIRI
1Acadêmica do curso de Enfermagem da UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: A dor torácica caracteriza-se por uma sensação de má digestão e desconforto na região do tórax e erradia para omembro superior esquerdo. Segundo Oliveira et al. (2017), a dor que caracteriza o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), se dá pelaobstrução das artérias coronarianas e a resistência da passagem do sangue nos vasos sanguíneos, causando diminuição dofluxo e dificultando a chegada de oxigênio em quantidade suficiente para as células do coração.As patologias do sistemacardiovascular são consideradas as principais causas de morte no mundo, pois, de acordo com a Organização Mundial da Saúde(OMS), aproximadamente 75% dos óbitos ocorrem em países de baixa e média renda, incluindo o Brasil. A equipe deenfermagem apresenta um papel fundamental no atendimento aos pacientes, esta gerência a assistência desde a chegada dopaciente e faz valer as normas citadas nos protocolos, que assim colabora para que a equipe tenha autonomia no momento deofertar os cuidados(DIAS; OLIVEIRA, 2016).Objetivo: Avaliar o conhecimento dos profissionais de enfermagem dos setores de emergência, no atendimento dos pacientesque referem dor torácica.Material e Métodos: Estudo exploratório, de campo, com abordagem quantitativa em duas unidades de pronto atendimento doSudoeste do Paraná. A população da pesquisa foi composta por 40 profissionais de enfermagem, no qual 36 profissionaisaceitaram participar. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário, para caracterização do perfil dos profissionais e paraavaliar o conhecimento foi confeccionado instrumento conforme a Diretriz Brasileira de Cardiologia (2013-2015) e o Protocolo deDor Torácica Albert Einstein (2012). Os dados foram transcritos para o programa Excel e posteriormente para o programaestatístico Statistical Package for the Social Sciences. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa com parecer3.364.965.Resultados: Dos profissionais de enfermagem, 33,3% eram enfermeiros, 63,9% técnicos de enfermagem e 2,8% auxiliares deenfermagem. Quanto ao conhecimento da equipe, quando questionado se haveria melhor eficácia na qualidade da assistência deenfermagem se utilizasse um protocolo de dor torácica, 77,8%responderam sim. Sobre a importância de um protocolo queproponha mais autonomia aos profissionais de enfermagem, 75% responderam que com certeza seria importante. Em relação àconduta realizada pelo profissional em caso de pacientes com dor torácica sugestiva de IAM, 88,9% realizariam inicialmente oeletrocardiograma.Quanto ao tempo de atendimento, 75% afirmaram a necessidade de assistênciA em 10 minutos. Sobre ossintomas apresentados pelo paciente, 69,4% responderam aperto no peito, queimação, irradiação para o membro superioresquerdo e dispnéia, sendo que o exame a ser realizado na chegada do paciente para facilitar o diagnóstico precoce foieletrocardiograma para 100%. Sobre quais exames sanguíneos que indicam lesão no miocárdio, 97,2% responderamTroponina/CKMB/Mioglobina e em relação à história clinica a ser investigada 91,7% responderam que deve ser avaliado omomento do início da dor, tempo de duração qualidade, intensidade, relação com esforço e repouso.Discussão: Observou-se neste estudo que a maioria dos profissionais relatam a importância do uso de protocolo, o quecorrobora com o estudo de Dias e Oliveira (2016), que refere que estes auxiliam na assistência da equipe, diminuem o tempo deespera do paciente, evitam complicações e obtêm diagnóstico precoce. Em relação à conduta inicial, o eletrocardiograma foi omais pontuado, sendo fundamental na suspeita de IAM, pois através dele seavalia a atividade elétrica cardíaca, identificação dedistúrbios de ritmos, condução e eventos isquêmicos cardíacos (LIMA; COSTA, 2017). O atendimento destes paceintes deve serrápido, o que corrobora com Chagas, Souza e Rodrigues (2018), afirmam que esse tempo é o fator fundamental para o benefíciodo tratamento, tanto imediato quanto tardio. Quanto aos sintomas apresentados pelo paciente, os mais citados foram aperto nopeito, queimação, irradiação para o membro superior esquerdo e dispnéia, Pereira et al.(2018), ressaltam que o profissional deveidentificar os fatores de risco e realizar um diagnóstico diferencial. Sobre os exames sanguíneos que indicam lesão cardíaca amaioria dos profissionais afirmou ser Troponina/ CKMB/Mioglobina, segundo Alencar e Bernardes (2018), os marcadorescardíacos consistem elementos essenciais para diagnosticar várias doenças cardíacas, entre elas o IAM, valores dos níveisséricos se elevam devido à liberação de constituintes celulares na corrente sanguínea, como enzimas e proteínas. Osprofissionais participantes ressaltaram que a necessidade de avaliar a história clínica, no qual Santos, Freire e Ribeiro (2016),reforçam a importância do exame físico e avaliação da dor nestes pacientes.Conclusão: Este estudo demonstrou que a maioria dos profisisonais de enfermagem está preparada para uma assistência dequalidade e consciente da importância do protocolo de dor torácica, contudo ainda há profissionais com pouco conhecimento e
autonomia diante da conduta a estes pacientes.
ReferênciasALENCAR, T. N.; BERNARDES, J. V. F. A influência dos marcadores de lesão cardíaca no diagnóstico do infarto agudo domiocárdio. Rev. Saber Científico, Porto Velho, [S.I.]. Nov. 2018.CHAGAS, J. P. A; SOUZA, L. O.; RODRIGUES, I. A. A importância do atendimento no tempo correto para pacientes com infartoagudo do miocárdio: Revisão Narrativa. Rev Brasileira de Ciências da Vida. [S.I.], v. 6, n. 3, abr. 2018.DIAS, P. A. P; OLIVEIRA, W. A. Avaliação do protocolo de dor torácica no hospital do coração do Brasil. RevCient Sena Aires.Brasília, v. 5, n. 2, p. 136-49, jul/dez. 2016.LIMA, A. C.; COSTA, J. L. J. Atuação da enfermagem no infarto agudo do miocárdio. 2017. 17 f. Trabalho de Conclusão deCurso-Universidade Tiradentes, Aracaju, 2017.OLIVEIRA, C. C. G. et al. Processo de trabalho do enfermeiro frente ao paciente acometido por Infarto Agudo do Miocárdio. RevHum Ser. Natal, v.3, n.1, p. 101-113, 2017/2018.ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, Doenças Cardiovasculares, 2016.PEREIRA, L. et al. Infarto agudo do miocárdio: atuação do profissional enfermeiro.Vitrine Prod Acad. Curitiba, v.6, n.1, p.260-281, jan/dez. 2018.SANTOS, F.; FREIRE, P. B; RIBEIRO, J. A. Abordagem da dor torácica pelo enfermeiro em uma unidade de pronto atendimentona visão do paciente. Enf Revista. Minas Gerais, v. 19, n. 2, maio/ago 2016.
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CAPS AD
1HELLEN BRENDA DA SILVA ROCHA, 2NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: O surgimento da política de saúde mental, tem como principal apoio os CAPS, que propõem a mudança do modelode assistência tradicional, inserindo o indivíduo com seu contexto familiar e comunitário, alterando dessa maneira forma deenfrentar e cuidar do sofrimento psiquíco, (FERREIRA et al., 2016). Existem várias modalidades de CAPS, sendo eles CAPS Iresponsáveis por atender transtornos mentais graves e persistentes, CAPS i voltado a crianças e adolescentes, CAPS ad,especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas, CAPS III atendendo transtornos mentais graves e persistentesinclusive pelo uso de substâncias psicoativas com acolhimento noturno e CAPS ad III Álcool e Droga com funcionamento 24horas (BRASIL, 2011). O acolhimento da família pelo CAPS ad é de extrema importância para proporcionar um ambiente seguroe acolhedor e a inserção do círculo familiar é uma estratégia de atenção fundamental para a identificação das necessidadesassistenciais (ALVES et al., 2015). O enfermeiro por estar inserido na equipe multiprofissional desenvolve diversas atividadesoferecidas pela política dos CAPS e é também o profissional que possui uma visão integral do indivíduo por perceber adimensão psicológica do sujeito, o corpo físico e social e ainda o funcionamento da instituição (SOARES et al., 2011).Objetivo:Conhecer o papel do enfermeiro na área de saúde mental do CAPS ad. Material e métodos: Trata se de uma pesquisa de campo com caráter exploratória de abordagem qualitativa realizada noCentro de Atenção Psicossocial (CAPS-ad) no noroeste do Paraná, com duas enfermeiras pós graduadas em Saúde Mental, entre os meses de julho e agosto de 2019. Para atingir o objetivo proposto foi realizada uma entrevista semi estruturada, gravada, com questões norteadoras sobre o trabalho do enfermeiro em saúde mental. A pesquisa foi submetida e aprovadapelo Comitê de Ética Envolvendo Seres Humanos da Universidade Paranaense (UNIPAR), sob o Parecer número 3.422.042.Resultados: Participaram da pesquisa duas enfermeiras sendo que uma com quatro meses de experiência(Enf1) na área e outracom doze anos (Enf2). Quando questionadas sobre a humanização no atendimento as enfermeiras relataram a importância doacolhimento: [...] Deve-se tratar com equidade, tem que tratar os desiguais de maneira desigual, as vezes eles já vem de umasituação sem acolhimento familiar, tanto social ...são pacientes que já tem alterações cognitivas, alterações psicológicas (Enf1).[...] A humanização é imprescindível na saúde mental por que são pacientes que estão em sofrimento emocional e é precisoestabelecer vínculo e se colocar no lugar dele (Enf2). Dentre as atividades realizadas pelas profissionais destacamos: [...] Eufaço grupo de acolhimento, mais direcionado para o tratamento sobre prevenção e recaídas, sobre auto estima, autoconhecimento, sobre aceitação ....mas a enfermagem de modo geral trabalham mais grupos temáticos, eu trabalho o emocional,não sou psicóloga sou enfermeira mas eu me sinto melhor , eu acredito que eu seja mais efetiva quando eu trabalho essasquestões com os pacientes (Enf2). [...] Também é feito a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), tentamos fazerde todos os pacientes novos ou os que estão indo e voltando, ...consulta de enfermagem, e a evolução ao longo do tratamento(Enf1). Discussão: O enfermeiro tem uma atuação fundamental na captação, adesão e fortalecimento do paciente dos serviços desaúde mental, atuando principalmente no acolhimento, conforme identificado pelas falas das enfermeira, destacando aparticipação da familia neste contexto. Segundo Luz et al. (2014), o atendimento no CAPS inicia-se pelo acolhimento, para seconseguir a adesão dos pacientes ao tratamento e na realização de práticas educativas, informações, promoção da saúde,atividades administrativas inerentes a função, com objetivo de reinserir o paciente no meio social. Constata-se que o enfermeirotem uma ampla atuação utilizando-se de ferramentas como a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), que é uminstrumento válido e de uso exclusivo da enfermagem visando a organização do ambiente e auxiliando no desenvolvimento deatividades a serem realizadas. Neste contexto, em um estudo realizado no estado do Rio Grande do Sul, evidencia a importânciado enfermeiro no atendimento psicossocial, ofertando cuidados terapêuticos e sistêmicos, orientando quanto a promoção erecuperação da saúde, orientações resolutivas para o usuário e família, atuando ainda, em atividades terapêutica, participaçãoativa e passiva de grupos e rodas de conversas, palestras, anamnese, sistematização de enfermagem e administrativo(KANTORSKI et al., 2010).Conclusão: O enfermeiro tem uma atuação fundamental na adesão do usuário ao tratamento, atuando principalmente noacolhimento, para efetivação da adesão do paciente no tratamento, visando promover a inclusão social e familiar.
ReferênciasALVES, R. D. et al. Grupo de familiares em CAPS ad: Acolhendo e reduzindo tensões. Revistas de Políticas Públicas. v. 14, n.
01, p. 81-86. Sobral. 2015. Disponível em: Acesso em: Agosto de 2019.BRASIL. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidadesdecorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Portaria º 3.088, DE 23 dedezembro de 2011. Brasil. 2011. Disponível em: Acesso em: Março de 2019.FERREIRA, J. T. et al. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): Uma instituição de referência no atendimento à saúdemental. Revista Saberes. v. 4, n. 1. Rolim de Moura. 2016. Disponível em: Acesso em: Março de 2019.KANTORSKI, L. P. et al. A atuação do enfermeiro nos centros de atenção psicossocial à luz do modo psicossocial. RevistaMineira de Enfermagem v. 14.3. Rio Grande do Sul. 2010. Disponível em: Acesso em: Julho de 2019.LUZ, V. L. E. S. et al. Ações realizadas pelo enfermeiro em Centros. Revista Interdisciplinar. v. 7, n. 4, p. 1-12. Teresina-PI.2014. Disponível em: Acesso em: Julho de 2019.SOARES, R. D. et al. O papel da equipe de enfermagem no centro de atenção psicossocial. Escola Anna Nery. v. 15, n. 01.Curitiba. 2011. Disponível em: Acesso em: Agosto de 2019.
CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA LABORAL PARA A ENFERMAGEM: UMA REVISÃO NARRATIVA
1DAIANE DA SILVA REZENDE, 2BARBARA ANDREO DOS SANTOS LIBERATI
1Discente do curso de Enfermagem - UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como o uso de força física ou poder, em ameaça ou naprática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte,dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação (OMS, 2002). Este termo demonstra que quaisquer ato que coloqueo outro em situação de vulnerabilidade e risco, pode causar danos irreparáveis na saúde física ou mental deste ser humano. Aviolência é classificada de acordo com a natureza desta exercida sob outra pessoa podendo ser violência física, psicológica,sexual, entre outras (DAHLBERG; KRUG, 2007). Porém, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), ainda não setem um consenso para a definição do termo violência ocupacional (OIT, 2008). Contudo, entende-se como qualquer ação,incidente ou comportamento baseado em uma conduta voluntária do agressor, em consequência da qual um profissional éagredido, ameaçado ou sofre algum dano ou lesão durante a realização de seu trabalho (OIT, 2008, p. 2). Neste contexto,qualquer trabalhador está exposto ao risco de sofrer algum tipo de violência em seu ambiente de trabalho, e este fato não excluia categoria de enfermagem, sendo que está realidade não ocorre apenas no território nacional (VASCONCELLOS; ABREU;MAIA, 2012).Objetivo: Identificar a frequência da violência sofrida pelo profissional enfermeiro durante o exercício de suas atividades laboraisnas relações interpessoais.Desenvolvimento: Observou-se que agressão verbal é o subtipo de violência psicológica mais frequente sofrida pelosprofissionais enfermeiros de acordo com os estudos analisados. Também constatou-se que a violência verbal é praticadaprincipalmente por pacientes e acompanhantes. Agressões verbais torna o ambiente de trabalho hostil deixando a vítima emconstante estado de alerta para novos atos de violência, quando a agressão parte de usuários dos sistemas públicos ouparticulares, o profissional adota uma postura de tolerar ou tentar contornar a situação, este recuo é adotado de forma particularpor cada profissional podendo ser levado na brincadeira ou mantendo uma certa distância do paciente, o profissional tende a terum sentimento de empatia para com o usuário, sabendo-se que a dor ou sua condição de saúde em conjunto com a falta deinfraestrutura física e humana acompanhado da falta de resolutividade e demora nos atendimentos gera situações conflituosasdurante o atendimento (CORDENUZZI, 2017; FREITAS, 2018). Violência verbal pode ocorrer de forma a virar rotina gerando umdesconforto emocional, desgastando o profissional e gerando um sentimento de desvalorização o levando a insatisfação notrabalho e impactando diretamente na segurança do paciente (FREITAS, 2018). Assim, estes dados são alarmantes, a OMSalerta para uma epidemia da violência contra os profissionais da saúde, enfatizando que não se trata apenas de um ato isolado,mas atos disseminados pela sociedade em geral. Em uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem de SãoPaulo (Coren SP) e o Cremesp, 60% dos médicos e 55% dos enfermeiros que participaram da pesquisa, já sofreram algum tipode agressão durante o atendimento ao paciente, estas agressões ocorreram em grande maioria no âmbito do Sistema Único deSaúde (SUS), sendo que em mais de 60% dos casos de episódios de violência o registro da ocorrência não foram realizadospelas vítimas (COFEN, 2017). Conclusão: Uma das principais categorias que mais sofrem violência laboral são os enfermeiros, o subtipo de violênciapsicológica mais frequente, observado neste estudo, foi a violência verbal, sendo o paciente o maior executor desta violência. Oprofissional ao reagir a agressão finge que nada aconteceu ou leva a situação na brincadeira, o que repercute em danospsicológicos ao profissional, e os gestores nada fazem para reverter essa situação.
ReferênciasCONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). Em ato, Coren-SP e Cremesp pedem fim da violência contraprofissionais. 2017. Disponível em: . Acesso em: 20 março. 2019.CORDENUZZI, O. C. P. et al. Estratégias utilizadas pela enfermagem em situações de violência no trabalho em hemodiálise.Revista Gaúcha de Enfermagem. v, 38. n, 2, 2017.DAHLBERG, L. L; KRUG, E. G. Violência: um problema global de saúde pública. Ciência & Saúde Coletiva. 11(Sup): p. 1163-1178, 2007.FREITAS, R. J. M. et al. A violência contra os profissionais da enfermagem no setor de acolhimento com classificação de risco.Revista Gaúcha de Enfermagem. v. 38, n. 3, 2018.ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Relatório mundial sobre violência e saúde. Genebra. 2002.Disponível em: . Acesso
em: 21 de abril. 2019.VASCONCELLOS, I. R. R.; ABREU, A. M. M.; MAIA, E. L. Violência ocupacional sofrida pelos profissionais de enfermagem doserviço de pronto atendimento hospitalar. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 33, n. 2, p. 167-175, 2012.
APLICABILIDADE DA OZONIOTERAPIA NA ODONTOLOGIA
1LEISLE VERONICA PRESTES, 2ANA CAROLINE DOS SANTOS GRUNOW, 3HELOISA MARIA PERESSIN, 4KATIELYTECILLA, 5RAFAELA FEIX PICINATO, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadëmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR4Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Com o objetivo de promover a racionalização das ações de saúde e estimular alternativas inovadoras e socialmentecontributivas, o Ministério da Saúde, a partir de 2006, iniciou a implantação das Práticas Integrativas e Complementares emSaúde (PICs), que têm se tornado opções promissoras no que tange às possibilidades de amenizar ou evitar patologias.Especificamente na Odontologia, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) buscou incluir as práticas a fim de que o cirurgião-dentista fosse apto e ampliasse as possibilidades do atendimento odontológico, práticas essas que vêm se consolidando a partirda Resolução do (CFO) 82/2008. Em decorrência disso, desde 2015, através da Resolução CFO 166/2015, o Conselho Federalde Odontologia reconheceu a Ozonioterapia como um procedimento odontológico, que passou a integrar as PICs, juntamentecom as demais 28 vertentes. A mistura de gases oxigênio (O2) e ozônio (O3) com finalidade terapêutica, tem sido empregadacomo método alternativo nos consultórios odontológicos, com inúmeras possibilidades de aplicações, bem como as diversasoportunidades de tratamentos. Em razão das suas características estruturais, molécula triatômica de estrutura cíclica, podem sermúltiplas as aplicabilidades do ozônio na área odontológica, como por exemplo: propriedades antimicrobiana, anti-inflamatórias eanalgésicas, sendo utilizado atualmente em áreas da odontologia, que abrangem: cirurgia oral (auxílio no processo de reparaçãotecidual), periodontia (prevenção e tratamento dos quadros inflamatórios/infecciosos), endodontia (potencialização da fase desanificação do sistema de canais radiculares, infecções agudas e crônicas) e dentística (tratamento de cáries). Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo, através de uma revisão da literatura, ressaltar as aplicabilidades do Ozônio (O3)na odontologia, bem como, demonstrar sua eficácia frente às ocorrências que acometem a cavidade oral.Desenvolvimento: Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a produção do ozônio se dá naturalmente na estratosfera, ondeapós a ação de raios solares ultravioletas sobre as moléculas de oxigênio, as mesmas se separam e se associamindividualmente à outras moléculas de O2. A obtenção de ozônio para fins terapêuticos se dá através de geradores que imitam osprocessos da natureza. O processo se inicia com uma aplicação de alta tensão entre dois eletrodos, ambiente por onde passa ooxigênio recebendo grandes descargas elétricas, como 15.000 volts ou mais. O término do processo ocorre quando o oxigêniopassa entre esses eletrodos e é quebrado, se reagrupando e formando o ozônio (PHILOZON, 2019). O primeiro registro dautilização do ozônio como tratamento é datado em 1914 -1918, durante a 1º Guerra Mundial, em que médicos alemães e ingleseso utilizaram para tratar feridas dos soldados (ABOZ, 2019). Para a Odontologia, as primeiras publicações aconteceram em 1934com o cirurgião-dentista Edward Fisch, que utilizou água ozonizada como antisséptico bucal ao realizar cirurgias orais, notratamento de feridas cirúrgicas, buscando aumentar a quantidade de oxigênio e no tratamento de alvéolos e de canais(Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, 2019). A sua estrutura, proporciona características exclusivas, como porexemplo: propriedades antimicrobianas, analgésicas, anti-inflamatórias e imunoestimulantes, além de possuir altabiocompatibilidade, o que propicia a sua aplicação em homens e mulheres de todas as idades. De acordo com CARDOSO, et al(2018), os principais meios de aplicação são: gás ozônio, água ozonizada e óleo ozonizado, podendo ser pulverizado ou injetado,normalmente na proporção de 0,25 de ozônio para 99,75 partes de oxigênio. Dentre as características do ozônio, a maisevidenciada é a capacidade antimicrobiana, tendo em vista que as mesmas, levam a ocorrência da maior parte das alteraçõespatológicas presentes nesta área do corpo. Segundo MERLIM (2018), o ozônio tem alta capacidade purificadora, responsávelpor ações microbicidas (bactérias, fungos e vírus), tal efeito antimicrobiano resulta de sua ação sobre as células, por meio dadestruição da membrana citoplasmática (ozonólise), e pela modificação do conteúdo intracelular. Além da capacidadeantimicrobiana, o ozônio desempenha capacidade imunológica, adequando a concentração de oxigênio e normalizando amicrobiota bucal, o que aumenta a circulação sanguínea e maximiza a atuação do sistema imunológico, promovendo a cura dostecidos danificados.Conclusão: Face ao exposto, considera-se a importância de estudos mais aprofundados quanto à utilização de ozônio comométodo integrativo na Odontologia, por demonstrar bons resultados com efeitos analgésico, imune estimulante, antioxidante,
bactericida, inativação viral, anti-inflamatório e no processo de cicatrização. Desse modo, infere-se que a ozonioterapia tem comoprincipal objetivo, propiciar um tratamento não invasivo, alternativo e complementar na Odontologia, contribuindo para odesenvolvimento das PICs.
ReferênciasASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OZONIOTERAPIA. História da ozonioterapia. Disponível em: https://www.aboz.org.br/ozonize-se/historia-da-ozonioterapia/7/. Acesso em: 10 jul.2019.CARDOSO Ilka Lauanny Ferreira, ET AL. Alternativa de tratamento com ozonioterapia para recorrências do herpes vírus labial relato de caso. Psicologia e Saúde em Debate, v.4, n.Suppl 1, p.41-41. 2018. Disponívelem: http://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/view/387. Acesso em 23/08/2019.CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO. Esclarecimentos sobre Ozonioterapia na Odontologia. SãoPaulo, 2019. Disponível em: http://www.crosp.org.br/noticia/ver/3504-Esclarecimentos-sobre-Ozonioterapia-na-Odontologia.html.Acesso em: 10 jul.2019.GRUPO PHILOZON. Como o ozônio é produzido? Nova Esperança, 2019. Disponível em:http://www.philozon.com.br/noticias/como-o-ozonio-e-produzido/. Acesso em: 12 jul.2019.MERLIM, Ana Francieli Duda. A ozonioterapia na Odontologia. Anais dos Encontros de Iniciação Científica da UniversidadeVale do Rio Verde (Unincor) Anais do XXEncontro de Iniciação Científica e V Mostra de Extensão da UninCor, campus Três Corações Saúde. v. 8, n. 2, 2018.Disponível em: http://periodicos.unincor.br/index.php/iniciacaocientifica/article/view/5481. Acesso em: 15 jun. 2019.MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Brasília, 2018. Disponívelem: https://aps.saude.gov.br/politicas/pnpic. Acesso em: 12 jul.2019.
O USO DE PSICOATIVOS E A IMPORTÂNCIA DA PRESCRIÇÃO E LEGIBILIDADE DAS RECEITAS
1DOUGLAS FERNANDES TOMAZI, 2AMANDA CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA, 3BRUNA APARECIDA SOARES FAVARO,4HELOISA MACHINESKI, 5GABRIELA FARTH, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do curso de Farmácia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O uso de medicamentos tem benefícios reconhecidos, sendo importante agente terapêutico que promove a melhoriado estado de saúde e qualidade de vida dos indivíduos. Entretanto, sua utilização não impede que ocorram efeitos indesejáveis,bem como, sua falta ou sua irracionalidade de uso gerem efeitos catastróficos de grande importância para os indivíduos(FERNANDES; COSTA, 2013). Os medicamentos sujeitos ao controle especial são conhecidos há milênios e têm sidofrequentemente relacionados ao tratamento de doenças mentais, também denominadas de doenças psiquiátricas, atuando nosistema nervoso central e de alguma forma nas funções mentais e emocionais dos indivíduos. O uso excessivo e indiscriminadodesses fármacos tem sido considerado um grave problema por profissionais e autoridades sanitárias devido aos sérios riscos queesta prática causa a saúde da população. Portanto, a utilização de fármacos psicoativos deve ser rigorosamente acompanhada euma das principais formas de controle é a prescrição médica, que quando realizada de forma clara e compreensiva evita diversosproblemas futuros (MELO et al., 2015).Objetivo: Trazer uma analise, quanto aos possíveis erros de medicação, legibilidade da receita, e como esses fatores podeminterferir na eficiência da dispensação.Desenvolvimento: O uso de fármacos psicoativos faz parte da natureza humana, visando modificar comportamento, humor eemoções. Este uso envolve dois caminhos, um para modificar o comportamento normal e produzir estados alterados desentimentos com propósitos religiosos, cerimoniais ou recreacionais, e o outro para alívio de enfermidades mentais (ANDRADE;ANDRADE; SANTOS, 2004). A Agência Nacional de Saúde regulamenta que o medicamento a ser consumido pelo pacientedeverá ter indicação com receituários da respectiva dosagem, duração do tratamento e orientação de uso; e em geral esse ato éexpresso mediante a elaboração de uma receita, por um profissional legalmente habilitado (FERRARI et al., 2013). Asprescrições médicas devem ser apresentadas de forma clara e legível e, além disso, a Lei 5.991/73 estabelece requisitos quedevem ser adotados durante a sua elaboração. Dentre eles, a especificação da posologia, informação essa imprescindível para asegurança na medicação (GIMENES et al., 2010). É reconhecido que as prescrições têm objetivo ímpar na prevenção de errosde medicação e que prescrições incompletas, ilegíveis ou com rasuras impedem a eficiência da dispensação, colocando em riscoa qualidade da assistência farmacêutica ao paciente, levando ao comprometimento no tratamento farmacoterapêutico, o quepode ocasionar sérios danos ao paciente (FERRARI et al., 2013). A análise de prescrições medicamentosas permite identificarerros e problemas, implantar medidas corretivas e educativas e avaliar o impacto da adoção dessas medidas. As deficiências nasinformações nas prescrições são responsáveis por grande parte dos erros de medicação (OLIVEIRA; LIMA; MARTINS, 2015).Conclusão: Conclui-se que os medicamentos psicoativos tem um uso empregado na sociedade e tem importância quando alegibilidade da receita, para dispensação correta e sem possíveis erros, conferindo, sobretudo segurança aos usuários.
ReferênciasANDRADE, M. F.; ANDRADE, R. C. G.; SANTOS, V. Prescrição de psicotrópicos: avaliação das informações contidas emreceitas e notificações. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, São Paulo, v. 40, n. 4, p.471-479, out./dez. 2004.FERNANDES, S. C.; COSTA, G. S. Compreensão da prescrição médica por pacientes atendidos e pronto socorro central deSantos. Revista Saúde e Transformação Social, Florianópolis, v. 4, n. 1, p.53-56, jan./mar. 2013.FERRARI, C. K. B. et al. Falhas na prescrição e dispensação de medicamentos psicotrópicos: um problema de saúde pública.Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, Araraquara, v. 34, n. 1, p. 109-116, jan. 2013.GIMENES, F. R. E. et al. Segurança do paciente na terapêutica medicamentosa e a influencia da prescrição médica nos erros dedose. Revista Latino-Americano de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 18, n. 6, p. 01-07, nov./dez. 2010.MELO, G. C. et al. Conhecimento de clientes e análise de prescrições médicas de substancias da lista C1 de uma drogaria domunicípio de Santa Inês, Maranhão, Brasil. Revista InterfacEHS, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 83-94, dez. 2015.
OLIVEIRA, A. A.; LIMA, R. P. A.; MARTINS, R. C. Análise da qualidade das prescrições médicas do hospital público em Miranteda Serra/RO atendidas em uma farmácia comunitária. Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente,Ariquemes, v. 6, n. 1, p. 38-47, jan./jun. 2015.
HÁBITOS ALIMENTARES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS MICRORREGIÕES DO BRASIL: UM ESTUDO DEREVISÃO
1SHELZEA SHANDARA RECH DOS SANTOS, 2LETÍCIA DA ROSA PIETTA, 3JANAINE POSSA STRAPAZZON, 4MARCELA DEFÁTIMA NOVAK, 5ANDRÉ FERNANDO PASSOS DE OLIVEIRA, 6DURCELINA SCHIAVONI BORTOLOTI
1Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR1Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR2Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR3Discente de Enfermagem, PIBIC/UNIPAR4Discente de Nutrição, PIC/UNIPAR5Docente do Curso de Educação Física, PIC/PIBIC/UNIPAR
Introdução: O conhecimento da criança e do adolescente sobre os hábitos alimentares adequados e saudáveis é de sumaimportância para o crescimento e desenvolvimento das boas práticas alimentares, principalmente no período de transição entre ainfância e fase adulta, onde os alimentos ingeridos de forma incorreta contribuem para o agravo da obesidade e distúrbiosnutricionais (SANTOS et al., 2011). Segundo o Guia alimentar para a população brasileira de 2014, a alimentação correta édireito básico do ser humano, envolvendo e garantindo uma prática alimentar adequada para qualquer indivíduo perante osaspectos biológicos e sociais. Nos últimos anos com o aumento da industrialização e urbanização, houveram alterações nospadrões de alimentares, como o aumento de gordura, doces, bebidas em excesso, açúcares, em contrapartida, houve umadiminuição de cereais, verduras, frutas, sucos e legumes (SODER et. al., 2012).Objetivo: Verificar os Hábitos Alimentares de Crianças e Adolescentes nas Microrregiões do Brasil.Desenvolvimento: O estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura em periódicos indexados nas basesde dados nacionais (LILACS- Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; SCIELO - Scientific EletronicLibrary Online e ferramenta de busca Google Acadêmico) no período de 1990 até Julho de 2019, para tanto utilizou-se osseguintes descritores: nutrição, hábitos alimentares, crianças, adolescentes. Após análise dos artigos, apenas nove estudosdistribuídos no Brasil foram incluídos nesta revisão, quando possível, foram apresentados em suas microrregiões. Encontrou-sequatro publicações na região Sul, duas no Centro-Oeste, duas no Sudeste, e uma no Nordeste. Na região Sul foram pesquisados660 crianças e adolescentes, onde observou-se que o consumo alimentar diário é inadequado quando se trata dearroz/farinha/macarrão (40%), lanches prontos (51,9%), carnes e ovos (49,49%) (POMINI et. al, 2009). Silva et al (2009),conduziu uma pesquisa na cidade de Fortaleza - CE, onde 720 adolescentes de escolas públicas tiveram um desequilíbrio quantoa ingestão saudável dos alimentos, sendo que os mesmos consumiam cerca de 60,6% de carne, 49,2% de doces, 85,2% pãocom margarina e apenas 34,3% de hortaliças, numa frequência de quatro a sete vezes na semana. Já no estudo de Santos et al.,(2011), verificaram que em Anápolis GO, os alimentos mais consumidos eram carnes, refrigerantes, leite, massas eleguminosas. Para Bertin et al (2010), o consumo de guloseimas nas crianças de Indaial - SC, foi mais evidente entre oseutróficos (94,7%), quando comparados com os obesos (5,3%) e o consumo de leite também foi mais frequente nos eutrófico(89,6%). No Oeste do Paraná, 25 adolescentes do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), responderam a umquestionário, e os alimentos mais ingeridos diariamente foram arroz, feijão, leites, margarina, carne bovina,frutas/verduras/legumes cru, e legumes cozidos, indicando que o estado nutricional está dentro dos padrões normais indicadospara a população estudada. A preferência por cereal e massas dos estudantes de uma escola de Viçosa MG, preocupou ospesquisadores, pois 92% dos estudantes consomem esses alimentos de quatro a sete vezes por semana, já o consumo de frutase hortaliças são menos frequentes no cardápio dos adolescentes com 36,5% e 62,7%. Souza et al 2013, entrevistou 154adolescentes na cidade de Sorocaba SP, onde o consumo alimentar foi identificado por gramas diárias, sendo frutas, legumese verduras encontraram-se baixos (268,9g) e leite e derivados (328,7g), doces (111,8g), refrigerantes (293,1g), alimentosgordurosos (143,2g) encontraram-se aumentados, mostrando assim que o consumo apresenta tendência ao excesso de pesoentre os jovens pesquisados. Em São Paulo - SP, Spinelli et al, (2013), verificaram a inadequação de todos os gruposalimentares, com atenção aos óleos e gorduras (91,9%) e as hortaliças (10,3%). Vale destacar que, segundo o guia alimentar dapopulação brasileira de 2014 (BRASIL, 2014), a população mudou seus hábitos de alimentação in natura, para produtosindustrializados e de fácil acesso, fato que pode estar predispondo aos hábitos alimentares inadequados em populações maisjovens. Contudo, não são recentes as estratégias que visam melhor adequação alimentar nesta população, como exemplo,muitas escolas levam para salas de aula as correções alimentares, como jogos, vídeos, cartilhas aulas teóricas e práticas, alémda abordagem da questão em diversas matérias (ZANCUL et al, 2007).
Conclusão: Verificou-se que estudos relativos aos hábitos alimentares de crianças e adolescentes nas microrregiões do Brasil,ainda são escassos, visto que são poucos estudos encontrados. Dos estudos encontrados observa-se que crianças eadolescentes têm inadequação alimentar, contudo, apresenta-se mais agravadas nos adolescentes.
ReferênciasBERTIN, Renata Labronici, et al. Estado nutricional, hábitos alimentares e conhecimentos de nutrição em escolares. RevistaPaulista de Pediatria, v. 28, n. 3, p. 303-308, set., 2010.COZER, Mirian, et al. Avaliação do Estado Nutricional e Hábito Alimentar de Adolescentes Frequentadores do CAPS AD de umMunicípio do Oeste do Paraná. 3ª Mostra de Trabalhos em Saúde Pública. Cascavel, 2009.NOVAES, Juliana Farias, et al. Estado Nutricional e Hábitos Alimentares de Adolescentes de Escola Privada. BioscienceJournal, Uberlândia, v. 20, n. 1, p. 97-105, jan/abr., 2004.POMINI, Romyderlaine Zamberlam, et al. Avaliação dos Hábitos Alimentares dos Adolescentes de uma Escola da Rede deEnsino da Cidade de Umuarama Paraná. Arquivos do Museu Dinâmico Interdisciplinar, v. 13, n. 1/2/3/, 2009.SANTOS, Grazielle Gebrim, et al. Hábitos Alimentares e Estado Nutricional de Adolescentes de um Centro de Juventude daCidade de Anápolis, Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, v. 15, nª 1, 2011.SILVA, Ana Roberta Vilarouca da, et al. Hábitos alimentares de adolescentes de escolas publicas de Fortaleza, CE, Brasil.Revista Brasileira de Enfermagem, v. 62, n. 1, p. 18-24, 2009.SODER, Bruna Fernanda, et al. Hábitos Alimentares: um estudo com adolescentes entre 10 e 15 anos de uma Escola Estadualde Ensino Fundamental, em Santa Cruz do Sul. Cinergis, v. 13, n. 1, p. 51-58, 2012.SOUZA, Julia Bucchianico de, et al. Influência do consumo alimentar sobre o estado nutricional de adolescentes de Sorocaba -SP. Journal of the Health Sciences Institute, v. 31, n. 1, p. 65-70, 2013.SPINELLI, Mônica Glória Neumann, et al. Estado Nutricional e Consumo Alimentar de Pré-escolares e escolares de escolaprivada. Revista Ciência & Saúde, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 94-101, mai./ago. 2013.ZANCUL, Mariana de Senzi, et al. Considerações sobre ações atuais de Educação alimentar e Nutricional paraadolescentes. Revista Alimentos e Nutrição, v. 18, n. 2, p. 223-227, 2007.
ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES MASTECTOMIZADAS
1GISLAINE THAINA HEMKEMEIER, 2ANIELE MARIA PEREIRA, 3ARIELE REGINA STRALIOTTO, 4AYESKA MYLLENATEODORO PRAXEDES, 5POLYANA ALCANTARA DOS SANTOS, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo Cecconello, Sebben e Russi (2013), o câncer é uma doença sistêmica, ocasionada por um desequilíbrioentre a proliferação e a diferenciação celular. Geralmente não é localizado em apenas um local, se intensificando em metástases,com desenvolvimento desordenado e rápido. A neoplasia da mama é uma disfunção de potencial invasivo, com propensão dealastrar-se em órgãos e tecidos distantes mediante a metástase. Existem inúmeras formas de tratamento para essa neoplasia,desde terapia medicamentosa, radioativa e procedimentos cirúrgicos, que também pode ocasionar alterações importantes, dentreelas, a mais comum é o linfedema (SANTOS; LUZ, 2016). A fisioterapia tem por sua finalidade preservar e restaurar a integridadefuncional de órgãos e sistemas promovendo o bem estar do paciente, realizando a promoção da reabsorção e a condução dolíquido acumulado para as áreas não afetadas, assim incentivando o desenvolvimento das vias colaterais de drenagemproporcionando o controle do linfedema em longo prazo (ROMA et al., 2016).Objetivo: Dissertar sobre a atuação da fisioterapia em pacientes que sofreram mastectomia decorrente de câncer de mama.Desenvolvimento: O câncer de mama possui grande incidência e elevado índice de mortalidade entre as mulheres. As taxas demortalidade permanecem elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada tardiamente. Na populaçãomundial, a sobrevida média após cinco anos é de 61%. Relativamente raro antes dos 35 anos, e acima desta faixa etária, suaincidência cresce rápida e progressivamente (CECCONELLO; SEBBEN; RUSSI, 2013). O linfedema é uma disfunção crônica eprogressiva, decorrente de uma anomalia ou dano para o sistema linfático, gerando desequilíbrio nas trocas de líquidos nointerstício, desconfortos, dores, aumento do risco de infecções, diminuição da amplitude de movimento, alterações sensitivas edificuldades com a imagem corporal, muito comum em mulheres que fizeram a cirurgia de retirada da mama após o diagnósticode um câncer (LUZ; LIMA, 2011). A fisioterapia tem como objetivo prevenir contrariedades, viabilizar uma recuperação funcionalapropriada e, consequentemente, propiciar melhor qualidade de vida à mulher submetida a uma mastectomia. Ainda, otratamento fisioterapêutico propicia ganhos na amplitude de movimento e na força muscular do braço, além de oferecerorientações adequadas para uma melhor reabilitação funcional global (CECCONELLO; SEBBEN; RUSSI, 2013). De acordo comGugelmin (2018), alguns procedimentos fisioterapêuticos, em especial a drenagem linfática manual, são usados no tratamento delinfedema pós-mastectomia e tem por finalidade atuar nos trajetos dos vasos linfáticos, proporcionando a reabsorção e acondução de líquido da área operada para as áreas normais, motivando o progresso das vias colaterais de drenagem, a fim deconter a expansão ou prevenindo futuras complicações. A fisioterapia desempenha função fundamental na abordagem daspacientes mastectomizadas restabelecendo os movimentos, reduzindo a dor e as funções sistêmicas afetadas com o propositode preservar, manter e restaurar a integridade cinético-funcional dos órgãos.Conclusão: Concluiu-se neste estudo que a fisioterapia compõe terapêutica fundamental e imprescindível na recuperaçãofuncional das mulheres que passaram pela cirurgia de mastectomia para o tratamento do câncer, sendo importante não somentena diminuição do linfedema, como na promoção da analgesia e recuperação da mobilidade corporal.
ReferênciasCECCONELLO, L.; SEBBEN, V.; RUSSI, Z. Intervenção fisioterapêutica em uma paciente com mastectomia radical direita nopós-operatório tardio: Estudo de caso. Revista FisiSenectus, Chapecó, v.1, p.35-42, dez. 2013.GUGELMIN, M. R. G. Recursos e tratamentos fisioterápicos utilizados em linfedema pós-mastectomia radical e linfadenectomia:Revisão de literatura. Arquivos Catarinenses de Medicina, Florianópolis, v.47, n.3, p.174-182, jul./set. 2018.LUZ, N. D.; LIMA, A. C. G. Recursos fisioterapêuticos em linfedema pós-mastectomia: Uma revisão de literatura. Fisioterapia emMovimento, Curitiba, v.24, n.1, p.191-200, jan./mar. 2011.ROMA, M. A. M. et al. Terapia física complexa no linfedema em pacientes após cirurgia de câncer de mama. Revista Pesquisaem Fisioterapia, Salvador, v.6, n.1, p.35-44, fev. 2016.
SANTOS, R. O.; LUZ, K. R. G. Complex decongestive physiotherapy in lymphedema post mastectomy. Revista ReonFacema,São Luiz, v.2, n.1, p.177-180, jan./mar. 2016.
ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES NAS MICRORREGIÕES DO BRASIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTCA
1ANA PAULA ZORZI PEREIRA, 2SHELZEA SHANDARA RECH DOS SANTOS, 3ANDRÉ FERNANDO PASSOS DE OLIVEIRA,4ADRIANA SOARES MOZER, 5EMANUELLY SHAYENE GARBOZZA, 6DURCELINA SCHIAVONI BORTOLOTI
1Discente de Nutrição, PIC/UNIPAR1Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR2Discente de Nutrição, PIC/UNIPAR3Discente de Enfermagem, PIC/UNIPAR4Discente de Nutrição, PIC/UNIPAR5Docente do curso de Educação Física, PIC/PIBIC/UNIPAR
Introdução: Estudos sobre prevalência e fatores associados ao sobrepeso/obesidade em adolescentes têm tido destaque nasúltimas décadas (DʼAVILA et al., 2015). O estado nutricional de crianças e adolescentes representa a condição de vida de umapopulação e indica sua perspectiva de vida e saúde na vida adulta (ANJOS et al., 2012). Alguns fatores estão associados aoestado nutricional, como idade, sexo, classe econômica, excesso de peso e maturação sexual (BERRIA et al., 2013). Nessesentido, o conhecimento sobre a prevalência do estado nutricional de maneira regionalizada no país, pode contribuir para oplanejamento de intervenções a fim de prevenir a obesidade em idades precoces.Objetivo: Identificar a prevalência do estado nutricional de adolescentes nas microrregiões do Brasil.Desenvolvimento: Conduziu-se uma revisão sistemática da literatura, onde incluiu-se estudos indexados nas bases de dadosnacionais: LILACS, SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde e na ferramenta de busca Google Acadêmico, publicados de 1990 atéJunho de 2019. Os estudos deveriam ser compostos por adolescentes de 11 a 19 anos. Os descritores utilizados para as buscasforam: estado nutricional, eutrofia, sobrepeso, baixo peso, adolescentes, Brasil. Após a busca e análise dos artigos, apenas 11estudos foram incluídos nesta revisão, sendo que um estudo era análise descritiva e 10 eram de característica transversal. Nadistribuição das pesquisas de acordo com regiões do Brasil, observou-se que os estados contemplados foram: Apenas umestudo nos estados do Piauí, Maranhão, Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais; e dois estudos nos estados de São Paulo,Paraná e Santa Catarina. O número total de participantes dos estudos variou entre 85 e 20.113. As variáveis analisadas e osmétodos de avaliação da maioria dos estudos foram recursos antropométricos envolvendo as medidas de massa corporal eestatura, e o cálculo do índice de massa corporal (IMC). No estudo de Anjos et al., (2012), identificou-se baixa prevalência debaixa estatura, já o excesso de massa corporal foi encontrado em 29,7% dos adolescentes pesquisados. Em estudo realizado noestado do Paraná, a maioria dos indivíduos apresentou estado nutricional normal (84% eutróficos, 12% sobrepeso/obesidade e4% baixo peso) (BERTIN et al., 2008). Em outro estudo do Paraná, a prevalência de obesidade abdominal foi de 8,2% (BERRIAet al., 2013). De acordo com o estudo da Paraíba, a prevalência de sobrepeso foi de 14,4% enquanto que 83,9% dos estudanteseram eutróficos e 1,7% apresentavam baixo peso. Em contrapartida no Piauí, a maioria dos adolescentes apresentavam eutrofiaem relação ao IMC, o sobrepeso atingiu cerca de 20% dos estudantes investigados. (CARVALHO et al., 2007). Em uma análisedescritiva, foram utilizados para o estudo dados da Pesquisa Nacional de Saúde ao Escolar (PeNSE, 2015), em geral aprevalência de excesso de peso foi maior entre adolescentes que frequentavam escolas privadas (CONDE et al., 2015). Noestudo do Maranhão, ao utilizar o critério da Organização Mundial de Saúde (OMS), a prevalência de sobrepeso foi maior nasmeninas (12,9%), porém 4,5% dos meninos apresentou obesidade, concluiu-se que apesar da maioria apresentar eutrofia, aprevalência de sobrepeso/obesidade foi alto (COSTA et al., 2013). Em dois estudos realizados em Santa Catarina, constatou-seque a maioria dos adolescentes da cidade de Blumenau apresentavam-se, segundo IMC, eutróficos (76,9%), seguido dos comsobrepeso (16,1%) (MARTHENDAL et al., 2014), e 11,6% de obesidade e 18,3% de sobrepeso em Florianópolis (DʼAVILA et al.,2015). Os estudos realizados no estado de São Paulo nas cidades de Piracicaba e Presidente Prudente, mostraram altaprevalência de excesso de peso (35,7% para meninos e 26,2%, para meninas; 36,4% para meninos e 31,4% para meninasrespectivamente) (PERES et al., 2011). Em Minas Gerais, a prevalência de sobrepeso foi de 13% e 6% entre moças e rapazes,respectivamente, e obesidade em torno de 2% em ambos os sexos (GUEDES et al., 2012). No estudo realizado em Rio Grandedo Sul, a prevalência de excesso de peso foi de 35,8% de acordo com critérios da OMS (DUMITH et al., 2010). Destaca-se que,as diferentes prevalências do estado nutricional entre os adolescentes no Brasil podem em ser explicados em parte pelasdiferentes culturas nas regiões brasileiras. Contudo, é consenso na literatura que o excesso de peso, é um fator de riscopreocupante em idades precoces e em geral é associado a hábitos comportamentais com alimentação inadequada e baixo nívelde atividade física habitual (MARTHENDAL et al., 2014).Conclusão: Verificou-se que houve alta prevalência de excesso de peso (12 à 36,4%), já a obesidade variou de 2 à 11,6% nos
adolescentes brasileiros. Contudo, destaca-se que há poucos estudos sobre essa temática, assim, é necessário a condução deestudos adicionais, nas diferentes regiões do país a fim de um melhor conhecimento tanto das prevalências bem como dosfatores associados ao estado nutricional e principalmente ao excesso de peso.
ReferênciasANJOS, Luiz Antonio et al. Estado nutricional dos alunos da Rede Nacional de Ensino de Educação Infantil e Fundamental doServiço Social do Comércio. Ciên. Saúde Col., v.22, n.5, p.1725-1734, 2017.BERRIA, Juliane et al. Prevalência de obesidade abdominal e fatores associados em crianças e adolescentes de Cascavel-PRBR. Rev. Educ. Física/UEM, v.24, n.2, p.269-277, 2013.BERTIN, Renata Labronici et al. Estado nutricional e consumo alimentar de adolescentes da rede pública de ensino da cidade deSão Mateus do Sul. Rev. Bra. Saúde Mat. Inf., v.8, n.4, p.435-443, 2008.CARVALHO, Danielle Franklin et al. Perfil lipídico e estado nutricional de adolescentes. Rev. Bra. Epidem., v.10, n.4, p.491-8,2007.CONDE, Wolney Lisbôa et al. Estado nutricional de escolares adolescentes no Brasil:a Pesquisa Nacional de Saúde dosEscolares 2015. Rev. Bra. Epidem., v.21, n.1, p.1, 2018.COSTA, Andréa Vieira et al. Estado nutricional de adolescentes do Maranhão, Brasil, por critérios nacional e internacional. Ciên.Saúde Col., v.18, n.12, p.3715-3720, 2013.DʼAVILA, Gisele Liliam et al. Associação entre estado nutricional da mãe e a frequência, local e companhia durante as refeiçõescom o sobrepeso/obesidade de adolescentes da cidade de Florianópolis, Brasil. Rev. Bra. Saúde Mat. Inf., v.15, n.3, p.289-299,2015.DUMITH, Samuel Carvalho et al. Propriedades diagnósticas e pontos de corte par predição de excesso de peso por indicadoresantropométricos em adolescentes de Caracol, Piauí, 2011. Rev. Epidem. Serv. Saúde, v.27, n.1, p.2017-1513, 2018.GUEDES, Dartagnan Pinto et al. Crescimento físico e estado nutricional de escolares do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais,Brasil. Rev. Bra. Cineantro. Desemp. Hum., v.14, n.4, p.363-376, 2012.MARTHENDAL, Aline Tamises et al. Transtornos alimentares e sua relação com o estado nutricional em adolescentes de umaescola particular de Santa Catarina/Brasil. Arq. Catari. Med., v.43, n.3, p.17-25, 2014.PERES, Stela Verzinhasse et al. Prevalência de excesso de peso e seus fatores associados em adolescentes da rede de ensinopúblico de Piracicaba, São Paulo. Rev. Paul. Ped., v.30, n.1, p.57-64, 2012.
FATORES DE RISCOS ASSOCIADOS À OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
1SHELZEA SHANDARA RECH DOS SANTOS, 2JANAINA DA SILVA MACHADO, 3ANA PAULA ZORZI PEREIRA, 4JANAINEPOSSA STRAPAZZON, 5EMANUELLU SHAYENE GARBOZZA, 6DURCELINA SCHIAVIONI BORTOLOTTI
1Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR1Discente de Educação Física, PIBIC/UNIPAR2Discente de Nutrição, PIC/UNIPAR3Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR4Discente de Nutrição, PIC/UNIPAR5Docente do Curso de Educação Física, PIC/PIBIC/UNIPAR
Introdução: A obesidade, é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo de gordura excessiva no corpo. Sua prevalência émaior em adultos e idosos, contudo, atualmente está presente em idades mais precoces como em crianças e adolescentes. Deacordo com as Diretrizes Brasileiras de Obesidade (2016), crianças diagnosticadas com obesidade têm mais chances dedesenvolverem doenças cardiovasculares na idade adulta. Além disso, parece que os fatores de risco associados à obesidadecomo por exemplo, hipertensão, dislipidemias, diabetes, etc, tentem a ser mais agravados quando acometidos em idadesprecoces (ROBINSON et al, 2015). Assim, o estudo da obesidade e seus fatores de risco associados em crianças e adolescentestorna-se importante para que estratégias pontuais sejam direcionadas.Objetivo: Verificar os fatores de risco associados à obesidade em crianças e adolescentes através de uma revisão sistemáticada literatura.Desenvolvimento: O estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura, onde foram incluídos estudosindexados às seguintes bases de dados eletrônicas SCIELO, MEDLINE, LILACS, e ferramenta de busca Google Acadêmico noperíodo de 1990 até julho de 2019, utilizando as palavras-chave: Obesidade, sobrepeso, excesso de peso, crianças,adolescentes, escolares, prevalecia, fatores de risco, obesity, overweight, children, adolescents, school children. Após as buscas,foram encontrados 58 artigos, entretanto, somente 24 atenderam os objetivos específicos do tema, contudo, para este estudoforam apresentados os dados dos estudos mais relevantes sobre os fatores de riscos associados à obesidade em crianças eadolescentes. Destaca-se que, a obesidade tem se alastrado nos últimos anos, em grandes países como Estados Unidos e naEuropa, no Brasil estudos apresentam resultados preocupantes, cerca de 68% a 77% das crianças tem pré diponibilidade de setornarem adolescentes obesos, e que 30% a 50% dos adolescentes obesos, tem chances de serem adultos obesos, o que podepredispor essa população a mobilidade e mortalidade precoce (RONQUE et al, 2005). Araújo, Brito e Silva (2010), afirmam que aobesidade provoca diversos distúrbios no organismo de jovens e crianças, como joelhos valgos, desgaste de articulações pelosobrepeso, alteração na postura e diversas alterações na pele, como infecções por fungos e estrias. O nível socioeconômicoelevado, é um fator de risco destacado em pesquisas epidemiológicas, pois pode afetar de forma negativa as taxas de sobrepesoe obesidade nas crianças, haja vista que, possuir mais de um aparelho de televisão, e/ou vídeo games ou microcomputadores,pode favorecer um aumento no comportamento sedentário e redução do nível de atividade física (RONQUE et. al, 2005). Aliteratura destaca ainda que, o desmame precoce pode ser um importante fator de risco associado à obesidade em crianças eadolescentes. Em um estudo britânico com 991 crianças, verificou quatro fatores de risco para obesidade na infância, entre eles ocurto período de amamentação (menos de um ano) incorre em 3,99 vezes mais chances de desenvolver obesidade quando naadolescência (ROBINSON et al, 2015). Giugliano e Carneiro (2004) demostraram que a prática de esportes (natação, futebol desalão e tênis) na infância apresenta-se como fator protetor contra a obesidade, ao passo que hábitos sedentários tendem apredispor à obesidade em crianças. Outro fator de risco destacado em alguns estudos é o hábito alimentar inadequado, como porexemplo, não tomar café da manhã e o consumo baixo de leite estão associados à obesidade infantil, além disso, alimentoscomo frutas e hortaliças são menos frequentes nos cardápios alimentares dessa população. Em relação aos fatores de proteção,um estudo de revisão com meta-análise, indica que a prática de exercício físico aeróbio de intensidade moderada com duraçãode 155-180 min/semana, tem reduzido significativamente a gordura corporal em crianças (ATLANTIS, BARNES E SINGH, 2006).Vale destacar que, no Brasil, diferentes documentos do Ministério da Saúde (2013), concebem a obesidade simultaneamentecomo doença e fator de risco para outras doenças, como condição crônica multifatorial complexa e, ainda, como manifestação dainsegurança alimentar e nutricional. Quanto aos fatores condicionantes da obesidade, destacam-se a alimentação inadequada,rica em gorduras e açúcares e o consumo excessivo de alimentos ultra processados, associados à inatividade física. Assim,alterar práticas alimentares e de atividade física é uma importante estratégia de combate à obesidade em crianças eadolescentes (DIAS et al., 2017).
Conclusão: Os principais fatores de risco associados a obesidade de crianças e adolescentes são os hábitos alimentaresinadequados, baixo nível de atividade física, maior comportamento sedentário e o desmame precoce. Contudo, ainda há poucosestudos a respeito dessa temática principalmente no Brasil, assim, é necessário a condução de pesquisas no país e de formaregionalizada a fim de um melhor conhecimento dos fatores associados a obesidade.
ReferênciasATLANTIS, Evan.; BARNES, E. H.; FIATARONE, Moganavelli Singh. Efficacy of exercise for treating overweight in children andadolescents: a systematic review. International Journal of Obesity, v. 30, p. 1027 1040, 2006.ARAÚJO, Rafael André; BRITO, Ahécio Araujo; SILVA, Francisco Martins. O papel da educação física escolar diante da epidemiada obesidade em crianças e adolescentes. Educação Física em Revista, v. 4, n. 2, 2010.DIAS, Patrícia Camacho, HENRIQUES, Patrícia; ANJOS, Luiz Antônio dos; BURLANDY, Luciene. Obesidade e políticas públicas:concepções e estratégias adotadas pelo governo brasileiro. Cadernos de Saúde Pública, v. 33, n. 7, p. e00006016, 2017.GIUGLIANO, Rodolfo; CARNEIRO, Elizabeth C. Fatores associados à obesidade em escolares. Jornal de Pediatria. v. 80, n. 1,p. 17-22, 2004. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria no 424/GM/MS, de 19 de março de 2013. Redefine as diretrizes para a organização daprevenção e do tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde dasPessoas com Doenças Crônicas.Diário Oficial da União, 28 jun, 2013.RONQUE, Enio Ricardo Vaz, et al. Prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares de alto nível socioeconômico emLondrina, Paraná, Brasil. Revista de Nutrição, v. 18, n. 6, p. 709-717. 2005.ROBINSON, Siân M., et al. Modifiable early-life risk factors for childhood adiposity and overweight: an analysis of their combinedimpact and potential for prevention. The American Journal of Clinical Nutrition, v. 101. p. 368 375. 2015.TRICHES, Rozane Márcia; GIUGLIANI, Elsa Regina Justo. Obesidade, práticas alimentares e conhecimentos de nutrição emescolares. Revista de Saúde Pública, v. 39, n. 4, p. 541-547, 2005.
BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA
1CAROLINE HAMMERSCHMITT EDUARDO, 2EDINEIA MARIZA SIEROTA, 3FERNANDA PEGORINI PADILHA, 4CLARAEDUARDA MATTOS ROSSA, 5MAYARA JAKLINE RAMOS MATOS, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A obesidade é determinada como um acúmulo de gordura corporal que causa prejuízos à saúde. Amorbimortalidade aumenta gradativamente e proporcionalmente ao índice de massa corpórea, conhecido como o padrãointernacional de mensuração corporal e indicador de obesidade e sobrepeso em adultos (DELGADO; LUNARDI, 2011). SegundoMadril et al. (2015), aproximadamente 52,5% da população brasileira está acima do peso ideal e destes, 17,9% são obesosgraves com indicação clínica de tratamento cirúrgico. A cirurgia bariátrica compõe uma medida efetiva para perda de peso emanutenção em longo prazo. Entretanto, por se tratar de um método invasivo complicações podem ser evidenciadas, sobretudodisfunções que afetam o sistema cardiorrespiratório. A fisioterapia atua tanto na prevenção quanto na reabilitação do pacientesubmetido a este procedimento. O tratamento pré-operatório é voltado para evitar atelectasias e infecções respiratórias,tromboses e embolias, além de assegurar uma mobilidade funcional mais precoce. No pós-operatório o objetivo fisioterapêutico écontrolar a dor e promover uma alta hospitalar mais rápida e segura, sem a possibilidade de futuros problemas respiratórios(SOUZA et al., 2012). Objetivo: Dissertar sobre os benefícios das técnicas de fisioterapia respiratória em pacientes no pré e pós-operatórios de cirurgiabariátrica.Desenvolvimento: Segundo Madril et al. (2015), a obesidade pode ser caracterizada como o acúmulo excessivo de gorduracorporal, que pode levar ao desenvolvimento de outras doenças. Segundo Ceneviva et al. (2006), entre as complicações queacompanham a obesidade as mais frequentes abrangem disfunções respiratórias, hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo II,apnéia obstrutiva do sono, desajustes psicossociais, artropatias degenerativas, dislipidemia e cardiopatias. Segundo Souza et al.(2012), a intervenção mais eficaz na condução clínica dos obesos de grandes proporções ou mórbidos é a cirurgia bariátrica.Sanches et al. (2007) corroboram que muitas pesquisas e avanços têm sido alcançados no tratamento da obesidade mórbida,porém, a cirurgia bariátrica é considerada mais eficiente para solucionar grande parte das comorbidades. Os critériosestabelecidos para indicação da cirurgia são índice de massa corporal igual ou superior 40 kg/m2 ou acima de 35kg/m2 associado a outras doenças. Essas indicações não são absolutas, nem devem ser tomadas isoladamente, mas simcomplementadas com avaliação individualizada por equipe multidisciplinar. Os procedimentos cirúrgicos abdominais, como asgastroplastias, afetam a musculatura respiratória de várias maneiras, tais como a perda da integridade muscular pelo corte nacirurgia, uso de bloqueadores neuromusculares durante a anestesia ou por outros mecanismos indiretos como a dor, levando auma alteração muscular respiratória determinando diminuição dos volumes e capacidades pulmonares (SOUZA et al., 2012).Segundo Sanches et al. (2007), a restrição pulmonar do pós-operatório persiste por até duas semanas, o que aumenta o númerode complicações pulmonares, como retenção CO2, atelectasia, infiltrado broncopulmonar e pneumonia. Madril et al. (2015)acrescentam que a fisioterapia no pré-operatório tem como principal objetivo diminuir as chances de complicações no sistemacardiopulmonar, músculo esquelético e metabólico, utilizando exercícios e técnicas fisioterapêuticas específicas. Já os objetivosda fisioterapia no pós-operatório incluem promover a reexpansão pulmonar, restaurar volumes e capacidades pulmonares,promovendo qualidade de vida e retorno funcional o mais breve possível.Conclusão: Concluiu-se que pessoas com obesidade submetidas à cirurgia bariátrica que recebem tratamento fisioterapêuticorespiratório no pré e pós-operatório apresentam melhora nos volumes, capacidades pulmonares e força da musculaturarespiratória, com isso, evita disfunções pós-operatórias, acelerando o tempo de recuperação.
ReferênciasCENEVIVA, R.; SILVA, G.; VIEGAS, M.; SANKARANKUTTY, A.; CHUEIRE, F. Cirurgia bariátrica e apnéia do sono. MedicinaOnline, Ribeirão Preto, v. 39, n. 2, p. 236-245, jun. 2006.
DELGADO, P. M.; LUNARDI, A. C. Complicações respiratórias pós-operatórias em cirurgia bariátrica: Revisão da literatura.Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 388-92, out./dez. 2011.MADRIL, J. B.; SCHERF, M. F.; RIBAS, P. W.; HARLOS, J.; ROHENKOHL, S. D.; VARGAS, M. H. M. Atuação fisioterapêuticano pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica - Uma revisão da literatura. Revista Saúde Integrada, Santo Ângelo, v. 15-16, n. 8,p.01-14, jan. 2015.SANCHES, G. D.; GAZONI, F. M.; KONISHI, R. K.; GUIMARÃES, H. P.; VENDRAME, L. S.; LOPES, R. D. Cuidados intensivospara pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 205-209, abr./jun. 2007.SOUZA, F. S. P.; SILVA, B. G.; ECHEVARRIA, L. B.; SILVA, M. A. A.; PESSOTI, E.; FORTI, E. M. P. Fisioterapia respiratóriaassociada à pressão positiva nas vias aéreas na evolução pós-operatória da cirurgia bariátrica. Fisioterapia e Pesquisa, SãoPaulo, v. 19, n. 3, p. 204-209, jul./set. 2012.
ALPINIA GALANGA: EVIDÊNCIAS PRÉ-CLÍNICAS DO POTÊNCIAL TERAPÊUTICO PARA DOENÇA DE ALZHEIMER
1THAISA FERNANDA COUTINHO DE SOUZA, 2CAMILA MORENO GIAROLA, 3SAMANTHA WIETZIKOSKI SATO, 4VITORHUGO DIAS BARREIROS, 5FRANCISLAINE APARECIDA DOS REIS LIVERO, 6EVELLYN CLAUDIA WIETZIKOSKI LOVATO
1Discente de Nutrição, PIBIC, UNIPAR1Discente de Medicina, Bolsista do PEBIC/CNPQ UNIPAR2 Docente da Universidade Paranaense, UNIPAR3Discente de Enfermagem, PIBIC, UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Alpinia galanga, usada em medicação, culinária e cosméticos, é uma erva perene, aromática e rizomatosa,abundantemente encontrada na Índia e na Ásia tropical (HANISH SINGH et al., 2019). Tradicionalmente, é usado como tônicopara o sistema nervoso, estimulante, estomacal, desinfetante, afrodisíaco e anti-inflamatório (WARRIER, 1994). Possui atividadeantibacteriana (MIYAZAWA, HASHIMOTO, 2002), antifúngico (BIN JANTAN et al., 2003), antidiabético (AKHTAR et al., 2002),antioxidantes (SRIVIDYA et al., 2010), além de ter atividade inibitória da butirilcolinesterase in vitro (KHATTAK et al., 2005). Objetivo: Este trabalho teve por objetivo revisar estudos pré-clínicos que evidenciam o potencial terapêutico da A. galanga notratamento da doença de Alzheimer. Desenvolvimento: Estudos prévios demonstram que os rizomas da Alpina galanga apresentam potencial terapêutico poispromovem efeitos protetores e melhora da função cognitiva em modelos pré-clínicos da doença de alzheimer (Grzanna et al.,2004), (Hanish Singh et al., 2011; Hanish Singh et al., 2019). Pesquisas fitoquímicas mostraram que o rizoma de A.galanga possui uma variedade de compostos isolados com atividade biológica para a DA. Algumas biomoléculas ativas, como 8-9 neolignanas ligadas, galanganas, galanganóis A, B e C, foram isoladas juntamente com dez constituintes conhecidosselecionados para atividade inibitória da produção de óxido nítrico (Morikawa et al., 2005). Foi relatado que o acetato de 1ʻ-1-acetoxieugenol possui ação inibitória na liberação de citocinas pró-inflamatórias e suprime a ativação do fator nuclear-kappa beta(NF-κβ) (Matsuda et al., 2003), (Ichikawa et al., 2006). Outro estudo avaliou as propriedades neuroimunes e neuroendócrinas doacetato de 1ʻ-1-acetoxieugenol isolado da fração clorofórmica de A. galanga em um modelo de neurodegeneração induzido emcamundongos (Hanish Singh et al., 2019). Khattak, et al. (2005) analisaram a inibição in vitro das enzimas acetilcoliesterase(AchE), butirilcolinesterase (BchE) e lipoxigenase de 22 extratos etanólicos de 14 plantas medicinais indígenas, entreelas Alpina galanga. Observou-se que Alpina galanga promoveu inibição in vitro apenas da BChE. Entretanto, o isolamento,purificação e investigação dos princípios ativos responsáveis pela atividade de inibição enzimática não foram realizados. HanishSingh, et al. (2011) demonstraram que os rizomas de Alpina galanga apresentaram efeitos protetores nos déficits cognitivos pelaredução de espécies reativas de oxigênio (ROS) e regulação de moduladores antioxidantes como superóxido dismutase (SOD),catalase (CAT) e glutationa reduzida em um modelo animal de beta amilóide induzido em camundongos. (Hanish Singh et al2011), analisaram o efeito sobre a memória de frações de Alpina galanga em modelo de amnésia do tipo Alzheimer emcamundongos Swiss. Eles induziram neurotoxicidade pela injeção intracerebroventricular de Aβ25-35 e trataram os animais no14º ao 21º dia com a fração de clorofórmio de Alpina galanga (200 e 400 mg / kg, por via oral). A melhora cognitiva (memória dehabituação e memória hippocampal) foi avaliada através do teste de campo aberto e do labirinto aquático. Na + / K + -ATPase,AChE e enzimas antioxidantes SOD, CAT, glutationa peroxidase (GPx) e níveis de vitamina C foram determinados para estimaras alterações bioquímicas no cérebro e sua potencial ação anti-amnésica no estresse oxidativo. Os resultados sugerem umpotencial efeito terapêutico para o tipo de amnésia de Alzheimer. Outro estudo do mesmo grupo investigou o efeito de um extratoetanólico de Alpina galanga sobre o tipo de amnésia de Alzheimer induzida por estresse oxidativo em camundongos Swiss. Foiinduzida neurotoxicidade em animais por injeção intracerebroventricular de Aβ25-35 e o tratamento foi realizado por 21 dias (200e 400 mg / kg, por via oral). Estudos comportamentais com campo aberto, esquiva inibitória e labirinto aquático de Morrisindicaram melhora da função cognitiva. Os níveis elevados de enzimas AChE e monoamina oxidase (MAO) foram atenuados pelotratamento com Alpina galanga. Além disso, observou-se uma diminuição de ROS e aumento da atividade de enzimasantioxidantes nos animais tratados com o extrato, sugerindo que o extrato etanólico de Alpina galanga exerce efeito anti-amnésico na neurodegeneração induzida por Aβ. (Hanish Singh et al., 2011-phytotherapy research). Em uma pesquisa recente,(Hanish Singh et al), mostraram o efeito de diferentes doses (12,5, 25 e 50 mg / kg, por via oral) do acetato de 1ʻ-1ʻ-acetoxi-isogenol, composto isolado da A. galanga, em um modelo neurodegeneração induzida por Aβ25-35 em camundongos Swiss(injeção no 15º dia de 28 dias de tratamento).
Conclusão: Alpina galanga apresenta baixa toxicidade comprovada pelos estudos além de apresentar resultados promissoresem modelos pré-clínicos da doença de Alzheimer. No entanto, estudos clínicos são necessário para comprovar sua ação emhumanos.
ReferênciasCHOI.,et al. Um sesquiterpeno natural a partir de Curcuma xanthorrhiza, p.210-217, 2005.RUKAYADI., et al. In vitro anticandida de xanthorrhizol isolado a partir de Curcuma xanthorrhiza.v.57, p.1231-1234, 2006.ZHANG.,et al. Inibidores e compostos que promovem a expressão SIRT1 de Curcuma xanthorrhiza Fan, P.acetilcolinesterase. Phytochem. v.12,p. 215-219, 2015.BUDDLEJA.,et al. Relações de flavonóides relacionados de estrutura-actividade e investigação química, V.46,p. 596-601,2008LIM.,et al. Antioxidante e as actividades anti-inf lamatórios de xanthorrhizol em neurónios do hipocampo e microglia decultura principal. J. Neurosci. Res, v.82, p.831-838, 2005. PRINCE.,et al. Cuidados arranjos para pessoas com demência nos países em desenvolvimento. Int. J. Geriatr. Psychiatry,v.19 , p.170-177,2004.Hanish Singh, JC; et al. Induzida disfunção cognitiva em ratinhos. Biomed. Pharmacother.p109, 2019.
OCORRÊNCIA DE OVOS E LARVAS DE HELMINTOS EM CAIXAS DE AREIA DE CRECHES E PRAÇAS PÚBLICAS DEFRANCISCO BELTRÃO PR
1MONISE CAROLINE CAPELIN, 2MAIARA CRISTINA DE CESARO, 3ROBERTO FABIANO BRANDÃO, 4VOLMIR PITTBENEDETTI
1Discente do curso de Farmácia da Universidade Paranaense PIC/UNIPAR Francisco Beltrão/PR1Discente do curso de Farmácia da Universidade Paranaense PIC/UNIPAR Francisco Beltrão/PR2Graduado em Farmácia pela Universidade Paranaense Francisco Beltrão/PR 3Docente da UNIPAR
Introdução: A prevalência elevada de enteroparasitoses é a principal causa de morbidade entre os escolares de países emdesenvolvimento (SEIXAS et al., 2011), dado o crescente número de cães e seu acesso facilitado aos locais de lazer (MACIEL;STEVES; SOUZA, 2016). Segundo a Organização Mundial da Saúde, crianças entre três e seis anos são as mais vulneráveis aadquirir infecções parasitárias, devido à imaturidade imunológica e maior contato com solos infectados. Aliado a isso, tem-se amenor noção de higiene (ANDRADE et al., 2010). Parasitos quando presentes no intestino fazem uso dos nutrientes da dietaafetando o estado nutricional e prejudicando o desempenho escolar e o crescimento (SEIXAS et al., 2011). Uma vez que o solo,com relação aos helmintos e protozoários, comporta-se como hospedeiro intermediário e reservatório, pesquisas que busquemidentificar as fontes de contaminações a fim de diminuir a exposição das crianças a esses locais se fazem necessárias(ESTEVES et al., 2017).Objetivo: Investigar a presença de ovos e larvas de helmintos em caixas de areias de creches e a praças públicas da cidade deFrancisco Beltrão- PR.Material e métodos: Foram coletadas de 5 praças públicas e 5 creches da cidade de Francisco Beltrão/PR, 4 amostras de cadalocal com 3 a 4 cm de areia em frascos coletores estéreis, no período da manhã e levadas para o laboratório de parasitologia daUNIPAR de Francisco Beltrão- PR. Para a análise das amostras foi utilizado o Método de sedimentação de Lutz modificado porHoffmann, que consiste em sedimentação espontânea em água, onde as amostras ficam em repouso por 24 horas e de Willismodificado por Faust que consiste na flutuação de ovos em solução saturada de sal (NaCl) (NEVES et al., 2011). Após aplicaçãodos métodos as amostras foram analisadas em microscópico óptico em objetivas de 10x e/ou 40x.Resultados: Nas praças dos bairros Alvorada, Vila Nova e Padre Ulrico não foram observados presença de ovos, cistos oularvas de parasitas, enquanto que na praça central, 25% das amostras apresentaram ovos de Taenia sp. para o método deHoffman. Na praça do bairro Sadia, todas as amostras pelos dois métodos foram positivas, sendo encontrado ovos de Ascarislumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale e Balantidium coli. Quanto aos resultados das amostras nascreches, na creche 1 encontrou-se 100% das amostras contaminadas com ovos de A. lumbricoides e na creche 2 50% com ovosde A. lumbricoides, ambas pelos dois métodos. Na creche 3 25% apresentaram contaminação com ovos e achados do A.duodenale, para o teste de Hoffman e nas creches 4 e 5 não foi observado a presença de ovos, cistos ou larvas de parasitas nasamostras. Quanto aos índices de positividade para os métodos aplicados, 30% foi positivo para Hoffman e 25% para o método deFaust. Quanto ao índice de positividade para larvas e ovos de helmintos nas amostras de areia, as creches apresentaram 35%comparadas às praças públicas com 25%. Quanto à presença dos parasitas encontrados, A. lumbricoides esteve presente em41,6% das amostras, A. duodenale em 20,9%, E. vermicularis e Balantidium coli em 16,7% e Taenia sp. em 4,1%.Discussão: Os dados deste estudo são semelhantes aos obtidos por Oliveira, Silva e Monteiro (2007) que avaliou acontaminação por parasitas em solos de praças e creches da cidade de Santa Maria, RS, Brasil e encontrou um índice depositividade de 30% quando empregou o método de Faust, onde as amostras estavam contaminadas com ovos e larvas dehelmintos. Quanto à concentração de parasitas encontrados os resultados variaram muito. Neste trabalho, A. lumbricoides estevepresente em 41,6% das amostras, enquanto que em outros estudos como o de Mascarenhas e Da Silva (2016) que avaliaram apresença de ovos e larvas de helmintos do solo de 25 escolas municipais de educação infantil de Pelotas-RS, utilizando métodode Willis, Lutz e Rugai, 36% das amostras estavam contaminadas por ovos de Toxocara spp., 12% Ascaris spp. e 24% por larvasde ancilostomídeos. Martins e Alves (2018) monitoraram o grau de contaminação parasitológica de areias de parques públicosdos municípios de Castelo e Cachoeiro de Itapemirim, ES, Brasil, utilizando técnicas de Hoffman, Willis, Baermann e centrífugo-flutuação simples e das nove amostras analisadas observou-se frequência positiva para ovos de ascarídeos, ancilostomídeos,bem como de helmintos, além de larvas sugestivas de Ancylostoma spp. Figueiredo et al. (2012), investigou a presença deparasitos em caixas de areia das praças de sete escolas municipais de educação infantil do município de Uruguaiana-RS e19,2% das amostras apresentaram-se contaminadas com Ancylostomídeos, 3,1% com A. lumbricoides e 0,8% com Trichuris spp.
Conclusão: Através da realização deste trabalho, foi possível verificar que a areia das áreas de recreação das creches da cidadede Francisco Beltrão PR estavam mais contaminadas com ovos e larvas de helmintos que as praças públicas. Ainda foipossível verificar que a espécie de helminto mais frequente foi A. lumbricoides.
ReferênciasANDRADE, Elisabeth Campos de. et al. Parasitoses intestinais: uma revisão sobre seus aspectos sociais, epidemiológicos,clínicos e terapêuticos. Revista de Atenção Primária à Saúde, v. 13, n. 2, p. 231-240, 2010.ESTEVES, Fabrício Andrade Martins. et al. Análise parasitológica em áreas de recreação de creches localizadas no agrestePernambucano. Centro Universitário Tabosa de Almeida, v. 1, n. 1, p. 1-8, 2017.FIGUEIREDO, Maria Isabel de Oliveira. et al. Levantamento sazonal de parasitos em caixas de areia nas escolas municipais deeducação infantil em Uruguaiana, RS, Brasil. Revista de patologia tropical, v. 1, n. 41, p. 36-46, 2012.MACIEL, Janaína dos Santos; ESTEVES, Rafaelle Gonçalves; SOUZA, Marco Antônio Andrade de. Prevalência de helmintos emareias de praças públicas do município de São Mateus, Espírito Santo, Brasil. Natureza online, v. 14, n. 2, p. 15-22, 2016.MARTINS, Raquel da Silva; ALVES, Victor Menezes Tunholi. Análise de areia de parques públicos nos municípios de Castelo eCachoeiro de Itapemirim. PUBVET, v. 12, n.5, p. 1-9, 2018.MASCARENHAS, Juliana Pinto; DA SILVA, Diego Silva. Presença de parasitos no solo das áreas de recreação em escolas deeducação infantil. Journal of Nursing and Health, v. 6, n. 1, p. 76-82, 2016.NEVES, David Pereira. et al. Parasitologia Humana. 12a ed. São Paulo: Atheneu, 2011.OLIVEIRA, Camila Belmonte, SILVA, Aleksandro Schafer da, MONTEIRO, Silvia Gonzalez. Ocorrência de parasitas em solos depraças infantis nas creches municipais de Santa Maria-RS, Brasil. Revista da Faculdade de Zootecnia, Veterinária eAgronomia, v. 14, n. 1, p. 174-179, 2007.SEIXAS, Marieli Tavares Leite. et al. Avaliação da frequência de parasitos intestinais e do estado nutricional em escolares deuma área periurbana de Salvador, Bahia, Brasil. Revista de patologia tropical, v. 40, n. 4, p. 304-314, 2011.
Bacopa Monnieri (L.) PENNELL: EVIDÊNCIAS PRÉ-CLINICAS E CLÍNICAS NA MELHORA DA FUNÇÃO COGNITIVA
1VITOR UGO DIAS BARREIROS, 2THAISA FERNANDA COUTINHO DE SOUZA, 3CAMILA MORENO GIAROLA, 4VITÓRIABILANCHE, 5FRANCISLAINE APARECIDA DOS REIS LIVERO, 6EVELLYN CLAUDIA WIETZIKOSKI LOVATO
1Acadêmica do Curso de Enfermagem - PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Nutricao - PIBIC/UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina - PEBIC/UNIPAR3Bolsista do PEBIC-EM/CNPQ UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Bacopa monnieri (L.) Pennell (Plantaginaceae) destaca-se por possuir diversas bioatividades, principalmente devidoàs suas propriedades na melhora da memória, funções cerebrais e integridade da capacidade intelectual. O uso do extrato de B.monnieri para tratamento neurológico contribui para melhorar a concentração, controlar a impulsividade, como calmantes, entreoutros benefícios (JAMES et al., 2016). Estudos relacionados à melhoria da função cognitiva promovido pelo extrato de B.monnieri em estudos pré-clínicos e clínicos têm sido promissores (MACIEL et al., 2002). Objetivo: Assim, este trabalho teve por objetivo revisar estudos pré-clínicos e clínicos que evidenciam o potencial terapêutico daBacopa monnieri (L.) Pennell para melhora da cognição.Desenvolvimento: Vários estudos in vitro e in vivo investigaram as propriedades farmacológicas de Bacopa monnieri (l.) Pennelldemonstrando seus efeitos neuroprotetores e melhora na função cognitiva (AGUIAR; BOROWSKI, 2013). Esses efeitos sãoatribuídos à ação antioxidante, antiapoptótica e anti-inflamatória (SUKUMARAN et al., 2019). Dethe et al. (2016) investigaram invitro o mecanismo molecular da B. monnieri envolvido na melhora da memória. Os autores, observaram que o extrato da B.monnieri inibiu a catecol-O-metiltransferase (COMT), a prolil endopeptidase (PEP) e a poli (ADP-ribose) polimerase (PARP) eapresentou efeito antagônico nos receptores 5-HT6 e 5-HT2A, importantes maneiras associadas com a memória e os distúrbiosde aprendizagem, bem como com o comprometimento da memória associado à idade. Outro estudo avaliou a melhora da funçãocognitiva promovida pelo extrato etanólico de B. monnieri (50 mg/kg, uma vez ao dia por 15-30 d) em um modelo deneurodegeneração em camundongos induzido por trimetilestanho (PHAM et al, 2019). Foram demonstrados melhora dosprejuízos cognitivos observado no teste de localização de objeto e no labirinto em Y modificado. Um estudo pré-clínico realizadopor Kwon et al. (2018), demonstrou que o extrato padronizado de B. monnieri (administrado em camundongos por via oral, umavez ao dia por 4 semanas, 200 mg/kg) melhorou a memória através do aumento da proliferação celular e diferenciação deneuroblastos no giro denteado. Os autores sugeriram que esse efeito pode estar relacionado a níveis elevados de fosforilação de( BDNF do inglês Brain-derived neurotrophic factor ) e ( CREB cAMP response element-binding protein) no giro denteado. Emrelação aos estudos clínicos, Kumar et al. (2016) realizaram um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado, não cruzadoe paralelo para avaliar a eficácia da B. monnieri na memória de estudantes de medicina. Os sessenta participantes de ambos ossexos receberam 150 mg do extrato padronizado de B. monnieri ou placebo (duas vezes ao dia, por seis semanas). Observou-semelhora significativa nos testes relacionados às funções cognitivas com a administração de B. monnieri. Morgan e Stevens(2010) investigaram a eficácia de B. monnieri para melhorar o desempenho da memória em idosos saudáveis em um estudorandomizado, duplo-cego, controlado por placebo. Para isso, 98 participantes saudáveis (acima de 55 anos de idade, 46 homense 52 mulheres) foram recrutados, randomizados e receberam placebo ou um extrato padronizado de B. monnieri (300 mg / dia,diariamente, por 12 semanas). Avaliações de memória neuropsicológica e subjetiva foram realizadas no início e após otratamento. Os pacientes que receberam o extrato de B. monnieri apresentaram melhora significativa no aprendizado verbal,aquisição de memória e no atraso na recordação. No entanto, B. monnieri causou efeitos adversos gastrointestinais (aumento dafrequência das fezes, cólicas abdominais e náuseas). Os efeitos de B. monnieri no desempenho cognitivo também foramdescritos em um estudo randomizado controlado sobre hiperatividade e desatenção em 120 crianças e adolescentes do sexomasculino (6-14 anos de idade). Os participantes receberam um extrato padronizado de B. monnieri (com não menos que 55%de bacosides) ou placebo por 14 semanas. Além de melhorar o nível de hiperatividade e desatenção, o tratamento com B.monnieri também melhorou o humor, o sono e a cognição (KEAN et al., 2015).Conclusão: Os estudos pré-clínicos e clínicos evidenciam ações positivas promovidos pela B. monnieri sobre os sistemas deformação de memória, aprendizagem, atenção, concentração e adaptação às mudanças ambientais de estresse que afetam acognição, apresentando grande potêncial para tratamentos de patologias associadas a disfunções cognitivas.
ReferênciasAGUIAR, Sebastian; BOROWSKI, Thomas. Neuropharmacological review of the nootropic herb Bacopa monnieri. Rejuvenationresearch, v. 16, n. 4, p. 313-326, 2013.DETHE, Shekhar; DEEPAK, M.; AGARWAL, Amit. Elucidation of molecular mechanism (s) of cognition enhancing activity ofBacomind®: A standardized extract of bacopa monnieri. Pharmacognosy magazine, v. 12, n. Suppl 4, p. S482, 2016.KUMAR, Sudhir; STECHER, Glen; TAMURA, Koichiro. MEGA7: molecular evolutionary genetics analysis version 7.0 for biggerdatasets. Molecular biology and evolution, v. 33, n. 7, p. 1870-1874, 2016.KWON, Hyun Jung, JUNG, Hyo Young , HAHN, Kyu Ri , KIM, Woosuk , KIM, Jong Whi, YOO, Dae Young , YOON, Yeo Sung, HWANG, in Koo, KIM, Dae Wo, Bacopa monnieri extract improves novel object recognition, cell proliferation, neuroblastdifferentiation, brain-derived neurotrophic factor, and phosphorylation of cAMP response element-binding protein in the dentategyrus. Laboratory animal research, v. 34, n. 4, p. 239-247, 2018.KEAN, James D.; DOWNEY, Luke A.; STOUGH, Con. A systematic review of the Ayurvedic medicinal herb Bacopa monnieri inchild and adolescent populations. Complementary therapies in medicine, v. 29, p. 56-62, 2016.KEAN, James et al. A randomized controlled trial investigating the effects of a special extract of Bacopa monnieri (CDRI 08) onhyperactivity and inattention in male children and adolescents: BACHI study protocol (ANZCTRN12612000827831). Nutrients, v.7, n. 12, p. 9931-9945, 2015.MACIEL, Maria Aparecida M. et al. Plantas medicinais: a necessidade de estudos multidisciplinares. Química nova, v. 25, n. 3, p.429-438, 2002.PHAM, Hang Thi Nguyet et al. Bacopa monnieri (L.) Ameliorates Cognitive Deficits Caused in a Trimethyltin-Induced NeurotoxicityModel Mice. Biological and Pharmaceutical Bulletin, v. 42, n. 8, p. 1384-1393, 2019.SUKUMARAN, Nimisha Pulikkal; AMALRAJ, Augustine; GOPI, Sreeraj. Neuropharmacological and cognitive effects of Bacopamonnieri (L.) Wettst-A review on its mechanistic aspects. Complementary therapies in medicine,v.44 p. 68-82, 2019.
AVALIAÇÃO IN VITRO DA ESTABILIDADE DE COR DA RESINA COMPOSTA D3 (Vitra) SOBRE DIFERENTES FORMAS DEPOLIMENTO
1JENIFFER URBANO DEGASPERI, 2ADRIANO MATTÉ, 3CAIO SANDOLI LIMA, 4WAGNER BASEGGIO
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmico do PIC/UNIPAR2Acadêmico do PIC/UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: As restaurações dentárias com resinas compostas têm sido amplamente utilizadas, principalmente como o materialde escolha por pacientes e clínicos, principalmente, aqueles que almejam restaurações estéticas, devido à sua resistênciaadequada, custo moderado em comparação com a cerâmica, adesão à estrutura dentária e menor tempo de trabalho. Entretanto,devido às propriedades intrínsecas deste tipo de material, eles são propensos a manchamentos e pigmentações (SILVA, 2015).Matriz orgânica, dimensões das partículas de cargas, grau de polimerização e agentes corantes são fatores relacionados com aestabilidade de cor das resinas compostas, e diferentes causas podem ser elencadas para que ocorra mudança de cor dosmateriais restauradores estéticos em geral, como acúmulos de pigmentos, desidratação, sorção de água, degradação química,desgaste, infiltração e rugosidade superficial (LOPES et al., 2016). Dessa forma, a optação pelo sistema de polimento adequado,se faz indispensável para a minimização das intercorrências acima citadas (SCHIMITT et al., 2011).Objetivo: Avaliar in vitro, as diferentes técnicas de polimento sobre a estabilidade de cor da resina composta de dentina D3(VITTRA), nanoparticulada.Materiais e Métodos: Com o auxílio da resina composta de dentina (D3), da marca comercial VITTRA, foram confeccionadostrinta espécimes, com dimensões de 10mm x 10 mm x 2mm e divididos em 2 grupos com 15 amostras, em função dacombinação entre resina composta e técnica de polimento de superfície: Grupo 1 borrachas abrasivas (Optimize TDV); Grupo 2Disco de Lixa (Diamond Pro FGM) + borrachas abrasivas (Optimize TDV). A cor inicial foi determinada de acordo com oaparelho Vita Easyshade. Os espécimes foram submetidos aos diferentes sistemas de polimento, conforme as recomendaçõesdo fabricante. Em seguida, os mesmos, ficaram armazenados em solução de café à 37ºC e umidade de 100% por 4 dias. Osresultados foram submetidos aos testes ANOVA 1 critério e Tukey com nível de significância de 5%, com p<0,05.Resultados: as médias de valores de ∆E foram: Grupo 1 borrachas abrasivas (Optimize TDV) 8,4; Grupo 2 discos de Lixa(Diamond Pro FGM) + borrachas abrasivas (Optimize TDV) 4,70.Discussão: As etapas de acabamento e polimento apresentam-se como essenciais para um sucesso clínico e estético, pois têmcomo finalidade aumentar a lisura superficial, o refinamento e o brilho que levam a uma maior reflexão de luz e,consequentemente, a uma aparência mais natural (LIRA et al., 2019). Percebe-se que a técnica de polimento com o usosequencial de discos de lixa e borrachas abrasivas, demonstrou-se eficaz na obtenção de uma superfície mais lisa para a resinatestada. Isto pode ser explicado pela capacidade de o disco de óxido de alumínio produzir superfícies lisas, que está relacionadoà eficácia de reduzir a partícula e matriz de forma igual, dessa maneira, entende-se que os sistemas de polimento de múltiplospassos (discos de lixas + borrachas abrasivas) investigados durante este estudo foram superiores na eficiência do alisamento,diferentemente do polimento do passo único (borrachas abrasivas), que, resultaram em maior rugosidade sobre a superfície domaterial. Dessa forma, quanto mais lisa a superfície, menor é o acúmulo de pigmentos e manchamentos da mesma.Conclusão: A técnica de polimento empregando-se a sequência de discos de lixa associados as borrachas abrasivaspromoveram superfícies de resina mais lisas e resistentes ao manchamento, diferencialmente das de passo único, as quais,fizeram-se uso apenas de borrachas abrasivas, que propiciaram uma menor lisura sobre a superfície e, consequentemente maiorpigmentação e manchamento estrutural.
ReferênciasLIRA, R. Q. N. et al. Avaliação do efeito de técnicas de acabamento e polimento na rugosidade superficial de resinascompostas. J. Health Biol Sci. v. 7, n. 2, p. 197-203, 2019. LOPES, E. S. et al. Avaliação do efeito de bebidas quanto ao manchamento de resinas compostas. Revista Pesquisa da Saúde,São Luis. v. 17, n. 3, p. 147-150, 2016.SCHIMITT, V. L. et al. Efeito dos procedimentos de polimento na estabilidade de cor e rugosidade superficial de resinascompostas. ISRN Dent. 2011; 2011: 617672. doi: 10.5402 / 2011/617672. Epub 2011 11 de julho. SILVA, Paula Barcelos. Fatores que influenciam o manchamento marginal e superficial de restaurações de resina
composta em dentes anteriores. Orientador: Maximiliano Sergio Cenci. 2015. 73 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Dentística, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Pelotas, 2015.
ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NO TRATAMENTO DA PARALISIA FACIAL DE BELL
1DJEICE DIANE HECK, 2GABRIELI GUILHERME PSZEBISZESKI, 3ANA BEATRIZ PINHEIRO ZAUPA, 4AMANDA GABRIELIVIEIRA ROMAGNOLI, 5EDUARDO BENASSI DOS SANTOS, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmica de PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Mestrando em Odontologia - UNIOESTE5Docente da UNIPAR
Introdução: A paralisia facial periférica (PFP) é oriunda de um dano neuronal do nervo facial (VII para craniano), quee é umnervo misto. É definida como a suspensão da passagem de informação motora para a musculatura facial (WENCESLAU, et al.,2016). As consequências variam desdes os âmbitos físicos, psíquicos até sociais. Os sinais clínicos estão presentes na mímicafacial, mastigação, fala, deglutição, expressão facial, oclusão palpebral, gustação, salivação, lacrimejamento, hipoestesia ouhiperacusia e são comuns. Observam-se as barrerias além da comunicação verbal mas também a não verbal, ansiedade,depressão, estresse emocional e alteração nas relações sociais, podendo levar o individuo a se sentir ou ser rejeitado por outraspessoas, o que reprime seu desejo de frequêntar locais públicos (SILVA e CUNHA, 2016). Com o objetivo de melhorar oatendimento ao paciente, a Organização Mundial de Saúde refere quanto a atuação dos profissionais de várias áreas, buscandoo atendimento integral para melhorar a qualidade de vida não somente do paciente mas também dos familiares (SANTOS,CHIARI e GUEDES, 2016).Objetivo: Revisar a literatura a respeito da abordagem multidisciplinar no tratamento da Paralisia Facial de Bell. Desse modo,orientar os profissionais da área da saúde sobre o melhor diagnóstico e tratamento, o que resulta em uma melhor recuperação doindivíduo e, consequentementee, da sua qualidade de vida, o que acelera sua recuperação.Desenvolvimento: Em estudo realizado por Silva at. al (2015) em paciente com paralisia moderada, fraqueza muscular, flacidez,encerramento palpebral incompleto, boca assimétrica, incapacidade mímica e dificuldades relatadas pelo mesmo para expressãode emoções e falar em público, foi realizado por 5 semanas tratamento com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e médicoacupunturista. Após o tratamento houve melhoras nas atividades de mímica facial, deglutição, mastigação e na articulção da fala,desta a forma a importância da equipe multidisciplinar no tratamento e melhora da qualidade de vida do paciente. Evidenciou-setambém o uso da toxina botulíncia tipo A nas sequelas de paralisia facial visando recuperar a simetria do rosto em repouso edurante a mímica facial voluntária e involuntária auxiliando também na recuperação psicossocial do paciente (BRATZ e MALLET,2015). Em casos de paralisia facial decorrente de traumas o tratamento cirúrgico torna-se uma boa opção, nos últimos anos osmédicos cirurgiões utilizaram muito a técnica cirúrgica de transferência muscular livre, que vem apresentando bons resultadosinclusive estéticos (POETA, GOLDINI, et al., 2019). Em âmbito fisioterapêutico Ubillus e Sanchez (2018) destacam o uso depráticas para a melhora do indivíduo com paralisia facial como a termoterapia com uso de compressas quentes para aumentar acirculação sanguínea, uso de drenagem linfática que tem efeitos no sistema nervoso e indicado em casos de aumento da funçãoparassimpática, a acunpuntura como forma de estímulação muscular e de aceleração da regeneração nervosa, alongamento nosmúsculos de forma ascendente, uso de exercícios em padrões diagonais desta forma o lado melhor ajuda o lado com maisdificuldade e sempre contra a gravidade para a estimulação sensorial, uso de bandagens para estimulação manual e facilitaçãodos movimentos durante exercícios, e uso do espelho para o paciente se auto-corrigir na realização dos exercícios, assimestimulando vários fatores em prol da melhora do quadro clínico. Estudo realizado com uso da laserterapia associadaà fisioterapia e uso de fármacos para paciente com paralisia facial de hemiface direita durante 40 dias mostrou melhora completa,com a musculatura menos hipotônica e com movimentos de mimica facial normalizado, a laserterapia mostrou-se muitoimportante para aceleração e regeneração das estruturas nervosas acometidas (VIEGAS, et al., 2006).Conclusão: Desta forma é possivel observar muitas maneiras de tratamento para Paralisia Facial de Bell, destacando que amelhor abordagem para melhoria da qualidade de vida do paciente apresenta-se de forma multidisciplinar, onde cada profissionalpode ajudar na sua area resultando em uma melhor e mais rápida .É necessário destacar a necessidade de mais estudos epesquisas sobre o tema, encontra-se pouco artigos e materiais que discutem a abordagem multidisciplinar nos tratamentosdessa patologia.
Referências
BRATZ, Pâmela Dominik Engers; MALLET, Emanuelle Kerber Viera. Toxina botulínica tipo A: abordagens em saúde. RevistaSaúde Integrada, Santo Ângelo, v. 8, n. 15-16, Fev. 2015.POETA, Josiel Schilling; GOLDANI, Eduardo; FERNANDES, Daniel Araujo; SILVA, Jefferson Braga. Trauma do nervo facial eterapias de tratamento. Arquivos Catarinenses de Medicina, Porto Alegre, v. 48, p. 104-116, Abril 2019.SANTOS, Rayné Moreira Melo; CHIARI, Brasília Maria; GUEDES, Zelita Caldeira Ferreira. Paralisia facial e qualidade de vida:revisão crítica de literatura no âmbito do trabalho interprofissional. Rev. CEFAC, Maceío, v. 18, n. 5, p. 1230-1237, set-out, 2016.SILVA, Mabile Francine Ferreira; BRITO, Aline Ferreira; CAMPOS, Mariana Fernandes; CUNHA, Maria Claudia. Atendimentomultiprofissional da paralisia facial periférica: estudo de caso clínico. Distúrbios Comun, São Paulo, v. 27, n. 2, p. 364-368,junho 2015.SILVA, Mabile Francine Ferreira; CUNHA, Maria Claudia. Considerações teóricas acerca do impacto físico, psiquico e social naparalisia facial periférica. Distúrbios Comun, São Paulo v. 28, n. 1, p. 175-180, março 2016.UBILLUS-CARRARO, Genaro Eduardo; SANCHEZ-VELEZ, Alberto. Fisioterapia na Paralisia Facial. Rev. Corpo Médico,Lambayeque, v. 11, n. 4, p. 258-264, 2018.VIEGAS, Vinicius Nery; KREINER, Paulo Eduardo; MARIANI, Cristiana; PAGNONCELLI, Rogério Miranda. LaserterapiaAssociada ao Tratamento da Paralisia Facial de Bell. [S.l.]: Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária eCirurgia Maxilofacial, Porto Alegre, v. 47, n.1, p. 43-48, 2006.WENCESLAU, Lais Garcia Capel; SASSI, Fernanda Chiarion; MAGNANI, Dicarla Motta; ANDRADE, Claudia Regina Furquim De.Paralisia facial periférica: atividade muscular em diferentes momentos da doença. CoDAS, v. 28, n. 1, 2016. Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2317-17822016000100003&script=sci_abstract&tlng=pt. Acessado em: 05/08/2019.
ANÁLISE DOS ÓBITOS CAUSADOS POR HIPERTENSÃO NO BRASIL DE 2012 A 2016 NA FAIXA ETÁRIA DE 30 A 59ANOS: UMA REVISÃO
1LUIZ GUSTAVO MARTINS, 2SUELEN STEFANONI BRANDAO, 3LUCIANA LOPES GUTIERREZ BARTOLLI, 4WENDREOCHARLES DE CAMPOS, 5MARIA ELENA MARTINS DIEGUES, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente e Coordenadora do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente do Curso de Medicina da UNIPAR
Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS), representa uma patologia de grande notabilidade, pois há diversos riscoscardiovasculares decorrentes da doença, sendo necessárias algumas intervenções aspirando minimizar esses impactosdeterminantes na saúde dos indivíduos. Para Almeida-Santos et al (2018), os AVCʼs e doenças cerebrovasculares, têm sidoconsiderados os principais danos em consequência da HAS, sendo muito influente no que tange a morbimortalidade.Objetivo: Fazer um levantamento de dados em âmbito nacional com base na tendência de mortalidade relacionada a doençashipertensivas entre os anos de 2012 e 2016, na faixa etária de 30 a 59 anos.Desenvolvimento: Analisando os dados do portal DATASUS, observa-se que as taxas de óbitos em nível nacional, no períodode 2012 a 2016 em decorrência da hipertensão arterial, na faixa etária de 30 a 59 anos, oscilou. Entre elas o decréscimo deóbitos em âmbito federal de 7659 em 2012 para 7140 em 2014, e seu posterior aumento para 7553 em 2016. Dessa forma,percebemos que na Região Norte houve um acréscimo na taxa em aproximadamente 17%, onde em 2012 tínhamos um valor de370 óbitos passando para 433 em 2016; na Região Nordeste observamos um aumento perto de 7%, em 2012 com 1991 óbitoselevando-se para 2095 óbitos totais em 2016; e na Região Sul em cerca de 8%, uma elevação de 877 em 2012 para 951 óbitosem 2016. Esse acréscimo pode estar diretamente ligado ao estilo de vida dos indivíduos, como, por exemplo, tabagismo, hábitosalimentares, idade e além disso, ausência de exercícios físicos regulares (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).Os indivíduos com idade entre 50 e 59 anos têm 5,35 vezes mais chances de serem hipertensos do que os de 20 aos 29 anos.Os fumantes têm 2,36 vezes mais chances do que os não fumantes; os obesos têm 2,35 vezes mais chances do que osindivíduos de peso normal e os indivíduos com Diabetes Mellitus (DM) têm 2,9 vezes mais chances de serem hipertensos do queos sem DM (RADOVANOVIC, et al, 2014). Em contrapartida houve uma queda na taxa de mortalidade tanto na Região Sudeste,onde foi registrado 3856 óbitos em 2012 decrescendo para 3576 óbitos em 2016 e Região Centro-Oeste, onde houve uma quedade 565 em 2012 para 518 em 2016. Dessa forma, segundo dados do IBGE de 2014, pode-se confirmar um decréscimo nasmortes por doenças cerebrovasculares de aproximadamente de 6,6% e por infarto agudo do miocárdio de 0,2% (BRASILMINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). O Plano Global de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)estabeleceu meta de redução da HAS em 25% entre 2015 e 2025. No Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento dasDCNT no Brasil para o período entre 2011-2022, foram definidas diversas medidas de promoção da saúde e de atençãorelacionadas à HA: acordos com a indústria alimentícia para redução do teor de sódio em alimentos processados, incentivo àprática de atividade física por meio do Programa Academia da Saúde e disponibilização gratuita de medicamentos para controleda hipertensão arterial segundo classificação de risco (ANDRADE et al. 2013).Conclusão: Diante dos fatos mencionados, conclui-se que, embora a porcentagem de HAS oscile muito, houve um aumentoconsiderável nas taxas de óbitos no ano de 2016, o que leva a uma preocupante realidade. Entretanto, em algumas regiões comoo Sudeste, houve um decréscimo na taxa de mortalidade. Dessa forma, é necessário o incentivo e a prática de atividades físicaspara assim, essa taxa continuar decrescendo e melhorando a saúde das pessoas.
ReferênciasALMEIDA-SANTOS, M. A.; et al. Análise Espacial e Tendências de Mortalidade Associada a Doenças Hipertensivas nos Estadose Regiões do Brasil entre 2010 e 2014. Programa de Pós-graduação em Saúde e Ambiente da Universidade Tiradentes, Aracaju,SE. Journal of Cardiovascular Sciences. v. 31, p. 250-257, 2018.ANDRADE, S. S. A. et al. Prevalência de hipertensão arterial autorreferida na população brasileira: análise da Pesquisa Nacionalde Saúde, 2013.Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 24, n. 2, p. 297-304, June 2015.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não
Transmissíveis e Promoção da Saúde. Saúde Brasil 2014: uma análise da situação de saúde e das causas externas / Ministérioda Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis ePromoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 462 p.: il. ISBN 978-85-334-2329-9, 2015.RADOVANOVIC, C., et al. Hipertensão arterial e outros fatores de risco associados às doenças cardiovasculares em adultos.Revista Latino-Americana De Enfermagem, 22(4), 547-553, 2014.SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. v. 107, Nº 3, Supl. 3, 2016.www.arquivosonline.com.br
ASSOCIAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E ESTADO NUTRICIONAL EM ADOLESCENTES: UM ESTUDO DE REVISÃO
1EMANUELLY SHAYENE GARBOZZA, 2ANA PAULA ZORZI PEREIRA, 3ANDRE FERNANDO PASSOS DE OLIVEIRA,4LETICIA DA ROSA PIETTA, 5SHELZEA SHANDARA RECH DOS SANTOS, 6DURCELINA SCHIAVONI BORTOLOTI
1Discente do curso de Nutrição, PIC/UNIPAR1Discente do curso de Nutrição, PIC/UNIPAR2Discente do curso de Nutrição, PIC/UNIPAR3Discente do curso de Educação Física, PIC/UNIPAR4Discente do curso de Educação Física, PIC/UNIPAR5Docente do Curso de Educação Física, PIC/PIBIC/UNIPAR
Introdução: Imagem corporal pode ser definida como a percepção que o sujeito tem do próprio corpo com base nas sensações eexperiências vividas ao longo da vida, é uma espécie de fotografia mental que a pessoa elabora sobre a sua aparência físicae pode ser construída ou destruída por tentativas que buscam uma imagem e um corpo ideais (DE CASTRO et al., 2009).Evidências têm demonstrado aumento na prevalência de insatisfação com a imagem corporal em adolescentes.Assim, estudostêm destacado que distúrbios da imagem corporal podem estar associados ao estado nutricional e em casos mais graves levar oindivíduo a desenvolver a anorexia e bulimia, principalmente na adolescência (MARTINS et al., 2010).Objetivo: O propósito do presente estudo foi identificar a associação da imagem corporal (IC) e estado nutricional (EN) deadolescentes.Desenvolvimento: O estudo foi conduzido por meio de uma revisão da literatura, onde foram incluídos estudos indexados àsseguintes bases de dados nacionais: LILACS, SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde e na ferramenta de busca GoogleAcadêmico, publicados de 1990 até Junho de 2019. Os descritores utilizados para as buscas foram: imagem corporal,adolescentes, estado nutricional.Após a busca e análise dos artigos, apenas 10 estudos foram incluídos nesta revisão. No maisrecente estudo Silva et al.,(2018),avaliou o EN e IC em diferentes regiões do Brasil e verificou que, 52,5% dos adolescentespercebem-se com peso normal, 27,6% sentiam-se magros e 21,5% das meninas e 3,2% dos meninos sentiam sobrepesados ouobesos. Em outro estudo conduzido em escolas nas capitais brasileiras, os autores verificaram que,22,1% dos alunos com baixopeso se classificavam como magros, os com peso adequado 60,2% se classificou como eutróficos e entre os com excesso depeso (17,7%) a maioria se classificou como sobrepeso ou obesos. A maior proporção observada entre uma categoria de ICdiscordante da categoria de EN foi aquela referente à IC normal entre adolescentes com excesso de peso (meninos: 52,0%;meninas: 42,6%) (DE CASTRO et al.,2009). Um estudo em Caruaru- PE (SANTOS et al.,2014), verificou que, 38,7% dosadolescentes mostrou-se estar satisfeito com seu peso, 31,3% gostariam de aumentar e 30% desejava diminuir seu pesocorporal.Um dado preocupante neste estudo, foi que os rapazes que gostariam de aumentar o peso, 13,5% apresentavamexcesso de peso e 18,8% das moças que queriam reduzir o peso estavam com baixo peso. Em Minas Gerais foram feitos doisestudos por Miranda et al., (2011; 2014). Em 2011, 11,5% das meninas e 3,5% dos meninos apresentaram moderada e graveinsatisfação da IC sendo que, 25,9% e 18,9% estavam em sobrepeso e obesidade respectivamente.Além disso, 30,6% dasmeninas com IMC normal apresentaram algum nível de insatisfação relacionada a IC. Já em 2014, a maioria dos adolescentesapresentou IMC normal (84,9%) contudo, 27,8% dos adolescentes manifestaram algum nível de insatisfação corporal. Em umestudo realizado em São Paulo (BRANCO et al.,2006),43,6% das meninas avaliadas em eutrofia se identificavam com excessode peso,47,6% das meninas avaliadas em sobrepeso se consideravam obesas. Já dos meninos avaliados em eutrofia,26,3% seconsideravam com sobrepeso e dos classificados com obesidade,42,8% se consideravam sobrepesados. Houve insatisfaçãocom a IC mesmo entre adolescentes em eutrofia, mas especialmente naqueles em sobrepeso e obesidade. No Rio de Janeiro,Dos Santos et al., (2014), avaliou 152 estudantes,69,7% estavam eutróficos,19,7% com sobrepeso,9,9% obesos,os quaisclassificaram sua IC como: normal(59,9%),magros e muito magros(20,4% e 2,0%) e sobrepeso e obesos (17,1% e 0,7%).Em umestudo realizado em Santa Catarina SC a maioria dos adolescentes da pesquisa eram eutróficos e 22,5% estavam comsobrepeso ou obesidade.Verificou-se que 32,2% estavam satisfeitos com sua IC mas 44,6% gostariam de diminuir sua silhuetae 23,2% gostariam de aumentá-la (FERNANDES et al., 2017).Ainda em Santa Catarina SC, dos 595 adolescentes analisados,65,2% estavam insatisfeitos com a IC e 34,8% estavam satisfeitos (PELEGRINI et al., 2009).Já no estudo de Martins et al.,(2010)realizado no Rio Grande do Sul RS as prevalências de insatisfação com a IC e de sintomas de anorexia e bulimia foram de25,3% e 27,6%, respectivamente.A adolescência é um período de construção de identidade e de transformações biológicas,cognitivas e emocionais que favorecem a insegurança do adolescente com seu próprio corpo, constituindo uma fase crítica paraa construção da IC (SILVA et al.,2018). Estudos demonstram que adolescentes obesos e com distorção da IC podem estar
associados à depressão.(FERNANDES et al.,2017).Conclusão: Houve uma grande variação nos dados de prevalência de inadequação da IC e EN meninas (11,5% à 80,7% emeninos 3,2% à 71,1%) nas diferentes regiões do Brasil. Contudo, destaca-se que ainda há poucos estudos sobre essa temáticaassim, é necessário a condução de estudos adicionais, nas diferentes regiões do país a fim de um melhor conhecimento tantodas discordâncias da IC bem como dos fatores associados, como depressão, ansiedade, bulimia anorexia e obesidade.
ReferênciasBRANCO, Lucia Maria. et al,.Percepção e satisfação corporal em adolescentes e a relação com seu estado nutricional. Rev.Psiq. Clín. SP, v.33, n.6, p. 292-296, 2006.DE CASTRO, Inês Rugani Ribeiro, et al. Imagem corporal, estado nutricional e comportamento com relação ao peso entreadolescentes brasileiros. Ciência & Saúde Coletiva, RJ, v.15, p. 3099-4108, 2010.DOS SANTOS, Carla Fernandez, et al. Concordância e associação entre diferentes indicadores de imagem corporal e índice demassa corporal em adolescentes. Rev. Bras. Epidemiologia, RJ,v.17, n.3, p. 747-750, 2014.FERNANDES, Aline R. Rentz, et al. Autoestima, imagem corporal e depressão de adolescentes em diferentes estadosnutricionais. Rev. Saúde Pública, SC, v.19, n.1, p. 66-72, 2017.MARTINS, Cilene Rebolho, et al.Insatisfação com a imagem corporal e relação com o estado nutricional, adiposidade corporal esintomas de anorexia e bulimia em adolescentes. Rev. Psiquiatria, RS, v.32, n.1, p.19-23, 2010.MIRANDA, Valter Paulo Neves, et al. Insatisfação corporal em adolescentes brasileiros dos municípios de pequeno porte deMinas Gerais. J. Bras. Psiquiatria, MG, v.60, n.3, p. 190-197, 2011.MIRANDA,Valter Paulo Neves, et al. Imagem corporal de adolescentes de cidades rurais. Ciência & Saúde Coletiva, MG, v.19, n6, p. 1791-1801, 2014.PELEGRINI, Andreia, et al. Inatividade física e sua associação com estado nutricional,insatisfação da imagem corporal ecomportamentos sedentários em adolescentes de escolas públicas. Rev. Paul. Pediatria , SP, v.27, n.4, p. 366-373, 2009.SANTOS, Eduila Maria C. et al.Satisfação com o peso corporal e fatores associados em estudantes do ensino médio. Rev. Paul.Pediatria, SP, v. 29, n.2, p. 214-223, 2011.SILVA, Simoni Urbano et al. Estado nutricional, imagem corporal e associação com comportamentos extremos para controle depeso em adolescentes brasileiros,Pesquisa Nacional De Saúde do Escolar de 2015. Rev. Bras. Epidemiologia, SP, v. 21, n.1, p.01-13, 2018.
QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE
1Carine Priscila da Silva, 2ANDRESSA FERANDIN ZANON, 3NELI GEHLEN MOTTA, 4DALILA MOTER BENVEGNÚ, 5MÁRCIAFERNANDES NISHIYAMA
1Discente do curso Nutrição da Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Realeza1Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Realeza2Discente do curso Nutrição da Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Realeza3Docente de Graduação e Pós-Graduação na Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Realeza4Docente de Graduação na Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Realeza
Introdução: A doença renal (DR) é caracterizada por perda progressiva da estrutura e função dos rins, causando acúmulo detoxinas no sangue (TEIXEIRA NETO,2012). Esta enfermidade é resultante de várias condições patológicas sistêmicas, sendo ahipertensão arterial, a glomerulonefrite e o diabetes mellitus as principais. Contudo, a DR pode ter causas menos frequentescomo rins policísticos, pielonefrites, lúpus eritematoso sistêmico e doenças congênitas (AVESSANI; PEREIRA; CUPPARI, 2009).O estágio em que a DR se encontra é determinado a partir da medida da taxa de filtração glomerular (TFG), que pode serdefinida como a capacidade que o rim apresenta de eliminar determinada substância do sangue. A TFG é expressa através dovolume de sangue que é depurado em determinada unidade de tempo (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). Em estágio avançado, estacondição é chamada de doença renal crônica (DRC), que é quando o paciente passa a ter que fazer algum tipo de terapia renalsubstitutiva (TRS), podendo ser do tipo hemodiálise (HD) ou diálise peritoneal (DP). Os pacientes submetidos a estas terapiastendem a ter uma diminuição na qualidade de vida (QV) por ocorrerem alterações na rotina, restrições alimentares, entre outrascondições que interferem diretamente no seu estilo de vida habitual. Estas mudanças podem ser um fator negativo para otratamento, dificultando a adesão à terapia. Desta maneira, torna-se relevante investigar a qualidade de vida de pacienteshemodialisados por fornecer dados que contribuem na escolha da terapia mais adequada ao paciente, levando em consideraçãosuas características pessoais.Objetivo: Analisar de que maneira a literatura aborda a questão da qualidade de vida de pacientes submetidos a terapia renalsubstitutiva do tipo hemodiálise, considerando aspectos nutricionais dos mesmos.Desenvolvimento: As limitações que resultam da DRC e as consequências negativas da TRS, fazem com que os pacientespassem a ter sintomas mentais e somáticos que os levam a perceber a doença como fator de privação da qualidade de vida. Aqualidade de vida pode ser definida como a forma que um indivíduo vê seus valores, objetivos, expectativas, padrões epreocupações dentro do contexto sócio-cultural. Frente a sua nova condição de vida, e dependente da HD, esses pacientesexperimentam inúmeros sentimentos e emoções causados pela nova situação que terão de viver (VIANA; KOHLSDORF, 2014). Conhecer a QV individualmente, permite que sejam realizados planejamentos de intervenções paciente-específico, com o intuitode melhorar os aspectos que envolvem a DRC (RAMOS et al., 2015). Além das mudanças de caráter social, emocional esomáticas, a DRC também gera limitações quanto ao hábito alimentar e de atividade física (DABROWSKA-BENDER et al., 2018).Um exemplo dessas limitações pode ser o fato de que a TRS do tipo HD necessita de uma grande disponibilidade de tempo (assessões podem ter 4 ou mais horas de duração, em dias alternados), o que pode levar os indivíduos a deixarem seus empregos,gerando uma diminuição de sua condição financeira, podendo acarretar em escolhas diferentes na sua dieta e no estilo de vida(BOGACKA et al., 208). Além disso, a dieta do paciente renal muitas vezes não é bem aceita devido às alterações do consumode nutrientes, vitaminas, minerais e energia. Os pacientes também sentem dificuldade em realizar refeições adequadas devido aodeslocamento até clínicas ou hospitais, locais onde são realizadas as sessões de HD. Nesse sentido, o cuidado nutricional comrelação a saúde renal também é uma forma de medida preventiva, já que modificações no estado nutricional, como a obesidade,são fatores de risco que podem levar à DRC, e quando instalada a patologia, a nutrição irá atuar na avaliação e tratamento damesma (SANTOS et al., 2013). Pensando nisto, a terapia nutricional é considerada uma parte importante no processo detratamento de pacientes com DRC, pois aqueles submetidos à TRS do tipo HD apresentam um maior risco de desnutrição devidoàs perdas que ocorrem durante o processo de filtração do sangue (AKBULUT et al., 2013; KIM; LIM; CHOUE, 2015).Conclusão: Considerando a importância da dietoterapia na DRC de pacientes submetidos a HD, o incentivo dessa prática setorna essencial para que estes possam alcançar uma melhor QV, facilitando consequentemente o processo de enfrentamento dadoença.
ReferênciasAKBULUT, Gamze et al. Daily dietary energy and macronutrient intake and anthropometric measurements of the peritoneal
dialysis patients. Renal failure, v. 35, n. 1, p. 56-61, 2013. Disponível em: . Acesso em: 16 ago. 2019.AVESSANI, Carla Maria; PEREIRA, Aline Maria Luiz; CUPPARI, Lilian. Doença Renal Crônica. In: CUPPARI, Lilian. Nutrição:nas doenças crônicas não-transmissíveis. Barueri, SP: Manole, 2009. p. 267-330.BASTOS, Marcus Gomes; KIRSZTAJN, Gianna Mastroianni. Doença renal crônica: importância do diagnóstico precoce,encaminhamento imediato e abordagem interdisciplinar estruturada para melhora do desfecho em pacientes ainda nãosubmetidos à diálise. J Bras Nefrol, 2011.BOGACKA, Anna et al. Analysis of nutrition and nutritional status of haemodialysis patients. Rocz Panstw Zakl Hig, v. 69, n. 2,2018.DĄBROWSKA-BENDER, Marta et al. The impact on quality of life of dialysis patients with renal insufficiency. Patient preferenceand adherence, v. 12, p. 577, 2018. Disponível em: . Acesso em: 16 ago. 2019.KIM, Hyerang; LIM, Hyunjung; CHOUE, Ryowon. A better diet quality is attributable to adequate energy intake in hemodialysispatients. Clinical nutrition research, v. 4, n. 1, p. 46-55, 2015. Disponível em: . Acesso em: 16 ago. 2019.RAMOS, Elizabeth Cristina Carpena et al. Qualidade de vida de pacientes renais crônicos em diálise peritoneal e hemodiálise. JBras Nefrol, v. 37, n. 3, p. 297-305, 2015. Disponível em: . Acesso em: 16 ago. 2019.SANTOS, Ana Carolina Bonelá dos et al. Associação entre qualidade de vida e estado nutricional em pacientes renais crônicosem hemodiálise. J Bras Nefrol, v. 35, n. 4, p. 279-288, 2013.Disponível em: . Acesso em: 16 ago. 2019.TEIXEIRA NETO, Faustino. Nutrição Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.VIANA, Glavia; KOHLSDORF, Marina. Qualidade de Vida e Enfrentamento em Pacientes Submetidos à Hemodiálise. Interaçãoem Psicologia, v. 18, n. 2, 2014. Disponível em: . Acesso em: 16 ago. 2019.
AVALIAÇÃO DA DOR PÓS-OPERATÓRIA APÓS RETRATAMENTO ENDODÔNTICO UTILIZANDO LIMASRECIPROCANTES E INSERTOS ULTRASSÔNICOS: ESTUDO CLÍNICO
1RAFAEL PEDRAZZOLLI MARASSI, 2CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA BUENO, 3AUGUSTO SHOJI KATO, 4LETICIACRISTINA MULLER, 5ALEXANDRE SIGRIST DE MARTIN
1Discente São Leopoldo Mandic - Campinas Sp1Docente São Leopoldo Mandic - Campinas Sp2Docente São Leopoldo Mandic - Campinas Sp 3Discente Unipar/ Unidade de Cascavel - Pr4Docente São Leopoldo Mandic - Campinas Sp
Introdução: o retratamento endodôntico (RE) consiste na remoção do material obturador (MO), reinstrumentação e reobturaçãodo sistema de canais, com o intuito de superar as deficiências da terapia endodôntica anterior (ALMEIDA, 2016).Objetivo: avaliar de forma clínica randomizada a dor pós-operatória (PO) após o RE utilizando limas reciprocantes (LR) einsertos ultrassônicos (IU).Materiais e métodos: estudo aprovado pelo comitê de ética da Faculdade São Leopoldo Mandic sob o número do parecer3.270.062 e CAAE 10587219.0.0000.5374. Os voluntários convidados a participar deste ensaio clínico foram informados sobreprotocolos, riscos e benefícios, com direito de negar a participação. Um consentimento por escrito (TCLE) foi assinado e umacópia foi entregue a todos. O cálculo amostral foi conduzido no programa G*Power 3.1. Foram selecionados 321 pacientes, noperíodo de janeiro 2018 a abril de 2019 que necessitavam de RE. Houve exclusões realizadas, as quais restaram 46 indivíduos.Por meio de um sorteio, foram designados cada paciente para um grupo (Clearsonic ou Reciproc). Procedimento realizado porúnico operador (especialista em endodôntia), em única visita e com auxílio de um Microscópio operatório DFVasconcelos (Rio deJaneiro, Brasil). Em todos os casos: administração da anestesia local (lidocaína com epinefrina 1:100.000), isolamento absoluto(arco de Ostby e dique de borracha) e remoção das restaurações antigas para acessar o canal radicular (CR). Padronização datécnica de acordo com a divisão em: Gr 1 (Reciproc), MO removido com limas Reciproc (VDW, Alemanha) R 25.08, R 40.06 e R50.05 c/ movimentos de bicar e sair (amplitude não excedendo os 3 mm). Gr 2 (Clearsonic): MO removido c/ IU Clearsonic(Helse, Brasil), c/ movimentos de entrada e saída (amplitude não excedendo os 3 mm) intercalando 20 seg s/ irrigação e 20 segc/ irrigação (CUI) c/ soro fisiológico. Em ambos os grupos radiografias transoperatórias foram realizadas para confirmar aremoção do MO. O comprimento de trabalho (CT) dos grupos foi estabelecido utilizando localizador apical Novapex (ForumTechnologies, Rishon Le-Zion, Israel) c/ limas manuais k #15. No Gr 2, seguiu-se de instrumentação para confecção de um novobatente c/ limas Reciproc (VDW, Alemanha) R 25.08, R 40.06 e R 50.05. Não foi empregue nos grupos solventes para remover oMO. Cada kit de instrumentos foi utilizado em apenas um dente e descartado. A patência do forame foi realizada em todos oscasos, e mantida durante todo o tratamento c/ lima manual K #15 a 1 mm além do CT após cada inserção do instrumento.Protocolo de irrigação aplicado nos grupos: Hipoclorito de sódio a 2,5 % (NaOCl) 30 ml por canal, c/ seringas descartáveisUltradent (Ultradent Products Inc, South Jordan, UT, EUA) e uma agulha 31-G c/ abertura lateral (agulha VaviTip; UltradentProducts Inc, South Jordan, UT, EUA) inserida no canal a 3 mm do CT entre cada troca de instrumento. Após os canaisinstrumentados, foi realizada irrigação ultrassônica passiva (PUI), preenchendo o CR c/ NaClO a 2,5% e feita a ativação c/ IUIrrisonic (Helse, Brasil) por 20 segs, acoplado a um aparelho de Ultrassom Acteon Satelec a 30% de sua potência. Após essetempo, o CR foi novamente irrigado c/ NaClO a 2,5%. Posterior a isso, o mesmo foi preenchido c/ EDTA a 17% e também ativadoc/ o IU pelos mesmos 20 segs. Esse protocolo foi repetido por 3x, terminando c/ uma ativação de NaClO a 2,5%. Após, os CRforam secos c/ pontas de papel absorvente e obturados c/ cones de guta percha e cimento biocerâmico Bio C Sealer (Angelus,Londrina, Brasil), c/ a técnica do cone único e condensação vertical. A cavidade foi restaurada c/ resina composta Bulk Fill (3M).Ao término do RE, os pacientes receberam instruções PO para tomar, em caso de dor, analgésicos (400 mg de ibuprofeno),sendo 1 comp. a cada 6 h. Um questionário de dor foi aplicado, através de uma tabela visual analógica para avaliar a incidência,intensidade e duração de dor 24, 48 e 72 h após o término do tratamento, bem como a ingestão ou não de analgésicos e o tempo(t). Para a comparação quanto à presença de dor PO - testes de Fisher. Já para comparar a intensidade de dor - testes de Mann-Whitney. O efeito do t na intensidade da dor - teste de Friedman. Para verificar a razão de chances para dor, os dados foramsubmetidos à regressão logística ordinal. Os cálculos estatísticos foram realizados no programa SPSS 23 (SPSS Inc., Chicago,IL, EUA), com o nível de significância de 5%.Resultados: Nos tempos 24, 48 ou 72 horas, a presença de dor PO foi significativamente menor quando o RE foi realizadoutilizando IU e LR.
Discussão: Percebe-se que qualquer técnica de instrumentação ou remoção de MO produz algum tipo de extrusão de detritos,sendo responsável pela dor PO, porém, a quantidade de material extruído pode diferenciar dependendo da técnica depreparação e desenho do instrumento (KHERLAKIAN, 2015). Frente a isso, o uso de IU pode influenciar na quantidadeextravasada via apical, quando, comparados com as LR (VIVAN, 2019).Conclusão: é importante selecionar a técnica mais adequada para o RE, visando o conforto e recuperação PO do paciente,como também, sua efetividade.
ReferênciasALMEIDA, A. S. M. P. F. Técnicas e sistemas de desobturação canalar no retratamento endodôntico não cirúrgico. Orientador:Luís França Martins. 2016. 88 f. Dissertação (Mestre em Medicina Dentária) Faculdade de Ciências da Saúde UniversidadeFernando Pessoa, Porto, 2016.KHERLAKIAN, D. et al. Comparison of the Incidence of Postoperative Pain after Using 2 Reciprocating Systems and aContinuous Rotary System: A Prospective Randomized Clinical Trial. Journal of Endodontics. V.42, N. 2, 171 176, 2015.VIVAN, R. R. et al. Ultrasonic tips as an auxiliary method for the instrumentation of oval-shaped root canals. Braz. Oral Res. 2019;33: e011.
A DOENÇA FALCIFORME: AFRODESCENDÊNCIA E DIAGNÓSTICO PRECOCE
1NARA RUBIA GONCALVES, 2ANA BEATRIZ DOS SANTOS SERRAGLIO, 3JULIANA ROSA BOAMORTE, 4LUIZA MAYUMICAZELOTO SILVA, 5RAYANE BIOLCHI, 6ALTAIR DE SOUZA CARNEIRO
1Discente do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A doença falciforme corresponde a uma anemia hemolítica hereditária, caracterizada pela presença de hemáciascom formato anormal, de foice desprovida da forma arredondada e elástica original. Estas dificultam o fluxo sanguíneo nos vasosde pequeno calibre e a oxigenação dos tecidos, uma vez que se enrijecem devido à perda da maleabilidade normal(YANAGUIZAWA, 2008). Nesse sentido, consoante a Santos (2014), trata-se de uma doença crônica, incurável, embora tratável,com predominância em afrodescendentes, a qual divide-se em aguda e crônica, com variações quanto à proporção dahemoglobina S (HbS) presente nas hemácias. Visto que os portadores são incumbidos a um alto grau de sofrimento, torna-seimprescindível o diagnóstico precoce para maximizar a comodidade dos indivíduos afetados (ROSA, 2015)Objetivos: Demonstrar a necessidade de reconhecimento das manifestações clínicas da doença falciforme para o diagnósticoprecoce.Desenvolvimento: A partir de uma mutação pontual GAG-GTG no gene da globina beta da molécula da hemoglobina, aspessoas afetadas pelo traço falciforme passaram a produzir a hemoglobina S no lugar da hemoglobina A (LESSA, 2016). Essaeventualidade compeliu uma resistência dos indivíduos geneticamente modificados para com a malária. Em virtude disso, como acaracterística falciforme apresentava prevalência na África, a imigração forçada dos escravos corroborou para a miscigenação naconstituição do povo brasileiro, o que resultou em muitas pessoas com anemia falciforme (BRASIL, 2007). Os genes determinamtodas as características do corpo humano, desse modo, filhos com pais portadores do gene da hemoglobina S e da hemoglobinaA irão comportar um gene mutante. Com efeito, esses apresentarão herança recessiva e, logo, o traço falciforme (GUIMARÃES,COELHO, 2010). A respeito da sintomatologia da doença falciforme, essa pode apresentar-se variada, sendo aguda ou crônica.Em vista disso, para Cavalcanti et al., (2011), os sintomas agudos são causados pela obstrução dos vasos sanguíneos, gerandocrises de dor na região abdominal, nos pulmões, nas articulações e nos ossos. O baço é o órgão mais severamente afetado,posto que é o responsável pelo combate às infecções do organismo, com isso, o sistema imunitário do indivíduo compromete-se,tornando-o um alvo mais suscetível a infecções. Já os sintomas crônicos, desencadeados pela hipóxia nos tecidos,correspondem a insuficiência renal e cardíaca, úlceras de difícil cicatrização, necrose nos ossos e lesões oculares. De fato, odiagnóstico precoce é de grande valia para melhorar a qualidade de vida dos portadores da doença, além de reduzir a taxa demortalidade e adoecimento dos portadores da anemia falciforme (BRASIL, 2007).Conclusão: Compreende-se que a anemia falciforme é uma doença hereditária, em virtude da mutação genética na hemoglobinaS, a qual provoca uma anomalia no formato dos eritrócitos, tornando-os em formato de foice. Logo, compete aos profissionais desaúde a promoção da importância da doença e de seu diagnóstico prematuro, a fim de que os portadores da doença usufruam deuma melhor qualidade de vida.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Manual Anemia Falciforme para a População, 2007.CAVALCANTI, J. M.; et al. Entre negros e miscigenados: a anemia e o traço falciforme no Brasil nas décadas de 1930 e 1940.Dossiê Malária. História, Ciências, Saúde - Manguinhos, Rio de Janeiro. v.18, p. 377-406, 2011.GUIMARÃES, C. T. L; COELHO, G. O. A importância do aconselhamento genético na anemia falciforme. Ciência & SaúdeColetiva, v. 15, p. 1733-1740, 2010.LESSA, C. R.; M. DASNEVES, S.; DA ROCHA, A. A. Doença falciforme. Revista Científica da FASETE, v. 1, p. 106-115, 2016.ROSA, J. R. O sofrimento gera luta: o impacto da anemia falciforme e da vivência do adoecimento no desenvolvimentopsíquico de portadores da doença. 2015. Dissertação. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho .SANTOS, A. L. dos et al. Perfil de pessoas com doença falciforme em uma unidade de emergência: implicações para ocuidado de enfermagem. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal Fluminense
YANAGUIZAWA, Matiko et al. Diagnóstico por imagem na avaliação da anemia falciforme. Revista Brasileira de Reumatologia,v. 48, p. 102-105, 2008.
POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO À OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOBRASIL: UM ESTUDO DE REVISÃO
1ANDRE FERNANDO PASSOS DE OLIVEIRA, 2MARCELA DE FÁTICA NOVAK, 3LETÍCIA DE ROSA PIETTA, 4SHELZEASHANDARA RECH DOS SANTOS, 5EMANUELLY SHAYENE GARBOZZA, 6DURCELINA SCHIAVONI BORTOLOTI
1Discente de Nutrição, PIC/UNIPAR1Discente de Enfermagem, PIC/PIBIC/UNIPAR2Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR3Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR4Discente de Nutrição, PIC/UNIPAR5Docente do Curso de Educação Física, PIC/PIBIC/UNIPAR
Introdução: A Saúde Pública Brasileira referente à prevenção ou cuidado da desnutrição ou obesidade, abrange toda suapopulação a partir de premissas constitucionais da lei n. 8.080/1990 que regula o Sistema Único de Saúde (SUS) e a portaria n.710/1999 que se refere a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, atualizada em 2011 pela Portaria n. 2.715 (BRASIL, 2011).O SUS regula a estratégia para atenção e cuidado à saúde, integrando a seguridade social, baseando-se nos princípios dauniversalidade, equidade e integralidade, devendo atuar na formulação e no controle das políticas públicas de saúde e a PolíticaNacional (BRASIL, 1990). A adoção dessa Política pelo setor configura um marco importante na medida em que a alimentação ea nutrição constituem requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde (BRASIL, 1999).Objetivo: Analisar as políticas públicas brasileiras e programas de prevenção à obesidade em crianças e adolescentes a partirde uma revisão sistemática da literatura.Desenvolvimento: O estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura, onde foram incluídos estudosindexados às seguintes bases de dados nacionais: LILACS, SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde e Sistema de Legislação emSaúde e Legislação em Vigilância Sanitária, que abordavam políticas públicas de nutrição brasileiras no controle da obesidadeinfantil, bem como os portais de organizações públicas. Os descritores utilizados para as buscas foram: políticas públicas,políticas de saúde, política nutricional, políticas de alimentação, obesidade, política de nutrição, crianças e adolescentes. Aobesidade é considerada, atualmente, um problema mundial de saúde pública, cuja prevalência vem aumentando de maneiraassustadora. A Organização Mundial da Saúde estima a existência de 1,9 bilhões de pessoas no mundo com excesso de peso, edestes mais de 650 milhões são obesos (WHO, 2019). O número de crianças e adolescentes com excesso de peso também éalto, com estimativas superiores a 340 milhões (WHO, 2019). No Brasil, os dados também são muito preocupantes. Segundo aPesquisa do Vigitel (2016), estimou-se que 53,8% da população adulta brasileira estava com excesso de peso e destes, 18,9%foram considerados obesos (BRASIL, 2017). Freitas et al., (2014) destaca que, historicamente nas ações das políticas denutrição/alimentação no Brasil, houve um grande avanço, entretanto, ainda se apresentam de forma incipiente quando destinadasà crianças e adolescentes, principalmente as com obesidade. A exemplo disso, destaca-se um estudo que analisou o ProgramaBolsa Família, cuja o objetivo do programa é o combate à pobreza e à fome e a promoção da segurança alimentar e nutricional,os resultados do estudo, não mostraram diferenças significantes entre o estado nutricional das crianças beneficiárias e nãobeneficiárias, sendo que, em ambos os grupos, o consumo de frutas, verduras e legumes foi baixo e semelhante (COTTA;MACHADO, 2013). O estudo publicado por Reis, Vasconcelos e Barros (20011), analisou diversas políticas públicas de nutriçãopara o controle da obesidade infantil e concluíram que, ainda há necessidade de implementar e fiscalizar as leis eregulamentações para o controle da obesidade infantil no Brasil, além de promover estratégias mais eficazes de alimentaçãosaudável, principalmente no público infantil. As estratégias de intervenção, por meio de oficina de trabalho promovida pelo Grupode Estudos Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP), apontaram para a educação nutricional comoprioridade entre os projetos estratégicos direcionados à reversão do atual quadro de convivência combinada entre desnutrição eefeitos da má nutrição, o estudo destacou as experiências de avaliação dos principais efeitos dessa convivência. A literaturadestaca ainda que, em dois grandes programas do governo brasileiro, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o BolsaAlimentação, há importância do monitoramento da gestão para o trabalho de condução da política, a longo ou curto prazo. OsProgramas Eu aprendi, eu ensinei e Alimente-se bem ilustra a importância para a apropriação de conceitos quemodifiquem comportamento e aquisição de boas práticas alimentares, bem como o apoio do setor produtivo pode se traduzir emparcerias bem-sucedidas (DOMENE et al., 2007). Vale destacar que, o sobrepeso e a obesidade são condições amplamenteevitáveis (WHO, 2019), contudo, a partir dos estudos desta revisão sistemática, não foram identificadas medidas de prevençãodo sobrepeso e obesidade em nível individual como por exemplo, limitação a ingestão de gorduras e açúcares, aumento de
consumo de frutas, legumes, cereais integrais, bem como a prática de atividade física regular.Conclusão: Verificou-se que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição tornou-se um marco importante para a promoção e aproteção da saúde, e que muitos programas e estratégias veem sendo realizadas, porém sem uma fiscalização ou plano demetas claras e monitoradas pelas esferas governamentais, assim, estas intervenções aparentemente não se mostram eficientespara conduzir a redução da obesidade proposta pela Organização Mundial de Saúde.
ReferênciasBRASIL. Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação dasaúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília: Presidência daRepública, Casa Civil, 1990.BRASIL. Portaria nº 710, de 10 de junho de 1999. Aprova a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, cuja íntegra constado anexo desta Portaria e dela é parte integrante. Brasília: Ministério da Saúde, 1999.BRASIL. Portaria nº 2.715, de 17 de novembro de 2011. Atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Brasília:Ministério da Saúde, 2011.BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Vigilância de doenças e agravos não transmissíveis e Promoção dasaúde Vigitel Brasil 2016: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico.Brasília: Ministério de Saúde, 2017. 160p..COTTA, Rosângela Minardi Mitre; MACHADO, Juliana Costa. Programa Bolsa Família e segurança alimentar e nutricional noBrasil: revisão crítica da literatura. Revista Panamericana de Salud Pública, Washington, v. 33, n. 1, p. 54-60, 2013.DOMENE, Semíramis Martins Álvares, et al. Experiências de políticas em alimentação e nutrição. Instituto de EstudosAvançados da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 21, n. 60, p. 161-178, 2007.FREITAS, Lorenna Karen Paiva et al. Obesidade em adolescentes e as políticas públicas de nutrição. Ciência & SaúdeColetiva [online], v. 19, p. 1755-1762, 2014.REIS, Caio Eduardo, et al. Políticas públicas de nutrição para o controle da obesidade infantil. Revista Paulista dePediatria, São Paulo, v. 29, n. 4, p. 625-633, 2011.MINISTÉRIO DA SAÚDE, SVS. Departamento de Análise de Situação de Saúde. Vigilância de Fatores de Risco e Proteçãopara Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, VIGITEL 2016. Brasília: DF; 2016.WHO. World Health Organization. Obesity and overweight 2019. Disponível em: . Acesso em: 18 agosto. 2019.
PREVALÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INVASIVOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVANEONATAL E PEDIÁTRICA
1LEDIANA DALLA COSTA, 2GESSICA TUANI TEIXEIRA, 3MARCELA GONCALVES TREVISAN, 4FRANCIELE DONASCIMENTO SANTOS ZONTA, 5MARLI TEREZINHA STEIN BACKES
1Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente do Departamento de Pós-Graduação em Enfermagem (PEN) da UFSC e Programa de Pós-Graduação
Introdução: Os avanços na Unidade Neonatal e Pediátrica, denominadas até pouco tempo atrás de Unidades de TerapiaIntensiva Neonatal e Pediátrica, permitem que os profissionais realizem procedimentos de alta complexidade, com o objetivo dediminuir ou reverter disfunções que colocam em risco a vida dos recém-nascidos (RNs) hospitalizados. Por outro lado, essespacientes estão sujeitos a contraírem infecções, devido ao seu estado clínico, ampla variedade de microrganismos patogênicos eprocedimentos invasivos existentes nestas unidades (PEREIRA, 2017).Objetivo: Identificar o índice de emprego de procedimentos invasivos em recém-nascidos internados em uma Unidade Neonatale Pediátrica.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, documental, descritiva, com abordagem quantitativa, desenvolvida em umaUnidade Neonatal e Pediátrica de um hospital escola da Universidade Federal de Pelotas. A amostra foi constituída por fichas denotificação da comissão de controle de infecção hospitalar, preenchidas no período de janeiro a dezembro de 2012. Os autorescriaram um checklist com variáveis clínicas e, após a coleta os dados foram analisados por meio do programa Statistical Packagefor the Social Sciences (25.0). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética para Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade deMedicina da UFPEL sob o protocolo nº 263.319, aprovado em 30/04/2013.Resultados: Foram analisadas 238 fichas com dados referentes aos pacientes internados na unidade neonatal e pediátrica.Observou-se que 70,6% dos pacientes permaneceram internados na unidade neonatal, e 27,3% na unidade pediátrica, já em2,1% constou como dado ignorado. Quanto aos dados de nascimento, 57,1% eram pré-termos, 13,9% a termo e 29,0% dadosignorados. Ao avaliar o uso de dispositivos invasivos, constatou-se que a ventilação mecânica ocorreu em 40,8% dos casos, ocateter venoso central em 37,4%, e o cateter de inserção periférica 0,8%, já o acesso venoso periférico foi utilizado em 70,2%dos pacientes. A utilização de sonda vesical de demora foi necessária em 9,7% dos pacientes, sonda orogástrica em 60,9 %,nasogástrica em 11,3 %, gastrostomia e jenunostomia em 1,6%. A nutrição parenteral foi administrada em 31,9% dos pacientes,e a traqueostomia em 0,8%. Ademais, observou-se também o uso de hemoderivados em 18,9% dos casos.Discussão: Os principais fatores de risco para o internamento de RNs em unidades neonatais são os fatores relacionados acomplicações do período gestacional e durante o parto, entre elas ressalta-se as condições de nascimento, idade da gestante erealização de consulta pré-natal inferior ao quantitativo preconizado pelo Ministério da Saúde (OLIVEIRA, 2016). Nesse aspecto,é válido considerar que os agravos de saúde do RN são inerentes a condições evitáveis. Uma pesquisa realizada em São Luiz doMaranhão evidenciou que de 410 óbitos neonatais, 78,5% foram precoces e 21,5% tardios (PEREIRA, 2017). Normalmente oquadro clínico de pacientes internados em unidade de terapia intensiva é complexo e instável, sendo que tal condição requeruma monitorização contínua e emprego de procedimentos invasivos para estabilização de parâmetros vitais e manutenção davida (GOODMAN, 2019). No Rio de Janeiro, em uma unidade neonatal e pediátrica, observou-se que em uma amostra de 35pacientes RNs, 85,7% utilizavam acesso venoso periférico, 77,1% cateter central de inserção periférica, 57,1% intubaçãotraqueal, 25,7% cateter umbilical venoso e 5,7% cateter umbilical arterial (MEDEIROS et al., 2016). Lopes (2016) observou queem 316 neonatos, foram realizados 320 procedimentos invasivos, como a intubação orotraqueal, a qual foi utilizada em 52,8%dos RNs, o que ofereceu 4,23 vezes mais risco para sepse. Já o cateter venoso central utilizado em 17,5% dos casos aumentouem 3,99 vezes o risco para infecções, e o cateter umbilical que foi utilizado 23,8% aumentou o risco em 3,90. Sabe-se que osprocedimentos invasivos são de extrema importância para a manutenção da vida dos RNs, por outro lado vários estudosassociam esta prática com maior morbimortalidade por infecções, especialmente, as infecções relacionadas à assistência emsaúde, que se apresentam com números substanciais e estão entre as principais causas de mortalidade, configurando-se comoum grande problema de saúde mundial. Portanto, se faz necessário enfatizar que o uso de procedimentos invasivos melhora aqualidade da assistência e contribue para a sobrevida do neonato. Entretanto, para implantação de medidas adequadas, se faznecessário identificar a gravidade do quadro clínico.
Conclusão: Observou-se uma porcentagem substancial na utilização de procedimentos invasivos em RNs. Apesar de manter asobrevida dos pacientes, o uso de tais procedimentos aumenta a probabilidade do RN desenvolver infecções. É válido destacar,a importância do acompanhamento gestacional pela equipe de saúde e manejo adequado da gestante, uma vez que alteraçõesnesse período incorrem em necessidade de internação dos neonatos em unidade neonatal. Além disso, se faz necessário acapacitação dos profissionais em relação ao manuseio e técnicas corretas nas intervenções em neonatos.
ReferênciasGOODMAN, D.C., et al. Neonatal Intensive Care Variation in Medicaid-Insured Newborns: A Population-Based Study. J Pediatr,v.6 n. 4, p. 3023-7, 2019LOPES, G. K., et. al. Estudo epidemiológico das infecções neonatais no Hospital Universitário de Londrina, Estado do Paraná.Rev de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portuga., v. 30, n. 1, p. 55-63, 2016.MEDEIROS, F. V. A., et al. A correlação entre procedimentos assistenciais invasivos e a ocorrência de sepse neonatal. ActaPaul Enferm. Rio de Janeiro, v. 29, n. 5, p. 573-578, set. 2016.OLIVEIRA, C. O. P., et. al. Fatores de risco para sepse neonatal em unidade de terapia: estudo de evidência. CogitareEnfermagem. Natal, v. 21, n. 2, p. 1-9, abr./jun. 2016.PEREIRA, M. U. L., et al. Óbitos neonatais no município de São Luís: causas básicas e fatores associados ao óbito neonatalprecoce. Rev Pesq Saúde. São Luís, v.18, n.1, p. 18-23, jan./abr. 2017.
Agaricus Blazei Murill: UMA NOVA ALTERNATIVA NO COMBATE DE BACTÉRIAS
1HELOISA MACHINESKI, 2BRUNA APARECIDA SOARES FAVARO, 3AMANDA CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA, 4DOUGLASFERNANDES TOMAZI, 5DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do Curso de Farmácia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Farmacia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Infecções bacterianas são um grande problema de saúde pública, trata-se de um assunto muito importante para asaúde mundial, tendo que ocorrer intervenções epidemiológicas, microbiológicas e terapêuticas rapidamente, como o usoracional de antibióticos (SOKOVIC et al., 2014). Os ensaios de atividade antioxidante de Agaricus Blazei Murril avaliam acapacidade de eliminação de radicais livres e ação antimicrobiana (VAZ et al., 2010). Para Lima (2016), o cogumelo AgaricusBlazei Murrill é uma das novas intervenções para o controle das infecções de pacientes infectados por bactérias, pois possuemuma ação antimicrobiana estimulando componentes do sistema imune. Objetivo: Descrever os efeitos antimicrobianos do cogumelo Agaricus Blazei Murrill. Desenvolvimento: O surgimento de resistência antimicrobiana é facilitado por vários fatores, tanto pelas próprias bactériasquanto pelos seres humanos. A resistência aos antibióticos está relacionada a aspectos particulares associados com a ação daspróprias bactérias e estas geralmente não podem ser interrompidas por humanos, como a mutação de bactérias, que é um dosfatores determinantes de resistência. Entretanto, o que se destaca é a aplicação inadequada da terapia medicamentosa comantibióticos em humanos, com ausência de critérios apropriados ou dose incorreta, período de tratamento e agente ativo (VAZ etal., 2010). Agaricus Blazei Murrill é um cogumelo medicinal que contém polissacarídeos bioativos e complexos polissacarídeos-proteínas (PSPC) que demonstraram funcionar como antioxidantes potentes, agentes antitumorígenos e anticancerígenos.Devido às suas atividades farmacológicas, chamou a atenção de cientistas de alimentos e biotecnólogos, bem como deprodutores industriais. É cultivado no Brasil, e utilizado como alimento, chás ou cápsulas, com intuito de prevenir câncer, doençasurinárias e digestivas. Pesquisas científicas e ensaios clínicos mostram que o cogumelo pode apresentar algumasfuncionalidades, como prevenção do câncer, diabetes mellitus, hepatite, usado para diminuir cansaço físico e estresse. Afuncionalidade mais interessante sobre sua ação antitumoral se dá por conta de possuir vários componentes bioativosapresentando função terapêutica, porém essas pesquisas em seres humanos ainda estão em fase inicial (LIMA, 2016). Sokovicet al. (2014) apontaram a hipótese de que o mecanismo de ação do cogumelo não é associado na estimulação da imunidadeinata, mas poderia ser explicado pela indução do anti-quorum, demonstrando que os compostos de detecção anti-QS perturbama formação de biofilmes e, consequentemente, os tornam mais suscetíveis a bactérias antibióticas. Compostos como esses sãocapazes de reduzir o fator de virulência das bactérias e promover a eliminação de bactérias. Conclusão: Concluiu-se que nos testes in vitro, o extrato apresentou ação antimicrobiana contra as bactérias multirresistente,como a P. aeruginosa. Promoveu o aumento significativo da sobrevida de animais com infecções bacterianas multirresistentes,evidenciando assim, uma ação antimicrobiana relevante.
ReferênciasLIMA, C. Antimicrobial properties of the mushroom Agaricus blazei. Revista Brasileira de Farmacognosia, Curitiba, v.26, n.6, p.780-786, nov./dez. 2016.SOVIC, M.; CIRÍC, A.; GLAMOCLIJA, J.; NIKOLIC, M. Agaricus blazei hot water extract shows anti quorum sensing activity in thenosocomial human pathogen Pseudomonas aeruginosa. Department of Plant Physiology, Prokuplje, v.19, n.4, p. 4190-4197,abr. 2014.VAZ, J.; MARTINS, A.; ALMEIDA, G.; FERREIRA, I. Wild mushrooms Clitocybe alexandri and Lepista inversa: In vitro antioxidantactivity and growth inhibition of human tumour cell lines. Food and Chemical Toxicology, Nova York, v.48, n.10, p. 2881-2884,out. 2010.
DOR LOMBAR E O USO DE DRY NEEDLING PARA ALÍVIO ÁLGICO
1GABRIELE FERNANDA LOPES, 2MILLENA ANGELI DOMINGUES PEREIRA, 3JOYCE PORFIRIO BATISTA, 4POLYANAALCANTARA DOS SANTOS, 5RENATO HENRIQUE CAETANO JUNIOR, 6JEFFERSON J AMARAL DOS SANTOS
1Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmico do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A lombalgia (dor na região lombar) é um dos sintomas mais comuns crescentes na população, 20% dos indivíduosportadores não apresentam melhora em sua condição, o que resulta em evolução para a forma crônica da dor. A origem pode serde disfunções teciduais como na fáscia e músculos, os denominados trigger points, ou pontos gatilhos, os quais podem sercausadores dessa perda de função (SILVA, 2016). Objetivo: Vários tratamentos atualmente se mostram eficazes no alivio álgico da população, essa revisão visa verificar apositividade do tratamento com o agulhamento à seco ou Dry Needling. Desenvolvimento: A dor na região lombar da coluna vertebral pode ser descrita como uma dor incapacitante na região posteriorcorporal, o local é entre o ultimo arco costal até a margem superior sacral, possuindo duração de mínimo um dia até longosperíodos se tornando crônica, com ou sem dor referida (OLIVEIRA, 2014). Segundo Waddell (2004), a dor lombar pode possuirproveniência em várias estruturas da coluna vertebral, porém a causa não é clara nem encontrada em 85% dos casos. Perante aduração sintomática podemos classificar como dor lombar aguda, subaguda, crônica e recorrente. A dor aguda possuidurabilidade de 6 semanas, a dor subaguda dura de 6 a 12 semanas, a dor crônica persiste por 12 semanas. Já a dor lombarrecorrente acontece pelo menos duas vezes nos últimos 12 meses, cada episódio possui duração de um dia e um período semdor de 30 dias entre as dores (KOES et al., 2010). Os pontos gatilhos são uma das causas mais frequentes da dor, eles sãonódulos de tensão no tecido miofascial que apresentam níveis altos de dor local e referida, geralmente são palpáveis (SANTOSet al., 2012). O agulhamento à seco é um tratamento para desativar os pontos gatilhos utilizando agulhas de acupunturaintroduzidas na pele e no músculo, sua atuação em nível local age de modo a liberação de agentes anti-inflamatórios, comoendorfina, na corrente sanguínea, atenuando a dor e gerando bem-estar ao paciente (SOUZA; MEJIA, 2014). Segundo Souza eMejia (2014) também é possível confirmar em outros estudos randomizados a efetividade dessa técnica em pacientes com oquadro de dor lombar crônica tanto para a diminuição da dor, alcançada em 100% dos casos e também para a eliminação da dor,60% dos casos, o total efeito depende muitas vezes do organismo do paciente, podendo amenizar os sintomas em até 4semanas ou a sua eliminação total. Conclusão: Concluiu-se que o agulhamento à seco é benéfico para o tratamento da dor lombar mesmo essa sendo crônica, jáque resulta na liberação de substâncias que promovem bem-estar e diminuição de quadro álgico. Tendo em vista sua efetividadeem casos que outras técnicas não conseguiram a redução de sintomas é necessário que seja implementado mais a fundo essetratamento para quem sofre com esses sintomas e quadro álgico.
ReferênciasKOES, BW; TULDER, MV; LIN, CWC; MACEDO, LG; MCAULEY, J; MAHER, C. An updated overview of clinical guidelines for themanagement of non-specific low back pain in primary care. European Spine Journal, Bélgica, v. 19, n. 12, p. 2075-2094, dez2010.OLIVEIRA, VC. Dor lombar idiopática. Artmed, Porto Alegre, 2014.SANTOS, RVC; NASCIMENTO, JDS. VASCONCELOS, DA; MAIA, MRA; VITORINO, MS. Pontos-gatilho miofasciais: artigo derevisão. Facene, João Pessoa, 2012.SILVA, MG. Efeitos da técnica de agulhamento seco na dor lombar miofascial: uma revisão sistemática. Universidade estadualda Paraíba, Campina Grande, 2016.SOUZA, KRSB; MEJIA, DPM. A ação do tratamento do agulhamento a seco no controle da síndrome dolorosa miofascial.Biocursos, 2014.WADDELL, G. The back pain revolution. Churchill Livingstone, Londres, 2004
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PÓS OPERATÓRIO EM TRANSPLANTE RENAL - ESTUDO DE REVISÃO
1TAYANE NEPOMUCENO DOS SANTOS, 2ANDRESSA PAOLA DE OLIVEIRA Q. MARTINS
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: A necessidade do transplante renal se faz devido à insuficiência renal crônica, que significa a perda total e gradualda função renal, sendo substituída por meios externos de filtração, como a diálise e hemodiálise. Diante do processo de doaçãoRenal, existem cuidados que o Enfermeiro e a equipe deverão realizar, para completa reabilitação. (CICOLO, 2010; CORRÊA,2013).Objetivo: Objetiva-se descrever os cuidados de enfermagem no período de pós-transplante Renal.Desenvolvimento: O cuidado do paciente no pós-operatório de transplante renal imediato estará voltado à instabilidadehemodinâmica, reposição parenteral, monitorização e acompanhamento contínuo, analisando sinais de possíveis pioras doquadro ou rejeição do enxerto, e a sistematização do cuidado, realizado pelo Enfermeiro (SILVA, 2014). A dor aguda é um dossintomas presente após a operação tendo como intervenções de enfermagem tranqüilizar o paciente, usar escalas de avaliaçãode dor, promover conforto, além da administração de analgésicos. Pode ocorrer à privação do sono devido à dor, como tambémpreocupações adicionais ao penssar sobre o lar, pela mudança de ambiente ou processo patológico. A enfermagem, com isso,visa diminuir atividades que traga ansiedade e restringir estímulos sonoros e visuais. (SILVA, 2009; SILVA, 2014). As principaiscomplicações pós-transplante são de origem imunológica e infecciosa, durante o processo de recuperação do paciente, aavaliação de sinais e sintomas minimizará a probabilidade de rejeição que tem como sintomas a hipertermia, dor aguda no localdo rim e diminuição da produção da urina, além de hipertensão arterial sistêmica e aumento do valor de creatinina sérica(CORRÊA, 2013; SANTOS 2018). A prevenção de infecção está diretamente ligada com a maneira correta das técnicas comprocedimentos, sendo assépticos, e permitindo que cateteres e sondas, como a sonda vesical de demora (SVD) e o catetervenoso central (CVC), fique o menor tempo possível, evidenciando melhora no quadro do paciente (CORREA, 2013; SILVA2009).Conclusão: Diante do exposto, o enfermeiro no atendimento mediato ao paciente pós-transplante renal, possui papelfundamental na avaliação direta e cuidados para recuperação, com conhecimento científico e técnico, orienta a equipe ecoordena para o tratamento ser completo.
ReferênciasCICOLO, Emilia Aparecida; ROZA, Bartira de Aguiar; SCHIRMER, Janine. Doação e transplante de órgãos: produção científicada enfermagem brasileira. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 63, n. 2, p. 274-278, abr. 2010 . Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&nrm=iso&lng=pt&tlng=pt&pid=S0034-71672010000200016 Acesso em: 06 deAgosto de 2019.CORREA, Ana Paula Almeida et al . Complicações durante a internação de receptores de transplante renal. Rev. GaúchaEnferm., Porto Alegre , v. 34, n. 3, p. 46-54, Sept. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-14472013000300006 acesso em: 06 de Agosto de 2019.DOS SANTOS, WENYSSON NOLETO et al. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NAS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DOTRANSPLANTE RENAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA. REVISTA UNINGÁ REVIEW, [S.l.], v. 25, n. 1, jan. 2018. ISSN2178-2571. Disponível em: http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1751 acesso em: 06 de Agosto de 2019.SILVA, Antonia Ecivânia Souza da et al. Revisão integrativa sobre o papel do enfermeiro no pós transplante Renal CogitareEnferm. 2014 Jul/Set; 19(3): 597-603 Disponível em: http://www.saude.ufpr.br/portal/revistacogitare/wp-content/uploads/sites/28/2016/10/34414-140478-1-PB.pdf acesso em: 06 de Agosto de 2019.SILVA MSJ, TEIXEIRA JB, NÓBREGA MFB, CARVALHO SMA. Diagnósticos de enfermagem identificados em pacientestransplantados renais de um hospital de ensino. Rev. Eletr. Enf. 2009; 11(2): 309-17. Disponível em:http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n2/v11n2a11.htm acesso em: 06 de Agosto de 2019.
SÍNDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTE COM MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA: UM RELATO DE CASO
1BRUNO HENRIQUE NESI, 2KEROLI ISIDORIO, 3AMANDA GABRIELI RITTER, 4DARIANE PAULA PASQUALOTTO, 5ALINEAPARECIDA BARTNISKI, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmico do PIC/ Curso de Enfermagem Unipar- Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR- Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR- Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Acadêmica do Curso de Endodontia de Molares - Turma V da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR- Unidade Universitária de Francisco Beltrão5Professora Adjunta do Curso de Enfermagem da Unipar Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: A Doença de Chagas (DC), segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é uma das doenças tropicais maisnegligenciadas do mundo (ANTUNES et al, 2015). A DC continua sendo um problema considerado grave no âmbito econômico ede saúde, com cerca de 18 milhões de pessoas infectadas pelo Trypanosoma cruzi, e cerca de 200 mil novos casos por ano(RASSI et al 2016). A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) se define por uma doença que causa insuficiênciarespiratória sem causa específica, provocando lesão alveolar grave com características inflamatórias (SANTOS, et al 2017). Relato de Caso: T.M.G., feminino, 69 anos, admitida em 24 de Junho de 2019 na unidade de terapia intensiva de um hospital doParaná, devido a uma SRDA, com presença de miocardiopatia chagásica, diagnnósticada com DC há mais de 10 anos. Aoexame físico paciente grave, porém, estável, hidratada, hipocorada, acianótica, boa perfusão periférica. Em sedação, pupilasisocóricas e fotorreagentes, sem possibilidade de avaliar déficits no momento. Hemodinamicamente estável, em uso de drogavasoativa, mantendo pressão arterial média de 88/129 mmHg, frequência cardíaca entre 50 a 87 batimentos por minutos.Mantendo ventilação mecânica em tubo oro traqueal. Recebendo dieta enteral, abdome globoso, hipotimpanico, sem sinais deirritação peritoneal, massa palpável em flanco esquerdo, sem evacuações no período. Diurese em sonda vesical de demora, comfluxo de 2500ml/24h. Em antibioticoterapia combinada. Aos exames de imagem, evidenciou-se derrame pleural bilateral, áreas deconsolidação nos lobos inferiores de ambos os pulmões, alterações degenerativas da coluna vertebral, cardiomegalia, pulmõeshipoexpandidos, com opacidade atelectasicas nas regiões dorsais. Divertículos nos cólons, sem sinais de complicações aguda,cólon transverso levemente distendido por conteúdo gasoso e líquido. Permaneceu internada por 13 dias e evoluiu a óbito devidoa complicações da SRDA.Discussão: Representando uma grande endemia no continente Americano, a DC acomete populações vulneráveis de zonasrurais, ou em condições de moradia precárias. (DIAS et al 2015). A DC se apresenta em duas fases, a aguda e crônica, a faseaguda tem início entre a primeira a quarta semana após o período de incubação do T. cruzi, a maioria dos pacientes apresentam-se assintomáticos, ou com sintomas infecciosos como febre e mialgia, já na fase crônica há evidências de sinais e sintomasfísicos, como alterações no eletrocardiograma e radiografia, sendo necessária constante monitorização (SIMÕES et al 2018).Quando não tratada de forma correta, a DC pode acometer tecidos cardíacos, com piora progressiva de funções sistêmicas até oóbito. Na fase crônica o paciente poderá apresentar importantes alterações, como miocardite focal de baixa intensidade, porém,incessante, que irá causar destruição de fibras e fibroses, que poderiam reparar a lesão miocárdica, e com isso, pode acarretarem complicações tromboembólicas e morte súbita (SIMÕES et al 2018). Considerada a forma mais grave da lesão pulmonar, aSDRA se caracteriza por um dano alveolar difuso, causando edema pulmonar devido ao aumento da permeabilidade damembrana alvéolo-capilar. Os fatores de risco mais associados a esta doença são pneumonia, transfusão sanguínea e sepse(BARBAS, MATOS 2011). Levando em consideração os dados levantados em prontuário da paciente, constatou-se que houverelação da DC com a SRDA, justamente pelo fato da SRDA desenvolver-se durante o internamento hospitalar, o que pode estarassociado ao emprego da ventilação mecânica e procedimentos invasivos realizados para suporte e sobrevida da paciente, poisvale considerar que o quadro apresentava-se grave e instável devido ao comprometimento sistêmico causado pela DC, acorrelação entre as mesmas engatilhou uma piora do estado geral da paciente, evoluindo para o óbito.Conclusão: Contudo, observa-se que o desenvolvimento da SRDA, contribuiu para graves complicações ao estado geral dapaciente, especialmente pelo fato da DC apresentar-se em estágio avançado. Ressalta-se que são raros os casos da mesmadoença na região sul do país, principalmente crônicos e com lesão cardíaca, descoberta tardiamente. Tais fatores, associado afalta de tempo hábil para tratamento adequado, culminou no óbito da paciente.
ReferênciasANTUNES, Andrei Fornanciare, et al. Cardiopatia Crônica após Tratamento de Doença de Chagas Aguda Oral. Arquivos
Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, v. 107, n.2, p. 184-186, agost. 2016.BARBAS, Carmen Silva Valente, MATOS, Gustavo Faissol Jaot, Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo: Definição.Pulmão, Rio de Janeiro, v.20, n.1, junho, p.2-6, 2011.DIAS, João Vitor Leite. Conhecimentos sobre triatomíneos e sobre a doença de chagas em localidades com diferentes níveis deinfestação vetorial. Revista Ciências e Saúde Coletiva, São Paulo, v. 21, n.7, dez, . 2293-2303, 2016.RASSI, Daniela do Carmo, et al. Segurança do Ecocardiograma sob Estresse com Dobutamina-Atropina em Pacientes comDoença de Chagas. Imagem Cardiovasc: Arquivos Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 168-174, dez, 2018.Disponível em : http://www.scielo.br/pdf/abc/2017nahead/pt_0066-782X-abc-20170002.pdf. Acesso em: 30 de julho de 2019.SANTOS, Adeline, et al. Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo: Revisão de Literatura. Revista Interfaces da Saúde,Ceará, v. 4, n.1, jun, p. 47-53. 2017.SIMÕES, Marcus Vinicius, et al. Cardiomiopatia da Doença de Chagas. International Journal of Cardiovascular Sciences, Riode Janeiro, v. 31, n.2, jan, p. 173-189. 2018
HEMORRAGIA PÓS-PARTO - INTERNAÇÕES E ÓBITOS NOTIFICADOS ENTRE 2013 E 2018 NO ESTADO DO PARANÁ:UMA REVISÃO
1FATIMA HASSAN SAFIEDDINE, 2ISABELA CARVALHO LOPES, 3JAQUELINE DA SILVA CAIADO, 4LUANA GOMESALMEIDA, 5MARIA ELENA MARTINS DIEGUES, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Discente do Curso de Medicina/UNIPAR1Discente do Curso de Medicina/UNIPAR2Discente do Curso de Medicina/UNIPAR3Discente do Curso de Medicina/UNIPAR4Docente e Coordenadora do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: De acordo com Delaney et al., (2016), a hemorragia pós-parto (HPP) é a principal causa de morte materna,atingindo 25% das puérperas. Além disso, de 3 a 5% das hemorragias são recorrentes de partos vaginais e de 6 a 8% por meiode cesárea. A princípio, é utilizada a regra dos 4 T para que haja uma identificação concisa das causas que demonstramrelação com a HPP, como: tono (atonia é a causa mais comum, sendo responsável por 70% dos casos), trauma (laceração,hematoma, rotura e inversão, em 19% dos casos), tecido (placenta retida e placenta acreta, 10% dos casos) e alteração datrombina (coagulopatias) sendo responsável por 1% dos casos (OPAS, 2018). Objetivos: Quantificar as notificações das internações e óbitos relacionados a hemorragia pós-parto no Paraná de janeiro de2013 a dezembro de 2018, utilizando os dados disponibilizados no DATASUS.Desenvolvimento: Conforme pesquisas realizadas no estado do Paraná notificadas entre os anos de 2013 até 2018, foramobservados dados de internações e óbitos ocorridos pela hemorragia pós-parto. De acordo com o DATASUS, foram registrados12 internações no ano de 2013 e 2 óbitos, em 2014 tiveram 193 internações e nenhum óbito registrado, no ano de 2015, àsinternações permaneceram iguais às de 2014 com registro de 1 óbito, em 2016 houveram 257 internações e 2 óbitos, em 2017ocorreram 266 internações e nenhum óbito registrado, e em 2018 foram registradas 245 internações e 5 óbitos. Sendo assim, oscasos de hemorragia pós-parto entre 2013 e 2018 totalizaram 1166 internações e 10 óbitos quantificando em 99,1% departurientes internadas. Segundo a OPAS (2018), a estratificação de risco para identificar casos suscetíveis a HPP são definidascomo baixo risco na ausência de cicatriz uterina, gravidez única, ausência de distúrbio de coagulação e mulheres que tiverammenos de três partos vaginais. A seguir, suscetíveis a médio risco, parto cesário ou cirurgia uterina prévia, pré-eclâmpsia leve,hipertensão gestacional leve, superdistensão uterina (gestação múltipla, polidrâmnio, macrossomia fetal), corioamnionite,obesidade materna e mulheres com histórico de mais de 4 partos vaginais. Por conseguinte, os casos de alto risco são placentaprévia ou de inserção baixa, pré-eclâmpsia grave, hematócrito abaixo de 30%, sangramento ativo a admissão, coagulopatias, usode anticoagulantes, descolamento prematuro de placenta e placenta anômala. Conforme Delaney et al., (2016), o diagnóstico dapaciente é realizado exame físico, sendo assim, é importante uma anamnese bem detalhada, que consiste em histórico demorbidades, uso de medicamentos e antecedentes gineco-obstétricos que devem ser realizados durante todo pré-natal paraconfirmar as possíveis causas de riscos. Ao realizar o exame físico, são observados sinais e sintomas característicos da HPP,como, palidez, tontura, confusão, aumento da frequência cardíaca, hipotensão, entre outros. Geralmente o sangramento é maiordo que o esperado (acima de 500 ml), podendo ser mensurado visualmente. Por conseguinte, Baggieri et al., (2011), ressaltamas medidas preventivas mais importantes, nas quais são, correção de anemias no pré-natal, eliminação de episiotomia rotineira,realização de clampeamento precoce do cordão umbilical e tração de maneira suave, além do uso corriqueiro de 10 UI deocitocina no terceiro período do parto. As principais razões consideradas fatores de risco ao parto normal são: placenta acreta,multiparidade, obesidade, indução ao parto, trabalho de parto prolongado ou rápido, anestesia geral, gemelaridade, polidrâmnio,macrossomia e anemia. A hemorragia pós-parto pode ser classificada em primária, que ocorre nas primeiras 24 horas após oparto; e em secundária ocorrendo após 24 horas ou até nas seis semanas a seguir, esta por sua vez é mais rara (OMS, 2014).Conclusão: Observou-se um aumento variável no número de internações de mulheres que sofreram hemorragia pós-parto noestado do Paraná. Em contrapartida, houve uma diminuição do número de mortes em relação ao aumento do número deinternações. Dessa forma, a quantidade de mortes totalizou 0,9%.
ReferênciasBAGGIERI, R. A. A. et al. Hemorragia pós-parto: prevenção e tratamento. Arq Med Hosp Fac Cienc Med Santa Casa SãoPaulo, v. 56, n. 2, p. 96-101, 2011.
Brasil. Ministério da Saúde. DATASUS. Disponível em:DELANEY, L. et al. Hemorragia Pós-Parto. v.7, n.37, p. 1-7, 2016. OMS, Organização Mundial da Saúde. Recomendações da OMS Para a Prevenção e Tratamento da Hemorragia Pós-Parto.2014. OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Recomendações Assistenciais Para Prevenção, Diagnóstico e Tratamento daHemorragia Obstétrica. 2018.
ANTIBIOTICOTERAPIA EM PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTESIVA
1LEDIANA DALLA COSTA, 2MARCELA GONCALVES TREVISAN, 3FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA,4GESSICA TUANI TEIXEIRA, 5MARLI TEREZINHA STEIN BACKES
1Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente do Departamento de Pós-Graduação em Enfermagem (PEN) da UFSC e Programa de Pós-Graduação
Introdução: Especialmente em unidades de terapia intensiva os antibióticos têm aplicação profilática, empírica ou terapêutica esão amplamente utilizados para suprimir o crescimento ou promover a destruição de microrganismos patogênicos, o que podemelhorar o prognóstico de doenças infecciosas e consequentemente impactar na sobrevida dos pacientes (CHENG; WUEST,2019). Entretanto, os mecanismos de multirresistência e o uso indiscriminado dos antimicrobianos, interferem na eficácia nestaterapêutica (SEVERI; THOMAS, 2019).Objetivo: Descrever a frequência do uso de antibioticoterapia em pacientes internados em unidade de terapia intensivapediátrica e neonatal.Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa de campo, documental, descritiva, com abordagem quantitativa, desenvolvidaem uma Unidade Neonatal e Pediátrica de um hospital escola da Universidade Federal de Pelotas. A amostra foi constituída porfichas de notificação da comissão de controle de infecção hospitalar, preenchidas no período de janeiro a dezembro de 2012. Osautores criaram um checklist para avaliar o emprego de antibioticterapia no setor descrito acima, após a coleta os dados foramanalisados por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences (25.0). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Éticapara Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Medicina da UFPEL sob o protocolo nº 263.319, aprovado em 30/04/2013.Resultados: O emprego de antibioticoterapia foi amplamente observado, especialmente entre algumas classes, consideradaspadrão ouro no tratamento de determinadas cepas bacterianas. O total de pacientes admitidos no período citado foi 238,distribuídos 70,6% na UTI pediátrica e 27,1% em neonatal. Em relação a classe de antibióticos utilizados prevaleceu asPenicilinas com inibidores de betalactamase 66,1%, seguido de Penicilinas 53,8%, Aminoglicosídeos 49,2%, Cefalosporinas46,2% e Carbapenens 32,6%, outros 5,9%. Nos casos de infecção foram isolados prevalentemente as bactérias gram positivasem 26,3 % dos casos.Discussão: Há décadas várias classes antimicrobianas são lançadas pela indústria farmacêutica conforme o perfil microbiológicoevidenciado, sendo assim, a melhor forma para escolha do antibiótico é priorizar o diagnóstico do agente etiológico por meio doisolamento em cultura, identificação do microrganismo e realização do antibiograma (XAVIER, 2016). No presente estudo, assimcomo outros da literatura a prescrição hospitalar de antibióticos foi caracterizada por antibióticos de amplo espectro ou porassociação de antibióticos de espectro reduzido. Esta pesquisa evidenciou uma ampla utilização da penicilina com inibidores debetalactamase, esses fármacos são quimicamente semelhantes as penicilinas convencionais, porém com uma cadeiamodificada, o que faz com que o inibidor da enzima possa restaurar a eficácia do antibiótico, permitindo que terapêuticasmundialmente implementadas continuem eficientes, tolerantes e tratem distintas infecções (STEFANIAK, 2005). Em relação aosaminoglicosídeos, vale destacar que os mesmos possuem propriedades farmacológicas semelhantes, tendo como vantagensterapêuticas o seu efeito pós-antibiótico, a sua ação bactericida, o seu extenso espectro de ação e os seus peculiaresmecanismos de hipersensibilidade (XAVIER, et al, 2016). As cefalosporinas são utilizadas no tratamento de diversos processosinfeciosos, porque apresentam-se eficazes frente às bactérias gram-positivas como (sobre bactérias gram-negativas. Fato quecorrobora com o perfil microbiológico evidenciado neste estudo, pois a maioria das infecções eram causadas por bactérias grampositivas, frequentemente associadas e casos de infecções intra-hospitalar. O Staphylococcus aureus, inclui-se neste grupo epossui como principal reservatório o homem, o paciente pode estar colonizado em várias partes do corpo como fossas nasais,garganta, intestinos e pele, sendo a cavidade nasofaríngea a área mais frequente. Sua disseminação pode ocorrer de formadireta ou indireta, e está associada principalmente a lavagem incorreta das mãos (SEVERI; THOMAS, 2019). Para a escolha daantibioticoterpia adequada se faz necessário a realização de cultura, identificação do microrganismo e antibiograma, tais açõesevitam o uso empírico deste fármaco. Vale ressaltar que o uso pediátrico e neonatal desta classe medicamentosa requer maisatenção dos profissionais, pois além da resistência microbiana já mencionada é válido considerar que os pacientes pediátricos elactentes possuem características fisiológicas peculiares, como o nível reduzido de proteínas totais no plasma, que resulta numaumento da concentração de fármaco livre, e a imaturidade hepática, com redução da metabolização, aumentando os riscos de
eventos adversos.Conclusão: O uso de antibióticos, especialmente as penicilinas com inibidores betalactamase foram constantemente observadosneste estudo. Apesar de ser uma terapêutica essencial para manutenção e sobrevida dos pacientes pediátricos e neonatais, osmecanismos de multirresistência cada vez mais amplos, podem limitar o uso de determinados fármacos, assim como o perfilfisiológico destes pacientes podem contribuir para que essa terapêutica se torne uma forma de evento adverso.
ReferênciasCHENG, A.V,. WUEST, W.M. signed, sealed, delivered: conjugate and prodrug strategies as targeted delivery vectors forantibiotics. ACS Infect Diseases, v.10, n.9, p. 9b00019, 2019.SEVERI, E,. THOMAS, G.H. Antibiotic export: transporters involved in the final step of natural product production. Microbiology,v.9, n.11, p. 0.000794, 2019.STEFANIAK, L.A. et al Resistência bacteriana: a importância das beta-lactamases. Revista Uningá, v.7, n.4, p.123-137, 2005.XAVIER, M.M. Perfil de segurança das prescrições de antibióticos de uso restrito numa unidade de terapia intensiva pediátrica. Dissertação de Mestrado. 124 f. Universidade de Coimbra, 2015.CHENG, A.V,. WUEST, W.M. signed, sealed, delivered: conjugate and prodrug strategies as targeted delivery vectors forantibiotics. ACS Infect Diseases, v.10, n.9, p. 9b00019, 2019.SEVERI, E,. THOMAS, G.H. Antibiotic export: transporters involved in the final step of natural product production. Microbiology,v.9, n.11, p. 0.000794, 2019.STEFANIAK, L.A. et al Resistência bacteriana: a importância das beta-lactamases. Revista Uningá, v.7, n.4, p.123-137, 2005.XAVIER, M.M. Perfil de segurança das prescrições de antibióticos de uso restrito numa unidade de terapia intensiva pediátrica. Dissertação de Mestrado. 124 f. Universidade de Coimbra, 2015.CHENG, A.V,. WUEST, W.M. signed, sealed, delivered: conjugate and prodrug strategies as targeted delivery vectors forantibiotics. ACS Infect Diseases, v.10, n.9, p. 9b00019, 2019.SEVERI, E,. THOMAS, G.H. Antibiotic export: transporters involved in the final step of natural product production. Microbiology,v.9, n.11, p. 0.000794, 2019.STEFANIAK, L.A. et al Resistência bacteriana: a importância das beta-lactamases. Revista Uningá, v.7, n.4, p.123-137, 2005.XAVIER, M.M. Perfil de segurança das prescrições de antibióticos de uso restrito numa unidade de terapia intensiva pediátrica. Dissertação de Mestrado. 124 f. Universidade de Coimbra, 2015.
ANÁLISE DO PRÉ-NATAL NA REGIÕES DE SAÚDE DO DO PARANÁ DE 2014 A 2016 - ESTUDO DE REVISÃO
1JULIA BEATRIZ PINTO ARAUJO, 2MARIA AUGUSTA NATALE FIORELLI, 3MARIANGELICA PEDRALLI MINARDI, 4TAMILYSEMANOELLY DE LIMA, 5MARIA ELENA MARTINS DIEGUES, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente e coordenadora do curso de Medicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O cuidado pré-natal tem como finalidade a prevenção da saúde da gestante e do feto (PEDRAZA, 2016). Assim, éde grande valia para o desfecho clínico e psicológico tal cuidado, que funciona como um amparo para as mães, tanto nagestação quanto na fase de puerpério. Em diversos casos previne abortos e complicações gestacionais. A literatura mostra que anão realização do pré-natal está relacionada à fatores socioeconômicos (nível de escolaridade), idade materna (adolescente),não convivência com o companheiro além de diversos contextos sociais adversos (ROSA, 2014).Objetivo: Fazer um levantamento de dados relacionados à mães solteiras na faixa etária de 10 à 19 anos, com baixaescolaridade, que não realizaram o acompanhamento pré-natal ou o fizeram inadequadamente, utilizando os dados doDATASUS (https://datasus.saude.gov.br).Desenvolvimento: De acordo com levantamento de dados realizado pelo DATASUS, 12.687 jovens entre 10 e 19 anos, combaixa escolaridade e solteiras, não fizeram o pré-natal ou o realizaram de maneira inadequada no período de 2014 e 2016, naregiões do Paraná: Paranaguá (732); Metropolitana (4.897); Ponta Grossa (973); Irati (235); Guarapuava (720); União da Vitória(265); Pato Branco (266); Francisco Beltrão (249); Foz do Iguaçu (557); Cascavel (376); Campo Mourão (243); Umuarama (363);Cianorte (67); Paranavaí (171); Maringá (485); Apucarana (417); Lonrdrina (666); Cornélio Procópio (147); Jacarezinho (198);Toledo (222); Telêmaco Borba (314) e Ivaiporã (123). Foi possível identificar um declínio nos índices de casos na regiãopesquisada. Particularmente identificou-se que a cidade de Umuarama em 2014, apresentou 153 casos, em 2015 foram 117 eem 2016 atingiu 93 mães na pesquisa supracitada. Consequentemente, influenciou pouco em relação a quantidade total decasos na região pesquisada, posto que em 2014 foram 4.596, em 2015 foram 4.407 e, em 2016 chegou a 3.684, totalizandoassim 12.687 jovens. O maior índice foi alcançado em Ponta Grossa, que totalizou 973 casos, com decréscimo de 88 casos entre2014 e 2016. O município de Telêmaco Borba é o único que teve um acréscimo de 17 casos entre 2014 e 2016. Emcontrapartida, o município de Ivaiporã, no mesmo período, identificou apenas 123 casos, sendo a cidade com o menor índice.O Ministério da Saúde recomenda iniciar o acompanhamento da gestante no seu primeiro trimestre de gravidez e realizar, nomínimo, 6 consultas durante todo o período gestacional. Os principais procedimentos recomendados para as consultas são:exame físico, exame ginecológico e exames laboratoriais de rotina. O período compreendido entre os 10 anos de idade até os 19anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a adolescência, fase na qual é marcada a transição entre a infância e a idadeadulta (EISENSTEIN, 2005). No Brasil a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública desde a década de 40 etornou-se, assim, um assunto de grande relevância. Um dos fatores mais influentes é a questão socioeconômica das mães, asdisparidades atingem notavelmente as jovens mais carentes, com menor escolaridade e que são as únicas responsáveis pelagestação e criação do bebê, interferindo diretamente na realização do pré-natal e na busca por apoio e acompanhamento. Talproblemática pode ser observada tanto em âmbito regional quanto nacional (MARTINS; et al, 2014) e, de acordo com Dias(2014), a mortalidade materna é indicador de qualidade da saúde pública do país, além de ser usada para traçar metas e açõespolíticas. Quando realizado corretamente, o pré-natal previne patologias, tais como anemia e aumento da pressão arterial,precavendo o aparecimento de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Ademais, o pré-natal proporciona um melhor preparo psicológico parao parto e puerpério, reduzindo a taxa de abortamento e o risco de parto prematuro. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).Conclusão: Por fim, sabendo-se que a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública que atinge principalmentejovens mais carentes, de baixa escolaridade e que são as únicas responsáveis pela gestação e pela criação do bebê, é possívelafirmar que, com base nos dados do DATASUS, 12.687 jovens entre 10 e 19 anos com as características acima citadas nãorealizaram o pré-natal ou o fizeram inadequadamente, porém esses dados apresentam um decréscimo no decorrer dos anos,visto que em 2014 foram 4.596 casos, em 2015 4.407 casos e em 2016 3.684 casos identificados.
Referências
DIAS, R. A. A importância do pré-natal na atenção básica. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal de MinasGerais, Teófilo Otoni, 2014.EISENSTEIN, E. Adolescência: definições, conceitos e critérios. Adolescência & Saúde. v. 2, n.2, 2005.MARTINS, P. C. Z., et al. Gravidez na adolescência: estudo ecológico nas microrregiões de saúde do Estado do Mato Grosso doSul, Brasil 2008. Epidemiologia e Serviços de Saúde. v. 23, n. 1, 2014.MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos de atenção básica 2012: Atenção ao pré-natal de baixo risco. Disponível em: . Acesso em: 1de jun. de 2019.PEDRAZA, D. F. Assistência ao pré-natal, parto e pós-parto no município de Campina Grande, Paraíba. Cadernos SaúdeColetiva. v.24, n. 4, 2016.DATASUS - TabNet Win32 3.0: Nascidos Vivos - Paraná, 2014 - 2016. Disponível em: Acesso em: 1 de jun. de 2019.ROSA, C. Q. Fatores associados à não realização de pré-natal em município de grande porte. Revista Saúde Pública. v. 48, n.6, 2014.
NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS COM FENDA LABIAL E FENDA PALATINA NO PARANÁ DE 2014 A 2016: UMA REVISÃO
1RENAN CORADIN, 2NAGYLA OLIVA FERREIRA, 3LUANA PINHEIRO DE FREITAS, 4THAYNARA KNOPIK DECHECHI,5MARIA ELENA MARTINS DIEGUES, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo Kuhn et. al (2012), a fissura palatina e labial compreende uma má formação congênita facial relacionada àabertura ou à ruptura do palato ou do lábio, decorrente do não fechamento dessas regiões. Esse desenvolvimento se dá na vidaintrauterina do feto, entre a quarta e décima segunda semana de gestação. Tais anomalias craniofaciais possuem diversasvariáveis de apresentação e, conforme o grau, são determinados os tratamentos que devem ser adotados. De acordo com Pedroet. al (2010), essa anormalidade é considerada uma das mais comuns, atingindo cerca de 65% das malformações de cabeça epescoço.Objetivo: Fazer um levantamento dos dados sobre nascidos vivos relacionados à fenda palatina e labial do Paraná de janeiro de2014 a dezembro de 2016, utilizando os dados do DATASUS http://datasus.saude.gov.br.Desenvolvimento: De acordo com Almeida et al. (2017), os fatores relacionados ao aparecimento dessa má formação são tantoos genéticos, quanto as mutações e o polimorfismo, que são relacionadas aos fatores externos, ou seja, ambientais, como umadeficiência nutricional, cigarro e álcool. Isso acarreta uma falha no fechamento da face, que é responsável pelo desenvolvimentodo palato, o que gera fissuras tanto labiais como palatinas. Segundo Scoarize (2014), existem três classificações de fendapalatina e labial, sendo elas: pré-forame incisivo, que atinge os lábios e o palato primário, pós-forame incisivo, que acomete opalato duro, mole e a úvula, e transforame, que prejudica todo a região palatina e pode ou não afetar os lábios, com a ocorrênciade fissuras raras, como as do lábio inferior. Em relação ao proposto por Santos (2016), atualmente não existe um tratamentopadrão para essa anomalia, mas é necessário que existam procedimentos básicos a serem realizados. Isso deve envolverprofissionais, como médicos, dentistas, fonoaudiólogos e especialistas da área psíquica. Além disso, muitas vezes são indicadosprocedimentos cirúrgicos e extracirúrgicos, que são efetuados em épocas de vida apropriada para tal gravidade. No entanto, otratamento deve ter começo logo após o nascimento. De acordo com o levantamento de dados pelo DATASUS, verificaram-se268 casos relacionados ao nascimento de crianças vivas acometidas com fendas labial e palatina de janeiro de 2014 a dezembrode 2016 na região do Paraná. No ano de 2014, foram registrados 83 casos, com maior concentração na 2ª Região de SaúdeMetropolitana que apresentou 22 casos, visto que é a região de saúde que apresenta maior quantidade de habitantes. De acordocom o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 2016, esta região apresenta 3.200.390 habitantes. Por outro lado, asregiões menos afetadas foram a 13ª Região de Saúde de Cianorte, 14ª Região Saúde de Paranavaí e a 20ª Região de Saúde deToledo, que não apresentaram nenhum caso nesse período. Nos anos de 2015 e 2016, houve um crescimento de número decasos na maioria das regiões de saúde, respectivamente 91 e 94 casos, justificando a importância do levamento de dados. Umexemplo pode ser percebido na região de Toledo, que não apresentava nenhum caso e, em 2016, passou a registrar 5 casos.Assim, conforme o DATASUS, esta região Metropolitana apresentou 77 casos dos 268 registrados no Paraná. Baseado nisso,podem-se citar algumas medidas para melhorar a qualidade de vida dos nascidos acometidos por tal situação: fortalecimento darede de pré-natal, informando as mães da importância da realização de ultrassonografias no decorrer da gestação, assim como oaprimoramento de médicos especializados nas cirurgias de correção da fenda labial e palatina no Sistema Único de Saúde, vistoque quanto antes forem detectados esses problemas, maior a chance de correção, melhorando a qualidade de vida do paciente.Conclusão: Abstraídos os dados e analisado o número de nascidos vivos acometidos com a anomalia de fenda labial e palatinano período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, no Paraná, foi possível observar um pequeno aumento do número de casoscom o passar dos anos. Esse aumento se deu principalmente na 2ª Região de Saúde Metropolitana, pois é a região do Paranáque possui maior número de habitantes. Diante do exposto, vê-se a extrema importância da realização de um pré-natal dequalidade, pois, se diagnosticadas nesse período, as correções cirúrgicas e funcionais destas anomalias serão mais resolutivaspara o paciente.
Referências
ALMEIDA, A. M. F. L., et al. Atenção à pessoa com fissura labiopalatina: proposta de modelização para avaliação de centrosespecializados, no Brasil. Revista Saúde Debate, v.41, n. especial, 2017.BRASIL. IBGE. Censo Demográfico, 2016. Disponível em:KUHN, V. D., et al. Fissuras labiopalatais: revisão de literatura. Revista Disciplinarum Scientia, v. 13, n. 2, 2012.MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS. Departamento de Informática do SUS. Disponível em:PEDRO, R. L., et al. Alterações do desenvolvimento dentário em pacientes portadores de fissuras de lábio e/ou palato: Revisãode literatura. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo, v.5, n.3, 2010.SANTOS, G. V. Fissura labial e fenda palatina: a realidade além da cicatriz. Projeto Prático (Graduação em Jornalismo) -Universidade Federal do Rio de Janeiro Escola de comunicação, 2016.SCOARIZE, S. D. Fissura palatina submucosa na literatura brasileira. Monografia (Graduação em Fonoaudiologia) Universidade Federal de Santa Catarina, 2014.
INFLUÊNCIAS DAS PUÉRPERAS EM RELAÇÃO AO SEU TIPO DE PARTO EM TRÊS MATERNIDADES
1ALINE MARA MARTINS OTTOBELI, 2SUELLEN PESSETTI, 3ANA MARIA CONTE, 4MARCELA GONCALVES TREVISAN,5GESSICA TUANI TEIXEIRA, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Enfermeira graduada pela UNIPAR3Docente do curso de Enfermagem /UNIPAR4Docente do curso de Enfermagem /UNIPAR5Docente do curso de Enfermagem PIC/UNIPAR
Introdução: A gestação representa um misto de emoções e sentimentos, como o medo, insegurança, incertezas e a felicidadede gerar um filho, cercado de preceitos sociais e culturais (MARTINS et al., 2018). Os profissionais da saúde desempenham umpapel ímpar neste processo, contudo, o acolhimento e as orientações não devem intervir na decisão da mulher. É sabido que noBrasil, os nascimentos cirúrgicos configuram uma das taxas mais elevadas no mundo, chegando a 88% nos serviços privados e52% no público (QUEIROZ et al., 2017). O parto cesárea é recomendado em casos em que o nascimento por via vaginal possatrazer riscos para a mãe e a criança, indicado em casos de sofrimento fetal, hemorragia e placenta prévia entre outros, ao passoque o parto normal é caracterizado como um procedimento sem cirurgia, sendo o mais seguro para o binômio, tendo menoreschances de complicações após o parto, a recuperação é mais rápida, há menor índice de nascimentos prematuros e alteraçõesrespiratórias (COSTA, 2015).Objetivo: Identificar as influências das puérperas em relação ao seu tipo de parto em três maternidades de um município doSudoeste do Paraná.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, transversal e retrospectiva. Obtida através deentrevistas utilizando de um questionário estruturado pelas próprias pesquisadoras com questões fechadas elaborado com basena literatura disponível, onde foram analisadas as seguintes variáveis: dados sociodemográficas, do pré-natal, histórico obstétricoe as preferências por tipo de parto. A amostra foi constituída por 85 puérperas que tiveram o desfecho do parto nas trêsmaternidades estudadas, totalizando 255 mulheres investigadas. Ainda assim, as participantes assinaram o termo deconsentimento livre e esclarecido (TCLE). Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel (2010) e posteriormenteanalisados pelo SPSS versão 21.0. Foi utilizada a estatística descritiva para caracterização da amostra e distribuição dasfrequências das diferentes variáveis analisadas.Resultados: Ao analisar as influências das puérperas na escolha do parto, observou-se que 61,2% delas participaram dadecisão final da via de parto. A escolha de maior prevalência foi o parto cesáreo como decisão do profissional (37,6%), seguidade parto cesáreo por opção da puérpera (21,6%) e parto vaginal por decisão de ambos, profissionais e gestantes (12,5%). Noque tange as influências recebidas, verificou-se que familiares (15,7%), amigos (7,8%) e médico obstetra (3,1%), tiveraminfluência sobre a decisão da via de parto.Discussão: Observou-se na presente pesquisa que 61,2% das puérperas participaram da decisão final para escolha da via. É degrande valia que profissionais da saúde ofereçam informações necessárias para orientar as decisões da paciente em seu tipo departo, sem nenhuma influência, ressaltando a participação da mulher neste processo (LIMA, 2018). No que se refere asinfluências, a pesquisa demonstrou que o parto cesáreo foi escolhido por decisão do profissional de acordo com o relado de37,6% da amostra estudada, corroborando com estudo realizado no interior Sergipe, revelando que os médicos foramresponsáveis pela decisão final sobre o tipo de parto em 36,3% dos casos (SOUZA; FARO, 2018). Ainda, uma revisão integrativada literatura entre os anos de 2014 e 2018 realizada em Anápolis, Goiás, revelou que o profissional médico exerce importanteinfluência neste processo, tornando-se protagonista de uma história alheia (JORDÃO, 2018). Neste estudo observou-se que 21,6% dos partos cesáreos foram decisão da gestante, divergindo de pesquisa realizada no interior de São Paulo, que revelou que70,1% das gestantes preferiam parto vaginal quando informadas dos seus benefícios (POPOLLI, 2017), convergindo tambémcom estudo realizado em Belo Horizonte verificou-se a preferência por parto vaginal por 77,6% da amostra, com relato de melhorrecuperação pós-parto (KOTTWITZ; GOUVEIA; GOUVEIA, 2018). No que tange as influências externas sobre a decisão final doparto, a presente pesquisa revelou que familiares (15,7%), amigos (7,8%) e gestações anteriores (2,4%) como mais citados. Taisresultados coincidem com os encontrados por Silva, Prates e Campelo (2014), revelando que familiares e experiências anteriorespodem influenciar na decisão final, confirmando que familiares são decisivos na preferência pelo tipo de parto.Conclusão: A preferência pelo parto natural é citada pela maioria das mulheres, justificado pelo fato que o mesmo possibilita
uma cicatrização e recuperação mais rápida. Verificou-se também que as influências estão vinculadas às formas de informaçãorecebidas, as experiências anteriores, à acessibilidade e qualidade dos serviços e o conhecimento oferecido pela equipe sobre oassunto e ainda sofrem influências socioeconômicas, sociais, familiares, além de clínicas e obstétricas, podendo ser, muitasvezes modificadas no desfecho final.
ReferênciasCOSTA, M.N. et al. Parto: direito de escolha da mulher. Revista Saber Digital, v. 8, n. 1, p. 146-163, S.I, 2015.JORDÃO, C. D. et al. Escolha da via de parto: fatores que influenciam na decisão final da gestante. CIPEEX, v. 2, p. 1138-1148,2018.KOTTWITZ. F; GOUVEIA. G. H; GONÇALVES. A. C. Via de Parto Preferida por Puérperas e suas Motivações, Esc Anna Nery,2018. LIMA, A.O.S. O experienciar do parto: relatos de mulheres em um município do Recôncavo da Bahia. Trabalho de Conclusão deCurso (Bacharelado em Enfermagem) - Faculdade Maria Milza, Bahia, 2018.MARTINS, A.P.C. et al. Aspectos que influenciam a tomada de decisão da mulher sobre o tipo de parto. Rev baiana enferm. v.32. S.I. 2018. POPOLLI, E.S. et al. Vinculação da gestante com a maternidade: a influência no tipo de parto. Enfermagem Brasil, v. 17, n. 3, p.199-207, 2017.QUEIROZ, T.C. et al. Processo de decisão pelo tipo de parto: uma análise dos fatores socioculturais da mulher e sua influênciasobre o processo de decisão. Revista Científica Fagoc Saúde, v.2, pp.70-77, 2017.SILVA, S.P.C; PRATES, R.C.G; CAMPELO, B.Q.A. Parto normal ou cesariana? Fatores que influenciam na escolha dagestante. Revista de Enfermagem da UFSM, v. 4, n. 1, p. 1-9, Jan/Mar 2014.SOUZA, Y; FARO, A. Predileção, expectativa e experiência de parto: o que pensam grávidas e primíparas? Psicologia, Saúde &Doenças, v. 19, n. 2, p. 243-254, 2018.
LOMBALGIA INESPECÍFICA CRÔNICA E OS EFEITOS DO MÉTODO PILATES
1ANIELE MARIA PEREIRA, 2ARIELE REGINA STRALIOTTO, 3POLYANA ALCANTARA DOS SANTOS, 4GISLAINE THAINAHEMKEMEIER, 5LEILA MARIA JUCHEM, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do curso de Fisioterapia UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A dor lombar, nominada lombalgia, é um dos mais difundidos problemas de saúde enfrentados no mundoindustrializado. Tendo como estimativa 80% da população sofrendo ou vir a sofrer em alguma fase da vida de dores nas costas(FURTADO et al., 2014). O aumento nos episódios de lombalgia possui como causa maus hábitos de postura, aumento daperspectiva de vida e atividades laborais exaustivas (ZAVARIZE; WECHSLER, 2010). Como recurso terapêutico, o MétodoPilates tem como característica movimentos que incorporam e respeitam a posição neutra da coluna vertebral, com o objetivo demelhorar o controle da respiração junto com o movimento corporal adequado, promovendo flexibilidade, postura e força muscular,amenizando dores e incômodos (COSTA; ROTH; NORONHA, 2012).Objetivo: Analisar como o Método Pilates influencia na evolução do tratamento de portadores de lombalgia inespecífica crônica.Desenvolvimento: A dor crônica é um desconforto com duração de meses, sendo possível de associação a trauma ou doença epersistir mesmo após uma lesão inicial (ALMEIDA; KRAYCHETE, 2017). Por acometer uma massa populacionaleconomicamente ativa, a lombalgia crônica está relacionada a causas inespecíficas, bem como a quadros de incapacidadeslaborais, o que causa sofrimento, perda de produtividade e custos de tratamento elevado (ARAUJO; OLIVEIRA; LIBERATORI,2012). Podendo a dor lombar ter várias sintomatologias e diagnósticos, o fisioterapeuta deve tratar o paciente de acordo com umquadro clínico único e um tratamento personalizado adequado. Com a intervenção fisioterapêutica é possível obter melhorasconsideráveis com o uso de alongamentos e exercícios orientados, além de assegurar a prevenção de futuros problemas, assimcomo a orientação para as mudanças de hábitos cotidianos (ARAUJO; OLIVEIRA; LIBERATORI, 2012). Devido a capacidade dacontração correta dos músculos transversos do abdômen e consequentemente a estabilidade lombo pélvica, o Método Pilatesmostra sua eficácia quando comparado a outras técnicas terapêuticas direcionadas as afecções lombares (SANTOS; MOSER;BERNARDELLI, 2015). Ao se realizar exercícios do método é necessário que o paciente tenha uma participação completa docorpo, empregando cadeias musculares simultâneas, desta forma terá uma melhora relacionada aos músculos antagonistas eagonistas (FERREIRA; MARTINS; CAVALCANTI, 2016).Conclusão: Sendo assim, este estudo concluiu que os efeitos do Método Pilates mostram-se positivos em pacientes comlombalgia inespecífica crônica, onde todas as técnicas de estabilização e mobilização da coluna vertebral são essenciais para ocontrole da dor e limitações funcionais desencadeadas.
ReferênciasALMEIDA, D. C.; KRAYCHETE, D. C. Low back pain a diagnostic approach. Revista Dor, São Paulo, v.18, n.2, p.173-177,abr./jun. 2017.ARAUJO, A. G. S.; OLIVEIRA, L.; LIBERATORI, M. F. Protocolo fisioterapêutico no tratamento da lombalgia. Revista Cinergis,Santa Cruz do Sul, v.13, n.4, p.56-63, out./dez. 2012.COSTA, L. M. R.; ROTH, A.; NORONHA, M. O Método Pilates no Brasil: Uma revisão de literatura. Revista ArquivosCatarinenses de Medicina, Florianópolis, v.41, n.3, p.87-92, jul./set. 2012.FERREIRA, T. N.; MARTINS, P. C. M. L.; CAVALCANTI, D. S. P. O Método Pilates em pacientes com lombalgia. Revista Saúdee Ciência em Ação, Goiânia, v.2, n.1, p.56-65, jan./jul. 2016.FURTADO, R. N. V. et al. Dor lombar inespecífica em adultos jovens: fatores de riscos associados. Revista Brasileira deReumatologia, São Paulo, v.54, n.5, p.371-377, set./out. 2014.SANTOS, F. D. R. P.; MOSER, A. D. L.; BERNARDELLI, R. S. Análise da efetividade do método Pilates na dor lombar: Revisãosistemática. Revista Brasileira Ciência e Movimento, São Paulo, v.23, n.1, p.157-163, jan. 2015.ZAVARIZE, S. F.; WECHSLER, S. M. Lombalgia e qualidade de vida: estudo da produção cientifica no Brasil. RevistaPsicodebate - Psicologia Cultura y Sociedad, Buenos Aires, v.10, n.1, p.269-278, dez. 2010.
EFEITOS DA ACUPUNTURA NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA
1ARIELE REGINA STRALIOTTO, 2HELLEN CRISTINA FERREIRA, 3GISLAINE THAINA HEMKEMEIER, 4ANIELE MARIAPEREIRA, 5POLYANA ALCANTARA DOS SANTOS, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do Curso de Sistemas de Informação da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A fibromialgia é uma doença crônica não inflamatória, que causa dor generalizada no sistema musculoesquelético. Écaracterizada pela presença de pontos de sensibilidade dolorosa, conhecidos por tender points, em diversas áreas do corpo,promovendo limitações funcionais consideráveis (MARCHESINI STIVAL et al., 2014). Ferreira (2015) relata que a causa dafibromialgia envolve fatores genéticos, estados inflamatórios, perturbações do sono e variados fatores psicológicos associados asintomas diversos como alteração dos hábitos intestinais, falta de ar e aumento de peso. Todavia a terapia chinesa, através daacupuntura, surge como meio alternativo para redução dos sintomas, sendo utilizada com frequência para o tratamento da dor,melhora do sono, contribuindo para o equilíbrio adequado do metabolismo corporal (SANITA; MORAES; SANTOS, 2014). Objetivo: Descrever a eficácia da acupuntura como forma de tratamento para o alívio da dor e melhora na qualidade de vida depacientes fibromiálgicos. Desenvolvimento: A etiologia da fibromialgia permanece desconhecida. Porém, muitas são as hipóteses do que pode causá-la,grandes influências genéticas e ambientais, além de disfunções que atingem o sistema nervoso central podem contribuir para otranstorno patológico (QUEIROZ, 2017). Segundo Marques et al. (2017), a fibromialgia atinge mais mulheres com idade entre 30e 60 anos, entretanto não é excluído casos de fibromialgia em homens, jovens e adolescentes. As queixas relatadas porpacientes fibromiálgicos envolvem dor, rigidez muscular acentuada, sensibilidade ao serem tocadas, pontadas, queimação,espécie de formigamentos, dormência e cansaço. Por sua vez os sintomas afetam a qualidade de vidas dos portadores causandomal-estar físico, psicológico, gerando mau humor, baixa autoestima, depressão e ansiedade, comprometendo o desempenhodiário (VERSAGI et al., 2017). Como os sintomas presentes na fibromialgia são vários, a intervenção procede de formamultiprofissional, incluindo medicamentos específicos receitados por um médico, exercícios físicos, psicoterapia e tratamentosintegrativos por favorecerem o relaxamento muscular, alívio da dor e melhora do bem estar. Entre os tratamentos integrativos, amedicina tradicional chinesa explica que a fibromialgia é um erro da circulação harmônica de energia e do sangue, por sua vez osmesmos param de circular de forma adequada, tendo relação com o estresse e ansiedade. Dentre a acupuntura existemdiversificadas técnicas, sendo as mais populares a ventosaterapia, moxaterapia, auriculoterapia, eletroacupuntura. Têm surtidoefeitos extremamente promissores no tratamento complementar da fibromialgia, visto esta ser um transtorno complexo, crônico egeneralizado (LARA, 2018). Conclusão: A acupuntura apresenta bons resultados no sentido de reduzir significativamente a intensidade da dor e aquantidade de pontos dolorosos em pacientes portadores de fibromialgia, de forma a melhorar a qualidade de vida devolvendo acapacidade funcional para vivenciar diferentes contextos que requerem estabilidade física, emocional e mental, o quenormalmente é afetado pela disfunção.
ReferênciasFERREIRA, A. J. O. Fibromialgia: Conceito e abordagem clínica. Revista Brasileira de Reumatologia, São Paulo, v. 50, n. 6, p.431-436, jan./fev. 2015.LARA, S. Acupuntura auxilia no tratamento de doenças. Terapia oriental investiga não apenas o problema, mas também a origemde todos eles Medicina Alternativa. Revista Psicológica Saúde e Debate, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 85-105, fev. 2018.MARCHESINI STIVAL, R. S. et al. Acupuntura na fibromialgia: Um estudo randomizado-controlado abordando a respostaimediata da dor. Revista Brasileira de Reumatologia, São Paulo, v. 54, n. 6, p. 431-436, dez. 2014.MARQUES, A. P. et al. A prevalência de fibromialgia: Atualização da revisão de literatura. Revista Brasileira de Reumatologia,São Paulo, v. 57, n. 4, p. 356-363, jan. 2017.QUEIROZ, L. P. World wide epidemiology of fibromyalgia. Current pain headache reports. Revista Eletrônica Ciência e Saúde, Brasília, v. 12, p. 49-54, jul.2017.
SANITA, P. C. V. M.; MORAES, T. S. M.; SANTOS, F. M. Análise do efeito da acupuntura no tratamento da fibromialgia. RevistaBrasileira de Reumatologia, São Paulo, v. 55, n. 6, p. 431-436, fev. 2014.VERSAGI, C. N. et al. Protocolos terapêuticos de massoterapia. Revista Saúde Integrada, Barueri, v.11, n.39, p. 02-10, jan.2017.
PROCESSO DE ENFERMAGEM NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
1ALEX MARTINS DO NASCIMENTO, 2ALINE SAYURI MORITA, 3NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA
1Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: O Ministério da Saúde em 2004 lançou através de política de saúde o acolhimento humanizado aos usuários doSistema Único de Saúde (SUS), um acolhimento humanizado, afim de promover um atendimento de qualidade de acordo com orisco do usuário, agregando na rede de saúde urgências e emergências (SILVA et al., 2016). Para isso Maria; Quadro e Grassi(2012), enobrecem a prática da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como um instrumento metodológico queviabiliza o enfermeiro a se organizar e aplicar assistência de qualidade ao usuário, tendo em foco a visão clínica dos casos quesão atendidos nos prontos atendimentos.Objetivo: Destacar o processo de enfermagem como instrumento de avaliação clínica da classificação de risco nos pacientesque utilizam unidades de pronto atendimento.Desenvolvimento: O serviço de unidade de pronto atendimento (UPA) é compreendido pela população como um local que supride forma rápida os problemas de saúde fazendo com que a população acesse não somente em situações emergências comotambém com situações rotineiras que poderiam ser resolvidas em uma Unidade de Atenção Básica (UBS) (RONCALLI et al.,2017). No contexto dessa unidade o propósito do acolhimento humanizado é de remodelar o atendimento, visando priorizar aatenção aos eventos agudos de grande emergência, sendo o processo de enfermagem um instrumento importante paraorganizar, agilizar e evitar danos a população, bem como reduzir a sobrecarga dos funcionários e fortalecer o vínculo com opaciente (OLIVEIRA, 2017). Para Roncalli et al (2017), o enfermeiro é o profissional de nível superior mais indicado para realizara classificação de risco compreendendo que o mesmo possui visão clínica direcionada para julgar de acordo com o caso de cadapessoa. O processo de enfermagem também considerado como o processo de cuidar é compreendido como instrumento quepossibilita reconhecer, constatar os problemas de saúde da população possibilitando uma intervenção de enfermagem tendocomo princípio julgamentos que proporcionam alcançar resultados (GARCIA, 2000). Santos; Veiga; Andrade (2011), aborda queo primeiro passo do processo é a anamnese do paciente que possibilita conhecer e avaliar a história e seus respectivosproblemas, exame físico céfalo-caudal que avalia as condições de saúde do indivíduo através dos sinais e sintomas e examesistematizado, seguindo o diagnóstico de enfermagem.Conclusão: A política de humanização do SUS, retrata o acolhimento e classificação do indivíduo e o enfermeiro é o profissionalindicado para melhor classificar a população e utilizando o processo de enfermagem como base, assegura classificar apopulação, de forma holística, sem causar prejuízo ou danos à saúde.
ReferênciasGARCIA, T. R.; NÓBREGA, M. M. L. Sistematização da assistência de enfermagem: reflexões sobre o processo. In: 52ºCongresso Brasileiro de Enfermagem, Apresentado na Mesa Redonda A sistematização da assistência de enfermagem: oprocesso e a experiência . Recife/Olinda PE, 2000. Disponível em: acesso em 31/07/2019 às 15:02 MARIA, M. A.; QUADROS, F. A. A.; GRASSI, M. F. O. Sistematização da assistência de enfermagem em serviços de urgência eemergência: viabilidade de implantação.Rev. bras. enferm. [online]. 2012, vol.65, n.2, pp.297-303. Disponível em; acesso em:31/07/2019 às 21:01 OLIVEIRA J.L.C et al. Acolhimento com classificação de risco: percepções de usuários de uma unidade de pronto atendimento,Texto Contexto Enferm, 2017; 26(1) Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/tce/v26n1/pt_0104-0707-tce-26-01-0960014.pdf>acesso em: 01/08/2019 as 21:20RONCALLI, A. A. et al., Protocolo de Manchester e população usuária na classificação de risco: visão do enfermeiro, Rev.baiana enferm. (2017); 31(2), Disponível em: acesso em 01/08/2019 as 20:54 SANTOS N.; VEIGA P.; ANDRADE R. Importância da anamnese e do exame físico para o cuidado do enfermeiro RevistaBrasileira de Enfermagem, vol. 64, núm. 2, marzo-abril, 2011, pp. 355-358 Associação Brasileira de Enfermagem Brasília,Brasil. Disponível em: acesso em: 31/07/2019 às 15:05SILVA et al., Acolhimento com classificação de risco do serviço de Pronto-Socorro Adulto: satisfação do usuário, Rev EscEnferm USP · 2016;50(3):427-433. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v50n3/pt_0080-6234-reeusp-50-03-0427.pdf> acesso em: 01/08/2019 as 21:12
A INCLUSÃO DA CRIANÇA COM AUTISMO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR
1RADAMES JOSE FRITOLA, 2BRUNA THAIS DE OLIVEIRA BARBACOVI, 3KATIA MARIA MOREIRA GOMES, 4DOUGLASFERNANDES TOMAZI, 5ISABELA BEDIN KNAPP, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do curso de Farmácia UNIPAR1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Farmacia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O autismo é analisado como uma doença multifatorial, tendo sua causa ligada a fatores genéticos, ambientais,imunológicos e neurológicos. Sua análise pode ser dificultada por não apresentar os mesmos sinais em todos os quadrossindrômicos e pela manifestação desses nos primeiros anos de vida. Estima-se ser um transtorno comportamental, afetando oconvívio social, exibindo padrões repetitivos e estereotipados de comportamento (KANNER, 1943). A inclusão escolar se dá pelainserção e sustentação de alunos público alvo do ensino especial em classes de aulas comuns da rede regular de ensino, comacompanhamento especializado, estes por sua vez irão vivenciar práticas pedagógicas, conhecimentos, recursos, metodologias eestratégias de ação diferenciadas com intuito de atender as suas especificidades e analisar as dificuldades de aprendizagem,adaptação e metodologias de ensino para alunos especiais no ensino fundamental (CANUT et al., 2014).Objetivo: Deste modo, este trabalho objetivou descrever sobre os aspectos do autismo na análise da importância da inclusãosocial.Desenvolvimento: No início da década de 90, a temática da inclusão escolar da criança com limitações e autismo teve grandeimportância e visibilidade com a juntura dos movimentos sociais de direitos humanos da criança com deficiência, Declaração daEducação como Direito de Todos em 1990, Declaração de Salamanca de 1994 e promulgação da LDB 9.394/96, categoria quepassou a ser apoiada no aparecimento das primeiras discussões sobre a inclusão da criança com autismo no ensino regular(BRASIL, 1996). Brizolla (2015) assegura que o cenário do implante nas políticas públicas de educação inclusiva no Brasil temdecretado transformações intensas nas concepções e estruturas dos grupos escolares, expedindo a um exercício de revisão eressignificação da modalidade de educação especial. No que se menciona ao desenvolvimento da criança, a intervenção precoceajudará no psíquico, físico e motor da criança. Nessa razão, os cuidados efetivados a essas crianças são basicamente adquiridospor meio de reabilitação e reinserção, sendo esses a psicoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia,fonoaudiologia, entre outros (ALVES; LISBOA, 2010). A família e a escola são os mais consideráveis na socialização no decorrerna vida da criança, e a cooperação de ambos se torna essencial ao crescimento positivo (CANUT et al., 2014).Conclusão: Através deste estudo concluiu-se que é fundamental ressaltar que toda criança especial necessita de um professorespecializado, ambiente adaptado e métodos diferenciados no ensino, podendo auxiliar em sala de aula promovendo umasocialização. A intervenção precoce é o melhor procedimento para permitir o desenvolvimento normal, sendo também primordialo comprometimento familiar junto à escola.
ReferênciasALVES, M. M. C.; LISBOA, D. O. Autismo e inclusão escolar. IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade.Laranjeiras. 2010. p.7-15BRASIL. Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Lei Federal nº.9394/96. Brasília, 1996.BRIZOLLA, F. Implantação de políticas públicas de inclusão escolar no Rio Grande do Sul: Memória e trajetória IN: BAPTISTA,C. R. Escolarização e deficiência: Configurações nas políticas de inclusão escolar. São Carlos: Marquezine e Manzini,2015.CANUT, A. C.A. et al. Diagnóstico precoce do Autismo. Revista de Medicina e Saúde de Brasília, Brasília, v.3, n.1, p.31-37, jan.2014.KANNER, L.E.O. Autistic: Disturbances of affective contact. Nervous Child, New York, n.2, p.217-250, 1943.
FUNDAMENTOS DA ESTOMATITE PROTÉTICA
1ANDRESSA ANDRADE NOVAES, 2JOAO MURILO GONCALVES GAZOLA, 3LETICIA DANTAS GROSSI, 4SUELENSTEFANONI BRANDAO, 5GABRIEL MACIEL DA SILVA, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmico bolsista do PIBIC/UNIPAR2Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR3Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR4Acadêmico do PIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Com o crescente número da população idosa utilizando próteses totais no mundo, observa-se também achadossignificativos de estomatite protética. Esta doença é caracterizada como uma infecção fúngica, multifatorial, que afeta cerca de70% dos indivíduos que fazem uso de prótese total superior. A saúde bucal possui papel relevante, visto que seucomprometimento pode afetar negativamente o bem estar físico, mental e social da população. Para que o tratamento dedeterminada patologia seja efetivo e integrado à saúde do paciente, é necessário conhecimento e seriedade para que sejarealizado um correto diagnóstico e desta forma posteriormente um tratamento específico e resolutivo.Objetivo: Enfatizar, através de uma revisão da literatura, a importância de um preciso diagnóstico em estomatite protética eesclarecer suas formas de tratamento. Desenvolvimento: A estomatite protética (EP) é a associação da candidíase com a prótese total superior, é causadaprincipalmente por fatores microbianos, na qual a Candida albicans possui papel essencial, porém, necessita estar associada àmá adaptação da prótese, desgaste decorrente de tempo excessivo de uso e má higienização. Ainda, pode estar relacionadaà alergia ao monômero residual, placa microbiana, uso contínuo da prótese, pacientes imunossuprimidos e hipossalivação(SESMA; MORIMOTO, 2011). É representada por lesões eritematosas na região de mucosa palatina, onde a prótese totalsuperior se adapta. Geralmente, tal patologia é assintomática, contudo, pode haver dor, halitose, prurido e queimação. Cadapaciente é único e pode apresentar etiologias distintas, sendo assim, para que seja formulado um plano de tratamento, énecessário que o cirurgião dentista identifique quais são os agentes locais e sistêmicos atuantes em cada situação e a partirdesta análise criteriosa, trace as medidas cabíveis existentes. O tratamento preventivo pode ser realizado em casos onde não háa existência da doença, através de orientações sobre a durabilidade e indicações para confecção de próteses novas, métodos dedesinfecções eficientes e remoção noturna. Já em casos onde a doença está instalada, deve ser realizado um tratamentocurativo, através do uso de medicamentos antifúngicos para a eliminação da infecção dos tecidos, sendo a Nistatina o maisutilizado. Porém, apenas este medicamento não é o suficiente para eliminar a estomatite protética, visto que é uma doençamultifatorial, deve ser removido os fatores locais, tais como substituição de próteses velhas com porosidades ou que estejamcausando traumas no tecido e imersão da prótese em produtos químicos como por exemplo o hipoclorito de sódio diluído emágua. Conclusão: A responsabilidade em manter a peça protética em condições favoráveis, para que esta desenvolva corretamente asua função, é do paciente, considerando a higienização e o tempo decorrido de uso, no entanto, é de extrema importância que ocirurgião dentista entenda a sua obrigação em orientar claramente o indivíduo, para que este consiga realizar a manutençãonecessária. O objetivo final do tratamento é a qualidade de vida do paciente, esta deve ser alcançada imprescindivelmente.
ReferênciasCASTRO, Alvimar Lima de, et al. Estomatite protética induzida pelo mau uso de prótese total: caso clínico. RevistaOdontológica de Araçatuba, v. 27, n. 2, p. 87-90, Jul./Dez. 2006.DE FREITAS, Samantha Ariadne Alves et al. Protocolo de atendimento do paciente com estomatite protética na atenção básica.Revista de Pesquisa em Saúde, v. 12, n. 3, p. 43-48, Set./Dez. 2011.FIGUEIRAL, Maria Helena, et al. Influência da saliva na estomatite protética. Rev Port Estomatol Cir Maxilofac, v. 47, n. 4, p.197-202, 2006.OLIVEIRA, Roberta Carvalho de, et al. Aspectos clínicos relacionados à estomatite protética. International Journal Of Dentistry,Recife, v. 6, n. 2, p. 51-54, Abr./Jun. 2007.SESMA, Newton. MORIMOTO, Suzana. Estomatite protética: etiologia, tratamento e aspectos clínicos. Journal of Biodentistryand Biomaterials, v. 1, n. 2, p. 24-29, Set./Fev. 2011.
SCALERCIO, Michelle et al. Estomatite protética versus candidíase: diagnóstico e tratamento. Revista Gaúcha de Odontologia,Porto Alegre, v. 55, n. 4, p. 395-398, Out./Dez. 2007.
ÍNDICE DE PENSAMENTO E TENTATIVA DE SUICÍDIO ENTRE ADOLESCENTES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADASDE UM MUNICÍPIO PARANAENSE
1DANIELA TAVARES CAMERA, 2MARCELA GONCALVES TREVISAN, 3GESSICA TUANI TEIXEIRA, 4FRANCIELE DONASCIMENTO SANTOS ZONTA, 5LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Docente do curso de Enfermagem /UNIPAR2Docente do curso de Enfermagem /UNIPAR3Docente do curso de Enfermagem PIC/UNIPAR4Docente do curso de Enfermagem PIC/UNIPAR
Introdução: A adolescência, é considerada um período de desenvolvimentos e modificações fisiológicas, psicológicas e sociais,que podem contribuir para diversos problemas (ROSA, 2018). Entre eles, destaca-se o suicídio, frequentemente evidenciadonesta população (HILDEBRANDT; ZART; LEITE, 2011). No mundo, o suicídio está entre as cinco maiores causas de morte nafaixa etária entre 15 e 19 anos, contudo, em alguns países, ele é a primeira ou segunda causa de morte entre ambas os sexos,nessa mesma faixa etária. (MOREIRA; BASTOS, 2015). De acordo com Batista, Araújo e Figueiredo (2016), o Brasil é o quartopaís da América Latina com o crescimento de casos de suicídio.Objetivo: Analisar o índice de pensamento e tentativa de suicídio entre adolescentes de escolas públicas e privadas de umMunicípio Paranaense.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva com de abordagem quantitativa, desenvolvida em escolas públicase privadas de ensino médio de um município do Paraná. Para coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado,adaptado da versão original do questionário da juventude brasileira fase II (BATISTA, 2014), com as seguintes variáveis: sexo,idade, se segue alguma religião, se já pensou e/ou tentou se matar, qual o motivo que levou a pensar em se matar, e qual foi omeio utilizado para a tentativa de suicídio. Salienta-se que, os estudantes só participaram da pesquisa mediante apresentação doTermo de Consentimento Livre Esclarecido assinado pelos pais ou responsáveis. A análise estatística descritiva foi realizada peloprograma estatístico SPSS 25.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o protocolo 2.596.383 e 2.562.912.Resultados: A pesquisa foi constituída por 470 estudantes, sendo 351 adolescentes de escolas públicas e 119 adolescentes deescolas privadas. Prevaleceu o sexo feminino em ambas as escolas. Em relação ao pensamento e a tentativa Jáde suicídio, asescolas privadas resultaram com maior prevalência em ambas as variáveis, de pensamento e tentativa de suicídio, sendo que 47alunos já tiveram a ideação suicida, e 28 já tentaram o suicídio. Nesse cenário, também se constatou que os estudantes deescolas privadas que moram com os pais estão mais susceptíveis ao pensamento e a tentativa de suicídio (p 0,001). Emcontrapartida, os estudantes de escolas públicas que moram apenas com um dos pais, têm maior risco de pensamento etentativa de suicídio.Discussão: O suicídio entre jovens, é um agravo preocupante para a saúde pública mundial (SCHLICHTING; MORAES, 2018).Os resultados obtidos nesse estudo coincidiram com o de Jatobá e Bastos (2007), onde o que prevaleceu quanto as escolasparticipantes, foi a rede pública. Ainda nesse mesmo estudo, 34,3% dos alunos de ambas as redes de ensino já referiam aideação ou a tentativa de suicídio, onde a ideação suicida, foi mais incidente no sexo feminino. O pensamento suicida associou-se à sintomas depressivos de intensidade leves ou moderados nas escolas públicas, enquanto a tentativa de suicídio esteveassociada à sintomas depressivos graves em estudantes de escolas privadas. Se assemelha também ao estudo feito porMachado et al (2018), onde houve prevalência do sexo feminino na sintomatologia depressiva. Em relação as perspectivas docontexto familiar na ideação e tentativas de suicídio, de acordo com Hildebrandt; Zart e Leite (2011), os adolescentes justificamas tentativas de suicídios em função de vínculos familiares fragilizados e relações afetivas não correspondidas ou rompidas que,acarretam em frustração afetiva e familiares. Assemelha-se ao estudo em questão onde estudantes de escolas privadas quemoram com os pais, tem maior risco de tentativas de suicídio, diferente dos alunos de escolas públicas, onde morar sem um dospais, gera riscos para a ideação e tentativa de suicídio. O suicídio hoje, é responsável por 12% das mortes entre os adolescentes.Do mesmo modo, houve aumento da prevalência de tentativas de suicídio. A maioria das tentativas de suicídio na adolescênciaestá relacionado a transtornos psiquiátricos, principalmente a depressão (HILDEBRANDT; ZART; LEITE, 2011). Para lidar com aquestão, o Ministério da Saúde já evidenciou que uma das alternativas mais efetivas para prevenir o suicídio é identificar sinaiscomportamentais de alerta, os quais indicariam o risco de uma atitude suicida (GONÇALVES; FARO, 2019).Conclusão: Após conhecer os índices de ideação e tentativas de suicídio, pelos adolescentes do ensino médio, podemosconcluir que a realidade da presente pesquisa não difere do contexto brasileiro. Salienta-se a importância que os serviços de
atenção básica têm na promoção e prevenção por intermédio de ações de educação em saúde nas escolas com os alunos epais, com abordagem interdisciplinar, em consonância ao apoio do núcleo familiar.
ReferênciasBATISTA, F. A. Comportamento sexual de risco em adolescentes escolares: questionário juventude brasileira fase II. 2014.100 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2014.BATISTA, N. O.; ARAÚJO, J. R. C.; FIGUEIREDO, P. H. N. Incidência e perfil epidemiológico de suicídios em crianças eadolescentes ocorridos no Estado do Pará, Brasil, no período de 2010 a 2013. Rev Pan-Amaz Saude v.7 n.4 dez. 2016.CARVALHO, A. L.; GONÇALVES, A. F. Crenças de adolescentes frente a diferentes contextos de tentativa de suicídio. Rev.Interação em Psicologia. v 23. N 1. 2019.HILDEBRANDTI, L. M.; ZARTII. F.; LEITEIII, M. T. A tentativa de suicídio na percepção de adolescentes: um estudo descritivo.Rev. Eletr. Enf. v.13. n.2. 219-26pp. abr/jun. 2011.JATOBÁ, J. D. V. N., BASTOS, O. Depressão e ansiedade em adolescentes de escolas públicas e privadas. Rev. BrasPsiquiatr. v.56 n.3. 171-179pp. 2007.MACHADO. I. C. et al. Prevalência de sintomas depressivos entre adolescentes da rede pública de ensino. Rev. Adolesc.Saúde. v.15, n.4, p.27-35. out/dez. 2018.MOREIRA, L. C. O.; BASTOS, P. R. H. O. Prevalência e fatores associados à ideação suicida na adolescência: revisão deliteratura. Rev. Quadrimestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. São Paulo. v19, n 3, Set./Dez.2015.ROSA, C. Vidas perdidas: análise descritiva do perfil da mortalidade dos adolescentes no Brasil. Rev. Adolesc. Saude, Rio deJaneiro, v. 15, n. 2, p. 29-38, abr/jun 2018.SCHLICHTING, C. A.; MORAES, M. C. L. Mortalidade por suicídio na adolescência: uma revisão. REFACS, Uberaba, v.6, p.357-356, 2018.
NOTIFICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL DEVIDO À DESNUTRIÇÃO NO PARANÁ DE 2006 A 2016 - ESTUDO DEREVISÃO
1GABRIELA CAROLINA CREMONESE VON BORSTEL, 2GABRIELA BERTONI FERNANDES, 3ISABELLE LAGUILIO FIALHO,4NATALLY GABRIELLY MARTIN FERNANDES, 5ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Um dos maiores problemas de saúde pública mundial é a desnutrição, sendo que está relacionada a mais de umterço de todas as mortes de crianças no mundo. Considerando o panorama mundial, em 2011 cerca de 101 milhões de criançasmenores de 5 anos de idade apresentavam baixo peso (PEREIRA; et al 2017). A renda e a educação dos pais são elementosbásicos para determinar o nível de saúde infantil, são fatores socioeconômicos que indicam a disponibilidade de recursos econhecimentos ou comportamentos em relação à saúde da criança (CALDWELL, 1979; PHAROAH MORRIS, 1979; VICTORA etal., 1992 apud FRANÇA; et al. 2001). A desnutrição atinge os indivíduos que possuem condições abaixo dos limites da pobreza eocasiona desenvolvimento escolar retrógrado juntamente com a alfabetização e a linguagem, resultando em um déficit alimentar,decorrente da pobreza (SAWARA; 2013 apud SILVA; 2015). Objetivo: Analisar as notificações de óbitos infantis vinculados a desnutrição no Paraná entre 2006 à 2016, utilizando dados doDATASUS. Desenvolvimento: A desnutrição pode apresentar prejuízos ao sistema imunológico, doenças imunossupressoras e infecções.Em longo prazo reduz a qualidade de vida e pode comprometer a bioquímica, fisiologia e o comportamento do organismo.(APOLINÁRIO et al., 2011 apud SILVA; 2015). A evolução de uma infecção ou uma doença crônica pode aumentar anecessidade do organismo por nutrientes, principalmente nas crianças que já são subnutridas (ANGELIS, 2000 apud MAZZUTI;FERRETO, 2006). É nesta fase, portanto, que se devem ter maiores cuidados com a alimentação da criança. Crescer consomeenergia e necessidades calóricas de um recém-nascido, por isso, o estabelecimento de ingestão diária de nutrientes na infância eadolescência vem garantir vida saudável na fase adulta (OLIVEIRA; 2007). A alimentação de uma criança deve ter quantidade,qualidade, frequência e consistência adequada para cada idade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000 apud MAZZUTI; FERRETO,2006). Isso demonstra que a desnutrição é um problema de Saúde Pública, sendo responsável por 40% dos óbitos em criançasmenores de 1 ano (SANTOS, 2015). Conforme as notificações no DATASUS, observou-se 77 óbitos infantis no estado do Paranáinteiro no intervalo dos anos de janeiro de 2006 a dezembro de 2016. O maior número de falecimentos ocorreu no ano de 2006com um total de 20 óbitos. A região Leste do Paraná, que abrange cidades como Curitiba e Ponta Grossa, é o local que mais severificou mortalidade infantil, com uma quantidade de 12 crianças no total. Já as regiões Norte, Oeste e Noroeste, tiveram 4 e 2mortes respectivamente no mesmo ano. Nos anos conseguintes, o número de mortes foi diminuindo até 2013 com apenas 3óbitos, mantendo-se inalterado até o ano de 2014. Em 2016, último ano analisado, houve um total de 8 mortes, sendo 2 noLeste, 2 no Norte, 4 no Oeste e nenhuma no Noroeste. Ao fim da análise, conclui-se que a maior região com óbitos infantisrelacionado à desnutrição, é a região do Leste Paranaense, contendo 44% dos óbitos totais (77). Baseado nesses fatos, pode-secitar o Programa Leite das Crianças, criado pelo governo do Paraná que visa atender crianças de 03 meses a 3 anos e possuicomo objetivo combater a desnutrição infantil. Esse projeto consiste na distribuição gratuita de um litro de leite por dia,enriquecido com vitaminas A, D e ferro, para famílias que possuem renda per capita menor que meio salário mínimo, sendo queesse programa foi instalado em 2006 (Secretaria da Agricultura e Abastecimento, 2006). Além dessa prática, o programa estimulaa agricultura familiar gerando mais empregos. As crianças atendidas pelo Programa são avaliadas uma vez por mês nas UBS(Unidades Básicas de Saúde) com análise do peso, que analisa o peso, altura e parâmetros físicos que determinam odesenvolvimento nutricional de cada criança (SANTOS, 2015), evidencia-se, portanto que para a redução da desnutrição, é desuma importância a segurança alimentar. Quando conceituamos segurança alimentar e nutricional, não é limitada a ideia deacesso aos alimentos simplesmente, mas vincula-se a esta condição a necessidade de que os alimentos sejam de qualidade. Oinício da desnutrição normalmente ocorre entre o quarto e o sexto mês de vida da criança, quando a transição de alimentoscomplementares pode ser inadequada em qualidade e quantidade, além de expor as crianças às infecções, especialmente asdiarreias, aumentando ainda mais a vulnerabilidade destes grupos etários (PEREIRA; et al 2017). Conclusão: Conclui-se que o número de óbitos infantis resultantes da desnutrição no Paraná, no período de 2006 a 2016, foi
reduzido ao longo dos anos estudados. Este índice pode ser relacionado com a implantação do programa Leite das Crianças,que atenuou as taxas de mortalidade infantil relacionadas à desnutrição no Paraná.
ReferênciasDATASUS, Ministério da Saúde. Mortalidade Infantil devido a desnutrição no Paraná de 2006 a 2016, 2019. FRANÇA, E. et al. Associação entre fatores sócio-econômicos e mortalidade infantil por diarréia, pneumonia e desnutrição emregião metropolitana do Sudeste do Brasil: um estudo caso-controle. Grupo de Pesquisas em Epidemiologia, Departamentode Medicina Preventiva e Social, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, V 17, N 6, 2001.MAZZUTTI, E.; FERRETO, L. E. A desnutrição e o consumo alimentar das crianças do bairro São Francisco do município deSalto do Lontra-PR. Revista Varia Scientia, vol. 06, n. 11, p. 11-31, 2006.MÉDICOS SEM FRONTEIRAS - MSF. Atividades Médicas: Desnutrição. Janeiro de 2018.OLIVEIRA F. B. C, et al. Alimentação no Desenvolvimento da Criança, Secretaria do Estado de fazenda do Rio de Janeiro, Riode Janeiro, 2007PEREIRA, I. F. S. et al. Estado nutricional de menores de 5 anos de idade no Brasil: evidências da polarização epidemiológicanutricional. Ciência & Saúde Coletiva, V 22, N 10, p. 3341-3352, 2017.SANTOS, L. A. Desnutrição infantil ou baixo peso, UFPR. Jacarezinho, 2015. Secretaria da Agricultura e Abastecimento. Programa Leite das Crianças: Apresentação. Curitiba, 2006.SILVA, E. T. Desnutrição e fome: consequência da pobreza. Faculdade de Educação e Meio Ambiente FAEMA, Ariquemes -RO, 2015.
RELAÇÃO DO HPV COM O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: FORMAS DE PREVENÇÃO
1JULIANA DA SILVA VIGO, 2TATIANE SILVA CASTELLINI, 3ANNE GABRIELLA PACITO MONTEIRO, 4HELOYSE NATHELLYRODRIGUES DUTRA, 5DAIANE CORTEZ RAIMONDI
1Discente integrante do PIC Unipar1Acadêmica do Curso de Enfermagem, integrante do PIC UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem, integrante do PIC UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem, integrante do PIC UNIPAR4Docente do Curso de Enfermagem, orientadora do PIC UNIPAR
Introdução: O Papiloma Vírus Humano HPV é um vírus que infecta as células da mucosa e da pele, podendo causardiferentes tipos de lesões, a mais comum é a verruga genital, conhecida como condiloma acuminado (PINHEIRO et al., 2013). OHPV é a infecção sexualmente transmissível (IST) mais frequente no Brasil e no mundo, estima-se que 9 a 10 milhões depessoas estão infectadas no Brasil e que ocorra 700 mil novos casos por ano. Estudos destacam ainda que 75 a 80% dapopulação está ou será acometida por pelo menos um dos tipos do HPV durante sua vida (ABREU et al., 2018). Salienta-se quea infecção genital pelo HPV está presente em diferentes grupos etários, depois de instalada pode estacionar, regredir outransformar em displasias ou carcinomas devido a existência de mais de 200 tipos do HPV, no qual alguns possuem potencialoncogênico (PINHEIRO et al., 2013).Objetivos: Destacar a relação do vírus HPV com o câncer de colo uterino e as medidas de prevenção da doença.Desenvolvimento: O câncer do colo do útero possui alta taxa de morbimortalidade na população feminina, no entanto, é um dostipos de câncer que tem maior potencial para prevenção e cura quando precocemente diagnosticado (INCA, 2016). Dentre osfatores de risco para a doença destaca-se o HPV, múltiplos parceiros sexuais, início de vida sexual precoce, tabagismo, usoprolongado de pílulas anticoncepcionais, condição socioeconômica entre outros (CIRINO; NICHIATA; BORGES, 2010). Cabemencionar que o fato da mulher possuir HPV não quer dizer, necessariamente que terá o desenvolvimento do câncer do colo doútero, pois a maioria das infecções pelo HPV não são oncogênicas e regridem sem tratamento, no qual menos de 1% dasmulheres infectadas pelo HPV desenvolvem o câncer do colo do útero, no entanto, atualmente foi constatado que mulheres quepossuem câncer de colo do útero também estão infectadas pelo HPV, sendo este um fator necessário para o desenvolvimento dadoença (SÃO PAULO, 2008). Diante do exposto, é válido salientar que a prevenção contra o câncer do colo do útero é realizadade modo primário através da vacina contra o HPV, sendo o Brasil um dos países que possui o maior número de vacinasofertadas pela rede pública, no qual em 2014 esta vacina foi incluída e atualmente está disponível para meninas de 9 a 14 anos epara os meninos de 11 a 14 anos (VIEGAS et al, 2019). Além da sensibilização da comunidade sobre os fatores de risco dadoença e o incentivo a práticas sexuais seguras, como medida de prevenção secundária destaca-se a realização do examecitopatológico do colo uterino que permite a identificação de células sugestivas de pré-invasão até lesões malignas, através decélulas cervicais esfoliadas nas lâminas e sua coloração. Este exame é preconizado para as mulheres de faixa etária entre 25 a64 anos que já iniciaram a atividade sexual, com mais atenção em mulheres entre 45 e 49 anos pois é a faixa etária quecorresponde ao pico de lesões precursoras e de mortalidade (INCA, 2016). Salienta-se que o exame citopatológico possibilitatambém a detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), sendo uma oportunidade de tratamento e conscientizaçãosobre a necessidade de mudanças de hábitos e práticas sexuais seguras (BARBEIRO et al, 2009). Por fim, destaca-se aimportância dos profissionais atuantes na atenção primária à saúde, principalmente o profissional enfermeiro responsável emplanejar e desenvolver juntamente com a equipe de saúde estratégias para informar e esclarecer a população sobre a doença,método de rastreamento do câncer do colo do útero, identificação da população feminina na faixa etária prioritária, identificaçãode mulheres com risco aumentado, convocação para exame, realização da coleta da citologia, identificação de faltosas ereconvocação, recebimento dos laudos, identificação das mulheres com resultados positivos ao rastreamento para vigilância docaso, orientação e encaminhamento das mulheres para unidade secundária, avaliação da cobertura de citologia na área,planejamento e execução de ações na área sob responsabilidade sanitária da equipe, voltadas para a melhoria da cobertura doexame (INCA, 2016). Conclusão: Pode-se concluir que a prevenção do HPV é fundamental para prevenção e redução dos casos de câncer do colouterino, sendo assim necessário a conscientização da população sobre a doença, bem como a sensibilização para imunizaçãocontra HPV, prevenção de fatores de risco e realização periodicamente do exame citopatológico do colo uterino a fim deidentificar precocemente a doença.
ReferênciasMery Natali Silva et al. Conhecimento e percepção sobre o HPV na população com mais de 18 anos da cidade de Ipatinga, MG,Brasil. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2018, vol.23, n.3, pp.849-860.BARBEIRO, Fernanda Morena dos Santos et al. Conhecimentos e práticas das mulheres acerca do exame Papanicolau eprevenção do câncer cérvico-uterino. Rev. de Pesq.: cuidado é fundamental Online 2009. set/dez. 1(2):414-422.CIRINO, Ferla Maria Simas Bastos; NICHIATA, Lúcia Yasuko Izumi; BORGES, Ana Luiza Vilela . Conhecimento, atitude epráticas na prevenção do câncer de colo uterino e HPV em adolescentes.INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Diretrizes brasileiras, para o rastreamento do câncer docolo do útero. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: INCA, 2016.INCA. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva. ABC do câncer: abordagens básicas para o controle docâncer. Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Câncer, Coordenação de Ensino Serviço de Educação e Informação Técnico-Científica. Rio de Janeiro: INCA, 2017.PINHEIRO, Mironeide Matos et al. HVP e o desenvolvimento de neoplasias: uma revisão integrativa de literatura. Rev. Ciênc.Saúde v.15, n. 1, p. 19-27, jan-jun, 2013.SÃO PAULO. Programa Municipal de DST/Aids de São Paulo Setor de Assistência Núcleo de Doenças SexualmenteTransmissíveis. Diretrizes para o diagnóstico e tratamento do HPV na rede municipal especializada em DST/AIDS-SM/SP.Segunda edição. Prefeitura Municipal de São Paulo; Agosto, 2008.VIEGAS, Selma Maria da Fonseca et al. A vacinação e o saber do adolescente: educação em saúde e ações para aimunoprevenção. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 24, n. 2, p. 351-360, Feb. 2019.
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM AUTISMO: UMA VISÃO
1GABRIELA ZANUTO DE LIMA, 2HELENA CAROLINE DA SILVA, 3HELOISA GARCIA FRANCOZO, 4LIBERA GARCIAFONTANA, 5CARLA ROSEANE ZANFRILLI, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O autismo consiste em um distúrbio de desenvolvimento, também conhecido como Transtorno do Espectro Autista(TEA) e é caracterizado pela dificuldade na linguagem falada e interação social (SANTAʼANNA; BARBOSA; BRUM; 2017).Segundo, SOUZA et al (2017), alguns autores consideram a etiologia do TEA desconhecida, outros autores, porém, acreditamque seja multifatorial, associada a fatores genéticos e neurobiológicos. O Transtorno do Espectro Autista tem uma prevalênciaquatro vezes maior no gênero masculino, se comparado ao feminino. No entanto, esse último gênero, tende a ser mais afetado,apresentando maior comprometimento cognitivo. Em ambos os gêneros, o Transtorno do Espectro Autista está presente desde onascimento, manifestando-se até o terceiro ano de vida. O autismo se caracteriza por alterações nos padrões decomportamento, que se apresentam restritos e repetitivos com diferentes níveis de gravidade, causando prejuízos nas interaçõessociais recíprocas, desvios de comunicação e padrões comportamentais limitados, estereotipados. (AMARAL et al., 2012). Destemodo, Amaral, Portilho e Mendes (2011), aborda a importância de estabelecer um vínculo entre paciente, ambiente deatendimento odontológico, e principalmente, desenvolver a segurança como o cirurgião dentista. Condicionando assim, opaciente a familiarizarem-se com os equipamentos e os materiais presentes no consultório, bem como odores, sabores, cores eruídos. Visto que, devido à forma em que o autismo se manifesta a interação acima citada, passa a ser primordial para aexecução do tratamento odontológico de modo eficaz.Objetivo: Realizar um levantamento bibliográfico acerca do atendimento odontológico em crianças com Transtorno do EspectroAutista (TEA). Desenvolvimento: O termo autismo vem do grego autos e denota o comportamento de voltar-se para si mesmo.(AMARAL et al., 2012). SANTAʼANNA, BARBOSA, BRUM (2017) define o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) como umasíndrome caracterizada, de modo principal, pela dificuldade de interação social e também, na linguagem falada. Portanto, acriança com autismo necessita de cuidados específicos, devido a sua condição. Deste modo, um paciente com Transtorno doEspectro Autismo necessita de uma equipe multidisciplinar para ajudá-lo. Consequentemente, o tratamento odontológico de umacriança com autismo deve ser feito, também, de modo multidisciplinar. A confiança deve ser estabelecida entre ambas as partesenvolvidas, e a dedicação e conhecimento específico, por parte do dentista, é imprescindível. As formas de abordagenspsicológicas do paciente autista são as mesmas usadas na Odontopediatria como: dizer-mostrar-fazer, distraçãodessensibilizacão, controle de voz, reforço positivo ou recompensa e modelação (AMARAL, et al 2012). Além de abordagenspsicológicas, é ressaltada a importância de realizar uma anamnese minuciosa, a fim de conhecer as peculiaridades das ações decada paciente. Outro ponto relevante é a duração do tratamento odontológico, onde o dentista deve optar em tratamentos curtos.Por isso, orientações sobre técnicas de higiene bucal, bem como, em medidas preventivas, devem ser associadas aoatendimento do autista. É importante ressaltar a necessidade de uma equipe multidisciplinar no atendimento do TEA, para quehaja uma abordagem humanizada e capacitada, pressupondo a terapêutica (LEITE; CURADO; VIEIRA; 2018). No entanto,Andrade e Eleutéio (2016), apresentam situações onde o tratamento odontológico ambulatorial não fora sucedido, necessitandoassim ser realizado por meio da indução da anestesia geral. Ao recorrer a este método, o cirurgião dentista deverá observar oestado físico pré-operatório do paciente, devendo ser utilizada a avaliação formulada pela sociedade americana deanestesiologistas. Em casos onde o paciente apresenta febre, gripe, resfriado, bronquite asmática ou insuficiência cardíacadescompensada, a anestesia geral é contraindicada, deste modo, o profissional deve estar atento às alterações que o pacienteapresentar.Conclusão: Abstraídos os dados e explorada a concepção científica dos meios de atendimentos odontológicos, acredita-se queao associar técnicas e conhecimentos teóricos acerca da TEA, haverá uma melhoria no atendimento odontológico, podendotornar mais ameno o tratamento, uma vez que, habituados a situação, o cirurgião dentista, juntamente com sua equipe poderádesenvolver um plano de intervenção sucedido.
ReferênciasAMARAL, Cristhiane Olivia Ferreira et al. Paciente autista: métodos e estratégias de condicionamento e adaptação para oatendimento odontológico. Archives of Oral Research, v. 8, n. 2, 2012.AMARAL, Lais David; PORTILHO, Jorge Alberto Cordón; MENDES, Silvia Carolina Teixeira. Estratégias de acolhimento econdicionamento do paciente autista na Saúde Bucal Coletiva. Tempus actas de saúde coletiva, v. 5, n. 3, p. 105-114, 2011.ANDRADE, Ana Paula Paiva; ELEUTÉIO, Adriana Silveira de Lima. Pacientes portadores de necessidades especiais: abordagemodontológica e anestesia geral. Revista Brasileira de Odontologia, v. 72, n. 1/2, p. 66, 2016.LEITE, Raíssa de Oliveira; CURADO, Marcelo de Morais; VIEIRA, Letícia Diniz Santos. Abordagem do paciente TEA na clínicaodontológica. Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2018.SANTʼANNA, Luanne França da Costa; BARBOSA, Carla Cristina Neves; BRUM, Sileno Corrêa. Atenção à saúde bucal dopaciente autista. Revista Pró-UniverSUS, v. 8, n. 1, 2017.SOUZA, Tathiana do Nascimento et al. Atendimento odontológico em uma criança com transtorno do espectro autista: relato decaso. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo, v. 29, n. 2, p. 191-197, 2017.
FATORES MOTIVACIONAIS PARA O ALEITAMENTO MATERNO NA VISÃO DAS GESTANTES
1SUELLEN PESSETTI, 2ALINE MARA MARTINS OTTOBELI, 3MARLI OLIVEIRA DE PAULA, 4TAINARA NOTH JOB DA SILVA,5GESSICA TUANI TEIXEIRA, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão5Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: O aleitamento materno é o único alimento natural e ideal para o recém-nascido, capaz de repercutir no seu estadonutricional, cognitivo e emocional, fortalecendo o vínculo entre o binômio mãe-filho (ORSO; MAZZETTO; SIQUEIRA, 2016).Segundo Silva et al (2018), no Brasil 57,3% das crianças receberam AM nos dois primeiros anos de vida, sendo que, apenas42,9% receberam AME até os seis meses. Enfatiza-se a importância da equipe de enfermagem, tanto no pré-natal como nopuerpério, principalmente ao considerar que mulheres com baixo nível de confiança no AM apresentem 3,1 vezes maior risco eminterromper a amamentação (RODRIGUES et al., 2014).Objetivo: Identificar os principais fatores motivacionais para o aleitamento materno.Metodologia: Trata-se de pesquisa de campo, do tipo exploratória-descritiva, de caráter quantitativo, longitudinal, realizada emoito Estratégias de Saúde da Família no Sudoeste do Paraná. Participaram da pesquisa gestantes com idade gestacionalsuperior a 28 semanas entre maio a agosto de 2019. Os dados foram coletados através de questionário formulado pelos própriosautores. Posterior a coleta de dados, as informações foram compiladas do Excel 2010 para o programa de análise estatísticoStatical Productand Service Solution (SPSS) versão 21.0, após a pesquisa ser aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa comSeres Humanos através do parecer 3.291.332.Resultados: No que tange sobre os fatores motivacionais para o aleitamento materno, 87,5% das gestantes pensaram emamamentar durante a gravidez, e 56,3% concordam muitíssimo que amamentar ajuda na perda de peso. De acordo com o relatodo pai quanto o aleitamento materno, 70,0% deles concordam muitíssimo, enquanto que 81,3% das mães relataram desejo deamamentar apesar de sacrifícios. Sobre o acompanhamento paterno no pré-natal, 45,0% não o fizeram, sendo que 95,0% delespossuem atividades laborais neste período, em contrapartida 90,0% afirmaram que amamentar é um ato de proteção para com acriança, 95,0% relatou que enquanto a criança for amamentada será plenamente feliz e 73,8% afirmaram saber o que é colostro.No que se refere ao aleitamento, 85,0% das mães concordam que amamentar estimula a produção de leite, ao passo queapenas 37,5% concordam moderadamente que este ato reduz os riscos de hemorragias pós-parto. Verificou-se que 97,5% dasgestantes concordam muitíssimo que a amamentação lhes possibilitará estar mais próxima de seu filho e 78,8% delas alegamque viverão a maternidade de forma plena, se amamentarem. Quando questionadas sobre as informações recebidas pelosprofissionais de saúde, 41,3% relatam satisfação e 77,5% alegam que sabem que podem recorrer aos profissionais de saúde.Quando perguntadas se o leite materno irá proporcionar água em quantidade suficiente e auxiliar na digestão, verificou-se 76,3%e 81,3%, respectivamente. Ainda, 93,3% da amostra relatou que o leite materno fornecerá mais nutrientes do que os artificiais àcriança e para 91,0% delas, irá proteger mãe e filho de doenças. De acordo com 92,5% das respostas maternas, as criançasamamentadas com leite materno tem melhor desenvolvimento e 70,0% delas acreditam que tal atitude contribuirá para o bemestar da família. No que tange o questionamento sobre algum acontecimento que a impedisse de amamentar, 67,5% referiamconhecer outras alternativas.Discussão: Os dados evidenciaram que a grande maioria das gestantes pensaram em amamentar durante a gravidez, o que vaide encontro com estudo de Amaral et al. (2015), a vontade em amamentar é primordial, influenciando diretamente no puerpério.Na presente pesquisa a maioria das gestantes afirmaram que irão amamentar seu filho apensar de algum sacrifício, corroborandocom estudo de Rocha et al. (2018) onde puérperas relatam que apesar das dores no peito, de seus sacrifícios sabem que oaleitamento materno traz muitas vantagens para a criança aumentando a adesão ao aleitamento materno. Em relação a presençado pai nas consultas pré-natais, Miura et al. (2018), mostra resultados que vão de encontro com a pesquisa, quando grande partedos pais não acompanham as gestantes pelos horários conflitantes com o trabalho. Neste sentido salienta-se a importância daparticipação paterna fonte de segurança e apoio emocional a mulher. Quanto a amamentação, a grande maioria das gestantesconcordam que ocorre estimulação da produção de leite, indo de encontro com as recomendações do Ministério da Saúde(BRASIL, 2015). Quanto as informações repassadas pelos profissionais de saúde acerca do aleitamento materno, Orso, Mazetto
e Siqueira (2016) apontam relatos que divergem do presente estudo, onde a maioria das mulheres receberam orientações sobreamamentação durante as consultas de pré-natal. Neste sentido, destaca-se a participação do profissional enfermeiro comofundamental para diminuir os índices de desmame precoce.Conclusão: A maioria das gestantes sentem-se bastante motivadas para o aleitamento materno, fator positivo que fortalece ovínculo mãe-filho, traz vantagens para ambos, além da praticidade e o menor custo. Salienta-se a importância do enfermeiroatuando como gestor e facilitador no incentivo ao aleitamento materno.
ReferênciasAMARAL, L. J. X. et al. Fatores que influenciam na interrupção do aleitamento materno exclusivo em nutrizes. Rev. Gaúcha deEnfermagem, Natal, v. 36, [S/I], p. 127-34, [S/I]. 2015.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Caderno de Atenção Básica n.23. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 184 p.MIURA, P. O. et al. A participação do pai no pré-natal: experiência de companheiros de adolescentes grávidas. GEPNEWS,Maceió, v. 2, n. 2, p. 299-203, abr/jun. 2019. ORSO, L. F; MAZZETTO, F. M. C; SIQUEIRA, F. P. C. Percepção de mulheres quanto ao cenário de cuidado em saúde napromoção do aleitamento materno. Rev. Recien, São Paulo, v. 6, n. 17, p. 3-12, jul. 2016.ROCHA, G. P. et al. Condicionantes da amamentação exclusiva na perspectiva materna. Caderno Saúde Pública, Bahia, v. 34,n. 6, p. 1-13, [S/I]. 2018.SILVA, M. F. F. S. et al. Autoeficácia em amamentação e fatores interligados. Rev. Rene, [S.I], [S.I], [S.I], dezembro. 2018.RODRIGUES, A. P. et al. Fatores do pré-natal e do puerpério que interferem na autoeficácia em amamentação. Escola AnnaNery Revista de Enfermagem, [S.I] v. 18, n. 2, p. 257-261, abril/jun. 2014.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
1ALEX MARTINS DO NASCIMENTO, 2ALINE SAYURI MORITA, 3NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA
1Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: A nobreza da educação em saúde determina a prevenção aos agravos de saúde da população com foco namelhoria das condições de vida, contribuindo para a independência do indivíduo em reconhecer e utilizar os serviços de formaadequada (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2004). Roncalli et al (2017) destaca que as unidades de pronto atendimento que deveriamatender casos de urgência e emergência acabam sendo um ponto de referência para todo tipo de atendimento pelo fato de serrápido, isso ocasiona uma lotação pela população Objetivo: Evidenciar a educação em saúde dentro dos serviços de urgência e emergênciaDesenvolvimento: Educação em saúde está diretamente relacionada ao ensino da população para que a mesma seja capaz deoptar por mudanças no estilo de vida, nas atitudes e busca correta de atendimento, ampliando a prevenção em saúde de modoque o indivíduo e a coletividade cheguem a um padrão eficaz de saúde (OLIVEIRA; GONÇALVES, 2004). Para a enfermagemque trabalha no setor de emergência é importante investir no recurso humano assegurando educação continuada de qualidadepara toda a equipe que atua nos diferentes locais com foco na promoção e prevenção em saúde (SOUSA; SANTOS; OLIVEIRA ,2011). Também, Filho et al. (2013), afirmam que os curso direcionados a saúde em especial a enfermagem tem deficiência emalgumas áreas em especial a de urgência e emergência já que o intuito das universidades é formar enfermeiros generalistas,neste contexto a educação continuada visa atender as particularidades do mercado tecnológico que tende a evoluir todos osdias fazendo-se necessário a capacitação de recursos humanos. Gazzineli (2005) propõe a educação em saúde como umaintervenção social que tem como fundamento educar à população para a saúde, a intenção de se educar é para estabelecer oconhecimento e minimizar a precariedade ao qual o paciente se sujeita quando procura serviços com pouco preparo. SegundoFILHO et al. (2013) durante a realização do processo de trabalho, os tópicos que poderão ser usados e discutidos na educaçãopermanente despontam, direcionando as capacitações. Ressaltam ainda os autores a importância do envolvimento doprofissional e da instituição, a qual deverá fornecer condições para que se efetivem as diferentes metodologias realizadas naeducação permanente. Neste contexto, Silva et al. (2018) enfatizam a necessidade dos gestores se conscientizarem daimportância da educação permanente nos serviços, uma vez que há falta de profissionais capacitados na área emergência. Conclusão: Percebe-se no estudo que a educação permanente voltada para o profissional de enfermagem é de grandemagnitude, pois através dela há um preparo dos profissionais que atuam na emergência que proporcionem atendimento comconhecimento.
ReferênciasFILHO, Luiz Alves Morais; MARINHO, Cristiane da Silva Ramos; BACKES, Vânia Marli Schubert Backes; MARTINI, JussaraGue. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: UMA ESTRATÉGIA PARA ARTICULAR ENSINO E SERVIÇO Revista da Redede Enfermagem do Nordeste, vol. 14, núm. 5, 2013, pp. 1050-1060 Universidade Federal do Ceará Fortaleza, Brasil. Disponívelem: acesso em 01/08/2019 as 20:32 GAZZINELLI, Maria Flavia; GAZZINELLI, Andréa; REIS, Dener Carlos; PENNA, Cláudia Maria de Mattos . CONHECIMENTO,REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E EXPERIÊNCIAS DA DOENÇA, Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 21(1):200-206, jan-fev,2005. Disponível em: encurtador.com.br/krJR8 Acesso em 19/08/2019 as 19:41 OLIVEIRA, Hadelândia Milon; GONCALVES, Maria Jacirema Ferreira. EDUCAÇÃO EM SAÚDE: uma experiênciatransformadora. Rev. bras. enferm.[online]. 2004, vol.57, n.6, pp.761-763. Disponível em: encurtador.com.br/txP35 Acesso em:01/08/2019 as 20:22 ROLIM Leonardo Barbosa; CRUZ Rachel de Sá Barreto Luna Callou; Karla SAMPAIO Jimena Araújo de Jesus. PARTICIPAÇÃOPOPULAR E O CONTROLE SOCIAL COMO DIRETRIZ DO SUS: uma revisão narrativa. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v.37, n. 96, p. 139-147, jan./mar. 2013 acesso em: 01/08/2019 as 20:10 RONCALLI, Aline Alve; OLIVEIRA, Danielle Nogueira; SILVA Izabella Cristina Melo; BRITO, Robson Figueiredo; VIEGAS,Selma Maria da Fonseca. PROTOCOLO DE MANCHESTER E POPULAÇÃO USUÁRIA NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: visãodo enfermeiro. Rev. baiana enferm. (2017); 31(2), Disponível em: acesso em 01/08/2019 as 20:54 SOUSA, Francisco Paulo; Alves Dias, Andressa; dos Santos Oliveira, Ana Paula EDUCAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DEURGÊNCIA E EMERGÊNCIA. Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde, vol. 15, núm. 3, 2011, pp. 137-
EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE L-CITRULINA SOBRE O DESEMPENHO FÍSICO
1JHENIFFER BIANCA THOME PEREIRA, 2ANA LUIZA NOGUEIRA, 3LUCAS HENRIQUE DA CUNHA, 4THIAGO HENRIQUESILVA, 5GABRIELA VIEIRA CANUTO, 6ALAN PABLO GRALA
1ACADÊMICO PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A L-citrulina é um dos três aminoácidos envolvidos no ciclo da ureia, juntamente com a L-arginina e a L-ornitina. Aingestão oral de L-citrulina eleva os níveis plasmáticos de ornitina e arginina, favorece o processo de reciclagem da amônia e ometabolismo do óxido nítrico (NO). Devido ao seu potencial para elevar a disponibilidade de NO, a L-citrulina é comumenteutilizada em condições onde esta molécula é relevante, como exemplo, na disfunção erétil causada pela hipertensão, namanutenção ou melhora da saúde cardiovascular e no desempenho físico (CURIS et al., 2005). Evidências prévias sugerem quea ingestão de L-citrulina pode protelar a fadiga e aprimorar a tolerância ao esforço físico em algumas condições específicas(BESCÓS et al., 2012), entretanto, ainda existe um grande questionamento sobre os reais benefícios do uso deste aminoácidocomo um recurso capaz de potencializar o desempenho físico.Objetivo: Relatar e discutir os potenciais benefícios da suplementação de L-citrulina para o desempenho físico.Desenvolvimento: A L-citrulina é um aminoácido não proteico produzido juntamente com o NO como um dos produtos finais daatividade da enzima óxido nítrico sintase (NOS), podendo também ser encontrado em grande quantidade na melancia (citrullusvulgaris) (TARAZONA-DÍAS et al., 2013). O NO é uma molécula gasosa com múltiplos e complexos papeis em vários sistemasbiológicos, incluindo o aumento da vasodilatação, a captação de glicose e a secreção de insulina (BESCÓS et al., 2012;HICKNER et al., 2006). Àlvares et al. (2011) relatam que o NO é um potente vasodilatador endógeno responsável por alteraçõesno fluxo sanguíneo durante o exercício dinâmico e na recuperação pós-exercício. Assim, tem sido sugerido que uma elevação naprodução de NO poderia aumentar a entrega de oxigênio e nutrientes aos músculos ativos, aprimorando a tolerância ao exercíciofísico e os mecanismos de recuperação (BESCÓS et al., 2012). A L-citrulina ingerida oralmente não sofre a ação das bactérias earginases intestinais, portanto seu catabolismo no intestino e no fígado é limitado, permitindo que uma maior quantidade desseaminoácido seja captado pelos rins e outros tecidos para ser convertido em L-arginina, podendo desta forma participarefetivamente da biossíntese de NO (CURIS et al., 2005; VAN DE POLL et al., 2007). As evidências atuais sobre o potencialergogênico da suplementação com L-citrulina ainda são contraditórias. Como exemplo, Suzuki et al. (2016) observaram que asuplementação de 2.4g/dia de L-citrulina por 7 dias reduziu em 1,5% o tempo para se completar um percurso de 4km de ciclismoem comparação com o placebo. Além deste achado, foi constatado também uma redução na percepção subjetiva de esforçoapós o exercício no grupo suplementado com L-citrulina. Porém, Hickner et al. (2006) relataram que a ingestão oral de L-citrulinana quantidade de 3g/dia (3 horas antes do teste) e 9g/dia (3 x 3g 24 horas antes do teste) reduziu o desempenho no teste emesteira rolante até a exaustão, ou seja, o grupo placebo permaneceu mais tempo em exercício antes da exaustão do que grupossuplementados com L-citrulina. Em ambos os estudos os participantes eram jovens e saudáveis, entretanto, a forma deadministração da L-citrulina foi diferente. O estudo de Hickner et al. (2006) utilizou apenas 1 dia de suplementação com dosesmaiores de L-citrulina, já Suzuki et al. (2016) utilizaram 7 dias de suplementação com doses relativamente baixas. Bailey et al.(2015) observaram que a suplementação crônica de L-citrulina (7 dias) na quantidade de 6g/dia proporcionou um aprimoramentona cinética do VO2 e no desempenho geral durante teste de alta intensidade no cicloergômetro. Também com resultadofavoráveis, Pérez-Guisado; Jakeman (2010) relatam que a ingestão aguda de 8g de L-citrulina foi capaz de melhorar odesempenho no exercício anaeróbio de alta intensidade e diminuir a dor muscular pós exercício.Conclusão: Ainda pode ser precipitado indicar a suplementação de L-citrulina para a melhora do desempenho físico. Um númerocrescente de evidências aponta para um possível efeito ergogênico e clínico com o uso deste aminoácido, porém, ainda existemvários questionamentos na literatura específica. Fica evidente a necessidade de mais pesquisas visando ampliar o conhecimentosobre o aminoácido L-citrulina. Ainda pode-se considerar escassa a quantidade de estudos com esse aminoácido em diferentesfaixas etárias e estados de saúde, assim como seu uso em protocolos de treinamento mais condizentes com a prática cotidianatanto de atletas quanto de praticantes de exercício físicos.
ReferênciasÁLVARES, T. S. et al. L-arginine as a potential ergogenic aid in healthy subjects. Sports Medicine. v.41, n.3, p.233-248,Mar.2011.BAILEY, S. J. et al. L-citrulline supplementation improves O2 uptake kinetics and high intensity exercise performance in humans. JAppl Physiol. v.119, n.4, p.385-395, Ago.2015.BESCÓS, R. et al. The effect of nitric-oxide-related supplements on human performance. Sports Medicine. v.42, n.2, p.99-117,Fev.2012.CURIS, E. et al. Almost all about citrulline in mammals. Amino Acids. v.29, n.3, p.177-205, Nov.2005.HICKNER, R. C. et al. L-citrulline reduces time to exhaustion and insulin response to a graded exercise test. Med Sci SportsExerc. v.38, n.4. p.660-666, Abr.2006.PÉREZ-GUISADO, J.; JAKEMAN, P. M. Citrulline malate enhances athletic anaerobic performance and relieves muscle soreness.J Strength Cond Res. v.24, n.5, p.1215-1222, Maio 2010.SUZUKI, T.; MORITA, M.; KOBAYASHI, Y, KAMIMURA, A. Oral L-citrulline supplementation enhances cycling time trialperformance in healthy trained men: double-blind randomized placebo-controlled 2-way crossover study. J Int Soc Sports Nutr.v.13, n.6, p.1-8, Fev.2016.TARAZONA-DíAS, M. P. et al. Watermelon juice: potential functional drink for sore muscle relief in athletes. J Agric Food Chem.v.61, n.31, p.7522-7528, Ago.2013.VAN DE POLL, M. C. G. et al. Interorgan amino acid exchange in humans: consequences for arginine and citrulline metabolism.Am J Clin Nutr. v.85, n.1, p.167-172, Jan.2007.
PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DO APARELHO DE ALTA FREQUÊNCIA (AF) E SUA APLICAÇÃO EM PÓS-OPERATÓRIO DE CIRÚRGIAS PLÁSTICAS
1JESSYKA ANDRESSA MARQUES DE ASSIS, 2ISABEL FERNANDES DE SOUSA SANTOS, 3VITORIA TRIVILIN DE FREITAS,4RAQUEL COSTA MACHADO
1Acadêmica do Curso de Estética e Cosmética PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: Indicado para procedimentos de limpeza de pele, acne, queda capilar, cicatrização entre outros, o aparelho de altafrequência (AF), é um recurso que produz correntes de alta frequência, alta voltagem e baixa intensidade, sendo geradas porum dispositivo eletrônico que produzem faíscas eletromagnéticas de alta frequência a partir da corrente elétrica, amplamenteutilizado pelos fisioterapeutas e esteticistas através das técnicas de varredura de forma direta (quando o eletrodo cebolinha ficaem contato com a pele) e de faíscamento de forma indireta (quando o eletrodo fulgurador fica milimetricamente afastado da pele)(BORGES, 2012). O gerador de AF apresenta efeito cicatrizante, térmico, analgésico e anti-inflamatório, os quais são importantespara o tratamento de lesões da pele, além de possuir ação bactericida e antisséptica, sendo utilizado em lesões dermatológicasinfectadas por bactérias e fungos (MAUAD, 2003; MARTINS et al., 2012). Para obter-se a ação bactericida o eletrodo (tubos ocosde vidro) deve estar posicionado há alguns milímetros da região acometida, dessa forma, assim que as faíscas saem do eletrodogeram o ozônio (O3), a partir do momento que entra em contato com o ar que está entre o eletrodo e a pele. O O3 por serinstável divide-se rapidamente em oxigênio molecular (O2) e oxigênio atômico (O), quando o O é liberado atua rompendo amembrana dos agentes microbianos, após oxidação, proporcionando o efeito bactericida e antiséptico. Sua aplicação pode durarde três a quinze minutos (dependendo da região) e sua intensidade deve ser a suficiente para causar o faíscamento, de acordocom sua estrutura, os microrganismos são destruídos a partir do momento que ocorre a desnaturação de proteínas com o calorúmido e por oxidação com o calor seco, perdendo sua capacidade de multiplicar-se, podendo ocorrer certa resistência para cadaorganismo (OLIVEIRA; PEREZ 2008; MARTINS et al., 2012). Atualmente a infecção de ferida operatória é motivo depreocupação nos hospitais, podendo ter consequências danosas ao paciente (física e emocional), além de aumentar os custoscom tratamentos (SANTOS et al., 2016). E tratando-se de pós-operatório, a infecção na ferida cirúrgica pode ocorrer, entre 4 a 6dias após o procedimento cirúrgico, podendo também acometer o local até 30 dias após a cirurgia ou até um ano quando utilizarimplante de próteses (SANTOS et al., 2016). Quando o aparelho AF é utilizado em pós-operatório de cirurgias plásticas, tambémauxilia na oxigenação do tecido (MAUAD, 2003).Objetivo: Demonstrar através de uma revisão bibliográfica as propriedades terapêuticas do aparelho de alta frequência, quepode ser utilizado como um recurso no controle de proliferação de microrganismos em feridas cirúrgicas de cirurgias plásticas.Desenvolvimento: Inúmeras bactérias foram identificadas como agente etiológico de diversos tipos de infecções, dentre osprincipais patógenos responsáveis pelas infecções cutâneas, destacam-se as bactérias gram-negativas: Escherichia coli, Proteusmirabilis, Klebsiella pneumoniae e gram-positivas: Streptococcus pyogenes, S. aureus e epidermidis (ANVISA, 2004). Asinfecções causadas por E. coli, S. aureus (39,28% dos casos) e P. aeruginosa no sítio cirúrgico, promovem deiscência completasem evisceração, abscesso, atraso no processo de cicatrização e óbito por choque séptico e até mesmo por pneumonia(SANTOS et al., 2016). Outro micro-organismo também presente nas infecções de feridas cirúrgicas, principalmente em cirurgiasde mamoplastia de aumento é o S. epidermidis, presente em 71% das culturas coletadas da secreção oriundas do ducto mamário(LANGE, 2014). É considerada infecção, quando houver a presença de exsudato purulento na cicatriz, podendo estar associadaà presença de eritema, edema, calor, rubor, deiscência e abscesso (ANVISA, 2004). A cicatrização de feridas consiste em umaperfeita e coordenada cascata de eventos celulares e moleculares que interagem para que ocorra o reparo da injúria tecidual(AZULAY, 2008). Estudo realizado no tratamento de úlcera por pressão, com aplicações diárias do aparelho de AF após 10 dias,houve diminuição da área da lesão, bem como uma melhora na cicatrização das úlceras (KORELO et al., 2013). Outro estudoque avaliou a ação do aparelho de AF e demonstrou resultado significativo, foi sobre o tratamento em verrugas ungueaisvulgares, que após 15 aplicações com frequência de 3 vezes ao dia, a lesão se curou por completo (BARROS; SANTOS;SANTOS, 2007). Quando o aparelho de AF foi empregado para verificar a ação bactericida frente a cepas padrão de S. aureus.As amostras receberam de 10 a 15 minutos por 5 vezes na semana a intensidade de 10mA, resultando em inibição docrescimento bacteriano (MARTINS et al., 2012). Os resultados dessa pesquisa apontam importante ação bactericida do aparelhogerador de AF.
Conclusão: Conclui-se que, o aparelho gerador de AF, pode ser um recurso alternativo e complementar no pós-operatório decirurgias plásticas, pois considerando suas ações terapêuticas (antimicrobiana, anti-inflamatória e cicatrizante) nos indica quequando utilizado de forma apropriada pode auxiliar na recuperação tecidual e cicatricial do tecido lesado, porém mais estudosdevem ser realizados a fim de investigar e comprovar sua ação associada com algum produto além de sua ação isolada.
ReferênciasAGÊNCIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Manual de microbiologia clínica para o controle de infecção em serviços desaúde. Edição comemorativa para o IX congresso brasileiro de controle de infecção e epidemiologia hospitalar de Salvador. 2004.AZULAY, R. D. Dermatologia. Revisada e atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 5.ed., 2008.BARROS, V. C. C. de; SANTOS, V. N. da S.; SANTOS, F. B. dos. Tratamento de verruga ungueal causada por HPV com o usodo gerador de alta frequência: relato de caso. Revista de Especialização em Fisioterapia. v.1, n.2, 2007.BORGES, F. S. Dermato-Funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. São Paulo: Phorte; 2.ed., 2012.LANGE, A. Fisioterapia dermatofuncional aplicada à cirurgia plástica. Curitiba: Vitoria Gráfica & Editora, 2014.KORELO, R. I. G.; OLIVEIRA, J. J. JARSCHEL de; SOUZA, R. S. A.; HULLEK, R. de F.; FERNANDES, L. C. Gerador de altafrequência como recurso para tratamento de úlceras por pressão: estudo piloto. Fisioterapia Movimento, Curitiba, v.26, n.4,p.715-724, 2013.MARTINS, A.; SILVA, J. T.; GRACIOLA, L.; FRÉZ, A. R.; RUARO, J. A.; MARQUETTI, M. da G. K. Efeito bactericida do geradorde alta frequência na cultura de Staphylococcus aureus. Fisioter. Pesq. v.19, n.2, p.153-157, 2012.MAUAD, R. Estética e cirurgia plástica: tratamento no pré e pós-operatório. 2.ed. São Paulo: Senac, 2003.OLIVEIRA, A. L.; PEREZ, E. Estética Facial: Curso didático de Estética. v.2, São Caetano do Sul, SP. Yendis, 2008.
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O USO DE PLANTAS MEDICINAIS: UM ESTUDO DE REVISÃO
1GLEICY KELLY THIEMY SATO, 2JOSE PAULO GUEDES, 3IRINEIA PAULINA BARETTA
1Acadêmica do Curso de Educação Fisica/UNIPAR - PIC1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Docente do Programa de Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterapicos na Atenção Basica
Introdução: As plantas medicinais são utilizadas como uma das formas mais antiga de cura diz Bruning, Mosegui e Vianna(2011). Destacam que o uso das plantas foi reduzido, entre 1940 e 1950, com a industrialização. Em 1982 houve um destaque naPolitica de utilização de plantas medicinais no SUS, com o Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais da Central deMedicamentos (CEME) e em 2006 foi publicada a Política Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico (Decreto nº 5.813/2006),partindo para um uso consciente destes meios naturais, cura e consciência sobre a natureza fazem parte desta politica atual.Objetivo: Discorrer sobre a implantação de plantas medicinais e fitoterapicos no sistema unico de saúde.Desenvolvimento: A indústria farmacêutica tem se tornado cada vez mais popular devido ao mercado capitalista que buscaatender uma sociedade consumista que induz a considerar os fitoterápicos e plantas medicinais sem efeitos consideráveis.Durante o século de colonização o uso de plantas era somente dos índios e pajés, e a população procurava seus medicamentosna Europa, e ainda há este apelo pelos remédios (BRUNIG; MOSEGUI E VIANNA 2011). O SUS tem como objetivo programar ouso adequado e sustentável deste recurso natural, visando a cadeia produtiva ate mesmo de forma social e ainda possui dozemedicamentos fitoterápicos que são disponibilizados no tratamento de queimaduras, gastrite, ulceras, ginecológico, artrite eosteoartrite. Todos estes fitoterápicos são testados pela Anvisa e às Vigilâncias Sanitárias Municipais e Estaduais, dadosfornecidos pelo Ministério Da Saúde (2019). Segundo Ministério da Saúde e PNPIC, o Brasil tem uma ótima base em plantas e aintenção é desenvolver formas de conhecimento e estratégias de comunicação e promover o uso racional respeitando assim abiodiversidade. A Política Nacional De Plantas Medicinais e Fitoterápicos possui uma estratégia de aperfeiçoar a cadeia produtivade plantas e produzir ensino junto ao Ministério Da Educação e o MEC. Se faz necessário a inclusão de novos centros depesquisa para atribuir ao programa sobre a sua eficiência e efetividade na solução de problemas relacionados à saúde e atoxicidade de cada planta tanto seu tratamento posterior em caso do indivíduo vir a se intoxicar. O Documento de 192 páginasrelaciona ainda importância de se obter de laudos técnicos avaliando tanto o cultivo como a extração destes materiais danatureza.Conclusão: O presente estudo pode concluir há uma política junto ao ministério da saúde que ainda é sutil e que precisa serdesbravada e posta em prática com todos os recursos que temos disponíveis, é uma área que tende a crescer por meio de suaprópria eficácia nas esferas da saúde e por ser uma alternativa de baixo custo e eficaz no tratamento a longo prazo.
ReferênciasBRASIL. [Ministério Da Saúde] Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, Brasília, DF: 2016. Disponivel em:file:///C:/Users/user/Downloads/politica_programa_nacional_plantas_medicinais_fitoterapicos.pdfBRASIL. [Ministerio da saude] Plantas medicinais e fitoterápicos no SUS, Disponivel em: http://www.saude.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-plantas-medicinais-e-fitoterapicos-ppnpmf/plantas-medicinais-e-fitoterapicos-no-susOLIVEIRA, Beatriz Lírio et al. Cronologia das políticas públicas visando a utilização de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS.Disponivel em: http://publicase.unipampa.edu.br/index.php/siepe/article/view/19530BRUNING, Maria Cecilia Ribeiro; MOSEGUI, Gabriela Bittencourt Gonzalez; VIANNA, Cid Manso de Melo, A utilização dafitoterapia e de plantas medicinais em unidades básicas de saúde nos municípios de Cascavel e Foz do Iguaçu Paraná: a visãodos profissionais de saúde, Cascavel-PR, 06, Jun. 2011. Disponivel em http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n10/17.pdf. Acesso em 21ago. 2019.
DIMENSÃO VERTICAL DE OCLUSÃO E SAÚDE DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO: RELATO DE CASO
1LARISSA GALVAN VALANDRO, 2ARACELLYS MENINO MELO, 3BRUNA LUISA KOCH MONTEIRO, 4JOAO VICTOR LOSS,5RAFAEL CACELANI, 6JANES FRANCIO PISSAIA
1Discente do Curso de Odontologia da UNIPAR1Discente do Curso de Odontologia da UNIPAR2Discente do Curso de Odontologia da UNIPAR3Discente do Curso de Odontologia da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Pacientes usuários de próteses removíveis totais e parciais devem ser orientados a substituir suas próteses apóscinco anos de uso, pois, ultrapassando este período a peça além apresentar alterações de cor, desajustes com a área basal eredução da retenção, apresentam também desgastes dos dentes o que causa redução da dimensão vertical de oclusão (DVO), eisso pode dificultar atividades fisiológicas como mastigação, fonação, deglutição, causar injúrias para a ATM e até mesmo tornara aparência facial envelhecida. O objetivo deste trabalho é demonstrar através de um relato de caso clínico a importância damanutenção da DVO para o desenvolvimento das funções fisiológicas e manutenção da saúde do sistema estomatognático. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 45 anos de idade, usuária de prótese total removível superior e prótese parcialremovível inferior, relatou usar as mesmas próteses desde os 15 anos. Chegou a clínica da Unipar encaminhada pelo seumédico, pois, havia tentado diversos tratamentos para dores de cabeça sem obter sucesso. Além disso queixou-se de doresfaciais e da dificuldade para mastigar os alimentos. Ao exame clínico, foi observado severa perda da DVO e mordida cruzadatanto nos segmentos posteriores quanto anterior, sendo que a prótese total superior não tinha contato algum com osantagonistas, o que tornava impossível a trituração dos alimentos e a manutenção da DVO, sendo assim, foi sugerido asubstituição das próteses. As próteses foram confeccionadas e uma nova DVO foi obtida pela associação dos métodos métrico,fisiológico, fonético e estético. As próteses foram instaladas e já na consulta de proservação após 7 dias a paciente emocionadarelatou que suas dores de cabeça cessaram, e que depois de muitos anos conseguia alimentar-se bem, sem a necessidade decortar em pequenos pedaços mesmo alimentos macios. Após 1 ano de acompanhamento relatou manutenção do conforto com ouso das próteses.Discussão: Para ALEXANDRINO (2013), uma DVO inadequada expõe o paciente a injúrias relacionadas a esta condição, taiscomo danos relacionados a musculatura e mímica facial, mastigação, fonética e estética, envelhecimento precoce ocasionadopelo terço inferior da face encontrar-se reduzido, contato labial excessivo, queilite angular, dentre outros.De acordo com TRENTIN (2016), ao reabilitar um paciente com prótese, a etapa que exige maior atenção durante sua confecçãoé a da determinação da DVO, pois ela interferirá diretamente no resultado final do tratamento. O estabelecimento da correta DVOrepara de maneira harmoniosa a funcionalidade dos músculos inferiores da face, otimizando a aparência facial, restituindo afunção mastigatória e fonética, contribuindo na qualidade de vida do paciente.Conclusão: Contudo, é possível concluir que a devolução da DVO é a chave para a reabilitação das funções naturais e saúde dosistema estomatognático, bem como para melhoria da qualidade de vida da paciente.
ReferênciasALEXANDRINO, L. G. Diferentes métodos de relações intermaxilares no sentido vertical. Universidade Estadual deLondrina, Londrina, 2013.JORGE, Jaqueline Mesquita da Silva, et al.; Associação entre dimensão vertical de oclusão e transtornostemporomandibulares. ClipeOdonto. Araras/SP, V. 8, n.1, p. 44-50, 2016.MUKAI, Márcio Katsuyoshi, et al.; Restabelecimento da dimensão vertical de oclusão por meio de prótese parcialremovível. RPG Rev Pós Grad. São Paulo/SP, v. 17, n. 3, p. 167-72, 2010.SILVA, M.C.V.S., et al.; Fatores correlacionados à etiologia das disfunções temporomandibulares versus reabilitaçõesprotéticas revisão de literatura. Revista Campo do Saber, v. 4, n. 5, out/nov. 2018.TRENTIN, Larissha Mafacioli, et al.; Determinação da dimensão vertical de oclusão em prótese total: revisão de literatura erelato de caso clínico. J Oral Invest, v. 5, n.1, p. 50-60, 2016.
A PRÁTICA DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA VIVENCIADA POR PUÉRPERAS DURANTE O TRABALHO DE PARTO
1RAFAELA DIAS DA SILVA, 2THALIA CAROLINE LEANDRO PASQUALOTTO, 3ANNA VITORIA PINTO DE OLIVEIRAFERREIRA, 4ANA JULIA BARBOZA, 5MARCELA GONCALVES TREVISAN, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão.1Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão.2Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão.3Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão.4Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão.5Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão.
Introdução: A maternidade caracteriza-se como o início de um novo ciclo, em que as mulheres esperam viver grandesexpectativas. Este processo deve ocorrer de forma fisiológica, respeitando suas escolhas, integridade física e mental,sentimentos e sua autonomia (SILVA et al., 2014). Contudo, é válido salientar que, a forma de parir sofreu importantes mudançascom o passar do tempo. Os procedimentos cirúrgicos, a utilização de medicamentos, a presença de profissionais capacitados e atecnologia trouxeram importantes benefícios, ao passo que contribuíram para a desumanização do parto e o aumento daviolência obstétrica (VO) (MOURA et al., 2018).Objetivo: Verificar a prática da violência obstétrica vivenciada por puérperas durante o trabalho de parto num municípioparanaense.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória-descritiva, com abordagem quantitativa, realizada nas Unidadesde Atenção Primária à Saúde (APS) do município de Francisco Beltrão, Paraná. A coleta de dados deu-se entre os meses demaio a julho de 2019 por meio de questionário fechado de avaliação de violência no parto adaptado pelas própriaspesquisadoras. A amostra foi selecionada por conveniência. O instrumento foi aplicado para puérperas com 45 dias pós-partodurante visita domiciliar. Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva através do programa Statistical Package forthe Social Sciences (SPSS) versão 25.0. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer 3.291.378.Salienta-se ainda que, foram preservados todos os preceitos éticos e legais de acordo com a Resolução nº 466/2012.Resultados: A amostra obtida totalizou 78 puérperas. No que condiz com as intervenção e condutas praticadas pelosprofissionais de saúde no trabalho de parto observou-se que, metade das puérperas (50,0%) não entraram em trabalho de parto.Em relação a presença do acompanhante, o cônjuge prevaleceu (53,1%). Dentre as intervenções realizadas durante o trabalhode parto destaca-se: a manobra de Kristeller (32,1%), rompimento artificial da bolsa (30,8%), o uso da ocitocina com (23,1%) e aepisiotomia (14,1%). Quando questionadas se realizaram toques vaginais o número apresentou muito expressivo (35,9%) destes,26,9% foram realizados por vários profissionais. Quando indagadas se podiam ingerir alimentos ou bebidas durante o trabalho departo, 39,7% não foram permitidas a ingerir. Observou-se um elevado número de cesarianas (57,7%), durante o procedimentoidentificou-se que houve a contenção das mãos (44,9%), o recém-nascido foi levado sem o consentimento da mãe (39,7%) e nãohouve o contato direto na primeira hora de vida (42,3%).Discussão: A VO atinge uma em cada quatro mulheres brasileiras, tanto no setor público quanto no setor privado, com váriasintervenções tanto para a mãe quanto para a criança, não respeitando seu consentimento, sua autonomia, integridade física emental (SILVA et al., 2014). Os dados evidenciaram que metade das puérperas não entraram em trabalho de parto. Com relaçãoao uso indiscriminado de cesarianas sem a necessidade, o Ministério da Saúde enfatiza que no Brasil aproximadamente 56% dospartos são cesáreos, e ainda, destaca que apenas 10% destes partos respeitam a autonomia das parturientes (BRASIL, 2016).Da mesma forma, a presença do acompanhante na pesquisa foi expressiva. Sabe-se que, a figura paterna transmitetranquilidade e sua presença é fundamental durante este processo que é composto por várias intervenções (SANTOS et al.,2015). Em relação aos atos cometidos, como uso da ocitocina 31,6% das mulheres na pesquisa Oliveira e colaboradores foramsubmetidas, salienta ainda que, em sua maioria também ocorreu laceração do períneo em que 95,9% das mulheres foramsubmetidas (FERREIRA et al., 2018). No que diz respeito a manobra de Kristeller, corroborando com a pesquisa, estudo dePereira e colaboradores (2016) relata que este procedimento é realizado a fim de acelerar o trabalho de parto, sendo realizadosde forma agressiva e não respeitando o tempo fisiológico. Segundo Pessoa e colaboradores (2016), os toques vaginais foramrealizados em todas as participantes do estudo e por vários profissionais, sem qualquer necessidade e sem o seu consentimento,ele ainda afirma que a conduta justifica-se em decorrência da maternidade ser um campo onde há formação de profissionais desaúde o que implica de forma negativa para que a prática seja tão realizada frequentemente e de forma equivocada, colaborandocom os resultados da pesquisa. De acordo com Gotardo, (2018) menciona que as mulheres perdem sua autonomia e no
momento da cesariana são amarradas e são obrigadas a ver seus filhos de longe, e ainda afirma que estes bebês são levadospara realização de procedimentos e ficam mais de 4 horas longe da mãe, desta forma os estudos se completam representandoas mesmas intervenções.Conclusão: Pode-se concluir que, embora o processo de parir seja algo natural e fisiológico, as mulheres ainda são submetidasa inúmeras práticas intervencionistas no trabalho de parto, que não consideram a sua autonomia e escolhas. Salienta-se aimportância dos profissionais de saúde como educadores, agindo de maneira humanizada, e proporcionando o empoderamentofeminino.
ReferênciasBRASIL. Portaria no 306, de 28 de março de 2016. Aprova as Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação cesariana. DiárioOficial da União, Brasília, 28 de mar. de 2016.FERREIRA, Eula Rayssa Ximenes. et al. Associação entre região do trauma perineal, problemas locais, atividades habituais enecessidades fisiológicas dificultadas. Rev Baiana Enferm, v. 32, p. 1-12, 2018.GOTARDO, Ana Teresa. Parto humanizado, empoderamento feminino e combate à violência: uma análise do documentário Orenascimento do parto. Doc On-line, n. 23, p. 29-45, mar. 2018.MOURA, Rafaela Costa de Medeiros. et al. Cuidados de enfermagem na prevenção da violência obstétrica. Rev Enferm emFoco, Brasília. v. 9, n. 4, p. 60-65, out., 2018.PERREIRA, Jéssica Souza. et al. Violência Obstétrica: Ofensa a Dignidade Humana. Rev Brazilian Journal of Surgery andClinical Research- BJSCR, v. 15, n. 1, p. 103-108, jun./ago., 2016.PESSOA, Lucineide Morais. et al. Conhecimento da puérpera acerca da violência obstétrica. Rev Temas em Saúde, v.16, n. 4,p. 212- 240, 2016.SANTOS, Rafael Cleison Silva; SOUZA, Nádia Ferreira. Violência institucional obstétrica no Brasil: revisão sistemática. RevEstação Científica, Macapá. v. 5, n. 1, p. 57-68, jan./ jun., 2015.SILVA, Michelle Gonçalves. et al. Violência obstétrica na visão de enfermeiras obstetras. Rev Rene, Campinas, v. 15, n. 4, p.720-728, jul./ago., 2014.
CONDUTAS DE PROFISSIONAIS NO CENÁRIO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM DUAS MATERNIDADES DEREFERÊNCIA
1JAQUELINE BRUGALLI, 2DANIELE BEAL ARNAUTS, 3TAINARA NOTH JOB DA SILVA, 4MARCELA GONCALVESTREVISAN, 5GESSICA TUANI TEIXEIRA, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão5Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: Entende-se por violência obstétrica, o procedimento em que não há o consentimento da paciente, onde esteja sendoexposta á violência física, sexual ou psicológica, por meio de uma assistência desumanizada com ações intervencionistas(CARDOSO et al., 2017). Esse tipo de violência é pouco identificado, pelo fato das mulheres possuírem pouca informação sobreo assunto (RODRIGUES et al., 2017). Uma pesquisa realizada no Brasil indica que uma entre quatro mulheres sofre algum tipode violência no parto, sendo elas dieta zero, manobra de Kristeller, tricotomia, entre outras (LEAL, et al., 2018). Acerca disso,percebe-se o pouco conhecimento dos profissionais que atuam nas maternidades sobre os benefícios e malefícios que osprocedimentos realizados trazem para as mulheres.Objetivo: Identificar a percepção de profissionais da área da saúde frente ao cenário da violência obstétrica em duasmaternidades do sudoeste do Paraná.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória-descritiva, com abordagem quantitativa, desenvolvida em ummunicípio do Sudoeste do Paraná entre junho a agosto de 2019. Para coleta de dados foi utilizado um questionário fechado,validado e adaptado pelos autores, baseado na literatura. A amostra foi composta por profissionais médicos, enfermeiros etécnicos de enfermagem, que atuam diretamente nas referidas maternidades. A análise estatística foi realizada pelo programaSPSS 25.0. A pesquisa foi aprovada sob o protocolo 3.422.868, respeitando todos os preceitos éticos.Resultados: Participaram da pesquisa 32 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, onde este últimodestacou-se por maior número (59,4%) com faixa etária de 16 a 34 anos (53,1%), de raça branca (75,0%), com mais de oito anosde estudo (100,0%) com renda familiar de três ou mais salários mínimos (75,0%). Dentre os procedimentos realizados pelosprofissionais, 87,5% realizam a tricotomia na mulher, 81,3% utilizam a cateterização venosa durante o trabalho de parto, o uso daocitocina após a expulsão da placenta (71,9%), utilização de algum medicamento para aumentar as contrações (53,1%), quanto amanobra de Kristeller 53,1% dos entrevistados realizam às vezes, já a manobra de Valsava, 43,8% fazem uso, enquanto oexame de toque é realizado por pessoas diferentes (65,3%). No que se refere à amniotomia precoce 46,9% refere realizar, aopasso que curetagem sem analgesia farmacológica não é realizada por 56,3% da amostra. Ainda, no que tange o contato pele apele mãe-bebê 90,6% permitem, já a amamentação na primeira hora de vida é incentivada por pouco mais da metade dosparticipantes (56,3%).Discussão: Os resultados obtidos nesse estudo evidenciaram que a maioria dos profissionais são técnicos de enfermagem, nafaixa etária considerada adulto jovem, de raça branca, com mais de oito anos de estudo e uma renda familiar de mais trêssalários mínimos. Em relação aos procedimentos realizados, foi possível constatar no que a tricotomia ainda é realizada,divergindo do estudo de Monguilhott et al. (2016) onde apenas 33,2% dos profissionais realizam. Destaca-se que talprocedimento é considerado ineficaz e deveria ser desencorajado por não apresentar efeitos benéficos significativos sobre astaxas de infecção perineal. No presente estudo observou-se um alto índice de cateterização venosa, ao passo que no trabalhorealizado por Tesser (2014) 70,0% foram rotineiramente puncionadas, indo de encontro com a realidade das rotinas da grandemaioria das maternidades brasileiras. Quanto ao uso de ocitocina e amniotomia no estudo de Rodrigues et al. (2017), apenas34,5% utilizam ocitocina e 33,3% realizam a amniotomia precoce, contrapondo ao atual estudo que possui elevados índices, quese divergem dos preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). No que tange a manobra de Kristeller e a de Valsava,no presente estudo observou-se dados elevados que se contrapõem aos de Jardim e Modena (2018) onde apenas 36,1%receberam manobras mecânicas, uma vez que, evidenciou-se a atuação de enfermeiros. Constatou-se no presente estudo níveiselevados de exame de toque, dados semelhantes ao estudo de Rodrigues et al. (2017) onde 52,2% dos entrevistados relatamque o exame de toque é realizado por pessoas diferentes. Atualmente, preconiza-se o toque não repetitivo e com intervalos de 2horas. E ainda, quanto ao contato pele a pele mãe-bebê e a amamentação na primeira hora de vida idenficou-se que houve a
interação, contribuindo com os dados de Monguilhott et al. (2016) 54,3%.Conclusão: Evidenciou-se na atual pesquisa, que alguns dos procedimentos citados estão arraigados às rotinas dosprofissionais, onde procedimentos desnecessários sem cunho científico continuam sendo empregados nos centros obstétricos. E,portanto, uma fiscalização mais efetiva e responsável visando nas ações de promoção em saúde são tão importantes quanto àcriação de novas políticas públicas acerca da violência obstétrica.
ReferênciasCARDOSO, F. J. C. et al. Violência obstétrica institucional no parto: percepção de profissionais da saúde. Rev enferm UFPE,Recife, v.11, n.9, p.3346-53, set. 2017. JARDIM, D.M.B; MODENA, C.M. A violência obstétrica no cotidiano assistencial e suas características. Belo Horizonte, v.26,2018. LEAL, S. Y. P. et al. Percepção de enfermeira obstétricas acerca da violência obstétrica.Cogitare Enferm UFPR, Salvador, v.23, n.2, dez. 2017. MONGUILHOTT, J. J. C. et al. Nascer no Brasil: a presença do acompanhante favorece a aplicação das boas práticas naatenção ao parto na região Sul. Rev Saúde Pública USP, Florianópolis,v.52, n. 1, out 2016. RODRIGUES, F. A. C. et al. Violência obstétrica no processo de parturição em maternidades vinculas a rede cegonha. SociedadeBrasileira de Reprodução Humana, Fortaleza, v. 32, n.2, p. 78-84, mar. 2017. TESSER, C. D. et al. Violência obstétrica e prevenção quaternária: o que é e o que fazer. Revista Brasileira de Medicina deFamília e Comunidade, Rio de Janeiro, v.10, n. 35, p. 1-12, 2015.
ASPECTOS E FUNDAMENTOS NA PREVALÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE
1BRENDA AYUMI TSUKAMOTO, 2MICHELI YURI OSHIAMA KIMURA, 3ANDRESSA PAOLA DE OLIVEIRA Q MARTINS
1Acadêmico do curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: Burnout é definida como uma síndrome característica do meio laboral, que surge como resposta ao estresseocupacional crônico (EZAIAS, et al, 2010). A síndrome de burnout tem recebido destaque em recentes pesquisas por representarnão apenas um agravo à saúde do profissional, mas também um risco aos indivíduos por ele assistidos, principalmente ematividades nas quais o contato humano é um componente preponderante. Trata-se de uma síndrome que engloba sensações deineficácia e desapego ao trabalho, atingindo trabalhadores expostos a estressores crônicos presentes no ambiente laboral(MAIA, et al, 2011).Objetivo: Analisar os fatores que contribuem para o desencadeamento da síndrome de burnout nos profissionais de saúde.Desenvolvimento: O desenvolvimento da síndrome de burnout envolve vários fatores individuais e laborais sendo, portanto,multicausal. No qual as variáveis socioambientais são coadjuvantes do processo. A síndrome é atribuída à pouca experiência dostrabalhadores, o que acarreta em insegurança, ao choque com a realidade, quando percebem que o trabalho não garantirá arealização de suas ansiedades e desejos. A Síndrome de Burnout não é apenas um problema do indivíduo, mas também doambiente social no qual ele trabalha (TRINDADE, et al, 2010 e CARLOTTO; PALAZZO, 2006). Essa síndrome ocorreespecialmente na área de saúde, como hospitais, em decorrência da grande quantidade de consultas, carga horária e rotinasestressantes. Um levantamento bibliográfico realizado em 2007 por Trigo apontou como fatores organizacionais relacionados aelevados índices de Burnout: a burocracia dentro das instituições; a falta de autonomia e as mudanças organizacionaisfrequentes; a falta de consideração, confiança e respeito entre os membros da equipe; a comunicação ineficiente; aimpossibilidade de ascender na carreira, de melhorar sua remuneração e de reconhecimento de seu trabalho; inadequação doambiente físico e riscos ocupacionais no processo de trabalho (TRINDADE, et al, 2010 e TRIGO, et al, 2007). Não é raro que umindivíduo que tenha optado por uma profissão de ajuda e cuidado, quando se vê frente a restrições em seu trabalho, como faltade estrutura, recursos materiais e até mesmo recursos pessoais, passe a encontrar dificuldades relacionadas às suaspossibilidades de atuação (EZAIAS, et al, 2010 e CARLOTTO; CÂMARA, 2007), tendo como uma reação específica o estresseocupacional crônico, atitudes e comportamentos negativos em relação aos clientes, ao trabalho e à organização (EZAIAS, et al,2010 e BORGES, et al, 2002). Conclusão: Tendo em vista os aspectos observados, a síndrome de burnout constitui-se num processo multicausal, comrepercussões individuais, sociais e organizacionais (EZAIAS, et al, 2010). O somatório de sintomas emocionais agrava osofrimento e repercute na equipe de trabalho, a qualidade do trabalho e nos usuários dos serviços de saúde (EZAIAS, et al, 2010e TRINDADE, et al, 2010). Portanto é necessário que identifiquem os estressores laborais e tenham suporte social paradesenvolver estratégias de enfrentamento que favoreçam sua saúde e retomem a satisfação no trabalho (TRINDADE, etal, 2010).
ReferênciasBORGES, L. O; ARGOLO, J. C. T; PEREIRA, A. L. S; MACHADO, E. A. P; SILVA, W. S. A Síndrome de burnout e os valoresorganizacionais: um estudo comparativo em hospitais universitários. Psicologia: Reflexão e Crítica. 2002; 15(1):189-200.CARLOTTO, M. S; CÂMARA, S. G. Propriedades psicométricas do maslach burnout inventory em uma amostramultifuncional. Estudos de Psicologia. 2007; 24(3):325-32.CARLOTTO, M. S; PALAZZO, L. S. Síndrome de burnout e fatores associados: um estudo epidemiológico com professores. CadSaúde Pública. 2006; 22(5):1017-26.EZAIAS, G. M, GOUVEA P. B; HADDAD, M. C. L; VANNUCHI, M. T. O; SARDINHA, D. S. S. Síndrome de Burnout emtrabalhadores de saúde em um hospital de média complexidade. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2010 out/dez; 18(4):524-9.MAIA, L. D. G; SILVA, N. D; MENDES, P. H. C. Síndrome de Burnout em agentes comunitários de saúde: aspectos de suaformação e prática. Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 36 (123): 93-102, 2011.TRIGO, T. R; TENG, C. T; HALLAK, J. E. C. Síndrome de burnout ou estafa profissional e os transtornos psiquiátricos. RevPsiquiatria Clínica. 2007; 34(5):223-33. TRINDADE, L. L; LAUTERT, L; BECK, C. L. C; AMESTOY, S. C; PIRES, D. E. P. Estresse e síndrome de burnout entre
REGISTROS DA IMUNIZAÇÃO CONTRA A HEPATITE B NO BRASIL ENTRE 2008 E 2018 - ESTUDO DE REVISÃO
1ANA BEATRIZ DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, 2ANNA KARLA VITTI NAUFEL SILVA, 3BARBARA SILVA BRAVO,4EDINEU LOPES DOS SANTOS JUNIOR, 5IRINEIA PAULINA BARETTA, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A Hepatite B (HB) é causada por vírus e acomete o fígado, pode ser transmitida pelo contato com o sangue ou outrofluido corporal. As chances de transmissão nas relações sexuais são maiores que do HIV, pois a HB é considerada maisinfecciosa, além disso mais de 50% das crianças e 10% dos adultos desenvolve a doença crônica (FRANCISCO et al, 2015). AHB é considerada a mais grave das hepatites virais, pois pode causar alteração hepática, cirrose e carcinoma hepatocelular,sendo a causa de 500 a 700 mil óbitos anuais no mundo. A fim de prevenir e devido ao alto índice de mortes no país decontaminados com HB, foi implantado o Programa Nacional de Imunizações a vacina HB. A aplicação da vacina em 3 doses,estimula uma resposta protetora altamente confiável em adultos, crianças e adolescentes (PUDELCO et al, 2014). Objetivo: Analisar as taxas imunização de Hepatite B a nível Brasil de 2008 a 2018.Desenvolvimento: A imunização contra a hepatite B é eficaz e sem complicações. Quanto a imunização da população no Brasilentre 2008 e 2018, foi significativa a redução da vacinação, apresentando variações no seu decorrer. De acordo com o SI-PNI(Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização), o número total de vacinação contra Hepatite B (HB) a nível Brasilde 2008 a 2018 é de 143.201.853. Nas regiões Norte, Nordeste Sudeste, Sul e Centro-Oeste o número de vacinações, de 2018,caiu respectivamente, 52,9%, 41,3%, 41,6%, 56,3% e 51,6% se comparado com o total de 2008. Esses dados são muitopreocupantes, pois a diminuição de doses aplicadas faz com que a população fique mais vulnerável à contração de Hepatite B. Adiminuição da imunização pelas pessoas verificada no SI-PNI nos leva a pensar que muitos estão deixando de tomar a vacinapor, muitas vezes, imaginar que a doença não está tão frequente, visto que não são dadas devidas informações à elas. Alémdisso, por ser uma doença transmissível, a não aderência da imunização coloca a vida de terceiros em risco. De acordo comAssunção et al (2012) os principais grupos de risco são os trabalhadores da saúde e a vacinação deste grupo pode diminuir aincidência de infecção em 95%. Segundo Assunção et al (2012), a vacina para hepatite B é segura e de eficácia reconhecida:95% dos indivíduos vacinados respondem com níveis adequados de anticorpos protetores, o acesso no Brasil é público e a suadistribuição ocorre sem custos para os usuários. Entretanto, mesmo comprovada a eficácia da imunização não foi possívelalcançar a população de maneira universal pois existem alguns obstáculos, dentre os quais estão o receio quanto aos efeitoscolaterais, falta de percepção do risco de infecção, ausência de informação sobre a transmissão e pressão no trabalho. Aendemicidade da hepatite B, no Brasil, é baixa e o nível de prevalência dessa infecção é mais alto em populações maisvulneráveis. De acordo com a pesquisa de Magalhães et al. (2017), foram entrevistadas profissionais do sexo, vulneráveis acontração da HB, concluira que a primeira dose foi bem aceita, no entanto, as outras doses não tiveram completude. Isso mostraque é necessário estratégias de oferta da vacina não só nos locais de trabalho, sensibilizando as profissionais a respeito daimportância da completude da imunização, principalmente as usuárias de droga. De acordo com Arrelias (2016), pacientes comdiabetes mellitus (DM), classificados por tempo de DM e uso de insulina, constituem um grupo reconhecido de risco parahepatite B e C em decorrência dos procedimentos invasivos necessários ao tratamento e controle da doença. Constatou-se queapenas 13,7% dessa população recebeu todas as doses da vacina e 81,6% dos pacientes de DM não receberam a vacina.Dessa forma, é viável correlacionar com o caso de profissionais, como as do sexo, por exemplo, citado por Magalhães et al.(2017), e concluir que grande parte dos indivíduos com classificação de risco não estão recebendo devida imunização. Alémdisso, esses resultados podem ser reflexo da falta de informação dos indivíduos e, também, por conta das campanhas contravacinação que deixam as pessoas amedrontadas e inseguras.Conclusão: Conclui-se que houve entre 2008 a 2018 significativa diminuição da vacinação contra Hepatite B. Além disso, em 2018, o número de doses aplicadas em todas as regiões do país, mas principalmente no Norte, Sul e Centro-Oeste, foi o menorentre todos esses anos.
Referências
ASSUNÇÃO, A. A. et al. Vacinação contra hepatite B e exposição ocupacional no setor saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais.Revista de Saúde Pública, v. 46, p. 665-673, 2012.ARRELIAS, C. C. A. et al. Cobertura vacinal contra hepatite B em pacientes com diabetes mellitus. Revista da Escola deEnfermagem da USP, v. 50, n. 2, p. 255-262, 2016.FRANCISCO, P. M. S. B. et al. Vacinação contra hepatite B em adolescentes residentes em Campinas, São Paulo, Brasil. Revbras epidemiol, v. 18, n. 3, p. 552-67, 2015.MAGALHÃES, R. L. B. et al. Low completion rate of hepatitis B vaccination in female sex workers. Rev Bras Enferm, v. 70, n.3, May/June, 2017. PUDELCO, P. et al. Impacto da vacinação na redução da hepatite B no Paraná. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 35, n. 1, p.78-86, 2014.
ESTRANGULAMENTO INTENCIONAL NO ESTADO PARANÁ DE 2000 A 2016
1BRENDA AYUMI TSUKAMOTO, 2FERNANDA DE ABREU BRAGA, 3KARINA FUMAGALI MILESKI, 4MIGUEL FRANCISCOFERREIRA BATISTA, 5DANIELLE JARDIM BARRETO, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmico do curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (CUNHA et al. 2016), no mundo, aproximadamente 1 milhão depessoas se suicidaram, uma taxa média global de 11,4 por 100 mil pessoas, no Brasil essa taxa é de 5,1. A faixa etária maispreocupante está entre 15 a 19 anos, juntamente com os idosos, acima de 60 anos, que segundo Carmo et al. (2018) evidenciaque no Brasil a questão do suicídio envolvendo idosos, não recebe a devida atenção ou nada se discute no âmbito das políticaspúblicas de saúde, a exemplo da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências (PNRMAV) e daPolítica Nacional de Saúde Mental, que direcionam as ações de proteção e prevenção a população jovem. Além disso, Cunha etal. (2016) a região sul do Brasil apareceu em primeiro lugar em números de suicídio, com 9,4 por 100 mil habitantes. O Estado doParaná apresentou taxa de mortalidade por suicídio (8,4 óbitos por 100.000 habitantes) superior à taxa nacional (5,7 óbitos por100.000 habitantes)11 e também dos Estados da Bahia (3,9 óbitos por 100.000 habitantes) 12 e São Paulo (4,6 óbitos por100.000 habitantes) (ROSA et al. 2017). Segundo Vidal et al. (2013) a projeção para 2020 é que mais de meio milhão de pessoasvenham a cometer suicídio e que o número de tentativas seja até vinte vezes maior que o número de mortes. Temos como meiopara esse suicídio o estrangulamento, que diz respeito a redução na oxigenação cerebral, promovendo graus variados de edema,hemorragia e isquemia. O dano cerebral e a morte, decorrente do estrangulamento, são causados pela obstrução de via aérea,congestão venosa levando à hipóxia, acidose, broncopneumonia, edema cerebral e lesão irreversível de células cerebrais(SERENA et al, 2018).Objetivo: Fazer um levantamento de dados sobre óbitos vinculados ao estrangulamento no Paraná.Materiais e Métodos: Análise dos índices de morte por estrangulamento no Paraná entre os anos de 2000 a 2016, utilizando osdados do DATASUS.Resultados: De acordo com levantamento de dados pelo DATASUS, verificou-se 414 óbitos relacionadas ao enforcamento,estrangulamento e sufocamento intencional do ano de 2000 a 2016 no Paraná. A menor incidência no Paraná foi no ano de 2003,com 5 casos, e a maior foi em 2013 e 2014 com 50 casos cada ano. Curitiba foi a cidade com maior número de óbitos por essascausas do Estado, ocorreu 90 casos no ano de 2000 a 2016. Além disso, constatou-se um aumento das taxas de mortalidade namaioria das macrorregiões (norte, noroeste e oeste) do estado do Paraná entre os anos de 2005 a 2014.Discussão: Conforme Serena et al. (2018), a asfixia e o estrangulamento é normalmente relacionada com acidentes em redesde dormir, fechamento automático de vidros das janelas dos carros, suicídio utilizando corda, entre outros. Segundo Vidal et al.(2013) o suicídio ocupa a terceira posição no total de mortes por causas externas. Pelo menos 90% dos suicidas possuíamdoenças psiquiátricas como depressão, a qual mostrou-se preponderante diante do estudo. Conforme Ribeiro et al. (2018), osuicídio é um ato consciente de auto aniquilamento, executado por pessoa em situação de fragilidade, que o percebe como amelhor solução para sair de uma dor psicológica insuportável. Tem como consequência dar fim à própria vida voluntariamente. Évisto como violência e agressividade, sendo categorizado como causa externa na 10ª Classificação Internacional de Doenças(CID).Conclusão: Associados os dados e averiguado o conceito científico do índice de óbitos por estrangulamento intencional noestado do Paraná no período de 2000 a 2016, constatou-se um aumento das taxas de mortalidade na maioria das macrorregiõesdo estado do Paraná, utilizando para esse fim o enforcamento nos ambos os sexos. Diante do exposto, conclui-se que aoaumento da mortalidade por suicídio por enforcamento está relacionado principalmente com a redução significativa dos outrosmeios e a maior acessibilidade e o grau de letalidade desse meio.
ReferênciasCARMO, Érica Assunção. et al. Características sociodemográficas e série temporal da mortalidade por suicídio em idosos noestado da Bahia, 1996-2013. Epidemiol. Serv. Saúde. Brasília, v. 27, n. 1, 2018.
CUNHA, Felipe Augusto. et al. Análise documental sobre os suicídios ocorridos na região de Jundiaí entre 2004 e 2014. SaludSociedad. Itatiba, v. 7, n. 2, 2016.MINISTÉRIO DA SAÚDE/DATASUS- Departamento de Informática do Sus. Disponível em:tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10pr.def. Acesso em: 16 maio 2019.RIBEIRO, Nilva Maria. et al. Análise da tendência temporal do suicídio e de sistemas de informações em saúde em relação àstentativas de suicídio. Texto contexto enferm, Florianópolis, v. 27, n. 2, 2018.ROSA, Natalina Maria. et al. Mortalidade por suicídio no Estado do Paraná segundo meios utilizados: uma análiseepidemiológica. J. Bras. Psiquiatr, Maringá, v.66, n.2, p.73-82, 2017.SERENA, Kailene. et al. Estrangulamento acidental em crianças por fechamento automático de vidro de carro. Rev. Bras. Ter.Intensiva. Porto Alegre, v.30, n.1, p.112-115, 2018.VIDAL, Carlos Eduardo Leal. et al. Tentativas de suicídio: fatores prognósticos e estimativa do excesso de mortalidade. Cad.Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.29, n.1, p.175-187, 2013.
ÓBITOS POR DROGAS NO PARANÁ DE 2000 A 2017
1LUCIANA LOPES GUTIERREZ BARTOLLI, 2JESSICA ZANQUIS FERREIRA, 3TAIS DA SILVA SCHMIDT, 4EDUARDOAUGUSTO PFAU, 5VITOR ROQUE SAUER, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmico do curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR4Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A ocorrência de óbitos por intoxicação causada pelo uso de Drogas tem sido considerada um problema de SaúdePública. Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS) (2014), droga é qualquer substância não produzida peloorganismo, e que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2014). Elas podem ser classificadas em depressoras, como por exemplo o álcool, estimulantes comoa cocaína e o crack ou perturbadoras como a maconha. Atuam no Sistema Nervoso Central, e o uso abusivo dessas substânciaspode causar sérios danos ao sistema nervoso, podendo ocasionar situações e levar ao óbito (STRANZ et al, 2013). Assubstâncias listadas na Classificação Internacional de Doenças (CID-10), em seu capítulo V (Transtornos Mentais e deComportamento) incluem o álcool, os opióides (morfina, heroína, codeína, diversas substâncias sintéticas), a maconha, ossedativos ou hipnóticos (barbitúricos, benzodiazepínicos), a cocaína entre outros estimulantes, como as anfetaminas e assubstâncias relacionadas à cafeína, os alucinógenos, o tabaco e os solventes voláteis (DATASUS, 2017).Objetivo: Realizar um levantamento do número de óbitos no Estado do Paraná entre os anos de 2010 a 2016, relacionados aouso de drogas de acordo com o Sistema Único e Saúde (DATASUS).Desenvolvimento: No Brasil, o consumo de álcool e de outras substâncias como maconha e crack tem sido considerado umproblema social e de saúde pública. Segundo Marinho et al., (2016), os efeitos agudos do uso de álcool, possuem duas fasesdistintas, sendo que a primeira é estimulante, que causa euforia e desinibição e a segunda depressora, que causaincoordenação motora e sono. O uso crônico dessa substância pode acarretar a síndrome de Wernicke-Korsakoff e a síndromede abstinência alcoólica. Já a cocaína acentua principalmente a ação dos neurotransmissores dopamina e noradrenalina.O crack, é a sobra do refino da cocaína. Entre os efeitos agudos da cocaína, estão a diminuição da fadiga, a agitaçãopsicomotora, a euforia, o aumento da cognição, da vigília, do estado de alerta sensorial e ansiedade. O uso crônico acarretadistonia, coreia e movimentos abruptos dos olhos. O uso prolongado de cocaína pode desencadear um processo irreversível dedegeneração chamado rabdomiólise. Entre os efeitos agudos da maconha no organismo está o déficit de coordenação eincapacidade de executar atividades complexas. Pode provocar sedação, alteração na percepção do tempo, diminuição no tempode reação, alterações sensoriais e no controle motor, além de taquicardia e hipotensão postural. Entre os efeitos físicos crônicosestá a diminuição da força muscular. Em estudo recente desenvolvido por Dos Reis et al., (2016) foi possível observar o perfil deusuários intoxicados por drogas de abuso e associação dessas com o óbito de pacientes da região Noroeste do Paraná nos anosde 2010 e 2011. Neste estudo foram relatados 339 casos de notificações de intoxicação por drogas de abuso e a maioria dosindivíduos acometidos por esse problema eram homens (87,3%). Com relação aos óbitos por drogas nesse período foram de 28casos, sendo 27 causados por uso abusivo de álcool e 1 caso por drogas múltiplas associados (álcool, maconha e crack). Deacordo com o levantamento de dados pelo DATASUS, no estado do Paraná, entre os anos de 2000 a 2017, o álcool foi a drogaque apresentou maior número de óbitos no estado totalizando 10.093 registros de mortes, seguidos de registros de óbitos porfumo (1195), substâncias psicoativas (500 óbitos), cocaína (87 óbitos), alucinógenos (7 óbitos), maconha (3 óbitos) e opiáceos (2óbitos).Conclusão: Após o levantamento de informações sobre o número de óbitos por drogas no estado do Paraná podemos concluirque o uso abusivo de álcool apresenta valores expressivos quando comparado com as demais drogas. Dessa forma esse fatodemonstra a necessidade de desenvolver estratégias e ações imediatas voltadas a educação e conscientização da população,com o intuito de controlar e reduzir esse problema social e de saúde pública.
ReferênciasBRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas. Efeitos das substâncias psicoativas: módulo2. Brasília. 7ª edição. p 143, 2014.
MARINHO, L. C. P. et al. O corpo, a droga e o movimento: Body, drug and movement. REME: Revista Mineira deEnfermagem. v. 20 n. 987, 2016. REIS, L. M. et al. Perfil de usuários intoxicados por drogas de abuso e associação com o óbito. Revista da Rede deEnfermagem do Nordeste, v. 17, n. 2, p. 260-267, 2016.STRANZ, E. et al. Mortes Causadas pelo Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil. Revista Técnica - CNM. v. 1, p. 192-206,2013.
NÚMERO DE INTERNAÇÕES POR LEISHMANIOSE VISCERAL ENTRE OS ANOS DE 2013 ATÉ 2018 NO BRASIL: UMAREVISÃO
1JORGE TSUTOMU SHIMOMURA, 2TAIS NUNES LOPES DA SILVA, 3DENISE ALVES LOPES, 4ELENIZA DE VICTORADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmico de Medicina/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Docente da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença causada por parasitos do complexo Leishmania donovani na África,Ásia, Europa e nas Américas (NEVES, 2005). No Brasil, o ciclo da transmissão é zoonótico, sendo o cão doméstico consideradoo principal reservatório, e o flebotomíneo Lutzomyia longipalpis o vetor de maior importância epidemiológica (WERNECK, 2016).A LV é caracterizada por febre irregular de longa duração, emagrecimento e palidez cutânea mucosa, que confere um aspectoescurecido à pele dos indivíduos caucasianos. Associa-se à exuberante hepatoesplenomegalia, anemia, leucopenia etrombocitopenia (AGUIAR; RODRIGUES, 2017).Objetivo: Analisar por meio do banco de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS - Departamento de informática doSistema Único de Saúde do Brasil) o número de internações causado por Leishmaniose Visceral entre os anos de 2013 até 2018nas diferentes regiões do Brasil. Desenvolvimento: Com a análise dos dados disponibilizados no Sistema DATASUS entre os anos de 2013 a 2018, ocorreram15.046 internações oriundas de LV, região Nordeste, com 8.732 casos. Por outro lado, a região que apresentou o menor índicede internações foi a região Sul, com 35 casos registrados. Em 2014 houve um aumento (2.511), seguido de uma redução nonúmero de casos em 2015 (2.448) e 2016 (2.288). Em 2017 houveram 2746 casos. O ano de 2018, dentre os anos analisados,foi o que registrou o maior número de casos, foram 2.818 casos no total, sendo que somente a região Nordestes apresentou1546 casos e 2016 registrou o menor número de casos, sendo 2.228, destes 6 casos oriundos da região Sul. A região Nordeste eSul possui uma população de 53.081.950 e 27.386.891 segundo o IBGE (2017), respectivamente, contudo outros fatores devemser levados em conta, como por exemploo caráter endêmico da LV, e também por causa do surgimento de casos autóctones deleishmaniose tegumentar americana (LTA), especialmente nas periferias urbanas no estado do Maranhão, segundo Rêbelo et al(1999). O ciclo de transmissão essencialmente silvestre da LV em ambientes rurais, nas últimas décadas, tem apresentadomudanças no seu padrão em decorrência de alterações socioambientais, tais como o desmatamento e o processo migratórioproduto do êxodo rural para a periferia das grandes cidades, segundo Góes et al (2012).Conclusão: Analisaram-se, no estudo exposto, os índices de internações por LV entre janeiro de 2013 e dezembro de 2018 noBrasil, que evidenciou dados mais elevados no Nordeste, por esta região ser endêmica do vetor. Contudo o número deinternações aumentou de 2013 a 2018 sobretudo na região Norte, assim como um aumento maior que o dobro do ano anterior na região Sul, evidenciando a adaptação do vetor e .necessidade de medidas para o combate deste.
ReferênciasAGUIAR, P. F.; RODRIGUES, R. K. Leishmaniose visceral no Brasil: artigo de revisão. Revista Unimontes Científica. V.19,2017BRASIL. IBGE. Censo Demográfico, 2017. Disponível em:<www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 mai. 2019BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS: informações de saúde. Disponível em http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/niuf.def Acesso em: 10 de Junho de 2019.GÓES, M. A. O. et al. Série temporal da leishmaniose visceral em Aracaju, estado de Sergipe, Brasil (1999 a 2008): aspectoshumanos e caninos. Revista Brasileira de Epidemiologia. vol.15 no.2 São Paulo Junho 2012RÊBELO, J. M. M. et al. Flebotomíneos (Diptera, Psychodidae) de área endêmica de leishmaniose na região dos cerrados,Estado do Maranhão, Brasil. Caderno Saúde Pública. vol.15 n.3 Rio de Janeiro Julho/Set. 1999NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 11 ed. São Paulo: Atheneu, 2005.WERNECK, G. L. Controle da leishmaniose visceral no Brasil: o fim de um ciclo? Caderno Saúde Pública vol.32 no.6 Rio deJaneiro 2016
TÉCNICA CIRÚRGICA DE REPOSICIONAMENTO LABIAL: REVISÃO DE LITERATURA
1SABRINA PAIXAO DOS SANTOS RODRIGUES, 2STEFANIA GASPARI, 3BEATRIZ AYUMI SHIOTANI, 4RAFAELLA BRITOCARBELIM, 5EDUARDO AUGUSTO PFAU
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Endodontia Automatizada - Turma Iv da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A Cirurgia de Reposição Labial é uma técnica capaz de promover uma correção do sorriso gengival, em casos ondea principal causa é a hiperfunção do músculo levantador do lábio superior. Anatomicamente, este músculo se insere na derme dolábio superior e no músculo orbicular da boca e age de maneira dominante, encurtando o lábio superior na sua movimentação(DALLELASTE, 2013).Objetivo: Fazer uma revisão de literatura abordando a técnica de reposicionamento labial como forma de escolha para correçãodo sorriso gengival. Desenvolvimento: A cirurgia de reposicionamento labial pode ser indicada tanto nos casos em que há hiperatividade muscularou em casos de crescimento vertical excessivo da maxila em condições leves ou moderadas (PEÇANHA, 2018), sendo classificado como sorriso gengival situações onde a linha do sorriso mostre mais que 4 mm de gengiva (BRITO, 2016). Écontraindicada na presença de uma faixa estreita de mucosa ceratinizada, devido à dificuldade em projetar, suturar e estabilizar oretalho, a cirurgia resultaria em um vestíbulo mais raso, podendo comprometer a higiene bucal adequada do paciente(PEÇANHA, 2018). A técnica de reposicionamento labial foi descrita pela primeira vez em 1973 por Rubenstein e Kostianovsky,como um procedimento realizado em cirurgia plástica (BRITO, 2016). A técnica utilizada atualmente se baseia na descrita porRosenblatt e Simon (2006), objetivo dessa técnica consiste em limitar a retração dos músculos elevadores do sorriso e diminuir aprofundidade do vestíbulo por meio da remoção de uma tira da mucosa do vestíbulo superior e sutura da mucosa labial até ajunção mucogengival. Afim de uma cirurgia menos invasiva e com menos complicações pós-operatórias. Em 2013 Ribeiro Juniore colaboradores introduziram a modificação da técnica, removendo duas tiras da mucosa bilateralmente ao freio labial maxilar e odeixando intacto. Em seguida, reposicionavam a nova margem da mucosa alveolar coronariamente sendo realizado a sutura.Uma forma de ter previsibilidade sobre o resultado do reposicionamento labial, é demarcar a área desejada com laser e suturar olocal provisoriamente. O feixe de laser não corta o tecido, mas deixa uma marca que desaparece após 2 dias. As instruções pós-operatórias incluem dieta mole, movimentos faciais limitados, ausência de escovação em torno do local cirúrgico por 14 dias ecolocação de compressas de gelo sobre o lábio superior, além do uso de antibiótico e antinflamatório. Na literatura há inúmeroscasos relatados, porém, o tempo de acompanhamento normalmente é curto e há casos de recidiva. Normalmente na cicatrizaçãopós-operatória, alguns pacientes relatam hematomas mínimos ou inchaço extra oral, tensão no lábio e leve dor ao sorrir efalar na primeira semana após a cirurgia (PEÇANHA, 2018). Estudos realizados constataram que indivíduos ficaram satisfeitoscom o sorriso após a cirurgia e provavelmente optaram por se submeter ao procedimento novamente (92%). A pior parte doprocedimento citado foi o desconforto ou a incapacidade de mover o lábio durante a cicatrização precoce (69%). Concluíram queo tratamento da exposição gengival excessiva por meio de uma técnica de reposicionamento labial modificada resulta em altonível de satisfação do paciente e resultados previsíveis que são estáveis a curto prazo (TAGLIARI, 2018). Conclusão: A técnica de reposição labial cirúrgica mostra-se diante dos anos com evolução e satisfação para correção dosorriso gengival, tendo resultados estéticos satisfatório, porém estudos de casos ainda precisam ser realizados e relatados commais tempo de acompanhamento.
ReferênciasBRITO, Tiffany. Técnicas de Correção do Sorriso Gengival. Lisboa, 2016. DALLELASTE, Flávia et al. Correção de sorriso gengival pela Técnica de reposicionamento labial. Perionews;7(4):337-341,2013. PEÇANHA, Anna Carolina. Técnicas de reposicionamento labial para a correção do sorriso gengival: uma revisão de literatura.Brasília, 2018. SOUZA, Gabriella. BATISTA, Isabelle. Tratamento Contemporâneo do sorriso gengival. Aracaju, 2017. TAGLIARI, Daniel et al. Condutas para diagnóstico e tratamento do sorriso gengival: relato de caso clínico através da técnica de
IMPLANTES DE ZIRCÔNIA COMO OPÇÃO DE TRATAMENTO: REVISÃO DE LITERATURA
1SABRINA PAIXAO DOS SANTOS RODRIGUES, 2VALERIA CAMPAGNOLO, 3MARIA RITA BARBOSA DE OLIVEIRA, 4JOAOCARLOS RAFAEL JUNIOR, 5PAULO NORBERTO HASSE, 6EDUARDO AUGUSTO PFAU
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmico do PEBIC/UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Atualmente a implantodontia é citada como o ápice na modernidade quando a questão discutida é reabilitação oral.Para que a implantodontia tenha sucesso clínico é necessário que ocorra o fenômeno da osseointegração, que nada mais é doque a união física do implante osseointegrado com o osso receptor (MARTINS, 2011). Objetivo: Fazer uma revisão de literatura abordando a relação do implante de zircônia com a osseointegração e a sua escolha. Desenvolvimento: O conceito de Osseointegração fundamentado pelo professor Brånemark, há mais de 40 anos, consistia emuma conexão direta, estrutural e funcional entre o osso vital organizado e a superfície de um implante de titânio capaz de recebercarga funcional. Alguns fatores como a biocompatibilidade, o desenho do implante, as condições da superfície do implante, oestado do hospedeiro, a técnica cirúrgica e o controle das cargas após a instalação são determinantes para o sucesso daosseointegração (BRANDÃO, 2010). A osseointegração é um processo biológico similar ao da cicatrização que consiste naancoragem do implante ao tecido ósseo, o processo tem início a partir do contato sanguíneo com a superfície do implante e aformação de um coágulo nos espaços livres entre a linha de perfuração e o material (BARCELLOS, 2018). Na cavidade oraladesão bacteriana às superfícies de zircônia é reduzida, em comparação com outros materiais, como o titânio, o queconsequentemente diminui o risco de peri-implantites e de perda óssea na região adjacentes aos implantes, o que poderiaconduzir à perda dos mesmos. Os implantes em titânio podera ̃o deixar transparecer um tom cinza na mucosa oral, em pacientescom um periodonto mais fino e uma linha de sorriso elevada. Ao longo do tempo, esta situac ̧ão pode progredir, conduzindo a umarecessão gengival que pode evidenciar a cabeça do implante, onde a estética do implante de zircônia predomina. Além disso, ozircônio podera ́ ainda colmatar alguns problemas do titânio, como situações de hipersensibilidade e de alterações imunolo ́gicasnos pacientes implantados com este metal (COSTA, 2009). Um fator relevante do implante de zircônia é a baixa adesão debiofilme bacteriano em sua superfície, devido ao fato de ser menos rugoso que o titânio convencional. Estudos apontam ainda,conveniências no que se refere à tenacidade à fratura, resistência à flexão, plasticidade e, especialmente, resistência arachaduras (MORATTI, 2018). Dentre os fatores de sucesso dos implantes osseointegrados a estabilidade primária é fatordecisivo na obtenção da osseointegração, sendo pré-requisito para promover uma estabilização mecânica, que parece seressencial para a cicatrização. A falta dessa estabilidade primária resulta em encapsulação fibrosa, levando a perda do implante(CARVALHO, 2008). Os implantes de zircônia possuem alta resistência à fratura durante a inserção, resultados apresentaramresistência à fratura em torque binário superior a 70Ncm². Por fim se mostra um implante viável, a fim de se obter estabilidadeprimária (MORATTI, 2018). Para que um tratamento com implantes osseointegráveis atinja o sucesso esperado é de extremaimportância a que se realizem exames adequados do candidato a receber os implantes, além de uma anamnese criteriosa, a fimde se descobrir alterações de saúde e fatores de risco geral, se existirem. Só após esta fase realiza-se o planejamento adequadopara o paciente. Em relação à saúde geral, uma contraindicação médica para tratamentos com implantes osseointegráveis é rara.Dentre estas alterações as mais significativas são: pacientes com histórico de infarto, insuficiência cardíaca, valvulopatias, câncerdesenvolvido, hemofilia, anemia, osteoporose, diabetes e AIDS. Além destes, existem outros fatores que merecem especialatenção, como gravidez, alcoolismo, tabagismo severo e uso de drogas. Seja qual for a alteração encontrada, o cirurgião dentistaimplantodontista deve estar apto a reconhecer a alteração, seja pelo histórico médico do paciente ou por examescomplementares, e enviar o paciente ao médico competente de acordo com o problema, para que este seja restaurado em seuestado de saúde previamente à colocação dos implantes osseointegrados (MARTINS, 2011).Conclusão: A osseointegração mostra-se de muita importância para a reabilitação do implante ósseo, tendo a osseointegraçãoprimária como crucial para o sucesso assim como outros fatores devendo ser observados pelo profissional implantodontista ecirurgião dentista geral como problemas sistêmicos e o material utilizado tendo relação ao resultado final do implante.
Referências
ANDREIUOLO, Rafael et al. A zircônia na Odontologia Restauradora. Rev. bras. odontol., Rio de Janeiro, v. 68, n. 1, p. 49-53,jan./jun. 2011. BRANDÃO, Marcelo et al. Superfície dos implantes osseointegrados X resposta biológica. Revista Implantnews, 7(1):95-101,2010. BARCELLOS, Maiara Santoro et al. Osseointegração em implante. Revista Tecnológica, v.8, n°2 - 2018/2. CARVALHO, Marcelo et al. Estudo clínico da relação do torque de inserção dos implantes e sua osseointegração. Rev. Bras. Cir.Cabeça Pescoço, v. 37, nº 4, p. 202 - 205, outubro / novembro /dezembro 2008. COSTA, Pedro Leonel. Implantes em Zircônia: Uma solução de futuro. Universidade Fernando Pessoa. Faculdade de Ciências daSaúde. Porto, 2009. FAVERANI, Leonardo Perez et al. Implantes osseointegrados: evolução sucesso. Salusvita, Bauru, v. 30, n. 1, p. 47-58, 2011. FREITAS, Pedro Henrique et al. Implantes de zircônia na odontologia: revisão de literatura. Rev Odontol Bras Central 2017;26(79): 1-8. MARTINS, Vinícius et al. Osseointegração: análise de fatores clínicos de sucesso e insucesso. Revista Odontológica deAraçatuba, v.32, n.1, p. 26-31, Janeiro/Junho, 2011.MENDES, Vanessa. DAVIES, John E. Uma nova perspectiva sobre a biologia da osseointegração. REV ASSOC PAUL CIRDENT 2016;70(2):166-71. MARTINS, Renato. Implantes de Zircônia reforçado com ítria (Y-TZP). Avaliação histomorfométrica. Universidade de São PauloFaculdade de Odontologia de Bauru. Bauru, 2013. MORATTI, David et al. Implante de zircônia em dentes posteriores em extração imediata. Full Dent. Sci. 2018; 10(37):14-20.SCHIMITI, Everson. ZORTÉA JR, Alberto. Análise de osseointegração primária do sistema de implantes Bionnovation. RevistaImplantnews, 7(3):333-8, 2010.
DIU DE COBRE E OS BENEFÍCIOS PARA JOVENS NULÍPARAS
1THAMYRIS GALMACCI, 2GIOVANNA CAZELOTTO CAMOZZATO, 3VITOR UGO DIAS BARREIROS, 4DAIANE CORTEZRAIMONDI
1Acadêmico do curso de nfermagem1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: O dispositivo intra-uterino (DIU) de cobre é o método contraceptivo reversível mais utilizado no mundo, atingindomais de 150 milhões de mulheres e apresentando falha em menos de 1 por 100 mulheres no primeiro ano de uso (KANESHIRO;AEBY, 2010). É válido mencionar que mesmo sendo um método contraceptivo muito eficaz é cercado de dúvidas e preconceitos,seja por profissionais da área da saúde como pela população, no qual relacionam mitos e informações sem embasamentocientífico o que faz com que muitas jovens, principalmente nulíparas encontrem dificuldade para utilizar o método mesmo estandoaptas (FEBRASGO, 2010).Objetivo: Esclarecer fatos sobre o DIU de cobre e descrever seus benefícios para jovens nulíparas.Desenvolvimento: O DIU de cobre é altamente eficaz, tem durabilidade de até 10 anos, possui pouca manutenção, baixo índicede gravidez e poucos efeitos adversos, além disso é indicado para nulíparas e multíparas, pois não há relação da expulsão dométodo com a idade ou paridade. Diferente dos métodos hormonais, ele não causa efeitos antagônicos como enjoos, ganho depeso, diminuição da libido e em alguns casos raros, depressão, risco de trombofilia, acidentes vasculares e carcinomas (BRASIL,2018). Mesmo com todos esses benefícios, muitas mulheres jovens e sem filhos encontram dificuldades quando decidem poresse método contraceptivo tanto na rede pública como na privada principalmente relacionado a diversos mitos, como relatos queo DIU causa perfuração uterina, aborto, esterilidade e infertilidade, além disso muitas mulheres relatam que os profissionais desaúde acabam impondo suas crenças e convicções não garantindo o direito da mulher na sua escolha de método contraceptivo(ACOG, 2018). Diante do exposto, é relevante destacar que o DIU de cobre não causa abortos e assim que é removido dacavidade uterina a mulher pode engravidar, diferente dos contraceptivos hormonais, que podem causar disfunções hormonais,cistos e dificultar a gravidez quando usados à longo prazo (BRASIL, 2018). O DIU muitas vezes é desincentivado à nulíparas eadolescentes, com a justificativa de que o útero é pequeno e pode haver perfuração, o que é um mito, sendo um métodoimportante nesta faixa etária por não necessitar da disciplina da usuária em tomar as doses de anticoncepcionais orais noperíodo certo. Em relação aos boatos de o DIU é cancerígeno, salienta-se que o cobre não causa câncer e sua ação éespermicida e inibe a fecundação, quebrando o mito de que ele é abortivo (ACOG,2018). Conclusão: Pode-se concluir que o DIU de cobre é um método contraceptivo indicado para jovens nulíparas, sendo seguro,eficaz, não possuindo o potencial de causar aborto ou infertilidade. Observa-se que muitos profissionais se negam a recomendareste método contraceptivo por desconhecer sua atuação e seus benefícios. Diante do exposto, é necessário sensibilizar ecapacitar os profissionais atuantes principalmente na atenção primária à saúde sobre a utilização do DIU de cobres em mulheres,tais como jovens nulíparas, bem como esclarecer a população feminina os benefícios deste método.
ReferênciasACOG. American College of Obstetricians and Gynecologists. Adolescents and long-acting reversible contraception: implants andintrauterine devices. ACOG Committee Opinion No. 735. Obstet Gynecol 2018;131:e130 9. Disponívelem https://www.acog.org/Clinical-Guidance-and-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Adolescent-Health-Care/Adolescents-and-Long-Acting-Reversible-Contraception?IsMobileSet=false . Acesso em 20 ago. 2019BRASIL. Ministério da Saúde. Manual Técnico para Profissionais de Saúde: DIU com Cobre TCu 380A. Secretaria de Atenção àSaúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília : Ministério da Saúde, 2018. Disponívelem http://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2018/12/manual_diu_08_2018.pdf. Acesso em 20 ago. 2019FEBRASGO. Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. Manual de Orientação: Anticoncepção. 2010.Disponível em: https://www.itarget.com.br/newclients/sggo.com.br/2008/extra/download/manualANTI-CONCEPCAO . Acesso em20 ago. 2019KANESHIRO, Bliss ; AEBY, Tod. Long-term safety, efficacy, and patient acceptability of the intrauterine Copper T-380Acontraceptive device. Int J Womens Helth. 2010; 2: 211 220. Disponível em:https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2971735/. Acesso em: 20 ago. 2019.
EVOLUÇÃO DOS CASOS DE DENGUE CONFIRMADOS E COMPARADOS COM 2018 NA MESMA ÉPOCA EPIDÊMICA
1GADIEL EDUARDO FLORES DIAZ, 2EDUARDO HENRIQUE PEREIRA SANDIM, 3DANIELE GARCIA DE ALMEIDA SILVA,4ERICK ANTONIO SIGOLO, 5CRISTIANE CLAUDIA MEINERZ, 6ROSILEY BERTON PACHECO
1Acadêmico Bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmico do Curso de Farmacia da UNIPAR2Docente da UNIPAR3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O mosquito fêmea do gênero Aedes aegypti é vetor transmissor da infecção viral pertencentes ao gênero Flavivírusda Família Flaviviridae ao ser humano, a dengue encontrou ambiente urbano e clima adequados que favorecem a proliferação doseu vetor, somado ao fato de ser provocados por quatro variantes ou sorotipos (OLIVEIRA, ARAÚJO, CAVALCANTI, 2018),sendo os sorotipos (DEVN-1) alternância sorotipal Vírus de Dengue 1, (DENV-2) alternância sorotipal Vírus de Dengue 2,(DENV-3) alternância sorotipal Vírus de Dengue 3 e (DENV-4) alternância sorotipal Vírus de Dengue 4 é uma infecção peculiare profunda, que consegue semelhar os seus sintomas a outras forma da mesma família ou para fazé-los mais graves em suamanifestação, sendo preciso sua constante avalição e monitoria para que sejam aplicadas atividades adequadas para o seucombate e o do seu vetor (ARAUJO et al., 2015).Objetivo: Averiguar a evolução ou involução dos casos de dengue confirmados e comparar com os dados de casos de 2018para a mesma época epidêmica.Metodologia: Coleta dos dados disponibilizados pela secretaria de Saúde de Guaíra e dados da localizada na região oeste doParaná e análise de conteúdo como referencial teórico, utilizando método qualitativo.Resultados e discussão: A Secretaria do Estado de Saúde de Paraná (SESA) destaca o número de casos confirmadosautóctones (AUTOC), importados (IMPORT), total de confirmados (TOTAL) e notificados de Dengue (NOTIF), Dengue Grave,Dengue (DG), com Sinais de Alarme (DSA), óbitos (OB) e incidência (de autóctones) (INCID) por 100.000 habitantes pormunicípio Paraná Semana Epidemiológica 31/2017 a 30/2018 divulgado as 15h, população; 32.591, AUTOC: 2, IMPORT: 1,TOTAL: 3, Notificados: 40, Descartados: 12, Dengue com Sinais de Alarme: 0, Dengue com Grave :0, Obitos:0, INCID: 6,14%,IIP(Incidência por Infestação Predial):5,6% (SESA 2018 p.). Em relação a SE 31/2018 a 25/2019 a população: 32.591, AUTOC115, IMPORT 2, TOTAL: 117. Notificados: 229, Descartados: 111, Dengue com Sinais de Alarme: 0, Dengue com Grave :0,Obitos:0, INCID: 9,20%, IIP:5,7%. O Serviço de Alerta Climático de Dengue do Laboratório de Climatologia requer que osmunicípios identifiquem a sua situação de risco para a condição favorável à proliferação do mosquito da dengue e intensifiquemas medidas de controle necessárias, principalmente os municípios do Oeste, Noroeste e Norte. Sendo Guaíra um Município daregião oeste, se encaixa na região de alto risco epidêmico. Primeiro pelo clima e incidências pluvial. O Laboratório deClimatologia (UFPR/LABOCLIMA), fornece informações sobre as condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento domosquito Aedes aegypti, e apresenta semanalmente os graus de risco para o desenvolvimento do vetor, contribuindo para oplanejamento das atividades desse controle pelos municípios (SESA 2019). No nosso município vizinho no Paraguai, nodepartamento de Canindeyu, acumularam um total de 22 casos confirmados identificando-se os sorotipos DENV - 4 y DENV - 2.A procedência dos casos são: Salto del Guairá (10) em maior quantidade. Os casos prováveis de dengue totalizaram 324 ,procedem maiormente de Salto del Guairá (185), Em quanto os suspeito, se acumulam um total de 958 casos suspeitos em 13dos 14 distritos do departamento, entre a maior quantidade de casos de suspeita se encontrou no distritos: 36, 63 %(351/958) em Saltos del Guairá, 19,31% (185/958) do distrito de Canindeyú. (Minsterio de Salud, Boletin de Arbovírus p. 3-5. 2019). Sendo aregião conformadas de municípios de fronteiriços, o fluxos de pessoas é determinante, e corresponde diretamente para aincidência e evolução dos casos. Em harmonia. Pondera Stolerman, Coombons e Boatto (2015) que o fluxo de pessoas para estebairro pode servir como mecanismo de desencadeamento de uma epidemia. Em concordância com o fluxo populacional segundoAraujo et al., (2017) diz que quando há circulação simultânea de diferentes sorotipos contribui na evolução incidências dasinfecções; em 2015, dentre as 23.976 amostras processadas para isolamento viral, 39,3% apresentaram-se positivas, compredomínio do DENV-1 (94,1%), seguido de DENV-4 (4,8%), DENV-2 (0,7%) e DENV-3 (0,4%). De acordo com o Ministério daSaúde (2009), o combate contra o aumento desses episódios requer uma atitude e ações combinadas para o efetivoenfrentamento da dengue, a implementação de uma política baseada na intersetorialidade, de forma a envolver e responsabilizaros gestores e a sociedade.
Conclusão: Com a complexidades dos diversos fatores que influenciam a incidência dos casos de dengue é necessário ter, alémde combinar as diferentes organizações do governo, que a comunidade da região de Guaíra se integre no combate contra ovetor. Circulação de um ou mais sorotipos do vírus e crescente proporção de pacientes acometidos pela forma grave da doença.Apesar da baixa taxa ou nula de óbito, a dengue acrescenta para considerável perda da qualidade de vida no Município Guairá-Pr.
ReferênciasARAUJO, Valdelaine. Etelvina. Miranda., BESERRA, Juliana, Maria, Trindade., AMANCIO, Frederico, Figueiredo., PASSOS,Maria Valeria de Azeredo. MARIANGELA, Carneiro. Aumento de da carga de dengue no Brasil e unidades federada, 2000 e2015: Analise da Global Burden of Disease Study. São Paulo. Pág. 205 216. 2015. Disponível em:http://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2018/06/014_casos_dengue.pdf , Acesso em: 20 jul. 2019.Ministério de Salud Publica e Bienestar Social. Boletin de Arbovirosis, Salto del Guaira, Julio, 2019. Disponível:http://www.vigisalud.gov.py/files/boletinesdpto/14/SE29_2019.pdf. p. 3-5.: Acesso em: 26 julho. 2019 MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasília) Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de Vigilância epidemiológica. DiretrizesNacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue. Brasília, 2009 53 p.Novo modelo matemático ajuda a prever epidemia de dengue em áreas urbana Fórmulas incluem variáveis como atransmissibilidade local e o deslocamento de seres humanos entre os bairros de uma cidade. Acesso 15 Agosto 2019.Disponível em https://www.sbmt.org.br/portal/novo-modelo-matematico-ajuda-a-prever-epidemia-de-dengue-em-areas-urbana/OLIVEIRA, Rhaquel de Morais Alves Barbosa; ARAÚJO, Fernanda Montenegro de Carvalho; CAVALCANTI, Luciano Pamplonade Góes. Aspectos entomológicos e epidemiológicos das epidemias de dengue em Fortaleza, Ceará, 2001-2012. Epidemiol.Serv. Saude, Brasília, v. 27, n. 1, p. 1-10, 2018.SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE PARANA (SESA). Situação da Dengue, Chikungunya e Zika no Paraná. Curitiba,n 40, junho 2018a. Disponível em: http://www.dengue.pr.gov.br/arquivos/File/Boletim_2019/BoletimDengue22_2019.pdf, Acessoem: 26 julho 2019.SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE PARANA (SESA). Situação da Dengue, Chikungunya e Zika no Paraná. Curitiba,n 39, junho 2019b. Disponível em: http://www.dengue.pr.gov.br/arquivos/File/Boletim_2019/BoletimDengue22_2019.pdf Acessoem: 26 julho 2019.
ALTERAÇÕES ORAIS ASSOCIADAS AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO ANTINEOPLÁSICO
1BRUNA THAIS DOS SANTOS HARTMANN, 2TAYZE RAFAELA FETTER, 3BRUNA LUISA KOCH MONTEIRO, 4ELOISACALDATO, 5VOLMIR PITT BENEDETTI
1Acadêmica do curso de Odontologia / Unipar1Acadêmica PIBIC / Unipar2Acadêmica PIC / Unipar3Acadêmica do curso de Odontologia / Unipar4Docente da UNIPAR
Introdução: O câncer caracteriza-se como um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos sadios dediversas regiões do organismo humano, podendo ser causado por fatores externos, como a exposição à radiação ultravioletasem adequada proteção, por fatores internos, destaca-se pacientes com infectados como vírus HIV e HPV. Pode-se citar tambémcomo fatores determinantes para o surgimento desta patologia herança genética (INCA, 2019). A quimioterapia caracteriza-se porser um tratamento realizado com diversos compostos farmacológicos sendo a terapia de escolha na maioria dos casos. Estaconduta terapêutica pode causar variadas alterações em diferentes sítios anatômicos, principalmente na cavidade oral. Atuandosobre as células tumorais, os quimioterápicos podem causar comprometimento de todo organismo, mais facilmente da mucosaoral, o que dependendo da intensidade poderá colocar em risco a eficiência do próprio tratamento, bem como a vida do paciente(MORAIS et al., 2017).Objetivo: Avaliar a relação existente entre os quimioterápicos utilizados e as manifestações orais associadas ao tratamentoantineoplásico.Metodologia: Investigou-se 133 pacientes oncológicos sob tratamento quimioterápico no centro de oncologia de FranciscoBeltrão- CEONC, Paraná. Realizou-se a anamnese com preenchimento de ficha epidemiológica, abordando questões referentesao nome, idade, gênero, tipo de câncer, forma de tratamento, dentre outras perguntas. Seguiu-se com o exame clínico dacavidade bucal objetivando o diagnóstico das alterações orais, em seguida coletou-se cerca de 1ml de saliva do paciente. Naquantificação e identificação das leveduras oriundas da saliva, utilizou-se o meio cromógeno CHROMagar®-Candida. Analisou-seos dados no programa Microsoft Office Excel e SPSS statistics nestas análises estatísticas utilizou-se o método de análise devariância (ANOVA), comparando as medias pelo teste de Tukey. Neste trabalho foram seguidos os trâmites éticos e legais(72361317.6.0000.0109).Resultados: Dos pacientes estudados 42,10% (56) utilizavam os fármacos classificados como antimetabólitos, onde observou-seque a alteração predominantes foi candidíase 82,1% (46), seguido de doenças gengivais 71,4% (40) e xerostomia 69,6% (39). Já33,8% (25) dos participantes realizavam seu tratamento com a classe dos antineoplásicos não baseados em antimetabolitos,alquilantes e antibióticos citotóxicos, sendo esta a classe de maior ocorrência de alterações orais quando realizado a análiseestatística (P<0,05). Neste grupo destacado as alterações predominantes foram, xerostomia 80% (20) e candidíase 76% (19).Entre os 20,3% dos estudados que utilizavam o esquema terapêutico dos alquilantes pode-se observar uma maior frequência daxerostomia 74% (20), candidíase e doenças gengivais 59,2% (16). Notou-se que entre os pesquisados que faziam quimioterapiacom a classe dos poliquimioterápicos 14,2% (19) as doenças gengivais 73,6 (14) tiveram maior incidência, seguida de xerostomia63,1% (12) e digeusia 57,8% (11). Quando analisado a classe dos antibióticos citotóxicos 4,5% (6) verificou-se que as doençasgengivais 66,6% (4) e a candidíase 50% (3) se destacaram. Contudo 99,2% dos pacientes que faziam uso de quimioterápicosindependentemente de sua classificação tinham ao menos uma alteração oral presente.Discussão: Jesus et al (2016) em seu estudos observou que os agentes quimioterápicos que mais se relacionavam aoaparecimento das alterações orais foram 5-FU, cisplatina, ciclofosfamina e metotrexato, porém ressaltou que além do tipo dequimioterápico utilizado, o ciclo e a frequência do seu tratamento influenciam no surgimento destas patologias. Os resultadosobtidos pelo pesquisador diferem dos nossos. Kreuger et al. (2011), Araújo et al. (2015), Venkatesh (2015) e Freire et al. (2016)mostram em seus estudos a xerostomia como a alteração oral de maior prevalência entre pacientes oncológicos, bem como noestudo realizado no centro de oncologia de Francisco Beltrão, em que a xerostomia aparece em entre as principais alteraçõesestudadas. Segundo Marçon; et. al. (2016), se houver a avaliação do cirurgião dentista, bem como o acompanhamento dospacientes, o tratamento antineoplásico poderá apresentar melhores resultados, bem como melhora na qualidade de vida dospacientes por amenizar, tratar e até curar as alterações orais causadas pelo tratamento.Conclusão: Nesta pesquisa observou-se que os quimioterápicos não baseados em antimetabólitos, alquilantes e antibióticoscitotóxicos são os mais relacionados ao surgimento de patologias orais decorrentes do tratamento quimioterápico. No entanto
independentemente do quimioterápico utilizados 99,2% dos participantes apresentavam ao menos uma alteração oral. Sendoxerostomia, candidíase e doenças gengivais as alterações mais prevalentes.
ReferênciasARAUJO, Thyago Leite Campos et al. Manifestaciones orales en pacientes sometidos a quimioterapia. Rev Cubana Estomatol,[S.l.], v. 52, n. 4, p. 16-21, 2015.FREIRE, Antônio Arlen et al. Manifestações bucais em pacientes submetidos a tratamento quimioterápico no hospital de câncerdo acre. Journal of Amazon Health Science, [S.l.], v. 2, n. 1, jun. 2017.Fusco, Filipe Silveira et al. Prevenção e tratamento dos efeitos colaterais na cavidade oral em mulheres durante o tratamentooncológico. 8º Congresso de extensão universitária da UNESP, p. 1-6, 2015..Instituto nacional do câncer- IncaMarçon SPC, Lima FRG, Souza DM. Emergência médica devido agravamento da mucosite oral durante quimioterapia: relato decaso. Rev Ciên Saúde.v. 1, n.1, p: 32-36, 2016.MORAIS, D. M. A. et al. Estudo das manifestações bucais de pacientes tratados com quimioterapia. J Orofac Invest. v. 4, n.1,p.49, 2017.
MEDICAMENTOS USADOS POR PACIENTES PORTADORES DE ESTOMATITE PROTÉTICA
1WENDREO CHARLES DE CAMPOS, 2SUELEN STEFANONI BRANDAO, 3ANDRESSA ANDRADE NOVAES, 4GABRIELMACIEL DA SILVA, 5JOAO MURILO GONCALVES GAZOLA, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmico PIC do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica PIBIC do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica PIBIC do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmico PIC do Curso de Odontologia da UNIPAR4Acadêmico PIBIC do Curso de Odontologia da UNIPAR5Docente do Curso de Medicina e Odontologia da UNIPAR
Introdução: A prótese dentária nada mais é do que uma arte dental, uma ciência, que visa a reposição de dentes perdidos,restaurando e mantendo a forma, função, aparência e saúde dentária. As próteses possuem diversas funções, dentre elasdestacam-se, a reabilitação do sistema estomatognático, que tem por objetivo repor a função mastigatória. Todavia, a má higienebucal, descuido ou lesões nas mucosas com as próteses, pode sobrevir a estomatite protética, inflamação da mucosa oral,principalmente em pacientes com prótese superior total.Objetivo: O presente artigo tem por objetivo revisar a literatura sobre os medicamentos que são propostos para os pacientescom prótese superior total, para o combate à estomatite protética.Desenvolvimento: A estomatite protética (EP) é uma lesão eritematosa localizada no palato duro sob uma prótese total. A causade EP é multifatorial, porém o principal fator desencadeante consiste na candidíase, que nada mais é do que uma infecçãofúngica, sendo a espécie Candida albicans, mais comumente encontrada. Esta por sua vez, tem a capacidade de se aderir àsuperfície da prótese, que por muitas vezes é feita de acrílico, onde permite desencadear reações tóxicas-químicas pelaliberação do monômero residual. Sendo assim, a adesão é realizada por fatores hospedeiros, sendo eles, a saliva, pH e bactériasbucais (SCALERCIO, 2007). Cerca de 40 milhões de pessoas usam prótese dentária, nas mais variadas idades. No entanto, aestomatite protética apresentou uma relação significativa com a idade, gênero e tipo de prótese, sendo a faixa etária de 51 a 60anos e o gênero feminino mais acometido (ARNAUD, 2012). Dessa forma, nota-se a necessidade de tratamentos para estapatologia. De acordo com Sesma e Marimoto (2011), um tratamento possível é a remoção de fatores sistêmicos e locais, sendoeles a confecção de próteses novas corretamente acrilizadas e ajustadas, controles periódicos, desinfecção da prótese eremoção noturna, essas são algumas das principais medidas preventivas da EP. Entretanto com a estomatite já instalada, deve-se considerar o tratamento de doenças sistêmicas que debilitam o sistema imunológico e prescrição de antifúngicos. Durantemuito tempo estes tratamentos eram receitados, porém, atualmente há uma preocupação pela busca de produtos naturais quepossam substituir os alopáticos, por isso a busca por plantas com propriedades antifúngicas é uma constante. Dentre aspossibilidades, temos a Casearia sylvestris, planta medicinal indicada para o trato de gastrite e como cicatrizante. Tambémmostrou um efeito antiulcerogênico bem como atividade antifúngica (SILVA JÚNIOR, 2006).Conclusão: Diante disso, enfatiza-se a necessidade de cuidados com a higiene bucal, para assim evitar quaisquer tipo deinfecção ou inflamação, principalmente em pacientes com prótese total. Nota-se também um pouco mais de orientação dosdentistas para os pacientes, muitas vezes o paciente que está com alguma lesão bucal deve-se ao fato de não saber que precisasempre lavar a prótese e retirá-la ao dormir. Cuidados simples como uma boa higiene, pode solucionar diversos problemas.
ReferênciasSCALERCIO, Michelle, et al. Estomatite protética versus candidíase: diagnóstico e tratamento. RGO, Porto Alegre, v. 55, n.4, p.395-398, out./dez. 2007.ARNAUD, Rachel, et al. Estomatite Protética: Prevalência e Correlação Com Idade e Gênero. R bras ci Saúde. v.16, n.1, p.59-62, 2012.SESMA, Newton, MORIMOTO, Susana. Estomatite protética: Etiologia, tratamento e aspectos clínicos. Journal of Biodentistryand Biomaterials - Universidade Ibirapuera São Paulo, n. 2, p. 24-29, set. /fev. 2011.AMENI, Aline Zancheti. Estudo do extrato fluido de casearia sylvestris: constituintes químicos, potencial terapêutico e interaçõesmedicamentosas. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. DepartamentoPatologia, São Paulo, 2015.SILVA JUNIOR, A. A. Essentia herba: plantas biotivas. v.2. Florianópolis: Epagri, 2006. 633p.
ANÁLISE DOS INDICADORES DE SAÚDE BUCAL E A RELAÇÃO COM A COBERTURA DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCALNA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
1BRUNA THAIS DOS SANTOS HARTMANN, 2EDUARDA OLIVEIRA SEVERGNINI, 3GERUSA LARISSA DIAS, 4LARISSAGALVAN VALANDRO, 5FABRICIO ABEL PAGANINI, 6FLAVIA RUIZ BARBOSA PAGANINI
1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Escultura Em Resina Composta Em Dentes Anteriores - Turma Iv da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A Política Nacional de Saúde tem o objetivo de ampliar o atendimento, através do acesso a ações coletivas e àassistência odontológica, e melhorar as condições de saúde bucal da população, tendo na organização das ações de atençãobásica, com incentivo à ampliação das Equipes de Saúde Bucal (ESB) da Estratégia de Saúde da Família (ESF), um de seusmais importantes pilares (MS, 2008). Os indicadores de saúde são fundamentais nos processos de monitoramento e avaliação,pois acompanham o desempenho e metas das equipes. A utilização dos sistemas de informação de saúde como instrumentos deplanejamento e gestão, permite recuperar informações relacionadas ao município, que são importantes na construção dosindicadores de saúde, e reorganização das ações de saúde bucal.Objetivo: Avaliar os indicadores de saúde bucal Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada (MACEDS) e
Cobertura da 1ªconsulta Odontológica Programática (CPCOP), verificando a correlação com a Cobertura de ESB na ESF, emFrancisco Beltrão-PR.Metodologia: Estudo descritivo, utilizando fonte de dados (DATASUS), considerando-se período de 2000 a 2017 para CPCOP e2006 a 2017 para MACEDS. Os dados estão em planilhas do Excel e calculados os indicadores de saúde bucal a partir dosmanuais do Ministério da Saúde. A CPCOP é calculada a partir do total de consultas programáticas, dividido pela população nomesmo local e período, multiplicando-se pela constante 100. A MACEDS é calculada a partir do número de pessoas queparticiparam da ação coletiva, dividido pela população no mesmo local e período, multiplicando-se pela constante 100. A análisefoi descritiva, buscando-se relacionar a evolução dos indicadores à ampliação das ESB na ESF.Resultados: A CPCOP é aquela em que o exame clínico odontológico é realizado com fim de diagnóstico e elaboração de umplano preventivo-terapêutico. Os resultados variaram de 11,57%(2011) à 20,15% (2016), excluindo-se os dados encontradospara os anos de 2009 e 2012 devido a detecção de falha no registro do procedimento. MACEDS expressa a proporção depessoas que tiveram acesso à escovação dental com orientação/supervisão de um profissional de saúde, visando à prevençãode doenças bucais. Para este indicador os resultados variaram de 0,54%(2009) à 4,52% (2013). As ESB tiveram início em 2004com a implantação de 2 ESB modalidade I . Somente em 2008 2 ESB modalidade II foram implantadas, juntamente com mais 4ESB modalidade I, o que passou a representar 38,58% de cobertura populacional. O número de ESB permanece inalteradodesde 2013. Ao correlacionar os indicadores de saúde bucal e a cobertura da ESB na ESF constatou-se que não houve relaçãodireta entre o aumento da cobertura populacional e o aumento dos procedimentos de CPCOP e MACEDS, apresentandoinclusive em alguns períodos, relação inversa.Discussão: Apesar do aumento da cobertura populacional pelas ESB da ESF, os resultados para a CPCOP permaneceu semgrandes variações, contradizendo a o esperado pelo Ministério da Saúde e constatado por Marques. Os resultados sugerem quea priorização da demanda espontânea apenas com atendimentos eventuais como os de urgência, ainda é uma constante.Facchini, Teixeira e Castilho ressaltam que apesar de a proposta ser de reorganização da Atenção Básica, o que acontece é aexpansão do serviço de atendimento da livre demanda e, consequentemente, da crescente demanda reprimida de atendimentocirúrgico restaurador. A MACEDS possibilita comparação com dados epidemiológicos de cárie dentária e doença periodontal e omonitoramento das ações preventivas e de promoção da saúde bucal. A série histórica foi construída a partir de dados existentesdesde 2006. Os resultados encontrados demostram que não há padrão no registro deste procedimento para os anospesquisados, com maiores variações ocorrendo de 0,54% (2009) à 3,60% (2010) ou ainda de 4,52% (2013) à 1,76% (2014). Issopode demonstrar que a prática de realização de procedimentos coletivos neste município não é considerada relevante à saúde dapopulação, seja pela possibilidade de inconsistência nos registros e no controle da qualidade dos dados gerados ou também aação coletiva não ser realizada de forma padronizada, programada e constante, sugerido por Facchini LA, Teixeira ND, CastilhoED. Os resultados encontrados para os dois indicadores, reflete a dificuldade do município em atingir e manter de forma
constante as metas previstas pelo Ministério da Saúde que seria de 30% para CPCOP e de 3% para ACEDS. A possível falta decompreensão dos profissionais sobre a descrição e registro dos procedimentos no sistema, reflete a necessidade de capacitaçãoem busca da qualificação desse processo.Conclusão: Com base neste estudo, constatou-se que a expansão da cobertura das ESB em Francisco Beltrão não estárelacionada positivamente aos indicadores de melhoria de acesso a ações preventivas e de assistência de saúde bucalprogramada. E ainda, que os sistemasde informação em saúde apesar de suas limitações, constituem importantes ferramentas de gestão para o monitoramento,planejamento e avaliação local das ações de saúde bucal.
ReferênciasBARROS, Sandra; CHAVES, Sônia. A utilização do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) como instrumento paracaracterização das ações de saúde bucal. 2003.FACCHINI, Luiz Augusto; CASTILHOS, Eduardo Dickie de; TEIXEIRA, Nailê Damé. Avaliação da evolução da demanda desaúde bucal através do uso de sistemas de informação em saúde. 2011.FERNANDES LS, PERES MA. Associação entre atenção básica em saúde bucal e indicadores socioeconômicos municipais. RevSaúde Pública. 2005; 39(6):930-6.KOBAYASHI, H. M. Indicadores utilizados para avaliação da assistência em saúde bucal no Brasil [monografia deespecialização]. São Paulo: Universidade Federal de São Paulo, 2011.MARQUES, Ana Bertila et al. Sistemas de Informação como ferramenta de monitoramento das ações de saúde bucal naEstratégia Saúde da Família da região metropolitana de Curitiba-PR. Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/BrazilianJournal of Health Research, v. 16, n. 1, 2014.STAHLHOEFER, A. G.; ONUKI, L. Y. O uso de sistemas de informações como estratégia de avaliação das ações de saúde bucalda região metropolitana de Curitiba-PR [Trabalho de conclusão de curso]. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2013.TERRERI, A. L. M.; GARCIA, W. G. A Contribuição dos bancos de dados sobre desenvolvimento social e saúde para areorganização do modelo municipal de saúde bucal. Revista Brasileira de Odontologia e Saúde Coletiva, v. 2, p. 25-33, 2001.
LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE DOSES APLICADAS DA VACINA TETRA VIRAL NA REGIÃO DE UMUARAMA ENTRE2013 E 2018
1BARBARA HORTENCIA DOS SANTOS AMOREZI, 2BEATRIZ PASCOALI CUNHA, 3HELOISA TONIAL, 4JAINE THAISGABRIEL, 5IRINEIA PAULINA BARETTA, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A vacina tetra viral foi introduzida ao Calendário Básico de Vacinação da Criança no ano de 2013. Essa vacinaconsiste na combinação de vírus atenuados contra o sarampo, caxumba, rubéola e varicela, sendo esta a única forma deprevenir a ocorrência dessas doenças na população. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) organiza toda a PolíticaNacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doençasimunopreveníveis (AQUINO, 2016). O Ministério da Saúde, por meio desse Programa, ampliou o Calendário básico de vacinaçãono ano de 2013, introduzindo a vacina tetra viral (SCRV), em substituição à vacina tríplice viral, trazendo como componenteadicional a varicela (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Segundo Marreiros et al (2013), essa substituição visa à redução donúmero de injeções, a maior adesão à vacinação, e ampliação da cobertura vacinal.Objetivo: Quantificar as doses aplicadas da vacina Tetra viral entre os anos de 2013 a 2018, na região de Umuarama. Material e Métodos: Os dados utilizados para análise e comparação das doses da vacina Tetra viral foram extraídos do siteSIPNI WEB entre os anos de 2013 a 2018, na região de Umuarama.Resultados: De acordo com o levantamento de dados da região de Umuarama pelo SIPNI WEB, constatou-se que o total dedoses das vacinas aplicadas nos anos verificados foi de 12.418, considerando que a área de cobertura é de 12.935 doses,atingiu-se 96% da população destinada a vacinação. Dessa forma, foi implantada em 2013 a vacina tetra viral, incluindo avaricela a fim de que houvesse menor número de injeções e simultaneamente maior adesão da população, no entanto neste anoa quantidade de doses atingiu apenas 67% do valor esperado. Subentende-se que, essa baixa aplicação de doses se deve auma recente implantação da vacina, tendo em vista que a população pode ter sido pouco orientada a respeito dessas. Emcontrapartida, percebe-se um aumento significativo do número de doses aplicadas nos anos decorrentes, de 2014 a 2017, sendorespectivamente, de 1.185 a 3.038. Esse aumento é resultado de iniciativas de maior prevenção, ou seja, houve um investimentoainda maior que os anos decorrentes em campanhas em prol de divulgar a importância e os benefícios da vacina Tetra Viral.Levando em conta os anos anteriores, houve uma queda do número de doses aplicadas no ano de 2018, passando a ser de3.038 para 2.577. Esse fator é decorrente, principalmente, do movimento antivacina, o qual teve início por volta de 1998 e seperdura até os dias atuais, e também do retardo na utilização das vacinas que induzem atitudes que colocam em risco não só asaúde individual do não vacinado, mas de todos à sua volta. Discussão: Segundo o calendário de vacinação proposto pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA- PR), a vacina éunidose e deve ser administrada, via subcutânea, aos 15 meses de idade e no máximo aos 4 anos, onze meses e 29 dias. A nãoimunização leva o indivíduo a tornar-se suscetível aos vírus causadores das doenças, ocasionando a manifestação de sintomascomo: aumento das glândulas salivares (caxumba), manchas vermelhas e bolhas no corpo (varicela/catapora), febre alta emanchas no corpo (sarampo), inchaço e dor nas glândulas salivares linfoadenopatia retroauricular, occipital e cervical (rubéola),entre outros sintomas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Epidemias de sarampo, coqueluche e varicela já foram associadas aessas atitudes, causando sofrimento desnecessário (MIZUTA et al, 2019). Diante do exposto, extraídos os dados obtidos do siteSIPNI WEB em relação a 12º Regional de Umuarama, elencados ao conteúdo informacional contido nos artigos científicos,conclui-se que no período de 2013 houve baixa adesão de doses aplicadas da vacina tetra viral diante da implantação ocorridanesse ano (67%), supondo falhas de campanha e falta de conhecimento por parte da população acerca da nova imunização.Decorrendo os anos de 2014 a 2017 houve grande demanda de doses aplicadas, sendo, portanto, consequência de uma maiorcompanha e controle de imunização, bem como um possível aumento no número de nascimentos de crianças. Em contrapartida,no ano de 2018 houve um retorno de casos de sarampo, por exemplo, devido ao movimento de antivacina que reduziu o númerode doses aplicadas.Conclusão: A implantação da vacina tetra viral no calendário de vacinação incluindo a imunização contra a varicela (catapora)
tem um papel fundamental na promoção da saúde da criança. Porém, constata-se que ainda há falhas na divulgação decampanhas de vacinação da tetra viral, uma vez que o número de vacinas aplicadas na implantação em 2013 foi baixo emrelação aos cinco anos subsequentes. Há recursos para a conscientização da população como publicidade e campanhas aserem apoiados para adesão e efetivação total da vacina.
ReferênciasAQUINO, L. M. Programa Nacional de Imunizações: a evolução do calendário de vacinação por meio da implantação denovas vacinas nos últimos 10 anos. 35 f. Monografia (Especialização em Gestão Pública na Saúde) - Universidade de Brasília,Brasília, 2016.BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS: informações de saúde. 2013. Disponível em:www.datasus.gov.br/tabnet/tabnet.htm. Acesso em: 16 maio. 2019.DATASUS. Imunizações: Doses aplicadas. Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI). Disponívelem: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/cnv/dpniPR.def. Acesso em: 16 maio. 2019.MARREIROS, A. C. et al. Informe Técnico de Introdução da Vacina Tetra Viral. Vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela(atenuada). Brasília, 2013. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde de A a Z: Caxumba/ Varicela/ Sarampo/ Rubéola. Brasília, 2017.MIZUTA, A. H. et al. Percepções sobre a importância da vacinação e recusa da vacina em uma faculdade de medicina. RevistaPaulista de Pediatria, v. 37, n. 1, p. 34-40, 2019.
HANSENÍASE: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO
1LEONARDO DELAZARI CARVALHO, 2LIVIA ZANIN SARTORELLE, 3ANA CLARA BARRADAS BASSI, 4NATHALIAHEVELLYN SCHERER, 5LUCIANA VIEIRA PINTO RIBEIRO
1Acadêmico do curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Morfofisiologia Humana I da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa de notificação compulsória causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Apatologia encontra-se em todo país, principalmente nas regiões com dados socioeconômicos desfavorecidos, como as regiõesNorte, Nordeste e Centro-Oeste, sendo que os indivíduos mais afetados são do sexo masculino. (BRASIL, 2002).Objetivos: Demonstrar como a hanseníase acomete o ser humano e como está distribuída no território brasileiro. Material e métodos: Para a realização do trabalho foram utilizados dados do Sistema de informação de Agravos de Notificação(SINAN), juntamente com dados da Unidade Básica de Saúde Jardim lisboa, do município de Umuarama no Paraná sobre oscasos de hanseníase notificados no país e no município entre os anos de 2013 até 2019. Resultados: Foi verificado que os indivíduos mais acometidos pela doença são os homens que convivem com portadoresassintomáticos em locais aglomerados e os que vivem em regiões socioeconômicas desfavorecidas. Discussão: Essa patologia tem predileção por danos na pele e nos nervos periféricos, tornando simples o seu diagnóstico. Nosindivíduos acometidos, a infecção pode evoluir de quatro formas distintas: hanseníase indeterminada (HI), hanseníasetuberculóide (HT), hanseníase virchowiana (HV) e hanseníase dimorfa (HD) (ARAÚJO, 2003). Conforme testifica Araújo (2003),o homem é a única fonte de infecção da hanseníase. A transmissão dá-se através de uma pessoa portadora , não tratada, queelimina o bacilo para o meio exterior, contagiando pessoas susceptíveis. A principal via de eliminação do bacilo pelo portador são as vias aéreas superiores. Esta doença apresenta um longo período de incubação, em média de 2 a 7 anos. Araújo (2003)justifica, ainda, que a doença pode atingir pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, no entanto, raramente ocorre emcrianças. Quando há maior endemicidade da doença, menores de quinze anos, adoecem mais. Há uma incidência maior dadoença nos homens, uma vez que estes convivem em ambientes aglomerados por intermédio de seu trabalho. O Brasil é lídermundial em prevalência da hanseníase. Em 1991, foi assinado pelo governo brasileiro um termo de compromisso mundial, ocomprometimento da erradicação da doença até 2010. Portanto, a cada ano, são notificados mais de quarenta mil novos casossendo que, entre eles, há vários indivíduos em situação de deformidade irreversível (BRASIL, 2013). Baseando-se nos estudosde Ribeiro, Silva e Oliveira (2018), a prevalência da hanseníase foi reduzida desde o estabelecimento da segunda meta deeliminação, em 2005. Hodiernamente, é notório no país que haja tendência de eliminação da hanseníase em nível nacional. Oextenso território do país e as desigualdades socioeconômicas regionais têm sido apontados como os principais motivos dessadivergência. No Brasil, as maiores taxas de prevalência de hanseníase foram observadas, em ordem decrescente, nas regiõesCentro-Oeste, Norte e Nordeste. As regiões Sudeste e Sul estão no extremo socioeconômico dito favorável no país. É importantea divulgação sobre os sintomas da hanseníase e a existência de tratamento e cura. A prevenção dessa doença baseia-se noexame dermato-neurológico em todas as pessoas que compartilham o mesmo domicílio com o portador da doença e aplicaçãoda vacina BCG (BRASIL, 2013).Conclusão: A partir dos dados supracitados, pode-se concluir que a hanseníase é uma patologia de etiologia bacteriana degrande importância no viés epidemiológico, sendo considerada uma doença de notificação compulsória. No estudo, é visível quea hanseníase depende de fatores geográficos, faixa etária e sexo. Os casos notificados estão presentes, principalmente, emregiões populosas e com baixa atividade socioeconômica, sendo prevalente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
ReferênciasARAÚJO, Marcelo Grossi. Hanseníase no brasil. Rev Soc Bras Med Trop, p. 373-382, 2003.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia para o Controle dahanseníase. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.BRASIL. Ministério da Saúde (BR). DATASUS. Informação em Saúde. Epidemiológica e morbidade: Hanseníase. 2017.Disponível em www2.datasus.gov.br/DATASUS/index. php?area=0203&id=31032752. Acesso em: 07/06/2019.RIBEIRO, Mara Dayanne Alves; SILVA, Jefferson Carlos Araujo; OLIVEIRA, Sabrynna Brito. Estudo epidemiológico da
hanseníase no Brasil: reflexão sobre as metas de eliminação. Revista Panamericana de Salud Pública, v. 42, p. e42, 2018.SOUZA, Cacilda Silva. Hanseníase: formas clínicas e diagnóstico diferencial. Medicina (Ribeirao Preto. Online), v. 30, n. 3, p.325-334, 1997.
A RELAÇÃO ENTRE A MELACORTINA E SEUS RECEPTORES COM A OBESIDADE
1NATHALIA HEVELLYN SCHERER, 2MILENA DE SOUZA HELLER, 3LUCIANO SERAPHIM GASQUES
1Academico do curso de medicina unipar, Aluna PIC1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: As melanocortinas são neuropeptídeos derivados da poliproteína pró-opiomelanocortina (POMC), são expressas nohipotálamo, na hipófise, na pele, no sistema imunológico e no sistema nervoso central (SNC) (RODRIGUES; SUPLICY, 2003). Aleptina é responsável por ativar nos neurônios e formar as várias melanocortinas, entre as quais, se incluem o hormônioadrenocorticotrófico (ACTH) e os hormônios estimuladores de melanócitos (MSH). Dessa maneira, existem cinco receptores dasmelanocortinas (MCRs), classificados de 1 até 5 (RODRIGUES et al., 2011). No entanto, os receptores de melanocortina queestão associados à fatores de obesidade são MCR3, MCR4 e MCR5.Objetivos: Descrever a função da melanocortina e de seus respectivos receptores correlacionando-os com a obesidade.Desenvolvimento: O primeiro receptor da melanocortina (MC1R) é expresso na epiderme e células da inflamação, comomonócitos e neutrófilos. Já o MCR2, é evidente no córtex das adrenais, sendo o hormônio adrenocorticotrófico o seu ligante. OMCR3 e MCR4 estão associados ao peso corporal, sendo o primeiro relacionado com o controle do gasto de energia, expressoprincipalmente no Sistema Nervoso Central (SNC), e o segundo, à ingestão de alimentos, o qual sua expressão se encontra emabundância no hipotálamo. Foi observado que o uso de substâncias específicas para os receptores de melanocortina do tipo 3 e4 podem não apenas alterar a fome, mas também o apetite sexual, a pressão arterial, a função renal e as vias de sinalização dador. Além disso, mutações no receptor MCR4, evidenciadas nas literaturas, que levam ao excesso de fome e obesidade (LIMA,2018). O MCR5 é relevante para a secreção de glândulas endócrinas, produção de aldosterona e para o sistema imunitário. Aimportância da melanocortina se deu a partir do gene agouti, pois em alguns mamíferos os alelos agouti recessivos determinampigmento escuro na pele, enquanto os alelos dominantes resultam em pigmentos amarelados ou vermelhos. Em camundongos,os alelos dominantes também geraram obesidade (RODRIGUES; SUPLICY, 2003). As principais afinidades para os diferentesreceptores e as melanocortinas e antagonista são principalmente apresentadas entre MCR1 com α-MSH = ACTH = β-MSH > γ-MSH, cujas funções principais estão relacionadas à pigmentação, processo anti-inflamatório e anti-pirético, expressos em locaiscomo melanócitos, células endoteliais, fibroblastos, monócitos, glia e queratinócitos. O MCR2 tem afinidade com ACTH e suafunção de esteroidogênese, lipólise induzida pelo stress é expresso em locais como glândula supra-renal, adipócitos demurganho. O MCR3 tem afinidade com γ-MSH = ACTH = β-MSH > α-MSH e sua função está relacionada com a homeostasiaenergética, processos anti-inflamatórios e doenças cardiovasculares; expressa em locais como sistema nervoso central, coraçãoe macrófagos. O MCR4 tem afinidade com α-MSH > ACTH > β-MSH > γ-MSH e função de regulação da ingestão alimentar ehomeostasia energética, disfunção eréctil e antipirético. É expresso no sistema nervoso central, enquanto o MCR5 liga-seprincipalmente à α-MSH > ACTH > β-MSH > γ-MSH e sua função relacionada com a regulação de secreção exócrina, funçãoimunorreguladora e lipólise. Manifesta-se em locais como glândulas exócrinas, hipófise, pele, glândulas supra-renal, adipócito,músculo liso e esquelético, medula óssea, baço, timo, nódulos linfáticos, gônadas, útero, pulmões, fígado, estômago, esófago,rim, glândulas mamárias, cerebelo, monócitos, granulócitos, linfócitos e medula. Todos os MCRs tem como antagonista agouti,exceto o MC3R que é agrp. Além disso o MC4R tem os dois: agouti e agrp (RODRIGUES et al., 2011).Conclusão: Desta forma é possivel concluir que a melanocortina e os receptores MCR3 e MCR4, estão relacionados naregulação do equilíbrio energético associada a obesidade, através da modulação da resposta hipotalâmica, assim como outrasfunções essenciais do organismo.
ReferênciasLIMA, L. Obesidade: A arte de remover esse peso. Editora Haryon LTDA-ME, 2018.RODRIGUES, A; ALMEIDA, H; GOUVEIA, A. Obesidade: o papel das melanocortinas na regulação da homeostasiaenergética, 2011. Disponível em: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/61811/2/46855.pdf . Acesso em: 24 jun. 2019.RODRIGUES, A; SUPLICY, H; RADOMINSKI, R. Controle neuroendócrino do peso corporal: implicações na gênese daobesidade. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo, v. 47, n. 4, p. 398-409, agosto de 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27302003000400012&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 24 jun 2019.VAN DE SANDE-LEE, S; VELLOSO, L. A. Disfunção hipotalâmica na obesidade. Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo, v. 56,n. 6, p. 341-350, ago. 2012. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-
ADESÃO AO TRATAMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: MÉTODO DE DETECÇÃO
1JULIANA FERNANDES DOS SANTOS, 2NATIELE ARAUJO DA SILVA, 3EZILDA JACOMASSI, 4MARINA GIMENES
1Acadêmica do Curso de Farmácia - PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Farmácia - PIC/UNIPAR2Docente da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) estão entre as principais causas de mortalidade no mundo e, emgeral, são doenças relacionadas a múltiplos fatores e caracterizadas por início gradual, com longa ou indefinida duração. NoBrasil, as DCNTs são responsáveis por cerca de 72% de casos de morte de acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2016),tornando-se um dos problemas graves enfrentados pelo país em relação a Saúde Pública.Um dos problemas que envolve ospacientes esta relacionado ao uso do medicamento, ou seja, a falta de adesao terapeutica.Objetivo: Verificar quais são os métodos utilizados para detectar se houve ou não, adesão ao tratamento de pacientesportadores de DCNT.Desenvolvimento: Dentre as principais DCNTs implicadas em morte, destacam-se doenças do aparelho circulatório com 31,3%;neoplasias, 16,3%; doença respiratória crônica, 5,8% e diabetes com 5,2% (BRASIL, 2011). Sendo sem seletividade, essasdoenças afetam indivíduos de todas as classes socioeconômicas, porém de forma mais susceptível àqueles pertencentes aogrupo de risco como os de baixa escolaridade e os idosos. Para o seu controle, o medicamento é uma das principais medidas,pois reduz a mortalidade e melhora a qualidade de vida. No Brasil, o acesso aos medicamentos essenciais utilizados nostratamentos dessas doenças é gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que possibiliata facilmente o acesso, mas fatorescomo o uso prolongado do fármaco, vários medicamentos no tratamento, as reações adversas ao medicamento e crenças, fazcom que os pacientes desistam do tratamento, complicando a sua doença, ou seja, nao houve adesao ao tratamento. Entende-sepor adesao a utilização de medicamentos em pelo menos 80%, observando horários, doses e tempo de tratamento, e é definidapor vários autores, mas com a mesma finalidade. Haynes et al. (1979) estabeleceu que o conceito de adesão está relacionadocom o comportamento do paciente frente às ações propostas pelos profissionais de saúde que o acompanham. Isto é, nãosomente o ato de ingesta da medicação contínua, mas também como as mudanças nos hábitos alimentares e a prática deatividade física. Quando não ocorre, requer um esforço maior dos profissionais, para que o paciente mantenha a doençacontrolada e melhora na qualidade de vida. Para esses pacientres, o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar éessencial, sendo o farmaceutico o profissional que deve avaliar qual foi o problema e a possível causa, bem como orientar opaciente para que ele se responsabilize pelo tratamento e controle da doença, o que chamamos de autocuidado orientado.Segundo Correr e Otuki (2013), vários são os métodos e técnicas para verificar a adesão em doenças crônicas, como acontagem eletrônica de pílulas, avaliação de resultados terapêuticos, opinião do profissional, dosagem do fármaco ou metabólitosno plasma, saliva ou urina e questionários. Porém os mais utilizados na prática clínica no Brasil são os autos relatos que émediante a entrevista, ou os questionários. Dentre os questionários, os principais instrumentos para avaliação da adesão aotratamento são o ARMS (Adherence to Refills and Medications Scale) Teste de Haynes e Sackett; Teste de Morisky Green, BMQ
Beliefs About Medications, BMQ 2 Brief Medication Questionnaire. O ARMS consiste em 12 perguntas administradasverbalmente por profissionais de saúde, relativas à preocupação do paciente em comprar os medicamentos, ou retirá-los emserviços de saúde e referentes ao esquecimento em tomá-los. As respostas nenhum , alguns , a maioria ou todoestão relacionadas ao tempo e recebem valores de 1 a 4. Pacientes que apresentam melhor adesão à terapia medicamentosaapresentam baixos scores. Já o teste de Morisky Green, é composto por 08 perguntas, com escores mais altos indicando melhoradesão (BARATI et al., 2018). O BMQ Beliefs About Medications, com 11 perguntas, busca as relações entre crenças sobremedicamentos, crenças sobre doenças e comportamento de adesão. Quanto maior a pontuação, maior a crença do paciente noconceito representado pela escala (SALGADO et al., 2013). Quanto ao BMQ 2 Brief Medication Questionnaire, trata-se de uminstrumento dividido em três domínios que identificam barreiras à adesão quanto ao regime, às crenças e à recordação emrelação ao tratamento medicamentoso na perspectiva do paciente (BEN; NEWMAN, MENGUE, 2012).Conclusão: O farmacêutico é o profissional de saúde com o maior conhecimento sobre medicamentos, portanto, o mais indicadopara analisar se houve ou não adesão ao tratamento. Mas, para isso, é necessário conhecer os instrumentos para realizar aaplicação e de posse dos resultados orientar o paciente quanto ao regime terapêutico proposto e a busca pela adesão dopaciente ao tratamento. No entanto, vale ressaltar a importância da atuação interdisciplinar da equipe de saúde nesse processo,conhecendo a real história sobre medicamentos do paciente e ações conjuntas na orientação e otimização da adesão ao
tratamento farmacológico.
ReferênciasBARATI, Majid. et al. Validation of the Short Form of the Adherence to Refills and Medications Scale in Iranian Elders with ChronicDisease. J. Clin. Diagn. Res. v. 12, n.11, p. FC05 FC08, 2018.BEN, Angela Jornada; NEUMANN, Cristina Rolim; MENGUE, Sotero Serrate. Teste de Morisky-Green e Brief MedicationQuestionnaire para avaliar adesão a medicamentos. Rev. Saúde Pública, São Paulo , v. 46, n. 2, p. 279-289, Apr. 2012. BRASIL. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil.2011. Saúde. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf. Acesso em: 29abr. 2019.BRASIL. Ministério da Saúde. Síntese de evidências para políticas de saúde: adesão ao tratamento medicamentoso porpacientes portadores de doenças crônicas. 2016. Saúde. Disponível em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/. Acesso em: 29 abr.2019.CORRER, Cassyano Januário; OTUKI, Michel Fleith. A Prática farmacêutica na Farmácia Comunitária. Artmed, Porto Alegre,2013.GEWEHR, Daiana Meggiolaro; et al. Adesão ao tratamento farmacológico da hipertensão arterial na Atenção Primária àSaúde. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 42, n.116, p.179-190, jan. Mar. 2018.GUSMÃO, Josiane Lima; JUNIOR, Décio Mion. Adesão ao tratamento conceitos. Rev. Bras. Hipertens, São Paulo, v. 13, n.1,p. 23-25, jan. 2006. HAYNES, Brian; et al. Compliance in Health Care. CMA Journal, Baltimore, v.121.1979. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1704580/pdf/canmedaj01459-0071.pdf. Acesso em: 28 mar. 2019. LEITE, Silvana Nair; VASCONCELLOS, Maria da Penha Costa. Adesão à terapêutica medicamentosa: elementos para adiscussão de conceitos e pressupostos adotados na literatura. Ciência & Saúde Coletiva, São Paulo, v.8, n 3, p. 775-782, 2003.SALGADO, Teresa et al. Adaptação transcultural do Questionário de Crenças sobre Medicamentos para o português. São PauloMed. J. São Paulo, v. 131, n. 2, p. 88-94, 2013.
NÚMERO DE ÓBITOS POR TUBERCULOSE SEGUNDO MACRORREGIÃO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 2006 A 2016 ESTUDOS DE REVISÃO
1LETICIA NOGUEIRA ALVES DA SILVA, 2MARIANA SAUSEN BASSO, 3VITORIA DAL PAI MELO, 4YASMIN NAVA SINHORIN,5MARIA ELENA MARTINS DIEGUES, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente e Cordenadora do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente do Curso de Medicina da UNIPAR
Introdução: Transmitida pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, a tuberculose é ainda um grave problema de saúde. Adificuldade para a erradicação desta vão desde a forma de fácil contágio, até a facilidade em que, o chamado também Bacilo deKoch, se difunde em regiões onde á um maior número de pessoas. De maneira geral a doença é caracterizada por indivíduosque apresentem tosse por três ou mais semanas, perda de peso e apetite (PENNA et al., 2019).Objetivo: Fazer um levantamento de dados sobre óbitos vinculados a tuberculose no Brasil de 2006 a 2016, utilizando os dadosdo DATASUS.Desenvolvimento: A tuberculose é considerada, mundialmente, como a segunda principal causa de morte por doençasinfecciosas. Em 2010 houve, 8,8 milhões de casos estimados no mundo, desse número, 71 mil pertence ao Brasil. Entretanto,sua entrada em território brasileiro é antiga. Segundo Maciel et al.(2012) a doença surgiu com a colonização européia, em umprimeiro momento chegou a matar milhares de nativos. A persistência da referida doença, tem como explicação o modo como étransmitida, uma vez que a bactéria se propaga pelo ar, por meio das secreções da tosse e espirro dos indivíduos infectados, porisso em cidades mais populosas á uma maior dificuldade no controle dessa epidemia (BRAGA; HERREIRO; CUELLAR, 2011).De acordo com Penna et al.(2019) as pessoas mais vulneráveis à doença são: portadores de HIV, diabéticos, fumantes,dependentes químicos e etílicos, presidiários e crianças. De acordo com os dados levantados pelo DATASUS, verificou-se 1440óbitos no período estudado, sendo a região Leste a que possui o maior índice, com 733 mortes, seguida pelo Norte (293),Noroeste (207) e por fim o Oeste (202). Sendo assim, por volta da metade do período estudado percebe-se um declínio nonúmero de casos, vindo a aumentar novamente nos últimos anos. Por exemplo, a região noroeste registrou 17, 22, 21, 14, 15, 10,16, 30, 18, 17, 27 óbitos no período de 2006 a 2016, respectivamente. Além das conseqüências fisiológicas, existem também aspsicológicas, já que os tuberculosos são excluídos da sociedade- como forma de profilaxia-, privados da liberdade e daconvivência com a família e amigos. Tudo isso pode gerar depressão e ansiedade, entre outros sintomas psiquiátricos (FABRINIet al., 2018). A Organização Mundial da Saúde (OMS) busca eliminar a doença como problema de saúde pública. A EstratégiaEnd TB traz uma ousada proposta de mudança no enfrentamento da doença, ao propor a eliminação da epidemia até 2035(BARREIRA, 2018 p.2). Tudo isso, por meio de cuidado e prevenção centrados no paciente, sistema de apoio e suporte aosafetados e intensificação da inovação e da pesquisa.Conclusão: Em virtude dos fatos mencionados, onde a tuberculose é uma doença bacteriana infecciosa que afeta principalmenteos pulmões. Durante o período estudado, houve uma diminuição da quantidade de mortes ao final de 2016. Seu elevado númerode óbitos se dá pela falta de investimento no tratamento, além da grande desigualdade social que o Brasil enfrenta, comsuperpopulações na zona rural, falta de saneamento básico e moradia inadequada em inúmeros centros urbanos. Porém há umprojeto em andamento, que visa à diminuição dessa doença, o qual procura a prevenção e um melhor tratamento para seususuários.
ReferênciasBARREIRA, D. Os desafios para a eliminação da tuberculose no Brasil. Epidemiol. Serv.saúde, Brasília, v. 27, n.1, p.1-4, 2018.BRAGA, J. E.; HERREIRO, M. B.; CUELLAR, C. M. Transmissão da tuberculose na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai eArgentina. Academia de Saúde Publica Rio de Janeiro, v.27, n.7, p. 1-10, 2011.FABRINI, V. N. et. al. Cuidado a pessoas com tuberculose privadas de liberdade e a educação permanente em saúde. Trabalho,educação e saúde, Londrina, v. 16, n. 3, p. 1057- 1077, 2018 MACIEL, M. S. et. al. A história da tuberculose no Brasil: os muitos tons (de cinza) da miséria. Revista Brasil Clínica Médica.São Paulo, v.10, n. 3, p. 1-5, 2012.
PENNA, G. O. et al. Tuberculose: o que é, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção. Ministério da Saúde doBrasil. Brasilia, 2 mai. 2017. Disponível em . Acesso em: 20 de maio 2019.
ADESÃO AS BOAS PRÁTICAS OBSTÉTRICAS EM DUAS MATERNIDADES PÚBLICAS DO SUDOESTE DO PARANÁ
1THALIA DAL CERO , 2ANA PAULA JAQUELINE CRESTANI, 3LUCIMARA DE MACEDO BORGES, 4THAYNA GABRIELLA DESOUZA MENDES, 5GESSICA TUANI TEIXEIRA, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão5Docente da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: A atenção à saúde obstétrica tem passado por importantes transições. Antes a assistência era voltada à mulhercomo a protagonista principal do parto, sendo o mesmo um evento fisiológico do corpo feminino, já o modelo atual deatendimento encara a naturalidade da gestação e do processo parturitivo como enfermidades e assim utilizam intervenções etécnicas instrumentais de forma abusiva e muitas vezes inapropriadas (SILVA, ROGRIGUES, 2017). As boas práticas obstétricassão medidas que foram recomendadas em 1996 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com o intuito de oferecer à mulherconforto e bem-estar no trabalho de parto (TP) e parto, visando reduzir o uso de procedimentos invasivos. Essas condutasobjetivam minimizar as dores das contrações e auxiliar na dilatação uterina com técnicas de relaxamento, respiração,deambulação, exercícios, apoio emocional e respeito à autonomia da mulher (INAGAKI et al., 2019). Dessa forma, destaca-se aimportância de embasar as políticas e as rotinas de saúde nas melhores evidências disponíveis e traduzi-las em ação, masapesar da existência de várias pesquisas acerca do tema de amparo ao parto, faltam estudos que avaliam o impacto daimplementação de tais condutas na vida das pacientes e na rotina da equipe de saúde (CÔRTES et al., 2018).Objetivo: Identificar quais são as condutas institucionais em relação as boas práticas obstétricas em duas maternidades de ummunicípio no Sudoeste do Paraná.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, documental e descritiva, de abordagem quantitativa, desenvolvida em duasmaternidades públicas do Sudoeste do Paraná entre junho a agosto de 2019. Para coleta de dados foi utilizado um questionáriofechado, validado e adaptado pelos autores, baseado na literatura. A amostra foi composta por puérperas internadas nasreferidas instituições. Realizado análise descritiva pelo programa estatístico SPSS 25.0. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê deÉtica sob o protocolo 3.364.970, respeitando todos os preceitos éticos.Resultados: Participaram da pesquisa 128 puérperas, sendo a maioria (74,8%) da raça branca, com idade entre 16 a 34 anos(71,7%) e ensino médio completo (52,0%). Em relação as formas de relaxamento para alívio da dor, 40,2% afirmaram terrecebido algum tipo de orientação, enquanto 33,1% das parturientes recebeu técnicas não farmacológicas a fim de aliviardesconfortos, sendo as principais práticas utilizadas massagens, uso da bola suíça e chuveiro. Quanto a restrição ao leito, 59,1%relataram ter ficado a maior parte do tempo na cama durante o trabalho de parto, 37,0% foram estimuladas a caminhar ou mudarde posição e apenas 33,1% foram encorajadas a fazer exercícios, como agachamentos durante o TP. Quando questionadassobre o contato pele a pele entre mãe e bebê 60,6% afirmaram que foi promovido na primeira meia hora após o parto.Discussão: No presente estudo houve prevalência de puérperas jovens, de raça branca e com ensino médio completo,características semelhantes as encontradas no estudo de Monguilhott et al. (2018), (67,8%, 59,6% e 32,0%, respectivamente).Observou-se que a minoria das parturientes foram submetidas a alguma técnica não farmacológica para alívio da dor,semelhante aos dados de Leal et al. (2014), onde apenas 28,0% receberam algumas destas práticas, tais resultados tornamevidente o modelo tecnicista de assistência obstétrica. Constatou-se que as técnicas mais utilizadas para alívio da dor e dilataçãouterina, foram massagens, bola suíça e banho morno, corroborando com a literatura, visto que são condutas acessíveis e fáceisde serem realizadas. No quesito restrição ao leito, as puérperas relataram ter ficado a maior parte do tempo durante o TPdeitadas, enquanto na pesquisa de Inagaki e colaboradores (2019) 40,0% delas também ficaram restritas a cama, justificado peloalto índice de cesarianas e consequentemente a não estimulação do parto normal. Verificou-se que uma parte limitada dasparticipantes foram estimuladas a deambular ou mudar de posição durante o TP, índice inferior ao percebido por Jungues e seuscolaboradores (2018) onde 84,0% das parturientes deambularam durante todo o processo do parto, elucidado pelo programa deboas práticas obstétricas instituído na maternidade em estudo. Contudo, apenas 33,1% das parturientes foram encorajadas a semovimentar e exercitar-se, proporcional aos dados obtidos por Monguilhott et al. (2018) e Leal et al. (2014) (59,2% e 44,3%), emcontrapartida no estudo realizado por Feijão e colaboradores (2017) o número de boas condutas obstétricas aumentousignificativamente quando o TP foi conduzido por enfermeiros obstetras. Observou-se que o contato pele a pele foi promovido
logo após o parto, equivalente aos resultados de Inagaki et al. (2019) (66,8%), faz-se de extrema importância que a equipeestimule e permita que este ato aconteça, para assim fortalecer o vínculo afetivo.Conclusão: Com isso, fica evidente que as boas práticas obstétricas não são difundidas de forma efetiva e apenas uma parceladessas mulheres tem a oportunidade de recebê-las. Fato que pode ser justificado pelo alto índice de cesarianas e também pelafalta de empoderamento dos profissionais e das parturientes. Logo, oferecer atendimento humanizado é um percurso que deveser seguido para aprimorar a qualidade da assistência.
ReferênciasCÔRTES, Clodoaldo Tentes. et al. Implementação das práticas baseadas em evidências na assistência ao parto normal. RevLatino-Am Enfermagem, v. 26, p. 1-11, 2018.FEIJÃO, Letícia Bastos Vilela; BOECKMANN, Lara Mabelle Milfont; MELO, Manuela Costa. Conhecimento de enfermeirasresidentes acerca das boas práticas na atenção ao parto. Rev Enferm Foco, Brasília, v. 8, n. 3, p. 35-39, 2017.INAGAKI, Ana Dorcas de Melo. et al. Retrato das práticas obstétricas em uma maternidade pública. Cogitare Enferm, v. 24, p. 1-13, 2019.JUNGES, Carolina Frescura. et al. Ações de apoio realizadas à mulher por acompanhantes em maternidades públicas. VerLatino-Am Enferm, v. 26, p. 1-11, 2018.LEAL, Maria do Carmo. et al. Intervenções obstétricas durante o trabalho de parto e parto em mulheres brasileiras de riscohabitual. Cad Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 30, p. 1-16, 2014.MONGUILHOTT, Juliana Jacques da Costa. et al. Nascer no Brasil: a presença do acompanhante favorece a aplicação das boaspráticas na atenção ao parto na região Sul. Rev Saúde Pública, São Paulo, v. 52, n. 1, p. 1-11, jan. 2018.SILVA, Janaina Costa; RODRIGUES, Milene Silva. Boas práticas na assistência ao parto. Rev Brasileira de Ciências da Vida,v. 5, n. 4, p. 1-27, dez. 2017.
TÉCNICAS DE HIGIENE DE PRÓTESES REMOVÍVEIS PARA PREVENIR O DESENVOLVIMENTO DE CANDIDÍASE:REVISÃO DE LITERATURA
1GABRIEL MACIEL DA SILVA, 2CAROLINE DOMINGUES, 3HELOISA GARCIA FRANCOZO, 4ANA MARIA DA SILVA, 5LETICIADANTAS GROSSI, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmico PIC/UNIPAR1Acadêmico PIC/UNIPAR2Acadêmica PIC/UNIPAR3Acadêmica PIC/UNIPAR4Acadêmica PIBIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A candidíase consiste em uma extensa variedade de síndromes clínicas causadas por um fungo do gênero Candida(FREIRE et al., 2017). E muitos dos casos relatados pela literatura deixam claro que, quando se trata de candidíase bucal, oprincipal fator associado a essa doença é a má higienização da prótese.Objetivo: Fazer uma revisão da literatura referente às técnicas de higiene de próteses removíveis para prevenir odesenvolvimento de candidíase, além de descrever algumas técnicas principais e frisar a importância de uma boa limpeza.Desenvolvimento: A prótese dentária tem como finalidade restabelecer a função e a estética do aparelho estomatognático queforam perdidas após a perda dos dentes. Para que o tratamento reabilitador seja bem sucedido é necessário que a prótese estejabem adaptada e que o paciente esteja motivado e consciente sobre o correto uso e higienização da mesma (NÓBREGA et al.,2016). De acordo com Catão et al. (2007), o biofilme presente nas próteses totais pode ser controlado por meio dos métodosmecânicos, químicos e mecânico - químicos de higienização. Recomenda-se a utilização conjunta dos métodos mecânico equímico de higienização, a fim de obter um controle adequado do biofilme nos aparelhos protéticos. Este método de higienizaçãoconsiste na combinação da escova e dentifrício seguido da imersão da prótese em soluções químicas. O método mecânicobaseia-se na utilização da escova dental, dentifrício e sabão neutro, onde o paciente deverá ter uma escova para a cavidadebucal e outra para a prótese. O método químico é realizado por meio da imersão da prótese em produtos químicos que possuemação solvente, detergente, fungicida e bactericida. Dentre os agentes químicos destacam-se os hipocloritos, peróxidos alcalinos,ácidos diluídos, enzimas e a clorexidina. Destarte o método de limpeza adequado para próteses compreende o uso de umaescova de dentes apropriada, com cerdas cônicas e cilíndricas e de tamanho compatível para a limpeza da área interna daprótese, ou seja, preferencialmente uma escova formulada para o uso em próteses. O uso de sabão ou de outro agente nãoabrasivo também é recomendado, devido aos prejuízos estéticos e funcionais que os abrasivos provocam. Após esse processomecânico, é indicada a higienização química com o uso de peróxidos alcalinos, que não causam danos ao metal nem à resina daprótese, além de removerem manchas suaves e apresentarem efeito antibacteriano e fungicida (GONÇALVES et al., 2011).Conclusão: A adequada higiene e adaptação da prótese são essenciais para a manutenção do bem estar físico e psicológico dopaciente, sendo necessário que o cirurgião-dentista oriente de forma correta os usuários de prótese, gerando uma melhorqualidade de vida para este paciente e evitando futuras doenças como a candidíase.
ReferênciasCATÃO, Carmem Dolores de Sá et al. Eficiência de substâncias químicas na remoção do biofilme em próteses totais. Revista deodontologia da UNESP / Universidade Estadual Paulista (UNESP). v.36, n.1, p.53-60, 2006.DE MEDEIROS NÓBREGA, Danúbia Roberta et al. Avaliação da utilização e hábitos de higiene em usuários de prótese dentáriaremovível. Revista Brasileira de Odontologia, v. 73, n. 3, p. 193, 2016.FREIRE, Julliana Cariry Palhano et al. Candidíase oral em usuários de próteses dentárias removíveis: fatores associados.Archives of Health Investigation, v. 6, n. 4, 159-161, 2017.FONSECA, Patrícia; AREIAS, Cristina; FIGUEIRAL, Maria Helena. Higiene de próteses removíveis. Revista Portuguesa deEstomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial, v. 48, n. 3, p. 141-146, 2007.GONÇALVES, Luiz Felipe Fernandes et al. Higienização de próteses totais e parciais removíveis. Revista Brasileira deCiências da Saúde, v. 15, n. 1, p. 87-94, 2011.TAVARES, Dianarise Graciete Mendonça et al. Avaliação de hábitos de higiene bucal e satisfação em usuários de prótese parcialremovível. Saúde e Pesquisa, v. 9, n. 2, p. 317-323, 2016.
ÓBITOS CAUSADOS POR NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON, RETO E ÂNUS NO PARANÁ: UMA REVISÃO
1JOATA CAMPETTI MEDINA, 2MARIA EDUARDA PFAU, 3MURILO GODOY KLEIN, 4NATHALIA FRASSON CORDEIRO,5EDUARDO AUGUSTO PFAU, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Discente do Curso de Medicina/ UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Neoplasia é o nome dado ao conjunto de doenças que têm em comum o crescimento de células que invadem ostecidos e órgãos (SILVA, SOUSA, SIQUEIRA, 2018). Esta patologia pode ser classificada em benigna ou maligna, sendo aprimeira caracterizada por apresentar crescimento expansivo, lento, organizado e com limites nítidos. Já a segunda apresentacrescimento desorganizado, com potencial de invadir tecidos adjacentes, resistente ao tratamento o que muitas vezes podecausar o surgimento de metástases (BRASIL, 2012). O câncer é considerado a segunda mais importante causa de morte noBrasil, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares (BRASIL, 2008). Estima-se que em 2030, haverá no mundo 21,4milhões de casos novos de câncer e 13,2 milhões de mortes por câncer, em consequência do crescimento e do envelhecimentoda população (BRASIL, 2014). Para o Brasil, estimam-se 17.380 casos novos de câncer de cólon e reto em homens e 18.980 emmulheres para cada ano do biênio 2018-2019. Esses valores correspondem a um risco estimado de 16,83 casos novos a cada100 mil homens e 17,90 para cada 100 mil mulheres. De acordo com Vieira et al. (2013) a causa específica do câncer de cólon,reto e ânus ainda não é conhecida, sendo os principais fatores a ingestão excessiva de carne e de alimentos gordurosos ouprocessados, idade acima de 50 anos, histórico familiar da doença, baixo consumo de frutas e legumes, obesidade,sedentarismo, consumo excessivo de álcool, tabagismo e doenças inflamatórias. A atuação do programa Estratégia de Saúde daFamília do SUS tem como um dos objetivos a prevenção, por esse motivo muitas neoplasias são descobertas em fase inicial, eisso favorece o tratamento dessa doença (BITENCOURT et al, 2018). Objetivo: Considerando o elevado número de mortes dessa doença e o difícil diagnóstico, este trabalho tem como objetivo,apresentar uma revisão de literatura após o levantamento de dados obtidos do sistema DATASUS sobre o número de óbitos porneoplasia no cólon, reto e ânus no estado do Paraná, relatados entre os anos de 2000 a 2016. Desenvolvimento: De acordo com dados do DATASUS, nas categorias do grupo CID-10, sendo as categorias C18- Neoplasiamaligna do cólon, C21- Neoplasia maligna do reto e C20- Neoplasia maligna do ânus e do canal anal houve um aumento nonúmero de óbitos no período de janeiro de 2000 até dezembro de 2016. Os resultados obtidos em nossa pesquisa apontam umtotal de aproximadamente 208.467 óbitos no Brasil, e no Paraná 14.671 mortes, durante o período de estudo. É importantedestacar que o número total de óbitos por câncer de cólon, reto e ânus no ano de 2016 foi o dobro do número encontrado no anode 2000 no estado do Paraná nas cidades: Curitiba, Londrina, Maringá, e ainda quando relacionado à população das cidades deCampo Mourão e Cascavel, esse número chegou a triplicar. Este elevado índice, na população do estado do Paraná, pode servirde indicador mudanças de hábitos de vida dos habitantes dessa região e de interferências decorrente a fatores genéticos,externos e populacionais. Segundo um estudo feito por Fernandes et al. (2012), com 749 pacientes, sendo 460 com câncer decólon e 289 com câncer retal concluiu-se que a classe mais afetada foi pessoas acima de 62 anos da raça branca. Outro estudofeito por Guerra et at (2017), demonstrou o aumento da taxa de mortalidade nos últimos 30 anos em ambos sexos sendo maiornos homens. O tratamento dessa doença é feito, tradicionalmente, por procedimentos cirúrgicos, quimioterapia e radioterapiaconforme seu grau evolutivo. No entanto, outros procedimentos, como laparoscopia (um tratamento minimamente invasivo) quejá estão sendo usados por diversos médicos (FIGUEIREDO, et al. 2012). Tendo em vista as causa que desencadeiam essadoença, é explícita a necessidade de conhecer sobre as prevenções, que são designadas em primária e secundária. A prevençãoprimária consiste na identificação e eliminação dos agentes carcinogenéticos, no incentivo de ingestão de pró-vitamina A, e naredução ou exclusão de alimentos com alto teor energético (açúcares e gorduras). Diferente da secundária, que visa àidentificação das pessoas portadoras de fatores reconhecidamente envolvidos com a gênese do câncer, e o conhecimento dagenética das doenças que predispõem ao câncer de cólon tais como a polipose heredo-familiar (PAF) e o câncer hereditário nãorelacionado a polipose (HNPCC) são elementos fundamentais nesse tipo de prevenção (SANTOS JR, 2007). Conclusão: Abstraídos os dados expostos, conclui-se que as cidades mais desenvolvidas do estado, foram as queapresentaram maior incidência de câncer de cólon, reto e ânus. Dessa forma é de suma importância o desenvolvimento de
campanhas educativas e preventivas destinadas a população de estado e principalmente as cidades envolvidas nesse estudo.
ReferênciasBITENCOURT, E. L.; et al. Incidência de óbitos por neoplasias, segundo localização primária de tumor no estado do Tocantins de2006 a 2015. Revista de Patologia do Tocantins, v. 5, n. 3, p. 5-11, 2018.BRASIL. ABC do câncer: abordagens básicas para o controle do câncer / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes daSilva, Coordenação Geral de Ações Estratégicas, Coordenação de Educação; organização Luiz Claudio Santos Thuler. 2. ed.rev. e atual. Rio de Janeiro: Inca, 2012. BRASIL. Estimativa 2014: Incidência de Câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva,Coordenação de Prevenção e Vigilância. Rio de Janeiro: INCA, 2014.BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde Brasil 2007: uma análise da situação saúde Perfil demortalidade do brasileiro. Brasília: MS; 2008.FERNANDES, G. M. M.; et al. Avaliação clínica e epidemiológica de pacientes com câncer colorretal esporádico. Journal ofColoproctology, Rio de Janeiro, v. 34, n. 4, 2014.FIGUEIREDO, J. A. Laparoscopic total pelvic exenteration and perineal amputation with wet colostomy. A case report. Journal ofColoproctology, Rio de Janeiro, v. 32, n. 2, 2012.GUERRA, M. R.; et al. Magnitude e variação da carga da mortalidade por câncer no Brasil e Unidades da Federação, 1990 e2015. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 20. 2017.SANTOS JR, J. C. Câncer ano-reto-cólico: aspectos atuais IV-câncer de colón-fatores clínicos, epidemiológicos e preventivos.Revista Brasileira de Coloproctologia, v. 28, p. 378-85, 2007.SILVA, F. B. da; SOUSA, A. C. de; SIQUEIRA, S. C. Câncer colorretal: promoção, prevenção e rastreamento. Revista CientíficaFacMais, Goiás,v. 8, n. 2, 2018.VIEIRA, L. M; et al. Câncer colorretal: entre o sofrimento e o repensar na vida. Revista Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v.37,n. 97, 2013.
INFLUENCIA DO TEMPO DE TREINAMENTO DIÁRIO SOBRE A MOTIVAÇÃO DE JOVENS ATLETAS DE HANDEBOL
1NAILA CRISTINA LIRA THEODORO, 2ISABELLA CAROLINE BELEM, 3VITOR HUGO RAMOS MACHADO
1Discente de Fisiologia do Exercício, PÓS/UNIPAR1Docente da Unicesumar2Docente da UNIPAR
Introdução: A motivação é um fator psicológico que tem influência sobre a aprendizagem e desempenho esportivo. O sucessoesportivo está diretamente ligado ao desenvolvimento das capacidades psíquicas (que regulam as ações), capacidades táticas,capacidades técnicas e capacidades físicas. (LUGUETTI, Carla Nascimento et al). A motivação pode ser descrita comointrínseca; reforços que vem do próprio indivíduo e a motivação extrínseca; mediada por contribuições vindas de um agenteexterno (PUENTE, 1982). O handebol é uma modalidade onde os atletas são exigidos física e psicologicamente, e seuspraticantes são constantemente testados , sejam durante as sessões de treinamentos ou jogos. Diante disto, é interessantequestionar aspectos motivacionais relacionados ao tempo de treinamento diário de atletas dessa modalidade. Objetivo: Verificar a motivação de jovens atletas de handebol de acordo com o tempo de treino diário. Metodologia: A pesquisa foi submetida ao comitê de ética da UNIPAR , CAAE 46073415.1.0000.0109. A amostra da pesquisafoi constituída por 16 indivíduos homens atletas de handebol do município de Rondon e Campo Mourão de 14 á 16 anos,bolsistas do projeto talento olímpico do estado do Paraná. Para obtenção dos dados foram aplicados dois questionários. Ficha deIdentificação do atleta, contendo dados pessoais e questões sobre a modalidade categoria que pertence, tempo de prática damodalidade, horas de treinamento diário e semanal, tempo que recebem a bolsa talento olímpico, categorias da bolsa que recebee nível mais alto de competição que já participou. Para avaliar a motivação Escala de Motivação para o Esporte (SMS SportMotivation Scale) com 28 questões, divididas em 7 subescalas avaliadas em uma escala Likert de 7 pontos. As subescalas doinstrumento são: a motivação, motivação extrínseca de regulação externa, motivação extrínseca de introjeção, motivaçãoextrínseca de identificação, motivação intrínseca para atingir objetivos, motivação intrínseca para experiências estimulantes emotivação intrínseca para conhecer. Resultados e discussões: Comparação dos níveis de motivação de acordo com o tempo de treino diário de atletas de handebol.A análise foi realizada comparando indivíduos com 2 horas ou mais de treino diário e indivíduos com 3 horas ou mais comrelação a motivação, motivação regulação externa, motivação introjetada, motivação identificada, Motivação para atingirobjetivos, Motivação para experiências estimulantes, Motivação para conhecer. De acordo com as informações obtidas, o atletacom menor carga de treino diária é mais desmotivado. Isto se deve ao fato de que os atletas que treinam menos terem menoschance de disputar campeonatos e de evoluírem como esperado, quando comparados com seus colegas de treino, ou seja,aqueles que mais treinam conseguem aprimorar-se tanto fisicamente quanto técnica e taticamente mais rápido e, portanto, sequalificam como aptos a disputar jogos amistosos, torneios e/ou campeonatos (DA COSTA et al, 2011). Conclusão: O tempo de treinamento, pode influenciar na motivação do atleta. Sendo que atletas com três horas ou mais detreino diário apresentaram uma maior motivação quando comparado a atletas com até duas horas de treinos diários. Sabendo-seda influência da motivação para o rendimento esportivo, o tempo de treinamento diário pode influenciar no desenvolvimento/rendimento de atletas.
ReferênciasDA COSTA, Varley Teoldo et al. Validação da escala de motivação no esporte (SMS) no futebol para a língua portuguesabrasileira. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 25, n. 3, p. 537-546, 2011. Disponível em:http://www.journals.usp.br/rbefe/article/view/16835.LUGUETTI, Carla Nascimento et al. O planejamento das práticas esportivas escolares no ensino fundamental na cidade deSantos. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 37, n. 4, p. 314-322, 2015.PUENTE, M. (org.). Tendências Contemporâneas em Psicologia da Motivação. São Paulo: Autores Associados: Ed. Cortez,1982.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: QUAL A ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA REVISAO BIBLIOGRAFICA
1Gustavo Henrique Alvarenga Dos Santos, 2VICTOR FELIPE MARONEIS SILVA, 3PAULA MONTANHINI FAVETTA, 4EDSONGERONIMO
1Discente do Ensino Médio do Colégio Estadual de Iporã Paraná. 1Discente do Ensino Médio do Colégio Estadual de Iporã Paraná. 2Nutricionista Mestranda em Ciência Animal. 3Discente do Ensino Médio do Colégio Estadual de Iporã Paraná.
Introdução: A alimentação escolar é um direito humano assegurado pelo Programa Nacional de Alimentação escolar (PNAE)instituído na década de 50, de forma a cooperar para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar,contribuindo para a formação de hábitos alimentares mais saudáveis e também proporcionar a segurança alimentar (PEDRAZAet al., 2018). Para que o PNAE possa contribuir com o crescimento de desenvolvimento cognitivo e biopsicossocial, aresponsabilidade técnica pela alimentação escolar cabe ao nutricionista, estabelecido pela Resolução n°465 pelo ConselhoFederal de Nutricionistas (CFN).Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica a fim de conhecer a atuação do nutricionista na alimentação escolar.Desenvolvimento: O presente trabalho consiste numa revisão de literatura, utilizando o banco de dados eletrônico GoogleAcadêmico , com as seguintes palavras-chave: atuação do nutricionista, importância do nutricionista, alimentação escolar,PNAE . Foram selecionados cinco artigos de 2017 a 2018, foram excluídos artigos que não estavam relacionados com aatuação do nutricionista na alimentação escolar. A implementação de políticas públicas voltadas para a garantia do DireitoHumano a Alimentação Adequada (DHAA) e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) são efetivas, colocando em destaque aatuação do nutricionista que é o profissional da área da saúde responsável pela atenção nutricional em todos os campos deatuação, colaborando para a manutenção, recuperação e promoção da SAN (TEO et al., 2017). Vale destacar que cabe aoprofissional nutricionista respeitar a cultura alimentar do local na promoção de hábitos saudáveis, além disso, deve-se realizar odiagnóstico e acompanhamento de todos os escolares, planejar e acompanhar todas as etapas da elaboração do plano alimentare manipulação de alimentos, desde a compra até a distribuição destes alimentos (SOUZA et al., 2017). Ademais, o Brasilenfrenta uma epidemia de obesidade infantil em razão de padrões alimentares inadequados, trazendo consigo um elevadonúmero de doenças metabólicas como o diabetes na infância e adolescência, reforçando a importância do nutricionista no âmbitoescolar (CORRÊA et al., 2017).Conclusão: Diante ao exposto, reforça-se a importância dos nutricionistas nos municípios, bem como nas escolas, pois, elescontribuem efetivamente na garantia do DHAA e SAN para os escolares.
ReferênciasPEDRAZA, Dixis Figueroa et al. Avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar: revisão da literatura. Ciência & SaúdeColetiva, v. 23, p. 1551-1560, 2018.Conselho Federal de Nutricionistas (CFN). Resolução n° 465/2010. Dispõe sobre as atribuições do nutricionista, estabeleceparâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar e dá outras providências. DiárioOficial da União. Brasília, ago. 2010.TEO, Carla Rosane Paz Arruda et al. Direito Humano à Alimentação Adequada: Percepções e práticas de nutricionistas a partirdo ambiente escolar. Trabalho, Educação e Saúde, v. 15, n. 1, p. 245-267, 2017.SOUZA, Anelise Andrade de et al. Atuação de nutricionistas responsáveis técnicos pela alimentação escolar de municípios deMinas Gerais e Espírito Santo. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, p. 593-606, 2017.CORRÊA, Rafaela da Silveira et al. Atuação do nutricionista no Programa Nacional de Alimentação Escolar na região sul doBrasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, p. 563-574, 2017.
BOLA DE BICHAT, UMA ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO DE RECESSÕES GENGIVAIS
1Valeria Campagnolo, 2ARACELLYS MENINO MELO, 3SABRINA PAIXAO DOS SANTOS RODRIGUES, 4NATHALIAVOLPATTO FERREIRA, 5JOSIANE FRANCIO PISSAIA, 6JANES FRANCIO PISSAIA
1Cirurgiã Dentista/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia /UNIPAR2Acadêmica do Odontologia /UNIPAR3Acadêmica de Odontologia /UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A recessão gengival é o deslocamento apical do tecido gengival em relação a junção cemento-esmalte resultandona exposição da superfície radicular ao meio bucal, não causa apenas prejuízos estéticos, mas também para nossa saúde bucal.Na literatura diversas opções de tratamento são sugerida, sendo o uso da bola de bichat uma delas.Objetivo: O objetivo do presente trabalho é apresentar o tratamento de uma recessão gengival realizado com o uso da bola debichat.Materiais e métodos: Inicialmente foi realizada a coleta de parte da bola de bichat do lado direito e esquerdo, em seguida feito opreparo da área receptora, a qual se trata de uma recessão no elemento 23, com uma incisão intrasulcular e duas incisõesrelaxantes nas faces proximais do elemento em questão, foi realizado uma incisão no periósteo para que o retalho pudesserecobrir o enxerto. Foi realizado o preparo periodontal da raiz com raspagem e alisamento radicular, na sequência uma porção dotecido adiposo foi cortado e macerado no tamanho suficiente para o enxerto, então posicionado e fixado com suturas em X.Resultados: Como resultado obteve-se recobrimento radicular completo com manutenção da extensão da faixa de tecidoqueratinizado, características de cor e textura normais e um pequeno aumento de volume gengival, mostrando que o enxertoutilizando a bola de bichat não pediculada é uma alternativa efetiva no tratamento de recessões gengivais.Discussão: Vários tratamentos para recobrimento radicular são sugeridos na literatura, dentre eles, o padrão ouro é consideradoo enxerto de tecido conjuntivo subepitelial. O tecido adiposo bucal tanto na forma pediculada como não pediculada vem sendoutilizado em reconstruções de diferentes defeitos orais, dentre eles o tratamento de recessões gengivais. Os resultados sãodescritos como positivos e o sucesso tem sido atribuído a facilidade de coleta do tecido adiposo bucal através de uma técnicacirúrgica rápida de baixa morbidade da área doadora e baixa índice de complicações somados ao rico suprimento vascular quegarante a vitalidade do enxerto, a presença de células tronco que ajudam na regeneração tecidual.Conclusão: Enxerto de tecido adiposo bucal não pediculado é uma técnica eficaz no tratamento de recessões gengivais, segura,de fácil execução, de excelente resultado estético e terapêutico e pode ser realizada distante do local doador ou mesmo no arcoinferior.
ReferênciasAGARWAL C, GAYATHRI GV, MEHTA DS. Na innovative technique for root coverage using pedicled buccal fat pad. ContempClin Dente. Jul/Set. 2014; 5(3): 386-388.CHAMBRONEA L, CHAMBRONEB D, PUSTIGLIONIA FE, CHAMBRONEB LA, LIMA LA. Can subepithelial connective tissuegrafts be considered the gold standard procedure in the treatment of Miller Class I and II recession-type defects? Journal ofDentistry. 2008 36: 659 671.CUNHA FA. Decision regarding the choice of technique for root coverage: clinical case. 2014;16(4):321-7.DEAN A, ALAMILLOS F, GARCIA-LOPEZ A, SÁNCHEZ J, PEÑALBA M. The buccal fat pad flap in oral reconstruction. JohnWiley & Sons, Inc. Head Neck Mai 2001; 23: 383 388.ERCAN E, ÇANDIRLI C, UYSAL C, UZUN BC, YENILMEZ E. Treatment of Severe Gingival Recession Using Pedicled Buccal FatPad: Histological and Clinical Findings. Clin Exp Health Sci 2016; 6(4): 191-194.EL HADDAD AS, RAZZAK MYA, EL SHALL M. Use of pedicled buccal fat pad in root coverage of severe gingival recessiondefect. J Periodontol 2008; 79:1271-1279.
TIMECTOMIA EM PACIENTES PORTADORES DE MIASTENIA GRAVIS: UMA REVISÃO
1LUIS FERNANDO ESPINOZA LUIZAR, 2GIOVANA TOLOTTI, 3NATHÁLIA POSSAGNOLO PAGANINI, 4YASMIN LARISSASPRICIGO, 5DENISE ALVES LOPES, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmico do Curso de Medicina da Unipar1Acadêmica do Curso de Medicina da Unipar2Acadêmica do Curso de Medicina da Unipar3Acadêmica do Curso de Medicina da Unipar4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A miastenia gravis (MG) é definida como uma doença autoimune da porção pós-sináptica da junção neuromuscular,que apresenta uma fraqueza muscular flutuante, podendo acometer diversos músculos (LORENZO; FERRER; ALBERNAS,2009). Essa enfermidade pode estar presente em indivíduos de várias idades, porém, mais especificamente em mulheres entre20 e 40 anos. Não obstante, os músculos mais acometidos são os oculares, faciais e bulbares (SUÁREZ, 2000). Nesse sentido, aorigem do termo remonta ao grego e latim, sendo ʻʻmysʼʼ correspondente ao músculo, ʻʻasteniaʼʼ à fraqueza e, por fim, ʻʻgravisʼʼ apesado ou severo. Outras denominações para essa doença incluem: paralisia bulbar sem achado anatômico, paralisia bulbarsubaguda descendente, síndrome de Erb, polimioencefalomielite, neuromiastenia grave, hipocinesia de Erb, entre outros(BRANCO et al, 2011).Objetivo: Revisar os benefícios do procedimento cirúrgico de timectomia para o tratamento de pacientes portadores de miasteniagravis.Desenvolvimento: A miastenia gravis ocorre devido a uma diminuição de receptores de acetilcolina nas junçõesneuromusculares, desencadeada por uma ação autoimune dos anticorpos contra os receptores nicotínicos alfa de acetilcolina.Ademais, observa-se que os anticorpos contra esse receptor específico de acetilcolina são encontrados em 80-90 % dospacientes com miastenia gravis. Através de técnicas de imunomicroscopia eletrônica comprovou-se a presença de anticorpos IgGnas junções neuromusculares (BUENROSTRO; DELGADILLO; ZENTENO, 2000). Neste sentido, uma das formas de tratamentopara indivíduos portadores da miastenia gravis é o procedimento de timectomia, técnica que é empregada desde o ano de 1939,sugere-se também a timectomia ampliaca com a ressecação de toda a gordura do compartimento mediastinal anterior com ointuito de encontrar o tecido tímico extraglandular, que é responsável pela manutenção dos sintomas em pacientes operados(RUIZ, 2004). Ainda neste contexto, sabe-se que a timectomia como procedimento é eficaz para um número significativo deportadores de miastenia gravis, entretanto, o que se discute é a respeito de seu exato papel e o momento adequado para indicá-la. Sendo que o mecanismo pelo qual a timectomia exerce resultados satisfatórios só é indicada quando há uma falha notratamento clínico (SAAD, 1997). Dessa forma, a timectomia ampliada para o tratamento de miastenia gravis é consideradasegura, eficaz, apresenta bom prognóstico no que tange à remissão completa sem utilização de medicamentos específicos e,também, para detecção de tecido tímico extraglandular em alguns casos. Através disso, deve-se executar o procedimento oquanto antes for confirmado o diagnóstico para MG e associar à terapêutica de plasmaferase pré-operatória e à terapêuticamedicamentosa (RUIZ, 2004).Conclusão: Através do levantamento bibliográfico realizado foi possível compreender que a miastenia gravis é uma doençaneurológica autoimune, que afeta a porção pós-sináptica da junção neuromuscular e que tem origem em anormalidades do timo.Portanto, a cirurgia de remoção do timo e o uso de alguns medicamentos imunossupressores, corticosteroides e inibidores decolinesterase são capazes de mitigar os sintomas de forma duradoura.
ReferênciasBRANCO, A. C. S. C. et al. Atualizações e Perspectivas na Miastenia gravis. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v. 15, n.4, p. 493-506, 2011.BUENROSTRO, L. E. M.; DELGADILLO, A. T.; ZENTENO, J. F. T. Patogénesis de la miastenia gravis. Rev Invest Clin, v. 52, p.80-85, 2000.LORENZO, O. H.; FERRER, J. I.; ALBERNAS, F. C. Miastenia gravis: diagnóstico y tratamiento. Revista archivo médico deCamagüey, v. 13, n. 5, p. 0-0, 2009.RUIZ, J. R. et al. Resultado da timectomia ampliada no tratamento de pacientes com Miastenia gravis. Jornal Brasileiro dePneumologia, v. 30, n. 2, p. 115-120, 2004.
SAAD, J. R. et al. Resultado da timectomia em doentes com miastenia gravis. J Pneumol, v. 23, n. 4, p. 189-192, 1997.SUÁREZ, G. A. Miastenia gravis: diagnóstico y tratamiento. Revista ecuatoriana de neurología, v. 9, n. 1-2, p. 23-26, 2000.
ANALISES SITUACIONAIS DA JUDICIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
1BRUNA APARECIDA SOARES FAVARO, 2HELOISA MACHINESKI, 3AMANDA CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA, 4DOUGLASFERNANDES TOMAZI, 5DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do curso da Farmácia1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Farmacia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A judicialização de medicamentos se tornou um fenômeno relevante nos últimos tempos, e assim vem ganhandoseu espaço na rede de saúde pública desde o ano de 1988, com a reformulação organizacional do Sistema Único de Saúde. Osprocessos judiciais é um direito adquirido e percebe-se uma adição exponencial dos medicamentos na demanda judicial, motivopelo qual o serviço público não conseguir suprir as necessidades exigidas. Constata-se que a justiça está buscando atender odireito do cidadão, porém distingue-se a falta de critério para que seja efetivada a judicialização dos medicamentos, do modo emque o custo não seja excessivo e não venha prejudicar o restante da população (MOURA et al., 2013). Objetivo: Dissertar sobre o aumento da demanda dos medicamentos judiciais e os aspectos populacionais. Desenvolvimento: A saúde pública no Brasil teve início no século XIX, nessa época eram realizadas apenas algumas ações aocombate à lepra e algum controle sanitário somente nos portos e ruas. Durante esse período não havia aspecto curativo desaúde pública, sendo legado a serviços de caridade ou privado. A partir da década de 1930, com uma melhora da estruturabásica do sistema público de saúde, passaram a serem realizadas ações curativas, mas estas ainda foram direcionadas apessoas trabalhadoras que contribuíam com o Instituto de Previdência e posteriormente ao Instituto Nacional de PrevidênciaSocial, ou seja, o direito a saúde não era direito de todos, seguindo ainda o modo privado ou de caridade (BARROSO, 2009). Osprincípios mais importantes do Sistema Único de Saúde são a universalidade, a equidade e a integridade. A universalidade estárelacionada ao direito do cidadão, e cabe ao Estado assegurar esse direito. Tem caráter constitucional e não pode haverdistinção dos indivíduos, devendo ser universal e igualitário. A equidade refere-se a diminuir a desigualdade, tratando todos deforma igualitária. Já a integridade trata do ser humano como um todo de forma integral, devendo agregar na sua conduta apromoção, prevenção, tratamento e reabilitação, além de possibilitar outras politicas públicas (MARQUES, 2008). A judicializaçãoda saúde refere-se à busca do Judiciário como última alternativa para obtenção do medicamento ou tratamento ora negado peloSistema único de Saúde, seja por falta de previsão na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos), seja por questõesorçamentárias. O direito a saúde é garantido por lei a todo e qualquer cidadão, dentre eles, estão o fornecimento demedicamentos por meio de processos judiciais. Observa-se, o acréscimo de processos judiciais em relação aos serviçosofertados, sobretudo o que envolve o fornecimento medicamentoso. Esta é uma incumbência do Ministério da Saúde em nívelmunicipal, estadual e federal em criar o acesso dos medicamentos ao paciente (MARQUES, 2008). Para Chieffi e Barata (2009),as ações judiciais na área da assistência farmacêutica vêm ocorrendo devido à falta de medicamentos nos serviços de saúde, emdecorrência dos preços alusivos repassados pelos fabricantes, padronização do uso, entre outros agravantes. Para Ventura etal. (2010), os pedidos judiciais se respaldam numa prescrição médica e na suposta urgência de obter aquele insumo, ou derealizar um exame diagnóstico ou procedimento, considerados capazes de solucionar determinada necessidade ou
problema de saúde . A escolha da via judicial para o pedido pode se dar pela pressão para a incorporação domedicamento/procedimento ou pela ausência ou deficiência da prestação estatal na rede de serviços públicos. Observa-se de umlado o fornecimento de medicamentos por meio de decisões informais e até mesmo emocionais que condenam a administraçãoao subsídio de tratamentos arrazoáveis, bem como de medicamentos experimentais de efeito duvidoso. Por outro lado, existe afalta de critérios para a verificação de qual entidade, União, Estados ou Municípios, que deve se responsabilizar pela entrega decada tipo de medicamento. Seguido dessa ideia nota-se a falha do sistema, que termina por imposição de esforços e defesasenvolvendo diferentes entidades, mobilizando diferentes áreas do setor público (BARROSO, 2009). Conforme Marques (2008),essas decisões judiciais que asseguram o direito individual para o acesso ao medicamento que apresenta um custo alto para ogoverno, acabam causando um prejuízo ao direito da maioria da população. Pode observar assim, que o direito é assegurado,mas se os processos judiciais não forem efetivados de forma sólida, tanto a população quanto os serviços públicos, serãoprejudicados. Nessa perspectiva, o Brasil não apresenta reais condições para cumprir o que está regido na Constituição, pois acada dia o número de pedidos de processos de medicamentos no âmbito judicial só tem aumentado.Conclusão: Concluiu-se que a judicialização no âmbito da saúde conceitua em expor a crescente procura de processos judiciais
para fornecimento de medicamentos não ofertados na rede pública e ainda demonstrar a falta de critérios para atender noindividual afetando assim no coletivo.
ReferênciasBARROSO, L.F. Falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos aparâmetros para a atuação judicial. Revista Jurisp Mineira, Belo Horizonte, v.60, n.188, p.29-60, jan./mar. 2009.CHIEFFI, A. L.; BARATA, R. B. Judicialização da política pública de assistência farmacêutica e equidade. Caderno de SaúdePública, Rio de Janeiro, v. 25, n. 8, p. 1839-1849, ago. 2009.MARQUES, L. S. A saúde pública e o direito constitucional brasileiro. Revista Âmbito Jurídico, Rio Grande, v.11, n.59, p.04-10,nov. 2008.MOURA, E. S. et al. O direito à saúde na Constituição Federal de 1988. Revista Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n° 114, jul.2013.VENTURA, S.P.S. et al. Judicialização da saúde, acesso à justiça e a efetividade do direito à saúde. Physis Revista de SaúdeColetiva, Rio de Janeiro, v.20, n.27, p.03-12, fev. 2010.
CASOS DE ESPINHA BÍFIDA NO PARANÁ DE 2014 A 2016: UMA REVISÃO
1RAFAEL RODRIGUES CORREA, 2LUCAS REZENDE, 3LUIZ GUSTAVO PIRES SILVA, 4LUCAS COSTA DE OLIVEIRA,5MARIA ELENA MARTINS DIEGUES, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmico do curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente e Coordendora do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente do Curso de medicina da UNIPAR
Introdução: Segundo Gaiva et al. (2009), a espinha bífida é uma malformação congênita decorrente do defeito de fechamento dotubo neural, que envolve tecidos sobrejacentes à medula espinal, arco vertebral, músculos dorsais e pele. Essa patologia semanifesta de duas maneiras: a espinha bífida aberta, ou cística, e a espinha bífida oculta. A aberta, ou cística, consiste em umaprotusão cística, podendo conter meninges anormais e líquido cefalorraquidiano; em humanos, o envolvimento de nervos podeafetar os membros inferiores, sendo o pé torto congênito um achado freqüente em fetos portadores de espinha bífida aberta(MIRANDA et al., 2011). Segundo Gaiva et al. (2011), a espinha bífida oculta é a forma branda da espinha bífida e é muitocomum; no entanto, nas pessoas afetadas, são poucos problemas associados. Frequentemente aparece tufo de pelos no local dodefeito.Objetivo: Levantamento de dados sobre recém-nascidos no Paraná de 2014 a 2016 portadores de espinha bífida, utilizando osdados apresentados no DATASUS.Desenvolvimento: As malformações congênitas (MC) pesam de modo considerável nas estatísticas de morbidade e mortalidadeperinatais devido ao aumento das suas taxas de incidência (CUNHA et al., 2005). Diante dos dados abstraídos do DATASUS,temos que durante o período de 2014 a 2016 foram registrados 114 nascidos vivos com espinha bífida no Paraná. No ano de2014 ocorreram 37 casos, sendo Foz do Iguaçu a Região de Saúde com o maior índice de ocorrências, com 8 casos. Em 2015,tivemos a contabilização de 37 casos no Paraná, mas nesse ano a predominância ocorreu na Região de Saúde Metropolitana,com 11 casos. No ano de 2016, a predominância de casos se manteve na Região de Saúde Metropolitana, mas os índicessubiram para 13 casos, além de ter ocorrido um aumento no número de casos no Paraná. Após a análise dos dados, identifica-seque, apesar de ser uma doença incomum, contando com 114 casos (2014-2016) no Paraná, suas consequências são de grandeabrangência social, pois para garantir uma boa qualidade de vida para os pacientes que possuem a anomalia é necessário umaintegralidade em seu tratamento, não trabalhando apenas com sua condição física, mas também o psicológico individual efamiliar, de forma que haja um preparo preparo entre os familiares para que saibam agir corretamente nas situações adversas.Segundo Simoni, a carencia de ácido fólico pode acarretar defeitos no tubo neural, onde esse defeito do tubo neural pode fazercom que o feto desenvolva espinha bífida.Conclusão: A partir dos dados, é possível concluir que a espinha bífida representa a maioria das malformações do tubo neural,sendo notável a importância do ácido fólico no período gestacional para que aconteça a multiplicação celular de forma correta.Além dos dados apresentarem um aumento do número de casos entre os anos de 2014 e 2016, evidenciou-se também aimportância dos programas governamentais de apoio à gestante que, entre outras ações, implicam no fornecimento de ácidofólico para as gestantes, visando a diminuição destes casos.
ReferênciasCUNHA, C. J. et al. Fatores genéticos e ambientais associados a espinha bífida. Rev Bras Ginecol Obstet, v. 27, n. 5, p. 5,2005.GAIVA, M. A. M. et al. Perfil clínico-epidemiológico de crianças e adolescentes que vivem e convivem com espinha bífida.Journal of Human Growth and Development, v. 21, n. 1, p. 99-110, 2011.GAIVA, M. A. M. et al. O cuidado da criança com espinha bífida pela família no domicílio. Esc Anna Nery Rev Enferm, v. 13, n.4, p. 717-25, 2009.MIRANDA, D. H. et al. Spina bifida in newborn cat: case report. Semina: Ciências Agrárias, v. 32, p. 1975-1980, 2011.SIMONI, R. Z. et al. Malformações do sistema nervoso central e a presença da mutação C677T-MTHFR no sangue fetal. RevBrasileira Ginecologia e Obstetrícia, v.35 n.10, p.436 - 439. 2013.
DETERMINAÇÃO In Vitro DO FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR DE EMULSÕES CONTENDO PRINCÍPIOS ATIVOSANTIENVELHECIMENTO E AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE
1ROSENI BORTOLON GRASSI DE CARLI, 2MAIARA CRISTINA DE CESARO, 3VOLMIR PITT BENEDETTI, 4DANIELAREGINA DA SILVA
1Docente Unipar1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR2Docente da UNIPAR3Graduada em Farmácia pela Universidade Paranaense - UNIPAR, Francisco Beltrão-PR
Introdução: Modificações nas características da pele no período do envelhecimento são inevitáveis, sendo influenciada porfatores intrínsecos, conhecidos pelo envelhecimento natural e fatores extrínsecos, causado por fatores ambientais, como aradiação solar (ARIZOLA et al., 2012; SILVA, 2013). Os raios UVA e UVB presentes na radiação solar podem provocar oenvelhecimento precoce e hiperpigmentação (CABRAL; PEREIRA; PARTATA, 2011). A fotoproteção auxilia a prevenir osurgimento de danos à pele, como envelhecimento, aparecimento de rugas profundas, câncer cutâneo (SCHALKA; STEINER,2013). A finalidade do uso de filtros solares é a diminuição da intensidade da radiação solar antes que esta penetre na pele, pormeio de efeitos de fotoproteção (ARIZOLA et al., 2012; SILVA, 2013).Objetivos: Desenvolver e avaliar a estabilidade preliminar de emulsões não iônicas fotoprotetoras contendo ativosantienvelhecimento, determinar o Fator de Proteção Solar (FPS) e verificar se os ativos interferem no valor do FPS dasemulsões.Material e Métodos: Foi desenvolvido no Laboratório de Farmacotécnica da Universidade Paranaense - UNIPAR, unidade deFrancisco Beltrão, duas formulações semissólidas não iônicas contendo diferentes filtros solares orgânicos (metoxicinamato deoctila associado a benzofenona 3 e filtro solar hidrossolúvel UVA-UVB). Em ambas as formulações foram adicionados os ativosantienvelhecimento, Adenin®, Biolumen® Firm e Liposomas de Coenzima Q10®, os quais são prescritos por dermatologistas. Foideterminado o fator de proteção solar in vitro conforme metodologia de Mansur et al. (1986) e avaliado a estabilidade preliminar(ciclo-gelo-degelo) das formulações, durante 15 dias, onde os parâmetros (características organolépticas, pH, espalhabilidade eestresse mecânico), foram verificados no tempo zero (24 horas) e no tempo de 15 dias. Resultados: A emulsão base contendo os filtros orgânicos metoxicinamato de octila associado a benzofenona 3, obteve o FPSde 27,45 e quando incorporados os ativos antienvelhecimento Adenin® 24,31, Biolumen® Firm 24,90 e Lipossomas de coenzimaQ10® 33,17. Na formulação base contendo o filtro solar hidrossolúvel UVA-UVB, foi obtido um valor do FPS de 12,48 e napresença dos ativos antienvelhecimento houve um decréscimo no valor do FPS. No estudo de estabilidade preliminar asformulações contendo os filtros metoxicinamato de octila associado a benzofenona 3 juntamente com os ativosantienvelhecimento mostraram-se mais estáveis quando comparadas as formulações com o filtro solar hidrossolúvel UVA-UVB,na presença dos ativos antienvelhecimento.Discussão: Esses resultados assemelham-se aos obtidos por Alves et al. (2010), que em seu estudo, a variação in vitro do FPSnas emulsões testadas não foi significativa depois de adicionados os agentes ativos antienvelhecimento. De acordo com Pinho etal. (2014), onde foi determinado o FPS in vitro de produtos magistrais na forma de gel, contendo o filtro solar hidrossolúvel UVA-UVB, o mesmo foi eficaz quando incorporado em géis com pH 7,2 e 7,5, abaixo disso o filtro pode se modificar para a formaácida e, como consequência, deixar de ser solúvel em água.Conclusão: Com os resultados obtidos foi possível observar que os filtros solares mais adequados para a incorporação dosativos antienvenlhecimento em estudo foram a associação dos filtros metoxicinamato de octila e benzofenona 3, pois semantiveram estáveis durante o estudo de estabilidade preliminar e não alteram muito o valor do FPS na emulsão base, o que émuito relevante para as farmácias de manipulação, pois diariamente são prescritas emulsões contendo diversos ativos e estesnão podem proporcionar muitas alterações nos valores do FPS das emulsões base.
ReferênciasALVES, Beatriz Lino. et al. Avaliação in vitro do fator de proteção solar a partir de fotoprotetores manipulados contendo agentesativos antienvelhecimento. Colloquium Vitae. Divinópolis, v. 2, n.2, p. 50-56, jul./dez. 2010.ARIZOLA, Hilda Gabriela Arantes de. et al. Modificações faciais em clientes submetidos a tratamento estético fonoaudiológico daface em clínica-escola de fonoaudiologia. Revista CEFAC. São Paulo, v. 14. n.6, p.:1167-1183, nov./dez. 2012.CABRAL, Lorena Dias da Silva; PEREIRA Samara de Oliveira; PARTATA Anette Kelsei. Filtros solares e fotoprotetores mais
utilizados nas formulações no Brasil. Revista Científica do ITPAC. Araguaína, v. 4, n. 3, julho. 2011.MANSUR, João de Souza. et al. Determinação do fator de proteção solar por espectrofotometria. Anais Brasileiros deDermatologia. v. 61, n. 3, p.121-124,1986.PINHO, José de Jesus Ribeiro Gomes de. et al. Determinação do fator proteção solar (in vitro) de produtos magistrais na formade gel. Avaliação dos aspectos sensoriais e físico-químicos. HU Revista. Juiz de Fora, v. 40, n. 1 e 2, p. 81-88, jan./jun. 2014. SCHALKA, Sergio; STEINER, Denise. Fotoproteção no Brasil: Consenso brasileiro de fotoproteção. Recomendações dasociedade brasileira de dermatologia. 1. ed. Rio de Janeiro: Copyright, 2013.SILVA, Vanessa Nascimento da. Tratamento das rugas periorbiculares em idosos através da laserterapia 650 nm.Orientador: Ciro Franco de Medeiros Neto. 2013. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Estadual da Paraíba,Campina Grande, 2013.
O USO DA HIPNOTERAPIA NA ODONTOLOGIA
1KATIELY TECILLA, 2RAFAELA FEIX PICINATO, 3LEISLE VERONICA PRESTES, 4ANA CAROLINE DOS SANTOS GRUNOW,5ISABELA VAZ DA COSTA, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmica Bolsista do PIBIC/ UNIPAR1Acadêmica Bolsista do PIBIC/ UNIPAR2Acadêmica do PIC/ UNIPAR3Acadêmica do PIC/ UNIPAR4Acadêmica do PIC/ UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A hipnose é a indução de relaxamento, calma e bem-estar, é uma prática dotada de métodos e técnicas quepropiciam aumento da eficácia terapêutica em todas as especialidades da Odontologia. Ela é aplicada nos consultóriosodontológicos afim de reduzir ou eliminar manifestações de fobias, medos, angústias, ansiedades, hostilidades e resistência aosprocedimentos.Objetivo: O objetivo deste trabalho é, através de uma revisão da literatura, demonstrar como amenizar tipos de sofrimentos eproporcionar mais conforto ao paciente, e a hipnose é uma alternativa completamente natural para que essa sensaçãodesapareça sem a necessidade de qualquer substância química. Desenvolvimento: A hipnoterapia é um procedimento através do qual um profissional de saúde conduz o indivíduo aexperimentar sensações, mudanças, percepções, pensamentos ou comportamentos. Determina como um estado de transe,caracterizado por extrema sugestibilidade, relaxamento, e imaginação elevada. Não é como o sono, pois o sujeito está alerta otempo todo, pode ser comparado ao estado de sonho acordado, onde fica perfeitamente consciente, mas filtram-se os estímulospróximos externos, focando-se fortemente no objeto pensado, com a exclusão quase total de qualquer outro pensamento. A partir do momento que se sabe o agente etiológico da dor e se tem a solução para o problema, na odontologia estão sendoutilizadas técnicas de hipnose no consultório, especialmente em procedimentos nos quais a anestesia não costuma ser utilizada,e costumam gerar, na maioria dos casos, incômodo. A hipnose pode substituir, em alguns casos, pequenas anestesias, diminuiros sangramentos e a salivação, permitindo ao profissional trabalhar com tranquilidade. Ela é um estado especial de consciência,intermediário entre o sono e vigília. Nesse estado, o lado direito do cérebro, que trabalha a imaginação, é ativado, enquanto olado esquerdo, mais racional, se relaxa. Controlar a ansiedade de um paciente odontofóbico durante um tratamento odontológicoe conquistar a sua confiança não é fácil, por isso, é cada vez mais comum entre os dentistas a prática da hipnose no consultóriocom o objetivo de tranqüilizar o paciente e tornar o ambiente mais agradável durante o tratamento. No entanto, requer alguns pré-requisitos básicos para ocorrer a hipnose, dentre eles; a pessoa precisa querer ser hipnotizada, ela precisa acreditar que podeser hipnotizada e precisa também se sentir confortável.Conclusão: A hipnose pode favorecer o autoconhecimento e, em combinação com outras formas de terapia, auxilia na conduçãode uma série de problemas, pois é o estado de atenção concentrada que torna possível ao indivíduo reagir aos estímulos e àssugestões do hipnotizador. Conviver com o medo dos pacientes é quase uma rotina na vida dos dentistas. Mas essa realidade,que atrapalha e muitas vezes até impede os tratamentos, pode melhorar com a hipnose, de uma vez que ela alcança a mentesubconsciente do indivíduo. A hipnose se mostra sendo como mais uma perspectiva no mercado de trabalho, mas para isto, ocirurgião dentista tem de se capacitar de forma apropriada em cursos reconhecidos e qualificados.
ReferênciasLUCAS, Wellington Aleixo. A Hipnose como auxílio no controle da dor no contexto odontológico. Fortaleza, 2014.Disponível em: http://cogniacao.com/wp-content/uploads/2017/01/A-Hipnose-como-aux%C3%ADlio-no-controle-da-dor-no-contexto-odontol%C3%B3gico-Ton-Lucas.pdf. Acesso em: 23 ago 2019.MATEUS, Rodrigo Cazarotto. Psychosomatics repercussions of hypnosis in people with diabetes Mellitus type II. 2008.173 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponívelem: https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/15737/1/Rodrigo%20Cazarotto%20Mateus.pdf. Acesso em 23 ago 2019.FERNANDES, Dayana dos Reis, et al. O uso da hipnose na odontologia. Dísponivel em:http://www.pergamum.univale.br/pergamum/tcc/ousodahipnosenaodontologia.pdf. Acesso em: 12 ago 2019.VOLPATO, Marco. Uso e aplicações da Hipnose na clínica odontológica. 2019. Disponívelem: https://repositorio.cespu.pt/handle/20.500.11816/3166?locale-attribute=pt. Acesso em: 23 ago 2019.
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resolução nº 82 de 25 de setembro de 2008. Reconhece e regulamenta o usopelo cirurgião-dentista de práticas integrativas e complementares à saúde bucal. Rio de Janeiro, 2008. Disponívelem: http://www.croma.org.br/normas/F/federal_2008_109.pdf. Acesso em: 29 ago 2019.BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria n° 702, de 21 de março de 2018. Altera a Portaria de Consolidaçãonº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas eComplementares - PNPIC. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponívelem: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt0702_22_03_2018.html. Acesso em: 29 ago 2019.
O COMPORTAMENTO SUICIDA NA ADOLESCÊNCIA E A ABORDAGEM DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DOSFATORES DE RISCO
1THIAGO BEZERRA DA SILVA, 2BARBARA ANDREO DOS SANTOS LIBERATI
1Acadêmico do curso de Enfermagem da UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: O suicídio pode ocorrer durante todo o curso da vida e em muitos países está entre as três principais causas demorte entre pessoas de 15 a 44 anos e a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 10 a 24 anos (RIBEIROe MOREIRA, 2018). Sendo a adolescência uma fase de vulnerabilidade a esse comportamento. A adolescência é caracterizadacomo uma fase de transição da infância à puberdade e em seguida a vida adulta, ocasionando mudanças físicas e psicológicasno indivíduo (BRAGA, DELL´AGLIO, 2013). A depressão é responsável pelo maior número de suicídios no mundo todo,caracterizando-se como o principal fator de risco para o comportamento suicida. Diante do aumento do número de casos desuicídio, os profissionais da saúde devem aprimorar seus conhecimentos a respeito das características do comportamentosuicida, melhorar a abordagem frente a essas situações, reconhecendo os sinais de alerta, além de promover a conscientizaçãoda família e sociedade com o intuito de eliminar os fatores de risco para o suicídio (FAÇANHA et al, 2010). Desta forma, ficaevidente a importância do papel do enfermeiro na prevenção do suicídio, sendo uma das área mais ligada ao cuidado do serhumano, devido a sua forma integral de assistir o paciente, que vai desde o cuidado físico, mental e social, além de, valorizar avida do indivíduo.Objetivo: Descrever como o profissional enfermeiro pode atuar e identificar a ideação suicida entre os adolecentes.Desenvolvimento: Os dados para a realização dessa pesquisa foram coletados a partir de artigos científicos. A adolescência éuma fase caracterizada como a mais propícia para a ideação suicida, principalmente quando associada a transtornos mentaiscomo a depressão e a presença de sintomas depressivos como desmotivação, desesperança, perda da capacidade de seconcentrar, diminuição ou ganho de peso e sentimento de tristeza (BRAGA, DELL´AGLIO, 2013). Sendo assim, adolescentes sesentem pressionados com cobranças e mudanças que passam durante essa fase de transição à vida adulta perdendo acapacidade de se habituar a essas transformações (KONDO et al, 2011).Os profissionais de enfermagem da atenção primáriapor serem mais acessíveis,disponíveis, compartilharem um contato maior com a comunidade e serem a porta de entrada para os serviços de saúde, sãofundamentais no combate e prevenção do suicídio. As habilidades de saber ouvir, se comunicar, demonstrar empatia e trabalhara postura não verbal são essenciais na abordagem de um paciente em risco (SILVA, GOMES, AMARAL, LORETO, 2017). Aprincipal prevenção do suicídio é a eliminação dos fatores de risco, devendo adotar as seguintes estratégias: tarefas educativasvoltadas a comunidade e ajuda para pessoas em risco, identificação de grupos de alto risco e a realização de políticas sociais,criação de serviços de apoio, melhoria de diagnósticos e tratamentos, programas que promovem auto aceitação e melhoria daautoestima, restringir o acesso ao métodos autodestrutivos e aumentar a conscientização da população quanto a problemática dosuicídio (FAÇANHA et al, 2010). Conclusão: Após o desenvolvimento deste estudo, conclui-se que o suicídio está entre os principais problemas de saúde nomundo e que os adolescentes estão se tornando um público suscetível a problemas psicológicos e à ideação suicida. Pelo fatoda adolescência ser uma fase de transição à vida adulta e por apresentar transformações tanto físicas quanto psicológicas,inclusão em um grupo social, preconceito e bullying, descobrimento do álcool e outras drogas, trazem consequências para odesenvolvimento mental saudável do adolescente. Sendo assim, pode-se observar a importância do papel do enfermeiro comoagente transformador frente aos adolecentes com ideação suicida. Para tanto, este deve uma maior conscientização equalificação em relação a problemática dos transtornos mentais e pacientes com ideação suicida, aprendendo que umaabordagem terapêutica é o primeiro passo para o cuidado e prevenção do suicídio.
ReferênciasBRAGA, L.L.; DELL´AGLIO, D.D. Suicídio na adolescência: fatores de risco, depressão e gênero. Contextos clínic. v. 6, n.1, p.2-14. 2013.KONDO, E. H.; VILELLA, J.C.; BORBA, L.O.; PAES, M.R.; MAFTUM, M.A. Abordagem da equipe de enfermagem ao usuário naemergência em saúde mental em um pronto atendimento. Rev Esc Enfermagem USP. v. 45, n. 2, p. 501-507. 2011.RIBEIRO, J. M.; MOREIRA, M.R. Uma abordagem sobre o suicídio de adolescentes e jovens no Brasil. Ciênc. Saúde coletiva. v.23, n. 9. 2018.FAÇANHA, J. D. N et al. Prevenção do suicídio em adolescentes: programa de interveção believe. SMAD, Rev. Eletrônica
Saúde Mental Álcool e Drogas. v. 6, n. 1, p. 1-16. 2010.SILVA, C. A. M.; GOMES, J. C.; AMARAL, M. S.; LORETO, R. G. O. Atuação do profissional enfermeiro no atendimento aopaciente por tentativa de suicídio. Revista científica FACMAIS. v. 9, n. 2, p. 1-14. 2017.
MANIFESTAÇÃO DE CANDIDÍASE EM PACIENTES PORTADORES DE AIDS
1LETICIA DANTAS GROSSI, 2ANDRESSA ANDRADE NOVAES, 3CINTIA DE SOUZA ALFERES ARAUJO , 4HELOISA GARCIAFRANCOZO, 5JOAO MURILO GONCALVES GAZOLA, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmico bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmico bolsista do PIBIC/UNIPAR2Docente da UNIPAR3Acadêmica PIC do Curso de Odontologia da UNIPAR4Acadêmico bolsista do PIBIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A infecção por HIV/AIDS é uma pandemia, com casos notificados em quase todos os países. A AIDS é resultanteda infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), que ocasiona uma diminuição progressiva da imunidade celular e oconsequente aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias malignas (COELHO, 2014). A doença é transmitida através derelações sexuais, por sangue e agulhas contaminadas, e através de via parenteral, ou seja, da mãe para o filho na hora do parto,e também na amamentação. A doença pode ficar meses ou até mesmo anos no organismo do indivíduo de forma assintomática,tornando este indivíduo ignorante a sua situação pela ausência de sintomas. A AIDS é uma doença crônica, cuja característica sedá pelo enfraquecimento imunológico em virtude do declínio dos níveis de Linfócitos T. Em ambos os sexos, a maior parte doscasos se concentra na faixa etária de 25 a 49 anos. Porém, nos últimos anos, tem-se verificado aumento percentual de casos napopulação acima de 50 anos (SOUZA apud COELHO, 2014) Estudos retrospectivos apontam uma prevalência em torno de 80%dos sintomas na região da cabeça e pescoço. As manifestações orais são as mais frequentes, seguidas pelo acometimentocervical, nasossinusal e, menos comumente, otológico. Tais sintomas podem estar presentes desde a infecção aguda atéestágios avançados da doença. Verifica-se na literatura que há predominância de alguns tipos de lesões, dentre as quais, acandidíase nas suas diversas apresentações clínicas (candidíase eritematosa, pseudomembranosa e leucoplásica), as doençasgengivais e/ou periodontais, a leucoplasia pilosa, o sarcoma de Kaposi, o herpes simples, a infecção pelo papilomavírus humano(HPV) e a tuberculose se situavam entre as mais frequentemente citadas. Objetivo: O objetivo deste trabalho é através de uma revisão de literatura enfatizar as principais manifestações bucais causadaspela AIDS, dentre elas, a candidíase, a mais comumente encontrada devido a sua grande prevalência em indivíduos com estadode imunossupressão. Desenvolvimento: Segundo Aguirre Urizar (2004), conforme citado por Gasparin (2009), \"As lesões bucais estão fortementeassociadas à infecção pelo HIV. A principal característica patológica do vírus da imunodeficiência humana é a diminuiçãoprogressiva da imunidade celular e o consequente aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias malignas\". A infecçãocompromete o sistema imune de maneira sistêmica, o que ocasiona também depleção na função imunológica da mucosa bucal,tornando-a suscetível à diversas alterações (CAVASSANI et al, 2002). As infecções fúngicas se instalam em grande número depacientes portadores do HIV, devido às profundas alterações que ocorrem na função imunológica mediada por linfócitos T, comredução da imunidade do paciente (CAVASSANI et al, 2002). A candidíase oral está associada com a xerostomia, severidade dadoença e imunossupressão. É caracterizada por quatro subtipos clínicos como: eritematosa; pseudomembranosa; hiperplásica equeilite angular. A forma eritematosa é representada por áreas avermelhadas, localizadas principalmente no palato, língua emucosa jugal enquanto a queilite angular acomete as comissuras labiais com variados aspectos clínicos, desde os fissurais àulcerados. A candidíase hiperplásica é representada sob a forma de placas ou nódulos esbranquiçados, firmemente aderidas àsáreas eritematosas. A candidose esofágica persistente está associada a quadro graves de imunossupressão e essa pode ser aprimeira manifestação da AIDS. O tratamento da candidíase consiste em antifúngicos, como fluconazol, nistatina, miconazol,cetoconazol que podem ser encontrados de forma tópica ou como medicação sistêmica. Além disso, o tratamento odontológicodos pacientes soropositivos para HIV deve ser sempre planejado e com acompanhamento médico. Com o início da terapia anti-retroviral altamente potente (HAART) alguns pesquisadores verificaram a redução acentuada na ocorrência de infecçõesoportunistas (CAVASSANI et al, 2002). Conclusão: As lesões bucais estão fortemente relacionadas com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, sendo a maisprevalente a candidíase, sendo assim é essencial o conhecimento do cirurgião dentista sobre essa doença, bem como aatualização quanto às novas tendências da terapêutica. Além disso, é importante o reconhecimento das lesões orais de pacientesportadores de HIV, já que a cavidade oral apresenta as primeiras manifestações.
ReferênciasCAVASSANI, Valdinês Gonçalves dos Santos, et al. Oral candidiasis as prognostic marker of HIV infected patients. Rev BrasOtorrinolaringol. v.68, n.5, p.630-634, set./out. 2002.COELHO, Mânia de Quadros, et al. Perfil de pessoas que vivem com HIV/AIDS e prevalência de manifestações bucais nessesindivíduos. Montes Claros, v. 16, n.2 - jul./dez. 2014.GASPARIN, Adriano Baraciol, et al. Prevalência e fatores associados às manifestações bucais em pacientes HIV positivosatendidos em cidade sul-brasileira. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, jun, 2009.SOUZA, Lélia Batista de, et al. Oral manifestations in HIV - infected patients in a Brazilian population. Pesq Odont Bras, v. 14, n.1, p. 79-85, jan./mar. 2000.
PREVALÊNCIA DE SÍNDROME METABÓLICA NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NAS MACRORREGIÕES DO BRASIL:UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
1JANAINA DA SILVA MACHADO, 2SHELZEA SHANDARA RECH DOS SANTOS, 3MARCELA DE FÁTIMA NOVAK, 4ANAPAULA ZORZI PEREIRA, 5ADRIANA SOARES MOSER, 6DURCELINA SCHIAVONI BORTOLOTI
1Discente de Educação Física, PIBIC/UNIPAR1Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR2Discente de Enfermagem, PIBIC/UNIPAR3Discente de Nutrição, PIC/UNIPAR4Discente de Enfermagem, PIC/UNIPAR5Docente do curso de Educação Física, PIC/PIBIC/UNIPAR
Introdução: A síndrome metabólica (SM) é caracterizada por um conjunto de distúrbios metabólicos que incluem obesidade(FARIA et al., 2009). Assim, a presença de três ou mais componentes para o diagnóstico da SM como Hipertrigliceridemia, HDL-creduzido, hiperglicemia, obesidade abdominal e hipertensão arterial são os componentes utilizados pelo NCEP/ATPIII nadefinição da SM em adultos, crianças e adolescentes (RODRIGUES et al., 2011). Relatos da literatura destacam que, a SM émais elevada em adolescentes obesos com prevalência em torno de 40%. Entretanto, dados relativos a prevalência dessapatologia em populações de crianças e adolescentes brasileiras obesas ou não, ainda encontram-se generalizados, o que podedificultar a tomada de decisão em saúde pública quanto às ações de prevenção e tratamento.Objetivo: Verificar a prevalência de síndrome metabólica na infância e adolescência nas macrorregiões do Brasil a partir de umarevisão sistemática da literatura.Desenvolvimento: O estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura. Incluiu-se estudos indexados àsseguintes bases de dados nacionais: LILACS, SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde e no Google Acadêmico, publicados de 1990até Julho de 2019. Os estudos deveriam ser compostos por crianças de até 10 anos e adolescentes de 11 a 19 anos, acometidosou não pela obesidade. Os descritores utilizados para as buscas foram: crianças, adolescentes, escolares, síndrome metabólica,excesso de peso e prevalência. Após a busca e análise dos artigos, apenas 33 artigos foram encontrados, contudo, para esteestudo foram apresentados os estudos mais relevantes. Na distribuição das pesquisas de acordo com regiões do Brasil,encontrou-se estudos publicados a partir de dados dos seguintes estados: Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais,Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e um no Brasil feito com municípios commais de 100 mil habitantes. A prevalência de SM variou de 1,3% da amostra total de 380 adolescentes (RODRIGUES et al.,2009) na cidade de Vitória (ES) à 74% em uma amostra ambulatorial de crianças e adolescentes (n=74) (RODRIGUES et al.,2011) em um estudo do Rio de Janeiro (RJ). Em estudo realizado em Anápolis (GO) com 393 adolescentes obesos com idadesentre 10 e 14 anos, demonstraram uma prevalência de SM de 37,39% (n=147), sendo que a maior prevalência foi no sexomasculino (19,84%; n=78) (TEIXEIRA et al., 2009). Dados que vão de encontro ao estudo realizado o município de Goiânia (GO),onde dos 200 adolescentes de 10 a 16 anos, 12% (n=24) apresentaram SM sendo que, do total de meninos (n=86), 15,1% (n=13)foram diagnosticados com SM (SILVA, 2013). Em contrapartida, um estudo realizado na região nordeste na cidade de Natal (RN)com 449 meninas de oito a 18 anos nos diferentes estágios pubertários, a presença de SM esteve presente em 3,3% (n=15) dasmeninas, sendo 2,5% (n=5) nas púberes e 7,9% (n=10) nas pós púberes. O referido estudo concluiu que o excesso de gordura éo principal desencadeador de SM nas menores de dez anos (SILVA et al., 2016). No estudo de Bortoloti et al., (2015), conduzidono município de Francisco Beltrão/Paraná, onde foram avaliados 683 adolescentes de 11 a 17 anos, identificou-se umaprevalência de 5,4% (n=37) de SM. Os autores destacam que o risco pode ser aumentado naqueles com excesso de peso ebaixo envolvimento em práticas esportivas. Assim, parece que as prevalências de SM tendem a variar consideravelmente nosestudos conduzidos em crianças ou adolescentes obesos, destacando que a obesidade é um importante fator de risco para aSM. Nesse sentido, mais do que destacar a prevalência da SM, alguns estudos têm apresentado estratégias de tratamento oucontrole da SM em populações de jovens obesos, como no estudo conduzido em Presidente Prudente (SP), onde constatou-seque uma intervenção realizada durante 20 semanas, por meio de um treinamento concorrente (aeróbio e resistido), os 50adolescentes obesos com idade entre 12 a 16 anos reduziram na amostra geral a prevalência de SM de 44% (n=22) para 38%(n=19), demonstrando que o exercício físico pode ser uma importante estratégia não medicamentosa na redução da SM(SILVEIRA, 2012). Corroborando com estes achados, um outro estudo realizado no município de Francisco Beltrão, os autoresverificaram que dos 24 adolescentes obesos, 37,5% (n=9) tinham três ou mais fatores de risco da SM, contudo, após seremsubmetidos a doze semanas de um programa de exercício físico intervalado (25 minutos de corrida intervalada de moderada e
alta intensidade), o percentual caiu para 25% (n=6) (SCHIAVONI et al., 2015).Conclusão: Verificou-se que houve uma grande variação nos dados de prevalência de SM (1,3% a 74,0%) de crianças eadolescentes nas diferentes regiões do Brasil. Contudo, destaca-se que ainda há poucos estudos sobre essa temática, assim énecessário a condução de estudos adicionais, nas diferentes regiões do país a fim do melhor conhecimento tanto dasprevalências, bem como dos fatores de risco associados à SM nessa população.
ReferênciasBORTOLOTI, Durcelina Schiavoni et al. Prevalence of metabolic syndrome and associated factors in 11-to 17-year-oldadolescents. Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano, v. 17, n. 6, p. 683-692, 2015.FARIA, Eliane Rodrigues de et al. Síndrome metabólica em adolescentes: uma atualização. Nutrire Revista SociedadeBrasileira de Alimentação e Nutrição, v. 34, n. 2, p. 179-194, 2009.RODRIGUES, Anabel Nunes et al. Fatores de risco cardiovasculares, suas associações e presença de síndrome metabólica emadolescentes. Jornal de Pediatria (Rio de Janeiro), v. 85, n. 1, p. 55-60, 2009.RODRIGUES, Lúcia Gomes et al. Prevalência de alterações metabólicas em crianças e adolescentes com sobrepeso eobesidade: uma revisão sistemática. Revista Paulista de Pediatria, v. 29, n. 2, p. 277-288, 2011.SCHIAVONI, Durcelina et al. Efeito do exercício físico nos componentes da síndrome metabólica em adolescentes obesos deFrancisco Beltrão/PR. Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício, v. 14, n. 4, p.205-215, 2015.SILVA, Gilberto Reis Agostinho. Prevalência da Síndrome Metabólica em adolescentes da rede municipal de ensino deGoiânia-GO. Orientadora: DRª. Maria Sebastiana Silva. 2013. 82f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - UniversidadeFederal de Goiás, Goiânia, 2013.SILVA, João Batista da et al. Prevalência da síndrome metabólica nos estágios pubertários de escolares do sexofeminino. Revista de Salud Pública, v. 18, p. 425-436, 2016.SILVEIRA, Lorena Sanches. Efeito do treinamento concorrente sobre parâmetros da síndrome metabólica emadolescentes obesos. Orientador: Dr. Ismael Forte Freitas Júnior. 2012. 79f. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia) Faculdade de Ciências e Tecnologia-UNESP, Presidente Prudente, 2012.TEIXEIRA, Cristina Gomes de Oliveira et al. Relação entre obesidade e síndrome metabólica em adolescentes de 10 a 14 anoscom obesidade abdominal. Acta Scientiarum. Health Sciences, v. 31, n. 2, p. 143-151, 2009.
NOTIFICAÇÃO DA SÍNDROME DA MORTE SÚBITA DO LACTENTE NO BRASIL DE 2006 A 2016
1CAROLINE VINTIGUERA PANCERA, 2ISABELLA ACACIO FERREIRA DE SOUZA, 3ISADORA GIACOMINO ALVES,4GABRIELA BEVILAQUA OKABAYASHI, 5IRINEIA PAULINA BARETTA, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A Síndrome da Morte Súbita do Lactente (SMSL), é caracterizada pela morte de uma criança com a idade inferior aum ano de aparência saudável e repentinamente. Apesar da longa investigação de necropsia, sua causa se mantém oculta nagrande maioria dos casos. Isso se dá, frequentemente, pelo fato de a criança ser colocada para dormir em decúbito ventral,sendo, por isso, popularmente chamada de morte no berço (NUNES et al., 2001 apud CARDOSO; 2014).Objetivos: Analisar as informações a respeito dos óbitos infantis relacionados a Síndrome da Morte Súbita do Lactente no Brasilentre os anos de 2006 a 2016, utilizando os dados do DATASUS.Material e métodos: O material utilizado para análise foi obtido no Sistema de Informação do SUS (DATASUS), órgão doMinistério da Saúde, que promove suporte e informação do Sistema Único de Saúde através da manutenção de bases de dadosnacionais. Com este foi possível obter dados das regiões brasileiras, contendo índices de óbitos de morte súbita do lactante,entre o período de 2006 a 2016.Resultados: Segundo os dados obtidos no DATASUS, verificou-se 1.725 óbitos no Brasil de janeiro de 2006 a dezembro de2016, sendo este valor aproximadamente 9,18 x 10-4 % da população total do país. A região Sudeste foi a que contou com omaior número de casos (594), porém o maior percentual ocorreu na região Norte, onde 12,54 x 10-4 % da sua população morreudevido a síndrome, o equivalente a 192 casos. Nessa região, o estado de Roraima foi o que obteve maior incidência,apresentando 19 mortes, com percentual de 45,32 x 10-4 % da população do estado afetada, demonstrando ser a uniãofederativa com maior percentual também a nível nacional. Ainda em conformidade com esses dados, o estado com menor índicede óbitos registrados foi o Rio de Janeiro com 26 mortes, com cerca de 1,67 x 10-4 % de sua população afetada. Já o menornúmero com relação a região foi na Sul onde houve 317 casos que demonstram cerca de 5,81 x 10-4 %. É evidente também que,durante esse período, a proporção dos casos oscilou, mostrando sua prevalência no país durante o ano de 2011 com total de 186mortes. Discussão: A SMSL normalmente ocorre a partir do segundo ao quarto mês de vida, sendo cerca de 80% dessas mortesprovocadas por essa síndrome. Os lactentes do sexo masculino são as maiores vítimas dela, chegando a incidência de 30% a50% maior em relação aos do sexo feminino (TÂMEGA, 2010). Fatores como baixa idade materna, gestação múltipla, falta deambos os pais presentes, tabagismo, uso de álcool e drogas durante a gestação ou após o nascimento, aleitamento artificial,desnutrição, ausência nas consultas pré-natais e outros, foram analisados como elementos importantes de risco para aocorrência dessa síndrome (CARDOSO, 2014). Para averiguar se a causa de um óbito infantil está relacionado com a SMSL érealizado uma entrevista com os pais, a fim de verificar as condições, lugar e posição em que a criança dormia, assim como otipo de roupa e o clima do local. Com base nas respostas e seguindo os padrões de incidência, associa-se ou não a morte dolactente devido a síndrome (PINHO; NUNES, 2011). Além disso, também foi constatado que em grande parte das criançasacometidas havia uma falha cardiorrespiratória associada com a hipoxemia. Compreende-se também que a exposição aotabagismo no útero influencia no desenvolvimento da SMSL, já que a toxicologia nicotínica interfere no controle das atividadesnormais cardiorrespiratórias (ZHUANG; ZHAO; XU, 2014). Apesar de não ser totalmente comprovado que ações de prevençãoinibem a SMSL, é importante que a população saiba que a possibilidade de ocorrência da síndrome pode ser reduzida comalgumas condutas simples, como colocar a criança na posição de decúbito dorsal quando for dormir, deixar o colchão firme,dormir no mesmo ambiente que os pais, não colocar objetos sobre a cama, não usar gorros, evitar o sobreaquecimento doquarto, uso de chupeta e manter as imunizações em dia (FERNANDES et al., 2012; NEVES, 2011).Conclusão: Examinado os dados da incidência da SMSL de janeiro de 2006 a dezembro de 2016 no Brasil, constata-se que naregião Norte houve maior porcentagem de óbitos ao se comparar com as outras regiões brasileiras e esse fato pode serrelacionado com os fatores socioeconômicos e culturais da região, como a baixa renda familiar e escolaridade dos pais,ocasionando a falta de informação a respeito da existência da síndrome e levando a deixar a criança na posição incorreta ao
deitar para dormir.
ReferênciasBRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. DATASUS: informações de saúde. Disponível em: Acesso em: 16 mai 2019.CARDOSO, A. L. Fatores de risco e prevenção para síndrome da morte súbita do lactente (SMSL) Revisão de Literatura. RevCientífica da FHO UNIARARAS, v. 2, n. 2, p. 25-31, 2014.FERNANDES, A. et al. Síndrome da morte súbita do lactente: o que sabem os pais? Acta Pediatr Port, v. 43, n. 2, p. 59-62,2012.NEVES, C. M. Novas recomendações na prevenção da morte súbita do lactente. Rev Port Clin Geral, v. 27, n. 6, a. 15, p. 566-8,2011.PINHO, A. P. S.; NUNES, M. L. Epidemiological profile and strategies for diagnosing SIDS in a developing country. Jornal dePediatria, v. 87, n. 2, 2011.TÂMEGA, I. das E. Mistério a ser desvendado: Síndrome da Morte Súbita do Lactente (SMSL). Rev. Fac. Ciênc. Méd.Sorocaba, v. 12, n. 1, p. 28-30, 2010.ZHUANG, J.; ZHAO, L.; XU, F. Maternal nicotinic exposure produces a depressed hypoxic ventilatory response and subsequentdeath in postnatal rats. Physiological Reports, v. 2, n. 5, 2014.
ANÁLISE DE DADOS RELATIVOS AOS ÓBITOS RECORRENTES DE MALFORMAÇÃO CONGÊNITA NO PARANÁ ENTREOS ANOS DE 2006 E 2016 - ESTUDO RETROSPECTIVO
1LARISSA LOYOLA BARBOSA, 2ROBERTO RONEY BICHERI FILHO, 3MARIO MARQUES PEREIRA FILHO, 4RAFAELABEARZI RESTON, 5THEO COELHO RIBEIRO, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Malformação congênita (MC), inclui todas as anomalias funcionais ou estruturais do desenvolvimento fetaldecorrente do fator originado antes do nascimento, genético, ambiental ou desconhecido (BELFORT; BRAGA; FREIRE, 2006).De acordo com Dutra; Ferreira (2017), é possível averiguar uma tendência crescente nas taxas de malformação congênita noestado do Paraná. Objetivo: Analisar os óbitos pela má formação congênita em recém-nascidos no Paraná entre os anos de 2006 a 2016, segundoos dados do DATASUS. Material e métodos: O material utilizado para análise foi obtido no Sistema de informação do SUS (DATASUS), órgão doMinistério da Saúde, que promove suporte e informação do Sistema Único de Saúde através da manutenção de bases de dadosnacionais. Com este foi possível obter dados sobre o estado do Paraná, índice de óbitos recorrentes de malformação congênitaentre o período de janeiro de 2006 e dezembro de 2016.Resultados: Segundo DATASUS, existe uma confirmação total de 1.999 casos em todas as regiões do Paraná, a regiãoMetropolitana do Paraná é a subdivisão mais afetada com 655 casos e a região menos afetada é a de Ivaiporã com 18 casos deóbitos confirmados. A região de Umuarama apresentou 42 casos confirmados entre os totais dos anos. Assim, em suasproximidades, como Toledo e Cascavel, obtém-se 61 e 107 casos de confirmação, respectivamente. Pode-se afirmar, pelosdados, que a região de Paranaguá, abrangendo Antonina e Morretes teve um total de 37 casos confirmados de óbitos. Já emPonta Grossa, existe confirmação de 128 casos. Guarapuava, sendo considerada um grande centro apresenta 102 situaçõesconfirmadas. Assim, as regiões localizadas mais ao sul, como União da Vitória, Pato Branco e Francisco Beltrão, possuem 31, 45e 60 confirmações respectivamente. Somando a cidade de Foz do Iguaçu, totaliza-se 107 casos. Também duas cidadesimportantes são Maringá e Londrina com um total de 135 confirmados, ambas. Discussão: O impacto dos defeitos congênitos no Brasil vem aumentando, tendo passado da quinta para a segunda causa dosóbitos em menores entre 1980 e 2000. É evidente que as enfermidades genéticas e os defeitos congênitos incidemsignificativamente na saúde da população. A saúde e o bem-estar geral da mãe também podem impactar na formação congênitado feto por conta de mutações que resultam em malformações (HOROVITZ, 2010). O consumo de bebidas alcoólicas por umagestante pode provocar no feto inúmeros efeitos deletérios, constituindo um quadro grave, denominado síndrome alcoólica fetal(SAF), ou ainda um conjunto de disfunções mais sutis, cognitivas e/ou comportamentais. O álcool é considerado, atualmente, oagente teratogênico fetal mais comum, principal causa de retardo mental e de anomalias congênitas não hereditárias, trazendouma série de problemas como a hidrocefalia, meningomielocele e diminuição do tamanho do cerebelo, também podendo estarpresentes nos filhos de gestantes consumidoras de álcool durante a gravidez (MESQUITA; SEGRE, 2010). O risco de fetosnascerem com malformação congênita são maiores nos casos de mães com transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia.Contudo, a preponderância da malformação congênita na população é cerca de 4% e se encontra mais explícita em gestantesjovens (PEREIRA, 2011). Relacionado a isso, o estado do Paraná tem parte de sua economia baseada na agricultura. O avançoda tecnologia no decorrer dos anos alavancou os estudos na área agrícola, e um exemplo disso foi a utilização dos agrotóxicosnas lavouras. Por definição legal, Decreto nº 4.074/2002, agrotóxicos e afins são os produtos e os agentes de processos físicos,químicos ou biológicos, cuja finalidade visa alterar a composição da flora ou da fauna (TOMYTA, 2005). Porém, essa tecnologiainserida no agronegócio tem prejudicado a saúde dos consumidores, por se tratarem de substâncias químicas fortes, podendodeixar gestantes afetadas aumentando a probabilidade para casos de malformação congênita. As MC afetam de 3% a 5% detodos os nascimentos, sendo que um terço desses defeitos põe em perigo a vida dos mesmos (BENÍTEZ-LEITE; MACCHI;ACOSTA, 2009). Em geral, as anomalias congênitas podem ser corrigidas ao nascer, assim como também a intervenção fetalpode ser realizada. Os defeitos congênitos que podem ser retificados são executados pela cirurgia materno-fetal aberta com a
utilização da fetoscopia. Ainda há outros processos de intervenção, como: cirurgia fetal aberta para a correção dameningomielocele, a intervenção fetal minimamente invasiva EXIT (onde há intubação fetal). Dessa maneira, tem-se diversasformas de intervir nas anomalias congênitas (SBRAGIA, 2010). Conclusão: A malformação congênita é uma anomalia estrutural que pode ser causada por inúmeros fatores, entre eles aexposição extrema aos agrotóxicos e pelo consumo de bebidas alcoólicas pela gestante. Assim, observa-se uma elevada taxadestas anomalias no estado do Paraná, com uma totalidade de 1.999 casos no período de 2006 até 2016, tendo a regiãoMetropolitana como predominante. As prevenções são o EXIT, cirurgia fetal aberta e a intervenção fetal minimamente invasiva.
ReferênciasBENÍTEZ-LEITE, S.; MACCHI, M. L.; ACOSTA, M. Malformaciones congénitas associadas a agrotóxicos. Revista de LaSociedad Boliviana de Pediatría, Sucre, v. 48, n. 3, p. 204-217, 2009.BELFORT, P.; BRAGA, A.; FREIRE, N. Malformação arteriovenosa uterina após doença trofoblástica gestacional. Revista BrasilGinecol. Obstet., São Paulo, v. 28, n. 2, p.112-121, 2006. DUTRA, L.; FERREIRA, A. Associação entre malformações congênitas e a utilização de agrotóxicos em monoculturas no Paraná,Brasil. Saúde debate, Rio de Janeiro , v. 41, n. spe2, p. 241-253, 2017 . HOROVITZ, D. G. Atenção aos defeitos congênitos no Brasil: panorama atual. Cad. Saúde Pública, Rio de janeiro, v 21. p. 2-9.2010. MESQUITA, M.; SEGRE, C. Congenital malformations in newborns of alcoholic mothers. Einstein (São Paulo), São Paulo, v. 8,n. 4, p. 461-466, 2010 PEREIRA, P. Transtornos mentais maternos graves e risco de malformação congênita do bebê: uma metanálise. Cad. SaúdePública, Rio de Janeiro , v. 27, n. 12, p. 2287-2298, 2011. SBRAGIA, L. Tratamento das malformações fetais intraútero. Rev Bras Ginecol Obstet. v. 32. n. 1. p. 2-6, 2010.TOMYTA, R. Y. Legislação de agrotóxicos e sua contribuição para a proteção da qualidade do meio ambiente. Rio de Janeiro:Saúde debate. v. 41, n. Especial. p. 241-253, 2005.
TIPOS DE PARTOS NO PARANÁ DE 2013 A 2016 - ESTUDO RETROSPECTIVO
1JULIA MUNARETTO ZONIN, 2MILENA DE SOUZA HELLER, 3MILENA SOUZA MENDES, 4NATALIA MARIA FIGUEIRADONADIO, 5MARIA ELENA MARTINS DIEGUES, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Discente do Curso de Medicina/UNIPAR1Discente do Curso de Medicina da UNIPAR2Discente do Curso de Medicina da UNIPAR3Discente do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente e Coordenadora do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente do Curso de Medicina da UNIPAR
Introdução: O elevado número de cesarianas no país coloca o Brasil em segundo lugar no mundo em percentual deste tipo departo. Enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece em até 15% a proporção recomendada de cesarianas, noBrasil esse percentual chega a 57% (UNICEF, 2017). A OMS preconiza que o objetivo da assistência ao nascimento é promovero mínimo possível de intervenção, com segurança, para obter uma mãe e uma criança saudáveis. Suas recomendações para aassistência ao parto consistem na mudança de paradigma, e entre elas registram-se: o resgate da valorização da fisiologia doparto, o incentivo de uma relação de harmonia entre os avanços tecnológicos e a qualidade das relações humanas, além dedestacar o respeito aos direitos de cidadania (VELHO, et al. 2014).Objetivo: Fazer um levantamento de dados em relação aos tipos de partos no Paraná.Material e Método: Analisar o levantamento de dados sobre as preferências das mulheres quanto às formas de partos noParaná entre os anos de 2013 a 2016, utilizando os dados do DATASUS.Resultados: De acordo com as informações do Sinasc (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos) coletadas de 2013 a 2016no Paraná, identifica-se que foram realizados 237.465 partos vaginais e 393.865 cesáreas. No ano de 2013 ocorreram 56.727partos vaginais, enquanto que o número de partos cesários foi a 98.940. Percebe-se um aumento em ambos os tipos de parto noano de 2014, totalizando os partos vaginais 56.943 e os partos cesários 100.904. No ano de 2015 houve uma queda no númerode partos cesários totalizando 98.855, ainda não sendo superados pelos partos vaginais que chegaram a 61.990. No último anoanalisado ocorreram 59.805 partos via vaginal e 95.166 partos por cesariana. Tendo em vista esses dados, percebe-se umatendência, nesse período, ao parto cesariana.Discussão: A cesariana, quando não tem indicação médica, ocasiona riscos desnecessários à saúde da mulher e do bebê:aumenta em 120 vezes a probabilidade de problemas respiratórios para o recém-nascido e triplica o risco de morte da mãe(BRASIL, 2015). O parto normal é um desafio para as mulheres, porém, os sentimentos positivos superam as dificuldades,enquanto que a cesárea está associada aos benefícios físicos de sua realização (VELHO, et al. 2014). A satisfação, preferênciaou vantagens associadas ao parto normal, independente das experiências anteriores de via de parto das mulheres, foramencontradas em descrições como: pouco sofrimento, recuperação mais rápida, requerer menores cuidados, sentir menos dorapós o parto, a possibilidade de voltar às atividades diárias e ter alta hospitalar mais cedo (VELHO, et al. 2012). O parto normal éativo e mais saudável por ser natural, tornando a parturiente protagonista no ato, o que não é percebido no parto cesáreo, pois,neste, a mulher assume a postura passiva, perdendo, em parte o sentido do protagonismo (NASCIMENTO, et al. 2015). Duranteo parto normal a maioria das mulheres sofre algum tipo de lesão perineal, em razão de lacerações espontâneas ou comoconseqüência da incisão cirúrgica (SANTOS, et al. 2008). No entanto, gestantes optaram pela intervenção cirúrgica pelapraticidade de escolher a data de nascimento de seu filho (BITTENCOURT, et al. 2013). Muitas vezes, a gestante receia asconsequências do parto vaginal por considerá-lo uma experiência arriscada. A mulher tem a ideia paradoxal de que o atocirúrgico é um modo de evitar a dor. O modelo de assistência ao parto, no Brasil, é caracterizado por excesso de intervenções, oque tem contribuído para o aumento de cesáreas e a morbimortalidade materna e infantil (NASCIMENTO, et al. 2015). Entre asestratégias para a redução das taxas brasileiras de cesarianas está a criação dos centros de parto normal (CPN). Criados em1998 por meio da Portaria GM 985/99, do Ministério da Saúde,d os CPNs são voltados à assistência ao parto normal fora doambiente cirúrgico e procuram valorizar a fisiologia do parto normal, a presença do acompanhante e o contato precoce da mãecom o recém nascido (OSAVA, et al. 2011).Conclusão: Abstraídos os dados e realizada a pesquisa sobre os partos vaginais e partos cesáreos no período de 2013 a 2016,observou-se um significativo aumento no número de cesáreas em relação ao parto vaginal. Esse elevado índice de preferênciapela cesariana pode ser explicado pela sua comodidade e por ser indolor durante o ato cirúrgico.
ReferênciasBITTENCOURT, F. et al. Concepção de gestantes sobre o parto cesariano. Cogitare Enfermagem, v. 18, n. 3, 2013.BRASIL. Organização das Nações Unidas Brasil. Notícias do Brasil: UNICEF alerta para elevado número de cesarianas no Brasil,2017. Disponível em: . Acesso em: 16 mai. 2019.BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Notícias ANS: Parto é normal, 2015. Disponível em: . Acesso em: 29 mai.2019.NASCIMENTO, R. R. P. et al. Escolha do tipo de parto: fatores relatados por puérperas. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 36,p. 119-126, 2015.OSAVA, R. H. et al. Caracterização das cesarianas em centro de parto normal. Revista de Saúde Pública, v. 45, p. 1036-1043,2011.SANTOS, J. O. et al. Frequência de lesões perineais ocorridas nos partos vaginais em uma instituição hospitalar. Esc Anna NeryRev Enferm, v. 12, n. 4, p. 658-63, 2008.VELHO, M. B. et al. Vivência do parto normal ou cesáreo: revisão integrativa sobre a percepção de mulheres. Texto & ContextoEnfermagem, v. 21, n. 2, 2012.VELHO, M. et al. Parto normal e cesárea: representações sociais de mulheres que os vivenciaram. Revista Brasileira deEnfermagem, v. 67, n. 2, p. 282, 2014.
DIABETES MELLITUS TIPO II E ATIVIDADE FÍSICA: UM ESTUDO DE REVISÃO
1ANTONIO HENRIQUE RUZZON MARTINS, 2RAFAEL LEONARDI JANEIRO, 3ARTHUR LORHAN CALDEIRA, 4LUISFERNANDO ESPINOZA LUIZAR, 5ALTAIR DE SOUZA CARNEIRO
1Acadêmico do curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A atividade física e sua importância para a manutenção da saúde do portador de diabetes mellitus tipo II é defendidaintegralmente pelos especialistas da área. Por isso, um entendimento mais aprofundado e mensurado se faz objeto relevantepara a melhoria da qualidade de vida dos portadores e benefícios da sociedade como um todo.Objetivo: Esclarecer a relação entre a atividade física e a diabetes tipo 2.Desenvolvimento: A diabetes é uma doença que acompanha a humanidade desde a Antiguidade Clássica, sendo descrita naGrécia e na Índia . O termo ʻʻdiabetesʼʼ vem do grego Diabeneinʼʼ, que significa ʻʻpassar atravésʼʼ, e posteriormente, vinculou-sea palavra latina ʻʻMellitusʼʼ para descrever a doçura da urina presente em indivíduos com diabetes (CREPALDI; SAVALL, 2005).Ademais, esse distúrbio se manifesta como uma patologia inespecífica, devido a sua grande variação nos casos apresentados(SILVA, 1997). Entretanto, os mecanismos gerais do funcionamento da diabetes mellitus tipo II, entende-se como seu modusoperandi uma deficiência nas células beta do pâncreas, levando a um distúrbio no equilíbrio da glicose sanguínea. É neste pontoque a atividade física é um dos pilares para o controle da diabetes (FRANCHI; et al, 2008). Como resultado da prática deexercícios físicos, verifica-se três principais benefícios. Primeiro, a melhora do controle glicêmico, seguido pelo auxílio namanutenção do peso e, por fim, a diminuição do risco cardiovascular, e assim, sugere-se que esta seja moderada(ARRECHEA; MERCURI, 2001). Devido a isso, a American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA, 2018),recomenda que, em geral, os diabéticos adultos devem participar de 3 a 4 sessões de atividade física aeróbica por semana, comcada sessão durando em média 40 minutos e envolvendo atividade física de intensidade moderada a vigorosa.Conclusão: Por meio de pesquisa na literatura médica especializada, entendeu-se a importância inerente da atividade física e namorbidade da diabetes mellitus tipo II. Assim, pode-se afirmar que existe uma relação entre a diabetes mellitus tipo 2 e aatividade física, visto que esse distúrbio metabólico apresenta melhoras devido a diminuição do indíce glicêmico sanguíneoatravés da execução de atividades físicas.
ReferênciasACC/AHA. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes - 2018. Diabetes Care. Jan; 41(suppl 1): S1-159, 2018.ARRECHEA, Viviana.; MERCURI, Nora. Atividade física e diabetes mellitus. Diabetes Clínica, v. 5, n. 2, p. 347-349, 2001.CREPALDI, Sandro; SAVALL, Paulo Javier; FIAMONCINI, Rafaela Liberali. Diabetes mellitus e exercício físico. Rev. Digital, v.10, p. 88, 2005. FRANCHI, Kristiane Mesquita Barros et al. Capacidade funcional e atividade física de idosos com diabetes tipo 2. RevistaBrasileira de atividade física & saúde, v. 13, n. 3, p. 158-166, 2008 SILVA, Osni, Jaco, da. Exercícios em situações especiais I: crescimento, flexibilidade, alterações posturais, asma,diabetes, terceira idade. Florianópolis: UFSC, 1997.
INCIDÊNCIA DE LESÕES EM MESATENISTAS
1JOSE PAULO GUEDES, 2DANIEL SANTOS EVANGELISTA, 3GLEICY KELLY THIEMY SATO, 4ALISSON FELIPE RIBEIRODOS SANTOS, 5PEDRO LUCAS PINHEIRO
1Discente UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A prática do tênis de mesa requer inúmeras ações dinâmicas que podem conduzir a lesões desportivas, por isso éde importância conhecer fatores inerentes ao traumatismo nos atletas para posterior formulação dos modelos preventivos(SHIMAZAKI et al., 2012). Nessa perspectiva é preciso o conhecimento de quais as lesões mais comuns, qual o local anatômicoque elas ocorrem e em qual momento da pratica elas acontecem, tendo em vista que atletas que praticam esportes competitivospodem ficar vulneráveis a diversos tipos de lesões em decorrência da prática.Objetivo: Investigar as lesões musculares e ou articulares mais incidentes em mesatenistas.Desenvolvimento: Em relação ao treinamento dos mesatenistas a CBTM (2019, p. 27) relata que: No caso dos mesatenistas, osatletas estão em uma constante alteração postural durante o treinamento ou jogo, promovendo assim a necessidade de ajustesconstantes em suas estruturas corporais sempre na busca de um ponto de equilíbrio adequando para a execução de sua técnicade jogo. E ainda, no caso da instalação de desequilíbrio em qualquer estrutura corporal esta poderá produzir uma alteraçãopostural ou mesmo um processo de lesão no atleta (CBTM, 2019, p. 27). Um estudo feito por Shimazaki et al. (2012) em atletasde vários níveis de competitividade demonstra que a maior ocorrência de lesões acontece em período de treinamento por gestosespecíficos e repetitivos da modalidade, e que na maioria dos atletas, os locais anatômicos que mais sofrem lesão são o tronco emembros superiores, os atletas relataram dor e desconforto musculoesquelético ao serem entrevistados. SILVA et al. (2010),relatam que alguns atletas que praticam o tênis de mesa a pelo menos um ano se queixaram de algum tipo de lesão, em suamaioria as lesões aconteceram em período de treinamento com gestos específicos da modalidade, principalmente com aexecução da habilidade top spin seguido pelo forehand, a região anatômica com maior incidência de lesão foi o ombro, e a maiorquantidade de lesões foram musculoesqueléticas, seguida pelas tendíneas, articulares, ósseas entre outras. Segundo Shimazakiet al. (2012) A obtenção de dados a respeito das modalidades esportivas e seus fatores de risco é de grande importância paraas ciências da saúde e do esporte, uma vez que pode gerar subsídios para prevenção de lesões . E em relação aos diversosfatores de treinamento e prevenção de lesões, Shimazaki et al. (2012), sugerem-se a divisão por tempo de treinamento e horassemanais de treino, além de serem analisados outros fatores de risco que podem estar associados com a instalação de lesão,como tempo de recuperação das lesões, tipo de treinamento entre os atletas e lesões prévias.Conclusão: Conclui-se que a maior incidência de lesões em mesatenistas ocorre no tronco e membros superioresprincipalmente o ombro, a maioria das lesões foram musculoesqueléticas e tendíneas e geralmente ocorrem em período detreinamento, acarretados principalmente execução de gestos repetitivos e específicos da modalidade, e que nessa perspectiva éde grande importância a análise, planejamento e monitoramento das sessões de treinamento, compreendendo os mais diversosfatores que possam levar a ocorrência de lesões, para que assim se possa preveni-las ou ao menos ameniza-las.
ReferênciasBRASIL, Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), Guia prático do tênis de mesa. Edição atualizada. Rio de Janeiro,Jan. 2019. p. 27. Disponível em: www.cbtm.org.br/Data/Sites/1/media/guiatênisdemesarev13jan.pdf. Acesso em: 24/06/2019.SHIMAZAKI, Tamlyn et al. Exploração de Fatores de Risco em Atletas de Tênis de Mesa, Fisioterapia e Pesquisa, São Paulo,vol. 19, n.2, p.1, abri/jun,2012. ISSN 1809-2950. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-29502012000200012&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 24/06/2019. SILVA, José A. M. G.; NETO, Antonio F. de A. Caracterização das Lesões Desportivas em Atletas de Tênis de Mesa, UNESP-Departamento de Educação Especial, São Paulo, v. 8, n. 40, p. 543-547, nov. 2010. Disponível em:https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/115041/ISSN16775037-2010-08-40-543-547.pdf?sequence=1. Acesso em:24/06/2019.
ANOMALIAS CONGÊNITAS DO SISTEMA NERVOSO EM BEBÊS DE MÃES ADOLESCENTES DE 15 A 19 ANOS NASREGIÕES DE SAÚDE DO PARANÁ ENTRE 2010 A 2016: UMA REVISÃO
1KENGO MATSUGUMA JUNIOR, 2LUCAS MATEUS SMANIOTTO, 3LUIS FERNANDO DELAZARI VALERIO, 4MARIA JULIADACAS DACHEUX DO NASCIMENTO, 5MICHELLE BONATTO SAMPAIO, 6MARIA ELENA MARTINS DIEGUES
1Acadêmico do curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente e Coordenadora do curso de Medicina da UNIPAR
Introdução: A gravidez na adolescência é um assunto que gera preocupação, pois pode provocar uma situação de risco tantopara a criança quanto para a mãe. As malformações congênitas são responsáveis por grande percentual de mortalidadeneonatal, estando entre as cinco principais causas de morte infantil. Atualmente 1 a 3% de todos os recém-nascidos apresentamalguma malformação que o compromete se não corrigido (PANTE, 2011).De acordo com o DATASUS (2017), as malformações congênitas do sistema nervoso tem uma incidência elevada, atingindo de 1a 10:1.000 dos nascidos vivos, variando de acordo com a região, grupos étnicos e acompanhamento durante a gravidez. Nestasmalformações estão inclusas: espinha bífida, anencefalia, microcefalia, hidrocefalia congênita, síndrome de Arnold-Chiari,encefalocele, arrinencefalia, megalencefalia, amielia e hidromielia (BARROS, 2012).Objetivo: Fazer um levantamento de dados dos nascidos vivos que apresentavam anomalia congênita do sistema nervoso efilhos de mães adolescentes de 15 a 19 anos, no Paraná, de 2010 a 2016, com base nos dados do DATASUS.Desenvolvimento: De acordo com os dados levantados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil(DATASUS), entre 2010 e 2016, nas regiões de saúde do estado do Paraná, constatou-se maior incidência de anomaliascongênitas do sistema nervoso em nascidos vivos, de mães adolescentes, na região metropolitana do Paraná, com 43 casos, ecom uma menor incidência nas regiões de Ivaiporã em 2011 e Francisco Beltrão em 2013 com a ocorrência de apenas um caso.Durante os 7 anos analisados, identificou-se um total de 161 casos de malformações nas regiões de saúde paranaense, assimdistribuídos: 24 casos (14,9%) em 2010, 25 casos (15,5%) em 2011, 23 casos (14,3%) em 2012, 19 casos (11,8%) em 2013, 24casos (14,9%) em 2014, 31 casos (19,3%) em 2015 e 15 casos (9,3%) em 2016. Analisados os dados obtidos das pesquisasrealizadas e dos índices dos nascidos vivos com anomalias congênitas do sistema nervoso de 2010 a 2016, observa-se umaincidência constante no número de casos, sendo notório que os índices são baixos quando comparados ao total de nascidosvivos nesse período, visto que o número de casos foi de 161 de um total de 186.378 nascidos vivos. Segundo Dos Reis et al(2015), a gravidez na adolescência, a exposição mais frequente dos fetos a fatores potencialmente teratogênicos, como álcool,drogas ilícitas e tabaco, associado a carência de fatores nutricionais como o ácido fólico contribuem para esses números. Conclusão: Estes dados permitem afirmar que existe uma constância nos números observados nesses sete anos em relação aincidência de anomalias congênitas do sistema nervoso. Os dados mostram também que existe uma relação entre a gravidez naadolescência e o nascimento de crianças com malformações congênitas nas regiões pesquisadas do Paraná.
ReferênciasBARROS, M. L. et al. Malformações do sistema nervoso central e malformações associadas diagnosticadas pela ultrassonografiaobstétrica. Radiologia Brasileira. São Paulo , v. 45, n. 6, p. 309-314, dez. 2012 .DATASUS, Malformações congênitas do sistema nervoso. Disponível em: Acesso em: 16 de maio de 2019.DOS REIS, L. V. et al. Anomalias Congénitas Identificadas ao Nascimento em Recém-Nascidos de Mulheres Adolescentes. ActaMed Port, v. 28, n. 6, p. 708-714, 2015. PANTE, F. R. et al. Malformações congênitas do sistema nervoso central: prevalência e impacto perinatal. Revista da AMRIGS,v. 55, n. 4, p. 339-344, 2011.
TESTES FUNCIONAIS EM DOR LOMBAR
1DJEICE DIANE HECK, 2JEFFERSON J AMARAL DOS SANTOS
1Acadêmica de PIC/UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: A dor lombar é um desconforto musculoesquelético com predomínio alto e que pode acarretar em perda dequalidade de vida de forma significativa (POLLI, et al., 2018). De acordo com Bernadino, Diniz e Almeida (2016) um indivíduocom dor lombar, indiferente que seja aguda ou crônica, apresenta sintomas tanto sensoriais quanto emocionais, podendoapresentar alteração no apetite, libido e sono, irritabilidade, dificuldade para se concentrar, redução de atividades de âmbitofamiliares, profissionais e sociais. Para diagnóstico da lombalgia é indicado perante as diretrizes de dor lombar a realização deavaliação postural, pois muitas vezes a dor vem em decorrência da própria alteração postural que se torna um fator derisco (RIBEIRO, et al., 2018). Objetivo: Por assim determinar, o objetivo deste artigo de revisão biblográfica é dissertar sobre os testes funcionais em dorlombar. Desenvolvimento: Em análise realizada por Gonçalves, et al., (2016) com 11 sujeitos com sintomatologia dolorosa em regiãolombar notou-se que a maior parte dos voluntários obteve uma diminuição da mobilidade lombar e da capacidade funcional,comprovado atráves da realização do teste de Schober nos voluntários. Em pesquisa realizada com sujeitos com e sem dorlombar foi utilizado o teste de Biering-Sorensen associado a contração isométrica voluntária maxíma (CIVM) para avaliar aresistência dos músculos (MORITA, et al., 2017). Conforme a pesquisa de Nepomuceno et al. (2019) com 55 individuos avaliou-se a flexibilidade atráves do teste de sentar e alcançar utilizando o Wells Bench, o teste é realizado com o paciente sentado nochão com membros inferiores extentidos e com os membros superiores cruzados ele deve tentar alcançar a maior distância sobreo banco de Wells sem realizar flexão de joelhos e compensações com a cintura escapular, após o teste observou-se níveismenores de flexibilidade em individuos que apresentavam dor lombar. Em estudo realizado com 104 individuos adultos avaliou-seflexibilidade com 5 testes, primeiro: flexão e extensão da região lombar, realizado em pé, com o inclinômetro posicionado naextremidade inferior da cintura escapular, segundo: rotação passiva de quadril (externa e interna), em decúbito ventral, com ojoelho de referência flexionado a 90° e o inclinômetro posicionado na região da perna, terceiro: flexão passiva do quadril, emdecúbito dorsal, com o joelho extendido e flexionado e o inclinômetro posicionado na região da coxa, quarto: o banco de Wells(teste de sentar e alcançar), quinto: extensão passiva de quadril (Teste de Thomas), com o inclinômetro posicionado na região dacoxa. Após a realização dos testes constatou-se que os sujeitos com dor lombar não apresetaram alteração de flexibilidadediferente do grupo assintomático que apresentou diminuição da flexibilidade, porém no teste de sentar e alcançar constatou-seque quanto mais a presença de dores menor é a flexibilidade na cadeia posterior e maior é a incapacidade (RIBEIRO, et al.,2018). Conclusão: Atráves do presente estudo pode-se analisar que grande parte da população apresenta sintomatologia dolorosa emregião lombar, desta forma necessita-se de uma avaliação funcional para poder realizar o tratamento no quesito que o pacienteprecisa, seja fraqueza muscular, baixa mobilidade, desequilíbrios musculares, entre outras causas. Porém, pode-se analisar queos estudos em torno do assunto são diversos, entretanto a forma de avaliação da dor lombar não modificou ao decorrer dosanos, deixando explícito o uso de testes clássicos como Schober ou de sentar e alcançar, todavia, autores se propuseram a usartestes com diferenciais como avaliação do desequilíbrio entre músculos diferentes, podendo desta forma, ter um conhecimentomais individual de qual musculatura o fisioterapeuta pode trabalhar de maneira mais específica.
ReferênciasBERNADINO, Yasmin; DINIZ, Luan; ALMEIDA, Renato. A efetividade da abordagem fisioterapêutica em indivíduos com dorlombar e sensibilização central. Revista da JOPIC. Teresopólis, v. 1, n. 1, p. 23-30, 2016. GONÇALVES, Dayane; SOUZA, Jessica; SANTOS, Marcia; RAMOS, Natalia; VENTIRINI, Claudia. Avaliação da mobilidade dacoluna lombar e do desempenho funcional de indivíduos com lombalgia. Sinapse Múltipla, Betim, v. 5, n.2, p.100-100, dez.2016. MORITA, A, K. MARQUES, N, R. NAVEGA, M, T. Ativação antagonista durante o teste de Biering-Sorensen em individuos comdor lombar recorrente e pessoas saudáveis. Rev. Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Marilia, V. 50, n. 5, p. 122-123.Dez. 2017. NEPOMUCENO, Patrck; SCHMIDT, Luiza; RECKZIEGEL, Marcelo; GLANZEL, Miriam; POHL, Hildegard; REUTER, Éboni.Lombalgia, indices antropométricos e amplitude de movimento de trabalhadores rurais. BrJP. v. 2, n. 2, p. 117-122, jun. 2019.
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2595-31922019000200117&lng=en&nrm=iso&tlng=pt.Acessado em: 21/09/2019. POLLI, Gabriela; FALQUETO, Hugo; CZARNOBAI, Izadora; CHRISTOFARO, Diego;. GUERRA, Paulo. Atividade física e dorlombar em brasileiros: uma revisão sistemica. Rev. Brasileira Atividade Física Saúde. São Paulo, v. 23, n.47 p. 1-8, set. 2018. RIBEIRO, Rafael; SEDREZ, Juliana; CANDOTTI, Claudia; VIEIRA, Adriane. Relação entre dor lombar crônica não especifica coma incapacidade, a postura estática e a flexibilidade. Fisioter. Pesqui. v.2, n.4, p. 425-231, Out./Dez. 2018. Disponívelem: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1809-29502018000400425&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acessadoem: 21/09/2019.
PERI-IMPLANTITE: RELATO DE CASO CLÍNICO COM 5 ANOS DE ACOMPANHAMENTO
1STEFANIA GASPARI, 2SABRINA PAIXAO DOS SANTOS RODRIGUES, 3RAFAELLA BRITO CARBELIM, 4BEATRIZ AYUMISHIOTANI, 5JOAO CARLOS RAFAEL JUNIOR , 6EDUARDO AUGUSTO PFAU
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmico do PIC/UNIPAR2Acadêmico do PIC/UNIPAR3Acadêmico do PIC/UNIPAR4Acadêmico PEBIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Os implantes osseointegrados surgiram como uma nova forma de reabilitação estética e funcional após a perda deum elemento dentário. Embora a taxa de sucesso seja alta, ocorrem complicações que comprometem o sucesso dessesimplantes, têm-se as falhas que ocorrem durante o planejamento e instalação dos implantes, falhas na instalação dasreabilitações protéticas e doenças que acometem os implantes após o processo de osteointegração e reabilitação (chamadasfalhas tardias) (MARTINS, 2019). A peri-implantite é uma condição patológica que de acordo com Sarmiento et al. (2016) temcomo principal causa a presença de biofilme bacteriano, porém, apresenta outras causas como irritantes exógenos, fatoresiatrogênicos, patologias extrínsecas e ausência de tecido queratinizado, que ocasionam um desequilíbrio na microbiota bucaldesencadeando um processo inflamatório nos tecidos peri-implantares causando perda do tecido ósseo de suporte. Ascaracterísticas que definem uma peri-implantite são presença de sangramento e/ou supuração após delicada sondagem,aumento da profundidade de sondagem em relação a exames prévios, presença de perda óssea, além daquelas observadasapós a fase de remodelação óssea (STEFFENS, 2018). O objetivo do trabalho é apresentar através de um relato de caso umaopção de tratamento para a peri-implantite.Relato do Caso: Paciente S.S., 41 anos, compareceu a clínica odontológica da UNIPAR com presença de inflamação na regiãodos implantes no quadrante inferior esquerdo dos elementos 36 e 37. Ao realizar exame intraoral foi verificado profundidade desondagem maior do que 6mm, sangramento à sondagem e supuração. Com o exame radiográfico foi observado presença deperda óssea na região dos implantes, caracterizando assim, o processo de doença peri-implantar. Após o diagnóstico, foi feitoanestesia, incisão intra-sulcular, rebatimento do retalho total e desbridamento com curetas removendo todo o tecido degranulação. Foi feito uma limpeza com jato de bicarbonato na região de roscas que estavam expostas, aplicação de gel de EDTA24% por 2 minutos, em seguida, irrigando bem o local e removendo o produto com solução estéril de soro fisiológico, seguido dereposicionamento do retalho suturando as papilas. O paciente foi medicado com antibiótico, analgésico e antinflamatório,orientado a fazer o controle químico com clorexidina na região dos implantes 2 vezes ao dia por 7 dias e uma escovaçãoadequada nos demais elementos dentários. Foi realizado o acompanhamento do caso com 30 dias, 2 anos e 5 anos através doexame periodontal de sondagem e exames radiográficos. Através da profundidade de sondagem de 3mm sem sangramento e aestabilização da perda óssea verificada radiograficamente demonstra-se o restabelecimento da saúde peri-implantar.Discussão: O objetivo do tratamento da peri-implantite é garantir a remoção da placa bacteriana instalada no local sem alterar asuperfície do implante, devolvendo a saúde dos tecidos peri-implantares. Utilizando diversas técnicas descritas na literatura:instrumentação mecânica, osteoplastia, descontaminação química, enxerto de tecido mole, enxerto ósseo (autógeno ousubstitutos) e modificação da superfície do implante através do alisamento das roscas do mesmo, também conhecida comoimplantoplastia (DALAGO, 2017). Oliveira (2015) relatou que não há diferença na eliminação de bactérias ao comparar alaserterapia com o tratamento convencional. De acordo com Banaco (2016) a implantoplastia é uma técnica eficaz que auxiliareduzindo o nível de inserção, diminui a placa bacteriana e estabiliza a perda óssea. No entanto, aumenta a recessão eapresenta limitações como, ser utilizada preferencialmente em defeitos ósseos horizontais onde os dentes adjacentes nãotenham sofrido perda óssea. Além da alta temperatura durante o uso de brocas que pode causar danos nos tecidos peri-implantares. O desbridamento mecânico combinado com antibióticos atingiu os melhores resultados na redução da profundidadede sondagem quando comparado com o desbridamento isolado (RODRIGUES, 2016). Segundo Lara (2012) a descontaminaçãoda superfície do implante com EDTA, tetraciclina, ácido cítrico com tetraciclina e ácido fosfórico possuem uma diferença naresposta tecidual inicial comparado à outros tipos de tratamento. Conclusão: A literatura é vasta com relação às opções de tratamentos para peri-implantites. O método terapêutico adotado erelatado nesse caso clínico mostrou-se efetivo no controle da doença uma vez que pode-se notar melhora nos parâmetrosclínicos indicadores de saúde, como profundidade de sondagem reduzida, ausência de sangramento à sondagem e estabilização
da perda óssea observada radiograficamente por um período de 5 anos após a terapia cirúrgica adotada.
ReferênciasBANACO, Diogo Fernandes. Tratamento da peri-implantite com recurso a implantoplastia. 2016. 31 f. Dissertação (Mestradoem Medicina Dentária) - Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016.DALAGO, Haline Renata. Comparação de diferentes terapias cirúrgicas para o tratamento da peri-implantite. 2017. 114 f.Tese (Doutorado em Implantodontia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.LARA, Rafael Mansano de Castro. Efeitos do tratamento químico na descontaminação de superfícies de implantesmetálicos. Estudo microscópico em subcutâneos de ratos. 2012. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade deOdontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, Bauru, 2012.MARTINS, Eleonora de Oliveira Bandolin et al. DOENÇAS PERI-IMPLANTARES, ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO ECLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DE LITERATURA. Revista Periodontia, v. 29, n. 1, p. 53-64, 2019.OLIVEIRA, Mariano Craveiro de et al. Peri-implantite: etiologia e tratamento. Revista Brasileira de Odontologia, Rio de Janeiro,v. 72, n. 1-2, p. 96-99, jan./jun. 2015.RODRIGUES, Vanessa Da Rocha. Peri-implantite: Opções de Tratamento. 2016. 98 f. Dissertação (Mestrado em MedicinaDentária) - Universidade Fernando Pessoa Faculdade Ciências da Saúde, Porto, 2016.SARMIENTO, Hector et al. Um sistema de classificação para doenças e condições peri-implantares. The International Journalof Periodontics & Restorative Dentistry. v. 36, n.5, p. 699-705, 2016.SILVA, Marilía Patrícia de Lima.; LOPES, Ingride Ferreira. PERI-IMPLANTITE: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. 2017. 35 f.Trabalho de Conclusão de Curso (Odontólogo) - Faculdade Integrada de Pernambuco, Recife, 2017.STEFFENS, João Paulo et al. Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri‑implantares 2018: guia Prático ePontos-Chave. Revista de Odontologia da UNESP, v. 47, n. 4, p. 189-197, jul./ago. 2018.TOLEDO, Christian Augusto de Oliveira. Peri-implantite: epidemiologia, etiologia e tratamento: uma revisão narrativa. 2016.57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) - Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências daSaúde da Universidade de Brasília, Brasília, 2016.
ÓBITOS POR MENINGITE VIRAL NO BRASIL DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA DE 0 A 4 ANOS, NO PERÍODO DE 2006A 2016 ESTUDO DE REVISÃO
1LUCAS PARIZI ALVES, 2VITORIA MARIA RAUBER MARCELINO, 3VINICIUS KEIDI TANAKA, 4THAMIRYS SIQUEIRACARPEJANI, 5MARIA ELENA MARTINS DIEGUES, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmico do curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente e Coordenadora do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente do Curso de Medicina da UNIPAR
Introdução: As meningites virais acometem qualquer idade, com frequência máxima na infância, entre 5 e 10 anos e são rarasapós os 40 anos. As meningites virais são duas vezes mais frequentes nos meninos que nas meninas, preponderância quedesaparece com a idade (PELLINI et al, 2004). A meningite viral normalmente é benigna, com bom prognóstico, caracterizadapor um quadro clínico de alteração neurológica. Os casos podem ser encontrados como isolados ou como surtos, atingindoindivíduos de todas as idades, com faixa etária de maior risco representada por menores de quatro anos (DAVIS, 2003). Atransmissão viral é de pessoa a pessoa, varia segundo o agente etiológico, e no caso dos enterovírus é fecal-oral. O enterovíruspredomina nos meses quentes (primavera e verão) e a doença tem duração menor que uma semana, sendo os lactentes os maissuscetíveis (PERES et al, 2006). Objetivo: Fazer um levantamento de dados sobre óbitos vinculados a meningite viral na faixa etária de 0 a 4 anos no Brasil de2006 a 2016, utilizando os dados do DATASUS.Desenvolvimento: A meningite viral produz sinais e sintomas que variam de acordo com o agente etiológico, com sintomas dehipertermia, astenia, mialgia, cefaleia, fotofobia, rigidez da nuca, distúrbios gastrointestinais, sintomas respiratórios ou erupçãocutânea. Febre, cefaleia e sinais meníngeos de início agudo são os sinais e sintomas mais frequentes observados em meningitepor enterovírus (PELLINI et al, 2004). Segundo os dados obtidos pelo DATASUS, no período de 2006 a 2016, foram associados114 óbitos como consequência da meningite viral, sendo 32 apenas na região sudeste, que apresentou o maior índice de óbitos,mais especificamente no estado de São Paulo, que registrou o total de 27 óbitos de crianças com até quatro anos de idade. Afaixa etária mais afetada foi a de 28 a 364 dias, que registrou 54 óbitos, seguida da faixa etária de 1 a 4 anos de idade, queregistrou 52 casos; e entre as menos afetadas estão: 7 a 27 dias, com seis óbitos, e 0 a 6 dias, com apenas dois óbitos.Conforme dados do DATASUS, a região Sul foi a menos afetada, registrando 10 óbitos. As outras regiões que registraram óbitosforam: região Norte, 27 óbitos; região Nordeste, 30 óbitos, e Centro-oeste, 15 óbitos. Baseado nisso, pode-se citar algumasmedidas para solucionar ou mitigar a situação atual: fortalecimento do sistema de vigilância epidemiológica, intensificação dosprogramas de vacinação governamentais, aprimoramento da rede de diagnóstico laboratorial, assim como a capacitação dosprofissionais responsáveis pelo diagnóstico, prevenção e tratamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).Conclusão: Através da análise dos dados obtidos e explorados, observou-se um aumento no número de óbitos registrados emdecorrência da meningite viral nas crianças de 28 dias até 4 anos de idade, confirmando que a frequência máxima de casos demeningite viral ocorre em crianças com até 4 anos de idade.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Datasus: informações de saúde. Disponivel em: . Acesso em: 14 maio de 2019.DAVIS, L. E. Infecções do Sistema Nervoso Central. In: WEINER, W. J.; GOETZ, C. G. Neurologia para o não-especialista. 4. ed.São Paulo: Santos, cap. 24, p. 397-401, 2003.MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Brasília, 8 ed. 2010.PELLINI, A. C. G. et al. Investigação de surto de meningite viral município de São Joaquim da Barra (São Paulo), fevereiro aabril de 2004. Boletim Epidemiológico Paulista, ano 1, n. 7, 2004. PERES, L. V. C. et al. Meningite viral. Boletim Epidemiológico Paulista, ano 3, n. 30, jun. 2006.
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM FRENTE ÀS COMPLICAÇÕES DO ABORTO
1RAFAELA TOMITAN MACHADO, 2TOANE CAMILA LEME GOMES
1Discente do Curso de Enfermagem/UNIPAR1Docente do Curso de Enfermagem da UNIPAR
Introdução: O abortamento é definido como a expulsão do concepto, chamado de aborto, antes que esse seja viável, com até 22semanas completas de gestação e com peso inferior a 500 gramas (MARIUTTI; FUREGATO, 2010; FARIA, et al,2012; DOMINGOS; MERIGHI, 2010). No Brasil, o aborto é a causa mais comum de intercorrência obstétrica sendo consideradocomo um grande e sério problema de saúde pública, visto que as complicações do aborto é uma importante causa damortalidade materna, sendo o profissional enfermeiro principal acolhedor e assistente, é essencial seu cuidado para proporcionaruma intervenção ética, legal e humanizada (DOMINGOS; MERIGHI, 2010; RODRIGUES, et al, 2017). Objetivo: Destacar a importância de uma assistência de enfermagem qualificada e humanizada às mulheres vítimas deabortamento e suas possíveis complicações.Desenvolvimento: Segundo o Ministério da Saúde nos anos de 2013 a 2016, foram registrados no Brasil o número de 262óbitos maternos de mulheres em idade fértil (DATASUS, 2016). Na maioria dos casos essas complicações são existentes eexigem internação da mulher por grandes hemorragias, infecções, perfurações uterinas, salpingite crônica, ulcerações,esterilidade secundária, algias pélvicas, transtornos menstruais e complicações obstétricas como partos prematuros, inserçãoanormal da placenta e abortamentos habituais (DOMINGOS; MERIGHI, 2010). A internação hospitalar, muitas vezes sendo oúnico contato com a equipe de saúde de muitas mulheres, torna-se uma estratégia para a redução de morbimortalidade materna,a enfermagem estando a frente do atendimento e presente em todos os processos, tem um maior contato e facilidade deidentificar necessidade de cada mulher, oferecendo a atenção adequada e desenvolvendo o aconselhamento reprodutivo pós-abortamento sendo uma tecnologia de comunicação bidirecional que traz resultados satisfatório (STREFLING, et al, 2019).Independente do aborto, sendo ele espontâneo ou provocado, ambos exercem efeitos psicológicos na mulher, a gravidez sendoplanejada ou não, a perda provoca sentimento de culpa, baixa estima pessoal, raiva, vergonha e frustração, levando essessentimentos em consideração durante a internação, a humanização no cuidado se demonstra no respeito a decisão da mulher,devendo incluir aspectos emocionais e socioculturais, tornando-as menos vulneráveis, porém, exige preparo e treinamentoprofissional (MARIUTTI; FUREGATO, 2010; SANTOS, et al, 2011). Entre os profissionais da saúde, destaca-se o profissionalenfermeiro, onde sua atuação inclui cuidados de promoção, proteção e recuperação da saúde, com base em conceitos éticos,respeitando a dignidade e direitos do ser humano (SOARES, et al, 2012).Conclusão: A equipe de enfermagem, principalmente o enfermeiro estando a frente da assistência as mulheres que sofreramabortamento, seja ele provocado ou espontâneo, atendendo todas necessidades físico e psicossocial, torna-se instrumento eprecursora de uma evolução e reabilitação adequada, podendo evitar muitas vezes complicações permanentes e óbitos.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de informação sobre mortalidade (SIM). DATA SUS [online]. 2016. Disponívelem:. Acesso em: 25 de jun. 2019.DOMINGOS, S. R. F., MERIGHI, M. A. B. O aborto como causa de mortalidade materna: um pensar para o cuidado deenfermagem. Esc. Anna Nery, vol. 14, no. 1, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em:< http://dx.doi.org/10.1590/S1414-81452010000100026> acesso em: 25 de jun. 2019.FARIA, E. C. R. et al. Abortamento na adolescência: vivência e necessidades de cuidado. Rev. Gaúcha Enferm., vol.33, n.º3,Porto Alegre, 2012. Disponível em: Acesso em: 25 de jun. 2019.MARIUTTI, M. G.; FUREGATO, A. R. F. Fatores protetores e de risco para depressão da mulher após o aborto. Rev. bras.enferm., vol. 63, n.º2, Brasília, 2010. Disponível em: Acesso em: 25 de jun. 2019.RODRIGUES, W. F. G. et al. Abortamento: Protocolo de assistência de enfermagem: Relato de experiencia. Rev. Enferm., v. 11,n. 8, Recife, 2017. Disponível em: Acesso em: 16 jun. de 2019.SANTOS, A. G. et al. Perfil de mulheres em situação de abortamento atendidas em uma Maternidade Pública de Teresina-PI.Rev. Rene., vol. 12, no.º3, Fortaleza, 2011. Disponível em: acesso em: 25 de jun. 2019.SOARES, M. C. S. et al. Práticas de Enfermagem na Atenção às Mulheres em Situação de Abortamento. Rev. Rede., vol. 13,no.º1, Fortaleza, 2012. Disponível em: Acesso em: 25 de jun. 2019.STREFLING, I. S. S. et al. Cuidado integral e aconselhamento reprodutivo à mulher que abortou: Percepções da enfermagem.Esc. Anna Nery, vol. 17, no.º4, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: acesso em: 25 de jun. 2019.
PREVALÊNCIA DE ESTOMATITE PROTÉTICA EM PORTADORES DE PRÓTESE TOTAL: UMA REVISÃO
1JOAO MURILO GONCALVES GAZOLA, 2ANDRESSA ANDRADE NOVAES, 3ELIZANDRA MARRY PEDROLLO, 4LETICIADANTAS GROSSI, 5SUELEN STEFANONI BRANDAO, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmico bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmico bolsista do PIBIC/UNIPAR2Acadêmico do PIC/UNIPAR3Acadêmico bolsista do PIBIC/UNIPAR4Acadêmico bolsista do PIBIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: De acordo com Scalercio et al. (2007) a candidíase trata-se de uma infecção fúngica mais comum na boca, sendo aCandida albicans a espécie mais comumente encontrada, frequentemente assintomática, quando associada a prótese, pode serdenominada estomatite protética.Objetivo: O presente trabalho tem o objetivo de realizar um levantamento bibliográfico sobre a prevalência de estomatiteprotética em portadores de prótese total.Desenvolvimento: A etiologia da estomatite protética é multifatorial, podendo estar relacionada a fatores locais como traumaprovocado pela prótese e à infecção por Candida albicans, sendo estes considerados os agentes causais mais significantes daestomatite protética, participando da origem, manutenção e agravamento da doença (ARNAUD, 2012). Segundo Sesma eMorimoto (2011), fatores sistêmicos como diabetes, xerostomia e fatores locais como algum trauma causado pela prótese,infecção por fungos e bactérias, má higienização da prótese e alergia ao monômero residual da prótese, podem predispor ousuário à estomatite protética. Para o diagnóstico da estomatite protética associada à candidíase devem-se considerar os sinaisclínicos, como: alteração de cor, textura da mucosa e sintomatologia; aliados aos exames laboratoriais para a sua confirmação(ESCALERCIO et al., 2007). De acordo com Martins e Gontijo (2017) o tratamento com vários antifúngicos, inclusive a Nistatina,que é o medicamento mais usado para esse tratamento, provou melhora dos sintomas, mas não impede a recolonização damucosa oral pelos fungos.Conclusão: Diante dos fatos acima citados, é cogente que o cirurgião dentista proporcione melhor condição de saúde aopaciente com estomatite protética, tratando e instruindo para melhores condições de saúde bucal, para assim prevenir outrasdoenças bucais.
ReferênciasARNAUD, Rachel Reinaldo, et al. Estomatite protética: prevalência e correlação com idade e gênero. Revista Brasileira deCiências da Saúde, João Pessoa, v. 16, n. 1, p. 59-62, 2012.CARVALHO de OLIVEIRA, Terezinha Rezende, et al. Avaliação da estomatite protética em portadores de próteses totais.Pesquisa Odontológica Brasileira, São Paulo, jul/set. 2000, v. 14, n.3, p. 219-224.MARTINS, Karine Vitor; GONTIJO, Sávio Morato de Lacerda. Tratamento da estomatite protética: revisão de literatura. RevistaBrasileira de Odontologia, Rio de Janeiro, v. 74, n.3, p. 215-220, jun/ago. 2017.SCALERCIO, Michelle, et al. Estomatite protética versus candidíase: diagnostico e tratamento. Revista Gaúcha de Odontologia,Porto Alegre, v.55, n. 4, p. 295-317, out/dez. 2007.SESMA, Newton; MORIMOTO, Susana. Estomatite Protética: etiologia, tratamento e aspectos clínicos. Journal of Biodentistryand Biomaterials, São Paulo, set/fev. 2011, n. 2, p. 24-29.
CAUSAS DAS LESÕES MUSCULARES EM MEMBROS INFERIORES DE ATLETAS DE FUTEBOL: UMA REVISÃO DELITERATURA
1GUILHERME DA SILVA DONADONI, 2HENRICH HYORDAN RODRIGUES DUTRA, 3MARCELO FIGUEIRO BALDI
1Acadêmico do Curso de Educação Física da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: Uma das modalidades esportivas mais populares do mundo, o futebol aparece como destaque no cenáriodesportivo, praticado no mundo todo por uma grande quantidade de pessoas, o esporte desperta também uma certa atençãopela quantidade de lesões musculares em membros inferiores decorrentes da sua prática, lesões estas que por muitas vezestornam-se recorrentes, afastando o atleta por um período de tempo mais longo (FONSECA et al., 2007). Tais lesõescaracterizam-se pela diversidade de movimentos de alta intensidade realizados no esporte, aliados a uma grande exigência emrelação ao aspecto físico corpo (ZABKA; VALENTE; PACHECO, 2011). Diante do exposto, o presente estudo procurou respondero seguinte problema de pesquisa: quais as causas das lesões musculares em membros inferiores de atletas de futebol?Objetivo: Analisar as causas das lesões musculares em membros inferiores de atletas de futebol.Desenvolvimento: Devido ao significativo e gradual aumento da competitividade e desempenho no futebol, o atleta passou a terque se condicionar cada vez mais fisicamente para alcançar o melhor desempenho individual possível, superando seu nível depreparação após cada sessão de treinamento, o que traz como consequências o aparecimento de lesões, principalmente aslesões a nível músculo-esqueléticas nos membros inferiores (DELAZERI et al., 2008), por serem os mais exigidos fisicamente namodalidade. Causador de 60% das lesões dentre todos esportes, de acordo com Zabka, Valente e Pacheco (2011) entre 68% e88% das mesmas os membros acometidos são os inferiores, divididas ainda por lesões diretas ou indiretas, ou seja, que ocorremcom ou sem contato físico. De acordo com Fonseca et al. (2007) podem ainda ocorrer por fatores intrínsecos e/ou extrínsecos,sendo os principais fatores extrínsecos o local de treinamento, o equipamento utilizado e as condições do ambiente, enquantoque os fatores intrínsecos trazem a performance muscular caracterizada pela capacidade dos músculos produzirem torque,trabalho, potência e resistência. As lesões musculares ocasionam-se também de forma específica, causando um macro trauma, apartir de um evento único e específico, ou dão-se após uma sequência de estímulos consideráveis, constituindo uma sequênciade micro traumas causados por um alto volume e intensidade de treinamento ou vários jogos em um curto espaço, sem dar otempo necessário para que ocorra a supercompensação, causando lesões musculares por inflamação ou uma distensão devidoao alto nível de estresse muscular (DELAZERI et al., 2008). Por conseguinte, de acordo com Delazeri et al. (2008) as lesões seclassificam em dor muscular, que ocorre devido a realização de esforço excessivo, contusão, que é o resultado do músculo seracometido por uma carga alta, causando uma lesão por choque, distensão, a qual transcorre-se posteriormente a umalongamento mais que o suportável pelo músculo, acarretando na ruptura das fibras musculares por não suportarem tal tensão ea contratura que tem como causa principal a falta de alongamento antes do exercício ou pelo esforço excessivo durante a prática.A falha na preparação física dos atletas tem como consequência um desempenho desigual entre membros exigidos em ummesmo movimento, onde membro dominante e não dominante não se correlacionam, de maneira que o torque ou força geradapor um é desigual a gerada pelo outro e esse déficit torna-se um dos causadores das lesões musculares. Um exemplo disso é arelação estabelecida entre joelho, quadríceps e isquiotibiais, onde a articulação do joelho a uma velocidade de 60º/s, necessitade uma correlação de 60% do torque máximo entre quadríceps e isquiotibiais, na qual a presença de alterações desse nível irápredispor o atleta não só a lesão muscular mas também a lesões na articulação do joelho (FONSECA et al., 2007).Conclusão: De acordo com o presente trabalho, podemos verificar que as lesões são ocasionadas pela falta de preparo físicoadequado para a prática da modalidade, além de ocorrerem por desgaste físico excessivo devido ao grande volume de sessõesde treinamento e jogos em um curto período de tempo e pelos fatores intra-campo, como os choques e cargas desferidas poroutros atletas, além das condições do ambiente na qual a prática é realizada.
ReferênciasDELAZERI, B. G. et al. Índice de lesões musculares em jogadores profissionais de futebol com idade entre 18 e 34 anos. Revistabrasileira de prescrição e fisiologia do exercício, São Paulo, v. 2, n. 7, p. 18-26, Jan/Fev. 2008.FONSECA, S. T. et al. Caracterização da performance muscular em atletas profissionais de futebol. Revista brasileira demedicina no esporte, Belo Horizonte - MG, v. 13, n. 3, Mai/Jun. 2007.ZABKA, F. F.; VALENTE, H. G.; PACHECO, A. M. Avaliação isocinética dos músculos extensores e flexores do joelho emjogadores de futebol profissional. Revista brasileira de medicina no esporte, Porto Alegre - RS, v. 17, n. 3, Mai/Jun. 2011.
EFEITOS DA GINÁSTICA LABORAL PARA TRABALHADORES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS
1GLEICY KELLY THIEMY SATO, 2MARIA GABRIELLA GIROTO
1Discente Unipar1Docente da UNIPAR
Introdução: A ginástica laboral (GL) é uma atividade planejada no ambiente de trabalho que tem por finalidade inicial melhorar apostura, promover o bem estar geral dos trabalhadores, diminuir o estresse ocupacional, além de tentar diminuir os acidentes detrabalho, aumentar a produtividade, prevenir as doenças ocupacionais e reduzir o número de afastamentos (MENDES E LEITE,2004). Se trata de uma série de exercícios funcionais, específicos para cada tipo de esforço desenvolvido em atividade laboral que segundo Oliveira (2002), o tempo varia entre oito a doze minutos, de três a cinco vezes na semana, como objetivo demelhorar a qualidade de vida dos funcionários e especificamente aumentar a produtividade com momentos de ludicidade a fim demelhorar o relacionamento interno e prevenir acidentes no trabalho e afastamentos.Objetivo: Investigar os efeitos da ginástica laboral para funcionários de setores administrativos.Desenvolvimento: O mercado competitivo, com longas jornadas de trabalho muitas vezes podem trazer consequências a saúdedo trabalhador como aumento de estresse, queixas de dores e por vezes afastamento do trabalho (RESENDE et al, 2007). Deacordo com Polito e Bergamaschi (2002) os novos postos de trabalho também ocasionam dificuldades de cooperação ecomunicação levando ao isolamento o que estimula o envolvimento do trabalhador com a monotonia das tarefas, isso ocasionaexaustão elevada e indivíduos com tendências a desenvolver lesões e estresse. O Instituto de Medicina e Conselho Nacional dePesquisa Dos Estados Unidos sugere que os exercícios melhoram a saúde, porém, são raros na prevenção de doenças dotrabalho, o fator decisivo na melhora da qualidade dos efeitos da ginástica laboral é a adesão dos funcionários dentro e fora daempresa (FERRACINI E VALENTE, 2010). A prática de GL deve ser estratégica, levando em consideração os funcionários,ambiente e horário (POLITO E BERGAMASCHI, 2002). Os funcionários de setores administrativos, exerce funçoes por horassentados com movimentos repetitivos de mão e punho, bem como pressão sobre o quadril e pouco movimento de membrosinferiores, fator que reflete atenção na prática de ginástica laboral para compensar as estruturas mais utilizadas e estimular asmenos recrutadas (membros inferiores). No estudo realizado por Ferracini e Valente (2010) com funcionários de setoradministrativo de um hospital, a queixa prevalente inicial (80%) era de dores nos membros de prevalência que são os membrossuperiores; e que após o programa de exercícios de GL, este índice baixou para 46,6%, e que mais de 85% disseram que oprograma realizado em ambiente de trabalho incrementou mudanças na vida fora ambiente laboral. Ferracini e Valente (2010)corroboram apontando que os membros superiores são os que merecem mais atenção, pois há um maior índice de doresmusculoesqueléticas, a atenção a este segmento corporal coopera para uma maior eficiência no programa de ginástica laboral.Ainda na pesquisa realizada por Resende et al. (2006) observou-se como resultados do programa de GL uma melhor integraçãodos funcionários e uma melhor compreensão sobre a importância de se praticar exercícios físicos em outras modalidades.Mendes e Leite (2004) diz que a ginástica laboral tem como finalidade quebrar a monotonia, melhorar o relacionamento doscolaboradores além da melhora postural diminuindo assim o estresse ocupacional evitando o absenteísmo e melhorando aprodutividade.Conclusão: O estudo permitiu concluir que a Ginástica Laboral pode produzir os efeitos necessários para funcionários de setoresadministrativos, entre eles a melhoria de postura, bem-estar, redução de quadros dolorosos e mudanças na vida fora ambientelaboral através da conscientização referente a prática de exercícios. O programa para estes trabalhadores devem atender asexigências da postura ergonômica, compensando os segmentos menos utilizados.
ReferênciasFERRACINI, N. F.; VALENTE, F. M. Presença de sintomas musculoesqueléticos e efeitos da ginástica laboral em funcionários dosetor administrativo de um hospital público. Revista Dor, São Paulo, v. 11, p. 233-236 set. 2010. Disponível em:http://files.bvs.br/upload/S/1806-0013/2010/v11n3/a1468.pdf. Acesso em 24/06/2019.MENDES, Ricardo Alves; LEITE, Neiva. Ginástica Laboral: princípios e aplicações práticas. Barueri, SP: Manole, 2004.OLIVEIRA, João Ricardo Gabriel de. A prática da Ginástica Laboral. Rio de Janeiro: Sprint, 2002.POLITO, E.; BERGAMASCHI E. C. Ginástica Laboral: teoria e prática. Rio de janeiro: Sprint, 2002.RESENDE M. C. F.; TEDESCHI C. M.; BETHÔNICO F. P.; MARTINS T. T. M. Efeitos da ginástica laboral em funcionários deteleatendimento. Acta Fisiátrica, v. 14, n. 1, p. 25-31, 9 mar. 2007. Disponível em:http://www.revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/102772
TIREOIDITE DE HASHIMOTO: ALTERAÇÕES IMUNOLÓGICAS E EPIGENÉTICAS
1FLAVIA CRISTINA ROTESKI, 2IARA IVETE MOENTKE RIGO, 3EVERTON PADILHA
1acadêmica do curso de biomedicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: Doenças autoimunes são um complexo grupo de doenças crônicas, resultantes de interações entre fatores genéticos, epigenéticos(modificações no DNA que são estáveis ao longo de divisões celulares, mas não envolvem mudanças na sequência de DNA), hormonais eambientais (FERREIRA, 2019). O papel imunomodulador e de influência de diferentes compostos nutricionais, como o de vitaminas, e fatoresexternos, sobre alteração epigenéticas na regulação da expressão gênica e na probabilidade de desenvolver ou prevenir doenças tem sidoassociados a marcadores da função tireoidiana e atividade inflamatória autoimune na Tireoidite de Hashimoto (BOTELHO, 2018).Objetivo: Correlacionar a patologia Tireoidite de Hashimoto com as alterações imunológicas a alterações epigenéticas.Desenvolvimento: A Tireoidite de Hashimoto (TH) é uma doença autoimune órgão específica relacionada com infiltrado linfocítico difuso daglândula tiroide por linfócitos T (LT) e linfócitos B (LB). Apresenta etiologia multifatorial, com ativação de genes específicos, alterações imunológicasmarcadas pela produção de autoanticorpos reativos a antígenos tireoidianos, ativação de grupos específicos de citocinas, além de influências domeio ambiente (BOTELHO, 2018). Dentre os fatores genéticos, são atribuídos a pré-disposição genética (histórico famíliar), alterações nos genesmhc (complexo de histocompatibilidade principal), também conhecido como hla (antígeno leucocitário humano), CTLA-4 (antígeno 4 ligado linfócitoscitotóxicos), fas/fasL (molécula ativadora da apoptose), bcl (molécula inibidora da apoptose), tpo (enzima que promove a produção T3, T4), Tb(enzima de armazenamento de pré-hormônios T3, T4), TTPN22 (proteína transportadora de tirosina); dentre os fatores ambientais existemcorrelação com: tabagismo, drogas, estresse, alta ingesta de iodo; gravidez, estrogênio e idade, são os principais fatores endógenos relacionadoscom a doença da tireoide (ABBAS, A. K; LICHTMAN, 2005; A. H. SOARES; VAISMAN, 2001; NASCIMENTO, 2017). Os fatores ambientaisfuncionam como fator desencadeante para ativação das reações autoimunes em indivíduos suscetíveis. O contato prévio com radiação estáassociado a maior prevalência de auto-anticorpos além de maior risco para desenvolvimento de disfunções tireoidianas, como tambémconcentrações de iodo tanto em excesso quanto em deficiência do mesmo modo associam-se às tireoidopatias autoimunes. As células Treguladoras (Treg) , geradas no timo, expressam as moléculas CD25 e CTLA-4, consideradas essenciais para a supressão da resposta imunemediada por células T. Os polimorfismos do gene ctla-4 ou a mutação do gene cd25 associam-se com doenças autoimunes em humanos e adepleção das células Treg tem sido relacionada com o desenvolvimento de tiroidite autoimune (SGARB, MACIEL, 2009). O gene Aire (sigla eminglês de autoimmune regulator), que atua nas células da medula do timo (células mTEC) (PEZZI, 2016). Nos pacientes portadores de TH, osnucleotídeos tireoperoxidase e tireoglobulina, integrantes ativos do processo de síntese hormonal nos tireocitos, são alvos de ataque deautoanticorpos. Altos títulos de anticorpos antitireoperoxidase (AcTPO), com presença de anticorpos antitireoglobulina (AcTG) são encontrados empacientes com TH. Eventualmente, encontra-se anticorpos antirreceptor de TSH (TRAb) com efeito bloqueador do estímulo (BOTELHO, 2018).Estudos pré-clínicos e clínicos têm demonstrado que a exposição ambiental pode levar a alterações epigenéticas, e que a maioria das pesquisastem se concentrado em metilação do DNA, estudos estão sendo realizados para entender a influência de diferentes compostos nutricionais(macronutrientes, micronutrientes, fitoquímicos, antioxidantes) induzem alterações epigenéticas que consequentemente interferem na metilação doDNA , e na regulação da expressão gênica aumentando a probabilidade de desenvolver ou prevenir doenças autoimunes (ASSIS, Et al, 2019). Acausa da perda da tolerância imunológica a autoantígenos ainda não está bem esclarecida. Sabe-se que fatores ambientais assim comopolimorfismos genéticos, entre outros, favorecem o surgimento de doenças autoimunes em indivíduos suscetíveis (BOTELHO, 2018).Conclusão: Os fatores ambientais funcionam como fator desencadeante para ativação das reações autoimunes em indivíduos suscetíveis apatologia Tireoidite de Hashimoto, além de afetarem marcações epigenéticas, e consequentemente, na regulação da expressão gênica
ReferênciasABBAS, A. K; LICHTMAN, A. H. Imunologia Celular e Molecular. Ed. 5º, editora Elsevier; Rio de Janeiro, 2005.ASSIS, et al. Mecanismo epigenéticos e intervençâo dietética: um estudo de revisão. Disponivel em:https://editorarealize.com.br/revistas/conbracis/trabalhos/TRABALHOEV071_MD1SA6ID847_02052017001644.pdf. Acessado em: 06 de jun. 2019.BOTELHO, I. M. B. Vitamina d em doenças tireoidianas autoimunes e relação com perfil hormonal tireoidiano e atividade inflamatória decélulas Th1, th2 e th17. Universidade estadual de campinas faculdade de ciências médicas.Campinas, 2018.FERREIRA, A. Desvendando os mistérios da autoimunidade e doenças autoimunes. Disponivel em:http://www.microbiologia.ufrj.br/portal/index.php/pt/destaques/novidades-sobre-a-micro/645-desvendando-os-misterios-da-autoimunidade-e-doencas-autoimunes. Acessado em: 06 de jun. 2019.PEZZI, N. A função do gene autoimune regulador (IARE) no controle da adesão de células tímicas epiteliais medulares com timócitos.Ribeirão Preto, 2016.REIS M. B. Perfil de metilação do DNA em lesões tireoidianas. Universidade Estadual Paulista, Instituto De Biociência De Botucatu. Botucatu, SP.2015. Disponível em:https://mail.google.com/mail/u/0/tab=rm#inbox/GTvVlcSDbtwhSqQCHMrLsCZvdvJgZkdRhJVJMLsRPCggZSnrWrTDQJcwqZZmxmdlpmlQNHCtlNKsq?projector=1&messagePartId=0.1. Acessado em : 16 de maio 2019.SGARBI, J. A. ; MACIEL, R. M. B. Patogênese das doenças tiroidianas autoimunes. Arq. Bras. Endocrinologia e Metabolismo. 2009.SOARES, D. V. ; VAISMAN, M. Autoimunidade Tiroidite, de Hashimoto, Imunidade. Revista Brasileira de Alergia e Imunopatologia. 24 (4); 155-164, São Paulo, 2001.
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS EM UMA UTI NEONATAL EM UM MUNICÍPIO DOSUDOESTE DO PARANÁ
1NATIELI RAUBER NICOLAU, 2RAQUEL BIRCK, 3MAIARA CRISTINA DE CESARO, 4MARIANGELA CAUZ, 5VOLMIR PITTBENEDETTI
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Acadêmica do PIBIC/UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Neonatos internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal - UTIN correm grave risco de desenvolvereminfecções, elevando as taxas de morbidade e mortalidade nestes pacientes (KRAWCZENKO et al., 2012). Para minimizar estesriscos, busca-se conhecer os principais fatores epidemiológicos envolvidos nas infecções que acomete estes recém-nascidos.Entres os fatores de riscos frequentemente associados a infecção neonatal estão a admissão e a longa permanência emunidades de terapia intensiva, o uso de cateteres centrais e outros métodos invasivos, utilização de antibióticos de largo espectro,alimentação enteral e fatores intrínsecos ao paciente como, prematuridade, baixo peso ao nascer e imaturidade do sistemaimunológico. (CARVALHO et al. 2014)Objetivos: Neste contexto, este trabalho busca analisar os aspectos epidemiológicos envolvidos na colonização demicrorganismo de importância em neonatos, internados em uma unidade de terapia intensiva de um hospital público do sudoestedo Paraná.Materiais e métodos: Foram analisados os prontuários e realizado a cultura de swab retal de 27 neonatos internados na UTIN. Apartir desta consulta foi elaborado o perfil epidemiológico destes pacientes e do material biológico coletado, caracterizou-se amicrobiota bacteriana e fúngica. Para estes procedimentos laboratoriais utilizou-se a metodologia padronizada pela literatura(KONEMAN et al., 2008). Este trabalho seguiu os trâmites éticos legais para pesquisa (94588218.5.0000.0109).Resultados: Dos neonatos estudados 67% eram do sexo masculino e 33% do feminino. Em média, os neonatos do sexomasculino nasceram com 35,2 semanas de gestação, permanecendo internados na UTIN por aproximadamente 21 dias, já osneonatos do sexo feminino nasceram com 33,3 semanas de gestação, permanecendo internados na UTIN por aproximadamente23 dias. A principal causa de internamento foi devido a prematuridade associada à síndrome do desconforto respiratório dorecém-nascido (51,85%). Entre os fatores de agravo destacam-se que 100% dos os neonatos utilizaram antibioticoterapia e14,8% utilizavam anti-inflamatórios esteroidais, 33% realizaram transfusão sanguínea., 40,7% estavam colonizados por germesmultirresistentes e 22,2% estavam com trato gastrintestinal colonizados por leveduras. Relativo à evolução do quadro clínico dosneonatos, 85,2% tiveram alta da UTIN, 11,1% permaneceram internados no período da pesquisa e 3,7% foram a óbito.Discussão: Estudando aspectos epidemiológicos envolvendo neonatos prematuros, observou-se múltiplos fatorespredisponentes para a colonização por bactérias multirresistentes e fungos, como o uso prolongado de antibióticos, aprematuridade, idade gestacional e o tempo de internação. As Unidades de Terapia Intensiva são consideradas áreas críticas,destinadas ao atendimento de pacientes graves, em especial os neonatos prematuros internados em UTINs (SOUZA et al.,2012). Neste estudo, constatou-se a prematuridade em 51,85% dos neonatos, considerados fisiologicamente mais vulneráveis ainfecções. Além disso, recém-nascidos do sexo masculino apresentaram maior risco de internação quando comparados aos dosexo feminino, com a taxa de 67%. Este predomínio pode ser explicado pela maior fragilidade pulmonar devido a maturação maislenta dos fetos do sexo masculino durante o desenvolvimento intrauterino (MUCHA, FRANCO, SILVA, 2012). Referente aosantimicrobianos prescritos na UTIN, verificou-se que 100% dos neonatos utilizaram antibioticoterapia. Estudos demonstram que ouso de antibióticos precoce interfere negativamente sobre a saúde imunológica do paciente (FRANCINO, 2014). Nesse contexto,os neonatos apresentaram elevado número de colonização por germes multirresistentes (40,7%) e por leveduras (22,2%), estaocorrência pode ser explicada pela utilização de antibióticos de largo espectro associado a corticoterapia. Tais fatores sãocontribuintes para infecção por germes como Candida spp e bactérias multirresistentes, fato este, considerado um grande desafiono controle de infecções em UTINs (BECERRA et al., 2010; SILVA, WENERCK, HENRIQUES, 2012).Conclusão: Neste estudo, foi observado que os recém-nascidos do gênero masculino foram os mais colonizados por germesmultirresistentes e fungos, no qual a principal causa do motivo de internamento na UTIN foi a prematuridade dos pacientes.Dentre os fatores de agravo envolvidos na colonização por germes multirresistente e levedura, constatou-se que a utilização deantibióticos foi a mais relevante. Frente a esta situação, faz-se necessário o conhecimento da etiologia, patogenia e dos fatores
de riscos associados a infecções em neonatos, de modo a reduzir a incidência nesse ambiente.
ReferênciasBECERRA, María R, et al. Epidemiologic surveillance of nosocomial infections in a Pediatric Intensive Care Unit of a developingcountry. BMC Pediatric. v.10, n.66, p.1-9, set, 2010.CARVALHO, Mariana Lustosa, et al. Infecções hospitalares em unidade de terapia intensiva neonatal.: Revista Interdisciplinar:UNINOVAFAPI. v.7, n.4, p.189-198, out /nov/dez. 2014.FRANCINO, M. Pilar. Early development of the gut microbiota and imune health. Pathogens, v. 3, n. 3, p. 769-790, set. 2014.doi: 10.3390/pathogens3030769KONEMAN, Elmer W., et al. Diagnóstico microbiológico - texto e atlas colorido. 6.ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro;2008.KRAWCZENKO, Iwona Sadowska; JANKOWSKA, Aldona; KURYLAK, Andrzej. Healthcare-associated infections in a neonatalintensive care unit. Arch Med Sci. v.8, n. 5, p. 854-858, jun. 2012. DOI: https://doi.org/10.5114/aoms.2012.31412MUCHA, Fátima; FRANCO, Selma Cristina; SILVA, Guilherme Alberto Germano. Frequência e características maternas e dorecém nascido associadas à internação de neonatos em UTI no município de Joinville, Santa Catarina -2012. Revista Brasileirade Saúde Materno Infantil. v.15, n.2, 201-208 abr./ jun., 2015.SILVA, André Ricardo Araújo; WENECK, Lúcia; HENRIQUES, Cristiane Teixeira. Dinâmica da circulação de bactériasmultirresistentes em unidades de terapia intensiva pediátrica do Rio de Janeiro. Revista de Epidemiologia e Controle deInfecção. v.2, n.2, p.41-45, jan./maio 2012SOUZA, et al. Infecção hospitalar em unidade de terapia intensiva neonatal: uma revisão da literatura. Revista InterdisciplinarUNINOVAFAPI. v.5, n.3, p.77-80, Jul/Ago/Set. 2012
COLONIZAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS EM UTI NEONATAL POR MICRORGANISMOS MULTIRRESISTENTES
1MARIANGELA CAUZ, 2ANA FRIDA DUARTE, 3NATIELI RAUBER NICOLAU, 4RAQUEL BIRCK, 5MARIA HELENABRANDELEIRO WERLANG, 6VOLMIR PITT BENEDETTI
1Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Acadêmica do PIC/UNIPAR4Enfermeira do Hospital Regional do Sudoeste do Paraná5Docente da UNIPAR
Introdução: Neonatos internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal - UTIN correm grave risco de desenvolvereminfecções, elevando as taxas de morbidade e mortalidade, nestes pacientes (KRAWCZENKO et al, 2012). Para minimizar estesriscos, busca-se conhecer os principais fatores epidemiológicos envolvidos nas infecções que acomete estes recém-nascidos.Dentre as técnicas de vigilância epidemiológica utilizam-se culturas de swab retal.Objetivos: Neste contexto, este trabalho busca analisar os aspectos epidemiológicos envolvidos na colonização demicrorganismo de importância em neonatos, internados em uma unidade de terapia intensiva de um hospital público do sudoestedo Paraná.Metodologia: Foi analisado o prontuário e realizado a cultura de swab retal de 27 neonatos internados na UTIN. A partir domaterial biológico coletado, caracterizou-se a microbiota bacteriana e fúngica, bem como a determinação do padrão desensibilidade frente aos antimicrobianos, utilizando metodologia padronizada pela literatura. Este trabalho seguiu os trâmiteséticos legais para pesquisa (94588218.5.0000.0109).Resultados: Dos neonatos estudados 66,7% eram do sexo masculino e 33,3% do feminino. Em média, os neonatos do sexomasculino nasceram após 35,2 semanas de gestação, permanecendo internados na UTIN por aproximadamente 21 dias. Já osrecém-nascidos do sexo feminino, nasceram em média com 33,6 semanas de gestação permanecendo internados poraproximadamente 23 dias. A principal causa de internamento foi devido a prematuridade associada à síndrome do desconfortorespiratório (51,8%). Observou-se também que 100% dos os neonatos utilizaram antibioticoterapia, estando a gentamicina eampicilina presente em 85,2% das prescrições. Referente a colonização do trato intestinal por germes multirresistentes,observou-se que 40,7% dos neonatos foram colonizados, sendo a bactéria Klebsiella pneumoniae a mais frequente. Já entre osfungos isolados, verificou-se que 22,2% dos pacientes estavam colonizados, sendo a espécie Candida albicans a mais frequente(50%), seguido de C. glabrata (33,3%) e C. tropicalis (16,6%). Relativo à evolução do quadro clínico dos neonatos, 85,2% tiveramalta da UTIN, 11% permaneceram internados no período da pesquisa e 3,7% foram a óbito.Discussão: Neste estudo, observou-se que os neonatos internados na UTIN estavam expostos a diversos fatorespredisponentes há o desenvolvimento de infecções oportunistas. Segundo Borges e colaboradores (2009), a exposição dosneonatos a procedimentos invasivos hospitalares, como a inserção de cateteres, nutrição parenteral e ventilação mecânica sãorelevantes, pois, proporcionam o aumento da sobrevida desses recém-nascidos, em contrapartida, associados a prematuridadeestá a imaturidade imunológica, as barreiras físicas enfraquecidas, a utilização de antibióticos de amplo espectro ecorticosteroides, e aumento do tempo de permanência nessas unidades, isto tudo constituem-se como fatores de risco para ainfecção invasiva por fungos. Lessa (2019) comenta que a infecção fúngica é uma condição comum e frequente que acometeespecialmente os recém-nascidos pré-termos, geralmente de baixo peso ao nascer e internados em Unidade de TerapiaIntensiva Neonatal. A microbiota normal da pele, do trato gastrointestinal e geniturinário são colonizadas por várias espécies deCandida spp, pois estas se desenvolvem bem em regiões mais aquecida e úmidas. Até o fim da primeira semana internação,cerca de 50% dos recém-nascidos prematuros são colonizados por este agente. Candida albicans é a espécie mais frequentesendo responsável por 75% dos casos de infecções fúngicas oportunistas, seguida de C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis eCandida parapisilosis (ARAUJO, et al, 2013). As infecções oportunistas causadas por leveduras do gênero Candida spp, sãoumas das principais causas de morbidade e mortalidade em neonatos prematuros. (COUTO, et al, 2011).Conclusão: Neste estudo foi observado que os recém-nascidos tinham entre 33 a 35 semanas de gestação, ficaram em média21 a 23 dias internados na UTIN, que a principal causa de internamento foi devido a prematuridade associada à síndrome dodesconforto respiratório e 100% estavam sob uso de antibióticos. Ainda observou-se que o neonatos do sexo masculino foram osmais colonizados por germes multirresistentes e fungos, onde o principal agente bacteriano envolvidos foi à bactéria Klebsiellapneumoniae e a levedura Candida albicans.
ReferênciasARAÚJO, José Endrigo Tinoco; et at. Candidíase invasive e alterações bucais em recém-nascidos premauturos. Einstein. v.11.n.1, p.71-75, 2013.BORGES, Raniery Martins; et al. Fatores de risco associados à colonização por Candida spp em neonatos internados em umaUnidade de Terapia Intensiva Neonatal brasileira. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. v. 42, n.4, p. 431-435, 2009.COUTO, Evanice Maria Pereira; CARLOS, Daniela; MACHADO, Eleuza Rodrigues. Candidíase em neonatos: Uma revisãoepidemiológica. Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde. v. 15, n.4, p. 197-213, 2011.KRAWCZENKO, Iwona Sadowska; JANKOWSKA, Aldona; KURYLAK, Andrzej. Healthcare-associated infections in a neonatalintensive care unit. Archives of Medical Science. v.8, n. 5, p. 854-858, 2012.LESSA, Itala Letice Pereira; et al. Colonização por Candida spp. em prematuros de muito baixo peso e extremo baixo peso,hospitalizados em unidade de terapia intensiva de Alagoas. Gep News. v.1, n. 1, p. 10-17, 2019.
EVOLUÇÃO DO SISTEMA TÁTICO NO FUTEBOL: UMA REVISÃO HISTÓRICA
1JULIO CESAR MARTINS DA ROCHA, 2MURILO ACACIO MACHADO DE OLIVEIRA, 3PEDRO LUIZ SOARES, 4MARCELOFIGUEIRO BALDI
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: Os esquemas táticos são as formas organizaçã de seus jogadores em campo. Alguns fatores que contribuíram paraevolução do sistema foram as mudanças nas regras de impedimento e as dimensões do campo. Para um sistema tático obterêxito é necessário um equilíbrio entre as linhaa de defesa e de ataque (GRANDO; ARCELINO, 2014). Houve um evolução dosesquemas táticos desde a origem da organização do futebol em campo, diante dessa situação, os técnicos buscam umaatualização constante para qualificar seu treinamento e suas equieps e assim aprimorar para ter vantagem a cuto e longo prazo.Diante do exposto, esse estudo teve por finalidade responder ao seguinte problema de pesquisa: qual a cronologia de evoluçãodos sistemas táticos do futebol?Objetivo: Descrever a evolução dos sistemas táticos no futebol.Desenvolvimento: Em 1863, surge o primeiro esquema tático com 11 jogadores que foi o 1-1-8. A primeira evolução foi visandobuscar um equilíbrio entre o meio-campo e a defesa para que a equipe obtivesse melhores resultados, desta forma originou o 1-2-7 (LEAL, 2001). Já em 1872, o 2-2-6 surgiu como forma de equilibrar os setores entre defensa e ataque. Em 1883, aUniversidade de Cambridge foi a primeira equipe a experimentar um sistema tático chamado Piramidal que era representadopeolo posicionmento 2-3-5, esse sistema tático permaneceu por 42 anos sendo modificada após a implantação do impedimentonas regras do futebol em 1925 (GRANDO; MARCELINO, 2014). Em 1925, Sir Hebert Chapman, implantou o esquema tático W-Mque era representado pelo posicionamento 3-2-5 e esse método durou cerca de 30 anos sendo o principal esquema tático dojogo no mundo todo (ALMEIDA; LAURIA; LIMA, 2016). Em 1940, surgiu o 4-2-4, que anos depois substituiria o sistema W-M,sendo utilizado pelo Brasil na copa do mundo de 1958. Em 1962 iniciou a utilização do esquema tático 3-4-3, que teve suaprimeira aparição na copa do mundo deste mesmo ano e supostamente voltaria a ser utilizado entre 1991 e 1997 com Louis VanGaal com a equipe do Ajax da Holanda. Ainda em 1962 surgiu o sistema tático 4-3-3, conhecido como um sistema táticocompacto e muito ofensivo. Esse sistema foi utilizado pela seleção holandesa em 1974, conhecido como Carrossel Holândes(FRISSELLI, 1999) e (CAVALCANTI, 2013). Nos anos 80 foi a vez do sistema tático 4-4-2, que visava o bloqueio do meio-campo,fortalecendo a defesa, porém tinha dificuldades para atacar pelo fato deste sistema posicionar menos atacantes e os meio-campista terem que auxiliar na marcação, além da criação de jogadas (MELO, 2000). Em 1984, a Dinamarca implanta oesquema tático 3-5-2 que era um esquema tático consistente defensivamente e eficiente ofensivamente, pois os alas ajudavamtanto e prestavam auxílio a defesa e ao ataque (ALMEIDA; LAURIA; LIMA, 2016). Em 1998 a seleção da Noruega aplica osistema tático 4-5-1 (MELO, 2000). atualmente observa-se a utilização do 4-2-3-1 que vem sendo usado com muita frequênciapor treinadores e é um esquema tático que tem variações do 4-3-3. O 4-2-3-1 é esquema tático muito utilizado após a copa domundo da África do Sul realizada em 2010. O esquema tático 4-2-3-1 é uma forma em que os jogadores de lado de campo ou ospontas quando estão sem a posse da bola recuam para auxiliar na marcação e com a posse da bola avançam para oataque, esse esquema tático é utilizado por grandes clubes o Brasil e do mundo como Cotinthians, Internazionali de Milão alémde grandes seleções como Alemanha, Espanha, Holanda entre outras.. Outro esquema tático observado nos últimos anos é o 4-1-4-1, esse esquema tático também é uma variação do 4-3-3 um esquema tático que pode ser definido defensivo ou ofensivo,dependendo das características dos atletas disponíveis para formação da equipe (BETING, 2015).Conclusão: Conclui-se que os sistemas tácos no futebol teve uma grande evolução, devido aos clubes e treinadores adotarmétodos que influencim diretamente nos sistema de jogo. Com isso sem se usado muito a tática de aproximar as linhas dosjogadores fazendo com o sistema tático sejam mais compacto. Assim vemos equipes cada vez mais priorizando defender paraentão poder atacar diferente de como era anos atras que se priorizava atacar ao invés de defender.
ReferênciasALMEIDA, C. S. A.; LAURIA, T. V.; LIMA, C. Evolução dos esquemas táticos no futebol. Revista eletrônica acadêmicainterinstitucional. São Paulo. Julho, 2016.CAVALCANTI, Y. Evolução e revolução tática no futebol (2013) Disponível em:http://futeblog.y33.com.br/2012/09/evolução-e-
revolução-tatica-no-futebol/Acesso em:02 mar. 2015.FRISSELLI, A.; MONTOVANI, M. Futebol: teoria e prática. São Paulo: Phorte editora. 1999.GRANDO, F. C. S.; MARCELINO, P. S. A evolução das táticas no futebol. EFDesportes. Revista digital. Buenos Aires.Fevereiro, 2014.MELO, R. Sistemas e táticas para futebol. 2a edição. Rio de Janeiro. Sprint. 2000.LEAL, J. C. Futebol: Arte e ofício. Rio de Janeiro. 2a edição. Sprint. 2000.BETING, M. Lance, O diário dos esportes, coluna: Apito inicial. São Paulo. Edição 03, fev. 2015.
EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE AMINOÁCIDOS DE CADEIA RAMIFICADA SOBRE O DESEMPENHO FÍSICO
1GABRIELA VIEIRA CANUTO, 2ALUÍSIO ROGÉRIO ALVES, 3JHENIFFER BIANCA THOME PEREIRA, 4THIAGO MENDONCADE SOUSA, 5ANA LUIZA NOGUEIRA, 6ALAN PABLO GRALA
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Graduado do Curso de Educação Física - UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Acadêmico do PIC/UNIPAR4Acadêmico do PIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Os aminoácidos leucina, isoleucina e valina são os únicos a possuírem a cadeia lateral ramificada, sendo conhecidocomo aminoácidos de cadeia ramificada (ACR). Coletivamente estes aminoácidos representam cerca de 35 - 40% dosaminoácidos essenciais em proteínas musculares. A concentração de ACR variam de acordo com o tipo de fibra muscular, sendo20-30% maior em fibras de contração lenta em relação às de contração rápida (ROGERO, TIRAPEGUI, 2008). Com relação afunção biológica dos ACR, a leucina desempenha um importante papel na síntese de proteínas musculares, a isoleucina induz acaptação de glicose pelas células e a valina apresenta inúmeras funções no sistema nervoso e imunológicos (UCHIDA et al.,2008). Os ACR são facilmente encontrados no mercado e geralmente são comercializados como um recurso capaz de reduzir afadiga e acelerar o processo de recuperação muscular. Apesar de serem amplamente utilizados por atletas e praticantes deexercícios físicos, ainda existe diversos questionamentos sobre o real beneficio dos ACR para o desempenho físico.Objetivo: Relatar e discutir o efeito da suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada para o desempenho físico.Desenvolvimento: Algumas evidências apoiam o uso de ACR como uma estratégia válida para reduzir os índices de lesão pós-exercício e acelerar o processo de recuperação do tecido muscular (HOWATSON et al., 2012). Já outras (FOURÉ; BENDAHAN,2017) consideram pobre a eficácia destes aminoácidos para atingir tal finalidade. Uma captação aumentada de triptofano nocérebro pode ampliar a atividade serotoninérgica e resultar em fadiga durante o exercício prolongado. Frente a isto, tem sidoproposto que a ingestão de ACR durante o exercício prolongado poderia atenuar o aumento da razão triptofano livre/ACR, o queretardaria o início da fadiga central e, consequentemente, aumentaria a performance (BLOMSTRAND, 2006; NEWSHOLME;BLOMSTRAND, 2006), entretanto, ainda não foram encontrados resultados práticos que sustentem essa hipótese. Com relaçãoa suposição de uma maior velocidade de recuperação muscular, é importante destacar que a lesão muscular induzida peloexercício físico esta primariamente associada a tensão muscular e o subsequente processo inflamatório. Neste sentido, tem sidoconsiderado que a ingestão de ACR poderia reduzir a quebra de proteínas musculares e e auxiliar na remoção de agentesreativos ao oxigênio (ROS), podendo aliviar as alterações estruturais e metabólicas observadas após realização do exercíciofísico (FOURÉ; BENDAHAN, 2017), entretanto, tem-se observado dificuldade em comprovar essa hipótese. Vários estudosbuscaram trazer maiores esclarecimentos sobre esse assunto, como exemplos, Hall et al. (1995) observaram que asuplementação de 3g de triptofano, 6g de ACR (dose baixa) ou 18g de ACR (dose elevada), durante um exercício em cicloergômetro na potência de 70-75% até a exaustão, não exerceu efeito significativo no tempo até a fadiga, pois não alteraram aconcentração da 5-hidroxitriptamina no cérebro e na atividade serotoninérgica durante o exercício prolongado. Porém, Howatsonet al. (2012), relataram que a ingestão oral de ACR na quantidade de 10g (1 hora pré e pós-exercício) durante 12 dias, reduziu osíndices de dano muscular e acelerou a recuperação após um protocolo de teste com saltos consecutivos. Estes autores relataramque a ingestão de ACR proporcionou maior biodisponibilidade do substrato para melhorar a síntese proteica e, assim, a extensãodo dano muscular secundário associado ao exercício de resistência extenuante.Conclusão: No tocante a fadiga central, ainda pode ser precipitado indicar a suplementação de ACR para a melhora dodesempenho físico, no entanto, os ACR se mostraram eficientes na redução dos índices de lesão pós-exercício e no processo derecuperação do tecido muscular. Um número crescente de evidências aponta para um possível efeito ergogênico e clínico com ouso destes aminoácidos, porém, ainda existem vários questionamentos na literatura específica. Fica evidente a necessidade demais pesquisas visando ampliar o conhecimento sobre o papel dos ACR em aspectos relacionados ao desempenho físico.
ReferênciasBLOMSTRAND, E. A role for branched-chain amino acids in reducing central fatigue. J Nutr. v.136, n.2, p.544S-547S, 2006.FOURÉ, A.; BENDAHAN, D. Is branched-chain amino acids supplementation na efficient nutricional strategy to alleviate skeletalmuscle damage? A systematic review. Nutrients. v.9, n.10, p.1-15, 2017.
HALL, G. V. et al. Ingestion of branched-chain amino acids and tryptophan during sustained exercise in man: failure to affectperformance. Journal of Physiology. v.486, n.3, p.789-794, 1995.HOWATSON, G. et al. Exercise-induced muscle damage is reduced in resistance-trained males by branched chain amino acids: arandomized, Double-blind, placebo-controlled study. J Int Sports Nutr. v.12, p.9-20, 2012.ROGERO, M. M.; TIRAPEGUI, J. Aspectos atuais sobre aminoácidos de cadeia ramificada e exercício físico. Revista Brasileirade Ciências e Farmacêuticas. v.44, n.4, p.563-575, 2008.UCHIDA, M. C. et al. Consumo de aminoácidos de cadeia ramificada não afeta o desempenho de endurance. Ver Bras MedEsporte. v.14, n.1, p.42-45, 2008.
PERFIL DE DESEMPENHO AERÓBIO DE ATLETAS DE FUTSAL FEMININO PROFISSIONAIS NO Yo-Yo Test Intermitente
1ANDRE LUIS MAROSTICA FURTADO, 2MARCELO DE JESUS COSTA, 3MARCELO SERENINI JUNIOR, 4RENAN AUGUSTOVENDRAME DA SILVA, 5CLAUDINEI DOS SANTOS, 6VITOR HUGO RAMOS MACHADO
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Profissional de Educação Física, UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Futsal é um esporte que caracteriza-se por ser de alta intensidade e intermitente e exige dos atletas um elevadospadrões físicos relacionados ao desempenho para executar as diversas ações técnicas e táticas dentro do jogo. O consumoMaximo de oxigênio (Vo2Max); pode ser definido como a maior quantidade de oxigênio que o individuo consegue captar,transportar e utilizar o que o torna um grande indicador de desempenho principalmente dentro do esporte e também paraavaliação funcional de não atletas(CECIL et al. 2017). Tornando a analise de Vo2Max importante para avaliar a capacidadeaeróbia dos atletas tanto para prescrição de treinamento quanto para monitorar o desempenho durante os jogos e para verificarnível desempenho dentro dos altos padrões exigidos pelo esporte profissional (SILVA et al. 2011).Objetivo: Avaliar o Vo2Max de atletas de futsal feminino por meio do Yo-Yo test intermitente e verificar os padrões dedesempenho aeróbio de acordo com valores de referencia descritos na literatura.Metodologia: Foram avaliadas 14 atletas, 11 jogadoras de linha e 3 goleiras da equipe de Cianorte Futsal Feminino, com idadesde 19 a 30 anos, todas as atletas tiveram o Vo2MAX medido através do protocolo Yo-Yo test intermitente e os valores obtidosforam comparados com uma tabela de referencia de condicionamento cardiorrespiratório (NUNES et al. 2005), para se identificarem que nível de desempenho as atletas se encontravam.Resultados: Comparando os resultados obtidos no teste as atletas apresentaram um excelente resultado de condicionamentocardiorrespiratório com valor médio Vo2Max 44,39 ± 1,74 ml/kg/min; mesmo havendo diferença grande de idade ambas as atletastiveram resultados muito proximos e sem diferença expressiva, assim como as goleiras mesmo exercendo uma ação que exigemenos esforço durante os jogos tambem se manteram com valores de Vo2Max proximos ao das jogadoras de linha.Discussão: Existem vários métodos para se medir o Vo2Max, porem alguns testes são cíclicos e sem pausas o que não refleteuma situação de algumas modalidades como voleibol, basquete, futsal dentre outras(GALLOTTI; CARMINATTI, 2008), por isso aescolha do Yo-Yo test intermitente para tentar aproximar ao Maximo o teste com a situação que as atletas são submetidasdurante os jogos.Conclusão: Podemos concluir que com o resultado do teste todas as atletas se encontram em excelente condicionamentoaeróbio e que através de um monitoramento da variável Vo2Max será possível prescrever o treinamento com o propósito demanutenção ou aprimoramento dessa capacidade para que a equipe se mantenha competitiva e com ótimo desempenho nosjogos.
ReferênciasCECIL, F.; LIMA, T.; MINEIRO, A.; GUEDES, D.P,; SCORCINE, C.; MADUREIRA, F.; PEREIRA, R.;. CARACTERÍSTICASFISIOLÓGICAS E ANTROPOMÉTRICAS DE ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL E FUTSAL. Revista Brasileira deFutsal e Futebol, São Paulo. v.9. n.32. p.21-26. Jan./Fev./Mar./Abril. 2017. ISSN 1984-4956.GALOTTI, F, M.; CAMINATTI, L, J.;. VARIÁVEIS IDENTIFICADAS EM TESTES PROGRESSIVOS INTERMITENTES. RevistaBrasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo, v.2, n.7, p.01-17. Janeiro/Fev. 2008. ISSN 1981-9900.NUNES, R, A, M.; PONTES, G, F, R.; DANTAS, P, M, S.; FILHO, J, F.;. Tabela Referencial de CondicionamentoCardiorrespiratório. Fitness & Performance Journal, Rio de Janeiro, v. 4, n. 1, p. 28, janeiro/fevereiro 2005.SILVA, C, D.; NATALI, A, J.; LIMA, J, R, P.; FILHO, M, G, B.; FARCIA, E, S.; MARINS, J, C, B.; Yo-Yo IR2 test e Teste deMargaria: Validade, Confiabilidade e Obtenção da Frequência Cardíaca Máxima em jogadores jovens de Futebol. Rev Bras MedEsporte Vol. 17, No 5 Set/Out, 2011.
QUANTIFICAÇÃO DA MALFORMAÇÃO CONGENITA DO CORAÇÃO DE RECÉM NASCIDOS NO ESTADO DO PARANÁ DE2006 A 2016 ESTUDO DE REVISÃO
1FELIPE MARCHI, 2FELIPE AUGUSTO SPANHOLI, 3JENIFFER VIEPRZ MORAIS, 4FABIANE ANGELICA DE PAIVA PAULA,5IRINEIA PAULINA BARETTA, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Discente do curso de medicina/UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A cardiopatia congênita (CC) é definida como uma malformação anatômica do coração ou dos grandes vasosintratoráxicos (SANTOS; et al, 2012 ROSA; et al, 2013). Compreendendo a evolução dos efeitos que determinam sintomasimportantes que podem levar a óbito. Apresentam uma incidência de 6 a 12 a cada 1000 recém-nascidos vivos em todo mundo(PINTO; et al, 2018). Porém 90% das malformações não apresentam qualquer fator de risco (ZIELINSKY, 1997). Ascomplicações sintomáticas principais são: sopro cardíaco, cianose, taquipneia e arritmia cardíaca (SANTOS; et al, 2012).Objetivo: Analisar as notificações de óbitos infantis (até 1 ano de idade) em decorrência de malformações congênitas do coraçãono Paraná dos anos de 2006 a 2016, utilizando o DATASUS.Desenvolvimento: As cardiopatias congênitas não possuem causa definida, ocorrendo pela interação de fatores ambientaisteratogênicos e genéticos. Porém, é comprovado que algumas situações contribuem para o aumento dessa condição. Gravidezentre 20 e 29 anos, histórico familiar de cardiopatas, mães diabéticas, pacientes com lúpus, hipotireoidismo e mães comtoxoplasmose (PINTO; et al, 2018). O Ministério da Saúde completa que obesidade, hipertensão arterial, epilepsia, tabagismo noprimeiro trimestre de gestação, algumas infecções, doenças do colágeno, uso de alguns medicamentos e o consumo de álcoolpodem aumentar as chances de malformações no coração do feto (BRASIL, 2019). De acordo com (ROSA, et al, 2013), no Brasilnascem aproximadamente 23.000 crianças com problemas cardíacos, das quais, cerca de 80% necessitaram de intervençãocirúrgica. A falha no diagnóstico, ou a falta de vagas na rede pública, faz com que cerca de 13.000 crianças não recebamtratamento adequado. As notificações no DATASUS mostram que o Paraná possui 1.648 casos de morte por malformaçãocongênita do coração, entre 1.692 nascidos vivos, nos períodos de 2006 a 2016. Na macrorregião de saúde Leste, foramregistrados um total de 810 casos, seguida pelos 316 da região Oeste, 278 do Noroeste e a Norte com 244. O número maior decasos registrados na região Leste, é explicado por essa região cobrir uma parte maior e mais populosa do estado. A ocorrênciade óbitos nos anos de 2007, 2011 e 2016 no total das macrorregiões foi respectivamente de 143, 148 e 144. Os dados nosmostram que as ocorrências de óbitos são estáveis no decorrer dos anos. Lembrando que as macrorregiões de saúde nãoadotam os mesmos critérios da divisão regional do IBGE. Assim, (ROSA; et al, 2013) sugere que a implantação do rastreamentode malformações cardiovasculares, através da rede de atenção rotineira de ultrassonografia obstétrica com a finalidade demapear e tratar de forma mais efetiva os casos registrados pode amenizar as mortes por CC. O diagnóstico precoce é de sumaimportância uma vez que melhora o prognóstico e aumenta a sobrevida da criança (SILVA; et al, 2018).Conclusão: Observou-se que as mortes em decorrência de malformação congênita do coração nessa última década,apresentam baixa oscilação ao decorrer dos anos analisados, sendo estável. O que é algo esperado, uma vez que não possuicausas e fatores de influência definidos.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Departamento de Informática do SUS, 2019.BRASIL. Ministério da Saúde. Plano Nacional de assistência a Criança com Cardiopatia Congênita, 2017.PINTO, C. P. et al. Fatores de Riscos Maternos associados à Cardiopatia congênita. J. Health Sci. Inst, v. 36, n. 1, p. 34 08,2018.ROSA, R. C. M. et al. Cardiopatias congênitas e malformações extracardíacas. Rev Paul de Pediatr., v. 31, n. 2, p. 243-51,2013.SANTOS, B. G. M. et al. Correção cirúrgica de cardiopatias congênitas em recém-nascido. Insuf. Card., v. 7, n. 4, 2012.SILVA, L. et al. Diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas: Uma revisão integrativa. JMPHC [Internet]., v.9, 2018.ZIELINSKY, P. Malformações Cardíacas Fetais. Diagnóstico e conduta. Arq. Bras. Cardiol., v. 69, n. 3, 1997.
NÍVEL DE ATVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO BRASIL: UMAREVISÃO SISTEMÁTICA
1LETICIA DA ROSA PIETTA, 2JANAINE POSSA STRAPAZZON, 3JANAINA DA SILVA MACHADO, 4ADRIANA SOARESMOSER, 5SHELZEA SHANDARA RECH DOS SANTOS, 6DURCELINA SCHIAVONI BORTOLOTI
1Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR1Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR2Discente de Educação Física, PIBIC/UNIPAR3Discente de Enfermagem, PIC/UNIPAR4Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR5Docente do Curso de Educação Física, PIC/PIBIC/UNIPAR
Introdução: A prática regular de atividade física, independentemente da idade, presenta-se como fator protetor contra aobesidade, hipertensão arterial, diabetes e promove bem-estar, reduz o estresse, ansiedade e depressão (LUCIANO et al., 2016).Segundo Menezes e Duarte (2015), o nível de atividade física em crianças e adolescentes contribui para um melhor perfillipídico, metabólico e auxilia na redução da obesidade. Por outro lado, o sedentarismo em crianças e adolescentes é consideradoum problema de saúde pública pela sua associação com a obesidade infantil e maior morbidade na idade adulta. Adicionalmente,o aumento do comportamento sedentário (≥ 2h/dia), principalmente no tempo de tela (celulares, computadores, videogames), temrelação com a composição corporal desfavorável e diminuição da aptidão física (GRECA; SILVA; LOCH, 2016).Objetivo: Verificar o nível de atividade física de comportamento sedentário em crianças e adolescente do BrasilDesenvolvimento: O estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura em periódicos indexados nas basesde dados nacionais e internacionais (LILACS- Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; SCIELO -Scientific Eletronic Library Online e ferramenta de busca Google Acadêmico) no período de 1990 até Junho de 2019, para tantoutilizou-se os seguintes descritores: Atividade física, estilo de vida sedentária, crianças, adolescentes e prevalência. Após abusca e análise dos artigos, dezoito artigos foram encontrados, contudo, para esta revisão foram incluídos os 11 mais relevantes.Dentre eles, destaca-se um recente estudo de revisão verificou que nas regiões de Londrina, São Paulo, Campina Grande,Nordeste, Recife, Rio de Janeiro, as prevalências de atividade física adequada variaram de 27,1% a 92,8% e a inatividade físicavariou de 22,6%a 93,5% (BENTO et al., 2015). No estudo transversal conduzido por Dias et al. (2014), na cidade de Cuiabá,verificou que a prevalência de comportamento sedentário em adolescentes foi de 58,1%. Já em Maravilha (SC), o estudoidentificou que os adolescentes com maior sonolência tinham 4,97 vezes mais chance de ter comportamento sedentário elevado(FELDEN et al., 2016). No município de Pelotas (RS), o estudo buscou informações relacionada a atividade física e a saúde emgeral por meio das aulas de educação física. Verificou-se que, mesmo na presença das aulas de educação física, houve altaprevalência de comportamento sedentário em dias da semana (69,2%) e nos fins de semana (79,6%) (FERREIRA et al., 2016).Em Londrina (PR),Greca,Silva e Loch (2016), analisaram a associação do sexo e idade com comportamentos relacionados àprática de atividades físicas e sedentarismo em crianças e adolescentes. As moças dedicaram mais tempo ao comportamentosedentário (69,6%) quando comparadas com rapazes (62,2%). Além disso, os estudantes mais velhos (13-17 anos),apresentaram maior prevalência de inatividade física (91,4%) e comportamento sedentário (71,8%) quando comparados comestudantes entre 8 e 12 anos (78,7 e 58,5%, respectivamente). Em Sergipe, um estudo transversal (MENEZES; DUARTE, 2015)encontrou prevalência de 77,5% para comportamento sedentário em adolescentes. No estudo de Pinheiro et al.(2017), realizadonos adolescentes de Manaus (AM), verificou importante taxa de prática de atividade física de leve e moderada, contudo, osedentarismo foi observado em 48% da amostra. Em Maceió (AL) um estudo transversal, objetivou estabelecer o nível deatividade física e o número diário de horas de TV em crianças/adolescentes. Houve prevalência de sedentarismo em 93,5%, e amédia do tempo de TV foi de 3,6horas (RIVEIRA et al., 2010). Além dos dados alarmantes sobre as prevalências de atividadefísica e comportamento sedentário inadequado, nas diferentes regiões do Brasil apresentados nesta revisão sistemática, aliteratura tem destacado ainda, os diferentes fatores que estão associados a estes desfechos em crianças e adolescentes, dentreeles destaca-se o tempo de tela elevado (≥ 2h/dia), o excesso de peso corporal, o estágio de puberdade (pós-púbere), o baixoenvolvimento em práticas esportivas, entre outros (FERNANDES et al., 2011; GUERRA; FARIAS JÚNIOR; FLORINDO, 2015;LUCIANO et al., 2016).Conclusão: Nos estudos analisados verificou-se que a prevalência de atividade física em crianças e adolescentes brasileirosvariou entre 27,1% à 96,7% e o comportamento sedentário variou entre 19,7% à 69,2%. Por fim, estes achados podem auxiliarem estratégias públicas de saúde regionalizadas, com direcionamento de implementações de programas de combate ao estilo de
vida sedentário associado ao aumento de prática regular de atividade física supervisionada.
ReferênciasBENTO, Gisele Graziele, et al. Revisão sistemática sobre nível de atividade física e estado nutricional de criançasbrasileiras. Rev. Salud Pública, Bogotá, v. 18, n. 4, p. 630-642, Jul. 2016.DIAS, Paula Jaudy Pedroso, et. al. Prevalência e fatores associados aos comportamentos sedentários em adolescentes. Rev.Saúde Pública, São Paulo , v. 48, n. 2, p. 266-274, Abril. 2014 . FELDEN, Érico Pereira Gomes, et al. Adolescentes com sonolência diurna excessiva passam mais tempo em comportamentosedentário. Rev. Bras. Med. Esporte, São Paulo, v. 22, n. 3, p. 186-190, Jun. 2016. FERNANDES, Rômulo Araújo, et al. Atividade física: prevalência, fatores relacionados e associação entre pais e filhos. Rev.Paul. Pediatr., São Paulo , v. 29, n. 1, p. 54-59, Mar. 2011 . FERREIRA, Rodrigo Wiltgen et al . Prevalência de comportamento sedentário de escolares e fatores associados. Rev. Paul.Pediatr., São Paulo, v. 34, n. 1, p. 56-63, Mar. 2016 . GRECA, João Paulo de Aguiar.; SILVA,Diego Augusto Santos.; LOCH, Mhatias Roberto. Atividade física e tempo de tela emjovens de uma cidade de médio porte do Sul do Brasil. Rev. Paul. Pediatr., São Paulo, v. 34, n. 3, p. 316-322, Set. 2016 . GUERRA, Paulo Henrique; FARIAS JÚNIOR, José Cazuza; FLORINDO, Alex Antonio. Comportamento sedentário em crianças eadolescentes brasileiros: revisão sistemática. Rev. de Saúde Pública, São Paulo, v. 50, p. 1-15, 2016.LUCIANO, Alexandre de Paiva, et. al. Nível de atividade física em adolescentes saudáveis. Rev Bras Med Esporte, São Paulo,v. 22, n. 3, p. 191-194, Jun. 2016. MENEZES, Aldemir Smith; DUARTE, Maria de Fátima da Silva. Condições de vida, inatividade física e conduta sedentária dejovens nas áreas urbana e rural. Rev Bras Med Esporte, São Paulo, v. 21, n. 5, p. 338-344, Out. 2015. PINHEIRO, Leandro Elvas et. al . Prática de atividade física de escolares do 4º e 5º anos do ensino fundamental da rede públicaestadual. Rev Bras Med Esporte, São Paulo, v. 23, n. 4, p. 308-313, Ago. 2017.RIVERA, Ivan Romero et. al. Atividade física, horas de assistência à TV e composição corporal em crianças e adolescentes. Arq.Bras. Cardiol., São Paulo, v. 95, n. 2, p. 159-165, Ago. 2010 .
AÇÃO DO DIODO EMISSOR DE LUZ AZUL (LED) SOBRE A BACTÉRIA Escherichia coli
1ZENILDA DE CAMPOS VIAPIANA, 2SAMARA DIAS DE OLIVEIRA, 3JULIANA PELISSARI MARCHI, 4EVELLYN CLAUDIAWIETZIKOSKI LOVATO, 5LUCIANA PELLIZZARO
1Acadêmica do Curso Estética e Cosmética da Unipar-1Acadêmica do Curso de Estética e Cosmética da UNIPAR2Docente da UNIPAR3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A terapia fotodinâmica vem ganhando espaço por ser uma grande aliada em protocolos estéticos na melhora depatologias da pele. O diodo emissor de luz (LED) é um tipo de radiação eletromagnética não ionizante e monocromática quepossui ação bactericida e cicatrizante (DOURADO et al., 2011). Possui três comprimentos: vermelha (age contra inflamação),azul (bactericida) e âmbar (estimula produção proteica). A bactéria Escherichia coli é gram-negativa, pertence à famíliaEnterobacteriaceae, sendo amplamente distribuída na natureza, tendo como principal habitat o trato intestinal humano e animalonde algumas cepas podem causar patogenicidade, tornando-a uma das espécies mais pesquisada mundialmente (DRUMONDet al., 2018). Alguns métodos fotodinâmicos, como o LED, podem ser aplicados na eliminação de micro-organismos que sãoresistentes aos antimicrobianos; essa ação se dá pela desestruturação das porfirinas, que são substâncias produzidas porbactérias, que ao se desestruturarem, impedem alguns dos seus metabolismos, inativando-as (CARGNELUTTI, 2019).Objetivo: Avaliar a ação do Diodo Emissor de Luz Azul (LED) em diferentes tempos, sobre a bactérias Escherichia coli.Material e métodos: Ativou-se a bactéria Escherichia coli em caldo BHI por 24 horas, em estufa a 37ºC. Na sequência, fez-se orepique para o Meio Mac Conkey e deixou-se em estufa por mais 24 horas a 37ºC. Preparou-se então a suspensão da bactériaem solução salina estéril, na Escala 0,5 de Mac Farland. Após, colocou-se 1mL desta solução em 9mL de solução salina eprocedeu-se sequencialmente, mais duas diluições. Em seguida, 1 uL dessa suspensão da bactéria foi semeada sobre o meio decultura, em placa de petry. A seguir aplicou-se o tratamento: LED em tempos de 40, 80, 120 e 160 segundos. Para isso, oequipamento foi posicionado em um suporte, sobre as placas de Petry, no interior da câmara de fluxo. Os controles foram feitoscom meio e bactéria e meio bactéria e antibiótico (Ampicilina). Uma placa contendo apenas meio testou sua pureza. As placasforam colocadas em estufa a 37ºC por 24 horas e então fez-se a contagem das colônias de bactérias.Os tratamentos foram feitosem quintuplicata e a contagem das bactérias foram repetidas três vezes, por diferentes avaliadores. Foram avaliadas as médiasde colônias, por meio de Anova com Teste Tukey para avaliar a significância, ao nível de 5% de probabilidade, com uso doPrograma Win Stat.Resultados: Os tempos de aplicação de LED de 80, 120 e 160s produziram, respectivamente, 11, 21 e 16 col/placas, e foramsignificativamente iguais entre si, pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade, bem como quando comparados ao grupo controlepositivo, com Ampicilina. Já no tempo de 40s de exposição da bactéria ao LED, houve produção média de 226 col/placa,diferindo significativamente do controle negativo, que apresentou 55 col/placas.Discussão: A ação do LED foi efetiva nos tempos de 80, 120 e 160s, pois demonstrou redução das colônias de Escherichia coli.Resultados similares foram encontrados em pesquisas de Costa et al. (2018) que verificaram eficiência do LED sobre a mesmabactéria, sendo que a exposição a tempos mais prolongados gera resultados mais satisfatórios. Da mesma forma Penha (2017)realizou testes com o LED azul associado ao extrato de rizomas de Curcuma longa (açafrão), sobre a bactéria E. coli porperíodos de tempo de 10 e 20 min e concluiu que quanto maior o tempo melhores resultados de ação bactericida foramapresentados. Neste estudo, ainda verificou-se que o LED tem eficácia sobre a bactéria E. coli quando exposta por um tempoigual ou maior que 80 segundos. O tempo de 40 segundos é ineficaz, sendo que a proliferação da bactéria foi significativamente maior que no grupo controle, conforme Teste Tukey. O LED age pelo efeito bactericida que promove, desencadeando a excitaçãodas porfirinas, substância fotossensível presente nas bactérias, que ao ser desestruturada promove a produção de espéciesreativas de oxigênio (radicais livres), que possuem capacidade de alterar estruturas e funções das bactérias, causando suamorte (CARGNELUTTI, 2019). Possivelmente, o tempo de 80 s já é eficiente para ocasionar essa fotossensibilidade na E. coli.Conclusão: O diodo emissor de luz azul (LED) apresentou ação sobre a bactéria Escherichia coli . O tempo de 80 segundos foisuficiente para expor a bactéria ao LED e eliminá-la.
ReferênciasCARGNELUTTI, J. F. Atividade antibacteriana de porfirinas tetra-catiônicas frente às bactérias isoladas de otite canina.
Projeto de Pesquisa,UFSM, 2019. Disponível em: https://portal.ufsm.br/projetos/publico/projetos/view.html?idProjeto=62756.Acesso em 22 ago. 2019.COSTA, A.S. et al. Terapia fotodinâmica na inativação de microrganismos. In: ENCONTRO LATINOAMERICANO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 13. 2018. São José dos Campos, Anais [ ] Universidade do Vale do Paraíba, 2018 [on line].DOURADO, K. V. et al. Ledterapia. Uma nova perspectiva terapêutica ao tratamento de doenças da pele, cicatrização de feridase reparação tecidual. Ensaios e Ciência, v. 15, n. 6, p. 231-248, 2011. DRUMOND, S.N. et al. Identificação molecular de Escherichia coli diarreiogênica na bacia hidrográfica do rio xopotó na região doAlto Rio Doce. Eng Sanit Ambient, v.23, n.3, 2018. PENHA, C. B. Photodynamic inactivation of foodborne and food spoilage bacteria by curcumin. Food Science and Technology,v. 76, p. 198-202, 2017.
ALTERAÇÕES BUCAIS EM GESTANTES E A INFLUÊNCIA SOBRE A SAÚDE DO BEBÊ
1ANA MARIA DA SILVA, 2GISELE APARECIDA SPADIM, 3SABRINA SAYURI ALMEIDA KIKUTI, 4GABRIELA BARBOSA DEOLIVEIRA, 5ANA CAROLINA SOARES FRAGA ZAZE
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Durante a gravidez, a mulher sofre diversas alterações fisiológicas destinadas ao preparo de seu corpo para o partoe para a amamentação. Essas alterações são sistêmicas e podem, inclusive, modificar o equilíbrio da cavidade oral.Objetivo: Revisar a literatura quanto à ocorrência de alterações bucais no período gestacional e a influência na saúde do bebê.Desenvolvimento: Rios e colaboradores (2007) avaliaram um grupo de 80 gestantes e identificaram que 45% delas relataramapresentar alterações bucais, com destaque para as periodontais. Da mesma forma, Martins e colaboradores (2013),encontraram alterações em 52,89% das gestantes. Segundo Rios e colaboradores (2007), 61,11 % das gestantes examinadasapresentaram gengivite e sangramento gengival, 11,11% alteração salivar e 8,33% dor, sendo que não conseguiam distinguir seera na gengiva ou no dente. Ainda, Passanezi, Brunetti e Santʼana (2007) afirmam que, de todas as gestações, no máximo 9,6%manifestam granuloma gravídico. A gengivite gravídica, como é denominada a inflamação gengival no período gestacional,representa uma resposta aumentada às alterações locais. Está associada à presença de biofilme próximo ou dentro do sulcogengival e é agravada por fatores sistêmicos como alterações hormonais, principalmente, os hormônios sexuais. O desequilíbrioestrógeno-progesterona exerce influência sobre o metabolismo dos tecidos periodontais, o que altera a resposta tecidual aobiofilme dental. O estrógeno e a progesterona em altos níveis no sangue e, consequentemente, nos vasos do sulco gengival,favorecem o crescimento de bactérias periodontopatógenas, como a Prevotella intermedia, e, além disso, estimulam a síntese decitocinas pró-inflamatórias, particularmente as prostaglandinas E2 (PGE2), causando aumento do processo inflamatório dagengiva (ALEIXO et al., 2010). Da mesma forma, o granuloma gravídico é resultado das altas concentrações de estrógeno eprogesterona combinadas a irritantes locais, como cálculos, excesso de restauração e próteses mal adaptadas, e consiste deuma área localizada de hiperplasia gengival fibrosa (ALEIXO et al., 2010). A causa está associada à inflamação acentuada,provocada pelos efeitos gerais da progesterona e do estrógeno no sistema imune, à resposta vascular mais reativa e àsalterações vasculares decorrentes da inibição da colagenase causada pela progesterona, o que gera acúmulo de colágeno notecido conjuntivo (PASSANEZI, BRUNETTI E SANTʼANA, 2007). Quanto às alterações salivares, as concentrações elevadas doshormônios sexuais femininos têm efeito sobre os níveis de IgA salivar, o que provoca deficiência na resposta imunológica eaumenta a suscetibilidade à gengivite e granuloma gravídico e ao desenvolvimento de candidose na orofaringe (BECKER et al.,2008). Além disso, estudos são realizados a cerca do fluxo salivar de gestantes. Leal e colaboradores (2013), revelaram taxa defluxo e pH salivar das gestantes semelhantes aos das não gestantes, no entanto, a xerostomia foi uma sensação presente,apenas, nas gestantes. Em contrapartida, Herrera e colaboradores (2011) identificaram em seus estudos uma maior taxa de fluxosalivar e pH ligeiramente mais ácido em mulheres grávidas. Sobre a cárie, não existe comprovações de ralação direta com asalterações fisiológicas do período gestacional, mas sua presença em gestantes pode ser explicada por diversos fatores, como aqueda de restaurações por motivos de técnica operatória, higienização deficiente por preocupação maior com o filho, mudançasde hábitos alimentares, apetite exótico, vômitos e náuseas (que podem levar a uma higienização inadequada). Também, aocorrência de vômito leva o ácido clorídrico da mucosa gástrica para a cavidade oral, provocando a desmineralização do esmaltee, consequentemente, aumento de lesões cariosas (ALEIXO et al., 2010). Diante de tantas alterações fisiológicas bucaisenfrentadas por gestantes, se estabelece uma grande preocupação em torno da saúde do bebê frente às mesmas. SegundoAleixo e colaboradores (2010), altos níveis de PGE2, possivelmente provocados por lipopolissacarídeos (LPS) dosperiodontopatógenos, podem levar ao retardamento do crescimento fetal, parto prematuro e baixo peso. Assim, Cruz ecolaboradores (2005) estudaram a relação da doença periodontal materna com o baixo peso do bebê ao nascer e obtiveramcomo resultado que entre as portadoras da doença a chance do filho apresentar baixo peso ao nascer era cerca de duas vezesmaior que entre aquelas sem a doença. A doença periodontal foi diagnosticada em 57,8% do grupo de mães de nascidos vivosde baixo peso e 39,0% do grupo de mães de nascidos vivos com peso normal. Também Glesse e colaboradores (2004)pesquisaram a associação do parto pré-termo com a periodontite materna e identificaram que 38,3% das mães que tiveram partoantes da 37º semana apresentavam a doença, contra 18,5% das mães que tiveram parto após 38 semanas de gestação.
Conclusão: Nota-se que as alterações fisiológicas no período gestacional afetam a saúde bucal da gestante, agravando casosde periodontite, e que esta doença esta intimamente relacionada a partos prematuros e bebês com baixo peso.
ReferênciasALEIXO, Rodrigo Queiroz et al. Alterações bucais em gestantes Revisão da literatura. Saber Científico Odontológico, PortoVelho, v. 1, n. 1, p. 68-80, jul./dez. 2010.BECKER, Cindy Olária et al. Alterações sistêmicas e periodontais da gravidez. Revista Ciências da Saúde, Florianópolis, v. 27,n. 1, p. 14-27, jan./jun. 2008.CRUZ, Simone Seixas da et al. Doença periodontal materna como fator associado ao baixo peso ao nascer. Revista SaúdePública, São Paulo, v. 39, n. 5, p. 782-787, 2005.GLESSE, Simone et al. Influência da doença periodontal no trabalho de parto pré-termo. Revista Gaúcha de Odontologia, PortoAlegre, v. 52, n. 5, p. 326-330, nov./dez. 2004.HERRERA, C.D. Dennis Ortiz et al. Evaluación del pH salival en pacientes gestantes y no gestantes. Revista de la AsociaciónDental Mexicana, Cidade do México, v. 69, n. 3, p. 125-130, mai./jun. 2012.LEAL, Amanda de Oliveira et al. Estudos dos parâmetros salivares de gestantes. Revista Conselho Regional de Odontologia,Recife, v.12, n.1, p. 39-42, jan./mar., 2013.MARTINS, Débora Prado et al. A saúde bucal de uma subpopulação de gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde: umEstudo Piloto. Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada, João Pessoa, v.13, n.3, p.273-78, jul./set., 2013.PASSANEZI, Euloir; BRUNETTI, Maria Christina; SANTʼANA, Adriana Campos Passanezi. Interação entre a doença periodontal ea gravidez. Periodontia, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 32-38, jun. 2007.RIOS, Daniela et al. Relato de gestantes quanto à ocorrência de alterações bucais e mudanças nos hábitos de dieta e higienebucal. Iniciação Científica CESUMAR, Maringá, v. 9, n. 1, p. 63-68, jan./jun. 2007.
IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO SOBRE PÊNFIGO NA ÁREA DA SAÚDE
1Maria Lais Figueira Berteli, 2ARIANNE PERUZO PIRES GONÇALVES SERENO
1Discente de Enfermagem do CTESOP1Docente do CTESOP
Introdução: O Pênfigo, ou conhecido popularmente como Fogo Selvagem (PF), se caracteriza pela formação debolhas intraepidérmicas, principalmente nos locais que possuem uma maior quantidade de mucosa como boca e nariz. Classifica-se como uma patologia auto-imune, que acomete principalmente indivíduos de 40 a 50 anos. É uma enfermidade rara e setratada inadequadamente pode levar o portador ao óbito (SCHMIDT; ZILLIKENS, 2011).Objetivo: Estudar o Pênfigo e sua importância no conhecimento para os profissionais das áreas da saúde.Desenvolvimento: Essa enfermidade pode ser classificada de duas formas, entre elas o Pênfigo Vulvar e Pênfigo Foliáceo.Sendo que este último, é também conhecido como Fogo Selvagem (FS). É mais comum em indivíduos com etnia indígena emoradores de área rural (RUOCCO et al., 2013). Os principais sintomas são o aparecimento de bolhas na pele e nas mucosas deformas irregulares. As bolhas, quando se rompem, formam úlceras que possuem um processo demorado para a cicatrização(FERREIRA et al., 2016; RUOCCO et al., 2013). Quando o indivíduo apresenta um caso de FS intenso na mucosa oral, a perdade peso e a desnutrição podem vir juntamente com a patologia. Seu diagnóstico é demorado, já que existem poucos profissionaisque conhecem o FS (OLIVEIRA et al., 2016; SCHMIDTE; ZILLIKENS, 2011). O tratamento consiste em uso de corticoides eimunossupressores e, quando este é necessário por um longo período de tempo, o cidadão, por meio da medicação, pode ficarvulnerável à outras enfermidades como infecções no trato urinário e sistema digestivo (FERREIRA et al., 2016). Em alguns casosa equipe de enfermagem juntamente com a equipe médica devem ter cuidados e atenção redobrada à saúde mental dessespacientes, pois podem ocorrer surtos psicóticos devido a sua auto-imagem (OLIVEIRA et al., 2016).Conclusão: Uma equipe de enfermagem qualificada é fundamental para auxiliar e promover cuidados necessários para ospacientes. É fundamental que a equipe multidisciplinar tenha conhecimento do grau dessa patologia, ressaltando que acomunicação entre os profissionais da área da saúde em relação às metodologias seja clara e objetiva.
ReferênciasFERREIRA, V. Y. N. F. Eficácia do uso de corticosteróide sistêmico no tratamento de pênfigo vulgar oral. Arquivos de Ciênciasda Saúde, v. 23, n. 3, p. 10-13, 2016.OLIVEIRA, A.P.R. et al. Atenção da enfermagem a pacientes com pênfigo vulgar e pênfigo foliáceo (fogo selvagem). RevistaGestão & Saúde, v.15, n.1, p.27-33, 2016.RUOCCO, V. et al. Pemphigus: eiology, pathogenesis, and inducing or triggering factors: facts and controversies. Clinics inDermatology,v. 31, p. 374-381, 2013.SCHMIDT E, ZILLIKENS D. Diagnosis and treatment of patients with autoimmune bullous disorders in Germany. DermatologyClinics, v. 29, n. 4, p. 663-671, 2011.
PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL: UM ESTUDO DEREVISÃO
1JANAINE POSSA STRAPAZZON, 2JANAINA DA SILVA MACHADO, 3LETICIA DA ROSA PIETTA, 4ANA PAULA ZORZIPEREIRA, 5SHELZEA SHANDARA RECH DOS SANTOS, 6DURCELINA SCHIAVONI BORTOLOTI
1Discente de Educação Física - PIC/UNIPAR1Discente de Educação Física - PIBIC/UNIPAR2Discente de Educação Física - PIC/UNIPAR3Discente de Nutrição - PIC/UNIPAR4Discente de Educação Física - PIC/UNIPAR5Docente do Curso de Educação Física - PIC/PIBIC/UNIPAR
Introdução: Atualmente, a obesidade tem sido considerada um problema de saúde em vários países do mundo. Pesquisas têmdemonstrado que, cerca de 10% dos homens e 14% das mulheres estão acometidas pela obesidade, dados consideradosalarmantes quando comparados às pesquisas da década de 1980 onde a taxa era 5% e 8% respectivamente. Vale destacar que,a obesidade é um importante fator de risco para doenças crônicas e degenerativas e atinge não somente os países e famíliasricas, mas sim os que estão na pobreza ou em extrema pobreza. Adicionalmente, o sobrepeso e a obesidade são um problemaque vêm crescendo de maneira alarmante no Brasil, e não somente em adultos, mas de maneira preocupante entre crianças eadolescentes (CONDE et al., 2015). Assim, estratégias para acompanhar o peso corporal da população, principalmente emidades precoces são importantes. Nesse sentido, o uso de índices antropométricos tem sido considerado uma estratégia válidapara gerar indicadores sensíveis do estado nutricional e, inclusive, das condições de vida diferentes grupos populacionais comocrianças e adolescentes (GUIMARÃES; BARROS, 2001). A literatura tem destacado ainda que, valores de IMC (Índice de MassaCorporal) acima do esperado na fase final da adolescência, indicam uma probabilidade de manter-se elevado na vida adulta,acarretando assim, o desenvolvimento precoce de doenças crônica não transmissíveis (CONDE et al., 2015).Objetivo: Verificar a prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes nas diferentes regiões do Brasil.Desenvolvimento: O estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura, onde foram incluídos estudosindexados às seguintes bases de dados nacionais: LILACS, SCIELO e na Biblioteca Virtual em Saúde, publicados de 1990 atéjunho de 2019. Os estudos deveriam ser compostos por crianças de até 10 anos e adolescentes de 11 à 19 anos. Os descritoresutilizados para as buscas foram: crianças, adolescentes, escolares, sobrepeso, obesidade e excesso de peso. Após a busca eanálise dos artigos, apenas 53 estudos foram incluídos nesta revisão, sendo que 43 eram estudos de característica transversal,quatro eram de revisão da literatura, dois estudos descritivos e um estudo longitudinal. Os estudos avaliaram crianças de nomínimo três anos (ANJOS; SILVEIRA, 2012) a adolescentes de no máximo 19 anos de idade. Na distribuição das pesquisas deacordo com regiões do Brasil, observou-se que 15 dos estudos foram na Região Sul, 10 na Região Sudeste, cinco na RegiãoCentro-oeste, 12 na Região Nordeste, dois na Região Norte, seis estudos foram conduzidos no Brasil sem distinguir regiões ondeas prevalências de sobrepeso e obesidade variaram de 4,0% (CHAVES et al., 2010) a 21,8% (BLOCH et al., 2016) e 0,3%(CHAVES et al., 2010) a 15,6% (BLOCH et al., 2016) respectivamente e o excesso de peso variou de 4% (ANJOS; SILVEIRA.,2012) a 38,9% (LEAL et al., 2012) e um apresentou dados das Macrorregiões do Brasileiras onde a prevalência de sobrepesoteve uma variação de 4.2% a 15,6% nos anos de 1980 a 2000 e de obesidade a variação foi de 0.1% a 2.0%.(VASCONCELOS; LAPA; CARVALHO, 2006) .O número total de participantes variou entre 65 (SAMPEI et al., 2007) e 8.989.508(CHAVES et al., 2010)entre crianças e adolescentes. Os resultados variaram de 0,1% (VASCONCELOS; LAPA; CARVALHO,2006) à 30,0% (LEÃO et al., 2003) de prevalência de obesidade e de 0.8% (ABRANTES; LAMOUNIER; COLOSIMO, 2003) à38,9% (LEAL et al., 2012) de prevalência de sobrepeso em crianças em adolescentes. Vale destacar que, a maioria dos estudosavaliou a prevalência de sobrepeso e obesidade através do IMC e alguns estudos utilizaram-se da mensuração das dobrascutâneas. Estes resultados demonstram que, a obesidade em crianças e adolescentes tem se apresentado de maneirapreocupante nas diferentes regiões do país, e em geral é uma doença de origem comportamental, com hábitos alimentaresinadequados e redução ou ausência de prática de atividade física habitual. Destaca-se ainda que, além do surgimento precocede doenças crônicas não transmissíveis em idades mais precoces, a obesidade causa mudanças físicas que podem desencadearproblemas psicológicos e sociais principalmente em adolescentes. Assim, a partir do conhecimento das diferentes prevalênciasde sobrepeso e obesidade em jovens e população pediátrica, faz-se necessário a implantação de medidas de prevenção etratamento de maneira pontual em cada uma das regiões do país.Conclusão: Após análise dos estudos desta revisão sistemática, verificou-se que houve uma grande variação nos dados de
prevalência sobrepeso e obesidade (0,1% à 38,9%) de crianças e adolescentes nas diferentes regiões do Brasil. Contudo,destaca-se que ainda há poucos estudos sobre essa temática assim, é necessário a condução de estudos adicionais,principalmente em crianças, nas diferentes regiões do país a fim de um melhor conhecimento tanto das prevalências bem comodos fatores associados a prevalência de sobrepeso e obesidade de crianças e adolescentes.
ReferênciasABRANTES, Marcelo Militão, et al. Prevalência de sobrepeso e obesidade nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. Rev.Assoc. Med. Bras., São Paulo, v. 49, n. 2, p. 162-166, Jun 2003. ANJOS, Luiz Antonio dos, et al . Estado nutricional dos alunos da Rede Nacional de Ensino de Educação Infantil e Fundamentaldo Serviço Social do Comércio (Sesc), Brasil, 2012. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, p. 1725-1734, Maio. 2017. BLOCH, Katia Vergetti et al. ERICA: prevalências de hipertensão arterial e obesidade em adolescentes brasileiros. Rev. SaúdePública, v. 50, n. suppl 1, 2016.CHAVES, Vera Lucia de Vasconcelos et al. Evolução espaço-temporal do sobrepeso e da obesidade em adolescentesmasculinos Brasileiros, 1980 a 2005. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 26, n. 7, p. 1303-1313, Jul. 2010.CONDE, Wolney Lisbôa et al. Estado nutricional de escolares adolescentes no Brasil: a Pesquisa Nacional de Saúde dosEscolares 2015. Rev. Bras. Epidemiol., São Paulo, v. 21, supl. 1, e180008, 2018.GUIMARAES, Lenir V, et al. As diferenças de estado nutricional em pré-escolares de rede pública e a transição nutricional. J.Pediatr. (Rio J.), Porto Alegre, v. 77, n. 5, p. 381-386, Out. 2001.LEAL, Vanessa Sá, et al. Desnutrição e excesso de peso em crianças e adolescentes: uma revisão de estudos brasileiros. Rev.Paul. Pediatr., São Paulo, v. 30, n. 3, p. 415-422, Set. 2012.LEAO, Leila S.C. de Souza et al. Prevalência de obesidade em escolares de Salvador, Bahia. Arq. Bras Endocrinol Metab, SãoPaulo, v. 47, n. 2, p. 151-157, Abr. 2003.SAMPEI, Miriam A. et al. Avaliação antropométrica de adolescentes Kamayurá, povo indígena do Alto Xingu, Brasil Central(2000-2001). Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 1443-1453, Jun. 2007.VASCONCELOS, Vera Lucia de, et al. Prevalência de sobrepeso e obesidade em adolescentes masculinos nas macrorregiõesdo Brasil, 1980-2000. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 417-424, Dez. 2006.
TRATAMENTOS PARA ESTOMATITE PROTÉTICA
1HELOISA GARCIA FRANCOZO, 2ANA MARIA DA SILVA, 3CAROLINE DOMINGUES, 4ELIZANDRA MARRY PEDROLLO,5WENDREO CHARLES DE CAMPOS, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Discente PIC do Curso de Odontologia/UNIPAR1Discente PIC do Curso de Odontologia/UNIPAR2Discente PIC do Curso de Odontologia/UNIPAR3Discente PIC do Curso de Odontologia/UNIPAR4Discente PIC do Curso de Medicina/UNIPAR5Docente do Curso de Odontologia e Medicina/UNIPAR
Introdução: Estomatite protética (EP) é uma patologia inflamatória na mucosa bucal, predominantemente na mucosa palatina,onde a prótese total ou parcial removível tem contato diariamente. O tratamento mais comum para EP consiste na combinaçãodo um antifúngico tópico e a orientação do paciente para à higienização correta da prótese. Essa alteração tem prevalência empacientes do gênero feminino e acima dos 60 anos (SOARES, CARVALHO e PADILHA, 2008).Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo expor os diferentes tratamentos para estomatite protética.Desenvolvimento: A estomatite protética (EP) é uma patologia inflamatória na mucosa bucal, predominantemente na mucosapalatina, onde a prótese total ou parcial removível tem contato diariamente. Essa alteração do palato tem prevalência empacientes do gênero feminino (devido a alterações hormonais) e acima dos 60 anos. A espécie de fungos que predomina nacavidade oral durante esse processo patológico é a Candida albicans (SOARES, CARVALHO e PADILHA, 2008). A etiologia daEP é uma junção de fatores etiológicos, fatores relacionados à prótese e maus hábitos adotados pelo paciente. Por isso, costumaser assintomática, podendo aparecer alguns sinais e sintomas como vermelhidão, sangramento, inchaço, ardor, sensaçãodolorosa, prurido desconfortável, halitose, xerostomia, sabor desagradável e o tecido pode estar hiperêmico e inflamado. Deacordo com essas características, é classificada, em graus de severidade, pela proposta de Newton, em 1962, podendo variarem tipo I, tipo II e tipo III. O tipo I: tem sinais inflamatórios mínimos, geralmente assintomáticos. Mostram inflamação localizada ouhiperemia puntiforme, usualmente em torno dos orifícios dos ductos das glândulas da mucosa palatina; Tipo II: mostra umasuperfície com áreas eritematosas difusas que podem cobrir-se total ou parcialmente por pseudo membrana branca. Geralmenteo paciente expressa alguma sensação subjetiva; Tipo III: inflamação granular ou hiperplástica papilar. A mucosa tem umaaparência nodular com hiperemia na superfície, sendo mais restrita à área central da mucosa palatina (WALBER & RADOS,2000). O tratamento mais comum para EP consiste na combinação do um antifúngico tópico, normalmente a nistatina, e aorientação do paciente para a higienização correta da prótese. Os métodos a serem empregados são a remoção da fonte deorigem, correção de falhas da prótese, higiene da prótese e eliminação da infecção (WALBER & RADOS, 2000). A terapiaantifúngica não será eficiente em 100% dos casos devido aos microorganismos aderidos ao biofilme serem mais resistentes, issoocorre no caso da nistatina e da amfotericina B, mesmo que o resultado seja satisfatório, alguns casos não correspondem ao usodesses fármacos (WALBER & RADOS, 2000). O uso constante da nistatina tem resultado que algumas espécies de Candidadesenvolvem resistência a esse medicamento. Os recursos terapêuticos envolvem também a remoção dos fatores sistêmicos elocais, especialmente eliminação dos traumas e dos microrganismos da prótese (SESMA, MARIMOTO, 2011). Em alguns casosé utilizado o gel de própolis, pois ele apresenta uma ação anti-inflamatória e antibacteriana na mucosa palatina (LEITÃO, 2012).As terapias antifúngica derivadas de poliênicos B, Anfotericina B e as derivadas de azólicos, não são totalmente eficazes, poiscausam paladar desagradável, náuseas e vômitos acarretando reclamação e desistência do tratamento. O uso de antifúngicos sópode ser feito controladamente de 15 a 30 dias (SESMA, MORIOTO, 2011). Conclusão: Os tratamentos para estomatite protética não são tão diversos, por isso os antifúngicos são utilizados na maioria doscasos, mesmo eles não tendo resultado satisfatório todas às vezes. O paciente que faz higienização adequada da prótese eacompanhamento odontológico frequentemente para ajustes, da mesma, poderá evitar problemas, como a EP.
ReferênciasARNAUD, Rachel Reinaldo; SOARES, Maria Sueli Marques; DOS SANTOS, Manuela Gouvêa Campêlo; DOS SANTOS, RonaldoCampêlo. Estomatite Protética: Prevalência e Correlação Com Idade e Gênero. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v. 16,n 1, p. 59-62, 2012.LEITÃO, Natasha da Silva. Análise clínica e citológica do efeito do gel de própolis no tratamento da estomatite protética em
pessoas idosas: Ensaio clínico randomizado controlado simples cego. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade deOdontologia. 2012.SESMA, Newton, MORIMOTO, Susana. ESTOMATITE PROTÉTICA: ETIOLOGIA, TRATAMENTO E ASPECTOS CLÍNICOS.Journal of Biodentistry and Biomaterials- Universidade Ibirapuera, n 2, p. 24-29, set./fev. 2011.SOARES, Diana Gabriela de Sousa; CARVALHO, Maria de Fátima Farias Peixoto; PADILHA, Wilton Wilney Nascimento. EstudoClínico e Micológico em Portadores de Estomatite Protética. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v. 12, n 2, p. 169-180,2008.WALBER, Luiz Fernando, RADOS, Pantelis Varvaki. Estudo comparativo de tratamento da estomatite protética peloreembasamento ou substituição das próteses totais. R. Fac. Odontol., Porto Alegre, v. 41, n 1, p. 22-28, jul. 2000.
COBERTURA VACINAL DE TUBERCULOSE NA REGIÃO DE UMUARAMA - PR NOS ANOS DE 2010 A 2017: UMAREVISÃO
1ANA CAROLINA FURGHIERI ROSA, 2BRUNA MONTEIRO SANCHES, 3GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA, 4IZADORA BRAGADE MELLO BRUDER, 5IRINEIA PAULINA BARETTA, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A vacina Bacillus Calmette Guerin (BCG), oferece imunidade por 10 a 15 anos e não protege pessoas já infectadas,é oferecida pelo Sistema Único de Saúde e obrigatória em crianças desde 1976, além de ser a principal medida para a proteçãocontra a bactéria Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK), transmissores da tuberculose, uma doença infecto -contagiosa. Transmitida por via aérea em praticamente todos os casos, a infecção ocorre a partir da inalação de partículas desaliva, de um indivíduo doente, contendo bacilos (PEREIRA et al. 2007)Objetivo: Analisar o índice de imunização através da vacina BCG a partir do ano de 2010 até o ano de 2017 em Umuarama-PR,utilizando os dados disponibilizados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).Desenvolvimento: Com base nos dados fornecidos pelo gráfico do DATASUS, dos anos de 2010 a 2017, podemos observarque no ano de 2010 foram vacinadas 18.005 crianças, índice esse que aumentou no ano de 2011, passando para 19.085,enquanto no ano de 2012 houve uma diminuição no número de crianças vacinadas, 16.495, ou seja, o menor do períodoavaliado. No ano de 2013, houve um aumento no número de imunizações, que foi de 18.740, já em 2014 o valor voltou a decair,chegando a 16.785. No período de 2015, houve o maior número de doses aplicadas, verificando 19.290, enquanto que em 2016,não houveram grandes alterações, sendo registrado 18.905. Em 2017 houve um pequeno aumento verificando 19.195vacinações. Em suma, do ano de 2010 a 2017 foram vacinadas 146.500 pessoas, sendo que a população em 2010, de acordocom o IBGE, era de 100.676 e o senso para o ano de 2018 foi de 110.590 habitantes. No século XX, a tuberculose representoualtas taxas de mortalidade, sobretudo até o final dos anos 40, marcada como uma das principais causas de óbito nas capitaisbrasileiras (CAMPOS, et al. 2014). Para se contrapor a essa doença, no Brasil, a vacina BCG foi instituída em 1925 no Rio deJaneiro. Até 1973 era ministrada por via oral e desde então, passou a ser aplicada, também, por via intradérmica, sendorealizada no braço direito na altura da inserção inferior do músculo deltóide e depois de aplicada observa-se uma cicatriz no local(PEREIRA, et al. 2007). A BCG, uma vacina com agentes vivos atenuados que confere proteção contra a tuberculose, é aplicadaem recém nascidos ou nos primeiros meses de vida e demora de 6 a 12 semanas para imunizar o paciente. A imunidade éconferida a 50/60% dos usuários. É contra indicada em recém-nascidos com menos de 2 quilos e em casos de utilização deimunodepressores, de imunodeficiência congênita ou adquirida e na positividade do HIV, seja com manifestações clínicas ou não.Em nosso País, o Ministério da Saúde (MS) adota medidas para reduzir o número de casos de tuberculose, como por exemplo, aPortaria n.º 452 de 6/12/76 que institui como grupo de prioridade para a vacina BCG, as crianças de 0 a 4 anos e aobrigatoriedade para menores de 1 ano e a Portaria n. 3.030, de outubro de 2010, que criou o calendário de vacinação (BRASIL.SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2019). A revacinação é recomendada pelo Ministério da Saúde (MS) com intuito defornecer um reforço à vacinação ao nascimento e permitir a vacinação daquelas que não haviam sido vacinadas ou dos que nãoresponderam positivamente à imunização, aumentando assim, a cobertura da vacina. A segunda vacinação é voltadaprincipalmente à faixa etária alvo representado, pela população entre 6 e 14 anos (SANTʻANNA, FERREIRA, 2007).Conclusão: Analisados os dados sobre a imunização da tuberculose a partir da vacina BCG, no período de 2010 à 2017, nomunicípio de Umuarama, PR, observou-se que as taxas caíram e elevaram consecutivamente de um ano para outro.
ReferênciasBRASIL, IBGE, Censo Demográfico, 2010. Disponível em: . Acesso em: 19 ago. 2019.BRASIL, SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE; INSTRUÇÃO NORMATIVA REFERENTE AO CALENDÁRIO NACIONALDE VACINAÇÃO; Disponível em:. Acesso em: 20 mai. 2019.CAMPOS H. S., et al. Prevenção. In: PROCÓPIO, M. J., org. Controle da tuberculose: uma proposta de integração ensino-serviço [online]. 7th ed. rev. and enl. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2014, pp. 295-326.
PEREIRA, S. et al. Vacina BCG contra tuberculose: efeito protetor e políticas de vacinação; Rev. Saúde Pública v.41 supl.1 SãoPaulo set. 2007, pp. 59-66.SANTʻANNA C. C; FERREIRA S. A imunização contra a tuberculose; Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto. 2007, pp.51-55.SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE; INSTRUÇÃO NORMATIVA REFERENTE AO CALENDÁRIO NACIONAL DEVACINAÇÃO; Disponível em: ; Acesso em: 20 mai. 2019.
AVANÇOS DO ESQUEMA TERAPÊUTICO PARA SÍFILIS CONGÊNITA
1AMANDA NASCIMENTO VASQUES DE SOUZA, 2SANDRA GEANE PEREIRA DE SOUZA , 3NANCI VERGINIA KUSTER DEPAULA
1Enfermeira Especialista em Enfª Obstétrica e Neonatal1Acadêmica do Curso de Mestrado Em Ciencia Animal Com ênfase Em Produtos Bioativos da UNIPAR2Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense/ UNIPAR
Introdução: A Sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Treponema pallidum, sua apresentação se dividi emduas formas, adquirida e congênita, doença considerada um grave problema de saúde publica devido sua alta prevalência, baixocusto no tratamento e eficaz, o Ministério da Saúde (MS) tornou se a Sifilis Congenita uma doença de notificação compulsóriapara fins de vigilância epidemiológica no Brasil de acordo com a Portaria n.542 de 22/12/1986, desde então a população vemenfrentando um dos mais comuns problemas de saúde publica em nível mundial (SOARES., et al, 2017).Objetivo: O objetivo do estudo é apresentar novos esquemas terapêuticos, a fim de ponderar estudos para uma assistênciamais qualificada quanto a doença. Desenvolvimento: A Sífilis congênita é passível de prevenção quando a gestante infectada por sífilis é tratada adequadamente,a sífilis na gestação pode implicar algumas consequências como: aborto, natimorto, parto prematuro, morte neonatal emanifestações congênitas precoces ou tardias, sendo sua transmissão por via sexual ou vertical, sendo que a vertical podeocorrer em qualquer fase da gravidez (BRASIL, 2006). De Acordo com a ultima atualização do Ministerio da saúde, o ProtocoloClinico e Diretrizes Terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV, Sifilis e Hepatites Virais do ano de 2019, trazque em crianças com sífilis congênita, aproximadamente 60% a 90% dos RN vivos são assintomáticos ao nascimento, asmanifestações clinicas das crianças com sífilis congênita raramente surgem após três a quatro meses, essa presença dos sinaise sintomas acarretará do momento da infecção intrauterina e do tratamento durante a gestação, os sinais mais frequentes são:hepatomegalia, icterícia, corrimento nasal, rash cutâneo, anormalidades esqueléticas (BRASIL, 2019), o protocolo traz um novoesquema terapêutico para tratamento de crianças com sífilis congênita, o medicamento de escolha é a benzilpenicilina(potássica/cristalina, procaína ou benzatina), que irá depender do tratamento materno durante a gestação e/ou titulação de testenão treponêmico da criança comparado ao materno e/ou exames clínicos/laboratoriais da criança, sendo que, para as criançascom sífilis congênita que apresentem neurossífilis, a medicação penicilina G cristalina é o medicamento de primeira escolha,sendo obrigatória a internação hospitalar, devido ao tratamento prolongado de aproximadamente 10 dias e controle de exameslaboratoriais. Na ausência de neurossífilis, a criança com sífilis congênita pode ser tratada com benzilpenicilina procaína fora daunidade hospitalar, por via intramuscular, ou com benzilpenicilina potássica/ cristalina, por via endovenosa, internada. Sendoassim a única situação em que não há necessidade de tratamento é a da criança exposta à sífilis, assintomatica, de que a mãefoi devidamente tratada e o teste não treponêmico é não reagente ou reagente com titulação menor, igual que omaterno (BRASIL, 2019).Conclusão: O cuidado à criança exposta à sífilis e com sífilis congênita envolve diferentes pontos de atenção à saúde, oseguimento na atenção primaria e secundaria é fundamental para crianças expostas à sífilis e com diagnóstico de sífiliscongênita, Os profissionais de saúde devem estar preparados para o atendimento desse público que necessita de abordagem diferenciada.
ReferênciasBrasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST/AIDS. Diretrizes para controle dasífilis congênita: manual de bolso, 2006.BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da transmissão vertical de HIV,Sífilis e Hepatites virais, 2019.SOARES, B G M R; et al. Perfil das notificações de casos de sífilis gestacional e sífilis congênita. V.16 n.02,p.51-59,Jul./Dez. - 2017 .
COLONIZAÇÃO POR Staphylococcus Aureus EM EQUIPE DE ENFERMAGEM NO ÂMBITO HOSPITALAR
1LILIAN CRISTINA OBERGER, 2ANA PAULA MULLER, 3SABRINA OLIVEIRA ORTEGA, 4CIRLEI PICCOLI COSMANN,5JESSICA CRISTINA ALVES, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Enfermeira, Aluna Pós-graduação em UTI e Urgência e Emergência 1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR5Professora Adjunta do Curso de Enfermagem da Unipar Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: O Staphylococcus aureus (S. aureus) é uma bactéria gram-positiva, que naturalmente faz parte da flora humana,comumente encontrada na cavidade nasal, entretanto os mecanismos de resistência a tornou umas das mais relacionadas acasos de infecção (KOZESINSKI, NAKATANI e SILVA, 2016). Sabe-se que os profissionais de saúde estão colonizados commicrorganismos multirresistentes, frequentemente observados nas Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS)(LOPES, 2017). O S. aureus é uma das espécies mais resistentes, sobrevivendo por longos períodos em objetos inanimados(LINARDI, 2017).Objetivo: Analisar dados da literatura sobre a colonização por S. aureus na equipe de enfermagem no âmbito hospitalar.Desenvolvimento: Os microrganismos resistentes à múltiplos agentes antimicrobianos têm sido uma ameaça global à saúdepública. Dentre eles, o S. aureus, comumente encontrado na pele e mucosas, especialmente a cavidade nasofaríngea,aproximadamente de 20% a 40% dos adultos possuem colônias dessa bactéria (KOZESINSKI, NAKATANI e SILVA, 2016). Acolonização nasal é desprovida de sintomas, fator que possibilita a transmissão. O indivíduo colonizado assintomático contaminaas mãos e passa a ser veículo de transmissão cruzada, além da disseminação por aerossol (LOPES, 2017). O S.aureusdesenvolveu resistência desde o início do uso das penicilinas na década de 40, amplamente conhecida como β-lactamase.Em 1960, a meticilina foi lançada como forma terapêutica, em contrapartida, o S. aureus desenvolveu cepas resistente àmeticilina (MRSA). Tal mecanismo se dá por mutação genética e a aquisição de genes de resistência vindas de outras bactérias.A resistência à meticilina é conferida pelo gene mecA, que tem afinidade por uma proteína de ligação a penicilina que dificulta aação dos antibióticos β-lactâmicos (FREITAS, 2016). Os principais fatores que contribuem para a virulência do S. aureus são osagentes nocivos que causam toxicidade nos leucócitos, macrófagos e hemácias, além de afetar os componentes da estruturacelular que produzem a enzima coagulase, uma cápsula protetora capaz de corromper a ação do sistema imune (LINARDI,2017). O desenvolvimento dessa resistência está intimamente ligado ao uso indiscriminado de antimicrobianos. Em 2010, diantedeste cenário, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou a RDC nº 44 que proíbe a venda de antimicrobianos semreceituário de controle especial em duas vias (ANVISA, 2010). As pesquisas apontam que os profissionais da enfermagem são aclasse mais vulnerável a colonização de microrganismos multirresistentes, como no estudo realizado por Camilo (2016) onde foiverificado a colonização por S. aureus em 56% da equipe de enfermagem. Também em um hospital de cuidados às pessoas comHIV/AIDS, a prevalência de S. aureus na cavidade nasal de profissionais de enfermagem foi de 42% (LOPES, 2016).Considerando a característica do trabalho dos profissionais de saúde que demanda aproximação física com os pacientes e abaixa adesão ás precauções-padrão, esses profissionais se tornaram carreadores de microrganismo multirresistentes (LOPES,2017). A disseminação nos serviços de saúde, contribui para novos surtos de infecção, o que pode comprometer o estado desaúde dos usuários. Infecções causadas por S. aureus estão frequentemente associadas a um pior prognóstico, incluin domortalidade de 20% a 40% dos pacientes (DUARTE, 2018). O estudo de Vilarinho et al (2015) mostrou que a higienização demãos com água e sabão e a fricção de álcool 70% diminuí consideravelmente a presença de microrganismos patogênicos. Dessamaneira, a adoção de medidas de precaução-padrão deve ser implementada para reduzir a disseminação desse microrganismo,assim como a sensibilização e monitoramento desses profissionais deve ser contínua. Esse fato demonstra a necessidade deimplementação de um programa de vigilância microbiológica ativa nas instituições de saúde. Deve-se considerar ainda que oprofissional colonizado saiba da condição de portador de S. aureus o que possibilitará a sensibilização do mesmo e que medidasde isolamento sejam adotadas evitando-se a disseminação. Ademais, sugere-se que a saúde pública do país busque incentivar einvestir em campanhas e inovações tecnológicas visando a educação da população e o estudo de novos e mais eficazesantibióticos para combater esses agentes infecciosos.Conclusão: fica evidente que a equipe de enfermagem é amplamente colonizada, e que vários fatores favorecem este cenário.O contato direto e contínuo junto ao paciente, a realização de procedimentos invasivos, bem como o exercício das atividades
laborais em ambiente extremamente contaminado são determinantes neste aspecto. Ademais, o emprego deficitário das medidasde precaução-padrão pode contribuir para a colonização destes profissionais, sendo assim, se faz necessário implementarestratégias que melhore a adesão do profissional a tais medidas, para então minimizar os índices de IRAS.
ReferênciasANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da diretoria colegiada RDC nº 44, de 26 de outubro de 2010.Ministério da Saúde. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0044_26_10_2010.html.CAMILO, Carla Juliana; PEDER, Leyde Daiane; SILVA, Claudinei Mesquita. Prevalência de Staphylococcus aureus meticilinaresistente em profissionais de enfermagem. Revista Saúde e Pesquisa, Maringá, v. 9, n. 2, p. 361-371, maio/ago. 2016.DUARTE, Felipe Crepaldi et al. Bacteremia causada por Staphylococcus aureus: Uma análise de quinze anos da sensibilidade aantimicrobianos em um hospital terciário do Brasil. Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção, Santa Cruz do Sul, v. 8,n. 3, jul. p.1-7, 2018.FREITAS, Ana et al. Abordagem Terapêutica nas Infeções por Staphylococcus aureus Resistentes à Meticilina. Gazeta médica,Bahia. v.3, n.4, p. 186-190, 2016.KOZESINSKI, Amanda Christina Castanheira; NAKATANI, Felipe Takayuki; SILVA, Sérgio Eduardo Fontoura. Prevalência deStaphylococcus aureus e sua relação com o tabagismo e local de trabalho em profissionais da saúde. Pontifícia UniversidadeCatólica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil. 2016.LINARDI, Valter Roberto et al. Isolamento de staphylococcus aureus mrsa entre os funcionários de um hospital geral da regiãoleste de minas gerais. Revista de Saúde Pública do SUS/MG, Belo Horizonte, v.02, n.02. p.59-64, 2017.LOPES, Letícia Pimenta et al. Identificação de Staphylococcus aureus em profissionais de enfermagem que cuidam de pessoascom HIV/AIDS. Escola Anna Nery, v.20, n.4, p.1-8, out-dez, 2016.LOPES, Letícia Pimenta et al. Staphylococcus aureus em profissionais de enfermagem e o perfil de suscetibilidade domicrorganismo aos antimicrobianos. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v. 26, n. 2. p. 1-8, 2017.VILARINHO, Lilian Machado et al. Isolamento de staphylococcus aureus em mãos de profissionais de Unidades de terapiaIntensiva. Rev. Pre. Infec e Saúde. Piauí, v.1, n.1, p.10-18, 2015.
NOTIFICAÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS POR HIPÓXIA INTRAUTERINA E ASFIXIA OCORRIDOS EM DECORRÊNCIA DEPARTO VAGINAL NO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 2006 E 2016: UMA REVISÃO
1BEATRIZ MORETTO DE PAULA, 2DEBORAH TAVARES BIEZUS, 3EDUARDA LUIZA MERTZ, 4EDUARDA NOVOCHADLO,5IRINEIA PAULINA BARETTA, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A diminuição ou ausência da absorção de oxigênio recebida pelo feto através da placenta é denominada hipóxiaintrauterina, o que resulta, muitas vezes, em óbitos por asfixia ao nascer (CAMPOS; 2010). Essa condição possui alto potencialde prevenção de óbito por meio de diagnóstico e tratamento precoce. De acordo com os dados registrados no DATASUS, issoatinge grande parte dos perinatos brasileiros, principalmente da região Nordeste do país.Objetivo: Análise das notificações de óbitos infantis registrados no DATASUS de acordo com as regiões do Brasil durante osanos de 2006 a 2016 vinculados a hipóxia intrauterina no parto vaginal.Desenvolvimento: O número total de óbitos ocasionados por hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer entre os anos de 2006 a2016, no Brasil, foi um total de 12.832. A análise quantitativa dos casos ocorridos permite observar a diminuição anual dessesincidentes, podendo ser interpretado e diferenciado pela queda no número de óbitos a cada ano. Observa-se uma queda máxima(de 1.643 para 1.426) entre os anos de 2006 a 2007, e uma queda mínima (de 958 para 929) na passagem de 2014 e 2015. Adiminuição mais acentuada apresentou uma diferença de 217 casos, já a menor queda foi por uma diferença de 29 ocorrências.De acordo com o DATASUS, de todas as regiões do Brasil, o Nordeste é a que tem o maior número de óbitos por hipóxiaperinatal e asfixia ao nascer entre 2006 e 2016, apresentando 6.065 ocorrências de 12.832 casos em todo território brasileiro, oque demonstra ser 47,26% dos casos. Diante deste panorama, a Bahia abrange 29,8%, sendo o estado de maior número.Contrapondo, 3,7% desses incidentes são baseados no Rio Grande do Norte, expondo o menor índice de óbitos da região emquestão. No que concerne à região Norte, foi constatado que no Pará houve 56% de óbitos; já em Roraima foram apenas 1,4%,expressando um baixo índice de mortalidade nesse estado. A região Sudeste apresenta 50,3% dos óbitos totais, e é o segundomaior território expresso pela quantidade de mortes relacionadas a esse caso. Dentre os estados dessa região, São Paulo é oque se destaca, apresentando 26% do total. Segundo o DATASUS, o Espírito Santo é o estado responsável pelo menor índice demortalidade, indicado por 1,9% das ocorrências como um todo. De acordo com o Ministério da Saúde, o Sul é a Unidade daFederação que explicita 6,7% do total de óbitos. Assim, o Paraná é o estado que possui 39,1% das mortes na região sulista,contrapondo com Santa Catarina, cujo número é de 22,4%, indicando o estado de menor número de incidentes ocorridos.Abrangendo 4,9% dos casos de todas as Unidades da Federação, o Centro-Oeste possui o menor índice de óbitos, o qualdemonstra que o estado de Goiás é o responsável por 33,4% dos casos, indicando o local de maior incidência desse território. Jáo Distrito Federal expressa o mais baixo índice, sendo de 18,4% dos incidentes nesta região. A escolaridade, além de estarintimamente ligada à renda familiar e ao estado civil, quando associada ao baixo padrão socioeconômico e à assistência menosadequada ao parto pode refletir em índices de Apgar baixo, favorecendo a asfixia. Foi constatada uma maior proporção dessapatologia entre crianças cujas mães não tiveram instrução ao comparar com as que estudaram mais de sete anos (CAMPOS,2010). Existem algumas condições predisponentes de hipóxia que são, entre elas: a hipertensão arterial materna, uso de álcoolou drogas, diabetes, prematuridade da criança, entre outras (ALMEIDA, 1996, apud CAMPOS, 2010, p. 23). Além disso, a injúriahipóxico-isquêmica, encontrada nos recém-nascidos asfixiados, é responsável pelas alterações de neurodesenvolvimento. Estapatologia, é interpretada por meio de alterações hemodinâmicas podendo afetar seletivamente áreas vulneráveis do sistemanervoso central (VOLPE, 1995, apud ROSA, 2005 p. 30). Segundo os estudos de Daripa (2013), cerca de quatro milhões derecém-nascidos no mundo apresentam asfixias anualmente. Entre esses, um milhão evolui com sequelas graves e esse mesmonúmero vai a óbito. A importância da detecção precoce e avaliações neurológicas durante a gestação, são fontes determinantespara a prevenção dessa patologia, pois existem diversos fatores de risco relacionados com problemas intrauterinos, maternos,placentários ou do próprio feto (GOLIN; TAKAZONO, 2013). Mais que isso, a maioria dos óbitos são considerados evitáveis epoderiam ser prevenidos com a melhoria da assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido, não apenas quanto à suaresolubilidade clínica, mas também à organização da assistência em tempo oportuno a serviços de qualidade (LANSKY; et al.,
2002).Conclusão: A notificação sobre a hipóxia intrauterina e asfixia ao nascer disponíveis no DATASUS entre 2006 a 2016, emconformidade com a literatura analisada, expõe a diminuição dos casos relatados no Brasil devido às profilaxias tomadas. Apesarde sua fácil análise e diagnóstico, essa situação é considerada evitável, o que contrapõe os altos índices ainda existentes,reforçando a necessidade de uma atenção mais direcionada no acompanhamento pré-natal por toda parturiente.
ReferênciasBRASIL. Departamento de Informática do SUS - DATASUS. Sistema de Informações sobre Mortalidade. Disponível em:Acesso em: 19 ago. 2019.CAMPOS, N. G.. Prevalência de Asfixia Perinatal e fatores associados em Fortaleza-Ceará. Universidade Estadual do Ceará,2010.DARIPA, et al. Asfixia perinatal associada à mortalidade neonatal precoce: estudo populacional dos óbitos evitáveis. RevistaPaulista de Pediatria, v. 31, n. 1, p. 37-45, 2013.GOLIN, M., TAKAZONO, P. S.O. Asfixia Perinatal: Repercussões Neurológicas e Detecção Precoce. Faculdade de Medicina doABC. São Paulo-SP, Brasil, 2013.LANSKY, S. LEAL, M.C. FRANCA, E. Mortalidade perinatal e evitabilidade: revisão da literatura. Revista Pública de Saúde, v.36, n. 6, 2002. Disponível em:ROSA, I. R. M.. Evolução Neurológica de Recém-Nascidos com Asfixia Neonatal. Universidade Estadual de Campinas.Campinas, 2005.
LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE INTERNAÇÕES E ÓBITOS POR ASMA OCORRIDOS NO ESTADO DO PARANÁ ENTRE2014 A 2018 - ESTUDO DE REVISÃO
1ALINE REINERT DAZZI, 2ANA BEATRIZ PINHEIRO ZAUPA, 3BRUNA LUANA CHAPLA, 4ISABELA FARIAS MARQUES,5IRINEIA PAULINA BARETTA, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A asma brônquica é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que se caracteriza por hiperresponsividade elimitações ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento, que se manifesta geralmente por dispineia, tosse,chiado no peito, desconforto torácico e ansiedade. É uma das principais causas de morte infantil; infelizmente as taxas deinternações tem aumentado cada vez mais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).Objetivo: Fazer um levantamento dos percentuais de internamentos e óbitos causados por asma no Estado do Paraná entre osmeses de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, utilizando os dados disponíveis no DATASUS. Desenvolvimento: Existem três tipos de asma, sendo a asma controlada (qualidade de vida normal, com leves sintomas diurnosmenos de duas vezes por semana), a asma parcialmente controlada (condição de vida alterada, apresentando sintomas emqualquer período do dia mais de duas vezes por semana) e a asma não controlada (todos os sintomas clássicos, de formaintensa, vários dias da semana, alterando significativamente a rotina do paciente) (BRASIL, 2016). São constatados comosintomas da doença tosse persistente, inaptidão para realização de exercícios físicos, efeitos colaterais dos medicamentosutilizados, insônia, alterações nos pulmões e na função adequada deste órgão o que pode ocasionar em internações mediantecrises e muita dificuldade para respirar, utilizando muitas vezes de outros recursos como a ventilação (REPPOLD et al.,2014).Com a intenção de auxiliar no convívio das pessoas com a doença, existem alguns tratamentos que visam controlar os sintomase melhorar a função pulmonar, sendo o principal a utilização de corticosteroides inalatórios, havendo também outrosmedicamentos que aliviam os sintomas e facilitam a passagem de ar pelos brônquios, denominados broncodilatadores, sendoestes os principais medicamentos para a asma (BRASIL, 2016). Associado ao tratamento medicamentoso, existem medidaseducativas que visam evitar o desencadeamento ou agravamento de crises asmáticas, como a forma correta de agir diantedestas situações e o autocuidado que o doente deve ter no seu dia-a-dia, as quais devem ser apresentadas pelo médico aopaciente (MONZÓ, 2017). A asma é uma das doenças respiratórias mais comuns, aproximadamente 35 mil internados no períodode janeiro de 2014 a dezembro de 2018 no estado do Paraná totalizando em 0,3% da população paranaense, onde percebe-seque houve maior ocorrência na capital Curitiba, tendo em vista os fatores climáticos e ambientais da cidade, sendo calculadovalor de 148 óbitos em todo o estado neste período, resultando em um total de 0,001% da população do Estado do Paraná. Noano de 2014 a 2018 todos os maiores números de internações foram em Curitiba, sendo respectivamente 609, 524, 661, 711 e912 internações, totalizando uma porcentagem de 0,03% das internações do Paraná, porém sabe-se que a cidade recebepessoas de diversas regiões, de modo que os números não são exclusivos dos curitibanos. Em relação aos óbitos no ano de2014, tivemos um total de 30 mortes sendo a maior quantidade em Cianorte, totalizando 4. Em 2015, foram um total de 36 óbitossendo na cidade de Curitiba o maior, com 9. Já nos anos de 2016 e 2017, tivemos um total de 25 mortes, sendo a cidade deCuritiba a maior quantidade dos casos (5). Em 2018, uma soma de 32 mortes, de modo que a cidade de Foz do Iguaçu tiveram 5mortes. Existem ainda medidas que visam auxiliar na prevenção da doença, como evitar ambientes sujos e com poeira, cheirosfortes, não fumar, ter uma alimentação saudável, cuidar do peso, manter-se agasalhado em épocas de frio e beber bastanteágua. Mediante conteúdo pesquisado e fornecido, percebe-se que a asma é uma doença crônica, frequente na populaçãoparanaense, que mesmo existindo tratamento, não possui cura, além de que a falta de discussão acarreta em internações eóbitos que poderiam ser evitados. Sendo assim, é válido ressaltar a importância da prevenção e a relevância dessa patologia(PREZOTTO; 2017). Conclusão: Mediante a análise e a comparação dos dados de mortalidade e internação por asma no Paraná, pode-se perceberque houve, no geral, um aumento no número de casos. Esse aumento pode estar relacionado com o clima e a poluição dacidades.
ReferênciasBRASIL.MINISTÉRIO DA SAÚDE. Asma: o que é, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção, 2017.BRASIL. Regula SUS. Resumos Clínicos-Asma, 2016.DATASUS, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Valor total de internações e obitos por asma de 2014 a 2018 no Parana. Brasil, 2019.MONZÓ, M. A. Crise de asma. Ped. Aten. Prim, n.26, v.3, p.17-25, 2017.PREZOTTO, A. et al . Hospitalizações de crianças por condições evitáveis no Estado do Paraná: causas e tendência. Acta Paul.de Enfer, São Paulo, v.30, n.3, p. 254-261, 2017. REPPOLD, C.T. et al. Características clínicas e psicológicas de pacientes asmáticos de um Ambulatório de Pneumologia. Psico-USF, Itatiba, v. 19, n.2, p.199-208, 2014.
ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EMBOLIA PULMONAR NO ESTADO DO PARANÁ DE 2014 A 2018
1ESTER PELEGRINI SILVA, 2CAMILA MARIA ESCARDILLE YOSHITANI, 3DAVI CORREA PEREIRA, 4RICARDO MARCELOABRAO, 5ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Discente de Medicina, Unipar, Umuarama-PR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR, participante do PIC2Acadêmico do Curso de Medicina, UNIPAR, bolsista PEBIC3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Embolia pulmonar (EP) é o termo referido à obstrução de vasos pulmonares haja vista deposição de corposestranhos formadores de êmbolos, originados prevalentemente nos membros inferiores (LOCALI; ALMEIDA, 2006). Os sinais esintomas estão inicialmente associados com edema, dor, eritema e sensação de calor, podendo evoluir a danos permanentes ouao óbito (BROADDUS et al, 2017). Outras manifestações da patologia incluem dispnéia, taquipnéia, taquicardia sinusal, dortorácica, tosse, hipotensão arterial, cianose, febre, síncope e hemoptise (VOLSCHAN et al., 2004). Tais efeitos estãorelacionados com a restrição do fluxo e elevação da pressão sanguínea no ventrículo cardíaco direito (GOLDMAN; SCHAFER,2018). Objetivo: Analisar o levantamento de dados sobre internações e óbitos vinculados aos casos de embolia pulmonar no Paraná dejaneiro de 2014 a dezembro de 2018.Material e Métodos: Foi realizado o levantamento de dados pelo DATASUS, , no tocante ao período referido, colhendo-seinformações sobre o número de internações e óbitos por embolia pulmonar, considerando também o sexo e a idade dospacientes. Resultados: Entre janeiro de 2014 a dezembro de 2018, foram encontradas 2901 internações relacionadas à embolia pulmonare distribuídas da seguinte forma: no ano de 2014 (18,13%), 2015 (18,16%), 2016 (19,95%), 2017 (19,61%), e, sendo o maiornúmero de internações, 2018 (24,12%). Foi observada a prevalência em mulheres, apontando 1795 casos (61,8%). Entre elas, foinotada a prevalência na faixa etária de 65 a 69 anos, com 181 casos (10,1%). Com referência aos homens internados porembolia pulmonar (38,2%), a faixa etária predominante também foi de 65 a 69 anos, com 135 (12,2%) casos. Referente aosóbitos, no período supracitado foram registrados 518 casos. Foi observado o maior número entre as mulheres (56,56%), sendoque a prevalência de óbitos, nesse gênero, relaciona-se com a faixa etária de 65 a 69 anos, com 33 casos. Para os homens, afaixa etária predominante também foi de 65 a 69 anos, com 34 casos. Além disso, o número de óbitos se tornou crescente emambos os gêneros, a partir de 44 a 49 anos.Discussão: Dentre os fatores de riscos associados, ressalta-se idade acima de 40 anos, neoplasias, tabagismo, repouso acimade 72 horas, cirurgia abdominal ou pélvica, fratura de bacia ou de membros inferiores, uso de estrogênio, gravidez e puerpério(VOLSCHAN et al., 2004). A influência da globalização sobre o padrão de vida, impulsionando a indústria alimentícia (fast food),conduziu a ingestão excessiva de carboidratos e lipídeos, favorecendo a formação de arteriosclerose e elevando o cenário decomorbidades crônicas relacionadas à obesidade (FERREIRA, 2010). Sabendo-se que a obesidade também é um fator de riscopara o desenvolvimento de eventos trombóticos e embolia gordurosa (SANCHES, 2007), o aumento observado em internaçõespor embolia pulmonar, no período analisado, pode ser associado a esse cenário. Com a crescente participação feminina nosustento familiar, aumentou-se também sua participação no mercado de trabalho (FIORIN et al., 2014). Novas representações doser mulher, incluem a busca pela não-maternidade e consequentemente a maior utilização de anticoncepcionais (PATIAS; BUES.2012), justificando a prevalência da patologia analisada no sexo em questão. Todavia, evidencia-se que os valores citadospodem ser subestimados pois os diagnósticos a respeito da EP ainda podem ser um desafio à prática clínica, a exemplo, peladificuldade de métodos precisos na detecção dos sintomas indicativos (MENNA-BARRETO, 2005).Conclusão: O presente estudo mostrou o aumento de internações e óbitos por embolia pulmonar durante o referido período noestado do Paraná. Todavia, acredita-se que os valores citados estejam sub ou superestimados haja vista o desafio para a práticaclínica no diagnóstico de EP. Considera-se, portanto, pontos de relevância o estudo de práticas que identificam, atenuem outratem os sinais clínicos apresentados.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Datasus: informações de saúde. Disponível em Acesso em: 12 de jun. 2019.BROADDUS, V. C. et al. Murray & Nadel Tratado de Medicina Respiratória. 6° ed. Elsevier Brasil, 2017.
FERREIRA, Sandra Roberta G. Alimentação, nutrição e saúde: avanços e conflitos da modernidade. Ciência e Cultura, v. 62, n.4, p. 31-33, 2010.FIORIN, Pascale Chechi, et al.. Percepções de mulheres sobre a relação entre trabalho e maternidade. Revista Brasileira deOrientação Profissional, v. 15, n. 1, p. 25-35, 2014.GOLDMAN, L; SCHAFER, A. I.. Goldman-Cecil Medicina: Adaptado à realidade brasileira. 25° ed. Elsevier Brasil, 2018. LOCALI, Rafael Fagionato; ALMEIDA, Eugênio Vieira Machado. Embolia gasosa: Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 18,n. 3, p. 311-315, 2006.MENNA-BARRETO, Sérgio Saldanha. O desafio de diagnosticar tromboembolia pulmonar aguda em pacientes com doençapulmonar obstrutiva crônica. J Bras Pneumol, v. 31, n. 6, p. 528-39, 2005.PATIAS, Naiana Dapieve; BUAES, Caroline Stumpf. \" Tem que ser uma escolha da mulher\"! Representações de maternidadeem mulheres não-mães por opção. Psicologia & Sociedade, v. 24, n. 2, p. 300-306, 2012.SANCHES, Giselle Domingues et al. Cuidados intensivos para pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica. RevistaBrasileira de Terapia Intensiva, v. 19, n. 2, p. 205-209, 2007.VOLSCHAN, A. et al. Diretriz de embolia pulmonar. Arq Bras Cardiol, v. 83, n. Supl 1, p. 1-8, 2004.
CORRELAÇÃO ENTRE A CIRCUNFERÊNCIA DE PESCOÇO COM A RESISTÊNCIA À INSULINA E O ÍNDICE HOMA-IR EMADULTOS COM OBESIDADE SEVERA
1Regina Alves Thon, 2RICARDO HENRIQUE BIM, 3VALQUIRIA FÉLIX ROCHA MOREIRA, 4MARIO CASTILHO MOREIRA,5IGOR ALISSON SPAGNOL PEREIRA, 6NELSON NARDO JUNIOR
1Doutoranda(UEM/UEL)/Apoio da Coordenação de Ensino Superior Brasil (CAPES)1Doutorando da Universidade Estadual de Maringá (UEM)2Pesquisadora Integrante do Núcleo de Estudos Multiprofissional da Obesidade NEMO-HUM-UEM3Doutorando da Universidade Estadual de Maringá (UEM)4Doutorando da Universidade Estadual de Maringá (UEM)5Docente da Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Introdução: A crescente prevalência de obesidade em vários países tem sido descrita como uma pandemia global que temcausando grandes preocupações às entidades governamentais e pesquisadores em razão de seus elevados e contínuoscrescimento, morbidade, mortalidade e custos associados (SWINBURN et al., 2011). O sobrepeso e a obesidade são osprincipais fatores de risco para várias doenças crônicas, incluindo diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Uma vezconsiderado um problema apenas em países de alta renda, o sobrepeso e a obesidade estão aumentando drasticamente nospaíses de baixa e média renda, particularmente em áreas urbanas. (WHO, 2017). Neste sentido, o diagnóstico e tratamento dosobrepeso e da obesidade, bem como o prognóstico de doenças associadas torna-se uma necessidade emergente. A literaturatem apontando que alguns parâmetros antropométricos são muito relevantes para estratificação de riscos associados à doenças.Podemos destacar que um dos indicadores antropométricos muito prático e aplicável é a circunferência de pescoço (CP) sendoum importante parâmetro preditor relacionado a doenças cardiovasculares e de síndrome metabólica (PREIS et al., 2010).Objetivo: Correlacionar a circunferência de pescoço (CP) com a resistência à insulina (RI) e o índice HOMA-IR em adultos comobesidade severa.Material e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, composto por 47 adultos com obesidade severa recrutados paraparticipar do Programa de Multiprofissional de Tratamento à Obesidade (PMTO) do Núcleo de Estudos Multiprofissional daObesidade (NEMO) da Universidade Estadual de Maringá (UEM). O protocolo de pesquisa foi previamente aprovado pelo comitêpermanente de ética da Universidade Estadual de Maringá (CAAE: 56721016.7.1001.0104, parecer número: 2.655.268). Foramavaliadas 31 mulheres (GI) e 16 homens (GII) que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 1) adultos acima de 18 anos; 2)diagnóstico de obesidade severa (IMC> 40Kg/m2); 3) circunferência de cintura maior que 88 cm para mulheres e maior que e 102cm para os homens. Foram mensuradas: peso, altura, índice de massa corporal, circunferência da cintura (CC), circunferência dopescoço (CP); nível de glicose sanguínea; insulina e o índice de Homeostasis Model Assessment-Insulin Resistence (HOMA.-IR).A análise dos dados foi feita por meio do software SPSS, versão 20.0. Após a verificação da normalidade optou-se pelo teste decorrelação de Sperman e a significância adotada foi de 5%. Resultados: A amostra foi subdividida de acordo com o sexo, sendoque O grupo de sexo feminino (GI) apresentou média de idade de 35,0±6,6 (anos) e massa corporal (Kg) 113,4±2,19 (Kg). Já oshomens (GII) de 36,0± 1,8 (anos) e Massa corporal: 143,3±6,6 (Kg). Em relação aos dados de circunferências em ambos osgrupos apresentaram risco associados aos valores normativos em todas circunferências avaliadas, foram encontrados osseguintes valores: CC (GI) 111,4±1,6 (cm), CC (GII) 128,9 ±3,4 (cm); CP (GI) 38,9±0,43(cm); CP (GII) 46,9±0,87 (cm). Já osvalores relacionados a glicemia em jejum: (GI) 111,84±6,3 (mg/dl) e (GII) 122,38±13,6 (mg/dl); insulina de jejum: (GI) 22,7±1,9(mU/dl) e G(II) 31,6±3,5(mU/dl); Homa-IR: G(I) 6,03±0,58 e G(II) 9,97±1,79. Quando correlacionadas as variáveis CP x Glicose(moderada r=0,4); CP x insulina (moderada r=0,4); CP x HOMA-IR (moderada r=0,4) indicando correlação moderada entre essasvariáveis. Quando correlacionadas as circunferências avaliadas foram encontrados os seguintes valores: CP x Massa corporal(forte: r=0,7); CP x CC (forte: r=0,7) indicando uma correlação forte entre as variáveis . Todas as variáveis apresentaramcorrelações foram positivas significativas.Discussão: Os achados deste estudo vão ao encontro dos verificados por Silva et al. (2014), nos quais a CP correlacionou-se deforma positiva com o IMC, CC, insulina e HOMA1-IR em adolescentes de ambos os sexos, demonstrando que a circunferência dopescoço é uma ferramenta útil para detectar a resistência à insulina e a alteração nos indicadores de síndrome metabólica emadolescentes. Em um estudo com universitários Pereira et al. (2014) verificaram que a CP esteve relacionada com CCaumentada e valores elevados de glicose em jejum, indicando que a circunferência do pescoço mostrou-se um possível marcador preditivo para detecção da síndrome metabólica e seus componentes no público universitário. Frizon e Boscaini
(2013) também verificaram que entre os indivíduos com CP aumentada houve maior proporção de hipertensão, diabetes,dislipidemias e obesidade.Conclusão: A CP parece um indicador relevante pela sua praticidade e aplicabilidade e tem correlação forte com outrosindicadores antropométricos como a CC e a Massa corporal, como também, apresentou correlação moderada com osindicadores de resistência a insulina e o HOMA-IR indicando ainda que os adultos com obesidade severa do grupo avaliadoapresentaram vários indicadores de risco associados à síndrome metabólica.
ReferênciasFRIZON, Vanessa; BOSCAINI, Camile. Circunferência do pescoço, fatores de risco para doenças cardiovasculares e consumoalimentar. Revista Brasileira Cardiologia, v. 26, n. 6, p. 426-34, 2013.PEREIRA, Dayse Christina Rodrigues et al. Circunferência do pescoço como possível marcador para síndrome metabólica emuniversitários. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 22, n. 6, p. 973-979, 2014.PREIS, Sarah Rosner et al. Neck circumference as a novel measure of cardiometabolic risk: the Framingham Heart study. Thejournal of clinical endocrinology & metabolism, v. 95, n. 8, p. 3701-3710, 2010.SILVA, Cleliani de Cassia et al. Circunferência do pescoço como um novo indicador antropométrico para predição de resistênciaà insulina e componentes da síndrome metabólica em adolescentes: Brazilian Metabolic Syndrome Study. Revista Paulista dePediatria, v. 32, n. 2, p. 221-229, 2014.SWINBURN, Boyd A. et al. The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local environments. The Lancet, v. 378, n.9793, p. 804-814, 2011.WORLD HEALTH ORGANIZATION [homepage na internet]. 10 facts on obesity [acesso em 23 jul 2018]. Disponível em:http://www.who.int/features/factfiles/obesity/en/
SÍFILIS CONGÊNITA: UMA REVISÃO DA LITERATURA
1ANA BEATRIZ PINHEIRO ZAUPA, 2AMANDA GABRIELI VIEIRA ROMAGNOLI, 3QUEREN ALVES DE PAULA, 4SABRINASAYURI ALMEIDA KIKUTI, 5DANIELA DE CÁSSIA FAGLIONI BOLETA-CERANTO
1Acadêmica do curso de Medicina da UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A intensificação do número de registros de sífilis congênita vem preocupando a saúde pública, pois se sabe queesta doença é de fácil prevenção e tratamento quando detectada rapidamente. A doença na criança é transmitida verticalmentepela mãe que possui a bactéria Treponema pallidum (Souza, Brígida e Santana, 2013).Objetivo: O presente estudo objetiva revisar a literatura a respeito do crescimento de casos de sífilis congênita, levando emconta o aumento de gestantes com sífilis e as consequências sofridas pelo recém-nascido a fim de introduzir os profissionais dasaúde sobre esses aspectos.Desenvolvimento: Como o número de gestantes com sífilis tem crescido de uma maneira significativa é válido analisar ascausas desse aumento e principalmente das gestantes adolescentes com a patologia. Dessa forma, ao entender os motivosprévios da sífilis nas grávidas pode-se buscar evitar os casos de sífilis congênita e proporcionar as crianças um futuromelhor (OLIVEIRA, et al. 2019). Os efeitos causados na criança podem ser descobertos antecipadamente com um pré-nataladequado, sendo eles perda de peso, prematuridade, dificuldades respiratórias, dentre outros (GAMEIRO, et al. 2017). Porém,existem dois tipos de sífilis congênita sendo elas a precoce e a tardia, logo se for diagnosticada antes dos 2 anos é a primeiracitada e depois dessa idade a tardia (FELIZ, et al. 2016). O principal teste a ser realizado para identificar a presença da doençana criança é o teste não treponêmico VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) de modo que se deve analisar de temposem tempos até a conclusão do diagnóstico e caso necessário a utilização de testes mais eficientes como os treponêmicos(PADOVANI, et al. 2018). Os filhos de mães com sífilis tratada ou não tratada de forma adequada, podem se apresentarsintomáticos ou assintomáticos. Entretanto, mais de 50% dos casos notificados são assintomáticos ao nascimento, o que dificultao diagnóstico logo após o nascimento. Como o surgimento dos primeiros sintomas, geralmente acontece nos primeiros trêsmeses de vida, temos frequentemente diagnóstico tardio, o que acarreta em sérias consequências para a criança (SOUZA &SANTANA, 2013). A manifestação da sífilis congênita é dividida em precoce (antes do 2º ano de vida) ou tardia (a partir do 2º anode vida), sendo a última a que acarreta maiores prejuízos à sua saúde. Dentre as manifestações clínicas mais frequentementecitadas entre os pesquisadores na sífilis congênita precoce, destaca-se a prematuridade (nascimento antes de 37 semanas deidade gestacional) e o baixo peso ao nascer (inferior a 2.500g) (MACHADO E CYRINO, 2011). Sabe-se que a sífilis congênitapode afetar todos os órgãos do corpo humano. Sendo assim, encontram-se manifestações clínicas em quase todos os sistemasno concepto. Entre elas, estão as lesões cutâneo-mucosas, inclusive na cavidade bucal, lesões ósseas, lesões do sistemanervoso central, lesões do aparelho respiratório, dentre outras, o que impacta profundamente na vida do seu portador (SOUZA &SANTANA, 2013). O pré-natal e a puericultura realizados de maneira adequada proporcionam uma melhora na diminuição dosnúmeros de sífilis congênita, de modo que tanto os profissionais quanto a mãe estejam sempre atentos aos perigos e maneirasde evitar essa patologia (COOPER, et al. 2016).Conclusão: A sífilis congênita possui um aumento significativo nessas últimas décadas, visto que o crescimento de gestantescom a patologia transmitida pela bactéria Treponema pallidum, principalmente as adolescentes. Outro ponto a ser ressaltado é aimportância do pré-natal adequado para a máxima prevenção da criança em seu futuro.
ReferênciasCOOPER, Joshua M et al . Em tempo: a persistência da sífilis congênita no Brasil- Mais avanços são necessários! . Rev PaulPediatr. São Paulo, v.34, n.3, p. 251-253, 2016.FELIZ, Marjorie Cristiane et al. Aderência ao seguimento no cuidado ao recém-nascido exposto à sífilis e característicasassociadas à interrupção do acompanhamento. Rev.Brasil.Epidemiol. Curitiba, v. 19, n.4, p. 727-739, Dec. 2016.GAMEIRO, Vinicius Schott et al . Sífilis congênita com lesão óssea: relato de caso. Rev. bras. ortop., São Paulo , v. 52, n. 6, p.740-742, Dec. 2017 .OLIVEIRA, Rebeca Bezerra Bonfim et al. Sífilis em gestantes adolescentes de Pernambuco. Revista Oficial do Núcleo de
Estudos da Saúde do Adolescente. UERJ, v.16, n.2, Jun.2019.SOUZA, Brígida Cabral; SANTANA Lícia Santos. As consequências da sífilis congênita no binômio materno-fetal: um estudo derevisão. Interfaces Científicas -Saúde e Ambiente . Aracaju , v.1 , n.3 , p. 59-67 , Jun. 2013.PADOVANI, Camila; OLIVEIRA, Rosana Rosseto de; PELLOSO, Sandra Marisa. Sífilis na gestação: associação dascaracterísticas maternas e perinatais em região do sul do Brasil. Rev. Latino-Am. Enfermagem. Ribeirão Preto , v. 26, n.3019, Aug. 2018 .
MORTE ENCEFÁLICA RELACIONADA A MENINGITE BACTERIANA POR Streptococcus Pneumoniae: UM RELATO DECASO
1GISELE LOTICI, 2ALESSANDRA LOTICI, 3DARIANE PAULA PASQUALOTTO, 4FABIANA ROSSANI, 5PATRICIA AMARALGURGEL VELASQUEZ, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR- Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Endodontia de Molares - Turma V da UNIPAR3Enfermeira, responsável pelo Comissão de Controle de Infecção Hospitalar4Docente da UNIPAR5Professora Adjunta do Curso de Enfermagem da Unipar Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: A meningite bacteriana (MB) é classificada como uma afecção de alta relevância, responsável por elevadas taxas demorbidade e mortalidade na população, com uma incidência considerável entre crianças, jovens e adolescentes (SILVA,MEZAROBBA, 2018).Relato do caso: B. R. F.; 19 anos de idade, etilista, tabagista e usuário de drogas ilícitas, história de cefaleia e febre com iníciohá 15 dias associada a um quadro de sinusite acentuada em tratamento com antibioticoterapia (amoxacilina + clavulanato). Apósencerrar o ciclo de antibiótico, o paciente apresentou piora abrupta com manifestações exacerbadas de cefaleia, hipertermia ecrise convulsiva. Foi admitido na unidade de terapia intensiva (UTI) no dia 10 de junho de 2019, em um hospital do Paraná. Oquadro apresentava-se instável mantendo ventilação mecânica, em uso de droga vasoativa. Após avaliação clínica ecomplementar, observou-se que a sinusite exacerbou, apesar da antibioticoterapia, e então investigou-se um possívelacometimento do SNC. A hipótese diagnóstica foi confirmada com exames laboratoriais e de imagens, indicando meningitebacteriana por Streptococcus pneumoniae. No dia 12 de junho iniciou-se a investigação para morte encefálica após pioraprogressiva do quadro, sendo efetivado o primeiro teste clínico e um teste de apneia, concluídos no dia 14 de junho e informadoaos familiares que consentiram a doação de órgãos.Discussão: Sabe-se que na adolescência e juventude existem fatores de risco que podem marcar o comportamento e a saúdena vida adulta. Quanto mais cedo se dá o contato com cigarro, álcool e outras drogas, maiores os riscos e padrões de usocomplexos (RIBEIRO et al 2017). A sinusite consiste na inflamação da mucosa que reveste o nariz e seios da face, cavidadesque são preenchidas por ar, indivíduos tabagistas e etilistas são mais suscetíveis a contrair a doença. Quando não tratadacorretamente pode evoluir para meningite devido a exacerbação do processo inflamatório que excede as cavidades paranasaispara as estruturas do sistema nervoso central SNC causando cefaleia intensa e confusão mental (LIMA, SAKANO, 2015). Oaparecimento de bactérias resistentes às terapias antibióticas atuais é uma ameaça clínica, e por isso deve ser realizadohemocultura logo no início dos sintomas, preferencialmente antes da antibioticoterapia para identificação do agente etiológico,possibilitando um tratamento eficaz, evitando complicações inesperadas como a disseminação de bactérias para os tecidos queenvolvem o cérebro (MARCONATO, GOMES, BALSALOBRE, 2016). A MB caracteriza-se por um processo inflamatório doespaço subaracnóideo e das membranas leptomeningeas (aracnoide e pia-máter) que envolvem o encéfalo e medula espinhal,uma infecção secundária a uma resposta local a uma bactéria invasora (SILVA, MEZAROBBA, 2018). Possui rápida evolução, aqual trás uma série de complicações e sequelas à longo prazo, ou até mesmo a morte quando não tratada precocemente(RAMOS et al 2019). Quando as bactérias adentram as meninges e medula, ocorre uma inflamação que pode resultar emformação de coágulos sanguíneos, edema cerebral, pressão intracraniana, excesso de líquido no cérebro, inflamação dos nervoscranianos, empiema subdural, choque séptico, coagulação vascular disseminada, perda da audição, visão, entre outros(GREENLEE, 2019). A letalidade da doença referente à população jovem, ainda é bastante elevada, a despeito da inexistênciadas vacinas conjugadas em períodos anteriores em redes públicas de saúde para defesa dos principais agentes etiológicos quesão a Neisseria meningitidis, o Haemophilus influenzae e o Streptococcus pneumoniae (INTERFARMA, 2017). A MB éconsiderada uma emergência médica que requer antibióticos altamente bactericidas para sucesso no tratamento. Diante disso,existem múltiplos desafios para chegar a um bom prognóstico, devido à alta taxa de resistência bacteriana, pelo fato de ser umabactéria gram-positiva (BOMFIM, 2017). Segundo o Ministério da Saúde (MS), a antibioticoterapia para meningite bacteriana emadultos, deve ser iniciada com Ceftriaxona, e outra modalidade de terapia de apoio como a reposição de líquido. O tratamentodeve ser iniciado logo após a punção lombar e coleta de sangue para hemocultura (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). A morteencefálica é definida como a perda irreversível da função cerebral e do tronco encefálico, ocasionada pelo bloqueio do sangueque vem do corpo e supre o cérebro, levando em coma e perda da respiração espontânea. Ventiladores e drogas podem manter
as funções cardiopulmonares dentre outras funções, mas depois de ser finalizado o protocolo de morte encefálica, todos ostratamentos de suporte cardíaco e pulmonares são encerrados, e assim, informado aos familiares sobre possibilidade de doaçãode órgãos (COSTA, COSTA, AGUIAR, 2016).Conclusão: Sinusite é uma doença comum e de tratamento relativamente simples, mas a chance de desenvolver novas crises eaté mesmo complicações graves, é bastante elevada, e uma das principais é sua evolução para meningite. A antibioticoterapiaadequada precoce é de extrema importância, podendo evitar sérias complicações. Nesse contexto, conclui-se que a MB éconsiderada um grave problema na saúde da população, a qual traz grandes riscos, podendo resultar em morte encefálica se nãotratada precocemente.
ReferênciasBOMFIM, Isabela Maria Fortaleza Neves. Resistência bacteriana em cocos gram-positivos: revisão bibliográfica. Orientador:Drº Renato Motta Neto. 2017. 48 f. Monografia Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017.COSTA, Carla Rodrigues; COSTA, Luana Pereira; AGUIAR, Nicoly. A enfermagem e o paciente em morte encefálica na UTI.Revista Bioética, Gurupi, v. 24, n. 2, p. 368-73. 2016.GREENLEE, John. Manual MSD Meningite Bacteriana Aguda. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/dist%C3%BArbios-cerebrais,-da-medula-espinal-e-dos-nervos/meningite/meningite-bacteriana-aguda. Acesso em: 13agos. 2019.INTERFARMA. Como as vacinas mudaram um país. 1. ed. São Paulo, 2017.LIMA, Wilma Anselmo; SAKANO, Eulalia. Rinossinusites: evidências e experiências. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology,São Paulo, v. 81, n. 1. 2015.MARCONATO, Felipe; GOMES, João Mangussi; BALSALOBRE, Leonardo. Complicações das rinossinusites. Revista HospitalUniversitário Pedro Ernesto, São Paulo, v. 15, n. 4, p. 349-354, out./dez. 2016.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de vigilância em saúde. Coordenação geral de desenvolvimento da epidemiologia emserviços. Guia de vigilância em saúde. Volume único / ministério da saúde, 2º ed. Brasília, 2017. RAMOS, Cybele Guedes. et al. Meningites Bacterianas: epidemiologia dos casos notificados em Minas Gerais entre os anos de2007 e 2017. Revista Eletrônica Acervo Saúde, Montes Claros, v. 22, n.1, p. 1-7. 2019.RIBEIRO, Karla Carolina Silveira. et al. Consumo de álcool e tabaco e associação com outras vulnerabilidades em jovens.Psicologia, Saúde e Doenças, João Pessoa, v. 18, n. 2, p. 348-359. 2017.SILVA, Helena Caetano Gonçalves; MEZAROBBA, Naiara. Meningite no Brasil em 2015: o panorama da atualidade. ArquivoCatarinense Medicina, v. 47, n. 1, p. 34-36, jan./mar. 2018.
CONTRIBUIÇÃO DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
1DANIEL SANTOS EVANGELISTA, 2ALISSON FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, 3FERNANDO SERAFIM DA SILVA, 4JOSEPAULO GUEDES, 5KESSIA RODRIGUES, 6MARIA GABRIELLA GIROTO
1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O Transtorno do espectro autista (TEA) autismo, é entendido como um transtorno do neurodesenvolvimento quecomeça na infância causando um déficit sócio comunicativo e comportamental. Tendo como algumas características a dificuldadede relacionamento com outras pessoas, comprometimento na articulação de palavra e atrasos gerais para o desenvolvimento doindivíduo. Considerando estas características, em especial aos atrasos do desenvolvimento geral, a prática de exercícios físicospode se mostrar uma ferramenta aliada para estimular o desenvolvimento individual, bem como um facilitador para a integraçãosocial. Baseando-se nisso, o presente trabalho indaga quais são os efeitos de práticas de exercícios físicos para indivíduosautistas?Objetivo: Investigar os efeitos da prática de exercício físico para indivíduos com autismo.Desenvolvimento: As variadas práticas de exercício físico com esportes, recreação, lutas, dança, entre outras, podem serferramentas que auxiliam o desenvolvimento global de indivíduos com autismo, por estimular tanto o desenvolvimento motorcomo a integração social. Neste entendimento, Cruz e Praxedes (2018) relatam que na natação, atividades de adaptação nomeio liquido, deslocamento e exercícios de respiração e flutuação na água, trazem grandes benefícios para pessoa com TEApois melhora o repertório motor e a convivência com colegas e professores. Outros tipos de exercício físico podem ajudar nofavorecimento do desenvolvimento motor e psicossocial como apontam Aguiar, Bauman e Pereira (2017) que as artes marciaispodem ser uteis no desenvolvimento dos indivíduos com autismo onde os mesmos apresentam melhoras na comunicação sociale com o grupo. Lima e Oliveira (2018) confirmam evidências da prática de exercício físico sobre a diminuição de comportamentoestereotipado, melhora do funcionamento social e em relação a aspectos motores e aumento da autonomia da vida diária. Deacordo com Cruz e Praxedes (2018) quando a atividade física é elaborada de forma especifica, pode auxiliar no desenvolvimentomotor, proporciona uma socialização, foco de atenção e na performance motora da pessoa com autismo. Ou seja, cada práticade exercício físico pode atuar como ferramenta de estimulação para um desenvolvimento positivo. Lopes e Moura (2018) afirmamque ainda é um grande desafio para os profissionais que trabalham com esse público, onde é preciso saber entender quais sãoas necessidades do autista, respeitando suas características e individualidade, trabalhando com atividades especificas paraproporcionar um bem estar. Como se trata de um tema importante ainda faltam estudos mais aprimorados no Brasil, pois commaior embasamento teórico e pratico seria possível estabelecer planos de atividade mais especifico para pessoas com autismo(AGUIAR, BAUMAN E PEREIRA, 2017).Conclusão: Através da literatura pesquisada é possível constatar a importância das práticas de exercício físico para aspectosfundamentais do desenvolvimento de indivíduos com o Transtorno do Espectro Autista, que é o desenvolvimento motor,comunicação e a integração social. Os estímulos obtidos nas mais variadas práticas, favorecem o desenvolvimento dehabilidades e capacidades motoras, estimulam a comunicação e interação com outras pessoas, bem como auxiliam no convíviosocial. E para o alcance destes benefícios é fundamental o preparo do profissional, para que através de um bom planejamento erespeito a individualidade, estimule o potencial de indivíduos autistas.
ReferênciasAGUIAR, Renata Pereira; BAUMAN, Claudia Donato; PEREIRA, Fabiane Silva. Importância da prática de atividade física para aspessoas com autismo. J. Health Biol. Sci. 2017; 5(2): 178-183. CRUZ, Matheus Ramos da; PRAXEDES, Jomilto. A importância da educação física para o desenvolvimento motor de crianças ejovens com transtornos do espectro autista. E- Mosaicos Revista Multidiciplinar de Ensino, Pesquisa Extensão e Cultura doInstituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ) v7 N. 14 ABRIL 2018 ISSN: 2316-9303.LIMA, Juliana Dias de; OLIVEIRA, Alexandre Palma. Efeito da atividade física no desenvolvimento global de indivíduos comautismo: uma revisão narrativa. Rev. Acad. Cient. Saúde. Rio de Janeiro, v.3 n.1 p. 71-75 jan. / abr. 2018.
LOPES, Simone Gama da; MOURA, Stephanney K. M. S. F. de. Os benefícios da atividade física para pessoas com autismo.Revista Diálogos em Saúde. V. 1 N. 1 Jan/Jul 2018.
O PAPEL DO FARMACÊUTICO ENQUANTO PROMOTOR DA SAÚDE NO USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS
1SABRINA OLIVEIRA ORTEGA, 2FERNANDA TONDELLO JACOBSEN, 3MARCIA DA SILVA ROQUE, 4ALINE APARECIDABARTNISKI, 5PATRICIA AMARAL GURGEL VELASQUEZ, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmico do PIC/ Curso de Farmácia Unipar- Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Os antibióticos são substâncias químicas, naturais ou sintéticas que impedem a proliferação de bactérias ou causama sua destruição, e quando usado de forma racional apresenta menor risco de toxicidade (SANTOS et al., 2016). O emprego deantibióticos é uma prática abrangente e bem estabelecida, entretanto, nos últimos anos têm se discutido uso abusivo destesfármacos, caracterizando um novo problema de saúde mundial, devido à resistência antimicrobiana. Neste viés faz-se necessáriaa interlocução entre prescritores e dispensadores, onde ambos buscam um atendimento melhor ao paciente, com estratégias quevisem à oferta de orientação e informação individual dos mesmos, que pode ser concretizado com o serviço de atençãofarmacêutica (OLIVEIRA; MUNARETTO, 2010).Objetivo: Descrever dados da literatura referente a atuação do farmacêutico nas ações de promoção em saúde para uso racionaldos antibióticos.Desenvolvimento: Os antibióticos foram primeiramente definidos apenas como substâncias químicas produzidas por váriasespécies de microrganismos cuja função era impedir o crescimento de outros. Contudo, o desenvolvimento da indústriafarmacêutica viabilizou a síntese de antibióticos de origem semissintética e sintética. Diferindo entre si quanto às propriedadesquímicas e mecanismos de ação, são classificados quimicamente como: derivados de aminoácidos, de açúcares, de acetatos,propionatos, entre outros (OLIVEIRA et al., 2004). O termo antimicrobiano engloba substâncias químicas com atividade sobrediferentes microrganismos (SANTOS et al., 2016). Este tipo de fármaco é amplamente utilizado, seja como terapêutica detratamento ou profilática, entretanto nas últimas décadas a Organização Mundial da Saúde emitiu vários alertas sobre ascomplicações relacionadas ao uso indiscriminado de antibióticos. O uso irracional dos antibióticos se dá pela produção ecomercialização deles em embalagens com número de doses em desacordo com o necessário para o tratamento padrão,ocorrendo o descumprimento da prescrição médica, sendo esta uma das principais causas de resistência bacteriana. Valeconsiderar que a prevenção de infecções bacterianas pode ser realizada por meio do uso de vacinas, uso racional de antibióticos,controle e prevenção da disseminação de microrganismos resistentes, além da descoberta e desenvolvimento de novosantibióticos (FRANCO et al., 2015). Na atenção farmacêutica a contribuição para o uso racional de medicamentos é feita atravésde um acompanhamento da terapia medicamentosa utilizada pelo indivíduo a fim de garantir a necessidade, a segurança e aefetividade durante a sua utilização, considera-se também um fator importante o armazenamento, pois um antibiótico malconservado poderá perder parte de sua eficácia e sua integridade física ou química, propiciando a seleção de bactériasresistentes. Devido ao surgimento de microrganismos multirresistentes as doenças infecciosas estão entre as principais causasde morte da população humana, portanto apesar do grande número de antibióticos de última geração, ainda se tornafundamental a busca por novos compostos que possam ser utilizados como novas drogas a serem empregadas no combate àessas infecções (GUIMARÃES et al., 2010). Durante a dispensação faz-se importante informar ao paciente sobre o medicamentoprescrito, quanto as suas indicações e objetivos, ou quanto à forma correta da sua utilização. Por isso o reforço da prevenção ealerta em relação aos riscos de um medicamento competem ao farmacêutico junto com o doente, pois além do conhecimentoteórico-prático é fundamental ter atitudes e habilidades que possibilitem o mesmo agregar-se à equipe de saúde, contribuindopara a melhoria da qualidade de vida, em especial no que se refere à melhora da farmacoterapia e o uso racional demedicamentos (SANTOS et al.,2016).Conclusão: É evidente a importância da atuação dos profissionais farmacêuticos para a conscientização da população emrelação ao uso correto de antibióticos, visto que é responsabilidade dos farmacêuticos a dispensação apropriada dosmedicamentos em geral. Com isso surge a necessidade de pôr em prática as políticas já existentes, com relação ao uso racionalde medicamentos atendendo as diretrizes da Assistência Farmacêutica, tornando assim profissionais aptos a proporcionar aqualidade de vida, garantindo eficiência e eficácia na terapia medicamentosa.
ReferênciasFRANCO, Jonatan Martins Pereira Lucena, et al. O papel do farmacêutico frente à resistência bacteriana ocasionada pelo usoirracional de antimicrobianos. Revista Científica Semana Acadêmica. v.1, n.72, p.1-17, 2015.GUIMARÃES, Denise Oliveira; MOMESSO, Luciano da Silva; PUPO, Mônica Tallarico. Antibióticos: importância terapêutica eperspectivas para a descoberta e desenvolvimento de novos agentes. Quim. Nova. v. 33, n. 3, p. 667-679, 2010.OLIVEIRA, Antônio Otavio T. de, et al. Atenção farmacêutica na antibioticoterapia. Visão Nova. v.5, n.1, p. 7-14, 2004.OLIVEIRA, Karla Renata de; MUNARETTO, Paula. Uso racional de antibióticos: Responsabilidade de Prescritores, Usuários eDispensadores. Revista Contexto & Saúde. v. 9, n.18, p. 43-51, 2010.SANTOS, Sandna Larissa Freitas dos, et al. O papel do farmacêutico enquanto promotor da saúde no uso racional deantibióticos. RSC Online.v.6 , n1, p. 79 88, 2017.
AÇÃO DO DIODO EMISSOR DE LUZ AZUL (LED) E ALTA FREQUÊNCIA SOBRE A BACTÉRIA Staphylococcus aureus
1VITORIA TAYANE BANTLE, 2PAULA CINTIA COSTA CURTA, 3GABRIELA ALESSANDRA RIBEIRO SONDAY, 4LUCIANAPELLIZZARO, 5EVELLYN CLAUDIA WIETZIKOSKI LOVATO, 6JULIANA PELISSARI MARCHI
1Acadêmica do Curso de Estética e Cosmética - Unipar - Francisco Beltrão1Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva encontrada naturalmente em pessoas saudáveis,principalmente na pele e fossas nasais. Ela pode provocar infecções de baixo grau, como acnes e furúnculos ou de alto graucomo pneumonia, meningite, endocardite, síndrome do choque tóxico e septicemia. É conhecida por ser um micro-organismoresistente a tratamentos, estéticos e medicamentosos (KONEMAN et al., 2001; CASSETTARI et al., 2005). Estudos estão sendorealizados utilizando os equipamentos de Alta Frequência (AF) e Diodo Emissor de Luz Azul (LED) para o controle da S. aureus.AF se tornou conhecido através dos tratamentos de lesões cutâneas, por seu efeito cicatrizante, térmico, analgésico e anti-inflamatório, além do efeito bactericida, graças à ação do ozônio liberado, que realiza oxidação seguida de quebra da membranada bactéria (BORGES, 2006; MARQUETTI et al., 2012). LED é um equipamento estético para tratamento de acnes cuja luz éabsorvida pela pele, atinge a porfirina, substância produzida pela bactéria, provocando a liberação de radicais livres, altamentemaléficos para a bactéria; o comprimento ideal para efeito bactericida é de 405 nm a 420 nm (AGNE, 2011).Objetivo: Avaliar a ação do Diodo Emissor de Luz Azul e do Equipamento de Alta Frequência, em diferentes tempos, sobre abactéria Staphylococcus aureus.Material e Métodos: Ativou-se a bactéria S. aureus em caldo BHI por 24 h, em estufa a 37ºC. Na sequência, fez-se o repiquepara o Meio Muller Hynton e deixou-se em estufa por mais 24 h a 37ºC. Preparou-se então a suspensão da bactéria em soluçãosalina estéril, na Escala 0,5 de Mac Farland. Após, colocou-se 1mL desta solução em 9mL de solução salina e procedeu-sesequencialmente, mais duas diluições. Em seguida, 1 uL dessa suspensão foi semeada sobre o meio de cultura, em placa depetry. A seguir aplicaram-se os tratamentos: AF com intensidade de 8mA, em tempos de 40, 80, 120 e 160 s e LED nos mesmostempos. Para isso, os equipamentos foram posicionados em suportes, sobre as placas de petry, no interior da câmara de fluxo.Os controles foram feitos com meio e bactéria e meio bactéria e Ampicilina. Uma placa contendo apenas meio testou sua pureza.As placas foram colocadas em estufa a 37ºC por 24 h e então fez-se a contagem das colônias de bactérias.Os tratamentos foramfeitos em quintuplicata e a contagem das colônias foi repetida três vezes, por diferentes avaliadores. Foram avaliadas as médiasde colônias, por meio de Anova com Teste Tukey para avaliar a significância, ao nível de 5% de probabilidade, com uso doPrograma Win Stat.Resultados: O controle positivo (meio+bactéria+antibiótico) se diferenciou dos tratamentos com equipamentos e não apresentoucrescimento bacteriano. No tratamento com AF não houve ação bactericida total. Observou-se, no entanto, que quanto menor otempo de aplicação, maior o número de colônias formadas, tendo variado de 224 col/placa para o tempo de 160s para 580col/placa para o tempo de 40s; apenas o tempo de 160s diferiu significativamente do meio contendo apenas bactérias, masmesmo assim não foi totalmente eficaz. Com relação ao LED, também houve crescimento de colônias, sendo que no tempomenor (40s) houve uma quantidade significativamente maior na produção de bactérias (456 col/placa) em relação aos demaistempos; apenas o tempo de 120s diferiu significativamente do controle, mas mesmo assim desenvolveu média de 227 col/placa.Discussão: No presente estudo, AF se mostrou ineficaz contra S. aureus e observou-se que o número de bactérias foiinversamente proporcional ao tempo. Resultado semelhante encontra-se no estudo de Martins et al. (2012), no qual a ação do AF(em 10 mA) foi efetiva, quando S. aureus foi submetida ao AF por 15 min. Como AF faz a liberação de ozônio, quando atinge abactéria, atua primeiramente sobre sua membrana e faz a perda da atividade enzimática celular normal, provocando mudança napermeabilidade da célula, que leva à morte da bactéria. Quanto maior o tempo e maior a intensidade, maior a quantidade deozônio liberada e maior a quebra celular. O LED sobre a bactéria S. aureus é mais eficaz quando o tempo é maior. Estudo feitopor Herrera et al. (2012) avaliou 19 pessoas com acne de grau I a III, com tratamento de duas sessões semanais de 15 min cada,durante oito semanas consecutivas, tendo um resultados significativo do número médio de lesões cutâneas (inicial 45,1 e final16,4). Resultado como esse é conseguido pelo tempo a que a bactéria é submetida ao LED, o qual, ao entrar em contato com abactéria, provoca liberação da porfirina (substância fotossensibilizante produzida pela bactéria), a qual induz liberação de radicais
livres que são prejudiciais à bactéria, provocando a sua morte. Portanto, quanto maior o tempo de aplicação do LED, maisliberação de porfirina e de radicais livres. A aplicação de ambos os equipamentos não se mostrou eficiente, pois, possivelmente,o tempo de aplicação foi curto e a intensidade do AF foi baixa. Para um melhor resultado poder-se-ía tentar um aumento detempo de ação dos equipamentos e a intensidade do AF.Conclusão: LED e AF não demonstraram ação bactericida sobre S. aureus.
ReferênciasAGNE, Jones Eduardo. Eu sei eletroterapia. Santa Maria: Palloti. 2011, 368 p. BORGES, Fábio dos Santos. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas. São Paulo: Phorte, 2006.541 p.CASSETTARI, Valéria Chiaratto; STRABELLI, Tania ; MEDEIROS, Eduardo Alexandrino Servolo de .Staphylococcus aureusbacteremia: what is the impact of oxacillin resistance on mortality ? Brazilian Journal of Infectious Diseases, v. 9, n. l, p. 70-6,2005.HERRERA, Sávia Denise Silva Cartolotto; MOTA, Juliano Rodrigues da; CHAVES, Symon Patrício; UEDA; Tiago Kijoshi;RESENDE, Adriana Arruda Barbosa. LED no tratamento da acne vulgar In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIADERMATO FUNCIONAL. 12.,Anais [...], 2012. Recife. 6 p.KONEMAN, Elmer; WINN JR., Washington; ALLEN, Stephen; JANDA, William; PROCOP, Gary; SCHRECKENBERGER, Paul;WOODS, Gail. Diagnóstico microbiológico. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. MARQUETTI, Maria da Glória Karan; RUARO, João Afonso; FRÉZ, Andersom Ricardo; MARTINS, Andiara; SILVA, Jocieli Tellesda.; GRACIOLA, Laureane. Efeito do gerador de alta frequência no crescimento bacteriano in vitro. In: CONGRESSOBRASILEIRO DE FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL. 12.,Anais [...], 2012. Recife. 6 p.MARTINS, Andiara; SILVA, Jociseli Telles da; GRACIOLA, Laureane; FRÉZ, Andersom Ricardo; RUARO, João Afonso;MARQUETTI, Maria da Glória Karan. Efeito bactericida do gerador de alta frequência na cultura de Staphylococcus aureus.Fisioterapia e Pesquisa, v..19, n.2, 2012.
EFEITOS DA SUPLEMENTAÇÃO CRÔNICA DE L-CITRULINA SOBRE O DESEMPENHO FÍSICO DE ADULTOS JOVENSSUBMETIDOS AO EXERCÍCIO DE ALTA INTENSIDADE
1GABRIELA VIEIRA CANUTO, 2JHENIFFER BIANCA THOME PEREIRA, 3MOISES PANATO PEREIRA, 4ANA LUIZANOGUEIRA, 5THIAGO MENDONCA DE SOUSA, 6ALAN PABLO GRALA
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmico do PIC/UNIPAR3Acadêmica do PIC/UNIPAR4Acadêmico do PIC/UNIPAR5Docente do Curso de Educação Física da UNIPAR
Introdução: A L-citrulina é um aminoácido não proteico produzido juntamente com o óxido nítrico como um dos produtos finaisda ação da enzima óxido nítrico sintase sobre o aminoácido L-arginina, podendo também ser encontrado em grande quantidadena melancia (citrullusvulgaris) (TARAZONA-DÍAS et al., 2013).Evidências prévias demonstraram que a suplementação com L-citrulina pode aprimorar a cinética do VO2 durante o exercício intenso (BAYLEY et al., 2015) e reduzir o tempo para completarséries de alta intensidade no cicloergômetro (SUZUKI et al., 2016), porém, outros estudos não observaram efeitos positivos coma ingestão desse aminoácido (CUTRUFELLO et al., 2014; HICKNER et al., 2006).Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da suplementação crônica de L-citrulina sobre o desempenho físico deadultos jovens submetidos ao exercício de alta intensidade.Material e métodos: O presente estudo foi aprovado pelo Comitê Ética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UniversidadeParanaensesob parecer 2.184.147 (CAAE: 71136217.1.0000.0109). Foram definidos 4 momentos distintos para a realização doestudo: momento inicial (MI), momento de familiarização (MF), momento de testes 1 (M1) e 2 (M2). As variáveis selecionadaspara avaliar o desempenho físico dos participantes foram: frequência cardíaca média de exercício (FCmed); tempo para exaustão(Tex) no teste incremental em esteira rolante(TIE) enúmero de repetições no teste de resistência muscular localizada(TRML).OTIE envolveu os seguintes procedimentos: 3 minutos de aquecimento à velocidade de 6Km/h seguidos por um aumento de 1,2Km/h a cada 3 minutos até o avaliado relatar a exaustão.O TRML consistiu em realizar o maior número possível de repetições noequipamento cadeira extensora à 60% de 1RM até a fadiga muscular máxima. O MI envolveu os procedimentos deantropometria, anamnese e estimativa doVO2maxdos sujeitos selecionados (18 adultos jovens; idade 21,5±2,7 anos; sexomasculino). Dois dias após o MI, foi realizado o MF, onde foram conduzidos os processos de familiarização com o TIE e oTRMLna cadeira extensora. Durante o MF também foi realizado o teste de força dinâmica máxima (1RM) no equipamento cadeiraextensora. Após o MF, os sujeitos foram aleatoriamente designados aos grupos placebo (PLA, n=9) ou citrulina (CIT, n=9). Ointervalo entre MF, M1 e M2 foi de 7 dias. No M1 e M2 ambos os grupos foram submetidos inicialmente ao TIE, onde foimonitorado e recordado a FCmed e o Tex. 1 hora após o TIE, tanto no M1 quanto no M2, foi realizado o TRML na cadeiraextensora. Entre M1 e M2 os grupos PLA e CIT receberam, respectivamente, 12g/dia de dextrose e 6g/dia de L-citrulina por 7dias.Para a análise dos dados, foram utilizando os testes de Shapiro-Wilk, T pareado e Wilcoxon. Para a realização da análiseestatística foi utilizado o software SPSS for MacOs v.22.Resultados: Não foram observados resultados significativos (p>0,05)tanto para o Tex (CIT M1: 891±227 seg; CIT M2: 932±240seg. - PLA M1: 739±225 seg; PLA M2: 750±164 seg)quanto para o TRML(CIT M1: 18,8±2,9 rep; CIT M2: 19,2±1,3 rep PLA M116,8±2,8; PLA M2: 17±1,8 rep)em ambos os grupos entre os momentos M1 e M2.Para a variável FCmed, foi constatada umaredução significativa (p=0,43) no grupo CIT (CIT M1: 145±6 bpm; CIT M2: 140±3 bpm), mas não no grupo PLA (PLA M1: 144±5bpm; PLA M2: 146±6 bpm).Discussão: No presente estudo, foi constatado que a suplementação crônica (7 dias) de L-citrulina (6g/dia) resultou na reduçãosignificativa na FCmed, indicando um possível aprimoramento na tolerância ao exercício. Outras pesquisas que analisaram oefeito da ingestão de L-citrulina sobre a frequência cardíaca apresentaram resultados opostos ao relatados neste estudo. Comoexemplo, Martínez-Sánchez et al. (2017) constataram que a ingestão de suco de melancia enriquecido com 3.45g de l-citrulinanão reduziu a FCmed de corredores amadores que realizaram uma corrida de meia-maratona. Por sua vez, Wax et al. (2016)relataram que a ingestão aguda de 8g de L-citrulina não influenciou a frequência cardíaca pós exercício (5 e 10 minutos) dejovens submetidos a exercícios conduzidos até a exaustão. Com relação ao Tex, esperava-se que o grupo CIT apresentassevalores significativamente maiores no momento M2, ou seja após os 7 dias de suplementação, porém, o Tex não foi diferente
entre os momentos M1 e M2 em nenhum dos grupos.Outros estudos que avaliaram a influência da suplementação de L-citrulinasobre o Tex apresentaram resultados contraditórios.Martínez-Sánchez et al. (2017) observaram que a ingestão aguda de suco demelancia enriquecida com 3.45g de L-citrulina não influenciou o tempo para completar meia maratona em corredores. Já Suzukiet al. (2016) relataram que a suplementação crônica de 2.4 gramas de L-citrulina por 7 dias reduziu o tempo para completar umtrajeto de 4 quilômetros de ciclismo.Conclusão: A suplementação crônica de L-citrulina por 7 dias reduziu a FCmed indicando um possível aumento na tolerância aoexercício, porém, não influenciou o tempo de exaustão e a resistência muscular localizada de jovens adultos submetidos aoexercício intenso.
ReferênciasBAILEY, S. J. et al. L-citrulline supplementation improves O2 uptake kinetics and high-intensity exercise performance in humans. J Appl Physiol. v.119, n.4, p.385-395, ago.2015.CUTRUFELLO, P. T. et al. The effect of L-citrulline and watermelon juice supplementation on anaerobic and aerobic exerciseperformance. J Sports Sci. v.33, n.14, p.1459-1466, 2015.HICKNER, R. C. et al. L-citrulline reduces time to exhaustion and insulin response to a graded exercise test. Med Sci SportsExerc. v.38, n.4. p.660-666, Abr.2006.MARTINEZ-SÁNCHEZ, A. et al. Biochemical, physiological and performance response of a functional watermelon juice enrichedin L-citrulline during a half-marathon race. Food Nutr Res. v.61, n.13,p.1- 12, Jun.2017.SUZUKI, T.; MORITA, M.; KOBAYASHI, Y, KAMIMURA, A. Oral L-citrulline supplementation enhances cycling time trialperformance in healthy trained men: double-blind randomized placebo-controlled 2-way crossover study. J IntSoc Sports Nutr.v.13, n.6, p.1-8, Fev.2016.TARAZONA-DíAS, M. P. et al. Watermelon juice: potential functional drink for sore muscle relief in athletes. J Agric Food Chem.v.61, n.31, p.7522-7528, Ago.2013.WAX, B.; KAVAZIS, A. N.; LUCKETT, W. Effects of supplemental citrulline-malate ingestion on blood lactate, cardiovasculardynamics, and resistance exercise performance in trained males. J Diet Suppl. v.13, n.3, p.269-282, 2016.
ÍNDICE DE PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA EM UM HOSPITAL DO PARANÁ
1ALESSANDRA LOTICI, 2ALINE APARECIDA BARTNISKI, 3GISELE LOTICI, 4BRUNO HENRIQUE NESI, 5LEANDROAUGUSTO KUHL OPSFELDER, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR- Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Médico Intensivista, Responsável técnico pela UTI 5Docente da UNIPAR
Introdução: A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é uma infecção do tecido pulmonar que acomete pacientesem assistência ventilatória mecânica (AVM), podendo ser ocasionada por diferentes microrganismos como bactérias, fungos evírus, resultando em taxas de mortalidade que chegam a 70% (KOCK et al. 2017). É considerada a infecção nosocomial maiscomum em unidade de terapia intensiva (UTI), com prevalência entre 6 a 50 casos em 100 admissões (AMARAL, IVO, 2016).Objetivo: Avaliar o índice de PAVM em pacientes internados em uma UTI de um hospital do Paraná.Materiais e métodos: Foi realizada uma pesquisa de campo, retrospectiva de caráter descritiva e documental, com abordagemquantitativa, realizada por meio de dados coletados em fichas de notificação da Comissão de controle de infecção hospitalar deum hospital do Paraná. Foram incluídos todos os prontuários de pacientes internados durante o período de janeiro de 2018 adezembro de 2018, que desenvolveram PAVM. Foi realizada uma análise descritiva com apoio do programa Software StatisticalPackage of Social Sciences for Windows (SPSS). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UniversidadeParanaense sob protocolo (1.993.266∕2017).Resultados: De 104 casos notificados pela CCIH entre janeiro de 2018 a dezembro de 2018, 56 (53,8%) eram de PAVM. Dentreeles, 33 (58,9%) eram do sexo masculino e 23 (41,1%) do sexo feminino. Houve predominância de pacientes com faixa etáriaelevada, sendo 21 (37,5%) acima de 70 anos, seguido de 12 (21,4%) de 61 a 70 anos, 10 (17,9%) de 51 a 60 anos, 4 (7,1%) de41 a 50 anos, 4 (7,1%) de 31 a 40 anos, 4 (7,1%) de 21 a 30 anos, e apenas 1 (1,8%) com menos de 20 anos. A maioria dasinternações foram de origem clínica 41 (73,2%) seguida por cirúrgica 8 (14,3%) e trauma 7 (12,5%). Em relação as hemoculturastodas positivaram 56 (100%), com isolamento predominante de cocos gram-positivos. Destes pacientes 33 (58,9%) foram a óbito,20 (35,7%) tiveram alta e 3 (5,4%) foram transferidos.Discussão: Segundo o Sistema de Vigilância de Infecções Hospitalares do Estado de São Paulo em 2016, a incidência de PAVnas UTIʼs paulistas foi de 10,64 casos/1000 dias de VM em hospitais públicos e de 6,56 casos/1000 dias em hospitais privados(ALECRIM et al. 2019). O alto índice de PAVM pode ser explicado pela VM ser um procedimento invasivo, pela prevençãoatravés de alguns cuidados na assistência prestada ao paciente em VM que muitas vezes não é realizada corretamente, como aaspiração das vias aéreas, monitoramento do cuff, elevação da cabeceira, monitoração do ph e dos gases e a higiene oral, e pelaUTI ser um ambiente crítico (AMARAL, IVO, 2016). Observou-se a predominância do gênero masculino nos casos de PAVM,como no estudo de Kock et al (2017) com 57,5% de pacientes homens. Tais indivíduos são mais suscetíveis as doenças pelafalta de cuidado e menor procura por atendimento em saúde (COELHO, GIACOMIN, FIRMO, 2016). O predomínio de idosos comPAVM, também foi observada no estudo de Gomes e Reis (2017) com 42,1%, isso está relacionado a maior vulnerabilidade nascondições de saúde, redução das capacidades fisiológicas e funcionais, maior número de morbidades, e imunosenescência(MACENA, HERMANO, COSTA, 2018). As internações substanciais na UTI devido a fatores clínicos, estão associadas a idademais avançada dos pacientes, o que acarreta maiores doenças e necessidade de cuidados intensivos (KOCK et al. 2017). Paraconfirmação diagnóstica de PAVM, a pneumonia deve ocorrer 48h após a intubação ou 72h após a extubação (AMARAL, IVO,2016). Trata-se de uma infecção relacionada à assistência em saúde (IRAS), pois ao mesmo tempo que UTI oferece cuidadosintensivos e aumento da chance de sobrevivência, ela também oferece riscos ao paciente, por meio de métodos invasivos comoa ventilação mecânica (OLIVEIRA, SOUZA, 2018). Foram encontrados resultados laboratoriais diferentes no estudo de Gomes eReis (2017), sendo 36,8% dos dados microbiológicos não foram encontrados e/ou confirmados, e 15,7% foram acometidos porAcinecto bacter sp. As bactérias gram-negativas são os principais microrganismos encontrados em secreções traqueais, e osgram-positivos são responsáveis por 20% a 40% dos casos, como no presente estudo. Vale considerar que cada instituiçãoapresenta um perfil microbiológico peculiar que varia de acordo com as características regionais, climáticas, ambientais,condições de limpeza, influências sazonais como umidade e temperatura e o perfil de adoecimento da população atendida bemcomo especialidades ofertadas no serviço (OLIVEIRA et al. 2017). Quando avaliados os índices de mortalidade, observamos que
58,9% dos pacientes evoluíram a óbito, dado próximo ao estudo de Mota et al (2017) com 72,7%, demonstrando que a PAVM éum fator de risco para aumento da mortalidade na UTI.Conclusão: Observou-se um número substancial de casos de PAVM, especialmente em pacientes idosos do sexo masculino,com morbidades associadas e sistema imunológico debilitado. Nesse contexto, o emprego de medidas de precaução-padrão emonitorização são as melhores estratégias para diminuir os índices de morbimortalidade por PAVM em UTIs.
ReferênciasALECRIM, Raimunda Xavier. et al. Boas práticas na prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Acta Paulistade Enfermagem, São Paulo, v. 32, n. 1, p. 11-17, jan. 2019.AMARAL, Jocelio Matos; IVO, Olguimar Pereira. Prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica: um estudoobservacional. Revista Enfermagem Contemporânea, Salvador, v. 5, n. 1, p. 109-117, jan./jun. 2016.COELHO, Juliana Souza; GIACOMIN, Karla; FIRMO, Josélia Oliveira Araújo. O cuidado em saúde na velhice: a visão do homem.Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 408-421, 2016.GOMES, Wanderson Fagner; REIS, Juliana Carvalho. Prevalência de pneumonia associada à ventilação mecânica em umaunidade de terapia intensiva de um hospital do leste mineiro. Revista de Ciências, Campinas, v. 8, n. 1, 2017.KOCK, Kelser de Souza. et al. Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM): incidência e desfecho clínico em umaunidade de terapia intensiva no sul de Santa Catarina. Arquivos Catarinenses de Medicina, Florianópolis, v. 46, n. 1, p. 02-11,jan. /mar. 2017.MACENA, Wagner Gonçalves; HERMANO, Lays Oliveira; COSTA, Tainah Cardoso. Alterações fisiológicas decorrentes doenvelhecimento. Revista Mosaicum, Teixeira de Freitas, v. 27, jan./jun, 2018.MOTA, Écila et al. Incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica em unidade de terapia intensiva. Medicina(Ribeirão Preto- online), Ribeirão Preto, v. 50, n. 1, p. 39-46, 2017. Disponível em:http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/135044, acesso em 20 de agosto de 2019.OLIVEIRA, Adriana Cristina. Et al. Perfil dos microrganismos associados à colonização e infecção em Terapia Intensiva. Revistade Epidemiologia e Controle de Infecção, Santa Cruz do Sul, v. 7, n. 2, p. 101-106, 2017.OLIVEIRA, Luan Felipe Sales. O enfermeiro na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica: uma revisãointegrativa. Orientador: Hélia Carla de Souza. 2018. 19 f. Monografia (Graduação em Enfermagem) Centro Universitário deBrasília, Brasília, 2018.
NÚMERO DE ÓBITOS POR DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS COM CAUSAS EVITÁVEIS EM CRIANÇAS DE 0 A4 ANOS, ENTRE 2007 E 2017, NO PARANÁ
1MATHEUS WALDOW PAREDES, 2LUCAS OLIVEIRA MARTINES, 3VINICIUS PAIE MARQUES DOS REIS, 4LUCASALEXANDRE GUBERT SCHIER, 5MARIA ELENA MARTINS DIEGUES, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente e Coordenadora do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A análise de dados de mortalidade entre crianças deve ser realizada para definição de políticas públicasdirecionadas à saúde infantil. A redução dessas mortes é parte integrante dos objetivos do milênio, metas da ONU (Organizaçãodas Nações Unidas), que buscam elevar a qualidade de vida das populações (UNITED NATIONS, 2000). O estudo de França;Lansky (2016), demonstra que a TMI (Taxa de Mortalidade Infantil) no Brasil chega a ser entre 3 e 6 vezes maior do que depaíses como Japão e Canadá. Vale ressaltar que os óbitos com causas evitáveis, principalmente em crianças, são em suamaioria resultados de fatores deficientes na atenção básica à saúde, uma vez que, de acordo com Lansky; França; Leal (2002),há uma relação estreita entre a efetividade de assistência à gestante e a mortalidade infantil. Objetivo: Analisar o levantamento dos dados de óbitos por doenças infecciosas e parasitárias com causas evitáveis no Paraná,em crianças de 0-4 anos, entre janeiro de 2007 e dezembro de 2017, com base nos dados obtidos no DATASUS (Departamentode Informática do SUS).Desenvolvimento: No período de 2007 a 2017, no Paraná, houve 431 mortes de crianças de 0 a 4 anos por doenças infecciosase parasitárias com causas evitáveis. Do grupo analisado, há casos reduzíveis por ações de tratamento e diagnóstico adequados -por exemplo, doenças bacterianas (43,38%), outros por ações devidas de promoção à saúde vinculadas a ações de atenção emsaúde - como as doenças infecciosas intestinais (33,41%), alguns por atenção apropriada na gestação e no parto - a exemplo dasífilis congênita e doenças pelo vírus da imunodeficiência humana (14,84%), e os demais por ações de imunização - comotuberculose e coqueluche (8,35%). Vale ressaltar que os anos de 2007 e 2013 são os com maior prevalência de óbitos, e osmenores números foram nos anos de 2011 e 2017, destacando que desde 2015 a quantidade de óbitos se manteve emdecréscimo. Segundo análise feita por Oliveira; Costa; Mathias (2012), 14,8% do total de internações em três municípios doParaná são por doenças infecciosas e parasitárias com causas evitáveis, e complementa que todas poderiam ser evitadas com aimplementação de medidas assertivas na atenção primária à saúde. Além disso, outros estudos realizados no Brasil consideramas doenças infecciosas e parasitárias como as mais frequentes em relação a hospitalização. Outrossim, a análise realizada porJodas; et al (2013), na terceira maior cidade do Paraná, Maringá, aponta que a morte precoce apresenta relação direta com aqualidade de atenção ofertada à gestante e ao recém-nascido. Fato este que é consoante com outro estudo realizado porEscuder; Venâncio; Pereira (2003), o qual salienta a necessidade de assistência à gestante e reforça que o apoio deve ocorrertambém no sentido de estímulo à amamentação, uma vez que é uma ação relativamente simples que chega a reduzir entre 3,6%e 13% os óbitos em crianças de até 04 anos, em 14 municípios da Grande São Paulo. Ainda, de acordo com Garcia; Santana(2011), há uma linha tênue entre as desigualdades sociais e as doenças infecciosas e parasitárias em crianças, principalmenteas que envolvem contaminação por falta de higiene adequada e saneamento básico. Ressalta-se, ainda, que na cartilha deatenção ao pré-natal de baixo risco, do Ministério da Saúde, há diversas medidas para a redução de tais mortes, sendo ações deimunização, atendimento à mulher em período de gravidez e parto, atenção aos recém-nascidos, entre outras estratégias depromoção à saúde.Conclusão: A partir dos dados obtidos, pode-se observar os motivos desencadeadores dos óbitos e os entraves que osestimulam. Desse modo, deve-se formular estratégias que objetivem alterações no estilo de vida da população, além dodesempenho e eficiência das políticas públicas de saúde. Assim, poder-se-á atenuar a situação, reduzindo o número de óbitoscausados por doenças infecciosas e parasitárias com causas evitáveis nas crianças de 0 a 4 anos.
ReferênciasBrasil, Ministério da Saúde, DATASUS - Departamento de Informática do SUS. MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informaçõessobre Mortalidade - SIM. (2007-2017)
Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixorisco Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012.ESCUDER, M. M. L.; VENANCIO, S. I.; PEREIRA, J. C. R. Estimativa de impacto da amamentação sobre a mortalidadeinfantil.Rev. Saúde Pública, São Paulo , v. 37, n. 3, p. 319-325, June 2003.FRANÇA, E.; LANSKY, S. Mortalidade infantil neonatal no Brasil: situação, tendências e perspectivas. Anais do XVI EncontroNacional de Estudos Populacionais, p. 1-29, 2016.GARCIA, L. P.; SANTANA, L. R.; Evolução das desigualdades socioeconômicas na mortalidade infantil no Brasil, 1993-2008.Ciência & Saúde Coletiva, v. 16, p. 3717-3728, 2011.JODAS, D. A. et al. Análise dos óbitos evitáveis de menores de cinco anos no município de Maringá-PR. Esc. Anna Nery, Riode Janeiro, v. 17, n. 2, p. 263-270, June 2013.LANSKY, S.; FRANCA, E.; LEAL, M. C. Mortalidade perinatal e evitabilidade: revisão da literatura. Rev. Saúde Pública, SãoPaulo , v. 36, n. 6, p. 759-772, Dec. 2002.OLIVEIRA, R. R.; COSTA, J. R.; MATHIAS, T. A. F. Hospitalização de crianças menores de cinco anos devido a causasevitáveis.Rev. Latino-Am. Enfermagem vol.20 no.1 Ribeirão Preto Jan./Feb. 2012.UNITED NATIONS MILLENNIUM DECLARATION. New York, 8 September 2000.
ANÁLISE DA MICROBIOTA INTESTINAL DE RECÉM NASCIDOS INTERNADOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIAINTENSIVA NEONATAL
1RAQUEL BIRCK, 2NATIELI RAUBER NICOLAU, 3MARIANGELA CAUZ, 4VOLMIR PITT BENEDETTI
1Acadêmica do PIC/UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: Neonatos internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal - UTI correm grave risco de desenvolvereminfecções, elevando as taxas de morbidade e mortalidade, nestes pacientes (KRAWCZENKO et al., 2012). Para minimizar estesriscos, busca-se conhecer os principais fatores epidemiológicos envolvidos nas infecções que acomete estes recém-nascidos.Dentre as técnicas de vigilância epidemiológica utilizam-se culturas de swab retal. Infecções causadas por germesmultirresistentes têm ocorrido no ambiente hospitalar, sendo frequentemente associadas ao aumento de taxas demorbimortalidade. As infecções hospitalares é um grande problema na atualidade, uma das preocupações é o isolamento degermes multirresistentes a antimicrobianos, vários fatores contribuem para o desenvolvimento da resistência bacteriana como,por exemplo, a gravidade do paciente, realização de procedimentos invasivos, internação em unidade de terapia intensiva,utilização de antibióticos em longo prazo e não higienização de mãos. (MADDEN et al., 2010)Objetivos: Neste contexto, este trabalho busca analisar os aspectos epidemiológicos envolvidos na colonização demicrorganismo de importância em neonatos, internados em uma unidade de terapia intensiva de um hospital público do sudoestedo Paraná.Metodologia: Foram analisados os prontuários e realizado a cultura de swab retal de 27 neonatos internados na UTI. A partirdesta consulta foi elaborado o perfil epidemiológico destes pacientes e do material biológico coletado, caracterizou-se amicrobiota bacteriana e fúngica. Para estes procedimentos laboratoriais utilizou-se a metodologia padronizada pela literatura(KONEMAN et al., 2008). Este trabalho seguiu os trâmites éticos legais para pesquisa (94588218.5.0000.0109).Resultados: Dos neonatos estudados 67% eram do sexo masculino e 33% do feminino. Em média, os neonatos do sexomasculino nasceram com 35,2 semanas de gestação, permanecendo internados na UTIN por aproximadamente 21 dias. Já osneonatos do sexo feminino, nasceram com 33,3 semanas de gestação, permanecendo internados por aproximadamente 23 dias.A principal causa de internamento foi devido a prematuridade associada à síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido (51.85%). Observou-se também, que 100% dos os neonatos utilizaram antibioticoterapia, estando a gentamicina eampicilina presente em 85,2% das prescrições. Referente a colonização do trato intestinal por germes multirresistentes,constatou-se que 40,7% dos neonatos foram colonizados, sendo a bactéria Klebsiella pneumoniae a mais frequente 90,9%, etodas as cepas eram produtoras de ESBLs. Ainda, observou-se que 7,4% dos neonatos estavam infectados pelosCitomegalovírus, 3,7% pelo Herpesvírus e 3,7% estavam infectados pelo Toxoplasma gondii.Discussão: Estudando aspectos epidemiológicos envolvendo neonatos prematuros, observa-se que uso prolongado deantibióticos, a prematuridade, idade gestacional e o tempo de internação são fatores predisponentes para a colonização porbactérias multirresistentes e fungos. O trato intestinal do recém-nascido revela a enorme pressão de micróbios hospitalares nosentido da colonização, por conta da natural imaturidade de mecanismos de defesa específicos e inespecíficos eventualmente,mais marcada pela concorrência de complicações por germes multirresistentes (YOSHIOCA et al., 2001). Dentre os agentes maisfrequentemente envolvido em infecção em neonatos internados em uma unidade de terapia intensiva, destacam-se as leveduras,particularmente a espécie Candida albicans, contudo outras espécies como Candida tropicalis e Candida glabrata temapresentado relevância nos últimos anos (SASTRE et al., 2003). Ainda, segundo Bem-David et al., (2010). Outro grupo demicrorganismo oportunista tem frequentemente acometidos este grupo de paciente, como os bacilos gram negativos da famíliadas Enterobacteriaceae como Klebsiella pneumoniae. Estas citações corroboram com os resultados encontrados neste estudo noqual encontrou como principal agente colonizador a leveduras Candidas albicans e as bactérias Klebsiella pneumoniae. Percebe-se que a colonização de recém-nascidos é um grande fator de risco para o desenvolvimento de infecções, e quanto maisprecocemente identificar-se quais agentes estão iniciando neste processo, melhor será para traçar estratégias de prevenção aodesenvolvimento de infecções nos pacientes internados nas UTINs.Conclusão: Neste estudo foi observado que os recém-nascidos do gênero masculino foram os mais colonizados por germesmultirresistentes e fungos, onde os principais agentes microbianos envolvidos foram à bactéria Klebsiella pneumoniae e alevedura Candida albicans. Dessa forma, a identificação das vias de transmissão dos microrganismos causadores de infecção,
são fundamentais para prevenção e diminuição da colonização por germes multirresistentes em neonatos, aumentando aexpectativa e sobrevida desses pacientes.
ReferênciasBEN-DAVID, Maor Y, et al. Potential role of active surveillance in the control of a hospitalwide outbreak of carbapenem-resistantKlebsiella pneumoniae infection. Infect Control Hosp Epidemiol. v.31, p. 620-6, 2010.KONEMAN, Elmer Koneman., et al. Diagnóstico microbiológico - texto e atlas colorido. 6.ed. Guanabara Koogan. Rio deJaneiro; 2008.KRAWCZENKO, Iwona Sadowska; JANKOWSKA, Aldona; KURYLAK, Andrzej. Healthcare-associated infections in a neonatalintensive care unit. Arch Med Sci. v.8, n. 5, p. 854-858, 2012. DOI: https://doi.org/10.5114/aoms.2012.31412MADDEN Nicholas P. et al. SURGERY, sepsis, and nonspecific immune function in neonates. J Pediatr Surg. v. 24, p.562-66,2010.SASTRE José B. López, et al. Grupo de Hospitales Castrillo. Neonatal invasive candidiasis: a prospective multicenter study of118 cases. American Journal of Perinatology. v. 20, p. 153-163, 2003.YOSHIOKA Hajime et al. Development and differences of intestinal flora in the neonatal period in breast-fed and bottle-fed infants.Pediatrics; v. 72, p. 317-21, 2001.
ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EMBOLIA PULMONAR NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA/PR DE 2014 A 2018
1ESTER PELEGRINI SILVA, 2DAVI CORREA PEREIRA, 3CAMILA MARIA ESCARDILLE YOSHITANI, 4ELENIZA DE VICTORADAMOWSKI CHIQUETTI, 5RENATO RICCI KAUFFMANN, 6RICARDO MARCELO ABRAO
1Acadêmico do curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmico do curso de Medicina da UNIPAR, bolsista PEBIC2Acadêmico do curso de Medicina da UNIPAR, participante do PIC3Professor Titular do curso de medicina da UNIPAR4Professor Associado do curso de medicina da UNIPAR5Professor Titular do curso de medicina da UNIPAR
Introdução: Embolia pulmonar (EP) é o termo referido à obstrução de vasos pulmonares haja vista deposição de corposestranhos formadores de êmbolos, originados prevalentemente nos membros inferiores (LOCALI; ALMEIDA, 2006). Os sinais esintomas estão inicialmente associados com edema, dor, eritema e sensação de calor, podendo evoluir a danos permanentes ouao óbito (BROADDUS et al., 2017). Outros indícios da patologia incluem dispnéia, taquipnéia, taquicardia sinusal, dor torácica,tosse, hipotensão arterial, cianose, febre, síncope e hemoptise (VOLSCHAN et al., 2004). Tais efeitos estão relacionados com arestrição do fluxo e elevação da pressão sanguínea no ventrículo cardíaco direito (GOLDMAN; SCHAFER, 2018). Apesar dasmanifestações, são numerosas as dificuldades no diagnóstico da patologia, entre elas o subdiagnóstico e a deficiência dosserviços de necropsias (MENNA-BARRETO, 2005).Objetivo: Discorrer sobre o levantamento de internações e óbitos vinculados aos casos de embolia pulmonar no município deUmuarama/PR, de janeiro de 2014 a dezembro de 2018. Material e Métodos: Foi realizado o levantamento de dados pelo DATASUS, de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, colhendo-se informações sobre o número de internações e de óbitos por embolia pulmonar, o sexo e a idade do paciente. Resultados: Entre janeiro de 2014 a dezembro de 2018, no estado do Paraná foram encontradas 2901 internações relacionadasà embolia pulmonar. No mesmo período, no município de Umuarama foram encontradas 113 (3,9%) internações relacionadas àembolia pulmonar registradas nos seguinte hospitais: UOPECCAN com 16 casos (14,1%); Instituto Nossa Senhora Aparecidacom 26 casos (23%); Associação Beneficente São Francisco de Assis com 35 casos (31%); e NOROSPAR com 36 casos(31,9%). As internações apresentaram prevalência em mulheres, correspondendo à 59,3% do valor absoluto, com predomínio nafaixa etária de 70 à 79 anos (13,27%), enquanto nos homens (40,7%), a faixa predominante foi marcada dos 60 aos 69 anos.Referente aos óbitos por embolia pulmonar no estado, no mesmo período, foram registrados 518 casos. A cidade de Umuaramaapresentou 25 (0,05%) mortes, ocorridas nos mesmos hospitais: UOPECCAN com 3 (12%) casos; Instituto Nossa SenhoraAparecida com 4 (16%) casos; Associação Beneficente São Francisco de Assis com 7 (28%) casos; e NOROSPAR com 11(44%) casos . Foi observado que os hospitais mencionados apresentaram uma média de 21% ±6,4 de mortes em relação aoscasos de internações. Foi observado que 52% dos óbitos eram referente ao sexo masculino.Discussão: Dentre os fatores de riscos associados, ressalta-se idade acima de 40 anos, neoplasias, tabagismo, repouso acimade 72 horas, cirurgia abdominal ou pélvica, fratura de bacia ou de membros inferiores, uso de estrogênio, gravidez e puerpério(VOLSCHAN et al., 2004). A influência da globalização sobre o padrão de vida, impulsionando a indústria alimentícia (fast food),conduziu a ingestão excessiva de carboidratos e lipídeos, favorecendo a formação de arteriosclerose e elevando o cenário decomorbidades crônicas relacionadas à obesidade (FERREIRA, 2010). Sabendo-se que a obesidade também é um fator de riscopara o desenvolvimento de eventos trombóticos e embolia gordurosa (SANCHES, 2007), os valores observados em internaçõespor embolia pulmonar, no período analisado, pode ser associado a esse cenário. Com a crescente participação feminina nosustento familiar, aumentou-se também sua participação no mercado de trabalho (FIORIN et al., 2014). Novas representações doser mulher, incluem a busca pela não-maternidade e consequentemente a maior utilização de anticoncepcionais (PATIAS; BUES,2012), justificando a prevalência da patologia analisada no sexo em questão. Todavia, evidencia-se que os valores citadospodem ser subestimados pois os diagnósticos a respeito da EP ainda podem ser um desafio à prática clínica, a exemplo, peladificuldade de métodos precisos na detecção dos sintomas indicativos (MENNA-BARRETO, 2005).Conclusão: Foi observado que, apesar do número total de homens em internações por embolia pulmonar mostrar-se inferior aodas mulheres, a representatividade na mortalidade sobressaiu, evidenciando maior número no sexo masculino. No entanto,acredita-se que os valores citados estejam sub ou superestimados haja vista o desafio para a prática clínica no diagnóstico deEP.
ReferênciasBROADDUS, V. Courtney et al. Murray & Nadel Tratado de Medicina Respiratória. Elsevier Brasil, 2017.FERREIRA, Sandra Roberta G. Alimentação, nutrição e saúde: avanços e conflitos da modernidade. Ciência e Cultura, v. 62, n.4, p. 31-33, 2010.FIORIN, Pascale Chechi; DE OLIVEIRA, Clarissa Tochetto; DIAS, Ana Cristina Garcia. Percepções de mulheres sobre a relaçãoentre trabalho e maternidade. Revista Brasileira de Orientação Profissional, v. 15, n. 1, p. 25-35, 2014.GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Goldman-Cecil Medicina: Adaptado à realidade brasileira. Elsevier Brasil, 2018.LOCALI, Rafael Fagionato; ALMEIDA, Eugênio Vieira Machado. Embolia gasosa:[revisão]. Revista brasileira terapia intensiva,v. 18, n. 3, p. 311-315, 2006.MENNA-BARRETO, Sérgio Saldanha. O desafio de diagnosticar tromboembolia pulmonar aguda em pacientes com doençapulmonar obstrutiva crônica. J Bras Pneumol, v. 31, n. 6, p. 528-39, 2005.PATIAS, Naiana Dapieve; BUAES, Caroline Stumpf. \" Tem que ser uma escolha da mulher\"! Representações de maternidadeem mulheres não-mães por opção. Psicologia & Sociedade, v. 24, n. 2, p. 300-306, 2012.SANCHES, Giselle Domingues et al. Cuidados intensivos para pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica. RevistaBrasileira de Terapia Intensiva, v. 19, n. 2, p. 205-209, 2007.VOLSCHAN, A. et al. Diretriz de embolia pulmonar. Arq Bras Cardiol. v. 83, n. Supl 1, p. 1-8, 2004.
QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DE UM BOM GOLEIRO DE FUTSAL?
1LUCAS AFONSO ALVES, 2ALAN PATRICK DE OLIVEIRA RIBEIRO, 3MATEUS VERHALEN CORREA, 4LEONARDO ALVESCORREIA, 5MARCELO FIGUEIRO BALDI
1Acadêmico do PIC/ UNIPAR1Acadêmico do PIC/ UNIPAR2Acadêmico do PIC/ UNIPAR3Acadêmico do PIC/ UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O futsal uma modalidade coletiva e dinâmica que nos dias atuais vem utilizando os jogadores de todas as posições,incluindo o goleiro, que se tornou uma peça fundamental para jogadas ofensivas e defensivas. Segundo Ribeiro (2011) as açõesfundamentais de um goleiro é impedir que a equipe adversária tenha sucesso no ataque e contra-ataque, coordenar as jogadasofensivas, ser participante nas jogadas de ataque de sua equipe e promover a organização da defesa impedindo o sucesso doataque da equipe adversária. Além disso, ele ainda deve ser psicologicamente preparado e ter uma ótima coordenação demovimentos e uma excelente resposta motora para ter um bom rendimento em quadra. Diante do exposto o presente estudoprocurou responder o seguinte problema de pesquisa: quais as características de um bom goleiro de futsal?Objetivo: Analisar quais as características que formam um bom goleiro de futsalDesenvolvimento: Um goleiro de futsal deve ser quase um jogador completo, pois ele praticamente utiliza todo corpo para suafunção. Segundo Ribeiro (2011) qualidades físicas do goleiro são equilibro, flexibilidade, força explosiva resistência aeróbia eanaeróbia, agilidade, velocidade de reação e deslocamento e a coordenação. Alguns dos fundamentos técnicos de um goleiro defutsal são: Pegadas, como o goleiro pega a bola quando ela vem em sua direção, e essa pegada varia de acordo com a altura evelocidade que vem a bola. Posicionamento, onde e como o goleiro se posiciona para executar uma defesa. Um bomposicionamento gera uma boa defesa. Queda, é quando o goleiro projeta o seu corpo para as laterais, tentando impedir que abola entre em sua meta. Uma queda com técnica evita que o goleiro se lesione, caindo com a parte externa da coxa e a partetraseira do ombro. Lançamento, passe que o goleiro executa para seu parceiro de time que pode ser por cima ou por baixo.Saída do gol, geralmente acontece quando o goleiro tenta antecipar uma jogada ou fechar o angulo do atacante adversário.Defesa com o pé, é executada quando o goleiro não consegue fazer uma defesa com as mãos devido à distância do chute,desequilíbrio do goleiro ou até mesmo o seu deslocamento. Os goleiros de hoje em dia precisam se tornar cada vez maispolivalentes no futsal, não ser apenas um goleiro em quadra que somente defende as bolas e sim um jogador que sabe atacarbem, trocar passes e chutar para o gol adversário. Com isso os goleiros viraram uma estratégia para os treinadores na formaofensiva de jogo também, obtendo um jogador a mais na quadra adversária que faz criar um espaço maior nas trocas de passesda equipe (SOARES et al, 2012). Segundo Mutti (2003), essa forma de jogo foi proposta através de mudanças nas regras defutsal, que possibilitou a equipe a ter mais um jogador no ataque. O mesmo autor diz que com mais um jogador na parte ofensivao time consegue trabalhar melhor os passes entre um ao outro e tendo a superioridade no ataque. Para Saad e Costa (2005) eVoser (2001) é um sistema que deve ser utilizado somente por equipes com um alto rendimento técnico e tática para que ocorrasem nenhum problema, além de o time ter um goleiro com bom chute a meia distância, facilidades em trocar passes onde écolocado goleiro linha em algumas vezes dos jogos. Para Fonseca (2007) um erro na troca de passes na quadra adversária ouperda de bola com o goleiro linha, pode gerar um gol convertido por sua parte defensiva estar totalmente exposta. Além daquestão física, tática, técnica a questão emocional também tem interferência na capacitação de um bom goleiro, onde entra comoênfase a ansiedade que muitas vezes atrapalha no desempenho de um atleta, ocorrendo sempre por um medo do futuro,como uma competição que está por vir ou um jogo importante. A ansiedade provoca problemas psicológicos principalmente noinício da adolescência que estão em fase de formação psíquica e física. Segundo Anselmo (2012), a ansiedade é vista comopositiva se no percentil normal para faixa etária onde ajuda o goleiro a ter um bom desempenho durante o jogo, mas se o nível forelevado acaba ocorrendo a diminuição do rendimento, com isso vem se dedicando muita atenção e treinamento em categoriasinferiores para que não ocorra esse problema e consiga desenvolver uma boa base quando chegar a fase adulta. Conclusão: As características de um bom goleiro são trabalhadas de forma em que ele desenvolva uma performance diferente,que o torna um jogador em quadra único, coletivo, fisicamente preparado, habilidoso e psicologicamente maduro para resolvertaticamente o que é esperado dele na sua função de goleiro em quadra tanto defensivamente quanto ofensivamente.
Referências
ANSELMO, S. Relação ansiedade estado e desempenho dos goleiros de futsal nas olímpiadas escolares. RevistaBrasileira de Futsal e Futebol, Edição Especial: Pedagogia do Esporte, São Paulo, v.4, n.14, p.263-267. Jan/Dez. 2012FONSECA, C. Futsal: O Berço do Futebol Brasileiro. São Paulo: Aleph, 2007. - (Princípios teóricos para treinadores; v.1). LÉO, L. A. C. Estudo do nível técnico e tático do goleiro de futsal na copa do mundo de 2008. Escola de Educação Física,Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Belo Horizonte, p. 1-38. 2010MUTTI, D. Futsal: Da Iniciação ao Alto Nível. 2ª ed. - São Paulo: Forte, 2003.RIBEIRO, N. A influência do goleiro linha no resultado do jogo de futsal. Revista Brasileira de Futsal e Futebol, São Paulo,v.3, n.9, p.187-198. Set/Out/Nov/Dez. 2011SAAD, M. A. e COSTA, C. F. Futsal: Movimentações Defensivas e Ofensivas. 2 ed. - Florianópolis: Visual Books, 2005.SOARES et al. Os treinadores de futsal de alto nível e a utilização do goleiro/linha. EFDeportes.com, Revista Digital. BuenosAires, Ano 15, Nº 166, março de 2012. Acesso em 07 de agosto de 2019 em: http://www.efdeportes.com/efd166/futsal-de-alto-nivel-e-goleiro-linha.htmVOSER, R. C. Futsal - Princípios Técnicos e Táticos. 2ª ed. - Canoas: Ed. ULBRA, 2001.
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EM SAÚDE BUCAL DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FOZ DOIGUAÇU PARANÁ
1Leonardo Carlini Barbosa
1Cirurgião Dentista graduado pela UNIPAR
Introdução: Nos últimos anos, se tornou constante as tentativas de romper com o modelo hospitalocêntrico, valorizando cadavez mais o trabalho em equipe e com foco no indivíduo (ALVES; AERTS, 2011; CONILL, 2008). Nesse contexto, surge anecessidade do fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (APS), reconhecida como um componente-chave dos sistemasdevido às evidências de seu impacto na saúde e no desenvolvimento das populações, melhorando indicadores; efetivando o fluxode usuários; tornando mais efetivo o tratamento de doenças crônicas; humanizando o cuidado; focando em práticas preventivas;diminuindo as iniquidades sobre o acesso aos serviços e ao estado geral dos usuários (OLIVEIRA; PEREIRA; 2013). Dentre asações inerentes aos profissionais inseridos na Estratégia Saúde da Família (ESF), está a participação no processo deterritorialização, identificando situações de risco e vulnerabilidade, realizando busca ativa e notificando doenças e agravos;cadastrando famílias e indivíduos, garantindo a qualidade dos dados coletados e a fidedignidade do diagnóstico de saúde dogrupo populacional da área adstrita de maneira interdisciplinar. Neste sentido, o Diagnóstico Situacional em Saúde (DSS)representa a fase inicial do processo de planejamento e define-se como um método de identificação e análise de uma realidade,visando propostas de organização das ações a serem tomadas no território pertinente a ESF (SANTOS, 2002).Objetivo: Identificar as demandas e necessidades de atendimento em saúde bucal dos usuários inseridos nos territóriosadscritos a ESF.Materiais e Métodos: O presente DSS em saúde bucal foi realizado entre 01/03/2019 e 31/03/2019, sendo proposta de atividadedo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Federal da Integração Latino Americana(UNILA), realizado na ESF Sol de Maio , localizada no Distrito Sanitário Nordeste do município de Foz do Iguaçu, Paraná. Apesquisa foi baseada em dados secundários, disponíveis para profissionais da saúde vinculados a APS, coletados na plataformaE-SUS. Foram buscadas informações relativas à área de abrangência da ESF, totalizando 5.199 usuários.Resultados: De acordo com os dados relativos à vigilância em saúde bucal, foram relatadas as seguintes informações com osnúmeros de casos entre parênteses: Abscesso dentoalveolar (02); Alteração em tecidos moles (09); Dor de dente (53);Traumatismo dentoalveolar (01); Não identificado (71). Os problemas e condições avaliados de acordo com a ClassificaçãoInternacional de Atenção Primária (CIAP2) foram: Sinais/sintomas dos dentes/gengivas (14); Doença dos dentes/gengiva (118).Informados de acordo com o Cadastro Internacional de Doenças (CID10), foram relatados os seguintes problemas e condições:Síndrome da erupção dentária (01); Dentes inclusos (01); Cárie Dentária (56); Doenças da polpa e dos tecidos periapicais (01);Pulpite (10); Periodontite apical aguda de origem pulpar (02); Gengivite e doenças periodontais (12); gengivite aguda (05);Gengivite crônica (01); Outras doenças periodontais (01); Retração gengival (03); Perda de dentes devido a acidente (03);Transtorno de dentes e de suas estruturas de sustentação (01); Alveolite maxilar (01); Celulite e abscesso de boca (01); Fraturade dentes (06).Discussão: Apesar das dificuldades em romper o velho paradigma de um sistema sanitário elitizado e excludente, foi criado em1994 o Programa Saúde da Família, tendo como inspiração a experiência exitosa do Programa de Agentes Comunitários emSaúde. Hoje conhecido por ESF, devido seu caráter atemporal e permanente, tem como missão reorganizar a atenção em saúde,com foco na atenção básica, implementar os princípios do SUS, trabalhar em adscrição da clientela, acolher e servir de porta deentrada, focar nas práticas de promoção em saúde e incentivar o trabalho em equipe multiprofissional (ARAÚJO; ROCHA, 2007).Ao entender que a atenção em saúde centre-se na família, se busca colocar os profissionais em contato com as condições daspopulações, permitindo-lhes uma compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vãoalém do campo curativista (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). Segundo Ribeiro et al. (2008), os servidores vinculados a ESF devemser capazes de planejar, organizar, desenvolver e avaliar ações que respondam às necessidades da comunidade buscando aarticulação com os mais variados atores sociais envolvidos na promoção da saúde. Nesse contexto, seria o DSS uma ferramentaque auxilia conhecer os problemas e as necessidades sociais, as necessidades de saúde, educação, saneamento, segurança,transporte, habitação, permitindo conhecer como é a organização dos serviços de saúde, qualificando toda a equipe emreconhecer e estar a par das condições que permeiam a área onde atuam.Conclusão: O DSS corresponde a um método eficaz de planejamento e avaliação das ações que devem ser realizadas nasUnidades de Saúde, além de ser norteador, mostrando as maiores demandas, contribuindo para o uso responsável dofinanciamento público e trazendo o profissional da saúde mais próximo da realidade onde está inserido.
ReferênciasALVES, G. G.; AERTS, D. As práticas educativas em saúde e a Estratégia Saúde da Família. Ciência & Saúde Coletiva, v. 16,n. 1, p. 319-325, 2011.ARAÚJO, M. B. S.; ROCHA, P. M. Trabalho em equipe: um desafio para a consolidação da estratégia de saúde da família.Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, n. 2, p. 455-464, 2007.BARBOSA, L. C. Diagnóstico Situacional em Saúde da Unidade de Saúde da Família Sol de Maio - Equipe 014 e 080.2019. 43p. Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família) Universidade Federal da IntegraçãoLatino Americana, Foz do Iguaçu, 2019.CONILL, E. M. Ensaio histórico-conceitual sobre a Atenção Primária à Saúde: desafios para a organização de serviços básicos eda Estratégia Saúde da Família em centros urbanos no Brasil. Cad. Saúde Pública, v. 24, sup. 1, p. 7-27, 2008.OLIVEIRA, M. A. C.; PEREIRA, I. A. C. Atributos essenciais da Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família. Rev BrasEnferm, v. 66 (esp), p. 158-164, 2013.PEREIRA, M. C.; SILVA, P. S. Diagnóstico Situacional em Saúde da Estratégia Saúde da Família São João equipe 073.2018. 53 p. Monografia (Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família) Universidade Federal da IntegraçãoLatino Americana, Foz do Iguaçu, 2018.RIBEIRO, L. C. C. et al. O diagnóstico administrativo e situacional como instrumento para o planejamento de ações na EstratégiaSaúde da Família. Cogitare Enferm, V. 13, n. 3. p. 448-452, 2008.SANTOS, C. H. Subsídios para elaboração do diagnóstico administrativo de enfermagem. Legislações e Normas COREN-MG. Ed. Especial. Belo Horizonte: 2002. Gestão 1999/2002. p. 29-32.
ALEITAMENTO MATERNO NA PREVENÇÃO DO EXCESSO DE PESO INFANTIL: UM ESTUDO DE REVISÃO
1ADRIANA SOARES MOSER, 2MARCELA DE FÁTIMA NOVAK, 3EMANUELLY SHAYENE GARBOZZA, 4SHELZEASHANDARA RECH DOS SANTOS, 5JANAINE POSSO STRAPAZON, 6DURCELINA SCHIAVONI BORTOLOTI
1Discente de Enfermagem, PIC/UNIPAR1Discente de Enfermagem, PIBIC/UNIPAR2Discente de Nutrição, PIC/UNIPAR3Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR4Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR5Docente do Curso de Educação Física, PIC/PIBIC/UNIPAR
Introdução: O aleitamento materno é fundamental na alimentação das crianças menores de dois anos de idade. A OrganizaçãoMundial da Saúde recomenda que os lactentes sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os seis meses de idade(SANTOS; BISPO; CRUZ, 2016). O aleitamento materno é um importante meio de proteção à saúde. Para a mãe é um fator deproteção contra câncer de mama e ovário, e para a criança, proporciona proteção das vias respiratórias, do trato gastrointestinal,contra doenças infecciosas, reduz a morbidade e a mortalidade neonatal e contribui para o ganho de peso adequado, além disso,é isento de contaminação, promove proteção imunológica e estimula o vínculo afetivo entre mãe e filho (CONTARATO et al.,2016). Vários são os fatores bioativos presentes no leite humano entre eles, hormônios que vão atuar sobre o crescimento, adiferenciação e a maturação funcional de órgãos específicos, afetando vários aspectos do desenvolvimento da criança. Contudo,a ausência ou o curto período de aleitamento materno, pode predispor a criança a diferentes fatores de risco, entre eles aliteratura tem destacado a presença da obesidade, que pode acompanhar a criança ao longo de toda sua vida. Nesse sentido, oaumento na prevalência da obesidade infantil, é preocupante devido ao risco aumentado de tornar-se adultos obesos e devido àsvárias condições mórbidas associadas à obesidade (SIQUEIRA et al., 2007). Objetivo: O propósito do presente estudo foi verificar o efeito do aleitamento materno na prevenção do excesso de peso infantil apartir de uma revisão sistemática da literatura.Desenvolvimento: O estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura, onde foram incluídos estudosindexados às seguintes bases de dados nacionais: LILACS, SCIELO e na ferramenta de busca Google Acadêmico, publicados de1990 até julho de 2019. Os estudos deveriam conter resultados publicados a partir de amostras de crianças e adolescentesbrasileiros, cujos desfechos estivessem relacionados a presença e duração do aleitamento materno exclusivo ou não. Osdescritores utilizados para as buscas foram: crianças, adolescentes, aleitamento materno, prevalência, sobrepeso e obesidade.Após a busca e análise dos artigos, apenas nove estudos foram incluídos nesta revisão, sendo que a maioria são estudos decaracterística transversal. Apenas um estudo avaliou adolescentes acima de 12 anos (GARCIA., 2013), os demais avaliaramcrianças e adolescentes até 12 anos de idade. Na distribuição das pesquisas de acordo com regiões do Brasil, observou-se queos estados contemplados foram: Apenas um estudo nos estados de Santa Catarina, Paraná, Sergipe, Rio Grande do Sul e MinasGerais. Dois estudos nos estados de São Paulo e Ceará. O número de participantes variou de 43 (CARRAZZONI et al., 2015) à814 (BUSSATO et al., 2006). A prevalência de sobrepeso e obesidade nas crianças que não receberam aleitamento maternoexclusivo foi maior, em relação as de crianças amamentadas com aleitamento materno exclusivo (SANTOS et al. 2016;CONTARATO et al. 2016). Um dos dados interessantes foi observado no estudo desenvolvido na cidade de Pelotas, sendo que93% das crianças apresentaram excesso de peso, e destas, 95,4% foram amamentadas não exclusivamente com leite materno eo tempo mediano do aleitamento materno exclusivo foi de 4,5 meses (CARRAZZONI et al., 2015). Em um estudo na cidade deCapitólio (MG), verificou-se que o aleitamento materno exclusivo é fator de proteção contra a obesidade na infância,considerando sua duração por seis meses ou mais. Nos dados desta pesquisa verificou uma prevalência de 9,59% de criançascom excesso de peso, onde o aleitamento materno exclusivo até os seis meses ou mais foi verificado em 32,11% das crianças,enquanto que 18,81% nunca receberam aleitamento materno exclusivo (CALDEIRA, 2013). É importante salientar que, estudosencontrados nesta revisão sistemática, avaliou o excesso de peso em relação ao aleitamento materno por meio de diferentesquestionários acerca de peso ao nascer e idade gestacional, amamentação e alimentação complementar, dados antropométricos,entre outros. Além disso, é vale destacar que, a maioria dos estudos revisados relataram efeito protetor do aleitamento maternoquanto a obesidade infantil (ARAÚJO et al. 2016; SIMON et al. 2009).Conclusão: Verificou-se que houve uma grande variação nos dados da prevalência do excesso de peso associadas à ausênciaou tempo inadequado de aleitamento materno de crianças e adolescentes nas diferentes regiões do Brasil. Contudo, destaca-seque o aleitamento materno tem efeito protetor contra excesso de peso e obesidade infantil. Com isso, o aleitamento materno
exclusivo até o sexto mês, deve ser um comportamento incentivado por meio de políticas públicas de saúde, a fim de prevenir oexcesso de peso, obesidade e outras comorbidades na infância e consequentemente na idade adulta.
ReferênciasARAÚJO, M. F. M., BESERRA, E. P., CHAVES, E. S. O papel da amamentação ineficaz na gênese da obesidade infantil: umaspecto para a investigação de enfermagem. Acta Paulista de Enfermagem, Fortaleza, v. 19, n. 4, p. 450-455, 2006.BUSSATO, A. R. M.; OLIVEIRA, A. F; CARVALHO, H. S. L. A influência do aleitamento materno sobre o estado nutricional decrianças e adolescentes. Revista Paulista de Pediatria, São Paulo, v. 24, n. 3, p. 249-254, 2006.CALDEIRA, K. M. S. Excesso de peso e sua relação com a duração do aleitamento materno em pré-escolares de um municípiode Minas Gerais, MG. Dissertação de mestrado. São Paulo, 2013.CARRAZZONI, D. S. et al. Prevalência de fatores na primeira infância relacionados à gênese da obesidade em criançasatendidas em um ambulatório de Nutrição. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo, v. 9, n.50, p. 74-81, 2015.CONTARATO, A. A. P. F. et al. Efeito independente do tipo de aleitamento no risco de excesso de peso e obesidade em criançasentre 12-24 meses de idade. Cadernos de Saúde Pública, v. 32, p. 1-11, 2016.GARCIA, A. R. Influência do Aleitamento Materno na Prevenção da Obesidade em Idade Pediátrica. Revista Nutrícias, n. 16, p.26-29, 2013.SANTOS, A. J. A. O; BISPO, A. J. B.; CRUZ, L. D. Padrão de aleitamento e estado nutricional de crianças até os seis meses deidade. HU Revista, Sergipe, v. 42, n. 2, 2016.SIMON, V. G. N.; SOUZA, J. M. P.; SOUZA, S. B. Aleitamento materno, alimentação complementar, sobrepeso e obesidade empré-escolares. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 43, p. 60-69, 2009.SIQUEIRA, R. S.; MONTEIRO, C. A. Amamentação na infância e obesidade na idade escolar em famílias de alto nívelsocioeconômico. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, p. 5-12, 2007.
O ENFERMEIRO NO CUIDADO AO PACIENTE EM QUADRO CLÍNICO DE SEPSE
1VANESSA LEOPOLDINO DE MORAIS, 2ANDRESSA PAOLA DE OLIVEIRA Q. MARTINS
1Acadêmica do Curso de Enfermagem-UNIPAR1Enfermeira e Docente da UNIPAR
Introdução: Sepse é conceituada como uma síndrome clínica decorrente de um processo infeccioso, caracterizada pelapresença de sinais e sintomas de resposta inflamatória sistêmica, podendo levar a disfunção de múltiplos órgãos e à morte (ILAS,2018). No ambiente de cuidado intensivo, há um risco superior de desenvolvimento de sepse, pois há pacientes em estado críticode saúde, sendo indispensável assim, a atuação do profissional enfermeiro para tratamento em tempo oportuno, por meio doreconhecimento de sinais clínicos e consequentemente intervenções condizentes com o quadro do paciente (VIANA; MACHADO;SOUZA, 2017).Objetivo: Descrever a atuação do profissional de enfermagem quando o paciente apresenta-se em quadro séptico.Desenvolvimento: Quando o enfermeiro atuante na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) se envolve no cuidado direto aassistência, conhece as condições de saúde do paciente, acompanha a sua monitorização e evolução clínica diariamente, tendoa responsabilidade de reduzir o índice de sepse neste ambiente e proporcionar tratamento efetivo aos casos existentes, pormeio de intervenções eficazes (SIQUEIRA et al., 2011). Ramalho Neto et al. (2011), mencionam que a função do enfermeiro naassistência ao paciente em sepse está ligada a aplicação do processo de enfermagem, com a identificação dos diagnósticos deenfermagem e o levantamento das intervenções necessárias, uma vez que esse processo trará uma assistência de qualidade eintegral ao indivíduo. Siqueira et al. (2011), destaca ações assistenciais para redução de sepse, como a administração adequadade medicamentos, seguindo a regra dos nove certos (paciente, medicamento, dose, via hora, tempo, validade, abordagem eregistro certo), o zelo pela higiene e limpeza durante qualquer cuidado assistencial, a realização de procedimentos com técnicaasséptica e o controle de exames laboratoriais, objetivando a identificação do microrganismo causador da infecção. Já Silva,Ferreira e Gonçalves (2012), pontuam como cuidados de enfermagem o controle hemodinâmico do paciente, a verificaçãorigorosa de sinais vitais, assim como a higienização correta das mãos antes e após qualquer contato com o paciente ou ambientepróximo ele. Ramalho Neto et al. (2015) reforçam a necessidade de realizar culturas, analisar o índice de leucócitos, controlar aglicemia, realizar soroterapia, proporcionar oxigenoterapia quando necessário e realizar a troca de sondagem.Conclusão: Diante das diversas atividades de assistência que envolvem o paciente em sepse, conclui-se que os enfermeirossão profissionais que possuem elevada atuação em um paciente com quadro séptico dentro de uma UTI. Essas funçõesidentificadas quando aplicadas pelos enfermeiros contribuem para redução da mortalidade associada à clínica de sepse, poispermitem que seja aplicado uma assistência de melhor qualidade.
ReferênciasINSTITUTO LATINO AMERICANO DA SEPSE. Implementação de protocolo gerenciado de sepse. Protocolo clínico.Atendimento ao paciente adulto com sepse / choque séptico. Ago. 2018. Disponível em:https://www.ilas.org.br/assets/arquivos/ferramentas/protocolo-de-tratamento.pdf. Acesso em: 23 de mar. de 2019.RAMALHO NETO, J. M. et al. Concepções de enfermeiros que atuam em unidade de terapia intensiva geral sobre sepse.Revista Cogitare Enfermagem, v.20, n.4, p.711-716, out./dez. 2015. Disponível em:https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/41963/26636. Acesso em: 23 de mar. de 2019.RAMALHO NETO, J, M. et al. Processo de enfermagem e choque séptico: os cuidados intensivos de enfermagem. Rev enfermUFPE on line. , v.5, n.9, p.2260-7, 2011. Disponível em:https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/7009/6258. Acesso em: 19 de jun. de 2019.SIQUEIRA, B. F. et al. Concepções de enfermeiros referentes à sepse em pacientes em terapia intensiva. Revista Enferm.UFPE on line, v.5, n.1, p.115-121, 2011.Disponível em: https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/6668.Acesso em: 22 de jun. de 2019.SILVA, P. S.; FERREIRA, F. C. M.; GONÇALVES, J. M. O cuidado do enfermeiro na terapia intensiva ao paciente com sinais desepse grave. Rev enferm UFPE on line, v.6, n.2, p.324-31, 2012. Disponível em:https://pdfs.semanticscholar.org/1416/f4ed759304f346e7175f1799470493d0997b.pdf. Acesso em: 22 de jun. de 2019.VIANA, R. A. P. P.; MACHADO, F. R.; SOUZA, J. L. A. Sepse, um problema de saúde pública: a atuação e colaboração daenfermagem na rápida identificação e tratamento da doença. Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. InstitutoLatino Americano de Sepse. 2ª ed. São Paulo: COREN-SP, 2017. Disponível em:https://ilas.org.br/assets/arquivos/ferramentas/livro-sepse-um-problema-de-saude-publica-coren-ilas.pdf. Acesso em: 08 de abr.
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM CRECHES E PRÉ- ESCOLAS
1MARISA CASSIA VIEIRA DE ARAUJO BENTO, 2BARBARA DE SOUZA ARCANJO, 3IRINEIA PAULINA BARETTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem/PIC da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem/PIC da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: A aglomeração de crianças e a imaturidade do sistema imunológico próprio da infância podem favorecer oadoecimento, sendo as doenças infecciosas e parasitárias as mais prevalentes (VASCONCELOS; TANCREDI; MARIN, 2013).Uma vez com a saúde debilitada a criança precisa de repouso e requer cuidados especiais. Frente a isto profissionais de saúdequalificados devem acompanhar as crianças frequentadoras de creches, podendo desta forma contribuir para a redução deagravos de doenças subsidiando a atenção prestada pelos serviços de saúde (SOUZA et al., 2013).Objetivo: Ressaltar a importância da educação em saúde em creches e pré- escolas.Desenvolvimento: A transmissibilidade de um agente depende das características próprias do microorganismo, de seu modo depropagação, número de microorganismos necessários para que ocorra a infecção, resistência ao ambiente e existência deportadores assintomáticos. Em um centro infantil características relacionadas ás crianças também podem influenciar napropagação da infecção, assim como tamanho das salas, numero de funcionários por criança e hábitos de higiene no cuidadocom o ambiente e com as próprias crianças (NEST; GOLDBAUM, 2007). Silva et al. (2015) evidenciaram através de estudorealizado em creches do município de Itapuranga GO que fatores de risco para enteroparasitoses podem estar relacionados aonúmero elevado de crianças por sala de aula, preparo dos alimentos por manipuladores, compartilhamento de sabonetes duranteo banho e principalmente precariedade de ações em educação em saúde.Seus resultados mostram ainda que as condições dehigiene dos ambientes onde as crianças estão inseridas também contribui de forma relevante para a prevalência de parasitosesintestinais, concluindo que há uma significativa prevalência dessas parasitoses em crianças na faixa etária de zero a seis anos, oque pode representar um problema de saúde pública, fato este que evidencia a necessidade de um maior engajamento dosprofissionais da área da saúde no que tange a elaboração e execução de projetos de educação em saúde. Costa et al. (2017) aorealizarem estudo em Centro Municipal de Educação Infantil de Divinópolis MG, demonstraram uma prevalência de 15,3% depediculose de cabeça, frente a uma amostra de 326 crianças em idade entre 2 a 5 anos, concluindo que a pediculose continuasendo um agravo de saúde entre esta população e justifica a necessidade do olhar cuidadoso dos profissionais da saúde emrelação a esta problemática. Estudo realizado em município de Santa Catarina com crianças em idade pré-escolar, apresentaprevalência de 65,6% de parasitoses intestinais entre as 99 amostra de fezes colhidas e Costa et al. (2015) ao apresentaremesse resultado ressaltam a importância de medidas de prevenções frente a esta realidade.Conclusão: A atuação do enfermeiro em educação e saúde pode minimizar agravos e doenças, através de informaçõesrelacionadas aos hábitos tanto dos cuidadores quanto das próprias crianças através da promoção de orientações baseadas nasprincipais formas de prevenção dos agravos mais prevalentes nesta população.
ReferênciasCOSTA, Cássia Cristina; et.al. Prevalência de pediculose de cabeça em crianças inseridas em creches municipais de educaçãoinfantil. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro, v. 7, Out. 2017. Disponível em:http://seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/1558. Acesso em: 06 Set. 2019.COSTA, Tanise Duarte; et.al. Análise de enteroparasitoses em crianças em idade pré-escolar em município de Santa Catarina,Brasil. Revista Prevenção de Infecção e Saúde, v. 1, Ago. 2015 Disponível em:https://www.researchgate.net/publication/321692331_Analise_de_enteroparasitoses_em_criancas_em_idade_pre-escolar_em_municipio_de_Santa_Catarina_Brasil/link/5c2e70f1299bf12be3ab2eb5/download. Acesso em: 07 Set. 2019.NESTI, Maria M. M.; GOLDBAUM, Moisés. As creches e pré-escolas e as doenças transmissíveis. Jornal da Pediatria. (Rio J.), Porto Alegre , v. 83, n. 4, p. 299-312, Ago. 2007 . Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75572007000500004&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 07 Set. 2019. SILVA, Andre; et.al. Epidemiologia e prevenção de parasitoses intestinais em crianças das creches municipais de Itapuranga GO. Revista Eletrônica Faculdade Montes Belos, v.8 n.2, 2015. Disponível em:http://revista.fmb.edu.br/index.php/fmb/article/view/18. Acesso em: 06 Set. 2019.SOUZA, Manoel Messias Alves; et.al. Promoção de comportamentos saudáveisem pré-escolares. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, v. 16 n.3, 2013. Disponível em:https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/2945 .Acesso em: 06 Set. 2019.
VASCONCELOS, Rafaela Moledo ; TANCREDI, Rinaldini Coralini Philippo; MARIN, Victor Augustus. Políticas e normativasaplicadas às creches municipais do Rio de Janeiro. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 18, n. 11, p. 3281-3290, Nov. 2013 . Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232013001100018&lng=en&nrm=iso>.Acesso em 06 Set. 2019.
CARACTERIZAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA DE MULHERES QUE REALIZAM O EXAME PREVENTIVO DO COLO UTERINO EMUMA UNIDADE DE SAÚDE
1HELOYSE NATHELLY RODRIGUES DUTRA, 2ANNE GABRIELLA PACITO MONTEIRO, 3JULIANA DA SILVA VIGO,4TATIANE SILVA CASTELLINI, 5DAIANE CORTEZ RAIMONDI
1Academica do PIC/ UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O Câncer do Colo do Útero é considerado um problema de saúde pública devido as altas taxas demorbimortalidade. A doença raramente acomete mulheres antes dos 30 anos apresentando um pico de incidência entre 45 a 50anos (DIAS; MICHELETTI; FRONZA; ALVES; ATTADEMO; STRAPASSON, 2019). Frente a gravidade da doença destaca-se aimportância da realização periódica do exame preventivo do colo do útero que é preconizado para mulheres de 25 a 64 anos,sendo disponibilizado gratuitamente nas unidades de saúde brasileiras e possui o objetivo de prevenir e diagnosticarprecocemente o câncer do útero e suas lesões precursoras (INCA, 2016).Objetivo: Identificar a faixa etária de mulheres que realizaram o exame citopatológico do colo do útero em uma Unidade deSaúde.Metodologia: O presente estudo apresenta dados parciais de uma pesquisa retrospectiva documental realizada entre abril ejunho de 2019 por acadêmicas do Curso de Enfermagem participantes do Projeto de Iniciação Científica - PIC da UNIPAR emcompanhia com a professora orientadora. Os dados foram extraídos dos livros de registro dos anos de 2016-2018 de examescitopatológicos do colo uterino de uma Unidade Básica de Saúde Escola da região Sul do Brasil. Para o desenvolvimento dapesquisa foi solicitado autorização da Secretaria Municipal de Saúde, após aprovação foi realizado o envio ao Comitê deÉtica em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPEH) da Universidade Paranaense - UNIPAR, sendo aprovado pelo parecer2.825.635. Os dados dos livros de registros foram exportados e tabulados em planilhas, sendo posteriormente realizada a análisepor meio da estatística descritiva. O projeto de pesquisa cumpriu todas as exigências éticas estabelecidas na Resolução CNS no.466/2012.Resultados: Verifica-se que 1.278 exames foram realizados entre os anos de 2016 a 2018, no qual pode-se contatar que 171(13,38%) mulheres apresentaram idade inferior a 25 anos; 101 (7,9%) com 25 a 29 anos; 209 (16,35%) entre 30 a 39 anos; 250(19,56%) entre 40 a 49 anos; 314 (24,57%) mulheres estavam na faixa etária de 50 a 59 anos; 108 (8,45%) de 60 a 64 anos; 55(4,30%) mulheres entre 65 a 69 anos; 49 (3,83%) de 70 a 79 anos; 7 (0,55%) de 80 anos ou mais e 14 (1,09%) mulheres nãoconstava dados referentes a data de nascimento no livro de registro.Discussão: É possível observar que a maior parte das mulheres que realizaram o exame preventivo na unidade estudadaapresentaram faixa etária entre 25 a 64 anos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, sendo que as mulheres com idadeentre 50 a 59 anos foram as que apresentaram maior adesão ao exame, sendo seguidas pela população feminina de 40 a 49anos. Estes dados são importantes, visto que estão de acordo com a faixa etária das mulheres que são acometidas pelo câncerdo colo do útero, sendo assim de grande relevância a realização do exame preventivo neste período para detectar precocementelesões precursoras e prevenir o câncer do colo do útero. Há estudos que diferem da presente pesquisa, onde identificaram que afaixa etária predominante para realização do exame preventivo foi de 20 a 49 anos (MIRANDA, 2010), bem como outro estudoconstatou que a média de idade foi de 41 anos (RODRIGUES; SCHÖNHOLZER; LEMES, 2016). É válido mencionar que haviano livro de registro ausência da data de nascimento de algumas mulheres (1,09%) o que deve ser evitado, visto sua relevância naanálise situacional das mulheres que realizam o exame, bem como para planejamento da unidade de saúde. Cabe salientar oimportante papel do profissional enfermeiro na sensibilização das mulheres da área de abrangência para realização do examepreventivo, bem como a adesão de hábitos saudáveis que visem prevenir o câncer de colo do útero, sendo de grande relevânciacampanhas de educação em saúde e busca ativa das mulheres elegíveis ao exame.Conclusão: Embasado na pesquisa realizada pode-se afirmar que a busca e interesse na realização do exame citopatológicoteve um alcance maior, principalmente na faixa etária mais acometida pela doença sendo de grande relevância para detecçãoprecoce e prevenção de complicações.
Referências
DIAS, Carolline Fredes; MICHELETTI, Vania Celina Dezoti; FRONZA, Edegar; ALVES, Juliana da Silva; ATTADEMO, CarolinneVargas; STRAPASSON, Márcia Rejane. Perfil de Exames Citopatológicos Coletados em Estratégia de Saúde da Família. RevistaOnline de Pesquisa Cuidado é Fundamental, p. 192-198, Jan/Mar. 2019. Disponível em:http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/viewFile/6937/pdf_1. Acesso em: 15 ago. 2019.INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer docolo do útero. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede. 2. ed.rev. atual. Rio de Janeiro: INCA, 2016.MIRANDA, Márcia Pires. Conhecendo as mulheres que realizam o exame papanicolauna estratégia saúde da família emNovo Cruzeiro/MG. Trabalho de Conclusão de Curso. Especialização Atenção Básica em Saúde da Família, UniversidadeFederal de Minas Gerais. 2010. Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2410.pdf. Acesso em: 19ago. 2019.RODRIGUES, Juliana Zenaro; SCHÖNHOLZER, Tatiele Estefâni; LEMES, AlisséiaGuimarães. Perfil das mulheres que realizam o exame Papanicolau em uma Estratégia de Saúde da Família. J Nurs Health.2016;6(3):391-401. Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/enfermagem/article/view/7346/6917. Acesso em:19 ago. 2019.
EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO UTERINO: RESULTADOS ENCONTRADOS
1ANNE GABRIELLA PACITO MONTEIRO, 2HELOYSE NATHELLY RODRIGUES DUTRA, 3JULIANA DA SILVA VIGO,4TATIANE SILVA CASTELLINI, 5DAIANE CORTEZ RAIMONDI
1Academica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O câncer do colo do útero é o terceiro que mais acomete a população feminina, sendo o quarto tipo de câncerresponsável pela mortalidade deste público. Há estimativas de 16.370 novos casos de câncer do colo do útero no Brasil no anode 2018 (INCA, 2019). Diante das altas taxas de morbimortalidade da doença, é importante destacar que o exame citopatológicodo colo do útero é a forma mais eficaz de detectar o câncer do colo do útero e quando diagnosticado precocemente eleva aschances de cura. Este exame está disponível gratuitamente nas unidades de saúde, sendo preconizado para mulheres de 25 a64 anos que possuem vida sexual ativa ou já tiveram relações sexuais (INCA, 2019). Vale ressaltar que a atenção primária tempapel fundamental como porta de entrada para o cuidado em saúde, que vai desde a busca ativa pelas mulheres que seenquadram na faixa etária preconizada, acolhimento até a realização do exame e os devidos encaminhamentos. Cabe aoprofissional enfermeiro realizar o exame citopatológico do colo do útero, além de ações de educação em saúde, salientando oscuidados com o corpo, hábitos sexuais seguros, sinais de alerta enfatizando a importância da realização do exame na detecçãoprecoce e prevenção do câncer de colo uterino (BRASIL, 2013; MELO et al, 2012).Objetivo: Identificar os resultados dos exames preventivos do colo do útero realizados por mulheres no ano de 2018 em umaunidade escola da região Sul do Brasil.Material e métodos: Trata-se de dados parciais de uma pesquisa retrospectiva documental realizada entre abril e junho de 2019através da análise do livro de registro dos exames citopatológicos do colo uterino de uma Unidade Básica de Saúde Escola daregião Sul do Brasil. Para o desenvolvimento da pesquisa foi solicitado autorização da Secretaria Municipal de Saúde, envio aoComitê Permanente de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (COPEP) da Universidade Paranaense - UNIPAR,sendo aprovado pelo parecer CAAE 94762318.4.0000.0109. Foram coletados pelas acadêmicas participantes do Projeto deIniciação Científica PIC da Unipar os resultados dos exames preventivos realizados pelas mulheres no ano de 2018. Os dadosdos livros de registros foram exportados e tabulados em planilhas, sendo posteriormente realizada a análise por meio daestatística descritiva. Cabe mencionar que o projeto de pesquisa cumpriu todas as exigências éticas estabelecidas na ResoluçãoCNS no. 466/2012.Resultados: Na unidade de saúde pesquisada foram realizadas 392 coletas de exames citopatológicos do colo uterino pelaenfermeira e acadêmicos do Curso de Enfermagem no ano de 2018. Pode-se constatar que os exames foram realizados pormulheres com menos de 25 anos até 80 anos ou mais. Em relação aos resultados dos exames, destaca-se que 240 (61,22%)obtiveram resultados normais; 74 (18,87%) mulheres apresentaram inflamação sem agente etiológico, 40 (10,20%) foramdiagnosticados com bacilos supracitoplasmáticos sugestivos de Gardnerella vaginalis; 13 (3,31%) exames sugestivos deCandida albicans; 19 (4,84%) constavam atrofia com inflamação e 06 (1,53%) exames não constavam o resultado no livro deregistro.Discussão: Observa-se que a maioria das mulheres (61,22%) apresentaram resultado do exame dentro dos limites denormalidade, sendo seguidos por alterações benignas, no qual não foi constatado lesões precursoras do câncer do colo do útero.Isto pode estar relacionado com os hábitos das mulheres e a periodicidade da realização do exame. Verifica-se que as mulheresapresentaram Gardnerella vaginalis e Candida albicans que são responsáveis por infecções endógenas, porém não sãoconsideradas infecções sexualmente transmissíveis, visto que compõem a flora vaginal e são constatados quando ocorre odesequilíbrio desta (BRASIL, 2015). Outros estudos constataram a prevalência de fungos do gênero Candida albicans em42,86% dos exames preventivos (SÁ et al, 2012) e da Gardnerella vaginalis em 61,04% dos exames (TONINATO et al, 2016),corroborando com os dados da presente pesquisa que apresentou tais infecções com prevalência menores. É válido mencionarque foram constatados exames sem o resultado registrado no livro destinado para esta finalidade, sendo este um fatopreocupante, visto que esse registro é importante para o planejamento de ações da unidade, além do monitoramento, assistênciae encaminhamento diante do resultado apresentado.Conclusão: Diante da pesquisa realizada pode-se concluir que o exame preventivo foi realizado por mulheres em diferentes
faixas etárias que já tiveram relação sexual, no qual a maioria apresentou resultados normais, reforçando assim a importância darealização do exame periodicamente para prevenir e diagnosticar precocemente o câncer do colo do útero e suas lesõesprecursoras. Além disso, é válido salientar a necessidade de sensibilização da equipe de saúde sobre a importância de registrartodos os resultados no livro de registro para garantir uma assistência de qualidade e integral a estas mulheres.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Controle dos cânceres de colo de útero e de mama. Brasília:Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica de Saúde, Ministério da Saúde; 2013.BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS CONITEC. Protocolo Clínico eDiretrizes Terapêuticas Infecções Sexualmente Transmissíveis. Brasília: 2015.INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estatísticas de câncer: Colo do útero. 2019. Disponível em:https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer. Acesso em: 16 ago. 2019.MELO, Maria Carmen Simões Cardoso de. et al. O Enfermeiro na Prevenção do Câncer do Colo do Útero: o Cotidiano daAtenção Primária. Revista Brasileira de Cancerologia 2012; 58(3): p. 389-398SÁ, Márcia Caroline Nascimento et al. Isolamento de Candida no esfregaço cérvico-vaginal de mulheres não gestantesresidentes em área ribeirinha do Estado do Maranhão, Brasil, 2012. Rev Pan-Amaz Saude 2014; 5(1):25-34. Disponível em:http://scielo.iec.gov.br/pdf/rpas/v5n1/v5n1a04.pdf. Acesso em: 18 ago. 2019.
ANALISE DO NIVEL DE POTÊNCIA DE MEMBROS INFERIORES EM POLICIAIS MILITARES DA REGIÃO NOROESTE DOPARANÁ
1JULIO CEZAR CAUASSA MACIEL, 2RENAN AUGUSTO VENDRAME DA SILVA, 3EDSON LUIZ MUCHELIN, 4CLAUDINEIDOS SANTOS, 5VITOR HUGO RAMOS MACHADO
1Discente de Fisiologia do Exercício, PÓS/UNIPAR1Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR2Discente de Fisiologia do Exercício, PÓS/UNIPAR3Profissional de Educação Física, UNIPAR4Docente de Educação Física, UNIPAR
Introdução: É responsabilidade do Policial Militar (PM) proteger e promover a segurança, tendo como desafios a violência e acriminalidade. Para o bom exercício de sua profissão, o PM deve apresentar níveis de saúde satisfatórios e condicionamentofísico adequado (EL HAGE; REIS FILHO, 2013). Para manter bons níveis de saúde e aprimorar o condicionamento físico éfundamental apresentar uma boa condição cardiorrespiratória, resistência e força muscular (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2003).Sendo assim, a presente pesquisa tem como objetivo analisar o nível da potência muscular de membros inferiores em policiaismilitares de uma cidade do Noroeste do Paraná.Metodologia: A pesquisa tem caráter descritivo de cunho quantitativo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética daUniversidade Paranaense sob o protocolo 72639617.5.0000.0109. A amostra foi composta por 94 policiais, do sexo masculinopertencentes a uma cidade do Noroeste do Paraná. Foram inclusos no estudo militares efetivos que estivessem aptos pararealizar os testes físicos, e excluídos aqueles que apresentaram algum tipo de incapacidade motora ou acometimento na saúde.A coleta de dados foi realizada na Universidade Paranaense no ano de 2018, os indivíduos foram avaliados no período matutinocom 2 a 3 horas de estado pós-absortivo e iniciada após os militares ficarem 5 minutos em repouso, foram guiados para aavaliação antropométrica, que consistiu em Massa Corporal (kg), Estatura (cm) e Índice de Massa Corporal (kg/m2). A potênciamuscular de membros inferiores foi avaliada por três testes, o primeiro foi o Squat Jump (SJ) e o segundo foi o CountermovimentJump. Ambos os testes seguiram o protocolo proposto por Komi e Bosco (1978). O terceiro teste executado foi o Salto Horizontal,em que os avaliados foram orientados a seguirem o protocolo proposto por Safrit (1995). Foram concedidas duas tentativas paracada indivíduo, predominando a maior desempenho alcançado em cada um dos testes realizados. Resultados: Os resultados referentes as características morfológicas dos policiais militares apresentaram uma idade média de34,0±7,11 anos, peso corporal de 82,65±11,23 kg, estatura média de 175,9±6,36 cm. A variável antropométrica do índice demassa corporal (IMC) apresentou valores de 26,52±2,8 kg/m2. As variáveis de potência analisadas na pesquisa foram expressasem média e desvio padrão. O squat jump apresentou valores de 25,5±9,9 cm em média, o countermoviment jump 31,6±4,35 cmde média e o salto horizontal 208,0±20,5 de média. Discussão: Atualmente poucos são os trabalhos publicados que analisam a potência de membros inferiores em PMʼs. Sendoassim, na recente pesquisa foi discutido as diferenças fisiológicas que incfluenciam no desempenho das variáveis estudadas. Omovimento do salto vertical inclui fatores neuromusculares, metabólicos e biomecânicos, que podem ter seus resultadospotencializados devido a utilização de recursos tecnológicos associados a dados relevantes dentre outras manifestações deforça. O SJ e o CMJ são dois saltos com caraterísticas semelhantes, que exigem uma alta demanda técnica na execução(RAFAEL et al. 2008). O fenômeno que explica a utilização da energia elástica foi denominado de Ciclo Alongamento-Encurtamento (CAE). O mecanismo mencionado acontece porque há um acúmulo de energia potencial elástica, que é geradapela ação dos elementos contráteis e elásticos dos músculos, durante o período de flexão das articulações. No entanto, énecessário a realização das fases de flexão e extensão, negativa e positiva, respectivamente, em um passageiro intervalo detempo, já que o calor consegue dizimar a energia armazenada nos componentes elásticos (TRÓCOLI; FURTADO, 2009). Com talcaracterística, o aumento da força aplicada sobre os segmentos e, consequentemente, o aumento do torque provocado sobre asarticulações envolvidas, acontece através da deformação elástica sofrida da ordem de 2%, ocorrida em breve espaço de tempo,entre 100 e 200ms aproximadamente (ROBERTS, 2002). O SH, assim como os saltos mencionados acima, mensura a forçaexplosiva e potência dos membros inferiores, mesmo que a mecânica e dinâmica do movimento do salto se diferem (DAL PUPOet al. 2012). Por outro lado, os pesquisadores têm estudado os fatores que podem contribuir para a melhora da performance dossaltos verticais, assim como medidas antropométricas, mobilidade articular, técnica e produção da força (DAVIS, et al. 2003.).Além disso o salto horizontal tem como principal via energética o sistema ATP-CP ou via glicolítica (MCARDLE; KATCH; KATCH,
2014).Conclusão: Conclui-se que os resultados encontrados na atual pesquisa estão em conformidade com os valores obtidos naliteratura. Dessa maneira o CMJ possui efeitos fisiológicos benéficos que fazem com que seu desempenho seja superior ao SJ,mesmo sendo dois saltos com características bastante parecidas quanto a sua execução e fornecimento de energia.
ReferênciasDAL PUPO, J. et al.; Parâmetros cinéticos determinantes do desempenho nos saltos verticais. Rev Bras Cin. Des. Hum.1(14):41-51. 2012.DAVIS, D.S. et al. Physical characteristics that predict vertical jump performance in recreational male athletes. Physical Therapyin Sport 4, 167-174. 2003.EL HAGE, C.; REIS FILHO, A.D. Análise do desempenho físico e perfil antropométrico dos alunos do 28 curso de formação desoldados da PM/MT CESP após 12 semanas de treinamento físico. Rev. Bras. Pres. Fis. Exerc. São Paulo. v.7. n.41. p.498-505. 2003.KOMI, P.V.; BOSCO, C. Utilization of stored elastic energy in leg extensor muscles by men and women. J. Sci Med Sport. 10:261-265. 1978.MCARDLE, W.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Fisiologia do Exercício: energia, nutrição e desempenho humano. 5ª edição. Riode Janeiro: Guanabara Koogan. 2003.MCARDLE, W.D.; KATCH, F.I.; KATCH, V.L. Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance. 8. ed.Lippincott Williams & Wilkins. 1088 p. 2014.RAFAEL, M.A.; et al. Salto vertical sem contra-movimento a partir de flexão de joelhos acima de 120º e corrida de velocidade de30m a partir do repouso. Fit Perf J. 7(5): 319-25. 2008.ROBERTS, T.J. The integrated function of muscles and tendons during locomotion. Comparative Biochemistry and Physiology.Part A, Molecular & Integrative Physiology. 133(4): 1087-99. 2012.SAFRIT, M.J. Complete guide to youth fitness testing. Champaign: JHKʼs. 1995.TROCÓLI, T.O.; FURTADO, C. Fortalecimento muscular em hemiparéticos crônicos e sua influência no desempenho funcional.Res. Neurocienc. 17(4):336-41. 2009.
SABER PARA INFORMAR: CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO SOBRE PLANTAS MEDICINAIS COM PROPRIEDADES CICATRIZANTES
1MARISA CASSIA VIEIRA DE ARAUJO BENTO, 2BARBARA DE SOUZA ARCANJO, 3IRINEIA PAULINA BARETTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem/PIC da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Docente do Programa de Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterapicos na Atenção Basica
Introdução: A utilização de plantas medicinais é uma relevante alternativa no tratamento de feridas e começa a fazer parte da atenção á saúde brasileira. (PIRIZ;2014). O enfermeiro que detém conhecimento a respeito das plantas, poderá utilizá-las na sua assistência ao processo de cicatrização de feridas e valorizar o saberpopular, oferecendo um cuidado mais humano e significativo.(VARGAS; 2014)Objetivo: Ampliar a visão holística da enfermagem na atuação de forma complementar ao tratamento medicamentoso no processo de cicatrização de feridas.Desenvolvimento: Pesquisas tem sido realizadas com a finalidade de se descobrir novas formas terapêuticas para o tratamento de feridas (RAMALHO; 2018). Osaber cientifico deve respaldar o saber popular, ampliando as pesquisas sobre a utilização de plantas medicinais de modo a garantir uma assistência integral eacolhedora por parte dos profissionais da área da saúde. (PIRIZ; 2015). Vargas, 2014, em levantamento bibliográfico relacionado as plantas medicinais indicadaspara cicatrização por agricultores do Sul do Rio Grande do Sul, chegou a conclusão que 86% das plantas por eles indicadas condizem com estudosfarmacológicos/clínicos, ressaltando a importância do enfermeiro em estimular o uso de plantas medicinais com efeitos comprovados baseados em um relação derespeito e considerando o saber de cada pessoa. O Ministério da Saúde brasileiro, através da implementação da Política Nacional de Plantas Medicinais eFitoterápicos (PNPMF) visa estimular a inserção de práticas complementares de cuidado no Sistema Único de Saúde (BRASIL; 2006). Piriz,2014, ao realizarlevantamento bibliográfico sobre estudos experimental ou clínico publicados entre os anos 1993 a 2013, relacionados a 52 plantas e um composto de ervas,constatou que 46 destas apresentaram potencial elevado de cicatrização de feridas, podendo ser utilizadas como terapia em processos de cura de feridas, dentreas plantas estudadas estão Aloe vera (L.) Burm. f. , Calendula officinalis L. Ginseng rubra Radix Stryphnodendron barbatiman (Mart)., e relatou que o Brasil merecedestaque em sua pesquisa bibliográfica, por ter 13 publicações de pesquisa sobre os efeitos de plantas medicinais na cicatrização, seguido da Índia com 11, osEstados Unidos com cinco, Cuba com quatro, Turquia com três estudos. Monte, 2018, apresenta uma revisão de literatura com 17 estudos in vivo com plantas quemostraram eficácia na cicatrização de feridas, com variados mecanismos tais como a síntese de colágeno, angiogênese e aumento de fibroblastos responsável pelodesbridamento e remodelamento fisiológico, aparecem nesses estudos a Pupalia lappacea , Anadenanthera colubrina var. Cebil , Copaífera multijuga , Bryophyllumcalycinum Salisb, Tropaeolum majus , Bixa orellana L., samambaia Ophioglossum vulgatum L., entre outras. Chini, 2017, após revisar 7 estudos realizados comAloe vera evidenciou que produtos á base desta planta aceleram o processo de cicatrização de feridas agudas e crônicas, quando comparados com placebo,sulfadiazina de prata e gaze sem agente tópico, além de diminuir a dor em fissuras anais crônicas e queimaduras, apresentando-se como nova terapêutica notratamento de feridas, porém faltando ainda ensaios clínicos com métodos bem delineados.Conclusão: Muitos estudos estão sendo realizados a fim de comprovar a ação das plantas medicinais em cicatrização de feridas. O enfermeiro deve buscar oconhecimento dessa terapêutica complementar com o intuito de aplicá-la no prestar do cuidado e também na orientação da população.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.CHINI, Lucelia.Terra. et al . O uso do Aloe sp (aloe vera) em feridas agudas e crônicas: revisão integrativa. Aquichan, Bogotá , v. 17, n. 1, p. 7-17, Jan. 2017 .Disponível em: . Acesso em 05 Aug. 2019.MONTE, Nayane Leal; et al. O uso das plantas medicinais na cicatrização das feridas: uma revisão integrativa. Disponível em:https://editorarealize.com.br/revistas/conbracis/trabalhos/TRABALHO_EV108_MD1_SA4_ID1367_21052018135342.pdf. Acesso em: 01 Ago. 2019PIRIZ, Manuelle; et al. Uso popular de plantas medicinais na cicatrização de feridas: implicações para a enfermagem. Revista Enfermagem Uerj, v. 23, n. 5, 2015 Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/5624/18600 Acesso em: 02 Ago.2019.PIRIZ, Manuelle; et al. Plantas medicinais no processo de cicatrização de feridas: uma revisão de literatura. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.16, n.3,Set. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-05722014000300020&lng=en&nrm=iso&tlng=pt Acesso em: 03 Ago. 2019.RAMALHO, Marcia Pinheiro; et al.Plantas Medicinais no processo de cicatrização de feridas: revisão de literatura. Revista Expressão Católica Saúde, v. 3, n. 2,Jul Dez. 2018. Disponível em:https://www.researchgate.net/publication/329722838_PLANTAS_MEDICINAIS_NO_PROCESSO_DE_CICATRIZACAO_DE_FERIDAS_REVISAO_DE_LITERATURA
VARGAS, Natalia Rosiely Costa.; et al. Plantas medicinais utilizadas na cicatrização de feridas por agricultores da região sul do RS. Revista de Pesquisa Cuidadoé Fundamental Online, v. 6, n. 2, Abr-Jun. 2014. Disponível em: http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/2801/pdf_1240. Acesso em:04 Ago. 2019.
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UM ESTUDO DE REVISÃO
1MARCELA DE FATIMA NOVAK, 2ADRIANA SOARES MOSER, 3JANAINA DA SILVA MACHADO, 4SHELZEA SHANDARARECH DOS SANTOS, 5ANDRÉ FERNANDO PASSOS DE OLIVEIRA , 6DURCELINA SCHIAVONI BORTOLOTI
1Discente de Enfermagem, PIBIC/UNIPAR1Discente de Enfermagem, PIC/UNIPAR2Discente de Educação Física, PIBIC/UNIPAR3Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR4Discente do Nutrição, PIC/UNIPAR5Docente do Curso de Educação Física, PIC/PIBIC/UNIPAR
Introdução: Nas últimas décadas, as alterações metabólicas observadas em crianças e adolescentes tem causadopreocupações à saúde pública, principalmente pelo aumento da obesidade. A obesidade infantil é considerada uma doença e quepode associar-se a doenças crônicas e degenerativas, com agravos na idade adulta (PAIVA et al, 2018). Essa patologia emcrianças e adolescentes, tem se tornado um desafio para profissionais em saúde, que visam buscar estratégias de prevenção outratamento para obesidade infanto-juvenil e em consequência seus agravos. Dentre as estratégias utilizadas, destaca-se as nãomedicamentosas com controle alimentar e práticas de atividades físicas. Porém, a prescrição de medicamentos também é umaestratégia para o tratamento da obesidade nesta faixa de idade, principalmente nos casos mais graves (AFONSO, et al2008). Contudo, o tratamento medicamentoso deve ser utilizado de maneira restrita e em associação com outras estratégias.Entretanto, os relatos na literatura nacional, sobre uso de medicação para a obesidade infantil e juvenil, parecem ser escassos, oque dificulta o conhecimento para profissionais de saúde sobre a efetiva evidência desse tipo de tratamento.Objetivo: O propósito do presente estudo foi verificar o uso e a efetividade do tratamento medicamentoso para obesidade emcrianças e adolescentes através de uma revisão sistemática da literatura.Desenvolvimento: O estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados nacionais:LILACS, SCIELO, Biblioteca Virtual em Saúde e na ferramenta de busca Google Acadêmico, publicados no período de 1990 atéJulho de 2019. Os estudos deveriam ser compostos por crianças e adolescentes que utilizaram do tratamento medicamentosopara tratamento a obesidade. Os descritores empregados nas buscas foram: medicamento, medicação, obesidade, criança,adolescente. O estudo mais antigo identificado nas buscas foi conduzido por Carneiro et al, (2000), tratou-se de um estudotransversal para determinar associações entre a obesidade na adolescência e alterações clínico-metabólicas indicadoras demorbi-mortalidade. Os dados mostraram que dos 38 pacientes obesos, nove já tinham feito uso de medicamentos para reduçãode peso corporal, contudo os autores não relataram qual foi a medicação utilizada. Um estudo de revisão de publicado por Alonsoet al (2008), abordou as diferentes estratégias para o tratamento da obesidade na infância e adolescência, entre elas otratamento medicamentoso. Para tanto, os autores apresentam dois estudos experimentais internacionais, o qual um utilizou omedicamento Orlistat (OZKAN, et al, 2004) e outro a Sibutramina (GODOY-MATOS et al., 2004) para tratar a obesidade emadolescentes. Os 15 pacientes do estudo tratado com Orlistat (120 mg/dia associado a um multivitamínico diário) perderam emmédia -6,27 ± 5,4 kg durante o período de até 15 meses. Vale destacar que, efeitos gastrointes tinais moderados foramrelatados por todos os pacientes no grupo tratado com Orlistat. O estudo que tratou 60 adolescentes com Sibutramina,apresentaram uma redução média de -10,3 ± 6,6kg e não houve qualquer alteração nos níveis pressóricos e cardíacos entre osadolescentes do estudo. Em outro estudo experimental com jovens obesos com idade superior a 10 anos, não diabéticos, fizeramuso de metformina por seis meses e ao comparar os resultados com o grupo placebo não apresentaram uma mudançasignificativa desse fármaco para o controle da obesidade (GODOY-MATOS et. al., 2009). O estudo mais recente, desenvolvidono Hospital das Clínicas em São Paulo, 73 jovens obesos de ambos os sexos (10 a 18 anos de idade), participaram de umapesquisa duplo-cego placebo controlado tipo cross-over com duração de 13 meses. Os pacientes foram randomizados einiciaram o estudo com o uso do placebo ou da sibutramina (10mg por dia) por seis meses, depois passaram por um período de30 dias (wash-out) sem receber medicação/placebo e, nos seis meses seguintes, receberam sibutramina ou placeboinversamente ao que tinham iniciado o estudo. O resultado foi considerado promissor para redução da obesidade (-4,47 kg) como tratamento da sibutramina (FRANCO, 2014). Vale destacar que, entre as várias drogas disponíveis para o tratamentofarmacológico da obesidade apenas a subtramina e orlistat, foram aprovadas em 1997 e 1999 pela FDA (Food and DrugAdministration) para tratamento em jovens obesos de 12 a 16 anos de idade. Para o tratamento da obesidade em maiores de 16anos a FDA recomenda fentermina e a dietilpropriona, devendo ser usadas de forma moderada e em tempo curto (AFONSO, etal 2008).
Conclusão: Verificou-se uma carência de estudos sobre a temática abordada. Contudo, após avaliar os experimentosapresentados identificou-se que aparentemente há uma efetividade dos medicamentos Sibutramina e Orlistat para o tratamentoda obesidade em crianças e adolescentes. Entretanto, os efeitos adversos relatados nos estudos não devem ser ignorados.Assim, torna-se prudente avaliar os riscos e benefícios ao optar por um tratamento medicamentoso no combate a obesidadenesta população.
ReferênciasAFONSO, Carla Toledo; CUNHA, Cristian de Freitas; OLIVEIRA, Tatiana Resende Prado Rangel. Tratamento da obesidade nainfância e adolescência: uma revisão da literatura. Revista Medicina de Minas Gerais, v. 18, n. 4 Suppl 1, p. S131-S138, 2008.CARNEIRO, João R.I. et. al. Obesidade na adolescência: fator de risco para complicações clínico-metabólicas. ArquivosBrasileiros de Endocrinologia e Metabologia, São Paulo, v. 44, n. 5, p. 390-396, Out. 2000.FRANCO, Ruth Rocha; COMINATO, Louise; DAMIANI, Durval. O efeito da sibutramina na perda de peso de adolescentesobesos. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia, São Paulo, v. 58, n. 3, p. 243-250, abr. 2014. GODOY-MATOS, Amélio, et. al. Management of obesity in adolescents: state of art. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia eMetabologia, São Paulo, v. 53, n. 2, p. 252-261, Mar., 2009.OZKAN Behzat, et. al. Addition of orlistat to conventional treatment in adolescents with severe obesity. European Journal ofPediatrics, v. 163, n. 12, p. 738-41, Setem., 2004.PAIVA, Ana Carolina Teixeira, et. al. Obesidade Infantil: análises antropométricas, bioquímicas, alimentares e estilo devida. Revista Cuidarte, v. 9, n. 3, p. 2387-2399, 2018.
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS EM GESTANTES NO BRASIL NO PERÍODO DE 2014 A 2018
1AMANDA SIHNEL CORTEZ DA SILVA, 2MICHELE AYUMI CHAVES, 3YASMIN LARISSA SPRICIGO, 4BARBARA ANDREODOS SANTOS LIBERATI
1Acadêmico bolsista do PEBIC / CNPQ1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: A sífilis é uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum, sexualmente transmissível e exclusiva do serhumano. A enfermidade é passível de transmissão mediante três formas: relação sexual sem proteção; verticalmente, de mãepara feto, durante a gestação ou parto, e; ainda, porém menos provável, com contato de objetos contaminados e transfusãosanguínea (BRASIL, 2010). Devido a sua forma de transmissão, a doença acompanhou as alterações comportamentais do serhumano ao longo dos anos e tornou-se ainda mais relevante em decorrência do aumento do risco associado a outras infecçõessexualmente transmissíveis (AVELLEIRAL; BOTTINO, 2006). Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico das gestantes que tiveram sífilis no período gestacional e avaliar à faixa etária,escolaridade e a etiologia da sífilis em gestantes.Material e Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em maio de 2019,com base no banco de dados disponível na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que contém informaçõessobre o Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e departamento de Informática do SUS (DATASUS;http://www.datasus.gov.br). A população pesquisada abrange todas as gestantes diagnosticadas com sifílis durante o período dejaneiro de 2014 a dezembro de 2018, a nível nacional, estadual (Paraná) e municipal (Umuarama), além de, informaçõessobre faixa etária, escolaridade e a etiologia da sífilis em gestantes.Resultados: No Brasil, de 2005 a 2017, observa-se que 52% das gestantes sifilíticas encontravam-se na faixa etária de 20 a 29anos, 24,7% na de 15 a 19 anos e 19,8% na de 30 a 39 anos. Desde 2005, a proporção de diagnóstico de sífilis em gestantesentre 30 e 39 anos era superior à daquelas entre 15 a 19 anos, tendo-se observado uma inversão dessa relação a partir de 2011.Tendo em vista notificações dentre 2014 a 2018, o Brasil registrou 154.728 casos entre mulheres de 20-39 anos e 2.807 entremeninas de 10-14 anos. O Paraná permaneceu com os maiores valores na faixa etária de 20-39 anos, contando com 7.968casos, e apenas 123 casos no período de 10-14 anos. Já o município de Umuarama apresentou 42 casos na mesma faixa etáriaque já estava predominando anteriormente, e 28 casos entre 15-19 anos. Quanto à escolaridade, 26,1% do todo foi registradocomo ignorado em 2017. Além disso, 53,1% das mulheres que foram notificadas não tinham o ensino médio completo, e20,7% completaram, no mínimo, o ensino médio. Nesse quesito, as maiores notificações foram entre mulheres que nãocompletaram de 5 a 8 série, sendo que em nível Brasil foram 43.249 casos, já o Paraná, 2630 e o município de Umuarama, 19casos. Contudo, o menor número de casos está entre os analfabetos. Dentre os anos de representação, o Brasil diagnosticoumais gestantes com sífilis no ano de 2018 (59.9022) e menos em 2014 (28.699). No Paraná, 2017 foi o ano com maior númerode casos confirmados (2.772) e 2014, o de menor (1.425). Discussão: Consentâneo a estatística da faixa etária, Moroskoski, et al. (2018), explanam que a jovialidade e a contração dapatologia, classificada como infecção sexualmente transmissível, se relacionam em virtude do uso irregular do preservativo,sobretudo nessa faixa etária. Uma das explanações abordadas atine à dificuldade em vincular os adolescentes às unidades desaúde - por receio ou vergonha de declarar vida sexualmente ativa - e por conseguinte, uma má adesão referente aconscientização, o que acarreta na ausência do adequado uso da proteção, sob a justificativa de: a) interferência no prazer; b)confiança no parceiro e/ou; c) uso da pílula anticoncepcional. Ainda sobre a temática, Marques, et al. (2018), relatam que estafaixa etária possui maior chance de pré-natal tardio, o que aumenta o risco de transmissão da doença para o feto, posto queessas pacientes demoram mais tempo para ser diagnosticadas e tratadas. Para tanto, uma possível amenização desse quadropertine à conscientização sobre direitos sexuais e saúde reprodutiva, propiciando espaços para discussão e oportunidade deescuta perante os adolescentes. A escolaridade, por sua vez, representa importante marcador de risco na sífilis gestacional, hajavista a limitada compreensão da magnitude de medidas de prevenção (CAVALCANTE; PEREIRA; CASTRO, 2017). Nonato, Meloe Guimarães (2015) verificaram que um menor número de anos estudados providencia um contexto de menor acesso àinformação, culminando em uma má aderência à práticas sexuais seguras e até mesmo aceitação ao tratamento. Conclusão: Durante o período estudado de 2014-2018, percebeu-se que o número de casos aumentou, sendo averiguado omenor grau de escolaridade como fator determinante, assim como a faixa etária jovial. Uma possível explicação para esse
aumento pode ser a falha na qualidade da assistência ao pré-natal, a falta de questionamento sobre a efetividade e a adesividadedesta população às medidas de saúde pública para a prevenção da sífilis. Os argumentos pertinentes à essas interpretaçõesestão envoltos de questões biopsicossociais aderidas a problemáticas referentes a barreiras de acesso cultural, social e deacesso geográfico.
ReferênciasAVELLEIRA, João Carlos Regazzi; BOTTINO, Giuliana. Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle. An. Bras. Dermatologia, Riode Janeiro, v. 81, n. 2, p. 111-126, mar. 2006. BRASIL.MINISTÉRIO DA SAÚDE.SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. DEPARTAMENTO DE DST, AIDS E HEPATITESVIRAIS. Sífilis: Estratégias para Diagnóstico no Brasil. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.CAVALCANTE, Patrícia Alves Mendonça; PEREIRA, Ruth Bernardes de Lima.; CASTRO, José Gerley Diaz. Saúde Gestacional eCongênita em Palmas, Tocantins, 2007 - 2014. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 26, n. 2, p. 255-264, 2017.MARQUES, João Vitor Souza; et. al. Perfil Epidemiológico da Sífilis Gestacional: Clínica e Evolução de 2012 a 2017. Sanare,Sobral, v. 17, n. 2, p.13-20, 2018.MOROSKOSKI, Márcia; et. al. Perfil de Gestantes Adolescentes Diagnosticadas com Sífilis em Curitiba - PR. Revista SaúdePública do Paraná, Curitiba, v. 1, n. 1, p. 47-58, 2018.NONATO, Solange Maria; MELO, Ana Paula Souto; GUIMARÃES, Mark Drew Crosland. Sífilis na Gestação e FatoresAssociados à Sífilis Congênita em Belo Horizonte - MG, 2010-2013. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 24, n. 4, p.681-684, 2015.
NÚMERO DE ÓBITOS POR ABUSO SEXUAL EM CRIANÇAS DE 0 A 14 ANOS NO BRASIL: UMA REVISÃO
1JULIA MARIA KROHLING BERTE, 2KARLA MACHADO QUINTAS, 3RAFAEL BRAZ DE CARVALHO, 4VANESSAMARCONDES BRASILEIRO FREDERICO, 5DANIELLE JARDIM BARRETO, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A violência contra a criança de 0 a 14 anos, fere, de forma silenciosa, milhares de vítimas no Brasil. Trata-se de umproblema que atinge ambos os sexos e não há distinção entre nível social, econômico, religioso ou cultural (BALLONE;ORTOLANI; MOURA, 2008). Está pode ocorrer tanto no contexto intrafamiliar quanto no extrafamiliar, sendo o primeiro caso,ocorrendo tal agressão no ambiente doméstico e praticada em geral por um parente próximo. E no ambiente extrafamiliar, sendopraticada por pessoas que não possuem vínculo parentesco com a vítima. As consequências do abuso sexual são inúmeras, indode física, psíquica até o óbito em casos extremos, pois em sua vida adulta a pessoa pode gerar inúmeros transtornos devido aotrauma ocorrido em sua infância.Objetivo: Realizar um levantamento utilizando os dados do DATASUS sobre o número de óbitos da população de 0 a 14 anos,vítimas da agressão sexual por uso de força física no Brasil entre os anos 2000 a 2016.Desenvolvimento: A violência sexual presume o abuso do poder em que crianças e adolescentes são usados para gratificaçãosexual de adultos, sendo induzidos ou forçados a práticas sexuais. Essa violação de direitos interfere diretamente nodesenvolvimento da sexualidade saudável e nas dimensões psicossociais da criança e do adolescente abusado, causando danosemocionais irreversíveis. O abuso sexual infantil é facilitador para o aparecimento de psicopatologias graves, prejudicando aevolução psicológica, afetiva e social da vítima (ROMARO; CAPITÃO, 2007). A violência sexual caracteriza-se por atospraticados com finalidade sexual que, por serem lesivos ao corpo e a mente do sujeito violado, desrespeitam os direitos e asgarantias individuais como liberdade, respeito e dignidade previstos na Lei n°8.069/90 Estatuto da criança e do adolescente(BRASIL, 1990, Artigos 7°, 15,16,17e 19). O abuso sexual de crianças e adolescentes é um dos tipos de maus tratos maisfrequentes no Brasil, segundo pesquisa no DATASUS, entre os anos de 2000 a 2016 foram registrados um total de 130 mortesde crianças entre 0 a 14 anos sendo a região sudeste uma das mais afetadas com 60 casos. O Rio de Janeiro foi o estado com omaior número, 28 casos. Porém, em 2016 o sistema de saúde registrou 22,9mil atendimentos a vítimas de estupro no Brasil, eem média 57% dos casos, as vítimas tinham entre 0 a 14 anos, esses dados foram fornecidos pela BBC BRASIL 2016 e asestatísticas do sistema único de saúde SINAN que registra casos de atendimento de diferentes ocorrências médicas desde 2011.Ao discorrer sobre as consequências do abuso sexual praticado contra a criança e adolescentes, é essencial pensar o quanto émonstruosa a deturpação da condição física, biológica ou orgânica, pois o abuso sexual compreende uma violação do corpo davítima que, muitas vezes sai com ferimentos na própria pele. (CUNHA; SILVA; GIOVANETTI, 2008)Conclusão: Ao analisar os dados obtidos pelo DATASUS, averígua-se que estes não demonstram a relevância da situação atualpois inúmeros casos não são registrados. É importante ressaltar também, que no Brasil a rede de controle não e tão consistente,impossibilitando uma atuação mais efetiva das esferas jurídicas e órgãos relacionados a problemática. Pois dados obtidos pelaBBC BRASIL em 2017 nos mostram a média de 33,2mil denúncias de casos de estupro e assim tornando visível o quãopreocupante é esta situacão.
ReferênciasBALLONE, G. J.; ORTOLANI, I.V.; MOURA, E. C. Violência Doméstica. In: Psiqweb. V. 01, 2008BBC BRASIL. Levantamento revela caos no controle de denúncias de violência sexual contra crianças. Online, site, p. 1, 21 dez.2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43010109. Acesso em: 18 maio 2019.BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Departamento de Informática do SUS, 2019.BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n° 8,069, de 13 de julho de 1990. Dispõesobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providencias. 1990. Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acesso em: 18 maio 2019.CUNHA, E. P.; SILVA, E. M.; GIOVANETTI. A. C. Enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil: expansão do PAIR em Minas
Gerais. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 2008.ROMARO, R. A; CAPITÃO, C. G. As faces da violência: aproximações, pesquisas, reflexões. São Paulo: Vetor, V. 01, 2007.
CARCINOMA ESPINOCELULAR EM ASSOALHO BUCAL: RELATO DE CASO
1BIANCA RAUANE RIBEIRO FAVARO, 2SILVIA XAVIER GROSHEVIS, 3AMANDA CANALI, 4GIOVANA LUNARDI, 5GLEYSONKLEBER DO AMARAL SILVA, 6CINTIA DE SOUZA ALFERES ARAUJO
1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Doutorando em Estomatopatologia FOP - UNICAMP 5Docente do Curso de Odontologia da UNIPAR
Introdução: As neoplasias malignas da cavidade oral constituem-se em sério problema de saúde pública no Brasil e no mundo,sendo o câncer bucal a sétima neoplasia maligna mais frequente. O carcinoma espinocelular (CEC) ou epidermóide de bocacorresponde entre 90% a 95% dos casos de câncer na boca. As localizações anatômicas mais afetadas são língua, assoalho deboca e lábio inferior (CARLI et al, 2009) com maior incidência em pacientes do gênero masculino, com mais de 50 anos. Possuiuma rápida evolução, alto poder invasivo e metastático. O tabaco e o álcool, associados à predisposição genética, têm sidorelatados na literatura como os principais fatores de riscos (CARVALHO et al, 2009). Fatores ocupacionais e hábitos alimentarescom baixos padrões nutricionais podem ser fatores coadjuvantes na etiologia do câncer bucal. Relato de caso: Paciente gênero masculino, W.S.M, 52 anos, feoderma, foi encaminhado à Clínica Odontológica da UNIPAR-Umuarama pela Secretaria Municipal de Saúde de Mariluz-PR, com hipótese de diagnóstico de abscesso dento alveolar,queixava-se de dor e aumento volumétrico no lado esquerdo da face. No histórico da doença atual, o paciente relatou ter sidomedicado com antibióticos e antiinflamatórios, acreditando que se tratava de uma infecção dentária. tem histórico de tabagismo eetilismo crônico, com precária higiene bucal. Ao exame físico extrabucal notou-se a presença de uma massa nodular fixa eendurecida de superfície irregular na região submandibular esquerda, sensível à palpação. Ao exame físico intrabucal foi possívelobservar uma úlcera infiltrativa de bordos mal definidos localizada no assoalho de boca, com tempo de evolução deaproximadamente 4 meses. Foi realizada a biópsia incisional em três regiões da mucosa do assoalho bucal. Tendo comoresultado do exame anatomopatológico carcinoma espinocelular.Discussão: No Brasil, a incidência de neoplasias malignas da cavidade oral difere substancialmente nas diferentes regiões, eesse fato se deve às diferenças locais na prevalência de fatores de risco, como: tabaco, álcool, vírus, dieta e herança genética. Adefinição do perfil epidemiológico do câncer bucal passa pela determinação dos fatores de risco. Assim, há unanimidade quantoao predomínio do gênero masculino, na quinta década de vida, o que se encaixa ao perfil do paciente. O câncer de boca é umproblema de saúde pública, com elevados índices de morbimortalidade. O conhecimento da epidemiologia e dos fatoresassociados a essa doença se constitui na chave para o planejamento de programas de prevenção que favorecerão a reduçãodesses nefastos indicadores que atingem a população. Apesar dos já conhecidos papéis do fumo e do álcool na etiologia dessadoença, estudos epidemiológicos têm mostrado que, mesmo após ajuste para esses fatores de risco, ainda há um efeito residualdas condições sociais sobre o risco de câncer de boca (REIDY, MCHUGH & STASSEN, 2011). A literatura mostra que a maioriados portadores de CEC de boca chega com o estado avançado, sendo submetidos a tratamentos mais agressivos, como cirurgiae radioterapia (57,2%), sem a devida reabilitação, comprometendo, assim, a sobrevida e qualidade de vida desses pacientes,pode estar associado à dificuldade de acesso aos serviços de saúde por parte da população como também pela falta deefetividade da rede de atenção básica em realizar o diagnóstico precoce. Quanto antes o diagnóstico ser feito, melhor e maisrápida será a resposta quanto ao tratamento. Vale ressaltar que somente a partir de 2004, com a atual política de saúde bucal doMS, Brasil Sorridente, foram incluídas as ações de prevenção e controle do câncer de boca como forma de ampliação equalificação da atenção básica com o objetivo de prevenir, diagnosticar e tratar esses pacientes o mais precoce possível. Essesdados serão uma contribuição para o desenvolvimento dessas políticas de prevenção do câncer de boca (MARCHIONI et al,2007).Conclusão: Embora seja mais comum em pessoas do gênero masculino, acontecem em mulheres, e em pacientes jovens,porém, com menor prevalência. Diante das manifestações bucais do CEC, caracteriza a importância do cirurgião dentista naidentificação e diagnóstico dessas lesões para um tratamento adequado, visando a abordagem multidisciplinar desse paciente,em busca de uma melhor qualidade de vida.
Referências
ANDRADE, J. O. M; SANTOS, C. A.S. T; OLIVEIRA, M C. Fatores associados ao câncer de boca: um estudo de caso-controleem uma população do Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de epidemiologia, São Paulo, v. 18, p. 894-905,2015. http://dx.doi.org/10.1590/1980-5497201500040017.CARLI, M. L. et al. Características clínicas, epidemiológicas e microscópicas do câncer bucal diagnosticado na UniversidadeFederal de Alfenas. Rev bras cancerol, Fortaleza (CE), v. 55, n. 3, p. 205-11,2009. http://www1.inca.gov.br/rbc/n_55/v03/pdf/09_artigo1.pdfPEREZ, R S et al. Estudo epidemiológico do carcinoma espinocelular da boca e orofaringe. Arq Int Otorrinolaringol, SãoPaulo, v. 11, n. 3, p. 271-7, 2007. http://www.arquivosdeorl.org.brTEIXEIRA, A. K. M. et al. Carcinoma espinocelular da cavidade bucal: um estudo epidemiológico na Santa Casa de Misericórdiade Fortaleza. Rev bras cancerol, Fortaleza (CE), v. 55, n. 3, p. 229-36,2009. http://www1.inca.gov.br/rbc/n_55/v03/pdf/33_artigo4.pdf
INTERNAÇÕES E ÓBITOS DE CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 5 A 9 ANOS DIAGNOSTICADAS COM LEUCEMIA EMTODO TERRITÓRIO NACIONAL: UMA REVISÃO
1GABRIEL HENRIQUE BELLATO PALIN, 2GABRIELA CORREA ALBERTI, 3GUILBERT CARLOS DE AZEVEDO DAVIZ, 4IARAHENRIQUE ROCHA, 5IRINEIA PAULINA BARETTA, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Discente do curso de Medicina da Unipar1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo Hamerschlak (2008), a leucemia pode se apresentar na forma crônica ou aguda, dentro dessasclassificações, se dividem em: leucemia mieloide aguda (LMA), leucemia linfoide aguda (LLA), leucemia mieloide crônica (LMC) ea leucemia linfoide crônica (LLC). Esses grupos se relacionam com a velocidade de avanço da doença, e pode se tornar grave,ainda no tipo de glóbulo branco envolvido no dano, que são os: linfóides ou mielóides. A LLA se caracteriza por envolver ascélulas linfóides, se desenvolver de forma lenta e mais frequentemente acontece em pessoas com idade superior a 55 anos. LMCé mais relacionada a células mielóides, se desenvolve de maneira lenta e acomete, em maior grau, pessoas adultas. LLA envolvecélulas linfóides com agravamento clínico mais rápido; e mais frequente em crianças, porém pode ocorrer em adultos. LMAataca células mielóides, de desenvolvimento rápido, acomete crianças e adultos, sendo mais comumente na fase adulta(INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2018).Objetivo: Levantamento dos dados notificados no DATASUS em relação ao número de internações e óbitos provocados porleucemia em crianças de faixa etária compreendida entre 5 a 9 anos, nos anos de 2014 a 2018, no Brasil.Desenvolvimento: No Brasil, de acordo com os dados apresentados no DATASUS, entre o mês de janeiro do ano de 2014 e omês de dezembro de 2018 ocorreram 28.499 internações de crianças diagnosticadas com leucemia, havendo maiorconcentração de internações nos estados da Região Sudeste, com 10.586 casos, sendo o Estado de São Paulo o queapresentou maior incidência de internações (6293 casos). Ao mesmo tempo, a menor incidência se deu na Região Norte, emespecial no Estado do Amapá, em que houve 02 (duas) internações. Muito embora a região Sudeste condense o maior númerode internações para o período pesquisado, o número de óbitos é maior na Região Nordeste (192 casos), sendo o Estado doPernambuco o que apresentou maior número de casos de morte (50 casos), enquanto o menor índice de óbitos de criançasacometidas pela leucemia ocorreu na Região Centro-Oeste (41 casos), com destaque para o Estado do Mato Grosso do Sul quepara o mesmo período, apresentou 06 (seis) casos. Depreendeu-se após análise dos dados informados pelo DATASUS ao longodo período compreendido entre os anos 2014 e 2018, que apesar da maior incidência de internações decorrentes de leucemiaentre crianças ocorrer na região Sudeste do Brasil, a maior incidência de óbitos se deu na Região Nordeste. A efetividade docombate à doença nos Estados do Sudeste frente ao elevado número de óbitos ocorridos na Região Nordeste pode ter razão emvariados fatores, tais como, dentre outros, a maior rapidez no diagnóstico da doença, o maior acesso aos tratamentosadequados, bem como melhores indicadores socioeconômicos. Entretanto, em sentido geral, o Brasil não pode ser consideradoum País com baixos índices de internamento e de óbitos em decorrência da doença, vez que ao longo dos anos em que seconcentrou a presente pesquisa (2014 a 2018) ocorreram 28.499 internações, sendo que destas, 587 crianças chegaram a óbitoou seja 0,9% das crianças brasileiras. Evidencia-se, portanto, que a leucemia está dividida em duas grandes classificações;sendo elas: crônica e aguda. Nesse sentido, a leucemia linfóide aguda, modalidade da doença que atinge células linfóides, é aforma mais frequente nas crianças. Ademais, é importante ressaltar que apesar de grave, casos de internamento e de óbitosaumentaram em todas as regiões do Brasil ao longo dos anos pesquisados, o que pode definir o retrato nada estático da doença,bem como a ineficiência dos modos de tratamento assumidos. Por fim, é importante ressaltar que apesar da existência de fontesde dados, as neoplasias infantis não têm sido analisadas de maneira eficaz pela literatura médica nacional, fato que motivou opresente estudo.Conclusão: À luz de todo exposto, se tem que a leucemia infantil pode ser considerada uma doença grave e que, em maior oumenor grau, se faz presente em todas as regiões do País, sendo necessária a atuação efetiva do Ministério da Saúde a fim dereduzir os índices atuais, bem como de se criar mecanismos estatísticos e efetivos, além de meios de controle e tratamento dadoença.
ReferênciasBAUER, D. F. V. et al. Crianças com câncer: caracterização das internações em um hospital escola público. Semina: CiênciasBiológicas e da Saúde, v. 36, n. 1, p. 9-16, 2015.BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE DATASUS. Disponível em: www.datasus.com.br, acesso em 23 de Mai de 2019.BRASILEIRA, Sociedade Beneficente Israelita. LEUCEMIA. ALBERT EINSTEIN. Disponível em: Acessohttps://www.einstein.br/especialidades/oncologia/tipos-cancer/leucemia, 22 maio 2019.HAMERSCHLAK, N.. Leucemia: fatores prognósticos e genética. Jornal de Pediatria, v. 84, n. 4, 2008.INCA. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Disponível em: https://www.inca.gov.br/.Acesso em: 23 de Mai. de 2019 SILVA, R. W. P. et al. Manifestações clínicas e hematológicas das leucemias em crianças e adolescentes. Trabalhoapresentado à Universidade Federal de Santa Catarina, para a conclusão do Curso de Graduação em Medicina. Florianópolis.Universidade Federal de Santa Catarina, 2003.
AVALIAÇÃO DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO EM ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTSAL FEMININO DA CIDADE DECIANORTE NO PARANÁ
1RENAN AUGUSTO VENDRAME DA SILVA, 2JULIO CEZAR CAUASSA MACIEL, 3MARCELO SERENINI JUNIOR,4CLAUDINEI DOS SANTOS, 5CHARLES FRIEDRICH, 6VITOR HUGO RAMOS MACHADO
1Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR1Discente de Fisiologia do Exercício, PIC-PÓS/UNIPAR2Discente de Fisiologia do Exercício, PIC-PÓS/UNIPAR3Profissional de Educação Física, UNIPAR4Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR5Docente de Educação Física, UNIPAR
Introdução: No âmbito da educação física, a antropometria tem sido o método, dentre inúmeros existentes, aquele mais utilizadopara a determinação da composição corporal, pois é um meio com uma certa simplicidade na técnica, e de baixo custooperacional, além de não ser uma técnica invasiva, tornando-se ponto chave para caracterização da aptidão física do atleta, vistoque que um valor elevado do percentual de gordura implica na redução de sua performance (PETROSKI, 1995; PRADO et al.2006). Em virtude da alta demando física, técnica e tática no decorrer de todo o jogo, o futsal assume uma característicaintermitente, com destaque para tomada de decisão em um breve intervalo de tempo (KOSKI et al. 2009). Desse modo aperformance desportiva é apontada como a relação entre aspectos morfológico, funcional motor, psicológico, genético eambiental (MARQUES et al. 2016). Sendo assim, a atual pesquisa tem como objetivo a determinação do perfil antropométrico daequipe profissional de futsal feminino da cidade de Cianorte-PR.Metodologia: A pesquisa tem caráter descritivo de cunha quantitativo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética daUniversidade Paranaense, sob o protocolo 11623519.9.0000.0109. A amostra foi composta por 14 atletas do sexo feminino,pertencentes à equipe profissional do Cianorte Futsal Feminino. Foram incluídas na pesquisa todas as atletas, desde que nãotivessem nenhum acometimento à saúde ou que estivessem lesionadas. A coleta de dados antropométricos foi realizada noLaboratório de Educação Física da Universidade Paranaense no ano de 2019 e foram avaliadas no período matutino com 2 a 3horas de estado pós-absortivo. Para realizar a avaliação morfológica, foi utilizada uma balança digital da marca Filizola (BALMAKBK200-F) para determinação da massa corporal total. Para a estatura foi utilizado um estadiômetro da marca Sanny, comprecisão de 2 m a0,1 cm. A coleta de Dobras Cutâneas foi utilizado um adipômetro marca CESCORF, com precisão de 0,5 mm.A estimativa de densidade corporal foi empregado o protocolo de Jackson e Pollock (1980) de quatro dobras (tríceps, supra-íliaca, abdominal e coxa) e posteriormente utilizou-se a equação proposta por Siri (1961), adaptada por Lohman (1986) de acordocom a idade e gênero. A estimativa de percentual de gordura corporal.Resultados: Na Tabela 1 encontram-se os valores referentes às características morfológicas da amostra estudada em média edesvio padrão. Às atletas de futsal apresentaram uma idade média de 25,1±3,10 anos, massa corporal de 61,4±11,68 kg, alturade 162,7±7,09 cm. Na Tabela 2 encontram-se os valores referentes as características antropométricas, com IMC de 22,7±3,62kg/m2, o Percentual de Gordura (%PG) e a Massa Magra (%MM), foram expressos em valores relativos, apresentando 17,9±10,4% e 82,1±10,4 %, respectivamente.Discussão: O IMC encontrado na atual amostra, classifica as atletas como normais ou eutróficas, segundo a OrganizaçãoMundial de Saúde (OMS, 2000). Quando comparado com o sexo masculino, os valores estão abaixo dos resultadosapresentados na literatura atual. Souza e Navarro (2015) ao avaliarem a composição corporal e a alimentação de 10 atletas defutsal do clube Rio Branco, Vitória - ES, tiveram em sua pesquisa o valor de 24,0 kg/m2. Entretanto Sepeda et al. (2016),analisaram o perfil antropométrico de 21 atletas universitárias e obtiveram um valor aproximado de 23,83 kg/m2 quandocomparado com o presente estudo. Ratificando o baixo valor atingido pelo de IMC na recente pesquisa, Portela et al. (2018),analisaram a influência da pré-temporada na composição corporal de aletas de futsal e se depararam com os valores de 24,6kg/m2 e 24,5 kg/m2, pré e pós teste respectivamente, que são superiores ao deste estudo. Quanto a gordura corporal relativa(%), Marques et. al., (2016) descobriram um valor médio de 20,8% em 21 jogadoras de futsal feminino, apresentando um valoracima daquele alcançado na presente pesquisa. Voser et al. (2018) analisaram em sua pesquisa o estado nutricional e perfilalimentar em atletas universitários de ambos os sexos e encontraram uma porcentagem no sexo feminino no valor de 25,34%,revelando-se estar elevada quando comparada com está pesquisa. Alvares et al. (2017), utilizaram o %PG para caracterizaçãoda sua amostra e se depararam com o valor de 23,3% em uma amostra de 17 jogadoras de futsal feminino. Corroborando com o
baixo valor identificado neste estudo, Queiroga et al. (2018) ao investigarem o perfil morfológico de 115 atletas de futsal feminino,esbarraram-se com um percentual de gordura de 22,2%.Conclusão: Os desfechos encontrados na atual investigação, revela que a amostra estudada apresenta um IMC dentro danormalidade, apresentando valores abaixo, entretanto próximo daqueles encontrados na literatura. O que não acontece com o%PG, que quando comparado com a literatura recente manifestou um valor inferior, identificando que a equipe apresenta níveisantropométricos satisfatórios que elevem a sua performance.
ReferênciasALVARES, P.D. et al. Potência anaeróbia máxima e índice de fadiga em atletas de Futsal feminino: descrição e comparaçãoentre as posições. Rev. bras. Ci. e Mov. 25(4):84-91. 2017.KOSKI, H.R. et al. A Caracterização do Esforço Físico no Futsal. Revista Brasileira de Futsal e Futebol. Vol. 1. Núm. 2. 2009.p.134-143. Disponível em: .LOHMAN, T.G. Applicability of body composition techniques and constants for children and youths. Exerc. and Sports Scie.Reviews, 14, 325-357. 1986.MARQUES, A.P. et. al. Perfil Antropométrico De Atletas Universitárias De Futsal Feminino Conforme A Função Tática. Rev. Bras.Nut. Esp. v. 10. n. 56. p.215-221. São Paulo. 2016.PETROSKI, E.L. Desenvolvimento e validação de equações generalizadas para a estimativa da densidade corporal em adultos.Tese de Doutorado. UFSM. Santa Maria. 1995.PRADO, W.L. et al. Perfil antropométrico e ingestão de macronutrientes em atletas profissionais brasileiros de futebol, de acordocom suas posições. Rev. Bras. Med. Esporte. v. 12. Núm. 2. 2006.QUEIROGA, M.R. et al. Morphological Profile Of Athlete Starters And Nonstarters Of Feminine Futsal. J. Phys. Educ. v. 29, e.2965, 2018.SEPEDA, T.P.A, et al. Avaliação Da Perda Hídrica E Hábitos De Hidratação De Atletas Universitários De Futsal Competitivo. Rev.Bras. Med. Esporte. Vol. 22. n. 5. 2016.SOUZA, J.A.; NAVARRO F. Avaliação do Perfil Antropométrico e Nutricional de Atletas de Futsal do clube Rio Branco-ES. Rev.Bras. Nut. Esp. v. 9. n. 50. p.111-119. São Paulo. 2015.VOSER, R.C. et. al. Conhecimento Nutricional, Perfil Alimentar e Estado Nutricional de Jogadores Universitários De Futsal. Rev.Bras. Nut. Esp. v. 12. n. 71. p. 394-403. São Paulo. 2018.World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a World Health OrganizationConsultation. Geneva: World Health Organization. p. 256. WHO Obesity Technical Report Series, n. 284. 2000.
EXCESSO DE PESO CORPORAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MUNICÍPIOS BRASILEIROS: UMA ANÁLISE APARTIR DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
1ANDRE FERNANDO PASSOS DE OLIVEIRA, 2JANAINA DA SILVA MACHADO DE OLIVEIRA, 3MARCELA DE FÁTIMANOVAK, 4ROBERTO CARLOS GILINI, 5DURCELINA SCHIAVONI BORTOLOTI
1Discente de Nutrição, PIC/UNIPAR1Discente de Educação Física, PIBIC/UNIPAR2Discente de Enfermagem, PIBIC/UNIPAR3Docente do Curso de Educação Física/UNIPAR4Docente do Curso de Educação Física, PIC/PIBIC/UNIPAR
Introdução: As modificações no estilo de vida de crianças e adolescentes, principalmente ao longo das duas últimas décadas,têm favorecido o desenvolvimento de sobrepeso/obesidade. A obesidade tem sido descrita como um importante problema desaúde pública da atualidade e vem ganhando destaque no cenário epidemiológico mundial (ENES; SLATER, 2010). O excessode peso em idades cada vez mais precoces tem despertado a preocupação de pesquisadores e profissionais da área da saúde,em razão dos danos e agravos à saúde, tais como hipertensão, cardiopatias, diabetes, dentre outras (CONDE et al., 2018).Objetivo: O propósito da presente investigação é de analisar a prevalência de obesidade em crianças e adolescentes por meiodo Índice de Massa Corporal, de acordo com sexo nos municípios brasileiros a partir de dados extraídos no Sistema Integrado deGestão de Serviços de Saúde SIGSS.Materiais e Métodos: Conduziu-se coleta de dados dos registros da variável de Índice de Massa Corporal (IMC) constantes noSIGSS utilizados pelos municípios brasileiros. Para tanto, foram coletados os valores de IMC abastecidos pelos municípios noSIGSS no período de janeiro a agosto de 2019. Tais registros foram inseridos pelos profissionais Nutricionistas e AgentesComunitários de Saúde, seguindo os preceitos destacados nas regras do SUS - Sistema Único e Saúde (DATASUS, 2019). Osdados extraídos foram transportados para uma planilha do Microsoft® Office Excel, e posteriormente analisados por meio deestatística descritiva. A análise realizada, foi baseada em cálculos resultantes de indicadores médios de IMC (kg/m2) entre asfaixas etárias de crianças e adolescentes separados por sexo.Resultados: Das 40 declarações de permissão para utilização de dados solicitadas aos gestores municipais, foram recebidas atéa finalização deste estudo, apenas nove de quatro estados brasileiros. Contudo, os municípios de Gaspar (SC), Guaratinguetá(SP) e Chapadão Do Céu (GO) não realizaram os registros no ano de 2019. Foram verificados 11.236 registros de IMC noSIGSS. Em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul (RS), inseriu 4.276 registros, destes observou-se valores mínimos de 13,19kg/m2 e máximo 34,69 kg/m2 para o IMC de crianças e adolescentes do sexo feminino, e entre 13,18 kg/m2 e 28,61 kg/m2 para osexo masculino. Em Lajeado (RS), inseriu-se 2.232 avaliações, cujos valores mínimos e máximos respectivamente para meninase meninos foram, 14,94 kg/m2 e 24,39 kg/m2; 15,15 kg/m2 e 24,93 kg/m2. O Paraná foi o estado com maior número de registrosinvestigados, o município de Capanema (PR), registrou 443 avaliações, nas quais obtiveram a média de IMC entre 15,13 kg/m2 e25,92 kg/m2 para meninas e entre 15,05 kg/m2 e 26,61 kg/m2 para meninos. No município de Guaíra (PR), dos 2.598 registros,verificou-se média mínima de 14,31 kg/m2 e máxima de 28,28 kg/m2, para o sexo feminino, e de 14,46 kg/m2 e 29,16 kg/m2 parao sexo masculino. O município de Santa Terezinha de Itaipu (PR) inseriu 1.115 registros, e verificou-se valores de IMC de 16,53kg/m2 e 25,12 kg/m2 para o sexo feminino e a de 13,09 kg/m2 e 22,29 kg/m2 para o sexo masculino. Em Toledo (PR), registrou-se 572 avaliações, nos quais tiveram as médias mínimas de IMC de 12,36 kg/m2 e 18,98 kg/m2 e máxima de 13,55 kg/m2 e20,37 kg/m2 para meninas e meninos respectivamente.Discussão: Este estudo apresentou uma variação importante nos dados de IMC de crianças e adolescentes de ambos os sexosdos municípios investigados, com valores entre 12,36 kgm2 à 34,69 kg/m2. Vale destacar que, todos os municípios apresentamÍndice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) classificados como alto (Canoas 0,750; Lajeado, 0,778; Capanema 0,706;Guaíra 0,724; Santa Terezinha de Itaipu 0,738; Toledo 0,768) (IBGE, 2010), fator relevante, principalmente porque infere-se umnível socioeconômico maior que aqueles observados com baixo IDHM, o que pode indicar uma ausência de estados dedesnutrição, contudo, preocupante quando observados dados que inferem excesso de peso. Nesse sentido, estudos destacamque o aumento da renda das famílias, não incide diretamente na melhoria do estado nutricional, pois em geral observa-se um altoconsumo de alimentos menos saudáveis (DA COSTA LOUZADA et al., 2015; LIMA et al., 2015). Com isso, no espectro do estado
de nutrição, principalmente nos adolescentes brasileiro, se observa uma tendência de incremento do excesso de peso ouobesidade em ritmo semelhante àquele observado entre a população adulta (CONDE et al., 2018). Vale destacar que, Aobesidade é considerada, atualmente, um problema mundial de saúde pública, visto que predispõe ao surgimento ou agravo dedoenças crônicas não transmissíveis. A Organização Mundial da Saúde estima que o número de crianças e adolescentes comexcesso de peso é alto, com estimativas superiores a 340 milhões (WHO, 2019).Conclusão: Identificou-se baixos valores de IMC classificados como baixo peso e valores preocupantes em relação ao excessode peso corporal em municípios que possuem alto Índice de Desenvolvimento Humano, indicando assim, uma possíveldescontinuidade do acompanhamento na atenção primária nas crianças e adolescentes destes municípios.
ReferênciasCONDE, Wolney Lisbôa, et. al. Estado nutricional de escolares adolescentes no Brasil: a Pesquisa Nacional de Saúde dosEscolares 2015. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 21, supl. 1, p. 01-12, 2018.DATASUS (Brasil). SIGTAP. Sistema de Gerenciamento da tabela de procedimento, Medicamentos e OPM do SUS. Brasília,2019. Disponível em: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp. Acesso em: 15 agosto. 2019.DA COSTA LOUZADA, Maria Laura, et. al. Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional da dieta no Brasil. Revista de SaúdePública, v. 49, n.38 p. 01-11, 2015.ENES, Carla Cristina; SLATER, Betzabeth. Obesidade na adolescência e seus principais fatores determinantes. RevistaBrasileira de epidemiologia, v. 13, n.1, p. 163-171, 2010.INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cidades. Brasília, 2010. Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br.Acesso em: 15 agosto. 2019.LIMA, Niedja Maria da Silva, et. al. Excesso de peso em adolescentes e estado nutricional dos pais: uma revisãosistemática. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, n. 2, p. 627-636, 2017.NERY, Lenycia de Cassia Lopes, et. al. Obesidade Infantil. 1. ed. Barueri, SP: Manole, 2017. 250 p. ISBN 9788520447307.WHO. World Health Organization. Obesity and overweight 2019. Disponível em: . Acesso em: 18 agosto. 2019.
REGISTRO DE IMUNIZAÇÃO CONTRA HPV NO BRASIL ENTRE 2014 A 2018: ESTUDO RETROSPECTIVO
1JOAO VITOR DE ALMEIDA AIRES CORREIA, 2CARLOS EDUARDO RUZZENE RODRIGUES, 3HIGOR DIAS DO PRADO,4JOAO MANUEL FERNANDES DE OLIVEIRA, 5IRINEIA PAULINA BARETTA, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKICHIQUETTI
1Discente do Curso de Medicina/UNIPAR1Discente do Curso de Medicina/UNIPAR2Discente do Curso de Medicina/UNIPAR3Discente do Curso de Medicina/UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Os vírus do papiloma humano são classificados na família Papillomaviridae, gênero Papilomavírus (SOUTO; et al,2005). O vírus HPV é altamente contagioso, sendo possível infectar-se com uma única exposição, e sua transmissão se dá porcontato direto com a pele ou mucosa infectada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017)¹. Muitos pacientes são assintomáticos; dentre osprincipais sintomas destacam-se o prurido anal e a presença de lesões vegetantes. Portanto, é considerada como uma lesão pré-neoplásica (HOSSNE; 2008).Objetivo: Quantificar o registro da imunização contra HPV na base de dados do SIPNI WEB. Material e Métodos: Análise dos índices de vacinação contra HPV entre os anos de 2014 a 2018, no Brasil, em meninos emeninas utilizando os dados do DATASUS (SIPNI WEB).Resultados: Segundo dados do SIPNI WEB, desde que a imunização foi disponibilizada para meninos e meninas em 2014,8.511.025 de pessoas já foram imunizadas; apesar dos números parecerem expressivos em um primeiro momento, o IBGE nosmostra que nas faixas etárias supracitadas existiam cerca de 16,7 milhões de pessoas que poderiam ter tomado a vacina em2014. De acordo com dados do SIPNI as regiões que apresentaram uma maior demanda de imunizações entre os anos de 2014a 2018 foram a região sudeste com 11.432.075 de vacinações e a região nordeste com 8.360.161 em contrapartida as queapresentaram menor índice foram as regiões centro-oeste e norte com 2.121.699 e 2.622.874 respectivamente.Discussão: Conforme Zanini; et al, (2017), a baixa procura da imunização contra o vírus do papiloma humano está relacionadoprimordialmente à sexualização precoce de crianças e jovens adultos aliado à dúvidas quanto a sua eficácia, efeitos colaterais econfiança no exame preventivo do Papanicolau. Conforme Neto; et al, (2016), que apesar de cerca de 79,2% das pessoasconhecerem sobre a vacinação e estarem cientes das campanhas governamentais existentes, apenas 6,1% das meninas sãoimunizadas na faixa etária de 8 anos de idade. Desta maneira, a maior barreira para a busca da vacinação mostra-se na falta deconhecimento dos pais sobre efeitos destas e consequências do vírus; após esclarecimentos sobre os fatos, no entanto, 92% dospais concordaram com a vacinação de suas filhas, como descreve Osis; et al, (2014). A imunização é oferecida pelo SistemaÚnico de Saúde gratuitamente para meninas na faixa etária de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. De acordo comuma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, nas 26 capitais e no Distrito Federal, 54,6% dos jovens de 16 a 25 anos estãoinfectados com HPV, destes, 38,4% são de tipos de alto risco para o desenvolvimento de câncer. Esse dado evidencia que abaixa procura pela imunização se reflete no total de pessoas infectadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017)².Conclusão: Apesar do Governo Federal fornecer, gratuitamente a imunização à população na faixa etária analisada. Porém, aoanalisar os dados evidenciados acima, os indivíduos ainda temem acerca dos efeitos colaterais, tabus sexuais e dúvidas emrelação à eficácia da vacina, o que por sua vez reflete na quantidade de pessoas com HPV.
Referências
Departamento De Informática do SUS - DATASUS. SIPNI - Sistema de Informações Do Programa nacional De Imunizações.Imunizações: Doses Aplicadas. Disponível em: . Acesso em 20/08/2019.HOSSNE, R. S. Prevalência de papiloma vírus (HPV) perianal assintomático em pacientes portadores de HPV genital tratados noHospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Revista Brasileira de Coloproctologia, p. 223-226, 2008.MINISTÉRIO DA SAÚDE¹. Estudo apresenta dados nacionais de Prevalência da Infecção pelo HPV. 2017. Disponível em:. MINISTÉRIO DA SAÚDE². SUS passa a oferecer novos tratamentos para sintomas do HPV. 2017. Disponível em: .NETO, J. A. C.; et al. Atitudes dos pais diante da vacinação de suas filhas contra o HPV na prevenção do câncer de colo doútero. Cad. saúde colet., Rio de Janeiro , v. 24, n. 2, p. 248-251, jun. 2016 .
OSIS, M. J. D. et al. Conhecimento e atitude de usuários do SUS sobre o HPV e as vacinas disponíveis no Brasil. Revista deSaúde Pública, v. 48, p. 123-133, 2014.SOUTO, R.; et al. O papilomavírus humano: um fator relacionado com a formação de neoplasias. Revista Brasileira deCancerologia, v. 51, n. 2, p. 155-160, 2005.ZANINI, N. V.; et al. Motivos para recusa da vacina contra o Papilomavírus Humano entre adolescentes de 11 a 14 anos nomunicípio de Maringá-PR. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, v. 12, n. 39, p. 1-13, 2014.
ABORTO: UM OLHAR SOBRE O ATENDIMENTO PRESTADO AS MULHERES
1THAMYRIS GALMACCI, 2CARLA CAROLINE LEMES DA SILVA, 3JUSLAINE KARINE BARBOSA DE OLIVEIRA, 4NANCIVERGINIA KUSTER DE PAULA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: O aborto é um problema gravíssimo de saúde pública que envolve várias questões éticas, culturais e religiosas,representando atualmente uma das principais causas de morte materna, pois estima-se que ocorram em média no Brasil mais deum milhão de abortamentos induzidos ao ano (BRASIL, 2014). Neste contexto afirma o Ministério da Saúde ainda, que se faz necessário humanização ao atendimento dessas mulheres, evitando assim maiores complicações e traumas.Objetivo: Destacar a necessidade de um olhar diferente às mulheres que passam pelo processo de abortamento.Desenvolvimento: Segundo a World Health Organization, são realizados 22 milhões de abortos ilegais levando a óbito cercade 47.000 mulheres e disfunções físicas e mentais em outras 5 milhões de mulheres, que estão relacionadas a falta deatendimento . Reforçam ainda, que esses óbitos e disfunções poderiam ser evitadas pelo planejamento familiar, educaçãosexual e atenção adequada às complicações (WHO, 2013). Perante a legislação, no Brasil o aborto só pode ser realizado noscasos que coloquem em risco a vida da mulher, estupro e feto anencéfalo (BRASIL, 2014). A Organização Mundial de Saúde destaca que os abortos realizados com mulheres com renda familiar per capita e escolaridade mais elevadas relataram terabortado, respectivamente, 4,6 e 3,8 vezes mais que aquelas mais pobres e menos escolarizadas. Porém realizaram em clínicasou consultórios privados, mais tardiamente e por meio de técnicas menos seguras ( ROCHA; UCHOA, 2013). Mesmo emgestações habituais o aborto pode ocorre entre 10 a 15% das gestações e muitas vezes causam problemas físicos eemocionais, que podem tirar a qualidade de vida, podendo levar a morte (WHO, 2013). Independente da causa, espontâneo ounão, condição econômica, a mulher ainda sofre preconceitos e consequentemente negligência, o que aumenta ainda mais à dore culpa (BRASIL, 2014). Em muitas ocasiões a mulher ao procurar ajuda profissional acaba recebendo julgamentos, ameaças eofensas e quando a violência não é física ou verbal, ocorre a não verbal relatada pelas atitudes de julgamento moral,representadas por risos e olhares de condenação, implicando muitas vezes em atendimento negligenciado deixando de daratendimento seguro e humanizado, aumentando os riscos de óbitos (AGUIAR; Dʻ OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013). Destacamainda os autores, que essas atitudes principalmente em maternidades públicas refletem a precariedade do nosso sistema eapontam os profissionais de saúde que agem no exercício de autoridade e poder, tornando- se necessário uma reflexão sobreatendimento eficaz, precoce, humanizado e baseado em evidências para evitar transtornos e prejuízos à vida. Nesse contextodurante a conferência dos direitos humanos e das mulheres o Brasil assinou documentos com objetivo humanizar o atendimento,proteger os direitos reprodutivos e humanos (BRASIL, 2014). Conclusão: Necessitamos entender qual o papel dos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentessociais, no atendimento a mulher, respeitando suas fragilidades e a legislação vigente deve ser utilizada, fundamentando aassistência humanizada.
ReferênciasAGUIAR, Janaina Marques de; Dʻ OLIVEIRA, Ana Flávia Pires Lucas; SCHRAIBER, Lilia Blima. Violência institucional,autoridade médica e poder nas maternidades sob a ótica dos profissionais de saúde. Cad Saude Publica. Rio de Janeiro , v. 29,n. 11, p. 2287-2296, Nov. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2013001100015&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em 22 Ago. 2019.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atençãohumanizada ao abortamento: norma técnica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Área Técnica de Saúde daMulher. 2. ed., 2. reimp Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 60 p.: il. (Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos ;Caderno no 4)ROCHA, Bianca Nunes Guedes do Amaral; UCHOA Severina Alice da Costa. Avaliação da atenção humanizada ao abortamento:um estudo de avaliabilidade. Physis, Rio de Janeiro , v. 23, n. 1, p. 109-127, 2013 . Disponível emhttp://dx.doi.org/10.1590/S0103-73312013000100007 Acesso em 22 Ago. 2019.WORLD HEALTH ORGANIZATION. Abortamento seguro: orientação técnica e de políticas para sistemas de saúde 2ª ed,
2013. Disponível em: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/unsafe_abortion/9789241548434/pt/ Acesso em: 22Ago. 2019.
TUBERCULOSE EM PENITENCIÁRIA
1SANDRA GEANE PEREIRA DE SOUZA, 2AMANDA NASCIMENTO VASQUES DE SOUZA, 3NANCI VERGINIA KUSTER DEPAULA
1Mestra do curso Ciência Animal com ênfase em produtos bioativos/ UNIPAR1Enfermeira Especialista em Enfª. Obstª. e Neonatal 2Docente da UNIPAR
Introdução: A tuberculose é uma doença infecto contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis ou por qualqueruma das sete espécies que integram o complexo Mycobacterium tuberculosis: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. canetti,M. microti, M. pinnipedi e M. caprae (SILVA; MONTEIRO; FIGUEIREDO, 2011). Em 2016, a Organização Mundial da Saúde(OMS) relatou que há uma década declarou a tuberculose (TB) em estado de emergência no mundo, onde ainda é a maior causade morte por doença infecciosa em adultos. Segundo estimativa da OMS, dois bilhões de pessoas correspondendo a um terço dapopulação mundial está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis (BRASIL, 2016).Objetvo: Destacar a importância da identificação da tuberculose no sistema prisional. Desenvolvimento: A tuberculose nas prisões constitui um importante problema de saúde, especialmente nos países de alta emédia endemicidade (PAHO; 2007; BRASIL, 2006). Há um reconhecimento crescente do alto risco de tuberculose nessesambientes para aqueles presos e para a sociedade geral (CONINX; et al., 2000). A mobilidade dos presos dentro do sistemaaumenta este risco, uma vez que presos circulam entre diferentes prisões, entre diferentes instituições do sistema judiciário,centros de saúde e comunidade geral, após cumprirem suas sentenças (CONINX et al. (2000), DROBNIEWSKI, 1995). Afrequência de formas resistentes e multirresistentes é também particularmente elevada nas prisões e está relacionada aotratamento irregular e a detecção tardia de casos de resistência (BRASIL, 2016). Os sintomas da tuberculose no homemgeralmente são tosse crônica, febre, suor noturno, dor no tórax, anorexia (perda de apetite) e adinamia (falta de disposição).Incluem também, o escarro em fase adiantada da doença, pode apresentar sangue, dificuldade respiratória e emagrecimentoprogressivo. O diagnóstico em humanos é feito por isolamento bacteriano, através dos exames de baciloscopia através da coletade três amostras de escarro em jejum, Polymerase Chain Reaction - PCR, imunohistoquímica e radiologia do tórax, sendo denotificação compulsória obrigatória após o diagnostico (SÃO PAULO, 2004). Portanto, em resposta às necessidades de lidar comesse problema em países com alta prevalência de tuberculose, a Organização Mundial da Saúde propôs diretrizes para ocontrole da tuberculose em prisões e instituições similares, a triagem de presos na entrada da prisão pode ter um papelimportante na detecção precoce de casos (MAHER; CONINX; REYES, 1998).Conclusão: As características especificas das prisões e prisioneiros exigem abordagens direcionadas para a implementaçãodesta estratégia, deste modo estudos mostram a necessidade de um programa de tuberculose eficaz, principalmente comogarantia de um tratamento completo para os presidiários já com a doença, evitando se dessa forma que as prisões sejamfontes de transmissão de tuberculose para as próprias instituições e para a comunidade em geral.
ReferênciasBRASIL. Portal de Saúde, SUS, Tuberculose, 2016. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11045&Itemid=674> Acesso em: 18/06/2017.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Sistema deInformação de Agravos de Notificação Sinan: normas e rotinas / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,Departamento de Vigilância Epidemiológica. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. CONINX, Rudi; MAHER, Dermot; REYES Herman; GRZEMSKA Malgosia. Tuberculosis in prisons in countries with highPrevalence. Pulmão, p. 440-442. 2000.DROBNIEWSKI; F. Tuberculosis in prisons--forgotten plague. Lancet, 346: 948-949. 1995.MAHER, Dermot; CONINX, Rudi; REYES, Herman. Guidelines for the control of tuberculosis in prisons. Geneva:World HealthOrganization. 1998.PAHO - Pan American Health Organization. Regional Plan for Tuberculosis Regional Plan for Tuberculosis Control, 2006-2015.Washington: Pan American Health Organization. 2005.SÃO PAULO. Secretaria do Estado da Saúde São Paulo, 2004, disponível em: . Acesso em: 14/06/2017.SILVA, Andreia Thaisa Pinto; MONTEIRO, Silvio Gomes; FIGUEIREDO, Patricia de Maria Silva. Perfil epidemiológico dospacientes portadores de tuberculose extrapulmonar atendidos em hospital da rede pública no estado do Maranhão. Rev BrasClin Med. São Paulo, p. 4-11, 2011
HÉRNIAS DA PAREDE ABDOMINAL
1IGOR KEIDI OKAMOTO OISHI, 2GUSTAVO PEDRO ALVES, 3GUILHERME TEORO, 4GUILHERME TEORO, 5JHONATANDOS SANTOS FRANCO, 6ALTAIR DE SOUZA CARNEIRO
1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR4Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: As hérnias ocorrem a partir da fraqueza muscular ou de uma frouxidão de tecidos protetores, que pode resultar naprotrusão tecidual ou de um ou mais órgãos através de uma abertura, ou em locais onde a aponeurose e a fáscia não sãocobertas por músculo estriado. Essa patologia é frequentemente tratada em serviços de cirurgia geral e, por conta disso, tornou-se um problema de saúde pública (LEX, 1963). Objetivo: Dissertar sobre a incidência das hérnias, principais locais onde ocorrem, assim como descrever os seus fatorespredisponentes.Desenvolvimento: O trabalho baseou-se em informações populacionais sobre as diversas hérnias existentes como a umbilical,epigástrica, ventro-lateral de Spiegel, femoral, incisional e inguinal. De acordo com Lex (1963), estas patologias têm em comum aprotrusão de um tecido ou de um ou mais órgãos. Normalmente só há uma protuberância no local, que pode ocorrer apenasdurante atos de tossir, levantar peso ou se esforçar, devido ao aumento da pressão onde se localiza. As causas predisponentessão representadas por fraquezas, geralmente congênitas, mas também podem resultar de má técnica cirúrgica ou cuidadosinadequados no pós-operatório. Os fatores de risco incluem obesidade, predisposição genética, sexo, tabagismo e esforço físico.O encarceramento das hérnias ocorre devido a sua irredutibilidade, e, na maioria dos casos, não há estrangulamento ouobstrução do tecido. Quando ocorre, o estrangulamento se caracteriza pela obstrução do fluxo sanguíneo local que, se nãotratado, pode levar à necrose tecidual e, nos casos mais graves, à sepse. Além disso, segundo Parswa (2016), a protuberânciapode ser empurrada (reduzida) pela própria pessoa ou por um médico. A hérnia encarcerada não apresenta sintomas adicionaise a protuberância não pode ser reduzida. Já uma hérnia estrangulada causa dor constante e que aumenta progressivamente,associando náuseas e vômitos. Cabe ressaltar que esta não pode ser reduzida e é sensível ao toque.Conclusão: Sendo assim, conforme Lex (1963), hérnias são uma patologia de prevalência considerável em trabalhadores que seutilizam continuamente da força física para realização de suas atividades profissionais. O diagnóstico é simples e deve ser feitocom base na anamnese e em exames de imagem específicos, podendo o seu manejo ser considerado de urgência (hérniaencarcerada) ou de emergência (hérnia estrangulada) e sendo o tratamento exclusivamente cirúrgico. Sendo assim, deve-se terum cuidado adequado e um acompanhamento eficiente para que os fatores de risco não sejam os pontos determinantes para odesenvolvimento da hérnia.
ReferênciasPARSWA A. M. D. Hérnia da parede abdominal. Traduzido pelo Manual do ministério da saúde. MSD. New York. jan 2016.Disponível em:. Acesso em: 30 mai 2019. LEX, A. Hérnias em geral: revisão didática. Revista de Medicina, v. 47, n. 1, p. 13-38. São Paulo, 1963.
CONTRIBUIÇÕES DA NATAÇÃO PARA INDIVÍDUOS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
1FERNANDO SERAFIM DA SILVA, 2DANIEL SANTOS EVANGELISTA, 3ALISSON FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, 4KESSIARODRIGUES , 5JAYME RODRIGUES DIAS JUNIOR
1Acadêmico do curso de Educação Física da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) trata-se de uma patologia previsível e tratável caracterizada pelaobstrução progressiva do fluxo aéreo que não e totalmente reversível culminando em diversas dificuldades e limitações(TORRES, CUNHA, VALENTE, 2018). A prática da natação pode ser benéfica a essa população por diminuir os sintomas dessagrave doença que é causadora de aproximadamente trinta mil vítimas por ano no Brasil. Sabe-se que a prática de exercíciosfísicos podem melhorar a função respiratória e cardíaca dos praticantes, nesse contexto, a natação pode promover benefíciosaos portadores de doenças respiratórias melhorando seu quadro de saúde e qualidade de vida.Objetivo: Mostrar os benefícios da natação em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica.Desenvolvimento: Natação é a capacidade de deslocamento de seres vivos em mio aquático, nessa perspectiva, aos sereshumanos pode ser uma atividade física, recreativa e terapêutica devido a sua capacidade de reabilitar algumas patologias.Diversos estudos foram realizados com prática de natação em indivíduos com diversas doenças como doenças osteoarticulres,cardiovasculares e pulmonares. Sendo assim, em relação ao DPOC um estudo conduzido por Morano ( 2007) com 10 pessoasdo sexo masculino e feminino e idade de trinta e cinco e oitenta anos, em tratamento da reabilitação pulmonar mostraramresultados positivos em relação ao quadro de saúde como aumento no condicionamento físico e melhora nas atividadesfuncionais. Segundo Amorim (2014), os exercícios de condicionamento cardiovascular na água incluem andar, correr, pular,nadar, chutar, entre outras atividades rítmicas contínuas que elevam o metabolismo e com isso melhoram a funçãocardiovascular. Além da melhoria no quadro da doença, os exercícios trazem um condicionamento físico aprimorado efortalecimentos da musculatura em geral. Gadelha; Morano; de Sousa Pinto (2007) a água é um meio excelente para produzirótimas progressões de exercícios em pacientes em estágio inicial da doença, pois oferece mais resistência que o ar, taisadaptações cardiovasculares, pode reduzir de forma eficaz os sintomas da DPOC. Além dos benefícios cardiovasculares, anatação pode melhora a função respiratória devido o fortalecimento dos músculos acessórios, pois a respiração contra aresistência da água pode melhorar a ativação dos músculos respiratórios. Os movimentos do nado melhoram o funcionamento dodiafragma que é o principal músculo respiratório podendo influenciar na redução dos sintomas da DPOC (LIMA; JUNIOR, 2011).Conclusão: Percebe-se que a natação possui uma contribuição significativa para pacientes com DPOC, reduzindo os sintomasda doença devida inúmeras adaptações fisiológicas que acontecem nos músculos esqueléticos, na função cardíaca e respiratóriaque podem culminar em melhorar do quadro de saúde e qualidade de vida do paciente.
ReferênciasAMORIM, D. C. et al. A reabilitação na água como modalidade terapêutica para as doenças cardiopulmonares. RevistaAmazônia Science & Health, v.2, n.4, p. 42-52, 2014, .LIMA, E. V. N. C. L; LIMA, W. L; NOBRE, A; SANTOS, A. M; BRITO, L. M. O; COSTA, M. R. S. R. Treinamento muscularinspiratório e exercício respiratório em crianças asmáticas. J. Bras. Pneumol. v.34, n.8, p. 552-558, 2008.MORANO, M. T. A. P; PINTO, J. M. S. Hidroterapia no tratamento de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. RevistaBrasileira em Promoção da Saúde; v.20; n.4; p. 221-225; 2007.TORRES, K. D. P; CUNHA, G. M; VALENTE, J. G. Tendências de mortalidade por doença pulmonar obstrutiva crônica no Rio deJaneiro e em Porto Alegre, 1980-2014. Epidemiol. Serv. Saúde. v.27, n.3, 2018.
INVESTIGAÇÃO DE MUTAÇÕES DO GENE ERG-11 DE ISOLADOS CLÍNICOS DE Candida albicans
1ANA FRIDA DUARTE, 2MONISE CAROLINE CAPELIN, 3VOLMIR PITT BENEDETTI
1Discente de Farmácia, PIBIC/Unipar1Discente de Farmácia, PIC/Unipar2Docente da UNIPAR
Introdução: A candidíase é a principal infecção fúngica oportunista do ser humano, as infecções causadas pelas leveduras dogênero Candida são bastante extensas podendo atingir diversos sítios anatômicos do corpo humano, com diferente grauimportância. Este grupo de fungos possui um alto poder de patogenicidade, e isto se deve ao grande conjunto de fatores devirulência, dos quais se destacam a capacidade de aderência (adesinas), variabilidade genotípica e os mecanismos deresistência a drogas antifúngicas (MENEZES et al., 2007). Um dos mecanismos mais importante para o surgimento da resistênciaocorre devido a alterações mutagênicas em sequências do gene ERG11, o qual é responsável pela codificação da enzimalanosterol 14α-Demetilase, foco de ação dos antifúngicos triazólicos (XU; CHEN; LI, 2008).Objetivo: Neste contexto, esta pesquisa propõe determinar o perfil de sensibilidade a antifúngicos poliênicos e azólicos deisolados de Candida albicans obtidos de diferentes pacientes e identificar as possíveis alterações mutagênicas do gene ERG11.Metodologia: Para a avaliação da sensibilidade das leveduras, foram utilizadas 15 amostras de Candida albicans isoladasexclusivamente da saliva de pacientes oncológicos. Foram testados os antifúngicos Fluconazol, Nistatina e Cetoconazol atravésdo método disco-difusão em ágar Mueller-Hinton suplementado com 2% de glicose e 0,5μg/mL de azul de metileno, de acordocom o documento M44-A2 (CLSI, 2010). Foram selecionadas colônias de aproximadamente 1,0mm de diâmetro, as quais foramsuspensas em 1ml de solução salina estéril. As cepas foram inoculadas nas placas, previamente preparadas com o meio, eposteriormente foram adicionados os discos dos antifúngicos. A leitura e mensuração dos halos baseou-se nos dados fornecidospelo fabricante (Cecon). Considerando como valores de referência para a nistatina, halo >10 mm (Sensível) e ≤10 mm(Resistente);para o cetoconazol, halo > 20 mm (Sensível), halo 10-20 mm (Intermediário), halo <10 mm (Resistente) e para ofluconazol, halo > 19 mm (Sensível), halo 15-18 mm (Intermediário) e < 14 mm (Resistente). Para a investigação de mutaçõesgenéticas, inicialmente extraiu-se o DNA das leveduras. Em seguida, foram empregadas técnicas moleculares de PCR, a qual écapaz de amplificar fragmentos da região ITS1-5.8S-ITS2 do DNA ribossomal (rDNA) e regiões distintas do gene ERG11. Oproduto do PCR será submetido a sequenciamento automatizado o qual possibilitará a determinação da variabilidade genéticados isolados e identificação das alterações mutagênicas no gene ERG11.Resultados: Com relação ao teste de sensibilidade a drogas antifúngicas, observou-se que todas as leveduras foram sensíveis aNistatina 100UI e ao Cetoconazol 50mcg. Ainda, 13,3%(2) das leveduras foram classificadas como resistentes ao Fluconazol25mcg. Dos pacientes que apresentaram amostras resistentes, ambos são do sexo feminino e apenas um foi submetido a umtratamento anterior para o câncer. Os tipos de câncer associados à colonização por esses germes resistentes foram câncer deintestino e cólon e câncer de mama e pulmão.Discussões: Em razão do quadro de imunossupressão induzido pelos quimioterápicos, os pacientes oncológicos apresentam umexpressivo registro de infecções oportunistas, como a candidíase (JESUS, et al., 2016). Segundo observado neste estudo, algunsisolados de Candida albicans apresentaram-se resistente ao fluconazol, contudo estes achados são diferentes dos obtidos porReinhardt et al (2019), que em seu estudo investigou o padrão de sensibilidade de leveduras obtidas da saliva de paciente sobtratamento contra o câncer, encontrando todos os isolados sensíveis ao fluconazol.Conclusão: Neste estudo observou-se que alguns isolados de Candida albicans eram resistente ao fluconazol, e que estudosposteriores serão realizados para determinar se esta resistência esta relacionada a mutações no gene ERG11.
ReferênciasCLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE. Method for antifungal disk diffusion susceptibility testing of yeasts:approved guideline M44-A2. CLSI, Wayne, PA, USA, 2010.JESUS, Leila Guerreiro De et al. Repercussões orais de drogas antineoplásicas: uma revisão de literatura - Oral effects ofanticâncer drugs: a literature review. RFO UPF, v. 21, n. 1, p. 130-135, Passo Fundo, 2016.MENEZES, Everardo Albuquerque et al. Freqüência e atividade enzimática de Candida spp. na cavidade oral de pacientesdiabéticos do serviço de endocrinologia de um hospital de Fortaleza-CE. J. Bras. Patol. Med. Lab., v. 43, n.4. Rio de Janeiro,2007.REINHARDT, Leandro et al. Sensitivity to antifungals by Candida spp samples isolated from cases of chronic atrophic candidiasis(CAC). Braz. J. Biol., Rio de Janeiro, 2019. SILVA, Ana Cláudia Nascimento et al. Teste de sensibilidade de Candida albicans
pelo método de disco-difusão: uma comparação de meios de cultura. Revista Brasileira de Análises Clínicas, Rio de Janeiro,v. 48, n.4, p. 363-369, 2016.XU, Yonghao; CHEN, Lamei; LI, Chunyang. Susceptibility of clinical isolates of Candida species to fluconazole and detection ofCandida albicans ERG11 mutations. J Antimicrob Chemother.v. 61, p. 798 804, 2008.
TUMORES CONGÊNITOS DO PESCOÇO: UMA REVISÃO
1TAIS NUNES LOPES DA SILVA, 2JORGE TSUTOMU SHIMOMURA, 3ISABELA MARTINS OLIVEIRA, 4BEATRIZ AYUMISHIOTANI, 5DENISE ALVES LOPES, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A complexidade anatômica do pescoço propicia o surgimento de diversos tipos de anomalias congênitas, que devemser diferenciadas de doenças inflamatórias e de neoplasias. Como em outras regiões, as anomalias congênitas cervicais sãomais comumente diagnosticadas nos primeiros anos de vida. Apesar disso, muitos casos se manifestam mais tardiamente,inclusive na terceira idade (LEHN et al, 2007). As lesões congênitas cervicais são afecções raras e, algumas vezes, dediagnóstico difícil. Apesar disso existem certas características clínicas e de imagem que podem ajudar no diagnóstico diferencialdestas afecções, mesmo nos casos mais raros (CHAGAS et al, 2012). O exame físico deve ser completo, para afastar apossibilidade de outras anomalias simultâneas em regiões distintas do corpo. O exame loco-regional deve abordar toda a viaaerodigestiva superior e atenção especial deve ser dada à região cervical (LEHN et al, 2007). Objetivo: Analisar as características marcantes de tumores congênitos do pescoço.Desenvolvimento: O pescoço (ou região cervical) é uma região da anatomia humana compreendida entre a cabeça e o tórax eapresenta grande relevância clínica, uma vez que abriga diversas estruturas anatômicas com variadas funções orgânicas(SANTOS et al, 2013).A partir da terceira semana, quando o embrião mede cerca de 5mm, surgem cinco arcos branquiais,constituídos pelos três folhetos germinativos, de cada lado da região cervical, que se definem externamente por fendas e, nointerior, pelas bolsas faríngeas. O aparelho branquial origina inúmeras estruturas de cabeça e pescoço (DEDIVITIS et al,1998).Para formular a hipótese diagnóstica de um tumor cervical é necessário um conjunto de informações, a começar pelaapresentação de um abaulamento no pescoço onde podem coexistir outros sinais e sintomas. O quadro clínico pode serdiversificado e acarretar situações médicas desafiadoras a um diagnóstico preciso, mas é necessário estar atento às gravesdoenças envolvidas (SANTOS et al, 2013). Massas cervicais congênitas, císticas e mediastinais incluem linfangioma, teratoma,cisto neuroentérico, cisto do ducto tireoglosso, cisto da fenda branquial, malformações vasculares ou hérnia pulmonar. Elaspodem ser encontradas em algum nível do descenso tímico normal, desde o ângulo da mandíbula até o mediastino superior(BÓSCOLLO et al, 2010). Cerca de 80% dos linfangiomas localizam-se no terço inferior do pescoço, junto ao triângulo posterior.Lesões maiores podem atingir o compartimento visceral e comprimir a via aerodigestiva. A maior parte dos casos é diagnosticadaao nascimento pela deformidade ou aumento de volume do local acometido. Alguns casos podem se manifestar mais tardiamente(LEHN et al, 2007). O tratamento é cirúrgico eletivo, com excelentes resultados e complicações pós-operatórias escassas. Aindicação é estética, pela deformidade cervical cervical, pela drenagem crônica das fístulas e pela possibilidade de infecção eabscessos, relativamente comuns. Casos infectados devem ser tratados clinicamente antes da cirurgia, pois a dissecção nestascondições é mais difícil, malignização é incomum (DEDIVITIS et al, 1998). Conclusão: As afecções congênitas do pescoço são muito variadas e de um diagnóstico difícil, o conhecimento daembriogênese é essencial para a detecção desses casos. Sendo assim, as anomalias congênitas são de fácil resolução masexigem um tratamento rápido e eficaz, para evitar o aparecimento de outras morbidades.
ReferênciasBÓSCOLLO, A. C. P.; et al. Cisto tímico: uma opção no diagnóstico diferencial das massas cérvico-mediastinais. AssociaçãoBrasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, vol.76, nº.4, 2010.CHAGAS, J. F.; et al. A raridade das afecções congênitas cervicais: anomalias do ducto tireoglosso. Revista Brasileira de cirurgia de cabeça e pescoço, vol. 41, nº.2, p.89-92, 2012.DEDIVITIS, R. A.; et al. Anomalias branquiais: revisão de 23 casos. Revista do colégio brasileiro de cirurgiões, vol. XXV, nº. 5,p.339-341, 1998.LEHN, C. N.; et al. Tumores congênitos do pescoço. Revista da Associação Médica Brasileira, vol. 53, nº. 4, p. 288-290, 2007.SANTOS, F. B. G.; et al. Tumorações cervicais: prevalência num Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Município de
CÂNCER DE MAMA: CAUSAS, PREVENÇÃO E CONTROLE
1PAULA MOSCOVITS QUEIROZ, 2NARA RUBIA GONCALVES, 3KARINA DETOFOL, 4FRANCISLAINE APARECIDA DOS REISLIVERO
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Docente do Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e do PPG em Ciência Animal/UNIPAR
Introdução: O câncer de mama é uma doença que figura como a segunda causa de morte de mulheres no mundo. Devido à altaincidência, exige-se a atenção das políticas públicas de saúde voltadas para o controle e a prevenção desta enfermidade, emface da alta mortalidade, o que já é uma preocupação por si mesma, e porque esta doença causa nas mulheres transtornospsicológicos que afetam a imagem e a percepção de sexualidade ligada ao seio feminino (SILVA; RIUL, 2011). Assim, devem-sedifundir políticas que se voltem para a prevenção e o controle desta doença. Objetivos: Demonstrar que a prevenção e o controle podem diminuir o risco de desenvolvimento do câncer de mama.Desenvolvimento: A Política Pública de Saúde no Brasil tem atualmente a prevenção e o controle do câncer de mama comouma das prioridades em sua agenda, dada a sua grandeza como uma enfermidade que causa grandes transtornos sociais efinanceiros para o país (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2015). Esta doença tem como agentes potenciais e fatores deriscos para o seu desenvolvimento o envelhecimento, história familiar e os aspectos relacionados à vida reprodutiva, bem comoaspectos relacionados ao consumo de álcool, excesso de peso e falta de atividade física. Para o INCA (2014), as mudanças noestilo de vida das mulheres como a ausência de maternidade, a reposição hormonal e a maternidade após os 30 anos de idade,contribuem para aumentar o risco da doença. A prevenção do câncer de mama pode ser analisada de duas maneiras, por meioda prevenção primária e da prevenção secundária. Freitas (2011) entende que a prevenção primária ocorre através de medidasmais simples e que estão relacionadas aos hábitos de vida como o controle da obesidade, do sedentarismo, da alimentaçãogordurosa e da ingestão alcoólica em excesso. Corrobora esta tese o Instituto Nacional do Câncer (2011) que trás também oentendimento de que a prevenção ocorre na forma de eliminação ou diminuição da exposição aos fatores de risco, como a buscapor uma alimentação mais saudável, a inclusão de atividade física, o controle do peso corporal, afirmando que estas medidaspodem evitar 28% dos casos de câncer de mama. A prevenção secundária ocorre através do diagnóstico precoce do câncer, quepode ser detectado por meio de exames menos sofisticados, como é o caso do autoexame da mama (AEM) ou o exame clínicoda mama (ECM), que geralmente são desempenhados por profissionais capacitados e treinados. (LOURENÇO et al, 2013) Osprofissionais de saúde devem orientar as mulheres em relação a prevenção, mostrando a importância destas realizarem aautopalpação das mamas, mesmo que elas não saibam utilizar técnicas mais específicas. No entanto, deve-se ter bastantecuidado com a realização do autoexame, visto que, dados relatam que a autopalpação das mamas pode gerar efeitos negativos,como o acréscimo do número de biópsias de lesões benignas, falsa segurança, porque, ao examinar-se, a mulher pode se sentirsegura do resultado, eliminando a busca por outros métodos mais confiáveis. (OSHIRO et al, 2014) Por causa da alta taxa demortalidade, o câncer de mama trás inúmeras preocupações para o governo, e ações como a campanha Nós podemos. Euposso que é promovida mundialmente pela União Internacional para o Controle e Prevenção do Câncer e aderida pelo país, etem como objetivo estimular a população de todo o planeta a adotar hábitos individualmente ou em grupo de vida saudáveis eque tenham o objetivo de prevenir o câncer de mama, como não fumar, reduzir o consumo de bebida alcoólica e evitar exposiçãoaos raios ultravioletas, além de manter uma alimentação saudável e prática de exercícios físicos. A prevenção e o controle docâncer de mama devem ser alcançados por meio de ações educativas com a intenção de mostrar as mulheres que este tipo decâncer pode ser prevenido através de atitudes sadias no seu cotidiano que visam a coibir os fatores de risco e o desenvolvimentoda doença (BRASIL, 2016).Conclusão: O câncer de mama já faz parte da Política Pública de Saúde do Brasil por causa dos inúmeros prejuízos que estadoença traz para o país. Assim, o governo tenta através de campanhas e ações mostrar para a população que medidas e hábitossaudáveis podem ajudar na prevenção desta doença, bem como exames de rotinas e mamografias podem ajudam na descobertaprecoce do câncer de mama, fazendo com que a chance de cura seja muito mais efetiva quando encontrada a enfermidade emestágio inicial.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Campanha de prevenção do câncer enfatiza hábitos de vida saudáveis. 2016. Disponível em
http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/22101-campanha-de-prevencao-do-cancer-enfatiza-habitos-de-vida-saudaveis.Acesso 01 ago. 2019.FREITAS CRP, TERRA KL, MERCÊS NNA. Conhecimentos dos acadêmicos sobre prevenção do câncer de mama. Rev GaúchaEnferm [Internet]. 2011[cited 2014 Mar 14];32(4):682-7 Available from: http://www.scielo.br/pdf/ rgenf/v32n4/v32n4a07.pdfINSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Ações de prevenção primária e secundária no controle do câncer de mama. 2011.Disponível em: . Acesso em: 15 ago. 2019.INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. Incidência de Câncer no Brasil, Estimativa 2014. Disponível em: http://www.inca.gov.br.Acesso 15 ago. 2019.INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil/ Instituto Nacional de Câncer José AlencarGomes da Silva. Rio de Janeiro: INCA, 2015. Disponível em:< http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/estimativa-2016-v11.pdf>.Acesso em: 01 ago. 2019.LOURENÇO, T. S; MAUAD, E. C; VIEIRA, R. A. C. Barreiras no rastreamento do câncer de mama e o papel da enfermagem:revisão integrativa. Rev. bras. enferm. vol.66 no.4 Brasília July/Aug. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672013000400018. Acesso 28 Set 2019.OSHIRO, M. L; BERGMANN, A; SILVA, R. G; COSTA, K. C; TRAVAIM, I. E. B; SILVA G. B; THULER, L. C. S. Câncer de mamaavançado como evento sentinela para avaliação do programa de detecção precoce do câncer de mama no Centro-Oeste doBrasil. Rev Bras Cancerol [Internet]. 2014; 60(1):15-23 Available from: http://www.inca.gov.br/rbc/n_60/v01/ pdf/04-artigo-cancer-de-mama-avancado-como-evento-sentinela-para-avaliacao-do-programa-de-deteccao-precoce-do-cancer-de-mama-no-centro-oeste-do-brasil.pdfSILVA, P.A.; RIUL, S.S. Câncer de mama: fatores de risco e detecção precoce. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 64, p. 1016-1021, 2011.
DADOS DE PRÉ-NATAL DAS PUÉRPERAS ATENDIDAS EM TRÊS MATERNIDADES DO SUDOESTE DO PARANÁ
1KETLIN MARGARIDA WARMLING, 2ALINE MARA MARTINS OTTOBELI, 3ANA MARIA CONTE, 4MARCELA GONCALVESTREVISAN, 5GESSICA TUANI TEIXEIRA, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Enfermeira graduada pela Universidade Paranaense3Docente do Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente do Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão5Docente do Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: As políticas e programas voltados à saúde materno-infantil, com foco na qualidade de atenção do pré-natal, buscareduzir as taxas de morbimortalidade materna e perinatal (POGLIANE, 2014). Cabral e colaboradores (2018), afirmam que éfundamental uma assistência individualizada, destacando os fatores socioeconômicos, os obstétricos, hábitos de vida, aspectosnutricionais. Desta forma, é essencial conhecer o perfil das mulheres grávidas, buscando qualidade na assistência eintervenções, para que haja um progresso saudável da gestação, além disso, estas informações auxiliam a equipe a promoverações que melhorem a qualidade de vida das mesmas (RODRIGUES et al. 2017).Objetivo: Observar os dados do pré-natal de puérperas atendidas em três maternidades do Sudoeste do Paraná.Material e Métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, transversal e retrospectiva. Obtidaatravés de entrevistas utilizando questionário estruturado pelas próprias pesquisadoras com base na literatura disponível. Aamostra foi constituída por 85 puérperas que tiveram o desfecho do parto nas três maternidades estudadas, totalizando 255mulheres investigadas. As participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os dados foramtabulados no programa Microsoft Excel (2010) e posteriormente analisados pelo SPSS versão 21.0. Foi utilizada a estatísticadescritiva para caracterização da amostra e distribuição das frequências das diferentes variáveis analisadas. Salienta-se aindaque, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos sob o protocolo 2.675.387.Resultados: Observou-se que 66,3% das pacientes tinham como convênio o Sistema Único de Saúde, seguida de 22,4%conveniados como Unimed, Copel, Sanepar, entre outros. Deste público, 99,6% efetivou o pré-natal, além disso, 88,6% oiniciaram já no primeiro trimestre de gestação, realizando mais de seis consultas (96,1%). O serviço mais usado para estescuidados foi o público (60,0%) e o profissional obstetra foi o profissional mais citado na realização do pré-natal (78,4%), seguidodo médico (59,6%) e enfermeiro (39,6%). Observou-se que o profissional que realizou o pré-natal não foi o mesmo do parto namaioria dos casos (64,3%)e que as consultas no pré-natal conseguiram sanar as dúvidas da grande maioria das puérperas(90,2%). Verificou-se que o aconselhamento recebido no pré-natal foi que o parto normal é mais seguro (38,4%), contudo 71,4%das pacientes não participaram de grupos de gestantes que abordasse assuntos pertinentes as vias de parto e orientações dagestação no pré-natal, ao passo que 90,2% das mulheres tiveram oportunidade de expor suas dúvidas, medos e preocupaçõessobre a via de parto.Discussão: No presente estudo, verificou-se prevalência de internamentos pelo SUS, registrando um alto índice de mulheresque realizaram o pré-natal (99,6%), corroborando com estudo de Tomasi e Fassa (2017), que identificaram uma significativaadesão para a realização dos cuidados pré-natais na última gestação (98,9%). Foi possível observar que 88,6% das puérperasiniciaram o pré-natal no primeiro trimestre. Domingues et al (2015), afirmam que quanto mais cedo o acompanhamentoda gestante, maiores são as possibilidades de intervenção em casos de patologias no binômio, como anemia, hipertensãoarterial, diabetes mellitus e infecções por sífilis e HIV, favorecendo a redução de agravos. Observou-se que 96,1% das mulheresrealizaram mais de 6 consultas durante a gestação, divergindo de dados encontrados em estudo de Mayor et al (2018), queevidenciaram taxa de 60,0%. Neste contexto, na presente pesquisa a maioria das consultas ocorreram em serviços públicos e emsua maioria realizadas por médicos obstetras. Viellas et al (2014) assegura que para o Ministério da Saúde o pré-natal éfundamental na atenção à saúde das mulheres, além disso, práticas rotineiras que acolham as puérperas, ações educativas epreventivas, que minimizem as dúvidas e transmitam informações seguras, devem ser efetuadas. No atual estudo, verificou-seprevalência de mulheres que não realizaram o pré-natal e o parto com o mesmo profissional. Tais dados contrapõem a pesquisade Silva et al (2015) que reforçam que o vínculo entre profissional e paciente é essencial, permitindo uma assistência maishumana e individualizada. Ainda assim, 90,2% das mulheres relataram que durante o pré-natal, conseguiram sanar suas dúvidas,e durante o mesmo 38,4% receberam aconselhamentos que o parto vaginal é mais seguro. Dessa forma, 71,4% das mulheresnão participaram de grupos de gestantes que abordasse assuntos pertinentes as vias de parto e orientações da gestação no pré-
natal, contudo, 90,2% tiveram a oportunidade de expor suas dúvidas, medos e preocupações sobre a via de parto em algummomento da gestação, fortalecendo assim, a autonomia da mulher no processo de parturição.Conclusão: Na presente pesquisa, foi possível observar que a maioria das mulheres realizou o pré-natal de maneira bastanteefetiva, fazendo uso dos serviços públicos de saúde. Há de se considerar que a participação deste público em atividades degrupo ainda está aquém, e, mesmo que as gestantes considerem suas dúvidas sanadas durante as consultas do pré-natal, éimportante que os profissionais de saúde atuem como facilitadores no processo de empoderamento e protagonismo da mulher,frente ao parto.
ReferênciasCABRAL, Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira. et al. Receios na gestação de alto risco: uma análise da percepção dasgestantes no pré-natal. Rev Mult Psic, v.12, n.40, p.151-162, 2018.DOMINGUES, Rosa Maria Soares Madeira. et al. Adequação da assistência pré-natal segundo as características maternas noBrasil. Rev Panamericana de Salud Pública, v. 37, p. 140-147, 2015.MAYOR, Marcela Souza Sotto. et al. Avaliação dos Indicadores da Assistência Pré-Natal em Unidade de Saúde da Família, emum Município da Amazônia Legal. Rev Cereus, v.10, n.1, p.91-100, 2018.POLGLIANE, Rúbia Bastos Soares. et al. Adequação do processo de assistência pré-natal segundo critérios do Programa deHumanização do Pré-natal e Nascimento e da Organização Mundial de Saúde. Rev Ciênc e Saúde Col, v. 19, p. 1999-2010,2014.RODRIGUES, Antonia Regynara Moreira. et al. Gravidez de alto risco: análise dos determinantes de saúde. Sanare, v.16,n.1, p.23-28, 2017.SILVA, Maria Rocineide Ferreira da. et al. O cuidado além da saúde: cartografia do vínculo, autonomia e território afetivo nasaúde da família. Rev Min Enferm, v.19, n.1, p.249-54, 2015.TOMASI, Elaine. et al. Qualidade da atenção pré-natal na rede básica de saúde do Brasil indicadores e desigualdadessociais. Cad de Saúde Pública, v.33, n. 3, 2017.VIELLAS, Elaine Fernandes. et al. Assistência pré-natal no Brasil. Cad de Saúde Pública, v.30, p.85-100, 2014.
EXERCÍCIO FÍSICO PARA PESSOAS COM DOENÇAS CARDÍACAS
1ALISSON FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, 2DANIEL SANTOS EVANGELISTA, 3KESSIA RODRIGUES , 4FERNANDOSERAFIM DA SILVA, 5JAYME RODRIGUES DIAS JUNIOR
1Acadêmico do Curso de Educação Física da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: As doenças cardiovasculares são responsáveis por 20% de todas as mortes no mundo em indivíduos acima de 30anos, no Brasil é a terceira maior causa de morte (FAVARATO E MANSUR, 2012). Existem alguns fatores de risco modificaveiscomo alimentação e nivel de atividade fisica e não modificaveis como genética, sexo e idade. Assim, a prática de exercício físicoé componente fundamental para melhora da saúde e qualidade de vida dos pacientes cadiopatas.Objetivo: Discutir os principais efeitos na prática de exercícios físicos em indivíduos com cardiopatias.Desenvolvimento: A hipertensão arterial é uma doença caracterizada pela elevação sustentada da pressão arterial obtendoníveis iguais ou superiores a 140/90 mmHg, se não controlada pode causar diversas doenças cardíacas e principalmente aaterosclerose (AMARO, 2008). Dentre as condutas não medicamentosas para o controle de pressão arterial, a prática regular deexercícios físicos vem sendo recomendada por profissionais da saúde como uma das mais eficazes, além disso, evidênciasapontam que uma única sessão é capaz de reduzir o nível de pressão arterial por um período superior a 24 horas (LOIOLA et al.,2015). Outro aspecto importante, quando se trata de exercício físico para portadores de cardiopatias é que, dependendo doquadro de saúde do individuo, o estimulo do exercício pode ser mais prejudicial do que benéfico, por isso é de extremaimportância o acompanhamento médico nesse processo, porém está bem claro na literatura que o exercicio físico pode trazerbeneficios no quadro de saúde de pacientes cadiopatas proporcionando melhorias ao funcionamento cardiovascular. Assim,algumas evidências positivas relacionadas a pratica de exercício para cardipatas é que reduz os níveis de colesterol LDL eaumenta os níves de colesterol HDL, a prática frequente de exercicio físico aumenta função antioxidante, nesse contexto, reduz oprocesso de formação de aterosclerose. Além disso, reduz a gordura corporal e melhora a função endotelial, promovendomelhora da função e proteção dos vasos sanguíneos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2015).Conclusão: A prática de exercício físico pode ser benéfica para portadores de cardiopatias, pois proporciona inúmerasadaptações que previnem a evolução da doenças e melhora a autonomia dos individuos favorecendo o desenvolvimento dasatividades da vida diária, a prática de exercício físico como componente do tratamento de doenças cardiovascular, deve ter aavaliação médica, pois em casos mais graves a prática de exercício pode oferecer riscos.
ReferênciasAMARO, G; LATERZA, M. C; NEGRÃO, C. E; RONDON, M. P. B. Exercício Físico Regular e Controle Autonômico naHipertensão Arterial. Rev.SOCERJ. v.21, n.5, p.320-328, 2008.BARBOSA, J. L; RUBIA, N. M.S; KIRINUS, G. Os Benefícios do Exercício Físico na Hipertensão Arterial. Revista Brasileira dePrescrição e Fisiologia do Exercício. v. 3, n. 13, p. 33-44, 2009.FAVARATO, A. P.; MANSUR, D. Mortalidade por Doenças Cardiovasculares no Brasil e na Região Metropolitana de SãoPaulo. Arq. Bras. Cardiol. v.99, n.2, p.755-761, 2012.LOIOLA, S. A; MOREIRA, L. L; APARECIDA, C. E; PEIXOTO, V. R; SEGHETO, W; CARMARGOS; Z. T; APARECIDA, D. L.Blood pressure in hypertensive women after aerobics and hydrogymnastics sessions. Nutr. Hosp, v.32, n.2, p.823-8, 2015.Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade Brasileira de Hipertensão / Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI DiretrizesBrasileiras de Hipertensão. Arq Bras Cardiol, 2010..
HISTÓRIA OBSTÉTRICA DAS PUÉRPERAS ATENDIDAS EM TRÊS MATERNIDADES DO SUDOESTE DO PARANÁ
1MARCELA GONCALVES TREVISAN, 2KETLIN MARGARIDA WARMLING, 3ALINE MARA MARTINS OTTOBELI, 4BRUNABARP, 5GESSICA TUANI TEIXEIRA, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Docente do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão5Docente do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: Conhecida como uma fase onde ocorrem mudanças emocionais e fisiológicas, a gestação é caracterizada como umevento natural de muitos significados. Representa ainda um misto de sentimentos, como o medo do que a espera, insegurança,incertezas e a felicidade de gerar um filho, cercado de preceitos sociais e culturais (MARTINS et al., 2018). É sabido que noBrasil, os nascimentos cirúrgicos configuram uma das taxas mais elevadas no mundo, chegando a 88% nos serviços privados e52% no público (QUEIROZ et al., 2017). O parto cesárea é recomendado em casos em que o nascimento por via vaginal possatrazer riscos para a mãe e a criança, indicado em casos de sofrimento fetal, hemorragia e entre outros, ao passo que o partonormal é caracterizado como um procedimento sem cirurgia, mais seguro, tendo menores chances de complicações após o partoe de recuperação mais rápida (COSTA, 2015). Objetivo: Observar histórica obstétrica das puérperas atendidas em três maternidades do Sudoeste do Paraná.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, transversal e retrospectiva. Obtida através deentrevistas utilizando um questionário estruturado pelas próprias pesquisadoras com questões fechadas elaborado com base naliteratura disponível. A amostra foi constituída por 85 puérperas que tiveram o desfecho do parto nas três maternidadesestudadas, totalizando 255 mulheres investigadas. Ainda assim, as participantes assinaram o termo de consentimento livre eesclarecido (TCLE). Os dados foram tabulados no programa Microsoft Excel (2010) e posteriormente analisados pelo SPSSversão 21.0. Foi utilizada a estatística descritiva para caracterização da amostra e distribuição das frequências das diferentesvariáveis analisadas.Resultados: No que se refere à história obstétrica 53,3% das puérperas eram multigestas, e, quanto ao parto anterior, para31,0% das pacientes este foi cesárea. No que diz respeito ao período ao parto atual, a interrupção da gestação deu-se a termopara a grande maioria (82,0%). Ainda, 54,5% das puérperas referiram terem sido questionadas quanto ao tipo de parto desejado,neste sentido houve predomínio de parto vaginal (53,7%). Contudo, quando questionadas sobre o tipo de parto submetida 81,6%das mulheres relataram parto cesárea. Observou-se como intercorrência de maior incidência infecção do trato urinário (15,3%),seguida de diabetes gestacional (9,0%), hipertensão arterial (5,9%) e descolamento de placenta (5,9%).Discussão: Observou-se no presente estudo prevalência de multigestas (53,3%) e com histórico de parto anterior de cesariana(31%). Paris e colaboradores (2014), afirmam que o elevado número de cesáreas está relacionada a vários fatores, entre eles asvariações culturais e socioeconômicas, além do modelo medicalizado e intervencionista na atenção ao parto. Além disso, Gamaet al., (2014), afirma que há interferência pelo número de internações, com números superiores em convênios, quandocomparada a internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Quanto à interrupção do parto atual, verificou-se maior número denascimentos à termo (82,0%), corroborando com Barros e colaboradores (2013), quando a maioria dos recém nascidos a termoapresenta perímetro cefálico normal, com peso de 2.500 a 3.499 gramas em média, reduzindo também os riscos demorbimortalidade neonatal e infantil. No presente estudo a maioria das mulheres relataram conseguir expor sua decisão emrelação à preferência do parto (54,5%), e desejar parto vaginal (53,7%), contudo, a maior parte das gestantes foram submetidasao parto cirúrgico (81,6%), indo de encontro aos dados apresentados por Vale e colaboradores (2015), realizada em umamaternidade pública do Rio Grande do Norte, apontando preferência por parto vaginal (58,0%), entretanto, 56,2% realizou partocesárea, evidenciando que a escolha por parto normal está relaciona do com a recuperação imediata e experiências negativas nopós-operatório, ao passo que a preferência por cesarianas está diretamente relacionada ao medo da dor, insegurança naassistência e laqueadura. Observou-se ainda, elevadas taxas de intercorrências durante a gestação, destacando infecção dotrato urinário (15,3%) e diabetes gestacional (9,0%), Aragão et al., (2018), demonstrou que fatores como multiparidade e uso desubstâncias, álcool e tabaco pré-dispõe as intercorrências gestacionais, atentando para a alta incidência de infecção urinária,principalmente no primeiro trimestre gestacional. As complicações durante a gestação são dificuldades para a saúde pública, e,considerando a importância dos indicadores maternos e fetais do país, indicam risco elevado para partos prematuros, abortos e
consequentemente aumento dos índices de morbimortalidade (WHO, 2015).Conclusão: Conclui-se que a assistência materna ainda é considerada um problema de saúde pública, bem como os altosíndices de partos cirúrgicos. Os profissionais devem buscar conhecimento permanente, prestando uma assistência cada vez maishumanizada e de qualidade. O enfermeiro pode atuar na prevenção do agravo, assim como nas orientações de promoção asaúde desde o período pré-natal até o puerpério.
ReferênciasARAGÃO, N. S. C. et al. Intercorrências no primeiro trimestre: assistência ao pré-natal nas unidades de saúde da família dorecôncavo baiano. Revista Brasileira de Saúde Funcional, v.6, n.1, p.40-52, 2018.BARROS, F.; MATIJASEVICH, A.; SILVEIRA, M. Estudo Prematuridade e suas possíveis causas . Boletim Científico dePediatria, v. 4, n. 2, 2015.COSTA, M.N. et al. Parto: direito de escolha da mulher. Revista Saber Digital, v. 8, n. 1, p. 146-163, S.I, 2015.GAMA, S. G. N. et al. Fatores associados à cesárea entre primíparas adolescentes no Brasil, 2011- 2012. Cad Saúde Pública,v.30, n.1, p.279-86, 2014.MARTINS, A.P.C. et al. Aspectos que influenciam a tomada de decisão da mulher sobre o tipo de parto. Rev Baiana Enferm. v.32, 2018. PARIS, G. F. et al. Tendência temporal da via de parto de acordo com a fonte de financiamento. Rev Bras Ginecol Obstet, v.36,n.12, p.548-54, 2014.QUEIROZ, T.C. et al. Processo de decisão pelo tipo de parto: uma análise dos fatores socioculturais da mulher e sua influênciasobre o processo de decisão. Revista Científica Fagoc Saúde, v.2, p.70-77, 2017.VALE, L. D. et al. Preferência e fatores associados ao tipo de parto entre puérperas de uma maternidade pública. Rev GaúchaEnferm, v.36, n.3, p.86-92, 2015.World Health Organization. Trends in maternal mortality: 1990 to 2015. Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World BankGroup and the United Nations Population Division. Geneva: World Health Organization, 2015.
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM CUIDADOS PALIATIVOS NA ONCOLOGIA
1RAYANE DA SILVA NUNES, 2BARBARA ANDREO DOS SANTOS LIBERATI
1Acadêmica do curso de Enfermagem da Unipar1Docente da UNIPAR
Introdução: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) possibilita ao enfermeiro o desenvolvimento de umaassistência integral e de qualidade capaz de identificar suas reais necessidades, atuando de forma humanizada e resolutiva aomesmo, de acordo com as necessidades físicas, os aspectos sociais, emocionais e espirituais da pessoa sob cuidados paliativosoncológicos, promovendo o alívio da dor e afirmar a vida, considerando o óbito como um processo natural (BRANDÃO et al.2017).Objetivo: Avaliar a importância da sistematização da assistência de enfermagem em cuidados paliativos.Desenvolvimento: Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva, exploratória do tipo revisão integrativa da literatura, quepermite a síntese de conhecimento e propicia a aplicação dos resultados dos principais estudos voltados a prática da análise dosconteúdos sobre a importância da sistematização da assistência de enfermagem em cuidados paliativos. Para tanto foi elaboradaa seguinte questão norteadora: Como ocorre a sistematização da assistência de enfermagem em cuidados paliativos naoncologia? Na coleta de dados e seleção dos artigos, foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão. Os critérios deinclusão utilizados foram artigos disponíveis online, no período de 2010 e 2018, de forma completa e gratuita, disponível emportuguês. E os critérios de exclusão foram textos que não atendiam aos critérios de inclusão e que não se voltavam à temáticaproposta. Foram utilizados os seguintes descritores (DeCs): Enfermagem oncológica e cuidados paliativos. Foram identificadosduzentos e setenta e seis estudos nas bases de dados consultadas, após analise minuciosa, treze se adequam aos critérios deinclusão e exclusão que foram selecionados para compor o referido estudo. No Lilacs foram selecionados cinco artigos (38,46%),no Scielo foram selecionados quatro artigos (30,76%) e no BDENF quatro artigos (30,76%). Os estudos estão publicados emperiódicos nacionais, e em relação aos recortes temporais destaca-se que houve predominância do ano de 2018 com três artigos(23,07%), seguido por 2015, 2014, 2012 e 2010 com dois artigos (15,38%), e os periódicos de 2017 e 2011 com apenas umartigo (7,69%) em cada ano, por periódicos. Para organizar o trabalho de enfermagem é indispensável a implementação da SAE,que é baseada em métodos científicos e referenciais teóricos, que deve ser ajustado de acordo o perfil da clientela,estabelecendo prioridades no atendimento (SILVA; MOREIRA, 2011). Silva e Moreira (2011, p. 177) enfatizam que prática deenfermagem sistematizada é operacionalizada por meio da aplicação das fases que compõem o processo de enfermagem ,gerando ações efetivas no cuidado paliativo oncológico, utilizando ações dinâmicas pautadas nas fases da SAE, de formainterrelacionada e interativa, que contribui para a melhoria nas práticas de cuidado de acordo com as necessidades dospacientes e familiares. Silva e Moreira (2010) ressaltam que para a efetivação SAE no âmbito operacional é indispensável ocompromisso com as fases do processo de enfermagem, atendendo as múltiplas e complexas dimensões relacionadas aoprocesso de finitude, devendo ser encaradas de forma flexível e dinâmica, para a promoção do conforto e da qualidade de vida.As fases da SAE devem ser tratadas de forma contínua, orientada e integral. Silva et al. (2014) destacam que a integralidade nocuidado paliativo ocorre somente quando há valorização do atendimento das necessidades do paciente e familiares, sendoindispensável interação e comunicação de todos os integrantes da equipe de saúde, especialmente a equipe de enfermagem queatua no contexto da atenção paliativa oncológica.Conclusão: Os cuidados da enfermagem prestados a pacientes sob cuidados paliativos oncológicos merecem destaque, dado ocrescimento dos casos de câncer no país. Desta forma, o enfermeiro é essencial para promover bem-estar físico, psicossocial eespiritual, visando a qualidade de vida do paciente e familiares, colaborando no desenvolvimento de planos de cuidadosindividualizados de acordo com as exigências da SAE.
ReferênciasBRANDÃO, M. C. P. et al. Cuidados paliativos do enfermeiro ao paciente oncológico. Revista Brasileira de Saúde Funcional, v.1, n. 2, p. 76-88, dez. 2017.SILVA, M. M.; MOREIRA, M. C. Desafios à sistematização da assistência de enfermagem em cuidados paliativos oncológicos:uma perspectiva da complexidade. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 12, n. 3, p. 483-490. SILVA, M. M.; MOREIRA, M. C. Sistematização da assistência de enfermagem em cuidados paliativos na oncologia: visão dosenfermeiros. Acta Paulista de enfermagem, São Paulo, v. 24, n. 2, p. 172-178, 2011.SILVA, M. M. et al. Indícios da integralidade do cuidado na prática da equipe de enfermagem na atenção paliativa oncológica.Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 16, n. 4, p. 795-803, out./dez. 2014.
INFECÇÃO NA INSERÇÃO DO CATETER VENOSO CENTRAL: O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO EDETECÇÃO PRECOCE
1JANAINA RODRIGUES, 2BARBARA ANDREO DOS SANTOS LIBERATI
1Acadêmica do curso de Enfermagem da UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: As infecções na inserção do cateter venoso central ocorrem quando um microrganismo presente na inserção atingea corrente sanguínea podendo aumentar o tempo e os custos de internação, e em casos mais graves, podendo resultar emsepse (RAMOS, 2018). Tais infecções podem ser evitadas com adoção de técnicas assépticas, como a esterilização adequadados materiais, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e, principalmente, a padronização das ações profissionais edos acompanhantes. O enfermeiro, nesse aspecto, pode auxiliar na realização das técnicas corretas, principalmente no que serefere ao manejo seguro desse dispositivo, treinamento permanente e educação continuada dos técnicos e auxiliares deenfermagem para o cumprimento das normas de prevenção e detecção precoce dessas infecções (SANTOS et al., 2014). Objetivo: Analisar o papel do enfermeiro nos cuidados de enfermagem prestado ao paciente em uso de cateter venoso central,com vistas à prevenção e detecção precoce de infecções na inserção do cateter. Desenvolvimento: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. Iniciou-se o trabalho com a elaboração da perguntanorteadora: Qual o papel do enfermeiro nos cuidados direcionados aos pacientes em uso de CVC no intuito de prevenir edetectar precocemente as infeções na inserção do cateter? Para responder tal questão foram utilizados os seguintes descritores:
Cuidados de enfermagem , infecções relacionadas a cateter , prevenção e controle , nos bancos de dados maisimportantes para a comunicação científica utilizados em pesquisa: MEDLINE, LILACS, BDenf, por ser referência em estudos naárea da saúde, principalmente relacionado a enfermagem. Para a coleta de dados e seleção dos artigos, foram estabelecidoscritérios de inclusão e exclusão. Como critério de inclusão foram selecionados artigos originais publicados nos anos de 2013 a2019, completos, disponíveis on-line, em português. Como critério de exclusão: artigos que não abordam os cuidados deenfermagem em com pacientes adultos em uso de CVC e prevenção de infecção, publicados, antes de 2013, e artigosduplicados. A partir das combinações dos descritores, foram localizados 226 (duzentas e vinte e seis) artigos. Destes, após oscritérios metodológicos estabelecidos pela pesquisa, nove foram incluídos por apresentar maior relevância com a temáticaproposta pela pesquisa. Foram selecionados oito artigos e uma dissertação. Observa-se que o ano de maior publicação deu-seno ano de 2017 com quatro publicações. A inserção de cateter venoso central tem finalidade terapêutica, sendo estabelecido deacordo com os critérios de indicação e as condutas de implantação, manutenção e remoção devem ser preconizadas a fim deproporcionar a continuidade e eficácia das intervenções e prevenir infecções (BARBOSA et al., 2017). Os cuidadossistematizados dos CVCs são promovidos pela equipe de enfermagem, sendo de responsabilidade exclusiva do enfermeiro aavaliação e prescrição dos cuidados preconizados para o manuseio dos dispositivos, tendo como principal objetivo reduzir astaxas de infecções primárias de corrente sanguínea. Um dos principais ações a serem tomadas para a redução das taxas deinfecções são os cuidados com o óstio da inserção, especialmente quanto ao procedimento de limpeza, por meio de técnicasassépticas com uma solução a 0,5% de clorexidina alcoólica e higienização das mãos, exigindo ainda o uso de luvas estéreis,gaze estéril e máscara facial descartável e troca periódica de curativos ou quando o mesmo estiver sujo, úmido ou não integro(ALMEIDA et al., 2018). Para garantir o cumprimento de protocolos de assistência, é necessária a capacitação continuada dosprofissionais, com objetivo de atenderem todas as medidas de detecção e prevenção de infecções relacionadas ao CVC,especialmente infecções da corrente sanguínea relacionada a esse dispositivo (DANTAS et al., 2017). Conclusão: A implementação de ações e intervenções de acordo com o Planejamento de Enfermagem é essencial para aprevenção e detecção precoce das infecções na inserção do CVC. Os enfermeiros devem seguir as recomendaçõesestabelecidas pelas instituições a fim de reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde, acatando sempre as etapas deSistematização da Assistência de Enfermagem.
ReferênciasALMEIDA, T. M. et al. Prevenção de infecções relacionadas ao cateter venoso central nãoimplantado de curta permanência. Revista de enfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 26, p. 1-5, 2018.BARBOSA, C. V. et al. Saberes da equipe de enfermagem sobre cuidados com cateter venoso central. Revista de enfermagemUFPE, Recife, v. 11, n. 11, p. 4343-4350, nov., 2017.DANTAS, G. D. et al. Adesão da equipe de enfermagem às medidas de prevenção de infecções de corrente sanguínea. Revistade enfermagem UFPE, Recife, v. 11, n. 10, p. 3698-3706, out., 2017.
RAMOS, S. R. T. S. Infecções Intra-hospitalares. In: HIRSCHHEIMER, M. R.; CARVALHO, W. B.; MATSUMOTO, T. TerapiaIntensiva Pediátrica e Neonatal. 4 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. p. 1257-1277.SANTOS, S. F. et al. Ações de enfermagem na prevenção de infecções relacionadas ao cateter venoso central: uma revisãointegrativa. Revista SOBECC, São Paulo, v. 19, n. 4, p. 219-225, out./dez. 2014.
NOVO ALVO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER: UMA REVISÃO DA LITERATURA
1CAMILA MORENO GIAROLA, 2DANILO MAGNANI BERNARDI, 3VITOR UGO DIAS BARREIROS, 4SAMANTHA WIETZIKOSKISATO, 5FRANCISLAINE APARECIDA DOS REIS LIVERO, 6EVELLYN CLAUDIA WIETZIKOSKI LOVATO
1Acadêmico Bolsista PEBIC/CNPQ1Acadêmico do Mestrado em Plantas Medicinais e Ftoterápicos2Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa crônica caracterizada pela perda progressiva deneurônios colinérgicos (SMITH, 1999). Clinicamente manifesta-se pela perda de memória, distúrbios cognitivos, prejuízo nosmovimentos voluntários, redução da fala e da capacidade de reconhecer objetos, mudanças de personalidade, além dealterações físicas (COREY-BLOOM, 2002). O tratamento atualmente utilizado é sintomático e tem por objetivo melhorar aqualidade de vida do paciente e seus familiares (SOARES et al., 2017). A etiologia é desconhecida, entretanto, um estudorecente propôs a participação de proteases tóxicas denominadas gingipains como fator determinante para a manifestação dadoença (DOMINY et al. 2019). Objetivo: Assim, este estudo teve por objetivo realizar uma revisão da literatura sobre um possível novo alvo para o tratamentoda DA. Desenvolvimento: A DA é a patologia neurodegenerativa mais frequente associada à idade, cujas manifestações cognitivas eneuropsiquiátricas resultam em deficiência progressiva e incapacitação. A doença afeta aproximadamente 10% dos indivíduoscom idade superior a 65 anos e 40% acima de 80 anos (SERENIKI e VITAL, 2008). A neurodegeneração na DA afetaprimariamente neurônios colinérgicos no núcleo basal de Meynert e no núcleo septal medial, resultando em uma perda entre 30-95% da inervação colinérgica para o córtex e hipocampo (COREY-BLOOM, 2002). A progressiva perda neuronal nestas regiõesestá associada com as reduções do metabolismo de glicose e do fluxo sanguíneo cerebral (DE LA TORRE, 1994). A exataetiologia da DA ainda não é conhecida, mas os déficits cognitivos característicos da doença estão associados com as alteraçõesneuropatológicas no córtex e no sistema límbico, os quais são regiões para o processamento do aprendizado, memória,linguagem e habilidades visuoespaciais (COREY-BLOOM, 2002). Ocorre deposição da proteína beta amiloide formando placasextracelulares que se tornam progressivamente mais compactas e neurotóxicas, além de emaranhados neurofibrilares no córtexe hipocampo (RAMOS et al., 2009; TAYLOR, DELLAROZA, 2010). Recentemente, foi publicada uma nova teoria proveniente deum estudo clínico correlacionando a presença de gingipains no tecido cerebral com a DA (DOMINY et al. 2019). As gingipainssão produzidas pela bactéria Porphyromonas gingivalis, frequentemente presente na periodontite crônica. Em um estudo pré-clinico realizado em camundongos, foi demonstrado que a infecção oral por P. gingivalis resultou em colonização cerebral eaumento da produção de Aβ1-42, um componente das placas amiloides (marcador fisiopatológico da DA) (DOMINY et al., 2019).Baseado na limitação do tratamento farmacológico, e na nova teoria que tenta explicar a causa da DA, a busca por extratos,óleos essenciais e compostos isolados que apresentam atividade antimicrobiana contra P. gingivalis pode se tornar valiosa epotencialmente útil no tratamento da DA, sendo um novo importante alvo para a pesquisa científica. Conclusão: Embora muitos estudos tenham contribuído para elucidar os mecanismos fisiopatológicos e biopsicossociais dadoença de Alzheimer, a perda neuronal seletiva ainda não foi totalmente compreendida e o tratamento ainda é limitado aossintomas. Mais ainda, a busca desses mecanismos tem resultado no desenvolvimento de novas drogas para o tratamento dessapatologia, sendo a descoberta do envolvimento da bactéria P. gingivalis um importante novo alvo de estudo.
ReferênciasCOREY-BLOOM, J. The abc of Alzheimerʼs disease: cognitive changes and their management in Alzheimerʼs disease and relateddementias. International Psychogeriatric. v. 14, n. 1, p. 51-75, 2002.DE LA TORRE, J.C. Impaired brain microcirculation may trigger Alzheimerʼs disease. Neuroscience Biobehavioral Review. v.18, n.3, p. 397-401, 1994.DOMINY, S. S. et al. Porphyromonas gingivalis in Alzheimerʼs disease brains: Evidence for disease causation and treatment withsmall-molecule inhibitors. Science Advances, v. 5, n. 1, p. 1-21, 2019.RAMOS, A,M. et al. Demência do idoso: Diagnóstico na atenção primaria à saúde. Projeto Diretrizes Associação Médica
Brasileira e Conselho Federal de Medicina. p. 1 12, 2009.SERENIKI, A; VITAL, M. A. B. F. A doença de Alzheimer: aspectos fisiopatológicos e farmacológicos. Revista de Psiquiatria doRio Grande do Sul. v.30, n.1 (Supl). 2008.SMITH, M. Doença de Alzheimer. Revista Brasileira de Psiquiatria e Genética, v.21, s. 2, p. 3 6, 1999.SOARES, N. M. et al. Impacto econômico e prevalência da doença de Alzheimer em uma capital brasileira. Ciência & Saúde, v.10, n. 3, p. 133-138, 2017.
O USO DE DIURÉTICOS E OS SEUS EFEITOS ADVERSOS
1CAMILA MORENO GIAROLA, 2TAZIANE MARA DA SILVA, 3THALYA VITÓRIA BECKER, 4KAMUNI AKKACHE COUTINHO,5PRISCILA LUZIA PEREIRA NUNES, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmico Bolsista PEBIC/CNPQ1Acadêmico da Unipar2Acadêmico da Unipar3Acadêmico da Unipar4Acadêmico da Unipar5Docente da UNIPAR
Introdução: Os diuréticos são medicamentos responsáveis por aumentar o débito e o volume urinário, sendo que a maioria delesaumenta a excreção urinária de solutos, em especial de sódio e cloreto (HALL e GUYTON, 2017). São divididos em cincoclasses, porém, especialmente os diuréticos da classe dos tiazídicos e correlatos têm sido utilizados no tratamento dahipertensão arterial há mais de 40 anos e permanecem como uma das cinco classes de medicamentos anti-hipertensivos deprimeira linha (BATLOUNI, 2009). Considerando que os diuréticos são usados cronicamente, por vezes durante toda a vida, éimportante assinalar as reações adversas suscetíveis de ocorrer nessa circunstância, sobretudo eletrolíticas e metabólicas. Alémdisso, há as interações farmacológicas com outros agentes anti-hipertensivos e com alguns fármacos utilizados frequentementeno tratamento de comorbidades associadas (GIORGI, 2005).Objetivo: A presente revisão busca fazer uma breve discussão sobre os principais efeitos adversos do uso crônico de diuréticos.Desenvolvimento: A maioria dos diversos diuréticos disponíveis para uso clínico atua diminuindo a reabsorção de sódio pelostúbulos renais causando natriurese, o que, por sua vez, ocasiona diurese. No entanto, há particularidades no mecanismo de açãoentre as várias classes de remédios, uma delas é o fato de inibirem a reabsorção tubular em locais diferentes ao longo do néfronrenal (GUYTON e HALL, 2017). Os diuréticos são divididos em cinco classes: osmóticos; inibidores da anidrase carbônica; dealça; tiazídicos e poupadores de potássio. Apesar de serem agrupados em diferentes classes, observa-se que há diferençasestruturais, farmacodinânias e farmacocinéticas mesmo naqueles que pertencem à mesma classe. (MOREIRA, CIPULLO,MARTIN, 2013). A utilização mais relevante dos diuréticos é no tratamento da hipertensão. Combinações como as de diuréticotiazídico e poupador de potássio podem ser altamente eficazes, proporcionando uma terapia quase ideal para alguns pacientes.Os diuréticos também desempenham papel relevante no tratamento de edema, independente da etiologia. Logo, através domanejo farmacoterapêutico adequado, o uso dos diuréticos também tem demonstrado ser relevante para reduzir o acúmulo delíquidos no tecido de pacientes com Insuficiência Cardíaca e Síndrome Nefrótica (de ALMEIDA et al., 2017). Entretanto, a partirdo local de ação e do seu mecanismo, os diuréticos podem apresentar vários efeitos adversos. Entre os efeitos adversos dosdiuréticos de alça estão: a ototoxicidade, devido ao uso de altas doses em pacientes com insuficiência renal ou em associaçãocom agentes nefrotóxicos; a hipocalemia; a hipomagnesemia; ginecomastia e a hipopotassemia. Em relação aos principaisefeitos adversos dos diuréticos tiazídicos incluem: a hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia e hiperuricemia (LIPSITZ,2013). Além disso, distúrbios eletrolíticos promovidos pelos diuréticos podem aumentar a toxicidade de diversos medicamentos(JOHNSON et al., 1999).Conclusão: Os efeitos adversos dos diuréticos estão na dependência direta do seu local de atuação e do mecanismo de ação.Por conseguinte, o conhecimento desses fatores é fundamental para a elaboração de estratégias de acompanhamento adequadode pacientes que estão em tratamento com diuréticos. O ajuste da dose e reposição de eletrólitos, são práticas que otimizam aprevenção dos desdobramentos de distúrbios eletrolíticos ou ácidos-básicos e garantem a segurança e a aderência do pacienteao tratamento.
ReferênciasDe ALMEIDA, L. M. et al. Diuréticos: Um artigo de revisão. Revista Cientifica Fagoc Saúde, v. 2, p. 78-83, 2017.GIORGI, D.M.A. Diuréticos. In: Batlouni M, Ramires JAF. Farmacologia e terapêutica cardiovascular. 2.ed. São Paulo:Atheneu. p. 113-33. 2005.HALL, J. E.; GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017JOHNSON, M.D; NEWKIRK, G.; WHITE, J.R. Jr. Clinically significant drug interactions. Postgrad Med, v. 105, p. 193-223, 1999.LIPSITZ, L.A. A 91-year-old woman with difficult-to-control hypertension: a clinical review. Jama, v. 310, p. 1274-1280, 2013.MOREIRA, G.C; CIPULLO, J.P; MARTIN, J.F.V. Existem diferenças entre os diversos diuréticos? Revista Brasileira Hipertens,
RELAÇÃO DA ENDOCARDITE INFECCIOSA E TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS
1SUELEN STEFANONI BRANDAO, 2WENDREO CHARLES DE CAMPOS, 3ANDRESSA ANDRADE NOVAES, 4JOAO MURILOGONCALVES GAZOLA, 5LETICIA DANTAS GROSSI, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmico Bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica Bolsista do PIBIC/UNIPAR3Acadêmico Bolsista do PIBIC/UNIPAR4Acadêmica Bolsista PIBIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A Endocardite Infecciosa (EI) caracteriza-se por um processo contaminante na superfície do endocárdio envolvendoas valvas cardíacas. Pode ser fatal quando não tratada. Essa patologia inicia-se por uma bacteremia e tem relação comdiferentes fatores de risco do paciente, podendo apresentar complicações cardíacas, sistêmicas, imunes e vasculares (JUNIOR,2010). A infecção frequentemente produz vegetações, que são estruturas compostas de plaquetas, fibrina e microrganismos(BARBOSA, 2004).Objetivo: O presente artigo tem por objetivo, através de uma revisão da literatura, salientar a importância do diagnóstico deEndocardite Infecciosa em relação aos pacientes com problemas cardíacos submetidos à procedimentos odontológicos.Desenvolvimento: A EI é mais comum na forma bacteriana mais pode ser causada por outros tipos de microorganismos, comofungos. Apresenta-se de forma aguda ou subaguda. A aguda originando-se pela entrada direta na corrente sanguínea de umgrande volume de microorganismos. A subaguda, pela introdução de microorganismos na corrente sanguínea durante arealização de procedimentos odontológicos em pacientes de risco (ROCHA, 2010). A Endocardite bacteriana subaguda (EBS),embora agressiva, com frequência, tem início insidioso e progride vagarosamente. A EBS é causada com mais frequência porestreptococos (em especial o grupo viridans, microaerófilos, anaeróbicos e estreptococos do grupo D não enterocócicos eenterococos) e, menos comumente, por S. aureus, Staphylococcus epidermidis. Geralmente, a EBS desenvolve-se em valvasanormais após bacteremia assintomática, decorrente de infecções periodontais, gastrointestinais ou geniturinárias(ARMSTRONG, 2017). Segundo Wilson et al. 2007 apud Almeida, 2009 a American Heart Association (AHA) propõe, que aprofilaxia antibiótica da EI seja realizada previamente a todos os procedimentos odontológicos que envolvem manipulação dotecido gengival ou da região periapical ou perfuração da mucosa bucal, somente para pacientes com condições cardíacas de altorisco para a EI\". Os antibióticos indicados são ministrados em dose única, via oral, 30 a 60 minutos antes do procedimento. Hádiferença na prescrição entre crianças e adultos. Sendo que para as crianças é indicada a oxacilina (50mg/Kg ou 2g), em casosde alergia à Penicilina indica-se a Clindamicina (20mg/Kg ou 600mg). Para adultos a indicação é de Cefalexina (50mg/Kg ou 2g),Azitromicina ou Claritromicina (15mg/Kg ou 500mg). Além da administração oral também pode-se usar a via parenteral(Intravenosa ou Intramuscular). Nestes casos recomenda-se para crianças a Ampicilina (50mg/Kg ou 2g); Cefazolina ouCeftriaxone (50mg/Kg ou 1g) em casos de alergia à Penicilina e para adultos a Clindamicina (20mg/Kg ou 600mg); Cefazolina ouCeftriaxone (50mg/Kg ou 1g) (SILVA, 2017). Conclusão: Trata-se de uma doença que pode levar à morte, cujo tratamento envolve antibioticoterapia, em alguns casos maisgrave a mesma pode evoluir para procedimentos cirúrgicos sendo necessária a retirada da vegetação. Recomenda-se então,orientar o paciente com risco cardíaco quanto aos hábitos de higiene bucal e prevenção das doenças entre elas EI, pois o riscode bacteremia está associada a hábitos diários do paciente.
ReferênciasARMSTRONG, Guy P. Endocardite Infecciosa. MD, North Shore Hospital, Auckland. Disponível em:https://www.msdmanuals.com. Acesso em 13 de agosto 2019.BARBOSA, Márcia M. Endocardite infecciosa: perfil clínico em evolução. Arquivo Brasileiro de Cardiologia, São Paulo, v. 83, n.3, p. 189-190, 2004.BRANCO-DE-ALMEIDA, Luciana Salles, et al. Profilaxia da endocardite infecciosa: recomendações atuais da American HeartAssociation (AHA). Revista de Periodontia, v. 19, n. 4, p. 7-10, 2009.CAVEZZI JUNIOR, Orlando. Endocardite infecciosa e profilaxia antibiótica: um assunto que permanece controverso para aodontologia. RSBO (Online), v. 7, n. 3, p. 372-376, 2010. ROCHA, Larissa Michelle Alves, et al. Conhecimentos e condutas para prevenção da endocardite infecciosa entre cirurgiões-
dentistas e acadêmicos de odontologia. Revista Odontológica do Brasil Central, v. 17, n. 44, p. 146-153, 2010. SILVA, Rosna de Deus Andrade Decotelli. Fatores associados à prescrição de antibióticos para profilaxia e tratamento daEndocardite Infecciosa baseada em evidências por cardiologistas do Estado do Rio de Janeiro. 2017. Dissertação (Mestrado emPesquisa Clínica em Doenças Infecciosas) - Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Rio de Janeiro. 2017.
OS AGRAVOS A SAÚDE DOS TRABALHADORES E POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTÓXICOS
1BARBARA DE SOUZA ARCANJO, 2MARISA CASSIA VIEIRA DE ARAUJO BENTO, 3IRINEIA PAULINA BARETTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem/PIC da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem/PIC da UNIPAR2Docente do Programa de Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterapicos na Atenção Basica
Introdução: Foi a partir da Revolução Verde na década de 1950 nos Estados Unidos onde teriam a intenção de modernizar eaumentar a produtividade na agricultura, que os agrotóxicos começaram a ser utilizados em grande escala. Já no Brasil essemovimento chega em 1960 acompanhado da implantação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA). (SIQUEIRA,MOURA, CARNEIRO, et al., 2013). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010) os ultimos dadosnotificam que a agricultura avança com passos significantes a cada ano, com isso o Brasil é atualmente um dos principaisprodutores agrícolas do mundo, o que colaborou com o aumento das empresas agropecuárias, chegando a 5,17 milhões já em2006, isso se explica pela grande procura e utilização desses produtos e compostos químicos até então chamados de veneno.Objetivo: Avaliar a prevalência de agravos a saúde dos trabalhadores e populações envolvidos na aplicação de defensivosquímicos. Desenvolvimento: Para Porto e Soares (2012) o Brasil seguiu uma tendência mundial, ou seja, os incentivos governamentaisfaziam parte de uma política mundial para países em desenvolvimento, pautada na Revolução Verde , a política de subsídiostambém contribuiu para o uso indiscriminado de agrotóxicos, que passaram a ser utilizados não só pelos agricultores mais bemcapitalizados, mas também por produtores familiares compelidos e impulsionados a adquirir esse pacote tecnológico de umaforma passiva e sistematicamente descontrolada, como resultado, observou-se um grande desrespeito às prescrições técnicas epráticas agrícolas que expunham os agricultores e trabalhadores rurais aos riscos dos agrotóxicos. Atualmente o Brasil é o maiorconsumidor de agrotóxicos reconhecidos cientificamente como danosos a saúde publica e ao meio ambiente, oque é proibido emoutros países ainda circulam aqui no Brasil, segundo a ANVISA, dos 50 agrotóxicos mais utilizados em nossas lavouras, 22 sãoproibidos na União Europeia. (CARNEIRO; DELGADO; AUGUSTO; ALMEIDA, 2014). Soares; Almeida e Moro (2003, apudBowles & Webster, 1995), afirma que a aplicação indiscriminada de agrotóxicos afeta tanto a saúde humana quantoecossistemas naturais. Os impactos na saúde podem atingir tanto os aplicadores dos produtos, os membros da comunidade e osconsumidores dos alimentos contaminados com resíduos, mas, sem dúvida, a primeira categoria é a mais afetada por este. Aexposição a agrotóxicos pode levar a problemas respiratórios, tais como bronquite asmática e outras anomalias pulmonares;efeitos gastrointestinais, e, para alguns compostos, como organofosforados e organoclorados, distúrbios musculares, debilidademotora e fraqueza ( SOARES; ALMEIDA E MORO 2003, apud ANTLE & PINGALI, 1994). Para o ministério da saúde brasileiroao saber da gravidade das intoxicações dos trabalhadores e populações, por agrotóxicos, é fundamental, para o controle damorbimortalidade, a existência de um sistema de vigilância em saúde efetivo e integrado. A sua estruturação possibilitará, aoSistema Único de Saúde (SUS), o cuidado ampliado à saúde das populações nos diversos processos produtivos em que sãoutilizados os pesticidas, guiado por abordagens integradoras e interdisciplinares. Isso contribuirá, também, para odesenvolvimento de um modelo agrícola ecológico e sustentável no Brasil, que preserve a saúde do trabalhador rural (BRASIL;2009).Conclusão: A inserção desse debate na comunidade através da educação em saúde é imperiosa, no intuito de mobilizar-se paraenfrentar esta situação, transmitir informações e cohencimento para os agricultores e consumidores quanto aos elevados riscosda utilização de agrotóxicos para a saúde humana e para o meio ambiente é essencial para mudar essa realidade.
ReferênciasANTLE, J. M. & PINGALI, P. L., 1994. Pesticides, productivity, and farmer health: A Philippine case study. American Journal ofAgricultural Economics, 76:418-430. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v19n4/16860.pdf. Acesso em: 19 Ago. 2019BOWLES, R. G. & WEBSTER, J. P. G., 1995. Some problems associated with the analysis of the costs and benefits of pesticides.Crop Protection, 14:593- 600. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v19n4/16860.pdf. Acesso em: 19 Ago 2019.CARNEIRO, Fernando et al. Os impactos dos agrotóxicos na saúde, trabalho e ambiente no contexto do agronegócio no Brasil.Rio de Janeiro: Abrasco, 2014. Disponível em: http://www.saudecampofloresta.unb.br/wp-content/uploads/2014/03/Os-impactos-dos-agrot%C3%B3xicos-na-sa%C3%BAde-trabalho-e-ambiente-no-contexto-do-agroneg%C3%B3cio-no-Brasil.pdf. Acesso em:15 Ago 2019.Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sala de Imprensa. Notícias: IDS 2010: país evolui em indicadores desustentabilidade. Rio de Janeiro; 2010. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-
agencia-de-noticias/releases/13887-asi-ids-2010-pais-evolui-em-indicadores-de-sustentabilidade-mas-ainda-ha-desigualdades-socioeconomicas-e-impactos-ao-meio-ambiente. Acesso em: 12 Ago 2019.Ministério da Saúde (BR). Plano integrado de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos. Brasília: DF; 2009.Disponível em:http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/maio/31/3.%20c%20plano_agrotoxicos_versao_aprovada%20GTVS%20.pdf.Acesso em: 19 Ago 2019.Porto MF, Soares WL. Modelo de desenvolvimento, agrotóxicos e saúde: um panorama da realidade agrícola brasileira epropostas para uma agenda de pesquisa inovadora. Rev Bras Saúde Ocup. 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbso/v37n125/a04v37n125.pdf. Acesso em: 19 Ago 2019.Siqueira DF, Moura RM, Carneiro GE, et al. Análise da exposição de trabalhadores rurais a agrotóxicos. Rev. Bras. Prom.Saúde. 2013; 26(2):182-191. Disponível em: https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/2902. Acesso em: 19 Ago 2019.
PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DO FRÊNULO DA LÍNGUA EM BEBÊS - "TESTE DA LINGUINHA"
1GUSTAVO HENRIQUE ISTOSKI HEINZ, 2NATHALIA VOLPATTO FERREIRA, 3ANA CAROLINA SOARES FRAGA ZAZE
1Acadêmico do Curso de Odontologia PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia PIBIC UNIPAR2Docente do Curso de Odontologia da UNIPAR
Introdução: A anquiloglossia, também conhecida por língua presa, é uma anomalia de desenvolvimento congênita originada porum defeito na apoptose de células embrionárias do assoalho bucal e parte inferior de língua. (PENHA et al., 2018). No Brasil, alei nº 13.002, sancionada pela Presidência da República em 2014, determinou a obrigatoriedade da aplicação do Protocolo deAvaliação do Frênulo da Língua em Bebês - \"Teste da Linguinha\" em todos os recém-nascidos nas maternidades do Brasil.(MARTINELLI et al., 2018). Os recém-nascidos (RN) diagnosticados com anquiloglossia podem ser submetidos à liberação dofreio lingual, por meio da técnica cirúrgica frenotomia lingual , o que possibilita a melhora na amamentação. (POMINI et al.,2018).Objetivo: Apresentar um levantamento bibliográfico sobre o Teste da Linguinha , considerando a opinião de duas diferentesvertentes de pensamento.Desenvolvimento: Apontado no artigo de Pompéia e colaboradores (2017), o processo de formação da língua acontece naquarta semana da gestação, advindo do primeiro, segundo e terceiro arco faríngeo. Dentro do padrão da normalidade, as célulaslocalizadas na região do frênulo devem ser submetidas à apoptose e migração para a parte mediana do dorso lingual. Se amigração não ocorrer completamente ou o controle celular não for efetivo, obtém-se a anquiloglossia (língua presa). A presençado frênulo traz prejuízos a curto e longo prazo. Segundo artigo publicado por Pomini e colaboradores (2018), a condição emrecém-nascidos está associada a dificuldade de amamentação e consequentemente desnutrição, perda ou dificuldade de ganhode peso. Quanto a longo prazo, pode influenciar na oclusão, desconforto na fala, dificuldade na realização das técnicas dehigiene bucal, problemas de ordem psicológicas e várias outras alterações fisiológicas. Há um tipo de intervenção cirúrgica para aretirada da membrana presente na face ventral da língua, possibilitando a movimentação adequada. Conforme publicação deGomes, Araújo e Rodrigues (2015), esse procedimento chama-se frenectomia lingual e pode ser feito em ambiente odontológico,submetendo o paciente a anestesia regional do nervo lingual. Segundo informações divulgadas pela Associação Brasileira deOdontopediatria (ABOPED), em 2014, a Presidência da República sancionou a Lei 13.002. A Lei obriga todas as maternidades ehospitais a realizarem em recém-nascidos o Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês visando um diagnósticoprecoce para reduzir ou excluir as chances de danos futuros A aplicação do protocolo conhecido popularmente como Teste daLinguinha deve seguir critérios de triagem, pois o teste/exame precisa estar comprovado cientificamente, os benefíciosprecisam ultrapassar os malefícios e tratamento da condição apontada necessita estar disponível. Por outro lado, a nota deesclarecimento da ABOPED aponta posição contrária ao Teste da Linguinha por tais motivos: difícil realização do teste pelabaixa confiança no examinador seguindo os critérios da validação do teste, já que esses não são universais, bem como dúvidassobre os benefícios da frenectomia neonatal, pois os estudos e métodos apresentados são considerados fracos ou duvidosos,segundo a referida associação. Conclui apoiando a paralisação obrigatória do teste até existir dados e pesquisas científicassuficientes para garantir a excelência na triagem neonatal e direcionar a avaliação na dificuldade de amamentação pelaexistência do frênulo lingual nas primeiras semanas de vida do RN para casos individuais, fora da maternidade.Conclusão: É, portanto, notável a divergência no âmbito científico acerca dos benefícios do Teste da Linguinha . Com umaabordagem multiprofissional, torna-se saudável a discussão para incentivo do crescimento e desenvolvimento de trabalhos epesquisas buscando uma melhoria na saúde biopsicossocial de recém-nascidos. Por se tratar de um conteúdo recente, sendo o Brasil pioneiro legislativo na aplicação deste método de avaliação do frênulolingual, é de se esperar que em um futuro próximo, ocorram mudanças e uma melhor concretização de um modelo eficaz,responsável e seguro para o Teste da Linguinha .
ReferênciasASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOPEDIATRIA. NOTA DE ESCLARECIMENTO: Protocolo de Avaliação do Frênuloda Língua em Bebês (Teste da Linguinha). 03 mar. 2017. Disponível em: https://abodontopediatria.org.br/site/?p=785. Acessoem: 09 ago. 2019.GOMES, ERISSANDRA; ARAÚJO, FERNANDO BORBA DE; RODRIGUES, JONAS DE ALMEIDA. Freio lingual: abordagemclínica interdisciplinar da Fonoaudiologia e Odontopediatria, Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent. v.69 n.1 São Paulo Jan./Mar. 2015.Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0004-52762015000100003&script=sci_arttext. Acesso em: 09 ago.
2019.MARTINELLI et al. Validade e confiabilidade da triagem: \"teste da linguinha\", Rev. CEFAC v.18 n.6 São Paulo Nov./Dec.2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-18462016000601323&lang=pt. Acesso em: 09ago. 2019.PENHA et al. O teste da linguinha na visão de cirurgiões-dentistas e enfermeiros da Atenção Básica de Saúde, ArchHealth Invest v.7 n 6 São Paulo Jun. 2018. Disponível em: http://archhealthinvestigation.com.br/ArcHI/article/view/3010/pdf.Acesso em: 09 ago. 2019.POMINI et al. Conhecimento de gestantes sobre o teste da linguinha em neonatos, Rev. odontol. UNESP v.47 n.6Araraquara Nov./Dec. 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-25772018000600341&lang=pt#B010. Acesso em: 09 ago. 2019.POMPÉIA et al. A influência da anquiloglossia no crescimento e desenvolvimento do Sistema Estomatognático, Rev. paul.pediatr. v.35 n.2 São Paulo Apr./June 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-05822017000200216&lang=pt. Acesso em: 09 ago. 2019.
BRUXISMO NA INFÂNCIA
1ELOISA MARIA ZANFRILLI, 2SILVIA XAVIER GROSHEVIS, 3ISABELA MARTINS OLIVEIRA, 4ANA CAROLINA SOARESFRAGA ZAZE
1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: O bruxismo é o hábito de ranger os dentes. Segundo CARIOLA e colaboradores (2006), é considerado umapatologia de caráter multifatorial que acomete adultos e crianças, podendo ocorrer durante o dia ou à noite. De acordo com aREVISTA PAULISTA DE PEDIATRIA (2008), as forças exercidas pelo bruxismo podem acarretar desgaste de faces incisais eoclusas, mobilidade, hipersensibilidade, fraturas de cúspides e restaurações e hipertonicidade dos músculos mastigatórios.PRIMO (2009), cita que o bruxismo tem relação com a hiperatividade dos músculos, um termo usado para descrever a atividademuscular aumentada, o que leva à um aumento do tônus elástico da contração muscular.Objetivo: Discorrer sobre etiologia, diagnóstico e tratamento do bruxismo na infância, por meio de um levantamento bibliográficoDesenvolvimento: De acordo com o levantamento bibliográfico de GAMA e colaboradores (2013), o bruxismo é parafuncional einvoluntário e na infância é mais severo em crianças com idade pré escolar, de acordo com as características estruturais efuncionais do dente decíduo. O bruxismo na infância está associado à vários fatores como imaturidade do sistema mastigatório,tempo de aleitamento encurtado, erupção de incisivos centrais decíduos. Pode ser caracterizado por desgastes na superfíciedentária, dor ou desconforto muscular e articular. Crises existenciais, fortes emoções, problemas familiares, depressão, medo,hostilidade, crianças em auto-afirmação, provas escolares ou até mesmo prática de esportes competitivos podem ser fatores deordem psicológica que desencadeiam o bruxismo, sendo o mais estudado nas crianças a ansiedade, onde a boca pode ser umaresposta de escape, visto que a cavidade bucal tem forte potencial afetivo e sentimental. Assim algumas crianças não satisfeitasacabam rangendo os dentes para compensar ou aliviar. Segundo RODRIGUES e colaboradores (2008), a Psicologia estuda opsiquismo e a odontologia o sistema estomatognático, que tem como porta de entrada a boca e é possível fazer uma interaçãodas duas à partir do modelo biopsicossocial, que compreende e atua em saúde; um dos problemas mais relacionados àPsicologia tem sido as disfunções na articulação têmporo-mandibular (DTM), particularmente o bruxismo. Quando aparece nainfância, pode durar a vida toda e quando não diagnosticado e tratado, as alterações são profundas na cavidade bucal. Algunsfatores, além dos psicológicos, estão ligados ao desenvolvimento do bruxismo; fatores locais como maloclusões, restauraçõesincorretas, cálculo dental, periodontite, relação oclusal traumática e oclusão funcionalmente incorreta, ou seja, fatores oclusaisestão desencadeando bruxismo na tentativa do paciente de eliminar a desigualdade oclusal. Nos fatores sistêmicos podem estarrelacionados ao bruxismo problemas como alergia, deficiência nutricional, infecção, parasitose intestinal, asma e efusão doouvido médico, prurido anal e até mesmo a má postura e desequilíbrio das crianças. Nos fatores ocupacionais estão relacionadosas crianças que sofrem na escola quando muito solicitada, em prática de esportes, problemas familiares e crises existenciais. Háainda fatores hereditários, pois observa-se uma predisposição em crianças com histórico familiar de bruxismo tambémdesenvolverem o hábito. De acordo com PRIMO (2009), o tratamento para o bruxismo deve ser multiprofissional. Pode ser aliadoà fisioterapia, para que com o uso de correntes elétricas aconteça um relaxamento dos músculos, ou o mesmo efeito comantidepressivos e ansiolíticos, receitados por profissionais da área médica. Terapia e acupuntura controlam os níveis deansiedade e são eficazes no tratamento para a patologia. Na odontologia o mais utilizado para o tratamento do bruxismo são asplacas de mordida interoclusais, que proporcionam conforto ao paciente, relaxamento dos músculos hipertrofiados e umaimportante proteção das estruturas dentárias, prevenindo também sobrecarga na ATM. Conclusão: Conhecer a etiologia do bruxismo na infância é essencial para o diagnóstico e tratamento precoce, evitando queagravantes acometam a saúde do indivíduo, no decorrer de sua vida. É necessário entender que como a etiologia é multifatorial,o tratamento necessitará da interação de diversos profissionais, como psicólogo, fisioterapeuta e até mesmo médico psiquiatra,em alguns casos, além do cirurgião dentista, principalmente nas crianças onde o hábito leva ao aparecimento de alterações comodores e desgaste dental acentuado.
ReferênciasCARIOLA, Tereza Corrêa. O desenho da figura humana de crianças com bruxismo. Boletim de psicologia, vol. 56, n°124,jul./2006. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0006-59432006000100004&script=sci_abstract&tlng=e
.Acesso em: 09 ago. 2019. GAMA, Emanoel. Bruxismo: uma revisão de literatura. Revista científica multidisciplinar das faculdades São José, vol. 1, n°1,jan/ 2013, disponível em: http://inseer.ibict.br/cafsj/index.php/cafsj/article/view/2/pdf. Acesso em:09,ago/2019PRIMO, Paula Patrícia. Considerações fisiopatológicas sobre o bruxismo. Arquivos de ciências de saúde da UNIPAR,Umuarama, vol. 13, n°3, set./dez./2009, disponível em: http://www.revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/3209/2247 .Acesso em: 09, ago/2019REVISTA PAULISTA DE PEDIATRIA. Bruxismo na infância: um sinal de alerta para odontopediatras e pediatras. RevistaPaulista de Pediatria, vol. 27, n° 3, set./2019, disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/4060/406038930015. Acesso em: 09,ago/2019.RODRIGUES, Karina. Aspectos psicológicos de crianças com bruxismo. 2008, Dissertação (Mestrado), UNIVERSIDADE DESÃO PAULO. Ribeirão Preto-SP,out./ 2008. disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59137/tde-22052009-184241/en.php..
A GASTROPLASTIA COMO UM TRATAMENTO EFETIVO PARA A OBESIDADE E SUAS COMORBIDADES
1MAYARA JAKLINE RAMOS MATOS, 2THAISSA EDUARDA BARICHELLO, 3CAROLINE HAMMERSCHMITT EDUARDO,4EDINEIA MARIZA SIEROTA, 5CLARA EDUARDA MATTOS ROSSA, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A obesidade, considerada uma epidemia mundial, pode ser definida pelo acumulo considerável de gordura corporal,que acarreta repercussões à saúde, com prejuízos tanto na qualidade quanto no tempo da vida dos indivíduos (SILVA et al.,2017). Fatores genéticos podem acarretar o desenvolvimento da obesidade, porém, o sedentarismo associado ao alto consumode alimentos, também são precursores de diversas comorbidades, como doenças cardiovasculares, dislipidemias, diabetesmellitus tipo 2, alguns tipos de câncer, dificuldades respiratórias e debilitações no aparelho locomotor, condições estas, quepodem levar à mortalidade precoce (SCHURT; LIBERALI; NAVARRO, 2016). Devido aos elevados índices de obesidade, a buscapor uma maneira de tratar esta doença e suas perigosas comorbidades, causou a popularização da gastroplastia comoalternativa de tratamento, o que gerou o crescimento no número de procedimentos realizados anualmente no mundo (SILVA etal., 2017).Objetivo: Descrever as modificações efetivas nas comorbidades de indivíduos com obesidade mórbida que se submeteram àgastroplastia.Desenvolvimento: A obesidade é uma doença crônica e multifatorial, caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal emexcesso, prejudicial à saúde, pois acarreta comorbidades metabólicas, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus,distúrbios osteomusculares e dislipidemias, ressaltando a forte associação do sobrepeso às disfunções cardiometabólicas.Contudo, ela é considerada a desordem nutricional mais preocupante do mundo, pois com a má alimentação aliada aosedentarismo, uma grande quantidade de pessoas é diagnosticada com obesidade mórbida e suas complicações. Além damorbidade e mortalidade associadas a esta disfunção, há o desenvolver de outras graves afecções, como depressão, esquivosocial, transtornos psíquicos, entre outros fatores que prejudicam a qualidade de vida, e devido ao alarmante crescimento, faz-senecessário um combate eficaz da obesidade (SILVA et al., 2017). Diante disto, a gastroplastia, também chamada de cirurgiabariátrica ou cirurgia de redução de estômago, foi criada como um método mais invasivo de tratamento, que submete indivíduosque não obtiverem a perda de peso através de métodos convencionais, sendo assim, a gastroplastia se faz a opção maisaplicada em situações de insucesso. De acordo com Moraes, Caregnato e Schneider (2014), para que a gastroplastia sejarealizada faz-se necessário a orientação ao paciente sobre todos os aspectos, o que exige uma equipe profissional capacitada,tanto no pré-operatório quanto no pós-cirúrgico, que visem esclarecer as dúvidas e expectativas de cada paciente, enfatizandotambém, os benefícios e as dificuldades do tratamento cirúrgico. É necessário também que o paciente esteja preparado para areeducação alimentar, diminuindo a quantidade de alimentos, aumentando níveis de atividades físicas e estando consciente daspossíveis complicações que a cirurgia pode apresentar em casos de pacientes compulsivos ou sedentários. Cabe ressaltar queas taxas alteradas da síndrome metabólica tendem a se normalizar após a cirurgia, quase todos que se submetem a cirurgia,prestigiam resultados efetivos. Após a gastroplastia, a melhoria da síndrome metabólica e de seus parâmetros através de umasérie de mecanismos, acarretam vários fatores, como, o afastamento de doenças cardiovasculares, equilíbrio da diabetes,alteração nos níveis de hormônios gastrointestinais no sangue, perda ponderal de peso e melhora do aparelho locomotor,diminuindo assim, as chances de riscos mórbidos observados antes do procedimento cirúrgico (NEIS; BERNARDES, 2018).Conclusão: Concluiu-se que devido as diversas comorbidades e riscos associados à obesidade, e a dificuldade de perder pesoatravés de tratamentos convencionais, faz- se necessário para alguns pacientes a procura pela gastroplastia, a qual promoveuma influência positiva em síndromes metabólicas, sendo considerada uma terapêutica efetiva para a melhora das comorbidadesacarretadas pela obesidade mórbida.
Referências MORAES, J. M.; CAREGNATO, R. C.; SCHNEIDER, D. S. Qualidade de vida antes e após a cirurgia bariátrica. Acta Paulista deEnfermagem, Porto Alegre, v.27, n.2, p.157-164, abr. 2014.
NEIS, C.; BERNARDES, S. Influência do Bypass Gástrico em Y de Roux nos parâmetros da síndrome metabólica: Uma revisãointerativa. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo, v.12, n.73, p.563-570. set./out. 2018.SCHURT, A.; LIBERALI, R.; NAVARRO, F. Exercício contra resistência e sua eficácia no tratamento da obesidade: Uma revisãosistemática. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo, v.10, n.59, p.215-223, set./out. 2016.SILVA, C. D. A.; FIGUEIRA, M. A.; MACIEL, M. C. S. P.G.; GONÇALVES, R. L.; SANCHEZ, F. F. Perfil clínico de pacientescandidatos à cirurgia bariátrica. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento, São Paulo, v.11, n.64, p.211-216, jul./ago. 2017.
AÇÃO DO DIODO EMISSOR DE LUZ AZUL (LED) E DA ALTA FREQUÊNCIA SOBRE A BACTÉRIA Klebsiella pneumoniae
1ANA CAROLINA HUNHOFF, 2ANA PAULA MARIOTI, 3JULIANA PELISSARI MARCHI, 4GABRIELA ALESSANDRA RIBEIROSONDAY, 5ELI DANIELI MARCHESAN, 6LUCIANA PELLIZZARO
1Acadêmica do Curso de Estética e Cosmética - UNIPAR - Francisco Beltrão1Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR2Docente da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Estética e Cosmética - UNIPAR - Francisco Beltrão4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Klebsiella pneumoniae é uma bactéria Gram-negativa da família Enterobacteriaceae, encontrada em locais comoágua, solo, plantas e esgotos (PODSCHUM; ULLMANN, 1998). Se destaca como uma ameaça, pois pertence ao grupo maiscrítico entre as bactérias, é multirresistente, com capacidade inata de encontrar novas formas de resistir a tratamentos e podetransmitir material genético que permite a outras bactérias se tornarem resistentes a fármacos (OMS, 2017). Neste contexto, seriade grande valor a descoberta de novos métodos para combater essa bactéria, como o efeito de alguns equipamentos usados porprofissionais que tratam a pele. O gerador de Alta Frequência (AF) é um equipamento que possui propriedades bactericida,fungicida e cicatrizante, devido à ação do ozônio que libera (SILVA; STEINER; LACERDA, 2011). O Diodo Emissor de Luz Azul(LED) é um equipamento que envolve o mecanismo de fotomodulação, e também possui efeito bactericida, por meio da emissãode um comprimento de onda azul, sendo um tratamento seguro e eficaz na inibição do crescimento de proliferação de bactérias(AGNE, 2011).Objetivo: Avaliar a ação do Diodo Emissor de Luz Azul (LED) e do Equipamento de Alta Frequência, em diferentes tempos,sobre a bactéria Klebsiella pneumoniae.Material e métodos: Ativou-se a bactéria K. pneumoniae em caldo BHI por 24 horas, em estufa a 37ºC. Na sequência, fez-se orepique para o Meio Mac Conkey e deixou-se em estufa por mais 24 horas a 37ºC. Preparou-se então a suspensão da bactériaem solução salina estéril, na Escala 0,5 de Mac Farland. Após, colocou-se 1mL desta solução em 9mL de solução salina eprocedeu-se sequencialmente, mais duas diluições. Em seguida, 1 uL dessa diluição foi semeada sobre o meio de cultura, emplaca de petry. A seguir aplicaram-se os tratamentos: Alta frequência com intensidade de 8mA, em tempos de 40, 80, 120 e 160segundos e LED nos mesmos tempos. Para isso, os equipamentos foram posicionados em suportes, sobre as placas de Petry,no interior da câmara de fluxo. Os controles foram feitos com meio e bactéria e meio bactéria e antibiótico (Ampicilina). Umaplaca contendo apenas meio testou sua pureza. As placas foram colocadas em estufa a 37ºC por 24 horas e então fez-se acontagem das colônias de bactérias.Os tratamentos foram feitos em quintuplicata e a contagem das bactérias foram repetidastrês vezes, por diferentes avaliadores. Foram comparadas as médias de colônias, por meio de Anova com Teste Tukey paraavaliar a significância, ao nível de 5% de probabilidade, no Programa Win Stat.Resultados: Tanto na aplicação de AF como na de LED houve crescimento de colônias de K. pneumoniae, iguais para todos ostempos, e significativamente diferentes do controle positivo pelo Teste Tukey, o qual não apresentou colônias O grupo meio ebactéria igualou-se estatisticamente ao controle positivo, não apresentando número de colônias significativo. Em vista disso, AF eLED não inibiram o crescimento da K. pneumoniae.Discussão: O resultado sugere que a aplicação dos tratamentos, além de não apresentar efeito bactericida sobre K.pneumoniae, ainda estimulou a produção de colônias, tendo em vista se igualar ao meio sem aplicação de tratamento. No estudode Prabakaran et al. (2012) o ozônio mostrou-se efetivo para controlar Eschecrichia coli quando comparada a K. pneumoniae,pois, esta mostrou ter pouca sensibilidade ao ozônio.O AF gera calor, então o calor produzido no momento da aplicação doequipamento pode ter favorecido o crescimento das colônias. K. pneumoniae é uma bactéria que expressa resistência a até 95%dos antimicrobianos existentes no mercado farmacêutico, sendo uma das principais causas de falha terapêutica, a produção debeta-lactamases de espectro estendido (ESBL) por esta bactéria. Cepas produtoras de ESBL frequentemente apresentamresistência aos antimicrobianos de importância clínica, como penicilinas, cefalosporinas, aminoglicosídeos e quinolonas(BRADFORD, 2001; SPANU et al., 2002; MOREIRA; FREIRE, 2011). Possivelmente, por ser uma bactéria multirresistente, comexpressa resistência até mesmo a antibióticos, não foram encontrados artigos com estudos que aplicaram LED sobre K.pneumoniae.Conclusão: Não houve efeito bactericida do Diodo Emissor de Luz Azul (LED) e do Alta Frequência sobre a bactéria Klebsiellapneumoniae nos tempos testados. Contudo, este estudo pode servir de base para novas pesquisas em diferentes tempos e
intensidades de uso dos equipamentos.
ReferênciasAGNE, Jones Eduardo. Terapia através da emissão de luz por diodo - LED. In: AGNE, J. E. Eu sei eletroterapia. Santa Maria:Soc. Vicente Pallotti, 2011. 340 p.BRADFORD, Patricia. Extended-Spectrum β-Lactamases in the 21st Century: Characterization, Epidemiology, and Detection ofThis Important Resistance Threat. Clinical Microbiology Reviews, v. 14, out., 2001. MOREIRA, Vanessa Carvalho; FREIRE, Daniel. Klebsiella pneumoniae e sua resistência a antibióticos. Goiânia: UnCG,2011. Disponível em: http://www.cpgls.pucgoias.edu.br/6mostra/artigos/SAUDE/VANESSA%20CARVALHO%20MOREIRA.pdf.Acesso em: 16 ago 2019.OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. OMS publica lista de bactérias para as quais se necessita novos antibióticosurgentemente. 2017. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5357:oms-publica-lista-de-bacterias-para-as-quais-se-necessitam-novos-antibioticos-urgentemente&Itemid=812. Acesso em: 15 ago 2019.PRABAKARAN, Manoj et al. Effect of ozonation on pathogenic bacteria. Cience Research, v. 3, n. 1, p. 299-302, 2012.PODSCHUM, Rainer; ULLMANN, Uwe. Klebsiella spp. as nosocomial pathogens: epidemiology, taxonomy, typing methods, andpathogenicity factors.Clinical Microbiology Reviews, v.11, n. 4, p. 589-603, 1998. SPANU, Teresa et al. Occurrence of Extended-Spectrum β-Lactamases in Members of the Family Enterobacteriaceae in Italy.Antimicrob Agents Chemother. v. 46, n. 1. p. 196-202, 2002.SILVA, Emanuelle Ferreira da.; STEINER, Taliane; LACERDA, Felipe. A Alta Frequência no estímulo da cicatrização: revisão deliteratura. Balnéario Camboriú: Univali, 2011. Disponível em:http://siaibib01.univali.br/pdf/Emanuelle%20da%20Silva,%20Taliane%20Steiner.pdf. Acesso em: 16 ago 2019.
O NUTRICIONISTA NO TRATAMENTO DA DOENÇA CELÍACA
1KAMILA MEDEIRO DOS SANTOS, 2LETICIA COUTINHO, 3DANIELE GOMES MACIEL, 4ALCIANE BARROS DOS SANTOS,5VERONICA PEREIRA DIAS PEDROSO, 6DIRLENE PEREIRA DE LIMA
1Acadêmica do Curso de Nutrição da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A doença celíaca (DC) é uma doença que se caracteriza pela intolerância ao glúten, podendo aparecer na infânciaou na fase adulta (LIU et al., 2014). O glúten é um polipeptídio existente no trigo, centeio, cevada e aveia (NASCIMENTO;TAKEITI; BARBOSA, 2012). Na forma clássica da doença, há quadros de diarreia crônica, em geral acompanhada de distensãoabdominal e perda de peso, como também atrofia da musculatura glútea, falta de apetite e irritabilidade. Já sua forma nãoclássica os pacientes apresentam sintomas isolados como baixa estatura, atraso puberal, irregularidade do ciclo menstrual, eoutros. E por fim, a doença pode ser encontrada em sua forma silenciosa, onde a pessoa apresenta alterações sorológicas ehistológicas, porém sem manifestações clínicas (BRASIL, 2015). O diagnóstico é obtido através de testes sorológicos ealterações nas características histopatológicas, que são observadas através de biópsia. Na biópsia, observam-se as atrofiasvilositarias, após o tratamento da doença, observa-se a recuperação dessas vilosidades e por último, algum dano induzido peladieta com glúten (NASCIMENTO; TAKEITI; BARBOSA, 2012).Objetivo: Apresentar o papel do nutricionista no tratamento da doença celíaca.Desenvolvimento: A incidência da DC no Brasil atinge uma frequência de um para cada 681 pessoas e demonstra que érelativamente comum no país (NASCIMENTO; TAKEITI; BARBOSA, 2012). O processo no qual o glúten agride o intestinodelgado ainda é desconhecido, porém os estudos sugerem mecanismos genéticos, imunológicos e ambientais. As alterações nointestino se dão por hiperplasia das criptas com atrofia total ou subtotal das vilosidades intestinais (NASCIMENTO; TAKEITI;BARBOSA, 2012). Esses danos causados levam a inúmeras deficiências de nutrientes, uma vez que os mesmos são absorvidosno duodeno, jejuno e íleo, podendo ocasionar desnutrição, perda de peso, fadiga, flatulência, diarréia associada comesteatorréia, má absorção de cálcio e vitamina D, osteoporose e anemia (WGO, 2016). Quando presentes, essas deficiênciasdevem ser corrigidas através da alimentação balanceada, e se necessário suplementação e medicação (LIU et al., 2014). Até omomento, o único tratamento disponível recomendado para DC consiste na exclusão total e vitalícia do glúten da dieta (ARAÚJOet al., 2010). Isso fará com que haja remissão dos sintomas, das características histológicas e sorológicas da doença,melhorando a saúde e a qualidade de vida das pessoas afetadas pela doença (NASCIMENTO; FIATES, 2014). Algumas pessoas(em torno de 0,6 a 4% dos pacientes) não reagem ao tratamento com dieta isenta de glúten por serem portadoras de formarefratária e, portanto, necessitam ser submetidas ao tratamento imunoterápico. Embora a dieta isenta de glúten seja eficaz aotratamento da DC, ela é complexa, e os pacientes necessitam de orientação nutricional e de acompanhamento com nutricionista.De acordo com a Associação Dietética Americana, o nutricionista desempenha papel fundamental na equipe interdisciplinar,determinando a prescrição nutricional adequada e a elaboração do plano de atenção nutricional para pacientes com DC,considerando suas comorbidades (NASCIMENTO; FIATES, 2014). No contexto brasileiro, as atividades de prescrição nutricionaladequada e de elaboração de plano de atenção nutricional para pacientes com DC são legalmente previstas para seremrealizadas pelo nutricionista por meio da Lei nº 8.234/91 que regulamenta essa profissão (BRASIL, 1991). Nas consultasperiódicas com o nutricionista será avaliado o estado nutricional, detecção de deficiências nutricionais, análise dos hábitosalimentares e possíveis fatores que afetam o acesso à dieta, fornecimento de informação para iniciar a dieta sem glúten,avaliação da adesão à dieta e reforçar as orientações nutricionais (WGO, 2016). O nutricionista deve abordar as questõesculturais, sociais e familiares que a pessoa possui com o alimento (ARAÚJO et al., 2010). Em alguns casos, devido a umdiagnóstico tardio, a agressão à mucosa intestinal é intensa e pode interferir na produção das dissacaridases, levando a pessoa apossuir concomitante a doença, uma intolerância a lactose e sacarose, um quadro onde se houver o tratamento nutricionaladequado também pode ser revertido (BRASIL, 2015). O glúten não está presente apenas nos alimentos, é encontrado tambémem cápsulas de medicamentos, em suspensões orais, em utensílios, em outros alimentos, através da contaminação cruzada,todo esse cuidado interfere na rotina do paciente, necessitando além do médico e nutricionista, psicólogos e serviço social ejuntamente, a participação da pessoa em associações de pacientes celíacos (BRASIL, 2015).
Conclusão: A doença celíaca está muito presente nos dias de hoje, e devido ao seu grande risco a saúde é necessário otratamento nutricional adequado. Esse tratamento consiste em promover a saúde, prevenir e tratar a mal absorção, a má nutriçãoe as comorbidades, além de melhorar a qualidade de vida. O nutricionista exerce um papel imprescindível e insubstituível no quetange a utilização dos alimentos para garantia da saúde, respeito e inclusão social dos portadores da doença celíaca.
ReferênciasARAÚJO, Halina Mayer Chaves. et al. Doença celíaca, hábitos e práticas alimentares e qualidade de vida. Revista de Nutrição,Campinas, v. 23, n. 3, p. 467-474, mai/jun. 2010.BRASIL. Lei nº. 8.234, de 17 de setembro de 1991. Regulamenta a profissão de Nutricionista e determina outras providências.Diário Oficial da União, Brasília, p. 1, 18 set. 1991.BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1149, de 11 de Novembro de 2015. Aprova o Protocolo Clínico e DiretrizesTerapêuticas da Doença Celíaca. Diário Oficial da União, Brasília, ano 152, n. 216, 12 de nov. de 2015. p. 65, Seção 1.LIU, Shinfay Maximilian. et al. Doença celíaca. Revista Médica de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 24, supl. 2, p. 38-45, jan.2014. Disponível em: . Acesso em: 14 jun. 2019.NASCIMENTO, Amanda Bagolin; FIATES, Giovanna Medeiros Rataichesck. Doenças celíaca e sensibilidade ao glúten nãocelíaca: da etiologia a abordagem nutricional. Programa de Atualização em Nutrição Clínica. Porto Alegre: ArtmedPanamericana, 201. p. 45-78.NASCIMENTO, Kamila de Oliveira; BARBOSA, Maria Ivone Martins Jacintho. TAKEITI, Cristina Yoshie. Doença Celíaca:Sintomas, Diagnóstico e Tratamento Nutricional. Saúde em Revista, Piracicaba, v. 12, n. 30, p. 53-63, jan-abr. 2012. Disponívelem: . Acesso em: 14 jun. 2019.WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANISATION. Doença Celíaca. Disponível em: . Acesso em: 14 jun. 2019.
AVALIAÇÃO DO DESPERDÍCIO ALIMENTAR NO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL
1KAMILA MEDEIRO DOS SANTOS, 2LETICIA COUTINHO, 3CLAUDIMERY CRISTINA PADOVANI MORANDO, 4ALCIANEBARROS DOS SANTOS, 5VERONICA PEREIRA DIAS PEDROSO, 6DIRLENE PEREIRA DE LIMA
1Acadêmica do Curso de Nutrição da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: De acordo com a FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (FAO, 2011), é desperdiçado nomundo anualmente, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimento. Chama-se de desperdício, as perdas de alimentos ocorridasao final da cadeia alimentar (varejo e consumo final), em virtude de comportamentos adotados em estabelecimentos varejistas,restaurantes e domicílios (FAO, 2011).Todo o desperdício afeta o ambiente e a sociedade, uma vez que recursos naturais comoágua e o solo utilizados para o plantio desses, serão perdidos, e os restos dos alimentos serão destinados aos aterros sanitáriosaumentando o acúmulo de lixo. Restos estes, que poderiam ser utilizados para alimentar milhares de pessoas no mundo quepassam fome (CORREIA; LINHARES, 2016). O consumo consciente do alimento deve estar presente em todas as etapas:plantio, comercialização e consumo, e através dessa prática, garantir a preservação do meio ambiente e qualidade de vida(ARAÚJO; CARVALHO, 2015). A utilização de técnicas dietéticas adequadas no preparo, como o aproveitamento integral dosalimentos, é uma das estratégias nutricionais que minimiza significativamente o desperdício na etapa de consumo, e juntamente,proporciona a segurança alimentar e nutricional, já que as partes não convencionais dos alimentos, que geralmente sãodescartadas, possuem grande valor nutricional, como fibras, vitaminas e minerais (CARVALHO; BASSO, 2016).Objetivo: Avaliar o desperdício de alimentos da unidade de alimentação e nutrição (UAN) de uma entidade socioassistencial deUmuarama.Materiais e métodos: Este trabalho foi realizado em uma entidade socioassistencial do município de Umuarama, mediante aautorização prévia do responsável legal. Como critério de inclusão foi considerada apta a entidade devidamente cadastrada noConselho Municipal de Assistência Social, que sirva pelo menos uma das principais refeições (almoço ou jantar), comatendimento superior a 50 refeições por dia. Foram avaliados os seguintes dados: número de comensais, peso dos alimentosproduzidos, distribuídos, peso das sobras aproveitáveis, sobras de produção e não aproveitáveis. A obtenção dessasinformações foi realizada por um período de 15 dias úteis, conforme o método proposto por Canonico, Pagamunici e Ruiz (2018).Após a coleta de dados foi calculado o percentual de alimentos não aproveitados e estimado o número de pessoas que poderiamser atendidas com o uso adequado dos alimentos.Resultados: Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas do software Excel® (2010) demonstrando que durante o períodode 15 dias avaliados, a entidade atendeu uma média de 109 pessoas, para isso foram produzidos o volume de 102 kg dealimentos e descartados 8 kg durante o processo de produção. Foi evidenciado um descarte de 3 kg de alimentos consideradossobras não aproveitáveis (restos dos pratos), e o percentual de alimentos não aproveitados foi de 12%, os quais seriamsuficientes para servir 63 refeições diárias.Discussão: Os níveis de desperdício dentro das cozinhas podem variar muito e acontecem desde o pré-preparo do alimento aomomento que a pessoa termina de se alimentar. Admitem-se como aceitáveis percentuais de alimentos não aproveitados de até3%, mostrando que o valor da UAN estudada está muito acima do adequado (SILVÉRIO; OLTRAMARI, 2014). Conforme citadoacima essa pesquisa constatou um percentual quatro vezes superior ao aceitável. Segundo Correia e Linhares (2016) odesperdício alimentar pode estar ligado a impactos ambientais, como o desperdício de produtos químicos, consumo de maiscombustível no transporte dos alimentos e maior produção de metano liberado pela comida em decomposição nos aterrossanitários, o que contribui de forma significativa para o aquecimento global e impactos sociais, onde pessoas possuem pordireito, na constituição, acesso a alimentação adequada e observa-se um país onde grande parte da população ainda vive emestado de insegurança alimentar. Estratégias como o armazenamento adequado do alimento, a utilização do fator de correção nahora da compra, a avaliação do número de comensais atendidos na UAN, e especialmente a conscientização dos atoresenvolvidos são essenciais para iniciar um processo de utilização integral do alimento (SILVÉRIO; OLTRAMARI, 2014). De acordocom Carvalho e Basso (2016), o consumo consciente consiste em utilizar partes não convencionais, como talos, folhas e outras.Muitas vezes a falta de informações sobre os princípios nutritivos e o aproveitamento dos resíduos gera descartes
desnecessários. A conscientização e a prática dessas estratégias podem contribuir significativamente para a redução dopercentual de alimentos não aproveitados.Conclusão: O volume de alimentos descartados pela unidade avaliada foi significativo, evidenciando a necessidade de adoçãode técnicas de preparo, higienização e armazenamento adequado de alimentos. Com base no exposto torna-se imprescindível aunidade dispor de responsável técnico da área de nutrição, o qual trabalharia o controle da linha de produção e a orientação doconsumo alimentar consciente.
ReferênciasARAÚJO, Elicimone Lopes Martins; CARVALHO, Ana Clara Martins e Silva. Sustentabilidade e geração de resíduos em umaunidade de alimentação e nutrição da cidade de Goiânia-GO. Demetra: Alimentação, Nutrição & Saúde, v. 10, n. 4, p. 775-796,2015. Disponível em: . Acesso em: 19 ago. 2019.CARVALHO, Camila Campello; BASSO, Cristina. Aproveitamento integral dos alimentos em escola pública no município deSanta Maria RS. Disciplinarum Scientia. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria, v.17, n. 1, p. 63 72, 2016. Disponível em:< https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumS/article/view/1909>. Acesso em: 19 ago. 2019.CANONICO, Flávia Schiavon; PAGAMUNICI, Lilian Maria; RUIZ, Suelen Pereira. Avaliação de sobras e resto-ingesta de umrestaurante popular do município de Maringá-Pr. Revista Uningá Review, [S.l.], v. 19, n. 2, jan. 2018. Disponível em: . Acessoem: 20 ago. 2019.CORREIA, Marisa; LINHARES, Elisabete. Sensibilizar para o desperdício alimentar: um projeto de educação para a cidadania. In:CONGRESSO INVESTIGAÇÃO EM QUALIDADE DE VIDA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA , 3., 2016, Rio Maior. Anaiseletrônicos...Rio Maior: Instituto Politécnico de Santarém, 2016. Disponível em: Acesso em: 19 ago. 2019.FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 2011. Global Food Losses and Food Waste:Extent, Causes and Prevention. Rome, Italy. 2011. Disponível em: < http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf> Acesso em: 19 ago.2019.SILVÉRIO, Gabriela de Andrade; OLTRAMARI, Karine. Desperdício de alimentos em Unidades de Alimentação e Nutriçãobrasileiras. Ambiência, Guarapuava, v.10, n.1, p. 125 133, jan./abr. 2014.
SÍNDROME DE TOURETTE: UM ESTUDO DE REVISÃO
1GIOVANA TOLOTTI, 2LUIS FERNANDO ESPINOZA LUIZAR, 3NATHALIA POSSAGNOLO PAGANINI, 4YASMIN LARISSASPRICIGO, 5DENISE ALVES LOPES, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A Síndrome de Gilles De La Tourette (ST) compreende um transtorno neuropsiquiátrico, crônico e cíclico,caracterizado por tiques motores e vocais, de início usual na infância, ou antes dos dezoito (18) anos, os quais incubemlimitações sociais e ocupacionais ao portador (HOUNIE; MIGUEL, 2012). Conforme dados da Associação de PsiquiatriaAmericana (2002), a ST possui como critério de diagnóstico a presença de múltiplos tiques motores e um ou mais tiques vocaisem algum momento da doença, não sendo necessariamente simultâneos. Nesse sentido, os tiques ocorrem majoritariamente noperíodo diurno, como forma de ataques, de maneira ininterrupta por mais de um ano, diariamente, em que não há ausência detiques por um tempo superior a três meses consecutivos (MÁRMORA, 2016).Objetivos: Analisar a existência desse transtorno pouco conhecido e demonstrar os impactos psicossociais na vida dosportadores.Desenvolvimento: A ST é uma patologia de natureza neuropsiquiátrica, com prevalência em crianças e adolescentes,caracterizada principalmente por compulsões, as quais podem resultar em múltiplos tiques motores e em um ou mais tiquesvocais, durante pelo menos um ano. Não há consenso científico quanto à etiologia, apenas supõe-se que seja um distúrbiogenético de caráter autossômico dominante, visto a frequência de casos de tiques e manifestações obsessivo-compulsivas entrefamiliares de pacientes. Com efeito, o portador de ST pode sofrer prejuízos na rotina, de acordo com o tipo, intensidade efrequência dos tiques, em que a criança pode se sentir envergonhada devido à falta de controle sobre os tiques e por essesocorrerem, por vezes, em momentos e situações constrangedoras (TERRA; RONDINA, 2014). Freud (1893/1990), foi utilizou ahipnose para interpretar que o conteúdo dos tiques se relacionava a traumas psíquicos, agindo como um mecanismo de proteçãodo organismo contra perigos à espreita na consciência. Em vista disso, os tiques (expressos como motores e vocais eclassificados como simples e complexos) correspondem à emissão de sons ou expressões de movimentos rápidos, repentinos erecorrentes, sem ritmo e estereotipados. Esses geralmente são reduzidos durante o sono e podem ser agravados no estresse,além disso, atenuam-se em atividades que demandam atenção (HOUNIE; MIGUEL, 2012). Referente à classificação dos tiquesmotores, segundo Mercadante el al. (2004), esses são dependentes do envolvimento de maior ou menor quantidade degrupamentos musculares. Por conseguinte, tem-se tanto o tique de um simples piscar de olhos quanto um complexo, com o atode saltitar. A respeito dos sonoros, estão envolvidos o ato de fungar, pigarrear, assoviar, reproduzir palavras e repetir frases.Para Bastos (2019), os tiques vocais complexos são traduzidos pela coprolalia (uso involuntário ou inapropriado de palavrasobscenas), palialia (repetição de palavras ou frases) e ecolalia (repetição involuntária de palavras ou frases de outras pessoas).Em relação ao tratamento para a ST, consoante a Teixeira et al. (2011), sabe-se que não existe cura, de maneira a serempregado o tratamento paliativo para os sintomas apresentados, com o fim de minimizá-los. Uma vez que o portador dasíndrome perpassa por implicações educacionais e sociais, verifica-se imprescindível o emprego do tratamento o mais brevepossível. Dessa forma, a ST causa diversos prejuízos psicossociais e educacionais para o indivíduo e familiares, todavia, odiagnóstico e tratamento precoces são capazes de minimizar ou anular esses danos. Logo, conhecer os aspectos gerais quenorteiam a ST é de fundamental importância para preservar a comodidade dos portadores da doença.Conclusão: Relativo ao estudo apresentado, percebe-se que a Síndrome de Tourette corresponde a uma doençapotencialmente incapacitante, por mais que não cause degeneração. Enfim, o indivíduo pode sofrer uma grave disfunçãopsicossocial e física, em decorrência dos tiques, de modo a ser indispensável a aderência do tratamento, para que os portadoresda ST possam desfrutar de uma maior qualidade de vida.
ReferênciasASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA. Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. 4 ed Revista (DSMIV-TR). Lisboa: Climepsi, 2002.
BASTOS, A.G. Um estudo psicanalítico sobre a síndrome de Tourette. Psicanalise & barroco em revista, v. 11, n. 1, 2019.BREUER, J.; FREUD, S. (1893). Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos: comunicação preliminar. In: FREUD, S.Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. v. 2. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1980,p. 177-91.HOUNIE, A. G; MIGUEL, E. C. Tiques, Cacoetes, Síndrome de Tourette: Um Manual para Pacientes, seus Familiares,Educadores e Profissionais de Saúde. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.MÁRMORA, C. H. C. Atualizações Neurocientíficas na Síndrome de Tourette: Uma revisão integrativa. Ciências & Cognição, v.21, n. 2, 2016.MERCADANTE, M. T. et al. As bases neurobiológicas do transtorno obsessivo-compulsivo e da síndrome de Tourette. Jornal dePediatria, v. 80, n. 2, p. 35-44, 2004.TEIXEIRA, L. L. C. et al. Síndrome de La Tourette: Revisão de Literatura. Arquivos Internacionais de Otorrinolaringologia, p.492- 500, 2011.TERRA, A. P; RONDINA, R. C. A interação escolar de uma criança com síndrome de Tourette, de acordo com as percepções depais e professores: um estudo de caso exporatório. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, v. 25, n.2, p. 177-184, 2014.
CALIBRAÇÃO DOS EXAMINADORES EM LEVANTAMENTOS EPIDEMIOLÓGICOS SOBRE HIPOPLASIA DO ESMALTEDENTAL
1THALIA HAMURA, 2CAMILA SESTITO FRANCISCATO, 3STEFANIA GASPARI, 4ISABELA MARTINS OLIVEIRA, 5ANACAROLINA SOARES FRAGA ZAZE
1Discente Odontologia/ UNIPAR/ PIBIC.1Discente Odontologia/ UNIPAR/ PIC.2Discente Odontologia/ UNIPAR/ PIC.3Discente Odontologia/ UNIPAR/ PIC.4Docente da UNIPAR
Introdução: Os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal integram, em grande parte das vezes, um número significativode examinadores para a pesquisa. Em vários estudos epidemiológicos, a uniformização dos critérios de avaliação deve sersuficiente para se garantir dados confiáveis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).Objetivo: Apresentar uma revisão de literatura sobre características à respeito da calibração dos examinadores em estudo sobrehipoplasia do esmalte dental.Desenvolvimento: A hipoplasia dentaria tem sido encontrada frequentemente em clinicas odontológicas infanto-juvenil. Suascaracterísticas afetam sobre tudo a estética do sorriso do paciente, ocasionalmente acompanhada de uma sensibilidade devido àfalta de esmalte, podendo também elevar a chance da doença caríe acometer o tecido dentário acometido por esta alteração. Osaspectos dessa anomalia são: manchas esbranquiçadas, irregulares, rugosas, se estendendo por sulcos e ranhuras,semelhantes à cavidades cariosas (BONATO, 2010; RIBAS; CZLUSNIAK, 2004). As alterações do esmalte geralmente mudamem relação à coloração, do branco ao amarelo ou marrom, com uma limitação nítida no esmalte afetado (JÄLEVIK ET AL., 2000).O diagnóstico desta alteração além de ser muito importante também é bastante complexo, especificamente quando as lesõescariosas também estão presentes (WEERHEIJM ET AL., 2000). A calibração dos examinadores para a realização delevantamentos epidemiológicos utilizando índices deve ser realizada, de acordo com o Manual de Calibração do SB 2010, pormeio de exposição teórica sobre defeitos de esmalte, códigos e critérios, treinamento e discussão de diversas imagens. Paratanto, são utilizadas fotografias e o critério de calibração é de concordância em 95% das imagens entre os avaliadores(MACHADO ET AL., 2013). Segundo a OMS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009), o índice modificado para defeitos dedesenvolvimento do esmalte (DDE) coleta dados sobre as anormalidades do esmalte, e os classifica em um dos três tipos,baseando-se em sua aparência. Os códigos e os critérios são os seguintes:0. Normal; 1. Opacidade demarcada. No esmalte deespessura normal e com uma superfície intacta, existe uma alteração na translucidez do esmalte, de grau variável. Ela édemarcada a partir do esmalte adjacente normal com limites nítidos e claros, e pode ter uma coloração branca, bege, amarela oumarrom; 2. Opacidade difusa. Também uma anormalidade envolvendo uma alteração na translucidez do esmalte, de grauvariável, de coloração branca. Não existe um limite nítido entre o esmalte normal adjacente e a opacidade. Pode ser linear ou emplacas, ou ter uma distribuição confluente; 3. Hipoplasia. Um defeito associado com a redução localizada da espessura doesmalte e envolvendo a sua superfície. Pode ocorrer na forma de: (a) fóssulas únicas ou múltiplas, rasas ou profundas, difusasou alinhadas, dispostas horizontalmente na superfície do dente; (b) sulcos únicos ou múltiplos, estreitos ou amplos (máximo de2 mm); ou (c) ausência parcial ou total de esmalte sobre uma área considerável de dentina. O esmalte afetado pode sertranslúcido ou opaco; 4. Outros defeitos no esmalte que não se enquadram nos descritos acima; 5. Opacidades demarcadas edifusas; 6. Opacidade demarcada e hipoplasia; 7. Opacidade difusa e hipoplasia; 8. Todas as três condições associadas; 9. Nãoregistrado. No exame clínico, são avaliados primeiros molares e incisivos laterais e centrais permanentes, considerando suasfaces. As superfícies vestibulares são examinadas visualmente, considerando desde os bordos incisais ou pontas de cúspidesaté a gengiva e desde a face mesial até a distal, o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde (MINISTÉRIO DASAÚDE, 2001).Conclusão: Para termos um resultado confiável, todos os examinadores da pesquisa que envolve exames epidemiológicos,neste caso a hipoplasia dentária, devem ter o máximo de concordância sobre as características apresentadas sobre essaanomalia de esmalte, o que é alcançado por meio da realização de uma calibração rigorosa e criteriosa dos profissionaisenvolvidos.
ReferênciasBONATO, V. V. B. Hipoplasia dental: Revisão de literatura. 2010. Monografia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2010.JÄLEVIK, B.; NORÉN, J. G. Enamel hypomineralization of permanent first molars: a morphological study and survey of possibleaetiological factors. International Journal of Paediatric Dentistry, v. 10, n. 4, p. 278-289, 2000.Ministério da Saúde. Manual de Calibração de Examinadores [Livro online]. Brasília, 2009.RIBAS, A. O.; CZLUSNIAK, G. D. Anomalias do esmalte dental: etiologia, diagnóstico e tratamento. Publ UEPG Ci Biol Saúde, v.10, n. 1, p. 23-36, 2004.WEERHEIJM, KL et al. Hipominalização dos incisivos molares (MIH). European Journal of Pediatric Dentistry , v. 4, p. 115-120, 2003.
TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA - REVISÃO DA LITERATURA
1EDUARDA OLIVEIRA SEVERGNINI, 2MILENA PIZZI, 3MARIANE EDUARDA RECALCATTI, 4DANIEL COMPARIN
1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: A necrose pulpar de um dente com rizogênese incompleta geralmente é proveniente de uma injúria traumática ou deum processo carioso. Como consequência, ocorre a paralização do processo de desenvolvimento do dente. O tratamentoendodôntico desses dentes se torna imprevisível. Procedimentos tradicionais de apicificação e, recentemente, de regeneraçãopulpar, têm como objetivo o fechamento do ápice radicular, sendo esses procedimentos alternativas favoráveis num prognosticode sucesso. (ESPIRITO, 2013). Técnicas como pulpotomia parcial, pulpotomia total, pulpectomia, apicigênese e apicificaçãoentram no dia a dia do consultório de profissionais que trabalham com a endodontia de dentes com rizogênese incompleta.(TROPE, 2010).Objetivo: O objetivo deste trabalho é revisar a atual literatura sobre os diferentes tratamentos endodôntico de dentes comrizogênese incompleta.Desenvolvimento: Um dos maiores transtornos encontrados pelo endodontista é o tratamento endodôntico de dentespermanentes, com ápices incompletamente formados. Embora os mesmos princípios que norteiam a terapêutica endodôntica dedentes completamente desenvolvidos sejam também aplicados aos dentes com rizogênese incompleta, o objetivo, nestes casos,é mais complexo, porque são buscados o completo desenvolvimento radicular nos casos de polpa viva e o fechamento da porçãoapical por tecido duro calcificado, nos casos de necrose pulpar. (LOPES e SIQUEIRA, 2010). DENTES COM VITALIDADEPULPAR: em casos onde for diagnosticada a vitalidade pulpar, um tratamento endodôntico conservador é o indicado, evitando-seintervenções no canal radicular. Se a polpa radicular com vitalidade for mantida, a raiz a ser formada será mais organizada emais bem estruturada, em razão de os odontoblastos serem preservados. Nesses casos, o tratamento indicado será apulpotomia. (MARCHESAN, 2008). DENTES PORTADORES DE TECIDO PULPAR VIVO NO SEGMENTO APICAL DO CANALRADICULAR: Regularmente, dentes em desenvolvimento em que ocorrem fratura coronária ou processo carioso antigo, comexposição pulpar, a necrose da polpa poderá limitar-se às partes coronária e média do canal radicular, permanecendo sua porçãoapical inflamada, porém com vitalidade. Ocasionando à drenagem de produtos tóxicos no interior do canal radicular ao meiobucal. Evitando danificar este tecido ou mesmo retirá-lo da região apical, o que prejudica o desenvolvimento radicular. (LOPES eSIQUEIRA, 2010). DENTES COM NECROSE TOTAL DO CONTEÚDO PULPAR: nos casos de rizogênese incompleta de dentescom necrose pulpar e infectados, com ou sem reação perirradicular, a reparação e a complementação da raiz estão nadependência do combate à infecção, desde que nunca seja observada a deposição cementária em um caso aindainfectado. (LOPES e SIQUEIRA, 2010). REVASCULARIZAÇÃO PULPAR: pode ser definido como um conjunto de procedimentosde base biológica destinado a substituir fisiologicamente estruturas dentárias danificadas, incluindo dentina e estruturasradiculares, assim como células do complexo dentinopulpar (LOPES, 2010). A vantagem desta em relação aos métodostradicionais de apicificação está no fato de se obter o completo desenvolvimento radicular, com aumento da espessura dasparedes do canal.Conclusão: No traumatismo físico de um dente, fraturado ou não, a polpa pode recuperar-se ou necrosar, dependendo daintensidade da hemorragia estabelecida pós-traumatismo e/ou do estágio de desenvolvimento radicular. A necrose pulparacontece quando o fluxo sangüíneo para a polpa dentária é interrompido e ocorre falta de oxigênio por causa da falha decirculação do sangue no tecido pulpar. Quando isso ocorre, a necrose se dá por degeneração gradual, e o dente podepermanecer assintomático. (MARCHESAN et al, 2008). Inúmeras técnicas podem ser empregadas, cada especialista utiliza a quejulga mais eficaz, o importante é o resultado final em que na maioria dos casos é eficiente se seguido o protocolo indicado decada uma, porém a resposta do organismo do paciente influencia muito no resultado final para obter o sucesso.
ReferênciasESPIRITO, T.L. Protocolo Terapêutico Para Dentes Com Rizogênese Incompleta. 2013. 22p. Monografia. Faculdade deOdontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, 2013.Fernandes, J.M.S.M.; et al.; Terapia endodôntica em dentes com rizogênese incompleta: relato de caso. v. 6, n. 2 (2015).LOPES H P.; et al.; Tratamento endodôntico em dentes com rizogênese incompleta. In: Lopes H P, Siqueira Jr J F.
Endodontia: Biologia e técnica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2004.p. 707-24.LOPES, HP; SIQUEIRA Jr, Endodontia: biologia e técnica. 3 ed. RJ; Guanabara Koogan 2010. P.707-725.MARCHESAN, A.; et al.;Tratamento de dentes traumatizados com rizogênese incompleta. RSBO v. 5, n. 1, São PauloJan/Jun. 2008TOLEDO, R.; et al.; Hidróxido de Cálcio e Iodofórmio no tratamento endodôntico de dentes com Rizogênese Incompleta.IJD, Int. j. dent. vol.9 no.1 Recife Jan./Mar. 2010TROPE, MARTIN. Treatment of the Imma tu re Too th wi th a Non Vital Pulp and Apical Periodontitis. Dent Clin N Am 54(2010) 313 324.
PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DE UMA CIDADE DO NOROESTE DO PARANÁ
1MARCELO SERENINI JUNIOR, 2MARCELO DE JESUS COSTA, 3CLAUDINEI DOS SANTOS, 4ANDRE LUIS MAROSTICAFURTADO, 5RENAN AUGUSTO VENDRAME DA SILVA, 6VITOR HUGO RAMOS MACHADO
1Discente de Fisiologia do Exercício, PIC-PÓS/UNIPAR1Discente de Fisiologia do Exercício, PIC-PÓS/UNIPAR2Profissional de Educação Física, UNIPAR3Discente de Fisiologia do Exercício, PIC-PÓS/UNIPAR4Discente de Fisiologia do Exercício, PIC-PÓS/UNIPAR5Docente de Educação Física, UNIPAR
Introdução: As premissas do treinamento físico militar do Exército Brasileiro apontam que o desempenho da atividade militardepende do condicionamento físico dos soldados. As vitórias em combates, as decisões tomadas de forma assertiva dependem,por muitas vezes, das qualidades e capacidades físicas e morais que são desenvolvidas através do treinamento físico elaboradode forma correta e executado regularmente (MNISTÉRIO DA DEFESA, 2002). A obesidade pode ser conceituada como umacúmulo de tecido adiposo pelo corpo, causado por fatores como problemas genéticos, alterações endócrinas-metabólicas oumaus hábitos alimentares (FISBERG, 2006). O sobrepeso é associado com diversas patologias, como: diabetes tipo 2,problemas cardíacos, síndrome metabólica, apneia do sono, problemas ósseos e diversos tipos de canceres (BRAY, 2004). Aantropometria é um método muito utilizado para avaliar indivíduos, devido a sua baixa complexidade e baixo custo, se torna umaferramenta viável e com eficácia na identificação de composição corporal, proporcionalidade e morfologia (DAMASCENO et al,2016).Objetivo: O presente estudo tem como objetivo traçar o perfil antropométrico de atiradores do exército.Materiais e métodos: A pesquisa contou com 76 atiradores do Tiro de Guerra. Todos os avaliados eram do sexo masculino, comidade entre 18 e 21 anos. Os dados foram coletados no mês de junho, no Quartel do Tiro de Guerra de Cianorte, no Paraná. Asinformações obtidas foram: peso, estatura, índice de massa corporal e circunferência abdominal. Para obtenção do peso corporalfoi utilizado uma balança digital da marca Balmak, todos os indivíduos foram instruídos a subirem na balança sem nenhum tipode calçado, sem vestimentas na parte superior do corpo e a bermuda foi padronizada igualmente para todos. A coleta dos dadosda estatura foi realizada com um Estadiômetro portátil da marca Sanny modelo Personal Caprice ES2060. Todos os participantesforam medidos com os pés descalços, de costa para o estadiômetro e mantendo olhar fixo na linha do horizonte. O Indicie deMassa Corporal (IMC) foi obtido através da divisão do peso corporal (kg) pelo quadrado da estatura (m). Os valores do IMC foramclassificados como: < 18,5 kg/m² (baixo peso), 18,5 a 24,9 kg/m² (Peso normal), 25 a 29,9 kg/m² (Sobrepeso) e > 30 kg/m²(obesidade), segundo a Organização Mundial de Saúde. Para o dado da circunferência abdominal foi utilizada uma trenaantropométrica da marca CESCORF. A medida foi obtida na meia distância entre o bordo inferior da grelha costal e a crista ilíaca.O ponto de corte sugerido para homens é >102cm (FERRANTI et al, 2004). A análise estatística dos dados coletados foirealizada no programa Microsoft Office Excel 2016, organizando médias, desvio padrão, valores máximo e mínimos de cadavariável.Resultados: Os participantes da pesquisa tiveram idade média de 18,6 ± 0,5 com escore mínimo de 18 e máximo de 20 anos. Opeso corporal médio da amostra foi de 70.4 ± 12,7 com valor mínimo de 45.2 e máximo de 105.2kg. Em relação a estatura médiados atiradores o valor foi de 1,80 ± 0,1 com o menor indivíduo medindo 1,60 e o maior 1,90m. O dado de circunferência deabdome teve como valor médio entre os indivíduos 81,4 ± 10,7 com escore mínimo de 65,5 e máximo de 112cm. Em relação aosvalores de Índice de Massa Corporal (IMC), a média da amostra foi de 22,9 ± 4,2 tendo escore mínimo de 16,6 e escore máximode 35,6 kg/m².Discussão: O resultado obtido na média de circunferência abdominal do grupo (81,4cm), se encontra dentro dos padrões decorte descrito na literatura para o gênero masculino. 3 indivíduos da amostra (3,9%) apresentaram escores acima do ponto decorte adequado. Em relação ao Índice de Massa Corporal (IMC) o valor médio (22,9kg/m²) também se enquadrou dentro dacategoria de normalidade prevista segundo a OMS. 19 (25%) dos 76 participantes apresentaram IMC maior que 24,9kg/m² valorsugerido na literatura como peso ideal. No estudo de Da Silva et al (2014), quando analisaram o IMC de militares de uma cidadede Goiás, constataram que 42,39% da amostra total está acima do peso ideal. Os resultados do presente estudo foramsemelhantes com o de Oliveira e Anjos (2008) que investigou 50.000 indivíduos (38% dos militares do exército brasileiro) onderesultou na média do Índice de Massa corporal sendo 24,2 kg/m². Estudos prospectivos mencionam a relação do aumento degordura corporal com o aumento na incidência de hipertensão arterial e a diminuição da gordura com a menor incidência de
hipertensão (HUBERT, et al 1983).Conclusão: De acordo com o estudo, podemos concluir que o perfil antropométrico é um excelente indicador de possíveiscomprometimentos relacionados à composição corporal, se tratando de um método simples e de fácil aplicação. Segundos osresultados apresentados o efetivo de jovens atiradores do exército de Cianorte, em sua maioria, apresenta uma boa condiçãofísica. O perfil antropométrico dos participantes possui características de indivíduos ativos, dentro dos pontos de corte pré-estabelecidos. Uma das razões para se alcançar esse nível de condicionamento pode estar relacionado com as exigências dotrabalho militar.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Estado Maior do Exército. Manual de campanha: treinamento físicomilitar; C 20-20. Brasília ,2002.BRAY, G. A. Medical consequences of obesity. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Louisiana, v. 89, n. 6, p.2583-2589, 2004.DAMASCENO, R. K. V. et al. Composição corporal e dados antropométricos de policiais militares do batalhão de choque doestado do Ceará. Revista Saúde e Desenvolvimento Humano, Canoas, v. 4, n. 2, p. 109-119, 2016.DA SILVA, M. E. N; ASSIS, J. N; DA SILVA, J. R. Perfil nutricional dos militares de uma unidade militar da cidade de Anápolis emGoiás. Revista Brasileira de Nutrição Esportiva, São Paulo, v. 8, n. 48, p. 354-362, 2014.FERRANTI, S. D. et al. Prevalence of the Metabolic syndrome in american adolescents: findings from the third National Healthand Nutrition Examination Survey. Circulation. 2004; 110: 2494-7.FISBERG, M. Obesidade na infância e adolescência. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v.20, p.163-164, 2006.HUBERT, H. B. et al. Obesity as an independent risk factor for cardiovascular disease: A 26-year follow-up of participants in theFramingham Heart Study. Circulation; v. 67 n. 5, p. 968-76, 1983.OLIVEIRA, E. A. M.; ANJOS, L. A. Medidas antropométricas segundo aptidão cardiorrespiratória em militares da ativa. RevistaSaúde Pública, Brasil, v. 42, n. 2, p. 217-223, 2008.
ISOLAMENTO E PERFIL DE RESISTÊNCIA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS PROVENIENTE DE AMOSTRAS DE QUEIJOMINAS FRESCAL COMERCIALIZADOS NA REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ
1ALINE PINTO ZANI, 2CAROLINE PINTO ZANI, 3NAYENNE DE OLIVEIRA, 4ANA CAROLINA SOARES BARBIERI, 5VINICIUSPEREIRA ARANTES
1Acadêmico Pic/Unipar1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O queijo Minas frescal é consumido por todas as camadas da população, produto de massa crua, com alto teor deumidade (46 a 55%), elevada atividade de água (Aa), altamente perecível, mesmo sob-refrigeração (SENGER,2011). O pH alto eumidade elevada permitem o desenvolvimento de muitos microrganismos, pode sofrer ação de bactérias patogênicas e constituirperigo à saúde do consumidor.Objetivo: Isolar Staphylococcus aureus de amostras de queijo minas frescal, comercializados na região noroeste do Paraná etraçar o perfil de resistência dos isolados.Material e Método: Para realização deste trabalho foram adquiridas 20 (Vinte) amostras de queijo minas frescal na regiãoNoroeste do Paraná, transportadas em caixa de isopor contendo gelo e consequentemente processadas no laboratório deMicrobiologia da Universidade Paranaense-Unipar. As amostras foram preparadas com 25 gramas do queijo coletado e pesadaem balança de precisão, adicionou-se 225 mL de Água Peptonada Tamponada (AP) a 1,0%, previamenteesterilizada,homogeneização em aparelho stomacher por dois minutos, constituindo a diluição 10-1realizadas diluições até10-5,semeou-se as amostras em placas de Petri contendo Manitol Sal e para as colônias suspeitas foram analisadas pelacoloração de Gram, prova da catalase e coagulase, as cepas foram comparadas a ATCC S. aureus 25923.As amostras positivaspara S.aureus foram submetidas a determinação de sensibilidade empregando o método da difusão em discos frente a: penicilinaG (PN) (10UI), gentamicina (GN) (10μg), eritromicina (ERI) (15μg), tetraciclina (TET) (30μg), sulfasotrin (SF) (25μg), oxacilina(OXA) (1μg), cefalotina (CF) (30μg) e vancomicina (VC) (30μg).Resultados: Foram analisadas 20 amostras identificadas como Staphylococcus aureus, as amostras foram submetidas ao testede sensibilidade, Resistência à PN Foi observada em 100%, GN (30%), ERI (60%),TET (60%),SF (20%),OXA (30%),VC (0%).Discussão: Estes resultados assemelharam-se aos descritos por PELISSER (2009) para cepas de S. aureus isoladas de leitecru. Para SENGER et al., (2011), amostras de queijo coalho apresentaram resistência semelhante aos dados apresentados nestetrabalho.ao analisarmos, observou-se que 90% de cepas isoladas de Staphylococcus aureus apresentaram resistência apenicilina.Conclusão: Os testes revelaram a necessidade de estudos mais aprofundados sobre o perfil de sensibilidade dos isolados emqueijo minas frescal, retratando a importância de diagnóstico de cepas com resistência adquirida e disseminação em alimentos.
ReferênciasPELISSER,Márcia Regina; KLEIN, Cátia Silene; ASCOLI, Kelen Regina; ZOTTI,Thaís Regina; ARISI, Ana Carolina Maisonnave.Ocurrence of Staphylococcus aureus and multiplex pcr detection of classic enterotoxin genes in cheese and meat products,Braz.J. Microbiol. vol.40 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2009SENGER, Ana Eliza Vieira; BIZANI, Delmar. Pesquisa de Staphylococcus aureus em queijo Minas Frescal, produzido de formaartesanal e industrial, comercializado na cidade de Canoas/ RS, Brasil. Revista de Ciências Ambientais, v. 5, n. 2, p. 25-42, 2011.
AVALIAÇÃO In vitro DE EXTRATOS VEGETAIS DE Rosmarinus officinalis FRENTE A CEPA PADRÃO DE Candidaalbicans
1ANA CAROLINA SOARES BARBIERI, 2ALINE PINTO ZANI, 3CAROLINE PINTO ZANI, 4NAYENNE DE OLIVEIRA, 5VINICIUSPEREIRA ARANTES
1Acadêmico PIC/Unipar1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera as plantas medicinais como importante instrumento deassistência farmacêutica, estima-se que 40% dos medicamentos disponíveis são oriundos de fontes naturais. A pesquisa denovos medicamentos para enfermidades humanas, configuram como importante estratégia no controle de infecções comuns napopulação humana, dentre estas, podemos referendar \"Candidíase vulvovaginal (CVV)\", definida, como processo infeccioso dotrato geniturinário inferior feminino causada por Candida albicans, a doença caracteriza-se por causar dor, inflamaçãolocal,corrimento, dor ao urinar e dor nas relações sexuais. No Brasil, a doença ocupa o segundo quadro diagnóstico mais comumem ginecologia e tem ocasionado preocupação dos profissionais da saúde devido ao crescente número de casos recorrentes.Objetivo: Avaliar atividade antifúngica dos extratos hidroalcoólicos de Rosmarinus officinalis frente a Candida albicans ATCC10231.Material e Método: Realizou-se a coleta de R. officinalis, após coleta o material foi seco em estufa de ar circulante atemperatura de 40 ºC, utilizou-se malha com diâmetro de 0,5 mm, e posterior maceração do conteúdo vegetal empregandoálcool-água em uma proporção de 90-10% (v/v). O extrato foi filtrado e concentrados em rotaevaporador. A cepa de C. albicansATCC 10231 Newprov® empregada neste estudo, foi adquirida através da Universidade Paranaense-Unipar. Empregou-se ametodologia do MABA Microplate Alamar Blue Assay para determinação da atividade antimicrobiana.Resultados: Inibição do crescimento da cepa de Candida albicans ocorreu em 250 µg/mL ao submeter ao extrato produzido comRosmarinus officinalis.Discussão: Cavalcanti et al., (2011), realizaram avaliação do óleo essencial de R. officinalis frente a cepa de C. albicans e C.tropicalis as cepas foram inibidas. Estudo realizado por Freire et al., (2012), avaliaram atividade antimicrobiana dos extratoshidroalcoolicos de R. officinalis e folhas de S. spectabilis, destaca-se que possuem atividade frente a C. albicans na concentraçãode 250 mg/mL independente do extrato em uso.Conclusão: A inibição de R.officinalis foi verificada em 250 mg/mL, denotando a importância do trabalho em avaliar novasconcentrações, frações e agentes extratores.
ReferênciasCAVALCANTI,Yuri Wandeley; ALMEIDA,Leopoldina de Fátima Dantas de; PADILHA,Wilton Wilney Nascimento. Atividadeantifúngica e antiaderente do óleo essencial de Rosmarinus officinalis sobre Candida. Arqu. Odontol: Belo HorizonteV.47,n.3.p.146-152,2011.FREIRE,Isabelle Cristine de Melo; GOUVEIA,Cíntia de Lima; FIGUEIREDO,Rebeca Dantas Alves; LEITE,Maria Luisa Alencar eSilva; CAVALCANTI,Yuri Wanderley; ALMEIDA, Leopoldina de Fátima Dantas Almeida; PADILHA,Wilton Wilney Nascimento.Atividade antifúngica do óleo essencial de Rosmarinus officinalis sobre a cinética do crescimento de Candida albicans e Candidatropicalis. Revista Brasileira de Ciências da Saúde. V.16,n.3,p.343-346,2012.
AFECÇÕES ORIGINADAS NO PERÍODO PERINATAL E SEU IMPACTO NA MORTALIDADE INFANTIL NO MUNICIPIO DEUMUARAMA-PR
1ANA GABRIELA FERNANDE FRANK, 2EMILLI KARINE MARCOMINI, 3NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA, 4ADALBERTORAMON V. GERBASI
1Discente de Enfermagem, PIC, UNIPAR1Discente de Enfermagem, PIBIC, Unipar2Docente da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: Uma afecção perinatal é qualquer alteração patológica que ocorre em uma criança menor de um (01) ano de idade,sendo patologias relacionadas ao período gestacional (acompanhamento de baixa qualidade, doenças congênitas, alteração dedesenvolvimento fetal, complicações), complicações durante o parto (lesões e/ou traumas), transtornos cardíacos, respiratórios(hipóxia intrauterina, síndrome da angustia respiratória) metabólicos(transtornos endócrinos eicterícia), hemorragias, bem comohá casos como os problemas nutricionais e funções neurais (OMS, 1997). Essas disfunções que acometem as crianças podemser reflexos do pré-natal, de questões socioeconômicas da mãe, bem como da assistência prestada durante o parto e pós-parto(RIPSA, 2012). Observou-se que maioria desses óbitos estão relacionados a causas que poderiam ter sido evitadas, pois muitosdeles estão relacionados a problemas diagnosticáveis ainda na gravidez ou a eventos adversos que poderiam ser revertidos nomomento do parto ou pós-parto imediato, assim elespassam a ser partedos indicadores de saúde de uma determinadacomunidade (PEREIRA, et al., 2016). Percebeu-se que umas das doenças que mais causam impacto no número de óbitos estãorelacionadas às afecções no período perinatal.Objetivos: Analisar a mortalidade infantil no Município de Umuarama-PR, ocasionados pelas afecções originadas no períodoperinatal.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa epidemiológica de natureza quantitativa, onde os dados coletados foram obtidos pormeio do Sistema de Informática do Sistema Único de Saúde (DATA-SUS), disponíveis no Sistema de Nascidos Vivos (SINASC) eSistema de Mortalidade (SIM), dados vindos do Ministério da Saúde (MS). Foi pesquisado o número de óbitos ocorridos de 2015a 2017 de crianças menores de um (01) ano na Maternidade Regional do Município de Umuarama, maternidade de referência.Este resumo faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento, tendo como foco a apresentação no Evento de Iniciação Cientificade 2019 da Universidade Paranaense-UNIPAR.Desenvolvimento: Durante o período em estudo, o índice de mortalidade em Umuarama para o ano de 2015 foi de 16,7 mortespor mil nascidos vivos, em 2016 foi de 13,5 mortes por mil nascidos vivos e em 2017 foi de 15,3 mortes por mil nascidos vivos.Quando comparados com os índices apresentados no Estado do Paraná para o mesmo período, assim, em 2015 foi de 10,93,em2016 foi de 10,50e em 2017 foi de 10,36 mortes por mil nascidos vivos, respectivamente. Das 69 mortes que ocorreram emUmuarama nos anos estudados, 50 foram associadas as afecções originadas no período perinatal, resultando em uma taxa de72,4%. Enquanto no Estado do Paraná e para o mesmo período, totalizou 2.372 mortes por afecções perinatais, ou5 5% dosóbitos por esta causa. Este tipo de óbito está diretamente associado a problemas reversíveis, como cita o capítulo XVI daClassificação Internacional de Doenças-CID10 (OMS, 1997). Esses números causam impacto diretamente nos indicadores desaúde do município, deixando Umuarama entre as primeiras posições em relação à mortalidade infantil no Estado. Em 2016, oestudo publicado por Huçulak, o Município de Umuarama que recebe uma boa quantia de recursos econômicos e também porapresentar serviços médico-hospitalares de qualidade, apresentava a maior taxa de mortalidade infantil do Paraná, o que pareceum paradoxo. Por ser referência para as demais localidades da região, Umuarama recebe pacientes de diversos municípioscircunvizinhos em buscam tratamento para seus problemas desaúde, inclusive os serviços de maternidade, parto e de cuidadosao recém-nato, que em muitos casos chegam ao óbito, desta maneira passam a fazer parte das estatísticas do Município deUmuarama.Conclusão: Mediante o exposto, percebe-se que há falhas na assistência da saúde infantil, em geral, desde o atendimento pré-natal, ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos mesmos. Há a necessidade de novas intervenções para amelhoria da qualidade do serviço prestado a comunidade para que assim seja possível reverter os índices da mortalidade infantilda doença em estudo. Analisando as causas dos óbitos, foi constatado que as afecções no período perinatal se despontam sobreoutras, tanto no Município de Umuarama como no Estado do Paraná.
Referências
HUÇULACK, M. Governança da Rede Mãe Paranaense. Conselho Nacional de Secretários de Saúde-CONASS, 2016. Acesso:30 jul. 2019. Disponível em: >Acesso: 20/07/2019ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Classificação Internacional de Doenças,ed.10, cap. XV1. p.997.PEREIRA, R. C; et al., Perfil Epidemiológico sobre Mortalidade Perinatal e Evitabilidade. Rev. de Enfermagem UFPEL. Recife,2016.REDE INTERNACIONAL DE INFORMAÇÕES PARA SAÚDE-RIPSA. Comitê Temático Interdisciplinar (CTI) Natalidade eMortalidade. Brasília, 2012.
PERIODONTITE EM PACIENTES COM DIABETES MELLITUS
1MARIANE EDUARDA RECALCATTI, 2MILENA PIZZI, 3EDUARDA OLIVEIRA SEVERGNINI, 4LETICIA ANTONELO CAMPOS
1Acadêmica do curso de Odontologia da Unipar1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: A periodontite é uma doença infecciosa que resulta na destruição dos tecidos periodontais devido a resposta imune-inflamatória do hospedeiro frente aos micro-organismos patogênicos presentes no biofilme dental (MONTEIRO; ARAÚJO;GOMES FILHO, 2002). Esta pode ser influenciada por fatores de risco, como a Diabetes Mellitus. Devido a alta prevalência dadoença periodontal em pacientes portadores de diabetes, a mesma é considerada a sexta complicação do diabetes (Löe, 1993),e isto se deve ao fato da redução nos mecanismos de defesa e a suscetibilidade aumentada às infecções causadas peladiabetes, que contribuem para uma periodontite destrutiva.Objetivo: O objetivo deste trabalho é esclarecer a correlação entre Diabetes Mellitus e a Periodontite por meio de uma breverevisão de literatura.Desenvolvimento: Entre os fatores que influenciam na evolução e gravidade da periodontite em pacientes com diabetes,podemos citar a idade, tempo de duração, controle metabólico, microbiota oral, alterações vasculares, metabolismo do colágeno,fatores genéticos e alterações na resposta inflamatória. Evidenciando a importância do atendimento diferenciado aos pacientesportadores de periodontite e diabetes, devido a grande probabilidade de haver uma relação bidirecional entre as mesmas e apresença de uma resposta exacerbada aos periodontopatógenos (BRANDÃO et al., 2011). A resposta do paciente diabético aosmicro-organismos do biofilme dental além de exacerbada é mediada pelos produtos finais de glicação avançada e seusreceptores específicos, causando danos vasculares, aumentando a severidade da inflamação no tecido periodontal. Essainteração aumenta o estresse oxidativo celular, resultando em maior secreção de citocinas inflamatórias produzidas pelas célulasde defesa: macrófagos/monócitos, aumentando a destruição periodontal. Devido o estado de hiperglicemia, há uma diminuiçãonos fibroblastos pelo ligamento periodontal e na síntese de colágeno, dificultando o processo de reparo dos tecidos periodontais.O diagnóstico precoce e a prevenção são essenciais para evitar a perda irreversível dos tecidos de suporte do dente. Aperiodontite pode ser relacionada com um baixo controle glicêmico em diabéticos, pois a infecção periodontal ocasiona umaumento sistêmico dos mediadores inflamatórios e exacerba a resistência a insulina (ABREU et al., 2014). A progressão daperiodontite é maior em pacientes diabéticos tipo I que são insulinodependentes, ou seja, apresentam a doença por mais tempo,e em diabéticos com periodontite avançada os episódios de abscessos são mais recorrentes do que em indivíduos que nãopossuem diabetes. Em vista disso, o paciente deve ser questionado quanto ao tipo de diabetes e histórico completo da doençaantes de iniciar o tratamento periodontal (BARCELLOS et al.,2000). Segundo Justino (1988) certas condutas devem serpriorizadas no tratamento, tais como, consultas curtas pela manhã, aconselhar o paciente a continuar com sua alimentação derotina. Em casos de consultas demoradas, pode-se realizar uma pausa para refeição rápida. Para diminuir os riscos de infecção éimprescindível solicitar exames laboratoriais antes do início da raspagem, a fim de verificar o nível de controle metabólico dopaciente, e realizar profilaxia antibiótica e antibioticoterapia no pós-operatório quando estes estiverem com valores de baixocontrole glicêmico sendo de médio risco. Abscessos devem ser tratados efetivamente, e o anestésico de escolha não deverá teradrenalina como vasoconstritor, pois esta promove a quebra de glicogênio em glicose, podendo levar a hiperglicemias(BARCELLOS et al., 2000; ROSA; SOUZA, 1996).Conclusão: O cirurgião dentista deve estar ciente dessa correlação entre diabetes e periodontite, para que saiba realizar otratamento correto. Ao se deparar com um paciente diabético ou com suspeita da doença, devem ser solicitados exames paraavaliação do controle metabólico do mesmo para que o atendimento possa ser eficiente e de acordo com as limitações desseindividuo, principalmente quanto a escolha dos medicamentos ideais para que o caso não tenha agravos. A comunicação entremédico e cirurgião dentista deve ser mais efetiva nesses casos, visto que um bom controle metabólico tem influência positivasobre a periodontite, assim como o controle periodontal também age de forma positiva sobre a diabetes, próprio da relaçãobidirecional entre as mesmas.
ReferênciasABREU, I. S.; TAKAHASHI, D. Y; SILVA, H. A. B; FUKUSHIMA, H; AMBRÓSIO, L. M. B; ANDRADE, P. V. C; POSSAMAI, S. M.B; ROMITO, G. A; HOLZHAUSEN, M. Diabetes Mellitus: O Que os Periodontistas Devem Saber. Braz J Periodontol. V. 24, n. 4,
p. 22-28, 2014.BARCELLOS, I. F.; et al. Conduta odontológica em paciente diabético: Considerações clínicas. R. Bras. Odontol., Rio deJaneiro, v. 57, n. 6, p. 407- 410, nov./dez. 2000.BRANDÃO, D. F. L. M. O; SILVA, A. P. G; PENTEADO, L. A. M. Relação bidirecional entre doença periodontal e diabetesmellitus. Odontol. Clín.-Cient. v. 10, n. 2, p. 117-120, 2011.JUSTINO, D. A. F. Exames laboratoriais em Odontologia. R. APCD, São Paulo, v. 42, n. 2, p. 143-144, mar./abr. 1988.LÖE H. Periodontal disease. The sixth complication of diabetes mellitus. Diabetes Care 1993; 16: 329-334.MONTEIRO, A. M. D.; ARAÚJO, R. P. C.; GOMES FILHO, I. S.Diabetes Mellitus tipo 2 e doença periodontal. RGO, Porto Alegre,v. 50, n. 1, p. 50-54, jan./mar. 2002.ROSA, E. L. S.; SOUZA, J. G.. Abscesso dentofacial agudo: em um paciente com Diabetes Mellitus. RGO, Porto Alegre, v. 44,n.2, p. 95-96, mar./abr. 1996.
O DESEJO DA VIA DE PARTO DE PUÉRPERAS ATENDIDAS EM UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE UM MUNICÍPIODO SUDOESTE DO PARANÁ
1ANA JULIA BARBOZA, 2RAFAELA DIAS DA SILVA, 3ANNA VITORIA PINTO DE OLIVEIRA FERREIRA, 4MARCELAGONCALVES TREVISAN, 5GESSICA TUANI TEIXEIRA, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão.1Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão.2Acadêmica do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão.3Docente do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão.4Docente do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão.5Docente do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão.
Introdução: Desde a implementação da portaria ministerial nº 1459, de 24 de junho de 2011, que instituiu a Rede Cegonha,busca-se assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao passo que, o partocesárea é indicado apenas em situações estritamente necessárias (FUJITA; SHIMO, 2014). Atualmente, observa-se um esforçopara resgatar a humanização do parto, que infelizmente se perdeu em diversas tecnologias. Sabe-se que, a humanizaçãosignifica acolher a parturiente, respeitar a sua individualidade, oferecer ambiente seguro, oportunizar um acompanhante e nãointervir em processos naturais com práticas assistênciais desnecessárias, valorizando as mulheres (POSSATI et al., 2017).Objetivo: Identificar o desejo da via de parto de puérperas atendidas em unidades de atenção primária de um município doSudoeste do Paraná.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória-descritiva, com abordagem quantitativa, realizada nas Unidadesde Atenção Primária à Saúde (APS) do município do Sudoeste do Paraná. A coleta de dados deu-se entre os meses de maio ajulho de 2019 por meio de questionário fechado de avaliação de violência no parto adaptado pelas próprias pesquisadoras. Aamostra foi selecionada por conveniência. O instrumento foi aplicado para puérperas com 45 dias pós-parto durante visitadomiciliar. Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva através do programa Statistical Package for the SocialSciences (SPSS) versão 25.0. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer 3.291.378. Salienta-se aindaque, foram preservados todos os preceitos éticos e legais de acordo com a Resolução nº 466/2012.Resultados: A amostra obtida totalizou 78 puérperas. No que diz respeito ao histórico do parto, pode-se destacar que houvepredomínio de cesariana agendada (32,1%). O maior número de nascimentos se deu em instituições públicas (96,3%), realizadospor médicos obstetras (89,7%). Acerca do desejo da via de parto no início e no final da gestação, a preferência pelo parto normalno início da gravidez foi bem significativa (71,8%), e também manteve-se elevada ao final para 67,9% das puérperas. Quandoindagadas sobre os motivos da escolha, as que evoluíram para parto vaginal, em sua maioria desejaram (26,9%) conquanto,àquelas que realizaram cesariana, relataram que preferiam parto normal, mas mudaram de opinião por indicação médica(38,5%).Discussão: Infelizmente, apesar dos esforços do Ministério da Saúde e dos movimentos de humanização, é notável o elevadoíndice de cesariana agendada na pesquisa. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que apenas 15% dos partossejam feitos por via cirúrgica. Mas, no Brasil, 56% dos nascimentos acontecem via cesariana (BATISTA FILHO; RISSIN, 2018).Fatores como, a evolução de técnicas cirúrgicas e anestésicas, redução dos riscos de complicações pós-operatórias imediatas, aremuneração e a escolha da via de parto pelas gestantes, podem justificar os elevados índices de cesariana no Brasil. Sabe-seque, o parto cesáreo é considerado pela OMS uma exceção e não uma regra (RODRIGUES et al., 2016). Apesar dos médicosobstetras serem responsáveis pelo maior número de nascimentos, os enfermeiros obstetras também são legalmente habilitadospara atuar na assistência à mulher durante o processo de parturição. No entanto, enfatiza-se que ainda tem-se uma resistênciaquanto à autonomia deste profissional em instituições hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) (SANTOS et al., 2019).Evidenciou-se também que, grande parte das puérperas relataram a preferência pelo parto normal no início e no final dagestação. Estudos reforçam alguns motivos para essa preferência, dentre elas, destacam a recuperação materna mais rápida, aopção por um parto natural e saudável, maior facilidade no aleitamento, dentre outras (SILVA et al., 2017). Ao considerar que,uma parcela significativa de puérperas mudou de opinião por indicação médica, sugere-se que o medo da dor do parto vaginal,experiências negativas anteriores e o desejo da realização do procedimento de laqueadura, também podem ter interferido naescolha (SILVA et al., 2017). Pesquisa brasileira afirma que o índice de puérperas que mudam de opinião por indicação médicaentre os anos de 1999 a 2008 foi de 37,2% e 48,5%, respectivamente, ou seja, esses dados mostram um aumento 30,3%(WEIDLE et al., 2014). É válido salientar que, a confiança é um aspecto importante no parto, pois o profissional da assistência
obstétrica deve estar ao lado da mulher compartilhado suas emoções, respeitando as suas escolhas (MATEI et al., 2003). Conclusão: Pode-se observar que a autonomia e empoderamento feminino ainda não estão sendo respeitados, mesmo com aadesão à novas políticas públicas que defendem o direito das mulheres quanto a escolha da via de parto, visto que seus desejosestão sendo desconsiderados. Os profissionais de saúde desempenham importante papel, devem fazer uso de boas práticasobstétricas e colocar seu conhecimento a serviço do bem-estar da mulher e do bebê.
ReferênciasBRASIL. Portaria nº 1459, de 24 de junho de 2011. Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS a Rede Cegonha.Diário Oficial da União, Brasília, 24 jun. 2011.POSSATI, A.B. Humanização do parto: significados e percepções de enfermeiras. Rev Esc Anna Nery, v. 21, n. 4, p. 1-6, 2017.SANTOS, F.A.P.S. et al. Autonomia do enfermeiro obstetra na assistência ao parto de risco habitual. Rev Bras Saúde MaterInfant., Recife, v. 19, n. 2, p. 481-489, abr./jun., 2019.FUJITA, J.A.L.M.; SHIMO, A.K.K. Parto Humanizado: Experiências no Sistema Único de Saúde. Rev Min Enferm, v. 18, n. 4, p.1006-1010, out./dez. 2014.FILHO, M.B.; RISSIN, A. A OMS e a epidemia de cesarianas. Rev Bras Saúde Mater Infant, Recife, v. 18, n. 1, p. 5-6, jan./ mar.,2018.RODRIGUES, J.C.T. et al. Cesariana no Brasil: Uma Análise Epidemiológica. Revista Multitexto, v. 4, n. 1, p. 48-53, 2016.WEIDLE, W.G. et al. Escolha da via de parto pela mulher: autonomia ou indução? Cad Saúde Colet, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1,p. 46-53, 2014.MATEI, E.M. et al. Parto humanizado: um direito a ser respeitado. Cadernos das Faculdades Integradas São Camilo, v. 9, n. 2,p. 16-23, abr./jun. 2003.SILVA, A.C.L. et al. Preferência pelo tipo de parto, fatores associados à expectativa e satisfação com o parto Rev Eletr Enf p. 1-11, 2017.
ANSIEDADE ODONTOLÓGICA DOS RESPONSÁVEIS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA CLÍNICA MULTIDISCIPLINARINFANTIL - UNIPAR CAMPUS CASCAVEL
1ALLAN FERREIRA DE LIMA ANTONELLI, 2ALLANA GABRIELA MEURER FONTIN, 3MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA,4ANA KAROLYNA DAMASO TAVARES, 5GABRIELI GUILHERME PSZEBISZESKI, 6JULIANA GARCIA MUGNAI VIEIRASOUZA
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Acadêmica do PIC/UNIPAR4Acadêmica do PIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O medo e a ansiedade são importantes obstáculos durante os cuidados à saúde, especialmente quando se refere àsaúde bucal, sendo um empecilho durante os cuidados com a saúde, tendo consequências prejudiciais, representando umgrande desafio para os profissionais (CARVALHO, 2012). Para tanto, é necessário que se desperte, ainda na formação docirurgião-dentista, atenção para a relação profissional-paciente, afim de reduzir a ansiedade do paciente diante ao tratamento ealcançar a sua motivação (KANEGANE et al., 2006). O impacto que a ansiedade produz frente aos fatores odontológicos éamplo, levando a evasão dos cuidados dentários, mas também a efeitos individuais em geral. O medo de dentista , no entanto,é caracterizado como um dos mais frequentes e mais intensivamente vivenciados. É considerado uma abordagemcomportamental e fisiológica, que se caracteriza como uma reação emocional a uma ameaça encontrada na práticaodontológica (MOURA et al., 2018). O medo frente ao tratamento odontológico inicia-se geralmente na infância e na adolescênciae são desencadeados por alguma experiência dolorosa vivida anteriormente, pelo desconhecimento em relação aosprocedimentos e até mesmo pelo próprio ambiente do consultório (KANEGANE et al., 2006).Objetivo: Verificar o grau de medo e ansiedade odontológico dos pais/responsáveis pelas crianças atendidas na clínicamultidisciplinar infantil da UNIPAR Campus Cascavel, Paraná. Metodologia: O estudo está sendo realizado com pais/responsáveis das crianças atendidas na Clínica odontológica da UNIPARCampus Cascavel no município de Cascavel - Paraná. A amostra será composta por aproximadamente 100 responsáveis. Aosparticipantes, está sendo apresentado o objetivo e a metodologia do projeto, os que aceitam ser voluntários assinam o termo deconsentimento livre e esclarecido (TCLE), respondem um questionário estruturado com perguntas objetivas, nas quais sãosolicitadas informações pessoais (idade, gênero, etnia, nível de escolaridade e renda). Em seguida é aplicado um método deavaliação da ansiedade frente ao tratamento odontológico. Neste estudo utilizaremos a Escala de Corah, a qual é conhecidacomo um instrumento para avaliar as manifestações da ansiedade odontológica desde 1970, por permitir reconhecer de maneiraobjetiva o nível de ansiedade através da soma das respostas fornecidas pelas respostas multi-itens. Para a interpretação do graude ansiedade, pacientes cuja soma das respostas foi inferior a 5 pontos, são considerados muito pouco ansiosos; entre 6 a 10pontos, levemente ansiosos; entre 11 a 15 pontos, moderadamente ansiosos; e somas superiores a 15 pontos, extremamenteansiosos (CARVALHO, 2012). Após o preenchimento do questionário, os voluntários são avaliados através da Escala de Corah.Para a obtenção dos resultados finais, serão comparados os dados coletados através dos questionários, com os valores obtidospor meio da Escala de Corah. Os resultados numéricos então serão analisados estatisticamente e uma análise descritiva serárealizada. A pesquisa foi submetida ao Comitê de ética em pesquisa com Seres Humanos da UNIPAR com parecer: 2.817.068.Resultados: A pesquisa está em andamento, contudo, os dados são parciais. Até o presente momento foram aplicados 61questionários, no qual os resultados parciais obtidos foram: 80,4% dos entrevistados foram do sexo feminino e 19,6% forammasculino. Quanto ao grau de escolaridade: 23% dos entrevistados possuem ensino fundamental incompleto, 3,3% ensinofundamental completo, 24,6% ensino médio incompleto, 34,4% ensino médio completo, 8,2% ensino superior incompleto e 6,5%ensino superior completo. De acordo com as questões contidas no questionário sobre a escala de Corah: 39,35% dosentrevistados são considerados muito pouco ansiosos, 40,98% são levemente ansiosos, 18,03% dos pais são moderadamenteansiosos e 1,64% são considerados extremamente ansiosos.Discussão: O medo e a ansiedade têm influência significativa no decorrer do tratamento odontológico, provocam alterações nopróprio paciente e desenvolve desgaste físico e emocional do profissional (MOURA et al.,2018). Trabalho realizado porCarvalho(2012) relata que a grande maioria demonstrou pouca ou leve ansiedade frente ao atendimento odontológico.Comparando os resultados parciais da pesquisa verifica-se que a maioria dos pais são pouco (39,35%) e levemente ansiosos
(40,98%), assim os resultados são bem parecidos com a pesquisa desenvolvida.Conclusão: Conclui-se até o presente momento que a maioria dos pais/responsáveis apresentam pouca e leve ansiedadeodontológica.
ReferênciasBATISTA, Thálison Ramon de Moura et al. Medo e ansiedade no tratamento odontológico: um panorama atual sobre aversão naodontologia. SALUSVITA, Bauru, v. 37, n. 2, p. 449-469, 2018.CARVALHO, Ricardo Wathson Feitosa et al. Ansiedade frente ao tratamento odontológico: prevalência e fatores predictores embrasileiros. Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 7, p. 1915- 1922, 2012.KANEGANE, Kazue; PENHA, Sibele Sarti; BORSATTI, Maria Aparecida; ROCHA, Rodney Garcia. Ansiedade ao TratamentoOdontológico no Atendimento de Rotina. RGO, P. Alegre, v. 54, n. 2, p.111-114, 2006.
SÍNDROME DE STURGE-WEBER: UMA REVISÃO
1ANDRESSA VENTRAMELI DE ANDRADE, 2BIANCA MENDONCA GUSMAO, 3JAMILLE CRISTINA KARWEL, 4LETICIA VAZDE CAMARGO, 5LUANA HERRERO DOMENE, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A síndrome de Sturge-Weber (SSW), também denominada angiomatose encéfalo-trigeminal, é uma enfermidadeextremamente rara, com manifestações cutâneas, neurológicas e oftalmológicas. Sua etiologia é desconhecida, porém a hipótesemais aceita atualmente propõe mutações somáticas no ectoderma fetal (ALMEIDA et al., 2008). Esta enfermidade apesar de raraé a mais frequente entre as síndromes neurocutâneas especialmente com predomínio vascular estando na proporção de1/50.000 nascimentos (NETO et al., 2008). Os principais sinais da síndrome são o nevo facial em território do trigêmeo e aangiomatose da leptomeninge homolateral. Outras manifestações clínicas estão frequentemente presentes, como: crisesconvulsivas, retardo mental, hemiparesia e hipertrofia contralaterais e glaucoma ipsilateral. É de importância que os cirurgiões-dentistas tenham o conhecimento das características clínicas e bucais dessa patologia, pois, para realizar procedimentosinvasivos em pacientes portadores da síndrome, é necessário um planejamento cirúrgico, visto que a hemorragia possa ser umproblema significante (FONTENELLE; SILVA; KREIMER, 1991 apud; GOMES; SILVA; ALBERT, 2004).Objetivo: Fazer um levantamento bibliográfico sobre a síndrome de Sturge-Weber.Desenvolvimento: A SSW é uma deficiência congênita, de origem desconhecida, acredita-se que seja causada pela persistênciade um plexo vascular ao redor da porção encefálica do tubo neural. As manifestações bucais podem aparecer como lesãohemangiomatosa no lábio, mucosa bucal, gengiva, língua e palato. Eventualmente as exibições bucais dessa doença podemocasionar mudanças na morfologia e histologia da gengiva, periodonto e, ocasionalmente manifestações populares (GOMES;SILVA; ALBERT, 2004). Segundo Santos e Cavalheiro (2010), foi feita uma inspeção oral e facial em uma paciente de 3 anosportadora da SSW. As manifestações mais importantes foram a respiração oronasal, assimetria de língua e palato duro e palatomole, desvio de úvula, alteração gengival e escapa extra-oral de saliva constante. Tais alterações revelam anomalias deestruturas ósseas da face, inadequação quanto a morfologia, mobilidade e tônus dos órgãos fonoarticulatórios (OFAs), assimetriafacial e alterações de sensibilidade. Segundo Almeida et al. (2008), a presciência e a expectativa de vida da SSW são muitovariáveis, pois dependem da dimensão do angioma leptomeníngeo e do seu efeito sobre a perfusão cerebral, bem como dagravidade dos sintomas oculares, início das convulsões e da resposta ao tratamento clínico. A manifestação clínica mais evidenteé a presença do nevo flamíneo na face ou mancha em vinho do Porto, que normalmente segue a trajetória dos ramos V1 e V2 donervo trigêmeo (NETO et al., 2008). De acordo com Neto et al. (2008), a epilepsia é a manifestação neurológica mais frequenteque transcorre em decorrência da angiomatose, afetando 75% a 90% dos portadores. O tratamento da síndrome de Sturge-Weber é variável, dependendo da natureza e intensidade das suas possíveis características clínicas. A primeira orientação dotratamento deve ser voltada para conter as crises convulsivas. Em torno de 50% dos casos, as manchas em vinho do Portopodem ser bilaterais, embora não necessariamente simétricas (CAFÉ; RODRIGUES; VIGGIANO, 2008).Conclusão: Por meio deste estudo legitima-se que síndromes raras não devem ser negligenciadas pelos profissionais, pois cadapaciente possui sua particularidade, assim visa destacar a importância do cirurgião-dentista em saber diagnosticar a SSW pararealizar procedimentos invasivos em pacientes portadores.
ReferênciasALMEIDA, Alberto Aloysio Lancher; BONISSON, Simone Motta; NOBRE, Marielle Costa; OLIVEIRA, Luciano Fontes; GARCIA,Bernado Fontes. Síndrome de sturge-weber e diabetes mellitus tipo 1. Rev. médica de Minas Gerais. v. 18, n. 4, p. 290-293,2008.CAFÉ, Maria Ester Massara; RODRIGUES, Rogerio Da Costa; VIGGIANO, Angnella Massara. Você conhece esta sindrome? AnBras Dermatol. v. 83, n. 2, p. 167-9, 2008.GOMES, Ana Claudia Amorim; SILVA, Emanuel De Oliveira; ALBERT, Daniela Guimarães De Melo. Síndrome de sturge-weber:Relato de caso clínico. Rev. de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo_Facial. v. 4, n. 1, p. 47-52, 2004.
NETO, Francisco Xavier Palbeta; JÚNIOR, Milton Alencar Vieira; XIMENES, Lorena Souza; JACOB, Celidia Cristina De Souza;JÚNIOR, Adilson Góes rodrigues; PALBETA, Angelica Cristina Pezzin. Aspectos clínicos da síndrome de sturge-weber. Arq. Int.Otorrinolaringol. v.12, n.4, p.565-570, 2008.SANTOS, Sara Virgínia Paiva; CAVALHEIRO, Laura Giotto. Síndrome de sturge-weber: relato de caso dos achados da avaliaçãofonoaudióloga. Rev. CEFAC. v.12, n.1, p.161-170, 2010.
COLONIZAÇÃO DE Staphylococcus aureus EM MÚLTIPLAS CAVIDADES EM PACIENTE COM SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: UM RELATO DE CASO
1FERNANDA TONDELLO JACOBSEN, 2ELIZANGELA MARTINS DE OLIVEIRA, 3JESSICA CRISTINA ALVES, 4LILIANCRISTINA OBERGER, 5SABRINA OLIVEIRA ORTEGA, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma neuropatia paralítica aguda autoimune que atinge cerca de 100.000pessoas no mundo (WILLISON, JACOBS, VAN DOORN, 2016). Esta síndrome geralmente incorre de infecções no tratorespiratório ou digestivo e se caracteriza pela dismielinização dos nervos periféricos devido a um mecanismo autoimune, que semanifesta com fraqueza muscular progressiva (RIBEIRO et al., 2016).Relato de caso: E. L., 77 anos de idade, foi admitido na UTI dia 06 de junho de 2019, em um hospital do Paraná com queixa deperda de força e paresia bilateral de membros superiores e inferiores. O paciente referiu episódio parecido 7 dias antes commenor intensidade e retorno ao normal após 30 minutos. Ao exame físico observou-se que o paciente estava instável, corado,hidratado, acianótico, com boa perfusão periférica, com paresia nos membros. Atividade cardiovascular preservada, mantendorespiração ambiente em uso de traqueostomia. O paciente estava ventilando espontaneamente, sem próteses, apresentavaexpansibilidade reduzida com esforço respiratório, abdome globoso sem dor e sem sinais de irritação. Estava afebril, sem uso deantibióticos e a contagem de leucócitos resultou 10.000. Foi realizada a coleta, por meio de swab, das secreções nasal, oral etraqueal pela equipe do Projeto de Iniciação Científica, as coletas foram submetidas à semeadura por esgotamento em AgarSangue. Observou-se colonização de Staphylococcus aureus nas semeaduras das três diferentes cavidades coletadas. Emseguida, o padrão de sensibilidade aos antimicrobianos foi estabelecido através de discos difusão em Agar Mueller Hinton. No dia22 de junho de 2019 o paciente recebeu alta da UTI, apresentava-se estável, corado, sem sinais de sangramento ativo, comredução da paresia. Estava ventilando espontaneamente, boa expansibilidade e sem esforço respiratório. O paciente se manteveafebril no período e fez uso de Tazocin e imunoglobulina, a contagem de leucócitos resultou 9.500. Por ser uma pesquisa queenvolve seres humanos, o referido estudo foi previamente submetido a avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa com SeresHumanos e teve aprovação sob parecer 2.135.782.Discussão: A Síndrome de Guillain-Barré é uma polineuropatia autoimune aguda que desenvolve inicialmente doresneuropáticas e parestesias nos membros inferiores e superiores (GARCIA, 2018). Por ser uma doença rara, seu diagnóstico podeser lento e equivocado, dessa forma, quando realizado de forma precoce, evita a complicação sistêmica e óbito (GARCIA, 2018;BRASIL, 2019). Por se tratar de uma síndrome autoimune, o agravamento da Guillain-Barré está relacionado com o sistemaimune do paciente. Essa síndrome geralmente é precedida de infecção do trato respiratório ou gastroenterites, sendoCampylobacter jejuni o microrganismo mais comum no segundo caso. A produção exacerbada de anticorpos justifica-se pelacapacidade do microrganismo fazer mimetismo molecular. Hoje o tratamento mais eficaz é feito a partir de imunoglobulinas,entretanto não é efetivo em todos os casos. Além disso pode ocorrer piora após a melhora inicial, por isso é importante que opaciente seja vigiado nas primeiras semanas de tratamento (MATOS, 2017). A colonização bacteriana em pacientesimunocomprometidos apresenta um risco maior se comparado a pacientes com o sistema imune íntegro, pois quandocomprometido não vai responder de forma efetiva ao microrganismo, podendo levar a uma infecção oportunista e as drogasantimicrobianas se tornam menos efetivas nesses pacientes (DA CRUZ PADRÃO et al., 2010). A Staphylococcus aureus é umabactéria gram positiva que faz parte da microbiota humana, mas pode causar infecções caso o paciente estejaimunocomprometido. Esta bactéria foi uma das primeiras a ser controlada com antibióticos e devido à sua facilidade deadaptação, criou diversos mecanismos de resistência. Por esse motivo, ela é hoje uma das bactérias mais resistentes e de maiorimportância no quadro de infecções hospitalares (DOS SANTOS, et al. 2007). O paciente apresentou colonização por S. aureusnas cavidades oral, nasal e traqueal, sabe-se que esta bactéria faz parte da microbiota nasal, já a colonização das outrascavidades justifica-se pela contaminação cruzada no próprio ambiente. Considerando a idade avançada do paciente, o bomprognóstico e a boa resposta ao tratamento podem estar relacionados ao diagnóstico precoce. O tratamento foi feito comimunoglobulina endovenosa, sendo este o padrão ouro para a SGB. O tempo de internamento na UTI foi de 16 dias, tempo
próximo ao relatado no estudo de Matos (2017), no qual a média de tempo foi de 16,44 ± 10,14 dias.Conclusão: A colonização de S. aureus em múltiplas cavidades se deve à sua patogenicidade e facilidade de replicação, alémdos seus diversos mecanismos de resistência. Pode ser favorecida pela permanência do paciente na UTI e pelocomprometimento do seu sistema imune devido à SGB, outro fator é a contaminação cruzada. Sabe-se que a colonização demicrorganismos multirresistentes vem aumentando, principalmente nas UTI, portanto, se faz necessário criar estratégias parareverter essa situação.
ReferênciasBRASIL. Síndrome de Guillain-Barré: causas, sintomas, tratamentos e prevenção. Ministério da Saúde. Disponível em: . Acessoem: 09 de agosto de 2019.DA CRUZ PADRÃO, Manuella et al. Prevalência de infecções hospitalares em unidade de terapia intensiva. Rev bras clin med,Campo dos Goytacazes, v. 8, n. 2, p. 125-8, jan/mar. 2010.DOS SANTOS, André Luis et al. Staphylococcus aureus: visitando uma cepa de importância hospitalar. Jornal Brasileiro dePatologia e Medicina Laboratorial, Rio de Janeiro, v. 43, n. 6, p. 413-423, 20 dez. 2007.GARCIA, Jéssica de Abreu. Estudo transversal da Síndrome de Guillain Barré no Brasil no ano de 2018. Orientador: BrunoSilva Milagres. 2018. Monografia (Biomedicina) Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018.MATOS, Aline de Moura Brasil. Perfil clínico, epidemiológico, laboratorial e eletroneuromiográfico de pacientes comsíndrome de Guillain Barré assistidos no Hospital Geral de Fortaleza. Orientador: Fernanda Martins Maia. 2017.Monografia(Residência Médica em Neurologia) Hospital Geral de Fortaleza, Fortaleza. 2017.RIBEIRO, Antônia Emily Oliveira et al. SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: DEFINIÇÃO, EPIDEMIOLOGIA, DIAGNÓSTICO,PATOGÊNESE, CLASSIFICAÇÃO, COMPROMETIMENTO RESPIRATÓRIO E IMUNOTERAPIA. Mostra Interdisciplinar docurso de Enfermagem, [S.l.], v. 1, n. 1, mar. 2016. ISSN 2448-1203.WILLISON, Hugh J.; JACOBS, Bart C.; VAN DOORN, Pieter A. Guillain-barre syndrome. The Lancet, Glasgow, v. 388, n. 10045,p. 717-727, fev. 2016.
UTILIZAÇÃO DE EXTRATO DE BETERRABA (Beta vulgaris.) NA EVIDENCIAÇÃO DO BIOFILME DENTÁRIO. ANÁLISEIn Situ
1NATHALIA VOLPATTO FERREIRA, 2GUSTAVO HENRIQUE ISTOSKI HEINZ, 3ANA CAROLINA SOARES FRAGA ZAZE
1Acadêmico Bolsista do PIBIC - UNIPAR1Acadêmico do PIC - UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: A má higiene oral leva ao aparecimento das principais doenças bucais, como a cárie e a doença periodontal,promovendo tanto a destruição da estrutura dentária como do periodonto de sustentação dos dentes. Evidenciar o biofilme setorna fundamental para facilitar a visualização das áreas de maior acúmulo de biofilme dentário, favorecendo sua remoção eorientação de higiene oral por parte do profissional (LEAL ET AL., 2002).Objetivo: Analisar a capacidade de evidenciação do biofilme dentário apresentada pelo extrato de beterraba (Beta vulgaris), deorigem vegetal, quando comparado a um evidenciador sintético (Fucsina).Material e métodos: Após a aprovação do presente projeto pelo comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 67495317.6.0000.0109), aamostra foi composta por meio da adesão de voluntários, que após o esclarecimento sobre a pesquisa e os procedimentos aserem realizados, concordaram em fazer parte da mesma e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para apreparação do extrato, foi fervido 150 ml de água destilada juntamente com 50 gr de beterraba in natura previamente cortada,até que o líquido fosse reduzido em 50% da quantidade inicial. A solução foi processada, peneirada e filtrada após atingirtemperatura ambiente. Para o preparo das soluções, o extrato foi diluído em água destilada nas concentrações de 95%, 90%,85% e 80%. Nas análises, foram utilizados também o extrato sem diluição (concentração de 100%), e a Fucsina (evidenciadorsintético), como controle positivo. A amostra in situ foi selecionada e composta por 11 voluntários entre 18 e 35 anos, edispositivos palatinos intra-orais de resina acrílica foram confeccionados. Em cada dispositivo foram fixados 6 blocos de esmaltebovino tamanho (4x4mm), 1 mm aquém da altura da resina acrílica. Para possibilitar a formação de biofilme no espaçoremanescente, uma tela plástica foi fixada sobre os dentes para proteção dos mesmos. Os voluntários permaneceram por 7 diascom o dispositivo, retirando apenas durante as refeições e foram instruídos a gotejar sobre os blocos de esmalte solução desacarose a 15%, 8 vezes ao dia. No oitavo dia, os dispositivos foram recolhidos para análise das diferentes concentrações doextrato. As soluções diluídas e o extrato puro foram colocados em frascos âmbar aleatoriamente e numerados de 1 a 5, sendo afucsina o frasco de número 6. Os dispositivos, já com a presença de biofilme, foram preparados para a análise por meio daremoção da tela plástica e confecção de uma barreira de cera ao redor dos blocos. Sobre cada um dos blocos pipetou-se 25 ulde uma das soluções. Cada solução permaneceu em contato com o biofilme durante 1 minuto, sendo lavada com água destilada,e em seguida e seca com papel absorvente para remoção dos excessos. O biofilme corado foi analisado por dois examinadores,classificando a coloração como presente ou ausente, e a intensidade de coloração em fraca, regular, boa e ótima. Após a análise,os dados foram tabulados e os resultados expressos de forma descritiva. Resultados: Foram consideradas as medias das análises dos dois avaliadores em cada sítio de avaliação. Quanto à capacidadede coloração, 88,8% dos blocos mostraram resultados favoráveis e 11,2%, desfavoráveis, pois não houve pigmentação visível.Os melhores resultados foram obtidos do extrato puro (100%), com 50% dos nichos apresentando boa intensidade de coloração,33,4% regular e todos os sítios com capacidade de coloração, mesmo os que foram classificados como intensidade regular oufraca, 16,6% quando somados. Os piores foram nas concentrações de 90% e 80%. Quando consideramos os resultados docontrole positivo (Fucsina), 100% das análises foram consideradas com intensidade de coloração ótima.Discussão: Evidenciadores artificiais são os mais utilizados para pigmentar biofilme, porém, podem ser fator de induçãocarcinogênica, além do potencial de provocar alergias como a asma, rinite e urticária. Desta forma, pesquisas na indústriaalimentícia apresentam uma tendência de substituição de corantes sintéticos por corantes naturais. Estudos previamenterealizados por Roland e colaboradores (2007) e Emmi (2006) demostraram, respectivamente, que o extrato aquoso da sementede urucum (Bixa orellana) pode ser utilizado para esta finalidade, bem como o corante extraído do açaí (Euterpe oleracea). Empesquisas realizadas com outros extratos de origem vegetal como a Amora (ALVES et al., 2016) foi observada a existência decorantes de origem vegetal que apresentam capacidade de evidenciar biofilme dentário, possibilitando a substituição de corantesartificiais, eliminando reações indesejadas. Quanto ao extrato de beterraba, Alves e colaboradores (2017), demonstraram emestudo piloto que o mesmo possui capacidade evidenciadora, o que reforça os resultados encontrados no presente estudo.Conclusão: O extrato de beterraba (Beta vulgaris) possui capacidade evidenciadora do biofilme dentário. Se faz necessáriodestacar a concentração do extrato puro 100%, devido ao melhor resultado dentre as soluções experimentais, e a intensidade decoloração. Entretanto, a Fucsina obteve resultado superior em todas as análises.
ReferênciasALVES, Ederson; JUNIOR, Carlos Montagnini; CORGOZINHO, Gabriela Santos; ZAZE, Ana Carolina Soares Fraga. Avaliação dacapacidade e intensidade de coloração de biofilme pelo extrato de amora (Rubus spp). Estudo piloto. In: I CongressoInternacional de Ciência Tecnologia e Inovação e XV Encontro Anual de Iniciação Científica da Unipar, 2016.ALVES, Kaoane Tainá; FERREIRA, Nathalia Volpatto; BARBOSA, Leonardo Carlini; ZAZE, Ana Carolina Soares Fraga.Avaliação da utilização de extrato de beterraba (Beta vulgaris) na evidenciação do biofilme dentário. Estudo piloto. In: IICongresso Internacional de Ciência Tecnologia e Inovação e XVI Encontro Anual de Iniciação Científica da Unipar, 2017.EMMI, D. T. Análise comparativa da eficácia de evidenciadores de placa dental a base de corantes naturais x sintéticos.2006. 55 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) Curso de Odontologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2006.LEAL, S. C. et al., Effectiveness of teaching methods for toothbrushing in preschool children. Braz Dent J, Nova Iorque, v. 13, n.2, p. 133-136, junho, 2002.ROLAND, I. A, et al., Avaliação da ação do extrato aquoso das sementes de urucum Bixa orellana I. como evidenciador deplaca dental bacteriana em hamster. In: 61ª Reunião Anual da SBPC, 2007, Amazonas: Universidade do Estado do Amazonas(UEA), 2007, p. 225-257.
ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DE ANTICORPOS IRREGULARES DE PACIENTES ATENDIDOS EM UM HEMONÚCLEO NOSUDOESTE DO PARANÁ EM 2017
1MAIARA CRISTINA DE CESARO, 2ANA FRIDA DUARTE, 3RAQUEL GABRIELA MORESCO, 4MARDJORI ANDRADEHELLMANN, 5MARIANGELA CAUZ, 6VOLMIR PITT BENEDETTI
1Discente do curso de Farmácia da Universidade Paranaense - PIC/UNIPAR - Francisco Beltrão/PR 1Acadêmica do Curso de Farmácia da UNIPAR2Graduada em Farmácia pela Universidade Paranaense - UNIPAR, Francisco Beltrão-PR3Docente da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Quando um indivíduo é exposto a antígenos eritrocitários não próprios, ocorre uma resposta imunológica, que leva àprodução de anticorpos irregulares voltados contra esses antígenos. Esse processo é conhecido como aloimunização eritrocitáriae acontece em decorrência de transfusões de sangue ou gestações incompatíveis (QUEIROZ, 2013). Na medicina transfusional apesquisa de anticorpos irregulares é fundamental, pois a falha na detecção de um aloanticorpo pode provocar reaçõestransfusionais, aloimunizações, anemias hemolíticas autoimunes, doença hemolítica do feto e recém-nascido (LORENZI et al.,2006).Objetivo: Este estudo tem por objetivo analisar a frequência de anticorpos irregulares de pacientes atendidos no HemocentroRegional de Francisco Beltrão, Paraná, no ano de 2017.Metodologia: Os dados foram coletados a partir da revisão de registros em arquivos do Laboratório de Imunohematologia doHemonúcleo, sendo investigados 49 protocolos de pacientes que apresentaram dificuldades transfusionais no ano de 2017.Foram avaliadas as variáveis relativas à idade, sexo, histórico transfusional e gestacional, medicações em uso e resultados dosexames imunohematológicos realizados.Resultados: Dentre os pesquisados, 37 (75,5%) pacientes apresentaram anticorpos irregulares. Dentre os anticorposantieritrocitários observados com maior frequência neste estudo foram anti-D (27,2%) presente em doze pacientes, anti-K(13,6%) em seis pacientes, e anti-C (9,0%) em quatro pacientes, e em seis (13,6%) pacientes foi observada a presença de auto-anticorpos.Discussões: Semelhante ao encontrado no presente estudo, Martins et al. (2008) observou que os anticorpos mais encontradosforam anti-D (24,28%), anti-E (18,50%), anti-K (13,87%), anti-M (10,41%). Dessa forma, a frequência elevada de anticorpos anti-D entre os pacientes analisados, provavelmente se deva à sensibilização durante a gestação ou aloimunização ocorrida emoutros serviços, visto que a maior incidência de anticorpos irregulares foi em pacientes do sexo feminino (CANDIOTTO, 2013).Conclusão: Este estudo indica que, nos pacientes transfundidos, os anticorpos mais frequentes foram os aloanticorpos Anti-D doSistema Rh, provavelmente devido ao seu alto grau de imunogenicidade. A prevalência desses anticorpos é semelhante a váriosestudos encontrados na literatura.
ReferênciasCANDIOTTO, Jacson. Prevalência de anticorpos irregulares em pacientes atendidos pelo Hemepar Curitiba no ano de2012. 2013. 17 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Programa de pós graduação em Ciências Farmacêuticas) UniversidadeFederal do Paraná, Curitiba, 2013.LORENZI, Therezinha Ferreira et al. Manual de hematologia: propedêutica e clínica. 4. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2006. 724p.MARTINS, Paulo Roberto Juliano et al. Frequência de anticorpos irregulares em politransfundidos no Hemocentro Regional deUberaba-MG, de 1997 a 2005. Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, v. 30, n. 4, p. 272-276, 2008.QUEIROZ, Mayara Alvarenga. O uso da genotipagem de grupos sanguíneos na prática transfusional. Trabalho deConclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2013.
REAÇÕES TRANSFUSIONAIS IMEDIATAS
1KAROLINA COSTA RODRIGUES, 2BARBARA GRUNEVALD DOS SANTOS, 3DEBORA NAKADOMARI DUDEK
1Acadêmica do curso de Biomedicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: As transfusões de componentes do sangue são, normalmente, um meio eficaz de corrigir de modo temporário adeficiência de hemácias, plaquetas e fatores de coagulação (CALLERA et al., 2004). A reação transfusional é qualquerocorrência originada como consequência da transfusão de hemocomponentes, durante ou após sua administração. Os incidentestransfusionais podem ser classificados em imediatos ou tardios, de acordo com o tempo entre a transfusão e o possível incidente(BRASIL, 2010). A gravidade e a incidência variam de acordo com o tipo de reação transfusional, a prevalência da doença napopulação doadora e a extensão dos cuidados de acompanhamento recebidos pelo paciente (PY et al., 2018).Objetivo: Destacar o que é a reação transfusional, levando em consideração suas classificações quando imediatas.Desenvolvimento: Em algumas situações clínicas, a transfusão representa a única forma de salvar uma pessoa ou de melhorarrapidamente uma grave doença, o processo transfusional está sujeito a riscos, com a ocorrência de possíveis reações, sejameles imediatos ou tardios (ATTERBURY;WILKINSON, 2000). Os incidentes transfusionais imediatos ocorrem durante atransfusão ou até 24 horas após e para uma melhor detecção o paciente é monitorado nesse período. Uma das reaçõesadversas mais conhecidas, é a reação hemolítica transfusional aguda, que se caracteriza por ser uma reação secundária a açãode anticorpos contra antígenos eritrocitários (HERMAN et al., 2002). Existe também a reação febril não hemolítica que tem comocaracterística o aumento de mais de 1°C da temperatura corporal, associada à transfusão de hemocomponentes, na ausência decausa subjacente. Outras conhecidas são: A sobrecarga de volume, que acontece quando à transfusão pode causar edemaagudo, de pulmão devido à sobrecarga de volume, em pacientes com reserva cardíaca diminuída. Outro exemplo de reação é acontaminação bacteriana do hemocomponente que pode ser responsável por bacteremia aguda. (OLIVEIRA et al., 2003). ATRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury) traduzida como lesão aguda pulmonar relacionada à transfusão ou edemapulmonar agudo não cardiogênico, está relacionada à transfusão de anticorpos dirigidos contra o sistema HLA ou antígenosneutrofílicos que reagem com leucócitos e plaquetas do receptor levando a uma sequência de eventos que aumentam apermeabilidade da microcirculação pulmonar, permitindo a passagem de líquidos para os alvéolos. Também há as reaçõesanafiláticas, que se trata de uma reação de hipersensibilidade imediata, mediada pelo sistema imune, desencadeada pelaexposição a substâncias solúveis no plasma do doador ao qual o receptor está sensibilizado. E por último as reações alérgicas:reação decorrente de alergia do receptor a alguma substância solúvel no plasma do doador e geralmente mediada por anticorposanti-IgE e anti- IgG (HERMAN et al., 2002).Conclusão: O reconhecimento e o manejo das reações transfusionais são fundamentais para garantir a segurança do pacientedurante e após uma transfusão sanguínea. Por isso é necessária a detecção das reações adversas pelos profissionais de saúdeenvolvidos no processo de transfusão, bem como o desenvolvimento de procedimentos para minimizar esse processo.
ReferênciasATTERBURY, C & WILKINSON, J. Blood transfusion. Nurs Stand. 2000;14(34):47-52. Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002012000100025&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em:11/03/2019.Brasil, Ministério da Saúde. Guia para o uso de hemocomponentes. Brasília, 2010. Disponível em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_uso_ hemocomponentes.pdf. Acesso em: 13/08/2019.CALLERA, Fernando et al. Descriptions of acute transfusion reactions in a Brazilian Transfusion Service. Rev. Bras. Hematol.Hemoter., São José do Rio Preto, v. 26, n. 2, p. 78-83, 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-84842004000200003. Acesso em: 28/08/2019.HERMAN, Jay & MANNO, Catherine. Pediatric Transfusion Therapy. AABB. 2002. Disponível em:https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/hospital/Documents/guia-conduta-hemoterapia_30-07-2019.pdf. Acesso em: 13/08/2019.OLIVEIRA, L., & COZAC, A. P. (2003). REAÇÕES TRANSFUSIONAIS: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. Medicina (RibeirãoPreto) 36(2/4), 431-438. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/758. Acesso em: 11/03/2019.Py JY, Cabezon B, Sapey T, Jutant T. Unacknowledged adverse transfusion reactions: Are they a mine to dig? Transfus ClinBiol. 2018 fev; 25 (1): 63-72.. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28690037. Acesso em: 28/08/2019.
COLONIZAÇÃO BACTERIANA E CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE PACIENTES CRÍTICOS INTERNADOS EM UNIDADEDE TERAPIA INTENSIVA
1MARCIA DA SILVA ROQUE, 2AMANDA GABRIELI RITTER, 3ANA PAULA MULLER, 4CIRLEI PICCOLI COSMANN, 5DARIANEPAULA PASQUALOTTO, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Endodontia de Molares - Turma V da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o local melhor equipado e com uma equipe multiprofissional apta a cuidardos pacientes em estado crítico. Também é na UTI, que o cliente se depara em seu estado mais vulnerável, devido aos inúmerosprocedimentos invasivos empregados, altas e variadas doses medicamentosas, além de constituir um ambiente contaminado ecolonizado por microrganismos multirresistentes (BASSO et al., 2016).Objetivo: Analisar a colonização e características clínicas de pacientes críticos internados em uma Unidade de Terapia Intensivaadulto de um hospital do Paraná.Material e métodos: Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, prospectiva, documental e experimental com abordagemquantitativa, desenvolvida em uma UTI adulto de um hospital misto do Sudoeste do Paraná. Participaram deste estudo, pacientescom admissão a partir de 48 horas na UTI, com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no período de abril aagosto de 2019. O estudo se desenvolveu por meio da coleta de dados em prontuários, com o auxílio de um checklist, paraobtenção de variáveis clínicas e demográficas. Além disso, realizou-se análise microbiológica de swab coletado de cavidadesoral, nasal e secreção traqueal, seguindo as exigências da ANVISA. Os dados foram analisados por meio do programa SPSSversão 25.0. Por ser uma pesquisa que envolve seres humanos, o referido estudo foi previamente submetido a avaliação doComitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos e teve aprovação sob parecer 2.135.782.Resultados: De um total de 35 pacientes avaliados, 57,1% apresentaram colonização por microrganismos resistentes. Sendoque 55% eram por Staphylococcus aureus, 45% por Klebsiella pneumoniae, 30% por Staphylococcus epidermidis, 10% porPseudomonas aeruginosa e 5% por Escherichia coli. Dentre eles, 60% eram do sexo masculino e 40% do feminino, 60%possuíam idade superior a 61 anos e 40% entre 41 a 60 anos. Referente ao motivo e tempo de internação, 75% eram pacientesclínicos e 25% cirúrgicos, destes 30% ficaram de 11 a 15 na UTI. De acordo com a etiologia de admissão 25% eram pós-operatório e 25% decorrente de Acidente Vascular Encefálico, sendo os demais admitidos por causas diversas. Destes pacientes,80% necessitaram de ventilação mecânica e 85% fizeram uso de antibioticoterapia. Os antimicrobianos aplicados foram aassociação de uma cefalosporina com uma licosamida (25%), as cefalosporinas (15%), macrolídeo mais cefalosporina (10%) epenicilinas (10%), além antibioticoterapia combinada. Como desfechos dos casos, 55% tiveram alta e 45% foram a óbito.Discussão: Na presente pesquisa, a maior colonização se deu por Staphylococcus aureus (55%), entretanto em outras, aprevalência difere, Acinetobacter baumanni (39%), Enterobacter sp. (25%) e Escherichia coli (30,6%), mostrando com isso avariabilidade do perfil microbiológico de cada UTI. Sendo essa diversidade microbiológica decorrente do público atendido pelaunidade, a idade dos acometidos, o quadro clínico, a terapia antimicrobiana empregada e a qualidade da assistência ofertada(BASSO et al., 2016; ARCANJO; OLIVEIRA, 2017; OLIVEIRA et al., 2017; GÓMEZ-GONZÁLEZ; SÁNCHEZ-DUQUE, 2018). Emestudo desenvolvido em Minas Gerais também houve prevalência do sexo masculino (56,4%), além de apresentar percentual emrelação ao internamento por condições clínicas (75,5%). Esses resultados podem ser explicados pelo fato da demora na procurado serviço de saúde pelo público masculino, que quando busca auxílio, já se encontra com um quadro clínico prejudicado, e ascondições de internamento se devem ao público atendido pela UTI em questão. Ademais, o uso de antibioticoterapia (65,0%) eventilação mecânica (66%) mostraram-se menores que o deste estudo, já na questão acerca o desfecho do caso 76,8%obtiveram alta, valor maior que a da presente pesquisa. Nesse aspecto, é valido ressaltar que o uso indiscriminado deantimicrobianos, bem como terapias invasivas, como a ventilação mecânica, aumentam o risco de colonização pormicrorganismos resistentes, elevando com isso os índices de mortalidade (ARCANJO; OLIVEIRA, 2017; OLIVEIRA et al., 2019).Ainda, a crescente resistência microbiana aos antibióticos em conjunto com a falha nas técnicas de prevenção, ou mesmo a faltadelas, elevam o risco para as infecções relacionadas à saúde (BASSO et al., 2016).Conclusão: Observou-se alta prevalência de microrganismos resistentes, sendo a principal bactéria isolada a Staphylococcus
aureus, e como perfil clínico predominante, pacientes do sexo masculino, idosos, em uso de ventilação mecânica eantibioticoterapia. Nesse contexto, enfatiza-se a importância de compreender o perfil microbiológico e clínico de cada UTI, paraassim, aprimorar as medidas que previnem e controlam a disseminação microbiana.
ReferênciasARCANJO, Rafaela; OLIVEIRA, Adriana Cristina de. Fatores associados à colonização axilar por microrganismo resistente empacientes na unidade de terapia intensiva. Rev. Aten. Saúde, São Caetano do Sul, v. 15, n. 51, p. 11- 7, jan./ mar. 2017.Disponível em: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_ciencias_saude/article/view/3941. Acesso em: 03 ago. 2019.BASSO, Maria Emilha et al. Prevalência de infecções bacterianas em pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva(UTI). Rev. bras. anal. clin., Rio de Janeiro, v. 48, n. 4, p. 383- 8, fev. 2016. Disponível em:http://www.rbac.org.br/artigos/prevalencia-de-infeccoes-bacterianas-em-pacientes-internados-em-uma-unidade-de-terapia-intensiva-uti/. Acesso em: 03 ago. 2019.GÓMEZ-GONZÁLEZ, José F.; SÁNCHEZ-DUQUE, Jorge A. Perfil microbiológico y resistencia bacteriana en una unidad decuidados intensivos de Pereira, Colombia, 2015, Méd. UIS., Santander, v. 31, n. 2, p. 9- 15, 2018. Disponível em:https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6566908. Acesso em: 03 ago. 2019.OLIVEIRA, Adriana Cristina et al. Perfil dos microrganismos associados à colonização e infecção em Terapia Intensiva. REpidemiol Control Infec, Santa Cruz do Sul, v. 7, n. 2, jun. 2017. Disponível em:https://online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/8302. Acesso em 03 ago. 2019.PAULETTI, Marzelí et al. Perfil epidemiológico dos pacientes internados em um Centro de Terapia Intensiva. Aletheia, Canoas,v. 50, n. 1- 2, p. 38- 46, jan./ dez., 2017. Disponível em: http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/aletheia/article/view/4160.Acesso em: 03 ago. 2019.
EXPOSIÇÃO PRÉ-NATAL DO PARACETAMOL/ACETAMINOFENO E A POSSÍVEL RELAÇÃO COM O AUMENTO DEAUTISMO EM CRIANÇAS
1ANA PAULA SOKOLOWSKI DE LIMA, 2BEATRIZ CATHARINI CREVELARO, 3ANA CAROLINE FERRARO VIVIAN, 4CAMILARIGOBELLO
1Acadêmicos do Curso de Farmácia da Universidade Paranaense, Campus Umuarama-PR, Brasil1Acadêmicos do Curso de Farmácia da Universidade Paranaense, Campus Umuarama-PR, Brasil2Acadêmicos do Curso de Farmácia da Universidade Paranaense, Campus Umuarama-PR, Brasil3Docente do Curso de Farmácia da Universidade Paranaense, Campus de Umuarama-PR, Brasil
Introdução: O autismo é uma síndrome que afeta o comportamento, comunicação e sociabilização em decorrência dedisfunções do neurodesenvolvimento. Contudo, após a revisão dos seus critérios de diagnóstico, a Associação PsiquiátricaAmericana englobou esta e outras patologias num grande grupo de distúrbios, tidos como uma patologia única, o qual intitulou de\"Perturbação do Espectro do Autismo (SANTOS, 2015). Estudos revelam que esta doença pode ser acarretada pelo uso pré-natal de acetaminofeno, uma vez que este pode interferir no desenvolvimentos neurológico fetal (MELO, 2017). Objetivo: Realizar um levantamento bibliográfico sobre a relação do uso de acetaminofeno, durante o período gestacional, com orisco do nascimento de crianças diagnosticadas com autismo.Desenvolvimento: As Perturbações do Espectro do autismo, são síndromes que dificultam a evolução infantil, por apresentaremalterações no neurodesenvolvimento. Conhecidas como transtornos invasivos do desenvolvimento (TID), são identificadas pelapresença de, principalmente, três déficits: comunicação dificultada, interação social mútua prejudicada e padrões extensos decondutas ou interesses (FERAS, 2010). O acetaminofeno conhecido como paracetamol, participa das classes de medicamentosanalgésicos e antipiréticos derivado do para-aminofeno e anilina. Pesquisas realizadas em diversos pais, apontaram que afrequência do uso do paracetamol em gestantes é alta, em 2017 na Dinamarca foram entrevistados 63.652 gestante sendo que aprevalência do uso de acetaminofeno foi de 56,3%, já na Nova Zelândia obteve estudo de coorte com 871 mulheres gestantesonde 49,8% fizeram uso do medicamento (ANDRADE, 2018). Estudos revelam que, quando este fármaco é administrado emgestantes, pode ultrapassar a barreira placentária interferindo no desenvolvimento imunológico normal do cérebro fetal, o queacarreta na morte celular e distúrbios no desenvolvimento do sistema nervoso central (PRESCRIRE, 2012). Pesquisadoresavaliaram a exposição pré-natal associados ao desenvolvimento neurológico após utilização de paracetamol, onde mais de 40%das mães relataram o uso, sendo que as crianças expostas apresentaram maior sintomas de hiperatividade além de pior funçãoda atenção, pois o paracetamol está relacionado a efeitos imunomoduladores em respostas ao estresse oxidativo, onde verifica-se que mesmo em doses baixas há indução de apoptose e neurotoxicidade (MELO, 2017).Conclusão: Pela observação dos aspectos analisados, pode-se sugerir que há uma relação ao uso do acetaminofeno durante operíodo gestacional de mulheres e o desenvolvimento de transtornos espectro autismo, uma vez que este fármaco pode afetar odesenvolvimento neurológico. Com a identificação precoce da problemática e intervenções necessárias, podem contribuirmelhorando o neurodesenvolvimento da criança. Porém, apesar de todas as hipóteses que há essa relação, são necessáriosestudos adicionais, para avaliar diferentes dosagens e intervalos de uso, para que tal constatação seja comprovada.
ReferênciasANDRADE, Andréia Moreira de Andrade; RAMALHO, Alanderson Alves. Utilização de anti-inflamatório, analgésicos eantipiréticos na gestação: Uma revisão narrativa. Journal of Biology and Agricultural Management, v.14, n.2, 2018.FARAS, Hadeel; AL ATEEQI, Nahed; TIDMARSH, Lee. Autism spectrum disorders. Annals of Saudi Medicine, v. 30, n. 4, p.295-300, 2010.MELO, Ana Joyce Macedo; LEITE, Jéssika Lucena; BEZERRA, Nadine de Morais; ARAUJO, Patrícia Ferreira; SOUSA, MilenaNunes Alves. Acetaminofeno na gravidez e o risco de transtorno do espectro autista em crianças. Journal of Medicine andHealth Promotion, v. 2, p.2-6, 2017.PESCRIRE, Recueil. Paracetamol durante a gravidez: nenhum perigo particular para a criança. Prescrire International, v. 21, p.186-190, 2012. SOUZA, Mafalda Saraiva. Perturbações do espetro do autismo:Fatores de risco e protetores. Instituto de Ciências BiomédicasAbel Salazar, v. 1, p. 8-11, 2015.
RELAÇÃO DA ESTOMATITE PROTÉTICA ASSOCIADA A Candida COM A IMUNOSSENESCÊNCIA REVISÃO DALITERATURA
1ANA MARIA DA SILVA, 2CAROLINE DOMINGUES, 3ELIZANDRA MARRY PEDROLLO, 4WENDREO CHARLES DE CAMPOS,5GABRIEL MACIEL DA SILVA, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Acadêmico do PIC/UNIPAR4Acadêmico do PIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Graças ao declínio na mortalidade e nos níveis de fecundidade, a população idosa vem aumentando em todo omundo, o que representa um desafio para as políticas de saúde, visto que infecções e doenças crônicas, agravadas pelo sistemaimune comprometido, são prevalentes nesses indivíduos. Assim, as doenças bucais também impactam negativamente na saúdee na qualidade de vida dos mesmos, principalmente dos edêntulos totais, que além da perda dentária, enfrentam doençasrelacionadas ao uso de prótese removível, dentre as quais se destaca a estomatite protética, inflamação de etiologia multifatorialfortemente relacionada à presença do fungo Candida, bem como com fatores locais e sistêmicos, como a depressão da respostaimune.Objetivo: Revisar a literatura quanto à relação da Estomatite Protética associada a Candida com a imunossenescência.Desenvolvimento: Imunossenescência é o termo utilizado para designar um estado de função imunológica desregulada nosidosos (GARDIZANI, 2014). O início da reação inflamatória na Estomatite Protética associada a Candida (EPC) envolve atransição da condição comensal do fungo na forma de levedura para a condição patogênica na forma de hifa, morfologia capazde penetrar nos tecidos bucais (MELO E GUERRA, 2014). Tal processo depende de fatores de virulência do fungo, como acapacidade de adesão, a secreção de enzimas (proteinases, fosfolipases e outras) e a formação de hifas, e especialmente defatores do hospedeiro, com destaque para a resposta imune comprometida (DE ROSSI et al., 2011). A resposta imune inata éefetuada, no primeiro instante, pelo epitélio, que responde de maneira passiva servindo como barreira mecânica resistente contraa penetração da hifa, e ativa por meio de um processo inflamatório liberando citocinas e quimiocinas (CASAROTO, 2013), e pelasaliva, que se destaca apresentando ação de limpeza mecânica e fatores candidacidas (Imunoglobulina A, lactoferrina, histatina edefensina), além de citocinas e neutrófilos (FARIA, 2011). Assim, o primeiro fator de risco relevante associado com odesenvolvimento da EPC em idosos é a diminuição do fluxo salivar (LUCENA et al., 2010). A idade avançada também altera asfunções de neutrófilos e monócitos/macrófagos, primeira linha e principal mecanismo de defesa contra a infecção por Candida.Essas células, além da atividade fagocítica, liberam citocinas que podem levar ao desenvolvimento de uma resposta imunecelular, logo são determinantes na resistência do hospedeiro à infecção por Candida (CASAROTO, 2013). Quanto aos monócitose macrófagos, estudos sugerem uma maior capacidade em produzir substâncias pró-inflamatórias, como Interleucina-1 (IL-1), IL-6, IL-8, TNF-α e MCP-1 (GARDIZANI, 2014). Essa superprodução pode levar a um estado inflamatório crônico subclínico nosidosos, gerando uma incapacidade para controlar infecções. Além disso, Gardizani (2014) detectou alterações com o avanço daidade de monócitos e macrófagos nas funções de defesa. Os mesmos, apesar de eficientes na captura e incorporação de fungos,apresentaram falhas para ativar a produção imediata após o contato com Candida albicans de substâncias microbicidas, o óxidonítrico (NO) e o peróxido de hidrogênio (H2O2), o que pode favorecer a colonização fúngica local e/ou disseminação sistêmica.Essa falha, entretanto, com o passar do tempo, foi superada e a produção de NO e H2O2 alcançou ou até ultrapassou as célulasjovens comparativas, remetendo ao estado pró-inflamatório a que os idosos podem estar submetidos. Há também apontamentosa uma alteração funcional nos monócitos de idosos, que apresentaram uma produção diminuída do fator transformador decrescimento-β (TGF-β), citocina com função pró-inflamatória nessas células, responsável pelo recrutamento das mesmas ao localda infecção e pela indução da expressão e da produção de IL-1 e IL-6 de moléculas de adesão. Em outras células, como osleucócitos e mastócitos, o TGF-β desempenha uma função anti-inflamatória, controlando a resposta imune contra patógenos.Assim, essa baixa produção de TGF-β nos monócitos de idosos os submetem a uma predisposição a doenças infecciosas einflamatórias, logo ao desenvolvimento da EPC, refletindo aspectos da imunossenescência (FARIA, 2011). Quanto aosneutrófilos, um estudo que os comparou com células jovens revelou uma diminuição na capacidade fagocítica e microbicida quepode estar ligada a modificações fenotípicas dos mesmos. Neutrófilos salivares apresentaram baixa expressão de CD64 e TLR2
e neutrófilos sanguíneos, baixa expressão de CD62L e TLR2, o que indica um possível estado de ativação prévio dessas células.A ativação via TLR2 regula funções dos neutrófilos, como adesão, geração de espécies reativas de oxigênio e liberação dequimiocinas, dessa forma, células expressando TLR2 diminuídas indicam neutrófilos com menor capacidade de responder aestímulos antigênicos (GASPAROTO, 2009).Conclusão: A presente revisão ressalta a relação da estomatite protética associada a Candida com a imunossenescência,evidenciando alterações em células do sistema imune de idosos que interferem na resposta de defesa do hospedeiro contra ofungo.
ReferênciasCASAROTO, Ana Regina. Resposta imune inata na estomatite protética: interação in vitro entre células epiteliais de palatohumano e Candida albicans. 2013. Tese (Doutorado em Patologia Bucal) - Universidade de São Paulo, Bauru, 2013.DE ROSSI, Tatiane et al. Interações entre Candida albicans e hospedeiro, Londrina, v. 32, n. 1, jan./jun. 2011. Disponível em:http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/3379. Acesso em: 30 jun. 2019.FARIA, Patricia Freitas. Produção de citocinas pelos monócitos de idosos com estomatite protética associada a Candida.2011. Tese (Doutorado em Patologia Bucal) - Universidade de São Paulo, Bauru, 2011.GARDIZANI, Taiane Priscila. Imunossenescência e Candida albicans: avaliação da capacidade fagocítica e produçãointracelular de substâncias microbicidas por monócitos e macrófagos. 2014. Dissertação (Mestrado em Patologia Bucal) -Universidade de São Paulo, Bauru, 2014.GASPAROTO, Thaís Helena. Estudo da função dos neutrófilos nos mecanismos de defesa contra a estomatite pordentadura em indivíduos idosos. 2009. Tese (Doutorado em Biologia Oral) - Universidade de São Paulo, Bauru, 2009.LUCENA, Antônio Anildo Gomes de et al. Fluxo salivar em pacientes idosos, Porto Alegre, v. 58, n. 3, jul./set. 2010. Disponívelem: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-86372010000300003&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 5ago. 2019.MELO, Iangla Araújo de; GUERRA, Ricardo Consigliero. Candidíase oral: um enfoque sobre a estomatite por prótese, Bauru,v. 33, n. 3, 2014. Disponível em: https://secure.usc.br/static/biblioteca/salusvita/salusvita_v33_n3_2014_art_08.pdf. Acesso em:30 jun. 2019.
UTILIZAÇÃO DO CRISPR/CAS9 NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DE RETT
1KAROLINA COSTA RODRIGUES, 2BARBARA GRUNEVALD DOS SANTOS, 3EVERTON PADILHA
1Acadêmico do curso de Biomedicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: Síndrome de Rett (SR) é uma desordem neurológica severa do desenvolvimento, e a sua incidência é de 1:10.000nascimentos do sexo feminino, sendo uma das causas de atraso mental severo em mulheres (GADALLA et al, 2011).Objetivo: Descrever a Síndrome de Rett e seu possível tratamento por meio da terapia gênica com CRISPR/Cas9.Desenvolvimento: Segundo Farage (2009), a Síndrome de Rett (SR) é uma desordem do neurodesenvolvimento ligada aocromossomo X com acometimento precoce na infância, que afeta, primariamente meninas. A base genética da doença, estárelacionada às mutações no gene da proteína methyl-CpG binding protein 2 (MECP2). A SR é subdividida em 4 estágios, sendoeles: estagnação precoce, que é a estagnação do desenvolvimento, desaceleração do crescimento do perímetro cefálico. Asegunda fase é a rapidamente destrutiva, onde se observa a regressão psicomotora, movimentos estereotipados das mãos, coma perda de sua função práxica. A terceira fase é a pseudo-estacionária, caracteriza-se pela presença no ponto de vista motor,ataxia e apraxia, escoliose e bruxismo. A quarta etapa, a da deterioração motora tardia, se caracteriza por uma lenta progressãode prejuízos motores, pela ocorrência de escoliose e desvio cognitivo grave (HAGBERG et al, 1986). Segundo avanços recentesnas tecnologias de engenharia do genoma, baseadas na endonuclease guiada por RNA associada ao CRISPR/Cas9, o Cas9pode ser guiado para locais específicos dentro de genomas complexos por uma cadeia curta de RNA. Usando este sistema,sequências de DNA dentro do genoma endógeno e suas saídas funcionais são facilmente editadas ou moduladas virtualmenteem qualquer organismo de escolha (RICHTER et al, 2013). Guy (2007) provou em seu estudo, que o gene in vivo do aleloMECP2 em camundongos do tipo selvagem usando vetores AAV para liberar o Cas9 e o RNA guia único (sgRNA) é bemsucedido, alcançando um knockout de MECP2 em aproximadamente 70% das células no hipocampo. Para atingir aespecificidade de direcionamento, a própria mutação do RTT (ou polimorfismos de nucleotídeo único entre os dois alelos) poderiaser usada para distinguir cópias mutantes e do tipo selvagem de MECP2 e, assim, encorajar o direcionamento apenas do aleloMECP2 mutante (SHAH, 2017).Conclusão: Os trabalhos citados acima levantam a possibilidade de tratamento através da correção in vivo de mutações do geneda proteína MECP2 na Síndrome de Rett, usando o CRISPR/Cas9 será um dia viável.
ReferênciasFARAGE, Luciano. Síndrome de Rett: achados clínicos, genéticos e por ressonância magnética. Radiol Bras, São Paulo , v. 42, n. 4, p. 254. Disponível em: . Acesso em: 01/06/2019.Gadalla KK, Bailey ME, Cobb SR. MeCP2 and Rett Syndrome: revesibility and potential avenues for therapy. Biochem J. 2011;439(1):1-14. Disponível em: http://docs.bvsalud.org/biblioref/2016/09/2048/v34_n1_2016_p53a57.pdf. Acesso em: 01/06/2019.Guy J, Gan J, Selfridge J, Cobb S, Bird A. Reversal of neurological defects in a mouse model of Rettsyndrome. Science. 2007;315:1143 1147. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17289941. Acesso em:01/06/2019.Hagberg B, Witt-Engerström J. Rett syndrome: a suggested staging system for describing impairment profile withincreasing age towards adolescence. Am J Med Genet. 1986;1:47-59. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462006000500003. Acesso em: 01/06/2019.Richter H, Randau L, Plagens A. Exploiting CRISPR/Cas: interference mechanisms and applications. Int J Mol Sci.2013;14(7):14518-31. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=s0066-782x2017000100081&script=sci_arttext&tlng=pt.Acesso em: 01/06/2019.Shah, R. R., & Bird, A. P. (2017). MeCP2 mutations: progress towards understanding and treating Rett syndrome. Genomemedicine, 9(1), 2017. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5316219/. Acesso em: 01/06/2019
COMPREENDENDO A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA, O RECONHECIMENTO DAS GESTANTES E A ATUAÇÃO DOSENFERMEIROS FRENTE A ESSA TEMÁTICA
1JESSICA CAROLINE PONDIAN, 2TOANE CAMILA LEME GOMES
1Acadêmica do curso de enfermagem UNIPAR1Docente do curso de Enfermagem da UNIPAR
Introdução: A gestação é um processo fisiológico que traz um misto de sentimentos de felicidade e aflição durante esta etapa,devido ao anseio do processo de parto em si o que gerando a necessidade de um atendimento humanizado de forma livre enatural, porém, atualmente a intervenção cirúrgica se tornou-se via de regra neste procedimento (PEREIRA, et al, 2016,MATOSO, 2018). Este tipo de prática, transformou o processo natural de parto, em algo institucionalizado com intervençõesevidenciadas principalmente pelo aumento do índice de cesarianas (LEAL, et al, 2017). Essas práticas, indicam a violênciaobstétrica, que pode ser caracterizada como qualquer atendimento que fira a paciente ou seu filho, verbal, física oupsicologicamente (MATOSO, 2018). A enfermagem detém grandes oportunidades para reversão dos casos de VO, pois atravésdesse profissional um atendimento acolhedor e esclarecedor, com a oferta de informação acerca de todo o processo de partopode ser ofertado (MATOSO, 2018). Objetivo: Analisar a perspectiva do enfermeiro acerca da violência obstétrica, e propor possíveis intervenções para a diminuiçãodesta prática. Desenvolvimento: O nascimento, é o período onde a mulher mais necessita de sustento emocional. Entretanto, a realizaçãoexacerbada de práticas intervencionistas pela equipe de saúde, como a realização da episiotomia de forma desnecessária,manobras obstetras agressivas retiram a fisiologia e naturalidade do parto e fazem com que esta experiência torne-se traumáticae agressiva (SILVA, et al, 2014; LEAL, et al, 2017). No Brasil, os índices de cesariana ainda são vastos, o parto normal efisiológico é encarado como perigoso já que a quantidade de intervenções supera uma cesárea, e expõe a mulher a danos maisprejudiciais devido as técnicas necessárias para a realização do parto (PALHARINI, 2017). Na visão de alguns profissionais,porém, estas intervenções ou práticas obstétricas não são consideradas como uma forma de violência, sendo justificadas comocondutas que auxiliam na precaução de complicações durante o trabalho de parto (LEAL, et al, 2017). Para os profissionais, otermo violência obstétrica soa de forma agressiva, podendo cooperar para anular todos os avanços medico-cirúrgicos que foramaperfeiçoados até os dias atuais (PALHARINI, 2017). Na visão da enfermagem, a maioria das mulheres que sofrem algum tipo deviolência durante o parto, são as que possuem baixa escolaridade, por não conhecer a violência obstétrica, agem de formaconsentida com todas as condutas durante o parto (LEAL, et al, 2017). Programas como a Rede Cegonha, tem como base oatendimento a parturiente, visando esclarecer as condutas apropriadas durante o atendimento ao parto e definir práticashumanizadas (PALMA; DONELLI, 2017). Mesmo com a existência destas práticas, as gestantes ainda se sentem em um sistemaonde suas opiniões e sentimentos não são inseridos como via de regra no processo de parto e nascimento (PEREIRA, et al,2016). A ausência de um tratamento humanizado, inicia-se logo na procura por uma instituição. As pacientes quandoperguntadas acerca da assistência prestada pela equipe, demonstraram em suma, sentimentos de inferioridade, com medo dequestionar, e quanto as práticas realizadas durante o parto, referiram condutas que evidenciaram a violência obstétrica (PALMA,DONELI, 2017). A maioria das agressões não ocorrem de forma física, apresentando-se também nas formas de privação doacompanhante durante o trabalho de parto, a realização de práticas sem o consentimento da mulher, e ainda a privação docontato pele e pele com o bebê logo após seu nascimento sem uma causa realmente necessária (SENA, TESSER, 2017). Emsuma, as gestantes são impelidas a concernir com as decisões médicas acerca de seus partos desde o momento em que seinicia o processo do nascimento, sendo encorajadas a acreditar nas escolhas médicas, fazendo com que sofram a violência deforma outorgada (CASTRILHO, 2016).Conclusão: Através desta pesquisa conclui-se que a violência obstétrica, não é somente agressão física, mas qualquer práticaque seja realizada sem autorização da mulher, sendo o enfermeiro o profissional que está envolvido em todas as etapas devegarantir uma assistênica humanizada garantido uma assitência de qualidade.
ReferênciasCASTRILLO, Belén . Dime quién lo define y te diré si es violento. Reflexiones sobre la violencia obstétrica. Sex., Salud Soc. Riode Janeiro, nº. 24, Set-dez. 2016. Disponível em:< https://bit.ly/2HyUcv1>. Acesso em: 11 jun 2019.LEAL, Sara Yasmin Pinto. et al. Percepção de enfermeiras obstétricas acerca da violência obstétrica. Cogitare enferm, v. 23, n.1, Maio- dez. 2017. Disponível em:< https://bit.ly/2SZ0W7j>. Acesso em: 11 de jun. 2019.MATOSO, Leonardo Magela Lopes. O papel do enfermeiro frente a violência obstétrica. Rev. Eletronica da FAINOR, Vitória da
conquista, v. 11, n. 1, jan-abr. 2018. Disponível em: < https://bit.ly/2Nl5G7X>. Acesso em: 11 de jun. de 2019.PALHARINI, Luciana Aparecida. Autonomia para quem? O discurso médico hegemônico sobre a violência obstétrica no Brasil.Cad. Pagu, Campinas, nº. 49, dez. 2017. Disponível em:>. Acessso em: 20 jun. 2019.PALMA, Carolina Coelho; DONELLI, Tagma Marina Schneider. Violência obstétrica em mulheres brasileiras. Rev. Psico, v. 48,nº. 3, 2017. Disponível em: < https://bit.ly/2E7V2LT>. Acesso em: 28 jun. 2019.PEREIRA, Jessica Souza. et al. Violência obstétrica: Ofensa à dignidade humana. Brazilian Journal of Surgery and ClinicalResearch BJSCR. V. 15, nº. 1, jun/ago. 2016. Disponível em: < https://bit.ly/2TU6q8K>. Acesso em 25 jun. 2019.SENA, Ligia Moreiras; TESSER, Charles Dalcanale. Violência obstétrica no Brasil e o ciberativismo de mulheres mães: relato deduas experiências. Interface Botocatu online, v .21, n. 60, Nov. 2017. Disponível em:< https://bit.ly/2J3kU0P>. Acesso em: 11de jun. 2019.SILVA, Michelle Gonçalves da. et al. Violência obstétrica na visão de enfermeiras obstetras. Rev. RENE, v. 15, nº. 4,julho/agosto. 2014. Disponível em: < https://bit.ly/2VNENPE >. Acesso em: 22 mar. 2019.
USO DE ÓLEO ESSENCIAL DA ROSA MOSQUETA EM GESTANTES - ESTUDO DE REVISÃO
1CATCIANE CAROLINE CHIESA FRIGHETTO, 2MILENA DA SILVA LORENCETE
1Acadêmica do curso de Estética e Cosmética da Unipar1Docente da UNIPAR
Introdução: A Rosa Mosqueta é uma planta silvestre que tem origem no mediterrâneo e é conhecida a muitos séculos na EuropaCentral, seu óleo essencial é obtido das sementes da planta que tem o nome científico Rosa affinis rubiginosa ou Rosa caninapertencente ao gênero Rosa, da família Rosaceae. Uso de óleos essenciais durante a gestação é usado para o bem-estar damãe e do feto, através de banhos e massagens, desde que sua aplicação seja feita com a orientação de um especialista (PIATTI,2018).Objetivo: Verificar e avaliar benefícios do óleo e a influência da sua utilização em gestantes.Desenvolvimento: O óleo essencial é o extrato vegetal mais concentrado do qual se tem conhecimento. É obtido pela destilaçãodo material específico da planta, mas os frutos cítricos constituem uma exceção a essa regra, pois seus óleos são obtidos a partirde um processo de extração a frio (PRICE, 2006). Os óleos essenciais são tipos de hormônios que ajudam as plantas nocrescimento, proteção contra insetos, parasitas e polinização. Para nós são princípios ativos, uma vez que há componentesquímicos com atividades farmacológicas que atuam sobre vários sistemas como: o linfático, imunológico, cardiovascular,digestivo, respiratório e geniturinário (SILVA, 2004). A utilização da Rosa Mosqueta tem em sua principal indicação um fortealiado contra diarreias, afecções respiratórias, espasmos, inflamação gástrica e um grande aliado, mostrando que ele possui altopoder de tratamento de feridas abertas e cicatrizes, mesmo na preparação pré-operatória de feridas (ITF, 2008). Segundo Price(2006), é bem provável que a rosa seja capaz de produzir uma quantidade muito maior de efeitos do que a já conhecida, porcausa mesmo do seu admirável aroma, que sempre propicia à mente relaxamento e/ou ânimo. Durante a gravidez, o corpo damulher trabalha de forma maravilhosa para gerar um novo ser, ocorrendo transformações tanto físicas como emocionaisbastante significativas para a gestante (ALBRECHT, 2010). Piatti (2018), relata que em 1979, o FDA Food and DrugAdministration, propôs uma classificação para avaliar os riscos potenciais das substâncias sobre o embrião ou feto. Baseando-senesses critérios de risco é que existe a indicação ou as contraindicações absolutas e relativas com relação ao uso de cosméticos.Ainda em relatos de Piatti (2018), os ativos que tem uso liberado em gestantes estão nas mais diversas categorias, desde filtrossolares até despigmentantes ou reparadores de barreira, por isso não podemos determinar os ativos permitidos como uma classeúnica de componentes, ainda assim não podemos generalizar achando que todos os agentes hidratantes são seguros. O Óleoda Rosa Mosqueta é considerado seguro para uso durante a gestação e amamentação, tem efeitos nas estrias e flacidez, auxiliana cicatrização e hidratação da pele (PIATTI, 2018). Silva (2004), relata que os Hidrocarbonetos representam 25% do óleo derosas, ação farmacológica do óleo de rosas, tem propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes, demonstrou também atividadeantibacteriana especificamente contra Versina enterocolitica. Ainda segundo Silva (2004), o banho de rosa é rejuvenescedorda pele, indicado para relaxamento e estados de tristeza ou desgosto, estimula o metabolismo e combate debilidades, osabonete glicerinado de rosa é usado para pele seca, o gel hidratante de pele seca é indicado para pele cansada, com rugas oupeles sensíveis, bem como o óleo essencial diluído em óleo vegetal tem sido usado para cuidados do seio e no tratamento deestrias e manchas. Não relata contra-indicações para o óleo puro de rosa. Não houve irritação ou qualquer sensibilização parauma diluição de até 2% quando testado em seres humanos. O óleo de rosa mosqueta, quando 100% puro e concentrado,penetra até as camadas mais profundas da pele, fazendo com que a reconstituição do tecido da pele ocorra de maneira integral eintensa. Usado diariamente, o óleo de rosa mosqueta ajuda a prevenir estrias (PIATTI, 2018).Conclusão: Não há relatos nas bibliografias estudas referindo-se que o óleo de rosas seja impedido de ser utilizado clinicamentejunto com outras substâncias. Os óleos podem ser de grande valia durante a gestação e pós-parto, mesmo sendo produtosnaturais altamente concentrados, oferecem inúmeras possibilidades de uso, quando usado corretamente e supervisionado porum bom terapeuta capacitado e que entenda sobre os óleo e como empregar em suas terapias para agregar nos tratamentos.Usados de forma adequada o óleo essencial de Rosa Mosqueta tem muito o que contribuir nesse momento de vida único de umser humano.
ReferênciasALBRECHT, A. T. Aromaterapia e Gravidez. Porto Alegre: Aromatologia.net.br/blog; 2010.ÍNDICE TERAPÊUTICO FITOTERÁPICO. Ervas Medicinais. Petrópolis; Científica, 2008. 328p.PIATTI, I. Gestantes: Cuidados Estéticos Durante a Gravidez. Curitiba: Multgraphic, 2018. 133p.PRICE, S. Aromaterapia e as Emoções: Como usar óleos essenciais para equilibrar o corpo e a mente. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2006. 316p.SILVA, A. R. Aromaterapia em Dermatologia Estética. São Paulo: Rocca, 2004. 432p.
INFLUÊNCIA DA PRÁTICADE GINÁSTICA RÍTMICA NAS RELAÇÕES SÓCIO AFETIVAS DE CRIANÇAS
1LETICIA DE OLIVEIRA BATISTA, 2PEDRO LUIZ SOARES, 3ALISSON FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, 4TIAGO APARECIDOAZARIAS DA SILVA, 5POLLYANA MORENO SANTANA
1Acadêmico de Educação Física1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Hoje, em uma sociedade globalizada onde as redes sociais tomaram de certa forma, o lugar das relações sociais, épossível perceber que as crianças estão sendo conectadas a um mundo onde alguns aspectos de convivência, como respeito,limites, e moralidade social, estão sendo renegados a um segundo plano. É necessário que a sociedade comece a se posicionare passe a proporcionar momentos de aprendizados não vinculados a educação mais formal, buscando dessa maneira, ampliar nacriança um ganho significativo de valores de convivência e respeito social. A Ginástica Rítmica está relacionada a um possívelcaminho para que esses valores sejam cada dia mais importantes e adquiridos por essas crianças, buscando também umapossível transformação social.Objetivo: Identificar possíveis benefícios sociais e psicológicos, que a prática das aulas de ginástica rítmica pode proporcionarem crianças praticantes.Desenvolvimento: De acordo com Molinari (2007), a Ginástica Rítmica começou a ser praticada desde o final da PrimeiraGuerra Mundial, mas não possuía regras específicas nem um nome determinado. É um esporte belo pelo fato de associar a artedo movimento expressivo do corpo, com a técnica dos aparelhos a ela característicos, somados à interpretação de uma música.A leveza, o ritmo, a fluência e a dinâmica trouxeram amplas possibilidades de se desenvolver a agilidade, a flexibilidade, a graçae a beleza do movimento (MACHADO; FERREIRA-FILHO, 2010). A Ginástica Rítmica (GR) é uma modalidade exclusivamentefeminina na qual a arte, beleza, a expressividade e a elegância estão presentes através dos ritmos variados, na roupa e nacomplexidade dos movimentos corporais. De acordo com Bissoli (2014) é entre os 7 e 8 anos a criança já consegue ler eescrever, possui raciocínio e domínio sobre seu corpo, sabendo diferenciar atos certos e errados e assim se relacionar com osdemais colegas. Inclui-se nesta fase os movimentos especializados, conseqüência dos movimentos fundamentais. Analisando onosso progresso psicológico, Piaget (1990) destaca que ocorre durante toda nossa vida, mas é na infância que as principaisaprendizagens referentes à organização da nossa personalidade são consolidadas. Através das figuras importantes para aformação da nossa auto percepção, formamos nosso auto conceito por toda a infância, motivados pelas pessoas e os ambientesque convivemos, tais como a família, a escola, sobretudo com as experiências que vamos construindo de sucesso e derrotadurante o processo de desenvolvimento. É necessário frisar que afetividade não é apenas demonstração de afeto, carinho e queforma um compromisso e ética profissional, além dessa reciprocidade, mas também o modo que o professor colabore com odesenvolvimento e progresso do aluno, para que ele desenvolva disciplina, autoestima, confiança, respeito em si e ao outro(COSTA; SOUZA, 2012).Conclusão: Este estudo permitiu concluir queaprática de GR apresenta um comprometimento significativo nasrelações sociais,esta prática vai muito além do que a simples prática do exercício físico. Englobavalores positivos na vida dessas crianças comodedicação, responsabilidade e afetividade.
ReferênciasBISSOLI, M. F. Desenvolvimento da Personalidade da Criança: O papel da educação Infantil. Psicologia em estudo. Maringá,v. 19, n. 4 p. 587-,597, out./dez. 2014.COSTA, K. S. SOUZA, R. K. M. O aspecto sócio-afetivo no processo ensino-aprendizagem na visão de Piaget, Vygotkky eWallon. Revista Digital Realize. São Paulo,2014.Disponivelem:http://www.educacaoonline.pro.br/index.php?option=com_content&view=article&id=299:o-aspecto-socio-afetivo-no-processo-ensino-aprendizagem-na-visao-de-piaget- vygotsky-e-wallon&catid=4:educacao&Itemid=15 Acesso em: 20 set. 2018.LAFFRANCHI, B. Treinamento Aplicado á Ginástica Rítmica. Londrina: UNOPAR, 2001.MACHADO, V. C; FERREIRA-FILHO, R. A. Inclusão de movimentos básicos da ginástica rítmica nas aulas de educaçãofísica escolar.EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, 141, 2010.Disponível em: Acesso em: 8 jun. 2018.
MOLINARI, A. M. P. Ginástica Rítmica: Esporte, História e Desenvolvimento. Site Cooperativa do Fitness. Maio. 2007.PIAGET, J; INHELDER, B. A psicologia da criança. 11ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S/A, 1990.
EXERCÍCIO FÍSICO PARA INDIVÍDUOS COM ANSIEDADE
1PEDRO LUIZ SOARES, 2GABRIEL SCHIZZI DE MORAES, 3LETICIA DE OLIVEIRA BATISTA, 4SERGIO FELIX DA COSTAJUNIOR, 5KLAUS KENZO KIYOHARA AGAWA, 6SILVIA REGINA NISHIYAMA SUCUPIRA SARTO
1Acadêmica do Curso de Educação Física da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A ansiedade é um dos distúrbios que mais vem crescendo em indivíduos por todo o mundo devido á globalizaçãotecnológica, pressões econômicas e sociais que aumentam as causas que essa doença traz, e, como consequência, aparece omedo, a apreensão, nervosismo e preocupação. A ansiedade pode ser considerada como universal, trata-se de um fenômenoeminentemente humano, caracterizado por uma antecipação temerosa de um acontecimento futuro desagradável (GODOY,2002, p. 7). O exercício físico segundo Araújo, Mello e Leite (2007) traz vários efeitos psicológicos positivos e benefícios para asaúde física do indivíduo, mas quando uma pessoa não tem a prática de atividades físicas regular em seu hábito de vida, váriosproblemas de saúde podem ser desencadeados como: hipertensão; diabetes e doenças de transtornos psiquiátricos, comodepressão e a ansiedade.Objetivo: Analisar e relatar as influências do exercício físico em indivíduos ansiosos.Desenvolvimento: A ansiedade causa um aumento descontrolável da frequência cardíaca, diminui a resistência cardiopulmonar,fadiga precoce e entre outros sintomas que fazem o organismo reagir a um comportamento de fuga ou de ataque ao agenteestressor. Ao analisar alguns estudos que mostram resultados promissores quando indivíduos com transtornos de ansiedadefazem da prática de exercício físico um hábito em suas vidas, e principalmente exercícios físicos de caráter aeróbio, queproduzem efeitos antidepressivos e ansiolíticos protegendo o organismo, a saúde física e mental relacionados ao estresse,notamos o quanto a prática possibilita uma melhor interação dessas pessoas em seu meio. Segundo um estudo onde Cevada etal. (2012) comparando ex-atletas de alto rendimento com sujeitos não atletas, mostrou que em indivíduos não praticantes deexercício físico, os aspectos emocionais de ansiedade foram maiores do que em ex-atletas de alto rendimento onde essestiveram um estado geral de saúde maior do que em sujeitos não praticantes. A prática de atividade física em indivíduos comansiedade é um forte aliado em busca de um controle na ansiedade. Há uma fragilidade quando se trata de uma carga ou sessãoideal para ter melhores resultados. Em um dos estudos analisados, o exercício físico anaeróbio mostra um resultado menor ádiminuição da ansiedade quando comparado a uma prática de corrida de caráter aeróbio, onde o exercício aeróbio além dediminuir a ansiedade, também teve um controle da pressão arterial. Em outro relato de Araújo; Mello e Leite (2007) descrevemque o exercício físico tem uma provocação fisiológica semelhante a um indivíduo com transtornos de ansiedade, onde o agenteestressor passa ser o exercício físico e que de acordo com Veigas e Gonçalves (2009, p. 11), reforçam a hipótese de que aprática de exercício físico promove a regulação dos níveis de ansiedade .Conclusão: Esta análise permitiu relatar algumas influências da prática do exercício físico em pessoas ansiosas, podendocontribuir para o tratamento psicoterápico de exposição gradual e sistemática, com um treinamento adequado e prescrito por umprofissional de educação física. Além de ser de baixo custo e de fácil acesso para esses indivíduos, é também uma boa opçãopara pessoas que negam tratamentos de psicoterapia e farmacoterapia, pois a prática de exercícios físicos será um grandealiado contra doenças de distúrbios mentais, mas também de extrema importância para a busca em outros aspectosfundamentais para uma vida saudável como: resistência cardiopulmonar; resistência muscular; fortalecimento muscular, assimvisando uma saúde em geral.
ReferênciasARAÚJO, Sônia Regina Cassiano; LEITE, José Roberto; MELLO, Marco Túlio de. Transtornos de ansiedade e exercício físico.Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 29, n. 2, p. 164-171, jun. 2007. ISSN 1516-4446. Disponível em: . Acesso em:22/06/2019.CEVADA, Thais. et al. Relação entre esporte, resiliência, qualidade de vida e ansiedade. Revista de Psiquiatria Clinica, SãoPaulo, v. 39, n. 3, p. 85-89, 2012. ISSN 0101-6083. Disponível em: . Acesso em: 22/06/2019.GODOY, Rossane Frizzo de. Benefícios do exercício físico sobre a área emocional. Revista Movimento Revista de
Educação Física da UFGRS. Rio Grande do Sul. v. 8, n. 2, p. 7-15, Ago. 2002. ISSN 0104-754x. Disponível em: . Acesso em:12/08/2019.GONÇALVES, Martinho; VEIGAS, Jorge. A influência do exercício físico na ansiedade, depressão e stress. PSICOLOGIA.PT - OPortal dos Psicólogos. 17 Jul. 2007. Disponível em: , Acesso em: 12/08/2019.
IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM PACIENTES COM SÍNDROME DE DOWN: UMA REVISÃO
1BRUNA PIOLOGO VAN DAL, 2CARINE CRISCIELE FORMAGGI SALES, 3GUSTAVO BARBOSA CORREA DE MORAIS,4ISAAC RICARDO DE CARVALHO, 5JOAO MURILO GONCALVES GAZOLA, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmica do curso de Odontologia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Odontologia da UNIPAR4Acadêmico bolsista do PIBIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo Oliveira et al. (2008), dentre as anomalias cromossômicas presentes na raça humana, a mais comum é asíndrome de down ou trissomia do 21. Embora exista um avanço considerável em relação a saúde física e mental das pessoascom essa síndrome, o mesmo não aconteceu com a saúde bucal, pois existem vários problemas que podem prejudicar essaspessoas, como problemas respiratórios, infecções, traumatismos entre outros. Dessa forma, enxerga-se uma necessidadeextrema de que as pessoas com essa síndrome sejam assistidas em relação a saúde bucal tanto quanto na saúde física emental.Objetivo: Realizar um levantamento bibliográfico sobre a importância do atendimento odontológico em pacientes com síndromede down.Desenvolvimento: De acordo com Gonçalves (2012), prevenir e promover a saúde bucal em pacientes com necessidadesespeciais (PNE), pode assegurar eles uma qualidade de vida melhor, sendo de suma importância conscientizar os familiares ecuidadores a respeito da higienização dos dentes e o uso de uma alimentação menos açucarada. Além disso, um grande númerode PNE utiliza medicamentos sedativos, ansiolíticos, anticonvulsivantes e outros. Muitas dessas drogas possuem açúcar em suafórmula. Algumas provocam hiperplasia gengival e outras apresentam o efeito de reduzir a salivação normal do paciente(FAULKS; HENNEQUIN, 2000 apud GONÇALVES, 2012). Dentre os achados clínicos mais relevantes dos pacientes com essasíndrome estão: lábio inferior evertido, cavidade oral e palato pequenos e profundos desproporcionais com o tamanho da língua,protrusão lingual, respiração oral, xerostomia, fissuras na língua e nos lábios (GONZÁLEZ; REY, 2013). Existe muita discussãono tratamento ortodôntico de pacientes com síndrome de down, pois não há uma boa cooperação desses pacientes durante osprocedimentos, todavia o objetivo do tratamento é alcançar uma boa relação entre o dentista e o paciente, melhorando suaqualidade de vida, corrigindo a respiração, a função mastigatória e a harmonia estética facial. De acordo com Ochoa et al. (2013),existe uma carência por parte desses pacientes pelo fato de não terem uma liberdade para assumir seu próprio cuidado, issoacaba ocorrendo pelo fato de que seus cuidadores, na maioria das vezes, acabam não tendo a paciência para ensiná-los arealizar a higiene bucal e também não sabem a importância dessa autonomia na vida desses pacientes. De acordo com Castro etal. (2010), a odontologia ainda apresenta uma carência de profissionais que se disponham a cuidar dessa parcela da população,devido ao despreparo dos profissionais e devido as condições financeiras da maior parte desses indivíduos. Sendo assim, irãodepender da assistência odontológica oferecida pelo serviço público.Conclusão: Em virtude dos fatos mencionados é imprescindível que o cirurgião dentista tenha como princípio a promoção dasaúde, priorizando meios e métodos preventivos a saúde bucal dos pacientes com síndrome de down desde a mais tenra idade,sendo esta interessante antes do primeiro ano de vida, proporcionando a conquista de uma melhor qualidade de vida.
ReferênciasCASTRO, Alessandra Maia de et al. Avaliação do tratamento odontológico de pacientes com necessidades especiais sobanestesia geral. Revista de Odontologia da UNESP, Araraquara, v. 39, n. 3, p. 137-142, maio/jun. 2010.GONÇALVES, Josiane Bittar. Atendimento odontológico à pacientes com necessidades especiais: uma revisão de literatura.2012. 23 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família) - Faculdade de Medicina,Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.GONZÁLES, Luz Maria; Rey, Diego. Tratamiento de ortodoncia em paciente con síndrome de down. Revista CES Odontologia,Medellín, Colombia, v. 26, n. 2, p. 136-143, 2013.OCHOA, Emilia María et al. Autocuidado bucal em niños/as y jóvenes com síndrome de down. Revista CES Odontologia,Medellín, Colombia, v. 26, n. 2, p. 59-66, 2013.OLIVEIRA, Ana Cristina et al. Uso de serviços odontológicos por pacientes com síndrome de down. Revista Saúde Pública, São
USO DO CANABIDIOL PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DE PARKINSON- ESTUDO DE REVISÃO
1CINDY LOREN FERREIRA MENDES, 2DANILO ANTONIO ANDRIATO ALARCON, 3FRANCISLAINE APARECIDA DOS REISLIVERO
1Discente do Curso de Farmácia UNIPAR1Acadêmico do Curso de Farmácia da UNIPAR2Docente do Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e do PPG em Ciência Animal/UNIPAR
Introdução: A Doença de Parkinson (DP), uma síndrome clínica degenerativa e progressiva do sistema nervoso central (SNC),provoca desordens de movimento devido à falta de dopamina na via nigro-estriatal, com maior prevalência em idosos(GOURLAT; PEREIRA, 2005). O tratamento da DP é realizado com levodopa, a fim de restabelecer a transmissãodopaminérgica, entretanto, este fármaco pode desencadear efeitos adversos (FERRAZ, 1999). O canabidiol, um dos metabólitosda Cannabis sativa, têm se mostrado promissor para o tratamento da DP, devido aos seus efeitos anti-inflamatório, antioxidante,anticonvulsivante, sedativo, ansiolítico, antipsicótico e neuroprotetor, além de menor ocorrência de efeitos colaterais(FAGHERAZZI, 2011).Objetivo: Apresentar uma revisão bibliográfica sobre o uso do canabidiol para o tratamento da Doença de Parkinson.Desenvolvimento: A DP, é caracterizada por disfunções monoaminérgicas e tem como sintomas clássicos o tremor, rigidez,bradicinesia e alterações de postura e equilíbrio (GOULART, 2005; SOUZA, 2011). O surgimento da levodopa revolucionou otratamento da DP, recuperando a mobilidade dos pacientes comprometidos, mas há ocorrência de efeitos adversos, comointolerância gastrintestinal, alterações psiquiátricas e hipotensão ortostática, além de efeitos decorrentes do uso prolongado comoflutuações do rendimento motor e discinesias induzidas. Hoje sabe-se que metade dos pacientes, após cinco anos de tratamentocom a levodopa, podem apresentar esses efeitos (FERRAZ, 1999). Uma alternativa, ainda em fase de estudo, quando não hámelhora com tratamento convencional pode ser o tratamento com o canabidiol, que reduz de forma significante os sintomaspsicóticos e motores em pacientes com DP, além de não apresentar piora dos sintomas cognitivos e melhora na qualidade dosono, um problema comum nesta enfermidade (CRIPPA et al., 2010). Os efeitos farmacológicos dos canabinoides sãoprovenientes da interação dos mesmos com os receptores endocanabinoides, localizados no SNC, como o receptor canabinoide1, que é responsável por mediar os efeitos psicotrópicos dos canabinoides, e o receptor canabinoide 2, responsável por mediarefeitos em órgãos e tecidos periféricos (FONSECA et al., 2013). A relação da DP com os canabinoides está na neuroproteção,uma vez que as propriedades antioxidantes do canabidiol podem fornecer proteção contra a degeneração progressiva dosneurônios dopaminérgicos, característica clássica da enfermidade (TORRÃO et al., 2011; 2013). Crippa, Zuardi e Hallak, 2010,testaram, em associação com a terapia usual, a dose oral de 150 mg/kg de canabidiol, por 4 semanas, em pacientes com DP ecom sintomas psicóticos associados. Tanto os sintomas psicóticos como motores reduziram significativamente com o tratamentocom o canabidiol e não houve piora dos sintomas cognitivos. Os efeitos do canabidiol sobre a DP também foram avaliados porChagas e colaboradores (2014). Os resultados do estudo exploratório duplo cego com 119 pacientes tratados com placebo oucanabidiol (75 e 300 mg/dia) apontam para melhoria nas avaliações de qualidade de vida.Conclusão: Conclui-se que o canabidiol se mostra como promissor ao tratamento da DP, podendo ser uma alternativa aotratamento convencional, devido a redução dos efeitos colaterais da doença, além de possuir propriedades sedativa eneuroprotetora que também oferecem benefícios aos pacientes.
ReferênciasCHAGAS, Marcos Hortes; ZUARDI, Antonio Waldo; TUMAS, Vitor et al. Efeitos do canabidiol no tratamento de pacientes comdoença de Parkinson: um estudo exploratório duplo-cego. Journal of Psychopharmacology, v. 28(11), p. 1088-1092, 2014.CRIPPA, José Alexandre; ZUARDI, Antonio Waldo; HALLAK, Jaime. Uso terapêutico dos canabinoides em psiquiatria. Rev.Bras. Psiquiatria, v. 32, n. 1, p. 9 , 2010.FAGHERAZZI, Elen Velho. Uso do canabidiol como protetor contra disfunções cognitivas associados ao acúmulo de ferrocerebral em ratos Wistar. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, p.5, 2011.FERRAZ, Henrique Ballalai. Tratamento da Doença de Parkinson. Rev. Neurociências, v.7, n. 6-12, p. 6, 1999. FONSECA, B. M., COSTA, M. A., ALMADA, M., SOARES, A., CORREIA, S. G., TEIXEIRA, N. A. O Sistema Endocanabinóide-uma perspectiva terapêutica. Acta Farmacêutica Portuguesa, v. 2, n. 2, p. 98-104, 2013.GOULART, Fátima; PEREIRA, Luciana Xavier. Uso de escalas para avaliação da doença de Parkinson em fisioterapia. RevistaFisioterapia e Pesquisa (USP), v.11, n.1, p.50, 2005.OLIVEIRA, Kauanna Lamartine Brasil; LIMA Thaís Palma Silva. Cannabis sativa: Potencial terapêutico. Faculdade São Lucas,
p. 19, 2016.SOUZA, Cheylla Fabricia; ALMEIDA, Helayne Carolyne; SOUSA, Jomário Batista; COSTA, Pedro Henrique; SILVEIRA, YonaraSonaly; BEZERRA, João Carlos. A Doença de Parkinson e o Processo de Envelhecimento Motor: Uma Revisão de Literatura.Revista Neurociências, v.19, n. 4, p. 718-723, 2011.
TERAPIA FLORAL NA ODONTOLOGIA PARA TRATAMENTO DE MEDO E ANSIEDADE
1HELOISA MARIA PERESSIN, 2ISABELA VAZ DA COSTA, 3KATIELY TECILLA, 4LEISLE VERONICA PRESTES, 5RAFAELAFEIX PICINATO, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmica do PIC/ UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Endodontia Automatizada - Turma Iii da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Diagnostico Bucal - Turma I da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Não é novidade o medo e ansiedade que encontramos em pacientes nas clínicas odontológicas. Este problemapode ser intenso ou ameno, dependendo das experiências sofridas no passado. O cirurgião dentista tem uma principal tarefa detranquilizar ao máximo seus pacientes com tais sintomas nos quais não estão acostumados com todo instrumental usado quemuitas vezes podem chegar a assustar, o simples fato do desconhecido causa receios. O paciente deve ser compreendido pelocirurgião dentista como um todo, não só uma boca com problemas e que possui atividades psíquicas e funções fisiológicas.Deste modo, novos recursos terapêuticos foram implantados na odontologia com o intuito de tornar mais agradável a ida aodentista. Um destes recursos é a Terapia com Florais de Bach. O tratamento com o Florais de Bach se apresenta na esferaodontológica como práticas integrativas e complementares regulamentado pelo Conselho Federal da Odontologia por meio daresolução CFO-82/2008 (FACIOLI, 2012). Objetivo: O tratamento com o Florais de Bach visa melhorar a qualidade dos atendimentos a estes pacientes com problema demedo e ansiedade. Zelando pelo bem-estar e saúde física e mental. Poucos dentistas conhecem esta prática integrativa, comisso o presente estudo tem por objetivo apresentar a sua aplicação medicamentosa nos consultórios.Desenvolvimento: Na rotina do consultório odontológico o uso de medicamentos para o domínio do medo e ansiedade ébastante comum, porém registros mostram que nem sempre estes ansiolíticos funcionam, podendo ainda causar efeitoscolaterais. É importante o controle do medo desde as primeiras consultas com a ajuda das práticas integrativas, embora até aclasse médica tenha dúvidas sobre os efeitos do uso dos Florais de Bach. As essências florais foram descobertas por um médicoinglês chamado Edward Bach, o médico concluiu que para obter cura é preciso que as pessoas se apeguem a um objetivo e queas flores podem agir liberando sentimentos negativos acumulados. Os florais agem com o intuito de remover as energiasnegativas da vida que causam o medo, ansiedade, estresse, tornando o indivíduo mais saudável. Segundo estudos, o cirurgiãodentista é causador de medo, o que gera emoções nos pacientes devido ao equipamento e ao tratamento. Tais emoções podemser frutos de traumas ou medos que lhes foram impostos através de relatos de terceiros. Por isso a importância da qualidade derelação entre cirurgião dentista e paciente desde as primeiras consultas. Mas quando o paciente já chega com os sentimentos demedo e/ou ansiedade é importante que seja dado o devido tratamento. Este pode ser através de métodos alopáticos ouintegrativos. Dentre os integrativos, os florais se destacam.Existem várias indicações de florais para medo e ansiedade como: Cherry Plum (Prunus Cerassifera), Heather (Calluna vulgaris),Red Chestnut (Aesculus carnea), Rock Rose, Mimulus (Mimulus guttatus), Aspen (Populus tremuloides), Agrimony (AgrimoniaEupatoria). A combinação dos florais: Star of Bethlehem, Rock Rose, Cherry Plum, Clematis e Impatiens compõem o Rescueconhecida como floral do resgate . A posologia é: dose única (10 ml) ou fracionada de três a quatro vezes no dia (5 a 10gotas). A terapia pode aplicada dias, horas ou minutos antes do procedimento. Trabalhos já confirmam a redução os efeitospositivos dos florais na reduçaõ da ansiedade (SALLES & SILVA, 2012). Atualmente os florais podem ser encontrados emfarmácias de alopatia ou de manipulação.Conclusão: Esta terapia não possui restrições sendo muito indicada no uso odontológico para qualquer faixa etária, e situaçõesmais delicadas como cirurgias e atendimento a pacientes odontofóbicos. Ela possui um baixo custo, fácil manipulação eacessibilidade, dando ao cirurgião dentista a possibilidade de melhorar o atendimento e relação com o paciente, facilitandotambém os procedimentos que forem ser realizados.
ReferênciasFACIOLI F., SOARES A.L., NICOLAU R.A. Terapia floral na odontologia no controle de medo e ansiedade revisão deliteratura. São José dos Campos, 20 de agosto. 2019. Disponível em:http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2010/anais/arquivos/RE_0766_0632_01.pdf
Acesso em: 20 de agosto. 2019.SALLES, Léia fortes, SILVA, Maria Júlia Paes da. Efeito das essências florais em indivíduos ansiosos. Acta Paul Enferm. v.25,n.2, p.238-42, 2012.
QUAIS MOTIVOS LEVAM AO ABANDONO DA PRÁTICA ESPORTIVA PELAS CRIANÇAS
1FERNANDA MORAIS ROSA, 2LAISE DA SILVA CAMPOS, 3LETICIA JULIA MACHADO DE SOUZA, 4GUILHERME VIEIRAALFARO, 5MARCELO FIGUEIRO BALDI
1Acadêmico do PIC/UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O esporte é um fenômeno cultural que cada vez mais, atrai adeptos de todas as idades. As crianças representamuma grande parte de praticantes de inúmeras modalidades esportivas, sendo nesse período, geralmente, o primeiro contato comtais práticas. De acordo com Carmo et al (2009), esse início esportivo se deve principalmente por alguns fatores como: lazer,diversão, interação, ocupação de tempo livre e entrar em forma, contudo, do mesmo modo em que vários fatores levam a pratica,outros levam ao abandono precoce do mesmo. Diante disto, a presente pesquisa procurou responder ao seguinte problema:quais motivos levam ao abandono da prática esportiva pelas crianças?Objetivo: Verificar quais são os motivos levam ao abandono da pratica esportiva infantil.Desenvolvimento: A atual influencia do esporte, não deve ser visto apenas como um suporte para a construção de atletasprofissionais, mas também, principalmente, como um meio para a formação educacional, tendo em vista que como disciplinapedagógica, ele age integralmente na formação do indivíduo (TEIXEIRA, 2008). A prática do esporte proporciona ao individuodesenvolvimento, e é um fator capaz de propiciar diversos fenômenos, considerando que o praticante é estimulado em fatoresbiológicos, comportamentais, sociais, intelectuais e cognitivos (LEITE, 1990). É possível detectar neste meio, alguns atletas queabandonam a pratica. Carmo et al (2009), cita alguns motivos como os principais, tais como: pressão dos pais ou treinadores: emrelação a isso Harris (1996, p. 89), afirma que, a criança pode almejar certas realizações não pelo prazer da perícia, mas a fimde obter a aprovação parental porém, ele também cita que na sociedade atual, percebe-se que os pais incentivam seus filhosa pratica esportiva, com ênfase na competição. Principalmente naquelas que acarretará a vitória e a divulgação do feito. o quegera frustrações. Lesões e excesso de responsabilidades com as competições: quando a carga física se torna excessiva, otreinamento se torna traumático e prejudique o crescimento normal (HARRIS, 1996). Treinamento excessivo: pais, professores etécnicos devem estar conscientes dos processos psicológicos e dos estresses experimentados pela criança que está envolvidaem competições desportivas. A soma das habilidades motoras, as habilidades pessoais e as necessidades sociais da criançadevem ser estimuladas através do esporte. Somente quando as crianças puderem adquirir a consciência desta soma deatributos, terão a motivação necessária para atingir um desempenho desportivo de alto nível (HARRIS, 1996). Não gostar dotécnico: além da sua tarefa meramente desportiva, o treinador tem uma responsabilidade pedagógica em relação ao presente eao futuro das crianças a ele confiadas. Ele/ela deve conhecer os problemas especiais nas esferas biológica, física e social,relacionados ao desenvolvimento da criança e ser capaz de aplicar este conhecimento nos treinamentos (HARRIS, 1996). Faltade diversão: a criança deve ser capaz de manter diferentes contatos sociais não apenas durante o treinamento, mas também forado esporte. Deve-se evitar o isolamento social devido a uma posição especial no esporte. A não observância destes princípiossob o pretexto de um grande êxito ou talento é inaceitável (HARRIS, 1996). Ênfase excessiva em vencer: é necessário tambémlevar em consideração diferenças quanto ao sexo, tipo de esporte, idade, condição sócio-cultural, tempo de prática, nível decompetição e outros. A união desses conjuntos é algo relevante no abandono esportivo em crianças. A individualidade da criançae as oportunidades para um maior desenvolvimento devem ser identificadas pelo treinador e tidas como um critério maior para aorganização e elaboração do seu programa de treinamento. A responsabilidade sobre o desenvolvimento integral da criança deveestar acima das necessidades em termos de treinamento e competição (HARRIS, 1996). Segundo Rose Jr. (2002), fatores comoo despreparo e a falta de conhecimentos na área pedagógica do esporte por parte de profissionais, técnicos e professoresenvolvidos com a iniciação esportiva podem contribuir significativamente em uma posterior fase no processo de fuga edesistência do esporte.Conclusão: É importante que os responsáveis tanto familiar como o treinador, fique atento ao comportamento assim comoqueixas apresentadas pelo atleta. A criança deve se sentir livre e a vontade realizando a pratica, pois força-la a tal pratica quenão esteja sendo de seu agrado, pode ocasionar prejuízos físicos e emocionais a criança (HALLAL, et al., 2004). As criançasdevem ser expostas a uma ampla variedade de atividades desportivas, para assegurar que elas possam identificar os esportes
que melhor se adaptam às suas necessidades, interesses, constituição física e capacidade. Isto tende a aumentar o seu êxito eprazer no esporte, reduzindo o número de abandonos. Não se deve estimular uma especialização precoce (HALLAL, et al.,2004).
ReferênciasCARMO, J.V. M. et al. Motivos de início e abandono da prática esportiva em atletas brasileiros. HU Revista. Juiz de Fora, v. 35,n. 4, p. 257-264, out./dez. 2009.FILHO, M. G. B.; GARCIA, F. G. Motivos do abandono no esporte competitivo: um estudo retrospectivo. Revista Brasileira DeEducação Física E Esporte, [online]. São Paulo, v.22, n.4, p.293-300, out./dez. 2008.HARRIS, P. L. Criança e emoção: o desenvolvimento da compreensão psicológica. São Paulo: Editora Martins Fontes,1996.HALLAL, P. C. et al. Fatores Intervenientes Associados ao Abandono do Futsal em Adolescentes. R. bras. Ci. e Mov. Brasília v.12 n. 3 p. 27-32 setembro 2004.LEITE, C. A. M. et al. Motivos da desistência precoce da prática do voleibol entre jovens alunos. EFDeportes.com, RevistaDigital, Buenos Aires Año 13 Nº 122 Julho de 2008.NUNES, D. F. S. Síndrome de burnout no esporte: reflexões teóricas. mastaekwondo.com, Nov.2009.ROSE JR, D. el Al. Esporte e Atividade Fisica na Infância e na Adolescência: uma abordagem multidisciplinar. 2ª ed. PortoAlegre: ARTMED® EDITORA S.A., 2009.TEIXEIRA, M.C; Filho ND. A influência dos pais na iniciação desportiva de crianças e adolescentes. R. Min. Educ. Fís. 16 (1): 75-93, 2008.WEIMBERG, R. S; GOULD, D. Fundamentos da psicologia do esporte e do exercício. 2ª ed. Porto Alegre: ARTMED®EDITORA S.A., 2001.
CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: CONHECIMENTO DOENFERMEIRO
1GIOVANA PASCHOALETO FRANCISCO, 2IRINEIA PAULINA BARETTA
1Acadêmica do curso de Enfermagem da Unipar/TCC1Docente Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica/UNIPAR
Introdução: É definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) cuidado paliativo como aquele prestado a fim de promover aqualidade de vida de indivíduos que sofrem de doenças que ameaçam a vida. Nesse contexto empregam uma maneira de umcuidado sem que haja sofrimento prolongado (FLORIANI, 2008). Podem ser realizados em diferentes contextos, como nodomicílio, nas instituições de saúde, nas unidades de saúde específicas, entre outras.Apesar de constituírem uma modalidadeterapêutica a ser empregada desde o diagnóstico de uma doença crônico-degenerativa, atualmente os cuidados paliativos sãoutilizados quando a medicina tradicional não consegue resgatar a plenitude do paciente. A equipe de enfermagem participadiretamente do processo de tratamento e encontra-se presente no fim da vida, . Ao cuidar do paciente paliativo, os profissionaisde enfermagem experimentam situações de sofrimento, angústia, medo, vivenciadas pelo paciente e por seus familiares e, comoseres humanos dotados de emoções e sentimentos, em alguns momentos manifestam as mesmas reações (MOTA, 2011).Esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença progressiva que se caracteriza, principalmente, pela degeneração do neurôniomotor superior e inferior. Seus principais sinais e sintomas são: fraqueza progressiva, atrofia muscular, fasciculações, câimbrasmusculares, espasticidade, disartria, disfagia, dispneia e labilidade emocional (KIERNAN, 2011). Por ameaçar a vida, osindivíduos que sofrem de ELA devem ser cuidados a partir do diagnóstico da doença, por uma equipe multidisciplinar que objetivepromover a qualidade de vida. Sempre que presente, o alívio do sofrimento multidimensional deve ser o principal foco da equipede cuidado (KIERNAN, 2011). Objetivo: Compreender o papel do Enfermeiro(a) em pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo bibliográfico, juntamente com levantamento de dados indicativos do conhecimentodo enfermeiro sobre os cuidados paliativos em pacientes com esclerose lateral amiotrófica obtido através da análise deprontuários dos pacientes hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva, em 2019, na Associação Beneficente São Franciscode Assis de Umuarama (CEMIL). A execução dessa classificação será realizada no período de junho a setembro de 2019. AEnfermeira responsável pelo controle de prontuários do hospital CEMIL acompanhará e auxiliará na coleta dos dados. Apósanálise dos prontuários os dados obtidos referentes a prescrição de Enfermagem e a evolução do paciente serão comparadoscom a literatura. O referido estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e seu certificadoapresenta o número 14432709.3.40000.0109.Resultados e Discussão: Foram analisados 4 prontuários dos pacientes com ELA e observado que o Enfermeiro tem um papelfundamental no cuidado ao paciente que vai além de procedimentos, sendo importante a promoção do conforto e melhoradaptação possível do paciente frente as incapacitações causadas pela ELA.O Enfermeiro contribui com informações para outrosprofissionais uma vez que passa a maior parte do tempo com os pacientes. Conclusão: A pesquisa se encontra em andamento, a análise preliminar dos prontuários indica que os cuidados paliativosapresenta-se como alternativa para os estágios avnçados de ELA.Trata-se também da aceitação de morte como um processonatural, não antecipando e nem retardando mas oferecendo suporte que permita ao paciente viver com autonomia e ativo dentrodo possível.
ReferênciasWHO: World Health Organization. WHO definition of palliative care [Internet]. Geneva: WHO; 2007 [citado em 2017 Jun 04].Disponível em: acesso em: 09 abr. 2019.FLORIANI CA, Schramm FR. Palliative care: interfaces, conflicts and necessities. Cien Saude Colet. 2008;13(2, Suppl 2):2123-32. acesso em: 09 abr. 2019.MOTA MS,et al. Reações e sentimentos de profissionais da enfermagem frente à morte dos pacientes sob seus cuidados. RevGaúcha Enferm. 2011;32(1):129-35KIERNAN MC, Vucic S, Cheah BC, Turner MR, Eisen A, Hardiman O, et al. Amyotrophic lateral sclerosis. Lancet.2011;377(9769):942-55. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61156-7 . PMid:21296405. Acesso em: 09 abr. 2019.
VITAMINA B6: FORMA DE ACESSO E SUA IMPORTÂNCIA NO METABOLISMO
1FLAVIA CRISTINA ROTESKI, 2IARA IVETE MOENTKE RIGO, 3DEBORA NAKADOMARI DUDEK
1acadêmica do curso de biomedicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: O valor nutritivo de um alimento pode ser atribuído pela quantidade de energia e nutrientes contidos em suacomposição, as vitaminas são micronutrientes inorgânicos que os organismos não produzem em quantidade suficiente e,portanto, precisam ser ingeridas em pequenas quantidades nas suas dietas alimentares. Dentre as vitaminas, o complexo B éessencial para o funcionamento do organismo e desempenham importantes funções no processo metabólico, a vitamina B6,conhecida como piridoxina, é encontrada em abundância em alimentos de origem animal e vegetal, além de ser responsável pelometabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, e ser fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso central e dafunção cognitiva (BRASIL, 2014).Objetivo: Descrever a importância da vitamina B6 para o organismo e sua disponibilidade na alimentação. Desenvolvimento: O termo vitamina B6 é utilizado como coletivo para piridoxina, piridoxal e piridoxamina, todos derivados dapiridina. Eles diferem apenas na natureza do grupo funcional ligado ao anel. A piridoxina ocorre principalmente nas plantas,enquanto que o piridoxal e a piridoxamina são encontrados em alimentos obtidos de animais. Os três compostos podem servircomo precursores da coenzima biologicamente ativa. Essa vitamina faz parte do grupo de hidrossolúveis e assim normalmenteelas não são armazenadas pelo organismo em quantidades significativas, o que implica em uma necessidade de consumo diáriopara o individuo manter-se saudável (MANSUR, 2009). Além disso, desempenha diversos papeis metabólicos, principalmenteem processos de coenzimas na transaminação e na síntese de aminoácidos além de ser necessária para o funcionamentoadequado de mais de sessenta enzimas e essencial para a síntese normal do ácido nucléico e de proteínas. Participa damultiplicação de todas as células e da produção de hemácias e células do sistema imunológico (HENDLER, 2010). A piridoxina éencontrada em maior proporção em alimentos de origem animal (carnes, de porco principalmente), leite e ovos. Entre osvegetais, assinala-se a batata inglesa, aveia, banana e gérmen de trigo (CARDOSO FILHO et al; 2019). A deficiência dessavitamina é rara, uma vez que a maioria dos alimentos contém vitamina B6, mas está associada com a hiper homocistinemia, epode ser consequência de má absorção ou por estar associada com outras situações como alcoolismo, uso de anticonceptivosorais, inativação por drogas, perdas excessivas (uremia), atividade metabólica aumentada (RAMOS, 2018). Em crianças, acarência de piridoxina os sintomas são manifestados por convulsões, alterações na pele e mucosas, lesões seborréicas da face,glossite, estomatite; no sistema nervoso central e periférico, depressão, neuropatia; na hematopoese, anemia microcíticahipocrômica, com reserva normal ou aumentada de ferro (anemia sideroblástica). Existem vários procedimentos para adeterminação de vitamina B6, como bioanalíticos, microbiológicos e químicos (ANICETO; FATIBELLO FILHO, 1999). Conclusão: Assim o consumo inadequado de vitamina B6 e também de tantos outros nutrientes, reflete diretamente nofuncionamento do organismo e pode levar a graves consequências, e que podem ser evitadas pela rotina de uma alimentaçãosaudável e equilibrada visto que a vitamina B6 está amplamente distribuída na natureza e facilmente encontrada em uma grandevariedade de alimentos.
ReferênciasANICETO . C; FATIBELLO FILHO. O. Determinação espectrofotométrica por injeção em fluxo de vitamina b6 (piridoxina)em formulações farmacêuticas. Departamento de química - centro de ciências exatas e de tecnologia - universidade federal desão carlos - cp 676 13.560-970 - são carlos sp,1999.BRASIL. Vitaminas B6, B9, e B12 são fundamentais para o metabolismo. Ministério da Saúde. Disponível em:http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2014/08/vitaminas-b6-b9-e-b12-sao-fundamentais-para-o-metabolismo. Acessadoem: 27de out. 2018.CARDOSO FILHO, O. et al. Vitaminas hidrossolúveis (B6, B12 E C): UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. Revista EletrônicaAcervo Saúde. v. 11, n. 8, p. e285, 7 abr. 2019.HENDLER, S. S. Vitaminas e saúde. Jornal de pediatria. Rio de Janeiro. 1(2): 34-36. 2010. MANSUR, L. M. Vitaminas hidrossolúveis no metabolismo. Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias daUniversidade Federal do Rio Grande do Sul, no primeiro semestre de 2009.RAMOS. C. et al. Suplementação Vitamínica Bases Clínicas, disponível em ; acessado em 21 de outubro de 2018.
MECANISMOS DE PREVENÇÃO DA DENGUE A PARTIR DO CONTROLE DA PROPAGAÇÃO DE MOSQUITOS VETORES
1MARIO MARQUES PEREIRA FILHO, 2SIMONE CASTAGNA ANGELIM COSTA, 3TAZIANE MARA DA SILVA, 4DENISE ALVESLOPES, 5ROSILEY BERTON PACHECO
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Docente da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Morfofisiologia Humana I da UNIPAR3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A dengue é uma doença febril aguda típica de regiões tropicais, classificada como uma arbovirose, tendo comoagente etiológico vírus do gênero flavivírus e de evolução benigna na forma clássica, porém grave quando se manifesta na formahemorrágica, motivo pelo qual suscita-se atenção nesse quesito de saúde pública no Brasil. As condições climáticas e ambientaisbrasileiras favorecem a proliferação do mosquito vetor, Aedes aegypti. Nesse sentido, são imprescindíveis, portanto, medidas decontrole da sua proliferação, a partir da concomitante erradicação do referido mosquito (FERREIRA, 2019).Objetivo: Analisar os métodos de controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti.Desenvolvimento: Apesar dos esforços científicos de pesquisa para a elaboração de uma vacina eficaz contra a dengue, nãoexiste hodiernamente outra medida de controle, que não o combate ao vetor da cadeia epidemiológica da referida afecção. Logo,deve-se combater o mosquito a partir de resoluções estratégicas, pautadas na eliminação dos seus potenciais criadouros, osquais ocorrem em água limpa ou suja, desde depósitos naturais, como folhagens e folhas, até recipientes artificiais de água,como pneus abandonados nas ruas das cidades, piscinas sem devido tratamento nos espaços residenciais. Em adição, devehaver o uso de inseticida para as formas adultas do mosquito (RIBEIRO, 2006). No caso de combate dos vetores por meio douso de inseticidas, destaca-se que não é possível evitar ocorrências de resistências das populações de insetos contra osprincipais inseticidas usados no mercado. Existem, no entanto, por exemplo, especificamente nesse fator, algumas medidas demanuseamento, prescindindo da redução do impacto dessa tecnologia operacional no processo de aplicação: controlereducional, que restrinja ao máximo a quantidade de produtos químicos; além dos métodos típicos que reforçam o retardo daresistência à aplicação, tais como aplicação de inseticidas em mosaico, uso de misturas ou rotações (DONALÍSIO, 2002).Ademais, é imprescindível que sejam administrados hábitos populacionais preventivos, a partir da conscientização horizontal eintersetorial da sociedade, por meio do controle de reservatórios de água dentro dos múltiplos espaços residenciais. Talestratégia se integra a partir de um sustentado processo de educação em saúde, desde a escola até campanhas e fórunsabertos à comunidade (FERREIRA, 2019). Todas as atividades antivetoriais supramencionadas originam-se, comumente, de trêscomponentes: vigilância sanitária, inspeção predial e estímulo à informação. Em todos eles, a atenção epidemiológica, por meiodo incentivo à detecção precoce de casos suspeitos potencialmente evita epidemias de grande dimensão. Desta forma, éimprescindível que haja uma vigilância sistemática em casos de epidemias e surtos de dengue, procurando sempre avaliar asmúltiplas adaptações dos vetores dessa doença, nos diferentes contextos ecológicos regionais, bem como os fatoresdesencadeadores desses períodos de ocorrência/expansão de epidemias(TAUIL, 2001).Conclusão: As ações interconectadas e intersetoriais de prevenção da dengue, com enfoque na eliminação do mosquitovetor Aedes aegypti e de seus potenciais criadouros, partem do envolvimento social conjunto e da educação em saúde,especificamente no que concerne à melhoria das condições fitossanitárias de urbanização e de habitação.
ReferênciasDONALÍSIO, Maria Rita; GLASSER, Carmen Moreno. Vigilância entomológica e controle de vetores do dengue. RevistaBrasileira de Epidemiologia, v. 5, p. 259-279, 2002.FERREIRA, Vanessa Machado et al. Um mosquito e três doenças: ação de combate ao Aedes aegypti e conscientização sobredengue, chikugunya e zika em Divinópolis/MG, Brasil. Revista Brasileira de extensão universitária, v. 10, n. 2, p. 49-54, 2019. RIBEIRO, Andressa F. et al. Associação entre incidência de dengue e variáveis climáticas. Revista de Saúde Pública, v. 40, p.671-676, 2006.TAUIL, Pedro Luiz. Urbanização e ecologia do dengue. Cadernos de Saúde Pública, v. 17, p. S99-S102, 2001.
DOENÇA PERIODONTAL COMO POSSÍVEL FATOR DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES: REVISÃO DELITERATURA
1BEATRIZ AYUMI SHIOTANI, 2RAFAELLA BRITO CARBELIM, 3SABRINA PAIXAO DOS SANTOS RODRIGUES, 4STEFANIAGASPARI, 5EDUARDO AUGUSTO PFAU
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Acadêmica do PIC/UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Diversos estudos têm sugerido a relação entre a doença bucal e doenças sistêmicas, sendo a periodontite apontadacomo fator de risco para o desenvolvimento e o agravamento de doenças Cardiovasculares. Dados fornecidos da Organizaçãopan-americana da Saúde estimou-se que 17,7 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares em 2015,representando 31% de todas as mortes em nível global, dentre as mais comuns, a arteriosclerose caracterizada pela formaçãode placas fibrosas que se projeta para dentro do lúmen, resultando em uma série de complicações no sistema circulatório(CAMACHO et al., 2007). Em contrapartida, a doença periodontal, sendo a segunda maior causa de patologia dentária napopulação humana mundialmente, demonstrando aumentar o risco para o desenvolvimento de Doenças cardíacas.Objetivo: Revisar diferentes estudos clínicos e epidemiológicos, os quais abordam a relação e interação entre infecçãoperiodontal e doença cardiovascular, sendo de suma importância para a saúde populacional, observando que a prevenção etratamento da patologia periodontal parece minimizar o seu papel como fator de risco para as doenças cardiovasculares.Desenvolvimento: Periodontite é uma doença inflamatória crônica causada pelo desequilíbrio da resposta do hospedeiro e dobiofilme alojado na superfície dentária, desencadeando a destruição do tecido de suporte dentário, e em último caso, sua perda.Os efeitos decorrentes de outras doenças no tecido periodontal é assunto de diversos estudos, no entanto, nas últimas décadasa partir do ano de 1980, foi realizado o inverso, a doença periodontal como fator de risco para doenças sistêmicas, em especialDiabetes mellitus e Doenças cardiovasculares. Sendo propostos e desempenhados variados tipos de estudos baseadas emevidências epidemiológicas, patológicas e microbiológicas em modelos de experimentos em animais ou observações clínicas natentativa de confirmar a possível inter-relação da doença periodontal com as doenças cardiovasculares. A pauta entre infecções elesões ateroscleróticas só recebeu uma maior atenção ao descobrir que aves com doença de Marek infectadas com herpes viral,possuíam aterosclerose oclusiva (FABRICANT et al., 1993) ou a evidenciação da presença de um microorganismo associado apatologia respiratória denominado Chlamydia pneumoniae em ateromas (KUO et al., 1993). Desde então, a procura visando ainter-relação pertinente a doenças bucais de origem microbiana relacionadas com a contribuição no processo de aterogêneseforam levantados, visto que a cavidade oral é uma fonte contínua de agentes infecciosos e mediadores inflamatórios que emsituações como a ulceração epitelial das bolsas periodontais, adentram no sistema circulatório e resultam em uma inflamaçãosistêmica, contribuindo para eventos aterogênicos, dado que os patógenos periodontais podem aumentar a instabilidade einflamação das placas ateroscleróticas a partir da sua infecção. Além do mais, essa bacteremia crônica causado pela ulceraçãodos tecidos gengivais excitaria também a ativação de anticorpos frente à agressão, resultando em um recrutamento acentuadode células mononucleares e modificações no metabolismo de lípidos, induzindo formação de placas ateromatosas na camadaíntima de importantes vasos cardíacos, predispondo a isquemias, formação de trombos e infarto agudo do miocárdio. Ademaisanálise examinando 50 biópsias de artérias aorta, utilizando técnica de biologia molecular detectou que 44% das artérias erampositivas para os microorganismos cognominados Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacteractinomycetemcomitans e Prevotella intermedia, em respectivamente 30%, 26%,18% e 14% (HARASZTHY et al., 2000) . Outraspesquisas têm correlacionado a redução dos níveis de citocinas IL-1β com a melhora clínica posteriormente a terapia periodontal,bem como em paciente com periodontite crônica (GOUTOUDI et al., 2004; THUNELL et al., 2010; TUTER et al., 2001) quanto emperiodontite agressiva (TOKER et al., 2008). Já em estudo realizado com o tratamento de terapia de raspagem em indivíduosbrasileiros em apenas uma sessão ou quatro sessões distintas em grupo teste, um quadrante por semana , o nível total de IL-1βdiminuiu após 6 meses de terapia, sendo um reagentes da fase aguda relacionadas a eventos cardiovasculares (DEL PELOSORIBEIRO et al., 2008).Conclusão: Por intermédio dos resultados apontados nesta revisão, encontram-se diversas possibilidades de associação entre adoença periodontal, em especial as periodontites com as cardiopatias, nas quais ambas apresentam fatores de risco e processospatológicos em comum. Em vista disso, se a periodontite possui um papel importante referente a aterogênese e pode aumentar o
risco de doenças cardíacas, o tratamento e prevenção das infecções geradas a partir de doenças periodontais podem ser desuma importância para a redução da mortalidade e morbidade associadas com as doenças cardiovasculares.
ReferênciasALMEIDA, Ricardo Faria et al. Associação entre doença periodontal e patologias sistêmicas. Revista Portuguesa de MedicinaGeral e Familiar, v. 22, n. 3, p. 379-90, 2006.ARREGOCES, Francina Escobar et al. Relação entre a proteína C ultrarreativa, diabetes e doença periodontal em pacientes comou sem infarto do miocárdio. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 58, n. 4, p. 362-368, 2014.CORRÊA-CAMACHO, Camila R.; DIAS-MELICIO, Luciane A.; SOARES, A. M. V. C. Aterosclerose, uma respostainflamatória. Arq Ciênc Saúde, v. 14, n. 1, p. 41-48, 2007.DE LIMA OLIVEIRA, Ana Paula. Efeito da terapia periodontal nas citocinas do fluido gengival crevicular de indivíduos comperiodontite agressiva generalizada. 2012.DE OLIVEIRA, Fernando José et al. Inflamação sistêmica causada pela periodontite crônica em pacientes vítimas de ataquecardíaco isquêmico agudo. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular/Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, v.25, n. 1, p. 51-58, 2010.HARASZTHY, V. I. et al. Identification of periodontal pathogens in atheromatous plaques. Journal of periodontology, v. 71, n.10, p. 1554-1560, 2000.MACHADO, Ana Cristina Posch; VADENAL, Ricardo; CORTELLI, José Roberto. Doença periodontal e doença cardíaca: umarevisão dos mecanismos. Revista Biociências, v. 10, n. 3, 2004.ROCHA, Renata de Andrade Cardoso Pinto; FERNANDES, Aliana; LUCAS, Rilva Suely de Castro Cardoso. Doençasperiodontais, dieta e distúrbios cardiovasculares em idosos não institucionalizados em Campina Grande-PB. Pesquisa Brasileiraem Odontopediatria e Clínica Integrada, v. 5, n. 2, p. 133-140, 2005.RORIZ, Virgílio Moreira; BARBOSA, Ralfh Amorim. Possibilidades de inter-relação entre as doenças periodontais e ascardiovasculares. Revista Odontológica do Brasil Central, v. 20, n. 55, 2011.
AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORAIS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS SUBMETIDOS AO TRATAMENTOQUIMIOTERÁPICO
1TAYZE RAFAELA FETTER, 2BRUNA LUISA KOCH MONTEIRO, 3BRUNA THAIS DOS SANTOS HARTMANN, 4ELOISACALDATO, 5CAROLINA PANIS, 6VOLMIR PITT BENEDETTI
1Acadêmica do PIBIC/Unipar 1Acadêmica do PIC/Unipar 2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do curso de Odontologia Unipar4Docente - Unioeste 5Docente da UNIPAR
Introdução: Considera-se o câncer uma das principais doenças do mundo moderno, sendo esperados 600 mil novos casos porano no Brasil, segundo o instituto nacional do câncer (INCA, 2017). Além disso é a segunda maior causa de morte no mundo(JESUS et al. 2016). Entre as modalidades terapêuticas empregadas contra as neoplasias temos a cirurgia, a quimioterapia e aradioterapia. Estudos apontam que a quimioterapia é empregada em 70% dos casos, isolada ou conjugada com outros fármacos(MORAIS et al. 2017). Um dos principais efeitos colaterais deste tipo de tratamento são as manifestações orais, que podem tersua frequência e intensidade, correlacionada com a dose, duração e tipo de quimioterápico, além da idade, sexo, condição dehigiene oral e trauma local (JESUS et al. 2016). Estima-se que as manifestações orais decorrentes destes fármacos, estãopresentes em 40% dos pacientes (FREIRE et al. 2017).Objetivo: Verificar possíveis diferenças entre a ocorrência de alterações orais e o tipo de tratamento em pacientes oncológicos.Metodologia: Para isto investigou 133 pacientes oncológicos sob tratamento quimioterápico no centro de oncologia de FranciscoBeltrão- CEONC, em Francisco Beltrão, Paraná. Realizou-se a anamnese com preenchimento de ficha epidemiológica,abordando questões referentes ao nome, idade, gênero, tipo de câncer, forma de tratamento, dentre outras perguntas. Seguiu-secom o exame clínico da cavidade bucal objetivando o diagnóstico das alterações orais, em seguida coletou-se cerca de 1ml desaliva do paciente. Na quantificação e identificação das leveduras oriundas da saliva, utilizou-se o meio cromógenoCHROMagar®-Candida. Analisou-se os dados no Microsoft Office Excel e SPSS statistics nestas análises estatísticas utilizou-seo método de análise de variância (ANOVA), comparando as medias pelo teste de Tukey. Neste trabalho foram seguidos ostrâmites éticos legais (72361317.6.0000.0109).Resultados: Dos participantes analisados 99,2% (132) apresentavam pelo menos uma manifestação oral, sendo candidíase amais encontrada 72,1% (96), seguida de xerostomia 69,9% (93) e doenças gengivais 66,1% (88). Correlacionando asmanifestações orais com os sexos, não houve diferença significativa (P>0,05), mas observou-se que nos homens as alteraçõesmais frequentes foram candidíase 81,4% (44), seguida de doenças gengivais 77,7% (42), e nas mulheres xerostomia 74,6% (59)e candidíase 65,8% (52). Ainda na análise da relação entre as alterações orais e faixa etária, não foi encontrado diferençasignificativa (P>0,05). Contudo, na comparação entre as alterações orais com o tipo de quimioterápico, verificou maior ocorrênciadestas patologias nos pacientes que utilizavam o esquema terapêutico não baseado em antimetabólitos, alquilantes e antibióticoscitotóxicos (P<0,05) (25). Neste grupo as alterações predominantes foram xerostomia 80% (20) e candidíase 76% (19).Discussão: A literatura mostra que em torno de 40% dos pacientes que fazem uso de quimioterápicos tem o aparecimento dealterações orais durante o tratamento. Freire et al. (2017) em sua pesquisa observou que 56% de seus pacientes apresentavamalgum tipo de manifestação oral sendo mais prevalentes no sexo feminino, e a faixa etária de 51 a 60 anos a mais acometida.Estes dados diferem dos encontrados neste estudo. Já Hespanhol et al. (2010), em seu trabalho revelou que mucosite,xerostomia e infecções bacterianas, viróticas ou fúngicas, são as alterações na cavidade oral mais encontradas nos pacientes porele estudados. Ainda segundo o autor estas alterações comprometem diretamente a qualidade de vida das pessoas que fazemtratamento contra o câncer. Estes dados apresentados pelo pesquisador se assemelham aos obtidos nesta pesquisa, no sentidode que as infecções fúngicas e a xerostomia são umas das principais manifestações orais desenvolvidas por este grupo depacientes. Ainda Jesus et al. (2016), comenta que os fármacos 5-FU, metotrexato, cisplatina e ciclofosfamida são os principaiscompósitos responsáveis pelo aparecimento de alterações orais. Finalmente Campos et al. (2019) afirma que a prevenção e otratamento das complicações orais são de extrema importância na diminuição da morbidade e consequentemente melhoria daqualidade de vida dos pacientes sob tratamento quimioterápico contra o câncer. Conclusão: Neste estudo verificou-se que a alteração oral mais frequente foi candidíase, seguida de xerostomia e doençasgengivais, independentemente da idade e gênero dos participantes. Contudo o esquema quimioterápico mais relacionado ao
aparecimento destas manifestações não é baseado em antimetabólitos, alquilantes e antibióticos citotóxicos.
ReferênciasCAMPOS, Fernanda Araújo Trigueiro et al. Manifestações bucais decorrentes da quimioterapia em crianças. Revista Campo doSaber, v. 4, n. 5, 2019.FREIRE, Antônio Arlen et al. Manifestações bucais em pacientes submetidos a tratamento quimioterápico no hospital de câncerdo Acre. Journal of Amazon Health Science, v. 2, n. 1, 2017.HESPANHOL, Fernando Luiz, et al. Manifestações bucais em pacientes submetidos à quimioterapia. Ciência & Saúde Coletiva.v.15, p.1085-1094, 2010.INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA) Estimativa 2018: incidencia de cancer no Brasil / Instituto Nacional de CancerJose Alencar Gomes da Silva. Coordenacao de Prevencao e Vigilancia. Rio de Janeiro: INCA, 2017.JESUS, Leila Guerreiro, et al. Repercussões orais de drogas antineoplásicas: uma revisão de literatura - Oral effects ofanticancer drugs: a literature review. RFO. v. 21, n. 1, p. 130-135, 2016.MORAIS, Ângela Maria Dias, et al. Estudo das manifestações bucais de pacientes tratados com quimioterapia. J Orofac Invest.v. 4, n.1, p.49, 2017.
FIBROMA OSSIFICANTE PERIFÉRICO - RELATO DE CASO
1NATHALIA VOLPATTO FERREIRA, 2NATALIA JUSTI THOME, 3VALERIA CAMPAGNOLO, 4ANA LETÍCIA MORES, 5THAISECAROLINE DE OLIVEIRA, 6JOSLEI BOHN
1Acadêmica Bolsista do PIBIC - Unipar1Acadêmica do PIC - Unipar2Cirurgiã Dentista - Unipar3Veta Escola de Pós-Graduação, Curitiba - PR4Veta Escola de Pós-Graduação, Curitiba - PR5Veta Escola de Pós-Graduação, Curitiba - PR
Introdução: O Fibroma Ossificante Periférico é uma lesão hiperplásica inflamatória reacional de origem fibro-óssea. Têmpredominância em jovens entre 10 a 19 anos de idade e 50% dos casos ocorrem em região de caninos e incisivos, sendo 2/3 nogênero feminino. O aspecto clínico é de massa nodular, séssil ou pediculada, exclusivamente em gengiva e frequentemente empapila interdental. Possui coloração que varia do vermelho ao rosa e superfície que pode ser ulcerada. As lesões medem de 1,5 a2,0 cm, podendo ocorrer variações¹. Relato de caso: Paciente R.L.R.B, homem, 23 anos, leucoderma, compareceu com queixa de lesão em mandíbula. Naanamnese foi declarado não possuir outras comorbidades ou alergias. Contudo, o paciente relatou uso contínuo de palito demadeira entre os dentes. No exame clínico não houve achados dentários, apenas lesão em tecido mole em região lingualde mandíbula à direita, próxima aos dentes 43, 44 e 45, de coloração rósea-esbranquiçada, de aproximadamente 20x10x4mm,pediculada, consistência fibrosa, superfície e contornos irregulares, indolor e sangrante à pressão. Segundo o relato, a evoluçãoera de 2 meses. Foi solicitado como exame complementar: hemograma, onde não houve alterações; radiografia periapical depré-molares e canino na região da lesão; radiografia panorâmica, sem alterações ou outros achados no local da lesão. Comotratamento, foi realizada exérese da lesão com pequena margem de segurança, sob anestesia local, seguida de curetagemóssea, raspagem radicular e reposicionamento coronal do tecido gengival. O paciente encontra-se em proservação, sem quadrosde recidiva.Discussão: A origem do fibroma ossificante periférico é duvidosa, porém, CARLI e SILVA (2004) acreditam que seja originado doligamento periodontal e que a excessiva proliferação de tecido maduro relacionado seja uma resposta a injúria gengival, cálculossubgengivais e corpos estranhos no sulco gengival.Conclusão: É importante a completa remoção do lesão, periósteo e ligamento periodontal para reduzir a chance de recidiva.
ReferênciasNeville, Brad. W.; et al. Patologia Oral e Maxilofacial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.CARLI, João. Paulo.; SILVA, Soluete. Oliveira. Análise clínico-histológica do granuloma ossificante periférico. Revista daFaculdade de Odontologia. Passo Fundo, v.9, n.2, p. 13-17, jul/dez. 2004.
A INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NO AUXÍLIO DO ENVELHECIMENTO FISIOLÓGICO SAUDÁVEL
1ALISSON RICARDO DE AQUINO RODRIGUES, 2ALVARO ALBERTO ALVES SOARES, 3LUIZ EDUARDO ALVES CAMPOSBORGES, 4FERNANDA DE OLIVEIRA MICHELAN, 5GABRIEL UNFER COLODA, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do curso de Educação Física da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Além de ser um processo fisiológico, o envelhecimento também é um processo gradual, universal e irreversível, poisprovoca perda funcional progressiva no organismo, caracterizada por diversas alterações orgânicas, como redução do equilíbrio,mobilidade e indução de alterações psicológicas (MACIEL, 2010). Com vários fatores negativos que interferem na qualidade devida dos idosos, vale ressaltar que a população idosa vem aumentando significativamente, o que é atribuído a uma expectativade vida mais longa, provavelmente relacionada a um melhor controle das doenças infecciosas degenerativas crônicas, quepodem ter seus sintomas amenizados com a prática regular da atividade física (FRANCHI; MONTENEGRO JUNIOR, 2005).Objetivo: Relatar a importância do envelhecimento saudável através da prática de atividades e exercícios físicos.Desenvolvimento: Brito (2008) descreve que em 2050, a população brasileira será de 253 milhões de habitantes, devido à baixataxa de mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida, concebendo assim uma enorme população na faixa da terceiraidade, levando a busca de um envelhecimento saudável, que envolve muito mais que um bem psicológico bem como corporal.Existem algumas constantes que implicam no envelhecimento saudável que são trabalhadas por duas linhas teóricas incluindo osaspectos primários e a os aspectos secundários. A primeira está relacionada as características genéticas, como a deterioraçãodo sistema nervoso, e a segunda sobre a influência de fatores externos, como a obesidade e o sedentarismo (MARCIEL, 2010).Torna-se imprescindível salientar a importância de um profissional habilitado no acompanhamento dessa população com afinalidade de assegurar que as atividades respeitem a individualidade e necessidades pessoais de cada praticante. É notório queo exercício físico reduz o risco de doenças crônicas e diminui outros fatores de risco, promovendo também mudanças no estilo devida e saúde, deixando os indivíduos com uma qualidade de vida mais aprimorada. É importante envolver os idosos ematividades que ajudem os mesmos a se sentirem melhores, a aceitar-se a si mesmo e suas limitações, tendo como objetivo aexecução de algumas atividades que trabalhem a agilidade e os reflexos corporais, promovam segurança e funcionalidade vitalpara a prática das atividades cotidianas de forma independente (LARA et al., 2011).Conclusão: Pode-se concluir que o exercício físico é de extrema importância para qualquer idade, mas principalmente no públicosenil, a fim de promover a saúde e o retardo dos efeitos da degeneração biológica natural.
ReferênciasBRITO, F. Transição demográfica e desigualdades sociais no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Populacionais, São Paulo,v.25, n.1, p.25-26, jan./jun. 2008.FRANCHI, K. M. B.; MONTENEGRO JUNIOR, R. M. Atividade física: uma necessidade para a boa saúde na terceira idade.Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde, Vitória, v.18, n.3, p.152-156, jul./set. 2005.LARA, P.C. et al. Perfil de la enfermedad coronaria del pacs - Canoinhas/ Santa Catarina en la práctica de la actividad física ycalidad de vida. In. XIII Congreso Internacional de Actividad Física y Ciencias del Deporte. Escuela de Deportes CampusMexicali, 2011.MACIEL, M. G. Atividade física e funcionalidade do idoso. Revista Motriz, Rio Claro, v.16, n.4, p.1024-1032, out./dez. 2010.
AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE EM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UNIPAR-CAMPUS CASCAVEL
1GEOVANE CAPANA FIDELI, 2GABRIELI GUILHERME PSZEBISZESKI, 3ANA KAROLYNA DAMASO TAVARES, 4ALLANFERREIRA DE LIMA ANTONELLI, 5JULIANA GARCIA MUGNAI VIEIRA SOUZA
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Acadêmico do PIC/UNIPAR4Docente do PIC UNIPAR
Introdução: Mesmo com tantos avanços tecnológicos que a Odontologia vem sofrendo ao longo dos anos, sentimentosnegativos ainda são vivenciados nesta área (SILVA et al., 2016; SHAHNAVAZ et al., 2018). Medo e ansiedade é normal a umanova situação vivenciada, no entanto, torna-se necessário estabelecer uma diferença entre o normal e o patológico (MARQUESet al., 2010). O medo dental é uma abordagem fisiológica e comportamental caracterizada como uma reação emocional a uma oumais ameaças encontradas na prática odontológica (SHAHNAVAZ et al., 2018). A ansiedade dental é uma resposta emocionalcaracterizada por sentimentos de tensão, apreensão, nervosismo e preocupação. Nessa sensação de ameaça, não existe umobjeto real; alguns autores afirmam que quanto maior a ansiedade do paciente, maior será sua sensibilidade à dor (MEDEIROSet al., 2013). Medo e ansiedade estão intimamente ligados, mas não são sinônimos e devem-se considerar as particularidades decada reação (MARQUES et al., 2010). Objetivo: Identificar a existência de medo e ansiedade por parte dos pacientes atendidos nas clínicas de odontologia daUniversidade Paranaense Unipar Campus Cascavel, PR e suas possíveis causas sobre o atendimento odontológico.Metodologia: O estudo está sendo realizado com pacientes atendidos na Clínica odontológica da UNIPAR Campus Cascavel nomunicípio de Cascavel - Paraná. A amostra será composta por aproximadamente 200 pacientes. Aos participantes, está sendoapresentado o objetivo e a metodologia do projeto, os que aceitam ser voluntários, respondem um questionário estruturado comperguntas objetivas, nas quais são solicitadas informações pessoais (idade, gênero, nível de escolaridade e renda). Em seguidaé aplicado um método de avaliação da ansiedade frente ao tratamento odontológico. Neste estudo utilizaremos a Escala deCorah, a qual é conhecida como um instrumento para avaliar as manifestações da ansiedade odontológica desde 1970, porpermitir reconhecer de maneira objetiva o nível de ansiedade através da soma das respostas fornecidas pelas respostas multi-itens. Para a interpretação do grau de ansiedade, pacientes cuja soma das respostas foi inferior a 5 pontos, são consideradosmuito pouco ansiosos; entre 6 a 10 pontos, levemente ansiosos; entre 11 a 15 pontos, moderadamente ansiosos; e somassuperiores a 15 pontos, extremamente ansiosos (CARVALHO, 2012). Após o preenchimento do questionário, os voluntários sãoavaliados através da Escala de Corah. Para a obtenção dos resultados finais, serão comparados os dados coletados através dosquestionários, com os valores obtidos por meio da Escala de Corah. Os resultados numéricos então serão analisadosestatisticamente e uma análise descritiva será realizada. A pesquisa foi submetida ao Comitê de ética em pesquisa com SeresHumanos da UNIPAR com parecer: 2.817.068.Resultados: A pesquisa está em andamento, contudo, os dados são parciais. Até o presente momento foram aplicados 104questionários, no qual os resultados parciais obtidos foram: 13,46% dos entrevistados possuem ensino fundamental incompleto,6,74% ensino fundamental completo, 14,43% ensino médio incompleto, 24,03% ensino médio completo, 20,19% ensino superiorincompleto, 21,15% ensino superior completo. Em relação a escala de Corah os resultados foram: 48,08% dos entrevistados sãoconsiderados muito pouco ansiosos, 32,70% levemente ansiosos, 15,38% moderadamente ansiosos e 3,84% extremamenteansiosos. Discussão: Analisando os resultados parciais da pesquisa verifica-se que 48,8% são pouco ansiosos e a maioria(51,92%) apresentou algum grau de ansiedade no atendimento odontológico. Os motivos de medo e ansiedade dos pacientesatendidos nesta clínica foram a anestesia, alta rotação e instrumentais utilizados para os procedimentos. Há uma concordânciacom o trabalho de SANTOS et al. (2007) e PEREIRA et al. (2013) que também encontraram o medo de anestesia e motor de altarotação como o mais citado como gerador de ansiedade. Mesmo com tantos avanços tecnológicos, a odontologia moderna aindanão conseguiu produzir instrumentos que causem menos desconforto ao paciente. Carvalho (2012) verificou que a maioria dospacientes demonstrou pouca ou leve ansiedade frente ao atendimento odontológico, observando ainda que 2 em cada 10pacientes apresentavam-se moderadamente ou severamente ansiosos.Conclusão: Conclui-se até o presente momento que a maioria dos pacientes entrevistados apresentam algum grau deansiedade odontológica.
ReferênciasCARVALHO, Ricardo Wathson Feitosa; FALCÃO, Paulo Germano de Carvalho Bezerra; CAMPOS, Gustavo José de Lun;BASTOS, Alliny de Souza; PEREIRA, José Carlos; PEREIRA, Maria Auxiliadora da Silva; CARDOSO, Maria do Socorro Orestes;VASCONCELOS, Belmiro Cavalcanti do Egito. Ansiedade frente ao tratamento odontológico: prevalência e fatores predictoresem brasileiros. Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 7, p. 1915- 1922, 2012.MARQUES, Karyne Barreto Gonçalves; GRADVOHL, Morgana Pontes Brasil; MAIA, Maria Cristina Germano. Medo e ansiedadeprévios à consulta odontológica em crianças do município de Acaraú-CE. Revista Brasileira em Promoção da Saúde,Fortaleza, v. 23, n. 4, p. 358-367, 2010.SANTOS, Patrícia Aleixo; CAMPOS, Juliana Alvares Duarte Bonini; MARTINS, Carolina Scanavez. Avaliação do sentimento deansiedade frente ao atendimento odontológico. Revista UNIARA, v. 20, n. 4, p. 189-202, 2007.SHAHNAVAZ, Shervin. Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Children and Adolescents With Dental Anxiety: OpenTrial. Journal of Medical Internet Research, Estocolmo, v. 20, n. 1, 2018.SILVA, Lívia Fernandes Pires; FREIRE, Nathalia de Carvalho; SANTANA, Rodrigo Silva; MIASATO, José Massao. Técnicas demanejo comportamental não farmacológicas na Odontopediatria. Rev. Odontol. Univ. São Paulo, São Paulo, v. 28, n. 2, p. 135-142, 2016.PEREIRA, Victor Zaccara; BARRETO, Rosimar de Castro; PEREIRA, Giuseppe Scarano; CAVALCANTI, Hellen Rosi Barreto.Avaliação dos Níveis de Ansiedade em Pacientes Submetidos ao Tratamento Odontológico. Revista Brasileira de Ciências daSaúde, v. 17, n. 1, p. 55-64, 2013.
SÍNDROME DE HURLER: UMA REVISÃO DE LITERATURA
1LUCIANA LOPES GUTIERREZ BARTOLLI, 2SUELEN STEFANONI BRANDAO, 3DANIELA DE CASSIA FAGLIONI BCERANTO
1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: A síndrome de Hurler ou mucopolissacaridose tipo I (MPS I) é uma doença genética da família dasmucopolissacaridoses, na qual ocorre uma mutação no gene IDUA (4p16.3). Um defeito da enzima lisossômica α- LAidauronidase (IDUA) interrompe a degradação do sulfato heparano e dermatano e causa neuropatologia grave em crianças(DESMARIS, 2004). A falha na degradação de glucosaminoglicanas ou mucopolissacarídeos leva ao armazenamento dessassubstâncias não processadas, que resulta em alterações morfológicas e funcionais que afetam o indivíduo (TAMARIZ, 2001). ASíndrome de Hurler ocorre tanto na forma ligada ao sexo quanto na recessiva autossômica a mais comum das MPS I(OLIVEIRA JUNIOR, 2009).Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo, através de uma revisão da literatura, demonstrar a importância do diagnósticoprecoce afim de melhorar a qualidade de vida e atenuar os sinais da doença através de tratamentos paliativos, visto que por seruma doença genética não há a possibilidade de cura.Desenvolvimento: A síndrome de Hurler é a forma mais grave das MPS I, sendo também a mais frequente, possuindo umafrequência estimada de 1:50.000 para 1:132.000 (ALBANO et al, 2000). A criança nasce sem nenhuma manifestação da doença,por isso a dificuldade de um diagnóstico precoce e por ser uma doença genética recessiva autossômica, pode passar geraçõessem nenhum caso na família (DIETER et al, 2002). A expectativa de vida para os indivíduos portadores da síndrome na ausênciade tratamentos paliativos permanece em torno dos 10 anos, sendo a morte causada, geralmente, por insuficiênciacardiorrespiratória (CLARKE, 2016). As primeiras manifestações clínicas aparecem por volta dos 6 meses até os 24 meses,sendo mais comuns as características faciais como cabeça grande com proeminência dos ossos frontais, ponte nasal deprimidacom ponta nasal larga e narinas antevertidas, bochechas cheias e lábios grossos; turvação da córnea, macroglossia, perdaauditiva, hidrocefalia, cardiopatias valvulares, problemas respiratórios, hepatoesplenomegalia, hérnias inguinais e umbilicais,disostose múltipla, movimentos articulares limitados e comprometimento cognitivo. Em adição, o acúmulo de glicosaminoglicanasnas estruturas rígidas e ligamentos paraespinhais aumenta o potencial para a mortalidade resultando num maior risco para acoluna cervical (GIUGLIANI et al, 2010). O diagnóstico é feito através de exames laboratoriais e genéticos, mas deve-sesuspeitar da síndrome se tiver características faciais grosseiras, infecções respiratórias altas frequentes precoces incluindo otitemédia, hérnia inguinal ou umbilical, tórax abaulado e limitação da amplitude de movimentos articulares e opacificação da córnea.O diagnóstico laboratorial ocorre pela análise de glicosaminoglicanos urinários (GAG) podendo ser quantitativa (medição do ácidourônico total urinário) ou qualitativa (eletroforese de GAG para analisar os GAG específicos excretados) (CLARKE, 2016). Oacompanhamento da síndrome é multidisciplinar com o ortopedista, cardiologista, oftalmologista, otorrinolaringologista,geneticista, fonoaudiólogo, odontólogo e fisioterapeuta. O transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) é consideradopadrão de tratamento para crianças com MPS grave I. O resultado do TCTH é significativamente influenciado pela carga dadoença no momento do diagnóstico (e, portanto, com a idade do paciente) e se for bem-sucedido reduz a aspereza facial e ahepatoesplenomegalia, melhora a audição e mantém a função cardíaca normal. Não é um tratamento curativo e não melhora asmanifestações cardíacas e esqueléticas. A laronidase (Aldurazyme®) está atualmente licenciada nos EUA, Europa e Canadápara uso no tratamento de manifestações não relacionadas ao SNC da Síndrome de Hurler. O efeito potencial doAldurazyme® na progressão dos achados somáticos e o efeito que pode ter quando iniciado muito precocemente no tratamentode um indivíduo com doença atenuada continua por responder. Este último é particularmente importante, pois o diagnósticoprecoce é fundamental. As pessoas com MPS I, independentemente da gravidade da doença e do modo de tratamento, devemser ativamente acompanhadas por equipe multidisciplinar (CLARKE, 2016).Conclusão: A síndrome de Hurler é uma doença genética que confere a seus portadores pouca expectativa de vida, manifesta-se nos primeiros meses de vida e traz manifestações clínicas muito severas. Contudo, o diagnóstico precoce pode levar atratamentos paliativos que trazem conforto e melhoram muitos sintomas, podendo levar a uma sobrevida com melhor qualidadetanto para o paciente quanto para a família.
ReferênciasALBANO, Lilian M. J. Albano, et al. Clinical and laboratorial study of 19 cases of mucopolysaccharidoses. Revista Hospital dasClínicas. FAC. MED. S. PAULO. v.55. n.6. p.213-218, 2000, São Paulo, novembro 2000.CLARKE, L.A., et al. Mucopolissacaridose Tipo I. Seattle: GeneReviews® Internet, 2016. Acesso em: 19 agosto 2019.DESMARIS, N., et al. Prevention of Neuropathology in the Mouse Model of Hurler Syndrome. American NeurologicalAssociation, Paris, v. 56, p. 68-76, 2004.DIETER, T.; et al. Introdução às Mucopolissacaridoses. Porto Alegre, p. 20. 2002.GIUGLIANI, Roberto, et al. Mucopolysaccharidosis I, II, and VI: Brief review and guidelines for treatment. Genetics andMolecular Biology, Porto Alegre, v. 33, n. 4, p. 589-604, 2010. OLIVEIRA JÚNIOR, Wilson Maia, et al. Manifestações da Síndrome Hurler. ConScientiae Saúde [online], 2009. ISSN1677- 1028.Disponivel em: Acesso em: 20 agosto 2019.TAMARIS, I. R.; CORONEL, G. E. Apresentação de Caso Clínico de Mucopolissacaridose tipo Hurler e Revisão de Literatura.Revista Mexicana de Neurociência, v. 2 n.3. p. 141-160, 2001.
PERFIL DE COMPOSIÇÃO CORPORAL DE PACIENTES QUE PROCURAM ATENDIMENTO NUTRICIONAL NA CLÍNICA DENUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE PARANAENSE
1KAROLINY DA SILVA ABELHA, 2MARIA EDUARDA VELOZO DA SILVA, 3NATHALIA KAROLAYNE MORAIS DE FREITAS,4ANA PAULA CESTARI RODRIGUES HULSMEYER, 5MARIA ELENA MARTINS DIEGUES, 6LUCIANO SERAPHIM GASQUES
1Acadêmico bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Coordenadora do curso de Nutrição da UNIPAR - Umuarama4Coordenadora do curso de Medicina da UNIPAR5Docente do curso de Medicina da UNIPAR
Introdução: No contexto atual, a obesidade está sendo considerada uma epidemia mundial, presente tanto em paísesdesenvolvidos, como em desenvolvimento. É considerada como um dos maiores problemas de saúde da atualidade,principalmente devido às comorbidades associadas à mesma, como por exemplo: a hipertensão, o diabetes e as dislipidemias(PINHEIRO, 2004). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), a ocorrência da obesidade reflete a interação entrefatores ambientais e a predisposição genética. O aumento mundial da obesidade atribui-se principalmente às mudanças nosestilos de vida (aumento do consumo de alimentos ricos em gordura, redução da atividade física, etc.), que incidem sobre certasusceptibilidade ou predisposição genética para ser obeso. O fenótipo da obesidade, do qual se distinguem quatro tipos emfunção da distribuição anatômica da gordura corporal (global, andróide, ginóide e visceral), é influenciado pela base genética epor fatores ambientais (CORBALÁN, 1996). A educação ou aconselhamento nutricional tem por objetivo estimular a adoção decomportamentos desejáveis de nutrição e estilo de vida saudável. Porém, é importante considerar que para fazer mudanças nocomportamento alimentar, o indivíduo precisa descobrir novos significados para suas práticas alimentares e construir novossentidos para o ato de comer. Tudo isto só é possível quando o profissional de saúde constrói uma relação de ajuda com opaciente (BOOG, 2008; GARCIA, 2003).Objetivo: Avaliar o perfil dos pacientes da Clínica de Nutrição da UNIPAR, afim de identificar pacientes com valores maioresde IMC. Metodologia: Este estudo foi realizado na Clínica de Nutrição da UNIPAR- Universidade Paranaense, Unidade de Umuarama-PR, que fornece tratamento à comunidade que procura atendimento nutricional por demanda espontânea ou comencaminhamento médico de diferentes locais. As consultas foram realizadas por acadêmicos, sob a supervisão dos professores,com ênfase no balanceamento da alimentação e orientações sobre os melhores alimentos para consumo diário, de modo apromover a saúde ou auxiliar no tratamento de doenças. O levantamento foi realizado inicialmente por meio de estudo dosprontuários de pacientes atendidos na Clínica. O critério de inclusão dos pacientes para esta primeira coleta de dados foi teriniciado atendimento, ou seja, ter feito a primeira consulta na Clínica de Nutrição da Unipar, desde março de 2017, 2018 até julhode 2019 e ter mais que 18 anos de idade e estes dados foram tabulados e analisados conforme sexo e faixa de IMC.Resultados e discussão: O número total de pacientes atendidos na clínica no período foi de 114, sendo destes 83% mulheres e17% homens. Quanto ao IMC foi possível notar entre as mulheres que 39% estava na faixa da obesidade, 37% na faixa desobrepeso, 22% na faixa da normalidade e 2% na faixa de desnutrição enquanto nos homens foi possível perceber que 56%estava na faixa da obesidade, 24% na faixa de sobrepeso, 11% na faixa da normalidade e 7% na faixa de desnutrição.Analisando o gênero da população estudada, observou-se que houve tendência de procura pelo atendimento nutricional pelasmulheres, e pode-se considerar que os homens são geralmente resistentes na procura por serviços de saúde (LAURENTI etal., 2005). Em comparação com a Clínica de nutrição da PUC Minas, foram avaliados 99 pacientes, sendo 79,4 % mulheres e20% homens. Quanto à classificação do estado nutricional, segundo o IMC, observou-se que 13,13% dos indivíduos erameutróficos, 2,02% apresentavam baixo peso e 84,84% estavam com excesso de peso (sobrepeso + obesidade), entretanto, nãofoi possivel comparar descrição do perfil por sexo, pois não houve discriminação deste dado (OLIVEIRA et al., 2014). Estesresultados refletem o atual panorama nutricional da população brasileira, no qual o excesso de peso apresenta prevalênciaaumentada.Conclusão: Foi possível constatar que as medidas antropométricas utilizadas e os índices avaliados tiveram resultados similaresao de outras clínicas de Nutrição e os dados levantados poderão ser utilizados para seleção de possíveis sujeitos de pesquisapara uma predisposição genética à obesidade.
ReferênciasBOOG, Maria Cristina Faber. Atuação do nutricionista em saúde pública na promoção da alimentação saudável. Revista Ciência& Saúde, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p.33-42, Jun/Jul 2008.CABRERA, Marcos A.s.; JACOB FILHO, Wilson. Obesidade em idosos: prevalência, distribuição e associação com hábitos e co-morbidades. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, São Paulo , v. 45, n. 5, p.494-501, out. 2001. CORBALÁN, M. S. et al. β2-Adrenergic receptor mutation and abdominal obesity risk: Effect modification by gender and HDL-cholesterol. European Journal Of Nutrition, Estados Unidos, v. 41, n. 3, p.114-118, jun. 2002. GARCIA, Diez; WANDA, Rosa. Reflexos da globalização na cultura alimentar: considerações sobre as mudanças na alimentaçãourbana. Revista de Nutrição, Campinas, v. 16, n. 4, p.484-492, 2003. LAURENTI, Ruy; JORGE, Maria Helena Prado de Mello; GOTLIEB, Sabina Léa Davidson. Perfil epidemiológico da morbi-mortalidade masculina. Ciência & Saúde Coletiva, São Paulo, v. 10, n. 1, p.35-46, mar. 2005.ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Obesidade: Prevenindo e controlando a epidemia global. 1.ed. São Paulo, 2000.OLIVEIRA, Tatiana Resende Prado Rangel; PEREIRA, Crislei Gonçalves. Perfil de Pacientes que Procuram a Clínica de Nutriçãoda PUC MINAS e Satisfação quanto ao Atendimento. Percurso Acadêmico, Belo Horizonte, v. 4, n. 8, p.268-282, 18 dez. 2014. PINHEIRO, Anelise Rízzolo de Oliveira; FREITAS, Sérgio Fernando Torres de; CORSO, Arlete Catarina Tittoni. Uma abordagemepidemiológica da obesidade. Revista de Nutrição, Campinas, v. 17, n. 4, p.523-533, dez. 2004.
CISTO RADICULAR: RELATO DE CASO
1JULIA NICOLETTI LEITE, 2ISABELA MARTINS OLIVEIRA, 3BEATRIZ AYUMI SHIOTANI, 4ALINE FRANCIELE FERREIRAMARTINS GOULAR, 5THAÍSA PANGONI VEJAN, 6LUIZ FERNANDO TOMAZINHO
1Acadêmica do Curso de Odontologia1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Cirurgiã Dentista 4Cirurgiã Dentista 5Docente da UNIPAR
Introdução: Os cistos radiculares, também conhecidos como cistos periapicais, é o tipo de cisto mais comum entre as lesõesperiapicais, sendo caracterizado por uma cavidade patológica do tipo inflamatória, podendo estar presente em 60% dos casos decisto presentes em maxila e mandíbula (LINDHE & MORELIA, 1999). Essas lesões acometem igualmente pessoas de ambas asraças e os gêneros, mas preferencialmente adultos entre a terceira e a sexta década de vida (REGEZI & SCIUBBA, 2000). Suaorigem se dá a partir de um granuloma periapical relacionado ao epitélio do ápice de um dente que está associado à necrosepulpar, e que por ventura pode ser causado por uma inflamação. Quanto à sintomatologia, a maior parte dos cistos radicularesnão apresenta nenhuma, porém, pode haver dor ou sensibilidade se ocorrer exacerbação inflamatória aguda (NEVILLE, et al2009). Sendo então necessários exames complementares, como tomográficos e analises histopatológica, em casos cirúrgicos,que irão auxiliar no diagnóstico definitivo (ASSUNCAO, et al 2013). Radiograficamente, o cisto periapical apresenta-se comolesão radiolúcida de densidade homogênea, unilocular, bem delimitada, arredondada e circunscrita por uma linha radiopacaassociada ao ápice de um dente desvitalizado, com dimensão média de 1,5 cm (PATEL; KANAGASINGAM; MANNOCCI, 2010).Histologicamente, a lesão cística exibe uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso, revestido por epitélio escamoso estratificado,contendo em seu interior líquido e restos celulares. Sendo assim, existem duas formas de tratamento das lesões, desde otratamento de canal conservador até um procedimento cirúrgico invasivo, como a descompressão, marsupialização eenucleação, em casos confirmados em que se apresenta lesão cística (NEVILLE, et al 2009; PATEL;, KANAGASINGAM;MANNOCCI, 2010).Relato de Caso: Paciente E. S., 37 anos de idade, gênero feminino, leucoderma, foi encaminhado para retratamentoendodôntico do elemento 21. A paciente relatou sintomatologia dolorosa persistente, abscesso na mucosa por palatina,relacionado ao dente 21 e tumefação em fundo de vestíbulo. O exame radiográfico indicou imagem radiolúcida extensa na regiãoentre os dentes 21 e 22, envolvendo cortical vestibular e palatina. Como opção de tratamento foi proposto a realização demarsupialização seguido de enucleação. Para a primeira etapa cirúrgica foi realizado acesso em fundo de sulco na região doselementos 21 ao 23 e divulsão dos tecidos com acesso à lesão capsular onde foi realizada a remoção parcial por biópsiaincisional da cápsula da lesão e instalação de sonda de polipropileno para irrigação da lesão (cânula para descompressão)finalizando com as suturas. A paciente foi reencaminhada para tratamento de canal dos elementos 11, 12 e 23 e orientada erealizar a limpeza diária da loja cirúrgica. No segundo procedimento cirúrgico foi realizado a curetagem total da lesão cística.Após o tratamento endodôntico solicitado foram realizados a esplintagem dos dentes. A paciente mantém retornos periódicos eserá encaminhada para tratamento ortodôntico. Até o momento atual não há presença de recidiva da lesão e sintomatologia.Discussão: Devido à evolução clínica lenta e assintomática, o diagnóstico clínico do cisto radicular é tardio. Geralmente,apresenta-se como achado radiográfico (EL NAGGAR AK, 2017) e os dentes envolvidos não respondem aos testes pulparestérmicos e elétricos. Quando assumem dimensões extensas, podem causar expansão ou ruptura da cortical óssea, tumefação,mobilidade, deslocamento de dentes vizinhos e sintomatologia dolorosa (REGEZI & SCIUBBA, 2000; COHEN & HARGREAVES,2007). Diferentemente de outros tipos de cistos, o radicular contorna o ápice de um dente erupcionado e, frequentemente, resultade uma infecção da câmara pulpar e do canal radicular. Normalmente é encontrada na maxila, sobretudo na região anterior,seguida pela região maxilar posterior, região posterior da mandíbula e região anterior da mandíbula (REGEZI & SCIUBBA,2000). No diagnostico radiográfico, observa-se a perda da lâmina dura ao longo da raiz adjacente, e uma radiotransparênciaarredondada que circunda o ápice do dente desvitalizado (FREITAS; ROSA; SOUSA, 2000). No caso apresentado, a abordagemterapêutica inicialmente realizada foi à descompressão,pois a mesma pode preservar a estrutura óssea, tecidos moles e dentesassociados à lesão (LIZIO, et al 2012). Para a realização da descompressão cirúrgica é instalado um dreno onde se permite umacomunicação entre a cavidade oral e o interior da lesão cística, possibilitando irrigação intralesional (SANTOS, et al 2011). Essaetapa tem como objetivo reduzir a pressão intracística e favorecer a formação de um novo tecido ósseo além de estarem
associadas a menos complicações quando comparada a outras formas de tratamento (AUGUST; FAQUIN; TROULIS, 2003).Uma das desvantagens dessa forma de tratamento, é a necessidade de um segundo tratamento cirúrgico e de cooperação dopaciente para a constante irrigação da cavidade exposta e visitas habituais devem ser realizadas para acompanhamento daregressão da lesão. No presente caso, após a descompressão cística e tratamento endodôntico foi realizada técnica deenucleação da lesão.Conclusão: O tratamento endodôntico dos elementos associado à descompressão mostraram-se métodos eficazes na reduçãodo cisto radicular, facilitando a remoção da lesão cística por inteiro em um segundo tempo cirúrgico, favorecendo a reparaçãoóssea sem necessidade de enxerto.
ReferênciasArq Bras Odontol. In: Assuncao, C; Cardoso, A; Oliveira, JA; Moreira, DR; Soares, SO; Fonseca, LC. Aspectos imaginológicosde um cisto radicular atípico no interior do seio maxilar. 2013. p. 7-13.J Oral Maxillofac Surg. In: August, M; Faquin, WC; Troulis, MJ. Kaban LB De differentiation of odontogenic keratocystepithelium After Cyst Decompression. 2003, p. 678-83.Cohen, S; Hargreaves, K. Caminhos da polpa. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.El Naggar AK; Chan, JKC; Grandis, JR; Takata,,T; Slootweg, PJ. World Health Organization Classification of Tumors. 4. ed.França: IARC, 2017.Jornal Brasileiro de Endo/Perio. In: Felippe, W; Biz, MT; Felippe, MCS. Tratamento não cirúrgico de cisto periapicaldiagnosticado radiograficamente. 2000. p. 71-4.São Paulo: Artes Médicas. In: Freitas, A de; Rosa, JE; Sousa, IF. Radiologia odontológica. 2000. p. 386-91; 431-33; 468-9.Lindhe, J; Moreli, A. Clinical periodontology na implant dentistry. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 1999.Lindhe, J; Karring, T; Lang, NP. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia Oral. 3. ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 1999. p. 263-6.Lizio, G; Sterrantino, AF; Ragazzini, S; Marchetti, C. Volume reduction of cystic lesions after surgical descompression:acomputerised threedimensional computed tomographic evaluation. Clin. Oral Investig, 2012.Neville, BW; Damm, DD; Allen, CM; Bouquot JE. Patologia oral & maxilofacial. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogn, 2009.Dent Update. In: Patel, S; Kanagasingam, S; Mannocci, F. Cone beam computed tomography (CBCT) in endodontics.2010. p.37:373-9.Regezi, JA; Sciubba, JJ. Patologia oral: correlações clinicopatológicas. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. p.260-2.Rev Cir Traumatol Buco-Maxilo-Fac. In: Santos, MESM; Silva, ARBL; Palmeira, PTSS; Pereira, VF, Faria, DLB. Cisto dentígeroem crianças um caso peculiar tratado por descompressão. 2011. p. 21-8.
PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL E A REEDUCAÇÃO FRENTE AO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
1JACQUELINE FRANCIELLE F FREITAS S JUNGES, 2LUCYELENA AMARAL PICELLI
1Docente da UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: Quando pensamos em aprendizagem logo nos vem à mente atividades, exercícios repetitivos, livros, sala de aula.No entanto é preciso refletir nas dimensões e conteúdos que implicam na aprendizagem, ou seja, quais os processos quefavorecem tal propósito (LAPIERRE, 2010). Para Gómez e Terán (2009, p. 31), o processo de aprendizagem não é consideradouma ação passiva de repetição, nem o ensinamento uma simples transmissão de informações. Ao contrário, hoje falamos daaprendizagem interativa, da dimensionalidade do saber . Desta forma é preciso considerar o sujeito que aprende em suatotalidade, assim como o ambiente e os estímulos que recebe para aprender.Objetivo: Descrever a influência da Psicomotricidade Relacional e a reeducação frente ao processo de arendizagem. Desenvolvimento: Considerando que nosso corpo funciona harmoniosamente interligado e esta mecânica interfere não só nodesenvolvimento biológico como também nos processos cognitivos, assinalamos a importância da Psicomotricidade Relacionalpara o processo de aprendizagem, como pontua LAPIERRE (2010, p 27) se a criança tem deficiências que a impedem de chegarao cognitivo, é porque o ensino que recebeu não respeitou as etapas de seu desenvolvimento psicomotor. Com este olharpodemos inferir sobre a importância da metodologia da Psicomotricidade Relacional ao que concerne, além da aprendizagem odesenvolvimento biopsicossocial do sujeito. Sobre a aprendizagem e os fatores que sejam capazes de considerar na integraçãodeste processo, Pain (2008, p.28) descreve que a origem de toda aprendizagem está nos esquemas de ação desdobradosmediante o corpo . O autor complementa que é fundamental a integridade deste corpo e funcionamento, pois o mesmo interferena relação com o entorno e mediam os meios que garantem a coordenação no SNC, exigindo assim a adequação do instrumentoque demanda a aprendizagem vislumbrando a plasticidade cerebral e a harmonia entre corpo e mente. Refletindo sobre osprocessos mediadores e a influência da Psicomotricidade Relacional, podemos citar Lapierre e Aucouturier (2012) que apontam aprática pedagógica, como imprescindíveis, pois contempla a forma como o sujeito compreende o processo de aprender, ou seja,é preciso desenvolver este olhar humanizado quanto ao aprender, a Psicomotricidade Relacional exerce este olhar em suametodologia, permitindo que os conteúdos internos inconscientes e simbólicos sejam compreendidos e nutridos em umaperspectiva de novas experiências. Batista e Vieira (2013) explanam que a Psicomotricidade Relacional fala com o corpo eatravés do corpo, envolvendo-se em um jogo de gestos, mímicas e atitudes. Ela possibilita o brincar livre e desculpabilizado,onde a criança pode vivenciar seus fantasmas emocionais registrados em seu corpo e, em suas relações, possibilitando umdiálogo entre o inconsciente/mente/emoção e o corpo físico. A criança precisa liberar suas fantasias, vivenciar o prazer durante obrincar. A liberdade que a Psicomotricidade Relacional contempla, favorece a vivência de conteúdos diversos, a exemplo aagressividade. Desta forma através da comunicação corporal, a criança pode experienciar situações que não são comuns em seuambiente familiar, ambiente de aprendizagem como a escola ou nas relações de cunho social. A prática da PsicomotricidadeRelacional permite utilizar materiais clássicos como a bola, o tecido, a corda, o arco, caixas de papelão e espumados,materias que possibilitem o brincar livre desenhado pela criatividade do sujeito. Através desses recursos, a liberdade dá vazão àfantasia, a expressão de suas pulsões no nível imaginário e simbólico além de prazer a criança pode ainda reestruturar suaexperiência com o aprendizado. Lapierre e Aucouturier (2012, p. 25) afirmam sobre as atividades motoras espontâneas, que aocolocar à disposição das crianças e dos adultos diferentes tipos de objetos, e observar o modo como ele os utilizam, oinvestimento progressivo que realizam com tais objetos, isto é uma fonte importante de ensinamento . É preciso que o medidorda aprendizagem compreenda não a fantasia que a criança está vivenciando, mas como ela expressa esta fantasia, quaisconteúdos estão nesta vivência e a partir daí procurar estabelecer uma relação entre objeto, fantasia/desejo e criança. Conduzira mesma á uma redescoberta de suas emoções e de seu corpo, pois a Psicomotricidade Relacional considera a importância daafetividade no desenvolvimento, bem como o papel dos mediadores entre a criança e o mundo.Conclusão: A Psicomotricidade Relacional proporciona através de sua metodologia, possibilidades de um reaprender a partir docorpo, onde não só o funcional, mas o fusional sob esta ótica interfere no processo de conhecimento e reconhecimento corporal,contribuindo assim na reorganização do sujeito enquanto ser em constante desenvolvimento, vislumbrando um diálogo do corpoe a efetividade, potencializando assim os aspectos biopsicossocial.
ReferênciasGÓMEZ, Ana Maria Salgado. TERÁN, Nora Espinosa. Dificuldades de aprendizagem: Detecção e estratégias de ajuda. SãoPaulo, grupo Cultural, 2009.
LAPIERRE, Andre e AUCOUTURIER Bernardo. A simbologia do movimento: psicomotricidade e educação. Fortaleza, CE:RDS Editora, 2012.PAÍN, Sara. Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 1985.BATISTA, Maria Isabel Bellaguarda e VIEIRA, José Leopoldo. Textos e contextos em psicomotricidade relacional. Volume 1.
Fortaleza, CE: RDS Editora, 2013.LAPIERRE, Andre. Da psicomotricidade relacional a análise da relação I ed. Curitiba: Ed. UFPR, 2010.
PRÓTESE OBTURADORA BUCOMAXILOFACIAL: UMA ALTERNATIVA REABILITADORA AO PACIENTE ONCOLÓGICO
1Valeria Campagnolo, 2ARACELLYS MENINO MELO, 3NATHALIA VOLPATTO FERREIRA, 4MARINA PEREIRA SILVA,5MATEUS GALVAO BAZILIO, 6JANES FRANCIO PISSAIA
1Cirurgiã Dentista/UNIPAR1Acadêmica de Odontologia/UNIPAR2Acadêmica de Odontologia/UNIPAR3Cirurgiã Dentista/UTP4Acadêmico de Odontologia/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: As neoplasias de cabeça e pescoço têm apresentando um aumento considerável em sua prevalência e a maioriados diagnósticos são realizado já em fase avançada da doença, o que implica em um tratamento extremamente mutiladorresultando frequentemente em deformidades bucomaxilofaciais. A cirurgia incorre em necessidade de reconstrução da áreaatingida, no sentido funcional, fonético e emocional. A reabilitação protética é uma das alternativas de tratamento para solucionaresses defeitos palatinos.Relato de caso: Paciente R.H., 35 anos, sexo masculino, encaminhado pelo CEONC (Hospital do câncer de Francisco Beltrão),portador de comunicação bucoantral avinda de ressecção de carcinoma espinocelular. Foi planejada a reabilitação através daconfecção de uma prótese bucossinusal. Inicialmente foi realizada uma moldagem para obtenção do modelo de estudo eplanejamento da prótese parcial removível, que realizaria o vedamento da comunicação. Os nichos foram confeccionadosutilizando brocas diamantadas. Subsequentemente foi realizada a moldagem de trabalho com moldeira de estoque,individualizada com cera utilidade e alginato. Previamente a moldagem a comunicação foi preenchida com gaze vaselinada paraimpedir que o alginato ficasse retido ou rasgasse internamente a comunicação, através dessa moldagem a estrutura metálica foiconfeccionada. Na sessão seguinte foi realizada prova, registro intermaxilar e seleção da cor dos dentes. Após a montagem dosdentes e enceramento uma nova sessão clínica foi necessária para verificação da oclusão e do corredor bucal. Seguidamente aacrilização foi feita a instalação da PPR, checagem da eficiência da obturação da comunicação por meio da ingestão de água eobservação de refluxo, o qual não ocorreu. Orientações referentes higiene e cuidados com prótese foram realizadas, agendadoretorno com 24 horas e 7 dias para verificação da adaptação. Após um ano do tratamento realizado a prótese estava bemadaptada, mantendo o vedamento da comunicação e os tecidos adjacentes saudáveis.Discussão: A terapêutica cirúrgica opta por ressecção da lesão com área de segurança que pode resultar uma maxilectomiatotal ou parcial dependendo do tipo da lesão, localização, extensão da área atingida e ainda pode ser indicado tratamentocomplementar com quimioterapia e/ou radioterapia (PAIVA et al., 2015). A ressecção cirúrgica de neoplasias resulta em gravessequelas nas estruturas anatômicas envolvidas na fisiologia da cavidade bucal com consequentes distúrbios funcionais, estéticose psicológicos (KEYF et al., 2001). O paciente reabilitado no presente trabalho foi sido submetido à maxilectomia parcial comconsequente comunicação bucosinusal e enfrentou problemas, incluindo refluxo de líquido e alimentos através da cavidadenasal, dificuldade para mastigar, deglutir, falar, redução da qualidade de vida e convívio social. O obturador palatino pode serconsiderado a melhor opção em algumas situações como, por exemplo: casos onde há contraindicação da realização da cirurgiadevido a distúrbios sistêmicos, anatômicos, funcionais, sociais, financeiros, além de fatores como idade avançada do paciente,extensão do defeito e história médica, como nos casos de pacientes submetidos à radioterapia, ou então quando o paciente nãoestá disposto a passar pela cirurgia (PINTO et al., 2003; SHIBAYAMA et al., 2016). No presente caso, o paciente foi submetidoa cirurgia e radioterapia, o qual contra-indica a realização de procedimento cirúrgico, visto a chance de desenvolvimento deosteorradionecrose. A reabilitação protética permite ao paciente a melhora da fala, da deglutição e, consequentemente, daalimentação, proporcionando o retorno às atividades profissionais e sociais e uma melhor qualidade de vida (MIRACCA, et al,2010). Neste caso, o paciente relatou melhora em todos os aspectos citados por MIRACCA et al.Conclusão: A reabilitação através de prótese obteve resultados satisfatórios na melhora das funções estomatognáticas,obliteração de fenda palatina e ressonância da voz.
ReferênciasAGUIAR, Lisiane et al. Obturador palatino: confecção de uma prótese não convencional-relato de caso. RFO UPF, v. 18, n. 1, p.125-129, 2013.DOMINGUES, Juliana Machado et al. Palatal obturator prosthesis: case series. RGO-Revista Gaúcha de Odontologia, v. 64, n.
4, p. 477-483, 2016.DUARTE, José Roberto Souza; RODE, Sigmar de Mello; RODE, Rolf. Confecçäo de porçäo intracavitária oca em prótese damaxila. Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent, v. 51, n. 2, p. 177-81, 1997.KEYF, Filiz. Obturator prostheses for hemimaxillectomy patients. Journal of oral rehabilitation, v. 28, n. 9, p. 821-829, 2001.MIRACCA, Renato Alberto Aldo; SOBRINHO, Jozias de Andrade; TANAKA, Eliana Maria Ghetti. Magnetos na Retenção dePrótese Conjugada Óculopalpebral e Obturador Palatino. Revista Íbero-americana de Prótese Clínica & Laboratical, v. 6, n.32, 2010.PAIVA, Camilla Rodrigues; MAYHÉ, Renato. Abordagem odontológica com obturador palatino imediato em um paciente portadorde tumor neuroectodérmico melanótico da infância: relato de caso. Revista Brasileira de Odontologia, v. 72, n. 1-2, p. 04-09,2015.PINTO, João Henrique Nogueira; PEGORARO-KROOK, Maria Inês. Evaluation of palatal prosthesis for the treatment ofvelopharyngeal dysfunction. Journal of Applied Oral Science, v. 11, n. 3, p. 192-197, 2003.SHIBAYAMA, Ricardo et al. Reabilitação protética de paciente maxilectomizados: relato de caso. Rev. Odontol. Ara; atuba(Online), p. 9-14, 2016.
CIRURGIA PARENDODÔNTICA: RELATO DE CASO CLÍNICO
1MATEUS GALVAO BAZILIO, 2DUANI CRISTINA BAZZO, 3SABRINA PAIXAO DOS SANTOS RODRIGUES, 4VALERIACAMPAGNOLO, 5VERUSKA DE JOAO MALHEIROS PFAU, 6EDUARDO AUGUSTO PFAU
1Acadêmico do curso de Odontologia da UNIPAR.1Acadêmica do curso de Odontologia da UNIPAR.2Acadêmica do PIC/UNIPAR.3Cirurgia Dentista/UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A cirurgia parendodôntica é um recurso terapêutico usado no tratamento das patologias persistentes que afetam ostecidos periapicais e que não são solucionadas pelos tratamentos endodônticos convencionais (FAGUNDES et al, 2011). Alémde oferecer a possibilidade de remover o tecido inflamado periapical, possibilita melhorar a limpeza, a modelagem e o selamentoda porção apical do canal radicular (FAGUNDES et al, 2011). Entre as indicações, segundo Bramante e Berbert (2007),destacam-se: estabelecimento de drenagem, alívio da dor, complicações anatômicas, problemas iatrogênicos, traumatismos,necessidade de biópsia; defeitos endo-periodontais; problemas durante o tratamento, falhas em tratamento previamente realizadoou com presença ou não de núcleo. Sabe-se que diante de um fracasso endodôntico, a primeira opção deve ser sempre quepossível o retratamento, mas quando a tentativa de conter os microrganismos na porção apical e periapical não for possível ousolucionável com o acesso coronário, a cirurgia parendodôntica desponta como uma boa alternativa e forma de complemento daterapia endodôntica (GOMES et al, 2003). O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso clínico, onde a cirurgiaparendodôntica foi realizada como forma de tratamento complementar ao tratamento endodôntico que não apresentavaresolutividade pela técnica convencional.Relato de Caso: Paciente A. C. gênero feminino, 38 anos, compareceu a clínica odontológica da Unipar para tratamentoendodôntico nos elementos 21 e 22, após 4 sessões de tratamento endodôntico convencional foi verificado que a lesão nãoregredia e ainda havia drenagem de exsudato cítrico via canal. A opção pela cirurgia parendodôntica foi apresentada a paciente efoi usada como forma de tratamento complementar ao tratamento endodôntico convencional. O procedimento cirúrgico consistiuem rebatimento de retalho total para acesso a região periapical e remoção da lesão do ápice dos dentes 21 e 22 com auxílio decureta Lucas. A apicectomia foi executada com ponta diamantada e após a limpeza completa a cavidade foi preenchida porbiomaterial composto por beta fosfato tricálcico e em seguida o retalho foi reposicionado e suturado com fio nylon 5.0. A pacienteretornou para remoção de sutura e os acompanhamentos clínicos e radiográficos foram realizados até 12 meses após a cirurgia. Discussão: Diversas são as indicações para a cirurgia parendodôntica, cabendo ao profissional eleger aquela que melhor seaplique ao caso em questão. Dentre as modalidades operatórias mais utilizadas como a curetagem com alisamento ou plastiaapical, apicectomia, apicectomia com ou sem obturação retrógrada, apicectomia com instrumentação e retrobturação e obturaçãodo canal radicular simultânea ao ato cirúrgico (FAGUNDES et al, 2011). A cirurgia parendodôntica apresenta um índice desucesso acima de 90% (ODA et al, 2016). Esse alto índice pode estar relacionado às novas técnicas cirúrgicas, aos novosinstrumentos cirúrgicos (LEONARDI et al, 2006), e à melhora na qualidade dos materiais retrobturadores (ADAMO et al, 1999).Atécnica utilizada pode variar de acordo com as características anatômicas e fatores etiológicos locais (ALMEIDA-FILHO, 2011). Aapicectomia deve se dar em torno de 3 mm apicais. Segundo Kim et al (2008) as ressecções radiculares realizadas a 1 mm doápice radicular reduzem 52% das ramificações e 40% dos canais laterais. A 2 mm ocorre redução desses eventos em 78 e 86%,respectivamente. Quando a apicectomia é efetuada a 3 mm do ápice radicular, observa-se uma diminuição dos canais laterais de93% e das ramificações apicais em torno de 98% (LEONARDI et al, 2006). Para se avaliar o sucesso de alguma intervençãoparendodôntica, há necessidade de um controle radiográfico pós-operatório de três em três meses durante o primeiro ano edepois anualmente (BERBERT et al,1974). O acompanhamento radiográfico pós-operatório apresenta cicatrização incerta apósum ano, enquanto que a completa cicatrização é alcançada em quatro anos. Conclusão: Da mesma forma, mostra-se um procedimento eficaz e com um elevado índice de sucesso, quando bem realizada eindicada, demonstrando ser um complemento aos tratamentos endodônticos convencionais que apresentaram falhas no processode cura e que não obtiveram resultados satisfatórios com retratamentos.
ReferênciasALMEIDA-FILHO, Joel; ALMEIDA, Gustavo Moreira de; MARQUES, Eduardo Fernandes; BRAMANTE, Clóvis Monteiro. Cirurgia
Paraendodôntica: relato de caso. Oral Sci, Ilheus, v. 3, n. 1, p. 21-25, jan./dez. 2011.BRAMANTE, Clóvis Monteiro; BERBERT, Alceu. Cirurgia Parendodôntica. Ed. Santos: São Paulo, 2007.BERBERT, Alceu; BRAMANTE, Clóvis Monteiro; PASSANEZI, Euloir; BARROSO, José Simões. Cirurgias parendodônticas. In:HIZATUGU, Ruy; VALDRIGHI, Soukup. Endodontia: considerações biológicas e aplicação clínica. [S.l.:s.n.], 1974. p. 252-302.FAGUNDES, Rafael Bainy et al. Cirurgia parendodôntica: uma opção para resoluçãeo de perfuração radicular - apresentação decaso clínico. Rev Odontol UNESP, Araraquara, v. 40, n. 5, p. 272-277, set./out. 2011.FERRAZ, Maria Ângela et al. Cirurgia parendodôntica: revisão da literatura. Rev Interdisciplinar NOVAFAPI, Teresina, v. 4, n. 4,p. 55-60, fev./jul. 2011. GOMES, Ana Cláudia; DOURADO, Adriane; DIAS, Emanuel; ALBUQUERQUE, Diana. CONDUTA TERAPÊUTICA EM DENTECOM LESÃO REFRATÁRIA AO TRATAMENTO ENDODÔNTICO CONVENCIONAL E CIRÚRGICO CASO CLÍNICO. Rev deCTBMF, Pernambuco, v. 3, n. 1, p. 23-29, jan./mar. 2003.KIM et al. Prospective clinical study evaluating endodontic microsurgery outcomes for cases with lesions of endodontic origincompared with cases with lesions of combined periodontal-endodontic origin. J Endod, [s.I], v. 34, n. 5, p. 546-51, mai./ago. 2008.LEONARDI, Piotto Denise et al. Cirurgia parendodôntica: Avaliação de diferentes técnicas para a realização da apicectomia.RSBO, Curitiba, v. 3, n. 2, p.16-19, fev./out. 2006.OLIVEIRA, Christiano; LEMOS, Stanley. Cirurgia Paraendodôntica: Como realizá-la com embasamento científico - Técnicas eMateriais. IES, Belo Horizonte, 2009.ODA, Denise Ferracidi et al. Reparo após cirurgia parendodôntica e preenchimento da cavidade cirúrgica com sulfato de cálcio dedentes indicados à exodontia relato de caso. Full dent. sci, São José dos Pinhais, v. 8, n. 29, p.128-132, jul./set. 2016.
LITERACIA DIGITAL EM SAÚDE: UMA ABORDAGEM CIENCIOMÉTRICA
1JENIFER FERNANDA SANCHES AMADOR, 2BIANCA MARIA DE ALMEIDA MALACRIDA, 3MARCELO PICININ BERNUCI,4MIRIAN UEDA YAMAGUCHI, 5LEONARDO PESTILLO DE OLIVEIRA
1Mestranda em Promoção da Saúde na Universidade de Maringá Unicesumar, Maringá, Paraná, Brasil.1Acadêmica do curso de Medicina na Universidade de Maringá-Unicesumar, Maringá, Paraná, Brasil.2Docente do Programa de Pós-graduação em Promoção da Saúde UniCesumar, Maringá, Paraná, Brasil.3Docente do Programa de Pós-graduação em Promoção da Saúde UniCesumar, Maringá, Paraná, Brasil.4Docente do Programa de Pós-graduação em Promoção da Saúde UniCesumar, Maringá, Paraná, Brasil.
Introdução: A internet é uma das maiores ferramentas utilizadas em todo o mundo desde sua popularização nos anos 90, essatecnologia de informação e comunicação (TIC) ganhou espaço rapidamente na sociedade moderna e se tornou uma grandealiada na busca de conhecimento. A partir disto, surge a preocupação sobre a qualidade das informações de saúde obtidas pormeio digital (MORETTI; OLIVEIRA; SILVA; 2012). A literacia digital em saúde é definida como a habilidade de buscarinformações, encontrar, compreender e utilizar para a solução de um problema em saúde através das TIC (VAART;DROSSAERT, 2017).Objetivo: Realizar uma cienciometria para identificar o desenvolvimento do conhecimento científico ao longo dos anos sobreliteracia digital em saúde.Metodologia: Para a análise cienciométrica foram utilizados os descritores digital and health literacy na base de dadosScience Direct, acessado no site https://www.sciencedirect.com/. A pesquisa foi realizada no mês de agosto de 2019. Após aseleção dos trabalhos publicados, foi realizada triagem por meio da leitura dos títulos e resumos, excluindo todos os que nãoestavam relacionados com o tema literacia digital em saúde. Posteriormente à seleção dos artigos, os mesmos foramorganizados pelo ano de publicação, periódico, fator de impacto, país da publicação, autores, país de origem dos autores, tema,objetivo do estudo e metodologia do estudo. Os dados foram tabulados e organizados na planilha do Excel 2010.Resultados: Foram identificados 46 trabalhos sobre literacia digital em saúde, que foram categorizados pelo ano da publicação,país e temática. Os temas identificados foram: educação da saúde, doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), HIV, câncer,dieta, dependência química e diferenças raciais/éticas. O primeiro estudo data do ano de 2002 e até o ano de 2016 forampublicados em média 1,4 artigos por ano sobre esta temática. A partir do ano de 2017 houve aumento significativo com 10,4artigos por ano. O país com maior número de publicações foi os EUA com 21 estudos. Em relação ao tema central dos estudos
educação em saúde se destacou com 28 publicações e DCNT com 8 artigos.Discussão: A literacia digital em saúde foi abordado pela primeira vez no ano de 1995, em um estudo realizado por Lanhan(1995), publicado na revista Scientific Amenrican, após um período de sete anos identificou-se o estudo de Kalichman (2002)indexado na base de dados da Science Direct. A utilização da internet que ocorreu durante os anos 90 e o crescente avanço dasTICs corroborou para que pesquisadores investigassem sobre a temática da literacia em saúde por meio digital. Os estudossobre esta temática se concentraram nos continentes americano e europeu devido a condição socioeconômica favorável ao usodas tecnologias disponíveis na atualidade. Neste cenário, a educação em saúde foi o tema mais abordado pois representa umaimportante ferramenta para promoção da saúde das populações (WALTKINS; XIE, 2018).Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo permitiram identificar a importância da literacia digital em saúde na atualidademundial, entretanto nenhum estudo foi identificado no Brasil. Os artigos selecionados nesta pesquisa serão utilizados pararealização de uma revisão sistemática de literatura para compreensão da relação da literacia digital em saúde e sua aplicação napromoção da saúde no Brasil e no mundo. A revisão será desenvolvida utilizando-se a metodologia do protocolo PRISMA.
ReferênciasKALICHMAN, S. C.; et al. Internet access and Internet use for health information among people living with HIV AIDS. ScientificAmerican. v. 46, n. 2, p. 109-116, Fev., 2002. Disponível em:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399101001343?via%3Dihub. Acesso em 14 ago. 2019.LANHAM, D. A. Digital Literacy: Multimedia will require equal facility in word, image and sound. Scientific American. v. 273, n. 3,p. 198-199, Set., 1995. Disponível em: https://pt.scribd.com/document/14717077/Lanham-Digital-Literacy. Acesso em: 06 ago.2019.MORETTI, F. A.; OLIVEIRA, V. E.; SILVA, E. M. K. Acesso a informações de saúde na internet: uma questão de saúdepública?. Revista da Associação Médica Brasileira. v. 58, n. 6, p. 650-658, Jul., 2012. Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/ramb/v58n6/v58n6a08.pdf. Acesso em: 05 ago. 2019.VAART, R.; DROSSAERT, C. Development of the digital health literacy instrument: measuring a broad spectrum of health 1.0 andhealth 2.0 skills. Journal Of Medical Internet Research. v. 19, n. 1, p. 1-13, Jan., 2017. Disponível em:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28119275. Acesso em: 05 ago. 2019.WATKINS, I.; XIE, B. Health literacy. In: BORNSTEIN M. H. The SAGE Encyclopedia of Lifespan Human Development.Thousand Oaks: SAGE Publications. 2018. p. 1037-1038.
PERFIL LIPÍDICO E DE RISCO CARDIOVASCULAR DE PACIENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA MODELO DE ATENÇÃOAS CONDIÇÕES CRÔNICAS
1CIRLEI PICCOLI COSMANN, 2ELIZANGELA MARTINS DE OLIVEIRA, 3JACQUELINE VERGUTZ MENETRIER, 4FRANCIELEDO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Discente do curso de Enfermagem, PIC, UNIPAR Unidade Universitária de Francisco Beltrão - PR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Docente da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: As mudanças dos padrões comportamentais e alimentares bem como o sedentarismo, são apontadas, como osprincipais fatores desencadeantes das alterações do perfil lipídico e de risco cardiovascular na população mundial, consideradoum grave problema de saúde pública, no qual o perfil lipídico alterado infere diretamente na morbimortalidade e invalidez,traduzindo-se como um novo marco na mudança do perfil das doenças modernas (PARANÁ, 2018).Objetivo: Identificar o perfil lipídico de pacientes crônicos, atendidos por um programa Modelo de Atenção às CondiçõesCrônicas (MACC) de uma Regional de Saúde do Paraná.Materiais e métodos: Trata-se de uma pesquisa descritiva, de campo, transversal, com abordagem quantitativa, desenvolvidaem uma unidade Modelo de Atenção às Condições Crônicas, de abrangência de uma Regional de Saúde do Paraná. A amostrado estudo foi constituída por pacientes renais crônicos, hipertensos e/ou diabéticos, em acompanhamento pelo programasupracitado, durante os meses de junho e julho de 2019. Foram avaliadas as variáveis: sexo, idade, colesterol total, lipoproteínade alta densidade (HDL), lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e hipertensão. A análise descritiva com média e desvio padrãofoi realizada pelo software SPSS 25.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos daUniversidade Paranaense, sob o protocolo nº 13752519.4.0000.0109.Resultados: Foram avaliados 262 pacientes, destes 154 do sexo feminino sendo 58,8% da amostra e 108 do sexo masculino(41,2%), com idade média de 63,1 ± 13,9 anos. Ao avaliar o perfil lipídico, os níveis de colesterol total apresentaram uma médiade 187,6 ± 54,1 mg/dl, no LDL foram observados médias de 108,2 ± 37,2 mg/dl e HDL 47,0 ± 18,2 mg/dl. A hipertensão arterial sistemica (HAS) foi observada em 237 (90,1%) dos casos. Quando associadas às variáveis, sexo e HAS são possíveis observar,o sexo feminino mais prevalente, entretanto nas estimativas de risco, o sexo masculino apresentou uma vez mais risco para HASem relação ao sexo oposto.Discussão: As doenças crônicas, especialmente a hipertensão, são mais prevalentes em mulheres, em decorrência dadiminuição da proteção cardiovascular intrínseca, pela decadência dos níveis séricos do hormônio estrogênio, este consideradocardioprotetor natural no sexo feminino, elevando a ocorrência de HAS a partir do climatério, resultado semelhante a este estudo,também encontrado em Dias et al. (2019), com 60,42% dos casos, sendo que na associação de sexo e fatores de risco para HASo sexo masculino, obteve uma vez mais risco em relação ao feminino, justificando a proteção cardiovascular na idade reprodutivafeminina. Em relação a faixa etária a média encontrada variou entre 60 a 64 anos, justificada pelo perfil nacional deenvelhecimento, assim como a carga de fatores de risco e comorbidades que favorecem o desencadear da hipertensão no logono início da terceira idade (DIAS et al., 2019). Ao observar os índices de colesterol total, Catharina et al. (2018), obteve média de179mg/dl, o que corrobora com os resultados desta pesquisa, nesse aspecto, vale considerar que as alterações, estãoassociadas majoritariamente as condições de cronicidade das doenças cardiometabólicas, e declive usual da metabolizaçãolipídica na senilidade. Quanto as alterações dos níveis das lipoproteínas HDL e LDL são notáveis na população crônificada,sendo que tais perfis acarretam mudanças da estrutura vascular e vaso pressórico assim inferem em elevado riscocardiovascular e síndrome metabólica, evidenciado também em Yamamoto, Araujo e Lima (2017), com resultados semelhantesaos obtidos no estudo, onde 64,07% dos casos, os níveis de HDL foram menores que 50mg/dl, sendo dosagem mínima parapacientes de alto risco cardiovascular, diferentemente de Catharina et al. (2018), em que a amostra composta de 239 indivíduos,obteve resultados de LDL em torno ne 88mg/dl, e HDL 43mg/dl, resultado inferior aos evidenciados na pesquisa, o que pode serponderado pelas diferenças da população estudada, assim como os fatores de risco associados. Neste sentido, a estratificaçãode risco precoce, associado ao monitoramento e rastreamento epidemiológico com ênfase no atendimento multidisciplinar,associado a políticas publicas com premissas estratégicas de prevenção e promoção, mostram-se fundamentais no bomprognóstico das doenças crônicas (PARANÁ, 2018).Conclusão: Contudo, observam-se alterações do perfil lipídico dos pacientes crônicos, bem como risco elevado para doençascardiovasculares traduzindo-se em desfecho desfavorável no processo saúde e doença, com piora no prognóstico e aumento da
morbimortalidade. Dessa forma, se faz necessário atuar na melhoria das politicas assistenciais e preventivas voltadas a estapopulação.
ReferênciasDIAS, Jessica Rafaela Paixão et al. Análise do perfil clínico-epidemiológico dos idosos portadores de hipertensão arterialsistêmica nas microáreas 4, 6 e 7 da USF tenoné. Braz. J. Hea. Rev., Curitiba, v. 2, n. 1, p. 2- 41, jan./ fev. 2019.PARANÁ, Secretaria do Estado da Saúde. Superintendência de atenção à saúde. Linha guia de hipertensão arterial / SAS, 2.ed. Curitiba: SESA, 2018.CATHARINA, Arthur Santa et al. Metabolic Syndrome-Related Features in Controlled and Resistant Hypertensive Subjects. ArqBras Cardiol, Rio de Janeiro, v. 110, n. 6, p. 514- 521, set. 2018.YAMAMOTO, Heloisa Harumi; ARAUJO, Jacqueline Montalvão; LIMA, Sônia Maria Rolim Rosa. Síndrome metabólica após amenopausa: prevalência da hipertensão arterial em mulheres com sobrepeso e obesidade. Arq Med Hosp Fac Cienc Med SantaCasa São Paulo, São Paulo, v. 62, n. 1, p. 1- 6, abr. 2017.
A INGESTÃO DE ALIMENTOS RICOS EM PIGMENTOS DURANTE O TRATAMENTO CLAREADOR, COMPROMETE ORESULTADO ESTÉTICO FINAL?
1CAMILA SESTITO FRANCISCATO, 2BRENDA FERRARI SEABRA, 3BEATRIZ AYUMI SHIOTANI, 4THALIA HAMURA,5KLISSIA ROMERO FELIZARDO
1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O clareamento dental pode ser realizado através do tratamento caseiro supervisionado ou em consultório, e os géisutilizados podem ser a base de peróxido de carbamida (PC) ou peróxido de hidrogênio (PH). No clareamento caseirosupervisionado, o paciente é orientado a aplicar uma pequena quantidade de gel diretamente em uma moldeira nos locaisreferentes aos dentes a serem clareados, e posicioná-la na boca por um período de 30 min a 1h e 30 min por dia, em baixasconcentrações de PH, ou 2h ao dia com PC a 10% (BARATIERI, et al., 2013). As vantagens dessa técnica são o menor custopara o paciente, menor recidiva de cor a longo prazo, gel clareador pouco agressivo aos tecidos dentais, além de exigir poucas erápidas consultas (MARSON et al., 2006). No clareamento de consultório, são utilizados géis tanto de PC ou de PH em altasconcentrações (30 a 37%). Para a execução da técnica de consultório, utiliza-se barreira gengival, e o gel é aplicado sobre aestrutura dental por um período de 45 min, que pode ser em sessão única ou fracionada em 3 aplicações de 15 min na mesmasessão. Apresenta como principal vantagem, o controle do profissional sobre a técnica e rapidez de resultados (MARTINELLI,2004). Por outro lado, um dos grandes inconvenientes tanto do tratamento caseiro supervisionado, quanto do clareamento deconsultório são as restrições alimentares (TÉO et al., 2010). Sabe-se que o alto consumo de café, chá, chimarrão, algunsrefrigerantes, alimentos com corante e o fumo, geralmente resultam no manchamento superficial dos dentes (BARATIERI et al.,2013).Objetivo: Este trabalho tem como objetivo mostrar através de levantamento bibliográfico nas bases de dados MedLine, Lilacs,MedLine via PubMed e BVS, a influência da dieta com pigmentos durante o clareamento caseiro supervisionado e de consultóriono resultado da cor. Para isso, foram utilizadas como palavras-chave dieta , corantes e clareadores bem como aspalavras correspondentes em inglês, dyes , diet e bleaching .Desenvolvimento: Os agentes clareadores alteram, mesmo que temporariamente, a microdureza, a rugosidade superficial e amorfologia da superfície do esmalte, aumentando a porosidade do dente. (MARKOVIC et al., 2007). Por isso, muitos profissionaisrecomendam que os pacientes evitem a ingestão de alimentos ricos em pigmentos durante o tratamento clareador, para que nãohaja um comprometimento dos resultados estéticos (MATIS et al., 2015). A interferência da ingestão de bebidas e alimentos decoloração escura no resultado final do clareamento de consultório e caseiro supervisionado ainda é um assunto bastantepesquisado, e por muitas vezes, conflitante entre os autores que defendem que a dieta não tem capacidade de afetar o resultadofinal do clareamento (MATIS et al., 2015; BRISO et al., 2016) e os autores que justificam que o esmalte clareado pode sofrerinterferência dos pigmentos provenientes de algumas soluções corantes (KARADAS, SEVEN, 2014). Há evidências na literaturade que bebidas ácidas como café e vinho tinto promovem maior escurecimento dental devido ao baixo valor do pH (AZER et al.,2010), no entanto, há estudos que indicam que o potencial de pigmentação dos corantes também está relacionado aos diferentestipos de corantes e o tempo de exposição com a superfície dental (ATTIN et al., 2003). Além do pH e tipo de corante presentenos alimentos, o manchamento dos dentes pode estar relacionado com a presença de açúcar nas bebidas corantes (TÉO et al.,2010).Conclusão: Através dessa revisão de literatura, foi comprovado que a interferência da ingestão de bebidas e alimentos decoloração escura no resultado final do clareamento de consultório e caseiro supervisionado ainda é um assunto controverso, ouseja, vão existir autores que defendem que a dieta não tem capacidade de afetar o resultado final do clareamento, como tambémos que defendem que a dieta tem capacidade de alteração.
ReferênciasATTIN, Thomas; MANOLAKIS, Anastassios; BUCHALLA, Wolfigang; HANNIG, Christian. Influence of tea on intrinsic colour ofpreviously bleached enamel. Journal of Oral Rehabilitation, Boston, v. 30, mar. 2003.AZER, Shereen; HAGUE, Anne; JOHNSTON, William. Effect of bleaching on tooth discolouration from food colourant in vitro.
Journal of Dentistry, v. 39 , n.3, Dec. 2011.BARATIERI, Luis Narciso; MONTEIRO, Sylvio Junior; ANDRADA, Mauro; VIEIRA, Luiz Clovis Cardoso; RITTER, Andre Vicente.Odontologia Restauradora: Fundamentos e possibilidades. 2. ed. São Paulo: Santos, 2013.BRISO, André Luiz; FAGUNDES, Ticiane Cestari; GALLINARI, Marjorie de Oliveira et al. An In Situ Study of the influence ofstaining beverages on color alteration of bleached teeth. Operative Dentistry, v. 41, n. 6, nov. 2016.KARADAS, Muhammet; SEVEN, Nilgun. The effect of different drinks on tooth color after home bleaching. European Journal ofDentistry, v. 8, n. 2, 2014. Disponível em http://dx.doi.org/10.4103/1305-7456.130622. Acesso em 5 jul. 2019.MARKOVIC, Ljubisa; JORDAN, Rainer Andreas; LAKOTA, Nebojsa et al. Micromorphology of enamel surface after vital toothbleaching. Journal of Endodontics, v. 33, n. 5, mai. 2007. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.joen.2007.01.011. Acessoem 5 jul.2019.MARSON, Fabiano Carlos; SENSI, Luis Guilherme; ARAUJO, Elito. Na era do clareamento dentário a laser ainda existe espaçopara o clareamento caseiro? Revista Dental Press de Estética, v. 3, n. 1, jan. 2006.MARTINELLI, Fernanda Rauen. Clareamento de dente vitais: Revisão bibliográfica. 2004. 72 f. Monografia (Especialização) -Curso de Odontologia, Programa de Pós-Graduação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.MATIS, Bruce; WANG, Ge Matis, JEREMY; Cook, BLAINE; ECKBERT, GEORGE. White Diet: Is it necessary during toothwhitening. Operative Dentistry, v.40, n.3, 2015.TÉO, Tatiana Baú; TAKAHASHI, Marcos Kenzo; GONZAGA, Carla Castiglia et al. Avaliação, após clareamento, da alteração decor de dentes bovinos imersos em soluções com elevado potencial de pigmentação. Revista Sul-Brasileira de Odontologia,v.7, n.4, out./dez. 2010.
CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS DE DENGUE DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO PARANÁ
1ROSANGELA DA ROSA OLIVEIRA DE ASSIS, 2ANDRESA ELZA MEES, 3LAIANE STEFANE CHAVES, 4ALINE MARAMARTINS OTTOBELI, 5JULIA BONASSINA MENDES, 6GESSICA TUANI TEIXEIRA
1Acadêmica de Enfermagem da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a dengue é considerada uma pandemia, caracterizadaainda como um grave problema de saúde pública em todo o mundo. Tem etiologia viral e é transmitida pelo mosquito vetor Aedesaegypti, sendo seus principais sintomas febre alta súbita, mialgia, dores articulares, cefaleia, náuseas e vômitos, prurido epetéquias, podendo evoluir de forma clássica, com sintomas mais brandos, ou grave, apresentando hemorragia e risco de morte(OPAS, 2019). De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil a dengue apresenta forma continuada, alternando com casos deepidemias, associadas a novos sorotipos (BRASIL, 2019). No Paraná em 2019, segundo boletim epidemiológico da SecretariaEstadual de Saúde, nos primeiros meses já foram notificados 18.052 casos, sendo que destes foram confirmados 1.445 comoautóctones e 77 casos importados, com dois registros de óbito (SESA, 2019).Objetivo: Caracterizar os casos de dengue de um município do interior do Paraná, entre os anos de 2014 e 2018.Material e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa, transversal e retrospectivo, dos anos de2014 a 2018, com a finalidade de identificar a incidência dos casos notificados de dengue em um município do Sudoeste doParaná. A pesquisa ocorreu fazendo a utilização de casos de dengue notificados pela Secretaria Municipal de Saúde domunicípio de Francisco Beltrão. A amostra foi constituída por todas as fichas de notificações de dengue presentes no SistemaNacional de Agravos de Notificação (SINAN), na área de abrangência da Secretaria Municipal de Saúde no período de 2014 a2018. Para a coleta dos dados foi utilizado formulário estruturado com questões fechadas elaborado com base na ficha denotificação de dengue do SINAN. Os dados foram compilados do Microsoft Excel (2010) para o programa Statistical Package forthe Social Sciences (SPSS) versão 21.0, utilizando estatística descritiva para caracterização da amostra e distribuição dasfrequências das diferentes variáveis analisadas.Resultados: Na presente pesquisa foram notificados 264 casos de dengue entre os anos de 2014 e 2018. Destes, 47,0% eramdo sexo feminino enquanto que a maioria (53,0%) eram homens. No que se refere a idade, verificou-se que 57,2% da amostra foicomposta por adultos, entre 25 e 59 anos, seguido de idosos (12,5%), adultos jovens, entre 19 e 24 anos, (12,1%) adolescentes(11,7%) e crianças (6,4%). No que se refere a raça, a grande maioria eram brancos (93,9%) seguido de pardos (3,8%) e noquesito escolaridade houve prevalência de 1ª a 4ª série completa, 5ª a 8ª série incompleta, 16,7% e 15,9% respectivamente,havendo destaque para o item ignorado (18,2%). Observou-se que nenhum dos casos, tratava-se de gestantes e no que tange aocupação, houve expressivo índice de não registro, totalizando 89,8% dos casos, seguido de outros (6,4%) e motorista (1,1%).Discussão: Observou-se na presente pesquisa prevalência de adultos (57,2%), do sexo masculino (53,0%), de raça branca(93,9%) e nível de instrução de 1° a 4° série completa. Em pesquisa realizada no Rio Grande do Norte, o maior número de casosde dengue pode ser observado entre jovens adultos variando de 15 a 49 anos, do sexo feminino. Conforme Oliveira; Araújo eCavalcanti (2018) houve prevalência de mulheres com variação entre 2001 e 2011 de 54,4% a 60,4%, observando ainda, maiornúmero de casos na faixa etária de 20 a 49 anos. No município de Porto Nacional TO constatou-se através de estudoepidemiológico que o sexo feminino obteve maior índice (53,9%) de notificações, com predomínio de faixa etária entre 20 e 29anos (22,06%), ao passo que na presente pesquisa, verificou-se oscilação da faixa etária entre 25 a 59 anos (57,2%), sendo omaior índice observado em homens (53,0%). Em relação aos dados sociodemográficos obtidos neste estudo, ratificou-se elevadapresença de indivíduos de raça branca (93,9%) e nível de instrução inferior (16,7%) divergindo da pesquisa realizada com idososno Hospital Universitário de João Pessoa, onde constatou-se que a maioria dos participantes eram de raça parda (42,4%) eapresentaram ensino fundamental incompleto (21,2%).Conclusão: Com a análise dos dados, observou-se que a maioria dos casos ocorreram em indivíduos da raça branca, jovens, depouca escolaridade e em homens. Neste sentido, alerta-se para o melhor repasse de informações acerca da doença, bem comoa atuação dos órgãos públicos e de profissionais atuando como facilitadores no processo de combate a este agravo. Ressalta-seainda que toda a população desempenha importante papel neste cenário.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Dengue: causas, sintomas, tratamento e prevenção. Disponível em:http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/dengue. Acesso em: 19 ago. 19. 2019.LUCENA, Letícia Cardoso et al. Avaliação do perfil epidemiológico dos casos de dengue no município de Porto Nacional,Tocantins. Revista de Patologia do Tocantins, v. 6, n. 1, p. 18-23, 2019.OLIVEIRA, Rhaquel de Morais Alves Barbosa; ARAÚJO, Fernanda Montenegro de Carvalho; CAVALCANTI, Luciano Pamplonade Góes. Aspectos entomológicos e epidemiológicos das epidemias de dengue em Fortaleza, Ceará, 2001-2012. Epidemiol.Serv. Saude, v. 27, p. 201704414. Brasília, 2018.SESA. Secretaria da Saúde. Prevenção. Disponível em: http://www.dengue.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6. Acesso em: 18 ago. 2019VIANA, Lia Raquel de Carvalho et al. Arboviroses reemergentes: perfil clínico-epidemiológico de idosos hospitalizados. Revistada Escola de Enfermagem da USP, v. 52, 2018.
INTER-RELAÇÃO ENTRE DENSIDADE ÓSSEA MINERAL E A DOENÇA DE PARKINSON PADRONIZAÇÃO DE UMMODELO DE ESTUDO
1LETICIA NOVAES LIMA, 2LEONARDO CARLINI BARBOSA, 3ARIELLE PIRES ZOBIOLO, 4EVELLYN CLAUDIA WIETZIKOSKI,5CINTIA DE SOUZA ALFERES ARAUJO, 6VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO
1Acadêmica Bolsista do PIBIC/UNIPAR1Cirurgião-Dentista 2Acadêmica PIC/UNIPAR3Docente Unipar4Docente Unipar5Docente UNIPAR
Introdução: A doença de Parkinson (DPark) é uma desordem neurodegenerativa, caracterizada pela perda progressiva eseletiva de neurônios dopaminérgicos na substância negra parte compacta (SNpc), que atinge principalmente indivíduos entre 40e 65 anos, sendo, após a doença de Alzheimer, a segundo patologia neurodegenerativa progressiva mais presente. Seusprincipais sintomas são deficiências motoras, principalmente dos movimentos finos, cognitivas e psiquiátricas, estas alteraçõesestão relacionadas com o desequilíbrio no sistema de transmissão de sinais entre os centros do alto comando motor localizadono córtex e nos núcleos da base. Segundo Packer (2015), a DPark apresenta alguns sinais cardinais que são chaves nodiagnóstico da doença, sendo elas: discinesia, bradicinesia, e acinesia. Portadores de DPark são vulneráveis a alterações bucaiscomo disfagia, dificuldades de oclusão, discinesia oral, hipersialorréia e xerostomia, causadas pela disfunção autonômica ereação adversa dos medicamentos antiparksonianos. Objetivo: Este estudo teve como objetivo desenvolver um modelo de estudo animal utilizando a indução neuroquímicamentecom 6-OHDA para avaliação da atividade óssea dos cimentos endodônticos .Materiais e Métodos: Previamente a realização dos experimentos, o projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética de Pesquisaenvolvendo uso de animais (CEPEEA) da Universidade Paranaense, certificado com o número de protocolo 31166/2017. Foramutilizados durante o experimento, 30 ratos adultos da raça Wistar (Rattus norvegicus albinus, Wistar). A indução do Parkinson foirealizada através da realização da cirurgia estereotáxica para a infusão da substância 6-OHDA com objetivo de lesionar a vianigroestriatal unilateral. Para obter confirmação de que o animal sofreu realmente a lesão na via nigroestriatral o mesmo foi submetido ao teste do comportamento rotatório 7 dias após o procedimento cirúrgico. Após 21 dias os animais forameutanasiados e sua tíbias separadas merso em formol a 10% com tampão fosfato (ph 7,0), para posterior realização daradiografia digital das mesmas. As imagens digitais foram obtidas através do sistema indireto de imagens EXPRESS(INSTRUMENTARIUM DENTAL, Tuusula, Finland) com o uso de placas de fósforo e um tempo de exposição de 0,2 segundos.As radiografias foram analisadas através da forma digitalizada, utilizando os programas de edição de imagem Photoshop (Adobe
San Jose, California Estados Unidos) e ImageJ (NIH Bethesda, Maryland Estados Unidos), e os dados tabulados eanalisados. Discussão: A DPark é uma doença humana, e não se manifesta espontaneamente em animais, é somente observada através daadministração de agentes neurotóxicos. Modelos experimentais da DPark que reproduzem a desnervação de OHDA têm sidodesenvolvidos para estudar a patofisiologia da doença e para analisar a eficácia de novas terapêuticas. Assim, agentes queinterrompam ou destroem seletivamente o sistema catecolaminérgico, tais como a 6-hidroxidopamina (6-OHDA) e 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) têm sido utilizados para desenvolver modelos da DPark.A 6-hidroxidopamina (6-OHDA) é uma das neurotoxinas mais comuns utilizadas experimentalmente em modelos de degeneraçãoda SNpc, tanto in vitro como também in vivo (BLUM et al., 2001). A 6-OHDA é incapaz de atravessar a barreira hematoencefálica,sendo necessária a administração diretamente na estrutura cerebral que se deseja lesar. Em modelos animais de DP, 6-OHDA éadministrada diretamente na SNpc ou no estriado, induzindo a degeneração de neurônios dopaminérgicos, produzindocaracterísticas fisiopatológicas responsáveis pelos prejuízos motores observados na patologia. A indução através destasubstância foi utilizado neste estudo devido as suas vantagens apresentadas na introdução e comprovada sua eficiência atravésdo teste comportamental realizado através do screenning de rotação.Resultados: A comprovação da eficácia e a padronização de um modelo de estudo seja ele in vitro ou in vivo em animais, se fazimportante. A escolha do nosso estudo pela utilização de um modelo animal da DPark está embasada na facilidade depadronização e controle destes animais e a possibilidade da reproductibilidade em outros estudos, além da possibilidade deestudar as variações desta alteração em diversas situações e com diversos materiais, como os cimentos endodônticos.
Partindo da confirmação através da literatura que portadores da D. Park tendem a ter uma densidade mineral óssea (DMO)reduzida, uma confirmação de que o modelo animal em ratos com a indução através da neurotoxina 6- OHDa reproduz estacondição de densidade óssea mineral reduzida em ossos como a tíbia comprovada pelo presente através de testes como adensidade óptica radiográfica digital.Conclusão: O modelo animal de indução do Parkinson através da substância 6- OHDA é efetivo para o estudo da ação debiomateriais como os cimentos endodônticos.
ReferênciasBLUM, D. et al. Molecular pathways involved in the neurotoxicity of 6-OHDA, dopamine and MPTP: contribution to the apoptotictheory in Parkinsonʻs disease. Prog Neurobiol, v. 65, n. 2, p. 135-72, Out. 2001.KAUR, T.; UPPOOR, A.; NAIK, D. Parkinsonʼs disease and periodontitis the missing link? A review. Gerodontology, v. 33, n. 4,p. 434-438, 2016.LAZZARETTI, C. Fatores interferentes na indução da atividade rotacional induzida pelo teste de motricidade sobre gradeem modelo animal da doença de parkinson. 2011. 29 f. Dissertação (Mestrado em Neurociências), Universidade Federal doRio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.PACKER, M. E. Are dental implants the answer to tooth loss in patients with parkinsonʼs disease? Prim Dent J, v. 4, n. 2, p. 35-41, 2015.
EVOLUÇÃO DA ÚLCERA DIABÉTICA APÓS A UTILIZAÇÃO DE INFUSÕES FITOTERÁPICAS DE Psidium guajava L. eEugenia uniflora L.
1CAROLINE DA SILVA BARRADA, 2SUZANA MACHADO DE SOUSA, 3LETICIA MANTOVANI DOS SANTOS, 4MARCILAMARTINS DE OLIVEIRA, 5EMILLI KARINE MARCOMINI, 6IRINEIA PAULINA BARETTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem - PIC/UNIPAR1Egressa do Curso de Ciências Biológicas 2Responsavel Técnica - Enfermagem/UNIPAR3Responsavel Tecnica Enfermagem/ UNIPAR4Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR5Docente do Programa de Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterapicos na Atenção Basica
Introdução: A Diabetes Mellitus (DM) é um conjunto de doenças metabólicas oriunda da hiperglicemia crônica, vista como umgrande problema de saúde publica sendo responsável pelos altos índices de morbimortalidade. O Pé diabético é umas dasprincipais complicações, conceituado como infecção, ulceração ou destruição de tecidos,na maioria dos casos ocorre comoconsequência da neuropatia por se tratar de um processo falho e lento da cicatrização, quando não tratado precocemente eadequadamente essas ulceras evoluem rapidamente para amputações (MS, 2018). Os altos custos do tratamento dessapatologia aumentam a busca de medicamentos e curativos alternativos. (Mendonça & Netto, 2009). As plantas medicinais sãotratamentos alternativos acessíveis e com alto potencial para tratar feridas, principalmente cicatrização de ulceras em pésdiabéticos. (PAPANAS & MALTEZOS, 2011).Relato do Caso: Como objetivo o tratamento de uma amputação diabética utilizou se esta associação de plantas medicinais,visando à redução do tempo de cicatrização e a diminuição de efeitos colaterais. Sr João (nome fictício) deu entrada na UnidadeBásica de Saúde (UBS) no dia 27/04/2017 ás 08:00 hrs para consulta de rotina, onde foi constatado na pré consulta alteraçõesde SSVV como glicemia em jejum (348 mg/dl). Na consulta médica o paciente relatou parestesia em MMII há alguns meses enegou uso de medicações para DM. Realizado as condutas necessárias, encaminhamentos e solicitações de exames foiagendado para retorno. Ainda não adepto ao tratamento retornou com resultados de exames laboratoriais confirmando a hipótesediagnostico: 02/05/2017 Glicemia em jejum (273mg/dl), HbGlicada 9,8%, DM Tipo II. Na avaliação nutricional ainda na UBS nadata de 20/07/2017 o paciente relata que não seguiu o cardápio pela segunda vez, onde o mesmo foi encorajado a seguirnovamente o fracionamento. Na data de 09/11/2018 em nova consulta Sr João apresentou glicemia em jejum (302 mg/dl) eHbGlicada 13,70% relatou ainda ʻʼferida no dedão do péʼʼ onde foi diagnosticado lesão ulcerada na região plantar de hálux direito,relatou ainda episódios de algia e edema em MID. Avaliação e conduta médica realizadas, retorno e curativo diário commedicamentos prescritos. No dia 11/11/2018 Sr José deu entrada no PA onde apresentou êmese e alterações de SSVV, comoT= 39ºC, PA= 170/90 e FC= 139 bpm, diagnosticado com necrose infectada de hálux direito, medicado e encaminhado paraavaliação e internação hospitalar. No dia 14/11/2018 realizou-se debridamento cirúrgico com amputação de hálux direito.No dia04/12/2018 Sr João retorna a UBS aceitando tratamento medicamentoso e nutricional para DM. A partir de então os valores deglicemia variava entre 120 a 140 (mg/dl). Foi proposto ao Sr João o tratamento alternativo com uso de plantas medicinais nacicatrização da amputação. Foi utilizado 10 folhas de pitanga in natura (Eugenia uniflora L.) e 10 folhas de goiaba in natura(Psidium guajava L.) colocadas em 1 litro de água fria e em seguida fervidas por 1 a 2 minutos, o chá fica em infusão até queesteja morno em seguida foi deve ser aplicado diretamente no local. Assim associou se o tratamento alternativo com cuidados ecurativos diários.Discussão: O MS vem buscando estimular à inserção de tratamentos alternativos como plantas medicinais no sistema de saúde,através de políticas nacionais. (MS, 2016). Recentemente publicou sobre a veracidade da pesquisa feita em Valinhos-SP,alegando que a mesma está usando as folhas das frutas para tratar as feridas dos pacientes da rede básica de saúde comoforma complementar ao tratamento convencional. (MS, 2019). O uso das folhas tem acelerado em 40% o tempo de cicatrizaçãodas feridas elas são misturadas no preparo do chá que tem ação antimicrobiana e cicatrizante. Além de possibilitar a melhoriada saúde e mais qualidade de vida aos pacientes, a utilização das folhas gera economia ao sistema de saúde, pela redução nouso de medicamentos, de curativos e da necessidade de profissionais de saúdeʼʼ afirma a farmacêutica responsável pelapesquisa Nilsa Sumie Yamashita Wadt, doutora em plantas medicinais pela USP (Universidade de São Paulo). (Valinhos - SP,2017).Conclusão: Observou se sobre a importância de tratamentos alternativos na saúde publica, visando o baixo custo e a efetividadeno tratamento de feridas diabéticas. Também a evolução vertiginosa da ulcera de pé diabético do Sr João após associação dos
tratamentos.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de AssistênciaFarmacêutica. Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 190 p. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_programa_nacional_plantas_medicinais_fitoterapicos.pdf.Acesso em: 02 ago. 2019.MENDONÇA, R. J.; COUTINHO NETTO, J. Aspectos celulares da cicatrização. An Bras Dermatol., v.84, n.3, p.257-62, 2009.Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/abd/v84n3/v84n03a07.pdf. Acesso em: 24 jul. 2019.PAPANAS, N.; MALTEZOS, E. Polyherbal formulation as a therapeutic option to improve wound healing in the diabetic foot.Indian J Med Res, v.134, n.2, p.146-147, 2011. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181013/. Acessoem: 24 jul. 2019.SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. ORG: OLIVEIRA, J. E. P.; MONTENEGRO JUNIOR, R. M.; VENCIO, S. Diretrizes daSociedade Brasileira de Diabetes. São Paulo: Editora Clannad, 2017. Disponível em:https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-2018.pdf. Acesso em: 24 jul. 2019BRASIL. Ministério da Saúde. Fake News. Chá de folha de goiaba têm poder cicatrizante - é verdade. 2019. Disponível em:http://www.saude.gov.br/fakenews/45267-cha-de-folhas-de-goiaba-e-pitanga-tem-poder-cicatrizante-e-verdade. Acesso em: 13ago. 2019SÃO PAULO. Prefeitura de Valinhos-SP. Saúde usa folhas de goiaba e pitanga para tratar feridas. Prefeitura de Valinhos: SãoPaulo, 2017. Disponível em: http://www.valinhos.sp.gov.br/noticias/saude-usa-folhas-de-goiaba-e-pitanga-para-tratar-feridas.Acesso em: 13 ago.2019
O IMPACTO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM FRENTE À PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES RELACIONADAS AASSISTÊNCIA À SAÚDE
1CIRLEI PICCOLI COSMANN, 2KEROLI ISIDORIO, 3GISELE LOTICI, 4JESSICA CRISTINA ALVES, 5FABIANA ROSSANI,6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Discente do curso de Enfermagem, PIC, UNIPAR Unidade Universitária de Francisco Beltrão - PR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Enfermeira responsável pela CCIH 5Docente da UNIPAR
Introdução: A infecção relacionada à assistência a saúde é toda infecção adquirida durante ou após o processo dehospitalização e procedimentos ambulatoriais em saúde, chega a acometer 1,5 milhão de pessoas por ano, corroborandodiretamente no aumento do tempo de hospitalização, morbimortalidade além de elevar a resistência antimicrobiana, acarretandoum grave problema de saúde em todo globo (RODRIGUES et al., 2019). Neste cenário, a assistência de enfermagem, tem papeldecisivo, sendo o promotor de saúde mais envolvido no transcurso da hospitalização, e qualificado para garantir a resolutividadee qualidade do serviço (GIROTI; GARANHANI, 2017).Objetivo: Descrever dados da literatura sobre a atuação da enfermagem na prevenção e controle da infecção relacionada àassistência em saúde.Desenvolvimento: A infecção hospitalar é toda infecção, iniciada após a admissão do paciente e evidenciada durante ainternação ou após a alta, segundo a portaria nº 2616/98 do Ministério da Saúde, há manifestações clínicas sugestivas comosinais flogísticos, septicemia e ou laboratoriais, dentro de 72 horas (RODRIGUES et al., 2019). Adotando-se nova nomenclaturaas Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) definem-se como todas e quaisquer infecções adquiridas pelo usuáriodo serviço de saúde durante sua permanência em serviços hospitalares e ambulatoriais, que vem há acarretar prejuízo à saúde,especialmente no que tange a paciente em situação de vulnerabilidade, como o perfil imunológico prévio, gama demicrorganismos patogênicos, imunossupressão, a utilização de antimicrobianos de largo espectro evidenciadas nas falhasassistenciais no controle, que submetem o usuário a risco (GIROTI; GARANHANI, 2017). Frente a este cenário desde 1997 oMinistério da Saúde vem implementando políticas assistenciais que controlam e integram os serviços, a fim de elucidar o trajetoaté a contaminação do paciente, com a criação da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) e do Programa deControle de Infecções Hospitalares (PCIH), por meio do sancionamento da Lei 9431, que torna obrigatória sua existência emtodas as instituições de saúde hospitalar, a fim de reduzir os índices de morbimortalidade associada aos eventos adversos nainternação (JUAN et al., 2019). Atualmente, as IRAS são consideradas um grave problema de saúde pública, com impactosdiretos na qualidade da assistência prestada em todos os níveis de atenção, em especial aos setores críticos, pelasuscetibilidade dos pacientes e emprego de inúmeros procedimentos invasivos (BRASIL, 2017). Nesta perspectiva, tendo emvista as atribuições profissionais do enfermeiro frente ao gerenciamento dos serviços de saúde e matriciamento das equipes, épossível elencar ações estratégicas para coordenação e capacitação da equipe, assim, espera-se uma maior resolutividade eefetividade na redução da carga microbiológica e resistência bacteriana (JUAN et al., 2019). Na abordagem gerencial aatribuições destes profissionais estão atreladas ao gerenciamento em diversas áreas e fomenta a cultura de vigilância, dentreestes a CCIH e PCIH que tem responsabilidade em investigação, vigilância situacional dentro das instituições além decoordenação, educação em saúde, bem como promotor de saúde. Além disso, leitura e controle dos indicadores microbiológicos,classificação de risco, vigilância dos pacientes e higienização das mãos realizada de forma correta e momentos indicados,administração de antibiótico terapia profilática, seguindo as normativas acerca da segurança do paciente, de tal forma a instituir omonitoramento. Florence Nightingale em meados de 1800, já instituía ações que permeiam as ações de enfermagem até os diasatuais, centradas no cuidado baseado em evidencias, colocando o enfermeiro como agente promotor da adoção de uma culturade vigilância, em especial nas instalações nosocômiais, neste sentido a atuação do enfermeiro dentro das ações estratégicas temfundamental impacto na saúde (SILVA et al., 2016).Conclusão: A infecção relacionada à assistência em saúde constitui um grave problema de saúde pública, inferindo anecessidade de ações voltadas ao cuidado baseado em evidencias, assim como de cultura de vigilância na assistência prestada.Neste sentido, é essencial que a atuação da enfermagem esteja pautada em atribuições de gerenciamento, controle emonitoramento para modificação de cenário desfavorável ao cliente.
ReferênciasBRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Plano Nacional para a Prevenção e o Controle da Resistência Microbiananos Serviços de Saúde. Brasília: ANVISA, 2017.GIROTI, Suellen Karina de Oliveira; GARANHANI, Mara Lúcia. Infecções relacionadas à assistência à saúde como tematransversal na formação do enfermeiro. Rev. Cienc. Cuid. Saúde, Maringá, v. 16, n. 1, p. 151- 7, jan./ mar. 2017.JUAN, Chih Han. et al. Clinical characteristics, antimicrobial resistance and capsular types of community-acquired, healthcare-associated, and nosocomial Klebsiella pneumoniae bacteremia. Antimicrob Resist Infect Control, Londres, v. 8, n. 1, p. 1- 9,jan. 2019.RODRIGUES, Wellington Pereira et al. O papel da enfermagem frente as precauções e no controle da infecção hospitalar.Revista de saúde da ReAGES, Paripiranga, v. 2, n. 4, p. 18- 21, jan./ jun. 2019.SILVA, Karene Oliveira et al. Vigilância sanitária e o papel da enfermagem nas ações de controle de infecções hospitalares. Rev.Mostra Interdisciplinar do curso de Enfermagem, Quixadá, v. 2, n. 2, p. 1- 4, dez. 2016.
MORTALIDADE POR TRANSTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL DEVIDO AO USO DE ÁLCOOL NO BRASIL, 2013-2017
1Denise Tiemi Uchida, 2TÂNIA HARUMI UCHIDA, 3MIGUEL MACHINSKI JUNIOR
1Mestranda em Ciências da Saúde, bolsista CAPES, UEM, Maringá PR.1Doutoranda-Programa de Pós-Graduação em Odontologia Integrada, UEM, Maringá PR.2Docente Associado da Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR
Introdução: O consumo de bebidas alcoólicas tem alta prevalência no mundo, estima-se que 3,6% da população mundial façamuso indevido, sendo responsável pela origem de diversas patologias, com importantes consequências sociais, econômicas e paraa Saúde Pública (ROERECKE et al., 2013). O estudo de Cargas Globais de Doenças mostrou que o uso de álcool foi o quintoprincipal fator de risco para carga de doenças no mundo, ocupando o Brasil, a quinta posição mundial (GARCIA et al., 2015b).Segundo dados do Ministério da Saúde, o uso do álcool é o causador primário de 1,4% das mortes no mundo e responsável por28% das desabilitações dos anos de vida por alterações das condições neurológicas ou aparecimento de alterações psiquiátricas(BRASIL, 2003).Objetivo: Avaliar a evolução da mortalidade por transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool no Brasil, período2013 a 2017.Material e Métodos: Os dados foram extraídos no sítio eletrônico do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), noSistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), de Janeiro de 2013 a Dezembro de 2017, por regiões do Brasil (Região Norte,Nordeste, Sudeste, Sul e Centro Oeste). Foram analisados dados referentes ao CID-10, contendo como causa básica nadeclaração de óbito transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool. Foram calculadas as taxas de mortalidade por100.000 habitantes. O tamanho da população residente utilizado como denominador foi aquele informado no sítio eletrônico doDATASUS, proveniente do Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a tendência temporal foiavaliada por regressão Join Point, versão 3.4.2.Os modelos serão ajustados assumindo número diferente de Join Point, de zero(tendência representada por um único segmento de reta) até três, considerando pontos de mudança na evolução temporal dastaxas.Resultados: No período analisado houve 32.490 óbitos por transtorno mental e comportamental devido o uso do álcool, 2013 foio ano com mais óbitos no Brasil totalizando 7.025. A região Nordeste teve a maior taxa de mortalidade (20,32). A análise deregressão por Join Point mostrou padrão diferenciado entre as regiões. Houve uma queda estatisticamente significante das taxasde mortalidade nas regiões Sudeste (APC = -2,7; IC95% -4,1; -1,3) e Sul (APC = -4,8; IC95% -6,3; -3,4), em uma visão geral oBrasil apresentou um decréscimo nas taxas com APC = -3,4; IC95% -5,7; -1,0.Discussão: O consumo excessivo de álcool causa dependência e traz consequências psicológicas ao indivíduo. No períodoestudado a maior taxa de mortalidade ocorreu na região Nordeste (20,32), este achado coincide com o maior consumo de álcoolnesta região evidenciados pelas pesquisas de Brasil (2013) e Garcia et al. (2015a). A região Norte apresentou a menor taxa demortalidade (6,76) pode ser explicada pelo fato do consumo de álcool desta região ser menor por causa da dificuldade de acessopelo transporte destes produtos (GARCIA et al., 2015b). A queda significante na mortalidade, segundo regressão por Join Point nas regiões Sudeste e Sul, não indica que houve queda no consumo de álcool ou melhorias na aplicação de políticas públicas,destacamos como limitante as subnotificações de causas específicas e a falta de cobertura que levou ao óbito, uma vez que amorte por F-10 Transtornos Mentais Devido ao Uso de Álcool (CID-10) deve estar muito clara para indicar que a mesma inicioua sucessão de eventos que levou à morte.Conclusão: O Brasil apresentou um decréscimo na mortalidade por transtorno mental e comportamental devido ao uso do álcoolno período de 2013 a 2017.
ReferênciasBRASIL. Ministério da Saúde. A Política do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas.Brasília: Ministério da Saúde, Coordenação Nacional de DST e Aids, 2003.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigitel Brasil 2013: vigilância de fatores de risco e proteçãopara doenças crônicas por inquérito telefônico/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. Brasília: Ministério daSaúde, 2014.GARCIA, Leila Posenato; FREITAS, Lucia Rolim Santana. Heavy drinking in Brazil: results from the 2013 National Health Survey.Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 24, n.2, p. 227-237, 2015a.GARCIA, Leila Posenato; FREITAS, Lucia Rolim Santana; GAWRSZEWSKI, Vilma Pinheiro; DUARTE, Elisabeth Carmen. Uso de
álcool como causa necessária de morte no Brasil, 2010 a 2012. Revista Panamericana de Salud Publica, v. 38, n.4, p. 418-424,2015b.ROERECKE, Michael; REHM, Jurgen. Alcohol use disorders and mortality: a systematic review and meta-analysis. Addiction,v.108, n.9, p. 1562-1578, 2013.
A OBESIDADE DE ORIGEM GENÉTICA E AS POSSÍVEIS FORMAS DE INTERVENÇÃO NÃO MEDICAMENTOSA - ESTUDODE REVISÃO
1GABRIELA CAROLINA CREMONESE VON BORSTEL, 2BRUNA LUANA CHAPLA, 3MARIA ELENA MARTINS DIEGUES,4RICARDO MARCELO ABRAO, 5LUCIANO SERAPHIM GASQUES
1Acadêmica do curso de Medicina e PIC/UNIPAR1Acadêmica do curso de Medicina e PIC/UNIPAR2Coordenadora do curso de Medicina da UNIPAR3Docente do curso de Medicina da UNIPAR4Docente do curso de Medicina da UNIPAR
Introdução: A obesidade está presente na vida de muitos brasileiros e tem aumentado rapidamente sua incidência nas últimasdécadas (DIAS et al., 2017). Nos fatores de sua gênese, pode estar ligada desde os fatores genéticos até os ambientais. Dentreos fatores monogenênicos, um gene de destaque é o FTO (Fat Mass and Obesity-Associated) (FERNANDES; FUJIWARA;MELO, 2011). As principais doenças crônicas e comorbidades associadas à obesidade são diabetes tipo II, hipertensão, doençascardiovasculares e cálculo na vesícula biliar, podendo caracterizar a Síndrome Metabólica. Assim, faz-se necessário conhecer asprincipais formas de intervenção não medicamentosa para reversão desta patologia, principalmente associando-a a sua fisiologia.Objetivo: Verificar os principais SNPs (polimorfismo de nucleotídeo simples, em inglês single nucleotide polymorphism) isoladosassociados ao gene FTO causadores da obesidade, assim como listar os tratamentos não medicamentosos disponíveis,correlacionando, quando possível, com o tipo de origem da obesidade.Desenvolvimento: Estudos comprovam a relação entre a obesidade e o gene FTO afetando a homeostase energética doorganismo (LIMA, 2010). De acordo com dados do DATASUS (2019), nos últimos 10 anos, cerca de 105 mil de brasileiros foraminternados por obesidade, sendo o Paraná responsável por aproximadamente 39 mil destes casos. Uma das causasresponsáveis pela obesidade genética através é a do gene FTO, que atua como regulador primário do acúmulo de gorduracorporal, sendo encontrado no tecido adiposo, fígado, pâncreas, rins, gônadas, musculatura esquelética estriada e cardíaca,entre outros. Não é possível conhecer o alcance desse gene, uma vez que a estrutura da proteína expressada por ele édesconhecida e não há estudos sobre a relação do mesmo com outras proteínas. Cerca de 26 dos 2.348 SNPs do gene FTOpossuem uma ligação com o IMC (índice de massa corporal), sendo o SNP rs9939609, pertinente ao gene FTO, composto pordois alelos, A e T, onde o alelo A está ligado diretamente a um maior acúmulo de gordura corporal (LIMA, 2010). Conformepesquisas, os tratamentos não medicamentosos oferecidos para a obesidade genética são os mesmos oferecidos para aobesidade não genética, variando de acordo com a gravidade da doença. Uma das abordagens para o tratamentos da obesidadeenvolvem dietas com a restrição da ingestão energética total, uma das formas de alcançar o déficit energético e reduzir o pesocorporal (RACCETE et al., 1995 apud FRANCISCHI, 2000). Nos últimos 15 anos, a preocupação com a obesidade por parte dogoverno aumentou, resultando na criação, pelo Ministério da Saúde, dos 10 passos dentro do Plano Nacional para a Promoçãoda Alimentação Adequada e do Peso Saudável, cujos objetivos são: agregar informação à sociedade sobre a importância de semanter um peso saudável e de possuir uma vida mais ativa; mudar atitudes e hábitos sobre alimentação e atividade física;prevenir o ganho excessivo de peso. Os passos são (1) comer frutas e verduras, no mínimo duas vezes ao dia; (2) consumirfeijão no mínimo quatro vezes por semana; (3) evitar alimentos ricos em gordura como carnes, salgadinhos e frituras; (4) retirar agordura das carnes e a pele do frango; (5) não pular refeições: fazer três refeições e um lanche por dia e comer uma fruta; (6)evitar refrigerantes e salgadinhos de pacote; (7) fazer as refeições sem pressa e nunca na frente da televisão; (8) aumentar onível de exercício físico diário; evitar ficar parado; (9) trocar o elevador pelas escadas, caminhar sempre que puder e não passarlongos períodos sentado assistindo à TV; (10) fazer trinta minutos de atividade física todos os dias (FLORIDO et al., 2019). Outraabordagem, é do ponto de vista do aumento do gasto calórico. Os exercícios físicos e a musculação em especial surgem,também, como alternativas não medicamentosas para a diminuição desse perfil (FLECK; KRAEMER, 2006 apud OLIVEIRA,2018). Visando maximizar o ganho de massa livre de gordura, o treinamento de alta intensidade intervalado da sigla em inglês(HIIT), aparece como um adjuvante junto à musculação visando à modificação junto ao fenótipo das pessoas. O ganho de massamuscular influencia diretamente na perda de tecido adiposo. Além disso, tendo em vista fatores cognitivos e emocionaisassociados ao aumento do consumo de alimentos (FOREYT; GOODRICK, 1993 apud FRANCISCHI, 2000), a mudançacomportamental tem sido usada no tratamento da obesidade, como exemplo a educação alimentar, física e apoio familiar esocial. Conclusão: Mediante conteúdo pesquisado e fornecido, percebe-se que a obesidade pode estar relacionada a vários fatores
genéticos, destacando-se o gene FTO, o qual é um importante manifestador do sobrepeso. Com relação aos tratamentos,observa-se que não existem procedimentos específicos para a obesidade ligada a fatores genéticos, sendo utilizadas as mesmasintervenções para a obesidade não genética. Tais abordagens são dietas, realização de atividades físicas, como a musculação eo HIIT, e medicamentos, além do cuidado com os fatores cognitivos e emocionais.
ReferênciasDATASUS, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Valor total de obesos no Brasil de 2008 a 2018. Brasil, 2019.DIAS, P. C., et al. Obesidade e políticas públicas: concepções e estratégias adotadas pelo governo brasileiro. CSP- Cadernos deSaúde Pública, Universidade Federal Fluminense, pag. 1-12, 2017.FERNANDES, A. E.; FUJIWARA, T. H.; MELO, M. E. Genética: Causa Comum de Obesidade. ABESO v 54. pag. 1-4, 2011.FLORIDO, L. M. P. et al. COMBATE À OBESIDADE: ESTRATÉGIAS COMPORTAMENTAIS E ALIMENTARES. Revistacaderno de Medicina, Vol 2, N 2, 2019.FRANCISCHI, R. P. P. et al. OBESIDADE: ATUALIZAÇÃO SOBRE SUA ETIOLOGIA, MORBIDADE E TRATAMENTO. Revista.Nutr., Campinas, Vol. 13, Núm. 1, pag. 17-28, jan./abr., 2000.LIMA, W. A.; GLANER, M. F.; TAYLOR, A. P. Fenótipo da gordura, fatores associados e o polimorfismo rs9939609 do gene FTO.Revista Bras Cineantropom Desempenho Humano. Distrito Federal, pag. 164-172,2010.STEEMBURGO, T.; AZEVEDO, M. J.; MARTÍNEZ, J. A. Interação entre gene e nutriente e sua associação à obesidade e aodiabetes melito. Arq Bras Endocrinol Metab, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, pag. 497-508,2009.OLIVEIRA, D. R. et al. Musculação e HIIT: uma proposta válida no tratamento da obesidade. Lecturas: Educación Física yDeportes, Vol. 23, Núm. 241, 2018.
CRIANÇA E ADOLESCENTE AUTISTA: UMA VISÃO DA ENFERMAGEM
1TANIARA EMANUELLE BERNARDI, 2RAFAELLA GUEDES DE LIVIO NAVES, 3MICHELI YURI OSHIAMA KIMURA, 4ALINESAYURI MORITA , 5PATRICIA YUMI UNO, 6BARBARA ANDREO DOS SANTOS LIBERATI
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Letras UNIOESTE5Docente da UNIPAR
Introdução: A dificuldade de juntar-se com outras pessoas, realizar gestos repetitivos, evitar o contato visual, e a ausência dafala são algumas das particularidades de um autista, e que podem ser detectadas a partir dos três anos de vida, persistindoassim, até a vida adulta. É uma síndrome neuropsiquiátrica conhecida também TEA (transtorno do espectro autista), às vezespassando despercebidos pelos responsáveis (SIGMAN et al, 2005). À vista disso, mesmo sendo um tema importante, ainda sim épouco explorada dentro do campo da enfermagem, e este presente trabalho visa compreender a assistência de enfermeiros aospacientes que recebem diagnósticos ou suspeita de austismo (MELO et al, 2017). Objetivo: Investigar a importância do enfermeiro frente a uma criança e/ou adolescente autista, juntamente acompanhada dafamília, a fim de contribuir para a evolução do tratamento. Desenvolvimento: O autismo é um transtorno que impacta diretamente no desenvolvimento social de pessoas que apresentameste diagnóstico, sendo um distúrbio que aparece na infância com diferentes níveis de comprometimento, e se não percebido oquanto antes, demonstra comportamentos extremamente prejudiciais, tanto na interação quanto na comunicação. Receber odiagnóstico de autismo de um filho é estar embarcando a um universo totalmente desconhecido e inexplorado, exigindo dafamília cuidados e dedicações extremas, e são confrontados por situações que exige ajuste familiar (GOMES, 2015). Estima-seque no Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autista, mas apesar de apresentar um grandeíndice de TEA, as dificuldades residem também, no despreparo de profissionais podendo até mesmo causar desconforto eestresse para quem o enfrenta. A área da enfermagem se torna significativo, pois o papel do enfermeiro para estas condições,não é ser somente um mediador entre a família e outros profissionais, e encaminhar para uma equipe multiprofissional é degrande importância resultando em uma melhor assistência (MELO et al, 2017). O enfermeiro precisa estar atento aos sinais esintomas apresentados pela criança com suspeita dessa patologia. Prestando assistência de enfermagem o mais precocementepossível, apoiando a família, transmitindo segurança e tranquilidade, usar de seu conhecimento prático nos primeiros socorrosdurante uma crise para garantir o bem-estar da criança, esclarecendo dúvidas e incentivando o tratamento e acompanhamentoda pessoa com autismo (MELO et al, 2017). Conclusão: Dessa forma, visto que o autismo é um caso pouco discutido dentro da sociedade, pode causar desconforto e tersentimento de inferioridade para a família que possui uma criança ou adolescente com o diagnóstico. Entretanto, o papel doenfermeiro é essencial na assistência de pacientes com o autismo, dado que o profissional pode servir como ponte para umacomunicação categórica entre a equipe médica e a família prestando um excelente apoio. Por fim, para uma melhor avaliação edesempenho, será necessário cursos de preparação na área da enfermagem com maior abrangência diretamente ligado ao TEA,pois assim será mais fácil de lidar e influência na qualidade de vida das pessoas.
ReferênciasGOMES, P.T.M. et al. Autismo no Brasil, desafios familiares e estratégias de superação: revisão sistemática. J. Pediatr. (RioJ.), Porto Alegre , v. 91, n. 2, p. 111-121, Abr. 2015. Disponível em: .Acesso em: 14 Ago.2019.MELO, C. A de et al. Identificação do papel do enfermeiro na assistência de enfermagem ao austismo. MostraInterdisciplinar do curso de Enfermagem, [S.l.], v. 2, n. 2, jun. 2017. Disponível em: . Acesso em: 14 Ago. 2019.SIGMAN. M; SPENCE S.J. Autismo e seu impacto no desenvolvimento social de crianças pequenas. Enciclopédia sobre oDesenvolvimento na Primeira Infância.v.1, n.1, ago. 2005. Disponível em: http://www.enciclopedia-crianca.com/autismo/segundo-especialistas/autismo-e-seu-impacto-no-desenvolvimento-infantil> Acesso em 14 Ago. 2019
O USO DA ACUPUNTURA PARA EFEITO ANESTÉSICO E ANALGÉSICO COMPLEMENTAR NA ODONTOLOGIA
1ANA CAROLINE DOS SANTOS GRUNOW, 2ISABELA VAZ DA COSTA, 3LEISLE VERONICA PRESTES, 4HELOISA MARIAPERESSIN, 5DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A acupuntura é uma terapia originada da Medicina Tradicional Chinesa, que consiste na aplicação de agulhas empontos anatômicos específicos do corpo humano, buscando a homeostasia e produzindo efeito terapêutico, anestésico ouanalgésico (LAO, 1995).Objetivo: Sendo a acupuntura ainda pouco utilizada e conhecida pelos cirurgiões dentistas como um método complementar aotratamento odontológico, este trabalho busca através de uma revisão da literatura, ampliar o conhecimento sobre os seus efeitosadversos e reduzidas contraindicações.Desenvolvimento: A acupuntura baseia-se na introdução de agulhas em pontos específicos chamados acupontos, localizadosnos meridianos energéticos, gerando um estímulo nervoso que vai até o sistema nervoso central, onde é reconhecido, traduzidoe induz a liberação de substâncias analgésica, anti-inflamatória, anti-depressiva, dentre outras (ROSTED, 2000). BOLETA-CERANTO, et al (2008), após revisão bibliográfica para relatar a efetividade da acupuntura para analgesia em pacientes queprocuram os consultórios odontológicos, concluíram que além de minimizar a dor em pacientes com problemas cardíacos, aacupuntura também é bastante útil, pois garante uma homeostasia do sistema circulatório, auxilia no controle do sangramento(hemostasia), diminui a necessidade de analgésicos, devido ao efeito sedante, é uma técnica menos invasiva, causando maissegurança e resultando, relativamente, com poucos ou nenhum efeitos colaterais. VIANA et al. (2008) relataram, de acordo comdados da literatura, a eficácia da acupuntura aplicada à odontologia, tornando os procedimentos econômicos e seguros e umaenorme diminuição do consumo de remédios pelo seu efeito analgésico e anti-inflamatório, o que é válido principalmente parapacientes idosos ou para pacientes que, pela condição de saúde já comprometida, têm que tomar muitos medicamentos. Aacupuntura pode ser indicada, também, como a primeira opção de tratamento para pacientes que têm alergia ou efeitoscolaterais a medicamentos ou que possuem insuficiência renal e/ou hepática. LAO et al. (1995), em pesquisa relataram dor pós-operatória e o uso de medicamentos opióides reduzidos em comparação aos pacientes que não receberam o tratamento poracupuntura, em média esses pacientes ficaram 181 minutos sem dor, comparados ao grupo de controle com 71 minutos.POHODENKO-CHUDAKOVA (2005) ainda complementa que além da analgesia, pacientes submetidos à cirurgia tiveram afrequência cardíaca e pressão arterial mantidas, favorecendo a recuperação.Conclusão: Estudos na área odontológica mostram que a acupuntura apresenta vários efeitos benéficos para o paciente, já queseus efeitos anestésico complementar, analgésico e antiinflamatório diminui o uso de medicamentos. E também apresentabenefícios para o cirurgião-dentista, que quando capacitado consegue otimizar o tempo de trabalho no consultório e trazermelhores resultados aos seus pacientes. Contudo, ainda existe uma ampla área a ser explorada, principalmente sobre a suaaceitação, conhecimento e aplicabilidade no campo odontológico.
ReferênciasLAO, L. et al. Efficacy of Chinese acupuncture on postoperative oral surgery pain. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral RadiolEndod. v.79, n.4, p.423-428, 1995.ROSTED, P. Introduction to acupuncture in dentistry.Br Dent J. v. 189, n.3, p.136-140, 2000.BOLETA-CERANTO, Daniela de C. Faglioni, et al. O efeito da acupuntura no controle da dor na odontologia. Arq. Ciênc. SaúdeUnipar, Umuarama, v. 12, n. 2, p. 143-148, maio/ago. 2008.VIANNA, Renata Dos Santos et al. A Acupuntura e sua aplicação na Odontologia. Ufes Rev Odontol, Espírito Santo, v.10, n.4,p.48-52, 2008POHODENKO-CHUDAKOVA, I. O. Acupuncture analgesia and its application in cranio-maxillofacial surgical procedures. Journalof Cranio-Maxillofacial Surgery. v.33, n.2, p.118-122, 2005.
TOXINA BOTULÍNICA TIPO A COMO ALTERNATIVA PARA O TRATAMENTO DO BRUXISMO
1ISABELA MARTINS OLIVEIRA, 2TAIS NUNES LOPES DA SILVA, 3THALIA HAMURA, 4SILVIA XAVIER GROSHEVIS,5ELOISA MARIA ZANFRILLI, 6PATRICIA GIZELI BRASSALLI DE MELO
1Acadêmica do curso de Odontologia Unipar 1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O bruxismo é caracterizado pela atividade muscular mastigatória parafuncional, de caráter involuntário einconsciente, induzindo o ranger dos dentes durante o sono (GONZALEZ, 2005). O bruxismo pode ser causado por estresse,ansiedade, depressão, má oclusão dentária, fatores genéticos e consequentemente pelo uso de drogas. Além do desgaste daestrutura dentária, da hipersensibilidade dentinária, essa atividade parafuncional pode causar cefaleia, disfunçãotemporomandibular (DTM), e em casos mais severos, luxação e artrite da articulação temporomandibular(TRUONG; BHIDAYASIRI; CARDOSO, 2006). É mais comum em crianças (20% e 25%), seguida pela população adulta (5% a8%) e idosos (3%), contudo, aproximadamente 90% da população relatam algum tipo de hábito parafuncional relacionado aobruxismo no decorrer de sua vida (LEE et al., 2010). Sendo de fundamental importância o diagnóstico precoce e tratamento.Apesar de o paciente com bruxismo contar com variadas formas de tratamento, estes não são totalmente efetivos. Por sua vez, atoxina botulínica tipo A (BTX-A) vem sendo estudada como uma alternativa de tratamento para pacientes que apresentam essapatologia (SPOSITO; TEIXEIRA, 2014).Objetivo: Este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre a utilização da Toxina Botulínica tipo A (Botox®)como alternativa no tratamento para pacientes portadores de bruxismo.Desenvolvimento: A toxina botulínica tipo A (BTX-A) tem sua aplicação intramuscular. Sua ação se dá a partir da inibição daliberação nos terminais nervosos motores do neurotransmissor acetilcolina, diminuindo assim a contração muscular. Propriedade esta bastante utilizada em clínicas e terapias para as diferentes patologias que envolvem contratura muscular (AOKI, 2005). Os pontos de aplicação da BTX-A no tratamento do bruxismo incluem o músculo masseter (LEE et al.,2010) e ventre anterior do músculo temporal (NARDINI et al., 2008). Segundo Balbinot (2010), na aplicação da toxina botulínicatipo A, sua ação inicia-se entre o sétimo e décimo quarto dia e sua duração varia em média entre 3 a 4 meses, podendo perdurar por 6 meses. A BTX-A pode ser uma alternativa mais eficaz para pacientes com bruxismo e, muitas vezes, mais efetiva, já quenão há necessidade da colaboração do paciente para utilização da mesma diariamente, como acontece com a placa intraoral(SPOSITO; TEIXEIRA, 2014). Todavia, os efeitos colaterais da BTX-A estão relacionados a quantidade aplicada e local que irá receber a toxina, assim entre estes estão, alteração de sorriso e xerostomia (SPOSITO; TEIXEIRA, 2014).Conclusão: Além das terapias convencionais como as placas intraorais, medicações, acupuntura, entre outras, o emprego daToxina botulínica representa uma nova alternativa para o tratamento do bruxismo, já que até o presente momento não existe umtratamento totalmente efetivo para tal patologia.
ReferênciasAOKI, Kei Roger. Review of a proposed mechanism for the antinociceptive action of botulinum toxin type A.Neurotoxicology. Ed.5, v.26, p.785-793, jul. 2005.BALBINOT, Luciane Fachin. Toxina Botulínica do tipo A. In: MACIEL, R.N. Bruxismo. São Paulo: Artes Médicas; p.525-534,set. 2010.GONZALEZ, Daniela Aparecida Biasotto. Abordagem interdisciplinar das disfunções temporomandibulares. Ed.1; EditoraManole; p.246; Barueri, jun. 2005.LEE, Seung; MCCALL, Willard; KIM, Young; CHUNG, Sung; CHUNG, Jin. Effect of botulinum toxin injection on nocturnalbruxism: a randomized controlled trial. Am J Phys Med Rehabil. Ed.1; v.89, p.16-23, jan. 2010.NARDINI, Luca Guarda; MANFREDINI, Daniele; SALAMONE Milena; SALMASO Luigi; TONELLO, Stefano; FERRONATO,Giuseppe. Efficacy of botulinum toxin in treating myofascial pain in bruxers: a controlled placebo pilot study. Cranio.Ed.2, v.26, p.126-135, mar.2008.SPOSITO, Maria Matilde de Mello; TEIXEIRA, Stephanie Alderete Feres. Toxina Botulínica Tipo A para bruxismo: analise
sistemática. Artigo de Revisão. Acta Fisiatr. Ed.4, v.21, p.201-204, set. 2014.TRUONG, Daniel; BHIDAYASIRI, Roongroj; CARDOSO, Fernando. Botulinum toxin in blepharospasm and oromandibulardystonia: comparing different botulinum toxin preparations. European Journal of Neurology. v.13, set.2016.
CARACTERISTICA DA DIETA VEGANA E VETARIANA
1LARISSA SPERANDIO COUTINHO, 2SUELLEN LAIS VICENTINO VIEIRA
1Acadêmica do Curso de Nutrição - UNIPAR - Umuarama1Docente da UNIPAR
Introdução: O vegetarianismo tem sido praticado por muitos indivíduos, povos e grupos ao longo dos séculos, e em muitaspartes do mundo. Antes de se usar a palavra ( vegetariano) em 1842, era conhecido como regime vegetal ou regime pitagórico(segundo Pitágoras, o filósofo do século VI antes de Cristo). A primeira Sociedade Vegetariana foi fundada em 1847, emManchester, e logo depois, em todo o mundo foram surgindo outras sociedades vegetarianas.(NORONHA et. al.,2017).O estilode vida vegano é um movimento que tem ganhado cada vez mais adeptos devido o seu método de vida, ética, saúde, meioambiente, familiares, espirituais e religiosos e filosofia. Vegetarianismo é um regime alimentar baseado unicamente na ingestãode vegetais, ou seja, consiste na eliminação do consumo de todo e qualquer tipo de carne, de origem bovina, suína, de frango, depeixes, de frutos do mar, podendo ou não utilizar laticínios ou ovos, enquanto que os veganos são aqueles que não consomemquaisquer alimentos, bem como, produtos (roupas, sapatos, entre outros), sejam de origem animal ou ainda utilizem animais parao processo de produção (LIMA; MENEZES; MENEZES, 2017).Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfico implicações das dietas veganas e vegetarianas e seu estilo de vida .Desenvolvimento: As dietas veganas podem estar se tornando mais visíveis, devido à proliferação das mídias sociais comomeio de compartilhar experiências, e discutir opiniões. Promovido por alguns por supostos benefícios para a saúde, como aredução do risco de doença cardíaca, menor LDL ( Low Density Lipoproteins) mau colesterol, pressão arterial, diabetes tipo II ecâncer. O aumento da visibilidade a capacidade dos concorrentes veganos de alto nível pode sugerir que o veganismo poderiaestar se tornando mais atraente para alguns, especialmente se os atletas mais bem-sucedidos adotarem e divulgar seus estilosde vida veganos (ROGERSON, 2017). As dietas vegetarianas são muito pobres em ingestão de ferro, pois, o ferro não heme queé o de origem vegetal é menos disponível do que o ferro heme que é o de origem animal, e os legumes são conhecidos porconter várias substâncias que reduzem a disponibilidade deste mineral. Entretanto, está presente nos vegetais a vitamina C, queaumenta a absorção de ferro, o que pode a ajudar a prevenir a deficiência deste mineral no organismo. Como a elaboração docardápio saudável inclui proteínas na quantidade de 10 a 15% dos VCT, nos estudos populacionais a dieta vegetariana tende aser mais apropriada do que a onívora para manter as proporções sugeridas pelas DRI (NORONHA, et al. 2017). A aderência aestilos de dietas diferenciadas como os vegetarianos e veganos apresentam benefícios, porém para que as quantidadesnutricionais de cada componentes de uma dieta adequada sejam atingidos, é importante o acompanhamento de uma profissionalnutricionista, para a adequação da dieta ao novo estilo alimentar e também a rotina de vida do indivíduo.Conclusão: Novos estilos de vida estão sendo aderidos nos últimos temos no intuito de melhorar a qualidade de vida. Ovegetarianismo e o veganismo, são dois movimentos alimentares que apresentam um constante aumento de adeptos. Ovegetarianismo são indivíduos que não consomem carnes, porém alimentos de origem animal como ovos e leites são ingeridos.Já os veganos consomem, nem mesmo utilizam quaisquer alimentos ou produtos que seja de origem animal. Pesquisas vemmostrando os benefícios destes tipos de dietas, porém devidos as restrições o acompanhamento por um nutricionista é primordialpara garantir a ingestão das quantidades de nutrientes adequadas para uma dieta, melhorando a qualidade de vida enutricionalmnete, sempre que for mudar um habito de vida sempre procurar orientação, para não sofrer danos emocionais enutricionais.
ReferênciasLIMA, S. C. F., MENEZES B. B., MENEZES B. B. Avaliação do conhecimento de alimentar e nutricional de vegetarianos.Fundação Universidade Federal Mato Grosso do Sul, Anais da x mostra cientifica famez I UFMS, Campo Grande, 2017.ROGERSON, D. Vegan diets practical advice for athletes exercisers. Journal of the international society of sprots nutrition2017, Academy of sport and physical Sheffield hallam University, S10. 2BP.NORONHA, T. B. et. al. Avaliação qualitativa de nutrientes na alimentação vegetariana. Revista UNINGÁ review, v..29, n0 1, p.222- 226 jan- mar 2017.NORONHA, T. B. et. al. Avaliação qualitativa de nutrientes na alimentação vegetariana. Revista UNINGÁ review, Vol.29, n0 1,pp. 222- 226 jan- mar 2017.
A SALIVA COMO MEIO DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS BUCAIS E SISTÊMICAS: REVISÃO DE LITERATURA
1STEFANIA GASPARI, 2THALIA HAMURA, 3MARIA RITA BARBOSA DE OLIVEIRA, 4JOAO CARLOS RAFAEL JUNIOR,5PALOMA CASTILHO CASAGRANDE, 6KLISSIA ROMERO FELIZARDO
1Discente do curso de Odontologia-UNIPAR/Acadêmico PIC/UNIPAR1Discente do curso de Odontologia/UNIPAR/Acadêmico PIBIC/UNIPAR2Discente do curso de Odontologia/UNIPAR/Acadêmico PEBIC/UNIPAR3Discente do curso de Odontologia/UNIPAR/Acadêmico PEBIC/UNIPAR4Discente do curso de Odontologia/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A saliva é uma secreção biológica, aquosa transparente secretada diretamente na cavidade oral por três glândulassalivares: submandibular, parótida e sublingual. É composta por uma complexa mistura de produtos secretórios (orgânicos einorgânicos) de glândulas salivares e de outras substâncias provenientes da mucosa da orofaringe, vias aéreas superiores,refluxo gastrintestinal, fluido do sulco gengival, restos alimentares e componentes derivados do sangue (LIMA et al. 2014). Asaliva apresenta diversas funções que contribuem para um bom funcionamento do organismo. É capaz de manter o pH estávelpossuindo um sistema tamponante que favorece a remineralização da superfície dentária, inicia o processo digestivo, além depossuir um amplo grupo de constituintes protéicos e não protéicos com o propósito de manter a saúde da cavidade oral, essearsenal de componentes possui um imenso potencial informativo para a detecção de doenças sistêmicas (LIMA et al. 2014).Objetivo: O objetivo do trabalho é apresentar através de uma revisão de literatura a capacidade da saliva no diagnóstico dedoenças bucais e sistêmicas.Desenvolvimento: De acordo com Javaid et al. 2015 alterações na genética dos seres humanos podem ser detectadas pordiagnósticos moleculares e anomalias em ácidos nucleicos e proteínas presentes nos fluidos corporais, podendo ser usadoscomo biomarcadores efetivos para o diagnóstico de doenças. Algumas moléculas da composição salivar têm potencialidade deserem biomarcadores relacionados com as mais variadas doenças orais e sistêmicas, permitindo o diagnóstico e monitorizaçãodas mesmas (FINO, 2018). A sialometria é um teste que avalia o fluxo salivar diagnosticando alterações como xerostomia ehipossalivação. A coleta do material pode ser feita de maneira não estimulada e de maneira estimulada mastigatória (goma demascar) ou gustativa (ácido cítrico). A secreção de uma glândula isoladamente pode ser útil na avaliação da função dessaglândula em particular, portanto para diagnóstico de alterações glândula-específica. Outrossim, a saliva total é avaliada com ointuito de elucidar alterações sistêmicas (MOURA et al. 2007). De acordo com ROCHA et al. 2018 o fluido salivar contémanticorpos que passam para a saliva através do fluido crevicular, podendo diagnosticar hepatites A, B e C através da presença deIgM. A diabetes mellitus é uma doença sistêmica caracterizada pela taxa elevada de glicose que se manifesta no meio bucal como hálito cetônico e a xerostomia, além de apresentar um maior conteúdo de cálcio através da sialometria. Os componentesbioquímicos salivares parecem alterar suas concentrações na presença ou iminência de lesões neoplásicas da boca. Essasituação possibilita a criação de um novo painel de concentração de componentes salivares na presença do carcinoma de célulasescamosas (CURVELO et al. 2010). A candidose, doença infecciosa, também pode ser detectada através da presença decândida spp na saliva (ROCHA et al. 2018). Identificando os indivíduos mais susceptíveis através de testes salivares, seriapossível fortalecer as medidas preventivas a fim de evitar que essa enfermidade se instale (FINO, 2018). Conclusão: O método da sialometria é um método de baixo custo, fácil armazenamento e reduz o desconforto durante a coletade material. Além de ser mais seguro quanto à colheita e manipulação da amostra, comparativamente a recolhas de sangue oude urina, sendo mínimo o risco de infeção cruzada (FINO, 2018). No entanto, apresenta desvantagens pois a composição salivarsofre variações em função da velocidade do fluxo salivar, e este está intimamente relacionado ao tipo, intensidade e duração doestímulo utilizado na obtenção da amostra (CABRAL, 2013). Já na investigação de processos neoplásicos onde a enfermidade éidentificada através de biópsias invasivas e geralmente quando é possível a análise, o tumor já está instalado ou mesmo emprocesso metastático. Isto sugere uma necessidade imperativa em desenvolver ferramentas novas de diagnóstico quepossibilitem a descoberta precoce (LIMA et al. 2014).
ReferênciasCABRAL, Glória Maria Pimenta. Hidratação oral e experiência de cárie em indivíduos com paralisia cerebral/Glória MariaPimenta Cabral, [s.n], São Paulo, 2013.CURVELO, José Alexandre da Rocha et al. Análise da Saliva nas Desordens Sistêmicas. Revista de Odontologia da
Universidade Cidade de São Paulo, v.22, n.2, p.163-173, mai/ago, 2010.FINO, Mariana de Abreu Candeias Santos. A SALIVA COMO MEIO DE DIAGNÓSTICO. 2018. Tese (Mestre em MedicinaDentária) - Instituto Universitário Egas Moniz, 2018.JAVAID, Mohammad et al. Saliva as a diagnostic tool for oral and systemic diseases. Journal of oral biology and craniofacialresearch, v.6, p. 67-76, 2016.LIMA, Daniela Pereira.; CORREIA, Adriana Sales Cunha.; ANJOS, Aline Lima Dos.; BOER, Nagib Pezati. O USO DE SALIVAPARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS ORAIS E SISTÊMICAS. Revista Odontológica de Araçatuba, v.35, n.1, p. 55-59, jan/jun,2014.LIMA, Everton Diego Araújo de et al. SALIVA E HIDRATAÇÃO: IMPORTÂNCIA DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DASALIVA PARA MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO BUCAL SATISFATÓRIA EM PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL.Revista Campo do Saber, v.3, n.1, p.101-119, jan/jun, 2017.MOURA, Sérgio Adriane Bezerra de et al. Valor Diagnóstico da Saliva em Doenças Orais e Sistêmicas: Uma Revisão deLiteratura. Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada, v.7, n.2, p.187-194, mai/ago, 2007.ROCHA, Daniele Pinheiro Accioly.; SANTOS, Rebeca Marques da Silva.; SANTOS, Diego Belmiro do Nascimento.; AZEVEDO,Daniela Carvalho.; FALCÃO, Ana Carolina de Souza Leitão Arruda. A SALIVA NO DIAGNÓSTICO EM ODONTOPEDIATRIA.ODONTOLOGIA CLÍNICO-CIENTÍFICA, v.17, n.4, p.243-247, out/dez, 2018.
REINTERVENÇÃO ENDODÔNTICA APÓS 60 ANOS. REMOÇÃO DE CONES DE PRATA E MONITORAMENTORADIOGRÁFICO: RELATO DE CASO CLÍNICO
1DUANI CRISTINA BAZZO, 2VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 3EDUARDO HENRIQUE CAVALINI, 4LUIZFERNANDO TOMAZINHO
1Aluno de Graduação do Curso de Odontologia da Universidade Paranaense - UNIPAR-Umuarama-PR1Professor Assistente do Curso de Odontologia da Universidade Paranaense - UNIPAR-Umuarama-PR2Aluno de Graduação do Curso de Odontologia da Universidade Paranaense - UNIPAR-Umuarama-PR3Professor Titular do Curso de Odontologia da Universidade Paranaense - UNIPAR- Umuarama-PR
Introdução: Intervenções endodônticas não são incomuns com o objetivo de corrigir imperfeições provenientes de tratamentosanteriores, causada por infecções persistentes (PAIVA, 1992). No final da década de 20, a utilização de cones de prata comomaterial obturador era muito bem aceita e ganharam um efeito notório, devido sua rigidez e flexibilidade, associada a facilidadede seu emprego em canais curvos e atresiados (LEONARDO, 1998). Com a evolução dos materiais, o cone de prata acabousendo substituído pela guta-percha, sendo raro nos dias de hoje, encontrarmos tratamento realizados com os mesmos. Portanto,este trabalho tem como objetivo principal descrever um caso clínico de uma reintervenção endodôntica em um elemento dental,que segundo relato do paciente, foi realizado à aproximadamente 60 anos atrás, onde o mesmo se apresenta insatisfatório e compresença de cones de prata como material obturador dos canais mesiais. Relato de caso: Paciente E.C. 79 anos, sexo masculino,procurou a clínica odontológica relatando sensibilidade ao toque naregião posterior direita da mandíbula. Nos exames clínicos e físicos, o elemento dental 46 apresentou-se sensível ao teste depercussão vertical e horizontal, além de clinicamente mostrar uma fístula na região apical do mesmo. Radiograficamente, oelemento em questão apresentou à presença de material obturador no interior dos canais e também foi detectada uma extensaimagem radiolúcida na região apical das raízes mesiais. Após uma cuidadosa anamnese, o paciente relatou que o referidoelemento havia sido submetido a tratamento endodôntico à aproximadamente 60 anos atrás. Neste mesmo dente,aproximadamente à vinte anos atrás, houve uma nova intervenção, onde o cirurgião-dentista que a realizou o procedimento,alegou presença de um material obturador de difícil remoção com obturação de cones de prata, nos canais mesiais e distais,executando o retratamento apenas da raiz distal. A Terapia proposta foi a remoção dos cones de prata, retratamento endodônticoe proservação radiográfica. A regressão total dos sinais e sintomas, assim como a neoformação óssea visível radiograficamente,demonstram o sucesso da terapia estabelecida já na segunda sessão.Discussão: Os cones de prata fizeram parte da história da endodontia e que hoje, caíram em desuso no início dos anos 80 como avanço das técnicas de obturação do sistema de canais radiculares. Os processos de corrosão do cone de prata como vimosnem sempre é a causa de um insucesso do tratamento endodôntico e se este for bem obturado não oferece risco nenhum aopaciente. Existem monitoramentos radiográficos por longos períodos, que mostram tratamentos endodônticos com cones deprata apresentando sucesso clínico e radiográfico. Muitos casos de retratamentos não estão ligados somente à corrosão doscones de prata, e sim a falhas de obturação, relacionadas à grande sensibilidade da técnica e que não aparecem na radiografiafinal. Em estudo realizado por Seltzer et al, demonstrou-se que, clinicamente quando o cone está solto no canal radicular semcimentação, ocorre algum tipo de corrosão, o que não ocorre nos que estão bem cementados. Já BRADY e DEL RIO, 1975,concluíram nas suas pesquisas que a possibilidade da corrosão está diretamente relacionada com a qualidade da técnica que oendodontista usou para obturar o canal é o determinante da corrosão a sensibilidade da técnica. Em nosso caso clínico, os conesde prata estavam fracamente aderidos ao interior das paredes dentinárias, não oferecendo resistência quanto ao emprego doultrassom em sua remoção. Talvez essa condição possa ter facilitado a percolação de fluidos periapicais e manutenção doprocesso infeccioso. O emprego do ultrassom, além de ter propiciado a quebra da linha de cimento entre os cones de prata e aparede interna dentinária, favorece, através do processo de cavitação e energização da solução irrigadora, uma maiorsanificação do sistema de canais radiculares, que pode ter influenciado diretamente no sucesso deste tratamento. Existiu nopassado uma ampla variedade de técnicas para tratamento de canais radiculares, com cones de prata e diversos outrosmateriais. Na época, era o que se dispunha e quando a técnica era bem empregada, apresentava muitas vezes sucesso. Nosdias atuais, dispomos de técnicas e materiais mais evoluídos, que elevam demasiadamente o índice de sucesso. Este casorelatado é um bom exemplo de substituição de um material obturador antigo por uma mais moderno, onde a regressão total dossinais e sintomas, assim como a neoformação óssea visível radiograficamente, demonstram o sucesso da terapia estabelecida.Conclusão: conclui-se que as obturações com cone de prata marcaram época e apresentaram sucesso quando bemexecutadas, a prova disso são os acompanhamentos dos pacientes com essas obturações até os dias de hoje, porém essa
técnica entrou em desuso, sendo substituída pelo conde de guta-percha. Atualmente é difícil encontrarmos obturação com conede prata.
ReferênciasALLEN, et al. A statistical analysis of surgical and nonsurgical endodontic retreatment cases. J.Endod, v. 15, p. 261 266,junho. 1989. BRADY, J. M; DEL RIO, C. E. Corrosion of endodontic silver cones in humans: a scanning electron microscope and x-raymicropore study. J Endod, Washington, v. 1, n .6, p. 205-210, junho. 1975GERGI R; S. C. Effectiveness of two nickel-titanium instruments and a hand file for removing gutta-percha in severelycurved root canals during retreatment: an ex vivo study. Int Endod J, v. 40, p.532 7. 2007.HAMMAD, M.; QUALTROUGH A, S. N. Three-dimensional evaluation of effectivenessof hand and rotary instrumentationfor retreatment of canals filled with differentmaterials. J Endod, v.34, p.1370 3. agost. 2008.LEONARDO, M. R; LEAL, J. M. Endodontia. Tratamento dos canais radiculares. Editora Médica Panamericana, 1998.LIN, L. M; SKRIBNER, J. E.; GAENGLER, P. Factors associated withendodontic treatment failures. J Endod; v.18, n.12,p.625-627. 1992.PAIVA, J. G.; ANTONIAZZI, J; H. Endodontia: Bases para Prática clínica [S.l: s.n.], 1991.SELTZER S. et al. A Scanning electron microscope examination of silver cones removed from endodontically treatedteeth. Oral Surg., v.33, n.4, p. 589-605. 1972
ALTERAÇÕES PERIODONTAIS EM ADOLESCENTES QUE FAZEM USO DE APARELHO ORTODÔNTICO
1CAROLINA SILVA TOPA, 2VERUSKA DE JOAO MALHEIROS PFAU
1Acadêmica do curso de Odontologia da Unipar1Docente da UNIPAR
Introdução: A adolescência é um período compreendido entre os 10 e 19 anos, sendo considerada uma fase susceptível para ainstalação de cárie e doenças periodontais, devido a falta de uma prática correta de higienização bucal (SPALJ et al., 2014).Motivos relacionados a estética fazem aumentar a procura por tratamentos ortodônticos nesta fase, considerada crítica, pois aomesmo tempo que buscam melhor aparência estética, existem fatores que atuam de forma negativa, como mudanças decomportamento, hábitos alimentares, alterações hormonais, além de deficiência no controle do biofilme dental (SILVEIRA etal., 2012). A terapia ortodôntica também pode atuar como fator retentivo de biofilme dental, o que nesse grupo de pessoas poderesultar em diversos tipos de problemas periodontais.Objetivo: Este trabalho tem por objetivo fazer um levantamento bibliográfico sobre as possíveis alterações periodontais emadolescentes que fazem uso de aparelho ortodôntico, e o papel do cirurgião dentista no tratamento e prevenção de taisalterações.Desenvolvimento: Diversos problemas bucais podem se manifestar na adolescência. O acúmulo de biofilme é um dos fatoresmais importantes para o desenvolvimento das principais doenças bucais como a cárie, problemas gengivais, endodônticos,levando até a possível perda dos dentes. Assim, em pacientes que fazem uso de dispositivos ortodônticos estes problemaspodem ser agravados pela maior dificuldade de higienização (MAIA et al., 2011). Periodontalmente, quando existemdesequilíbrios entre a ação microbiana e a resposta do hospedeiro, pode haver a progressão das doenças periodontais. Osproblemas mais associados a adolescência são a gengivite, levando a sangramento gengival, hiperplasias gengivais, abscessosperiodontais, recessão gengival e até mesmo doenças necrosantes (GUN). Além disso, as alterações hormonais, principalmenteem meninas podem agravar estes problemas. A preocupação com a evolução da doença periodontal, quando associada ao usodo aparelho ortodôntico esta relacionada ao aumento do risco, ou maior rapidez no processo de reabsorção óssea, devido amovimentação associada a alteração da microbiota e a reação inflamatória. Por outro lado, a hiperplasia gengival pode interferirna movimentação e tornar a higienização ainda mais prejudicada. Desta forma, em alguns casos pode ser necessário paralisar amovimentação e tratar a doença, ou então remover o excesso gengival das áreas com hiperplasia, para posteriormente retornarao tratamento ortodôntico de forma segura (KAHN et al., 2019). Portanto, é de suma importância, principalmente durante otratamento ortodôntico, o correto acompanhamento do paciente pelo cirurgião dentista, o qual deve atuar de forma preventiva,orientando e motivando a um bom controle da higiene bucal. E quando se fizer necessário, tratar ou encaminhar a profissionalespecializado (SPEZZIA et al., 2018).Conclusão: A dificuldade de higienização e acumulo de biofilme é o principal fator que pode aumentar o risco de ocorrência dealterações periodontais em pacientes adolescentes que fazem uso de aparelho ortodôntico. Tais alterações devem serpercebidas e tratadas pelo cirurgião dentista, antes que possam levar a progressão da doença. Para tanto o ideal é que haja umacompanhamento adequado utilizando processos preventivos, onde a base está no correto controle da higiene bucal.
ReferênciasKAHN, Sérgio.; FISCHER, Ricardo Guimarães; DIAS, Alexandra Tavares.; e colaboradores. Periodontia e Implantodontiacontemporânea. 1 ed. São Paulo: Quintessence, 2019.MAIA, Luciana Prado; NOVAES JR, Arthur Belém; SOUZA, Sérgio Luís Scombatti; PALIOTO, Daniela Bazan; TABA JR, Mário;GRISI, Márcio Fernando de Moraes. Ortodontia e Periodontia Parte I: Alterações periodontais após a instalação de aparelhoortodôntico. Braz j periodontol, vol 21, 2011.SILVEIRA, Marise Fagundes; MARTIN, Andreá Maria Eleutério de Barros Lima; NETO, Pedro Eleutério dos Santos;OLIVEIRA, Pedro Emílio Almeida; ALMEIDA, Júlio César; FREIRE, Rafael Silveira. Adolescentes: uso de serviçosodontológicos, hábitos e comportamentos relacionados a saúde e autopercepção das condições de saúde bucal. VerUnimontes Cientific, v. 14, n. 1, 2012.SPALJ Stjepan; IVANKOVIC, Luida; PLANCACK, Darije. Oral health-related risk behaviours and attitudes among Croatianadolescents-multiple logistic regression analysis. Coll Antropol, v. 38, n.1, 2014.SPEZZIA, Sérgio. Alterações Periodontais na Adolescência. Braz J Periodontol, v. 28 n. 1, 2018.
PREVALÊNCIA DE QUEILITE ACTÍNICA EM TRABALHADORES RURAIS- REVISÃO DE LITERATURA
1JOAO CARLOS RAFAEL JUNIOR, 2SABRINA PAIXAO DOS SANTOS RODRIGUES, 3STEFANIA GASPARI, 4NATALIACOQUEIRO SIQUEIRA, 5MARIA RITA BARBOSA DE OLIVEIRA, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmico bolsista do PEBIC/CNPQ1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Acadêmica bolsista do PEBIC/CNPQ5Docente da UNIPAR
Introdução: Sabe-se que o câncer é uma das doenças que mais afeta toda a população brasileira, e dentre todos eles pode-secitar o câncer de boca, representado como o quinto tipo mais prevalente em homens e o sétimo em mulheres, como um dos maispreocupantes. Alguns sinais de alerta podem preceder o desenvolvimento de um câncer bucal, dentre eles pode-se citar aqueilite actínica (ANACLETO, 2015). A queilite actínica refere-se a uma alteração crônica, pré-maligna resultante da exposiçãosolar frequente e prolongada, desse modo, percebe-se a maior ocorrência de queilite actínica em trabalhadores rurais(MIRANDA, et al. 2011).Objetivo: O objetivo deste trabalho é realizar, através de uma revisão bibliográfica, uma pesquisa sobre a prevalência de queiliteactínica em trabalhadores rurais, população diretamente exposta aos fatores etiológicos desta patologia.Desenvolvimento: O Ministério da Saúde, por meio do Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que no biênio de 2018/2019haja a ocorrência de 600 mil novos casos de câncer no Brasil, sendo que destes 11.200 serão de câncer de boca,caracterizando-se, desse modo, como um problema nacional de saúde pública, o que implica na necessidade de prevenção econtrole (GUERRA e GALLO, 2005). Dentre os tipos de câncer mais comuns, podemos citar o câncer de boca, sendo o quintotipo mais prevalente em homens e o sétimo em mulheres (INCA). Alguns sinais podem preceder ao desenvolvimento do câncerbucal, são as chamadas lesões pré-malignas. Consiste em um tecido morfologicamente alterado no qual é mais provável aocorrência de câncer do que em um tecido local normal, dentre elas pode-se citar a leucoplasia, eritroplasia e queilite actínica(LUCIO e BARRETO, 2012). A queilite actínica é uma lesão crônica, pré-maligna, resultante da exposição solar frequente eprolongada sem proteção e acomete principalmente o lábio inferior (CINTRA, et al, 2013). É definida como uma condiçãodegenerativa do epitélio de revestimento causada pela ação da radiação ultravioleta do sol sob os lábios, gerando uma elastosesolar com alterações irreversíveis nas suas fibras colágenas e presença de células atípicas do processo inflamatório crônico notecido (ARNAUD, et al. 2014).É caracterizada clinicamente por áreas ásperas, escamosas, esbranquiçadas de espessuravariada, com limites e contornos mal definidos, associada ou não à áreas vermelhas, podem ocorrer o desenvolvimento de pêlose a presença de áreas leucoplásicas. Uma característica importante é a perda de elasticidade e formato do contorno labial,ficando enrijecido. Em alguns casos pode estar associado fissuras, ulcerações e sangramentos. Acomete em sua maioriaindivíduos da raça branca, gênero masculino e expostos excessivamente a radiação solar como trabalhadores rurais. No Brasil,onde a exposição solar é intensa, o câncer de lábio assume uma grande importância, já que os raios solares constituem oprincipal fator de risco para o desenvolvimento do carcinoma espinocelular. Cintra, et al. (2013), realizou um estudo com 120trabalhadores rurais na cidade de Piracicaba- SP, foram encontrados em 37 trabalhadores (30,8%) um grau de leve a moderadode queilite actínica. Além disso, este estudo mostrou que 84,2% dos avaliados, não usavam proteção. Os achados de Miranda,et al. (2011) mostraram que em uma população de trabalhadores rurais de uma usina de cana de açúcar, dos 1539 avaliadosforam registrados 141 casos de QA, dentre eles 90,78% eram da raça branca e 75,18% do sexo masculino. Tais dadosencontrados na literatura ressaltam e relevância desta lesão nesta parcela da população exposta diariamente à radiação solar,isso exprime a necessidade de ações de prevenção e métodos de proteção que podem prevenir e ao mesmo tempo protegerestes trabalhadores dos efeitos deletérios da radiação solar.Conclusão: A quelite actínica, sendo uma lesão pré-maligna, merece ter uma atenção especial. Podemos afirmar que ostrabalhadores rurais consistem em uma parcela da população muito vulnerável ao desenvolvimento desta lesão, pelanecessidade trabalhista obriga-los a trabalhar sob exposição solar frequente. É necessário que sejam traçadas medidas deprevenção e promoção de saúde, visando orientar os trabalhadores rurais quanto a métodos de proteção e realização deautoexame com o intuito de perceber alterações precocemente.
Referências
ANACLETO, Sara Pinto de Sá. Queratose actínica: da patogênia a terapêutica. 2015. 58f. Dissertação (Mestrado integrado emMedicina)- Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, 2015.ARNAUD, Rachel Reinaldo. Queilite actínica: avaliação histopatológico de 44 casos. Rev. Odontol. UNESP, v.43, n.6, p.384-389, nov./dez. 2014.CINTRA, José Silvino. Queilite actínica: estudo epidemiológico entre trabalhadores rurais do município de Piracicaba- SP. Rev.Assoc. Paul. Cir. Dent., São Paulo, v.67, n.2, p. 118-121, 2013.GUERRA, Maximiliano Ribeiro; GALLO, Cláudia Vitoria de Moura. Riscos de câncer no Brasil: tendências e estudosepidemiológicos mais recentes. Rev. Bras. De Cancerologia, v.51, n.3, p.227-234, 2005.INCA. Instituto Nacional do Câncer. Disponível em:< https://www.inca.gov.br/>. Acesso em: 06 ago. 2019.LUCIO, Priscilla Suassuna Carneiro; BARRETO, Rosimar de Castro. Queilite actínica-perfil da produção científica em odontologiano Brasil nos últimos dez anos. Rev. Cubana Estomatol., Ciudad de La Habana, v.49, n.4, p.276-285, 2012.MIRANDA, Ana Maria Oliveira et al. Queilite actínica: aspectos clínicos e prevalência encontrados em uma população rural dointerior do Brasil. Rev. Saúde e pesquisa, v.4, n.1, p.67-72, jan./abr. 2011.
BLINDAGEM CORONÁRIA EM DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE: REVISÃO DE LITERATURA
1EDUARDO HENRIQUE CAVALINI, 2DUANI CRISTINA BAZZO, 3MATEUS GALVAO BAZILIO, 4KLISSIA ROMEROFELIZARDO
1Aluno de Graduação do Curso de Odontologia da Universidade Paranaense - UNIPAR-Umuarama-PR1Aluno de Graduação do Curso de Odontologia da Universidade Paranaense - UNIPAR-Umuarama-PR2Aluno de Graduação do Curso de Odontologia da Universidade Paranaense - UNIPAR-Umuarama-PR3Docente da UNIPAR
Introdução: Atualmente denominada de blindagem coronária , essa técnica tem como intuito aumentar a resistência do denteà fratura, além de prevenir a infiltração coronária (GUPTA et al., 2016). Na literatura científica, o termo é também conhecido como
barreira intraorifício , sendo definido como a colocação de um material restaurador na entrada do orifício do canal radicularimediatamente após a remoção de 3 mm de guta-percha e cimento (ROGHANIZAD, JONES, 1996). A reconstrução coronáriadeve recuperar o desempenho biomecânico do dente tratado endodonticamente da forma mais semelhante possível à original(ESTRELA et al., 2017). Assim, o material de escolha para confecção de restaurações coronárias definitivas pós-tratamentoendodôntico precisa promover o melhor selamento e possuir compatibilidade biológica, boa adesão às estruturas dentárias, fácilmanipulação, estabilidade química na cavidade oral, estética e propriedades físicas adequadas (ESTRELA et al., 2017).Entretanto esse conjunto de qualidades não pode ser encontrado em um único material, sendo necessário que o cirurgião-dentista avalie de forma crítica os materiais disponíveis no mercado, a fim de buscar aquele que melhor se adapte àsnecessidades do elemento dentário a ser restaurado, sempre levando em conta as evidências existentes na literatura.Objetivo: Considerando o exposto, o objetivo desta revisão é reportar os dados existentes na literatura odontológica a respeitodos materiais disponíveis para realização da barreira intraorifício em dentes tratados endodonticamente, e discutir se taismateriais conseguem vedar a infiltração, não causando prejuízos na resistência e longevidade do dente.Desenvolvimento: Diversos estudos têm avaliado a microinfiltração de materiais restauradores temporários e definitivos. Noentanto os resultados são bastante divergentes, não apontando diretamente qual a técnica ou qual o melhor material a ser usadopara selamento dos canais radiculares (BAYRAM et al., 2013; MALIK et al., 2013; PAREKH et al., 2014). Alguns materiais, comorestauradores temporários, resina composta, cimento de ionômero de vidro (CIV), cimento de óxido de zinco e eugenol (IRM®) eagregado de trióxido mineral (MTA), vêm sendo comumente recomendados, com vistas à diminuição da microinfiltração coronáriae ao reforço radicular (MALIK et al., 2013). Mais recentemente também materiais à base de cálcio e a resina bulk-fill vêm sendosugeridos para tal aplicação (JOHN et al., 2008). Estudos confirmaram que a utilização de materiais com alto módulo deelasticidade como barreira intraorifício promove reforço radicular contra as cargas oclusais geradas sobre o dente. Assim, éimportante usar materiais restauradores com módulo de elasticidade semelhante ao da dentina para minimizar o estresse nainterface dente-restauração e também para dar reforço radicular, uma vez que a guta-percha não possui essa propriedade(GUPTA et al., 2016). O CIV, por exemplo, foi o material que mostrou maior resistência à fratura, por causa de seu alto módulode elasticidade, semelhante ao da dentina, sendo capaz de suportar grande quantidade de carga antes de transmiti-la para aestrutura radicular (GUPTA et al., 2016). Segundo Fathi et al. (2007), as propriedades ideais dos materiais utilizados comobarreira intraorifício são: (a) fácil manipulação e colocação do material no canal radicular, (b) adesão à estrutura dentária, (c)selamento contra microinfiltração, (d) distinguível da estrutura dentária e (e) não interferir na adesão e coloração da restauraçãofinal. Todavia nenhum material possui todas as propriedades supracitadas, por isso se deve escolher aquele que se enquadre namaioria delas. Com base nas propriedades ideais dos materiais propostas por Fathi et al. (2007) as resinas compostasconvencionais e as bulk-fill flow são os materiais que se enquadram na maioria das características. Porém as resinasconvencionais têm limitações relacionadas à formação de fendas na interface dente-restauração, podendo causar infiltração debactérias (EL-DAMANHOURY, PLATT, 2014). Com o intuito de aprimorar as resinas compostas, introduziu-se no mercado aresina bulk-fill, que, por ser de preenchimento único, possui menor contração de polimerização, com menor ocorrência de fendasmarginais e infiltração bacteriana (EL-DAMANHOURY, PLATT, 2014). Assim, uma resina bulk-fill flow possui melhorespropriedades contra infiltração e alta viscosidade, o que facilita sua manipulação e preenchimento, sendo altamente indicada paraconfecção da blindagem coronária.Conclusão: Embora a restauração coronária seja determinante para o sucesso do tratamento endodôntico, nenhum materialrestaurador é capaz de prevenir completamente infiltrações. As resinas compostas convencional e bulk-fill flow são os materiaiscom melhores propriedades associadas aresultados satisfatórios, no entanto são necessários estudos clínicos comparando osmateriais usados como barreira intraorificio.
ReferênciasBayram Melike, Çelikten Berkan, Bayram Emre, Bozkurt Alperem. Fluid flow evaluation of coronal microleakage intraorifice barriermaterials in endodontically treated teeth. European Journal of Dentistry, v.7, n.3, p.359-62, jul. 2013.El-Damanhoury Hatem, Platt Jeffrey. Polymerization shrinkage stress kinetics and related properties of bulk-fill resin composites.Operative Dentistry. v.39, n.4, p.374-82, Apr. 2014.Estrela Carlos, Pécora Jesus Djalma, Estrela Cyntia, Guedes Orlando, Silva Brunno, Soares Carlos José et al. CommonOperative Procedural Errors and Clinical Factors associated with root canal Treatment. Brazilian Dental Journal, v.2, n.28, p.179-90, mar./Apr. 2017.Fathi Bahareh, Bahcall Jame, Maki James. An in vitro comparison of bacterial leakage of three common restorative materials usedas an intracoronal barrier. Journal of Endodontics, v.7, n.33, p.872-4, July. 2007.Gupta Abhishek, Arora Vipin, Jha P, Nikhil V, Bansal Padmanabh. An in vitro comparative evaluation of diferente intraorificebarriers on the fracture resistance of endodontically treated roots obturated with gutta percha. Journal of Conservative Dentistry, v.2. n. 19, p.111-5, Marc. 2016.John Anthony, Webb Terry, Imamura Glen, Goodell Gary. Fluid flow evaluation of Fuji Triage and gray and white Proroot mineraltrioxide aggregate intraorifice barriers. Journal of Endodontics, v. 7, n.34, p.830-2, August. 2008.Malik Gauri, Bogra Poonam, Singh Sinramjeet, Samra Rupan Kaur. Comparative evaluation of intracanal sealing ability of mineraltrioxide aggregate and glass ionomer cement: an in vitro study. Journal of Conservative Dentistry, v.6, n.16, p.540-5, Mar. 2013.Parekh Bandish, Irani Rukishin, Sathe Sucheta, Hegde Vivek. Intraorifice sealing ability of different materials in endodonticallytreated teeth: an in vitro study. Jonservative of Dentistry. n.3, v.17, p. 234-7, May-Jun. 2014.Roghanizad Nasrin, Jones Jefferson. Evaluation of coronal microleakage after endodontic treatment. Journal of Endodontics, v. 9,n.22, p.471-3, Sep. 1996.
AMÁLGAMA DE PRATA: CHEGOU O SEU FIM? QUEM VAI SUBSTITUÍ-LO?
1NATALIA LOPES HUNGARO, 2RAFAEL ANTONHOLI DA SILVA, 3KLISSIA ROMERO FELIZARDO
1Acadêmica/UNIPAR1Acadêmico/UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: O amálgama é um material restaurador consagrado pelo uso na Odontologia, com fortes evidências científicas desucesso clínico (MONDELLI, 2014; PÉCORA, 2003). Sofreu ao longo dos anos algumas modificações em sua composiçãovisando melhorias em seus resultados. Porém, nos últimos anos tem se discutido em relação à continuidade de seu uso naprática clínica odontológica (ANVISA, 2010), devido a sua toxicidade e principalmente ao seu inadequado descarte, gerando umrisco em potencial de contaminação ao meio ambiente (NARVAI, 2014; (MONDELLI, 2014). Objetivo: Este trabalho tem como objetivo responder a seguinte pergunta: O amálgama não será mais utilizado? Quais materiaisirão substituí-lo proporcionando a mesma longevidade, resistência, auto vedamento marginal e baixo custo.Desenvolvimento: Em 1956, foi divulgado o Desastre de Minamata : o despejo criminoso de 27 toneladas de mercúrio naBaía de Minamata, ocasionando a morte de 900 pessoas e lesões graves em outras 2200. A partir deste acontecimento,começou-se um movimento mundial para banir o uso do mercúrio no mundo (NAVARRO, 2015). Em 2013, os representantes demais de 140 países assinaram a Convenção de Minamata que estabelece: Até 2020 a eliminação do mercúrio em váriosmateriais (sabonetes, termômetros, medidores de pressão sanguínea, e lâmpadas fluorescentes). As restaurações de amálgamanão foram atingidas pela proibição, no entanto, o tratado sugeriu algumas disposições relativas à diminuição gradual de uso naodontologia (NAVARRO, 2015), bem como a orientação correta quanto ao descarte dos resíduos que contêm mercúrio. Osmesmos devem ser recolhidos em recipientes abertos; pequenas quantidades de mercúrio derramadas devem ser recolhidasimediatamente com fita crepe; os recipientes de vidro só devem ser usados para armazenar pequenas quantidades que serãoposteriormente transferidas para frascos de plástico rígido com tampa e boa vedação contendo solução à base de água eenxofre, e posteriormente enviado para reciclagem. A preocupação é evitar que o mercúrio impregnado em restaurações sejadescartado no meio ambiente (ALCÂNTARA et. al, 2015). O problema é que a logística reversa, que obriga o fabricante a coletare descartar corretamente o material, ainda é incipiente (REZENDE, 2008; ALCÂNTARA et al., 2015). Embora exista tecnologiadisponível para a reciclagem do amálgama, esta depende do interesse da indústria (SANTOS et al., 2016). Por outro lado, apreocupação com o fator estético por parte dos pacientes e dos dentistas tem vindo a crescer significativamente (BARATIERI etal., 2000), e essa preocupação pelo fator estético tem sido um fator limitante para a indicação do uso de restaurações comamálgama (FERRAZ et al., 2008; RATHORE et al., 2012). A partir disso, a substituição do amálgama tem estimulado diversasinstituições de ciência e tecnologia e indústrias odontológicas a desenvolverem novos materiais restauradores. Sendo assim,foram disponibilizados no mercado odontológico, os materiais denominados bioativos (McCABE et al., 2011). A liberação de flúordesses materiais pode exibir um efeito antimicrobiano, inibindo a desmineralização e potencializando a remineralização dental,como também aumento da resistência ao ataque ácido e prevenção da cárie secundária através da inibição da adesão bacteriananas suas superfícies (MALIK et al., 2018). O Cention-N (Ivoclar Vivadent, Ltda, Schaan, Liechtenstein) é um material restauradorpertencente ao grupo de compostos alkasites . Essa partícula alcalina se propõe a aumentar a liberação de íons de hidróxidopara íons de cálcio e flúor, auxiliando na remineralização do esmalte dental, com baixa liberação de íons flúor em pH neutro,porém alta em pH ácido. O Activa Bioactive-Restorative (Pulpdent, Watertown, USA) é um material bioativo estético que prometeinteragir quimicamente com os dentes, liberando grande quantidade de fosfato e capacidade de recarregar íons flúor. Contém ummonômero ácido que potencializa a interação com a estrutura dentária, estimulando a formação da apatita e a remineralizaçãonatural. Conclusão: A continuidade do uso do amálgama acaba sendo um assunto extremamente controverso quando se refere àtoxicidade do mesmo. No que diz respeito às qualidades clínicas do amálgama, a restauração dura muito mais e tem um custosignificativamente inferior ao das resinas, o que facilita o acesso ao tratamento odontológico. Hoje, apenas 60% da populaçãomundial tem acesso ao que há de melhor na odontologia (CESAR, 2014). Partindo desse princípio, acredita-se que asrestaurações de amálgama continuarão nos próximos anos, principalmente onde a odontologia de qualidade ainda não érealidade, e quando a estética não for uma preocupação (BHARTI et al., 2010).
ReferênciasALCÂNTARA et al. O futuro do amálgama na prática odontológica: o que o clínico precisa saber. Rev Tecno & info.2015;2(2):32-41
ANVISA. Gerenciamento dos Resíduos de Mercúrio nos Serviços de Saúde. Brasília: Ministério do Meio Ambiente; 2010BARATIERI LN, et al. Restaurações com Cimentos de Ionômero de Vidro. In: Baratieri LN et al. Dentística procedimentospreventivos e restauradores. 2.ed. Rio de Janeiro: Santos, 1992. Cap. 06, p.167-99.BHARTI, R. et al. Dental amalgam: an update. Journal of Conservative Dentistry. 2010;13(4):p. 204. doi: 10.4103/0972-0707.73380.CESAR, C. L. G. Saúde Pública bases conceituais. São Paulo: Atheneu; 2008. Samuel, S. M. W.; Beilner, D.; Rubinstein, C.;Süffert, L. W. R. Alteraçäo dimensional de uma liga de gálio versus amálgama de prata. Revista da Faculdade de Odontologiade Porto Alegre, v. 35, n. 1, p. 6-8, ago., 1994MALIK S, Ahmed MA, Choudhry Z, Mughal N, Amin M, Lone MA. Fluoride Release From Glass Ionomer Cement ContainingFluoroapatite And Hydroxyapatite. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2018 Apr-Jun;30(2):198-202. PubMed PMID: 29938418. MCCABE JF, Yan Z, Al Naimi OT, Mahmoud G, Rolland SL. Smart materials in dentistry. Aust Dent J. 2011 Jun;56 Suppl 1:3-10.doi: 10.1111/j.1834 7819.2010.01291.x. Review. PubMed PMID: 21564111 MONDELLI J. O que o cirurgião-dentista que prática há Odontologia deve saber a respeito do amálgama dentário. FullDent. Sci. 2014;5(19):511-26.NAVARRO, Maria Fidela de Lima. Devemos continuar ensinando amálgama dental? 2015. Responsabilidade pelainformação: Grupo Brasileiro de Professores de Dentística. Disponível em: . Acesso em: 21 agosto. 2019.NARVAI PC. O mercúrio não é vilão. Jornal Odonto. 2014 PÉCORA, J. D. Guia prático sobre resíduos de amálgama odontológico. Projeto FAPESP 01/01065-1; 2003.RATHORE, M. et al (2012). The Dental Amalgam Toxicity Fear: A Myth or Actuality. Toxicol Int, 19, pp. 81-88.REZENDE, Maria Cristina Rosifini Alves; ROSSI, Ana Cláudia; CLARO, Ana Paula Rosifini Alves. Amálgama dentário: Controledos fatores de risco à exposição mercurial. Revista odontológica de Araçatuba, Araçatuba, v. 29, n. 2, p.09-13, jul. 2008.Semestral.SANTOS et al., 2016 Rev. bras. odontol., Rio de Janeiro, v. 73, n. 1, p. 64-8, jan./mar. 2016
HOMEOPATIA NO CONTROLE DO MEDO E ANSIEDADE AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
1RAFAELA FEIX PICINATO, 2ANA CAROLINE DOS SANTOS GRUNOW, 3ISABELA VAZ DA COSTA, 4HELOISA MARIAPERESSIN, 5DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmica bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem incentivando de forma significativa o uso das Práticas Integrativas eComplementares (PICʼs). Por se reconhecer a importância dos aspectos emocionais e psicológicos do paciente, tem-se comouma das modalidades das PICʼs, o tratamento homeopático. A homeopatia é reconhecida como uma especialidade daOdontologia e através dela tem-se uma visão diferenciada do processo saúde-doença e como este funciona em cada indivíduo,sendo possível dessa forma, o controle do medo e ansiedade em tratamentos odontológicos. Objetivo: O objetivo deste trabalho é, através de uma revisão da literatura, evidenciar os benefícios do uso da homeopatia nocontrole de medo e ansiedade ao tratamento odontológico. Desenvolvimento: Desde 1946, a Homeopatia vem sendo utilizada na Odontologia. E, cada vez mais o cirurgião-dentista estáevoluindo para uma clínica terapêutica, aderindo a um melhor e mais amplo conhecimento do organismo em geral. O profissionalprocura observar o paciente de modo mais completo, em que os sinais e sintomas de ordem psíquica, geral ou local, sãovalorizados na busca do melhor medicamento, com recursos terapêuticos homeopáticos comprovados na Odontologia (BRUNINI;GIORGI, 2004). O comportamento emocional é caracterizado por ações somáticas do estado emotivo do indivíduo e a ansiedadeé um elemento significativo no aumento da sensibilidade dolorosa. Tais processos resultam em sintomas psicossomáticos ecomportamentais como náusea, palpitações, sudorese, tremores, rubor facial, choro e voz trêmula. Dessa forma, a homeopatiapossui a finalidade de realizar um equilíbrio orgânico, sendo fundamentada pela cura através da similitude, ou seja, cura pelossemelhantes, por meio da experimentação de substâncias em pessoas sadias. É valorizado a individualidade humana, sendoconsiderado a universalidade do paciente, isto é, os aspectos psíquicos, emocionais, fisiológicos, clínicos e entre outros,mediante uma anamnese criteriosa. Por valorizar e compreender a totalidade de cada pessoa, o uso da homeopatia acomete econtrola o medo e a ansiedade ao tratamento odontológico com o benefício de manter o paciente consciente e no domínio desuas ações. Conclusão: Os cirurgiões dentistas que agregam a homeopatia com o atendimento clínico, alcançam uma melhor aceitação dopaciente ao tratamento, e consequentemente, uma maior confiabilidade em relação ao profissional, por ser observado em suasingularidade. Além disso, a prática homeopática não possui contraindicações, podendo ser aplicada em qualquer época da vida.
ReferênciasBRUNINI, C. R. D.; GIORGI, M. S. Matéria médica homeopática interpretada. 2ª edição. São Paulo: Robe Editorial, 2010. ELEUTÉRIO, Adriana Silveira de Lima, OLIVEIRA, Daniela Silva Barroso de; PEREIRA JÚNIOR, Edmêr Silvestre. Homeopatiano controle do medo e ansiedade ao tratamento odontológico infantil: revisão. Rev Odontol Univ Cid São Paulo. v.23, n.3,p.238-44, 2011. SINGH, Kira Anayansi, MORAES, Antonio Bento Alves de, BOVI AMBROSANO, Gláucia Maria. Medo, ansiedade e controlerelacionados ao tratamento odontológico. Pesq Odont Bras. v.14, n.2, p.131-136, abr./jun. 2000. LIMA, Caroline Caixeta, et al. O uso da homeopatia na área odontológica. Psicologia e Saúde em debate da Faculdade Patosde Minas. v.4, Supl 1, p.84, 2018.
AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE ESTOMATITE PROTÉTICA E DIABETES
1ELIZANDRA MARRY PEDROLLO, 2ANA MARIA DA SILVA, 3CAROLINE DOMINGUES, 4HELOISA GARCIA FRANCOZO, 5WENDREOCHARLES DE CAMPOS, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A diabetes mellitus abrange um grupo de distúrbios metabólicos que podem levar à hiperglicemia (SOUZA, et al. 2003) ou seja, ocorreo excesso de glicose no sangue que provocará distúrbios funcionais do organismo, tal qual a redução na secreção de insulina pelo pâncreas, o queocasionará a diminuição da utilização da glicose pelo metabolismo celular. As consequências da doença podem ser observadas praticamente emtodo o organismo, particularmente na cavidade bucal de pacientes portadores de próteses.Objetivo: Relacionar a presença de Estomatite Protética (EP) à condição sistêmica, principalmente, ao diabetes.Desenvolvimento: A cavidade bucal é uma das áreas que mais manifestam alterações clínicas decorrentes à doenças sistêmicas, dentre as quaisse destaca o diabetes. Oliveira (2016) refere que dentre as alterações bucais que podem ser observadas em um paciente diabético podemos citar axerostomia, hálito cetônico, doença periodontal, dificuldades de cicatrização e infecções oportunistas, bem como o surgimento de feridas, e aestomatite protética, como as mais comuns. Tanitá (2011) enfatiza que a diabetes também pode provocar o acúmulo de glicose na saliva, o quepoderá beneficiar o crescimento de fungos e leveduras na cavidade bucal, devido ao maior número de receptores disponíveis, tal qual para asespécies de Candida albicans, por provocar aderência de micro-organismos à superfície das células epiteliais que em pacientes diabéticos tendema uma maior aderência do fungo comparado às células de pacientes não-diabéticos. A estomatite protética (EP) é uma doença fúngica que semanifesta em diabéticos pelas condições favoráveis, principalmente baixo fluxo salivar, o que reduz a imunidade local. Em diabéticos portadores depróteses, a condição é exacerbada. Também é encontrada mais comumente em pacientes idosos e usuários de próteses totais (PT) ou prótesesparciais removíveis (PPR), acometendo a região da área chapeável da prótese, podendo causar dor, halitose, prurido e queimação ao paciente;isso pode ocorrer devido a uma alergia ao monômero residual (ao material da prótese), trauma, uso contínuo da prótese, má adaptação da prótese,desgaste pelo uso e, principalmente, devido uma precária higienização da prótese. Conforme Scalercio, et al. (2007) as espécies de candida sãocapazes de aderir, inclusive, à resina acrílica, na superfície interna das próteses, onde acaba transformando-se em um recipiente de acúmulo demicro-organismos, desencadeando o surgimento de biofilme. Logo, a combinação desses dois fatores, micro-organismos e prótese, em contatocom a mucosa palatina formará um trauma nesse tecido, o que se agravará pelo fato da diminuição do fluxo salivar, desencadeado pela obstruçãoespacial causada pela prótese por impedir a ocorrência de uma limpeza mecânica pela ação da língua na cavidade.Conclusão: O paciente diabético usuário de prótese será mais susceptível às infecções pela Candida albicans, uma vez que tais fatores, como oacúmulo de glicose na saliva, o retardo no processo de cicatrização, a má higienização da prótese, entre outros resultarão em uma maiordificuldade no tratamento da estomatite provocada por esta espécie fúngica, a menos que seja feita rotineiramente uma avaliação na condiçãosistêmica e bucal desses pacientes, através de exames clínicos e laboratoriais.
ReferênciasSOUSA, Renata Rolim de, et al. O Paciente Odontológico Portador de Diabetes Mellitus: Uma Revisão da Literatura.Pesq Bras Odontoped ClinIntegr, João Pessoa, v. 3, n. 2, p. 71-77, jul./dez. 2003. Disponívelem: http://dms.ufpel.edu.br/ares/bitstream/handle/123456789/264/15%202003%20diabetes%20sa%FAde%20bucal%20risco%20do%20paciente.pdf?sequence=1. Acesso em: 02/08/2019. OLIVEIRA, Thais Fernandes de, et al. Conduta Odontológica em Pacientes Diabéticos: Considerações Clínicas. Odontol. Clín.-Cient.(Online). v.15, n.1, Recife Jan./Mar. 2016. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-38882016000100003&lng=pt&nrm=iso Acesso em: 20/08/2019.TANITÁ, Paula Volpato. Estomatite protética em pacientes com diabetes mellitus: prevalência de Candida spp. e eficiência dos tratamentoscom nistatina e desinfecção de próteses por micro-ondas. 2011. Tese (Doutorado em Reabilitação Oral) - Faculdade de Odontologia deAraraquara. 2011. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/105514/sanita_pv_dr_arafo.pdf?sequence=1&isAllowed=y.Acesso em: 02/08/2019.SCALERCIO, Michelle, et al. Estomatite Protética Versus Candidíase: Diagnóstico e Tratamento. RGO, Porto Alegre, v. 55, n.4, p. 395-398,out./dez. 2007. Disponível em: http://dms.ufpel.edu.br/ares/bitstream/handle/123456789/151/138-379-2-PB.pdf?sequence=1 Acesso em:02/08/2019
EFEITOS DA PRÁTICA REGULAR DE EXERCÍCIOS FÍSICOS NA QUALIDADE DE VIDA DE HIPERTENSOS
1GABRIEL SCHIZZI DE MORAES, 2CAIO VINICIUS SOLANA DIAS, 3DANIEL ALBERTO DE OLIVEIRA CLAUS, 4PEDRO LUIZSOARES, 5VICTOR FELIPE GONCALVES, 6MARIA GABRIELLA GIROTO
1Acadêmico do curso de Educação Física da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR5Docente do Curso de Educação Física da UNIPAR
Introdução: A hipertensão é uma doença crônica que é identificada pelo aumento da pressão sanguínea nas artérias. Ocorrequando os valores das pressões máxima e mínima são idênticas ou extrapolam o 140/90 mmHg. Esta, exige que o coração façaum esforço maior do que o comum para fazer a distribuição correta do sangue pelo corpo, sendo um importante fator de riscopara outras ocorrências como acidente vascular cerebral, aneurisma, enfarte, entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).Sendo assim, pode deixar sequelas e interferir permanentemente na qualidade de vida. Para seu tratamento e controle, além dautilização medicamentosa e cuidados com a alimentação e hábitos diários, existe a indicação de prática de exercícios físicosregular, os quais podem auxiliar na manutenção do condicionamento corporal e funcionamento cardíaco. Nesta perspectiva, oestudo procura responder o seguinte questionamento: Quais efeitos a prática de exercícios físicos regularmente proporciona paraindivíduos hipertensos?Objetivo: Identificar os efeitos da prática regular de exercícios físicos para indivíduos hipertensos.Desenvolvimento: Sabe-se que em 90% dos casos, a hipertensão é herdada dos pais, mas também existem outros fatores queinfluenciam nos níveis de pressão arterial que estão relacionados ao estilo de vida e hábitos individuais como fumo, consumo debebidas alcoólicas, estresse, obesidade, sedentarismo, ingesta de sódio, entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Apressão alta ataca os vasos, coração, rins e cérebro. Os vasos são recobertos internamente por uma fina camada, que édanificada quando o sangue está circulando com pressão elevada. Com isso, os vasos enrijecem e estreitam podendo, com opassar dos anos, entupir ou romper (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSOS, 2017), sendo classificada como umadoença crônica, sem cura, mas passível a tratamento e controle, pois a ausência do mesmo pode refletir em episódios maisgraves como enfarto, aneurisma, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e cardíaca. Ela ocasiona mudanças significativasna vida dos indivíduos, sendo elas de forma psicológica, social, familiar e econômica, devido a expectativa dada á longo prazo(LOPES et al, 2008). Como tratamento, a indicação médica além da indicação farmacológica, existe também a recomendação eprescrição de cuidados diários com alimentação, hábitos e a prática regular de exercícios físicos, pois é uma das maneiras deinfluenciar positivamente na manutenção do funcionamento corporal, nos aspectos de saúde, bem estar físico, psicológico,disposição e relação interpessoal e convívio familiar ou amigos (MACEDO et al., 2013). Domingues, Araújo, Gigante (2004)expõem alguns benefícios da prática regular de exercícios físicos como o aumento do nível de neurotransmissores no cérebro, aalta na produção de endorfina e diminuição do hormônio do estresse, ganhos musculares, perda de peso, qualidade de vida,entre outros. Antunes (2006) complementa apontando as melhoras no sistema cardiorrespiratório, restringe doenças crônicodegenerativas e até mesmo na ajuda como proteção a função cerebral. Atualmente o exercício físico é aceito como modo deprevenir e ajudar como terapia de diversas doenças, onde no tratamento de doenças cardiovasculares e crônicas, o exercíciofísico tem sido apontado como um aspecto benéfico e protetor para o indivíduo (MONTEIRO et al, 2007). Corroboram Zaar, Reise Sbardelotto (2014) dizendo que a pratica de exercícios físicos tem grande influência em vários meio do sistema corporal, poisem estudos realizados sugerem que em um programa de exercício físico é favorável a efetuar a redução da pressão arterial. Além de diminuir os risco de acidente vascular e também a diminuição de medicamentos anti- hipertensivos. E Stampfer et al(2000) apontam que a indicação médica para a prática de exercício físico acompanhado e orientado por um profissionaladequado ou um centro desportivo qualificado, é uma forma de ajudar o sistema imunológico, prevenir doenças, mas para isso oindivíduo terá que praticar exercícios físico de maneira regular ou frequente.Conclusão: A partir da literatura consultada é possível afirmar que a prática regular de exercícios físicos, tem efeitos diretossobre a prevenção e manutenção da pressão arterial. Também atua como preventivo para problemas secundários que podem seroriginados a partir da hipertensão, que são acidentes vasculares cerebrais, enfartos, aneurismas, insuficiências renais ecardíacas. Além de trazer benefícios diretos sobre o funcionamento corporal como ganhos musculares, melhora decondicionamento cardiorrespiratório, manutenção de capacidades físicas, produção de endorfina, diminuição do estresse, entre
outras. Ganhos que atuam diretamente no estilo de vida e consequentemente melhorar a qualidade de vida de indivíduos comhipertensão.
ReferênciasANTUNES, H. K. M. et al. Exercício físico e função cognitiva: uma revisão. Rev Bras Med Esporte, vol. 12, nº2, Mar./Abri.2006.DOMINGUES, M. R.; ARAÚJO, C. L. P.; GIGANTE, D. P. Conhecimento e percepção sobre exercícios físico em umapopulação adulta urbana do Sul do Brasil. Car. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20(1): 204-2015, Jan-Fev, 2004.LOPES, M. C. L. et al. O autocuidado em indivíduos com hipertensão arterial. Um estudo bibliográfico. Revista Eletrônicade Enfermagem. 2008;10(1): 198-211. Disponível em: http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n1/v10n1a18.htm. Acesso em: 28mar.2019.MACEDO, C. S.G. et al. Benefícios do exercício físico para a qualidade de vida. Revista Brasileira de Atividade Fisica eSaúde, V. 8, N. 2, p. 19 27. Disponivel em: http://rbafs.org.br/RBAFS/article/view/875> Acesso em: 01 mar. 2019.MINISTÉRIO DA SAÚDE. Hipertensão (pressão alta): causas, sintomas, diagnostico, tratamento e prevenção. Copyright ©Ministério da Saúde. 2013/2019. Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/hipertensao. Acesso em: 15 abr. 2019.MONTEIRO H. L. et al. Efetividade de um programa de exercícios no condicionamento físico, perfil metabólico e pressãoarterial de pacientes hipertensos. Rer. Bras. Med. Esporte Vol. 13, N° 2 Mar/Abr, 2007. Disponível em:https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/69558/2-s2.0-38549153702.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 03abr. 2019.SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. O que é hipertensão, 2017. Disponível em: www.sbh.org.br/informacoes.html.Acesso em: 15 abr. 2019.STAMPFER, M. H. F. et al. Primary prevention of coronary heart disease in women through diet and lifestyle. The New EnglandJournal of Medicine, 2000, 343(1), 16-23. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10882764. Acesso em 15 mai.2019ZAAR, A.; REIS, V. M.; SBARDELOTTO, M. L. Efeitos de um programa de exercícios físicos sobre a pressão arterial emedidas antropométricas. Rev Bras Med Esporte Vol. 20, Nº 1 Jan/Fev, 2014.
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO ÓLEO ESSENCIAL DE Curcurma zedoaria EM MICRO-ORGANISMOSPRESENTES EM EQUIPAMENTOS ESTÉTICOS
1ANELISE MARTINS TIETZ, 2GABRIELLY PEREIRA GOMES, 3MARIA EDUARA PARRA VALHEJO, 4ELIZABETI DE MATOSMASSAMBANI
1Discente do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética - UNIPAR - Umuarama1Discente do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética - UNIPAR - Umuarama2Discente do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética - UNIPAR - Umuarama3Docente UNIPAR - Umuarama - Orientadora PIC
Introdução: Atualmente, existe uma grande tendência em utilizar os óleos essenciais em diversos setores industriais, como porexemplo em perfumaria, cosméticos, aromatizantes e produtos de limpeza (CARVALHO et al., 2016), com o propósito de impedira degradação de lipídeos, oxidação e propagação de micro-organismos. O óleo essencial obtido através da planta nativa deCurcuma zedoaria, conhecida como açafrão-da-terra, e extraído dos rizomas cultivados na região sul do Brasil tem 22 compostosidentificados, sendo majoritários epicurzerenone (37,43%), 1,8 cineol (21,00%) e a cânfora (15,03%) e considerada uma amostracom alta eficiência em ação antioxidante (COSTA, 2016). Seus tubérculos são utilizados por sua ação farmacológica eterapêutica como carminativo, estimulante digestivo, no tratamento de resfriados e infecções, e tanto os extratos como o óleoessencial exibem eficiência na atividade contra bactérias Gram positivas e Gram negativas e antifúngica (BRESSANIN, 2017). Noentanto, seu uso foi absolutamente proibido durante a gestação devido embriotoxicidade por seu possível efeito de inibir aangiogênese gestacional (ZHOU et al., 2013). Os procedimentos estéticos sejam manuais ou com equipamentos, podem serdisseminadores de micro-organismos como cocos Gram Positivos e leveduras Candida sp, por fazerem parte da microbiota dapele e mucosas, mas também por estarem envolvidos em processos de lesões. Diante disso surgem estudos que possam revelara presença dos mesmos, pois o contato direto com a pele pode ser o intermédio para tal fato, tanto para o cliente como para oprofissional. Com o intuito de promover meios que auxiliem a combatê-los, faz-se importante avaliar a influência da atividadeantimicrobiana do óleo essencial de C. zedoaria.Objetivo: Avaliar a atividade antimicrobiana do óleo essencial de Curcuma zedoaria em micro-organismos presentes emequipamentos estéticos. Métodos: Coletou-se os rizomas de Curcuma zedoaria cultivada no horto medicinal da Universidade Paranaense de Umuarama-PR, no período da manhã. O óleo essencial foi obtido por meio do processo de hidrodestilação por 2 horas com o aparelho deClevenger Modificado. A atividade antimicrobiana do óleo essencial de Curcuma zedoaria foi determinada pelo Método deMicrodiluição em Caldo MIC. Os micro-organismos utilizados para os ensaios foram coletados no Centro de Estética da Unipar Umuarama, dos equipamentos Manthus Prime marca KLD, Radiofrequência Octopolar referência Hertix, Spectra marca ToneDerm, Alta Frequência AF7 marca Tone Derm, Ultrassom 3 MHz marca GS300, Vácuo Ultra Derm Control marca Tone Derm,Light pulse, Ultracavitação KLD, Dermatoscópio, Eletrolipoforese, Corrente russa, Eletroporação (placa de metal e eletrodo decarbono), massageador elétrico, ponteira de peeling de diamante e em materiais como bambu, rolo de massagem turbinada,extrator, escovas e pentes de cabelo, pinça e tesoura para sobrancelha. Para as coletas das amostras utilizou-se swabs estéreise semeadas em BHI (Brain Heart Infusion), para o crescimento de bactérias e em ASD (Ágar Sabouraud dextrose) inclinado(MERCK) para crescimento de fungos. Realizou-se a coloração de Gram para avaliar a presença de micro-organismos tipo cocosGram positivos (CGP) e provas de catalase e coagulase. Avaliou-se também a atividade antimicrobiana em cepa padrão deCandida albicans.Resultados: Houve crescimento de CGP com provas de catalase positiva e coagulase negativa sugestivos de Staphylococcusepidermidis no Vácuo Ultra Derm, Eletroporação (placa de metal), rolo de massagem turbinada e em bambu. Os CGPapresentaram inibição de crescimento na concentração de 20.000 µg/mL (20 mg/mL) e C. albicans apresentou inibição decrescimento na concentração de 78,1µg/mL (0,78 mg/mL).Discussão: Em sua pesquisa, Nicoletti et al. (2013) apresentou resultados com extrato fluido da Curcuma zedoaria de CIM de 20mg/mL para Candida albicans (inferior ao CIM de 0,78mg/mL com óleo essencial encontrado neste estudo), e CIM de 20 mg/mL para Staphylococcus aureus, entre outras bactérias testadas, apresentando a possibilidade de alternativa terapêutica de micosessuperficiais como antifúngico de uso tópico para C. albicans. Em estudo de Sacchetti et al. (2005), o óleo essencial de cúrcumaapresentou valores de CIM de 0,36 mg/dL para C.albicans. As substâncias presentes no óleo e contra S.aureus, S. epidermides,E.coli, P. aeruginosa e C. albicans, entre outros fungos (SINGH, 2002).Conclusão: Neste ensaio o óleo essencial de Curcuma zedoaria apresentou importante atividade antimicrobiana para S.
epidermidis e Candida sp. Os óleos essenciais em meio a tantos benefícios apresentam atuação contra diversos micro-organismo presentes em procedimentos estéticos diversos. Contudo, faz-se importante o reconhecimento e prevenção para como uso de equipamentos e materiais que estarão em contato direto com a pele do paciente, para evitar a proliferação dessesagentes causadores de possíveis infecções. O óleo essencial de C. zedoaria torna-se uma alternativa por ser acessíveleconomicamente, natural e de fácil cultivo.
ReferênciasBRESSANIN, G. G. N. Efeito acaricida de óleos essenciais das plantas Alpinia zerumbet e Curcuma zedoaria(Zingiberaceae) no controle de Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae). 2017. Dissertação (Mestrado em BiociênciaAnimal) UNIC, Cuiabá, 2017.CARVALHO, J. A. M.; PINHEIRO, P. F.; MARQUES, C. S.; BASTOS, L. R.; BERNARDES, P. C. Composição Química eAvaliação da Atividade Antimicrobiana do Óleo de Pimenta Rosa (Schinus terebinthifolius). Anais da V Semana de EngenhariaQuímica UFES. 2016. Disponível em: . Acesso em: 04 jul. 2019.COSTA, R. B. Percepção dos proprietários de lojas de produtos naturais sobre estes alimentos e a capacidadeantioxidante do óleo essencial de açafrão-da-terra. 2016. 76 f. Dissertação (Mestrado em Promoção da Saúde) - Programade Pós Graduação em Promoção da Saúde - Centro Universitário Cesumar, Maringá, 2016.NICOLETTI, M. A.; BUGNO, A.; ORSINE, E. M. A. & ZENEBON, O. Estudo da atividade antimicrobiana do extrato fluido daCurcuma zedoaria (Christm.) Roscoe na determinação da concentração mínima inibitória. Rev. Bras. Farm., 84(2): 39-41, 2003.Disponível em: . Acesso em: 04 jul. 2019.SACCHETTI, G.; MAIETTI, S.; MUZZOLI, M.; SCAGLIANTI, M.; MANFREDINI, S.; RADICE, M.; BRUNI, R. Comparativeevaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, anti radicals and antimicrobials in foods. FoodChemistry, v. 91, p. 621-632, 2005.SINGH, R.; CHANDRA, R.; BOSE, M.; LUTHRA, P.M. Antibacterial activity of Curcuma longa rhizome extract on pathogenicbacteria. Current Science, v. 83, n. 6, p. 737- 740, 2002.ZHOU, Liang et al. Inhibition of vascular endothelial growth factor-mediated angiogenesis involved in reproductive toxicity inducedby sesquiterpenoids of Curcuma zedoaria in rats. Reproductive Toxicology. China, p. 62-69, 2013.
COMO HABILITAR SUA FARMÁCIA PARA APLICAÇÃO DE VACINAS: LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS E PROFISSIONAIS
1MARCOS RODRIGO DA SILVA, 2CAIO HENRIQUE ROTTA DOS SANTOS, 3DANILO DA SILVA MUNARETO, 4MARINAGIMENES
1Discente do Curso de Farmácia UNIPAR1Discente do Curso de Farmácia UNIPAR2Discente do Curso de Farmácia UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: O médico inglês Edward Jenner deixou seu legado para a humanidade quando pesquisou e encontrou resultadospositivos a respeito de vacinas, o fato ocorreu em 1796, quando o cientista por meio de suas observações sobre a varíola bovina,viu a possibilidade de proteger as pessoas contra a varíola humana, o cientista chegou a tal conclusão, observando asordenhadeiras de vacas com cowpox, que eram protegidas contra a varíola, a observação o estimulou a desenvolver testes empessoas sadias, com a finalidade de reproduzir o fenômeno e para a comprovação de sua hipótese (SOUZA, 2004). Em 14 demaio de 1796, Jenner efetuou sua primeira vacinação em um menino de oito anos e, em primeiro de julho do mesmo ano,inoculou-o com pus de um caso de varíola. Com o passar do tempo, os sinais da vacinação desapareceram, e o menino nãoapresentou sinais nem sintomas da doença (FISCHMANN, 1978). O estudo teve fundamental importância para a prevenção dedoenças, gerando interesses em torno das vacinas, o que foi possível para a prevenção de doenças até os dias atuais. Emborasejam classificadas como medicamentos, o farmacêutico ficou excluído das atividades mercadológicas relacionadas a vacinasaté 2014, quando surgiu a Lei 13021 no ano de 2014, pois até então médicos eram os únicos profissionais que poderiam atuarnessa área, com clínicas especializadas (BRASIL, 2014) . Objetivo:O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento bibliográfico sobre as legislações atuais e recentes, sanitárias eprofissionais que interferem nesta nova atividade profissional do farmacêutico e que estejam relacionadas a habilitação de farmácias para a aplicação de vacinas. Desenvolvimento: As vacinas no Brasil são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde através do Programa Nacional deImunizações e pelo setor privado, sob a responsabilidade técnica de médicos e com a administração pela enfermagem, mas apósa Lei 13021, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, é possível ser também um Serviçodisponibilizado em Farmácias e ou Clínicas Farmacêuticas, onde é citado no Art. 7° Poderão as farmácias de qualquernatureza dispor, para atendimento imediato à população, de medicamentos, vacinas e soros que atendam o perfil epidemiológicode sua região demográfica (BRASIL, 2014), desde que a farmácia esteja corretamente adequada e habilitada para realizar oserviço de vacinação. Como legislações sanitárias, temos as emanadas pelo de Conselho Federal de Farmácia, que define,regulamenta e estabelece atribuições e competências do farmacêutico na dispensação e aplicação de vacinas em farmácias edrogarias, temos a Resolução n° 654/2018 que dispõe sobre os requisitos necessários à prestação do serviço de vacinação pelofarmacêutico e dá outras providências (CFF, 2018), estabelece na resolução que o farmacêutico estará apto a administrarvacinas humanas após realizar curso de formação complementar presencial específico sobre vacinação, em instituiçãocredenciada pelo CFF ou reconhecida pelo MEC ou, ainda, ofertado pelo Programa Nacional de Imunização. Quanto àslegislações sanitárias, temos as referentes ao estado do Paraná, Resolução SESA PR - 473/2016, no qual estabelece normatécnica referente às condições físicas, técnicas e sanitárias para guarda, comercialização e administração de vacinas emestabelecimentos farmacêuticos privados no Estado Paraná (PARANÁ, 2016).Conclusão: Após permissão para que as Farmácias possam dispor, para atendimento imediato à população, de medicamentos,vacinas e soros que atendam o perfil epidemiológico de sua região demográfica, os estabelecimentos precisam se adequar àsnormas sanitárias e profissionais para ajustar as estruturas físicas, estruturais e de materiais e equipamentos das Farmácias deacordo com as necessidades recomendadas e que serão cobradas para a liberação de funcionamento, bem como durante asfiscalizações. Outro fator exigido é quanto a competência profissional para a administração e orientação quanto a vacinação,sendo necessário a realização de treinamentos para tal, objetivando a qualidade no serviço bem como a segurança do paciente.
ReferênciasBRASIL. LEI 13021, de 08 de agosto de 2014. Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. DiárioOficial da União - Seção 1 - Edição Extra - 11/8/2014, Página 1 (Publicação Original).CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Resolução CFF Nº 654 DE 22/02/2018. Dispõe sobre os requisitos necessários àprestação do serviço de vacinação pelo farmacêutico e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília-DF. 2018.
Disponível em:https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=357003. Acesso em: 04 de mar. de 2019.FISCHMANN, Airton. Investigação epidemiológica de varíola no Estado do Rio Grande do Sul. Dissertação apresentada àFaculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Departamento de Epidemiologia. São Paulo, 1978.PARANÁ.Secretaria da saúde.Resolução SESA N° 47 3/2016. Sanitária - Principal - Legislação Estadual - Resoluções. Dispõesobre Estabelece Norma Técnica referente as condições físicas, técnicas e sanitárias para guarda, comercialização eadministração de vacinas em estabelecimentos farmacêuticos privados no Estado Paraná. Disponívelem:http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=851. Acesso em:23 de maio de 2019.SOUZA, Zelia Maria; et al. Vacinação - O que o usuário sabe? Rev. Bras. Prom. Saúde, Fortaleza, v. 18, n. 1, p. 24-30. 2004.
SENSIBILIDADE DENTINÁRIA APÓS RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA
1NATHALIA RODRIGUES GRACIANO, 2NATHIELY SOUZA GARBOSA, 3KLISSIA ROMERO FELIZARDO
1Acadêmica do Curso de Odontologia/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia /UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: A sensibilidade dentinária é uma resposta da dentina vital exposta a estímulos térmicos, químicos e táteis. Aexposição dos túbulos dentinários é responsável por uma redução do limiar de dor do paciente, motivo suficiente para que eleprocure ajuda ao profissional.Objetivo: Relatar e discutir sobre as possíveis causas, prevenções e tratamentos da sensibilidade pós-operatória em dentesrestaurados em resina composta.Desenvolvimento: O material estético mais utilizado nas práticas odontológicas são as resinas compostas, o profissional optapor escolher esse material devido à sua praticidade, eficiência clínica e excelentes propriedades. Portanto um dos problemas queos profissionais enfrentam é a sensibilidade pós-operatória, principalmente em dentes posteriores. Identificou-se que as principaiscausas envolvidas foram os descuidos durante os procedimentos operatórios, tais como: o excesso de calor promovido pelosinstrumentos rotatórios, as manobras realizadas em cavidades profundas, a falta de irrigação durante o preparo cavitário, acontração de polimerização das resinas compostas, as falhas na hibridização dos tecidos dentais, a citotoxicidade dos materiais eas incompatibilidades entre os mesmos, as interferências oclusais e a negligência no diagnóstico prévio da condição do dente.Sendo assim a qualidade e o sucesso das restaurações estão ao alcance do Cirurgião-Dentista. Silva (2016) com intuito deprevenir ou diminuir este desconforto, em seu trabalho ele separou os fatores em pré operatórios, operatórios e pós-operatórios,exemplificando cada um deles. Dentre os fatores pré-operatórios relatou a presença de trincas (tal como a síndrome do dentegretado). Já nos operatórios destacou o uso da caneta de alta rotação inadequado, o qual pode provocar o aquecimento nacavidade, o uso de brocas velhas e a falta de irrigação; o condicionamento ácido por tempo exagerado; a contração depolimerização da resina composta; a proteção inadequada do complexo dentina-polpa e os descuidos durante o acabamento epolimento. E nos pós-operatório, citou principalmente a presença de contatos prematuros. Silva (2016) considerou importante odiagnóstico inicial da condição do dente, os cuidados durante o preparo cavitário, a compatibilidade de materiais restauradores, aausência de infiltrações marginais e o contato prematuro como fatores essenciais para desempenhar o sucesso no procedimentorestaurador, com ausência ou diminuição de sensibilidade pós-operatória. Sendo assim, o conhecimento fisiológico sobre aestrutura dental e técnico dos materiais utilizados torna-se essencial.Conclusão: A qualidade e o sucesso das restaurações estão ao alcance do Cirurgião-Dentista. Além de dispor de conhecimento,é indispensável conhecer a fisiologia do elemento dental, aplicar as técnicas de forma minuciosa além de seguir corretamente osprincípios biológicos do material a fim de realizar um trabalho funcional e estético, e que não proporcione grandes desconfortosao paciente.
ReferênciasMARMENTINI, M. Sensibilidade pós-operatória em restaurações de resina composta. 2019. 41 f. Trabalho de Conclusão deCurso, Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis, 2019.SCHVEITZER,B.Sensibilidade Pós-operatória em Dentes Posteriores Restaurados.2016. 48f.trabalho de conclusão de curso,Universidade Federal do Estado de Santa Catarina,Florianópolis.2016.VALE, I. S.; BRAMANTE, A. S. Hipersensibilidade dentinária: diagnóstico e tratamento. Rev Odontol Univ São Paulo, v.11,n.3, p.207-213, jul./set. 1997.
A PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS SOBRE A TUTORIA SELO BRONZE
1BARBARA MERIANI SCHIAPATI, 2ANDRESSA PAOLA DE OLIVEIRA Q MARTINS
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) é uma peça fundamental na saúde pública, promovendo ações individuais,familiares e coletivas. A Politica Nacional de Atenção Básica (PNAB) vem sendo referencia por sua estratégia prioritária paraconsolidação e expansão das ações e dos serviços nas redes de atenção à saúde (BRASIL, 2011; BRASIL, 2017). A tutoria temcomo objetivo apoiar as equipes de saúde, estabelecendo padrões, protocolos e organizando processos de trabalho. Dessaforma, o processo de tutoria inclui três níveis: Selo Bronze, Selo Prata e Selo Ouro. O Selo Bronze reconhece os itens que visamgarantir a segurança do cidadão e da equipe, já o Selo Prata tem como objetivo aprimorar as ações desenvolvidas e gerenciar osprocessos de trabalho agregando valor aos cidadãos e o Selo Ouro reúne itens que objetivam o gerenciamento dos resultadoscom o propósito de melhorar os indicadores de saúde da população (BRASIL, 2018). Objetivo: Descrever as facilidades e dificuldades das enfermeiras gerentes das Unidades de Saúde de Estratégia Saúde daFamília do município de Umuarama, que participaram do processo de tutoria juntamente com a sua equipe e receberam o selobronze. Metodologia: A pesquisa foi realizada de forma qualitativa utilizando um instrumento que empregou a entrevista semiestruturadapara coleta de dados. Os questionários utilizados nessa pesquisa foram desenvolvidos pelo próprio pesquisador, com questõesque englobavam a percepção dos enfermeiros gerentes das equipes sobre o processo de tutoria. As perguntas foram gravadas,transcritas e analisadas com auxílio do Microsoft Word 2010. A pesquisa ocorreu nos meses de junho à agosto de 2019. Opúblico-alvo enfermeiros das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), da cidade de Umuarama, que passaram peloprocesso de tutoria e receberam o selo bronze. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e aprovado pelonúmero do parecer 3.422.893. Os profissionais que participaram dessa pesquisa assinaram o Termo de Consentimento LivreEsclarecido (TCLE). Resultados: A amostra da pesquisa foi definida com o numero de participantes igual a três profissionais de saúde, duasenfermeiras e uma coordenadora de enfermagem. Sobre os pontos positivos do processo de tutoria para o selo bronze, noquestionário 1, 50% das enfermeiras responderam que o processo de tutoria trouxe melhoras para o ambiente de trabalho, poisorganizou o fluxo, enquanto para as outras 50% o processo trouxe melhora na estrutura física. No questionário 2, aplicado para acoordenadora das equipes, 100% responderam que o processo proporcionou um ambiente mais organizado e adequado para otrabalho, resultando assim, na melhoria no atendimento e diminuindo as filas de espera. Como pontos negativos no questionário1, as enfermeiras responderam que é difícil dar continuidade no processo de tutoria, assim 50 % das respostas foi que oprocesso não tem uma evolução, enquanto para os outros 50% a continuidade do programa se contradiz com outros programasda ESF. No questionário 2, 100% das coordenadoras ressaltaram que o ponto negativo do processo é a dificuldade para aestratificação de risco, principalmente dos pacientes engajados no programa de saúde mental. Discussão: Diante dos resultados obtidos, os pontos positivos do processo de tutoria, ressaltaram o enfoque maior naorganização do ambiente de trabalho, visando a melhoria no atendimento, segundo a Enf. 1 a melhora da qualidade, doatendimento ao usuário, é um ponto positivo tanto para a comunidade, quanto para os trabalhadores . As respostas foramsemelhantes à literatura, segundo Mendes (2011), a Atenção Primária é uma estratégia que visa reorganizar a saúde, e para issoé necessário entender, reorganizar e reordenar os recursos do sistema de saúde, de forma a atender as necessidades,demandas e singularidades da população. Em relação aos pontos negativos a pesquisa apontou uma dificuldade na manutençãodo processo de trabalho, uma vez que a literatura aponta que a equipe certificada tem facilidade na continuidade do processo(BRASIL, 2017), o que não é visualizado nas falas das enfermeiras que ressaltaram que o processo não tem seguimento para amelhoria do atendimento diferente de outros programas, Enf. 1 há dificuldade de conseguir desenvolver e continuardesenvolvendo todos os itens que o selo bronze pede, porque muitas vezes existem novos programas que é nos colocado quenos impossibilitam de realizar corretamente aqueles que eram pedidos no selo .Conclusão: Dessa forma, conclui-se que as enfermeiras que passaram pelo processo de tutoria apontam que o selo bronzetrouxe benefícios para o processo de trabalho, pois colabora com a reorganização e reordenação das estratégias de trabalho.Contudo, as equipe s relatam ter dificuldade para a continuidade do processo, o que ressalta a falta de apoio as equipes após acertificação.
Referências
BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria n 2.488, de 21 de out. de 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica,estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF)e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Brasília, 2011. Disponível em: < https://bit.ly/2wtM1ra >. Acesso em03 de abr. de 2019.BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria n 2.436, de 21 de set. de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica,estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).Brasília, 2017. Disponível em: < https://bit.ly/2DdWcaE>. Acesso em 14 de jun. de 2019.BRASIL,Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Tutoria na atenção primária à saúde manual operativo selo bronze.APSUS Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde do Paraná. Curitiba, 2018. Disponível em: <https://bit.ly/2uSLKPx >. Acesso em 03 de abr. de 2019. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual instrutivo do Pmaqpara as equipes de Atenção Básica (Saúde da Família, Saúde Bucal e Equipes Parametrizadas) e Nasf / Ministério da Saúde,Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 2. ed. Brasília : Ministério da Saúde, 2015. Disponívelem: < https://bit.ly/2XzMOrw>. Acesso em 19 de ago. de 2019. MENDES, E.V. As redes de atenção á saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. Disponível em: <https://bit.ly/2mSCTvn >. Acesso em 19 de ago. de 2019.
POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE: HUMANIZAÇÃO COMO DIREITO DA FAMÍLIA E DO USUÁRIO DO SUS NOENFRENTAMENTO A MORTE FRENTE HIV/AIDS
1ANA LUIZA DE ALMEIDA, 2IRINEIA PAULINA BARETTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Docente do Programa de Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterapicos na Atenção Basica
Introdução: A adesão é o caminho mais efetivo para o combate à mortalidade por HIV/AIDS. Sabendo que apesar de acessívele gratuito, busca-se com esta pesquisa identificar os fatores que interferem na adesão e como a humanização pode garantirvínculo de confiança e facilitar a adesão. Vem do agir com empatia, sensibilidade alheia, compaixão e em enxergar o ser humanocomo pilar-base dos valores antes de qualquer outra coisa que se tem um cuidado mais humano, de suma importância nodiagnóstico, tratamento, processo de morrer, no pós-morte e na fase do luto (MELLO, 2008).Objetivo: Analisar a aplicação da política pública de saúde em relação à humanização como peça importante do cuidado eatenção no estágio terminal da AIDS.Desenvolvimento: Com a AIDS instalada, o indivíduo fica vulnerável a doenças oportunistas que, diante do quadro deenfraquecimento do sistema imunológico, por ocasião desta síndrome, tendem a invadir o respectivo organismo e facilitar oprocesso de adoecimento podendo, inclusive, levar o indivíduo à morte (BARBOSA, 2016). No processo morte/morrer, em regra,encontra-se uma pessoa bastante debilitada e, por sua vez, com taxas de melhora quase nulas. Neste estágio, frequentemente oindivíduo passa por reiteradas internações devido ao quadro clínico apresentado, com objetivo de assegurar as necessidadesbásicas de seu organismo e, consequentemente, evitar o agravamento de sua situação (MOREIRA, 2010). De acordo comVasconcelos (2013), por meio de um profissional de saúde que se empenha, levando em consideração os princípios da bioética,em assegurar um serviço de qualidade e de postura humanizada que promova a personalização de cuidados que atendam àsnecessidades básicas dos pacientes que precisam de cuidados de caráter paliativo, é garantida a proteção e redução deprejuízos que a institucionalização de nível hospitalar pode eventualmente ocasionar. Na fase final da doença, quando já não hámais estratégias para melhora do quadro de saúde em relação a doença, tem-se por necessário proceder as orientaçõespertinentes ao paciente e sua família no que concerne a finitude da vida que se aproxima (ROSSETI, 2013). Atualmente, entre osprofissionais de saúde, é encontrada grande dificuldade no momento de comunicar a má notícia. Dificuldade essa que se dá porfalta de preparo, notável por estarem mais focados na prevenção, promoção e reabilitação em saúde. Tal circunstância tem comoefeito a impotência frente à situação (BANDEIRA et al., 2014). Puccini (2004) afirma que O movimento pela humanização é, emúltima instância, também uma busca pela qualificação da produção ou prestação de serviços [...] . Assim, faz-se necessário,para promover serviços de qualidade, implantar humanização na atuação dos profissionais de saúde, pois isso já estáestabelecido na Cartilha do Usuário do SUS como um direito. Busca-se com esta pesquisa focar a humanização como um pilarextremamente importante e insubstituível na prestação de cuidados ao paciente com HIV/AIDS, garantindo enxergar sua dor eamenizar seu sofrimento auxiliando-o a enfrentar seu processo de morte.Conclusão: Por meio de cuidado assistencial humanizado busca-se o vínculo e a adesão, para garantir maior sucesso notratamento, diminuição dos números de mortalidade e criação de superação de luto, perda e enfrentamento à morte.
ReferênciasBANDEIRA, D. A morte e o morrer no processo de formação de enfermeiros sob a ótica de docentes de enfermagem. 14Fev. 2014. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-07072014000200400&script=sci_arttext&tlng=pt. Acessoem: 3 Abr. 2019.BARBOSA, A. P. M. Representação social da qualidade de vida das pessoas que vivem com hiv/aids: revisão integrativa.Orientador: Rodrigo Leite Hipólito. 2016. 67f. Tese (Graduação em Enfermagem) - Universidade Federal Fluminense, Niterói,2016.MELLO, I. M. Humanização da Assistência Hospitalar no Brasil: conhecimentos básicos para estudantes e profissionais.3 de Mar. de 2008 . Disponível em:http://hc.fm.usp.br/humaniza/pdf/livro/livro_dra_inaia_Humanizacao_nos_Hospitais_do_Brasil.pdf. Acesso em: 31 de Jul. 2019.MOREIRA, V. A experiência de hospitalização vivida por pacientes com AIDS. Fortaleza. 14 Mar. 2010. Disponível em:http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-59432010000200003. Acesso em: 2 Jul. 2019.PUCCINI, P.T., A humanização dos serviços e o direito à saúde. 2004. Disponível em:https://www.scielosp.org/pdf/csp/2004.v20n5/1342-1353/pt. Acesso em 3 mar. 2019.ROSSETI, D. M. G. S. A ortotanásia em questão: reflexões a partir de pacientes soropositivos terminais. 15 Ago. 2013.
Disponível em: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4710616.pdf. Acesso em: 03 Abr. 2019.VASCONCELOS, M. F. Cuidados paliativos em pacientes com HIV/AIDS: princípios da bioética adotados por enfermeiros.João Pessoa. 17 de jun. 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v18n9/v18n9a10.pdf. Acesso: 31 de Jul. 2019.
USO DE ACUPUNTURA PARA O TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
1ISABELA VAZ DA COSTA, 2ANA CAROLINE DOS SANTOS GRUNOW, 3LEISLE VERONICA PRESTES, 4KATIELY TECILLA,5HELOISA MARIA PERESSIN, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Endodontia Automatizada - Turma III da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A arte milenar da medicina tradicional chinesa (MTC) tem mudado o mundo há milhares de anos com suas técnicas,remédios naturais, aplicabilidade de certas práticas que aliviam e sanam dores, uma dessas práticas da medicina tradicionalchinesa é a Acupuntura (YAMAMURA, 2001; NADER, 2003). Essa prática milenar está sendo muito utilizada na Odontologia parao tratamento de disfunções temporomandibulares (WONG & CHENG, 2003). A disfunção temporomandibular apresentasensações de enrijecimento, dores de cabeça, dores faciais, desvio da linha média da mandíbula e movimentos restritos no abrire fechar de boca, dentre outras patologias que os pacientes podem apresentar.Objetivo: O objetivo dessa revisão de literatura é mostrar o quanto as técnicas integrativas podem melhorar e mudar váriosconceitos da odontologia, a Acupuntura é uma dessas técnicas e pode ser utilizada para o tratamento de DTMs (disfunçãotemporomandibular) (SIQUEIRA,2001).Revisão da literatura: A disfunção temporomandibular (DTM) é uma patologia com causa multifatorial, ou seja, tem váriosfatores etiológicos e pode se manifestar na forma de dores em diferentes locais. Afeta, qualquer faixa etária, em diferentes níveisde gravidade. As principais características da DTM são as dores nas articulações temporomandibulares (ATM), nos músculosmastigatórios, nas limitações dos movimentos mandibulares, e nos sintomas auditivos, podendo causar também dores agudas edores faciais atípicas (OKESON, 2000). Para cada um desses sintomas existem alguns tratamentos como a placa oclusal e ouso de medicamentos, que apesar e eficazes sempre tem efeitos colaterais envolvidos. A busca por métodos naturais detratamento é uma constante para todas as patologias, inclusive para as DTMs. Uma das práticas integrativas e complementaresque tem apresentado resultado satisfatório para as DTMs temos a Acupuntura, principalmente no que se refere à melhora da dor(NADER, 2003). Essa técnica da MTC despertou uma perspectiva diferente ao tratamento de DTM na Odontologia, pois não éinvasivo e faz com que o próprio organismo alivie as dores, a acupuntura utiliza a analgesia do organismo sem ter qualquer efeitocolateral. Os pontos da acupuntura estimulam o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico a liberar substânciascapazes de controlar o processo doloroso, a estimulação de alguns pontos pode mudar a circulação sanguínea e tambémpromover o relaxamento muscular e diminuir a inflamação e a dor (ROCHA, 2007; BOLETA-CERANTO, 2008).Conclusão: A utilização da Acupuntura para o tratamento de disfunções temporomandibulares tem sido extremamenteimportante e tem mostrado resultados muito satisfatórios, sem prejuízo nenhum para os pacientes, e sendo muito bom por nãoser um procedimento invasivo e totalmente limpo de medicamentos e substâncias toxicas para o corpo, pois o próprio organismoque produz e libera as substâncias necessárias para o alivio da dor.
ReferênciasYAMAMURA, Yasao. Acupuntura tradicional: a arte de inserir. 2a ed. São Paulo: Editora Roca; 2001.NADER, Habib Assad. Acupuntura na odontologia: um novo conceito. Revista da APCD, v. 57, n.1, p. 49- 51, 2003.WONG, Yiu-kai, CHENG, Jason. A case series of temporomandibular disorders treated with acupuncture, occlusal splint and pointinjection therapy. Acupuncture In Medicine, v. 21, n. 4, p. 138-149, 2003.SIQUEIRA, Jose. Dor orofacial: diagnóstico, terapêutica e qualidade de vida. Curitiba: Editora Maio; 2001.OKESON, Jeffrey P. Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. 4. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2000. 500p.BOLETA-CERANTO, Daniela de Cassia Faglioni, ALVES, Taíla. ALENDE, Fernanda L. O efeito da acupuntura no controle da dorna odontologia. Arq. Ciênc. Saúde Unipar, Umuarama, v. 12, n. 2, p. 143-148, maio/ago. 2008.ROCHA, Anita. Dor: aspectos atuais da sensibilização periférica e central. Rev Bras Anestesiol. v.57, n.1, p.94-105, 2007.
ABORDAGENS TERAPÊUTICAS APLICADAS À DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE
1SUELLEN KARINE CLEVESTON, 2DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do curso de Fisioterapia da UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: A Distrofia Muscular de Duchenne é o tipo mais crítico das distrofias, herdada geneticamente, com alelos de um oumais genes diferentes, ligados ao cromossomo X. Representada por fraqueza, deterioração progressiva e irreversível damusculatura esquelética, oportuna de atingir o sistema nervoso e a musculatura cardíaca (SILVA; SANTOS; SARDELICH, 2016).O acompanhamento respiratório é essencial, visto que prolonga o quadro de insuficiência respiratória muito precocemente(TORRICELLI, 2004). Vale ressaltar que o tratamento fisioterapêutico, imprescindível para assegurar melhor qualidade de vida,deve ter o cuidado para não fadigar o paciente, pois uma conduta mal executada poderá promover a aceleração do processodegenerativo (GEVAERD et al., 2010).Objetivo: Descrever sobre a importância do acompanhamento fisioterapêutico na evolução clínica do portador de DistrofiaMuscular de Duchenne.Desenvolvimento: O tratamento e acompanhamento fisioterapêutico terá grande importância para os portadores de DistrofiaMuscular de Duchenne, sendo indispensável para precaver implicações respiratórias e de contraturas, preservar a força musculare auxiliar na mobilidade, promovendo a independência e otimizando a qualidade de vida dos portadores (NASCIMENTO;RAMACCIOTTI, 2010). Franciulli et al. (2015) comprovaram que a fisioterapia aquática é um meio que tem resposta positiva paraa melhora disfuncional de portadores de distrofias musculares progressivas, uma vez que as propriedades físicas da águasimplificam a movimentação voluntária, reajusta a postura e alivia as dores com menor choque articular. Ainda, como meio detratamento para os indivíduos portadores da Distrofia Muscular de Duchenne, a cinesioterapia vem sendo aplicada para reduzir oprogresso da perda das funções motoras. O propósito dos exercícios resistidos é propiciar o ganho do domínio sobre osmovimentos, com benefício no equilíbrio e coordenação, reduzindo a fraqueza muscular, corrigindo posturas incorretas,prevenindo encurtamentos precoces, além de potencializar o sistema cardiorrespiratório (NASCIMENTO; RAMACCIOTTI,2010). Segundo estudo de Biasoli (2006), os exercícios realizados em pacientes no ambiente aquático estimulam o metabolismoe o relaxamento da musculatura esquelética. Ainda presente a redução do espasmo e da fadiga muscular, analgesia, facilitaçãodo alongamento, melhora da amplitude de movimento, do condicionamento físico e da força muscular. Conclusão: Pode-se concluir que a atuação do fisioterapeuta nas disfunções provocadas pela Distrofia Muscular de Duchennetem fundamental importância no decorrer da evolução dos sintomas, promovendo a melhora da qualidade e da expectativa devida.
ReferênciasBIASOLI, M. C.; MACHADO, C. M. C. Hidroterapia: aplicabilidades clínicas. Revista Brasileira de Medicina, São Paulo, v. 63, n.5, p. 227, mai 2006. FRANCIULLI, P. M. et al. Efetividade da hidroterapia e da cinesioterapia na reabilitação de idosos com histórico de quedas.Estudos Interdisciplinares Sobre o Envelhecimento, Porto Alegre, v. 20, n. 3, p. 671-686, dez. 2015.GEVAERD, M. S. et al. Alterações fisiológicas e metabólicas em indivíduo com distrofia muscular de Duchenne durantetratamento fisioterapêutico: Um estudo de caso. Fisioterapia em Movimento, Curitiba v. 23, n. 1, p. 93-103, jan./mar. 2010.NASCIMENTO, C.; RAMACCIOTTI, E. Efeito do exercício na função motora do paciente com Distrofia Muscular de Duchenne.Revista Neurociências, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 341-356, set./dez. 2010.SILVA, M. M.; SANTOS, E.; SARDELICH, P. L. Distrofia Muscular de Duchenne: Repercussões pós-treinamento muscularesrespiratórias Relato de caso. Revista UNILUS Ensino e Pesquisa, São Paulo, v. 13, n. 32, p. 84-91, jul./set. 2016.TORRICELLI, R. E. Actualización em distrofias musculares. Revista Neurología, Montevideu, v. 39, n. 9, p. 860-71, mai. 2004.
PLANTAS MEDICINAS INSERIDAS NAS HORTAS COMUNITÁRIAS - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1Letícia Matim Lago, 2CLEUSA FERNANDES RAMOS, 3LARISSA KOZIKOSKI, 4ANDREIA ASSUNCAO SOARES
1Acadêmica Ensino Médio PEBIC EM-JR/CNPq/UNIPAR1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal com Ênfase em Produtos Bioativos, UNIPAR 2Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária, PIBIC/UNIPAR 3Docente da UNIPAR
Introdução: Cada vez mais os espaços públicos são ocupados por ações coletivas e que estimulam a convivência e a harmoniacom o ambiente. Uma destas ações nas grandes cidades são as hortas comunitárias instaladas em local de uso coletivo,cedido por um grupo de pessoas que geralmente mora nas redondezas ou está agrupado em associação (HENZ;ALCÂNTARA, 2009). Objetivo: Relatar a importância das plantas medicinais inseridas nas hortas comunitárias através de revisão bibliográfica.Desenvolvimento: As hortaliças são parte integrante da dieta da população mundial (MORETTI, 2003; CARVALHO et al., 2006).As hortas comunitárias têm vários objetivos, a produção é normalmente orgânica, sem a utilização de agrotóxicos, econsequentemente propicia aos consumidores um alimento mais seguro e mais saudável; desenvolvimento local: a produçãolocal é valorizada e proporciona oportunidades de desenvolvimento para as pessoas, trocas de conhecimento e de experiências eainda favorece a cultura popular (EMBRAPA, 2002). A implantação da horta na escola como um espaço educador sustentável énecessário porque estimula a incorporação, a percepção e a valorização da dimensão educativa a partir do meio ambiente. Asplantas produzidas na horta são destinadas a merenda escolar e também para fins terapêuticos/medicinais (HENZ; ALCÂNTARA,2009). O trabalho realizado na horta busca a interdisciplinaridade, onde explora a relação dos alunos com a natureza, e osimpactos que suas ações podem ocasionar ao meio, bem como a educação para a saúde através de aspectos nutricional ealimentar, mostrando também a necessidade do reaproveitamento de materiais (CARVALHO et al., 2006).As atividades de horta instituídas nos espaços das Unidades Básicas de Saúde como uma estratégia de implementação daPolítica Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, por se caracterizar como uma prática complementar às biomédicastradicionais e integrativa por serem modelos eficazes que privilegiam técnicas naturais, incentivando o uso de fitoterápicos,promovendo maior autonomia, participação social e bem-estar físico e mental dos indivíduos (TESSER; BARROS, 2008).Desde 2007, o sistema público de saúde do Brasil oferece fitoterápicos derivados de plantas. Atualmente, o Ministério da Saúdedisponibiliza a utilização de 12 medicamentos fitoterápicos na rede pública de saúde. Estes medicamentos disponibilizados peloMS são: espinheira-santa, guaco, alcachofra, aroeira, cáscara-sagrada, garra-do-diabo, isoflavona-de-soja, unha-de-gato, hortelã,babosa, salgueiro e plantago (BRASIL, 2013). Segundo o Ministério da Saúde, os fitoterápicos são medicamentos quedesempenham um papel importante em cuidados contra dores, inflamações, disfunções e outros incômodos, ampliando asalternativas de tratamento seguras e eficazes. (BRASIL, 2013).A utilização de plantas medicinais é uma prática importante na área da saúde. A disponibilização de plantas medicinais e defitoterápicos pelo SUS tem alavancado a utilização da fitoterapia de base científica extraída do conjunto de plantas utilizadas porgerações sucessivas de uma população que tinha como única opção para o tratamento de seus males, o uso empírico dasplantas medicinais de fácil acesso em cada região do país (LORENZI; MATOS, 2002). A disponibilidade de diferentes tipos dehortaliças e plantas medicinais produzidas nas hortas comunitárias motiva o hábito de consumi-las regularmente e em quantidadesuficiente, proporcionando uma melhoria no desenvolvimento e funcionamento do organismo humano. Além do benefício para asaúde e bem-estar da comunidade envolvida, as estratégias de sustentabilidade (TERSO, 2013).Conclusão: A horta comunitária é importante sob o ponto de vista nutricional, medicinal, e também como forma de terapiaocupacional, na melhoria do hábito de consumo das pessoas, na economia das famílias e até na manutenção e/ou melhoria dasaúde e prevenção de doenças.
ReferênciasBRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portal da Saúde: Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 2013.Disponível em: prt0533_28_03_2012.html> Acesso em: nov. 2018. CARVALHO, P.G.B. et al. Hortaliças como alimentos funcionais. Revista Horticultura Brasileira, Brasília, v. 24, n.4, p. 397-404,2006.EMBRAPA. Critérios para o levantamento de sistemas de produção na Embrapa. Brasília, DF: Embrapa SGE, 2002. 17 p.HENZ, G. P.; ALCÂNTARA, F. A. de. Hortas: o produtor pergunta, a Embrapa responde / editores técnicos, Brasília, DF :
Embrapa Informação Tecnológica, 2009.LORENZI, H.; MATOS, F.J.A. (org.) 2002. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. Instituto Plantarum, Nova Odessa, 544p.MORETTI, C.L. Boas práticas agrícolas para a produção de hortaliças. Horticultura Brasileira, Campinas, v. 21, n. 2, 2003.TERSO, M. M. Horta Orgânica: Alimentação Saudável/Qualidade de Vida, vol. 1, Paraná: Governo do Estado. Secretaria daEducação - Cadernos PDE, 2013.TESSER CD, BARROS NF. Medicalização social e medicina alternativa e complementar - pluralização terapêutica do SistemaÚnico de Saúde. Rev Saude Publica, v. 42, n. 5, p. 914-920, 2008.
AÇÃO DO DIODO EMISSOR DE LUZ AZUL (LED) E ALTA FREQUÊNCIA SOBRE A BACTÉRIA Pseudomonas aeruginosa
1GISELE REVERS, 2MAIARA LUZIANA TIEPO, 3LUCIANA PELLIZZARO, 4EVELLYN CLAUDIA WIETZIKOSKI LOVATO,5JULIANA PELISSARI MARCHI
1Discente de Estética e Cosmética, PIC/UNIPAR1Discente de Estética e Cosmética, PIC/UNIPAR2Docente Estética e Cosmética, UNIPAR3Docente da UNIPAR4Docente de Estética e Cosmética, UNIPAR
Introdução: Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria gram-negativa aeróbica, naturalmente encontrada na superfície da pelehumana e em ambiente hospitalar, colonizando o trato respiratório, gastrointestinal e pele de pacientes, podendo os causardanos (PESSOA, 2013; FIGUEIRA, 2017). Estes danos compreendem desde infecções superficiais da pele à sepse fulminante(FERREIRA, 2005), com indícios de apresentar multirresistência a alguns antibióticos (NEVES et al., 2011). Neste contexto,estudos testam contra P. aeruginosa a ação do equipamento de alta frequência (AF) e do Diodo Emissor de Luz Azul (LED). OLED envolve o mecanismo de fotomodulação não coerente e não colimado, com comprimento de onda de 405 a 420 nm,apresenta efeito bactericida, que se deve ao fato de a porfirina (substância presente nas bactérias) absorver a luz azul (em415nm) e produzir, por isso, radicais livres, tóxicos a ela (AGNE, 2011). A utilização do AF tem sido utilizada para tratamentosfaciais de pele, com finalidades anti-sépticas, bactericidas e fungicidas, por produzir ozônio quando aplicado diretamente na pele.O ozônio é conhecido por suas propriedades bactericidas, por ocasionar ruptura na membrana plasmática das bactérias, apósoxidação (MARQUETTI e RUARO, 2012).Objetivo: Avaliar a ação do Diodo Emissor de Luz Azul e do Equipamento de Alta Frequência, em diferentes tempos, sobre abactéria Pseudomonas aeruginosa.Material e métodos: Ativou-se a bactéria Pseudomonas aeruginosa em caldo BHI por 24 horas, em estufa a 37ºC. Nasequência, fez-se o repique para o Meio MacConkey e deixou-se em estufa por mais 24 horas a 37ºC. Preparou-se então asuspensão da bactéria em solução salina estéril, na Escala 0,5 de MacFarland. Após, colocou-se 1mL desta solução em 9mL desolução salina e procedeu-se sequencialmente, mais duas diluições. Em seguida, 1 uL desta última diluição foi semeada sobre omeio de cultura, em Placa de Petry. A seguir, executaram-se os tratamentos: AF com intensidade de 8mA, em tempos de 40, 80,120 e 160 segundos (s) e LED nos mesmos tempos. Para isso, os equipamentos foram posicionados em suportes, sobre asplacas de Petry, no interior da câmara de fluxo. Os controles foram feitos com meio e bactéria e meio bactéria e antibiótico(Ampicilina). Uma placa contendo apenas meio testou sua pureza. As placas foram colocadas em estufa a 37ºC por 24 horas eentão fez-se a contagem das colônias de bactérias. Os tratamentos foram feitos em quintuplicata e a contagem das bactérias foirepetidas três vezes, por pesquisadores diferentes. Foram comparadas as médias de colônias, por meio de ANOVA com Testede Tukey para avaliar a significância, ao nível de 5% de probabilidade, com uso do Programa Win Stat.Resultados: O controle positivo (meio + bactéria + antibiótico) diferiu-se dos demais tratamentos, pelo Teste de Tukey a 5% deprobabilidade, como resultado esperado (0 colônias). Para AF, a aplicação de 40 s não diferiu do grupo controle negativo (meio +bactéria); os tempos de 80, 120 e 160 s não diferiram entre si, mas sim do menor tempo, apresentando maior quantidade decolônias. Quanto ao LED, os tempos de 80, 120 e 160 s não diferiram entre si e nem do controle negativo, porém, o tempo de 40s diferiu de todos os demais, apresentando maior número de colônias. Comparando-se AF e LED, o menor tempo de AF (40 s)equivale aos maiores tempos de LED e vice-versa.Discussão: Os equipamentos usados não apresentaram ação bactericida total sobre a bactéria testada. AF não demonstroueficácia por não impedir o crescimento bacteriano. Estudo feito por Tormin et al., (2016) analisa o efeito bactericida do ozônio(O3) sobre bactérias multirresistentes após infusão de ozônio gasoso por 2 min. em caldos com as bactérias, encontrando umaresistência da bactéria P. aeruginosa, que diferiu-se das outras pois obteve crescimento após os testes. Os autores explicaramos resultados devido a uma possível falha da bolha de O3 ao contactar as bactérias do caldo. No presente estudo, possivelmenteimpediu-se a formação de O3 ao posicionarmos o eletrodo fulgurador do AF muito próximo a placa com bactéria, tendo poucocontato com oxigênio. A aplicação de LED também não se mostrou eficaz como bactericida, além disso, o tempo menor foi omenos eficaz. Esse resultado é contrário a pesquisa de Guffey e Wilborn, (2006) que avaliou a aplicação in vitro do LED azulsobre P. aeruginosa mostrando resultados positivos, podendo ser explicado pelo fato de terem utilizado equipamentos diferentes,pois em sua pesquisa, a luz era focalizada e testada em várias doses de J/cm², já no presente estudo utilizou-se aparelho de LEDde luz com maior abrangência, chegando menos focalizado no tecido alvo.
Conclusão: Não houve ação bactericida do LED e do AF sobre a bactéria Pseudomonas aeruginosa. No entanto, estes estudosservirão de base para novas pesquisas com diferentes tempos e intensidades.
ReferênciasAGNE, Jones Eduardo. Eu sei eletroterapia. Santa Maria: Palloti, 2011.FERREIRA, Luciana Lobianco. Estrutura clonal e multirresistência em Pseudomonas aeruginosa. Orientador: Marise DutraAsensi. 2004.115 f. Programa de Pós-Graduação em Vigilância Sanitária Instituto Nacional de Controle de Qualidade em SaúdeFundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2005.FIGUEIRA, Leandro Wagner. Efeito do extrato de Curcuma longa L. sobre infecções in vitro por Staphylococcus aureus,Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans em macrófagos murinos. Orientador: Luciane Dias de Oliveira. 2017. 48 f.Dissertação (Mestrado em Biopatologia Bucal) Universidade Estadual Paulista Julio Mesquita Filho , São José dos Campos,2017.GUFFEY, John Stephen, WILBORN, Peter. Efeitos bactericidas in vitro de luz azul de 405 nm a 470nm. Revista Fotomedicina eCirurgia a Laser, v. 24, n. 6, p. 684-688, jan. 2007. MARQUETTI, Maria da Glória Karan, RUARO, João Afonso. Efeito do gerador de alta frequência no crescimento bacterianoin vitro. Orientador: Anderson Ricardo Fréz. 2012, 6 f. Artigo acadêmico - Faculdade Anglo Americano (FAA), Recife, 2012.NEVES, Patrícia et al. Pseudomonas aeruginosa multirresistente: um problema endêmico no Brasil. Jornal Brasileiro dePatologia e Medicina Laboratorial, Rio de Janeiro, v. 47, n. 4, p. 409-420, ago. 2011.PESSOA, Vanessa Silva. Pseudomonas Aeruginosa: epidemiologia e resistência a antimicrobianos em hospital universitário dosudeste do Brasil. Orientador: Miguel Tanús Jorge. 2013, 49 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) Faculdade deMedicina, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013.TORMIN, Stephanie Corradini et al. Análise do efeito bactericida do ozônio sobre bactérias multirresistentes. Arquivos médicosdos Hospitais e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, São Paulo, v. 61, p. 138-141, 2016.
SÍFILIS CONGÊNITA ANÁLISE HISTÓRICA NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA
1MARIA DE FATIMA DA SILVA, 2BRUNO FLORIANO DE FARIA, 3ANDRESSA PAOLA DE OLIVEIRA Q MARTINS
1Acadêmica do curso de Enfermagem da Unipar 1Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) infectocontagiosa de notificação compulsória que podeevoluir lentamente em três estágios, sendo primária, definida como lesões que consiste em surgimento de uma úlcera endurecidoconhecida como cancro duro, que surge em até noventa dias após o contato, geralmente por quatro a cinco semanas desaparecee torna-se uma sorologia positiva (SANTOS, 2010). A fase secundária é um processo de alastramento de bactérias noorganismo, formando uma lesão com espessura rósea aparecendo feridas que causam deformidades na pele, surgindo entrequatro a oito semanas posteriormente o aparecimento do cancro altera-se em reação positiva (DOMINGUES, 2016). SegundoAvellaira (2006), a sífilis tardia é renomada como sífilis terciária, sua manifestação clinica surge após um período modificado deuma fase que ocorre em indivíduos que não fizeram o tratamento adequado. O enfermeiro tem autonomia para realizar consultas,podendo solicitar alguns exames como a realização do teste rápido para sífilis buscando de forma integra os indicadores demorbidades decorrentes durante a gestação (ANDRADE, 2012). Pode ocorrer vários fatores de risco durante o período dagravidez, a sífilis é uma importante causa de mortes fetais, morte neonatal, prematuridade, sequelas nos nascidos vivos, ou baixopeso ao nascer ou a infecção congênita, para não ocorrer a transmissão vertical da mãe para o feto, a gestante deve fazer oacompanhamento correto (HEBMULLER, 2015). O profissional enfermeiro deve realizar acompanhamento para importância dopré-natal, bem-estar físico, mental e bipsicológico da gestante, do bebe e toda a família (SILVA,2013). Objetivo: Analisar os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação compulsória em realação a raça e daescolaridades das gestantes, notificadas do ano de 2014 a 2018.Desenvolvimento: O estudo consiste em uma pesquisa documental por meio de dados fornecidos pelo programa estatístico deSistema de Agravos de Notificação (SINAN) por base de arquivos de notificação da Secretaria de Saúde de Umuarama Paraná,objetivando pesquisar a temática Sífilis Congênita em Umuarama com enfoque nos últimos cinco anos 2014 a 2018.Segundo Gil (2002), a pesquisa documental consiste em dados que não receberam tratamento analítico, ou podem serreelaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. O SINAN disponibiliza para o público em geral, em sua plataforma digital,dados referentes a todas as doenças de notificação compulsória, ou seja, aquelas que a notificação é obrigatória. Foramselecionados os anos de 2014 a 2018 para buscar os seguintes dados: a raça e escolaridade da gestante visando qual a intensemais atingida nas gestantes diagnosticada com sífilis congênita. Conclusão: À partir da análise dos dados, observou-se uma divergência entre os resultados das notificações e a literaturaacerca da temática, pois o percentual da raça notificados foi de 08 mulheres brancas, 01 mulher preta, 08 mulheres pardas e 01mulher ignorada durante os cinco anos. Segundo DOMINGUES et al. (2016), a maior proporção de sífilis congênita ocorre emmulheres da cor preta e de menor escolaridade. Da mesma forma, o grau de escolaridade notificados, foram de zero paraanalfabeta, ensino médio e nível superior, e 18 definidos como não se aplica, assim pode-se observar que ocorreu uma falha emalgum momento do processo de notificação, seja na coleta dos dados pelo enfermeiro, ou pela pessoa responsável em digitar asfichas no sistema de notificação de agravo.
ReferênciasANDRADE, R. F. et al. Conhecimento dos Enfermeiros acerca do Manejo da Gestante com Exame de VDRL Reagente,Ceará, 23(4), 188-193, 2011. Disponível em https://bit.ly/2NkldVU. Acesso em 08 de mai. de 2019.AVELLEIRA, J. C. R.; BOTTINO, G. Sífilis: diagnóstico, tratamento e controle. An. Bras. Dermatol. vol.81 no.2 Rio deJaneiro Mar./Apr. 2006. Disponível em https://bit.ly/2Z6QtLc. Acesso em 22 de abr. de 2019.BRASIL, Secretaria do Estado da Saúde do Paraná. LINHA GUIA REDE MÃE PARANAENSE. Curitiba, 2018. Disponível emhttps://bit.ly/2KFuAz7. Acesso em 18 de mai. de 2019.DOMINGUES, R. M. S. M.; LEAL, M. C. Incidência de sífilis congênita e fatores associados à transmissão vertical da sífilis:dados do estudo Nascer no Brasil, Rio de Janeiro, 32(6), jun, 2016. Disponível em https://bit.ly/2Pez1n4. Acesso em 11 de abr.de 2019.SANTOS, G. Z.; TERRA, M. R. Sífilis e seus diferentes estágios infecciosos, Londrina. Disponível em https://bit.ly/2NiknZF. Acesso em 08 de abr. de 2019.
SILVA, B. L. et al. Importância da enfermagem na assistência do pré-natal na Estratégia Saúde da Família, Pará, 2013.Disponível em https://bit.ly/2ZfZq3E. Acesso em 11 de jun. de 2019.BRASIL. Sistema de informação de agravos de notificação, Brasília, 2017. Disponível em https://bit.ly/2hAeQOS . Acesso em20 de jul. de 2019.
MITOS E VERDADES SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO
1THAYNA GABRIELLA DE SOUZA MENDES, 2SUELLEN PESSETTI, 3CAROLINE MARIA DA SILVA, 4MARLI OLIVEIRA DEPAULA, 5JOLANA CRISTINA CAVALHEIRI, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente do curso de Enfermagem da Universidade Paranaense. Unidade de Francisco Beltrão.5Docente do curso de Enfermagem da Universidade Paranaense. Unidade de Francisco Beltrão.
Introdução: O aleitamento materno é reconhecido como o método preferível de alimentação do bebê, pois nenhum outro leitepossui as características imunológicas do leite humano, visto que sua composição abundante em nutrientes e vitaminas, além decélulas de defesa torna-se ideal para o crescimento e o bom desenvolvimento da criança (LIMA et al., 2019). Contudo, esteperíodo é perpetuado por aspectos culturais e familiares que podem intervir na manutenção ou perda do aleitamento (FLORES etal., 2017).Objetivo: Identificar quais são os mitos e verdades sobre o aleitamento materno na visão das gestantes.Metodologia: Estudo de campo, exploratório-descritivo, de caráter quantitativo e longitudinal, realizado em Francisco Beltrão,Paraná, em oito Estratégias Saúde da Família que foram selecionadas para coleta de dados, por localizarem-se em bairros quemaior vulnerabilidade. A amostra foi constituída por gestantes, com idade gestacional a partir de 28 semanas que procuraram osserviços para consulta do pré-natal e aceitaram participar da pesquisa. Foram excluídas as gestantes HIV positivo, as que nãoaceitaram preencher o questionário e as com menor idade gestacional. Os dados foram coletados por questionário formuladopelos próprios autores, segundo literatura, durante os meses de maio a agosto de 2019. Após a coleta de dados, as informaçõesforam compiladas no Excel 2010 e no Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21.0. A pesquisa foi aprovadapelo Comitê de Ética-Pesquisa com Seres Humanos através do parecer 3.291.332.Resultados: Participação do estudo 80 gestantes, no qual em relação a existência de leite fraco ou não, 80% das mulheres disseque não há (64), sendo que para todas as gestantes a posição correta para a mamada deve ser confortável e para 98,8% (79)que o bebê precisa estar de frente para o peito. Quando afirmado que o bebê não precisa estar bem encostado no corpo da mãe,e que a mãe não deve apoiar no bumbum do bebê com a mão 85% (68) e 82,5% (66), respectivamente, afirmaram ser falso.Quanto se o bebê deve abocanhar grande parte da aréola para facilitar a extração de leite, 97,5% (78) das gestantesresponderam ser verdadeiro. Ainda 90 % (72) compreendem que não se deve interromper a mamada, sendo que 85,5% (68)aludiram que o leite do final da mamada é mais rico em gorduras, enquanto para 97,5% (78) o leite do início da mamada mata asede e protege o bebê. Sobre as afirmações de que todos os tipos de bico de peito possibilitam a amamentação e que não hánecessidade de cuidados especiais com os mamilos durante a gestação 60% (48) e 80% (64), respectivamente, responderam serfalso.Discussão: Observou-se neste estudo que a maioria das mulheres acredita que não existe leite fraco, o que vai de encontro aOrganização Mundial da Saúde (OMS, 2016), o qual justifica que o leite materno apresenta nutrientes em quantidades ideais ecapacidade imunológica para proteger a criança contra infecções respiratórias, diarreias, proporcionar saúde e o bomdesenvolvimento. Em relação a posição adequada para a amamentação, as mulheres afirmam que a melhor acomodação éaquela que a dupla se sente confortável e bem posicionados, o que corrobora com a conhecença de que a pega e posturainadequada acarretam dor e fissuras mamárias, sendo capaz de tresandar a amamentação (BARBOSA et al., 2017). Além disso,percebe-se que as gestantes aludiram que a forma como se abocanha a aréola está relacionada a uma boa amamentação, jáque para que a sucção ocorra de maneira efetiva, o recém-nascido deve pegar por completo a aréola, evitando odesenvolvimento de complicações. Observou-se concordância no entendimento das gestantes a respeito da importância damamada ininterrupta e das fases do leite, o que valida que o leite materno possui três fases, o leite de início da mamada possuialto teor de água e também é rico em anticorpos, o leite do meio da mamada possui caseína, proteína rica em fósforo,fundamental para a nutrição de lactentes e, o leite do final da mamada apresenta alto teor lipídico, o que induz a sensação desaciedade e o ganho de peso do bebê (BRASIL, 2015). Entretanto, as gestantes acreditam que devem preparar o bico dos seiose que nem todos favorecem o aleitamento, o qual destoa de estudo que indica não ser necessário condir os seios para alactação, porém, nos casos de bico plano e invertido há maior chances de traumas, mas não o impedimento de amamentar(SOARES et al., 2015). Dessa forma, o profissional de Enfermagem possui papel fundamental para proporcionar informação
baseada em evidências científicas, assistência técnica e apoio na lactação, integrando toda a família no processo deamamentação. (RÊGO et al., 2015).Conclusão: Evidenciou-se nesta pesquisa que a maioria das gestantes possui informação adequada a respeito da técnica deamamentação. Porém, os principais mitos reproduzidos foram o de preparar os mamilos para a lactação e, de que nem todos ostipos de bico de seio favorecem a amamentação. Nesse sentido, a Enfermagem converte-se em apoio contínuo e eficiente,atuando em dimensões técnicas e científicas, buscando o empoderamento da mulher quanto a manutenção do aleitamentomaterno.
ReferênciasBARBOSA, Gessandro Elpídio Fernandes et al. Dificuldades iniciais com a técnica da amamentação e fatores associados aproblemas com a mama em puérperas. Rev paul pediatr, São Paulo, v.35, n.3, p.265-272, set. 2017.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamentomaterno e alimentação complementar. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 184 f.FLORES, Thaynã Ramos et al. Consumo de leite materno e fatores associados em crianças menores de dois anos: PesquisaNacional de Saúde, 2013. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 33, n. 11, p. 1-15, nov. 2017.LIMA, Simone Pedrosa et al., Percepção de mulheres quanto à prática do aleitamento materno: uma revisão integrativa. Rev FunCare Online, Piauí, v. 11, n. 1, p. 248-254, jan./mar. 2019.REGO, Rita Maria Viana et al. Paternidade e amamentação: mediação da enfermeira. Acta paul enferm, São Paulo, v. 29, n. 4,p. 374-380. Ago. 2016.SOARES, Jeyse Polliane de Oliveira et al. Amamentação natural de recém-nascidos pré-termo sob a ótica materna: uma revisãointegrativa. Rev CEFAC, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 232-241, fev. 2016.World Health Organization. Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternityand newborn services. Geneva: World Health Organization, 2017.
CHOQUE SÉPTICO EM PACIENTE COM INFECÇÃO DE TRATO URINÁRIO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA:RELATO DE CASO
1ELIZANGELA MARTINS DE OLIVEIRA, 2MARCIA DA SILVA ROQUE, 3FERNANDA TONDELLO JACOBSEN, 4GISELELOTICI, 5FABIANA ROSSANI, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Enfermeira do setor de CCIH 5Docente da UNIPAR
Introdução: Em unidades de terapia intensiva (UTI), a infecção de trato urinário (ITU), prevalece em indivíduos de sexomasculino, especialmente aqueles com faixa etária maior de 60 anos, sendo que, quanto maior o período de internação, maior aprobabilida de choque séptico, evoluindo ao óbito (BARBOSA; MOTA; OLIVEIRA, 2019; SOUZA, 2016).Relato de caso: Paciente, 73 anos, branco, admitido na UTI no dia 16 de junho, em um hospital do Paraná, devido a dorabdominal associada a hiporexia, hipotensão, desidratação e rebaixamento do nível de consciência, diagnosticado com infecçãodo trato urinário (ITU), lesão renal aguda (LRA) e pneumonia. Em relação as doenças pré-existentes possuíam diabetes mellitus(DM) tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica (HAS). Deu entrada na UTI sob ventilação mecânica. Ao exame físico apresentavacrânio simétrico, couro cabeludo íntegro, pupilas isofotoreagente, pavilhão auricular sem anormalidades, narinas pérvias, compresença de sonda nasoenteral infundindo dieta em bomba de infusão, cavidade oral, íntegra, cervical sem anormalidades,presença de traqueostomia, acoplado a ventilação mecânica modo, carótidas palpáveis e jugulares sem ingurgitamento, catetervenoso central em subclávia esquerda, duplo lúmen cursando noradrenalina 10ml e eletrólitos, tórax simétrico, ausculta pulmonarcom expansibilidade preservada, murmúrios vesiculares diminuídos, sem ruídos, abdômen globoso e distendido, indolor apalpação, ruídos hidroaéreos presente, região genital íntegra com presença de edema em pênis, eliminações vesicais presentesem sonda vesical de demora, sistema fechado com diurese em pouco volume de coloração clara, evacuações intestinaisausentes no período, membros superiores e inferiores edemaciados, perfusão preservada, presença de lesão por pressão emregião sacral grau II. A Uricultura evidenciou infecção por Klebsiela Penumoniae, com mecanismos de beta-lactamases deespectro estendido (ESBL). A antibioticoterapia combinada (Pipetazo, Ceftriaxona, Clindamicina, Azitromicina) foi utilizada aolongo do internamento. O paciente evoluiu para choque séptico com origem de foco urinário e no dia 06 de julho foi a óbito.Discussão: Souza (2016), ao delinear o perfil de idosos na UTI, observa que 57% dos pacientes eram do sexo masculino e92,8% deles eram acamados, acometidos por HAS (64,3%), diabetes mellitus (21,4%), obesidade (7,1%), acidente vascularencefálico (21,4), doença pulmonar obstrutiva crônica (21,4). Durante o internamento apresentaram lesão renal aguda (57,1%),lesão renal crônica (7,1%), anemia (28,5), insuficiência respiratória aguda (64,3%), pneumonia (50,0%), sepse (21,4%), choqueséptico (35,7%) e ITU (7,1%). Sendo a população mais vulnerável ao óbito, homens (41,1%), de faixa etária entre 65-79 anos(39,6%), quadro clínico (41,3%), com doenças pregressas (55,8%), os quais tem como sítio da infecção, pneumonia (48,9%),trato urinário (39,1) (SOUZA et al, 2015). Entre os fatores relacionados aos determinantes para um quadro de ITU, estão ascondições patológicas prévias e suas implicações na imunidade celular, indicação indevida da cateterização, cuidados e manejocom o cateter, tempo de permanência do mesmo, sendo a sondagem vesical o principal fator relacionado à ITU (MAIA;EVANGELISTA; VIEIRA, 2015). Na maioria dos pacientes (55,6%), foi observado uma relação entre o tempo de internamentocom o desfecho negativo, pois o tempo de internamento maior ou igual a 15 dias, ou pacientes em uso de cateter vesical dedemora (CVD) igual ou maior de 10 dias, apresentam maior prevalência de ITU, sendo que a relação entre o quadro de ITU e ouso de CVD, aumentam o tempo de internação, o que está relacionado com a maior incidência de óbito (BARBOSA; MOTA;OLIVEIRA, 2019). Em relação a colonização dos pacientes idosos em uma UTI, observou-se que 52,8% eram colonizados porEscherichia Coli, 8,3% por Klebisiella, 2,8% Enterococcus Faecalis, 25,0% Enterobacter ssp, 5,5 Staphylococcus, 2,8%Morganela Morgani e 2,8% por Pseudomona aap (MELO et al, 2017). A presença dessas bactérias também pode estar associadaao uso empírico de antibióticos (DIAS, 2019). Tendo em vista que microrganismo, como a Klebsiela Penumoniae é resistente apolimixina, por ter capacidade de inativar o gene mgrB, sendo esse um exemplo dentre as bactérias capazes de anular o efeitode antibióticos através de enzimas ESBLs, facilitando um prognóstico negativo (SILVA, 2019). Nesse contexto incentivasse apesquisa relacionada com infecção por microrganismos multirresistente, uma vez que o desenvolvimento de novos antibióticosnão acompanha a evolução microbiana (DIAS, 2019).
Conclusão: Pacientes idosos, acamados com doenças pré-existentes têm um fator de risco aumentado para o desenvolvimentode infecções, especialmente nos casos onde há emprego de procedimentos invasivos, como o CVD. Observa-se que acolonização por bactérias multirresistente, associado ao uso combinado e empírico de antibioticoterapia, leva a um desfechonegativo. Nesse contexto ressalta-se o cuidado com o uso indiscriminado de antibióticos, a importância da técnica correta domanuseio de procedimentos invasivos e técnicas assépticas.
ReferênciasBARBOSA, Lorena Rodrigues; MOTA, Écila Campos; OLIVEIRA, Adriana Cristina. Infecção do trato urinário associada ao catetervesical em uma unidade de terapia intensiva. Revista de epidemiologia e controle de infecção, Santa Cruz do Sul, v. 9, n. 2, p.103-108, abr./jun., 2019.DIAS, Vinício Lopes. Infecção de corrente sanguínea por bacilos gram-negativos multirresistente em UTI de adultos mistade um hospital terciário de ensino no Brasil. Orientador: Paulo Pinto Gontijo Filho. 2019. 55f. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019.MELO, Laís Samara et al. Infecção do trato urinário: uma coorte de idosos com incontinência urinária. Revista Brasileira deEnfermagem, Internet, v. 70, n. 4, p. 873-880, jul./ago., 2017.MAIA, Francisco da Silva; EVANGELISTA, Anne Itamara; VIEIRA, Alcivan nunes. Fatores de risco relacionados à infecção dotrato urinário na assistência à saúde. Revista de epidemiologia e controle de infecção, Santa Cruz do Sul, v. 13, n. 46, p. 5-10,out./dez., 2015.SILVA, Kesia Esther Da. Mecanismo de resistência em enterobactérias e avaliação de uma nova abordagem terapêutica.Orientador: Simone Simionatto. 2019. 155f. Tese (Doutorado) Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2019.SOUZA, Ester Souza et al. Mortalidade e risco associados a infecção relacionada à assistência à saúde. Revista Científica daAmérica Latina, Caribe, Espanha e Portugal, Internet, v. 24, n. 2, p. 220-228, jan./mas., 2015. Disponível em:https://www.redalyc.org/pdf/714/71438421027.pdf. Acesso em: 19 de ago. 2019.SOUZA, Flávia Meirelles. Idoso: um perfil cada vez mais frequente na realidade da unidade de terapia intensiva. Orientador:Marcia Cristina da Silva Magro. 2016. 60f. Monografia (Graduação) Universidade de Brasília. Faculdade de Ceilândia, Brasília,2016.
CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL PÚBLICO EPRIVADO DO SUDOESTE DO PARANÁ
1MYLLENA NOLL MANENTI, 2JOLANA CRISTINA CAVALHEIRI, 3ALESSANDRO RODRIGUES PERONDI, 4LEDIANA DALLACOSTA
1Acadêmica do PIC, Curso de Enfermagem da UNIPAR, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Docente do curso de Enfermagem da Universidade Paranaense. Unidade de Francisco Beltrão.2Docente do curso de Enfermagem da Universidade Paranaense. Unidade de Francisco Beltrão.3Docente do curso de Enfermagem da Universidade Paranaense. Unidade de Francisco Beltrão.
Introdução: Os trabalhadores de enfermagem desenvolvem um papel fundamental no processo assistencial e estabelecemrelações com diferentes profissionais, tornando-se o elo entre a equipe e paciente (GUIMARÃES, FELLI; 2015). No ambientehospitalar, os profissionais encontram-se em contato direto com o cliente, sendo que o processo de trabalho ocorre de formainterdependente com outras equipes, geralmente desenvolvido sobre alta pressão, tendo a necessidade de executar as tarefasrapidamente e sobre alta demanda dos serviços (SANTOS et al., 2019). A sobrecarga laboral, juntamente com outrascaracterísticas do ambiente de trabalho, como a desvalorização, salários baixos, jornadas extensas, períodos curtos dedescanso, duplicidade de emprego e o trabalho em turnos e noturno, faz com que o trabalho de enfermagem seja fadigoso, comimpacto na assistência prestada ao cliente e na suscetibilidade do trabalhador ao adoecimento mental e físico (FULY et al., 2016;PIRES et al., 2016).Objetivo: Identificar as características da demanda de trabalho de profissionais de enfermagem de um hospital público e privadodo Sudoeste do Paraná.Metodologia: Trata-se de um estudo transversal e quantitativo, desenvolvido com profissionais de enfermagem de duasinstituições hospitalares de um município do Estado do Paraná. A amostragem do estudo ocorreu por conveniência e todos osprofissionais de enfermagem foram convidados a participar, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre eEsclarecido. A coleta de dados ocorre no ambiente de trabalho dos profissionais, no qual foi utilizado um questionário fechado,validado pela literatura, intitulado Job Stress Scale, que avalia as diferentes dimensões do processo de trabalho, incluindo aDemanda, Controle e Suporte no processo laboral. As variáveis investigadas foram: com que frequência você tem que fazer suastarefas de trabalho com muita rapidez, com que frequência você tem que trabalhar intensamente (isto é, produzir muito em poucotempo, seu trabalho exige demais de você, você tem tempo suficiente para cumprir todas as tarefas de seu trabalho, o seutrabalho costuma apresentar exigências contraditórias ou discordantes. Os dados coletados foram digitados em planilha doMycrosoft Excel for Windows/7, e posteriormente foram explorados no pacote estatístico SPSS System for Windows versão 21e Minitab Statistical Software, versão 16. Foi realizada a análise descritiva para avaliar as medidas dos resultados coletados. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e aprovado sob oparecer 2.415.008.Resultados: Participaram desta pesquisa 196 profissionais. Quanto a demanda do trabalho, observou-se que os trabalhadorescaracterizaram o serviço de enfermagem como atividade que desenvolve as tarefas com rapidez (62,8%), de forma intensa, ouseja, produzindo muito em pouco tempo (56,1%) frequentemente e as vezes com grande exigência (47,3%). Os profissionaisrelatam que somente as vezes tem o tempo suficiente para realizar suas atividades (45,4%), e que as vezes o seu trabalhocostuma apresentar exigência contraditórias ou discordantes (50,5%).Discussão: No presente estudo observou-se que os profissionais caracterizavam o serviço de enfermagem com alta demanda,visto que referiram realizar as tarefas frequentemente e as vezes com grande exigência, dados semelhantes a Moreira et al.,(2017), que observou se que em relação à situação de trabalho 30,1% dos trabalhadores desenvolviam atividades com altaexigência. Da mesma forma, que estudo desenvolvido em hospital universitário do Sul do Brasil demonstrou que os profissionaispossuíam alta demanda psicológica do trabalho, o que está relacionado as características com ambiente hospitalar, no qual seencontra sobrecarga de atividades, número insuficiente de profissionais, uma complexidade assistencial maior e exige um nívelde conhecimento aumentado para execução das tarefas (RIBEIRO et al., 2018). Em relação se o trabalho é exigente, 43.3%relatam que frequentemente, dados similares a Oliveira (2019), no qual 81% dos profissionais relatam que frequentemente otrabalho exige demais, afirmando ainda que quando o profissional trabalha com uma grande imposição, o mesmo não conseguedesenvolver suas atividades com eficiência. No que diz respeito a realizar tarefas com rapidez, 56,1% responderam quefrequentemente, e 45,4% referem que às vezes possuem falta de tempo para realizar as atividades, resultados comparados a deNunes (2017), aonde 57,6% concordaram que a escassez de tempo é rotina dos serviços e que há necessidade de realizar as
tarefas com rapidez.Conclusão: O profissional de enfermagem possui uma rotina sobrecarregada, com exigência de conhecimento, produzindo muitoem pouco tempo e de forma intensa. Além disso, observam-se na rotina de trabalho, atividades contraditórias e insuficiência detempo para realizar as atividades, o que poder afetar na assistência ofertada ao paciente, na qualidade de vida da equipe, e nosserviços de saúde. Salienta-se a importância de uma equipe completa, seguindo o dimensionamento de enfermagem proposto ea busca de melhores condições de trabalho.
ReferênciasFULY, Patrícia dos Santos Claro. et al. Carga de trabalho de enfermagem de pacientes oncológicos sob cuidados paliativos. RevEsc Enferm USP, v. 50, n. 5, p. 793-800, 2016.GUIMARÃES, Ana Lúcia de Oliveira; FELLI, Vanda Elisa Andres. Notifi cação de problemas de saúde em trabalhadores deenfermagem de hospitais universitário. Rev Bras Enferm, v. 69, n. 3, p. 507-514, maio/ jun. 2016.MOREIRA, Izadora Joseane Borrajo. et al. Aspectos psicossociais do trabalho e sofrimento psíquico na estratégia de saúde dafamília. Rev Epidemiol Control Infec, Santa Cruz do Sul, v. 7, n. 1, p. 01-07, 2017.NUNES, Wilma da SILVA. Fatores psicossociais no trabalho da enfermagem em pronto-socorro de um hospital de clínicasde grande porte. Orientador: Vivianne Peixoto da Silva. 2017. 82 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Ambiental e Saúde doTrabalhador) Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017.OLIVEIRA, Marlon Dowglas Chagas. O reflexo da sobrecarga de trabalho no equilíbrio físico e psíquico do enfermeiro.Orientador: Jandra Cibele Rodrigues de Abrantes Pereira Leite . 2019. 14 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação emEnfermagem) Centro Universitário São Lucas, Porto Velho, 2019PIRES, Denise Elvira Pires. et al. Cargas de trabalho da enfermagem na saúde da família: implicações no acesso universal.Rev Latino-Am Enfermagem, v. 24 p. 1-9, 2016.RIBEIRO, Renata Perfeito. et al. Estresse ocupacional entre trabalhadores de saúde de um hospital universitário. Rev GaúchaEnferm, Porto Alegre, v. 39, n. 1 p. 1-6, jul, 2018.SANTOS, Júlia Nunes Machado de Oliveira. et al. Estresse Ocupacional: Exposição da Equipe de Enfermagem de uma Unidadede Emergência. J. Res. Fundam C are Online, v. 11, p. 455-463, 2019.
PERFIL HEMATOLÓGICO DE RATOS WISTAR COM ATEROSCLEROSE E DIABETES INDUZIDOS PÓS-TRATAMENTOCOM EXTRATO DE Baccharis trimera
1MARIANE PAVANI GUMY, 2VANEZA PAULA POPLAWSKI CARNEIRO, 3FRANCISLAINE APARECIDA DOS REIS LIVERO,4GUSTAVO RATTI DA SILVA, 5MARILIA MORAES QUEIROZ SOUZA, 6LEONARDO GARCIA VELASQUEZ
1Acadêmica do Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica/UNIPAR1Acadêmica do Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica/UNIPAR2Docente da UNIPAR3Acadêmico do PPG em Ciência Animal com Ênfase em Bioativos, bolsista PIT/UNIPAR4Docente do Curso de Medicina UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O uso de plantas na alimentação e para recuperar ou manter a saúde é uma prática que se confunde com a históriada humanidade (BATISTA; VALENÇA, 2012). A possibilidade dos compostos bioativos agirem com o sistema imunológico abreperspectiva para resposta de várias doenças. Uma espécie promissora é a Baccharis trimera (B. trimera), planta medicinal nativado Brasil, cujo uso popular tem sido atribuído às ações anti-inflamatória, hipoglicemiante, anti-oxidante, entre outros (KARAM etal., 2013).Objetivo: Avaliar parâmetros hematológicos de ratos submetidos a um modelo de doença cardiovascular e diabetes, tratadoscom extrato de B. trimera.Metodologia: Foram utilizados ratos Wistar machos, com peso entre 200 e 250g, com livre acesso à dieta líquida e sólida e emcondições ambientais controladas. Estes animais eram do projeto: Investigação da atividade terapêutica de plantas medicinaisem um modelo de aterosclerose, diabetes mellitus e tabagismo sob a responsabilidade da Profa. Dra. Francislaine Lívero,aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Experimentação Animal (n. 1000/2018). Para indução do diabetes, osratos receberam estreptozotocina (STZ); da dislipidemia, utilizou-se dieta padrão enriquecida com 0,5% de colesterol e dotabagismo, eles foram submetidos a fumaça de cigarro num aparato adaptado. Nas duas últimas semanas os animais foramrandomizados e tratados com veículo, sinvastatina, insulina e diferentes doses de extrato hidroetanólico de B. trimera (BT 10, 30e 100 mg kg-1), por via oral, caracterizando assim os diferentes grupos mais o grupo controle negativo (C-) (animaisnormoglicêmicos, sem exposição a fumaça de cigarro, que receberam dieta comercial padrão). Após seis semanas, os ratossofreram eutanásia por aprofundamento anestésico com isoflurano. A análise estatística foi feita por Anova.Resultados: Até o presente momento observou-se que o tratamento com a B. trimera nas três diferentes doses não alteraramsignificativamente o hemograma. A concentração de hemoglobina mostrou-se numericamente superior ao controle positivo (C+)(concentração média de 9,45 mg/dL para o C+ e 11,82 g/dL, 11,16 g/dl e 11,42 g/dL respectivamente para os grupos tratados) emuito semelhante ao C- (11,1 g/dL). Foi observada uma tendência numérica na diminuição no número de neutrófilos e monócitoscirculantes, conforme o aumento da dose, apesar de estarem superiores ao C+ (Neutrófilos: C+ 1576 células/µL; BT30 3999células/µL; BT100 2852 células/µL; BT300 2163 células/microlitros) (Monócitos: C+ 619 células/microlitros; BT30 1224células/microlitros; BT100 623 células/microlitros; BT300 612 células/µL). Quanto ao peso relativo do baço não foi constatadodiferença estatística com relação ao C+, no entanto, houve diminuição percentual do peso do órgão (Peso relativo C+ 0,24%;BT30 0,23%; BT100 0,21%; BT300 0,20%). As doses de BT100 e BT300 não apresentaram diferença estatística com reação aoC-.Discussão: O número de neutrófilos e monócitos circulantes foi superior ao controle positivo e diminuíram com o aumento dadose da B. trimera. Tal fato pode estar relacionado com diminuição na migração celular tecidual, que é inerente da atividade anti-inflamatória já descrita para a B. trimera. Rabelo e Costa (2018) referem atividades redox, anti-oxidante, anti-inflamatória entreoutras. Em outro estudo foi observado redução do edema 3 horas após a administração do extrato de B. trimera (NOGUEIRA etal., 2011). Este dado reforça o importante papel que esta planta pode exercer na prevenção da aterosclerose, cuja gravidade estárelacionada a inflamação. Foi observado ainda a redução no peso relativo do baço conforme o aumento das doses do extrato, oque reforça ainda mais a ideia da atividade anti-inflamatória.Conclusão: Os dados preliminares do presente estudo mostram que a B. trimera pode agir no perfil hematológico de formapositiva em doenças como o diabetes e a aterosclerose.
Referências
BATISTA, Leônia Maria; VALENÇA, Ana Maria Gondim. A Fitoterapia no Âmbito da Atenção Básica no SUS: Realidades ePerspectivas. Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada, João Pessoa, v. 12, n. 2, p. 293-296, abr./jun.,2012.KARAM, Thaysa Ksiaskiewcz; DALPOSSO, Loriangela Marceli; CASA, Diani Meza; DE FREITAS, Guilherme Barroso Langoni.Carqueja (Baccharis trimera): utilização terapêutica e biossíntese. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, Campinas, v.15, n.2, p. 280-286, 2013. NOGUEIRA, Natalia Pereira de Almeida; REIS, Patricia Alves; LARANJA, Gustavo Augusto Travassos; PINTO, Amanda Chaves;AIUB, Claudia Alessandra Fortes; FELZENSZWALB, Israel; PAES, Marcia Cristina; BASTOS, Frederico Freire da Cunha;BASTOS, Vera Lucia Freire Cunha; SABINO, Katia Costa de Carvalho; COELHO, Marsen Garcia Pinto. In vitro and in vivotoxicological evaluation of extract and fractions from Baccharis trimera with anti-inflammatory activity. Journal ofEthnopharmacology, v. 138, p. 513-522, 2011.RABELO, Ana Carolina Silveira; COSTA, Daniela Caldeira. A review of biological and pharmacological activities of Baccharistrimera. Chemico-Biological Interactions, v. 296, p. 65-75, 2018.
A IMPORTÂNCIA DA AROMATERAPIA EM UBS ASSISTIDA PELO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA E ENFERMAGEM:UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
1CAROLINE DA SILVA BARRADA, 2JACQUELINE DA SILVA MIRANDA, 3IRINEIA PAULINA BARETTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem - PIC/UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Psicologia - PIBIC/UNIPAR2Docente do Programa de Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterapicos na Atenção Basica
Introdução: Nos ultimos anos a busca por novos medicamentos tem despertado o interesse pelo uso de oleos essenciais. Aação da aromaterapia sobre a diminuição da ansiedade está ancorada, mas não é totalmente elucidada, na integração dosconhecimentos da neuroanatomia, neurofisiologia, e da anatomia e fisiologia dos órgãos sensoriais, especialmente do olfato e dotato. A aromaterapia representa uma importante ferramenta terapêutica em potencial nas mãos dos profissionais de saúde,podendo pluralizar suas práticas e qualificar o cuidado com o resgate do humano, do empoderamento e da autonomia do clienteem relação à sua saúde (DOMINGO; BRAGA; 2013).Objetivo: Tem por objetivo realizar uma revisão bibliográfica acerca da eficácia da aromaterapia como prática integrativa queatuam na redução dos níveis de estresses que causam transtornos de ansiedade.Desenvolvimento: A aromaterapia é aplicada através de substancias que ativam o sistema olfatório, que proporcionam umaligação com o Sistema Nervoso Central, estimulando o Sistema Límbico, que é responsável pelas relações de controle sobre asnossas emoções, nossas memória, sexualidades, reações instintivas e impulsos (GNATTA; DORNELLAS; SILVA, 2010). O usode terapias integrativas como por exemplo a aromaterapia tem crescido muito nos últimos anos, passando de paísesdesenvolvidos, pobres e em desenvolvimento, sendo a mesma terapias que se utilizam de recursos naturais levam créditos evantagens pela facilidade de se administrar em pacientes, consistindo em uma alternativa segura para a saúde pública(SCHVEITZER; ESPER; SILVA; 2012). A expansão desses tipos de terapias não estão apenas envolvidas pela sua eficácia ebaixo custo, mas também a assistência que se volta e se foca no indivíduo como um todo e não apenas a sua patologia(GNATTA; DORNELLAS; SILVA, 2010). Aos profissionais que se utilizam dessa nova ferramenta intitulada aromaterapia seapropriam para empregar novas práticas na melhora de desequilíbrios emocionais e físicos, por exemplo, em situações quehajam usuários que sofrem de ansiedade. Sendo essa um componente psicológico e fisiológico que se estabelece em diversassituações de experiências humanas, responsável por estímulos e desempenhos (GNATTA; DORNELLAS; SILVA, 2010).Conclusão: A eficácia da aromaterapia como prática integrativa na atenção primária contribui na redução dos níveis de estressee ansiedade, consequentemente tornando o atendimento aos usuários do sistema único de saúde mais humanizado e eficaz bemcomo melhorando a qualidade de vida destes.
ReferênciasGNATTA, J. R.; DORNELLAS, E. V.; SILVA, M. J. P.; O uso da aromaterapia no alivio da ansiedade. São Paulo, 2010.SCHVEITZER, C. M.; ESPER, M. V.; SILVA, M. J. P. Práticas Integrativas e Complementares na atenção primária emsaúde: em busca da humanização do cuidado. São Paulo, 2012.DOMINGO, T.S; BRAGA, E.M. Aromaterapia e Ansiedade: revisão integrativa da literatura. Cad. Naturol. Terap. Complem
Vol. 2, N° 2 2013
CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL ASSOCIADO A REANATOMIZAÇÃO DE INCISIVOS LATERAIS CONÓIDES COMUSO DE LAMINADOS CERÂMICOS: RELATO DE CASO
1GABRIELLA DA CUNHA CANEDO GOMES, 2FERNANDA FERREIRA MARQUES, 3HENRIQUE FAKHOURI, 4EDUARDOAUGUSTO PFAU, 5LUIZ FERNANDO CORREA MAGANHA
1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Curso Avancado Em Cirurgias Bucais - Turma Ii da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Odontologia da UNIPAR3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O sorriso tem relação direta com a harmonia facial. A harmonização do sorriso envolve a junção da estética brancacom a estética rosa e, observando esses aspectos, conseguimos construir um sorriso esteticamente favorável. Com a crescentemodernização da odontologia houve uma grande procura por procedimentos estéticos e técnicas cirúrgicas periodontais paracorreção do sorriso gengival em casos de dentes curtos ou excesso de gengiva. Atualmente contamos com técnicas e materiaisque permitem devolver a forma natural dos dentes em casos de alterações dentais e dar maior longevidade do sorriso aopaciente. Dentre os fatores que podem interferir na estética do sorriso temos durante a fase da odontogênese algumas anomaliasdentárias que podem vir a desenvolver no indivíduo quanto ao seu tamanho, número, forma, cor ou posição. A estética estádiretamente relacionada com a aceitação social do indivíduo, com a auto-estima, a cultura e o psicológico, frente a isto éindispensável que o cirurgião dentista tenha esta perspectiva de captar o que é primordial para o paciente antes de elaborar oplanejamento (HIGASHI et al, 2006). Para isso deve haver um trabalho multidisciplinar, um bom planejamento estético, umcriterioso exame clínico e anamnese para conseguirmos satisfazer o desejo do paciente e termos um resultado positivo.Relato de Caso: Paciente N.S.P.S, 21 anos, gênero feminino, leucoderma compareceu à clínica odontológica da UNIPAR,queixando- se de insatisfação de seu sorriso. Após exames clínicos e radiográficos foi diagnosticado que os elementos dentárioslaterais superiores (12 e 22) eram conóides reconstruido em resina composta, com um excesso de gengiva marginalapresentando de 2 a 3 mm em profundidade de sondagem, tendo como o tamanho de sua coroa 7 mm respectivamente. Oselementos 11 e 21 também apresentavam 3 mm de profundidade de sondagem com coroa clínica curta de 10mm e, nãomanifestavam-se uma saúde periodontal prejudicada e sangramento a sondagem, sendo assim um sorriso desproporcionalesteticamente. A princípio, foi indicado uma cirurgia periodontal de aumento de coroa estética usando um guia cirúrgico. Apóspassado o tempo de cicatrização de aproximadamente três meses, foi realizada a moldagem total do arco superior com siliconade condensação odontológica (ZETAPLUS + INDURENT GEL ZHERMACK) para a confecção de um modelo de estudo eenceramento diagnóstico dos elementos 12 ao 22. Nenhum tratamento terá êxito se não houver um bom planejamento e umcorreto diagnóstico. Com isso, cabe ao cirurgião-dentista uma habilidade manual e conhecimento científico para o sucesso notratamento e satisfação do paciente. Com a aprovação do enceramento e mock-up pelo consentimento do paciente, foi planejadoa confecção de laminados cerâmicos nos quatro elementos, visto que os laminados cerâmicos são opções de tratamento muitoprocurado nos dias de hoje pelos pacientes, pois passou pelo processo de evolução na sua propriedade física e mecânicapossibilitando uma maior estética e aumento na sua resistência e também possibilitar uma restauração cada vez mais próxima donatural garantindo uma longevidade através de uma adequada união entre a cerâmica e estrutura dentária. Segundo Bispo(2009)⁴ as facetas visam recobrir as superfícies vestíbulo-proximal e, eventualmente incisais de dentes anteriores superior einferior procurando corrigir discrepância de cor, forma, textura, função e posicionamento dos elementos na arcada dentária.Discussão: No estudo em questão, foi selecionado o tratamento com laminados cerâmicos do tipo E-MAX (Lentes de contatodental), para modificar a cor, forma e textura dos elementos dentais, sendo um dos principais motivos, os incisivos lateraissuperiores conóides que levaram a paciente a procurar o tratamento. Existem muitos tipos de possíveis tratamentos parareanatomização, incluindo resinas compostas e próteses com ou sem preparação dentária. Resinas compostas podeminicialmente superar as expectativas do paciente. No entanto, estabilidade de cor de curto prazo (pigmentação) e sua baixaresistência ao desgaste (perda de brilho e textura e o acúmulo de biofilme bacteriano) pode ter um impacto na satisfação. Aconfecção de facetas é, muitas vezes, uma alternativa viável para reabilitações estéticas de diversas naturezas (BEIER et al.,2012). Em relação ao uso de cerâmicas, é possível alcançar resultados estéticos excelentes e previsíveis (BEIER et al., 2012).Apesar disso, o resultado é dependente da habilidade do técnico de laboratório e da comunicação eficiente entre paciente, clínicoe protético (CHRISTENSEN, 2004).Conclusão: Sendo assim, concluímos que os padrões de estética do sorriso está relacionada à cor, forma, textura, alinhamento
dentário, contorno gengival e relação destes com o rosto. Antes de qualquer passo, avaliar cada caso detalhadamente e otratamento ser minuciosamente planejada. Isto é, realizar mock up , fotografias, modelos de estudo, avaliar a possibilidade derealização de cirurgias periodontais e as principais queixas do paciente
ReferênciasBEIER, U. S.; KAPFERER, I.; BURTSSCHER, D.; DUMFAHRT, H. Clinical Performance of Porcelain Laminate Veneers for Up to20 Years. Int J Prosthodont., v. 25, p. 79-85, 2012. BERTOLINI, P.F.R.; et al. Recuperação da estética do sorriso: cirurgia plástica periodontal e reabilitação protética. Revista deCiências Médicas, Campinas, v.20 n.5 p.137-143, set/dez 2011. BISPO, L.B. Facetas Estéticas: Status da Arte. Revista Dentística on line. Ano 8, n.18. jan./mar. 2009.CHRISTENSEN G.J. Restoring a single anterior tooth solutions to a dental dilema. Journal of American Dental Association, v.135,p.1725-1727, 2004FARIAS-NETO, Arcelino et al. Esthetic Rehabilitation of the smile with no-prep porcelain laminates and partial veneers. Casereports in dentistry, v. 2015, 2015. Acesso em: 15 ago. 2019, Disponível:https://www.hindawi.com/journals/crid/2015/452765/abs/ FRANCO, J.M.; et al. Reanatomização de incisivos laterais conóides: relato de caso. Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde,Espírito Santo , v.10 n.2 p.64-68, 2008.HIGASHI, C. et al. Planejamento estético em dentes anteriores. In: MIYASHITA, E.; MELLO, A. T. Odontologia estéticaplanejamento e técnica. São Paulo: Artes Médicas, 2006. p.139-54. MEEREIS, C. T. W. et al. Digital smile design for computer-assisted esthetic rehabilitation: two-year follow-up. Operative dentistry,v. 41, n. 1, p. E13-E22, 2016. Acesso em: 15 ago. 2019, Disponível: https://www.jopdentonline.org/doi/full/10.2341/14-350-SSOUSA, J.B.S.; et al. Cirurgia Plástica Periodontal para Correção de Sorriso Gengival Associado à Restauração em ResinaComposta: Relato de Caso Clínico. Revista Odontológica Brasileira Central, Goiás, v.19 n.51 p.362-366, 2010.ZAVANELLI, A.C.; Associação de preparos minimamente invasivos e plástica gengival: relato de caso clínico. Arch Health Invest,São Paulo, v.4 n.3 p.1-9, mai/jun 2015.
INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA RELACIONADA AO USO DE CATÉTER VENOSO CENTRAL EM PACIENTESINTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
1ALINE APARECIDA BARTNISKI, 2GISELE LOTICI, 3BRUNO HENRIQUE NESI, 4FERNANDA TONDELLO JACOBSEN,5PATRICIA AMARAL GURGEL VELASQUEZ, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR- Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A infecção de corrente sanguínea relacionada ao uso de cateter (ICSRC) é uma das mais comuns no âmbitohospitalar, normalmente, resulta da abordagem intensiva para a estabilização da saúde, podendo se agravar por uma higieneinadequada, tanto das mãos, como também, do local de inserção, com instalação e manipulação errônea dos cateteres (SILVA etal, 2017).Objetivo:Avaliar o índice e perfil dos acometidos por infecção da corrente sanguínea relacionada à inserção e manutenção docateter venoso em pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva de um hospital misto do Paraná.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, retrospectiva de caráter descritiva e documental, com abordagemquantitativa, realizada por meio dos dados coletados de fichas de notificação da comissão de controle de infecção hospitalar deum hospital misto do Paraná. Foram incluídos todos os prontuários de pacientes internados durante o período de janeiro adezembro de 2018, que desenvolveram Infecção relacionada ao uso de cateter venoso. Foi realizada uma análise descritiva comapoio do programa Software Statistical Package of Social Sciences for Windows (SPSS). O estudo foi aprovado pelo Comitê deÉtica em Pesquisa da Universidade Paranaense sob protocolo (1.993.266∕2018)Resultados: Durante o período de estudo, um total de 104 pacientes apresentaram quadros de infecção, sendo que, 36 (34,6%)destes, desenvolveram infecção de corrente sanguínea. Dentre os acometidos, houve predominância entre indivíduos do sexomasculino de 25 (69,4%) pacientes, contraposto, 11 (30,6%) do sexo feminino. Em relação a faixa etária, foram consideradosjovens/adultos com 17 (47,3%), e idosos 19 (52,7%). Referente ao uso do CVC, 35 (97,2%). Quanto a origem do internamento,19 (52,8%) eram por condições clínicas, 9 (25%) por trauma e 8 (22,2%) cirúrgico. Os pacientes permaneceram internados emmédia 25,3 dias e por conseguinte o desfecho se caracterizou em 20 (55,6%) óbitos, 15 (41,7%) altas e 1 (2,8%) transferênciahospitalar.Discussão: No presente estudo observa-se alto índice de infecção de corrente sanguínea (34,6%), quando comparado a outrosestudos, percebe-se um valor extremamente superior ao relatado na literatura (FERREIRA et al, 2017). Vale destacar que aredução destes índices está atrelada às ações multiprofissionais, com apoio da CCIH e utilização de protocolos eficazes,entretanto nos últimos anos os casos de ICSRC são cada vez mais freqüentes e letais. Ao avaliar o sexo, houve umapredominância (69,4%) do masculino, por uma predisposição ao risco de colonização bacteriana em sua pele, assim comoevidenciado por Brixner e colaboradores (2019). Observou-se ainda prevalência elevada dos casos entre idosos (52,7%), assimcomo, também, no estudo de Brixner et al (2019) que apresentou resultados semelhantes (59,1%),o que pode estar associado avulnerabilidade da população geriátrica, devido as alterações fisiológicas que propiciam o desenvolvimento de infecçõesou adificuldade do organismo de responder a intervenções. Pacientes restritos ao leito tem a necessidade da utilização deprocedimentos invasivos, entre eles 35 (97,2%) deles foram submetidos ao uso do cateter venoso central, assim com, no estudode Carvalho (2015), onde todos os 58 pacientes internados na UTI que desenvolveram infecção, utilizaram CVC. Quanto aorigem da internação, prevaleceu os motivos clínicos (58,2%), sendo que esses dados entraram em consonância com o estudode Brixner e colaboradores (2017), que também evidenciou níveis elevados (81,8%), devido a faixa etária e comorbidadesprévias. A duração média do internamento foi de 25,3 dias, semelhante a uma pesquisa realizada em um hospital universitário,na qual os pacientes permaneceram internados por 27,2 dias, este tempo elevado está diretamente ligado ao desenvolvimentoda ICS, uma vez que, aumenta a vulnerabilidade do paciente e a exposição a microrganismos. Alusivo aos índices citados, tem-se a consequência de um elevado numero de óbitos (41,7%), semelhante ao estudo de Silva e colaboradores (2017) onde36,36% dos pacientes evoluíram ao mesmo desfecho, confirmado pelo fato de ser uma infecção a nível sistêmico, de difícilcontrole e rápido avanço. Com a mobilidade prejudicada, os pacientes presentes na UTI acabam sendo submetidos aprocedimentos invasivos, dentre eles, inserção do cateter venoso central. O manuseio incorreto deste dispositivo pode ocasionar,
principalmente, infecção de corrente sanguínea.Conclusão: Nesse estudo puderam-se observar altas taxas de ICS, especialmente em idosos do sexo masculino. Diante doexposto, se faz necessário ressaltar a importância da CCIH no monitoramento e aprimoramento da adesão profissional no quetange as boas práticas de higiene e manipulação, paralela àmelhoria no processo de prevenção, notificação e controle das IRAS.
ReferênciasBRIXNER, Betina; et al. Infecções da corrente sanguínea em unidade de terapia intensiva: estudo retrospectivo em um hospitalde ensino. Revista Enfermagem Atual InDerme. Santa Cruz do Sul, v. 87, n. 25, 2019. Disponível em:https://revistaenfermagematual.com/index.php/revista/article/view/215. Acesso em: 14/08/2019.FERREIRA, Jéssica Meurer. Incidência de infecção primaria de corrente sanguínea relacionada ao cateter venosos central e oscuidados da enfermagem na unidade de terapia intensiva do hospital regional Dr. Homero de Miranda Gomes. Internet. 2017.Disponível em: https://riuni.unisul.br/handle/12345/2200 . Acesso em: 14/08/2019.PASSOS, Ana Paula; et al. Infecções de corrente sanguínea relacionadas ao cateter venoso central em UTI adulto: revisãointegrativa, Revista Perspectivas Online: Biológicas e Saúde - Anais do VI CICC, internet, v. 8, n. 27, 2018. Disponível em:https://www.seer.perspectivasonline.com.br/index.php/biologicas_e_saude/article/view/1469 . Acesso em: 16/07/2019.PEREIRA, Francisco Gilberto Fernandes, et al. Caracterização das infecções relacionadas à assistência à saúde em umaUnidade de Terapia Intensiva. Revista Visa em Debate. Fortaleza, v. 4, n. 1, p. 70-77, 2016. Disponível em:http://www.visaemdebate.incqs.fiocruz.br/ . Acesso em: 16/07/2019.SILVA, Alanna Gomes, et al. Estratégia Multimodal para prevenção da infecção da corrente sanguínea relacionada ao catetervenoso central: uma revisão integrativa. Revista Medicina. São Paulo. v. 96, n. 4, p. 271-277, 2017. Disponível em:https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/download/133189/136779/ . Acesso em: 14//08/2019.SILVA, Rosemeire Faria, et al. Fatores de risco para infecção de corrente sanguínea e influência na taxa de mortalidade.Revista Prevenção de Infecção e Saúde, Uberlândia, v. 3, n. 3, p. 9-20, 2017. Disponível em:http://www.ojs.ufpi.br/index.php/nupcis/article/view/6476. Acesso em: 16/07/2019.SOUZA, Ester Sena. Mortalidade e riscos associados a infeção relacionada a assistência em saúde. Revista Texto e ContextoEnfermagem. Santa Catarina. v. 24, n.1, p. 220-228, 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/tce/v24n1/pt_0104-0707-tce-24-01-00220.pdf . Acesso em: 14/08/2019.
PERCEPÇÃO DE ACADÊMICAS DO CURSO DE ENFERMAGEM COM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
1JESSICA BOMFIM DOS SANTOS, 2RAFAELA DE OLIVEIRA FIRMINO, 3VITORIA TODERO ULIANA, 4EMILLI KARINEMARCOMINI, 5NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA
1Acadêmica do curso de Enfermagem da Unipar1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de envelhecimento do país tem se elevadoconstantemente, onde estima-se que no período de 2010 a 2060 haverá uma mudança radical das pirâmides demográficas(BRASIL, 2008). A Portaria nº 2.528 de outubro de 2006, refere-se à Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) einstitui que para corresponder a esta mudança demográfica brasileira a assistência a saúde também deverá sofrer modificações,no qual deve haver uma abordagem global, interdisciplinar e multidimensional nos cuidados realizados as pessoas idosas,observando as interações entre fatores físicos, psicológicos e sociais (BRASIL, 2006). Assim, diante deste novo paradigma desaúde é relevante também que haja modificações no campo de ensino, capazes de envolver os estudantes através do contatocom a gerontologia ao longo da graduação (RODRIGUES et al., 2019).Objetivo: Relatar a experiência de estudantes de enfermagem em atividades desenvolvidas junto ao grupo de idososinstitucionalizados.Material e Métodos: Trata-se de um relato de experiência de um projeto de extensão universitária desenvolvido semanalmenteem uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) da região noroeste do Paraná, conduzido por acadêmicas deenfermagem do primeiro ano do curso de graduação da Universidade Paranaense.Resultados: Após a experiência vivida pelas alunas do curso de enfermagem em uma ILPI, observou-se a existência de altadependência física e mental dos idosos desta instituição, principalmente pelo fato deles necessitarem de auxílio paradesenvolvimento das Atividades da Vida Diária Básica (AVDB) como alimentação, vestir-se e deambulação. Os transtornosmentais estão presentes nessa realidade de idosos institucionalizados, contribuindo limitações cognitivas e de relacionamento.As atividades desenvolvidas estão relacionada a interação das acadêmicas com o idoso através do lúdico e da escuta ativa.Como resultado do conhecimento também destacamos a vivência em um ambiente rico em experiências, pouco explorado pelosestudantes e que necessita de um apoio extra da população que se faz presente com doações, recursos financeiros entre outrasatividades de caráter social. Em se tratando da qualidade de vida, afirma-se que os idosos possuem profissionais atenciosos ecapacitados, que atendem as condições de cada indivíduo ali institucionalizado. Mediante o primeiro contato acadêmico-idoso,menciona-se que foi de extrema relevência para o crescimento estudantil, permitindo que no ínicio da graduação houvesse ainteração com um público institucionalizado em seu real ambiente de vivência, destacando a importância dos profissionais deenfermagem como agentes do cuidado neste ambiente.Discussão: De acordo com Nogueira e Martins (2017), o lazer e as atividades recreativas aos idosos institucionalizados, sãoatividades que acarretam benefícios a saúde, trazendo mais qualidade de vida, momentos de descontração e interação social,principalmente por envolver um ambiente no qual existe uma probabilidade superior de existência de solidão e carência afetiva.Corroborando, Alves, Moura e Silva (2017) pontuam que a residência em uma ILPI ocasiona um isolamento social muitosignificativo, no qual observa-se um sentimento de abandono e solidão por parte desses idosos, fatores estes perceptíveis pelasacadêmicas deste estudo, através do isolamento, do olhar, das conversas. Sabe-se que as ILPI são locais de residência queestão cada vez mais sendo superlotados, pois o alto índice de dependência funcional do idoso traz à necessidade de umaassistência à saúde com mais qualidade e que corresponda às condições de saúde (VIEIRA et al., 2016). Esta dependênciaenfatizada pelo autor, também foi observada nesta pesquisa, onde notou-se a existência de uma fragilidade física e emocionalacentuada da população idosa, percebendo-se que os idosos sentem-se gratificados pela presença de estudantes nasdependências da instituição, desenvolvendo momentos de interação, jogos lúdicos e ocupacionais. A experiência com o cenáriode idosos ainda na graduação reforça o desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo nos acadêmicos sobre a saúde dapopulação idosa e a realidade de uma institucionalização (RODRIGUES et al.,2019).Conclusão: A experiência vivenciada pelo projeto de extensão no primeiro ano do curso de graduação em enfermagemproporcionou um crescimento acadêmico e profissional, contribuindo para o desenvolvimento estudantil em um campo deatuação heterogêneo. Através desta percepção, pode-se conhecer a realidade da saúde da população idosa institucionalizada e
analisar as necessidades que este grupo populacional possui, onde observou-se a existência de uma alta dependência funcional.
ReferênciasALVES, Eduarda Michaelle Silva; MOURA, Karina Santos; SILVA, Lucas Kayzan Barbosa. Olhar sobre a saúde mental do idosoinstitucionalizado: relato de experiência de visitas observacionais de acadêmicos de terapia ocupacional. In: CONGRESSOINTERNACIONAL ENVELHECIMENTO HUMANO, v.1, 2017. Anais do Congresso Internacional EnvelhecimentoHumano. Alagoas: Realize, 2017. p. 2-4. Disponívelem: https://editorarealize.com.br/revistas/cieh/trabalhos/TRABALHO_EV075_MD4_SA14_ID869_23102017195420.pdf. Acessoem: 19 de ago. 2019BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nota Técnica. Projeções e estimativas da população do Brasil edas Unidades da Federação. IBGE: Rio de Janeiro, 2008. Disponível em:https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ Acesso em: 19 de ago. 2019.BRASIL. Portaria no 2.528, de 19 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Brasília: Ministérioda Saúde, 2006.NOGUEIRA, Wilson Batista Soares; MARTINS, Clebio Dean. O lazer na terceira idade e sua contribuição para uma melhorqualidade de vida: um estudo com idosos institucionalizados. Revista Brasileira de Ciências da Vida, v.5, n.2, 2017. Disponívelem: http://jornal.faculdadecienciasdavida.com.br/index.php/RBCV/article/view/228.Acesso em: 19 de ago. 2019.RODRIGUES, R. et al. Atitudes de estudantes de enfermagem sobre o cuidar de pessoas idosas: revisão integrativa. In: 8ºCONGRESSO IBERO-AMERICANO DE INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA, v.2, Lisboa, 2019. Atas Investigação qualitativaem saúde. Lisboa: CIAQ, 2019. p.351-360. Disponível em: https://proceedings.ciaiq.org/index.php/CIAIQ2019/article/view/2037.Acesso em: 19 de ago. 2019.VIEIRA, S. K. S. F. et al. Avaliação da qualidade de vida de idosos institucionalizados. Revista Interdisciplinar UNINOVAFAPI,v.9, n.4, p.1-11, 2016. Disponível em:https://revistainterdisciplinar.uninovafapi.edu.br/index.php/revinter/article/view/1155/pdf_357. Acesso em: 19 de ago. 2019
COMPREENDENDO A COMPLICAÇÃO HEMORRÁGICA NO PERÍODO PUERPERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEMFRENTE ESSA TEMÁTICA
1THAYS APARECIDA DE LIMA, 2TOANE CAMILA LEME GOMES
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Docente do Curso de Enfermagem da UNIPAR
Introdução: O puerpério é um período que engloba muitas alterações físicas, psíquicas e fisiológicas na mulher impostas pelagestação, a puérpera passa por processos de adaptações em que o enfermeiro se torna um grande aliado para a prevenção decomplicações obstétricas (STRAPASSON; NEDEL, 2010). A morte materna obstétrica, compreende o período gestacional damulher até o puerpério que se encerra no 42º dia pós-parto, mais notadamente a intercorrência comum é a hemorragia pós-partoque em muitos casos são causas evitáveis (SOUZA, et al, 2013). O enfermeiro tem como essência o cuidado, com isso suahabilidade e seu conhecimento fazem parte de fatores importantes para evitar diversas complicações como a hemorragia pós-parto, uma complicação que pode levar a uma morte materna se não tratada (MAZZO; BRITO; SANTOS, 2014).Objetivo: Conhecer a complicação hemorrágica no puerpério e a assistência de enfermagem nas parturientes.Desenvolvimento: Dentre as várias complicações que poderão desenvolver durante a gravidez a mais comum entre elas é ahemorragia que entra com grande influência na causa de mortalidade materna no período puerperal, entretanto as síndromeshemorrágicas entram como um dos principais fatores de risco, sendo evitável com um bom acompanhamento durante o pré-natal,levantando os possíveis fatores de risco, para um diagnóstico precoce evitando complicações puerperais (FILHO, et al, 2009). Aconsulta de enfermagem no puerpério deve ser feita sistematicamente sempre direcionados ao binômio, mãe-bebê, para que oacolhimento favoreça um bom vínculo, sanando todas as dúvidas, e esclarecendo queixas que irá surgir desde o nascimento,pois o trabalho da equipe de enfermagem é um dos pilares importantes para o cuidado evitando complicações maternas(DANTAS, et al, 2018). A classificação para ser considerada hemorragia pós-parto compreende a perca de sangue na cesarianasuperior a 1000 ml e no parto vaginal superior 500 ml, para levar a morte materna, compreende um conjunto de causascomplicações e falta de intervenções necessárias (MARTINS; SOUZA; SALAZAR, 2013). Um bom profissional de enfermagem éaquele que descobre rapidamente uma gravidez e sabe conduzir de forma que possa evitar possíveis intercorrências, oferecendoatenção de qualidade, orientações adequadas a cada mãe, pois apesar de tantos avanços ainda se tem muita preocupação emrelação as altas taxas de mortalidades (SCHMITT, et al, 2018). Uma boa estratificação de risco no momento de abertura do pré-natal, facilita ao enfermeiro um acompanhamento completo durante a gestação, traçando cuidados ao longo do ciclo gravídico atéseu puerpério, pois uma estratificação de qualidade é uma das primeiras ações para a redução de mortalidade materna por HPP(OPAS, 2018).Conclusão: Pode-se concluir com esse estudo, que um atendimento qualificado durante o pré-natal, uma adequadaestratificação de risco, uma consulta de puerpério realizada com um olhar diferenciado, buscando identificar os possíveis riscospara complicações obstétricas é uma das primeiras ações para a redução de mortalidade materna por HPP.
ReferênciasDANTAS, S. L. C.; et al., Representações sociais de enfermeiros da atenção primária a saúde sobre cuidado de enfermagem nopós-parto. Cogitare Enfermagem. Fortaleza (CE), v. 23, n. 3, p. 1-8, 2018. Disponível em:em: https://bit.ly/2U6yvtC. Acesso em:29 de março 2019.FILHO, A. V. L.; et al., Condutas anestésicas nas síndromes hemorrágicas obstétricas. Revista Med. de Minas Gerais, v. 19, n.3, p. 24-33, 2009. Disponível em: https://bit.ly/2Id9Gpw. Acesso em: 10 de abril 2019. MARTINS, H. E. L.; SOUZA, M. L.; SALAZAR, M. A. Mortalidade materna por hemorragia no Estado de Santa Catarina, Brasil.Revista Escola Enfermagem. USP, v. 47, n. 5, p. 1025-1030, 2013. Disponível em: https://bit.ly/2GgTzoO. Aceso em: 10 de abril2019.MAZZO, M. H. S. N.; BRITO, R. S.; SANTOS, F. A. P. S. Atividades do enfermeiro durante a visita domiciliar pós-parto. RevistaEnfermagem UERJ, Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, p. 663-667. Disponível em: https://bit.ly/2uzEms3. Acesso em: 29 de março 2019. OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Recomendações assistenciais para prevenção, diagnóstico e tratamento dahemorragia obstétrica. Brasília: OPAS; 2018. Disponivel em: https://bit.ly/2v0wRKQ. Acesso em: 16 de julho 2019. SOUZA, M.L.; et al., Mortalidade materna por hemorragia no brasil. Revista Escola Enfermagem USP. São Paulo, v. 47, n. 5, p. 1-8, 2013.Disponível em: https://bit.ly/2GgTzoO. Acesso em: 10 abril 2019.SCHMITT, P. M.; et al., A revelação de puérperas na assistência pré-natal em estratégias de saúde da família. Saúde ePesquisa. Maringá Pr, v. 11, n.1, p. 129-137, 2018. Disponível em: https://bit.ly/2JTOXZs. Acesso em: 21 de julho 2019.
STRAPASSON, M. R.; NEDEL, N. B. Puerpério imediato: desvendando o significado da maternidade. Revista Gaúcha Enferm.(Online), Porto Alegre, vol. 31, n. 3, p. 521-528, 2010. Disponível em: https://bit.ly/2YyP67P. Acesso em 29 de março 2019.
PESQUISA DE HEMOGLOBINAS VARIANTES EM UMA POPULAÇÃO DO SUDOESTE DO PARANÁ
1RENATA PATRINI LAVA DAL PIVA, 2THAIS GIROTTO MAFFESSONI, 3GREGORIO HENRIQUE GIESE HOFMANN,4PATRICIA AMARAL GURGEL VELASQUEZ
1Acadêmica de Farmácia/PIC - UNIPAR - Francisco Beltrão1Acadêmica de Farmácia/PIC - UNIPAR - Francisco Beltrão2Acadêmico de Farmácia/PIC - UNIPAR - Francisco Beltrão3Docente de Farmácia - UNIPAR - Francisco Beltrão
Introdução: A hemoglobina é uma molécula presente nos eritrócitos com função de transporte de oxigênio para os tecidos.Algumas alterações na síntese da hemoglobina resultam em distúrbios hereditários, que são classificados de acordo com seudefeito. Se for uma alteração no gene da hemoglobina, produzindo cadeias polipeptídicas anormais, a condição é chamada dehemoglobina variante ou hemoglobinopatia. Porém, se a síntese das cadeias ocorre em quantidade alterada, é classificada comotalassemia (ALMEIDA et al., 2011). As talassemias afetam com maior frequência descendentes asiáticos e europeus; destaforma essas doenças são mais encontradas nas regiões colonizadas por estes grupos, particularmente Italianos, enquanto asHemoglobinas S (HbS) e Hemoglobinas C (HbC) apresentam alta frequência entre afro-descendentes. Porém, de acordo comdados da OMS, essas 3 hemoglobinopatias são suficientes para causar um alto grau de morbimortalidade no Brasil (SILVA et al,2015). As talassemias do tipo alfa podem ter causas como: hereditárias e adquiridas. A forma herediatária é a mais comum emcomparação com a forma adquirida que é secundária a um processo patológico primário. A talassemia beta forma um grupo dealterações genéticas na síntese da hemoglobina com variabilidade clínica, quando em relação a sintomas emanifestações (BAJWA, BASIT, 2019).Objetivo: Conhecer a prevalência de hemoglobinas variantes na população atendida no laboratório de Análises Clínicas daUnipar de Francisco Beltrão-PR.Material e métodos: A pesquisa foi realizada após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. A coletados dados se deu através de pacientes com pedido médico de hemograma, atendidos nos serviços do Laboratório de AnálisesClínicas (LAC) da Unipar de Francisco Beltrão. Os pacientes que concordaram em participar do estudo, assinaram o Termo deConsentimento Livre e Esclarecido e forneceram informações como nome, endereço, idade, sexo, uso de medicamentos e casosfamiliares de anemia, por meio de uma entrevista. Para tanto foram entrevistados 36 pacientes, sendo 22 (61,1%) do sexofeminino e 14 (38,9%) do sexo masculino. As faixas etárias variaram entre idosos (38,9%), adultos (44,4%), jovens (13,8%) ecriancas (2,7%). Quanto a raça 94,4% se autodeclararam brancos, 2,8% pardos e 2,8% negros.Para a realização doprocedimento, o sangue foi colhido por punção venosa com EDTA como anticoagulante. Após a utilização das amostras peloLAC, estas foram transportadas até o laboratório Hermes Pardini para a realização da eletroforese de hemoglobina. Osresultados do hemograma (contagem de eritrócitos, hematócrito, hemoglobina, VCM, HCM, CHCM e RDW) foramdisponibilizados pelo LAC.Resultados: Dos 36 pacientes entrevistados, 30 (83,3%) disseram não ter anemia e 6 (16,6%) já tiveram anemia em algummomento da vida. Quando questionados sobre casos de anemia na família, 35 (97,2%) pacientes alegaram não ter casos deanemia na família, enquanto apenas 1 (2,8%) afirmou que a mãe já teve anermia. Os resultados da eletroforese da hemoglobinaencontram-se dentro dos valores de referência, bem como os valores obtidos de eritrócitos, hematócrito, VCM, HCM e RDW.Discussão: Como consequência da diversidade étnica ocorrida no Brasil na época de sua colonização, há uma prevalência dehemoglobinas variantes influenciados por fatores raciais e ecológicos. Com isso, Hemoglobina S, C e talassemias sãoconsideradas comuns no Brasil (BRASIL, 2016). Diante dessas evidências esperava-se que a população de Francisco Beltrãoseja mais propensa a apresentar hemoglobinopatias do tipo talassemia, pois, de acordo com Fioravanti (2004), essa é umaregião predominantemente colonizada por europeus. Contudo, no presente estudo não observou-se a prevalência dehemoglobinas variantes na população estudada, independente da raça, sexo e idade os resultados apresentaram-se dentro dosvalores de referência. Isso se deve pela evidente miscigenação que ocorreu na época da colonização brasileira, principalmentena região estudada, onde há uma grande variedade de descendências. Em um estudo realizado no hemonúcleo de Caxias do Sul
RS, local com grande número de imigrantes italianos, na população estudada encontrou-se sete indivíduos afetados (1,15%),dos quais um (14,3%) tinha HbAC e seis (85,7%) HbAS (LISOT; SILLA, 2004). Quando se analisa estudos realizados em regiõesafricanas também observa-se um elevado percentual de alterações, com prevalência chegando a 12,6% da população estudada,dos quais 2 (10,2%) possuíam HbAC e 17 (89,4%) HbAS (ANTWI-BAFFOUR et al., 2015).Conclusão: A região sudoeste do Paraná, local aonde se realizou o estudo, possui uma descendência europeia marcante,
descendência essa que apresenta significativas variações de talassemias. Porém, com a realização da pesquisa notou-se quetais variações não estão presentes na população da região de Francisco Beltrão, pois nenhum paciente apresentou alteraçõesem suas hemoglobinas. Entende-se que a amostra estudada ainda é pequena precisando aumentar o número de participantespara melhor compreensão dos resultados.
ReferênciasALMEIDA, Lais Pinto de et al. O laboratório clínico na investigação dos distúrbios da hemoglobina. J. Bras. Patol. Med. Lab.,47(3): 271-278, 2011 . ANTWI-BAFFOUR, Samuel et al. Prevalence of hemoglobin S trait among blood donors: a cross-sectional study. BMC researchnotes. 8(1): 583. 2015.BAJWA, Hamza, BASIT, Hajira. Thalassemia. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019-. 2019 Jul28.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. Orientaçõespara diagnóstico e tratamento das Talassemias Beta / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento deAtenção Especializada e Temática. 1. ed., atual. Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 184 pFIORAVANTI, Carlos. Efeitos da diversidade Intensa: miscigenação faz do Brasil um campo fértil para as anemias hereditárias.Revista Pesquisa Fapesp. 102. 2004.LISOT, Cristina Lucia Alberti; SILLA, Lúcia Mariano da Rocha. Triagem de hemoglobinopatias em doadores de sangue de Caxiasdo Sul, Rio Grande do Sul, Brasil: prevalência em área de colonização italiana. Cad. Saúde Pública. 20(6): 1595-1601, 2004 .SILVA, Camila de Azevedo et al . Neonatal screening program for hemoglobinopathies in the city of São Carlos, state of SãoPaulo, Brazil: analysis of a series of cases. Rev. Paul. Pediatr. 33(1): 19-27, 2015.
MECÂNISMOS FISIOPATOLÓGICOS DA SEPSE E O IMPACTO DESSA SÍNDROME EM PACIENTES CRITICAMENTEENFERMOS
1AMANDA GABRIELI RITTER, 2FERNANDA TONDELLO JACOBSEN, 3ALESSANDRA LOTICI, 4ANA PAULA MULLER,5BRUNO HENRIQUE NESI, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem UNIPAR -Francisco Beltrão 1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A sepse é definida pela presença de disfunção orgânica ameaçadora à vida, secundária a uma resposta exacerbadado organismo frente a infecção, assim em sua forma mais grave, o choque séptico apresenta acentuadas anormalidadeshemodinâmicas, celulares e metabólicas, associadas a um maior risco de morte do que a sepse isoladamente (JORDÃO, 2019).Objetivo: Descrever dados atualizados da literatura sobre as características dos mecanismos fisiopatológicos da sepse oimpacto em pacientes críticos.Desenvolvimento: As manifestações clínicas da sepse são peculiares e dependem de vários aspectos além do momento emque o diagnóstico é estabelecido, não só pelo agente agressor ou virulência do patógeno, mas também por característicasgenéticas do indivíduo e avaliação do sitio de infecção. A soma desses fatores desencadeia uma série de eventos imunológicos,metabólicos e hemodinâmicos. A redução da competência imunológica possibilita a invasão microbiana nos tecidos, cadamicrorganismo tem um caráter molecular próprio, denominado Padrão Molecular Associado ao Patógeno (PAMPS), uma vez queinvadem e multiplicam nos tecidos, são identificados por elementos do sistema imune inato, através desses padrões moleculares.As células do sistema imune inato reconhecem elementos moleculares através de receptores próprios, que uma vez ativados,macrófagos e células dendríticas produzem citocinas capazes de promover a inflamação tecidual. Na maioria dos casos, osachados clínicos estão relacionados ao sitio primário da infecção, podendo apresentar sinais como febre acompanhada decalafrios de início abrupto, hiperventilação com alcalose respiratória e mudanças do estado mental, dor, cefaleia, náusea,diarreia, latargia, prostração por hipotensão ou vasoconstrição, anorexia, mialgia, taquicardia, taquipneia, oliguria e irritabilidade(WENTOWSKI, MEWADA, NILSEN, 2018). Três processos distintos e interligados devem ser avaliados após o diagnóstico,sendo eles, o foco infeccioso como agente causal ou inicial, a participação de células de defesa envolvidas na resposta imune eas alterações hemodinâmicas, mecanismos esses que ocorrem concomitantemente, favorecendo a evolução da sepse(BOECHAT, 2010). Alguns dos efeitos nocivos evidentes na gravidade da sepse se originam da ação inespecífica dessas célulase seus mediadores em órgãos distantes do foco infeccioso, comprometendo seu funcionamento. Na presença de bactérias emum compartimento estéril, as células residentes são estimuladas a liberar mediadores que induzem a migração de leucócitos parao local da infecção, além desse mecanismo, são liberados outros mediadores que ao alcançar a corrente sanguínea, sãoresponsáveis pelo quadro sistêmico da sepse (PEREIRA, 2007). Grandes quantidades de fator de necrose tumoral (TNF)também levam aos sintomas sistêmicos, a explosão respiratória no interior de macrófagos e neutrófilos ativos é responsável pelaliberação de oxido nítrico, que tem um efeito vasodilatador e hipotensor, que irão contribuir para o choque séptico. Algumasmoléculas endógenas são liberadas durante a lesão tecidual ou celular, estas, são conhecidas como Danger AssociatedMolecular Patterns (DAMPs), e são capazes de ativar a resposta imune de forma independente dos patógenos, exercendo umpapel relevante na sepse (WENTOWSKI, MEWADA, NILSEN, 2018). A interação das DAMPs com a resposta imune constitui abase molecular da síndrome de resposta inflamatória sistêmica, consequentemente, haverá uma sequência de eventosbioquímicos, genéticos e clínicos, envolvendo adinamia, febre, sintomas gerais de inflamação pela ação das citocinas sobre ohipotálamo, elevação da proteína C reativa e complemento por ação das citocinas sobre o fígado, ativação endotelial comdisfunção microcirculatoria , aumento da permeabilidade vascular, ativação na cascata das cininas, microtrombose e redução daresistência vascular sistêmica. As alterações homeostáticas e as disfunções mais proeminentes são consequência de umaresposta inflamatória exacerbada, devido a interação entre as células de defesa e o agente infeccioso. As propriedadesfagociticas e bactericidas são essenciais para a defesa fisiológica do hospedeiro, mas pode surtir efeitos deletérios ao organismoa partir do momento em que a ativação de neutrófilos e macrófagos se torna exacerbada. (PEREIRA, 2007). Inúmeros estudosretrospectivos apontam que os índices de alta mortalidade por sepse estão diretamente associados ao retardo na administraçãode antibióticos em pacientes diagnosticados e sugerem que o inicio da terapia antibiótica adequada impacta na redução do tempo
de internação, reduzindo a mortalidade pela síndrome (WENTOWSKI, MEWADA, NILSEN, 2018).Conclusão: Fica evidente que os mecanismos fisiopatológicos da sepse são peculiares, graves e de grandes proporçõessistêmicas, pois envolvem alterações imunológicas, celulares e hemodinâmicas. O diagnóstico precoce da sepse é essencialpara a redução da morbimortalidade pela síndrome e seus agravos, sendo esse possivelmente retardado pela falta decapacitação da equipe multiprofissional sobre a patologia.
ReferênciasJORDÃO, Navarro Victor. Sepse: uma discussão sobre as mudanças de seus critérios diagnósticos. Braz. J. Hea. Ver., Curitiba,v.2, n.2, p.6, 1294-1312, mar./apr. 2019.WENTOWSKI, Catherine; MEWADA, N; NILSEN, D Nielsen. Sepsis in 2018: a review. Anesthesia And Intensive CareMedicine. London, v.20, n.1. p-1-13. 2018.PEREIRA, Rocha Kelly. Sepse: epidemiologia, Fisiopatologia e Tratamento. Multitemas, Campo Grande-MS, n.35, p. 189-206,dez. 2007.BOECHAT, Oliveira Narjara. Sepse: diagnostico e tratamento. Rev Bras Clin Med., São Paulo, v.8, n.5, 420-7. Out. 2010.
A INFLUENCIA DA MELISSA OFFICINALIS NO CONTROLE DA ANSIEDADE EM VOLUNTÁRIOS NA CIDADE DEMEDIANEIRA / PR
1ROSENI DAS GRACAS PADRE BAZZO, 2IVAN CARLOS PADRE, 3MARCELA LUIZA SIMIONATO, 4LIBERATO BRUMJUNIOR
1Acadêmica Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica1Farmacêutico na Prefeitura na Prefeitura Municipal de Medianeira / PR2Psicologa na Prefeitura Municipal de Medianeira / PR3Docente da UNIPAR
Introdução: A popularização dos recursos naturais como alternativa no tratamento e prevenção de doenças tem levando a umademanda crescente a alternativa de se prevenir ou curar algum problema físico ou emocional de uma forma mais natural, ou seja,utilizar os recursos disponibilizados pela natureza. Desta forma, é importante esclarecer, desmistificar e até mesmo descobrir opoder de cura e aplicabilidade do princípio ativo existente nas plantas. A utilização de plantas medicinais e a convivência dohomem com estas é antropológica e remonta a eras pré-históricas. Com a ausência da medicina tradicional, após ingerirdeterminada planta experimentava-se melhora ou piora de algum padecimento que o acometia. Os efeitos destas observações seestendiam também entre os animais do habitat que compartilhavam. Com o passar do tempo, devido a estas experimentaçõespode-se chegar à alguns grupos de plantas que traziam alívio dos sintomas em detrimento de outras que os agravavam. Ealgumas delas, provavelmente, levando até mesmo à morte em virtude de uma maior toxicidade. Esse conhecimento, passado degerações a geração fez nascer a fitoterapia enquanto prática terapêutica tradicional.Objetivos: Avaliar a influencia da Melissa Oficcinalis na redução ansiedade em grupo de pessoas participantes do ProjetoSEMEAR da região Oeste do Paraná.Desenvolvimento: A melissa (Melissa officinalis L.) é considerada uma espécie exótica, encontra-se numa posição de destaqueno rol das plantas medicinais devido à sua importância fitoterapêutica. Seu óleo essencial é muito utilizado pelas indústriasfarmacêuticas e suas folhas possui grande valor no mercado interno de chás. A melissa encontra-se numa posição de destaqueno rol das plantas medicinais devido à sua importância fitoterapêutica utilizadas popularmente para controlar as emoções (crisesnervosas, taquicardia, melancolia, histerismo e ansiedade). A ansiedade pode ser entendida como sintoma psiquiátrico e/oucomo reação emocional, de forma não patológica estando associada a diversos contextos de vida. Na maioria das vezes, elarepresenta um sinal de alarme a determinado estímulo percebido pelo indivíduo como perigoso. Em geral, é composta por umacombinação variável de sintomas físicos, pensamentos catastróficos e alterações de comportamento. Descobertas atuaisapontam que propriedades da Melissa officinalis exercem efeitos sobre o Sistema Nervoso Central (SNC), na modulação dosprocessos cognitivos e do humor. Esta pesquisa será com base na aplicação de chás de melissa em um grupo de ginástica doProjeto SEMEAR de Medianeira/PR, onde será aplicado um questionário Escala de Ansiedade de Beck com 21 grupos, que vaide uma escala de 4 pontos de Absolutamente não\" a \"Gravemente\", visando verificar a intensidade (média) de ansiedade daspessoas a serem estudadas. Após esta etapa será aplicado infusão em chá de Melissa aos participantes durante um período detempo, a fim de diagnosticar se houve melhoras significativas no quadro do grupo participante. A avaliação será realizada comuma amostra de 25 voluntários do sexo masculino e feminino, entre 20 a 60 anos de idade. Espera-se com a pesquisa, avaliar aaplicabilidade da Melissa para fins terapêuticos fitoterápicos, no que tange transtorno relacionado à ansiedade. A partir destapesquisa, espera-se também comprovar os benefícios das plantas medicinais na vida das pessoas, suas aplicações e a evoluçãode sua utilização na comunidade científica. Cabe ainda encontrar evidências de validade da utilização da Escala de Bech.Conclusão: Fica consignado que as plantas medicinais sempre foram muito utilizadas, principalmente no passado, que era oprincipal meio terapêutico conhecido para tratamento da população. E foi devido ao conhecimento e uso popular que foramdescobertos alguns medicamentos utilizados atualmente na medicina tradicional. Desta forma, considerando o fato de grandeparte da população optar pela utilização destes medicamentos naturais, cujos quais estão amplamente disponíveis naslocalidades, percebe-se a importância e a necessidade de descobrir a eficácia destas plantas medicinais utilizadas, bem como deque forma e quais são as diferentes técnicas que as mesmas são utilizadas. Diante disso, os participantes desta pesquisa terãooportunidade conhecer um pouco mais sobre fitoterapia e receberão uma explanação sobre as Plantas Medicinais, destaque paraMelissa Officinalis que será fornecida pela empresa Herbarium de Curitiba PR. Desta forma, o grupo poderá receberesclarecimentos sobre os níveis de ansiedade através de um questionário Escala de Ansiedade de Beck.
Referências
RO ROSSATO AE, CHAVES TRC. Fitoterapia racional: aspectos taxonômicos, agroecológicos, etnobotânicos eterapêuticos. Florianópolis: DIOESC, 2012. SANGUINETTI, E.E. Plantas que curam. Porto Alegre: Rigel, 1989, 208 p.SANTOS, M.R.A.; LIMA, M.R.; FERREIRA, M.G.R. Uso de plantas medicinais pela população de Ariquemes em Rondônia,Horticultura Brasileira, v. 26, n. 2, p. 234- 240, 2008.FIALHO, V.R.F; ALFONSO, J.C. Estudios Fenológicos en Plantas Medicinales. Revista Cubana Plantas Medicinais, v. 3, n.1,p. 12-17, 1998. 4.TELESSAÚDE-RS. TeleConduta: Ansiedade. UFRGS, Porto Alegre, 2017. Disponível emhttps://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/Telecondutas_Ansiedade_20170331.pdf, Acesso em 02 de Agostode 2019.AKHONDZADEH S, NOROOZIAN M, MOHAMMADI M, OHADINIA S, JAMSHIDI AH, KHANI M. Salvia officinalis extract in thetreatment of patients with mild to moderate Alzheimerʼs disease: a double blind, randomized and placebo-controlled trial.J.Clin. Pharm. Ther., 28: 53-59, 2003.
PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS UMA ALTERNATIVA NUTRITIVA E ECONÔMICA PARA MESA DOSBRASILEIROS
1GRACIELE MOREIRA DO NASCIMENTO, 2DIRLENE PEREIRA DE LIMA
1Discente do Curso de Nutrição da UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: As plantas alimentícias não convencionais (PANCs) estão distribuídas em todas as regiões do Brasil, sendoalgumas desconhecidas, já outras conhecidas e muitas já utilizadas pelas comunidades locais (BRASIL, 2010). Essasplantas apresentam-se como uma ótima fonte nutricional e funcional para a alimentação humana. O termo PANC foi criado em2008 pelo Biólogo e Professor Valdely Ferreira Kinupp e refere-se a todas as plantas que possuem uma ou mais partescomestíveis, sendo elas espontâneas ou cultivadas, nativas ou exóticas que não estão incluídas em nosso cardápio cotidiano(KELEN, et al., 2015). Conforme dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), calcula-se queem todo o planeta o número de plantas consumidas pelo homem caiu de 10 mil para 170 nos últimos cem anos (LIRA, 2018).Objetivo: Apresentar as Plantas Alimentícias Não Convencionais como alternativa nutritiva e econômica para mesa dosbrasileiros.Desenvolvimento: O guia alimentar para população brasileira orienta sobre a importância da ingestão de uma variedade dealimentos a fim de enriquecimento nutricional, com prioridade ao consumo de alimentos in natura, e os minimamenteprocessados, porém o atual modelo agrícola caminhou para uma enorme expansão da monocultura, que do ponto de vistasustentável influência em uma significativa perca de biodiversidade e consequentemente nutricional, além de ameaçar asegurança alimentar (BRASIL, 2014; PASCHOAL; GOUVEIA; SOUZA, 2016). Diante desta diminuição na biodiversidade, asPANCs surgem como uma ótima alternativa de alimento com alto teor nutricional sendo que, o baixo custo de produção e o fatode não serem necessários maquinários, agrotóxicos e nem grandes volumes de água, por serem plantas rústicas e naturais,crescem desordenadamente em seus habitats mesmo que não tenham sido cultivadas, podem ser domesticadas nos fundos dosquintais de pequenas residências e mesmo decorando porta de casas ou em vasos de plantas (KELEN, et al., 2015). Vieira,Zárate e Leonel (2018) citam como exemplos de PANCs e formas de utilização o açafrão da terra (Cúrcuma longa) que é rico emminerais, vitamina C e A, ácido fólico, riboflavina e é utilizada na produção de lacticínios e como condimento, a capuchinha(Tropaeolum majus) as folhas e flores podem ser preparadas em forma de saladas e sanduiches, as sementes tem sabor picante,pode substituir o uso de rabanetes, assemelha-se a alcaparras. O inhame comumente utilizado no Nordeste foi citado comoPANC, é um alimento muito ricos em vários nutrientes como fosforo, cálcio, ferro e vitaminas do complexo B, é um carboidratoexcelente pois possui baixo índice glicêmico (LIRA,2018). A taioba (Xanthosoma sagittifolium é uma hortaliça rica em vitamina A,vitaminas do complexo B, vitamina C, potássio, cálcio, fosfóro, ferro, as folhas e talos são consumidos refogados como guarniçãode preparações (VIEIRA, ZARATE, LEONEL, 2018). Outra planta bastante conhecida é a Ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Mill),encontrada na região Sudeste, contém em sua constituição cálcio, magnésio, vitamina A, vitamina B9, vitamina C, triptofano,zinco, fibra, possui um grande potencial proteico, essa variedade contém oxalato em sua composição, devem ser preparadas emalta temperatura para inibir o ativo (LIRA, 2018). Tidas como excelentes fontes de nutrientes, vitaminas e sais minerais, asPANCs também possuem características que conferem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e ação terapêutica, oconsumo de tais plantas e hortaliças deve ser realizado respeitando suas características e formas de preparo para que taisefeitos sejam obtidos com segurança (PASCHOAL; SOUZA, 2015). Deve-se, também, aprofundar os conhecimentos e conduzirmais estudos acerca da possível presença de fotoquímicos tóxicos ou fatores antinutricionais que algumas plantas nãoconvencionais podem apresentar se consumidas de forma inapropriada (PASCHOAL; SOUZA, 2015).Conclusão: Conhecer e incluir as plantas alimentícias não convencionais na alimentação, pode ser uma ferramenta viável eassertiva, já que a inserção de alimentos in natura e minimamente processados é de fundamental importância para saúde e bomfuncionamento do organismo, então contar com as PANCs que são ricas em nutrientes, de baixo custo no cultivo e acesso, alémde saborosas pode ser de grande valia para alimentação dos brasileiros.
ReferênciasBRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. Manual de hortaliças não convencionais. Brasília 2010.BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia alimentar para população brasileira. 2ed. Brasília 2014.KELEN, Maria Elisa Becker; NOUHUYS, Iana Scopel Van; KEHL, Lia Christina Kircheim; BRACK. Paulo; SILVA, Débora Balzanda. Plantas alimentícias não convencionais (PANCs): hortaliças espontâneas e nativas. (1ª ed.). UFRGS, Porto Alegre, 2015.LIRA, Aline. Mais do que matos, elas são plantas alimentícias não convencionais (PANCs). Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária EMBRAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Brasília, 20 abr. 2018.PASCHOAL, Valéria; SOUZA, Neiva Santos. Plantas Alimentícias não convencionais (PANC). In: CHAVES, D. F. S. NutriçãoClínica Funcional: compostos bioativos dos alimentos. VP Editora, 2015. Cap. 13. p. 302-323. 2.PASCHOAL, Valéria; GOUVEIA, Isabela.; SOUZA, Neiva Santos. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs): o potencialda biodiversidade brasileira. Revista de nutrição funcional. Revista brasileira de nutrição funcional. São Paulo, V.33, 2016.Disponível em https://www.vponline.com.br/portal/noticia/pdf/69c8eaa376fded1bf13a053e868facf0.pdf Acesso em: 10/08/2019.VIEIRA, Maria do Carmo; ZÁRATE, Nestor Antônio Heredia; LEONEL, Liliane Aico Kobayashi. Plantas alimentícias nãoconvencionais (PANCs). In: PEZARICO, C. R.; RETORE, M. (Ed.). Tecnologias para a agricultura familiar. 3. ed. rev. e atual.Dourados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2018. il. color. (Embrapa Agropecuária Oeste. Documentos, 122). p. 79-84
COLONIZAÇÃO POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM: ANÁLISE PRÉ-ESTÁGIO
1JESSICA CRISTINA ALVES, 2MARCIA DA SILVA ROQUE, 3DARIANE PAULA PASQUALOTTO, 4AMANDA GABRIELIRITTER, 5PATRICIA AMARAL GURGEL VELASQUEZ, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Endodontia de Molares - Turma V da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Atividades práticas de assistência direta ao paciente em ambientes de saúde são inerentes à graduação emenfermagem. Assim, a exposição do acadêmico à agentes patogênicos proporciona o aumento da colonização bacterianaassintomática, contribuindo para a transmissão cruzada e aumento substancial nos índices de infecções (CARVALHO, et al.,2016).Objetivo: Avaliar a colonização por S. aureus em acadêmicos de enfermagem no período pré-estágio, em uma universidade doParaná.Material e Métodos: Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória, prospectiva, de caráter experimental e abordagemquantitativa, realizada em uma universidade do Paraná, com acadêmicos de enfermagem no período inicial à realização dosestágios curriculares obrigatórios. Aceitaram participar da pesquisa mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre eEsclarecido, 38 indivíduos. Considerou-se: sexo, idade, campo de estágio, internação nos últimos 12 meses, infecção apóscontato com o paciente, uso de antibioticoterapia e atividades de assistência à saúde. Após aplicação de questionáriosemiestruturado, foi realizado coleta de swab na cavidade nasofaríngea e análise microbiológica laboratorial, com isolamento deculturas, identificação de microrganismos, por meio dos testes de catalase e coagulase. Os dados foram analisados por meio doprograma SPSS versão 25.0. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unipar sob o protocolo3.291.322/2019.Resultados: Dos 38 acadêmicos pesquisados, 10 (83,3%) eram do sexo feminino e 2 (16,7%) do sexo masculino, sendo que(83,3%) estagiavam na Saúde Pública e (16,7%) no campo hospitalar. Quanto às internações hospitalares no último ano, 10(83,3%) afirmaram que não e 2 (16,7%) que sim. Dos estudantes, (83,3%) negaram infecção após o contato com o pacienteassistido, enquanto (16,7%) confirmaram. Acerca da antibioticoterapia, 8 (66,7%) confirmaram ter feito uso. Trabalhavam na áreada saúde 10 (83,3%) acadêmicos e 2 (16,7%) não. A análise laboratorial das culturas constatou que, das 38 amostras, 27 (71,1%) apresentaram colonização por microrganismos e 12 (31,6%) apresentaram cultura positiva para S. aureus.Discussão: Nesta pesquisa investigou-se a colonização em acadêmicos de enfermagem por S. aureus presente na cavidadenasofaríngea. Na amostra de 38 indivíduos, mediante a análise, (31,6%) estavam colonizados por S. aureus, o que condiz com aliteratura específica, que descreve taxas de colonização variantes entre 20% a 40% (CARVALHO, et al., 2016). Dos acadêmicosque apresentaram maior índice de colonização (83,3%), iniciaram os estágios em unidades básicas de saúde, demonstrando oelevado índice de colonização por essa bactéria no meio extra hospitalar, conforme encontrado por Breves e colaboradores(2015), em que a colonização por S. aureus em uma unidade de saúde foi de (71,42%) de um total de 79 amostras coletadas. Apresença do S. aureus na atenção primária e na comunidade é evidente, os pesquisadores têm encontrado índices crescentesdessa espécie resistente a antimicrobianos, fato preocupante frente ao panorama das IRAS, que são resultado da transmissãocruzada fundamentada pela colonização assintomática de profissionais de saúde, incluindo acadêmicos (EVANGELISTA,OLIVEIRA, 2015). Quanto aos internamentos, apenas (16,7%) afirmaram permanecer por mais de 24 horas sob tratamento emhospitais, assemelhando-se às taxas de internações nesta faixa etária que alcança os (21,9%) (FERREIRA, OLIVEIRA,COUTINHO, 2018). Por outro lado, (83,3%) afirmou não ter qualquer tipo de infecção após o contato direto com o pacienteassistido, corroborando com as noções de colonização descritas na literatura em que os profissionais e acadêmicos deenfermagem são portadores assintomáticos do S. aureus (CARVALHO, et al., 2016). Dentre os estudantes, (66,7%) afirmaramter feito uso de antibióticos com e sem prescrição médica, como Santos e colaboradores (2018), encontraram em seu estudo com240 acadêmicos de enfermagem, uma porcentagem de (91,2%) dos indivíduos que se automedicam, inclusive com antibióticos. Aautomedicação entre acadêmicos e profissionais de saúde é habitual, por julgar conhecerem os efeitos dos fármacos utilizados,em contrapartida a antibioticoterapia profilática recorrente nos serviços de saúde contribui para a evolução dos mecanismos deresistência microbiana, especialmente S. aureus (DE PAULA, et al., 2016). Em relação às atividades laborais 10 (83,3%)
trabalhavam na assistência à saúde como a maioria dos acadêmicos de enfermagem nesse período da graduação (SANTOS, etal., 2018). Esses índices elevados fomentam a colonização de estudantes de enfermagem tornando-os fonte de infecção ecolaboradores no processo de IRAS (CARVALHO, et al., 2016; SANTOS, et al., 2018).Conclusão: Observou-se números substanciais de colonização assintomática de acadêmicos de enfermagem, com destaquepara uso empírico de antibióticos, fatores determinantes e preditores para a transmissão cruzada de patógenos e incidência deIRAS nos serviços de saúde.
ReferênciasBREVES, Angela, et al. Methicillin - and vancomycin-resistant Staphylococcus aureus in health care workers and medical devices.Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, Rio de Janeiro, v. 51, n. 3, p. 143-152, jun., 2015.CARVALHO, Matheus Sousa Marques, et al. Colonização nasal por Staphylococcus aureus entre estudantes de Enfermagem:subsídios para monitorização. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 69, n. 6, p. 1046-1051, nov./dez., 2016.DE PAULA, Dafni Fuscaldi, et al. Ocorrência de Staphylococcus aureus em secreção nasal de estudantes da área da saúde não-frequentadores do ambiente hospitalar no município do Rio de Janeiro. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 1,SEMINÁRIO CIENTÍFICO, 2., 2016. Manhuaçu. Anais. Manhuaçu: FACIG, 2016. p. 1-6. EVANGELISTA, Sínthia Souza; OLIVEIRA, Adriana Cristina. Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido nacomunidade: um problema mundial. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 68, n. 1, p. 136-143, jan./fev., 2015.FERREIRA, Juliana Lima; OLIVEIRA, Hyssa Caroline Carvalho; COUTINHO, Marcio Lemos. Análise das taxas de internaçõeshospitalares por causas externas em Sergipe, 2012-2017. In: CONGRESSO NACIONAL DE ENFERMAGEM, 70., 2018, Aracaju.Anais. Aracaju: UNIT, 2018. p. [S. I.].NOVAIS, Thays Santana; BABILÔNIA, Jose Amir. Incidência de Staphylococcus Aureus e a disseminação por enfermeiros.Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, São Paulo, v. 4, n. 10, p. 77-95, out., 2018.SANTOS, T. S. et al. Prática da automedicação entre acadêmicos do curso de enfermagem de uma instituição de ensinosuperior. Scientia Plena, Sergipe, v. 14, n. 7, p. 01-09, jul., 2018.
COLONIZAÇÃO DA CAVIDADE ORAL POR PATÓGENOS E A RELAÇÃO COM A PNEUMONIA ASSOCIADA AVENTILAÇÃO MECÂNICA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
1DARIANE PAULA PASQUALOTTO, 2ANA PAULA MULLER, 3ELIZANGELA MARTINS DE OLIVEIRA, 4GISELE LOTICI,5ALESSANDRA LOTICI, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmica do Curso de Odontologia da Unipar- Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A cavidade oral é uma região amplamente colonizada, por diversos agentes patogênicos, assim, a higiene oral alémde ser uma necessidade básica do ser humano é uma medida para redução da incidência deste microrganismos, resultando emuma menor contaminação, uma vez que vários estudos a descrevem como um fator protetivo nos casos de pneumoniaassociada a ventilação mecânica. (ZONTA et al., 2018)Objetivo: Descrever o perfil microbiológico da cavidade oral e a relação com pneumonia aspirativa em pacientes internados naunidade de terapia intensiva adulto de um hospital do Paraná.Materiais e métodos: Trata-se de uma pesquisa de campo, prospectiva, documental e experimental com abordagemquantitativa, realizada em unidade de terapia intensiva adulto de um hospital do Paraná. A amostra do estudo foi constituída por30 pacientes internados entre o período de abril a agosto de 2019, com permanência maior que 48 horas no setor. Para a coletados dados utilizou-se um Checklist com variáveis clínicas, elaborado pelos pesquisadores. Ademais, foram coletados swab desecreção da cavidade oral. Após a coleta, a amostra foi encaminha para análises microbiológicas no laboratório de Microbiologiada Universidade Paranaense, seguindo as exigências da Anvisa. Os dados quantitativos foram avaliados no programa de análiseestatística Statistical Package for Social Science versão 25.0. O estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética para Pesquisa comSeres Humanos que emitiu um parecer favorável sob protocolo (2.135.782/2017).Resultados: Do total de 30 pacientes avaliados 11 (36,7%) deles apresentaram colonização da cavidade oral pormicrorganismos resistentes. Os microrganismos isolados foram: Klebsiella pneumoniae em (54,45%), Staphylococcus aureus(36,4%), Escherichia coli (18,2%), Staphylococcus epidermidis (18,2%), Pseudomonas aeruginosa (9,1%), sendo que em algunscasos, foram isolados mais de um microrganismo na mesma cavidade. Sobre o tempo de permanência hospitalar, prevaleceramos indivíduos internados por mais de 15 dias (45,4%). Dos pesquisados 7 (63,3%) tinham doenças crônicas associadas. Aventilação mecânica foi utilizada em 8 (72,2%) pacientes. Os desfechos dos pacientes foram desfavoráveis já que 7 (63,6%)evoluíram para o óbito, enquanto 4 (36,4%) obtiveram alta da unidade.Discussão: No estudo realizado por Mota e seus colaboradores em 2017, 190 pacientes internados em UTI, foram avaliados, 16pacientes (29,6%) tiveram crescimento de patógenos multirresistentes em cavidade bucal, dentre eles, Acinetobacter baumannii(31,2%), Klesiella pneumoniae (25%), Pseudomas aeruginosa (25%), Staphylococcus aureus (12,5%) e Escherichia coli (6,3%), oque corrobora com os resultados encontrados neste estudo. Estes microrganismos se proliferam em decorrência do desequilíbriodo biofilme bucal, que ocorre por doenças orais preexistentes, condições sistêmicas alteradas e má higiene oral. (PAULINO,2016). Em relação ao tempo e etiologia de internação, neste estudo 45,4% permaneceram por 15 dias ou mais, um estudorealizado no Sudoeste do Paraná demonstra que 50,4% dos pacientes permaneceram por um período sete dias ou mais. Essacausa é explicada pela elevada faixa etária dos pesquisados e por apresentarem doenças crônicas associadas, o que demandaum atendimento mais complexo. (ZONTA et al., 2018). Referente ao tempo de internação, sugere-se que isso contribui para quebiofilme oral seja colonizado por patógenos incomuns do meio, favorecendo o aparecimento de infecções, elevando o tempo deinternação. (PAULINO, 2016). No que diz respeito a presença de doenças crônicas, os estudos citados concordam que elasestão presentes na maior parte dos pacientes que são admitidos em UTIs, isso se relaciona com a maior incidência de idosos,tais quais, exibem frequentemente essa morbidade, agravando seu prognóstico. (ZONTA et al., 2018). A ventilação mecânicaamplamente descrita na literatura, assim como neste trabalho onde 72,7% necessitaram deste suporte (ZONTA, 2018; SINÉSIO2018; MOTA, 2017). Com o uso dessa terapia o pulmão fica desprotegido em razão da insuficiência das vias áreas superiores,assim, os patógenos colonizadores da cavidade oral encontram um meio que favorece a sua disseminação principalmente paraorofaringe e pulmão, levando o aparecimento de infecções. Medidas simples de higiene oral, são capazes de evitar essamigração, através da limpeza dos tecidos orais com remoção mecânica e uso de antimicrobianos. (PAULINO, 2016). Observou-
se nesta pesquisa uma alta taxa de mortalidade entre os pacientes colonizados (63,3%), assim como em outros estudos(ZONTA, 2018; MOTA, 2017). O elevado percentual de óbitos ocorre por fatores como idade avançada dos pacientes, condiçõessistêmicas preexistentes, gravidade dos casos admitidos na UTI e aquisição de infecções pós internamento. (ZONTA et al., 2018) Conclusão: O uso de ventilação mecânica favorece a disseminação destes agentes, acarretando no aparecimento de infecçõescomo a pneumonia. A higiene oral, é uma ferramenta eficiente no controle da propagação, melhorando o prognóstico, reduzindoo tempo de permanência e custos hospitalares.
ReferênciasDOS SANTOS, Camila Thomaz et al. Avaliação da microbiota bucal de pacientes idosos internados em unidade de TerapiaIntensiva e Clínica Médica Hospitalar. Revista Espacios, Ponta Grossa, v. 38, n. 3, p. 25, Ago./Set. 2016.MOTA, Ecila. C. et al. Incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica em unidade de terapia intensiva. Medicina(Ribeirão Preto, Online), v. 50, n. 1, p. 39-46, Out.2017. disponível em: http://revista.fmrp.usp.br/2017/vol50n1/AO5-Incidencia-da-pneumonia-associada-a-ventilacao-mecanica-em-UTI.pdf. Acesso em: 20 de julho de 2019.PAULINO, Gustavo Santos. Importância do cirurgião-dentista na equipe multidisciplinar em ambiente hospitalar. Orientador:Danielle Do Nascimento Barbosa. 2016. 27f. Trabalho de conclusão de curso em Odontologia Universidade Estadual daParaíba, Arurana, 2016.SINÉSIO, Teixeira et al. Fatores de risco às infecções relacionadas à assistência em Unidades de Terapia Intensiva. CogitareEnfermagem, Distrito Federal, v. 23, n. 2, p. 1-10, Jul./Abr. 2018.ZONTA, Franciele Nascimento Santos et al. Características epidemiológicas e clínicas da sepse em um hospital público doParaná. Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção, Santa Cruz do Sul, v. 8, n. 3, p.1-2, Mar/Jun. 2018.
MICROABRASÃO E CLAREAMENTO DENTAL: ALTERNATIVA ESTÉTICA PARA O TRATAMENTO DE LESÕES DEMANCHA BRANCA APÓS ORTODONTIA - RELATO DE CASO
1PALOMA CASTILHO CASAGRANDE, 2MARIA RITA BARBOSA DE OLIVEIRA, 3NATALIA COQUEIRO SIQUEIRA, 4JOAOCARLOS RAFAEL JUNIOR, 5STEFANIA GASPARI, 6KLISSIA ROMERO FELIZARDO
1Discente de Odontologia - UNIPAR1Acadêmica Bolsista PEBIC/CNPQ2Discente de Odontologia/Unipar3Acadêmico Bolsista PEBIC/CNPQ4Acadêmica do PIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: As lesões de mancha branca sem cavitação (White Spot Lesion - WSL) causadas pela desmineralização do esmaltepodem ser uma sequela comum e indesejável do tratamento ortodôntico, em decorrência da presença de bráquetes, bandas edemais acessórios próprios do tratamento, ocasionando dificuldades para a realização de uma higiene bucal eficiente. Taislesões são clinicamente definidas como uma área em branco opaco que reflete uma acentuada perda de minerais abaixo dacamada de esmalte mais externo (MURPHY et al., 2007). Como opção de tratamento, a técnica de microabrasão associada aoclareamento dental é uma alternativa estética conservadora, eficaz e minimamente invasiva (TOLEDO et al., 2011; PACHAS,2012; HERMES, 2013). Sendo assim, o objetivo do trabalho é relatar através de um caso clínico a associação entre a técnica demicroabrasão e clareamento externo de consultório, como forma de potencializar o resultado estético e a padronização da cor, notratamento de lesões de mancha branca após remoção de aparelho ortodôntico.Relato do Caso: Paciente, 18 anos de idade, procurou a Clínica Odontológica da Unipar com queixa de manchas nos dentesapós a remoção do aparelho ortodôntico. Ao exame clínico foi detectado a presença de resíduos resinosos, pós-remoção debráquetes ortodônticos, na superfície vestibular dos dentes superiores e inferiores (11-15, 31-35, 41-45), acompanhados demanchamentos de coloração branco opaco ao seu redor. Foram realizadas as avaliações clínicas/radiográficas dos dentes emquestão, seguido de polimentos com taça de borracha e pasta profilática, para em seguida, serem iniciados os procedimentos deremoção dos resíduos resinosos vestibulares, através de ponta diamantada de granulação extra-fina (3195 FF- K.G. Sorensen).Após a completa remoção dos resíduos resinosos, foi realizada fotografias intra-orais e verificação da cor do esmalte através daEscala Vita. A microabrasão foi realizada com o produto Whiteness RM (FGM/Produtos Odontológicos, Joinville/SC,Brasil) deforma mecânica, com taça de borracha montada em contra-ângulo, na proporção de 10:1, por cinco a dez segundos a cada 3dentes, sendo realizado 10 aplicações do produto. Finalizado as aplicações, foi realizado o polimento da superfície dentalmicroabrasionada com discos de feltro (Polimax, TDV, Santa Catarina, Brasil) e pasta de polimento (Diamond Excel, TDV, SantaCatarina, Brasil). Em seguida, após lavagem e secagem do campo operatório, sobre os dentes microabrasionados, foi aplicadofluoreto de sódio neutro a 2%, na forma de gel, por 4 minutos. O prognóstico final foi favorável de acordo com o relato dopaciente, havendo uma melhora na estética, porém ainda se percebia em alguns pontos a presença mesmo que leve dasmanchas, e esmalte na cor B2 (tom amarelado de acordo com o paciente). Foi sugerido, para complementação da correção dopadrão de cor um clareamento externo após 15 dias da realização dos procedimentos abrasivos, com agentes clareadores abase de peróxido de hidrogênio (Whiteness HP Blue 35% -FGM/Produtos Odontológicos, Joinville/SC, Brasil) pela técnica deconsultório, registrando assim um resultado final imediato satisfatório, na cor B1 (branco) conseguindo assim um corretomascaramento das manchas existentes.Discussão: Os manchamentos extrínsecos das superfícies dentais, são geralmente eliminados pela remoção da causa, pelaraspagem e pelo polimento dental (profilaxia) (CROLL, 1990), seguidos de uma boa orientação e assistência profissional regularquanto à utilização rotineira de escova, creme e fio dental adequados. As lesões de mancha branca (White Spot Lesion WSL)enquadram-se como manchas extrínsecas, uma vez que a perda de minerais ocorre abaixo da camada de esmalte mais externo(MURPHY et al., 2007). Sendo assim, a proposta de tratamento para esse tipo de lesão seria o polimento dental. No entanto,clinicamente, algumas vezes nos parece um tanto difícil saber a real profundidade do manchamento ou da irregularidadepresente, fato que nos leva a aplicar a técnica da microabrasão, sempre independentemente de suas etiologias, dimensões eprofundidades, uma vez que a mesma tem proporcionado e comprovado eficácia na remoção de manchas e de irregularidadesadamantinas (SUNDFELD et al., 1990). A opção em se realizar primeiramente a microabrasão e depois o clareamento externo deconsultório, foi embasado nos estudo de Bosquiroli, Ueda e Baseggio (2007), onde os mesmos relatam que o clareamento nãoreduz a quantidade de esmalte afetado pela lesão de mancha branca, enquanto que a microabrasão, devido a sua ação erosiva,
remove a camada desmineralizada superficialmente e prepara o dente para o clareamento que uniformiza a cor.Conclusão: A associação da técnica de microabrasão e clareamento externo de consultório, quando corretamente indicados,torna-se uma boa alternativa para o tratamento das lesões de mancha branca, proporcionando redução no tempo de tratamento,correção do padrão de cor, bem como uniformização da superfície do esmalte, alcançando assim um resultado estéticosatisfatório e desejado pelo paciente.
ReferênciasBOSQUIROLI,Virginia;UEDA,Julio Katuhide;BASEGGIO Wagner. Fluorose dentária: tratamento pela técnica da microabrasãoassociada ao clareamento dental.UFES Rev.Odontol.Vitória,v.8(1):60-65,2007.CROLL,Theodore.Enamel microabrasion for removal of superfi cial dysmineralization and decalcifi cation defects. J Am DentAssoc.v.120, p.411-415,1990.HERMES,Sonia Renner.Microabrasão do esmalte dental para tratamento da fluorose.Rev.Gaúcha. Odontol.Porto Alegre,v.61.(0):427-433,2013.MURPHY,Tania.et al. \"Management of postorthodontic demineralized white lesions with microabrasion: a quantitativeassessment.\" Am J Orthod Dentofacial Orthop,v.131(1):27-33,2007.MACUAR,Roberto Jesús Pachas;UZCÁTEGUI,Johann.Alternativa conservadora para el tratamiento de la fluorosis dental deseveridad moderada: presentacion de un caso.Rev. Odontol.Los.Andes.Mérida,v.7(2):54-61,2012.SUNDFELD,Renato Herman;et al.Remoção de manchas no esmalte dental: estudo clínico emicroscópico.Rev.Bras.Odontol.v.47, n.3, p.29-34, 1990.LOPES,Fabiane Lopes; et al.Técnica mista-clareamento dentário e microabrasão: relato de casoclínico.Rev.Dental.Press.Est,v.8(2):89-95,2011.
COLONIZAÇÃO NASAL POR MICRORGANISMO RESISTENTES EM PROFISIONAIS ATUANTES NO AMBITO HOSPITALAR
1ANA PAULA MULLER, 2LILIAN CRISTINA OBERGER, 3ALINE APARECIDA BARTNISKI, 4JESSICA CRISTINA ALVES,5PATRICIA AMARAL GURGEL VELASQUEZ, 6FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Enfermeira e acadêmica da pós-graduação em Unidade de Terapia Intensiva da UNIPAR 2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: As infecções relacionadas a assistência à saúde (IRAS), são um problema de saúde pública, com alto de índiceanual de morbimortalidade (BULLÉ, 2016). A equipe multidisciplinar são potenciais colonizadores e propagadores de patógenos,visto que, cerca de 30% das IRAS poderiam ser evitadas com medidas de precauções padrão. O Staphylococcus aureus (S.aureus) é umas das principais bactérias envolvidas nesse processo, devido aos mecanismos de resistências inovadores quecontribuem para o desenvolvimento de infecções graves com elevada taxa de letalidade. (LOPES, 2017).Objetivo: Identificar a colonização por S. Aureus na cavidade nasofaríngea dos profissionais de saúde atuantes na Unidade deTerapia Intensiva, Clínica Médica e Clínica cirúrgica de um hospital público do Paraná.Material e Métodos: Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória, prospectiva, de caráter experimental e abordagemquantitativa, realizada em um hospital público do Paraná, com profissionais atuantes na unidade de terapia intensiva adulto,clínica médica e cirúrgica, a coleta ocorreu no período de julho de 2019. Os profissionais que aceitaram participar da pesquisaassinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), totalizaram 66 profissionais, que responderam umquestionário com as seguintes variáveis: Idade, sexo, profissão, período de trabalho, ambiente de trabalho, infecções nos últimosdoze meses. Adicionalmente, foram coletadas amostras de swab estéril da mucosa nasal, e posteriormente análisemicrobiológica, isolamento de culturas, teste de catalase e coagulasse. Foi utilizado para análise de dados o programa StatisticalPackage for Social Science (SPSS) versão 25.0. O presente estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Uniparsob o protocolo 3.424.365/2019.Resultados: Dos 66 profissionais analisados 22 (33,3%) restavam colonizados por S. aureus resistentes a meticilina. Dentreeles, a maioria com faixa etária entre 30 a 39 anos (40,9). Em relação ao sexo, 15 profissionais (68,2%) eram do sexo feminino e7 do sexo masculino (31,85%). Quanto a categoria profissional (18,2%) enfermeiros (50%) técnicos de enfermagem, (4,5 %)auxiliar de enfermagem e (4,5%) dentista. No período de trabalho a maioria (63,6%) estava alocada no noturno e (36,4%) nodiurno. Quanto ao local de trabalho, predominaram aqueles atuantes na UTI com (45,5%), seguido da Clínica Cirúrgica (31,8%) eClínica Medica com (13,6%), entre outros com (9,1%). Quando perguntados se foram acometidos por alguma infecção nosúltimos 12 meses, (68,2%) afirmaram ter desenvolvido infecção e apenas (31,8%) não tiveram. Discussão: Observa-se uma prevalência substancial de profissional colonizados por S. aureus resistentes a meticilina napresente pesquisa, com um índice de 33,3 %, em estudo de Lopes e colaboradores (2016), a colonização foi evidente em 16,3%dos profissionais, ele ainda ressalta que devido as atividades laborais e a microbiota hospitalar cada vez mais virulenta, osprofissionais estão suscetíveis à colonização por esses patógenos. Em relação a idade e sexo, os dados são semelhantes a umapesquisa realizada em um hospital escola, com profissionais prestadores de cuidado a pacientes com HIV, na qual identificou que36% dos profissionais colonizados estavam na faixa etária de 30 a 39 anos, com predomínio do sexo feminino (79%). Vale frisarque historicamente a enfermagem era composta predominantemente pelo público feminino, logo foi o público mais coletado napresente pesquisa. Camilo Peder e Silva (2016) no seu estudo avaliaram o perfil microbiológico de um hospital misto deCascavel, relatam que 59% dos profissionais colonizados são técnicos de enfermagem, justamente por estarem em constantecontato com pacientes potencialmente colonizados, acabam sendo mais acometidos, assim como observado neste estudo. Outravariável observada foi a maior frequência de colonização em profissionais que trabalham no período noturno, dado quecorroboram com a pesquisa de Vilefort e colaboradores (2016), este fato justifica-se por esse período ser considerado de maiorexaustão, o que pode aumentar a desatenção e favorecer a colonização pelo contato com o paciente sem as devidas medidas deprecaução. Ainda no estudo de Camilo, Peder e Silva (2016), identificou-se que, 50% dos profissionais colonizados trabalham naUTI, o que também foi visto neste trabalho, vale considerar que este setor critico possui diversas características que favorecem acolonização e infecção, entre eles o tempo prolongado de internação, realização de procedimentos invasivos frequentes, usoindiscriminado de antimicrobianos, imunossupressão dos pacientes, casos graves e letais, são alguns dos fatores de risco para a
disseminação de patógenos.Conclusão: A colonização por patógenos em profissionais da saúde é um fator de risco para desenvolvimento das IRAS, o quepreocupa pois nesse estudo pode-se observar que a incidência de profissionais colonizados por S aureus resistentes a meticilinaestá acima de dados da literatura. Ressalta-se assim, a implementação de novas estratégias a fim de minimizar esses índicespara a efetiva redução das infecções hospitalares.
ReferênciasBULLÉ, Danielly Joani, et al. Prevalência de Staphylococcus aureus meticilina resistentes em profissionais de saúde. Revista deEnfermagem da UFSM, Santa Maria, v. 6, n. 2, p. 198-205, abr./jun. 2016.CAMILO, Carla Juliana; PEDER, Leyde Daiane; SILVA, Claudinei Mesquita. Prevalência de Staphylococcus aureus meticilinaresistente em profissionais de enfermagem. Saúde e Pesquisa, Maringá, v. 9, n. 2, p. 361- 371, maio/ago. 2016.LOPEZ. Leticia Pimenta, et al. Identificação de Staphylococcus aureus em profissionais de enfermagem que cuidam de pessoascom HIV/AIDS. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 20, n. 4, p. 60-64, out./dez. 2016.VILEFORT, Larissa Oliveira Rocha, et al. Colonização de trabalhadores de áreas de apoio hospitalar por Staphylococcus sp.:Aspectos epidemiológicos e microbiológicos. Revista Eletrônica de Enfermagem, Goiânia, v. 18, n.1 , p. 1-10. 2016. Disponívelem: https://repositorio.bc.ufg.br/bitstream/ri/11278/1/Artigo-%20Lara%20Stef%C3%A2nia%20Netto%20de%20Oliveira%20Le%C3%A3o%20Vasconcelos%20-%202016.pdf. Acesso em: 20de agosto. 2016.
LESÕES DE MANCHA BRANCA (WHITE SPOT) APÓS USO DE APARELHO ORTODÔNTICO: MÉTODOS DETRATAMENTO
1GIOVANA LUNARDI, 2AMANDA CANALI, 3BIANCA RAUANE RIBEIRO FAVARO, 4MARIA RITA BARBOSA DE OLIVEIRA,5JOAO CARLOS RAFAEL JUNIOR, 6KLISSIA ROMERO FELIZARDO
1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmico Bolsista PEBIC / CNPQ4Acadêmico Bolsista PEBIC / CNPQ5Docente da UNIPAR
Introdução: O desenvolvimento de lesões de manchas brancas (WSL- White Spot Lesion) associadas ao uso do aparelhoortodôntico fixo, tem-se tornado um problema clínico importante devido à dificuldade na higienização dos dentes. Bráquetes, fiose bandas, agem como fatores de retenção, levando ao acúmulo de biofilme e consequentemente à desmineralização(SANTʼANNA et al., 2016), gerando manchas com aspecto branco pela perda de mineral (SOARES, 2018).Objetivo: Este trabalho teve como objetivo mostrar através de levantamento bibliográfico o que são essas lesões de manchabranca (WSL) e apontar estratégias de tratamento. Utilizou-se as bases de dados MedLine, Lilacs, MedLine via PubMed e BVS,inserindo na pesquisa as seguintes palavras-chave ortodontia , lesões de mancha branca , esmalte dentário e
tratamento bem como as palavras correspondentes em inglês, orthodontics , white spot lesions , tooth enamel etreatment .
Desenvolvimento: A lesão de mancha branca representa o primeiro sinal clínico de cárie e pode ser detectada a olho nu comoporosidades subsuperficiais ou como opacidades brancas leitosas. (SANGAMESH; KALLURY, 2011). O esmalte é constituído por96% de matéria inorgânica e os outros 4% matéria orgânica e água. A parte inorgânica é formada em sua maioria pelahidroxiapatita (cálcio fosfato e hidroxila). Quando existe a presença de fluoretos os íons substituem a hidroxila formando o mineralfluorapatita diminuindo a solubilidade da apatita, ajudando a retardar o processo de desmineralização, reduzindo assim o avançoda lesão (CARDOSO, 2018). A primeira opção de tratamento para lesões de mancha branca após a remoção do aparelhoortodôntico é a aplicação tópica de fluoretos, visando a remineralização do esmalte (SANTʼANNA et al., 2016), bem como aimplantação de um bom regime de higiene bucal, incluindo escovação com dentifrício fluoretado e bochechos com soluçãofluoretada. Segundo Cardoso (2018), a ação dos fluoretos é eficaz, mas não remineraliza totalmente a lesão. Assim, novosmateriais foram desenvolvidos a fim de complementar ou agir de modo similar aos fluoretos, porém com um mecanismo de açãodiferente, ou seja, aumentando a quantidade de cálcio, e migrando esses íons para o interior da lesão. O cálcio e o fluoreto emconjunto agem de forma mais eficaz na contenção da progressão da doença. O complexo CPP-ACP ganha notoriedade, ofosfopeptídeo de caseína (CPP), uma proteína presente no leite, é utilizada para estabilizar os íons cálcio e fosfato em altasconcentrações de nanocomplexos amorfos designados por fosfato de cálcio amorfo (ACP). O CPP-ACP atua levando o cálcio efosfato até o esmalte desmineralizado em forma de pares de íons neutros, que se dissolvem na lesão, ajudando naremineralização, e assim virando um agente remineralizador bioativo que incorporado aos vernizes fluoretados atuampotencializando a ação do flúor e na prevenção de manchas brancas. Outra forma de tratamento é a remineralizaçãobiomimética, que utiliza arcabouços de auto-montagem de peptídeos para recristalizar as lesões de esmalte. O mecanismo deação é a projeção dos peptídeos que se reúnem espontaneamente em resposta a gatilhos ambientais para formar arcabouçosbiomiméticos 3D sendo capaz de nuclear a hidroxiapatita novamente. Caso o resultado da aplicação tópica não recupere aestética esperada, deve ser realizado um procedimento minimamente invasivo (microabrasão). É uma técnica conservadora e debaixo custo, que remove o esmalte manchado e devolve o brilho e lisura, sendo indicada para casos de defeitos superficiais(SANTʼANNA et al., 2016; SOARES, 2018). Por último é indicado o clareamento dentário seja pela técnica de consultório oucaseira supervisionada. A opção em se realizar primeiramente a microabrasão e depois o clareamento externo de consultório, éembasado nos estudo de Bosquiroli, Ueda e Baseggio (2007), onde os mesmos relatam que o clareamento não reduz aquantidade de esmalte afetado pela lesão de mancha branca, enquanto que a microabrasão, devido a sua ação erosiva, removea camada desmineralizada superficialmente e prepara o dente para o clareamento que uniformiza a cor. A infiltração de resinatambém é uma opção de tratamento pouco invasivo. O clínico expõe a lesão utilizando um ácido na camada de esmalte, e colocauma resina fotopolimerizável de baixa viscosidade no interior da mancha, mascarando as microporosidades existentes. Com essatécnica acontece uma barreira de difusão no interior da lesão ao invés da sua superfície deixando o esmalte com uma superfície
similar a de um esmalte saudável. Restaurações diretas e indiretas também podem ser uma opção de tratamento (SOARES,2018).Conclusão: De acordo com o exposto, a detecção precoce das lesões WSL é importante uma vez que nesta fase dedesenvolvimento inicial, as lesões têm potencial para sofrerem um processo de remineralização. Em uma fase mais avançada,posteriormente à remoção do aparelho ortodôntico, poderá ser necessário intervir com tratamentos minimamente invasivos e emúltimo caso por tratamentos restauradores devido à menor preservação de estrutura dentária.
ReferênciasBOSQUIROLI, Virginia; UEDA Julio Katuhide; BASEGGIO Wagner. Fluorose dentária: tratamento pela técnica da microabrasãoassociada ao clareamento dental. UFES Revista de Odontologia. Vitória, v.8, n.1, p.60-65, jan./abr. 2006.CARDOSO, Micaela. Ação de agentes remineralizantes bioativos na redução da desmineralização de lesões de cárie emesmalte. Orientador: Profª Drª Regina Maria Puppin Rontani. 2018. Tese (Doutora em odontologia) - Faculdade de Odontologiade Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, 2018.LEITES, Antonio Cesar Bortowiski Rosa; PINTO, Marcia Bueno; SOUSA, Ezilmara Rolim de Sousa. Aspectos microbiológicos dacárie dental. Salusvita, Bauru, v. 25, n. 2, p. 239- 252, 2006.SANGAMESH, B.; KALLURY, Amitabh. Iatrogenic effects of Orthodontic treatment Review on white spot lesions. InternationalJournal of Scientific & Enghineering Research, v.2, n. 5, p.1 16, may. 2011.SANTʻANNA, Giselle Rodrigues de et al. Infiltrante resinoso vs Microabrasão no manejo de lesões de mancha branca: relatode caso. Rev. Assoc. Paul. Cir. Dent. [online]. 2016, vol.70, n.2, pp. 187-197. ISSN 0004-5276. Disponível em:http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0004-52762016000200014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acessoem 08 de agosto 2019.SOARES, Ana Tereza Frade Cobiça. Prevenção e tratamento de lesões de white spot em pacientes submetidos atratamento ortodôntico. Orientadora: Professora Doutora Teresa Sobral Costa. 2018. Dissertação (Mestrado em MedicinaDentária) - Instituto Universitário Egas Moniz, Quinta da Granja, Monte de Caparica, 2018.
REAÇÃO LIQUENÓIDE AO AMÁLGAMA DE PRATA RELATO DE CASO
1MILENA PIZZI, 2MARIANE EDUARDA RECALCATTI, 3EDUARDA OLIVEIRA SEVERGNINI, 4JANES FRANCIO PISSAIA,5LETICIA DE FREITAS CUBA GUERRA, 6ANA CLAUDIA POLETTO
1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: As alterações liquenóides são reações patológicas que se caracterizam como uma resposta imunológica a umagente alergênico como materiais restauradores, medicações sistêmicas ou alimentos, podendo ser observadas em pele e emmucosa (PEIXOTO, 2019). A etiologia mais comum das reações liquenóides orais (RLOs) são as restaurações de amálgamade prata. Ele é um material restaurador dentário utilizado na odontologia que devido a sua composição pode provocar alteraçõesde origem inflamatória crônica muco cutânea gerando manifestações de irritação crônica através de hipersensibilidade tipo IV. (BERNARDES et al., 2007). Este quadro pode ser observado em 2% da população adulta (WONG et al., 2003), sendo maisprevalente em mulheres (7,5:1), com média de idade de 53 anos (ISSA et al., 2005). Localiza-se frequentemente na mucosa jugalna região de pré-molares e borda de língua (DUNSCHE et al., 2003). Diante disso, o objetivo desse trabalho é relatar um casoclínico de reação liquenóide ao amálgama de prata.Relato de caso: No primeiro atendimento, paciente gênero masculino, leucoderma, 30 anos de idade, buscou a clínicaodontológica da Unipar com a queixa de ´´mancha na boca´´. No exame físico foi detectada placa branca na mucosa jugalesquerda, de 5mm de diâmetro e próxima a região do elemento 37. Foram solicitados exames complementares, sendo esses:hemograma, plaquetas, glicemia, VSG, ácido fólico, ferro sérico, vitamina B12, TSH, anti HCV, anti HIV, TP e TTPA. Osresultados dos exames foram satisfatórios, eliminando hipóteses de diagnósticos prévios. Tendo em vista o íntimo contato darestauração de amálgama de prata do elemento 37 com a lesão e o resultado dos exames, a hipótese de diagnóstico foi RLO-AD. Orientou-se a substituição da restauração por resina composta. No segundo atendimento, 60 dias após a substituição darestauração, no exame físico pode-se observar reduções no tamanho (3mm) e coloração da lesão.Discussão: Clinicamente nas RLO-AD é possível ver a estreita relação entre uma restauração de amálgama e lesão estriada,justaposta ao material restaurador de prata (AGGARWAL et al., 2010). Os pacientes que têm alterações previamentediagnosticadas como reações liquenóides apresentam lesões que não migram e, usualmente, envolvem apenas a mucosa emcontato direto com o amálgama de prata. Essas lesões tendem a regredir rapidamente após a remoção da restauração adjacentee devem ser diagnosticadas como RLO-AD. (OSTMAN et al., 1996). O prognóstico das RLO-AD em geral é excelente quando háremoção do agente causador da reação de hipersensibilidade, no entanto, em alguns casos as lesões podem permanecer pormais algum tempo após a remoção do material restaurador, sendo indicada a biópsia excisional (THORNHILL et al., 2006). AsRLO-AD são diagnósticos diferenciais de líquen plano, por isso é fundamental um correto diagnóstico, pois ao confundir o líquenplano com as RLO-AD se estará submetendo o paciente a tratamentos mais complexos e que não surtirão efeito, já que asreações liquenóides por amálgama de prata podem ser tratadas pela substituição da restauração de amálgama de prata porresina composta (NEVILLE, 2009).Conclusão: O material restaurador amálgama de prata pode produzir lesões de hipersensibilidade na mucosa oral, na forma deuma lesão liquenóide. Sendo dessa maneira, imprescindível o correto diagnóstico através do cirurgião dentista, para oestabelecimento do tratamento adequado visando melhor prognóstico para o paciente.
ReferênciasAGGARWAL, Vivek, JAIN A, KABI D. Oral lichenoid reaction associated with tin component of amalgam restorations: acase report. Am J Dermatopathol. 2010; 32(1): 46-8.BERNARDES, Vanessa de Fátima, GARCIA, Bruna Gonçalves, SOUTO, Giovanna Ribeiro, et al. Lesão liquenóide oralrelacionada ao amálgama. An. Bras. Dermatol. 2007; 82(6): 549-52.DUNSCHE A, KASTEL I, TERHEYDEN H, SPRINGER IN, CHRISTOPHER E, BRASCH J. Oral lichenoid reactions asso ciatedwith amalgam: improvement after amalgam removal. Br J Dermato. 2003; 148:70-6ISSA Y, DUXBURY AJ, MACFARLANE TV, BRUNTON PA. Oral lichenoid lesions related to dental restorative materials. Br
Dent J. 2005;198:361-6; discussion 549; quis 372.NEVILLE, Brad, DAMM, Douglas, ALLEN, Carl, BOUQUOT, JERRY. Patologia oral & maxilofacial. 2009.OSTMAN PO, ANNEROTH G, SKOGLUND A. Amalgam-associated oral lichenoid reactions. Clinical and histologic changesafter removal of amalgam fillings. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1996; 81(4): 459-65.PEIXOTO, F. D. (2019). Reação liquenóide oral: relato de caso. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 17.THORNHILL MH, SANKAR V, XU XJ, BARTTETT AW, HIGH AS, ODELL EW, SPEIGHT PM et al. The role of histopathologicalcharacteristics in distinguishing amalgam-associated oral lichenoid reactions and oral lichen planus. J Oral Pathol Med.2006; 35(4): 233-40.WONG L, FREEMAN S. Oral lichenoid lesions (OLL) and mercury in amalgam fillings. Contact Dermatitis. 2003;48:74-9.
ANÁLISE DA XEROSTOMIA EM PACIENTES DEPRESSIVOS SUBMETIDOS AO TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO
1BRUNA LUISA KOCH MONTEIRO, 2TAYZE RAFAELA FETTER, 3ELOISA CALDATO, 4BRUNA THAIS DOS SANTOSHARTMANN, 5VOLMIR PITT BENEDETTI
1Acadêmica do PIC / Unipar 1Acadêmica PIBIC / Unipar2Acadêmica do curso de Odontologia / Unipar3Acadêmica do curso de Odontologia / Unipar4Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo estimativas do Instituto Nacional Câncer - INCA (2018), há aproximadamente 600 mil novos casos decâncer para os anos de 2018-2019. Esta patologia se diferencia de outras devido ao seu crescimento celular desordenado,podendo se diferenciar em maligno e benigno (PRADO, 2014). Os pacientes oncológicos têm diferentes abordagens detratamento, como a cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Esses recursos são eficientes para a remissão da doença, entretantocausam perda da qualidade de vida exacerbando a dor física, emocional, espiritual e social levando o paciente, na maioria dasvezes, a um quadro depressivo ou piorando, quando ele já existe (SILVA, et al 2017). Uma das maneiras desse transtorno afetaro indivíduo é através da autonegligência, esse descaso com o autocuidado prejudica diretamente a higiene oral, o que podeexacerbar doenças, como a gengivite, periodontite, candidíase, mucosite e xerostomia (SOUZA, RACHED, 2017). Objetivo: Analisar a xerostomia em pacientes com depressão submetidos ao tratamento antineoplásico no Centro de Oncologia -CEONC, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná. Material e Método: Para isto investigou 133 pacientes oncológicos sob tratamento quimioterápico no centro de oncologia deFrancisco Beltrão- CEONC, em Francisco Beltrão, Paraná. Realizou-se a anamnese com preenchimento de ficha epidemiológica,abordando questões referentes ao nome, idade, gênero, tipo de câncer, forma de tratamento, dentre outras perguntas. Seguiu-secom o exame clínico da cavidade bucal objetivando o diagnóstico das alterações orais, em seguida coletou-se cerca de 1ml desaliva do paciente. Posteriormente as amostras foram encaminhadas para o laboratório de microbiologia da instituição, a onde seexecutou a quantificação e identificação das espécies de leveduras. Neste trabalho foram seg uidos os trâmites éticos legais(72361317.6.0000.0109).Resultados: Dos 133 pacientes sob tratamento quimioterápico contra o câncer, 17,29% faziam tratamento concomitante contra adepressão, e destes 86,96% apresentavam xerostomia. Contudo, quando se utiliza outras comorbidades para fazer estacomparação, como por exemplo a hipertensão (39,09%), verificou-se que 75% dos pacientes apresentavam xerostomia. Jáquando se utiliza a diabetes (15,03%) observou que 60% dos pacientes apresentavam esta complicação oral. Outro aspectoanalisado foi a condição de higiene oral dos pacientes sob tratamento quimioterápico contra o câncer, no qual observou-se umahigiene inadequada em 75,1% dos pacientes.Discussão: Pacientes com depressão fazem uso de medicamentos que estão diretamente associados à xerostomia e àhipossalivação. Além desse agravo, o tratamento quimioterápico também influência na alteração do fluxo salivar (PEROTTO, et al2008). Não obstante, os indivíduos com essa doença sofrem um impacto direto nas atividades diárias, como por exemplo, ahigiene oral, que fica prejudicada (SOUZA, RACHED, 2017). A higiene oral é um cuidado imprescindível, já que a produção desaliva é escassa, e ela é a maior protetora dos tecidos e órgãos da cavidade oral. Sendo assim, a boa higiene é essencial para aprevenção de malefícios futuros na mucosa e dos elementos dentais. Essa medida controla a prevenção de infecções orais, eoutras patologias, além de proporcionar alívio da dor, diminui desconforto oral e auxilia na prevenção da bacteremia (MARINHO,2018) Conclusão: Neste estudo verificou-se que a xerostomia foi uma das complicações orais mais frequentes entre os pacientessubmetidos a tratamento contra o câncer, e que uma das comorbidades mais associadas a esta alteração oral foi a depressão.
ReferênciasINSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA): Estimativa 2018: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de CâncerJose Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Rio de Janeiro: INCA, 2018.MARINHO. Daniella Lopo. Prevenção e tratamento da mucosite oral induzida pela radioterapia exclusiva ou associada aquimioterapia em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. 34.f. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-graduaçãoda Universidade Fernando Pessoa da faculdade de ciências da saúde. Porto, 2018. PEROTTO, Juliano Henrique, et al. Prevalência da xerostomia relacionada à medicação nos pacientes atendidos na área de
odontologia da UNIVILLE. RSBO Revista Sul-Brasileira de Odontologia. v. 4, n. 2, p.16-19, 2007. PRADO, Bernardete Bisi Franklin do. Influência dos hábitos de vida no desenvolvimento do câncer. Cienc. Cult. v.l., n.66 , 2014. SILVA, Dafiny Rodrigues, et al. Estado nutricional e sintomas de ansiedade e depressão em pacientes oncológicos emtratamento quimioterápico. GEP NEWS. v.1, n.2, p: 46-50, 2017.SOUZA, Manoela Vieira, RACHED, Chennyfer Dobbins Abi. Depressão em mulheres idosas: uma revisão bibliográfica.International Journal Of Health Management Review. v. 3, n. 1, p: 1-10, 2017.
ENVELHECIMENTO CUTÂNEO FACIAL PRECOCE POR FATORES EXTRÍNSECOS E A ABORDAGEM ESTÉTICA
1LIDINEIA DZIURZA DA SILVA, 2ARIANE BRANIZ
1Acadêmica do curso superior de tecnologia em estética e cosmética - UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo e com ele ocorre modificações morfológicas, fisiológicas ebioquímicas, ocorrendo a perca da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente. Pode ser causado por fatoresintrínsecos, que vem da genética de cada individuo e ocorrem com o tempo ou por fatores extrínsecos, que são fatores externos,acarretados por agentes como radiação solar e tabaco. Sendo este ultimo fator, o causador do envelhecimento de forma maisrápida, perdendo a capacidade de regeneração provocando assim um aumento da flacidez, rugas e linhas de expressão(NETTO, 2002).Objetivo: Revisar quais são as abordagens estéticas de compostos exógenos que podem ajudar prevenir e tratar oenvelhecimento.Desenvolvimento: Ao falar de envelhecimento, pode-se dizer que o organismo perde aos poucos a capacidade funcional,ocorrendo mudanças de respostas aos estímulos, e a perca de capacidade de reparação de tecidos. São nas camadas da peleonde acontece todo o processo do envelhecimento. Ela possui funções específicas e inespecíficas que contribuem para ahomeostasia de nosso organismo, e pode ser dividida em três camadas principais: a epiderme, a derme e a hipoderme, e cadauma possui suas próprias características e funções (BAUMANN, 2004). Sua principal função é a proteção, onde constitui umabarreira física contra agentes internos e externos e a percepção. (SAMPAIO; RIVITTI, 2001; GRAFF, 2003; JUNQUEIRA;CARNEIRO, 2004). As fibras elásticas e colágenas estão dispostas no interior da derme em padrões definidos, produzindo aslinhas de tensão na pele e prolongando o tônus da pele. Há muito mais fibras na derme de uma pessoa jovem do que em umidoso, e o número decrescente de fibras elásticas está, associada ao envelhecimento. A extensa rede de vasos sanguíneos naderme supre a nutrição para a porção viva da epiderme (GRAFF, 2003). Também protege o organismo contra a perda de águapor evaporação e contra o atrito. Além disso, através das suas terminações nervosas, recebe estímulos do ambiente por meiodos seus vasos, glândulas e tecido adiposo e colabora na termorregulação do corpo (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995). Como processo de envelhecimento os tecidos passam por modificações, definidos pelos fatores intrínsecos e extrínsecos, que sãodecretados por forças ambientas (ORIÁ et al., 2003). No envelhecimento intrínseco a pele apresenta textura lisa e homogênea,de poucas manchas e as rugas são discretas, e as atrofias da epiderme e derme são suaves. E no envelhecimento extrínseco asuperfície cutânea é áspera, espessa, e apresenta manchas também como rugas que são profundas e marcantes. Com oenvelhecimento o sistema biológico mais comprometido é o sistema nervoso central, responsável pelas sensações, movimentos,funções psíquicas, e pelas funções biológicas internas (CANÇADO; HORTA, 2002). Segundo Kono e Furukawa (1990) asalterações no tecido conjuntivo atuam como alicerce estrutural para epiderme, que delineiam as mudanças na aparênciaexterna. É importante ressaltar que a espessura da pele e suas propriedades visco elásticas são dependentes da quantidade dematerial presente na derme, e principalmente da sua organização estrutural (VITERALLO, 1994). Para evitar o processo de depleção celular, a pele possui seu próprio mecanismo de defesa tais como: enzimas, vitaminas eagentes quelantes de íons metálicos, a capacidade protetora desse mecanismo diminui com o envelhecimento, então, compostosexógenos como enzimas, antioxidantes e compostos fenólicos reforçam a proteção natural pela limitação das reações oxidativas(HIRATA; SATO; C.A. M.; SANTOS, 2004). Antioxidantes são substâncias que estão presentes em pequenas concentraçõescomparadas com o substrato oxidável, retardam ou inibem a oxidação desse substrato, são agentes responsáveis pela inibição eredução das lesões causadas pelos radicais livres nas células (SANTOS, 2013). Cosméticos com vitamina C são antioxidantes esão alguns dos produtos mais requisitados no tratamento para o envelhecimento cutâneo. O uso tópico da vitamina C é utilizadoretardando e melhorando os danos causados pelos fatores extrínsecos e intrínsecos, com propriedades antioxidante,despigmentantes e estimulando a síntese de colágeno, melhorando a aparência da pele de dentro para fora, deixando-asignificativamente com um tônus saudável, e na aparência clínica da pele; mais firme, macia e hidratada (CAYE; RODRIGUES,2008).Conclusão: A revisão sobre o envelhecimento é descrito por fatores chamados intrínsecos e extrínsecos, sendo o extrínseco oresponsável pelo envelhecimento precoce. E a área da estética tem como abordagem a utilização de compostos antioxidantes,como a vitamina C, para tratar e prevenir os danos do envelhecimento, pois proporciona melhora significativa na aparência clínicana pele tornando-a mais firme, macia e hidratada, também podemos aliar ao nosso cotidiano uma boa nutricão, o que éimportante para que durante o processo de envelhecimento se agregue qualidade de vida ao nosso dia a dia.
ReferênciasBAUMANN, Leslie. Dermatologia Cosmética: Princípios e Prática. Rio de Janeiro: Revinter Ltda, 2004.CANÇADO ; et. al. ; HORTA. Envelhecimento cerebral. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,p. 1187, 2002.CAYE, M. T. ; RODRIGUES, et. al. Utilização da vitamina C nas alterações estéticas do envelhecimento cutâneo. Disponível em:http://siaibib01.univali.br/pdf/Mariluci%20Caye%20e%20Sonia%20Rodrigues.p df . Acesso em: 10 set. 2012.GRAFF, Van De. Anatomia humana. 6.ed. São Paulo: Manole, 2003.HIRATA ; SATO ; SANTOS. Radicais livres e o envelhecimento cutâneo. Acta Farm. Bonaerense, v. 23, n. 3, p. 418-24, 2004.JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 10ª edição. Rio de Janeiro, 2004.JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Pele e Anexos. Histologia Básica. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.KONO, T., et. al. FURUKAWA, M. Correlation between ageing and collagen gel contractility of human fibroblasts. Actadermato-venereologica, v. 70, n. 4, p. 241-244,1990.NETTO, Papaléo. Gerontologia: A velhice e o envelhecimento em visão globalizada. São Paulo: Atheneu, 2002.ORIÁ, R. B. et al. Estudo das alterações relacionadas com a idade na pele humana, utilizando métodos de histo-morfometria eautofluorescência Study of age-related changes in human skin using histomorphometric and autofluorescence approaches. AnBras Dermatol, v. 78, n. 4, p. 425-434, 2003.SAMPAIO, S.; RIVITTI, E.A. Foliculoses Dermatologia. São Paulo: Artes Médicas, p. 291-300, 2001.SANTOS, M. P.; O papel das vitaminas antioxidantes na prevenção do envelhecimento cutâneo. Orientadora: Nádia Rosana deOliveira. 2013. 16f. Monografia - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 2013.VITELLAR, L. et. al. Stereological analysis of collagen and elastic fibers in the normal human dermis: variability with age, sex, andbody region. The Anatomical Record, v. 238, n. 2, p. 153-162,1994.
EFEITOS DA PRÁTICA DE NATAÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM OSTEOCONDROMATOSEMÚLTIPLA HEREDITÁRIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
1MARIELLE DALL AGNOL DE SOUZA, 2MARIA GABRIELLA GIROTO
1Acadêmica do Curso de Educação Física - Unipar1Docente do Curso de Educação Física - Unipar
Introdução: A Osteocondromatose Múltipla Hereditária (OMH) é uma doença considerada rara, no qual surge frequentementenos ossos exostoses, isto é, tumores cartilaginosos, implicando muitas vezes em quadros que exigem intervenções cirúrgicas, oque implica diretamente na qualidade de vida. Levam em alguns casos a prescrição de exercícios na água, para auxiliar noprocesso de recuperação em períodos pós cirúrgicos, bem como auxiliar na manutenção do funcionamento corporal. Nestacompreensão a presente estudo procurou responder o seguinte problema de pesquisa: A prática de natação pode influenciar naqualidade de vida de um indivíduo jovem com Osteocondromatose Múltipla Hereditária (OMH)?Objetivo: Estudar os efeitos da prática de natação na qualidade de vida de indivíduos com Osteocondromatose MúltiplaHereditária (OMH).Desenvolvimento: A Osteocondromatose Múltipla Hereditária resulta no desenvolvimento de tumores ósseos benignos eanormais. Aparecem na maioria dos casos próximos as extremidades dos ossos longos, ou seja, na região metafisária, mas podeatingir toda ossificação, poupa apenas o crânio e face (TOLEDO, 2017). Essas neoplasias podem causar fraturas, deformidadesósseas e articulares podendo deixar sequelas por toda vida. São inúmeros sintomas que se fazem presentes, conformeapresentado por Ruiz Jr., Dias e Baida (2008) onde apontam que existem complicações associadas a essas lesões, tais comodor, desconforto, limitação articular, encurtamento e deformação dos ossos, compressão de nervos ou vasos sanguíneos Anatação é um dos desportos mais praticado no mundo, um exercício físico capaz de movimentar todos os músculos earticulações do corpo. Tende a melhorar o sistema cardiorrespiratório, proporcionar um aumento do tônus muscular e dacoordenação motora (FERREIRA E ALCARRAZ, 2003). Oliveira e Apolinario (2009) complementam que essa prática de exercíciofísico promove uma melhora na qualidade de vida, pois tem influência em aspectos físicos, mentais e sociais dos praticantesdessa modalidade. De caráter preventivo e de reabilitação, logo, vários são os motivos que levam à essa prática. Nas questõesfísicas engloba o desenvolvimento das capacidades como a força, equilíbrio, flexibilidade, coordenação e resistência, além decolaborar para algumas habilidades físicas. Os aspectos mentais têm haver com o cognitivo, que está nas tomadas de decisões,análise, entendimento e no intelecto. Já o social envolve a interação com os colegas, contribui na construção da personalidade. Enas capacidades motoras o desenvolvimento de controle corporal, psicossociais que influencia a socialização e o fisiológico.Segundo a OMS a qualidade de vida foi definida como a percepção do indivíduo e sua posição na vida, no contexto da cultura esistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupação . Sendo assim, adefinição da qualidade de vida de cada pessoa depende do princípio da individualidade biológica, que busca satisfazer seusideais. Borges e Oliveira (2013) corroboram apontando os benefícios da pratica regular de exercícios físicos são inúmeras, éampla a melhora da qualidade de vida de indivíduos ativos. Uma das formas de prática de exercícios eficientes, especialmente noque se refere a indivíduos acometidos de doenças incapacitantes, são atividades em ambientes aquáticos, entre elas a natação.O exercício no meio líquido é um desporto que está entre os mais recomendados pelos especialistas para amenizar as dores, dosintoma de algumas doenças (FRANCHINI, ZANATA E GIOVANI, 2013). De acordo com Lloret et al (2003) a prática da nataçãopode ser recomendada por especialistas para complementar os tratamentos de diversas patologias. Sendo assim são muitos osbenefícios que ela proporciona.Conclusão: Muito são os benefícios que a prática de natação proporciona, a prática pode aumentar a resistência do eixo centraldo corpo, melhora a eficácia de suas funções, no caso de patologia como a exostose múltipla devido à ocorrência dos tumoresque podem atingir esse local, desestabilizando a postura. Em Indivíduos com Osteocondromatose Múltipla Hereditária a práticade atividades aquáticas pode ser responsável por favorecer o sistema esquelético pois busca a atenção e o relaxamento doaluno, o alongamento peitoral aumentando a amplitude articular e a tonificação retroversora, paravertebral e interescapular comocorretivos para melhorar hábitos do dia-a-dia. Como também contribui para melhora no sistema respiratório, fundamental paraindivíduos com OMH devido à fragilidade caixa torácica, além dos benefícios psicossociais. Sendo importante propor atividadesaquáticas de concepção aeróbica leve a moderada, respeitando os critérios individuais e adaptando a suas deformidades paraalcance dos benefícios e ampliar seus efeitos na qualidade de vida destes indivíduos.
ReferênciasBORGES, A. F; LEMOS, F. R. M. Atividades aquáticas. Batatais, SP: Claretiano, 2013.
FERREIRA, T. G; ALCARAZ, K. G. 02 Anos a 06 anos adaptação e iniciação a aprendizagem. Academia de natação acquakids. Curitiba-PR, 2003. Disponível em: HTTP://www.acquakids.com/natação.php#3. Acesso em: 16/05/2019.FRANCHINI, C. F; ZANATTA A. P; GIOVANI, G. et al. Tratamento não farmacológico de pacientes com fibromialgia.Brasilian journal of surgery and clinical research. v.4, n. 4, p. 32-37. Set/Nov, 2013. Disponível em:www.mastereditora.com.br/periodico/20131102 Acesso em: 07/06/2019LLORET, M. et al. Natação terapêutica. Rio de Janeiro: Sprint, Zambone, 2003.OLIVEIRA, T. A. C; APOLINARIO, M. R; Analise sistêmica do nado crawl. Brasillian Journal of Motor Behavior. v. 4, n. 1, 15-21, 2009.RUIZ Jr. R. L; DIAS, F. G; BAIDA, R. L. Osteocondromatose Múltipla Hereditária com envolvimento costal. Revista Col. Bras.Cir. v. 35, n. 4, Jul/Ago 2008. Disponível em: www.scielo.br/pdf/rcbc/v35n4/a13v35n4.pdf. Acesso em: 15/05/2019TOLEDO, R. Exostose ou osteocondromatose hereditária múltipla. Somos todos gigantes. 6 de setembro de 2017. Disponívelem: HTTPS://somostodosgigantes.com.br. Acesso em: 12/05/2019.
MÚLTIPLOS TUMORES PRIMÁRIOS NA CAVIDADE BUCAL: RELATO DE CASO
1GABRIEL MACIEL DA SILVA, 2ANDRESSA ANDRADE NOVAES, 3BEATRIZ AYUMI SHIOTANI, 4GABRIELA ZANUTO DELIMA, 5GLEYSON KLEBER DO AMARAL SILVA, 6CINTIA DE SOUZA ALFERES ARAUJO
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmica do PIC/UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Doutorando FOP/UNICAMP5Docente da UNIPAR
Introdução: A ocorrência de um segundo ou múltiplos tumores primários na cavidade bucal, é relatada entre 10 e 24% doscarcinomas espinocelulares (DEDIVITIS; CASTRO; DENARDIN, 2009). Acredita-se que o surgimento destes se devaparcialmente à exposição contínua da superfície epitelial da cavidade bucal a carcinógenos, incluindo aqueles encontrados emtabaco e álcool e que o desenvolvimento é resultado da cancerização de campo. De acordo com Mochizuki et al. (2015), paraserem considerados múltiplos tumores primários as lesões devem apresentar os seguintes critérios: serem todas neoplasiasmalignas, devem ser anatomicamente separadas e não conectadas por alterações neoplásicas epiteliais ou submucosas e aindaser descartada a possibilidade de a neoplasia representar uma metástase de um tumor . Objetivo: Relatar um caso clínico sobre os múltiplos tumores primários na cavidade oral, bem como descrever e comentar sobrea importância de identificar essa patologia em seu estado de início. Discussão: O paciente C.M., gênero masculino, 51 anos, ex fumante há 11 anos, compareceu a Clínica Odontológica daUNIPAR - Umuarama, queixando-se de crescimento em suas gengivas . Ao exame físico intrabucal notou-se crescimentotecidual anormal na região gengival dos dentes 25 a 26 e dentes 34 a 36. Foi realizada a biópsia incisional nas duas regiõesmencionadas, e encaminhado para análise histopatológica com a hipótese de paracoccidioidomicose, entretanto o diagnósticodefinitivo foi conclusivo para carcinoma espinocelular em ambas regiões, tendo em vista que os dois tumores não secomunicavam pode-se concluir como duplos tumores primários. O paciente foi encaminhado para a UOPECCAN e como opçãode tratamento foi realizada o tratamento cirúrgico seguido de 35 sessões de radioterapia e quimioterapia. O paciente encontra-seem proservação a 5 meses, sem sinais de recidiva.Conclusão: Conclui-se que tumores múltiplos na cavidade oral não são normalmente encontrados, dessa forma, é de sumaimportância que o cirurgião dentista esteja apto para identificar qualquer patologia e quando encontrada saber para ondeencaminhar (QAISI et al., 2014).
ReferênciasDEDIVITIS, Rogério Aparecido; CASTRO, Mário Augusto Ferrade de; DENARDIN, Odilon Victor Porto. Tumores primáriosmúltiplos em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Rev. Bras. Cir. Cabeça Pescoço, v. 38, n. 4, p. 211-214, Out/Nov/Dez.2009.MOCHIZUKI, Yumi et al. Clinical Characteristics of multiple primary carcinomas of the oral cavity. Oral Oncology, v. 51, n. 1, p.182-189, Fev. 2015.QAISI, Mohammed et al. Multiple primary squamous cell carcinomas of the oral cavity. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,v. 72, n. 8, p. 1511-1516, Ago. 2014.
RISCOS NA INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA COM O USO DE ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES (AINES)
1JOAO CARLOS RAFAEL JUNIOR, 2PALOMA CASTILHO CASAGRANDE, 3GIOVANA LUNARDI, 4MARIA RITA BARBOSA DEOLIVEIRA, 5STEFANIA GASPARI, 6PATRICIA GIZELI BRASSALLI DE MELO
1Acadêmico bolsista do PEBIC/CNPQ1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica bolsista do PEBIC/CNPQ4Acadêmica do PIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: As interações medicamentosas são definidas como sendo eventos clínicos, onde um fármaco passa a ter seuefeito alterado quer pela presença de outro fármaco, por influência alimentar, pelo uso de álcool, tabaco e também pelo seuemprego concomitante aos fitoterápicos (DEMARTINI; PIATO, 2013). As consequências destas interações podem ser variáveis,desde redução do seu efeito, potencialização, ação anulada e até mesmo reações de toxicidade, o que torna fundamental oprofissional atentar-se antes de qualquer prescrição medicamentosa, já que é crescente o número de pessoas que fazem uso defármacos de forma contínua, principalmente a população idosa, onde a frequente polifarmácia, os colocam como grupo bastantesusceptíveis à estas interações (LIMA et al., 2016). Entre as diferentes classes farmacológicas, os AINES (Anti-inflamatórios nãoesteroides), configuram entre os fármacos mais prescritos no Brasil, sobretudo, podendo estes quase que em sua totalidade, sercomprados livremente sem a necessidade de prescrição (NASCIMENTO; PIGOSO, 2013). Desse modo, é necessário,primeiramente, entender os mecanismos de ação dos AINES, para que se minimizem os ricos de interações medicamentosasprejudiciais ao paciente.Objetivo: O objetivo do presente trabalho é realizar através de uma revisão bibliográfica, uma análise das principais interaçõesmedicamentosas que podem ocorrer pelo uso associado aos AINES (Anti-inflamatórios não esteroides).Desenvolvimento: Os AINES, estão entre os medicamentos mais prescritos em todo mundo devido a sua ação anti-inflamatória,analgésica e antipirética, sendo indicados para a prevenção e controle da dor pós operatória e do quadro inflamatório (ANDRADEet al., 2013). O mecanismo de ação deste grupo, se dá através da inibição da enzima COX (Cicloxigensase), o que impede aformação das prostaglandinas (MONTEIRO et al., 2008), que tem por subprodutos duas isoformas a COX1 e COX2, com funçõesimportantes no organismo. Com base na sua ação inibitória, atualmente os AINES são agrupados em não seletivos ( aqueles queinibem igualmente COX1 e COX2), seletivos (atuam preferencialmente em COX2) e muito seletivos (inibem quase queexclusivamente COX2) (ANDRADE et al., 2013). Assim, entre as interações mais prevalentes envolvendo os AINES estão: AINES (não seletivos e seletivos) associados a anticoagulantes, como a varfarina, resultando em potencialização do efeitoanticoagulante, com o aumentado do risco de hemorragias, podendo induzir sangramentos gastrointestinais (CASTEL-BRANCO et al., 2013), pois ao inibir a enzima COX1 perde-se o efeito de proteção gástrica e também seu efeito na agregaçãoplaquetária. Medicamentos anti-hipertensivos (diuréticos e beta-bloqueadores) quando associados aos AINES podem causarefeitos antagônicos à terapia anti-hipertensiva, causando um aumento na retenção de líquidos, bem como da pressão arterial, jáque as prostaglandinas renais (fundamentais na filtração glomerular) são inibidas. (NASCIMENTO; PIGOSO, 2013). A interaçãodo tipo AINES-AINES pode causar a potencialização do seu efeito, resultando em hemorragias, ulcerações estomacais,insuficiência renal, hepatite, colestase, entre outras, por conta da inibição exacerbada da enzima COX (CASTEL-BRANCO et al., 2013). Outra interação pertinente se dá pelo uso dos AINES associados aos bifosfonatos, sendo este último utilizado notratamento da osteoporose, podendo causar esofagites, úlceras esofágicas e erosões esofágicas, visto que os bifosfonatoscausam irritação da mucosa gástrica e associado com o inibição da enzima COX1 pelos AINES, podem ocorrer as alteraçõesacima citadas. Já os AINES administrados com corticoides podem resultar em hemorragias e ulcerações, com risco aumentadoem pacientes com histórico de úlceras pépticas, pelo fato de que os corticoides retardam a cicatrização de úlceras pré-existentes, isso é agravado com a inibição da COX 1 por parte do mecanismo de ação dos AINES (CASTEL-BRANCO et al.,2013). Medicamentos fitoterápicos também são capazes de gerar interações medicamentosas quando usados concomitante aosAINES, como é o caso da Castanha da India (Aesculus hippocastanum L) e Gengibre (Zingiber officinale Rosc.) causandohemorragias quando administradas junto com Ibuprofeno e Naproxeno, por exemplo. O Tanaceto (Tanacetum parthenium Sch.Bip.) também pode ter seu efeito, de profilaxia de enxaqueca, diminuído quando na presença de anti-inflamatórios não esteroidese por apresentar atividade anticoagulante, o risco de hemorragia é aumentado (NICOLETTI et al., 2007) e ainda, a Unha-de-gato (Uncaria tomentosa) com efeito sinergista da anticoagulação de AINES (SALVI; MAGNUS, 2014).
Conclusão: Diante desses apontamentos, conclui-se que é de suma importância que o profissional prescritor tenhaconhecimento sobre as diferentes classes farmacológicas e das prováveis interações medicamentosas a que seus pacientesestão sujeitos, no intuito de evitar efeitos deletérios e riscos desnecessários a estes. Quando se trata de AINES, o profissionalprescritor deve se atentar ainda mais, visto que esta classe de fármacos possui uma gama de interações medicamentosas.
ReferênciasANDRADE, Eduardo Dias et al. Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia. São Paulo: Artes médicas, 2013.CASTEL-BRANCO, Miguel et al. As bases farmacológicas dos cuidados farmacêuticos: o caso dos AINEs. Acta FarmacêuticaPortuguesa, v. 2, n. 2, p. 79-87. 2013.DEMARTINI, Avner Luis Bertolo Cristiano; PIATO, Angelo Luis. Interações medicamentosas na clínica odontológica. Rev. Bras.Odontol., Rio de Janeiro, v. 70, n. 2, p. 120-124, jul./dez. 2013.LIMA, Tiago Aparecido Maschio et al. Análise de potenciais interações medicamentosas e reações adversas a anti-inflamatóriosnão esteroides em idosos. Rev. Bras. Geriatr. Gerontol., Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 533-544. 2016.MONTEIRO, Elaine Cristina Almeida et al. Os antiinflamatórios não esteroidais (AINEs). Temas de Raumatologia Clínica, v. 9,n. 2, p. 53-63, mai. 2008.NASCIMENTO, Daniela Martins; PIGOSO, Acácio Antônio. Interação medicamentosa entre anti-hipertensivos e anti-inflamatóriosnão esteroidais. Revista Científica da FHO/UNIARARAS, v. 1, n. 1, p. 14-17. 2013.NICOLETTI, Maria Aparecida et al. Principais interações no uso de medicamentos fitoterápicos. Infarma, v. 19, n. 1/2, p. 32-40.2007.SALVI, Roseane Maria; MAGNUS, Karen. Interação fármaco-nutriente: desafio atual da farmacovigilância. Porto Alegre:Edipucrs; 2014. 152 p.
PERFIL ANTROPOMÉTRICO DA POPULAÇÃO IDOSA NO MUNICIPIO DE CIANORTE PARTICIPANTE DE ATIVIDADEFÍSICA ORIENTADA
1EDINALDO RODRIGUES DA SILVA, 2DANILE GOULART BUOSI, 3CLEIDE DE FÁTIMA DALA PEDRA CADAN, 4DANIELEPADILHA, 5HELENA SILVESTRE YASSOYAMA, 6VITOR HUGO RAMOS MACHADO
1Discente de Fisiologia do Exercício, PÓS/UNIPAR1Discente de Fisiologia do Exercício, PÓS/UNIPAR2Profissional de Educação Física3Profissional de Educação Física4Profissional de Educação Física5Docente da UNIPAR
Introdução: Durante o processo de envelhecimento, modificações importantes ocorrem na composição corporal de indivíduosidosos, tais como redução da massa muscular acompanhada de aumento de tecido adiposo, principalmente aquele acumuladoao redor da cintura (PERISSINOTTO et al, 2002). Segundo dados do IBGE a projeção pra 2020 da população de terceira idadeno país será de 46,89%; no Paraná o índice será de 53,23% dessa classe. O município de Cianorte servirá como base para essetrabalho de pesquisa, assim, conforme dados do IPARDES (2010), a população acima de 65 anos é de 5561 idosos. Esseestágio de envelhecimento é decorrente de projetos sociais realizados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) oqual visa a melhoria na qualidade de vida e longevidade. Segundo a Organização mundial de saúde (OMS), a atividade física éuma das formas de retardar o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Os idosos devem fazer pelomenos 150 minutos de intensidade moderada de atividade física aeróbica durante a semana ou fazer pelo menos 75 minutos deintensidade vigorosa ou uma combinação equivalente de atividade moderada e de intensidade vigorosa. Atualmente este projetoabrange 400 indivíduos, sendo que esses, realizam atividades físicas duas vezes por semana o que não coincide com as normasda OMS.Objetivo: Traçar o perfil antropométrico da população Idosa do município de Cianorte participante de atividade física orientada.Metodologia: Foram coletados dados de livre aceite aos envolvidos pertencentes a esse projeto social para analisar a situaçãoatual dos indivíduos em relação a sua saúde. A coleta de dados foi realizada entre os meses de julho e agosto de 2018, ondeforam avaliadas 228 pessoas acima de 60 anos e de ambos os sexos. As variáveis antropométricas coletadas foram: peso,estatura, índice de massa corporal (IMC), e circunferência da cintura (CC) (cm), as quais foram aferidas de acordo com astécnicas descritas pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1995). Para a classificação do IMC foram utilizados os pontos decortes propostos por Lipschitz (1994): baixo peso (IMC<22 kg/m².), eutrófico (IMC de 22 kg/m².a 27 kg/m².) e sobrepeso (IMC>27kg/m².). A circunferência da cintura (CC) foi classificada de acordo com os pontos de corte propostos pela Organização Mundialda Saúde (WHO, 1997): Adequado (mulheres CC < 80 cm e homens CC < 94 cm), risco elevado (mulheres CC ≥80 e < 102 cm),risco muito elevado (mulheres CC ≥ 88 cm e homens CC ≥ 102 cm).Resultados: A amostra de 228 indivíduos, sendo a maioria composta por mulheres totalizando 198, e 30 para o grupo doshomens. Pode- se observar que ambos os sexos apresentaram grau de elevado de obesidade. O grupo das mulheresapresentaram média de 29 kg/m².Já os homens apresentaram média de 28 kg/m². Ambos os sexos tiveram diferença mínima,sendo a média do grupo considerados com sobrepeso.Discussão: A obesidade é considerada um fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades, entre elas as doençascrônicas não transmissíveis como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, doenças cardiovasculares ecânceres (TEIXEIRA et al, 2013). De acordo com Menezes (2013) durante o processo de envelhecimento ocorre uma diminuiçãoda massa magra e consequentemente o aumento do percentual de gordura corporal, provocando alterações na saúde do idoso epor isso a importância da avaliação antropométrica do idoso. A circunferência da cintura de acordo com Ferreira et al (2014), éum parâmetro para evidenciar a distribuição de gordura corpórea central, e é um dos fatores positivos para a mortalidade.Constatou-se na amostra que os homens estão com a média de 98,8 cm e o grupo das mulheres apresentam dados superiores àmédia estimada para a saúde, sendo de 96,1cm, considerado um risco alto para a saúde. Contudo, percebe-se que os valoresestimados para as mulheres estão elevados, corroborando com Ferreira et al (2014), sendo comum um índice mais elevado dagordura corporal no processo de envelhecimento. Silva et al (2014) relataram que uma das hipóteses para o aumento dacircunferência de cintura, sobretudo em mulheres, refere-se a algumas alterações comportamentais que são características nestapopulação, como a redução nos níveis de atividade física e uma alimentação desequilibrada e contribuem para ocomprometimento do perfil antropométrico.
Conclusão: A partir do presente estudo, pode-se concluir que há inadequações do estado antropométrico reveladas tanto pelopeso corporal quanto pela gordura abdominal dos idosos em questão. Diante disso, ações educativas serão essenciais para umamelhoria na qualidade de vida e longevidade. entretanto, algumas questões devem ser consideradas para se obter resultadosefetivos como: histórico de vida, patologias, entre outros. A fim de obter sucesso no desenvolvimento desse projeto social, deve-se também incluir maior quantidade, diversidade de exercícios físicos, visto que no grupo estudado os idosos atingem númeroabaixo do recomendado pela organização mundial de saúde. Dessa forma, os dados apresentados no desenvolvimento dessetrabalho serão úteis para proposição de estratégias promotoras de saúde, visando melhora da capacidade funcional,retardamento no desenvolvimento das DCNT, e a redução do porcentual de gordura dos idosos.
ReferênciasFERREIRA, L.S, PINHO, M.D.S.P, DE MACEDO; PEREIRA MW, FERREIRA, A.P. Perfil cognitivo de idosos residentes eminstituições de longa permanência de Brasília DF. Revista Brasileira de Enfermagem, 2014.IBGE. Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações - RIPSA 2ºed- Brasília: Organização Pan Americana saúde, 2008. Acesso em www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao.IPARDES- Instituto Paranaense de desenvolvimento econômico e social. Caderno estatístico municipal de Cianorte. Acesso:www.ipardes.gov.br/cadernos. LIPSCHITZ, D.A. Screening for nutritional status in the elderly. Primary Care.vol.21. Num.1p55-67.1994.MENEZES, T.N.; BRITO, M.T.; ARAUJO, T. B. P; SILVA, C.C.M; NOLASCO, R.R. N; FISCHER, M.A.T.S. Perfil antropométricodos idosos residentes em Campinas Grande- PB. Ver. Bras. Geriatr.Gerontol. Rio de Janeiro,2013.PASSOS, V.M.A; ASSIS, T.D; BARRETO, S.M. Hipertensão arterial no Brasil: estimativa de prevalência a partir de estudos debase populacional. Epidemiologia e Serviços da Saúde.V.15, n.1, p35-45, 2006.PERISSINOTTO E, PISENT C, SERGI G, GRIGOLETTO F, ENZI G. Anthropometric measurements in the elderly: age andgender differences. British Journal of Nutrition 2002; 87: 177-186.SILVA, T.L. MARTINES, E. Z. JUNIOR, A. P. S. MANÇO, A. R. X. ARRUDA, M.F.A associação entre a ocorrência de quedas e aalteração de equilíbrio e marcha em idosos. Saúde e pesquisa.2014.TEIXEIRA, P.D. S; REIS, B.Z.; VIEIRA, D.A.S.; COSTA, D. RAPOSO, O. F. F. WARTHA, E.R.S.A.; NETTO, R.S.M. Intrevençãonutricional educativa como ferramenta eficaz para a mudança de hábitos alimentares e peso corporal entre praticantes deatividade física. Ciência e Saúde coletiva. Vol.18. Num. 2.p.347-356.2013.WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Obesity: preventing and managing the total epidemic. Report of a WHO ConsultationGroup. Geneva. WHO.1997.ZAITUNE, M.P. DO AMARAL, MARILISA; BARROS, M.B. DE AZEVEDOI; GALVÃO, C; CARANDINA, L.; GOLDBAUM, M.Hipertensão arterial em idosos: prevalência, fatores associados e práticas de controle no Município de Campinas, São Paulo,Brasil.
VITAMINA C PARA TRATAMENTOS ESTÉTICOS: UMA REVISÃO
1AMANDA PILLONETTO DA SILVA, 2FRANCIELLEN CRISTINE DE CARLI, 3NATALLY MARCHIORO DRAI
1Acadêmica do curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: Os cuidados com a aparência estética tornaram-se uma preocupação constante na vida das pessoas. A busca pelabeleza, prevenção e tratamento dos sinais de envelhecimento tem sido desenfreada. As alterações na pele são decorrentesdo envelhecimento cutâneo, que ocorrem naturalmente no organismo ou são ocasionadas por fatores como, radiação ultravioleta,alimentação desequilibrada, baixa ingesta de água, tabagismo, alcoolismo e poluição, (KAMIZATO e BRITO, 2014). Aestimulação do melanócito por fatores internos ou externos leva a produção excessiva de melanina epidérmica ou dérmica queorigina manchas hipercromicas, que são denominadas como melasma, efélides, lentigos, hipercromias pós-inflamatórias, hiperpigmentação periorbital (GONCHOROSKI et al, 2005 e BAUMANN, 2004). A Vitamina C conhecida comoÁcido ascórbico é uma substância hidrossolúvel, extremamente importante para o fortalecimento do sistema imunológico e paraprevenir infecções causadas por vírus e bactérias. Na pele tem efeito antioxidante e clareadora, previne o envelhecimentoprecoce, participa no processo de respiração das células, na produção do colágeno, na formação e a cicatrização dos tecidosorgânicos. (GOMES, 2009).Objetivo: Discutir a ação da Vitamina C no processo do envelhecimento e na pigmentação cutânea que tem origem.Desenvolvimento: O envelhecimento é caracterizado por uma série de alterações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas queocorrem no organismo ao longo da vida, influenciado pela genética, fatores ambientais e comportamentais que o afetam tornandodeficitário seu funcionamento. O envelhecimento cutâneo é subdividido em intrínseco ou cronológico, caracterizado poralterações estéticas leves e que ocorrem de forma gradual, e em extrínseco, o qual é causado pelo estresse e principalmentepela radiação ultravioleta (KEDE e SABATOVICH, 2004). Os radicais livres atacam os principais constituintes das célulasformando a base molecular do envelhecimento, como os lipídios das membranas celulares, as proteínas estruturais, enzimas eDNA (AGUIAR et al., 2017). As fibras colágenas estão representando cerca de 95% do conectivo da derme (SAMPAIO, 2007).Esta fibra tem como função e característica a dar resistência e elasticidade ao tecido, podendo variar em diâmetro e dispõem emuma espécie de rede ondulada fina, na derme papilar, ou espessa, na derme reticular. (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 1999). Osradicais livres são moléculas instáveis e muito reativas, que apresentam um ou mais elétrons desemparelhados em sua órbita,ele tenta se ligar a elétrons de outras moléculas procurando se estabilizar, a molécula que doar um elétron, se torne um radicallivre provocando uma reação, chamada de estresse oxidativo (RIBEIRO, 2010). As hipercromias são desordens de pigmentaçãocutânea que tem origem numa produção exagerada de melanina, provocando um aspecto estético desagradável. A melanina ésintetizada por uma cascata de reações químicas que ocorrem dentro de uma célula denominada melanócito, que se encontra nacamada basal, em junção com os queratinócitos, transferindo seu pigmento para as camadas mais superficiais da epiderme. Ahiperpigmentação pode originar-se de diversos fatores, entre eles, podemos citar o envelhecimento, gestação, exposição ao solentre outros (AZULAY, AZULAY e ABULAFIA, 2011). O ácido ascórbico é um potente antioxidante que reage fortemente com osdiversos radicais livres, seu primeiro mecanismo de defesa é impedir a sua formação, principalmente pela inibição das reaçõesem cadeia com o ferro e o cobre. Traz consigo propriedades antioxidantes capaz de neutralizar os radicais livres produzidosprincipalmente pelo UV, além de sua ação clareadora dada pela inibição da melanogênese, resultando na diminuição demanchas na pele. Atua como despigmentante por um mecanismo redutor, estimulando a inversão das reações de oxidação, queconvertem a dopa em melanina e dopa em dopaquinona, reduzindo a síntese de melanina (RIBEIRO, 2010). A vitaminaC apresenta efeitos fisiológicos na pele, melhora o tecido conjuntivo, diminui adesão dos corneócitos favorecendo a hidratação ereduz a espessura da epiderme estimula a produção de colágeno pelos fibroblastos jovens ou velhos, melhorando a elasticidadee a firmeza (FRIES et al., 2019).Conclusão: A vitamina C possui um alto poder antioxidante, atuando em várias camadas cutâneas a fim de proteger as célulasque são constantemente atacadas por radicais livres, além de auxiliar em tratamentos para hiperpigmentação, pois, consegueatuar inibindo a melanogênese, resultando numa diminuição das manchas.
ReferênciasAGUIAR, Rosilene Virgínia Simões Coelho; OLIVEIRA, Claudiana; BARELLI, Natália; DE MELO, Bianca; GONÇALVES, Tatiana;FEITOSA, Geovana Prado Vaz; Fotoenvelhecimento nos diferentes grupos étnicos. Revista de Iniciação Científica. v.6, n.5,p.19-34, 2017.
AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Rubem; ABULAFIA, Luna Azulay. Dermatologia. 5. ed- rev. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2011. 1014 pp.BAUMANN, Leslie. Dermatologia Cosmética Princípios e Práticas. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 223 pp.FIORUCCI, Antonio Rogério; SOARES, Márlon Herbert Flora Barbosa; CAVALHEIRO, Éder Tadeu Gomes. A importância davitamina C na sociedade através dos tempos. Química Nova na Escola, São Paulo, n. 17, p. 3-7, 2003.FRIES, Aline Taís; FRASSON, Ana Paula Zanini. Avaliação da atividade antioxidante de cosméticos anti-idade. Revista contexto& saúde ijuí editora unijuí, v.10, n.19, p.17-23, jul. 2010. GOMES, Roseline Kelly; DAMAZIO, Marlene Gabriel. Cosmetologia Descomplicando os Princípios Ativos.3. ed.São Paulo:Livraria Médica Paulista Editora, 2009. 475 pp.GONCHOROSKI, Danieli Durks; CÔRREA, Giane Márcia. Tratamento de hiperromia pós-inflamatória com diferentesformulações clareadoras. Rev. Inframa, v.17, n. 3/4. 2005.JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 9 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1999.447 pp.KAMIZATO, Karina Kiyoko; BRITO, Silvia Gonçalves. Técnicas Estéticas Faciais. 1. ed. São Paulo: Érica 2014. 136 pp.NASCIMENTO, Leninha Valério. Tipos de envelhecimento.In: KEDE, Maria Paula Villarejo; SABATOVICH, Oleg.; Dermatologiaestética. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 1024 pp RIBEIRO, Claudio. Cosmetologia aplicada a dermoestética. 2. ed. São Paulo: Pharmabooks, 2010. 441 pp..SAMPAIO, Sebastião Almeida Prado; RIVITTI, Evandro A. Dermatologia. 3. ed. São Paulo: Editora Artes Médicas Ltda, 2008.1585 pp.
USO DE ANTIDEPRESSIVOS POR PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
1JADIELI SIMONI ROLL, 2JACQUELINE VERGUTZ MENETRIER, 3FRANCIELE DO NASCIMENTO SANTOS ZONTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da Unipar Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Docente da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: Os profissionais da Atenção Primária em Saúde estão constantemente expostos a agravantes, os quais causam exaustão e desgastepsicológico, gerando então um desequilíbrio emocional e distúrbios emocionais (MERCES, et al., 2016). Esses profissionais estão tãosobrecarregados, que podem desenvolver ansiedade, depressão, síndrome de Burnout e para o alivio desses sintomas, muitas vezes buscam oauxílio de substâncias, como o álcool, tabaco, tranquilizantes e em maior número a terapia farmacológica, considerando o fácil acesso as mesmas(BERTUSSI, et al., 2018)Objetivo: Avaliar o uso de antidepressivos pelos profissionais atuantes na Atenção Primária em Saúde de um município do Paraná.Materiais e métodos: Trata-se de uma pesquisa de campo, transversal de caráter quantitativo, realizada nas Estratégias de Saúde da Família de umMunicípio do Paraná. A coleta de dados, ocorreu por meio da aplicação de um questionário semiestruturado elaborado pelas pesquisadoras comvariáveis sociodemográficas e inerentes ao objetivo do estudo. Os questionários foram aplicados no período de 10 junho a 08 de agosto de 2019.Anteriormente ao preenchimento do questionário, os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Os dados foramtabulados e analisados em frequência descritiva no programa Software Statistical Package of Social Sciences for Windows (SPSS) 25.0. O estudofoi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Paranaense sob protocolo 3.364.0562019.Resultados: A pesquisa contou com uma amostra de 199 profissionais, destes 62 (31,2%) fazem uso de medicação relacionada a saúde mental.Dentre as classes medicamentosas, a mais citada foi o antidepressivo com 83,9%. Quanto ao nome comercial a maioria faz uso da fluoxetina(27,4%), seguida pela sertralina (25,8%). A maioria dos profissionais são do sexo feminino em 189 (95%). Quando avaliado o índice de uso damedicação relacionado ao gênero, observou-se que do total de 62 profissionais que fazem uso de medicação, 96,8% são do sexo feminino.Ademais, foi verificado que em relação a classe profissional, os ACS e ACE constituem 48,1% dos usuários, seguido pela classe pelos técnicos deenfermagem e assistente administrativo com 13,5%, seguidos pelos enfermeiros e serviços gerais com 7,7%.Discussão: O estudo demonstra que a maioria dos profissionais atuantes na Atenção Básica é do sexo feminino, dado semelhante ao encontradopor Bertussi et al., (2018) em seu estudo no estado de Minas Gerais com 93,8%. Este número significativamente alto de mulheres no atendimentoà saúde pode estar relacionado a própria cultura, onde tem-se uma concepção de que o cuidado é uma atribuição da mulher, e até mesmo oaumento na inserção da mulher no ambiente de trabalho. Quanto ao uso da medicação 31,2% fazem uso, semelhante ao estudo de Maciel et al.,(2017), realizado no estado de Alagoas, onde 37,4% fazem uso de fármacos tranquilizantes e ansiolíticos. No estudo de Braga et al., (2016),demonstra que a classe medicamentosa de saúde mental mais utilizada é o antidepressivo em 47,1%, na presente pesquisa o antidepressivo foi amedicação mais citada em 83,9% dos casos. Destaca-se a fluoxetina com 27,4%, dado semelhante ao estudo de Braga et al., (2016), onde afluoxetina também se encontra em primeiro lugar de uso da população, em 35% dos casos. Ainda no estudo de Braga et al., (2016), a sertralinaaparece em quarto lugar de uso com 21,7% dos casos, neste estudo a sertralina é a segunda mais citada, o percentual é semelhante em torno de25,8%. Quanto ao uso de medicações para saúde mental entre os ACS e ACE o uso em 48,1% corrobora com o estudo de Santos et al., (2017)realizado na cidade de Montes Claros MG, em que apenas 25,4% fazem uso de medicação. Pereira et al. (2017), retrata em seu estudo que 29,1%,da equipe de enfermagem faz uso de medicação antidepressiva, ao passo que nesse estudo os técnicos de enfermagem fazem uso em 13,5% eenfermeiros em 7,7%, vale ressaltar que os mesmos tem o conhecimento dos efeitos das medicações. Para a mudança desse panorama, a mudançainicia na redução no uso de medicações, para isso, cita-se a importância do uso de terapias alternativas, como a psicoterapia. Priorizando, que opróprio empregador conceda esse apoio a população (BRAGA, et al., 2016).Conclusão: A partir dos resultados acima citados, vê-se que há um uso considerável de medicação antidepressiva, levando em consideração opublico estudado, relaciona-se o uso excessivo com o fácil acesso a receita e até mesmo a própria medicação. Observou-se também, que o temapossui poucos estudos publicados, negligenciado o teor de importância do assunto para a saúde pública do País.
Referências:BERTUSSI, Vanessa Cristina, et al. Substâncias psicoativas e saúde mental em profissionais de enfermagem da Estratégia Saúde da Família.Revista Eletrônica de Enfermagem (Internet), v.20, n.21, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.5216/ree.v20.47820. Acesso em: 09/08/19BRAGA, Denis Conci, et al. Uso de psicotrópicos em um município do meio oeste de Santa Catarina. Journal of the Health Sciences Institute,São Paulo, v.34, n. 2, p. 108-113, 2016.
CARDOSO, Evangeline Maria, et al. Saúde mental e trabalho: Estresse em trabalhadores da saúde na cidade de Manaus. Revista de Ciências deSaúde da Amazônia, Manaus, v. (SI), n. 2, p.59-78, 2016.MACIEL, Maria Piedade Gomes Souza, et al. Uso de Medicamentos Psicoativos entre Profissionais de Saúde. Revista de enfermagem UFPEonline, v.11, n. 7, p. 2881-2887, jul., 2017. Disponível em: DOI: 10.5205/reuol.11007-98133-3-SM.1107sup201709. Acesso em: 09/08/19.MERCES, Magno Conceição, et al., Síndrome de Burnout em Trabalhadores de Enfermagem da Atenção Básica à Saúde. Revista Baiana deEnfermagem, Salvador, v. 30, n.3, p. 1-9, jul./set., 2016.PEREIRA, Itanieli Francisca, et al. Depressão e uso de medicamentos em profissionais de enfermagem. Arquivo de Ciências da Saúde, São Josédo Rio Preto, v. 24, n.1, p. 70-74, jan./mar., 2017.SANTOS, Ana Maria Vitrícia Souza et al. Transtornos mentais comuns: prevalência e fatores associados entre agentes comunitários de saúde.Caderno de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 160-168, 2017.
ANÁLISE DOS CONTEÚDOS TÉCNICOS DESENVOLVIDOS NA INICIAÇÃO AO FUTSAL
1EDUARDO HENRIQUE IRIS DOS SANTOS, 2JULIO CESAR MARTINS DA ROCHA, 3DAVI DA SILVA DE LIMA, 4RAULVARANDAS DO NASCIMENTO, 5MARCELO FIGUEIRO BALDI
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Na iniciação ao futsal é preciso aprender o básico do esporte que são os fundamentos técnicos. Para um bomdesenvolvimento técnico do aluno é de extrema importância que se observe o desenvolvimento e as características motoras dacriança. A criança dificilmente conseguirá bons resultados táticos se a técnica não tiver sendo bem executada (VOSER, 2001). Diante do exposto, o presente estudo procurou responder ao seguinte problema de pesquisa: quais conteúdos técnicos podemser desenvolvidos em crianças de 8 a 11 anos na iniciação ao futsal?Objetivo: Analisar quais conteúdos técnicos podem ser desenvolvidos em crianças de 8 a 11 anos na iniciação ao futsal.Desenvolvimento: Segundo Mutti (2003, p. 33) A técnica consiste na execução individual dos fundamentos básicos do futsal,isto é, do passe, do chute, da recepção de bola, do drible, etc. . No futsal os métodos mais utilizados e indicados para criançasna iniciação são em forma de jogo ou atividades-jogo para que a criança aprenda jogando (GARGANTA, 2006). Na iniciação osmétodos que devem ser mais utilizados são em forma de jogos e os fundamentos mais utilizados são: passe, domínio,finalização, condução, finta e drible. O domínio é uma das principais ações do futsal, ele corresponde a receber a bola e deixarsobre o seu controle para que em seguida possa tomar outra ação. Entre os tipos de domínio estão: domínio com a sola do pé,domínio com a cabeça, domínio com o peito e domínio com a coxa. Desses domínios, o mais utilizado no futsal é com a sola dopé, pois facilita a ação seguinte além de dar mais firmeza (MUTTI, 2003). O mais utilizado em crianças na iniciação é com a parteinterna do pé. Já a condução, tem como objetivo andar ou correr com a bola próxima aos seus pés. Pode ser feita com a sola dopé, com a parte interna ou com a parte externa do pé, com o peito do pé e com a ponta do pé (MUTTI, 2003). Na iniciação ascrianças tem dificuldades nessa ação e geralmente jogam a bola para frente e saem correndo atrás dela, dificultando assim ocontrole da bola próximo aos pés. Enquanto que a finalização é uma das ações mais importante do futsal pois tem como objetivoatingir a meta do adversário e fazer o gol. Esse fundamento pode ser realizado com a bola parada ou em movimento, com a bolano ar ou no chão e pode ser realizado com a parte interna e externa do pé, com a ponta do pé, com o peito do pé, com o peito,com a cabeça e até mesmo com a coxa (MUTTI, 2003). A mais utilizada por crianças na iniciação é com a ponta dos pés, ouseja, com o bico do pé. Pode-se dizer que o passe é a ação de entregar a bola para outro companheiro de equipe. O passeassim como outros fundamentos pode ser com a parte interna e externa do pé, com o peito do pé, com a ponta do pé, com acoxa, com a cabeça e com o peito. Também pode ser rasteiro, alto, meia altura, diagonal, lateral, paralelo, curto, médio e longo(MUTTI, 2003). Na iniciação os métodos mais utilizados nesse quesito são os passes de bico de pé e longo, pois para eles setorna mais prático e fácil de se chegar ao gol adversário. Já o drible é compreendido como o ato de passar por um adversáriocom a bola dominada, um fundamento que requer de muitos fatores em combinação com habilidade natural de cada criança epode ser classificado como drible simples ou clássico (COSTA, 2005). Na iniciação é um dos mais complexos só que um dosmais utilizados. Porém é uma ação que pode comprometer o desenvolvimento tático do futsal, pois várias crianças se espelhamem grandes craques do futsal e do futebol e na prática querem aplicar o mesmo, no entanto, a maioria não consegue, o quepode acabar prejudicando o desempenho da equipe no jogo ou até mesmo a própria criança se frustrando. No caso da fintatemos um movimento executado sem bola e pode ser com os pés, com a perna, com o tronco, com os braços e até com os olhos(VOSER, 2001). Podemos dizer que a finta é o fundamento menos utilizado pela criança na iniciação, isso por que exige muitodos aspectos motores e cognitivos. Conclusão: Os fundamentos técnicos do futsal devem ser trabalhados constantemente com atividades que estimulem ascrianças a aprimorar o desenvolvimento dessa técnica. Entre os mais utilizados estão a finalização, o passe curto, passe longo, afinalização e principalmente o drible.
ReferênciasCOSTA, C. F. Futsal: Vamos Brincar? Volume I Técnica e Iniciação. / Claiton Frazzon Costa. Florianópolis: Visual Books,2005.
GARGANTA, J. Ideias e competências para pilotar o jogo de futebol. In: TANI, G; BENTO, J. O.; PETERSEN, R D. S.Pedagogia do desporto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006, p. 313-325.MUTTI, D. Futsal da iniciação ao alto nível. 2.ed. São Paulo: Phorte, 2003.VOSER, R. da C. Futsal princípios técnicos e táticos. Rio de Janeiro: Sprint, 2001.
AVALIAÇÃO DO POLIMORFISMO RS9939609 A DO GENE FTO RELACIONADO A OBESIDADE EM PACIENTES DACLÍNICA DE NUTRIÇÃO DA UNIPAR DE UMUARAMA
1MARIA EDUARDA VELOZO DA SILVA, 2KAROLINY DA SILVA ABELHA, 3NATHALIA KAROLAYNE MORAIS DE FREITAS,4ANA PAULA CESTARI RODRIGUES HULSMEYER, 5MARIA ELENA MARTINS DIEGUES, 6LUCIANO SERAPHIM GASQUES
1Acadêmica Bolsista do PIBIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR3Coordenadora do curso de Nutrição da UNIPAR4Coordenadora do curso de Medicina da UNIPAR5Docente do curso de Medicina da UNIPAR
Introdução: A obesidade, doença de característica epidêmica, vem crescendo cada vez mais e representa, no Brasil, um dosmaiores desafios de saúde pública. Sua incidência distribui-se em quase todas as raças e sexos atingindo principalmente a faixaetária de 25 a 44 anos (BLUMENKRANTZ, 1997 apud FRANCISCHI et al., 2000). Segundo dados da Organização Mundial daSaúde, em 2010 havia pelo menos 2,6 milhões de mortes a cada ano devido ao excesso de peso da população (WHO, 2010).Essa prevalência relaciona-se com as mudanças no estilo de vida e o desequilíbrio entre o consumo excessivo de alimentoscalóricos ricos em gorduras e o gasto energético, bem como com a diminuição da atividade física cotidiana (MARQUES-LOPESet al, 2004). Outros fatores importantes na origem da obesidade são os fisiopatológicos e/ou genéticos que afetam de maneiraindependente o balanço energético. Os fatores genéticos têm sido considerados preponderantes, quando associado adeterminados estilos de vida, estimando-se uma variação no IMC de 40-70% proveniente de causa hereditária e/ou associada aoestilo de vida e 30% causadas por fatores culturais e sociais (MARTI et al., 2004). Essas alterações são responsáveis pordesencadear doenças cardiovasculares, osteoporose, hipertensão, diabete tipo 2, cânceres, doenças crônicas não transmissíveis(DCNT) ou mortalidade geral (CARVALHO et al., 2014). Diante do exposto, estudos mostraram a existência de genes queinterferem na manutenção do peso e gordura corporal estáveis, através de sua participação no controle de vias eferentes (leptina,nutrientes, sinais nervosos, entre outros), de mecanismos centrais (neurotransmissores hipotalâmicos) e de vias aferentes(insulina, catecolamina, sistema nervoso autônomo). Neste sentido, o balanço energético entre a energia ingerida e a energiagasta, pode depender de 40% da herança energética, afetando o apetite e o gasto de energia (MARQUES-LOPES et al., 2004).Vários mecanismos genéticos monogênicos estão envolvidos com o desenvolvimento da obesidade grave e hiperfagia. Asmutações que envolvem a via de sinalização da melanocortina incluem mutações no gene da leptina (COUTINHO, 2007), doreceptor da leptina, expressos em neurônios do hipotálamo, que participam do controle do equilíbrio energético e estimulam osneurônios produtores de proopiomelanocortina (POMC), os genes dos receptores da melanocortina (MC4R) que estão envolvidosdiretamente com o controle do apetite (FAROQUI, 2014) e o gene FTO (Fat Mass and Obesity Associated). O gene FTO éaltamente expresso no cérebro e no hipotálamo e atua no controle da ingestão alimentar e metabolismo corporal. Estudosidentificaram que pessoas portadoras do alelo A para o SNP rs9939609, são favoráveis para o acúmulo excessivo de gorduracorporal (LIMA; GLANER; TAYLOR, 2009).Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar a presença de mutações específicas do gene FTO associados aodesenvolvimento da obesidade através do sequenciamento do DNA.Materiais e métodos: a partir das fichas, dos últimos três anos, de pacientes da clínica de nutrição, foram identificados os queapresentam maior IMC (índice de massa corporal), dos quais 10 serão convidados a participarem da identificação de seugenótipo com relação ao gene FTO. Após a comunicação e consentimento dos voluntários selecionados, será coletado o sanguedos sujeitos da pesquisa. A extração de DNA será procedida através do kit QIAampR DNA Blood. O DNA recuperado seráutilizado para a amplificação com o primer 5 ́AACTGGCTCTTGAATGAAATAGGATTCAGA 3 ́ e 5ʻAGAGTAACAGAGACTACCAAGTGCAGTAC 3 ́ conforme descrito por Moraes (2014) e posteriormente enviado parasequenciamento, em laboratório prestador de serviço visando sequenciamento para análise de polimorfismo. Resultados e Discussão: Até o momento foi realizado a padronização da extração do DNA humano que se mostrou efetivo comDNA de alto peso molecular e com boa qualidade para amplificação. Encontra-se em curso a seleção dos pacientes com maioresIMCʻs, da clínica de nutrição da UNIPAR de Umuarama-PR, através do contato telefônico convidando-os para fazerem parte doestudo. O mesmo poderá participar voluntariamente caso se interesse pela pesquisa e esteja de acordo com o Termo deConsentimento Livre e Esclarecido e de acordo com a aprovação no CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) da Universidade
Paranaense. Após a identificação do genótipo do sujeito da pesquisa, o resultado será comunicado e orientado ao mesmo. Osprontuários dos sujeitos da pesquisa serão utilizados para correlação posterior com os dados sobre massa corporal ealimentação com o genótipo.Conclusão: Diante do exposto e até o presente momento foi possível selecionar os pacientes da clínica de nutrição da UNIPARde Umuarama-PR que se enquadram como sujeitos da pesquisa e padronizar a técnica de extração de DNA. As próximas etapassão a extração do DNA dos sujeitos da pesquisa e sequenciamento para análise dos polimorfismos do gene FTO.
ReferênciasCARVALHO, Kênia Mara Baiocchi; DUTRA, Eliane Said. Obesidade. In: CUPPARI, Lilian. Guia de nutrição: clínica no adulto. 3ed. Barueri, SP: Manole, 2014. p. 185.COUTINHO, Walmir. Etiologia da obesidade. Revista da ABESO, v. 30, n. 30, 2007.FAROQUI, Sadaf. EJE PRIZE 2012: Obesity: from genes to behaviour. European Journal of endrocrinology, v. 171, n. 5, p.R191-R195, 2014.FRANCISCHI, Rachel Pamfilio Prado et al. Obesidade: atualização sobre sua etiologia, morbidade e tratamento. Revista deNutrição, 2000.LIMA, William Alves; GLANER, Maria Fátima; TAYLOR, Aline Pic. Fenótipo da gordura, fatores associados e o polimorfismors9939609 do gene FTO. Revista brasileira de cineantropometria e desempenho humano, 2010. MARQUES-LOPES, Iva; MARTI, Amelia; MORENO-LIAGA, María Jesús; MARTÍNEZ, Alfredo. Aspectos genéticos da obesidade.Revista de nutrição, v. 17, n. 3, 2004. MARTI, Amelia; MORENO-ALIAGA, María Jesús; HEBEBRAND, J. ; MARTÍNEZ, J. A. Genes, estilos de vida e obesidade.Revista internacional de obesidade, 2004. MORAES, José Fernando Vila Nova. Associação entre nível de atividade física, nitrito salivar e fatores de riscocardiovascular em adolescentes portadores de variantes comuns dos genes FTO e ECA. 2014. 123 f. Tese (Doutorado emEducação Física) Universidade Católica de Brasília. Brasília, 2014.
IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES SOBRE QUEILITE ACTINICA COMOPRECURSORA DO CÂNCER BUCAL: REVISÃO DE LITERATURA
1MARIA RITA BARBOSA DE OLIVEIRA, 2JOAO CARLOS RAFAEL JUNIOR, 3GIOVANA LUNARDI, 4AMANDA CANALI,5STEFANIA GASPARI, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmico Bolsista do PEBIC / CNPQ1Acadêmico Bolsista do PEBIC / CNPQ2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Acadêmica do PIC / UNIPAR 5Docente da UNIPAR
Introdução: O câncer é uma grave doença, sendo considerada como um dos grandes problemas de saúde pública, tanto empaíses desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil (GUERRA; GALLO, 2005). Dentre os tiposmais prevalentes de câncer podemos citar o de boca. Existem alguns sinais que podem preceder ao aparecimento do câncerbucal, as denominadas lesões pré-malignas e são o primeiro sinal clínico do processo carcinogênico (LUCIO; BARRETO, 2012).Como exemplo pode-se citar a Queilite Actínica (QA) que se manifesta em lábios, sendo importante que todos os profissionaisestejam atentos, sejam capazes de realizar o diagnóstico desta lesão e de detectar o câncer bucal precocemente melhorando oprognóstico do paciente (SILVEIRA, et al, 2009).Objetivo: Este trabalho tem por objetivo revisar a literatura sobre QA e sua importância no diagnóstico precoce do câncer bucal.Desenvolvimento: As últimas estatísticas disponíveis no Instituto Nacional do Câncer (INCA) sobre a incidência da doença noBrasil são de 2018. Segundo esta estatística o INCA estimava que haveria cerca de 600 mil novos casos de câncer no Brasil.Pode-se inferir, a partir destes dados, como sendo um problema nacional de saúde pública, necessitando assim, de um olharmais criterioso e da implantação de medidas de prevenção e controle (INCA, 2018). O câncer de boca é o quinto tipo de câncermais prevalente no sexo masculino e o sétimo no sexo feminino. Com isso, podemos associar alguns fatores considerados comopredisponentes para o desenvolvimento do câncer oral, dentre eles pode-se citar o gênero, raça, idade, fatores biológicos eexposição à fatores de risco (ARNAUD, 2014). O CA de boca é mais comum em homens, leucodermas, com mais de 40 anos, eem relação ao local, pode-se citar língua e lábio, como as regiões mais afetadas. Além dos fatores predisponentes pode-se citaros fatores de risco, como: cigarro, álcool, exposição excessiva ao sol sem proteção. Além disso pode ocorrer o aparecimento daslesões pré-malignas, que são características, e frequentemente, podem preceder ao aparecimento do câncer bucal.Histologicamente, elas são consideradas como um tecido morfologicamente alterado, que aumenta as chances de desenvolveruma alteração maligna, quando comparado ao tecido normal (ARAUJO, 2012). Mas que não determina o desenvolvimento docâncer bucal. Dentre essas lesões, pode-se destacar a eritroplasia, leucoplasia e a queilite actínica. Regiões que tem atividadeseconômicas predominantemente agrárias, com grande número de trabalhadores rurais e agrários que se expõemconstantemente ao sol, além dos grandes traços da colonização europeia com prevalência de indivíduos leucodermas, grupomais suscetível a desenvolver a queilite, precisam contar com profissionais preparados para o diagnóstico precoce de lesõesmalignas. É necessária uma visão mais criteriosa sobre a queilite actínica, que é caracterizada como uma lesão crônica, análogaà ceratose actínica, causada principalmente por uma exposição excessiva à radiação ultravioleta, afetando principalmente o lábioinferior, indivíduos do sexo masculino, leucodermas e expostos ao sol. Clinicamente ela se manifesta como áreas ásperas,esbranquiçadas, de espessura variada, escamosas, com limites e contornos mal definidos, podendo ocorrer o desenvolvimentode pelos e áreas leucoplásicas com ou sem áreas eritematosas, edemas, crostas e bolhas (ARAUJO, 2012). Um importante sinalclínico é a perda a elasticidade do lábio, formato do contorno labial e enrijecimento do mesmo. A radiação ultravioleta sob oslábios gera uma elastose com alterações irreversíveis das fibras colágenas e promove o desenvolvimento atípico de célulasinflamatórias crônicas (ARNAUD, 2014). O diagnóstico precoce desta lesão, é fundamental e essencial para um bom prognóstico,sendo considerado através de estatísticas que cerca de 95% dos cânceres diagnosticados precocemente possuem um ótimoprognóstico, desta forma cabe aos profissionais da área de saúde ficarem atentos a todos os sinais que podem originá-la. Conclusão: Constata-se que é primordial que todos os integrantes da equipe multidisciplinar de saúde saibam, além dediagnosticar, passar medidas de prevenção a toda a população, principalmente em regiões predominantemente agrícolas, nasquais os trabalhadores se expõem muito ao sol.
Referências
ARAÚJO, Caliandra Pinto et al. Queilite actínica: um estudo de 35 casos com destaque para os aspectos morfológicos. RPG.Revista de Pós-Graduação, v. 19, n. 1, p. 21-27, 2012.ARNAUD, Rachel Reinaldo. Queilite actínica: avaliação histopatológico de 44 casos. Rev. Odontol. UNESP, v.43, n.6, p.384-389, nov./dez. 2014.GUERRA, Maximiliano Ribeiro; GALLO, Cláudia Vitoria de Moura. Riscos de câncer no Brasil: tendências e estudosepidemiológicos mais recentes. Rev. Bras. De Cancerologia, v.51, n.3, p.227-234, 2005.LUCIO, Priscilla Suassuna Carneiro; BARRETO, Rosimar de Castro. Queilite actínica-perfil da produção científica em odontologiano Brasil nos últimos dez anos. Rev. Cubana Estomatol., Ciudad de La Habana, v.49, n.4, p.276-285, 2012.SILVEIRA, Ericka Janine Dantas, et al. Lesões orais com potencial de malignização: Análise clínica e morfológica de 205 casos.J. Bras. De Patol. E Med. Lab., Rio de Janeiro, v.45, n.3, p.233-238, 2009.
O IMPACTO DAS SUBSTÂNCIAS FINAIS DA GLICAÇÃO AVANÇADA (AGEs) NO ENVELHECIMENTO CUTÂNEO
1TANIA DA COSTA CALACA , 2LARISSA FERNANDES HAMMES, 3MARISTELA DA SILVA, 4GABRIELY SANTOS MOSMANN,5RAFAELA BONJOUR DOS SANTOS, 6ARIANE BRANIZ
1Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética / UNIPAR1Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Estetica e Cosmetica da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O envelhecimento cutâneo é um processo que acontece naturalmente devido à redução da produção e degradaçãode fibras elásticas e colágenas, acarretando em flacidez e linhas de expressão, divididos em dois tipos: intrínseco, relacionadocom a genética do individuo, que gradualmente induz diminuição da produção de colágeno e elastina; e extrínseco ocasionadopela agressão do meio externo como exposição a raios ultravioletas, tabagismo, hábitos alimentares e de vida. A somatóriadesses fatores induz reações químicas, como produção de radicais livres ou da glicação (ALMEIDA, 2017).Objetivo: Fornecer subsídio teórico para sociedade sobre a importância do consumo de antioxidantes e ativos antiglicantes paraminimizar o processo do envelhecimento extrínseco.Desenvolvimento: A glicação é um grupo heterogêneo de moléculas que são formados a partir da reação não enzimática entreaçucares redutores, com agrupamento amino de proteínas, lipídeos e ácidos nucleicos, a interação de AGEs (Produtos finais daglicação avançada) com receptores celulares ativa processos pró-inflamatórios e pró- coagulantes que geram um estresseoxidativo e disfunção endotelial (SOBRAL, 2009). A glicação é uma das mais importantes e frequentes responsáveispelas modificações das proteínas. Está reação acontece progressivamente de maneira fisiológica durante o envelhecimento, masé intensa em condições de hiperglicemia e estresse oxidativo, com a glicação ocorre a formação de AGEs ou produtos finaisda glicação avançada (PFGA) que aceleram o envelhecimento cutâneo, devido à morte celular dos fibroblasto (BARBOSA,2008). Temos substâncias sintéticas e produtos naturais que agem como ativos antiglicantes. Um exemplo de substânciassintéticas é a metformina (ou Glifage) que é um medicamento comercial para o tratamento de diabetes tipo II. Além de reduzira glicemia, através da liberação hepática de glicose e aumento de sua captação nos tecidos periféricos, a metformina diminui aconcentração de MG(miligrama) no sangue. O ácido acetilsalicílico, ao contrário da metformina e da aminoguanidina, não reagecom os produtos da reação de glicação e sim com o grupo amino livre de biomoléculas. Assim, ao transferir um grupo acetilapara um resíduo de lisina, o ácido acetilsalicílico impede que ocorra a reação de glicação com a glicose (ALMEIDA et al.,2017). Já como produtos naturais, temos os extratos de plantas, frutas e vegetais, que apresentam atividade antidiabética,apresentaram também atividade antiglicante e contém bioativos como: terpenoides, por exemplo, o lupeol, e o ácidoursólico; flavonoides, como a apigenina e quercetina; fenilpropanóides, como o eugenol e derivados de cumarina; fenóis epolifenóis, como o ácido gálico e a epicatequina e vitaminas, como piridoxina, vitamina E e o ácido lipoico (ALMEIDA et al., 2017).Conclusão: O envelhecimento cutâneo ocorre de formas fisiológicas, porém existem alguns fatores que aceleram esse processode senescência, sendo um deles a glicação. É de suma importância a implementação de hábitos alimentares saudáveis, comoa redução da ingestão de açúcar e o consumo de vegetais e frutas que tem açãoantioxidante e bioativos antiglicantes.
ReferênciasALMEIDA, M. R.; MARTINEZ, S. T.; PINTO, A. C. Química de produtos naturais: Plantas que testemunha histórias. RevistaVirtual de Química, v. 9, n. 3, p. 1117-1153, 2017.Disponível em : http://rvq.sbq.org.br/imagebank/pdf/v9n3a17.pdf .Acesso em:09 agosto,2019.BARBOSA,H.P Júnia ; OLIVEIRA ,L Suzana : TOJAL, Luci: SEARA . O Papel dos Produtos Finais da Glicação Avançada (AGEs) no Desencadeamento das Complicações Vasculares do Diabetes. vol.52 no.6 São Paulo Aug. 2008 .Faculdade deNutrição da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió ,AL, Brasil. Disponível em :http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27302008000600005 .Acesso em :09 agosto,2019.SOBRAL, Amanda Nascimento. Fatores desencadeantes dos produtos finais da glicação relacionando com odesenvolvimento envelhecimento cutâneo. Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Disponível em:http://conic-semesp.org.br/anais/files/2017/trabalho-1000025100.pdf . Acesso em : 09 agosto,2019
CLAREAMENTO SEM GEL E COM LUZ UV: UMA NOVA TENDÊNCIA?
1MARIA RITA BARBOSA DE OLIVEIRA, 2NATALIA COQUEIRO SIQUEIRA, 3PALOMA CASTILHO CASAGRANDE, 4SABRINAPAIXAO DOS SANTOS RODRIGUES, 5JOAO CARLOS RAFAEL JUNIOR, 6KLISSIA ROMERO FELIZARDO
1Acadêmico Bolsista do PEBIC / CNPQ1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do PIC / UNIPAR 4Acadêmico Bolsista do PEBIC / CNPQ5Docente da UNIPAR
Introdução: Levando em consideração o uso da energia térmica como acelerador no processo de clareamento dos dentes,métodos de clareamento de consultório assistidos por luzes que proporcionam calor foram introduzidos na odontologia visandoobter resultados mais rápidos (ONTIVEROS, 2011). Entretanto, não há consenso na literatura sobre a eficiência do uso de luz naaceleração do processo de clareamento dental (GURGAN, et al., 2010), por outro lado constata-se um aumento na sensibilidadepelo aquecimento gerado pela luz (LAGO et al., 2013; MOGHADAM, 2013). Com tanta demanda e potencial de rentabilidade,existe uma corrida constante dentre as empresas a fim de criarem agentes de clareamento melhores e mais eficientes, e a buscapor métodos que diminuam ou eliminem a sensibilidade pós-operatória de acordo com as diretrizes de segurança e eficácia daAmerican Dental Association (ADA) (BURROWS, 2009). Como uma alternativa a esses incômodos, alguns pesquisadoresrecentemente propuseram o clareamento dental usando o sistema LED de luz violeta (comprimento de onda deaproximadamente 405-410nm), com ou sem o uso concomitante de géis clareadores.Objetivo: Este trabalho tem como objetivo mostrar a eficácia da utilização exclusiva de luz violeta no clareamento dental,comparando-a com o clareamento de consultório convencional, feito com o gel clareador a base de peróxido de hidrogênio 35%associado ao uso da luz violeta, através de levantamento bibliográfico nas bases de dados MedLine, Lilacs, MedLine via PubMede BVS, utilizando como palavras-chave clareamento dental , luzes de cura dentária e sensibilidade da dentina e ascorrespondentes em inglês, tooth bleaching , dentin sensitivity e curing lights dental .Desenvolvimento: A luz violeta coincide com o pico de absorção das moléculas de pigmento presentes na estrutura dental,interagindo seletivamente com elas e causando sua quebra em componentes menores e incolores através de um processo físico.A vantagem desse sistema é o rompimento da dependência do uso de géis clareadores, proporcionando a ausência desensibilidade pós-operatória, já que não há reação química. (ZANIN, 2016; LAGO et al., 2017; PANHOCA, 2017). As moléculasde pigmento presentes na dentina são fotorreceptoras, e, portanto, altamente reativas à luz. Suas cadeias são longas e comsequências de ligações químicas que deslocam elétrons, apresentando-se altamente susceptíveis a absorção de comprimentosde onda mais curtos, como a luz violeta (ZANIN, 2016; PANHOCA, 2017; LAGO et al., 2017; GALLINARI et al., 2018). Por outrolado, de acordo com o fabricante, para o clareamento sem o uso do gel, é necessário de quatro a dez sessões para obtenção deresultados satisfatórios, o que demanda um aumento no custo operacional. Gallinari et al., (2018) em um estudo laboratorial,comprovaram a eficácia perceptível do uso isolado da luz violeta em dentes bovinos, porém com menor efetividade secomparada ao uso concomitantemente com gel clareador. Lago et al., (2017) também encontraram resultados semelhantes, ondeum caso clínico ilustrou a mudança de cor de A3 para A1 (com base na Escala VITA Classical Shade Guide,Zahnfabrik,Germany), em três sessões, somente utilizando a mesma fonte de luz violeta. Panhoca (2017) encontrou os mesmosresultados ao publicar um caso clínico no qual em três sessões de clareamento utilizando o mesmo protocolo, a alteração de corfoi observada de C2 para A1 de acordo com a mesma escala de cor. Com base nos estudos de Bartholo et al., (2018) o usoexclusivo da luz violeta apresentou resultados clinicamente visíveis, porém, inferiores aos obtidos com a associação da luz e ogel clareador a base de Peróxido de Hidrogênio 35%. A mensuração da cor foi obtida através de espectrofotometria, tendo comomédia um Delta E (ΔE) em torno de 7,97. O ΔE=3,3 é tido na odontologia como limite para obtenção de uma mudança de corclinicamente perceptível (CHUNG et al., 1991). Sendo assim, os dentes que receberam o gel clareador associado ao LED violetaobtiveram média acima desse valor. Quanto aos resultados de sensibilidade dental, foi observado que os dentes clareadossomente com a luz violeta apresentaram baixos scores de sensibilidade, corroborando com os achados de Panhoca (2017) eLago et al., (2017).Conclusão: Diante do exposto, os estudos mostraram, que o clareamento dental feito exclusivamente com LED violetaapresenta menor efetividade de ação se comparado ao uso concomitantemente com gel clareador, porém não apresentasensibilidade dentinária como efeito colateral.
ReferênciasBURROWS, Stephen. A review of the efficacy of tooth bleaching. Dent. Update, v.36, n.9, p. 537-551, 2009.BARTHOLO, Natalia Rocha, et al. Clareamento dental exclusivo com luz violeta, uma realidade? Rep. Inst. UFSC, 2018.CHUNG, Moon Um; RUYTER, Ivar Eystein. Staining of resin-based veneering materials with coffe and tea. Quintessence Int.,v.22, n.5, p.377-386, 1991.GALLINARI, Marjorie de Oliveira; FAGUNDES, Ticiane Cestari. A new approach for dental bleaching using violet light eith orwithout the use of whitening gel: Studyof bleaching effectiveness. Oper. Dent., p. 1-9, jun. 2018.GURGAN, Sevil; CAKIR, Filiz Yalcin; YAZICI, Esra. Lasers Med. Sci., v.25, n.6, p. 817-822, 2010.LAGO, Andreia Dias Neves, et al. Microtensile bond strength of enamel after bleaching. Indian J. Dent. Res., v.24, n.1, p. 104,2013.LAGO, Andreia Dias Neves; FERREIRA, Winnie Dandara Rocha; FURTADO, Guilherme Silva. Dental bleaching with the use ofviolet light only: Reality or Future? Photodiagn. Photodyn., v.17, p. 124-126, 2017.MOGHADAM, Fatemeh Velayati, et al. The degree of color change, rebound effect and sensitivity of cleached teeth associatedwith at-homr and power bleaching techniques: A randomized clinical trial. Eur., v.7, n.4, p. 405, 2013.ONTIVEROS, Joe. In-office vital bleaching with adjunct light. Dent. Clin. N. Am., v.55, n.3, p. 241-253, 2011.ZANIN, Fatima. Recent advances in dental bleaching with laser and LEDs. Photomed. Laser Surg., v.34, n.4, p. 135-136, 2016.PANHOCA, Vitor Hugo, et al. Dental bleaching using violet light alone: Clinical case report. Dent., v.7, n.459, p. 2161-1122, 2017.
ACESSO ENDODÔNTICO MINIMAMENTE INVASIVO: NOVA TENDÊNCIA
1AMANDA CANALI, 2BIANCA RAUANE RIBEIRO FAVARO, 3GIOVANA LUNARDI, 4MARIA RITA BARBOSA DE OLIVEIRA,5NATALIA COQUEIRO SIQUEIRA, 6KLISSIA ROMERO FELIZARDO
1Acadêmica de Odontologia/Unipar 1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica bolsista do PEBIC/CNPQ4Acadêmica do curso de Odontologia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: As cavidades de acesso endodôntico convencionais são realizadas em linha reta, da câmara pulpar até chegar àentrada dos canais radiculares (GLUSKIN; PETERS; PETERS, 2014; YUAN et al., 2016). Esse modus faciendi, pode causarefeitos biomecânicos indesejáveis, aumentando o risco à fratura do elemento dentário, ao se desgastar estrutura dental com ointuito de facilitar a localização e instrumentação dos canais, bem como diminuir a probabilidade de erros no procedimento, o quepode promover um aumento da flexão de cúspides e possível aumento de tensões na raiz e coroa do elemento tratadoendodonticamente (MOORE et al., 2016). A endodontia minimamente invasiva vem quebrando paradigmas pré-estabelecidospela endodontia convencional, buscando manter o máximo possível de estrutura dentária saudável, o que se torna cada vez maisviável por meio do uso dos novos instrumentos de níquel-titânio e do uso cada vez mais frequente do microscópio eletrônicooperatório, possibilitando um melhor prognóstico (YUAN et. al., 2016).Objetivo: Este trabalho visa abordar as vantagens e desvantagens sobre o tratamento endodôntico minimamente invasivo,através de levantamento bibliográfico nas bases de dados MedLine, Lilacs, MedLine via PubMed e BVS, utilizando comopalavras-chave tratamento conservador , endodontia e acesso endodôntico minimamente invasivo e ascorrespondentes em inglês, conservativetreatment , endodontics e ConservativeEndodonticCavity .Desenvolvimento: O Acesso Endodôntico Tradicional (AET) é eficiente para a localização, mensuração, preparo químico-mecânico e obturação dos canais radiculares. Além de prevenir iatrogenias, tais como o desvio da anatomia original do canalradicular durante a instrumentação e a fratura de instrumentos endodônticos. Por outro lado, pode gerar enfraquecimento doelemento dentário (CAMARGO; JÚNIOR; FILHO, 2015; RUDDLE, 2015). O Acesso Endodôntico Minimamente Invasivo (AEMI)vem sendo descrito na literatura enfatizando a importância da preservação da dentina na região pericervical, com o intuito deelevar os índices de sucesso do tratamento restaurador. Essa dentina, localizada próxima à crista óssea alveolar, é responsávelpela transferência da carga oclusal para a raiz do elemento dental, e quando sua preservação é somada à incompleta remoçãodo teto da câmara pulpar, as chances de sucesso do tratamento restaurador aumentam (ROVER, 2017). Muitos autoresdefendem a preservação de estrutura dentária com a utilização da endodontia minimamente invasiva, já outros, defendem oacesso endodôntico convencional. Essa discordância se dá pelo fato de que os autores que defendem um acesso convencional,acreditam que o acesso conservador pode acarretar o comprometimento da instrumentação, o que vem sendo pregado pordiversas décadas na odontologia. Esse paradigma vem sendo quebrado devido principalmente pelo avanço tecnológico quepossibilitou o surgimento de instrumentais que não precisam necessariamente realizar sua função em linha reta, devido a sua altaflexibilidade, como os de Níquel-Titânio, permitindo preparos de acesso menos amplos, juntamente com o uso do microscópio(YUAN et. al., 2016). Alguns trabalhos trazem dados negativos sobre o AIME, comprometendo a localização de alguns canaisradiculares nos primeiros molares superiores quando não foi utilizado microscópio operatório associado ao ultrassom. Essa formade acesso endodôntico influenciou negativamente a instrumentação do canal palatino e não foi capaz de aumentar a resistência àfratura nos molares superiores (ROVER, 2017). Enquanto isso, outros, mostram que o AIME promove maior preservação deestrutura dentária sadia, se comparado com os preparos endodônticos convencionais, sendo capaz de promover o aumento daresistência a fratura, que pode promover a manutenção do elemento tratado em função na cavidade bucal à longo prazo. Dessaforma, se faz necessário o uso da tecnologia atualmente utilizada para o tratamento endodôntico para permitir o adequadoacesso aos canais radiculares (CAVALCANTE, 2017), contradizendo outras afirmações sobre a mesma técnica. Atualmente oacesso minimamente invasivo é indicado em casos onde se tem uma boa estrutura dental sem comprometimentos. Dentes queserão possíveis receber restaurações diretas, sem necessidade de preparos protéticos. Com o uso necessário de recursos eartifícios como o microscópio operatório e pontas de ultrassom específicas para endodontia para que se consiga agir comeficiência e segurança (GEORJUTTI; MOREIRA e FREITAS, 2017). Conclusão: De acordo com a análise do levantamento literário, pôde-se concluir que os preparos endodônticos minimamente
invasivos promovem maior preservação de estrutura dentária sadia, se comparado com os preparos endodônticos convencionais,sendo capaz de promover o aumento da resistência a fratura, que pode promover a manutenção do elemento tratado em funçãona cavidade bucal à longo prazo. Dessa forma, se faz necessário o uso da tecnologia atualmente utilizada para o tratamentoendodôntico para permitir o adequado acesso aos canais radiculares.
ReferênciasCAMARGO, José Mauricio Paradella et al. Acesso minimamente Invasivo. In: FILHO, M.S.H. Endodontia de vanguarda. SãoPaulo: Napoleão, v. 90, p. 80-111, 2015.CAVALCANTE, Isabelly de Oliveira. Endodontia minimamente invasiva: Existem vantagens nesse tipo deabordagem? Orientador: Dr. Juan Ramon Salazar Silva. 2017. Monografia (Graduação) Universidade Federal da Paraíba/Coordenação de Ciências Sociais, João Pessoa, 2017.GEORJUTTI, Renata Pereira; MOREIRA, Rayane Luiza; FREITAS, Heloisa Leão. Cirurgia de acesso endodônticominimamente invasiva: critérios de indicação para sucesso clínico. Revista Eletrônica da Reunião Anual de Ciência, v. 7, n.1, 2011. Disponível em: http://www.computacao.unitri.edu.br/erac/index.php/e-rac/article/view/762/688. Acesso em: 18 ago. 2019.GLUSKIN, Alan ; PETERS, Christine ; PETERS, Ove. Minimally invasive endodontics: challenging prevailing paradigms. BrasilianDental Journal, v. 216, n. 6 , p. 347-53, mar., 2014.MOORE, Brent et al. Impacts of Contracted Endodontic Cavities on Instrumentation Efficacy and Biomechanical Responses inMaxillary Molars. Journal Endodontics, v. 42, n. 12, p. 1779-1783, dec., 2016.ROVER, Gabriela. Influência do acesso endodôntico minimamente invasivo na localização dos canais radiculares: eficáciada instruemntação e resistência à fratura de molares superiores. Orientadora: Profa. Dra . Cleonice da Silveira Teixeira. 2017.Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina/ Centro de Ciências da Saúde, Florianópolis, SC, 2017. RUDDLE, Clifford. Endodontic Triad for Success: The Role of Minimally Invasive Technology. Dentistry Today, v. 34, n. 5, p. 78-80, may, 2015.YUAN, Keyoung et al. Comparative evaluation of the impact of minimally invasive preparation vs. conventional straight- linepreparation on tooth biomechanics: a finite element analysis. European Journal Oral Science, v. 124, n. 6, p. 591-596, dec,2016.
GRANULOMA PIOGÊNICO EM LÁBIO INFERIOR - RELATO DE CASO
1JOAO VICTOR LOSS, 2BRUNA LUISA KOCH MONTEIRO, 3ARACELLYS MENINO MELO, 4ANA CLAUDIA POLETTO,5LETICIA DE FREITAS CUBA GUERRA
1Acadêmico do Curso de Odontologia UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia UNIPAR3Docente da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O granuloma piogênico é uma lesão inflamatória hiperplásica da pele encontrada comumente na cavidade bucal quese assemelha com um tumor, porém, não é proveniente de natureza neoplásica, considerando-se que a etiologia do granulomapiogênico é multifatorial com a associação trauma, irritação local e má higiene bucal (MORAES, S.H. A. et al., 2013). Seutamanho pode ser bem variado podendo se apresentar em milímetros ou centímetros, caracterizando-se como nódulo ou pápulaindolor, ou também como uma lesão exofidica séssil ou pediculada (KERR DA et al., 1951) de fácil sangramento em função daalta vascularização, podendo ter áreas ulceradas na superfície. A coloração varia de rósea semelhante a mucosa ouavermelhada (NEVILLE, B. W. et.al., 1998). A sua localização está distribuída em sítios gengivais em mais de 80% dos casos(Zain, R.B. et al., 1995), mas também são encontrados em mucosa labial superior ou inferior, possui mais predileção por criançase adultos jovens sendo mais predominante no sexo feminino, possivelmente na decorrência de alterações hormonais, estápresente em 5% das mulheres grávidas, por isso chamado também de granuloma gravídico (Souza, Y. T. C. S. et al., 2000). Opresente trabalho tem como objetivo apresentar o relato de um caso clínico de granuloma piogênico em mucosa labial inferiordiagnosticado e tratado na clínica da Disciplina de Diagnostico Bucal da UNIPAR Campus Francisco Beltrão.Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 45 anos, procurou atendimento com queixa bola na boca que surgiu apósmordiscação em função de um procedimento odontológico em que foi anestesiado há cerca de 35 dias. Na história médica, referedislipidemia em tratamento médico, nega outras comorbidades. Ao exame físico intrabucal, observa-se lesão nodular em mucosalabial inferior direita, na região dos dentes 41 e 42, medindo 7mm, de coloração avermelhada com áreas esbranquiçadas. Foramconsiderados como hipóteses diagnosticas granuloma piogênico, hiperplasia fibroepitelial e mucocele. Solicitou-se exames pré-operatórios que não demonstraram alteração, sendo assim, realizou-se biópsia excisional da lesão. O laudo anatomopatológicodescreveu epitélio escamoso estratificado, tecido de granulação com proliferação de vasos sanguíneos e infiltrado inflamatóriomisto, confirmando a hipótese de granuloma piogênico.Discussão: Essa lesão é, normalmente, caracterizada por acometer pacientes do gênero feminino, em uma faixa etária de 11 a40 anos, cuja média de idade segundo (AVELAR, et al., 2008), mas como podemos observar no relato de caso apresentado podeser encontrado no sexo masculino também. Consoante (Tommasi, A. F. et al., 2002) o granuloma piogênico ocorre maisfrequentemente na região anterior da maxila do que na mandíbula, mais especificamente na gengiva, entretanto caso relatadoapresentou-se na região de lábio inferior. Um dos principais fatores associados à etiopatogenia da lesão é a ocorrência de traumaanterior ao aparecimento da doença, no caso o paciente relatava a mordiscação no local. (NEVILLE, B. W. et al., 1998). Em umavisão histopatológica, a lesão comumente apresenta epitélio escamoso estratificado ulcerado, tecido de granulação comnumerosos capilares, revestidos por endoteliócitos, presença de exsudato fibrinoso, e células do infiltrado inflamatório (linfócitos,plasmócitos, histiócitos e neutrófilos) e inúmeros fibroblastos (CAMPOS, V. et al., 2000).Conclusão: considerando a frequência pouco comum de granuloma piogênico no lábio inferior, este relato de caso enfatiza aimportância de o cirurgião-dentista ter conhecimento sobre essas lesões, a fim de fornecer ao paciente um diagnóstico apurado etratamento adequado. O seu manejo e tratamento consiste na biopsia excisional cirúrgica conservadora removendo todo o tecidodesejado, remoção do fator traumático local, controle do biofilme e instrução de higiene, que são medidas usualmente curativaspara evitar que tenha recidivas de granuloma, a excisão deve ser um pouco mais profunda que a área do granuloma a fim deremover qualquer fonte de irritação contínua, mas possui uma desvantagem que após a excisão cirúrgica pode-se ficar com acicatriz da biopsia e deixar sequela estética. O tratamento geralmente é eficaz, mas ocasionalmente as lesões recidivam, comorelatado em 16% dos casos (Giorgi, V.P. et al., 2005), assim os pacientes devem permanecer em acompanhamento periódico.
ReferênciasAVELAR, R. L. et al. Granuloma piogênico oral: um estudo epidemiológico de 191 casos. RGO, v. 56, n. 2, p. 131-5, 2008.CAMPOS, V. et al. Granuloma piogênico: descrição de dois casos clínicos. JBP, j. bras. odontopediatr. odontol. bebê, v. 3, n.
12, p. 170-5, 2000.FORTES, T. M. V. et al. Estudo epidemiológico de lesões proliferativas não neoplásicas da mucosa oral análise de 20anos. Brazilian Dental Science, v. 5, n. 3, 2002.GIORGI, V.P. A 42-year-old man with a rapidly growing lesion of the soft palate. CMAJ. 2005;173:367. 17. Sanchez J. G.VILLAROEL, M., Lopes-Labady J. M. A.KERR, D.A. Granuloma pyogenicum. Oral Surg Oral Med Oral PATHOL. J Oral Maxillofac Patho. 1951; 4(2): 158-76.MORAES, S. H. et al. GRANULOMA PIOGÊNICO: RELATO DE CASO CLÍNICO. Revista Gestão & Saúde, Curitiba, v. 9, n. 2,p.12-19. 2013.NEVILLE, B. W.; DAMM, D. D.; ALLEN, C. M.; BOUQUOT, J. E. Patologia oral e maxilofacial. Rio de Janeiro: Guanabara, 1998.p.60-62.SOUZA, Y. T. C. S., COELHO, C. M. P., BRENTEGANI, L. G., VIEIRA, M. L. S. O., OLIVEIRA, M. L. Avaliação clínica ehistológica de granuloma gravídico: relato de caso. Braz Dent J 2000; 11:135-9.TOMMAZI, A.F. Diagnóstico em patologia bucal. 3ª ed. São Paulo: Pancast Editora; 2002.ZAIN, R. B., KHOO, S.P., YEO, J. F. Oral pyogenic granuloma (excluding pregnancy tumour): a clinical analysis of 304 cases.Singapore Dent J. 1995;20(1):8-10.
TITULO: O PAPEL DO ENERMEIRO NA ASSISTENCIA DE GESTANTES DE ALTO RISCO COM DIAGNOSTICO DE DHEG:REVISÃO DE LITERATURA
1ISABELA DELLA BELLA MORAES, 2TOANE CAMILA LEME GOMES
1Acadêmica Enfermagem UNIPAR 1Docente da UNIPAR
Introdução: Durante a gestação a mulher fica sujeita a inúmeras complicações que podem ser prejudiciais tanto para ela quantopara o bebe, dentre esses fatores o mais comum e com maior índice de mortalidade materna é a Doença Hipertensiva Especificada Gestação (DHEG) (ROLIM et al., 2014). A DHEG é diagnosticada quando a mãe apresenta níveis pressóricos igual ou acimade 140/90 mmHg e é considerada pré-eclampsia quando surge após a 20 semana de gestação, inicialmente na atenção primariao profissional fará o acolhimento da gestantes detecção de problemas pré existentes e fatores de risco, para assim traçarestratégias de intervenção, evitado complicações durante e após o parto (THULER et al., 2018).Objetivo: Demonstrar a importância da assistência prestada pela enfermagem durante um pré natal. ouOferecer acompanhamento de qualidade as gestante com o intuito de reduzir a mobimortalidade materno fetal por DHEG.Desenvolvimento: A elevação da pressão sanguínea tem efeitos negativos para a mãe e bebe durante o ciclo gravídico,gestantes que apresentam elevações pressóricas igual ou maior que 140/90 mmHg são consideradas pacientes com DHEG,estas geralmente apresentam sobrepeso e IMC elevado (MARTINEZ et al., 2014).Mulheres que apresentam hipertensão após a 20 semana de gestação associada a proteinúria de 24h igual ou acima de 0,3g sãoconsideradas com pré-eclâmpsia, podendo evoluir para eclâmpsia, todos os anos cerca de 12% dos óbitos maternos sãocausados por pré-eclâmpsia (SILVA JUNIOR et al, 2016).Com a pressão arterial elevado a gestante deve ficar em alerta, pois, alem dos malefícios causados a ela pode acarretar danosao bebe como prematuridade, baixo peso relacionado a idade gestacional e apgar inferior a sete no primeiro quino minuto pósparto (BEZERA; CARVALHO; BRITO. 2013).A hipertensão identificada precocemente pelo profissional enfermeiro contribui para uma assistência eficaz, tomando medidas decontrole e prevenção, diminuindo as chances de evoluir para intercorrencias mais graves, assegurando a gestante para quetenha um parto mais seguro e tranqüilo (ROLIM et al., 2014).A melhor forma de prevenir a DHEG e orientar a gestante sobre estilo de vida saudável, mudança de comportamento, controle dopeso, evitar situações estressantes, realizar atividades físicas, alimentação correta, encorajá-la a participar de campanhaseducativas e manter o acompanhamento de pré natal com a equipe de saúde (THULER et al, 2018).Conclusão: O estudo leva a concluir que um acompanhamento de pré natal de qualidade com equipe multidisciplinar, um bomacolhimento e orientação da gestante contribui com a freqüência as consultas, facilitando a identificação prévia de intercorrenciacomo a DHEG, evitando morte materna.
ReferênciasBEZERRA, A. K. O. F.; CARVALHO, J. B. L.; BRITO, R. S. Sentimentos vivenciados pelo homem frente à gravidez dacompanheira acometida por síndromes hipertensiva. J. res. fundam. Care, v. 5, n. 4, p. 485-492, 2013. Disponível em:https://bit.ly/2YeAePB. Acesso em: 12 de Junho de 2019.MARTINEZ, N. F.; et al. Características clinicas e laboratoriais de gestantes com pré-eclampsia versus hipertensão gestacional.Rev Bras Ginecol Obstet, Ribeirão Preto SP, 2014. Disponível em: https://bit.ly/2YwgeEe. Acesso em: 12 de Junho de 2019.ROLIM, K. M. C.; et al. Agravos a saúde de recém-nascidos relacionados à doença hipertensiva da gravidez: conhecimento daenfermeira. Rev Enferm Atenção Saúde, v. 3, n. 2, p. 19-28, 2014. Disponível em: https://bit.ly/2Zb6pMn. Acesso em: 12 deJunho de 2019.SILVA JUNIOR, G. S.; et al. Avaliação de alterações urinarias e função renal em gestantes com hipertensão arterial crônica. JBras Nefrol, vol. 38, n. 2, p. 191-202, São Paulo SP, 2016. Disponível em: https://bit.ly/2TXCBEa. Acesso em: 11 de Junho de2019.THULER, A. C. M. C.; et al. Medidas preventivas das síndromes hipertensivas da gravidez na atenção primaria. Rev enfermUFPE on line, v. 12, n. 4, p. 1060-1071, Recife PE, 2018. Disponível em: https://bit.ly/32ZA8dm. Acesso em: 12 de Junho de2019.
ENDOCARDITE INFECCIOSA: UMA REVISÃO DE DADOS COM BASE NO DATASUS NOS ANOS 2000 A 2017 NO ESTADODO PARANÁ
1SUELEN STEFANONI BRANDAO, 2LUCIANA LOPES GUTIERREZ BARTOLLI, 3DANIELA DE CASSIA FAGLIONI BCERANTO
1Acadêmica bolsista PIBIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: A Endocardite Infecciosa caracteriza-se por um processo contaminante na superfície do endocárdio envolvendo asvalvas cardíacas. Pode ser fatal quando não tratada. Essa patologia inicia-se por uma bacteremia e tem relação com diferentesfatores de risco do paciente, podendo apresentar complicações cardíacas, sistêmicas, imunes e vasculares (JUNIOR, 2010). Ainfecção frequentemente produz vegetações, que são estruturas compostas de plaquetas, fibrina e microrganismos (BARBOSA,2004).Objetivo: O presente artigo tem por objetivo fazer uma análise de dados sobre endocardite infecciosa nos anos 2000 a 2017 noEstado do Paraná.Desenvolvimento: A Endocardite Infecciosa (EI) é mais comum na forma bacteriana mais pode ser causada por outros tipos demicroorganismos, como fungos. Apresenta-se de forma aguda ou subaguda. A aguda originando-se pela entrada direta nacorrente sanguínea por microorganismos. A subaguda, pela introdução de microorganismos na corrente sanguínea durante arealização de procedimentos odontológicos em pacientes de risco (ROCHA, 2010). O diagnóstico da EI baseia-se nos critériosmodificados de Duke: associação de sinais clínicos como febre e sopro em portador de cardiopatia de risco, positividade dehemoculturas por agentes etiológicos frequentes e alterações ecocardiográficas (SOBREIRO, 2019). De acordo com os dados doDATASUS categoria CID 10: a endocardite aguda e subaguda nos anos citados causou 682 óbitos no Estado do Paranádistribuídos da seguinte maneira: Ano 2000, região Leste: 22 óbitos, região Norte: 7 óbitos, região Oeste 2 óbitos; regiãoNoroeste 2 óbitos, totalizando 33 óbitos. Ano 2001, região Leste 21 óbitos, região Norte 2 óbitos, região Oeste nenhum óbito,região Noroeste 3 óbitos, totalizando 26 óbitos. Ano 2002, região Leste 23 óbitos, região Norte 7 óbitos, região Oeste 4 óbitos,região Noroeste 3 óbitos, totalizando 37 óbitos. Ano 2003, região Leste 30 óbitos, região Norte 5 óbitos, região Oeste 3 óbitos,região Noroeste 2 óbitos, totalizando 40 óbitos. Ano 2004, região Leste 17 óbitos, região Norte 4 óbitos, região Oeste 4 óbitos,região Noroeste 3 óbitos, totalizando 28 óbitos. Ano 2005, região Leste 29 óbitos, região Norte 3 óbitos, região Oeste 2 óbitos,região Noroeste 1 óbito, totalizando 35 óbitos. Ano 2006, região Leste 24 óbitos, região Norte 2 óbitos, região Oeste 5 óbitos,região Norte 7 óbitos, totalizando 38 óbitos. Ano 2007, região Leste 25 óbitos, região Norte 8 óbitos, região Oeste 3 óbitos, regiãoNoroeste 4 óbitos, totalizando 40 óbitos. Ano 2008, região Leste 13 óbitos, região Norte 6 óbitos, região Oeste 4 óbitos, regiãoNoroeste 1 óbito, totalizando 24 óbitos. Ano 2009, região Leste 25 óbitos, região Norte 5 óbitos, região Oeste nenhum óbito,região Noroeste 8 óbitos, totalizando 38 óbitos. Ano 2010, região Leste 27 óbitos, região Norte 9 óbitos, região Oeste 9 óbitos,região Noroeste 6 óbitos, totalizando 51 óbitos. Ano 2011, região Leste 28 óbitos, região Norte 8 óbitos, região Oeste 7 óbitos,região Noroeste 5 óbitos, totalizando 48 óbitos. Ano 2012, região Leste 26 óbitos, região Norte 6 óbitos, região Oeste 5 óbitos,região Noroeste 5 óbitos, totalizando 42 óbitos. Ano 2013, região Leste 17 óbitos, região Norte 8 óbitos, região Oeste 4 óbitos,região Noroeste 3 óbitos, totalizando 32 óbitos. Ano 2014, região Leste 20 óbitos, região Norte 11, região Oeste 7 óbitos, regiãoNorte 4 óbitos, totalizando 42 óbitos. Ano 2015, região Leste 25 óbitos, região Norte 12 óbitos, região Oeste 5 óbitos, regiãoNoroeste 6, totalizando 48 óbitos. Ano 2016, região Leste 16 óbitos, região Norte 3 óbitos, região Oeste 9 óbitos, região Noroeste7 óbitos, totalizando 35 óbitos. Ano 2017, região leste 27 óbitos, região Norte 8 óbitos, região Oeste 7 óbitos, região Noroeste 3óbitos, totalizando 45 óbitos. De forma geral foram registrados 415 óbitos na região Leste, 114 na região Norte, 80 na regiãoOeste e 73 na região Noroeste.Conclusão: O número de óbitos no referido período foi de 682 casos, ficando a região Leste com o maior deles, seguida pelaregião Norte, Oeste e Noroeste, a enfermidade é uma emergência infecciosa e, portanto, o tratamento não deve ser proteladotendo em vista que a sua incidência não tem diminuído nos últimos anos.
ReferênciasBARBOSA, Marcia M. Endocardite infecciosa: perfil clínico em evolução. Arq. Bras. Cardiol., São Paulo, v. 83, n. 3, p. 189-190,Sept. 2004.CAVEZZI JUNIOR, Orlando. Endocardite infecciosa e profilaxia antibiótica: um assunto que permanece controverso para aodontologia. RSBO (Online), v. 7, n. 3, p. 372-376, 2010.
ROCHA, Larissa Michelle Alves et al. Conhecimentos e condutas para prevenção da endocardite infecciosa entre cirurgiões-dentistas e acadêmicos de odontologia. Revista Odontológica do Brasil Central, v. 17, n. 44, 2010. SOBREIRO, Daniely Iadocico et al. Diagnóstico Precoce da Endocardite Infecciosa: Desafios para um Prognóstico Melhor. Arq.Bras. Cardiol., São Paulo, v. 112, n. 2, p. 201-203, fev. 2019.Ministério da Saúde. DATASUS. http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10pr.def. Acesso: 21/08/2019
TERAPIA FOTODINÂMICA COMO AUXILIAR AO TRATAMENTO PERIODONTAL - REVISÃO DE LITERATURA
1BRUNA LUISA KOCH MONTEIRO, 2ARACELLYS MENINO MELO, 3JOAO VICTOR LOSS, 4LARISSA GALVAN VALANDRO,5LETICIA ANTONELO CAMPOS
1Acadêmica do curso de odontologia - UNIPAR - Francisco Beltrão1Acadêmica do Curso de odontologia - UNIPAR - Francisco Beltrão2Acadêmico do Curso de Odontologia - UNIPAR:- Francisco Beltrão3Acadêmica do Curso de Odontologia -UNIPAR - Francisco Beltrão4Docente do curso de Odontologia - UNIPAR - Francisco Beltrão
Introdução: A Terapia fotodinâmica é uma reação fotoquímica associada a uma substância fotossensibilizante, uma fonte de luze oxigênio. O Laser é um dispositivo que fornece radiação eletromagnética, sendo segmentado em três categorias básicas: laserde alta, média e baixa intensidade. O Laser de baixa intensidade tem finalidade terapêutica por ser altamente analgésico, anti-inflamatório, bactericida e proporcionar bioestimulação tecidual. Seu mecanismo de ação consiste nos fotorreceptores darespiração celular absorverem o comprimento de onda desse equipamento. Por sua vez, ele aumenta o metabolismo das célulase atua no reparo e cicatrização tecidual, auxiliando na formação da matriz extracelular para a produção de um novo tecido, tendoum papel fundamental como auxiliar a terapia periodontal básica (SILVA et al., 2017) (LENHARO et al., 2006).Objetivo: Por meio de uma revisão de literatura avaliar o uso da terapia fotodinâmica como auxiliar ao tratamento periodontalnão-cirúrgico.Desenvolvimento: A doença periodontal crônica é uma desordem inflamatória causada por microrganismos do biofilmedental que podem levar à destruição do ligamento periodontal e do osso de suporte adjacente, ao aumento patológico daprofundidade do sulco gengival e, consequentemente, à formação de bolsa periodontal e perda de inserção. O tratamentoconvencional dessa patologia é realizado pela raspagem e alisamento radicular, sendo a intervenção cirúrgica e a terapiaantimicrobiana indicadas apenas em casos específicos (BARROS et al., 2008). Entretanto, o advento de outras opções eficazespara a terapia periodontal é necessário devido à existência de limitações de acesso a áreas de furcas, concavidades, sulcos,sítios distais de molares e bolsas profundas encontradas durante a terapia periodontal convencional. Verificou-se que paraacelerar a cicatrização e diminuir micro-organismos presentes na doença periodontal, o laser mais indicado é de HeNe (623.8nm)e os de diodo GaAlAs ou GaAs (635 à 904nm) (LENHARO et al., 2006). Nesse comprimento de onda é possível a estimulação damicrocirculação local e drenagem dos micro-organismos pelo fluido gengival. Os bacilos são antecipadamente sensibilizados comcorante e em seguida é emitido luz laser, há formação de radicais orgânicos que possibilita a lise bacteriana, o que minimiza aquantidade de bactérias periodontopatogênicas principalmente em sítios de difícil acesso. Não obstante, pelo estímulo dasíntese de DNA, os fibroblastos são induzidos a inibir a PGE2, que é a prostaglandina responsável por conduzir a inflamação e areabsorção óssea. Sendo assim, pelo seu poder reparador e de controle da inflamação, esse tratamento atua na melhora do nívelde inserção clínica pela reconstituição do cemento, ligamento periodontal e dos tecidos de suporte. A terapia fotodinâmica comouma alternativa para o tratamento com antibióticos vem se tornando cada vez mais importante devido ao aumento da resistênciaaos antibióticos, de acordo com a Academia Americana de Periodontologia (BARROS et al., 2008) (OLIVEIRA et al., 2018). Conclusão: Percebeu-se que a terapia fotodinâmica atua como um tratamento coadjuvante e não invasivo, seguro e sem efeitoscolaterais se utilizado de forma correta.
ReferênciasBARROS, Fabiana Cervo de, et al. Laser de baixa intensidade na cicatrização periodontal. R. Ci. méd. biol. Salvador, v.7, n.1, p.85-89, jan./abr. 2008.LENHARO, Caroline Prestes, et al. Atuação dos lasers terapêuticos em periodontia. Revisão de literatura. Revista deOdontologia da Universidade Cidade de São Paulo. v. 18, n. 3, p. 281-286, set-dez. 2006.OLIVEIRA, Fabiana Aparecida Mayrink de, et al. Indicações e tratamentos da laserterapia de baixa intensidade na odontologia:uma revisão sistemática da literatura. HU Revista, Juiz de Fora, v. 44, n. 1, p. 85-96, jan./mar. 2018.SILVA, Stefanne Carolynne Pereira, et al. Os efeitos da laserterapia no tratamento periodontal. Revista de OdontologiaContemporânea - ROC. V. 1, n. 1, Outubro 2017.
A ENFERMAGEM FRENTE AOS SINAIS E SINTOMAS DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM)
1CLAUDIO JEAN RODRIGUES, 2HENRICH HYORDAN RODRIGUES DUTRA, 3NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA
1Discente do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) pode ser desencadeado pela interrupção do aporte sanguíneo arterialocasionado por coágulos que podem ocasionar dor ou desconforto no peito, acompanhado de tontura, falta de ar, aumento defrequência cardíaca, náusea e vomito, sudorese, palidez e/ou mal-estar súbito (THYGESEN et al., 2012, p. 7). O IAM é umacondição que pode provocar danos e até mesmo a morte quando não diagnosticada e controlada, podendo atingir pessoas emqualquer faixa etária, especialmente aqueles entre 40 a 60 anos (SILVA, 2018). Os principais fatores de risco são tabagismo,hipertensão, colesterol alto, diabetes, histórico familiar de infarto, obesidade, estresse, entre outros (AVEZUM, PIEGAS,PEREIRA, 2005). O IAM é a doença que mais causa óbito no Brasil por ser uma ocorrência súbita. De acordo com a base dedados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), ocorrem em média mais de 100 mil óbitos porano (BRASIL, 2014). Sendo assim, é necessário atendimento assim que o paciente dá entrada em centros de saúde, porapresentar uma ameaça à vida. Dessa forma, reconhece a necessidade do atendimento pelos enfermeiros nas Unidades Básicasde Saúde e nas Instituições Hospitalares na Urgência e Emergência, na recuperação e manutenção de saúde no pacienteinfartado por meio de uma assistência de qualidade (PEIGAS et al., 2015).Objetivo: Identificar a importância do enfermeiro frente aos sinais e sintomas de IAM. Desenvolvimento: O infarto agudo do miocárdio se classifica em cinco tipos dependendo da área atingida, como Tipo 1 que está relacionado a isquemia coronariana primária; Tipo 2 é resultado de causas secundárias, geralmente relacionadas adesigualdade entre a oferta e demanda de oxigênio; o Tipo 3 está relacionado a morte súbita cardíaca, a do Tipo 4 pode serresultado de uma complicação de angioplastia coronariana percutânea ou de infarto e a do Tipo 5, está relacionado à cirurgia derevascularização do miocárdio (THYGESEN et al., 2012). Estima-se que a maioria das mortes por IAM ocorre nas primeiras horasapós a manifestação dos sintomas dependendo o tipo de IAM sendo, em suma maioria, 40 a 65% na primeira hora e,aproximadamente, 80% nas primeiras 24 horas, justificando o atendimento imediato, por apresentar uma ameaça à vida (PEIGASet al., 2015). Segundo Borba et al. (2018, p. 3) a equipe de saúde deve agir com perspicácia e coerência, para que umaconduta adequada seja realizada prontamente. Frente ao paciente com clínica sugestiva de IAM , deve ser encaminhado paraconsulta médica imediata. Para tanto é de extrema importância que os profissionais de saúde estejam capacitados a manejarpacientes que apresentem com sintomatologia para IAM. O enfermeiro como primeiro profissional a entrar em contato com opaciente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas instituições hospitalares, deve ter competência técnico-científica parareconhecimento dos sinais e sintomas de IAM e em sequência encaminha-los para avaliação médica, seguindo os protocolosestabelecidos (TEIXEIRA et al., 2015). Cabe ainda ao enfermeiro participar diretamente da assistência a esses pacientes,auxiliando na realização de eletrocardiograma, administração de medicamentos prescritos, avaliação dos sinais vitais e do estadode consciência, entre outros, fornecendo as devidas orientações quanto aos procedimentos a serem realizados (RIBEIRO et al.,2016). Conclusão: Considerando que o IAM é uma situação grave e com alto índice de ocorrência e mortalidade, torna-se necessárioque os enfermeiros estejam aptos para identificar os sinais e sintomas típicos da pessoa infartada, para tanto, os mesmosdevem apresentar conhecimento, organização, agilidade, competência, entre outros, especialmente para estabelecer prioridadesna assistência.
ReferênciasAVEZUM, A.; PIEGAS, L. S.; PEREIRA, J. C. R. Fatores de Risco Associados com Infarto Agudo do Miocárdio na RegiãoMetropolitana de São Paulo. Uma Região Desenvolvida em um País em Desenvolvimento. Arquivos Brasileiros deCardiologia, v. 84, n. 3, mar. 2005.BORBA, L. P. et al. Infarto Agudo do Miocárdio. [online]. 2018. em: http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/883010/07-iam.pdf.Acesso em: 12 de maio 2019.BRASIL. Infarto agudo do miocárdio é primeira causa de mortes no País, revela dados do DATASUS. [online]. Publicadoem 10/11/2014. Disponível em: http://datasus.saude.gov.br/noticias/atualizacoes/559-infarto-agudo-do-miocardio-e-primeira-causa-de-mortes-no-pais-revela-dados-do-datasus. Acesso em: 12 de maio 2019.PIEGAS, L. S. et al. V Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com
Supradesnível do Segmento ST. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 105, n. 2, p. 1-105, 2015.RIBEIRO, K. R. A. et al. Conhecimento do Infarto agudo do miocárdio: implicações para assistência de enfermagem. Revista deenfermagem UFPI, v. 5, n. 4, p. 63-68, out./dez. 2016.SILVA, M. G. Perfil dos indivíduos admitidos com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio no hospital municipal deAriquemes Rondônia Região Amazônica. 2018.64f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharel em Fisioterapia) - Faculdade de educação e meio ambiente, 2018.TEIXEIRA, A. F. J. et al. Atuação da equipe de enfermagem no atendimento de emergência ao paciente com infarto agudo domiocárdio. Revista Fafibe, v. 8, n. 1, p. 300-309, 2015.THYGESEN, K. et al. ESC Committee for Practice Guidelines. Third universal definition of myocardial infarction. European heartjournal, v. 3, n. 20, p. 2551 2567, 2012.
EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO NA REDUÇÃO DA DOR LOMBAR
1DIEGO SHINKADO SILVA, 2PAULO GUILHERME PEREIRA APOLONIO, 3VITOR HUGO RAMOS MACHADO
1Discente de Fisiologia do Exercício, PÓS/UNIPAR1Discente de Fisiologia do Exercício, PÓS/UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: As dores lombares é uma queixa muito comum da população em geral. E má postura, desequilibrios osseos, falta deflexibilidade e inatividade fisica musculares que geram instabilidade no quadril e regiao lombar são apontados como principaisfatores para geração de dor (RENKAWITZ,2006). Logo o exercicio fisico vem sendo apontado como uma eficaz forma deintervenção, mas quais seriam os metodos de treinamento mais eficazes para tratar essa sindrome.Objetivo: Analisar os efeitos do treinamento físico de força e alongamento na redução de dores lombares.Desenvolvimentos: Vícios posturais aliados a fraqueza muscular e patologias estão sendo apontados como principais fatoresintervenientes para ocorrência de dores lombares (KLEINPAUL,2009). Alguns estudos relatam a redução de dores lombares comintervenção do exercício físico, mas não exemplificam o método mais eficaz para tratar a mesma, alem de relatos de exercícioespecífico como agachamento livre que se tem relatos de agravamento temporário da dor após a realização do treino em si. Autilização de exercícios contra resistência, se realizados de forma adequada, proporcionam um excelente meio de fortalecimentodos músculos do abdômen e da região lombar, de modo a sustentar e proteger a coluna vertebral. Entretanto, comofrequentemente ocorre, muitos indivíduos que tentam ganhar força muito rapidamente podem realizar exercícios de forma errada.Como resultado, grupos musculares adicionais são recrutados, a coluna vertebral é alinhada de forma inadequada,principalmente com arqueamento da região lombar, o que coloca uma sobrecarga nessa região (KLEINPAUL,2009). Porem nãopodemos afirmar que as dores lombares relatadas nas academias são ocorrentes da carga usada, mas alguns fatores como faltade preparo na realização do exercício, como a falta de alongamento e/ou aquecimento contribuem para o aparecimento dasdores, ou seja o conjunto de fatores quando realizado de forma correta previne e melhora as síndromes. Pode se observar a faltade flexibilidade de posterior de coxa como um fator relacionado com a dor, quanto maior a intensidade das dores lombaresmaiores são os relatos de incapacidade física dos indivíduos e menores os resultados do teste banco de wells que por sua vezavalia o nível de alongamento dos músculos posteriores de coxa dos indivíduos (RIBEIRO,2008).Conclusão: Com tudo os exercícios de força para o grupamento muscular da região lombar, eretores da espinha e abdômendevem serem feitos de maneira especifica, de acordo com o nível de treinamento de cada individuo e juntamente com essetrabalho de fortalecimento também nota-se a eficácia da realização de exercícios de alongamento no grupamento muscularposterior de coxa que por sua vez ajuda a aliviar a carga sobre a lombar tanto na postura diária mas também na realização detodos exercícios que não tenham apoio para lombar.
ReferênciasCOSTA, Denílson da; ALEXANDRE, Palma. O efeito do treinamento contra resistência na síndrome da dor lombar. RevistaPortuguesa de Ciências do desporto, v. 5, n. 2, p. 224-234, 2005.GUASTALA, Fábio Alexandre Moreschi et al. Effect of global postural re-education and isostretching in patients withnonspecific chronic low back pain: a randomized clinical trial. Fisioterapia em Movimento, v. 29, n. 3, p. 515-525, 2016.KLEINPAUL, Julio Francisco et al. Dor lombar e exercício físico. Uma revisão. Revista Digital EFD Esportes. Ano, v. 13, 2009.RENKAWITZ, Tobias; BOLUKI, Daniel; GRIFKA, Joachim. The association of low back pain, neuromuscular imbalance, andtrunk extension strength in athletes. The Spine Journal, v. 6, n. 6, p. 673-683, 2006.RIBEIRO, Rafael Paiva et al . Relação entre a dor lombar crônica não específica com a incapacidade, a postura estática ea flexibilidade. Fisioter. Pesqui., São Paulo , v. 25, n. 4, p. 425-431, Dec. 2018 .
ATENDIMENTO HUMANIZADO NA ODONTOLOGIA - REVISÃO DE LITERATURA
1NATALIA COQUEIRO SIQUEIRA, 2JOAO CARLOS RAFAEL JUNIOR, 3PALOMA CASTILHO CASAGRANDE, 4GIOVANALUNARDI, 5MARIA RITA BARBOSA DE OLIVEIRA, 6PATRICIA GIZELI BRASSALLI DE MELO
1Acadêmica do Curso de Odontologia UNIPAR1Acadêmico Bolsista do PEBIC/CNPQ2Acadêmica do Curso de Odontologia UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia UNIPAR4Acadêmico do PEBIC/CNPQ5Docente da UNIPAR
Introdução: Cada vez mais, as pessoas buscam por profissionais que, além de capacitados desempenham suas funçõesbaseadas em ações humanistas . Dentro deste contexto e em consonância aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) ahumanização encontra-se pautada em uma nova reestruturação do modelo de atenção em saúde, bem como na modificação darelação existente entre profissional, paciente e comunidade. Assim em 2003 foi criada a Política Nacional de Humanização (Humaniza SUS), como parte integrante e prioritária de todos os programas do SUS, buscando ações de acolhimento,humanização e bem-estar do paciente (BRASIL, 2003). Objetivo: O presente trabalho tem como o objetivo realizar através de uma revisão bibliográfica a importância do atendimentohumanizado na prática odontológica.Desenvolvimento: A palavra humanizar significa tornar humano, civilizar, dar condição humanas. Portanto, é possível dizer quehumanização é um processo que se encontra em constante transformação e que sofre influências do contexto em que ocorre(RIZZOTO et al., 2002). Ações humanizadas podem ser entendidas nos serviços de saúde, como a valorização dos diferentessujeitos, pois, todos os profissionais de saúde devem compreender as diferentes realidades, entender o motivo que levou oindivíduo a procurar atendimento, seus anseios e expectativas para o tratamento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Atualmente, os projetos pedagógicos de todos os cursos de saúde, em especial a odontologia, vem sofrendo transformações, na tentativa dese aproximar cada vez mais o atendimento técnico ao atendimento humanizado, envolvendo novas formas de acolhimento dopaciente (CARMINATTI et al., 2013). Contudo, nota-se ainda resistência às mudanças de paradigmas, problemas decomunicação, falta de personalização do trabalho. Superá-las, é um dos objetivos para a melhoria da qualidade de atendimentoao usuário e do desenvolvimento harmônico do trabalho da equipe de saúde bucal (BALDANI et al., 2005). Muitos pacientes porsua vez, trazem consigo seus medos, traumas, ansiedade e receio por medo de não ser ouvido e quando tratados de formahumanizado, a sua colaboração se torna efetiva, o fortalecimento da relação dentista/paciente são evidenciados, a confiançaelevada, resultando em maior adesão do paciente ao tratamento, com obtenção de resultados clínicos positivos e satisfatórios(MOTA et al., 2002).Conclusão: Diante desses apontamentos, conclui-se que atendimento humanizado na odontologia e em qualquer outra área dasaúde visa valorizar o paciente como um todo, levando em consideração todos os seus aspectos biopsicossociais, que atuam emconsonância com as políticas públicas do SUS.
ReferênciasBALDANI, Marcia Helena et al. A inclusão da odontologia no Programa Saúde da Família no Estado do Paraná, Brasil. Cad.Saúde Públic, v.21, n.4, p. 1026-1034. 2005. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, Política Nacional de Humanização. Brasil, 2003.BRASIL,Ministério da SAÚDE. Secretaria de Políticas de Saúde, Política Nacional de Humanização - HumanizaSUS. DistritoFederal, 2012.CARMINATTI, Marina et al. Humanização do atendimento em saúde: perfil e expectativas de egressos de odontologia. Arch.Health Invest., v.2, n.1, p. 134. 2013.MOTA, Luciane de Queiroz et al .Humanização no atendimento odontológico: acolhimento da subjetividade dos pacientesatendidos por alunos de graduação em Odontologia. Rev. Saúde nacional, v.48, n.3, p. 151-158. 2002.RIZZOTTO, Maria Luciana Frizon.. As políticas de saúde e a humanização da assistência. Rev. Bras. Enfermagem. v.55, n.2,p.196-9.2002
RECOBRIMENTO RADICULAR DE MÚLTIPLAS ÁREAS COM MEMBRANA SINTÉTICA
1ARACELLYS MENINO MELO, 2NATHALIA GABRIELA NODARI, 3JOSIANE FRANCIO PISSAIA, 4VALÉRIA CAMPAGNOLO,5RAFAEL CACELANI
1Discente do Curso de Odontologia - UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Docente da UNIPAR3Cirurgiã Dentista/ UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: De acordo com a Academia Americana de Periodontia, a recessão gengival é caracterizada pelo desnudamento damargem gengival em relação à junção amelo-cementária em sentido apical (Armitage, G. C 1999). Algumas condições como:acumulo de biofilme, escovação traumática, inserções de freios e bridas, fenestrações ósseas, entre outras, podem desencadearessa exposição radicular. Alternativas como técnicas cirúrgicas e biomaterias vieram para corrigir os danos causados,melhorando a qualidade de vida do paciente. Objetivo: Identificar e diagnosticar as consequências provenientes da retração gengival e posteriormente estabelecer umprotocolo cirúrgico para recuperação funcional da cavidade oral.Desenvolvimento: A recessão gengival ou retração da gengiva é definida pela migração da margem gengival em direção apicalexpondo a junção amelo-cementária. Onde há dano no periodonto de proteção e sustentação (Frizzera, F. et al., 2012 eRajapakes, P. S. et al., 2007). Esta definição é complementada por Joly, J. C.; Silva, R. C.; Carvalho, P. F. M. (2009) salientandoque, recessão gengival é caracterizada pela exposição da superfície radicular, resultado do deslocamento do tecido gengivalmarginal em sentido apical além da junção cemento-esmalte. Além de que, pode se manifestar em áreas saudáveis ou napresença da doença periodontal, e é resultante de uma etiologia multifatorial (Yared et al., 2006; Kato-Segundo & Alves, 2007;Santamaria et al., 2009). Para Volpato e Cruz, (2013), as modificações nos tecidos de proteção, provocada pela perda de tecidogengival, causam um grande desconforto ao paciente além de comprometer a estética que é apontada como essencial naodontologia moderna. Em casos de recessão gengival, o recobrimento das áreas expostas faz com que se diminua asensibilidade dentinária, proporcionando maior conforto ao paciente, além de melhorar a sua condição bucal (Monnet - Corti etal., 2002). O tratamento cirúrgico por sua vez, é indicado para devolver ao paciente as áreas de tecidos queratinizados perdidos,sejam em altura ou espessura (Feitosa et al., 2008). O palato duro é comumente utilizado na doação de enxerto de tecidoconjuntivo, porém, é necessário na maioria dos casos dois sítios cirúrgicos doadores, o qual causa desconforto no pós-operatório(Sanz et al., 2009). Pensando em diminuir os desconfortos pós-operatórios, pesquisas levam à novas descobertas eaprimoramentos dos biomaterias, os tornando compatíveis com o tecido gengival que será restituído, eliminando uma segundaárea doadora, reduzindo o tempo clínico e tornando o pós-operatório mais confortável (Malament et al.,2011). Em virtude disso,as matrizes colagenosas cada vez mais estão sendo usadas em enxertos gengivais, além de, apresentarem uma estrutura maciae flexível, porém resistentes (Maioli et al., 2007).Com isso, a membrana promove a regeneração tecidual e suporte ao tecidoconjuntivo, e, a revascularização atua fazendo a integração dos tecidos. Isto ocorre devido à semelhança da disposição decolágeno na matriz e a do tecido conjuntivo gengival integro, que induz à infiltração e adesão celular. Após a implantação damatriz colágena, o sangue tem o papel de inundá-la através da rede de fibras colágenas que juntamente com o auxílio dascélulas do indivíduo ocorre o processo de revascularização e reparo do tecido (Ramachandra et al., 2014). Conclusão: As consequências da retração levam o indivíduo apresentar hipersensibilidade dentinária, predisposição a cárieradicular, impactação alimentar, déficit no controle do biofilme e comprometimento estético. A utilização da matriz colagena veiopara sanar essas mazelas e devolver ao tecido integridade. É de extrema importância que o cirurgião dentista oriente seupaciente quanto a forma correta de higiene bucal, cuidados pós cirúrgicos e acompanhamento do caso. Além docomprometimento do paciente para que garanta um prognóstico favorável, devolvendo qualidade de vida.
ReferênciasALMEIDA, Ana Maria Freire de Lima. et al. Recessões gengivais e lesões cervicais não cariosas: relato de caso clínico. RevistaPeriodontia, v. 25, n. 01, p. 39-45, març., 2015.ANJOS, Daniela Maria Ferreira Frasson dos et al. Etiologia e tratamento cirúrgico das recessões gengivais. IN Perio, v. 1, n. 3, p.547-555, abr/maio. 2016 .CALDATO, Khadidjia Mohana Benício et al. Avaliação do biotipo periodontal em áreas acometidas por recessão gengival em
acadêmicos de odontologia. Revista Periodontia, v. 28, n. 01, p. 19-27, mar., 2018.CARRANZA, Fermin et al. Periodontia clínica. 10. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. pp. 1005.CONTI, Nathalia Mendes. O uso do Mucograft® no recobrimento radicular Relato de caso. 2015. 32f. Trabalho deConclusão de Curso (Graduação em Odontologia) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP,Araçatuba, 2015.DAMIN, Guilherme Dossin; VERZELETTI, Giliano Nicolini. Percepção estética de pacientes e alunos de odontologia em relaçãoàs recessões gengivais. IN Perio, v. 3, n. 4, p. 731-739, jun/ago. 2018.DE FARIA, Sandro Felipe Santos et al. Uso da matriz colágena suína no recobrimento radicular. IN PERIO, v. 4, n. 1, p. 147-151,2019.
REPERCUSSÕES ORAIS CAUSADAS POR DROGRAS ANTINEOPLÁSICAS - EFEITOS DA ESTOMATOTOXICIDADEDIRETA DA QUIMIOTERAPIA
1ARACELLYS MENINO MELO, 2BRUNA LUISA KOCH MONTEIRO, 3JOAO VICTOR LOSS, 4RAFAEL CACELANI, 5VALERIACAMPAGNOLO, 6JANES FRANCIO PISSAIA
1Discente do Curso de Odontologia da UNIPAR1Discente do Curso de Odontologia da UNIPAR2Discente do Curso de Odontologia da UNIPAR3Docente da UNIPAR4Egresso do Curso de Odontologia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A quimioterapia consiste no uso de drogas injetáveis que destroem rapidamente as células proliferativas provocandoa queda da imunidade. De acordo com a farmacocinética do agente e as características do tratamento, como a frequência edosagem, vários efeitos adversos são observados a partir da utilização dessas drogas. Um desses efeitos é a estomatotoxicidadedireta, tema abordado no presente trabalho.Objetivo: Abordar os efeitos colaterais decorrentes da utilização de agentes quimioterápicos no tratamento de pacientesoncológicos e possíveis repercussões na cavidade oral.Desenvolvimento: A estomatotoxicidade direta corresponde aos efeitos não específicos das drogas nas células em mitose,responsáveis pela diminuição na renovação das células na camada basal do epitélio, resultando em atrofia, ulceração,afinamento, descamação e inflamação da mucosa. Estas se manifestam pelo surgimento de lesões orais como mucosite,xerostomia e neurotoxicidade. A mucosite se manifesta de 5 a 7 dias após o início da quimioterapia, e após a conclusão dotratamento, entre 4 a 6 semanas com o início da terapia específica para a mucosite, obtém-se resultado satisfatório. A incidênciaé aumentada por fatores como o fumo e o álcool. O metotrexato, fluouracil, doxorrubicina são as principais drogas que causam amucosite. Sua severidade é considerada como toxicidade doselimitante, sendo necessário ajustar a dose para 25% na sessãoseguinte caso a mucosite se manifeste, podendo comprometer o prognóstico do tratamento. O uso do agente doxorrubicina naquimioterapia altera a composição e o fluxo salivar causando a xerostomia. Sua ação reduz a amilase salivar e IgA, aumentandoa viscosidade salivar, dificultando a deglutição, aumentando o acúmulo de placa bacteriana e a incidência de cáries. Aneurotoxicidade representa 6% das complicações bucais. Pode ocorrer com o uso de alcalóides de vinca, etoposido ou cisplatina,apresentando-se como parestesia, disfunção motora ou dor aguda no maxilar inferior. Fatores como a idade, sexo, nutrição,alteração salivar, trauma local e má higiene bucal aumentar a severidade das lesões, antes e durante a terapia oncológica. Porisso, a importância dos cuidados bucais pré, trans e pós-tratamento, visando minimizar intercorrências futuras.Conclusão: É de extrema importância o acompanhamento do cirurgião dentista para evitar futuras complicações na cavidadeoral, e juntamente a equipe de oncologia elaborar um protocolo de tratamento para prevenção de possíveis infecçõessecundárias, monitorando a integridade da mucosa e as doenças bucais em geral, além de realizar avaliações periódicas durantee após o tratamento oncológico.
ReferênciasAraujo S.N.M. et al. O paciente oncológico com mucosite oral: desafios para o cuidado de enfermagem. Rev Latino AmEnfermagem. 2015;23(2):267-74. Coleman S. An overview of oral complications of adult patients with malignant haematological conditions who have undergoneradiotherapy or chemotherapy. J Adv Nurs. 1995;22(6):1085-91.Delmagro M.F. et al. Xerostomia: desenvolvimento de uma bala com potencial sialogogo. Revista saúde e desenvolvimentohumano. 2015; 3(2):35-44FAZA, J; BRUM, SC. A influência da quimioterapia na saúde bucal. Revista Pró-UniverSUS. 2018 Jul./Dez.; 09 (2): 81-89.Gonçalves A.S.T. A saliva como meio de diagnóstico [Tese]. Almada: Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz;2015 Morais AMD. et al. Study of bucal manifestations of patients treated with chemotherapy. J Orofac Invest. 2017;4(1):49-59PILLOT, G. Hematologia e Oncologia. The Whasington Manual: Série consultas. 1° edição. Editora Guanabara Koogan. 2005.SPEZZIA, S. Mucosite Oral. J Oral Invest. 2015;4(1):14-18.Sung EC. Dental management of patients undergoing chemotherapy. J Calif Dent Assoc. 1995 Nov;23(11):55-9
USO DA PLANTA Casearia sylvestris NO TRATAMENTO DE PATOLOGIAS ORAIS
1CAROLINE DOMINGUES, 2ANA MARIA DA SILVA, 3GABRIEL MACIEL DA SILVA, 4HELOISA GARCIA FRANCOZO,5ELIZANDRA MARRY PEDROLLO, 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do PIC/UNIPAR2Acadêmico do PIC/UNIPAR3Acadêmica do PIC/UNIPAR4Acadêmica do PIC/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: De acordo com SATO (1998), a Casearia sylvestris (Cs) pertence à família Flacourtiaceae e é popularmenteconhecida como \"Guaçatonga\", erva de Bugre , pau de lagarto , erva de pontada ou chá de bugre . É muitodifundida na medicina popular, devido às suas propriedades antissépticas, antivirais, antiúlcera e cicatrizantes. A Cs estáoficializada na Farmacopeia Brasileira de 1929 (apud CURY, 2005, p. 04).Objetivo: O presente trabalho tem como intuito o levantamento do uso da planta Casearia sylvestris, no tratamento de patologiasorais.Desenvolvimento: De acordo com (SASSIOTO; et al., 2004) a Casearia sylvestris possui estrutura química complexa, comfitoquímicos que atribuem a ela ação antitumoral, antioxidante, antibiótica e antifúngica. Sabendo esses aspectos, vários estudossão realizados para discutir sua eficácia em tratamentos de patologias orais. (WECKWERTH; et al., 2008) realizaram pesquisa arespeito da eficácia da atividade antimicrobiana in vitro de diversos antibióticos, extratos hidroalcoólicos e uma infusão de Csfrente à Enterococcus faecalis, bactérias presentes no intestino e cavidade oral, que são responsáveis por diversas patologiascomo endocardites e infecções endodônticas. O extrato de Cs obteve 68% de eficácia nos testes, contra 100% da amplamenteutilizada clorexidina, demonstrando que a Casearia sp. apresenta resultados promissores que auxiliam na produção de novosestudos envolvendo a espécie (ARANTES; et al., 2004) realizaram um estudo utilizando a planta no desenvolvimento de umdentifrício a base de Casearia sp. e Calendula officinalis, a fim de analisar seu comportamento frente ao biofilme dental. Comoresultado, concluíram que dentifrício possui atividade antimicrobiana e é eficaz contra Candida albicans, Staphylococcus aureus eStreptococcus mutans. Tais microrganismos são responsáveis pelo crescimento de placa bacteriana e também por patologiasorais como periodontia, candidíase, estomatite cremosa e quadros traumáticos como o desenvolvimento de abcessos emanifestações sistêmicas.Conclusão: A partir da pesquisa realizada e da leitura de diversos estudos sobre a Casearia sp., foi possível concluir que aplanta possui diversos benefícios à saúde sistêmica e bucal, mas que ainda necessita de testes e estudos avançados paracomprovar sua eficácia e possíveis efeitos colaterais por ela causados, para assim poder ser usada pela indústria na fabricaçãode medicamentos.
ReferênciasARANTES, Angela Bonjorno. Desenvolvimento de dentifrícios com extratos fluidos de Calendula officinalis L. (Asteraceae) eCasearia sylvestris Sw. (Flacourtiaceae) destinado ao tratamento de periodontias. 2002. Dissertação ( Mestrado em ciênciasfarmacêuticas) Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 21 de março de 2002.CURY, Viviane Goreth Costa. Eficácia terapêutica da Casearia sylvestris sobre herpes labial e perspectiva de uso em saúdecoletiva. 2005. Dissertação (Mestrado em saúde coletiva) Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Piracicaba, 2005.SASSIOTO, Maria Cristina Pita. Estudo morfológico do reparo de defeito ósseo com matriz óssea bovina desvitalizada ecalcitonina, em ratos, Acta Cirúrgica Brasileira, v.19, n.6, 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/acb. Acesso em: 30 de junho.2019.WECKWERTH, Paulo Henrique., et al. Comparação da atividade antimicrobiana in vitro de diferentes antibióticos e extratoshidroalcoólicos e infusão de Casearia sylvestris Swart (Guaçatonga) frente a linhagens de Enterococcus faecalis isolados dacavidade oral. Salusvita, Bauru, v. 27, n. 2, p. 259-274, 2008. Disponível em:https://secure.usc.br/static/biblioteca/salusvita/salusvita_v27_n2_2008_art_08.pdf. Acesso em: 30 de junho. 2019.
ESTAFILOCOCOS COAGULASE POSITIVA: UM IMPORTANTE INDICADOR DE QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE QUEIJOS
1NATHALIA KAROLAYNE MORAIS DE FREITAS, 2KAROLINY DA SILVA ABELHA, 3MARIA EDUARDA VELOZO DA SILVA,4DANIELE GOMES MACIEL, 5PRISCILA DA SILVA GARCIA, 6LIDIANE NUNES BARBOSA
1Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O controle do crescimento microbiano em alimentos tem por objetivo uma grande parte da eliminação demicrorganismos que causam alterações em suas características organolépticas, que agem como causadores de doenças.(BRULL; COOTE, 1999). O leite e seus derivados são excelentes meios para o desenvovimento de microrganismos desejáveis,patogênicos e deteriorantes (TEUBER, 1992). A fatores que contribuem para o aumento da quantidade de surtos, que incluem abaixa qualidade do leite cru, ou a indevida manipulação nos meios de transporte (SENA, 2000). Entre os grupos dospatogênicos destacam-se espécies de Estafilococos por serem consideradas causas comuns de toxinfecções alimentaresuma vez que está espécie quando presente podem produzir uma ou mais enteroxinas que depois de ingeridas causamintoxicação alimentar aos consumidores. Objetivo: Analisar a influência do Estafilococos Coagulase Positiva na produção de queijos, e seu tempo de duração.Desenvolvimento: O Brasil teve um aumento do consumo anual de queijos, cerca de 2,3 kg per capta. No entanto, este aumentoainda é pequeno quando comparado ao da Argentina ou de países europeus. O queijo se tornou um produto de apreciadoresespalhados pelos quatros cantos do mundo e, no Brasil o estado de Minas Gerais é o maior produtor (PERRY, 2004). Acontaminação do queijo por Estafilococos Coagulase Positiva representa um grande problema a saúde publica, pelos riscos deintoxicação alimentar. A espécie Coagulase Positiva é um dos agentes patogênicos mais envolvidos em surtos e casosesporádicos de intoxicação estafilocócica. Os microrganismos presentes nos produtos lácteos, com condições apropriadaspodem determinar a formação de enterotoxinas termoestáveis e causar grandes problemas de intoxicação alimentar. Aintoxicação alimentar ocorre pelo consumo de alimentos contaminados sujeitos a tratamentos térmicos inadequeados oumantidos sob condições inapropriadas que favorecem a multiplicação bacteriana e a produção de toxinas. (ALMEIDA; FRANCO,2003). O controle do crescimento microbiano em alimentos tem por objetivo uma grande parte da eliminação de microrganismosque causa alterações em suas características organolépticas, que agem como causadores de doenças. Nas últimas décadas oprocesso de conservação de alimentos tem mudado, pois os consumidores têm o pensamento de requer-se a alimentos maisnaturais, mais saudáveis, frescos, livres de aditivos sintéticos, com menor quantidade de sal, açúcar, gordura e ácidos, tendo sidosubmetidos ao menor processamento (BRULL; COOTE, 1999).Conclusão: Nota-se que o queijo é um dos alimentos de fácil proliferação, por conta disso foram buscando alternativas parareverter este caso em meios de conservação do queijo e seu tempo de prateleira, fazendo com que evite o uso de aditivossintéticos que trazem maleficios a nossa saúde, dando assim preferencia a adições naturais que tenha uma conservação melhore que não seja submetido ao muitos processamentos.
ReferênciasALMEIDA, P. M. P.; FRANCO, R. M. Avaliação bacteriológica de queijo tipo minas frescal com pesquisa de patógenosimportantes à saúde pública: Staphylococcus aureus, Salmonella spp., e coliformes fecais. Revista Higiene Alimentar, v. 17, n.111, p. 79-85, 2003.BRULL, S.; COOTE, Preservative agents in foods: mode of action and microbial resistance mechanisms. International Journalof Food Micribiology, v.50, n.1-2, p- 1-17,1999.PERRY, K.S. P.; Queijos: aspectos químicos, bioquímicos e microbiológicos. Quimica Nova. v.27, n.2, p- 293-300, 2004.RIBEIRO, A. C.; MARQUES, S.C.; SODRÉ, A. F.; ABREU, L. R.; PICCOLI, R. H.; Controle microbiológico da vida de prateleira dericota cremosa, Ciência. Agrotecnologia., Lavras, v. 29, n, 1, p. 113- 117, jan.⁄fev.2005.SENA, M.J. Perfil epidemiológico, resistência a antibióticos e aos conservantes nisina e sistema lactoperoxidase deStaphylococcus sp isolados de queijos coalho comercializados em Recife - PE. 2000. 75f. Tese (Doutorado em Ciência Animal) Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
TEUBER, M. Microbiologycal problems facing the dairy industry. Bull. Int. Dairy Fed., n.276, p.6-9,1992.
IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO ABREVIAMENTO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS PACIENTES NASUNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO
1QUEREN ALVES DE PAULA , 2ANA BEATRIZ PINHEIRO ZAUPA, 3DJEICE DIANE HECK, 4ANA PATRÍCIA BOBATO ,5EDUARDO BENASSI DOS SANTOS , 6DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmico no curso de Odontologia da UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Fisioterapia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da Guairacá4Cirurgião dentista mestrando em Odontologia UNIOESTE5Docente da UNIPAR
Introdução: Os avanços científicos trazem subsídios para acreditar na contribuição significativa do tratamento odontológico,especificamente a intervenção periodontal, na prevenção e/ou melhora da condição sistêmica do indivíduo em situação crítica(MORAIS, et al. 2006). Para pacientes em terapia intensiva, especialmente aqueles sob ventilação mecânica, entende-se que éde grande importância a participação de um cirurgião-dentista para proceder com profilaxia e a avaliação da saúde bucal. Outrosprofissionais da saúde não teriam o domínio do conhecimento sobre as patologias odontológicas, aplicando deste modo, váriosconceitos incorretos sobre estas práticas (SCHLESENER, 2012).Objetivo: Este trabalho visa ressaltar, através de uma revisão bibliográfica, a importância da presença da Odontologia emUnidades de tratamento intensivo .Desenvolvimento: Compete ao cirurgião-dentista internar e assistir paciente em hospitais públicos e privados, com ou semcaráter filantrópico, respeitadas as normas técnico-administrativas das instituições (Art.26 Cp.X,Código de Ética Odontológica). Éimportante ressaltar que o atendimento odontológico do paciente crítico contribui na prevenção de infecções hospitalares,principalmente as respiratórias, entre elas a pneumonia nosocomial, ou hospitalar, uma das principais infecções em pacientes deUTI favorecidas pelos microrganismos que proliferam na orofaringe. Sua ocorrência é preocupante, pois é bastante comum entrepacientes de UTI, provocando um número significativo de óbitos, prolongando a internação do paciente e exigindo maismedicamentos (BUISCHI, et al. 2009). Uma rigorosa supervisão da higiene bucal de pacientes admitidos em UTI visa controlar odesenvolvimento e a maturação do biofilme de maior patogenicidade nos diversos sítios da cavidade bucal, não só dentes, mastambém mucosa de recobrimento, língua e dispositivos protéticos fixos. Bactérias gram-positivas são comumente encontradas nacavidade bucal, mas, à medida que o biofilme desenvolve, podem ocorrer associações com bactérias anaeróbicas gram-negativas e fungos, tornando este biofilme mais patogênico e, consequentemente, aumentando o risco de complicaçõessistêmicas (SALDANHA, et al. 2015).Conclusão: Dado o acima exposto, pode-se concluir que é de suma importância a presença de um cirurgião dentista na Unidadede Tratamento Intensivo para o bem-estar do paciente e prevenção de doenças bucais que podem afetar a saúde sistêmica dohospitalizado.
ReferênciasConselho Regional de Odontologia de São Paulo. Código de Ética Odontológica. São Paulo, 2012.SALDANHA, Karla Ferreira Dias et al. A odontologia hospitalar: revisão. Arch Health Invest. v.4, n.1, p.58-68, 2015.MORAIS, Teresa Márcia Nascimento, et al. A Importância da Atuação Odontológica em Pacientes Internados em Unidade deTerapia Intensiva. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. v.18, n.4, p.412-417. Outubro./ Dezembro.2006.SCHLESENER, Vania Rosimere Frantz, ROSA, Uyara Dalla, RAUPP, Suziane Maria Marques. O cuidado com a saúde bucal depacientes em UTI. Cinergis. v.13, n. 1, p. 73-77 Jan/Mar. 2012.
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE IDOSO HOSPITALIZADO
1MARCOS GUIRRO DE TOLEDO, 2ANDRESSA PAOLA DE OLIVEIRA Q MARTINS
1Acadêmica do curso de Enfermagem da Unipar 1Docente da UNIPAR
Introdução: Nos últimos anos houve um crescimento significativo da população idosa, causando em seu organismo alteraçõesfisiológicas, diminuindo a capacidade funcional, da qualidade de vida e aumento da fragilidade, podendo haver necessidade deinternação hospitalar (SILVA et al., 2015). As equipes de saúde são responsáveis principalmente pela qualidade dos serviçosprestados pelas instituições, o enfermeiro, como membro da equipe de saúde, é essencial para a prestação de uma assistênciaao paciente hospitalizado, pois tem contato direto com paciente e familiares, auxiliando no cuidado. Cabe a ele ainda planejar,gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, assim como, do processo de ensino dosmesmos, contribuindo para uma assistência de qualidade ao paciente idoso hospitalizado (CECCON et al., 2013).Objetivo: Analisar a assistência de enfermagem no cuidado do idoso hospitalizado. Material e Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que consiste em um método de sistematização deresultados de uma pesquisa bibliográfica, para uma compreensão completa de uma determinada temática, sendo essasinformações úteis na assistência à saúde. Para tanto foi elaborada a seguinte questão norteadora: qual a atuação do enfermeirono cuidado do idoso hospitalizado? Para a coleta de dados e seleção dos artigos, foram estabelecidos critérios de inclusão eexclusão. Como critério de inclusão, artigos originais publicados nos anos de 2010 a 2018, e escolhidos segundo sua relevância,bem como, artigos completos, disponíveis online, em português, nas bases de dados SciELO, BDENF, LILACS, por meio dautilização dos Descritores em Ciências da Saúde (DECS): \"enfermagem\", \"idoso\" e \"hospitalizado\". E como critérios deexclusão teses, dissertações, artigos repetidos e que não correspondem a temática.Resultados: Foram identificados cento e setenta estudos nas bases de dados, após analise minuciosa, quatorze se adequamaos critérios de inclusão que foram selecionados para compor o referido estudo. Na base de dados LILACS, foram identificadosoitenta e seis estudos, utilizando para a pesquisa os descritores \"enfermagem\", \"idoso\" e \"hospitalizado\", dos quais trinta etrês se enquadravam nos critérios de inclusão, no entanto, quatro foram selecionados para compor o estudo pois iam de encontrocom objetivo do estudo. Já na base de dados SciELO foram identificados dezenove artigos, dos quais, após uma análiseminuciosa, verificou-se que apenas nove artigos se enquadravam os critérios de inclusão, no entanto, apenas quatro iam deencontro com o objetivo dessa revisão. E no BDENF foram encontrados sessenta e cinco artigos, após análise vinte e quatro seenquadraram nos critérios de inclusão e exclusão, no entanto, seis artigos foram selecionados para compor o referido estudo porestarem relacionados com a temática. Discussão: Os idosos, quando hospitalizados, requerem atenção e cuidados específicos pela equipe de saúde, uma vez que, ahospitalização acarreta a diminuição da capacidade funcional, da independência e autonomia do idoso, devido as normas e rotinahospitalar, potencializando a fragilidade física e a vulnerabilidade emocional. O profissional de enfermagem é indispensável parao processo do cuidado, realizando o planejamento e organização das ações direcionadas durante a internação hospitalar, deacordo com particularidades biológicas e emocionais de cada idoso, com intuito de oferecer subsídios para a melhoria daqualidade da assistência (SANGUINO et al., 2018). No entanto, de acordo com Souza et al. (2013), a falta de estrutura física,insuficiência de leitos hospitalares e de recursos humanos e a falta de capacitação para o cuidado gerontogeriátrico, podemprejudicar a qualidade do atendimento ao idoso hospitalizado. Nesse cenário, para garantir a qualidade da assistência énecessário que os profissionais envolvidos no cuidado a essa clientela, especialmente o enfermeiro, devem apresentar valoreséticos secundários como sensibilidade, fé, igualdade, humanização, dignidade, autonomia, justiça, compromisso, honestidade,solidariedade e a prudência (ALMEIDA; AGUIAR, 2011a, p. 44). Além disso, os enfermeiros devem identificar situaçõesvivenciadas no cuidado ao paciente idoso hospitalizado, especialmente problemas bioéticos tais como violação dos direitos doidoso, contribuindo para melhorias nas condições de trabalho, especialmente no que se refere as insurgências de problemascotidianos, contribuindo principalmente para a humanização do cuidado (ALMEIDA; AGUIAR, 2011b). Dessa forma, é necessárioestabelecer programas de educação permanente para promover capacitação e qualificação dos profissionais para serem sujeitosmodificadores no cotidiano das instituições (BOTH et al., 2014).Conclusão: Cabe ao enfermeiro possuir competência técnico-administrativa para realizar a gestão de qualidade de assistência eassume a responsabilidade sobre uma equipe que atua nos procedimentos relacionados a assistência, desde o cuidado aopaciente a atividades administrativas e gerenciais, resultando em melhor qualidade do cuidado ao paciente idoso hospitalizado.
Referências
ALMEIDA, A. B. A.; AGUIAR, M. G. G. A dimensão ética do cuidado de enfermagem ao idoso hospitalizado na perspectiva deenfermeiros. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 13, n. 1, p. 42-49, jan./mar. 2011a.ALMEIDA, A. B. A.; AGUIAR, M. G. G. O cuidado do enfermeiro ao idoso hospitalizado: uma abordagem bioética. Revistabioética, v. 19, n. 1, p. 197 217, 2011b.BOTH, J. E. et al. Qualificação da equipe de enfermagem mediante pesquisa convergente assistencial: contribuic ̧ões ao cuidadodo idoso hospitalizado. Escola anna nery revista de enfermagem, v. 18, n. 3, jul./set. 2014.CECCON, R. F. et al. Enfermagem, auditoria e regulação em saúde: um relato de experiência. REME, v. 17,n. 3, p. 695-699,jul./set. 2013.SANGUINO, G. Z. et al. O trabalho de enfermagem no cuidado ao idoso hospitaliza- do: limites e particularidades. RevistaFundação Care, v. 10, n. 1, p. 160-166, 2018.SILVA, J. V. F. et al. A relação entre o envelhecimento populacional e as doenças crônicas não transmissíveis: sério desafio desaúde pública. Ciências Biológicas e da Saúde, v. 2, n.3, p. 91-100, mai. 2015.SOUZA, A. S. et al. Atendimento ao idoso hospitalizado: percepc ̧ões de profissionais de sau ́de. Ciência e Cuidado em Saúde, v.12, n. 2, p. 274-281, abr./jun. 2013.
INFLUENCIA DA ALIMENTAÇÃO NO AUTISMO
1PRISCILA DA SILVA GARCIA, 2DANIELE GOMES MACIEL, 3NATHALIA KAROLAYNE MORAIS DE FREITAS, 4ANA MARIADA VEIGA, 5LARISSA SPERANDIO COUTINHO, 6TATIANE DOS SANTOS APARECIDO GONCALVES
1Acadêmico do Curso de Sistemas de informação da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Nutricao da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O autismo é um transtorno que compromete o desenvolvimento motor e psiconeurológico da criança portadora, asáreas mais afetadas são a cognição, fala e linguagem. Ainda não se sabe as causas que levam o autismo, apesar de nãoencontrarem alterações cerebrais especificas que possa ser apontadas como a causa dos sintomas do autismo é provável deque seja uma doença genética, alguns problemas genéticos podem ser herdados e outros acontecem espontaneamente devidoaos fatores ambientais. Este transtorno é detectado nos três primeiros anos de vida, afetam cerca de 20 entre cada 10 milnascidos, sendo quatro vezes mais comum no sexo masculino. O Estado Nutricional do autista é de muita importância, pois estáligada ao comportamento, deve ter o acompanhamento nutricional para que haja um adequado crescimento e desenvolvimentoda criança, e que venha suprir todas as necessidades, que vai desde as alterações metabólicas e biológicas ás diferenciadasapresentação comportamentais, a nutrição adequada vai auxiliar nesse processo de desenvolvimento evitando consequências,oferecendo a elas uma qualidade de vida. (ANJOS, 2017). Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica sobre a influência da alimentação no autistaDesenvolvimento: Crianças autistas são muito resistente ao que é diferente, são seletivas, podem fazer bloqueios a novasexperiências. Essas são as características marcantes no autismo, a seletividade, a recusa e a disciplina, e essas característicaslevam a criança a ter carências nutricionais desencadeando um quadro de desnutrição ou até mesmo uma obesidade, aseletividade é a características que mais leva a deficiência nutricionais dificultando no processo de melhora no desenvolvimentodo autista (CARVALHO et al., 2012). Uma das causas que levam a piora no comportamento do autista é as alterações intestinais.A conexão do intestino com o corpo é muito interessante, pois o envolvimento com o sistema gastrointestinal é essencial nasfunções normais do intestino. No autismo os quadros que mais agrava são os gastrointestinais os sintomas são: constipação,diarreia, dor abdominal, vômitos frequentes, disbiose, doença inflamatória intestinal, doença celíaca, alteração da imunidadedesencadeando alteração na permeabilidade intestinal, gerando reações inflamatória (CAETANO; GURGEL, 2018). Osenterócitos que são as células que recobrem as paredes do intestino são responsáveis pela quebra do alimento e porproporcionar uma nutrição para todo o organismo, a produção dos enterócitos se mantem devido a boa flora intestinal, na criançacom autismo é diferente, pois não tem uma renovação necessária de enterócitos, devido aos problemas intestinais citados acimae esses enterócitos já nascem muito fracos causando baixa produção de enzimas, prejudicando o processo da quebra dasproteínas.( MARCELINO, 2018.).Devido ao aumento de casos de crianças portadora do autismo, percebe-se a importância doacompanhamento nutricional, assim trazendo uma melhora comportamental e promovendo uma boa qualidade de vida.Conclusão: O autismo é um dos transtornos que nos últimos anos vem aumentando. Informações como essas é de sumaimportância para que haja uma melhora no comportamento do autista, e junto com a melhora do comportamento, comoconsequência uma qualidade de vida melhor. Há necessidade de um estudo sistemático e detalhado para que possa ocorrer umamelhora por completo e que venha chegar nos resultados desejados.
ReferênciasANJOS, D, C. Relação entre o Estado Nutricional e o comportamento Alimentar de crianças Autistas. Fortaleza(CE) DeVry Brasil - Damásio - Ibmec, 2019. Disponível em:NUTRICIONAL-E-O-COMPORTAMENTO-ALIMENTAR-DE-CRIANCAS-AUTISTAS>. CAETANO, V, M; GURGEL. C.D. Perfil nutricional de crianças portadoras do transtorno do Espectro Autista. Revista Brasileirade Nutrição da Saúde, 31(1) 1-11. Fortaleza 2018.CARVALHO, J, A, et al. Nutrição e autismo: considerações sobre a alimentação do autista. Revista cientifica do InstitutoTocantinense Presidente Antônio Carlos-, v.5, n.1, 2012. MARCELINO, Claudia. Autismo Esperança pela Nutrição. -M. Books do Brasil Editora Ltda, São Paulo, SP 2018.
A IMPORTANCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E A DIFERENÇA NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇASCOM INTRODUÇÃO ALIMENTAR PRECOCE
1GLEICE NAIARA DE BRITO BORTOLUZZI, 2BEATRIZ DE OLIVEIRA FIAUX, 3LIDIANE NUNES BARBOSA
1Acadêmica do Curso de Nutrição da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Nutricao da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: Sabe-se que crianças são biologicamente mais vulneráveis a deficiências e a distúrbios nutricionais, pelo fato deserem totalmente dependentes de outras pessoas, por isso, a preocupação da Organização Mundial de Saúde é orientar asgestantes e lactantes da importância do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de idade da criança. O aleitamento maternocontribui para que os bebês em seus primeiros dias de vida desenvolvam um sistema imunológico que refletirá em sua idadeadulta, além de evitar eventuais óbitos dias após o nascimento. Dessa forma, revela-se a importância das orientações queincentivam as lactantes e futuras mães a amamentarem adequadamente seus filhos (OMS e UNICEF, 2018).Objetivo: Mostrar os benefícios do aleitamento exclusivo materno em crianças de zero a seis meses de vida, e os riscos queuma introdução alimentar precoce podem causar no desenvolvimento da criança.Desenvolvimento: O leite da lactante é ideal em quantidade e qualidade no que se diz respeito aos seus nutrientes, ele seadapta as necessidades do neonato. O leite materno passa por fases, o primeiro leite produzido pela lactante e que se inicia aprimeira amamentação da vida da criança é o colostro, ele é um leite com pouca excreção, porém rico em proteína, potássio,vitamina E, A e K, rico em anticorpos naturais que ajuda a criança a desenvolver células de defesa e um sistema imunológico,fazendo com que diminua a chance de infecções, algumas possíveis doenças bacterianas e o óbito, os leites que vemposteriormente ao colostro é o Leite de Transição que é rico em gorduras e lactose, porém com menos proteínas e pré-bióticos epor último o Leite Maduro que é produzido com aproximadamente 15 dias após o parto, ele contém todos os nutrientes que obebe necessita proteínas, lipídios, carboidratos, vitamina A e C, minerais como ferro, cálcio e zinco para que assim haja umdesenvolvimento adequado, o leite materno tem todos os requisitos para alimentar e nutrir o bebe até seu sexto mês de vida(SANTOS, 2017). Uma pesquisa feita pelas organizações (Pubmed, Cochrane, National Guideline Clearinghouse, Base de DadosTrip, OMS) tiveram resultados significativos a respeito das diferenças no desenvolvimento imunológico de crianças comaleitamento materno exclusivo e crianças com introdução alimentar precoce. As crianças que tiveram o aleitamento maternoexclusivo até o sexto mês de vida apresentaram maiores efeitos protetores para infecções gastrointestinais (64%), infecções naorelha média (23-50%), infecções respiratórias graves (73%), para leucemia linfocítica aguda (19%) e síndrome da morte súbitaem lactentes (36%). Também existem benefícios a longo prazo, como diminuição no risco de obesidade (7-24%) e outros fatoresde risco cardiovascular na idade adulta. Além de tudo a mãe também tem mais benefícios além do vínculo que é criado, elaadquire um efeito protetor para câncer de mama, ovário e diabetes mellitus tipo 2. (AGUIAR, 2011). Porém ainda que existamuitas orientações a gestante após o parto de seu filho, algumas vezes elas não são instruídas adequadamente como se deveofertar o seio para a criança, a pega do mamilo correta, para que não haja dor ou que possa prejudicar na ejeção do leite(REA, 2003) outro erro que pode ser observado é a falta de paciência em algumas mães e a falta de suporte de seus médicospediatras, na orientação da duração das mamadas, que podem levar de 20 a 40 minutos cada e que no meio das mamadaspondere-se a troca do seio ofertado para que a mãe não venha a sentir dores ou que possa levar o bebê a se sentir irritado(MONTE e GIUGLIANI, 2004). O aleitamento exclusivo tem uma grade de benefícios como o crescimento e desenvolvimentomotor e psicológico, fortalecimento na musculatura facial pelo movimento de sucção, atende todas as necessidades nutricionaisda criança e aumenta o vínculo entre mãe-filho, crianças que são amamentadas adequadamente tendem a ter uma aceitaçãomaior na introdução alimentar, pois por meio do aleitamento a criança tem contato com sabores e aromas que mudam de acordocom a alimentação da mãe, quando for se iniciar a introdução alimentar a uma criança o ideal é que haja uma preparaçãoespecifica para a criança separada das demais refeições (LOPES, 2017). Na iniciação do desmame e na introdução dosalimentos precisa-se observar se a criança já tem firmamento no pescoço e se ela consegue se manter sentada com a ajuda depouco apoio, introduzir alimentos em textura de purês ou com uma consistência bem cremosa pelo fato delas não terem dentesque as ajude a triturar os alimentos, que nessas consistências elas correm menos risco de se engasgar e à aceitação por fim émaior. (MARTINS, 2014).Conclusão: Diante dos inúmeros benefícios ao bebê e a mãe, ainda assim hoje em dia se vê que muitas lactantes acabam tendoum abandono da amamentação exclusiva a seus filhos antes dos seis meses de vida, por algumas vezes terem falta dainformação correta dos benéficos ofertados ao bebe, ou por haver falta de conhecimento de quando se deve iniciar a introduçãoalimentar correta.
ReferênciasAGUIAR, Hélder. Aleitamento Materno. Revista Acta Médica Portuguesa. Portugal, v.24, n.4, p 889-896, 2011.LOPES, Wanessa Casteluber. Alimentação de crianças nos primeiros dois anos de vida. Revista Paulista de Pediatria, SãoPaulo, v.36, n.2, p164-170, Abr./Jun. 2018.MARTINS, Christine Baccarat de Godoy. Introdução de alimentos para lactentes considerados de risco ao nascimento.Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v.23, n.1, Mar. 2014.MONTE, Cristina, GIUGLIANI, Elsa. Recomendação em aleitamento materno. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v.80, n5,p131-141. 2004.ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS, UNITED NATIONS CHILDRENSʻS FUND - UNICEF. Novas orientações parapromover aleitamento materno em unidades de saúde de todo o mundo. Abr. 2018.REA, Mariana. O pediatra e a amamentação exclusiva. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v.79, n.6, p479-480. 2003.SANTOS, Rayra Pereira Burit. A importância do colostro para a saúde do recém-nascido: percepção das puérperas. Revista deEnfermagem on-line, Recife, v.11, n.9, p.3516-3522. Set. 2017.
AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOMETABÓLICO (ARC) EM ADULTOS COM OBESIDADE NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
1Geovanni Marcos de Oliveira, 2GREICE WESTPHAL, 3FERNANDO MALENTAQUI MARTINS, 4VALQUÍRIA FÉLIX ROCHAMOREIRA, 5ELAINE COSTA, 6NELSON NARDO JUNIOR
1Graduando do curso de Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)1Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação Física Associado UEM/UEL2Mestrando no Programa de Pós-graduação em Educação Física Associado UEM/UEL3Graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)4Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário Ingá (Uningá)5Docente do curso de Educação Física e da Pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá
Introdução: A obesidade é um dos maiores fatores de risco para desenvolvimento de doenças crônico não-transmissíveis(DCNTs) Hansen et al.(2007) , como diabetes mellitus, hipertensão arterial, esteatose hepática, doença coronariana, osteoartritee alguns tipos de câncer Ghroubi et al, (2016). Estudos realizados apontam que desde a infância esses dados trazem grandepreocupação, como por exemplo no estudo de Reuter et al. (2019), no qual foi encontrada uma prevalência de dislipidemia de41,9% entre crianças e adolescentes do Sul do Brasil. Frente a isso e por ser uma doença crônica com características clínicasbastante heterogêneas torna-se necessário traçar o perfil de risco cardiometabólico nessa população (REMOR et al.2019). Objetivo: Estratificar o risco cardiometabólico em adultos com diferentes graus de obesidade residentes no município deMaringá-Pr ingressantes em um Programa Multiprofissional de Tratamento da Obesidade (PMTO/NEMO/UEM). Material e métodos: O presente estudo caracteriza-se como um ensaio clínico pragmático, com duas fases, sendo a primeiradestinada à Avaliação do Risco Cardiometabólico (ARC) sendo este o foco desse estudo. A amostra foi composta por 249pessoas com sobrepeso ou obesidade, sendo 59 do sexo masculino e 190 do sexo feminino, recrutadas por divulgação públicado projeto na cidade de Maringá. Estes participantes tiveram, inicialmente, avaliados os seguintes parâmetros: (massa corporal(kg), Estatura (m), o cálculo do IMC (Kg/m2), circunferência da cintura (CC). Com isso, analisou-se a elegibilidade dos mesmospara participação no PMTO, na fase chamada de Pré-Inclusão. Aqueles com: 1. sobrepeso (IMC >25 kg/m2) e 2. obesidadeabdominal (CC > 88 para mulheres e > 102 para homens) foram considerados elegíveis passando para a primeira etapa doestudo denominada ARC. Nesta etapa foram avaliados somente os participantes com obesidade ou obesidade severa, (n=96)sendo 22 homens e 74 mulheres. Estes passaram por uma bateria de testes e medidas que incluiu: avaliação da composiçãocorporal por bioimpedância, parâmetros hemodinâmicos (FC e PA) e análise sanguínea para dosagem de glicemia, lipoproteínade alta densidade (HDL -c) e triglicérides. Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e foram exibidos pormeio de média e desvio padrão para caracterização da amostra, com nível de significância de p<0,05.Resultados: A média de idade foi 36,6±8,8 anos; o IMC de 42,5±6,7 indicando alta prevalência de obesidade severa . A médiada Circunferência da Cintura (CC) foi de 110,6±13,1(cm) (risco de complicações metabólicas substancialmente aumentado).Discussão: O perfil de risco dessa população mostrou-se muito elevado, justificando a necessidade de monitoramento periódicoe, principalmente, de um PMTO disponível no Sistema Único de Saúde. Entre os participantes dessa amostra 100%apresentaram CC acima dos pontos de corte estabelecidos pela OMS (2011). A prevalência de pré-hipertensão e hipertensão foide quase 70%. Os distúrbios do metabolismo glicídico foram observados em 46,9% dos participantes, enquanto que aprevalência de dislipidemias foi de 35,4% com baixos níveis de HDL-c e 29,2% com hipertrigliceridemia. Em um estudo realizadopor Macron et al. (2011), no qual foi avaliado a aderência e o efeito de um programa de mínimo de exercícios supervisionados emobesos que aguardavam a cirurgia bariátrica sugeriu que este pode interferir de maneira positiva nos parâmetros lipídicos,glicêmicos bem como na manutenção da pressão arterial e no IMC de indivíduos com obesidade mórbida, dado também que acirurgia bariátrica atende apenas uma pequena fração da população obesa no país (MS, 2010). Conclusão: Com este perfil de risco reforça-se a necessidade de um serviço especializado voltado à essa população quecontinua a aumentar por falta de políticas públicas efetivas na prevenção e no tratamento da obesidade e das doençasassociadas. A persistir esse cenário, o Brasil terá, muito em breve um enorme desafio no campo da saúde pública que afetará aeconomia e a produtividade do país, razões pelas quais esse problema não pode mais ser negligenciado.
ReferênciasBRASIL. Sistema de informaçoes hospitalares do SUS (SIH/SUS). Ministério da Saúde. Disponível em: . Acesso em: 30 Ago de2019.
HASKELL, William L; I-MIN, Lee; RUSSELL R, Pate; KENNETH E, Powell; STEVEN N, Blair; BARRY A. Franklin; CAROLINEA.Macera; GREGORY W. Heath; PAUL D, Thompson; BAUMAN, Adrian. Physical Activity and Public Heath: UpdateRecommendation for adults from the American College of Sports Medicine and THE American Heart Association. University ofSouth Carolina Scholar Commons, v 116, n. 9 2007. Disponível em: https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1117&context=sph_physical_activity_public_health_facpub. Acesso em 30 ago. 2019.HANSEN Dominique, DENDALE Paul, BERGER Jan, LOON Luc J.C. van. Meeusen R.The effects of exercise training on fat-mass loss in obese patients during energy intake restriction. Sports Med 2007; 37: 31 46.GHROUBI Sameh, KOSSEMTINI Wassia, MAHERSI Sawssan, ELLEUCH Wafa, CHAABENE Mokhtar, ELLEUCH Mohamed. H.Contribution of isokinetic muscle strengthening in the rehabilitation of obese subjects. Annals of Physical and RehabilitationMedicine. 2016. v 59. 87 93.REMOR, Jane Maria ; LOPES, Wendell Arthur ; LOCATELI, João Carlos ; OLIVEIRA, Ronano Pereira ; SIMÕES,Caroline Ferraz ; BARRERO, Carlos Andrés Lopera ; NARDO JR, Nelson . Prevalence of metabolically healthy obese phenotypeand associated factors in South American overweight adolescents: A cross-sectional study. NUTRITION, v. 60, p. 19-24, 2019.WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Waist circumference and waist-hip ratio: reportof a WHO expert consultation,Geneva, 8-11 December 2011.
UTILIZAÇÃO DAS LIMAS XP-ENDO FINISHER E A IRRIGAÇÃO ULTRASSÔNICA PASSIVA NA REMOÇÃO DE HIDRÓXIDODE CÁLCIO EM DENTES COM REABSORÇÃO RADICULAR INTERNA - ESTUDO DE REVISÃO
1BEATRIZ AYUMI SHIOTANI, 2CAMILA SESTITO FRANCISCATO, 3GABRIEL MACIEL DA SILVA, 4JULIA NICOLETTI LEITE,5TAIS NUNES LOPES DA SILVA, 6SERGIO HENRIQUE STAUT BRUNINI
1Acadêmico do Curso de Odontologia da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: A reabsorção radicular interna representa um processo patológico de ocorrência relativamente rara, na qual seobserva reabsorção da face interna da cavidade pulpar. Embora sua etiologia seja desconhecida, o traumatismo sempre é oprincipal fator causal (PORTO et al., 2018). Entre os mecanismos que podem desencadear uma reabsorção interna está a mortedos odontoblastos e manutenção da vitalidade pulpar (PORTO et al., 2018; CONSOLARO, 2013). Atualmente o Hidróxido decálcio é muito usado como medicamento intracanal devido a sua ação antimicrobiana e indutor de mineralização, no qual hádissociação química em íons de cálcio e hidroxila estimulando a mineralização e a elevação do pH (ZAND et al., 2017). ARemoção do hidróxido de cálcio normalmente envolve vários tipos de irrigantes juntamente com a instrumentação com limasendodônticas, porém as cavidades de reabsorção podem ser inacessíveis as instrumentações e irrigantes convencionais, ediferentes técnicas têm sido propostas para melhorar a capacidade de remover do hidróxido de cálcio de regiões mecanicamenteinacessíveis dos canais radiculares com reabsorção interna (KÜÇÜKKAYA et al., 2017). Dentre várias técnicas, são empregadasas limas XP-Endo Finisher e a irrigação ultrassônica passiva para melhor acesso e remoção do hidróxido de cálcio do interior docanal radicular. Objetivo: Discutir o emprego de novos instrumentais utilizados na remoção de medicamentos intracanal em dentes comreabsorção internaDesenvolvimento: Quando a reabsorção interna é detectada precocemente, o tratamento geralmente é bem-sucedido e oprognóstico a longo prazo é bom (TOPÇUOĞLU et al., 2015; GABOR et al., 2012). O principal objetivo do tratamentoendodôntico é a eliminação dos microorganismos presentes no sistema de canais radiculares, através da limpeza e desinfecçãoquímica e mecânica dos mesmos, e posterior obturação com um material inerte (QUINTO et al., 2016). O medicamento intracanalque tem sido mais utilizado é o hidróxido de cálcio, devido a sua ampla finalidade como estimular a apicificação, repararperfurações, e prevenir reabsorções radiculares interna e externa, interrompendo o processo inflamatório, aumentando o pH dolocal e estimulando a mineralização (ZAND et al., 2017). Durante o tratamento das reabsorções radiculares internas, airregularidade da cavidade cria desafios para a limpeza e obturação eficazes do espaço pulpar, desta forma, vários instrumentose técnicas de ativação de irrigação foram desenvolvidos para remover hidróxido de cálcio do sistema de canais radiculares. Écomum para a remoção do hidróxido de cálcio o uso do hipoclorito de sódio e instrumentação com uma lima endodôntica(TOPÇUOĞLU et al., 2015; LAMBRIANIDIS et al., 2006). Alguns desses instrumentos utilizados são as limas XP-Endo Finisher,limas rotatória de NiTi, usadas após o preparo biomecânico, como uma etapa final no protocolo de desinfecção, promovendo aagitação da solução irrigadora, aumentando seu poder de limpeza devido a sua expansividade ao entrar em contato com atemperatura intracanal e sua flexibilidade díspar, removendo debris e microrganismos nas regiões onde não foi possível sertocado pelo instrumento usual (GALVANI, 2018). Já a irrigação ultrassônica passiva tem sido descrita como um excelente auxiliarno processo de limpeza final de canais radiculares, aumentando a eficiência de soluções irrigantes na remoção de debris,microrganismos e smear layer, melhorando a efetividade da limpeza do canal, favorecendo áreas que não foram limpasmecanicamente como é o caso das reabsorções radiculares internas. De acordo com Vivan et. al. (2016) a forma mais adequadade emprego dos insertos de ultrassom para a limpeza de áreas de anatomias complexas do canal radicular é de maneiradinâmica na qual a ponta ultrassônica é agitada no sentido do ápice para a coroa. Essas características de projeto combinadasgeram dois mecanismos de ação, ou seja, a conhecida agitação de soluções, dispersa forças dentro do canal, e contato diretocom as paredes da raiz que permite o arrasto mecânico dos detritos e biofilmes aderidos (PRADO et al., 2017).Conclusão: Concluímos que os materiais utilizados na prática endodôntica estão sendo modificados para melhorar tanto otratamento quanto a eficácia do mesmo, tendo em vista que o sucesso em casos de reabsorção radicular interna é de altacomplexidade.
ReferênciasCONSOLARO, Alberto. The four mechanisms of dental resorption initiation. Dental press journal of orthodontics, v. 18, n. 3, p.7-9, May, 2013.GABOR, Cornel et al. Prevalence of internal inflammatory root resorption. Journal of endodontics, v. 38, n. 1, p. 24-27,Jan,2012.GALVANI, Lucas David. Efeito da agitação mecânica do hipoclorito de sódio sobre a interface de adesão do cimentoendodôntico na dentina radicular. Dissertação (Mestrado em Odontologia) Faculdade de Odontologia de Araraquara daUniversidade Estadual Paulista, Araraquara, 2018.KÜÇÜKKAYA EREN, Selen; AKSEL, Hacer; PARASHOS, Peter. A novel model for testing the efficiency of removal of calciumhydroxide from complex root canal anatomies. Aust Endo J, v. 43, n. 1, p. 5-10, April, 2017.LAMBRIANIDIS, T. et al. Removal efficacy of various calcium hydroxide/chlorhexidine medicaments from the rootcanal. International Endodontic Journal, v. 39, n. 1, p. 55-61, Jan, 2006.PORTO, ELIANE LOPES; BARBOSA, JOSÉ FELINTO. REABSORÇÃO DENTÁRIA: REVISÃO DE LITERATURA. REVISTAUNINGÁ REVIEW, v. 24, n. 2, Jan, 2018.PRADO, Marina Carvalho et al. EFFECTIVENESS OF A PLASTIC ENDODONTIC FILE TO REMOVE SMEAR LAYER INROTARY OR RECIPROCATING MOTION. International Journal of Clinical Dentistry, v. 10, n. 3, Dec, 2017.QUINTO, Inês Filipa Santos. Influência da lima XP-endo Finisher na remoção de resíduos e consequente selagem daobturação dos canais. 2016. Dissertação de Mestrado.TOPÇUOĞLU, H. S. et al. Efficacy of different irrigation techniques in the removal of calcium hydroxide from a simulated internalroot resorption cavity. Int endo J, v. 48, n. 4, p. 309-316, April, 2015.VIVAN, Rodrigo Ricci; DUQUE, Jussaro Alves; ALCALDE, Murilo Priori; SÓ, Marcus Vinicius Reis; BRAMANTE, Clóvis Monteiro;HUNGARO DUARTE, Marco Antonio. Evaluation of Different Passive Ultrasonic Irrigation Protocols on the Removal of DentinalDebris from Artificial Grooves. Braz Dent J., v. 27, n. 5, p. 568-72, Sep./Oct. 2016ZAND, Vahid et al. Comparison of the Penetration Depth of Conventional and Nano-Particle Calcium Hydroxide into DentinalTubules. Iran Endo J, v. 12, n. 3, p. 366, 2017.
PERFIL CARDIORRESPIRATÓRIO EM POLICIAIS MILITARES POR MEIO DE ANÁLISE VENTILATÓRIA
1VITOR HUGO RAMOS MACHADO, 2ALCIR GUSTAVO BRESSIANINI, 3WILSON RINALDI, 4RENAN AUGUSTO VENDRAMEDA SILVA, 5JOSIMAR TOLEDO RIBAS , 6CLAUDINEI DOS SANTOS
1Docente da Unipar1Profissional de Educação Física2Docente da UEM3Discente de Educação Física, PÌC/UNIPAR4Discente de Fisiologia do Exercício, PÓS/UNIPAR5Profissional de Educação Física
Introdução: Os policiais militares (PMS) são responsáveis por promover a segurança e integridade da população e do patrimôniopúblico. Tal responsabilidade expõe os PMS a situações onde se exige muito de suas aptidões físicas, além de empregarjornadas de trabalho excessivas (MINAYO; SOUZA; CONSTANTINO, 2008). O sedentarismo e a obesidade podem interferir nocondicionamento cardiorrespiratório, pois pode acarretar em doenças coronarianas (MCARDLE; KATCH; KATCH, 2016). Powerse Howley (2014) afirmam que a regularidade na prática de exercícios previne Doenças Crônicas Não Transmissíveis, além demelhorar o condicionamento físico e funcional. Sendo assim, a prática regular e controlada de exercícios físicos é muitoimportante no âmbito policial.Objetivo: Traçar o perfil cardiorrespiratório por meio da ventilometria e identificar as variáveis que podem interferir no limiarventilatório.Metodologia: Este estudo foi realizado através de uma pesquisa de campo, abordagem quantitativa e delineamento transversal,realizada em 35 Policiais Militares pertencentes à 5ª Companhia Independente da Polícia Militar do Paraná, localizada na cidadede Cianorte-Pr. O critério para seleção da amostra foi que todos deveriam participar do Projeto de Pesquisa da Unipar voltado aoaprimoramento da aptidão física. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Paranaense(Unipar), parecer número 2.441.654 e todos os indivíduos assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. Os sujeitosforam submetidos a testes de esforço físico em esteira no Laboratório de Educação Física da Unipar, Unidade Cianorte. Todas asvariáveis foram descritas e seus valores foram expressos em média, desvio padrão, mínimo e máximo.Resultados: Os PMS do sexo masculino superaram a média das mulheres em, Frequência do Limiar (FClim) e LimiarVentilatório (LV). Já as policiais obtiveram média maior na FCrep e Frequência Cardíaca Máxima do Teste (FCmt). Ambos ossexos tiveram média similar em VO2 do Limiar (VO2lim), VO2 Máximo do Teste (VO2mt) e Velocidade de obtenção do limiar(Veloc). O LV determinado nos testes apresentou correlação somente com algumas variáveis. A Frequência cardíaca de repouso(FCrep) apresentou resultado mais significativo, onde verificou-se uma correlação negativa, indicando que os Indivíduos melhorcondicionados possuem baixa RCrep e alto valor de LV. Por fim, os dados do presente estudo revelam que a variável com maiorrelação com o LV é a FCrep, apresentando uma correlação negativa, que indica o nível de condicionamento físico dos policiais.Discussão: Para que o sistema cardiovascular seja bem condicionado é necessário que o débito cardíaco seja alto. Isso podeser influenciado tanto pela genética quanto pelo treinamento. Com esse sistema bem condicionado, o Vo2máx. automaticamenteserá elevado e, consequentemente o LV também (POWERS; HOWLEY, 2014). Todas estas adaptações afetam também a FC,por ocorrerem regulações da mesma durante a prática de exercícios. Como a FC é controlada pelo sistema nervoso autonômico(SNA), ocorre um equilíbrio entre o sistema simpático e parassimpático. Estes sistemas são ativados por diversos fatores e osmesmos transmitem sinais que podem aumentar (simpático) ou diminuir (parassimpático) a FC. (MCARDLE; KATCH; KATCH,2016). Estudos de Cardoso et al.(2016) e Hsia et al.(2009) indicam que a bradicardia de repouso está diretamente relacionada aoexercício aeróbio e tal adaptação é um forte indicativo de saúde. O baixo valor da FCrep se dá justamente pelo fato de o sistemacardiorrespiratório estar mais eficiente na absorção e utilização de oxigênio. Isso indica que, após tal adaptação esta frequênciamais baixa consegue suprir o organismo com uma quantidade de O2 que só era possível à uma frequência mais elevadaanteriormente (POWERS; HOWLEY, 2014). O fato de as mulheres apresentarem valores mais altos de FCrep, ou até mesmouma maior modulação vagal e menor simpática não significa que elas estejam pior condicionadas, em comparação com oshomens. Fatores hormonais, como nível elevado de estrogênio ou a falta de tal hormônio pós menopausa podem explicar essesfenômenos (NEVES et al., 2006). Conclusão: Pode-se concluir que a variável que mais influência no LV é a FCrep. É possíveldeterminar o quão bem condicionado um policial se encontra analisando as variáveis em questão, pois quanto menor for a FCrepdo mesmo e maior seu LV, melhor condicionado ele se encontra.
ReferênciasCARDOSO, A. C. et al. Variabilidade da frequência cardíaca de indivíduos saudáveis e ciclistas em repouso e durante o exercíciofísico. Coleção Pesquisa em Educação Física. Várzea Paulista, v.15, n.4, p.181-188 set./out. 2016.HSIA, J. et al. Resting Heart Rate as a Low Tech Predictor of Coronary Events in Women: Prospective Cohort Study. BMJ, fev.2009.MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do Exercício: Nutrição Energia e Desempenho Humano. 8. ed. Riode Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.MINAYO, M. C. S. et al. Missão prevenir e proteger: Condições de vida, trabalho e saúde dos policiais militares do Rio deJaneiro. Rio de Janeiro: FIOCRUZ. 2008. 328 p.NEVES, V. F. C. et al. Análise dos índices espectrais da variabilidade da frequência cardíaca em homens de meia idade emulheres na pós-menopausa. Revista Brasileira de Fisioterapia, v. 10, n. 4, p. 401-406, out./dez. 2006.POWERS, S. K., HOWLEY, E. T. Fisiologia do exercício: Teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho. 8. ed.Barueri: Manole, 2014.
BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO RESISTIDO PARA IDOSO
1TIAGO APARECIDO AZARIAS DA SILVA, 2LETICIA DE OLIVEIRA BATISTA, 3ALISSON FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS,4RAFAEL OLIVEIRA BORGES
1Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: O treinamento resistido é conhecido como treinamento de força, treinamento com cargas, treinamento com pesos emusculação. Esse tipo de exercício se caracteriza pelo aumento da força e massa muscular (MUNN et al., 2012). Nessaperspectiva, durante o processo de envelhecimento ocorre um declínio de diversas funções orgânicas, sobretudo, a força e amassa muscular (SILVA, et al., 2006) Sendo assim, a intervenção com exercício em sujeitos idosos poderia atenuar a perda daforça e massa muscular melhorando a mobilidade de sujeitos idosos.Objetivo: Analisar os benefícios do exercício resistidos em sujeitos idosos.Desenvolvimento: O envelhecimento é um fenômeno que se destaca de maneiras, modos e momentos diferenciado, é umprocesso que não ocorre simultaneamente com a idade cronológica, uma vez que cada indivíduo tem sua própria genética; bemcomo sofre influências ligadas à fatores externos, como os hábitos e comportamentos diários na vida. (BARBANTI, 2002).Estudos mostram aumento na prevalência de incapacidade e dependência em idosos decorrentes da perda da força e massamuscular, tornando-os mais vulneráveis a quedas, fraturas, hospitalização e mortalidade (SILVA et al., 2006). Um treinamentoresistido planejado adequadamente pode resultar em aumentos na massa muscular, na hipertrofia das fibras musculares, nadensidade óssea e no aumento da força no sujeito idoso (BROOKS, 2008; FLECK; KRAEMER,1999). Em um estudodesenvolvido por Ades et al. (1996) apontou melhora significativas na força do quadríceps após intervenção com exercícioresistido. A força muscular é um fator importante e decisivo em programas de exercícios físicos, ressaltando que os benefíciosgerados por esse tipo de treinamento dependem da combinação do número de repetições, séries, sobrecarga, intervalos entre asséries e os exercícios. Em outro estudo desenvolvido por Fiatarone (1994) em sujeitos muito idosos ~87 anos, verificou aumentode ~125% da força após um programa de 10 semanas de exercício de força associado a suplementação, além disso foiobservado melhoras na marcha, velocidade e execução de movimentos espontâneos, diante disso, fica evidente a influenciapositiva da prática de exercício resistido sobre a melhora da mobilidade do idoso.Conclusão: Diante do presente estudo, verifica-se que a inclusão do exercício resistido no cotidiano da pessoa idosa podepreservar a força e massa muscular, reduzindo as ocorrências de queda, fraturas, incapacidades e mortalidade. Além disso,evidências apontam que poucas semanas de treinamento resistidos podem aumentar de forma significativa a força do idoso,melhorando a mobilidade, autoestima e independência.
ReferênciasADES, P. A; BALLOR, D.L; ASHIKAGA, T; UTTON, J. L; NAIR, K. S: Weight training improves walking endurance in healthyelderly persons. Ann Int Med n.124, p.568-72, 1996. BARBANTI, V. J; AMADIO, A. C.; BENTO, J. O; MARQUES, A. T. Esporte eatividade física: interação entre rendimento e qualidade de vida. 1. Ed. Barueri, SP: Manole,2002. BROOKS, D. S. O livrocompleto para o treinamento personalizado. São Paulo: Phorte, 2008. FARINATTI, Paulo de Tarso Veras. Envelhecimento,promoção da saúde e exercício: bases teóricas e metodológicas. Volume 1. Barueri, SP: Manole, 2008. FIATARONE, M. A;OʼNEILL, E. F; RYAN, N. D: Exercise training and nutritional supplementation for physical frailty in very elderly people. N Engl JMed n.330, p.1769-75, 1994. FLECK, S.J. FIGUEIRA JUNIOR, A.Treinamento de força para fitness e saúde. São Paulo:Phorte,2003. FLECK, S. J; KRAEMER, W. J. Fundamentos do treinamento de força muscular. 2ed.PortoAlegre:Artmed,1999.MUNN, J; HERBERT, R. D; HANCOCK, M. J; GANDEVIA, S. C. Resistance training for strength: effect of number of sets andcontraction speed. Med. Sci. Sport. Exerci.v 37. n.9, 2006. SILVA, T. A. A; FRIZOLI JUNIOR, A; PINHEIRO, M. M; SZEJNFELD,V. L. Sarcopenia associada ao envelhecimento: aspectos etiológicos e opções terapêuticas. Rev Bras Reumatol,v. 46, n.6, p.391-397, 2006.
CARACTERISTICA DA DIETA VEGANA/VEGETARIANA
1LARISSA SPERANDIO COUTINHO, 2PRISCILA DA SILVA GARCIA, 3SUELLEN LAIS VICENTINO VIEIRA
1Acadêmica do Curso de Nutrição - UNIPAR- Umuarama1Acadêmica do Curso de Nutricao - UNIPAR - Umuarama2Docente da UNIPAR
Introdução: O estilo de vida vegano é um movimento que tem ganhado cada vez mais adeptos devido o seu método de vida,ética, saúde, meio ambiente, questões familiares, espirituais e religiosos além de filosofia de vida (LIMA; MENEZES; MENEZES,2017). Vegetarianismo é um regime alimentar baseado unicamente na ingestão de vegetais, ou seja, consiste na eliminação doconsumo de todo e qualquer tipo de carne, de origem bovina, suína, de frango, de peixes, de frutos do mar, podendo ou nãoutilizar laticínios ou ovos, enquanto que os veganos são aqueles que não consomem quaisquer alimentos, bem como, produtos(roupas, sapatos, entre outros), sejam de origem animal ou ainda utilizem animais para o processo de produção (LIMA;MENEZES; MENEZES, 2017).Objetivo: Realizar uma revisão sobre dietas veganas e vegetarianas.Desenvolvimento: A dieta vegana pode estar se tornando mais visível, devido à proliferação das mídias sociais como meio decompartilhar experiências e discutir opiniões. Promovido por alguns por supostos benefícios para a saúde, como a redução dorisco de doença cardíaca, menor colesterol-LDL, pressão arterial, diabetes tipo II e câncer. O aumento da visibilidade e acapacidade dos concorrentes veganos de alto nível pode sugerir que o veganismo poderia estar se tornando mais atraente paraalguns, especialmente se os atletas mais bem-sucedidos adotarem e divulgarem seus estilos de vida veganos (ROGERSON,2017). Porém, estas dietas são muito pobres em ingestão de ferro, pois, o ferro não heme que é o de origem vegetal é menosdisponível do que o ferro heme que é o de origem animal, e os legumes são conhecidos por conter várias substâncias quereduzem a disponibilidade deste mineral. Entretanto, está presente nos vegetais a vitamina C, que aumenta a absorção de ferro,o que pode a ajudar a prevenir a deficiência deste mineral no organismo. Uma pesquisa verificou que a ingestão de proteínasentre 12% a 13,8% do Valor Calórico Total (VCT) em ovolactovegetarianos e vegetarianos estritos, enquanto que em pessoasonívora os valores encontravam-se entre 14,8% a 16,3% do VCT. Como a elaboração de um cardápio saudável inclui proteínasna quantidade de 10 a 15% do VCT, nos estudos populacionais a dieta vegetariana tende a ser mais apropriada do que a onívorapara manter as proporções das doses diárias recomendadas (NORONHA, et al. 2017). A aderência a estilos de dietasdiferenciadas como os vegetarianos e veganos apresentam benefícios, porém para que as quantidades nutricionais de cadacomponentes de uma dieta adequada sejam atingidos, é importante o acompanhamento de uma profissional nutricionista, para aadequação da dieta ao novo estilo alimentar e também a rotina de vida do indivíduo.Conclusão: Novos estilos de vida estão sendo aderidos nos últimos temos no intuito de melhorar a qualidade de vida. O veganismo eo vegetarianismo, são dois movimentos alimentares que apresentam um constante aumento de adeptos. Ovegetarianismo são indivíduos que não consomem carnes, porém alimentos de origem animal como ovos e leites são ingeridos.Já os veganos consomem, nem mesmo utilizam quaisquer alimentos ou produtos que seja de origem animal. Pesquisas vemmostrando os benefícios destes tipos de dietas, porém devidos as restrições o acompanhamento por um nutricionista é primordialpara garantir a ingestão das quantidades de nutrientes adequadas para uma dieta.
Referências LIMA, S. C. F., MENEZES B. B., MENEZES B. B. Avaliação do conhecimento de alimentar e nutricional de vegetarianos.Fundação Universidade Federal Mato Grosso do Sul, Anais da x mostra cientifica famez I UFMS, Campo Grande, 2017.ROGERSON, D. Vegan diets: practical advice for athletes exercisers. Journal of the international society of sprots nutrition.v.13, p. 14-36, 2017. NORONHA, T. B. et. al. Avaliação qualitativa de nutrientes na alimentação vegetariana. Revista UNINGÁ review, v..29, n. 1, p.222- 226, 2017.
NOTIFICAÇÃO DE ÓBITOS POR SEPTICEMIA BACTERIANA EM RECÉM NASCIDOS NO PARANÁ DE 2006 A 2016 -ESTUDO DE REVISÃO
1VICTOR HUGO ONO SAKUMA DOLCI DOS SANTOS, 2BERNARDO MUNHOZ LIMA, 3ISABELA TONON LAINO, 4ANA MARIAMIYAWAKI PAULINO, 5IRINEIA PAULINA BARETTA, 6ELENIZA DE VICTOR ADAMOWSKI CHIQUETTI
1Acadêmico do Curso de Medicina da Unipar1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: De acordo com Pires; Almeida (2016), septicemia bacteriana é uma síndrome caracterizada por consequênciasmetabólicas e hemodinâmicas oriundas de infecção sistêmica grave. Provém de sucessivas implicações orgânicasdesencadeadas pelo desequilíbrio imuno-endócrino-metabólico, o que acarreta falência de sistemas e órgãos. Em se tratando decrianças menores de um ano, elas constituem uma população vulnerável com elevada proporção e risco de hospitalização porsepse neonatal. Objetivo: Analisar o número de óbitos causados por septicemia bacteriana em recém nascidos no Paraná, compreendido noperíodo de 2006 a 2016 notificados no DATASUS.Desenvolvimento: A septicemia bacteriana em recém-nascidos pode apresentar divisões, sendo elas: sepse precoce e sepsetardia. A primeira ocorre 85% dos casos e segundo Guedes; et al (2013) caracteriza-se por manifestar-se nas primeiras 48 horasde vida com fator de risco materno para infecção. Sua situação evolui vigorosamente para a septicemia tardia (após 48h de vida),vinculada diretamente com os fatores gestacionais e/ ou periparto (trabalho de parto em gestação menor que 35 semanas),cerclagem, procedimentos de medicina fetal nas últimas 72 horas e bolsa rota há mais de 18 horas. Estas (sepse precoce esepse tardia), sendo causadas por microorganismos do trato genital materno, de origem hospitalar e outros fatores de riscosambientais que podem indicar falha na atenção à saúde, uma vez que, poderiam ser evitadas com os procedimentos dehigienização adequados. Esses óbitos podem ser considerados eventos sentinelas da qualidade da assistência à saúde, servindode base para o monitoramento e avaliação dos serviços de saúde, bem como a realização de análises de tendências temporaise a comparação de indicadores entre as regiões; além disso, auxilia a planejar medidas para sua redução (NASCIMENTO; et al.2014). Grande parte dos recém nascidos com sepse neonatal precoce evoluem muitas vezes de forma fulminante,comprometendo múltiplos sistemas (SILVEIRA; PROCIANOY 2012). Segundo Stoll; et al (2012), os microrganismos hospitalaressão os principais agentes; bactérias Gram-negativas, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativo e os fungos.microbiologia da sepse neonatal e patógenos responsáveis difere entre países desenvolvidos e em desenvolvimento,observando-se ainda, uma mudança dos patógenos causadores. O Estado do Paraná contempla 4 macrorregiões de Saúde(Leste, Norte, Oeste e Noroeste). Entre os anos de 2006 a 2016, foram notificados (DATASUS) 880 óbitos de recém nascidos porsepticemia bacteriana, sendo que, 55% foram do sexo masculino e 45% do sexo feminino. Destarte, o peso compreendido entre500 a 999g dos recém nascidos, foi o que apresentou o maior número de casos notificados. Na região Leste, houveram osmaiores índices de mortalidade nos 11 anos de duração da pesquisa elencada, representando cerca de 57% do total de óbitos. Aregião Noroeste, por outro lado, manifestou apenas 10% do montante de falecimentos pela sepse neonatal. Por conseguinte, emrelação ao Estado do Paraná, foi no ano de 2006 em que ocorreram o maior número de mortes (96) o que representa mais dasomatória de incidentes sépticos em lactentes no período compreendido da pesquisa na macrorregião de saúde do Noroeste, 94casos. Em contrapartida, foi no ano de 2016 em que, no Estado do Paraná, ocorreram os menores números de óbitos maisprecisamente 65 parecimentos. A partir de 2006, foi observado que o número de óbitos decresceu em sequência linear até o anode 2010, sendo que, o patamar de desenvolvimento dos casos teve seu disparador 2 anos subsequentes, com um aumentoarrítmico e não constante dos casos averiguados antes e depois de 2012, de forma que, no fim do estudo realizado, houve amenor taxa observada dos números de morte em neonatos por septicemia bacteriana. Acerca das possíveis causas para essadoença destaca-se a infecção materna por estreptococos do tipo B (EGB). No Brasil, sabe-se que essa enfermidade atinge de0.14 por 1.000 nascidos vivos com uma taxa de letalidade de 30%, dados presentes no (EGB). A sepse tardia está vinculada afatores pós-natais, sendo comumente devido a múltiplos procedimentos invasivos na UTI e a prematuridade. Alguns exemplosdessa contaminação está o uso do tubo endotraqueal, punções venosas, nutrição parenteral, além da transmissão horizontal pormeio das mãos dos cuidadores e da equipe de assistência ( SILVEIRA; PROCIANOY, 2012).
Conclusão: Entre os recém nascidos (2006 à 2016) no Paraná, com notificação de óbitos por septicemia bacteriana observou-seque a região leste sobressaiu à quantidade de óbitos totais dentre as 4 macrorregiões, em contrapartida que, na região Nordeste,foram evidenciados as menores fichas técnicas ante aos falecimentos perinatais. Além disso, os dados expostos pelo DATASUSindicam que o peso compreendido entre 500g e 999g ficaram entre os maiores patamares de aferição dos casos,e por fim, ogênero masculino levemente se sobressaiu no número de mortes em neonatos por sepse bacteriana, frente ao gênero feminino.
ReferênciasGUEDES, A. L. L., et al. Sepse Neonatal. Diretrizes Clínicas. Protocolos Clínicos. NASCIMENTO, S. G.; et al. Mortalidade infantil por causas evitáveis em uma cidade do Nordeste do Brasil RevistaBrasileira de Enfermagem, v. 67, n. 2, marzo-abril, 2014, pp. 208-212 Associação Brasileira de Enfermagem Brasília,Brasil.PIRES, S. A.; ALMEIDA, N. M. S.; Mortalidade por septicemia bacteriana um estudo descritivo no período perinatal, v. 5i1946, 2016.SILVEIRA, R. C.; PROCIANOY, R. S. Uma Revisão atual sobre sepse neonatal. Boletim Científico de Pediatria - v. 1, n. 1,2012.STOLL, B. J.; HANSEN, N.; et al. Late-onset sepsis in very low birth weight neonates: the experience of the NICHDneonatal research network. Pediatrics. 2012;110:285-91.TRAGANTE, C. R. et al. Prevalência de sepse por bactérias Gram negativas produtoras de beta-lactamase de espectroestendido em Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal. Rev Paul Pediatr, v. 26, n. 1, p. 59-63, 2008.
INTER-RELAÇÃO ENTRE DENSIDADE ÓSSEA MINERAL E A DOENÇA DE PARKINSON PADRONIZAÇÃO DE UMMODELO DE ESTUDO
1LUANA CARDOSO DOS SANTOS, 2VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 3LUIZ FERNANDO TOMAZINHO
1Acadêmico Bolsista, PEBIC/ CNPq 1Docente da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: A doença de Parkinson (DPark) é uma desordem neurodegenerativa (CICCIU et al., 2012), caracterizada pela perdaprogressiva e seletiva de neurônios dopaminérgicos na substância negra parte compacta (SNpc) (BEAL, 2001; BLUM et al.,2001; GOTO; HIRANO; MATSUMOTO, 1989; HIRSCH, E.; GRAYBIEL; AGID, 1988; YOUDIM; RIEDERER, 1997), que atingeprincipalmente indivíduos entre 40 e 65 anos (MACHADO; PIAZERA, 2017). Seus principais sintomas se caracterizam pordeficiências motoras, principalmente dos movimentos finos (SCHWARZ; HEIMHILGER; STORCH, 2006), cognitivas epsiquiátricas, como alucinações visuais e demência (MACHADO; PIAZERA, 2017), que estão relacionadas com o desequilíbriono sistema de transmissão de sinais entre os centros do alto comando motor (YOUDIM; RIEDERER, 1997, TOULOUSE;SULLIVAN, 2008). Segundo Packer (2015), a DPark apresenta alguns sinais cardinais que são chaves no diagnóstico da doença,sendo elas bradicinesia e acinesia (rigidez muscular).Portadores de DPark são vulneráveis a alterações bucais como disfagia,dificuldades de oclusão, discinesia oral, hipersialorréia e xerostomia, causadas pela disfunção autonômica e reação adversa dosmedicamentos antiparksonianos (PACKER, 2015). Também existe a dificuldade por parte dos acometidos pela DP em realizar ahigiene oral diária de maneira eficaz, devido a discinesia, o que aumenta a suscetibilidade desse grupo a desenvolverem doençaperiodontal, cáries e perda de dentes (CICIU et al, 2012; KAUR; UPPOOR; NAIK, 2016). A reabilitação oral é de extremaimportância para os pacientes parksonianos, principalmente com o uso de próteses totais, removíveis e implantes. No caso daspróteses, o seu sucesso depende do controle dos lábios, bochecha e língua por parte dos portadores de DPark, o que torna suaadaptação e manutenção na boca muitas vezes complicada (PACKER et al, 2009). O desenvolvimento de modelos de estudoanimal, utilizando abordagens genéticas e o uso de toxinas específicas, possibilitam que novas terapias sejam testadas emecanismos fisiológicos sejam conhecidos, entretanto, esses modelos sempre precisam ser aprimorados para diminuir suaslimitações e torná-los cada vez mais eficientes (BRIENZE et al, 2017; LAZZARETTI, 2011).Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar a inter-relação entre a densidade óssea mineral e a Dpark, através de ummodelo de estudo animal utilizando a indução neuroquímicamente com 6-OHDADiscussão: A doença de Parkinson (DPark) é caracterizada pela perda progressiva e seletiva de neurônios dopaminérgicos nasubstância negra parte compacta (SNpc) (BEAL, 2001; BLUM et al., 2001; GOTO; HIRANO; MATSUMOTO, 1989; HIRSCH, E.;GRAYBIEL; AGID, 1988; YOUDIM; RIEDERER, 1997).Os sintomas da DPark relatados como problemas motores, cognitivos epsiquiátricos estão relacionados com o desequilíbrio no sistema de transmissão de sinais entre os centros do alto comando motorlocalizado no córtex e nos núcleos da base (YOUDIM; RIEDERER, 1997, TOULOUSE; SULLIVAN, 2008), estes sintomas podemser controlados, mas infelizmente não alcançam a cura. Devido aos prejuízos motores, pacientes com DPark apresentamdificuldades para realizar os cuidados com a higiene oral diária, favorecendo este grupo para o desenvolvimento da doençaperiodontal, cárie dentária e perda de elementos dentais. (CICCIU et al., 2012; KAUR et al., 2015; SCHWARZ; HEIMHILGER;STORCH, 2006; ZLOTNIK et al., 2015. Essas alterações possuem como consequência uma falta de controle motor no complexocrânio facial, o que dificulta o controle da língua e dos lábios, prejudicando assim a utilização com sucesso de qualquer tipo deprótese removível tanto parcial quanto total. (YOUDIM; RIEDERER, 1997, TOULOUSE; SULLIVAN, 2008 VITRAL, 2006).Pacientes com Parkinson tendem a ter uma densidade mineral óssea (DMO) reduzida, conduzindo à osteoporose, causadaprincipalmente pela mobilidade reduzida imposta pela Dpark, fatores relacionados a idade e pela deficiência em vitamina D(RODRIGUES, 2013; PREMAOR; FURLANETTO, 2006; MARCHINI; FERRIOLLI; MORIGUTI, 1998). Modelos experimentais daDPark que reproduzem a desnervação de DA têm sido desenvolvidos para estudar a patofisiologia da doença e para analisar aeficácia de novas terapêuticas. Assim, agentes que interrompam ou destroem seletivamente o sistema catecolaminérgico, taiscomo a 6-hidroxidopamina (6-OHDA) e 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) têm sido utilizados para desenvolvermodelos da DPark (BETARBET; GREENAMYRE, 2007; KAHLE et al., 2002).A 6-hidroxidopamina (6-OHDA) é uma dasneurotoxinas mais comuns utilizadas experimentalmente em modelos de degeneração da SNpc. (BLUM et al., 2001). A 6-OHDAé incapaz de atravessar a barreira hematoencefálica, sendo necessária a administração diretamente na estrutura cerebral que sedeseja lesar. Em modelos animais de DP, 6-OHDA é administrada diretamente na SNpc ou no estriado, induzindo a degeneraçãode neurônios dopaminérgicos, produzindo características fisiopatológicas responsáveis pelos prejuízos motores observados napatologia (BLUM et al., 2001; JONSSON; HALLMAN, 1982; UNGERSTEDT et al., 1985).
Conclusão: A densidade óssea em ratos com Parkinson teve redução, visto que a porcentagem de densidade entre o osso e aescala de alumínio foi menor neste grupo quando comparado aos grupos onde não houve indução da doença através da 6-OHDA.Com isto é possível afirmar que o modelo experimental realizado em animais para estudo de densidade óssea mineralatravés da indução da DPark utilizando a substância 6-OHDA foi eficaz.
ReferênciasDOBSON, R. et al. Bone health in chronic neurological diseases: a focus on multiple sclerosis and parkisonian syndromes. Pract GERHARD, A. et al. In vivo imaging of microglial activation with [11C](R)-PK11195 PET in idiopathic Parkinsonʻsdisease. Neurobiol Dis, v. 21, n. 2, p. 404-12, Fev. 2006.GERLACH, M.; RIEDERER, P. Animal models of Parkinsonʻs disease: an empirical comparison with the phenomenology of thedisease in man. J Neural Transm (Vienna), v. 103, n. 8-9, p. 987-1041, 1996.GLINKA, Y.; GASSEN, M.; YOUDIM, M. B. Mechanism of 6-hydroxydopamine neurotoxicity. J Neural Transm Suppl, v. 50, p.55-66, 1997. LAZZARETTI, C. Fatores interferentes na indução da atividade rotacional induzida pelo teste de motricidade sobre gradeem modelo animal da doença de parkinson. 2011. 29 f. Dissertação (Mestrado em Neurociências), Universidade Federal doRio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.LI, L. et al. Acceleration of bone regeneration by activating Wnt/β-catenin signalling pathway via lithium chloride/calciumphosphate MACHADO, B. B.; PIAZERA, C. Doença de Parkinson e Odontologia: uma revisão de literatura narrativa. Ceuma Perspectivas,v. 30, p. 193-212, 2017. PRADO, F. A. et al. Defeitos ósseos em tíbias de ratos: padronização do modelo experimental. Revista de Odontologia daUniversidade Cidade de São Paulo, v. 18, n. 1, p. 7-13, ja./abr. 2006.RODRIGUES, J. A. O. Osteoporose vs. Doença de Alzheimer e Parkinson usando a Tomografia ComputorizadaQuantitativa. 2013. 145 f. Dissertação (Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica), Universidade do Minho, Braga, 2013.SANTIAGO, R. C.; VITRAL, R. W. F. Métodos de avaliação da Densidade Óssea Mineral e seu Emprego na Odontologia. PesqBras Odontoped Clin Integr, v.6, n. 3, p. 289-294, st./dez. 2006.
O EFEITO DO EXERCÍCIO AERÓBIO NO COMPORTAMENTO DA PRESSÃO ARTERIAL EM INDIVÍDUOS HIPERTENSOS
1LUCAS DUCATI DE OLIVEIRA, 2ANGELA PEREIRA PAIVA, 3AMANDA DE MELO PEREIRA, 4ISABELLY KAROLINEZANFRILLI, 5JAYME RODRIGUES DIAS JUNIOR
1Acadêmico de Curso de Educação Física da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A hipertensão arterial é uma doença multifatorial caracterizada pela elevação da pressão arterial sistêmica e temcomo principais fatores de riscos à saúde, o gênero e etnia, alta ingestão de sal, álcool e a obesidade. De acordo com asdiretrizes brasileiras de hipertensão, são considerados hipertensos indivíduos que possuem valores pressóricos de 140/90 mmhg,se não controlada pode culminar no desenvolvimento de graves comorbidades. É considerado o principal fator de risco para odesenvolvimento de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, além disso, implica na principal causa mortes emtodo o mundo, com cerca de 17 milhões no ano de 2008, sendo que 3 milhões vieram a óbito antes dos 60 anos de idade e em2030 estima-se que cerca de 23,6 milhões de pessoas morrerão por causa de doenças cardiovasculares (RADOVANOVIC et al.,2014). Nesse contexto, a prática de exercício tem sido utilizada com tratamento não farmacológico da hipertensão, proporcionadomelhor controle da doença outros inúmeros benefícios. Assim, alguns estudos mostram que uma única sessão de exercícioaeróbio pode implicar na redução dos níveis pressóricos em pacientes hipertensos (NORONHA et al., 2010).Objetivo: Verificar o efeito do exercício aeróbio no comportamento da pressão arterial em indivíduos hipertensos.Desenvolvimento: A prática de exercício aeróbio pode trazer inúmeros benefícios cardiovasculares, entre eles o controle dapressão arterial em curto e longo prazo, tendo um papel muito importante como tratamento não medicamentoso da doença, alémdisso e está relacionado com a redução de medicamentos anti-hipertensivos (MONTEIRO et al., 2004). Forjaz et al. (1998) afirmaque uma única sessão de exercício físico seria capaz de reduzir os valores pressóricos de normotensos e hipertensos quandocomparado com níveis sistólicos e diastólicos medidos no período pré-exercício. Entretanto, deve-se levar em consideração aintensidade e a duração do exercício pode influenciar da duração e na magnitude da hipotensão pós-exercício. Em um estudoconduzido por Noronha et al. (2010) Um grupo de 10 indivíduos do sexo masculino entre 45 e 65 anos, hipertensos e sedentáriosque faziam uso do tratamento medicamentoso a base de inibidor da enzima conversora de angiotensina, foram submetidos à uma sessão de caminhada de 30 minutos com intensidade moderada entre 50% a 70% da freqüência cardíaca da reserva,assim, foi observado um resultado significativa na redução da pressão arterial pós-exercicio. Além disso, um estudo conduzidopor Viecili et al. (2009) com a prática de caminhada em esteira apontou uma redução de 15 mmHg da pressão arterial sistólica e07 mmHg da pressão arterial diastólica, o que poder trazer benefícios em termos de controle da doença e prevenção decomorbidades, outra evidência interessante em relação a prática de exercícios aeróbios é o estudo de Loiola et al. (2015) ondefoi aplicado a prática de hidroginástica, após o desenvolvimento da sessão, os voluntários tiveram uma redução significativa dapressão arterial sistêmica, assim, esse tipo de exercício pode favorecer indivíduos com doenças osteoarticulares, que sãocomuns nos indivíduos idosos.Conclusão: Conclui-se que a prática de exercícios aeróbios pode ser benéfica, em relação ao tratamento não medicamentoso dahipertensão arterial, além disso, uma única sessão de exercício pode culminar um longo período de efeito hipotensor commagnitude de até 15mmHg para pressão arterial sistólica e 7 mmHg para pressão arterial diastólica, além disso, a prática dahidroginástica pode favorecer pessoas com doenças osteoarticulares e promover os mesmos benefícios em relação ao controleda pressão arterial.
ReferênciasFORJAZ, C. L. M; SANTAELLA, D. F; REZENDE, L. O; BARRETTO, A. C. P; NEGRÃO, C. E. A duração do exercício determina amagnitude e a duração da hipotensão pós-exercício. Arq Bras Cardiol, v.70, n.2, p. 99-104, 1998. LOIOLA, S. A; MOREIRA, L. L; APARECIDA, C. E; PEIXOTO, V. R; SEGHETO, W; CARMARGOS; Z. T; APARECIDA, D. L.Blood pressure in hypertensive women after aerobics and hydrogymnastics sessions. Nutri. Hosp, v.32, n.2, p.823-8, 2015.MONTEIRO, M. F; FILHO, D. C. S . Exercício físico e o controle da pressão arterial. Rev Bras Med Esporte. v.10, n.6, pag. 513-516, 2004.NORONHA, A. R; OLIVEIRA JUNIOR, A. C. S; GOULART, P. V. P; NAVARRO, A. C. O efeito do exercício aeróbio no
comportamento da pressão arterial em indivíduos hipertensos. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 4, n.19, pag. 6-12, 2010.RADOVANOVIC, C. A. T; SANTOS, L. A; CARVALHO, M. D. B; MARCON, S. S. Hipertensão arterial e outros fatores de riscoassociados às doenças cardiovasculares em adultos. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 22, n.4, p. 547-53, 2014.VIECILLI, P. R; BUNDCHEM, D. C; RITCHER, C. M; DIPP, T; LAMBERTI, D. B; PEREIRA, A.M; RUBIN, A. C; BARBOSA, E. G;PANIGAS, T. F. Dose-response curve to exercise in hypertensive individuals: analysis of the number of sessions to thehypotensive effect. Arq. Bras. Cardiol. v.92, n.5, p.361-7, 2009.
EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL
1GUILHERME NOGUEIRA DO NASCIMENTO, 2LUCAS DUCATI DE OLIVEIRA, 3ANGELA PEREIRA PAIVA, 4HENRICHHYORDAN RODRIGUES DUTRA, 5JAYME RODRIGUES DIAS JUNIOR
1Acadêmico do Curso de Educação Física da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A hipertensão arterial é uma doença multifatorial caracterizada pela elevação sustentada da pressão arterialsistêmica, tendo como principais fatores de riscos a idade, gênero e etnia, excesso de peso e obesidade, ingestão de sal, álcool,genética e sedentarismo (BRITO et al., 2014). Se não controlada, pode afetar a estrutura e o funcionamento de vários órgãoscomo, coração, rins, encéfalo, vasos sanguíneos e funções metabólicas, implicando em grandes riscos para eventoscardiovasculares. Dessa forma, o exercício físico pode ser uma intervenção eficaz no tratamento não farmacológico do controleda pressão arterial, por apresentar adaptações de agudas e crônicas que culminam no controle da pressão arterial.Objetivo: Discutir os efeitos agudos do exercício sobre a pressão arterial.Desenvolvimento: A hipertensão arterial sistêmica se não controlada pode implicar no desenvolvimento de várias comorbidadescomo infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Nesse contexto, a prática de exercício físico é uma intervençãoeficaz para o tratamento não farmacológico das doenças que atinge em torno de 26% da população adulta de mais de 60% deidosos. Diante disso, o exercício físico pode trazer benefícios a curto e longo prazo (CARDOSO JUNIOR et al., 2010). Em relaçãoas adaptações agudas do exercício, sabe-se que uma única sessão pode promover uma resposta hipotensora por várias horasmantendo sobre controle os níveis pressóricos de portadores de hipotensão. (CRUZ et al., 2011). Em um estudo de metanálise,desenvolvido por Cornelissen et al., (2015) mostrou que a prática de exercícios aeróbios podem promover uma redução de7,5mmHg. Além disso, recentemente, tem-se observado que a prática de exercício resistido, também implica em reduçãosignificativa da pressão arterial (PESCASTELLO, 2015). Por fim, Mac Donald et al., (2019) relata que os efeitos dos exercíciosresistidos sobre a pressão arterial são semelhantes ao exercício aeróbio. Em termos práticos, é importante combinar os dois tiposde exercícios, a fim de melhorar o controle da pressão arterial, porém o exercício aeróbio pode trazer outros benefícios para ossistemas cardiovasculares e respiratórios e o exercício resistido promove a manutenção da força e massa muscular promovendoproporcionando mais autonomia nas atividades da vida diária. Uma avaliação das condições de saúde do hipertenso, antes deiniciar um programa de exercício físico é fundamental para melhora dos resultados. Conclusão: Conclui-se que a prática de exercício físico é uma intervenção eficaz para o tratamento da hipertensão arterialsistêmica e que diferentes tipos de exercícios podem culminar e um efeito hipotensor significativo, no entanto, recomenda-se acombinação de práticas de exercícios aeróbios com resistidos em pacientes hipertensos para que tenha outros benefíciosrelacionados saúde.
ReferênciasCARDOSO JR, C. G; GOMIDES, R. S; CARRENHO, A. C. Q; PINTO, L. G; LOBO, F. S; TINUCCI, T; MION JR, T; FORJAZ, C. L.M. Acute and chronic effects of aerobic and resistance exercise on ambulatory blood pressure. Clinics, v.65, n.3, 2010.CORNELISSEN, V. A; FAGARD, R. H; COECKELBERGHS, E; VANHEES, L. Impact of resistance training on blood pressure andother cardiovascular risk factors: a meta‐analysis of randomized, controlled trials. Hypertension. v.58, p.950 958, 2015.CRUZ, A. P; ARAÚJO, A. S; SANTOS, J. R; LEÃO, A. S. The hypontesive effect of aerobic exercise: a short review. Rev. Brasi.Ciênc. Saúde. v.15, n.4, p. 479-486, 2011. DANSON, E. J; PATERSON, D. J. Cardiac neurobiology of nitric oxide synthases. Annals of the New York Academy of Sciences,v1047, n1, p.183-196, 2005.KURU, O; SENTÜRK, U. K; DEMIR, N; YESILKAYA, A. J.M; LIMA, A.S; SILVA, N.F.B; ALVES, S.K.P; PORPINO, A.E.M;ALMEIDA, R.T; LIMAERGÜLER, G; ERKILIÇ, M. Effect of exercise on blood pressure in rats with chronic NOS inhibition.European Journal of Applied Physiology, v.87, n.2, p.134-140, 2002.
PRINCIPAIS FUNÇÕES DO ÓXIDO NÍTRICO NO CORPO HUMANO
1ANGELA PEREIRA PAIVA, 2LUCAS DUCATI DE OLIVEIRA, 3JOSE PAULO GUEDES, 4JAYME RODRIGUES DIAS JUNIOR
1Acadêmico do Curso de Educação Física da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: O Óxido Nítrico \"NO\"é uma molécula gasosa volátil tóxica presente na atmosfera, foi descoberta nos tecidosbiológicos na década de 80 pelos cientistas Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro e Ferid Murad, após as pesquisas dos cientistascitados foram encontrada evidências de que o NO é essencial no corpo humano, devido essa grande descoberta os cientistasreceberam o prêmio Nobel no ano de 1992 (IGNARRO et al, 1999; DIAS JUNIOR, 2015). Houve um grande aumento naspesquisas relacionadas ao NO e suas funções no corpo humano após a divulgação da pesquisa após a descoberta de seusefeitos orgânicos, e aos pouco foram descobrindo funções biológicas da molécula. Sabe-se hoje, que o NO é produzido emvárias partes do corpo humano, sendo que uma delas ocorre no tecido endotelial, promovendo funções como regulaçãoda vasodilatação e do fluxo sanguíneo, biogênese mitocondrial, inibição plaquetária, respiração celular, entre muitas outras(TOUSOULISS, et al., 2012).Objetivo: Apresentar as principais funções do óxido nítrico no corpo humano.Desenvolvimento: O óxido nítrico pode ser sintetizado por duas vias de sinalização: uma via dependente da enzima óxido nítricosintase e outra via independente da óxido nítrico sintase. Na via dependente da óxido nítrico sintase, o aminoácido L-arginina éoxidado para óxido nítrico pela ação das enzimas óxido nítrico sintase \"NOS\". Além disso, a L-citrulina pode ser convertida paraL-arginina, sendo um doador secundário de óxido nítrico na via dependente da óxido nítrico sintase (IGNARRO, et al, 1999;BOGER; BODE-BOGER, 2001). Quando diluído, o NO tem uma meia vida de menos de 10 segundos devido à sua rápidaoxidação a nitrito e nitrato. O NO liga-se à hemoglobina e outras proteínas que contém o núcleo heme levando ao término de suaatividade biológica (CARVALHO; DUSSE; VIEIRA, 2003). Entre as funções orgânicas do N, destaca-se a vasoproteção,pois o NO tem um papel crucial na proteção do vaso sangüíneo, devido a manutenção do tônus vascular que é mantido por umaconstante liberação de pequenas quantidades de NO sempre que há um aumento do fluxo sanguíneo sobre a camada endotelialdo vaso, resultando em uma discreta vasodilatação (TOUSOULLIS, et al., 2012). Nesse contexto, o aumento do fluxosanguíneo contribui para regular a liberação de NO, culminando em vasoproteção. Outra função orgânica da molécula éa prevenção da agregação plaquetária através da elevação da GMPc e da diminuição do Ca+ intraplaquetário. Inibição daadesão de monócitos e neutrófilos ao endotélio vascular. No sistema cardiorrespiratório o NO é responsável pela manutenção dofluxo sangüíneo tecidual, assim, um maior fluxo sanguíneo na musculatura em movimento, pode haver uma melhora da tolerânciaao esforço (DIAS JUNIOR, 2015). No sistema nervoso, o NO atua levando a aumento do fluxo sanguíneo sob atividade neuronalintensa o NO é liberado na pós-sinapse após estímulo pré-sináptico submáximo, como mensageiro retrógrado para a pré-sinapsee reiniciando todo o processo, culmina com alterações de proteínas celulares à jusante, resultando em aquisição de experiênciase conhecimentos. (FILHO; ZILBERSTEIN, 2000). No sistema imune, tem-se evidências de que o NO atua em concentraçõesmaiores, sendo tóxico aos microorganismos invasores (CARVALHO; DUSSE; VIEIRA ,2003). Por fim, no nos pulmões NOmantém o calibre brônquico e regula a freqüência dos movimentos ciliares; na circulação pulmonar, o NO equilibra a relaçãoventilação-perfusão. (CARVALHO; DUSSE; VIEIRA, 2003).Conclusão: O óxido nítrico tem um papel importante atuando como mensageiro e modulador em diversos processos biológicosvitais, nessa perspectiva atua no sistema cardiovascular favorecendo o controle da vasodilatação, proteção e prevenção decomorbidades, pode melhorar o sistema respiratório em decorrência de uma regulação do calibri brônquico e melhor perfusão,pode melhorar a tolerância ao esforço, sistema imune entre outros.
ReferênciasBOGER, R. H; BODE-BOGER, S. M. The clinical pharmacology of L-arginine. Ann Rev Pharmacol Toxicol . v.41, p. 79-99, 2001.DUSSE, L. M; VIEIRA, L. M; CARVALHO, M. G. Revisão sobre Oxido Nítrico. Jornal Brasileiro de patologia e medicinalaboratorial, V. 39, n. 4, p. 343-350, Rio de Janeiro, 2003.FILHO, R. F; ZILBERSTEIN,B. Óxido nítrico: o simples mensageiro percorrendo a complexidade. Metabolismo, síntese, funções.Depart. de Gastroenterologia da Faculdade de medicina da universidade de São Paulo. Rev. Ass. Med. Brasil, São Paulo, 2000.IGNARRO, L.J. O óxido nítrico como uma molécula de sinalização no sistema vascular: uma visão geral. Journal of
Cardiovascular Pharmacology, v.34, 1999.DIAS JUNIOR, J. R. Suplementaçãode L-arginina e desempenho aeróbico: implicações para a prescrição do treinamento. Centrode pesquisa em ciências da saúde, mestrado profissional em exercício físico na promoção da saúde- UNOPAR, Londrina, 2015STAMLER, S. J ; MEISSENER, G.. Physiology of nitric oxide in skeletal muscle. Physiol. v. 81, p. 209-237, 2001.TOUSOULLIS, D; KAMPOLI, A. M; TENTOLOURIS, C; PAPAGEORGIOU, N; STEFANADIS, C. The role of the nitric oxide onendothelial function. Curr. vasc. pharfmacol. v. 10, n. 2, p. 4-18, 2012.
ANALÍSE DA QUALIDADE DE VIDA E ESTRESSE OCUPACIONAL EM ENFERMEIROS
1GABRIEL CAMINI, 2RAPHAELA BOLIGON, 3GIOVANA CRISTINA CICHOSKI TONELLO, 4EDUARDA DALL AGNOL,5ALESSANDRO RODRIGUES PERONDI
1Discente de enfermagem, PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Enfermeira pela UNIPAR 4Docente da UNIPAR
Introdução: A qualidade de vida dos trabalhadores, cada vez mais, ganha espaço nas discussões sociais. O trabalho ocupa umespaço muito importante na vida das pessoas, porém as exigências deste fazem com que sejam necessários ajustes psíquicos efísicos por parte do trabalhador, pois o sofrimento causado por ele pode desenvolver um estado patológico, no entanto, o trabalhonão é somente fonte de doença ou de infelicidade; ao contrário, pode ser operador de saúde e de prazer (PEREIRA et al., 2010).As condições de trabalho dos profissionais de enfermagem há muito tempo têm sido consideradas inadequadas devidoprincipalmente às especificidades do ambiente e das atividades por eles executadas. O desgaste físico e emocional, a baixaremuneração e a desvalorização social são fatores associados às condições de trabalho do enfermeiro, que vem refletindonegativamente na qualidade da assistência prestada ao cliente (FERRI; RIBEIRO; XAVIER, 2015). Estes profissionais estão nogrupo dos mais propensos aos problemas de saúde mental, dentre os quais a depressão e o risco de suicídio são as que mais sedestacam. (DARLAN,et.al. 2015).Objetivo: Avaliar a qualidade de vida e a presença de estresse ocupacional em profissionais enfermeiros alocados em trêssetores de internação geral de um hospital público/privado no município de Francisco Beltrão, Paraná.Metodologia: Trata-se de estudo epidemiológico, descritivo, analítico e transversal, realizado no período de agosto e setembrode 2018 em hospital público/privado, geral, de médio porte, localizado no município de Francisco Beltrão, Paraná. Participaramdo estudo 09 enfermeiros alocados nos setores de internação geral da referida unidade hospitalar, que assinaram o Termo deConsentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram coletados pela aplicação do instrumento SF-36 (Medical Outcomes Study36) para a avaliação da qualidade de vida, formado por 36 itens, divididos em oito escalas ou domínios: capacidade funcional(CF), aspectos físicos (AF), dor física (DF), estado geral de saúde (GS), vitalidade (VT), aspectos sociais (AS), aspectosemocionais (AE) e saúde mental (SM), o resultado final gera um escore de zero a 100, onde zero equivale ao pior estado desaúde e 100 ao melhor estado de saúde. A avaliação da presença de estresse foi verificada pelo Inventário de Estresse emEnfermeiros (IEE), adaptado e padronizado para a população brasileira por Stacciarini e Trocóli (2000) o qual investiga principaisestressores da profissão de enfermeiro. O instrumento é composto por 44 itens que abordam diversos aspectos e situaçõescomuns à atuação do enfermeiro, que podem ser vistas como fontes de tensão ou estresse. Trata-se de uma escala do tipo Likertde cinco pontos, no qual (1) significa nunca, (2) raramente, (3) algumas vezes, (4) muitas vezes, (5) sempre. O resultado varia de44 a 220 pontos, sendo que quanto maior o valor da somatória dos itens maiores os níveis de estresse nas respectivassituações. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Paranaense sob oparecer nº. 2.184.091.Resultados: Entre 12 profissionais elegíveis alocados nas unidades de internamento, 09 participaram do estudo, dentre os quaisobserva-se predomínio do sexo feminino, de 25 à 35 anos, solteiros, todos enfermeiros, que recebem de três a seis saláriosmínimos por mês. A qualidade de vida é satisfatória, com base na média obtida nos domínios, aspectos sociais (65,2); saúdemental (64,4); vitalidade (51,1); estado geral de saúde (59,8); capacidade funcional (90,5); limitação por aspectos físicos (83,3) edor (65,1). Em relação ao inventário de estresse em enfermeiros, a pontuação variou de 81 à 142 pontos, com média de 109 e±21,9.Discussão: Em relação à qualidade de vida destes profissionais, o estudo identificou resultados positivos, demonstrando osmaiores escores nos domínios da capacidade funcional e da limitação por aspectos físicos respectivamente. E menores escoresnos domínios da vitalidade e do estado geral da saúde respectivamente. Dados semelhantes foram encontrados em pesquisarealizada com enfermeiros do município de Aracaju/SE, onde menores escores foram encontrados nos domínios estado geral desaúde e vitalidade; e os maiores, também, nos domínios capacidade funcional e limitações por aspectos físicos (DA SILVAMARTINS, 2015). O estudo demonstrou que os enfermeiros participantes da pesquisa apresentam níveis baixos de estresseocupacional com média 109±21,9 com variação de 81 a 142 pontos. Comparando com os dados encontrados por Silva e Batista(2017) em estudo realizado com profissionais de enfermagem intensivista de uma UTI adulto utilizando a mesma escala,
identificou em 34,9% da amostra resultados acima de 145 pontos, caracterizando que os profissionais encontravam-se maisestressados que os participantes desta pesquisa.Conclusão: Com base na metodologia utilizada, o estudo identificou resultados positivos em relação a sua qualidade de vida ebaixo nível de estresse nestes profissionais, contudo, ressalta-se a necessidade do desenvolvimento de novas pesquisas comamostras mais abrangentes buscando aprofundar essa temática.
ReferênciasDARLAN DOS SANTOS D. N. D. A. F. M. M. C. et.al Depression and suicide risk among Nursing professionals : an integrativereview. Journal of School of Nursing, v. 49, n. 6, p. 1023 1031, 2015.DA SILVA MARTINS, F. et al. Avaliação da qualidade de vida dos gestores das unidades de saúde da família do município deAracajú/SE. Interfaces Científicas-Saúde e Ambiente, v. 3, n. 2, p. 37-46, 2015.FERRI, J.; RIBEIRO, J. P.; XAVIER, D. Qualidade de vida no trabalho dos profissionais de enfermagem em ambiente hospitalar :uma revisão integrativa. Revista espaço para saúde, v. 16, n. 1, p. 66 74, 2015.PEREIRA, E. F. et al. Qualidade de vida dos professores de educação básica: discussão do tema e revisão de investigações.Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 17, n. 2, p.100-107. 2010.SILVA, C.; BATISTA, E. C. Estresse ocupacional em enfermeiros e técnicos de enfermagem intensivistas de uma utiadulto. Revista Interdisciplinar, v. 10, n. 1, p. 118-128, 2017.
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS: CONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
1ANA MARIA BOHRER DE LIMA, 2TAIS VIEIRA DOS REIS, 3CAIO CEZAR ZANCHETA, 4ALESSANDRO RODRIGUESPERONDI
1Discente de Enfermagem, PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Enfermeiro pela UNIPAR 3Docente da UNIPAR
Introdução: A Resolução 2.048 de 2002, considera as unidades básicas de saúde, unidades do Programas da Saúde daFamília, Programa de Agentes Comunitários de Saúde, ambulatórios especializados como unidades de atendimento pré-hospitalar fixo, as quais devem prestar atendimento e transporte adequado, regulado e integrante do sistema estadual deUrgência e Emergência (BRASIL, 2002). No período de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, de acordo com o Ministério da Saúde(MS) a região Sul realizou 235.067 atendimentos de urgências nas unidades básicas de saúde, o estado do Paraná foi o segundocom 39.274 atendimentos realizados, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul com 165. 609 atendimentos (MINISTÉRIO DASAÚDE, 2018). Neste sentido, é fundamental que a equipe atuante saiba em qual ambiente encontram-se os materiais para quese possa iniciar o atendimento no menor tempo possível. Visto que nos casos de urgência o início precoce de técnicas de suportebásico de vida diminui o risco de sequelas (BRASIL, 2011).Objetivo: Avaliar as condições para atendimento de urgência e emergência nas unidades de Estratégia de Saúde da Família domunicípio de Francisco Beltrão no Paraná.Materiais e Métodos: Foi realizada uma pesquisa de campo do tipo transversal observacional e qualitativa através de checklistconfeccionado pelo pesquisador a partir da lista de materiais preconizados pela Portaria 2048 de 05 de novembro de 2002 doMinistério da Saúde que regulamenta a Política Nacional de Atendimento às Urgências e Emergências. Os dados foramcoletados por meio de visita observacional em loco a todas as unidades de estratégia de saúde da família do município de formaaleatória, sem aviso prévio, buscando assim a neutralidade dos dados coletados. Foram incluídas no estudo todas as Unidadesde Saúde que apresentavam equipe Estratégia de Saúde da Família localizadas no município de Francisco Beltrão, Paraná,totalizando 20 ESF, sendo 3 na zona rural e 17 na zona urbana, as quais representam uma cobertura de 84,77% dapopulação. O estudo foi aprovado previamente pela secretaria municipal de saúde e após encaminhado ao Comitê de Ética emPesquisa com Seres Humanos da Universidade Paranaense, de acordo com a resolução nº 466/12 do Conselho Nacional deSaúde, sendo aprovado sobre o parecer 2.704.634.Resultados: Como resultado observou-se que 85% das ESF pesquisadas apresentam espaço adequado para atendimento eestabilização de Urgências e Emergências. Já no quesito capacitação profissional apenas 10% das equipes relataram terem sidocapacitadas, em contrapartida 70% das ESF já vivenciaram uma ou mais situações de Urgência e Emergência. Quanto àexistência de protocolos de atendimentos, para auxiliar e orientar as equipes de saúde, 50% das unidades possui, no entanto,apenas 20% estão dispostos em local visível para a equipe.Discussão: Estando inclusa na rede de atenção às urgências e emergências, Unidade de Estratégia da Família sãocaracterizadas como unidades de atendimento pré-hospitalar fixo, sendo responsável por casos agudos que adentram ouocorram em seu território. Foi possível evidenciar na pesquisa que 85% das unidades se mostraram adequadas para oatendimento de situações de urgência e emergência. Resultados inferiores foram observados por Moreira (2017) em estudo com75 Unidades de Saúde em Minas Gerais, onde 48% das unidades apresentaram baixa qualidade da infraestrutura e dosequipamentos, destas, apenas 1,3% dispunham de recursos para atender urgências e emergências. Em relação aosprofissionais, 70% já vivenciaram situações de urgência e emergência ocorridas nas unidades, resultados inferiores foramidentificados por Nóbrega, Bezerra e Souza (2015), onde apontam que 56,3% profissionais de enfermagem já atenderamemergências nas ESF. Ressalta-se com isso, a importância na implementação de uma educação permanente direcionada paraas equipes de Estratégia de Saúde da Família do município. Frente a existência de protocolos para atendimento de situações deurgência, metade (50%) das ESF não possuíam, já nos 50% restantes apenas 20% apresentaram protocolos visíveis a todaequipe. Resultados semelhantes foram observados por Nóbrega, Bezerra e Souza (2015), onde 87,5% das unidades nãodispunham de manuais, protocolos ou guias de atendimento para situações de urgência e emergência. Fatores como esses,somados a falta de capacitação elevam o grau de dificuldade para realização de uma assistência que atenda todos os princípiosdos SUS. Neste sentido, ressalta-se a importância do aprimoramento dos profissionais, no pré-hospitalar, na estabilização e notransporte, de forma a aumentar o êxito no atendimento, por meio de processo organizativo com práticas educativas e
capacitações técnicas (MEDEIROS, 2016).Conclusão: A pesquisa mostra que os espaços avaliados apresentando estrutura, materiais e medicamentos essenciais.Entretanto, algumas condições dificultam o atendimento, sendo explicito a preocupação com melhorias na condição de saúde ede trabalho para o avanço e qualidade da assistência aos usuários das ESF.
ReferênciasBRASIL. Ministério da saúde. Reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgênciasno Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria nº 1.600 de 7 de julho de 2011. Diário Oficial da República Federativa do Brasil.Brasília.BRASIL. Ministério da Saúde. Aprova, o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Portaria nº2.048 de 5 de novembro de 2002. Diário oficial da República Federativa do Brasil. Brasília.MEDEIROS, N. J. S. Acolhimento às Urgências e Emergências na Atenção Básica: intervenções e propostas da unidade santoAntônio Coronel Ezequiel (RN). 2016. 26 f. Trabalho de conclusão de curso (Pós-graduação em Atenção Básica deSaúde) Universidade Federal do Maranhão, São luís, 2016.MOREIRA, K. S. et al. Avaliação da infraestrutura das unidades de saúde da família e equipamentos para ações na atençãobásica. Cogitare enfermagem, UFPR, v. 22, n. 2, 2017.NOBREGA, D. M., BEZERRA, A. L. D., SOUZA, M. N. A. Conhecimentos, Atitudes e Práticas em Urgência e Emergência naAtenção Primária à Saúde. Revista eletrônica da Fainor, Vitória da Conquista, v.8 n.2, p. 141-157, 2015.
UMA ABORDAGEM SOBRE O PAPEL DO ENFERMEIRO EM RELAÇÃO BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNOEXCLUSIVO ATÉ 6 MESES DE IDADE
1MOLGANA MARA ROCHA, 2TOANE CAMILA LEME GOMES
1Acedêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense - UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: O aleitamento materno exclusivo, que consiste em alimentar o bebê apenas com leite da mãe, sem adição de outrotipo de alimento ou bebida, até mesmo água (BRASIL, 2015), sendo indispensável para a saúde infantil, tanto a curto como alongo prazo, no entanto, as taxas de aleitamento materno exclusivo no Brasil estão bastante aquém do recomendado, pois énegligenciado por muitas mães e o profissional de saúde tem um papel fundamental na reversão desse quadro (STRAPASSON;FISCHER; BONILHA, 2011). O enfermeiro, nesse cenário, precisa estar preparado para prestar uma assistência eficaz, solidária,integral e contextualizada para essas mulheres, fornecendo orientações adequadas durante o processo de adaptação dapuérpera para a promoção do aleitamento materno exclusivo (CARVALHO; CARVALHO; MAGALHÃES, 2011).Objetivo: Analisar a importância do aleitamento materno exclusivo para o bebê até os seis meses de idade e a contribuição doenfermeiro para proporcionar o aumento dos laços afetivos entre a mãe e o filho, um maior índice de adesão ao aleitamentomaterno para um bom crescimento e desenvolvimento infantil.Desenvolvimento: As orientações sobre o aleitamento materno fazem parte da assistência pre ́-natal e período pós-parto na redebásica de saúde. De acordo com Silva et al. (2018) o pré-natal é o momento mais propicio para o desenvolvimento de açõeseducativas junto as grávidas e puérperas, visando à promoção do aleitamento materno exclusivo, fornecendo orientaçõesessenciais quanto aos benefícios dessa prática. Barbieri et al. (2015) destacam que as orientações quanto a prática e osbenefícios do aleitamento materno exclusivo devem ocorrer no inicio da gestação, preferencialmente através das UnidadesBásicas de Saúde (UBS) junto a equipe de enfermagem, garantindo a promoção, proteção e apoio, se estendendo ao períodopós-parto, especialmente na primeira semana de vida. Alves et al. (2018) afirmam que as orientações ocorrem especialmentedurante a consulta de enfermagem à criança na UBS e no domicilio, contribuindo para o monitoramento das ações, elaborandoestratégias para aumentar as taxas de amamentação, estimulando e auxiliando a mulher nas dificuldades durante o aleitamento.O uso de tecnologias e diretrizes para assistência de enfermagem pode ser ferramenta eficaz para a promoção do aleitamentomaterno exclusivo, proporcionando benefícios para a saúde da mãe e da criança (ALVES et al., 2018).Conclusão: As ações de promoção, proteção e apoio de aleitamento materno exclusivo devem ser desenvolvidas junto agestante no pré-natal e a puérpera junto a visita puerperal. O enfermeiro, nesse cenário, deve fortalecer a autoconfiança, instruirsobre a importância do aleitamento materno exclusivo e garantir a assistência à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal, umavez que, está inserido em programas de educação em saúde.
ReferênciasALVES, T. R. M. et al. Contribuições de enfermeiros na promoção do aleitamento materno exclusivo. Revista Rene,Florianópolis, v. 19, n. 1, p. 1-8, 2018. Disponível em: < http://periodicos.ufc.br/rene/article/view/33072/pdf_1>. Acesso em: 20 deagosto 2019.BARBIERI, M. C. Aleitamento materno: orientac ̧ões recebidas no pré-natal, parto e puerpério. Semina: Ciências Biolo ́gicas e daSaúde, Londrina, v. 36, n. 1, supl, p. 17-24, ago. 2015.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamentomaterno e alimentação complementar. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.CARVALHO, J. K. M.; CARVALHO, C. G.; MAGALHÃES, S. R. A importância da assistência de enfermagem no aleitamentomaterno. e-Scientia, Belo Horizonte, v. 4, n. 2, p. 11-20, 2011.SILVA, D. D. et al. Promoção do aleitamento materno no pré-natal: discurso das gestantes e dos profissionais de saúde. RevistaReme, Belo Horizonte, v. 22, n. 1, p. 1-9, 2018.STRAPASSON, M. R.; FISCHER, A. C. S.; BONILHA, A. L. L. Amamentação na primeira hora de vida em um hospital privado dePorto Alegre/RS. Revista de enfermagem da UFSM, Santa Maria, v. 1, n. 3, 2011.
CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS ATENDIDOS POR UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA (SAMU)
1CASSIANA ICZAK, 2JULIANA GOMES, 3ANA LUCRECIA TRINDADE DE MACEDO, 4FÁBIO ANDREI BORGES,5ALESSANDRO RODRIGUES PERONDI
1Discente de enfermagem, PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Enfermeiro pela UNIPAR 4Docente da UNIPAR
Introdução: Os acidentes de trânsito passaram a ser um problema de saúde pública, devido a grande quantidade de ocorrênciasanualmente, gerando milhões de mortes e morbidades. (COSTA; MANGUEIRA, 2014). Estas intercorrências trazem consigo umagrande oneração para os cofres públicos, além de superlotar os serviços hospitalares para tratamentos e recuperação dasvitimas (OMS, 2009). O trânsito causa a morte de aproximadamente 1,3 milhões de pessoas e a incapacitação de milhões deoutras. Cerca de 90% das mortes e das lesões causadas pelo trânsito ocorrem em países de baixa ou média renda (OMS,2013). De encontro a essa realidade, o Brasil instituiu em 2003 a Política Nacional de Atenção às Urgências, que nasceu combase nos dados evidenciados na Política de diminuição da Morbimortalidade de Acidentes e Violências, sendo o SAMU aprincipal estratégia para a implantação desta política (SILVA, 2009). A rede nacional SAMU possui uma cobertura de 82,16% deserviços no Brasil, onde são atendidos 3.532 municípios, totalizando 170,6 milhões da população brasileira (PORTAL DASAÚDE, 2018).Objetivo: Identificar o perfil dos acidentes automobilísticos registrados no ano de 2017 pela base descentralizada do SAMU deFrancisco Beltrão, Paraná. Metodologia : Trata-se de um estudo documental, retrospectivo, transversal, desenvolvido através da análise das fichas deatendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), localizado no município de Francisco Beltrão, Parana. Paraa coleta de dados foi utilizado um formulário estruturado com base nas informações contidas nas fichas de registro dosatendimentos sendo selecionado as variáveis: sexo, faixa etária, horários dos acidentes, tipo de acidente, meses do ano commaior índices de acidentes, estado inicial da vítima, tipo de ambulância enviada para o atendimento, cancelamento deatendimento e hospital de destino. Os dados foram digitalizados em uma planilha Excel (Microsoft) e transferidos para oprograma estatístico SPSS 25.0 (Statistical Package for the Social Sciencis). Foi realizado o teste do qui quadrado de Pearson,sendo considerado como nível de significância p < 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa daUniversidade Paranaense sob o protocolo 2.675.536. Durante o desenvolvimento da pesquisa foi dispensado o uso do TCLE(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) por não haver o envolvimento seres humanos.Resultados: Como resultados, podemos observar que homens (64%) envolvem-se com maior frequência em acidentesautomobilísticos do que as mulheres (35,2%) com média etária de 29 anos. Os acidentes de trânsito apresentaram a maiorprevalência (63%) seguida dos acidentes de moto com 20,7 %, sendo os meses de junho e julho, a época do ano com maiornúmero de atendimentos registrados (10,5% e 10,3% respectivamente).Quanto ao estado da vítima, 75,4% foram classificadas inicialmente como leves e 16,3% como moderado. No que se referem aoshorários do dia com maior prevalência de acidentes, o estudo demonstra que o período da noite e tarde apresentam maioresocorrências (33% e 30,4%). Em relação ao tipo de ambulância se evidencia o tipo suporte básico de vida (SBV) 76,7% commaiores atendimentos do que suporte avançado de vida (SAV) 23,3%.Discussão: Os resultados do estudo demonstram que homens envolvem-se com maior frequência em acidentes automobilísticosdo que as mulheres, resultados condizentes foram identificados por Morais et al. (2014), em estudo realizado no município dePalmas - TO onde o sexo masculino estava envolvido em 80% dos acidentes e o sexo feminino em 18%, contudo, com médiaetária superior a do presente estudo 37,5 anos. Tal relação entre homens e mulheres, pode ser compreendida ao analisarmos anatureza da violência e da impulsividade por parte do sexo masculino, faz com que as condutas violentas nem sejam notadascomo tais, existindo inclusive uma pressão social que estimula o sexo masculino a circunstâncias de perigo (ANDRADE et al,2012). Em relação ao horário do dia com maior acionamento, o estudo demonstra que o período da noite e tarde apresentammaiores ocorrências (33% e 30,4% respectivamente). Implicações parecidas podem ser observadas no estudo de Mandacaru etal (2018), onde o maior numero de chamados por socorro foi registrado no período entre as 18h:00min e 23h59min. Morais et al.(2014), aponta em estudo realizado no município de Palmas, Tocantins, um número maior de ocorrências no horário da tarde, ao
redor das 14 horas. O estudo demonstrou que 75,4% das vítimas foram classificadas inicialmente como vitimas leves. Essesdados são similares aos identificados por Carvalho; Saraiva (2015), onde as vítimas de acidentes inicialmente estavamorientadas (73,6%), conscientes (80,9%).Conclusão: Os resultados encontrados mostram que ações de promoção e prevenção de acidentes no trânsito são necessárias,conscientizando e reforçando condutas, visando contribuir para a análise dos fatores que elevam os índices de acidentesautomobilísticos.
ReferênciasANDRADE, S. S. C. A. et al. Relação entre violência física, consumo de álcool e outras drogas e bullying entre adolescentesescolares brasileiros. Cadernos de Saúde Pública, [s.l.], v. 28, n. 9, p.1725-1736, set. 2012.CARVALHO, I. C. C. M.; SARAIVA, I. S. Perfil das vítimas de trauma atendidas pelo serviço de atendimento móvel de urgência.Rev. Interd. v. 8, n. 1, p. 137-148, 2015.COSTA, M. J. C.; DE OLIVEIRA MANGUEIRA, J. Perfil epidemiológico de ocorrências no trânsito no Brasil-revisãointegrativa. SANARE-Revista de Políticas Públicas, v. 13, n. 2, 2014.MANDACARU, P. M. P. et al. Óbitos e feridos graves por acidentes de trânsito em Goiânia, Brasil - 2013: magnitude e fatoresassociados*. Epidemiologia e Serviços de Saúde, [s.l.], v. 27, n. 2, p.01-13, maio 2018.MORAIS, M. R., et al. Letalidade do acidente de transito na modernista Palmas/TO: uma abordagem econométrica. InformeGepec, Toledo, v. 18, n. 1, p. 156-176, jan./jun. 2014.OMS - Organização Mundial da Saúde. Associação de cirurgia do trauma e terapia intensiva; Sociedade Internacional deCirurgia. Diretrizes para o desenvolvimento de programas de qualidade no atendimento ao trauma. Bogotá: Distribuna, 2009.OMS - Organização Mundial da Saúde. Promovendo a defesa da Segurança Viária e das Vítimas e Lesões Causadas peloTrânsito: Um guia para organizações não governamentais. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2013.PORTAL DA SAÚDE. Audiência Pública para aquisição de Ambulâncias para o serviço SAMU 192. Disponível em:http://portalms.saude.gov.br/component/tags/tag/samu-192 Acesso em 28/03/2018.SILVA, J. G. et al. Atendimento pré-hospitalar móvel em Fortaleza, Ceará: a visão dos profissionais envolvidos. RevistaBrasileira de Epidemiologia, [s.l.], v. 12, n. 4, p.591-603, dez. 2009.
INCIDÊNCIA DE LESÃO NO CROSSFIT
1THAINARA COSVOSKI, 2BRUNA PORTUGUES ARANTES, 3VITOR HUGO RAMOS MACHADO
1Discente de Fisiologia do Exercício, PÓS/UNIPAR1Discente de Fisiologia do Exercício, PÓS/UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: Nas últimas décadas o número de praticantes de atividades esportivas ao redor do mundo tem aumentadoprogressivamente e consequentemente os benefícios da prática de exercícios para a saúde. No entanto, sabemos que benefíciosda pratica esportiva e ou de alta intensidade são contrastados pelo aumento no número de lesões osteomusculares (MAFFULI,2011). As lesões musculares são as mais comuns e representam de 10% a 55% de todas as lesões esportivas. Consistemprincipalmente de contusões, estiramentos, lacerações (JÄRVINEN et al., 2007). As causas são multifatoriais e há alguns fatoresde risco, como idade, lesão muscular pregressa da mesma região, etnia, sobrecarga, desequilíbrio de forc¸as e alterac¸ão nacapacidade de alongamento do grupamento muscular em questão (OPAR; WILLIAMS; SHIELD, 2012). A modalidade de Crossfitfoi criada pelo preparador físico Greg Glassman em 1980. O treinador americano elaborou um programa de treinamento onde opraticante capacita as duas vias energéticas, aeróbica e anaeróbica, e recruta praticamente todos os grupos musculares em umsó treino.Objetivo: Averiguar a incidência de lesões musculoesqueléticas nos praticantes de Crossfit. Desenvolvimento: No decorrer do treinamento, devido ser um esporte de alta intensidade biomecânica e fisiológica, em suamaioria do tempo, o praticante de Crossfit desenvolve adaptações nas funções do organismo, tanto fisiológico quanto físico, paraatingir sua meta. Sendo assim, o praticante corre um risco considerável de lesão (KLIMEK, 2017; XAVIER, 2017). A lesão noesporte é caracterizada por qualquer alteração patológica ou traumática, de um ligamento, tendão ou articulação. Provocandoperda de função de uma determinada parte do corpo, gerada pelo exercício físico (WALKER, 2010). Segundo Klimek (2017), orisco de lesão na prática do Crossfit Training é análogo à outras modalidades esportivas, como levantamento de peso olímpico,ginástica, futebol, entre outras. Em sua pesquisa Silva relata uma taxa de lesão em punhos/mãos de 27,2%, em ombros 25,8%,quadril/coxas 24,5%, joelhos e parte inferior das costas com 23,2%. Por mais que o Crossfit seja uma modalidade de altaintensidade e com muitas técnicas que se não forem executadas de maneira precisa ocasiona lesão, existem também métodospara iniciantes (BUCKLEY et al, 2015).Conclusão: Conclui-se que a modalidade de Crossfit aponta uma taxa de lesão igual ou inferior a outras atividades esportivas.
ReferênciasBUCKLEY, S.; KNAPP, K.; LACKIE, A.; LEWRY, C.; HORVEY, K.; BENKO, C.; TRINH, J.; BUTCHER, S. Multimodal high-intensity interval training increases muscle function and metabolic performance in females. Applied physiology nutrition andmetabolism. Vol 40. Num. 11. 2015. p. 1157-62.JÄRVINEN TA, JÄRVINEN TL, KÄÄRIÄINEN M, AÄRIMAA V, VAITTINEN S, KALIMO H, et al. Muscle injuries: optimizingrecovery. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2007;21(2):317 31.KLIMEK, C.; ASHBECK, C.; BROOK, A. J.; DURALL. C. Are Injuries More Common With CrossFit Training Than Other Forms ofExercise? Journal of sport rehabilitation. 2017, no prelo.MAFFULI N, LONGO UG, GOUGOULIAS N, CAINE D, DENARO V. Sport injuries: a review of outcomes. Br Med Bull.2011;97:47 80.OPAR DA, WILLIAMS MD, SHIELD AJ. Hamstring strain injuries: factors that lead to injury and re-injury. Sports Med.2012;42(3):209 26SILVA, B.; OLIVEIRA, M.; GUEDES, L.; TEYMENEY, A. Incidência de lesões musculoesqueléticas em praticantes de crossfit.Revista Eletrônica de Ciências da Saúde UNIPLA. Águas Claras-DF, v.1, n.1, 2019.XAVIER, A. A.; LOPES, A. M. C. L. Lesões musculoesquelética em praticantes de CrossFit. Revista Interdisciplinar CiênciasMédicas, Minas Gerais, v. 1, n. 1, p. 11-27, 2017.WALKER, B. Lesões no esporte: Uma abordagem anatômica. 1 ed. Barueri São Paulo: Manole, 2010.
ESTRESSE EM ENFERMAGEM: ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO AO PACIENTE CRÍTICO
1EDUARDA DOS SANTOS AMARAL, 2EDUARDA DUARTE DE CASTRO, 3ELLEN CAROLINE DA SILVA, 4MICHELYAPARECIDA MAYER, 5ALESSANDRO RODRIGUES PERONDI
1Discente de enfermagem, PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR3Enfermeira pela UNIPAR 4Docente da UNIPAR
Introdução: O estresse ocupacional vem se tornando frequente na equipe de enfermagem, devido à sobrecarga de trabalhofrente ao paciente crítico, considerando o esforço necessário e o cansaço físico e mental para desempenhar a assistênciaesperada (JACQUES et al. 2015). Uma das situações mais evidenciadas junto à profissão é tida como o esgotamentoprofissional, visto como uma reação de tensão emocional crônica a partir do estresse excessivo no ambiente de trabalho,repercutindo na saúde física e mental do trabalhador, prejudicando a concentração, a vigilância e a capacidade de supervisão(DOS SANTOS et al. 2017). Objetivo: Identificar o nível de estresse em enfermeiros que atuam em cuidados diretos ao paciente crítico. Materiais e Métodos: O presente estudo inclui-se em uma pesquisa de campo, descritiva, exploratória, com abordagemquantitativa, transversal, realizado em um Hospital Público do Sudoeste do Paraná. A coleta de dados ocorreu no período dejunho e julho de 2017. A Instituição conta com 19 profissionais de enfermagem que prestam atendimento ao paciente crítico. Paratanto foi usado um questionário estruturado e validado, denominado escala de estresse de Bianchi sendo autoaplicável,composta por 51 itens, dividido em seis domínios, que recebem uma pontuação com variação de 1 a 7. Participaram do estudotodos os enfermeiros alocados nos setores de atendimento a pacientes críticos, sendo eles: setor de unidade de terapiaintensiva, setor de urgência e emergência e setor de centro cirúrgico que concordaram em participar do estudo após informaçãodos objetivos e mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados foi realizadapor um único aplicador, durante o período laboral, após autorização institucional. O projeto da pesquisa, conforme preconizadopela Resolução CNS 466/12, foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos daUniversidade Paranaense - Unipar, e aprovado de acordo com o Parecer nº. 2.183.398.Resultados: Entre 19 profissionais elegíveis alocados nas unidades de atendimento ao paciente crítico, 09 (50%) participaramdo estudo, dos quais se observa maiores frequências para o sexo feminino (77,7%), com faixa etária entre 31 a 40 anos (78,7%),com tempo de formação de 6 a 10 anos (44,4%). Quanto ao cargo ocupado, 100% exerciam cargos assistenciais, onde vêmexercendo o cargo por mais de 3 anos (55,5%). A análise das médias dos domínios avaliados, mostrou que todas as áreasmantiveram valores compatíveis com baixo e médio nível de estresse, com destaque para o domínio A - relacionamento comoutras unidades e supervisores apresentou a menor média (2,79) caracterizando baixo nível de estresse, enquanto o domínio C -atividades relacionadas à administração de pessoal apresentou médio nível de estresse (4,36) entre os enfermeiros. Observou-seainda entre os domínios que Controlar a equipe de enfermagem foi à situação de maior estresse (5,88). Em seguida, asituação de menor estresse diz respeito ao Elaborar escala mensal dos funcionários (1,00).Discussão: Os resultados demonstram maiores prevalências para funcionários do sexo feminino com faixa etária entre 31 a 40anos exercendo o cargo por mais de 3 anos. Resultados semelhantes foram encontrados por Freitas et al. (2015) em estudosrealizados no setor de urgência e emergência de um hospital regional de médio porte no município de Apodi-RN onde identificoupredominância do sexo feminino (70%), com idade de 20 a 40 anos (60%), tempo de trabalho entre 3 a 10 anos (70%), formaçãoacadêmica de 6 a 10 anos (60%). Esta predominância pode estar relacionada ao aspecto sócio-histórico do cuidado, onde amulher era tida como protagonista desta atividade. Ademais, ressaltasse que estas profissionais desenvolvem suas obrigaçõesenquanto enfermeiras e ainda gerenciam suas vidas fora do ambiente hospitalar, levando a dupla jornada de trabalho, o quepode contribui o surgimento do estresse. No domínio A, correspondente às atividades de relacionamento com outras unidades esuperiores, os enfermeiros foram identificados com baixo nível de estresse (2,79), semelhante a pesquisa de Kirhhof et al. (2016),apresentando baixo nível de estresse (2,28%). Tal fato, pode estar relacionado as habilidades de comunicação e compreensãoestimuladas pela instituição por meio de feedback das demandas realizadas pelos setores. No domínio C, a situação controlar aequipe de enfermagem foi a mais estressante (5,88%), ainda dentro deste domínio, a situação Elaborar escala mensal dosfuncionários (1,00%) representou o menor estresse. Em estudo realizado por Ribeiro (2017) as atividades apontadas comomais estressoras foram: Controlar a equipe de enfermagem (4,51%) e Elaborar a escala mensal da unidade
(4%). Podemos inferir esta atividade como mais estressora devido à sobrecarga de trabalho, pois exige do enfermeiro habilidadescomo liderança e coordenação, além disso, demanda capacidade de relacionamento interpessoal. Conclusão: Concluiu-se diante da amostra estudada que o estresse entre enfermeiros que lidam com pacientes enquadrou-secomo nível médio, baseado na aplicação da Escala Bianchi de Stress. Espera-se que os resultados desta pesquisa sirvam desubsídio para outros estudos para com isso fomentar a discussão e a reflexão acerca dos estressores no ambiente hospitalarcom vistas a buscar minimizá-los.
ReferênciasDE FREITAS, Rodrigo Jácob Moreira et al. Estresse do enfermeiro no setor de urgência e emergência. Revista deenfermagem, v. 9, n. 10, p. 1476-1483, 2015. DOS SANTOS, Willy Reis et al. O esgotamento do profissional enfermeiro: influências na assistência à saúde. Rev. Cuidadosem Saúde, v. 10, n. 1, 2017.KIRHHOF, Raquel Soares et al. Nível de estresse entre enfermeiros de um hospital filantrópico de médio porte. Revista deenfermagem da UFSM, v. 6, n. 1, p. 29-39, 2016.JACQUES, João Paulo Belini et al. Geradores de estresse para os trabalhadores de enfermagem de centro cirúrgico. RevistaSemina: Ciências Biológicas e da Saúde, v. 36, n. 1, p. 25-32, 2015.RIBEIRO, Karina Ribeiro. Estressores ocupacionais e níveis de estresse em enfermeiros de unidades de internação clínica.Orientador: Joanir Pereira Passos, 2017. 92 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) Universidade Federal do Estado doRio de Janeiro, 2017.
EFEITO DA PLINIA CAULIFLORA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE: UMA REVISÃO DALITERATURA
1MAXSUEL FIDELIS DE PADUA ALMEIDA, 2EMERSON LUIZ BOTELHO LOURENCO, 3DANIELA DE CASSIA FAGLIONI BCERANTO
1Acadêmico no Mestrado em Plantas Medicinais e Fitoterápicos 1Docente da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: A osteoporose (OSP) é uma patologia milenar, descrita pela primeira vez no Egito em 990 a.C. (ROCKWOOD &GREEN, 2010). Ela é uma doença sistêmica e progressiva, com caráter osteometabólico (MARQUES et al, 2019). Nos processosfisiológicos ocorre remodelação óssea permanente durante toda a vida do paciente. Nos portadores de osteoporose esteprocesso se encontra alterado, porque há um aumento da reabsorção e a redução da formação óssea, fazendo com que eleperca sua integridade estrutural, devido ao osso cortical encontrar-se poroso e mais fino (AMADEI, et al, 2006). Considerando osprejuízos físicos e, os consequentes gastos financeiros, para o tratamento da doença, a busca por terapias naturais deve ser umaconstante.Objetivo: Revisar a literatura sobre os possíveis efeitos da Plinia Cauliflora para prevenção e tratamento da osteoporoseMetodologia:Levantamento bibliográficos em sites indexados.Desenvolvimento: Devido ao envelhecimento populacional, a prevalência de osteoporose vem aumentando (MARQUES, et al,2019). Ela causa mais de 8,9 milhões de fraturas por ano em todo mundo, sem sintomas prévios. No Brasil estima-se que 10milhões de pessoas sofrem de OSP, sendo que os homens, com mais de 65 anos tem uma probabilidade de 15% de seremdiagnosticados com a doença, e um quarto da população feminina pós menopáusica tem mais susceptibilidade em desenvolver aosteoporose (SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, 2019). A diminuição da massa óssea apósa menopausa apresenta relação primária com o funcionamento ovariano devido o mesmo ser a principal fonte de estrogêniocirculante. Esta regressão é causada porque os hormônios sexuais, principalmente os femininos, se encontram alteradas. Aredução dos níveis de estrogênio provoca uma ativação na remodelação óssea, com um domínio na fase de reabsorção emrelação à formação, devido ao acréscimo de osteoclasto nas superfícies dos ossos trabeculares, e no final da fase de reabsorçãohá uma redução nas taxas de apoptose, devido os osteoclastos serem mais ativos, isso provoca grandes cavidades que sãoparcialmente reparadas pelas atividades osteoblásticas. A perda da matriz óssea decorrente da menopausa apresenta comocaracterística a excessiva atividade dos osteoclastos (KEATING et al, 2000). Em vista do caráter multifatorial da OSP, énecessário que os profissionais que se dispõem ao tratamento avaliem e considerem todos os fatores envolvidos. Os maioresinvestimentos bem como o crescimento de pesquisas realizadas com plantas medicinais, a fim de desenvolver medicamentosatravés de seus princípios ativos, podem ser um caminho para alternativas eficazes e viáveis ao tratamento de várias doençasepidemiologicamente relevantes na população (CURY, 2005). Dentre as alternativas fitoterápicas encontramos a Jabuticaba(Plinia cauliflora Berg), que além de apresentar características medicinais, tem um alto potencial econômico. Dentre as espéciesnativas, a Plinia cauliflora é uma árvore originária do Brasil, mais especificamente de Minas Gerais, em regiões montanhosas daMata Atlântica. Os flavonoides estão presentes na maioria dos tecidos vegetais. Estes grupos dão cor às folhas, flores e frutos edesempenham funções de defesa, protegendo contra irradiação UV, dentre outras (LAGE et al, 2014). Estudos constataram quea casca da Plinia cauliflora possui maior concentração de antocianinas, que tem uma alta potencialização na ação antioxidativa (REZENDE, 2010), bem como também tem a função de proteger e estimular os tecidos ricos em colágenos (MAIA, et al 2013).Além de ter efeitos antioxidantes, apresentam também efeitos na regulação hormonal através da ligação à esteroides. Aisoflavona sintética que pertence à ipriflavona, dentro do metabolismo dos flavonoides, aumenta e auxilia na manutenção dadensidade óssea em mulheres pós menopausa (KNIGHT; EDEN, 1995).Conclusão: O extrato de P. Cauliflora, de acordo com a fitoquímica que o integra, apresenta fortes indícios de melhora naprevenção da osteoporose e melhora na qualidade de ossos com osteoporose propriamente dita, trazendo assim para apopulação uma alternativa para o combate a uma doença, que apresenta crescimento ascendente, principalmente na populaçãode maior idade.
ReferênciasROCKWOOD, Green. FRATURAS EM ADULTOS. 7.ed. Barurei, SP: Manoele LTDA. 2013.MARQUES, Marcia Alessandra Marques. Osteoprotective Effects of Tribulus terrestris L.: Relationship BetweenDehydroepiandrosterone Levels and Ca2+ -Sparing Effect. J Med Food. v. 22, n.3, p.241 247, março. 2019.
MAEDA, Sergio. Conheça os números da osteoporose. Disponível em, https://www.sbemsp.org.br/para-o-publico/noticias/116-conheca-os-numeros-da-osteoporose. Acesso em 15 junho. 2019.KEATING, Manassiev. Estrogens and Osteoporosis, menopause Biology and Pathobiology. Rev. Academic Press. pg.509-33. 2000.CURY, Viviane Goreth. Eficácia terapêutica da Casearia sylvestris sobre herpes labial e perspectiva de uso em saúdecoletiva. 2005. Tese (Mestrado em Odontologia em Saúde Coletiva). Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba-SP, 2005.GRUFFAT, Xavier. CRIASAUDE JABUTICABA. Disponível em: (https://www.criasaude.com.br/fitoterapia/jabuticaba.html 2018).Acesso em 17 junho . 2019.LAGE, Fabiola Fonseca. Casca de jabuticaba: inibição de enzimas digestivas, antioxidante, efeitos biológicos sobre ofígado e perfil lipídico. Orientadora: Dra. Angelina Duarte Corrêa. Tese (Doutorado em Agroquímica) - Universidade Federal deLavras. Lavras MG. Feb. 2014.REZENDE, Larissa Cavalcante. Avaliação da atividade antioxidante e composição química de seis frutas tropicaisconsumidas na Bahia. 2010. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-Graduação emQuímica, Salvador, 2010.MAIA, Juliana Leão. Desenvolvimento de microcápsulas contendo as antocianina presente no corante do extrato dojambo por polimerização interfacial. 2013. Tese ( Mestrado em Engenharia Química). Universidade Federal do Rio Grande DoNorte, Natal, agosto, 2013.KNIGHT, David. Phytoestrogens: a short review. Maturitas, v. 22, n. 3. p. 167-175, nov. 1995.
AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE EM DOIS MUNICÍPIOS PARANAENSES
1SALUHU IBRAHIM, 2ANA PAULA PAINI, 3ALESSANDRO RODRIGUES PERONDI
1Discente de enfermagem, PIC/UNIPAR1Enfermeira pela UNIPAR 2Docente da UNIPAR
Introdução: Os cuidados primários de saúde é o primeiro nível de contato dos indivíduos com o sistema nacional de saúde. NaAtenção Primária à Saúde (APS) são ofertadas ações de saúde individuais e coletivas, desempenhadas por uma equipemultidisciplinar, a qual desenvolve uma abordagem integral, garantindo assim, o acesso a todos os pontos do sistema, a fim deatender todas as necessidades de cada usuário (CARNEIRO et al.,2014). A APS é estruturada por quatro atributos consideradosessenciais: a acessibilidade, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação da atenção, além de três atributos derivados,que são: a orientação familiar, a orientação comunitária, que evidencia as necessidades sociais e a competência cultural(BATISTA et al.,2016). O adequado cumprimento destes atributos asseguram melhores indicadores de saúde, maior eficiência nofluxo dos usuários no sistema e efetividade em condições crônicas, eficiência do cuidado, adesão à praticas preventivas,diminuindo assim, a desigualdade de acesso aos serviços de saúde e melhorando a satisfação e o estado geral de saúde dosusuários (BATISTA et al.,2016).Objetivo: Avaliar a presença e a extensão dos atributos da Atenção Primária à Saúde nas unidades de saúde de dois municípiosda região Sudoeste do Paraná Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo transversal, descritivo, exploratório, de abordagem quantitativa, desenvolvidoatravés do instrumento PCA-Tool Brasil, aplicado aos profissionais Médicos e Enfermeiros atuantes nas Estratégias de Saúde daFamília (ESF) dos Municípios de Realeza e Ampére localizados na região Sudoeste do Paraná. O instrumento para a coleta dedados foi a versão em português do instrumento denominado PCA-Tool Brasil versão profissionais, proposto por Starfield e Shin(2010), traduzido e em processo de validação por Harzheim et al (2013). O instrumento é composto por 77 questões divididas em8 componentes relacionados aos atributos essenciais e derivados da APS. A pesquisa encontra-se aprovada pelo Comitê deÉtica e Pesquisa da Universidade Paranaense sob o parecer nº. 2.183.307Resultados e Discussão: Entre 28 profissionais das ESF elegíveis, 19 (67,8%) responderam, destes, 8 (42%) eram domunicípio de Realeza, sendo cinco enfermeiros e três médicos. No município de Ampére foram 11 (58%) profissionais, sendo oitoenfermeiros e três médicos. Em um contexto geral, 79% dos profissionais eram do sexo feminino e 21% do sexo masculino, 16%entre 20 e 30 anos de idade, 68% 31 a 40 anos e 16% estão na faixa etária acima de 40 anos. 5% estão formados a menos de 1ano, 11% tem de 1 a 3 anos de formação e 84% estão formados a mais de 3 anos. Em relação aos atributos, as médiasidentificadas em Realeza apontam para a Acessibilidade: 3,89; Longitudinalidade: 6,9; Coordenação Integração do Cuidado:6,43; Coordenação Sistemas de Informação 7,62; Integralidade Serviços Disponíveis: 6,6; Integralidade - Serviços Prestados7,03; Orientação Familiar: 8,04; Orientação Comunitária: 6,93. Tendo como média do Escore Essencial: 6,36 e do Escore Geral:6,55. Já em Ampére, as médias encontradas foram, para Acessibilidade: 8,9; Longitudinalidade: 7,64; Coordenação Integraçãodo Cuidado: 7,71; Coordenação Sistemas de Informação 8,88; Integralidade Serviços Disponíveis: 9,03; Integralidade -Serviços Prestados: 8,83; Orientação Familiar: 9,38; Orientação Comunitária: 9,07. E as médias do Escore Essencial: 7,83 eEscore Geral: 8,18. Em um estudo realizado em Chapecó em 2013 por Vitória, encontrou um Escore Essencial da APS de 6,86,resultado esse superior ao encontrado em Realeza (6,36) e inferior ao observado em Ampére (7,83). Os escores obtidosmostram a realidade do atendimento na Atenção Primária à Saúde e indicam a qualidade da assistência prestada à população,onde o município de Realeza apresenta baixos escores essencial e geral (6,36 e 6,55 respectivamente), valores inclusive abaixoda linha de corte (6,6), já para o município de Ampére os resultados são mais positivos, com altos escores para os dois atributos,sendo o atributo essencial com 7,83 e o geral com 8,18.Conclusão: Sendo um serviço prestado à população de forma integral e universal, a atenção primária à saúde deve estarpreparada e capacitada para atender e solucionar os problemas encontrados na sua área de abrangência. A avaliação faz-senecessária para que haja o controle de qualidade do serviço prestado, podendo assim garantir uma melhoria na situação desaúde geral da população.
ReferênciasBATISTA V. C. L. et al. Avaliação dos atributos da atenção primária à saúde segundo os profissionais de saúde da família.Sanare, v.15, n.02, p. 87-93, 2016.CARNEIRO, M. DO S. M. et al. Avaliação do atributo coordenação da Atenção Primária à Saúde: aplicação do PCATool a
profissionais e usuários. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. special, p. 279 295, out, 2014.HARZHEIM, E. et al. Validação do instrumento de avaliação da atenção primária à saúde: PCATool-Brasil adultos. RevistaBrasileira de Medicina de Família e Comunidade, Rio de Janeiro, v. 8, n. 29, p. 274 284, out-dez, 2013.VITORIA, A. M. et al. Avaliação dos atributos da atenção primária à saúde em Chapecó, Brasil. Revista brasileira de medicinade família e comunidade. Rio de Janeiro. Vol. 8, n. 29 (out./dez. 2013), p. 285-293, 2013.
VIVÊNCIAS DE PUÉRPERAS ACERCA DAS CONDUTAS DOS PROFISSIONAIS DURANTE O PROCESSO DEPARTURIÇÃO DE UM MUNICÍPIO PARANAENSE
1ANNA VITORIA PINTO DE OLIVEIRA FERREIRA, 2RAFAELA DIAS DA SILVA, 3ANA JULIA BARBOZA, 4THALIA CAROLINELEANDRO PASQUALOTTO, 5MARCELA GONCALVES TREVISAN, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão. 1Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão. 2Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão. 3Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão. AR4Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão. 5Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão.
Introdução: Para as mulheres, o processo de dar à luz ao seu filho é algo muito importante e natural, trata-se de um momentoúnico, que por vezes, desperta sentimentos de insegurança e fragilidade. Assim, é imprescindível que elas sintam-se ouvidas,acolhidas e seguras. A impaciência faz com que o profissional desrespeite o pudor e a individualidade de cada paciente, nãocompreendendo suas dificuldades e limitações, fazendo com que, o processo de nascimento, fase de transformação familiar, sejadesrespeitado (ALMEIDA et al., 2018).Objetivo: Conhecer as vivências de puérperas frente as condutas adotadas pelos profissionais durante o parto em um municípioParanaense. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória-descritiva, com abordagem quantitativa, realizada nas Unidadesde Atenção Primária à Saúde (APS) do município do Sudoeste do Paraná. A coleta de dados deu-se entre os meses de maio ajulho de 2019 por meio de questionário fechado de avaliação de violência no parto adaptado pelas próprias pesquisadoras. Aamostra foi selecionada por conveniência. O instrumento foi aplicado para puérperas com 45 dias pós-parto durante visitadomiciliar. Os dados foram submetidos a análise estatística descritiva através do programa Statistical Package for the SocialSciences (SPSS) versão 25.0. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer 3.291.378. Salienta-se aindaque, foram preservados todos os preceitos éticos e legais de acordo com a Resolução nº 466/2012. Resultados: A amostra obtida totalizou 78 puérperas. As experiências e sentimentos vivenciados pelas participantes foramclassificados de acordo com a intensidade. Quando questionadas se alguém as ame ameaçou, 98,7% afirmaram não terrecebido. Da mesma forma, 93,6% mencionaram que não houveram gritos por parte dos profissionais. Todavia, 3,8% relataramque os gritos e as críticas por suas lamentações ocorreram de forma muito intensa. A respeito da atitude do profissional durante otrabalho de parto, a maioria das puérperas não vivenciaram a ação de ordem para parar de gritar 73 (93,6%), se fez piada 77(98,7%), fez comentários irônicos (97,4%), chamou por algum apelido desagradável (98,7%), impediu a presença doacompanhante 73 (93,6%), sentiu-se pouco à vontade para fazer perguntas porque não te respondiam ou te respondiam mal(91,0%). Contudo, faz-se importante mencionar que, 3,8% sentiram-se ameaçadas pela fala ou atitude de algum profissional deforma muita intensa. Os sentimentos de vulnerabilidade, inferioridade, insegurança ocorreram em média intensidade e igualmentede forma muito intensa para (11,5%). Quando indagadas se sentiram-se sem privacidade, para 12,8% ocorreu de maneira muitointensa. Acerca do nível de satisfação com a equipe que as atenderam, 84,6% responderam estar satisfeitas com muitaintensidade. Discussão: Observa-se que a maioria das puérperas referiu satisfação com o atendimento prestado pela equipe de saúde eafirmou que não recebeu ameaças. Em contrapartida, uma parcela significativa considerou que as críticas dos profissionais emrelação as suas lamentações ocorreram de forma muito intensa. Sabe-se que o termo violência obstétrica, não configura-seapenas como violência física, mas também como psicológica, por meio de gritos, ofensas, xingamentos, falta de informação,entre outros (ALMEIDA et al., 2018). Estudo de Rodrigues e colaboradores (2018) identificou 21,6% das gestantes receberamcríticas por chorar e gritar durante o trabalho de parto e ainda que, 19,5% não exacerbaram suas emoções com medo derepresálias. Em sua pesquisa, também constataram que, a violência vem sendo evidenciada no poder e na autoridade médica,avaliando a mulher como um sujeito em situação de fragilidade, incapaz de tomada de decisões e reconhecimento de suasnecessidades. Para Lansky et al (2019) mulheres com baixa renda familiar e negras estão mais propensas a sofreremdiscriminação na assistência ao parto e violência. Entre outras, as adolescentes, mulheres solteiras, migrantes e as que sãoportadoras do vírus HIV são particularmente propensas a experimentar abusos, desrespeito e maus-tratos (SILVA et al., 2018). Éválido mencionar que, mulheres submetidas à atitudes grosseiras, ameaças e gritos podem correlacionar a parturição com umevento traumático (BARBOZA; MOTA, 2016). Embora, a maioria das puérperas não foi privada da presença de acompanhante,
Marrero e Brüggemann (2018) identificaram que a ausência de acompanhante foi referida por 51,7% das puérperas. Sem dúvida,a ausência do acompanhante pode intensificar os sentimentos de medo, insegurança e solidão durante o parto e pós-parto. Faz-se imprescindível que os profissionais realizem uma assistência humanizada, considerando a decisão da mulher, de forma que oparto não seja um evento traumático (SARAIVA et al., 2018). Conclusão: No entanto, como foi visto, a violência obstétrica é sustentada por diversas fases. Para que a mulher volte de fato aoprotagonismo de um momento que lhe pertence, o parto tem que deixar de ser símbolo de medo, angústia e abandono, e paraque se devolva a ela a segurança de que seu corpo não será violentado, não basta apenas estabelecer protocolos de cuidadohumanizado e criar cartilhas de boas práticas para o manejo do parto, é preciso ter mais empatia e respeitar o momento dela edo seu corpo.
ReferênciasALEMEIDA, M.M. et al. Vivência e saberes das parturientes acerca da violência obstétrica institucional no parto. RevistaEletrônica Acervo Saúde, v. 10 , n. 1, p. 1466-1472, 2018. BARBOZA, L.P.; MOTA, A. Violência obstétrica: vivências de sofrimento entre gestantes do brasil. Revista Psicologia,Diversidade e Saúde, Salvador, v. 5, n. 1, p. 119-129, 2016. LANSKY, S. et al. Violência obstétrica: influência da Exposição Sentidos do Nascer na vivência das gestantes, Rev Ciência eSaúde Coletiva, v. 24, n.8, p. 2811-2823, 2019.MARRERO, L.; BRÜGGEMANN O. M. Violência institucional durante o processo parturitivo no Brasil: revisão integrativa. RevBras Enferm, v. 71, n. 3, p. 1219-1228, 2018.RODRIGUES, D.P. et al. A violência obstétrica no contexto do parto e nascimento. Rev Enferm UFPE, v. 12, n.1 p.236-46, jan,2018.SARAIVA, M.H.C. et al. A humanização e a assistência de Enfermagem ao parto normal. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v.10, p. 1129-1136, 2018.SILVA, M.C. et al. Parto e nascimento na região rural: a violência obstétrica. Rev Enferm UFPE, Recife, v. 12, n. 9, p. 2407-17,set., 2018.
PERFIL DE ATENDIMENTO ÀS PARTURIENTES EM DUAS MATERNIDADES DO SUDOESTE DO PARANÁ
1ANA PAULA JAQUELINE CRESTANI, 2THALIA DAL CERO, 3DANIELE BEAL ARNAUTS, 4DIANE MARIA SANTIN, 5GESSICATUANI TEIXEIRA, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão. 1Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão. 2Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão. 3Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão. 4Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão. 5Docente do Curso de Enfermagem da Universidade Paranaense, Campus de Francisco Beltrão.
Introdução: O processo de parturição era visto historicamente como evento natural da mulher, de caráter íntimo e privado,realizado no domicilio por parteiras (VENDRÚSCULO, KRUEL, 2015). Com o surgimento da Obstetrícia como disciplina técnica,o discurso médico caracterizou-se pela defesa da hospitalização e criação das maternidades, em que a mulher se transformouem propriedade institucional, imposta por rotinas de internação, deixando de ser a protagonista do seu parto (APOLINÁRIO, et.al. 2016). Nesta visão o Ministério da Saúde (MS) lançou, em 2000, o Programa de Humanização no Pré Natal e Nascimento(PHPN), cujas finalidades são assegurar a melhoria do acesso, cobertura e qualidade do acompanhamento pré-natal, daassistência ao parto e puerpério e ao recém-nascido, respeitando as características demográficas, culturais, sociais eeconômicas das mulheres atendidas no Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2002). Deste modo, o PHPN é de sumaimportância para identificar o perfil das parturientes atendidas nas maternidades e contribuir com a melhoria na qualidade daassistência prestada a esse público alvo (SANTANA et. al., 2012).Objetivo: Conhecer os antecedentes obstétricos e o perfil de atendimento prestado as parturientes em duas maternidades de ummunicípio do Sudoeste do Paraná.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, documental e descritiva, de abordagem quantitativa, desenvolvida em duasmaternidades públicas de um município do Sudoeste do Paraná entre junho a agosto de 2019.Para coleta de dados foi utilizadoum questionário fechado, validado e adaptado pelos autores, baseado na literatura. A amostra foi composta por puérperas queaceitaram participar da pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A análise estatística foi realizada peloprograma estatístico SPSS 25.0 para análise de frequência. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em PesquisasEnvolvendo Seres Humanos (CEPEH) sob o protocolo 3.364.970, respeitando todos os preceitos éticos de acordo com aResolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).Resultados: Participaram da pesquisa 128 puérperas, a maioria de raça branca (74,8%), entre 16 a 34 anos (71,7%), com graude instrução ensino médio completo (52,0%)e renda familiar em dois salários mínimos (45,7%). Relacionado ao históricoobstétrico, observou-se que 33,9% eram primigestas e 78,7% afirmaram que nunca sofreram aborto. Quanto ao parto atual,houve prevalência de cesárea (71,7%) e em relação à escolha de via de parto, 45,7% afirmaram que afizeram ao passo que54,3% não, destas 41,7% tiveram a escolha mantida e 47,2% puderam participar de atividades ofertadas pelas instituições. Ainda75,6% das participantes relataram terem sido proibidas de ingerir líquidos ou alimentos durante o trabalho de parto e no quetange a presença de acompanhante, 40,2% participaram do TP e parto, em contrapartida 16,5% tiveram este direito negado.Discussão: O presente estudo evidenciou que as maiores partes das puérperas são primigestas, na faixa etária de 16 a 34 anose com ensino médio completo, dados semelhantes ao estudo realizado em um hospital e maternidade de Sobral no Estado doCeará (ANDRADE et. al. 2018). Referente ao parto atual houve predomínio da cesárea em 71,7% dos casos, porcentagemsimilar ao estudo realizado no Estado de Goiás (73,5%) (REIS et.al., 2014). Destaca-se ainda que quanto maior a escolaridadeda gestante maior é sua preferência por cesarianas, o que é evidenciado no presente estudo, quando 41,7% da puérperastiveram sua escolha da via de parto mantida e 54,3% não tiveram o direito da escolha da via do parto. No Brasil as altas taxas decesarianas são alarmante o que indica a decadência do atendimento prestado (REIS et.al., 2014). Quanto à ingestão de líquidoou alimentos durante o TP prevaleceu à proibição, dados equivalente ao estudo de Apolinário e colaboradores (2016)demonstrou que as mulheres ficaram em jejum algum momento do trabalho de parto (54%), o que divergem com asrecomendações da Organização Mundial da Saúde e a Rede Cegonha que preconizam a ingesta de líquidos e alimentos leves,sendo esta ação um dos exemplos de respeito à autonomia da mulher. Verificou-se também que, umas partes limitadas dasgestantes participaram de atividades desenvolvidas nas instituições, inferiores aos índices encontrados no estudo realizado emuma maternidade escola da capital paranaense, segundo Santana e colaboradores (2012) o objetivo das atividades é auxiliar asgestantes e acompanhantes a conhecer e usufruir da lei, bem como informá-los sobre questões relacionadas ao parto normal,
redução dos índices de cesarianas e encorajamento para o processo de nascimento humanizado. No que diz respeito à presençado acompanhante, houve prevalência da participação no TP e no parto, contudo, 16,5%dos casos não foram permitidos talacompanhamento, direito este garantido pela lei federal nº 11.108, de 07 de abril de 2005, sendo ainda importante suporte físicoe emocional durante todo o processo (SILVA et. al., 2014).Conclusão: Verificou que, para a melhoria da qualidade do atendimento deve-se priorizar uma assistência humanizada voltadapara a mulher e a família, considerando a parturiente como protagonista do evento, dando liberdade de escolha, favorecendo umambiente acolhedor, oportunizando a presença do acompanhante e promovendo suporte físico e emocional.
ReferênciasANDRADE, S.G. et. al. Perfil sociodemográfico, epidemiológico e obstétrico de parturientes em um hospital e maternidade deSobral, Ceará. Rev Pre Infec e Saúde, v. 4, p. 1-13, 2018.APOLINÁRIO, D. et. al. Práticas na atenção ao parto e nascimento sob a perspectiva das puérperas. Rev Rene, v. 17, n. 1, p. 20-28, jan./fev., 2016.BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Programa Humanização do Parto: Humanização no Pré-Natal eNascimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2002, p. 28.REIS, J.T.S. et. al. Perfil epidemiológico das parturientes atendidas em uma maternidade de alto risco de Goiânia-GO. Estudos,Goiânia, v. 41, n. 2, p. 329-339, abr./jun., 2014.SANTANA, M.A. et. al. Perfil de gestantes e acompanhantes das oficinas para o parto acompanhado. Cogitare Enferm., v. 17, n.1, p. 106-112, jan./mar., 2012.SILVA, F.F.A. et. al. Atendimento prestado a parturiente em um hospital universitário. J. Res. Fundam. Care. Online, v. 6, n. 1, p.282-292, jan./mar., 2014.VENDRÚSCULO, C.T.; KRUEL, C.S. A história do parto: do domicílio ao hospital; das parteiras aos médicos; de sujeito a objeto.Disciplinarum Scientia, Santa Maria, v. 16, n. 1, p. 95-107, 2015.
RISCO DE QUEDAS EM IDOSOS ASSISTIDOS PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA
1CLAUDINEIA HENICKA, 2LEDIANA DALLA COSTA, 3ALESSANDRO RODRIGUES PERONDI
1Discente de enfermagem, PIC/UNIPAR1Docente da UNIPAR2Docente da UNIPAR
Introdução: O envelhecimento populacional é uma realidade em nosso país. Essa transição demográfica deve-se às mudançasno padrão reprodutivo da população, à diminuição das taxas de natalidade e mortalidade, ao aumento na expectativa de vida ede longevidade (MIRANDA et al., 2016). O aumento da longevidade propicia o aparecimento de doenças senis e maiorprobabilidade ao desenvolvimento de eventos incapacitantes, entre eles, a quedas (PIMENTEL et al., 2018). Queda pode serdefinida como: o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com incapacidade de correçãoem tempo hábil, determinado por circunstâncias multifatoriais comprometendo a estabilidade (AMERICAN GERIATRICSSOCIETY, 2010. p. 2). Objetivo: Avaliar a risco de quedas na população idosa assistida pelas equipes de estratégias de saúde da família de ummunicípio paranaense.Metodologia: Trata-se de um estudo transversal de base populacional, realizado com uma amostra representativa de idososassistidos pelas Estratégias de Saúde da Família localizadas na região urbana do Município de Francisco Beltrão, Paraná. Asvariáveis pessoais e socioeconômica foram coletadas por meio de um questionário estruturado sendo incluídas as informaçõesreferente a idade, sexo, cor da pele referida, situação conjugal, situação de moradia, renda mensal, condição laboral e deaposentadoria. Para avaliação da mobilidade funcional foi utilizado o teste Timed up and go - TUG foi aplicado segundo opreconizado por Podsiadlo; Richardson (1991), onde o idoso senta-se em uma cadeira e recebe ordem de levantar e caminhartrês metros para frente até uma marca no piso, girar de volta e sentar-se novamente na cadeira. O tempo dispendido émensurado com cronômetro a partir da ordem de vá . Valores inferiores a 10 segundos sugerem baixo risco de quedas; entre10 a 20 segundos, médio risco de quedas e acima de 20 segundos, alto risco de quedas. Este estudo faz parte do projeto chapéude iniciação científico intitulado Vulnerabilidade em idosos cobertos pelas estratégias de saúde da família de um municípioparanaense . Os dados foram coletados entre junho de 2018 a agosto de 2019 por meio de visitas domiciliares. Para otratamento dos dados empregou-se a estatística descritiva para caracterização da amostra e distribuição das frequências dasdiferentes variáveis analisadas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética para Pesquisa com Seres Humanos, daUniversidade Paranaense de acordo com a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.Resultados: Como resultado parcial em uma amostra de 200 idosos, pode-se observar prevalências superiores para o sexofeminino (59,9%) da cor branca (70%) com idade média de 71,4 anos (DP±8,2), onde 64,3% são casados e 68,3% apresentamensino fundamental completo. Quanto às atividades laborais, 91,2% não apresentam vinculo empregatício, sendo 89,9%aposentados ou pensionistas com renda média de 1.420,06 reais mensais. Na aplicação do teste Timed Up and Go (TUG),identificou-se que os idosos realizaram o circuito em 10,6 segundos de média. Quando categorizado o tempo obtido, identificou-se que 55,2% realizaram o circuito em menos de 10 segundos, 41,3% entre 10 e 20 segundos e 3,5% com tempo acima de 20segundos.Discussão: As quedas possuem significado extremamente relevante para a saúde do idoso, pois podem levá-los à incapacidade,injúria e morte. A média identificada no estudo caracteriza risco médio para queda destes idosos, resultados semelhantes foramencontrados por Prado et al (2017) em estudo realizado na cidade de Bahia onde 51,1% dos idosos apresentavam risco médiopara quedas. Alves et al (2017) em estudo realizado com 206 idosos residentes na área coberta pelas equipes de Estratégia daSaúde da Família (ESF) da Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Barbacena, MG com o intuito de investigar aincidência de quedas nessa população, identificou prevalência superiores para o sexo feminino (68.4%), com idade média de71,4 anos. Resultados semelhantes ao do presente estudo, onde o sexo feminino foi predominante (63,2%) com média de idadede 71,2 anos. Quanto ao vínculo empregatício, o presente estudo demonstrou que 82,8% dos idosos não apresentam nenhumaatividade laboral. Prevalências semelhantes foram identificadas por Rodrigues; Souza (2016) onde demonstrou que 72,7% deidosos também não trabalhavam. Manso (2018) apresenta que a maioria destes idosos (47%) vive em relação estável comparceiro. Segundo Cardoso (2018) idosos que praticam exercício físico, mantendo-se ativo, apresentam melhora do equilíbrio eda funcionalidade, reduzindo assim o risco de quedas.Conclusão: O estudo em questão demonstra que houve um risco médio de queda nesta população, fato esse que indica anecessidade de ações preventivas que estimulem a responsabilidade do autocuidado e do exercício da autonomia entre essesindivíduos, visto que as quedas são consideradas uma das principais causas de morte entre os idosos.
ReferênciasALVES, R. L. T; et al. Avaliação dos fatores de risco que contribuem para queda em idosos. Revista Brasileira de Geriatria eGerontologia, v. 20, n. 1, 2017.AMERICAN GERIATRICS SOCIETY. Summary of the Updated American Geriatrics Society/British Geriatrics Society clinicalpractice guideline for prevention of falls in older persons. J Am Geriatr. Soc. v.10, n. 2, p:1-15. 2010.CARDOSO, L. C. S. Efeito de 12 semanas de treinamento contra resistência na mobilidade e força muscular de idosos. 2018.40f. Trabalho de Conclusão do Curso (Bacharel em Educação Física) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,2018.MARTINS, H.O, et al. Controle postural e o medo de cair em idosos fragilizados e o papel de um programa de prevenção dequedas.Instituto da Medicina Física e Reabilitação. V.23, n.3, set, 2016. MANSO, M. E. G, et al. Avaliação Multidimensional do Idoso: resultados em um grupo de indivíduos vinculados a uma operadorade planos de saúde. Revista Kairós Gerontologia. V.21, n.1, p.191-211, São Paulo, 2018.MIRANDA, G. M. D; MENDES, A. C. G; SILVA, A. L. A. O envelhecimento populacional brasileiro: desafios e consequênciaas sociais atuais e futuras. Rev Bras Geriatr Gerontol. v.19. n.3. p.507-19, 2016.MORAES, S. A. et al. Características das quedas em idosos que vivem na comunidade: estudo de base populacional. Rev BrasGeriatr Gerontol. Rio de Janeiro, v.20, n.5, p. 693-04, 2017.PIMENTEL, W. R. T. et al. Quedas entre idosos brasileiros residentes em áreas urbanas: ELSI-Brasil. Rev Saúd Púb.v.52, n.[SI],p.[SI], des/set, 2018. PODSIADLO, D; RICHARDSON, S. The Timed Up & Go: a test for basic functional mobility for frail elderly persons. J Am GeriatrSoc., 39, 142-148, 1991.PRADO, R. A.et al. Timed up and go em idosos residentes na comunidade. Rev. MulT Psic.[SI], V.11, N.38, [SI], 2017.RODRIGUES, A. L. P, SOUZA, V. R. Eficiência do teste timed up go na predição de quedas em idosos atendidos em umaunidade básica de saúde de fortaleza-se. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo. v.10. n.58.p.314-320, 2016.
A PRÁTICA DA NATAÇÃO COMO FERRAMENTA AUXILIAR NA CORREÇÃO DE DESVIOS POSTURAIS EMADOLESCENTES
1MARCELO DE JESUS COSTA, 2GISELY RODRIGUES BROUCO, 3ANDRE LUIS MAROSTICA FURTADO, 4RENANAUGUSTO VENDRAME DA SILVA, 5MARCELO SERENINI JUNIOR, 6VITOR HUGO RAMOS MACHADO
1Discente de Fisiologia do Exercício, PIC-PÓS/UNIPAR1Professora Universitária2Discente de Fisiologia do Exercício, PIC-PÓS/UNIPAR3Discente de Educação Física, PIC/UNIPAR4Discente de Fisiologia do Exercício, PIC-PÓS/UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Altos índices de desvios posturais são encontrados na população adolescente e isso se deve em grande parte, aofato de que os mesmos se encontram na condição de estudantes, passando longos períodos sentados, e muitas vezes estãohabituados a má postura. Além disso, nessa fase, mudanças vertebrais acontecem naturalmente, momento em que hátransformações hormonais e psicológicas, aumento da massa corporal e composição corporal, além do crescimento muscular eesquelético (GALLAHUE; OZMUN, 2005). Diante disso, justifica-se a importância de estudos que buscam alternativas queauxiliem no processo de correção postural de adolescentes, e a natação se apresenta como uma opção vantajosa visto que podeproporcionar um desempenho significativo. Objetivo: Revisar a literatura quanto à eficiência da prática da natação como uma ferramenta auxiliar na correção postural deadolescentes. Desenvolvimento: Há mais de vinte anos que o meio aquático, especificamente a natação, é utilizado como meio complementardas terapias de desvios de coluna (LLORET et al, 2003). Os benefícios da prática são de ordem fisiológica, como o entusiasmo, aqualidade do esporte funcional, o desenvolvimento eumórfico, o fortalecimento dos músculos abdominais e o melhoramento darespiração, e cinesioterápica, como os elementos farmacológicos, a atividade de mobilização e o reforço muscular(TRIBASTONE, 2001). A atividade aquática reduz a descarga de peso sobre as articulações. E também as propriedades físicasda água permitem que os objetivos sejam traçados de maneira que não sobrecarreguem ligamentos, músculos, ossos, tendõesou cartilagens lesionadas. As estratégias de tratamento compreendem analgesia, redução de edema, estabilização articular,manutenção ou aumento de amplitudes de movimento, reequilíbrio muscular e postural, restauração da propriocepção econdicionamento físico (FORNAZARI, 2012). Além disso, para Tribastone (2001), os efeitos terapêuticos dos exercícios na águaestão relacionados ao alívio de dor e espasmos musculares; à manutenção ou aumento da amplitude de movimento dasarticulações; ao fortalecimento dos músculos enfraquecidos e aumento na sua tolerância aos exercícios; à reeducação dosmúsculos paralisados; à melhoria da circulação; ao encorajamento das atividades funcionais; à manutenção e melhoria doequilíbrio, coordenação e postura. Segundo Oliveira (1994) a natação fortalece a musculatura que sustenta a coluna vertebral, oque contribui na correção postural da escoliose em C e S, nas más formações vertebrais, na hipercifose e hiperlordose. O mesmoautor afirma que os nados crawl e costas em todas as fases, ativam, fortalecem e alongam a região dorsal e abdominal, podendoassim ser um instrumento alternativo para correção postural. Com relação à natação, Tahara et al. (2006) afirmam que o trabalhosimétrico proporcionado pela movimentação alternada de membros e sua tração sobre a musculatura para vertebral temextraordinária eficácia na redução dos desvios, especialmente no que tange a estrutura dos pés, região lombo-pélvica e regiãodorsal superior e cervical. Um estudo de Higuti et al. (2014) utilizou como estratégia interventiva de exercícios específicos edirecionados durante as aulas de natação em adolescentes entre 11 e 15 anos com diagnostico de desvios posturais. Apósquatro meses das aulas de natação o autor observou que a maioria dos alunos apresentou melhora do caso apresentado naprimeira avaliação. Os resultados demonstraram que houve melhoria em todas as regiões da coluna vertebral.Consequentemente as melhorias colaboram para a prevenção e tratamento dos desvios posturais. Concluindo que o programade natação juntamente com exercícios específicos foi efetivo na reeducação postural de adolescentes com desvio postural. Alémdisso, é uma atividade estimulante com inúmeros benefícios para promoção de saúde. As informações sobre o auxílio da práticada natação na correção de desvios posturais são poucos, porém os estudos encontrados de (ALVES; BARBOSA; MACHADO,2017; HIGUTI et al., 2014; MENEGHETTI et al., 2009; OLIVEIRA; 1994) reforçam a alternativa de usar a natação como umaferramenta auxiliar para corrigir os desvios posturais em adolescentes.Conclusão: Em suma, a presente revisão revelou que a natação contribui positivamente na correção de desvios posturais dosadolescentes, visto que sua prática ativa, fortalece e alonga a musculatura que sustenta a coluna vertebral e, portanto, sua
prática regular pode trazer benefícios ao indivíduo, reduzindo os desconfortos, melhorando a postura e, consequentemente,melhorando sua qualidade de vida.
ReferênciasALVES, Aline Cristine Rodrigues; BARBOSA, Luiz Carlos Acácio; MACHADO, Jean Carlos Costa. Os benefícios advindos danatação corretiva para estudantes de 11 a 18 anos com escoliose. Pará, 2012. Disponível em:https://paginas.uepa.br/ccbs/edfisica/files/2012.2/ALINE_ALVES.pdf. Acesso: 04 ago. 2019.FORNAZARI, Lorena Pohl. Fisioterapia Aquática. Guarapuava, PR: UNICENTRO, 2012 (Ebook). Disponível em:http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/503/5/Fisioterapia%20Aqu%c3%a1tica.pdf. Acesso em: 04 ago.2019.GALLAHUE, David L.; OZMUN, Jonh C.; GOODWAY, Jackie D. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças,adolescentes e adultos. Tradução Denise Regina de Sales. 7. ed. São Paulo: AMGH, 2013.HIGUTI, Rosa Maria Beni et al. Natação como auxiliar terapêutico na reeducação postural de adolescentes comhiperlordose. Arq. Cienc. Saúde UNIPAR, Umuarama, v. 18, n. 3, p, 163-168, set/dez. 2014. Disponível em:http://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/5191/3003. Acesso em: 04 ago. 2019.LLORET, Mario et al. Natação Terapêutica. Rio de Janeiro: Zamboni, 2003.MENEGHETTI, Cristiane Helita Zorél et al. Influência da fisioterapia aquática no controle de tronco na síndrome de pusher:estudo de caso. Fisioterapia e Pesquisa. vol.16, n.3, São Paulo, Jul/Set. 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-29502009000300014. Acesso em: 04 ago. 2019.OLIVEIRA, Paulo Roberto. Natação terapêutica e as doenças obstrutivas bronco pulmonares. São Paulo: Robe, 1994.TAHARA, Alexander Klein; SANTIAGO, Danilo Roberto Pereira; TAHARA, Ariany Klein. As atividades aquáticas associadas aoprocesso de bem-estar e qualidade de vida. Revista Digital. Buenos Aires, v. 11, n. 103, dez. 2006. Disponível em:https://www.efdeportes.com/efd103/atividades-aquaticas.htm. Acesso em: 04 ago. 2019.TRIBASTONE, Francesco. Tratado de exercícios corretivos aplicados à reeducação motora postural. Tamboré: Manole,2001.
LENTES DE CONTATO DENTAL COMO FORMA DE REANATOMIZAÇÃO DO SORRISO:RELATO DE CASO
1RAFAEL ANTONHOLI DA SILVA, 2NATALIA LOPES HUNGARO, 3LUCAS DENER FELICIANO, 4RODRIGO ANTONHOLI DASILVA, 5HENRIQUE FAKHOURI, 6LUIZ FERNANDO CORREA MAGANHA
1Discente da Unipar1Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Estetica Odontologica - Turma Vi da UNIPAR4Acadêmico do Curso de Odontologia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: Atualmente, é evidente que grande parte das pessoas buscam por um sorriso harmônico e estético. Os pacientesbuscam um sorriso atraente, que além de trazer uma satisfação pessoal, venha proporcionar um melhor conforto no meio socialonde vivem (MARSON et al; 2014). Nos dias atuais, é notória a aumentada busca por um sorriso harmônico e estético, sendo ostratamentos restauradores indiretos com facetas cerâmicas, o procedimento de escolha em muitos casos, em decorrência doexcelente resultado, além da longa durabilidade (CARDOSO et al; 2011). Juntamente com o desenvolvimento das cerâmicasodontológicas, os agentes cimentantes foram desenvolvidos para obter longa duração e retenção de restaurações indiretas.Vários estudos de acompanhamentos de casos clínicos têm demonstrado bons resultados no uso de restaurações cerâmicas emárea estética, devido à biocompatibilidade, adaptação marginal e boa relação com os tecidos periodontais, resultando emlongevidade para o tratamento restaurador.Relato de Caso: O presente relato de caso, tem o objetivo de mostrar a mudança no sorriso de uma paciente jovem, M.S,gênero feminino, que procurou o curso de aperfeiçoamento em Estética Odontológica, tendo como queixa principal dentes decriança . Foi proposto restaurações indiretas em cerâmicas do tipo lentes de contato dental, no qual foram feitos 10 elementos(dentes 15 ao 25). Primeiramente foram realizadas tomadas fotográficas para documentação e um planejamento digital do sorrisoo qual foi feito juntamente com a paciente para ajustes de forma anatômica as quais mais a agradava (DSD). Posteriormente foienviado o planejamento digital (DSD) ao laboratório de protese para a realização do enceramento diagnóstico, o qual foirealizado em fluxo digital. Feito o enceramento diagnostico foi realizado o Mock Up como forma de teste drive do sorriso quefoi bem aceito pela paciente, e prosseguindo assim com os preparos dentarios, que neste caso foi realizado apenas a nível deesmalte dentário com desgastes mínimos. Após os preparos foi realizado a inserção de fios de retração gengival (000), o qual foiusado apenas um unico fio devido ao sulco gengival possuir um expessura pequena, em seguida foi feita a moldagem dapaciente com Silicona de Adição pela técnica da dupla impressão e enviado ao laboratório para confecção dos laminadoscerâmicos. Recebido os laminados, foi prosseguido com a cimentação, primeiramente foi realizado a profilaxia com pedra pomese água, isolamento absouto (OptraDam), prova seca colocando apenas o laminado sobre cada dente para a análise deadaptação, Try in para a escolha de cor do cimento, escolhida a cor do cimento foi feita o preparo da peça para cimentação(acido fluoridrico 10 % por 20 segundos, ácido fosfórico 37% 1 minuto, aplicação de agente de união (silano) aplicado por 30segundos em esfregaço por 2 vezes com a aplicação de jato de ar no intervalo das aplicações. Em seguida foi realizado opreparo da estrutura dental com a aplicação de ácido fosfórico 37 % por 30 segundos, aplicou-se o primer por esfregaço e levejato de ar, em seguida foi aplicado o adesivo e fotopolimerizado por 20 segundos. Em seguida foi aplicado adesivo na peça semfotopolimerizar e aplicado o cimento resinoso, e levado a peça em posição, foi fotoativado por 1 segundo, e removido osexcessos de cimento ao redor da peça em em região cervical, proseguindo então para a fotopolimerização final por 20 segundoscom o fotopolimerizador Valo, Ultradent, o qual o procedimento foi repetido da mesma forma nos 10 laminados cerâmicos. Apósfeita a cimentação dos 10 elementos foi removido o isolamento absoluto e realizada a remocao de excessos com lamina debisturi número 12 e mínimos ajustes oclusais necessários.Discussão: Nos últimos anos, os procedimentos restauradores não objetivam apenas a devolução da forma e da função doselementos dentários. Os padrões de beleza atuais, fazem com que os pacientes procurem a reabilitação oral exigindo qualidadede estética e sorrisos cada vez mais harmônicos. Com a evolução dos materiais odontológicos, as cerâmicas tem se tornado umaótima opção para procedimentos restauradores estéticos indiretos (Clavijo VGR, Souza NC, Andrade MF, 2007, p. 33-49).Alémdisso, a cerâmica apresenta resistência à compressão, lisura de superfície, resistência ao desgaste, brilho, pequeno acúmulo deplaca, características físicas, mecânicas e ópticas semelhantes as do esmalte (Benetti AR, Miranda CB, Amore R, 2003, p. 186-94). As facetas laminadas cerâmicas têm sido indicadas cada vez mais para a recuperação funcional e estética de dentesanteriores comprometidos, em casos de alterações de forma, cor e de posição dentária. Esse tipo de restauração garante
satisfação ao paciente e ao profissional, por apresentar características estéticas compatíveis com o esmalte (Kina S, Kina VV,Hirata R, 2003, p. 99-120).Conclusão: Os laminados cerâmicos permitem excelentes resultados estéticos e funcionais, sendo que o conhecimento datécnica operatória e planejamento é de fundamental importância para a execução da reabilitação, devolvendo estetica, função emelhorando a autoestima. Portanto, o caso clínico apresentado obteve sucesso e satisfação da paciente ao final do tratamento.
ReferênciasBenetti AR, Miranda CB, Amore R, Pagani C.Facetas Indiretas em Porcelana-Alternativa Estética.J Bras Dent Estet.2003;2(7):186-94.CARDOSO, P. C.et al. Restabelecimento estético funcional com laminados cerâmicos. Revista Odontológica do Brasil Central, v.20, n. 52, 2011.ALGHAZALIet al. An investigationin to the effect of try-in pastes, uncuredand curedresin cements on the overall color of ceramicveneer restorations: Anin vitro study. J Dent. 2010, p. 78-86.Clavijo VGR, Souza NC, Andrade MF. IPS e.Max: harmonização do sorriso. Dental Press Estét. 2007;4(1):33-49
AUTOPERCEPÇÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM RECÉM FORMADOS, NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO EM UMAINSTITUIÇÃO HOSPITALAR
1ELENILDA CARDOSO, 2NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA
1Acadêmico do Curso de Enfermagem UNIPAR 1Docente da UNIPAR
Introdução: A equipe de enfermagem é formada por vários profissionais da área da saúde como auxilares, técnicos eenfermeiros, que prestam serviços qualitativos e quantitativos relacionados à assistência ao paciente (SILVA; SANTO, 2013). Ostécnicos de enfermagem compõem a maior parcela dessa equipe e desempenham vários papéis na assistência do paciente.Magalhães et al. (2006) destacam que no começo da atividade profissional os técnicos de enfermagem passam por inúmerosdesafios devidos sua inexperiência, sendo notório a fragilidade da avaliação no campo da prática curricular, uma carência decampo prático para o estágio das disciplinas que impede uma atuação profissional completa e eficaz.Objetivo: analisar a autopercepção dos técnicos de enfermagem recém-formados, no exercício da profissão em uma instituiçãohospitalar.Material e Métodos: Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza quali-quantitativa, em uma população de 54 técnicos deenfermagem em uma instituição de saúde hospitalar de Umuarama, na região Noroeste do Paraná. Fizeram parte da pesquisaos profissionais com horário de trabalho de 12/36 horas, com vínculo profissional de até dois anos de formação acadêmica. Apesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética Envolvendo Seres Humanos (CEPEH) sob o parecer 3.421.885. Para coleta dedados foi utilizado um formulário com 14 questões fechadas referente ao perfil profissional e características profissionais, e duasquestões abertas referente ao processo de integração na empresa.Resultados: De acordo com o estudo, quanto ao perfil dos entrevistados, verificou-se que entre os 54 técnicos de enfermagemparticipantes, 88,8% pertencem ao sexo feminino e apenas 11,2% pertencem ao sexo masculino; 51,8% encontram-se na faixaetária de 18 a 29 anos, 33,4% na faixa etária de 30 a 39 anos e 14,8% na faixa etária acima de 40 anos. No momento dolevantamento de dados, a maioria dos entrevistados (44,5%) atuava na instituição entre 12 e 24 meses. Observou-se por meio daentrevista, quando questionados nas atividades de auxiliar em serviços de rotina da enfermagem como curativos, administraçãode medicamentos, registro de sinais vitais, 55,5% consideram-se bons e 4% ótimos. Já quando questionados em possuircapacidades de auxiliar o enfermeiro na prevenção e controle sistemático dos danos físicos como identificação de riscos dequedas, riscos de lesão por pressão e flebites, 53,7% consideravam-se bons e 46,2% ótimos. No tópico de gestão de pessoas,90,7% afirmaram que receberam treinamento da instituição, 85,1% afirmaram que foram bem recebidos pelos funcionários,83,3% que foram bem recebidos pela equipe de enfermagem, 96,2% foram orientados quanto as rotinas e normas do setor,90,7% tiveram suas dúvidas esclarecidas e 100% tiveram EPI s fornecidos pela instituição.Discussão: Pelo resultado deste estudo, observa-se que os recém-formados declaram possuir habilidades para o exercício daprofissão, especialmente no que se refere ao auxilio do enfermeiro. Ramos; Carvalho; Canini (2009) consideram que taishabilidades contribuem na assistência em saúde, especialmente atividades previstas em lei como implementação de cuidados esua documentação, intervenções realizadas e registro de diferentes aspectos. Souza et al (2014) destacam que o início daprofissão é notado por inúmeros desafios, desde o processo admissional até a adaptação aos serviços de saúde, especialmentequanto a habilidade em desenvolver os procedimentos técnicos, pois muitos enfrentam dificuldade na transição para o mercadode trabalho, principalmente pela formação deficiente. Apesar de não obtermos resultados desfavoráveis na pesquisa quanto aoinício da profissão, entendemos a dificuldade do principiante e a dificuldade pode ter sido dissipada pelos relatos de acolhimento e preocupação da instituição em investir nos treinamentos, orientações e procedimentos de integração. Souza et al (2015)reforça que as relações positivas dentro da equipe de saúde, favorece o desenvolvimento habilidades para executar osprocedimentos técnicos. Trabalhar no âmbito hospitalar, as práticas educativas, junto a equipe de enfermagem, pode contribuirpara a qualidade dos serviços de saúde e a segurança oferecida aos pacientes (MENDES, 2009).Conclusão: Observou-se pelo resultado desta pesquisa que o recém-formado apresenta habilidades essenciais para odesenvolvimento da função, sendo que, a instituição hospitalar tem fornecido subsídios para isso.
ReferênciasMAGALHÃES, Z. R. et al. Algumas considerações acerca do processo de viver humano de técnicos(as) de enfermagem recém-admitidos(as) em um hospital escola. Texto Contexto Enfermagem, v. 15, n. 1, p. 39-47, 2006.MENDES, G. A dimensão ética do agir e as questões da qualidade colocadas face aos cuidados de enfermagem. Textocontexto - enfermagem, Florianópolis, v. 18, n. 1, p. 165-169, mar. 2009.
RAMOS, L. A. R.; CARVALHO, E. C.; CANINI, S. R. M. S. Opinião de auxiliares e técnicos de enfermagem sobre asistematização da assistência de enfermagem. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 11, n. 1, p. 39-44, 2009. SILVA, A. T.; SANTO, E. E. A auditoria como ferramenta para a excelência da gestão hospitalar. Revista Saúde eDesenvolvimento, v. 3, n. 2, jan./jun. 2013.SOUZA, L. P. S. et al. Os desafios do recém-graduado em Enfermagem no mundo do trabalho. Revista Cubana de Enfermería,v. 30, n. 1, mar. 2015.
IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE CONDICIONAMENTO CARDIORRESPIRATÓRIO ATRAVÉS DO TESTE DE 12 MINUTO EMPRATICANTES DE NATAÇÃO DA CATEGORIA MASTER
1Regina Alves Thon, 2MULLER FONSECA PARREIRA, 3REGINA ALVES THON
1Doutoranda(UEM/UEL)/Apoio da coordenação de Ensino Superior Brasil (CAPES)1Professor de Educação Física/Bacharelado2Professor de Educação Física/Bacharelado
Introdução: A natação é considerada um esporte completo no ponto de vista funcional e traz inúmeros benefícios que contribuipara o sistema respiratório e cardiovascular aos seus praticantes. Segundo Becker (2000), a prática de exercícios na águacontribui no aumento da frequência respiratória, na diminuição da pressão sanguínea, no aumento do metabolismo muscular epropicia relaxamento muscular.Objetivo geral: Identificar os níveis de Aptidão Cardiorrespiratória através do teste de 12 minutos (T12) em praticantes mastersde natação.Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo descritivo e transversal. O projeto teve a aprovação do comitê de ética (CAAE:70048517.1.0000.0109 ). A escolha da amostra foi não probabilística e por adesão, por praticantes de natação da categoriamasters de uma academia em Toledo Pr, a amostra foi composta por 13 homens e 6 mulheres. Os dados antropométricoscoletados foram: IMC e circunferência e cintura. Foram aferidas a Pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) pré e pósteste e anotado os valores em metros do teste de 12 minutos. Análise dos dados foi do tipo descritiva e inferencial, através dosoftware SPSS.15.0. Após o teste de normalidade de Shapiro Wilk, identificou-se que a distribuição dos dados não foram normaise optou-se pela descrição dos dados a partir da mediana e intervalo interquatil. Para comparação dos momentos (PressãoArterial) foi feito o teste de Wilcoxon. A significância adotada foi de 5%.Resultados e discussão: A Mediana da idade dos homens foi de 38,00(35,50;43,50) anos e das mulheres de46,50(39,50;49,50) anos. O IMC dos homens 24,66(22,87;30,84) kg/m2 foi classificado como normal, já a Mediana das mulhereso IMC 26,00(23,25;29,31) kg/m2 indicou sobrepeso, a Mediana da circunferência de cintura nos homens foi de82,50(31,62;89,00)cm e para as mulheres foi de 81,75(76,50;90,50) cm, ambos grupos foram classificados como baixo. APressão arterial pré teste foi classificada como Hipertensão nível I com a Mediana de PAS:140,00(130,00;145,00) mmHg / PAD:80,00(70,00;90,00) mmHg (pré teste) e pós teste PAS: 140,00(130,00;155,00) mmHg / PAD: 80,00(70,00;90,00) mmHg semantiveram com Hipertensão nível Ipara homens, já as mulheres apresentaram Medianas pré 125,00(117,50;132,50) mmHg /70,00(60,00;82,00) mmHg consideradas normal e pós teste:130,00(117,00;147,50) mmHg / 70,00(70,00;80,00) mmHg,considerada Pré hipertensão (ACSM, 2018). Entretanto, observou-se que antes e após o teste e 12 minutos não houve diferençasignificativa. A relação entre pressão arterial e o risco de eventos cardiovasculares é continua, consistente e independe de outrosfatores de risco. Para indivíduos entre 40 e 70 anos de idade, cada incremento de 20mmhg na pressão arterial sistólica (PAS) ou10mmhg na pressão arterial diastólica (PAD) dobra o risco de DCV em toda a faixa de (PA) desde 115/75 até185/115 mmhg. Deacordo com o ACSM ( 2014)., indivíduos com umas (PAS) de 120 a 139 mmhg e/ou (PAD) de 80 a 89 mmhg tem pré-hipertensãoe precisam de modificações no estilo de vida que promovam saúde para prevenir o desenvolvimento de hipertensão. Já no testede 12 minutos (T12) a Mediana dos homens foram classificados com regulares 580,00(505,00;615,00)m, a percepção subjetivade esforço (Pse) 7,00(5,00;7,00) Moderado-intenso e as mulheres como bom 420,00(305,00;505,00)m, a percepção subjetiva deesforço (Pse)7,00(7,00;8,50) Moderado-intenso. (GUAGLIARDI JÚNIOR et al. 2010).Conclusão: Os dados do presente estudo ressaltam a importância do conhecimento desses parâmetros avaliados tanto emrelação a avaliação do perfil antropométrico e da capacidade cardiorrespiratória são importantes, para o planejamento dotreinamento, podendo o profissional avaliar os resultados e quantificar as cargas necessárias, para um melhor desempenho, eque possam auxiliar na prescrição dos treinamentos de individualizada.
ReferênciasACSM. Diretrizes do ACSM: para os testes de esforço e sua prescrição. 10ª ed. Ed, Guanabara Koogan; Rio de Janeiro, 2018.BECKER, B.E. Aspectos Biofisiológicos da Hidroterapia in: BECKER, B.E.; COLE, A.J.(org.) Terapia Aquática Moderna.SP:Manole, 2000.GUAGLIARD, Júnior, Mario Roberto. PONTES, Rakely Soares. SOUZA, Luís Eduardo Moraes Monteiro. COELHO, RodrigoCésar Campos. Comparação da resposta ao teste de Cooper e FC em nadadores pré-púberes com e sem jejum alimentar.Lecturas: EducaciónFísica y Deportes. Vol.1. n. 143. 2010.
O PAPEL DO EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E USO DE MEDICAMENTOS EM IDOSOSHIPERTENSOS
1ISABELLY KAROLINE ZANFRILLI, 2AMANDA DE MELO PEREIRA, 3ANGELA PEREIRA PAIVA, 4GUILHERME NOGUEIRADO NASCIMENTO, 5JAYME RODRIGUES DIAS JUNIOR
1Amanda de Melo Pereira, Angela Pereira Paiva, Guilherme Nogueira do Nascimento1Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A hipertensão arterial é uma doença multifatorial caracterizada pela elevação sustentada da pressão arterialsistêmica, tendo como principais fatores de riscos a idade, gênero e etnia, excesso de peso e obesidade, ingestão de sal, álcool,genética e sedentarismo (BRITO et al., 2014). Segundo as diretrizes brasileiras de hipertensão, considera-se hipertenso osindivíduos que possuem valores pressóricos ≥140/90 mm/Hg e ainda de acordo com as mesmas diretrizes a hipertensão podeser classificada em estágio 1 - 140-159/ 90-99, estágio 2 - 160 179/ 100 109, estágio 3 - ≥ 180/ ≥ 110 (SOCIEDADEBRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). Considerada um dos principais problemas na saúde pública no Brasil, a hipertensão étambém um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares como infarto agudo domiocárdio, doença arterial periférica e acidente vascular encefálico. O exercício físico pode ser uma intervenção coadjuvante notratamento não farmacológico da hipertensão, pois evidências apontam que após uma sessão de exercício físico, sobretudo osde predominância aeróbia podem proporcionar efeito hipotensor significativo (CARDOSO JUNIOR, et al., 2010; CRUZ, et al.,2011, LATERZA; RONDON; NEGRÃO, 2006).Objetivo: Comparar os níveis de percepção de saúde, qualidade de vida e uso de medicamentos em idosos hipertensos ativos esedentários.Desenvolvimento: De acordo com Tacon, et al., (2012) o sedentarismo pode provocar vários agravantes para a saúde, incluindoa elevação da pressão arterial e redução qualidade de vida, diante disso, está bem claro na literatura os efeitos nocivos dosedentarismo em relação ao surgimento de diversas doenças, culminando piora no quadro de saúde, perda da qualidade de vidae aumento da utilização de medicamento. A prática de exercício fisicio pode ser benéfico ao paciente hipertenso, pois uma únicasessão de exercício físico pode reduzir a pressão arterial por um periodo de 24 a 48 horas (WAKABAYASHI et al., 2012), taladaptação e conhecido na lietratura como efeito hipotensor pós exercício (CARDOSO JUNIOR et al., 2010). Outros estudosapontam que a redução da pressão arterial mais intensa pós-exercício ocorre nas primeiras 24 horas (PASSARO; GODOY,1996). em termos prático, uma sessão de exercício por dia é capaz de promover um controle eficaz da pressão arterial. Alémdisso, a se tratar de saude, levamos em considaderação o bem estar fisico, mental e social do paciente, e qualidade de vida,quando individuos possui uma série de fatores que condicionam um bom aproveitamento da vida. Sendo assim, o hipertensopraticante de exercício pode prevenir o surgimento de inumeras comorbidades vasculares, renais e cerebrovasculares devido ocontrole da pressão arteiral, diante disso, percebe-se claramente, boas condições no quadro de saúde, redução de utilização demedicamentos e melhora na qualidade de vidade devido os beneficios fisiológicos, psicológicos e sociais implicando naprevenção do surgimento de outras doenças, melhora da motivação, autoestima e autonomia para o desenvolvimento dasatividades da vida diária. Conclusão: A prática de exercício físico em hipertensos podem implicar e melhora do quadro de saúde controlando os niveis depressão arterial e prevenindo outras comorbidades, diante disso também influência na redução de medicamentos e melhora daqualidade de vida.
ReferênciasBRITO, A. F; OLIVEIRA, C. V. C; SANTOS, M. S. B; SANTOS, A. C. Resistance exercise with different volumes: blood pressureresponse and forearm blood flow in the hypertensive elderly. Clin Interv Aging. v. 9, p. 2151-2158, 2014. CARDOSO JR, C. G; GOMIDES, R. S; CARRENHO, A. C. Q; PINTO, L. G; LOBO, F. S; TINUCCI, T; MION JR, T; FORJAZ, C. L.M. Acute and chronic effects of aerobic and resistance exercise on ambulatory blood pressure. Clinics, v.65, n.3, 2010.Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI DiretrizesBrasileiras de Hipertensão Arterial, n.95(1 supl 1) p.51, 2010.PÁSSARO, L.C; GODOY, M. Reabilitação cardiovascular na hipertensão arterial. Rev Socesp. n.6, p.45-58, 1996
WAKABAYASHI, I. Stronger associations of obesity with prehypertension and hypertension in young women than in young men. JHypertens. V.30, n.7, p.1423-9, 2012.TACON, K. C. B; PEREIRA, S. A; SANTOS, H. C. O; CASTRO, E. C; AMARAL, W. N. Perfil epidemiológico da hipertensãoarterial sistêmica em pacientes atendidos em uma instituição de ensino superior. Rev Bras Clin Med. v.10, n.3, p.189-93, 2012.
BENEFÍCIOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE NITRATO PARA O DESEMPENHO FÍSICO
1JHENIFFER BIANCA THOME PEREIRA, 2MOISES PANATO PEREIRA, 3THIAGO MENDONCA DE SOUSA, 4LEANDROHENRIQUE LAURIANO, 5JOAO PAULO DA CRUZ MIRANDA, 6ALAN PABLO GRALA
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR4Acadêmico do Curso de Educacao Fisica da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O nitrato (NO3-) é uma pequena molécula produzida no corpo em pequenas quantidades (como um produto daoxidação do óxido nítrico) e que pode ser obtida pela dieta mediante o consumo de vegetais, particularmente a beterraba,podendo também ser encontrado em folhas verdes como o espinafre e a rúcula (PAULA et al., 2017). Após a ingestão, o nitrato éconvertido em nitrito sendo estocado no organismo e também distribuído na circulação. Em condições com baixa disponibilidadede oxigênio, o nitrito pode ser convertido em oxido nítrico (NO) que, por sua vez, desempenha diversos papeis no controlevascular e metabólico (JONES, 2014). Tem sido relatado que a suplementação com nitrato pode reduzir o custo de oxigênio noexercício submáximo e, em algumas circunstâncias, aprimorar a tolerância ao esforço e o desempenho físico. (LARSEN et al.,2007; LANSLEY et al., 2011).Objetivo: Relatar e discutir evidências relacionadas aos efeitos da suplementação de nitrato para melhora do desempenho físico.Desenvolvimento: A literatura tem afirmado que o nitrato dietético tem potencial para reduzir a pressão sanguínea, reduzir ocusto de oxigênio do exercício e, em algumas circunstâncias, aprimorar o desempenho físico (JONES, 2014). Estes efeitos estãorelacionados a capacidade do organismo em converter nitrato em nitrito, que por sua vez, pode aumentar a disponibilidade deNO. O NO é um radical livre gasoso geralmente associado a melhora de desempenho físico devido ao seu efeito vasodilatador.Um aumento na síntese de NO pode possibilitar o aumento do fluxo sanguíneo para o músculo ativo, impedindo a liberação decálcio em excesso e, subsequentemente, melhorando o custo da síntese de ATP (PAULA et al., 2017). O aprimoramento dodesempenho físico associado a suplementação de nitrato é, possivelmente, um efeito secundário da redução do custo deoxigênio do exercício. Esse aprimoramento seria traduzido em um prolongamento no tempo para se atingir a exaustão e aumentoda eficiência mitocondrial (JONES, 2014). A literatura específica traz algumas evidências favoráveis ao uso do nitrito comorecurso ergogênico, como exemplo, Shannon et al. (2016) observaram que a ingestão de 138 ml de suco concentrando debeterraba (15.2 mol de nitrato) três horas antes de um protocolo de teste em esteira rolante resultou no aumento da concentraçãoplasmática de nitrito, redução no consumo de oxigênio, elevação na saturação de oxigênio e aprimoramento no desempenhogeral da corrida. Também com resultados positivos, Lansley et al. (2010) avaliaram o efeito de 6 dias de suplementação comsuco de beterraba (6.2 mmol de nitrito) sobre a pressão arterial, capacidade oxidativa mitocondrial e respostas fisiológicas nacaminhada e corrida em homens jovens saudáveis. Foi observado que a suplementação de nitrato reduziu a pressão arterialsistólica, diminuiu em 7% o custo de oxigênio necessário para realizar a corrida e prolongou o tempo para alcançar a fadigamáxima em 15%. Por sua vez, Larsen et al. (2007) buscaram identificar o efeito da suplementação de nitrato sobre parâmetrosmetabólicos e circulatórios durante o exercício. Foram administrados 0.1mmol/Kg de peso corporal/dia de nitrato por três dias etestes máximos e submáximos foram conduzidos no cicloergômetro. Como resultado, foi constatado uma redução do custo deoxigênio durante o exercício submáximo sem aumento proporcional na concentração de lactato, indicando que a produção deenergia se tornou mais eficiente.Conclusão: A suplementação com nitrato dietético representa uma nova e promissora abordagem para aprimorar a respostafisiológica ao exercício, como a eficiência muscular e a oxigenação, que por sua vez, pode melhorar o desempenho. Entretanto,as pesquisas ainda estão em estágio inicial e as condições precisas no qual o nitrato apresenta efeitos ergogênicos aindaprecisam ser estabelecidas.
ReferênciasJONES, A. M. Dietary nitrate supplementation and exercise performance. Sports Med, n.44 (suppl. 1), p.35-45, Maio.2014.PAULA, A. I. S.; ARAÚJO, K. K. O.; SANTANA, M. C. F. O.; BUCIOLI, S. A.; MELO, F. R. G.; VERRI, E. D. O uso da beterrabacomo vasodilatador em praticantes de atividades física. Ling. Acadêmica, Batatais. v.7, n.5, p.77-84, 2017LARSEN, F. J.; WEITZBERG, E.; LUNDBERG, J. O.; EKBLOM, B. Effects of dietary nitrate on oxygen cost during exercise. Acto
Physiol (OXF). v.191, n.1, p.59-66, Julho.2007. LANSLEY, K. E.; WINYARD, P. G.; FULFORD, J.; VANHATALO, A.; BAILEY, S. J.; BLACKWELL, J. R.; DIMENNA, F. J.;GILCHRIST, M.; BENJAMIN, N.; JONES, A. M. Dietary nitrate supplementation reduces the O2 cost of walking and running: aplacebo-controlled study. J Appl Physiol. v.110, n.3, p.591-600, Março.2011.SHANNON, O. M.; DUCKWORTH, L.; BARLOW, M. J.; WOODS, D.; LARA, J.; SIERVO, M.; O`HARA, J. P. Dietary nitratesupplementation enhances high-intensity running performance in moderate normobaric hypoxia, independent of aerobic fitness.Nitric Oxide. v.30, n.59, p.63-70, Set.2016.
BRUXISMO: UMA REVISÃO DA LITERATURA
1NATHALIA GABRIELA NODARI, 2ARACELLYS MENINO MELO, 3EDUARDA OLIVEIRA SEVERGNINI, 4LETICIA DE FREITASCUBA GUERRA
1 Acadêmica do Curso de Odontologia, Universidade Paranaense Francisco Beltrão1Acadêmica do Curso de Cirurgia Oral Menor e Nocoes de Implantodontia - Turma V da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Docente da UNIPAR
Introdução: O bruxismo é um distúrbio multifatorial que se caracteriza por movimentos involuntários e estereotipados com rangerou apertar dos dentes durante o sono ou em vigília. Afeta de 3% a 20% da população, tendo predileção por jovens. O bruxismopode estar ligado a transtornos neurológicos, medicamentos antidepressivos inibidores de serotonina, pré-disposição genética oupsicológica, disfunção dos gânglios e má oclusão dentária, podendo também ser um conjunto destes fatores.Objetivo: O objetivo deste trabalho é por meio de uma revisão de literatura compreender as causas, sintomas e o tratamento dobruxismo.Desenvolvimento: O bruxismo pode ser classificado como primário ou secundário primário é a ausência de história medicarelacionada ao bruxismo e secundário esta ligado a distúrbios neurológicos, psiquiátricos, administração ou retirada de algumasdrogas ou substancias químicas. A atividade parafuncional noturna ou do sono ocorre com episódios únicos como apertamento econtração rítmica, conhecida como bruxismo. Assim aumenta a atividade muscular da região causando danos às estruturas alipresentes e o desgaste dentário. Bruxismo não é apenas o atrito dentário, mas sim um movimento forçado da mandíbula comomanter vigorosamente certa posição mandibular ou mover com força a mandíbula para frente ou lateralmente. O bruxismo éregulado centralmente e não perifericamente, ou seja, não é causado por fatores anatômicos como características da oclusãodentária ou da articulação. O bruxismo do sono é uma atividade muscular mastigatória durante o sono que é caracterizadarítmica ou não-rítmica, já o bruxismo acordado é uma atividade muscular mastigatória durante a vigília que se caracteriza pelocontato repetitivo dos dentes ou por contravamento ou empurrão da mandíbula. Não é considerado um distúrbio em indivíduossaudáveis porem pode ser um sinal sobre outro distúrbio como apneia obstrutiva do sono, epilepsia, variabilidade da frequênciacardíaca e parâmetros respiratórios. O bruxismo do sono raramente ocorre isolado. Dentre as desordens do sono relacionadas,estão a apneia obstrutiva do sono e o bruxismo do sono, sendo elas multifatoriais. A síndrome da apneia e hipopneia obstrutivado sono (SAHOS) caracterizam-se pela dificuldade de respirar durante o sono, que possui capacidade de fracionar a normalidadedo sono, por consequência de micro despertares noturnos e dificuldades respiratórias. As queixas que são relatadas com maiorfrequência relacionadas à síndrome da apneia e hipopneia são o ronco, cansaço, ranger dos dentes, dores no corpo, ainterrupção do sono, e a paralização e agitação deste. O diagnóstico clínico para BS é feito por meio da história do própriopaciente ou de alguma pessoa próxima, e pelo exame odontológico realizado pelo dentista como a aplicação de um questionárioe polissonografia. A polissonografia é um exame que registra a presença de episódios ranger dos dentes, alterações durante osono, e micro despertares que estão relacionados com a apneia do sono, roncos, abalos mioclônicos de membros inferiores edistúrbios respiratórios. O tratamento deve ser levado em conta para fatores etiológicos no bruxismo do sono secundário. O usode placas mio relaxantes tem o objetivo de preservar as estruturas orofaciais e aliviar a dor craniofacial. O tratamento dobruxismo deve ser feito de forma multidisciplinar, que pode envolver diversas áreas da saúde como, odontologia, fisioterapia,fonoaudiologia e a medicina. Deve-se então reduzir as tensões físicas e psicológicas, tratar sinais e sintomas, e a redução dasinterferências oclusais. Para o melhor conhecimento desta alteração multifatorial deve-se levar em conta diversos aspectos,iniciando por uma anamnese detalhada, enfatizando a queixa principal do paciente e seus sintomas. Após esta etapa, seráatribuído o exame físico intra oral que é observado fatores de normalidade e anormalidade da cavidade bucal, como desgastedentário, recessões, mobilidade dentaria, abertura máxima dos maxilares com auxilio e sem auxilio, e o exame extra oral consta apalpação de diferentes áreas da face, cabeça e pescoço, onde o paciente pode classificar a dor em uma escala de 0 a 10. E paracomplementação de nosso diagnostico, é realizado exames radiográficos.Conclusão: Sabe-se que esta disfunção tem origem multifatorial, e é de extrema importância saber identificar os principaissinais, sintomas e etiologias para um diagnóstico preciso desta forma a aplicação de um tratamento com sucesso.
ReferênciasBILINI, C.C.; et al. Relação entre o bruxismo e o grau de sintomatologia de disfunção temporomandibular. São Paulo. RevCEFAG. 2009
BERGAMEIER, A; Relação entre a prevalência de bruxismo e a apneia do sono. J Oral Invest, 4(2): 32-38, 2015BLUM, D, F, C.; BONA, A, D.; Relação entre a apneia obstrutiva do sono e bruxismo do sono: revisão da literatura. RFO,Passo Fundo, v. 20, n. 3, p. 400-407, set./dez. 2015CAMPARIS, C,M.; BRUXISMO DO SONO E DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: AVALIAÇÃO CLÍNICA EPOLISSONOGRÁFICA. Tese apresentada a faculdade de odontologia de Araraquara. 2005 art 9COSTA, A, R, O. et al.; Prevalência e fatores associados ao bruxismo em universitários: um estudo transversal piloto.Rev. Bras. Odontol., Rio de Janeiro, v. 74, n. 2, p. 120-5, abr./jun. 2017CUNALI,S,R.; et al. Bruxismo do sono e a disfunções temporomandibulares: revisão sistemática. Rev Dor. São Paulo, 2012out-dez;13(4):360-4F. Lobbezoo1, J. Ahlberg2; K. G. Raphael3, P. Wetselaar1, A. G. Glaros4, T. Kato5,6, V. Santiago3, E. Winocur7, A. De Laat8,9,R. De Leeuw10, K. Koyano11, G. J. Lavigne12, P. Svensson13,14,15, and D. Manfredini16; International consensus on theassessment of bruxism: Report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018 November ; 45(11): 837 844.doi:10.1111/joor.12663.MANFREDI, A, P,S et al. Avaliação da sensibilidade do questionário de triagem para dor orofacial e desordenstemporomandibulares recomendado pela Academia Americana de Dor Orofacial. Rev Bras Otorrinolaringol. V.67, n.6, 763-8, nov./dez. 2001OLIVEIRA, M, A; et al. Tratamento da síndrome da apnéia e hipopnéia obstrutiva do sono com aparelhos intrabucais.Revista Brasileira De Otorrinolaringologia 72 (5) SETEMBRO/OUTUBRO 2006.OKESON, J,P. Tratamento das desordens temporomandibulares e oclusão. Rio de Janeiro, Elsevier, 2008Sander HH, Pachito DV, Vianna LS. Outros distúrbios do sono na Síndrome da Apnéia do Sono. Medicina (Ribeirão Preto)2006; 39 (2): 205-211. ART
PERFIL DE PUÉRPERAS ATENDIDAS EM UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE UM MUNICÍPIO DO SUDOESTE DOPARANÁ
1DIANE MARIA SANTIN, 2RAFAELA DIAS DA SILVA, 3ANA PAULA JAQUELINE CRESTANI, 4CAROLINE MARIA DA SILVA,5MARCELA GONCALVES TREVISAN, 6LEDIANA DALLA COSTA
1Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão1Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão2Acadêmica do PIC do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão3Acadêmica do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão4Docente do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão5Docente do Curso de Enfermagem da Unipar, Unidade Universitária de Francisco Beltrão
Introdução: O puerpério é um evento marcante na vida das mulheres, geralmente as atenções se voltam muito mais para osbebês e as expectativas de que as mulheres assumam o papel de mãe de imediato e sem dificuldades. Após o puerpério érealizada uma visita domiciliar para avaliação dos riscos, estado de saúde da mãe e do recém-nascido. (LEITE et al., 2013).Conhecer o perfil de cada mulher, faz-se imprescindível para o planejamento da assistência à saúde, objetivando a diminuição decomplicações nesse período e a redução da mortalidade materna e neonatal (SANTOS et al., 2015).Objetivo: Conhecer o perfil obstétrico e sociodemográfico de puérperas atendidas em unidades de atenção primária de ummunicípio do Sudoeste do Paraná.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória-descritiva, com abordagem quantitativa, realizada nas Unidadesde Atenção Primária à Saúde (APS) do município do Sudoeste do Paraná. A coleta de dados deu-se entre os meses de maio ajulho de 2019 por meio de questionário fechado de avaliação de violência no parto adaptado pelas próprias pesquisadoras. Aamostra foi selecionada por conveniência. O instrumento foi aplicado para puérperas com 45 dias pós-parto durante visitadomiciliar. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva através do programa Statistical Package for the SocialSciences (SPSS) versão 25.0. O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer 3.291.378. Salienta-se aindaque, foram preservados todos os preceitos éticos e legais de acordo com a Resolução nº 466/2012.Resultados: A amostra obtida totalizou 78 puérperas. Ao considerar as características sociodemográficas, identificou-se que, emrelação a idade, houve predomínio de puérperas em idade reprodutiva, com idade entre 20 a 34 anos (65,4%). No que tange aoestado civil, observou-se como principal característica puérperas com união estável (57,7%). No que se refere a cor da pele, acor branca prevaleceu em 60,3%. Em relação a escolaridade, 41,0% possuíam ensino médio completo. Na variável rendafamiliar, a maioria recebe cerca de 1 a 2 salários (42,3%). Acerca dos dados obstétricos, evidenciou-se ótima adesão arealização do pré-natal (100%), em sua maioria em ESF (69,2%). Faz-se importante enfatizar que, 84,6% efetuaram mais de 6consultas pré-natais durante a gestação. Acerca do número de gestações, 39,7% tem apenas 1 filho e 82,1% nunca abortou.Quando questionadas sobre a ocorrência de complicações durante pré-natal, parto, e puerpério, 60,3% não apresentaram.Contudo, dentre as complicações, 10,3% desenvolveu HAS. O período de nascimento dos recém-nascidos permaneceu a termoentre 37 a 42 semanas (75,6%). Ainda, é válido destacar que, uma grande parcela das puérperas que responderam oquestionário estava em puerpério tardio 46 (59,0%).Discussão: Observou-se que houve predomínio de puérpera em idade reprodutiva, com estado civil em união estável e de corbranca. No que tange a escolaridade, identificou-se que, a maioria das puérperas completou o ensino médio. É válido salientarque, o tempo de estudo está atrelado a redução na possibilidade do desenvolvimento de morbidades graves e do óbito maternopor causas evitáveis. Quanto maior a escolaridade materna, maior será o número de consultas de pré-natais. A realização dopré-natal é imprescindível para prevenção e detecção de morbidades maternas e fetais (SANTOS et al., 2015). Considerandoque dentre as complicações, uma parcela significativa de puérperas desenvolveu HAS, destaca-se a importância da adesão àsmedidas de controle deste agravo. Sabe-se que as causas mais frequentes de óbito materno são as obstétricas diretas,aproximadamente 64% entre 2011 e 2016, com destaque para as hemorragias (54%), seguidas das síndromes hipertensivas(46%) (PARANÁ, 2018). Ainda, faz-se importante mencionar que, o protocolo do estado do Paraná, preconiza a realização de nomínimo 7 consultas de pré-natal e uma de puerpério (PARANÁ, 2018). Assim, constata-se que há uma ótima adesão daspuérperas ao acompanhamento de pré-natal. Corroborando com estudo realizado em São Paulo, onde identificou-se 68,6% daspuérperas realizaram 6 ou mais consultas durante a gestação (LEITE et al., 2013). O ciclo gravídico-puerperal expõem a mulhera diversos agravos que estão intimamente relacionados a causas de morbimortalidade materna. O Ministério da Saúde, por meiode Programas e Políticas Públicas reforça a humanização das práticas em saúde durante esse período (CORRÊA et al., 2017).
Conclusão: É possível concluir que a atenção ao pré-natal do município ocorre de acordo com o preconizado. Entretanto, aindaé necessário medidas de educação em saúde para as equipes de atenção primária, secundária e terciária uma vez que, umaparcela significativas de parturiente desenvolveram complicações.
ReferênciasCORRÊA, Maria Suely Medeiros. et al. Acolhimento no cuidado à saúde da mulher no puerpério. Cad. Saúde Pública, v. 33, n.3, p. 1-12, 2017.LEITE, Franciéle Marabotti Costa. et al. Perfil Socioeconômico e obstétrico de puérperas assistidas em uma maternidadefilantrópica. Cogitare Enferm, v. 18, n. 2, p. 344-350, abr./jun., 2013.PARANÁ. Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Linha Guia Rede Mãe Paranaense. 7 ed. Curitiba: Secretaria de Estadoda Saúde do Paraná, 2018.SANTOS, Jaqueline de Oliveira. et al. Perfil obstétrico e neonatal de puérperas atendidas em maternidades de São Paulo. J.Res. Fundam. Care. Online, v. 7, n. 1, p. 1936-1945, jan./mar., 2015.
INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO NO USO MEDICAMENTOSO EM IDOSOS HIPERTENSOS
1AMANDA DE MELO PEREIRA, 2ISABELLY KAROLINE ZANFRILLI, 3GUILHERME NOGUEIRA DO NASCIMENTO, 4ANGELAPEREIRA PAIVA, 5JAYME RODRIGUES DIAS JUNIOR
1Acadêmica do Curso de Educação Física Bacharelado UNIPAR 1Acadêmica do Curso de Educação Física da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Educação Física da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Educação Física da UNIPAR4Docente da UNIPAR
introdução: A hipertensão arterial sistêmica é um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo, possui origemmultifatorial e se caracteriza pela elevação sustentada da pressão arterial para níveis superiores a 140/90 mmHg (SOCIEDADEBRASILEIRA DE CARDIOLOLGIA, 2010) , assim, aumenta a prevalência de desenvolvimento de comorbidades que podeminfluenciar negativamente na saúde e qualidade de vida aumentando o consumo de fármacos e reduzindo a autonomia doindivíduo (PINTO, 2007). Diante disso, o exercício tem sido utilizado como uma intervenção não farmacológica no tratamento dadoenças, por apresentar respostas agudas e crônicas que culminam na redução da pressão arterial (CARDOSO et al., 2010). Objetivo: verificar se a prática de exercício físico pode reduzir o uso de medicamento em hipertensos. Desenvolvimento: A prática de exercício físico pode ser benéfica para o controle da pressão arterial em curto ou longo prazo,assim, tem-se evidências de que uma única sessão pode implicar na redução da pressão arterial, dessa forma, pode prevenir opaciente em relação ao desenvolvimento de outras doenças graves com insuficiência renal, infarto agudo do miocárdio e acidentevascular encefálico (PESCASTELO, 2004)., assim, a prática freqüente de exercício pode implicar na prevenção dessascomorbidades e conseqüentemente o uso de medicamentos, de acordo com Oliveira et al. (2010), a prática de exercício aeróbiomelhorou a qualidade de vida e a redução do uso de medicamento para controle da pressão arterial em indivíduos hipertensosem uma atividade voltada a saúde da família no município de Ipatinga. Outro estudo desenvolvido por Bundchen et al. (2013),relata que a redução da pressão arterial por meio do exercício é significativa e pode ao longo do tempo reduzir o uso demedicamentos anti-hipertensivo. É importante ressaltar que a retirada de medicamentos anti-hipertensivo deve ser feita por umprofissional médico mediante a uma série de avaliações e análises específicas, assim, o procedimento será mais seguro.Conclusão: Conclui-se que a prática de exercício físico pode melhorar de forma significativa o controle da pressão arterial,reduzindo a prevalência de surgimentos de outras comorbidades, assim, também preveni a utilização de outros medicamentos,estudos mostram que a prática de exercício físico freqüente, tende a promover uma redução significativa de da pressão arterial enesse contexto, reduzir aos poucos o uso de medicamentos por meio de uma acompanhamento médico.
ReferênciasBUNDICHEN, D. C; SCHENKEL, I. C; SANTOS, R. Z; CARVALHO, T. Exercício físico controla a pressão arterial e melhora aqualidade de vida. Rev. Bras. Med. Esport. v.19, n.2, 2013.CARDOSO JR, C. G; GOMIDES, R. S; CARRENHO, A. C. Q; PINTO, L. G; LOBO, F. S; TINUCCI, T; MION JR, T; FORJAZ, C. L.M. Acute and chronic effects of aerobic and resistance exercise on ambulatory blood pressure. Clinics, v.65, n.3, 2010.OLIVEIRA K, P. C; VIEIRA, E. L; OLIVEIRA, J. D; OLIVEIRA, K. R; LOPES, F. J. G; AZEVEDO, L.F. Exercício aeróbio notratamento da hipertensão arterial e qualidade de vida de pacientes hipertensos do programa saúde da família do município deIpatinga.Rev. Bras. Hipertens. v.17, n. 2, n.78-86, 2010PESCATELLO, L. S; FRANKLIN, B. A; FAGARD, R; FARQUHAR, W. B; KELLEY, G. A, RAY, C. A. American College of SportsMedicine position stand. Exercise and hypertension. Med Sci Sports Exerc. v.36, p.533-5, 2004.PINTO, E. Blood pressure and ageing. Pós Med. v.83, n. 976, p. 109-114, 2007.Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade Brasileira de Hipertensão / Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI DiretrizesBrasileiras de Hipertensão. Arq Bras Cardiol 2010; 95(1 supl.1): 1-5.
APLICAÇÃO DE TRIAGEM DE SINAIS CLÍNICOS EM UMA UTI NEONATAL
1ANA GABRIELA FERNANDE FRANK, 2NANCI VERGINIA KUSTER DE PAULA
1Discente de Enfermagem, PIC/UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: Uma criança ao nascer poderá ser encaminhada para diversos lugares após o momento de pós parto imediato, tudodependerá das condições de nascimento do mesmo, sendo assim encaminhado para junto da mãe ou para uma Unidade deTerapia Intensiva Neonatal (BRASIL, 2012). Uma criança que nasceu prematura (nascida antes das 37 semanas), baixo peso(menos que 2 500g), teve alguma complicações durante o parto são considerados Recém Natos que necessitam de ummonitoramento maior, sendo nestes casos encaminhados para UTI neo para ter uma monitorização mais completa evigorosa (ANVISA, 2017). Esses RNs internados possuem grandes chances de desenvolverem quadros de sepses, pois seusistema imune é imaturo, quadro clínico delicado, e na maioria deles em uso de dispositivos invasivos ou passaram por algumprocedimento invasivo (MEIRELES; VIEIRA; COSTA. 2011). O quadro de sepse (infecção generalizada) em um neonato podeser dividida em precoce, quando ocorre dentro de 48 h de vida e geralmente relacionada a infecção materna ou intercorrência nomomento do parto, e tardia, aquele processo infeccioso que ocorre por diversos fatores após as 48 h de vida da criança (BRASIL,2011). A sepse dentro de uma UTI neo possui uma grande taxa de letalidade, embora o monitoramento seja constante dascondições clinicas, alguns sinais passam despercebidos (VIANNA; MACHADO; SOUZA. 2017). Assim faz-se necessárias formasde monitorar sinais clínicos de forma mais objetiva e fácil para que mais brevemente seja localizada alterações que alertam umapiora clínica dos RNs.Objetivo: Elencar os sinais clínicos sugestivos de sepse em uma UTI Neonatal.Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo, fragmento de um trabalho de conclusão de curso, realizado na UTI neonataldo Hospital Norospar de Umuarama PR. Para atingir o objetivo foi utilizado um cheklist formulado pela pesquisadora, comdados de sinais vitais/clínicos e identificação do RN. Foram monitoradas 26 crianças internadas. Para participar da pesquisaforam escolhidas crianças que compreendiam apenas ao período neonato, 0-28 dias. Em um segundo momento foram reunidastodas as fichas e tabulados os dados. A aplicação da triagem ocorreu nos meses de maio e junho de 2019 após a autorização doComitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Paranaense sob o Parecer 3.291.354.Resultados e Discussão: Foram avaliados 26 RNs tendo em média 5 dias de acompanhamento, onde 18 eram prematuros e7eram a termo. 73% das crianças já estavam em uso de antibióticos desde o dia da admissão na UTI, sendo que só 26% foramadmitidos com quadro de infecção. Os sinais vitais avaliados foram os básicos que demonstram algum défict da saúde quandoalterados, como freqüência cardíaca e respiratória, temperatura, glicemia, pele, abdômen entre outros (VIANNA; MACHADO;SOUZA. 2017). As alterações de sinais mais significantes foram encontrados na pele onde 8 RNs apresentaram icterícia, 7apresentaram abdômen globoso bem como alteração do nível de consciência e 5 apresentaram alteração da freqüênciasrespiratória (bradpnéia). Segundo o Manual de Atenção ao Recém Nascido alguns desses sinais alterados podem serclassificados como alerta para um quadro de sepse (BRASIL, 2011). Ao avaliar dispositivos invasivos todos apresentarampunção para que seja realizada a administração das medicações, entretanto 42% estavam em uso de cateter umbilical o qual éconsiderado um procedimento mais delicado, ainda neste âmbito verificou-se que 50% utilizaram algum dispositivo para auxiliorespiratório (HOOD, máscara de Venturi, Intubação Orotraqueal).Correlacionando os seguintes dados 69% dos RNs tiveram seusdiagnósticos relacionados a infecção/sepse, sendo mais comum Sepse Precoce relativo a infecção materna ou durante o períododo parto e Sepse Tardia relativa a sistema respiratório. Conclusão: Mediante a aplicação da triagem dos sinais apresentados pelos RNs internados, pode-se verificar que alteração deum ou mais sinais se relaciona diretamente com processo infeccioso que a criança esta desenvolvendo. Ao se criar um padrãode avaliação se uniformiza o processo de trabalho assim dando uma maior chance para percepção da piora clinica da criança.Portanto a utilização de uma cheklist facilita o trabalho, pois assim demonstra mais visivelmente as alterações alertando osprofissionais de modo que possam intervir de maneira precoce dando um prognostico melhor para o recém nascido ali internado.
ReferênciasAGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Critérios Diagnósticos de Infecção Associada à Assistência à SaúdeNeonatologia. Anvisa. 2017. Acesso em 10 mar. 2019. Disponível em: https://bit.ly/2HxSQSQBRASIL. Atenção a Saúde do Recém-Nascido. Guia para os profissionais de saúde. 2.ed. 1.vol. Brasília DF. 2012.BRASIL. Atenção a Saúde do Recém-Nascido. Guia para os profissionais de saúde: intervenções comuns, icterícia e infecções.1. Ed. 2. Vol. Brasília DF. 2011.
MEIRELES L. A.; VIEIRA A. A; COSTA C. R. Avaliação do diagnóstico da sepse neonatal: uso de parâmetros laboratoriais eclínicos como fatores diagnósticos. Rev. esc. enferm. USP vol.45 no.1 São Paulo mar. 2011. Acesso em 14 mar. 2019.Disponível em: https://bit.ly/315jqrlVIANNA R. A. P. P.; MACHADO F. R.; SOUZA J. L.A. Sepse: Um problema de Saúde Pública. Atuação e colaboração daEnfermagem na rápida identificação e tratamento da doença. 2 ed. COREN SP. São Paulo 2017. Acesso em 13 mar. 2019.Disponível em: https://bit.ly/2MljqPH
AVALIAÇÃO DO ACESSO DAS GESTANTES AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO COM INDICADOR COBERTURA DE 1°CONSULTA ODONTÓLOGICA PROGRAMÁTICA EM GESTANTES
1RENATA CORDEIRO RAMALHO, 2ARACELLYS MENINO MELO, 3GABRIELLA RAITZ SUZZIN, 4GERUSA LARISSA DIAS,5JULIANA AUACHE, 6FLAVIA RUIZ BARBOSA PAGANINI
1Acadêmico do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Cirurgia Oral Menor e Nocoes de Implantodontia - Turma V da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR4Acadêmica do Curso de Odontologia da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O Sistema Único de Saúde, através da Lei 8.080 garante a integralização e universalidade do acesso a saúde eelegeu como modelo de atenção a estratégia de saúde da família. Com isso, as ações de saúde deixam de ser centralizadasapenas na doença e sua cura, dando ênfase a prevenção e educação em saúde. (DUARTE; et al 2006). A avaliação eacompanhamento dos resultados alcançados pelas equipes de atenção básica é parte da busca pela qualificação da assistênciaà saúde (Brasil, 2012). O pré-natal odontológico é de suma importância pois consiste na prevenção de doenças e agravos quepossam causar danos à saúde da mãe e do bebê (FAGUNDES,2014).Objetivo: Avaliar o acesso das gestantes ao atendimento odontológico através da avaliação do indicador de desempenhoCobertura da Primeira Consulta Odontológica Programática em gestantes (CPCOPG).Metodologia: Estudo descritivo, utilizando fonte de dados do Ministério da Saúde (DATASUS) e do sistema de informaçãomunicipal (e-SUS), considerando-se período de 2011 a 2015 e 2018 a 2019, para o município de Francisco Beltrão, Paraná. ACPCOPG é calculada a partir do total de primeiras consultas odontológicas programáticas em gestantes, dividindo-se pelonúmero de gestantes cadastradas no sistema de informação (e-SUS), multiplicando-se pela constante 100. Tem como resultadomáximo, 100% de cobertura.Resultados: Os resultados variaram de 4,77% (2011) à 125% (2014). Os dados encontrados no ano de 2013 (105%), 2014(125%) e 2015 (113%) encontram-se acima do esperado e sugerem falha no registro do procedimento. Os anos de 2016 e 2017não apresentam dados no sistema de informação da atenção básica, possivelmente por ser o período de transição entre sistemaSIAB e e-SUS, que iniciou-se em meados de 2015. Os anos de 2018 e 2019 (primeiro semestre), apresentaram respectivamenteos resultados de 65,4% e 24,06%. Para a melhoria do indicador há ações que podem ser implantadas como a capacitação,atualização dos profissionais da equipe responsáveis pela alimentação do sistema de informação da atenção básica.Monitoramento e avaliação da qualidade e consistência dos dados informados pelas equipes, acompanhamento da evolução deresultados, apresentação de metas, definição de prioridades. Capacitação dos profissionais de saúde para qualificar oatendimento e abordagens educativas para estimular o autocuidado e redimir medos infundados da população sobre otratamento odontológico na gestação, entre outros.Discussão: A gestação é uma fase onde ocorrem mudanças na vida da mulher, sendo um processo natural do desenvolvimentohumano com diversas mudanças e transformações fisiológicas, psicológicas e físicas que podem levar ao surgimento ouagravamento de doenças bucais como a cárie e a gengivite. A Atenção Odontológica à gestante compreende a realização deavaliação diagnóstica, restaurações e cirurgias, quando indicadas considerando-se o período da gestação, além de ações deeducação e prevenção (Brasil,2012; SILVA, et al., 2017). O Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica(PMAQ), indutor do processo de avaliação das equipes de atenção básica teve início em 2011, o que justifica uma cobertura deacesso insignificante (4,77%). A partir dessa data, as equipes buscaram alcançar melhores resultados na avaliação dosindicadores; que seriam revertidos em recurso financeiro extra ao município. Observa-se então, falha de interpretação doindicador CPCOP por parte das equipes de saúde bucal, com consequente falha no registro dos procedimentos no sistema deinformação, uma vez que o número de primeiras consultas odontológicas em gestantes, supera o número de gestantescadastradas, nos anos de 2013 (105%), 2014 (125%) e 2015 (113%). As consultas de urgência e aquelas a fim de executar oplano de tratamento não devem ser consideradas no campo de primeiro atendimento à gestante (BRASIL,2012). No ano de 2018já é possível observar uma redução de 47,6% referente ao ano de 2015, atingindo 65% de cobertura das gestantes. Todoserviço de saúde deve estabelecer, como rotina, a busca ativa das gestantes de sua área de abrangência. Para isso, osprofissionais da atenção básica devem trabalhar de forma integrada, tanto nas atividades educativas como no acompanhamentode pré-natal.
Este indicador contribui para o planejamento e monitoramento das ações realizadas pelas equipes de saúde bucal,particularmente o acesso de gestantes a atendimento odontológico, subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação depolíticas e ações voltadas para o acesso ao atendimento odontológico. Rodrigues et al.(2018) relata que a insegurança docirurgião dentista especialmente frente à recusa do atendimento da gestante tem demonstrado despreparo e inexperiência doprofissional na abordagem deste público.Conclusão: Os resultados permitem observar e sugerir que há falha no registro dos procedimentos nos sistemas de informaçãoe no planejamento das ações de promoção de saúde bucal da gestante, uma vez que uma parcela importante das gestantes nãotem acesso ao atendimento odontológico.
ReferênciasBrasil. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAQ/ManualInstrutivo [internet]. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2012.Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde; 2012.CECHINEL, D. B. et al. Sistematização de um protocolo de atendimento clínico odontológico a gestantes em ummunicípio Sul Catarinense. Rev. Odontol. Univ. Cid. São Paulo.v.28, n.1 (jan/abr2016) - São Paulo: Universidade Cidade deSão Paulo; 2011.OLIVEIRA, L. F. A. S. et al. A importância do pré-natal odontológico para gestantes: Revisão bibliográfica. RevistaCientífica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, edição 07, V. 01, pp 05-17, out. 2018. ISSN: 2448-0959Política nacional de atenção integral à saúde da mulher: princípios e diretrizes /Ministério da Saúde, Secretaria deAtenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.RODRIGUES, L. G.; et. al; Pré-Natal Odontológico: assistência às gestantes na rede pública de atenção básica em saúde.Arq Odontol, Belo Horizonte, 54: e20, 2018.SILVA, W. R. et al. Atendimento odontológico a gestantes: uma revisão integrativa. Ciências Biológicas e de Saúde Unit,Aracaju, V.4, n. 1, p. 43-50, maio,2017.
ESTRATÉGIAS USUALMENTE ADOTADAS POR MULHERES EM BUSCA DE TRATAMENTO DA OBESIDADE
1IGOR ALISSON SPAGNOL PEREIRA, 2RICARDO HENRIQUE BIM, 3REGINA ALVES THON, 4ELAINE COSTA, 5MICHELEFERNANDES DO AMARAL, 6NELSON NARDO JUNIOR
1Mestrando da Universidade Estadual de Maringá (UEM)1Doutorando da Universidade Estadual de Maringá (UEM) 2Doutoranda da Universidade Estadual de Maringá (UEM) 3Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário Ingá - UNINGÁ 4Professora no Centro Universitário Metropolitano de Maringá (UNIFAMMA)5Professor Associado da Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Introdução: A obesidade atingiu proporções epidêmicas globalmente, com pelo menos 2,8 milhões de pessoas morrendo a cadaano como resultado do excesso de peso ou obesidade. Em 2016, no mundo todo mais de 1,9 bilhão de adultos estavam acimado peso e 650 milhões eram obesos. A prevalência da obesidade quase triplicou entre 1975 e 2016 (WHO, 2017). No Brasil ocenário é igualmente alarmante, estimativas de 2018 apontavam que 55,7% da população adulta apresentava excesso de peso,dos quais, 19,8% estavam obesos. Resultado de um desequilíbrio entre calorias consumidas e calorias gastas, decorrente doconsumo de alimentos excessivamente calóricos e pouco nutritivos somado a baixos níveis de atividade física, o sobrepeso e aobesidade são os principais fatores de risco para várias doenças crônicas, incluindo diabetes, doenças cardiovasculares e câncer(WHO, 2017). Assim, o tratamento adequado desta doença torna-se necessário, uma vez que além dos problemas físicos efisiológicos a obesidade também está relacionada a problemas psicológicos, como a ansiedade, depressão e dificuldadescomportamentais, afetando o bem-estar social, saúde e qualidade de vida das pessoas (FRANCISCHI et al. 2000).Objetivo: Verificar quais as estratégias são usualmente adotadas por mulheres em busca de tratamento da obesidade.Material e Métodos: Este estudo descritivo foi composto por 43 mulheres com obesidade (IMC 42,1±5,3), com média de idadede 36,1 ± 9,3 anos ingressantes em um Programa Multiprofissional de Tratamento da Obesidade (PMTO). Previamente ao inícioda intervenção as participantes responderam a um questionário, elaborado pelos pesquisadores, com questões relacionadas àsestratégias que essas mulheres já haviam adotadas para emagrecer. Todos os procedimentos seguiram as regulamentaçõesexigidas na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas envolvendo seres humanos. Os participantesleram e assinaram o Termo de Consentimento livre e Esclarecido (TCLE) concordando em participar voluntariamente dapesquisa. O protocolo de pesquisa foi previamente aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa da UniversidadeEstadual de Maringá (CAAE: 56721016.7.1001.0104, Parecer nº 2.655.268).Resultados: Todas as participantes relataram que já haviam tentado combater a obesidade anteriormente, sendo que 67% játinham tentado duas ou mais estratégias diferentes. Dentre as estratégias adotadas para o tratamento da obesidade as maiscitadas foram: dietas (74%), medicamentos (72%), exercícios físicos (67%), shakes emagrecedores (58%), reeducação alimentar(12%) e procedimento estético (12%). Sobre o acompanhamento profissional nas ações adotadas 63% tiveram orientação comnutricionista, 47% com médico, 35% com profissional de educação física, 7% com psicólogo e 19% não tiveramacompanhamento profissional. Quando questionadas se já haviam adquirido algum produto que prometia emagrecer, comoshakes ou remédios, 82% informou que sim, destes, 7% considera que obteve sucesso no tratamento com o produto, 49%considerou sucesso parcial, pois ao parar de consumir o produto tiverem reganho de peso e 44% informou que não reduziu peso.Discussão: Percebe-se que o tratamento da obesidade não é simples. Apesar de existirem diferentes formas de tratamentocientificamente reconhecidas e recomendadas por pesquisadores e organizações (LAU et al., 2007; BRASIL, 2019; JENSEN etal., 2014; ABESO, 2016) como a prática regular de exercícios físicos, terapia nutricional, psicológica, tratamento farmacológico ecirúrgico, muitas pessoas não obtêm sucesso no tratamento. Observa-se que a maioria das mulheres investigadas neste estudojá procurou pelo menos duas formas diferentes para tratar a obesidade. Apesar da maioria já ter tido acompanhamento comnutricionista, menos da metade foi orientada por um médico ou profissional de educação física, e uma proporção muito pequenabuscou atendimento psicológico, contrariando o consenso da literatura (LAU et al., 2007; BRASIL, 2019; JENSEN et al., 2014;ABESO, 2016) de que o tratamento multiprofissional, com foco na mudança do estilo de vida, deve ser a base do tratamento. Asestratégias maias usuais adotadas pelas mulheres foram pautadas em dietas, medicamentos, exercícios físicos e shakesemagrecedores, negligenciando o tratamento dos aspectos psicológicos como ansiedade, depressão, estresse e compulsãoalimentar que estão intimamente relacionados à obesidade (ABESO, 2016) e na maioria das vezes adotando medidas focadasem apenas um dos aspectos que favorecem o aumento de peso corporal.Conclusão: O tratamento da obesidade é complexo. A escolha da melhor estratégia para combater a doença depende da
individualidade do paciente, da presença ou não de patologias associadas e na maioria dos casos necessitam de um trabalhomultiprofissional de médio/longo prazo, uma vez que a obesidade é uma doença multifatorial e que a redução de peso de formasaudável e sustentável faz-se de forma gradativa com mudanças comportamentais que deverão ser mantidas ao longo da vida.
ReferênciasASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA (ABESO). Diretrizesbrasileiras de obesidade 2016.4. ed. São Paulo, SP: ABESO 2016.BRASIL. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2018: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquéritotelefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.FRANCISCHI, Rachel Pamfilio Prado de et al. Obesidade: atualização sobre sua etiologia, morbidade e tratamento. Revista deNutrição, 2000.LAU, David CW et al. 2006 Canadian clinical practice guidelines on the management and prevention of obesity in adults andchildren [summary]. Canadian Medical Association Journal, v. 176, n. 8, p. S1-S13, 2007.JENSEN, Michael D. et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the management of overweight and obesity in adults: a report of theAmerican College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and The Obesity Society. Journalof the American college of cardiology, v. 63, n. 25 Part B, p. 2985-3023, 2014.WORLD HEALTH ORGANIZATION [homepage na internet]. 10 facts on obesity [acesso em 23 jul 2018]. Disponível em:http://www.who.int/features/factfiles/obesity/en/
EFEITOS DE 8 SEMANAS DE UM PMTO SOBRE PARAMETROS HEMODINAMICOS E APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIAEM ADULTOS COM OBESIDADE SEVERA
1IGOR ALISSON SPAGNOL PEREIRA, 2REGINA ALVES THON, 3GREICE WESTPHAL, 4FERNANDO MALENTAQUIMARTINS, 5GEISON SCHMIDT SOARES, 6NELSON NARDO JUNIOR
1Mestrando da Universidade Estadual de Maringá (UEM)1Doutoranda da Universidade Estadual de Maringá (UEM) 2Doutoranda da Universidade Estadual de Maringá (UEM) 3Mestrando da Universidade Estadual de Maringá (UEM)4Graduado em Educação Física (UEPG) com Especialização em Educação Especial pela ESAP Paraná5Professor da Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Introdução: O predomínio da obesidade ganhou destaque em vários países devido seu crescente aumento nas três últimasdécadas (CSP 2017). Estima-se que há 700 milhões pessoas com obesidade no mundo e, existem cerca de 1,5 milhões depessoas com sobrepeso. O excesso de peso corporal foi responsável por cerca de 4 milhões de mortes no mundo em 2015, dasquais, quase 60% dessas pessoas eram obesas (GBD, 2017). No Brasil o sobrepeso e a obesidade vêm crescendo em todas asfaixas etárias, em ambos os sexos, e também em todas as faixas de renda, sendo que, a velocidade de crescimento é maisexpressiva na população com menor nível socioeconômico (CSP, 2017). Objetivo: Comparar os efeitos de 8 semanas de um Programa Multiprofissional de Tratamento da Obesidade (PMTO) sobreparâmetros hemodinâmicos e a aptidão cardiorrespiratória em adultos com obesidade severa. Material e métodos: Este estudo foi composto por 35 participantes de ambos os sexos com obesidade severa e faixa etáriaentre 18 a 50 anos, participantes de um PMTO. Foram avaliadas as seguintes variáveis no início e ao final das 8 semanas:pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD), índice de massa corporal (IMC) e teste de caminha de 6minutos avaliando a frequência cardíaca (FCa) antes do teste (em repouso), Frequência cardíaca (FCi) imediatamente após oteste de caminha de 6 minutos e frequência cardíaca (FC1min) após 1 minuto de teste. Para aferição da pressão arterial foiutilizado o aparelho HEM 7113 Omron. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir da divisão da massa corporal(KG) pela estatura (m) ao quadrado. A frequência cardíaca foi avaliada por meio do cardiofrequencimetro da marca Polar modeloRS800CX. Para o teste de caminhada de 6 minutos utilizamos uma superfície plana, reta e rígida de 20 metros. Os avaliadosforam orientados a caminhar no ritmo mais forte possível, sem correr, sendo estimulados a manter esse ritmo durante a duraçãodo teste. No final do teste foi contabilizado o número de voltas, a FCi e a FC1min. Os dados foram tratados através da estatísticadescritiva e inferencial pelo SPSS 15.0. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)concordando em participar voluntariamente da pesquisa (Parecer nº 2.655.268). Resultados: Participaram 14 homens com média de idade de 40,0±2,1 anos e IMC de 49,08±2,95 Kg/m2 e 21 mulheres commédia de idade de 36,57±1,97 anos e IMC de 44,03±0,92 Kg/m2. Em relação aos parâmetros de PAS os homens apresentaramno momento pré valor médio de 132,5±2,6 mmHg e no pós 130,08±2,2 mmHg (p=0,52), já a PAD pré era de 85,5±3,03 mmHg ea pós foi de 83,17±1,16 mmHg (p=0,49), a FC em repouso pré foi de 114,42±4,18 bpm e a pós 97,33±4,21 bpm (p=0,003), FCpós teste (pré) 158,73±5,73 bpm e pós 155,08±3,69 bpm (p=0,44) e FC após 1 minuto de teste pré foi de 132,67±4,85 bpm e após 124,75±5,63 bpm (p=0,26) e a distância média percorrida durante o teste de 6 minutos foi de 491,29±27,5 m sendo de 528,84±28,29 m após o período de intervenção (p=0,14). Já as mulheres nos parâmetros de PAS apresentaram no momento prévalor médio de 125,4±3,07 mmHg e no pós 124,38±3,4 mmHg (p=0,76), a PAD pré foi de 79,4±2,08 mmHg e pós de 77,29±2,5mmHg (p=0,41), a FCa média foi de 105,29±2,18 bpm e pós 92,38±2,21 bpm (p=0,000), FCi (pré) 153,33±4,1 bpm e pós teste151,05±3,71 bpm (p=0,42) e FC1min pré 125,9±2,95 bpm e pós 118,81±3,07 bpm. (p=0,045) e a distância média percorridadurante o teste de 6 minutos foi de 507,82±11,9m e pós 517,13±14,28 m (p=0,5). Discussão: Foram encontradas melhoras significativas na FCa dos homens e das mulheres (p=0,003), (p=0,000)respectivamente. As mulheres também apresentaram melhora na recuperação da frequência cardíaca 1 minuto após o teste de 6minutos (p=0,045). Este parâmetro (FC) é reconhecido como um bom indicador de saúde cardiovascular. Valores mais altosestão relacionados a risco aumentado de mortalidade, enquanto que valores mais baixos estão associados ao nível decondicionamento cardiovascular (ALMEIDA, 2003). As outras variáveis apresentaram pequenas melhorias, entretanto, os dadossugerem que esse grupo necessita de mais tempo de intervenção para obter ainda mais benefícios, assim como indica osrelatórios da VIGITEL, 2019 e a ABESO, 2016 expondo a importância de estudos multiprofissionais e a importância de se adotar
um estilo de vida ativo e saudável ao longo da vida. Conclusão: Os resultados do presente estudo indicam que os participantes da pesquisa tiveram efeitos significativos nafrequência cardíaca de repouso após apenas 8 semanas de um PMTO. Além disso, também foram observadas melhoras naFC1min entre as mulheres. As variáveis IMC, PAS, PAD, E FC pós teste, analisadas por grupo tiveram uma modesta alteração,(não significativa). No entanto, uma análise individual das respostas indica melhoras expressivas em parte dos participantes,tanto no sexo masculino como no feminino. Com isso, destaca-se a importância de programas multiprofissionais de tratamento daobesidade (PMTO) de médio a longo prazo, como estratégia básica de combate a obesidade e doenças associadas.
ReferênciasALMEIDA, Marcos B e ARAUJO, Claudio Gil S. Efeitos do treinamento aeróbico sobre a frequência cardíaca. Rev Bras MedEsporte, Vol. 9, N. 2, p. 1-9, 2003.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA (ABESO). Diretrizesbrasileiras de obesidade 2016.4. ed. São Paulo, SP: ABESO 2016.BRASIL. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2018: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquéritotelefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA (CSP). Obesidade e políticas públicas: concepções e estratégias adotadas pelo governobrasileiro. Cad. Saúde Pública, V.33, N.7, P.1-12, 2017. THE GBD 2015 OBESITY COLLABORATORS. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. TheNew England Journal of Medicine, v. 377, n1, pg. 1-15, 2017.
REVISÃO DE LITERATURA SOBRE AS DISFUNÇÕES DO INTESTINO E DA BEXIGA (BBD)
1Jéssica da Silva Sena, 2DANIELA SCALCO, 3MÔNICA KLEN BRUGUES
1Discente da Pós Graduação em Fisioterapia Pélvica Uroginecologia Funcional - Faculdade Inspirar1Discente da Pós Graduação em Fisioterapia Pélvica Uroginecologia Funcional - Faculdade Inspirar2Discente da Pós Graduação em Fisioterapia Pélvica Uroginecologia Funcional - Faculdade Inspirar
Introdução: Burgers et al. (2013) descreveu a disfunção da bexiga e intestino ( que vem do inglês: bladder and bowel disorder -BBD) como distúrbios funcionais da bexiga associados a distúrbios do intestino (disfunções de armazenamento ou esvaziamentovesical aliado a constipação e/ou incontinência fecal não retentiva), isso ocorre pelo fato do reto carregado de fezes comprimir abexiga, o que favorece a redução da capacidade vesical, contrações da bexiga e obstrução do colo vesical e da uretra.Objetivo: Demonstrar por meio de uma revisão bibliográfica que a disfunção da bexiga e do intestino (BBD) é uma comorbidadepediátrica muito comum, mas provavelmente subdiagnosticada.Desenvolvimento: Segundo Santos, Lopes e Koyle (2017) a disfunção da bexiga e do intestino (BBD) é uma entidade pediátricamuito comum, porém provavelmente subdiagnosticada. Pois descreve uma miríade de disfunções do trato urinário inferior (DTUI),acompanhadas de queixas intestinais, principalmente constipação e/ou encoprese, representando cerca de 40% das consultasde urologia pediátrica. Para Carvalho (2015) existem várias teorias sobre a coexistência de DTUI e constipação, tais como: aproximidade anatômica do reto e da bexiga, o compartilhamento da mesma origem embriológica e das vias neurológicas, apassagem conjunta pelo assoalho pélvico, além da proximidade anatômica da uretra com o reto. O que poderia fazer com quealterações de um sistema afetasse o outro. De acordo com Gaither et al. (2018) o reconhecimento e o tratamento da BBD sãoaspectos importantes da prevenção geral da infecção do trato urinário (ITU) e da gestão do refluxo vesico uretral (RVU).Foiconstatado que a BBD apresenta alterações pscicosociais, portanto precisa de tratamento especial. É de suma importância que acriança seja avaliada de forma detalhada e precisa. Pois o diagnóstico do BBD é baseado apenas nos achados clínicos, além dahistória clínica e dos exames físicos, os diários miccionais e intestinais são essenciais para a avaliação da BBD. No caso daavaliação é necessário o diário intestinal, usado por sete dias consecutivos com todas as anotações, para estabelecer os critériosde ROMA e escala fecal de Bristol. Aplica-se também o diário miccional, que deve ser feito pelo período de sete dias, com intuitode identificar as alterações miccionais e estabelecer a linha de tratamento a ser seguido (SANTOS; LOPES; KOYLE, 2017).Otratamento da BBD além de multidisciplinar deve combinar diversas formas de terapia e ser individualiza de acordo com acondição clínica de cada paciente. O controle da constipação em geral é obtido em longo prazo e deve ser realizado por etapas:educação, desimpactação, prevenção de um novo acúmulo e acompanhamento. Com o restabelecimento do trânsito intestinaljá obeserva-se melhora considerável dos sintomas urinários (BURGERS et al., 2013).Conclusão: Concluiu-se com esse estudo que a BBD é normalmente subdiagnosticada em razão dos seus sintomas seremconfundidos com disfunções pélvicas isoladas. O que torna seu diagnóstico adequado imprescindível para se iniciar o maisprecoce possível o tratamento correto, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos pacientes.
ReferênciasBURGERS, R. E. et al. Management of funtional constiation in children with lower urinary tract symptoms: report from theStandardization Committee of International Childrenʻs Continence Society, The Journal of Urology, v. 1, n. 190, July, 2013.Disponível em: https://www.nbci.nim.nih.gov/pubmed/23313210. Acesso em 26 de Agosto 2019.CARVALHO, A. S. L. T. Disfunção do trato Urinário Inferior com Sintomas de Incontinência Urinária Diurna : análise críticados métodos investigativos. Orientador: Vera Hermina Kalika Koch. 2014. 121 f. Dissertação (Mestrado em Pediatria) Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.GAITHER, T. W. et al - Risk Factors for the Development of Bladder and Bowel Dysfunction, Pediatrics, v.1, n. 141,January, 2018. Disponível em: https://www.nbci.nim.nih.gov/pubmed/29282207. Acesso em: 10 de Maio 2019.SANTOS J. et al. Bladder and bowel dysfunction in children: An update on the diagnosis and treatment of a common, butunderdiagnosed pediatric problem. Canadian Urological Association Journal, v. 11, n. 1, January-February, 2017. Disponívelem:www.nbci.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC5332240/. Acesso em: 18 dez. 2018.
RELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES ATROPOMÉTRICOS EM ADULTOS OBESOS
1Geovanni Marcos de Oliveira, 2GREICE WESTPHAL, 3VALQUIRIA FÉLIX ROCHA MOREIRA, 4IGOR ALISSON SPAGNOLPEREIRA, 5ANA MARIA CEOLIM DOS SANTOS MELO, 6NELSON NARDO JUNIOR
1Graduando do Curso de Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)1Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação Física Associado UEM/UEL2Graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)3Mestrando no Programa de Pós-graduação em Educação Física Associado UEM/UEL4Graduada em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá (UEM)5Docente curso de Educação Física e do Programa de Pós-graduação Universidade Estadual de Maringá
Introdução: O excesso de peso e a obesidade vêm ganhando destaque por sua crescente prevalência e pela associação comuma ampla gama de doenças crônico não transmissíveis (LUNG et. al 2018). No Brasil, 56,9% da população estava acima dopeso e 20,8% se enquadravam na classificação de obesidade já em 2013 (CSP 2017). Ao considerar a antropometria como umdos instrumentos utilizados, sobretudo para indicar o risco de desenvolvimento da síndrome metabólica a literatura temconsiderado a medida da circunferência de pescoço (CP) como indicativo de risco aumentado para as doenças crônicas nãotransmissíveis (DCNT) (PEREIRA et. al 2014). O índice de massa corporal (IMC) em conjunto com a idade e o sexo sãoconsiderados as variáveis que mais influenciam na distribuição de gordura corporal (SEIDELL. 1991). Uma pessoa com um IMCde 30 kg/m2 ou mais é considerada obesa. Uma pessoa com IMC igual ou maior que 25 kg/m2 é considerada acima do peso. Opercentual de gordura (Gord%) é um bom indicador juntamente com outras medidas quando relacionado ao risco para odesenvolvimento de doenças associadas à obesidade (PITANGA, 2007; DEURENBERG-YAP, 2002). Objetivo: Este estudo objetiva avaliar a correlação entre IMC e % de Gord. com as medidas de circunferência a seguir: CC, CA,CQ e CP. Material e Métodos: Este estudo caracteriza-se como um ensaio clínico pragmático, para avaliar a efetividade das intervençõesde um Programa Multiprofissional de Tratamento da Obesidade (PMTO). A amostra foi composta por 62 indivíduos com idadesentre 18 e 50 anos, que foram divididos em dois grupos (terrestre e aquático) onde participaram de uma intervenção teórica pratica, durante duas horas por dia, três vezes na semana, com os profissionais da Educação Física, Nutrição e Psicologia. Esseprojeto foi financiado pela Fundação Araucária/Ministério da Saúde, pelo edital PPSUS 2016/2017, e foi aprovado pelo comitê deética da Universidade Estadual de Maringá com parecer n0 2.655.268 de 15/03/2018. Os dados coletados foram tabulados etratados no Microsoft Office Excel 2007 A massa corporal foi mensurada por meio uma balança tipo plataforma de marca InBody
Biospace, com resolução de 0,1 kg e capacidade máxima de 250 kg. A medida da estatura dos indivíduos ocorreu por meio deum estadiômetro de parede (Sanny). O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir da divisão da massa corporal (Kg)pela estatura (m) ao quadrado, e as circunferências de pescoço (CP), cintura (CC), abdomem (CA) e quadril (CQ) forammensuradas com uma fita métrica inextensível. Foram analisados os coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis(IMC e % de Gord. Vs CC, CA, CQ e CP), com nível de significância de p<0,05.Resultados: Os coeficientes de correlação obtidos entre IMC e as circunferências CC, CA, CQ e CP foram de: 0,87; 0,84, 0,82 e0,55, respectivamente. Sendo todas significativas, maiores que 0,36 que é o R crítico para n>30. Já entre o Percentual deGordura (%Gord.) e as mesmas circunferências os coeficientes de correlação foram de: 0,32; 0,42; 0,69 e -0,10. Assim, a CC e,principalmente a CP não foram significantes (p>0,05). Discussão: A análise dos dados nos mostra que houve correlação significativa entre variáveis IMC e CP. No entanto, o mesmonão ocorreu em relação ao Percentual de Gordura e a CP, que apresentaram uma correlação muito baixa e negativa. Acircunferência do pescoço tem sido indicada como uma medida alternativa da gordura corporal, tendo relação com o riscocardiometabólico e também com o tecido adiposo abdominal visceral (Preis et al., 2010). No entanto, em nosso estudo não foiobservado o mesmo comportamento. Ao contrário das variáveis CQ e CA que apresentaram correlações significativas com o%Gord. Achados semelhantes aconteceram no estudo de Souza et al,(2014), ao realizarem uma pesquisa com mulheressedentárias, analisaram a correlação entre a CP e o IMC, e a CP e o Índice de Adiposidade Corporal, cuja a correlação não foisignificativa.Conclusão: Sugere-se, a partir desses resultados, maior cautela na indicação da CP como preditor de risco nessa população. Aomesmo tempo em que se recomenda estudos adicionais envolvendo mais parâmetros.
ReferênciasCADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA (CSP). Obesidade e politicas públicas: concepções e estratégias adotadas pelo governobrasileiro. Cad. Saúde Pública, V.33, N.7, P.1-12, 2017.Deurenberg-Yap M, Chew SK, Deurenberg P. Elevated body fat percentage and cardiovascular risks at low body mass indexlevels among Singaporean Chinese, Malays and Indians. Obesity Rev. 2002; 3:209-15.FITCH KV, Stanley TL, Looby SE, Rope AM, Grinspoon SK. Relationship between neck circumference and cardiometabolicparameters in HIV-infected and non-HIV-infected adults. Diabetes Care. 2010;34:1026-31LUNG, Thomas; JAN, Stephen. TAN, EngJoo;KILLEDAR, Anagha; HAYES,Alison. Impactofoverweight,obesityandsevereobesityonlifeexpectancyofAustralianadults.InternationalJournalofObesity. v. 43, n. 4, outubro de 2018.Disponivel em: https://sci-hub.tw/10.1038/s41366-018-0210-2. Acesso em 14 ago. 2019PEREIRA, Dayse Christina Rodrigues; ARAÚJO, Márcio Flávio Moura de; FREITAS, Roberto Wagner Júnior Freire de;TEIXEIRA, Carla Regina de Souza; ZANETTI, Maria Lúcia; DAMASCENO, Marta Maria Coelho. Circunferência do pescoço comopossível marcador para síndrome metabólica em universitários. Revista. Latino-Americana. Enfermagem nov/dez. 2014; v.22n.6. Disponível em: http://www.periodicos.usp.br/rlae/article/view/99972/98502. Acesso em 14 ago. 2019Pitanga FJG, Lessa I. Associação entre indicadores antropométricos de obesidade e risco coronariano em adultos na cidade deSalvador, Bahia, Brasil. Rev Bras Epidemiol. 2007; 10(2):239-48.Preis SR, Massaro JM, Hoffmann U, DʼAgostino RB Sr, Levy D, Robins SJ, et al. Neck circumference as a novel measure ofcardiometabolic risk: the Framingham Heart study. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(8):3701-10SEIDELL JC. Environmental influences on regional fat distribution. Int J Obes 1991; 15(Suppl 2): 31-5.SOUZA William Cordeiro, MASCARENHAS Luis Paulo Gomes, REISER Fernando Carvalheiro , SOUZA Wallace Bruno, LIMAValderi Abreu, MUNIZ Marcos Aurélio Borges, GRZELCZAK Marcos Tadeu. Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição eEmagrecimento. São Paulo. v.8. n.48. p.159-164. Nov./Dez. 2014. ISSN 1981-9919.
A INFLUÊNCIA DA FLEXIBILIDADE NO ESPORTE
1VALERIA MOZZAQUATRO DA SILVA, 2VITOR HUGO RAMOS MACHADO
1Discente do Curso de Fisiologia do Exercício PÓS/UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: A Flexibilidade foi definida por Ceas (1987) como um elemento de aptidão funcional. Nas atividades da vida diária(AVD) e no treinamento desportivo, constantemente precisamos realizar movimentos que exigem menores ou maiores graus deamplitude. E também como a amplitude máxima fisiológica passiva, em um dado movimento. Segundo Achour (1997) aflexibilidade pode ser classificada em: Passiva quando o aumento da amplitude de movimento de uma ou mais articulações. Ativaocorre pela aplicação de forças internas do praticante e manifesta-se quando o indivíduo contrai o músculo agonista e relaxa osantagonistas. Mista amplitude do movimento articular e alcançada pela ação voluntária (forças internas) de contração dosmúsculos agonistas e relaxamento dos antagonistas, somado de força externa.Objetivo: Elencar os principais pontos de influência da flexibilidade no esporte.Desenvolvimento: Embora a flexibilidade seja citada muitas vezes como aptidão voltada para a saúde, essa capacidade étambém de suma importância para o mundo esportivo, Böhme (1993) destaca a capacidade de flexibilidade associada a saúde.Numa outra vertente, Alter (1996) aponta a flexibilidade e outros atributos físicos como essenciais na execução de gestosdesportivos, sofrendo adaptações com a modalidade. A flexibilidade é importante para o atleta melhorar a qualidade domovimento, podendo realizar grandes amplitudes reduzindo os riscos de lesões músculos articulares, e aumentando oaperfeiçoamento motor e a eficiência mecânica (ARAÚJO, 2000). O alongamento é uma das técnicas mais utilizadas para seobter o aumento da amplitude de movimento (ADM), porém não há um consenso sobre a frequência e o tempo necessário dealongamento para se obter ganho de flexibilidade (MAHIEU, et al, 2007). Além dos exercícios de alongamento, no mundoesportivo, exercícios com pesos podem auxiliar nos ganhos de amplitude articular, pois a musculação aumenta a quantidade detecido conjuntivo, tecido esse que recobrem as fibras musculares, são viscosos e elásticos (FLECK; KRAEMER, 1999). Bompa(2000) desataca que antes de desenvolver força muscular, deve-se desenvolver flexibilidade articular. A inclusão de exercíciospara flexibilidade evidencia benefícios como: melhoras articulares, principalmente na amplitude do movimento e um ganho naperformance muscular (FARINATI E MONTEIRO, 1992).Conclusão: As referências estudadas apresentaram uma tendência positiva da flexibilidade na qualidade do movimento,principalmente no que se refere ao controle do movimento esportivo. A melhoria na qualidade desse movimento, depende devários fatores dentre eles a flexibilidade.
ReferênciasACHOUR JUNIOR, A. Avaliando a flexibilidade: manual de instruções. Londrina: Midiograf, 1997. 84p.ALTER MJ. Science of flexibility. 2. ed. Champaign: Human Kinetics; 1996.ARAUJO, C. G. S. de. Correlação entre métodos lineares e adimensionais de avaliação da mobilidade articular. RevistaBrasileira da Ciência e do Movimento n 8, v 2 , p 25-32, 2000.BÖHME, M.T.S. Aptidão física: aspectos teóricos. Revista Paulista de Educação Física. 1993; 7:52-65BOMPA, T. O. Treinamento de força consciente, São Paulo, Phorte Editora, 2000; p 27.CEAS, B. et al. Ginástica aeróbica e alongamento. São Paulo, Manole 1987; p 21.FARINATI, P.; MONTEIRO, W. Fisiologia e Avaliação Funcional, Rio de Janeiro , Sprint, 1992; p 68 73.FLECK, J.; KRAEMER J. Fundamentos do Treinamento de Força Muscular. São Paulo: Artes Médicas Sul, 1999; p 20 27.MAHIEU N.; MCNAIR P., et al. Effect of static and ballisticstretching on the muscle-tendon tissue properties. MedSci SportsExerc. 2007;39(3):494-501.
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA COMPARATIVA DOS LEITES DE VACA COM LEITE DE SOJA
1LETICIA DA SILVA MEDEIROS, 2EVERTON PADILHA
1Acadêmica do terceiro ano do curso de Biomedicina da UNIPAR1Docente da UNIPAR
Introdução: A comparação acerca dos contaminantes, quantitativo e qualitativamente, entre os dois tipos de leite: de vaca e desoja, através da verificação na forma de extração conforme a Instrução Normativa número 62 (IN n°62) (Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento, 2011). O leite de vaca é obtido através da ordenha de vacas sadias, bem alimentadas e que passampor um período de descanso entre as ordenhas. Enquanto a soja (Glycine max), uma leguminosa cultivada desde os temposantigos (SILVA, 2008) obtido através da extração aquosa dos grãos (ZAKIR; FREITAS, 2015). Objetivo: Analisar a possibilidade de contaminantes quantitativo e qualitativo, nos leites de vaca e de soja comparativamente.:Desenvolvimento: O leite é um alimento natural e por seu alto teor nutricional é a segunda bebida mais empregada naalimentação (SOUZA et al., 2015), sendo que na sua composição, encontram-se micro e macro nutrientes importantes para asaúde como as proteínas, minerais, vitaminas, gorduras e os glicídios. A soja é também um alimento nutricional e funcional, comalto teor de proteínas e lipídios, e serve de matéria prima para muitos subprodutos, como o leite de soja, como uma opção parapessoas com intolerância a lactose, ou indivíduos com restrição de colesterol, já que não possui lactose e colesterol (DANÇA,2015). Possui um alto valor nutritivo, pois apresenta excelente teor de proteínas cerca de 40% (CABRAL; MODESTA, 1981;ZAKIR; FREITAS, 2015), 20% de lipídios, 34% de carboidratos, minerais, fibras e vitaminas (DANÇA, 2015). Nesse sentido,utilizando amostras que, submetidas ao processo de fervura e em seu estado natural (cru), depois de realizado os testes eseguindo os passos na qual, foram feitas diluições das amostras sendo 90 mL de água peptonada 0,1% e 10 mL de leite. Estadiluição foi chamada de diluição 10¹ e outra diluição sendo 10², utilizando 1 mL da diluição 10¹ com mais 9 mL de águapeptonada.Conclusão: Observou nos resultados, que após o processo de fervura doméstica, a quantidade de microrganismos destasamostras, diminuiu, comprovando que o processo de fervura elimina os microrganismos patogênicos e microrganismos quelevam a deterioração do leite. As amostras de leite pasteurizado e leite de soja apresentaram valores aceitáveis pela legislação,sendo próprio para consumo.
ReferênciasCABRAL, L. C.; MODESTA, R. C. D. Soja na alimentação humana. Rio de Janeiro, EMBRAPA/CTAA, 1981.DANÇA, J. da A. E. Avaliação físico-química e microbiológica do leite de soja para a produção do iogurte na cidade de Chimoio.2015. 58 f. Monografia (Engenharia Alimentar) Universidade Católica de Moçambique, Chimoio, 2015.MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Instrução Normativa N°62, de 29 de dezembro de 2011.Relator: José Carlos Vaz. dez. 2011. p. 24.SILVA, D. T. da. Extrato de Soja: características, métodos de obtenção e compostos benéficos a saúde humana. 2008. 34 f.Bacharelado (Química de Alimentos) Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2008.SOUZA, E. G. de; et al. A importância do agronegócio do leite no segmento de agricultura familiar: um estudo de caso emmunicípios da região semiárida paraibana. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, p. 1-164, 2015.ZAKIR, M. M.; FREITAS, I. R. Benefícios à saúde humana do consumo de isoflavonas presentes em produtos derivados da soja.J. Bioen. Food Sci., v. 2, n.3, p. 107-116, set. 2015.
QUALIDADE FISICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE EXTRATOS VEGETAIS SECOS
1FABIANE LUCILA MEOTTI, 2ANA FRIDA DUARTE, 3MARIANE PAVANI GUMY, 4VANEZA PAULA POPLAWSKI CARNEIRO,5LEONARDO GARCIA VELASQUEZ
1Discente de Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica/UNIPAR1Discente do Curso de Farmácia -PIBIC/UNIPAR2Discente do Mestrado Profissional em Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Atenção Básica/UNIPAR3Discente do Mestrado Profissional Em Plantas Medicinais e Fitoterápicos Na Atenção Básica/UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: As plantas medicinais atuam como fortes aliadas do homem na prevenção, no tratamento e na cura dedeterminadas doenças. A utilização desse recurso surgiu em consonância com a história da humanidade, podendo assim serconsiderada uma das práticas mais antigas relacionadas à busca pelo reestabelecimento da saúde. Desde os primórdios ohomem buscava nas plantas o reequilíbrio para desordens de natureza física ou espiritual, descrevendo esses produtos naturaiscomo uma potencial fonte de compostos ativos (FIRMO et al, 2011). Nas últimas décadas, as terapias alternativas ecomplementares têm se difundido de maneira acentuada, na mesma proporção em que ocorrem avanços da indústriafarmacêutica. Essa adesão às práticas não tradicionais está associada à busca pelos recursos naturais por grande parte dasociedade. Entretanto, a busca crescente e incessante por drogas oriundas de plantas medicinais pode ser relacionada a umaacentuada queda no que se refere à qualidade destes produtos, sendo que os principais problemas encontrados durante oprocesso de obtenção de fitoterápicos são associados à presença de contaminantes químicos, físicos e microbiológicos (GINDRI;LAPORTA; SANTOS, 2012).Objetivo: Avaliar os aspectos de controle de qualidade físico-químico e microbiológico dos extratos vegetais secos utilizadospara a manipulação de fitoterápicos em um laboratório de uma universidade privada da região de Francisco Beltrão PR.Desenvolvimento: A Melissa officinalis L., pertencente da família Lamiaceae, é popularmente conhecida como erva-cidreira.Essa planta medicinal apresenta propriedades espasmolíticas, antioxidantes, antivirais e antimicrobianas. Em estudo, Garbin,Tiuman e Krüger (2013) apontaram a contaminação de amostras vegetais dessa planta por Staphylococcus aureus. Emcomplemento, Silva et al (2018), analisou amostras de Calendula officinalis L, planta que apresenta efeitos anti-inflamatórios etambém cicatrizantes, e concluiu que todas as amostras apresentavam elevado teor de impurezas, resultado observado tambémpor Dias et al (2013) que avaliou amostras de Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli, planta conhecida comochapéu-de-couro, importante agente anti-hipertensivo, hipolipidêmico e diurético. Em contrapartida, Enderle et al (2018) observouuma evidente atenção no que se refere aos critérios de controle de qualidade da manipulação de fitoterápicos a base dePassiflora incarnata L. (maracujá), garantindo assim as ações antidiabética, ansiolítica e sedativa, ofertadas por essa espécievegetal. A Baccharis trimera (Less) DC. conhecida como carqueja, tem ação diurética, digestiva, antirreumática, analgésica, anti-inflamatória e ainda hepatoprotetora. Em pesquisa realizada por Beltrame et al (2009) registrou-se a presença de microrganismospatógenos e grande variação de seus componentes químicos, podendo acarretar danos irreparáveis ao consumidor. Por outrolado, Pereira (2016) registrou em estudo que em amostras de Equisetum arvense (cavalinha), espécie com ações diurética, anti-inflamatória e adstringente, a presença de impurezas respeitavam os limites estabelecidos pela legislação vigente, porém asembalagens não apresentam informações essenciais ao consumidor, como por exemplo os constituintes químicos da amostra emquestão, resultado também registrado no estudo de Melo et al (2007), o qual avaliou amostras de Cymbopogon citratus (DC.)Stapf, capim limão, que corresponde à um potente calmante, antiespasmódico e antimicrobiano. No que se refere à capuchinha,Tropaeolum majus L, destacam-se os seus efeitos anti-inflamatório, antibacteriano, antifúngico, antiviral, expectorante e diurético.De acordo com Lima (2017), o tempo e tipo de armazenamento tem relação direta com as características organolépticas deamostras de T. majus L.. Nesse sentido, em estudo realizado, foram registradas alterações referentes à coloração, concentraçãodos constituintes, massa e acidez.Conclusão: Os fitoterápicos tem por finalidade promover a manutenção e a recuperação da saúde. Entretanto, a desatenção acritérios básicos de qualidade, permitem que esses produtos operem como agentes lesivos aos indivíduos. Atenta-se para apresença de contaminantes químicos, físicos e microbiológicos em amostras das plantas investigadas nessa revisão. Nessesentido, serão realizadas as análises físico-químicas e microbiológicas dos extratos vegetais secos utilizados para a manipulaçãode fitoterápicos em um laboratório de uma universidade privada da região de Francisco Beltrão PR, visando investigar aautenticidade e garantir a eficácia de produtos oriundos de amostras vegetais.
ReferênciasBELTRAME, Flávio Luís et al. Avaliação da qualidade das amostras comercias de Baccharis trimera L. (Carqueja) vendidas noEstado do Paraná. Acta Scientiarum. Health Sciences, v. 31, n. 1, p. 37-43. 2009DIAS, E. G. E. et al. Qualidade e autenticidade de folhas de chapéu-de-couro (Echinodorus grandiflorus) oriundas defornecedores de São Paulo. RBPM, v. 15, n. 2, p. 250-6. 2013.ENDERLE, Daiane Caroline et al. Controle de qualidade do fitoterápico (Passiflora incarnata L.). FACIDER Revista Científica, n.11, p. 1-11. 2018.FIRMO, Wellyson da Cunha Araújo et al. Contexto histórico, uso popular e concepção científica sobre plantas medicinais.Cadernos de Pesquisa - UFMA, v. 18. 2011.GARBIN, Luciano; TIUMAN, Tatiana Shioji; KRÜGUER, Roberta Letícia. Avaliação da Qualidade de Plantas MedicinaisDistribuídas por uma Unidade de Saúde de um Município do Interior do Paraná. RECEN, v. 15, n. 1, p. 77-93. 2013.GINDRI, Amanda Leitão; LAPORTA, Luciane Varini; SANTOS, Marcos Roberto dos. Controle microbiológico de drogas vegetaiscomercializadas na região central do Rio Grande do Sul. RBPM, v. 14, n. 3, p. 563-570. 2012.LIMA, Isadora Cardoso e. Vida útil e qualidade de duas espécies de hortaliças não convencionais: Capuchinha(Tropaeolum majus L.) E Ora-pronobis (Pereskia aculeata Miller). Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos) UFLA,2017.MELO, Joabe Gomes de et al . Qualidade de produtos a base de plantas medicinais comercializados no Brasil: castanha-da-índia(Aesculus hippocastanum L.), capim-limão (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf ) e centelha (Centella asiatica (L.) Urban). ActaBotanica Brasilica, v. 21, n. 1, p. 27-36. 2007.PEREIRA, Angélica Pasini Pereira. Controle de qualidade de amostras de cavalinha (Equisetum arvense L.)comercializadas no município de Palmas-TO. Trabalho de Conclusão de Curso (Farmácia) CEULP/ULBRA. 2016.SILVA, Alana Bruna de S. et al. Controle de qualidade em amostras de Calêndula officinalis. FACIDER Revista Científica, n. 11.2018.
O USO DA GRAVIOLA (Annona muricata) NO TRATAMENTO DO CÂNCER
1JANICE LEITE DE SOUZA, 2CRISLAINE MARTINS DA LUZ, 3JHENEFER MARTINS FERREIRA, 4MARIANA DALMAGRO,5DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA, 6DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmico do curso de Farmácia da UNIPAR1Acadêmico do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR4Docente da UNIPAR5Docente da UNIPAR
Introdução: O câncer é uma doença que modifica o metabolismo celular, realizando a modulação de genes provocando umcrescimento desenfreado. É uma das mais relevantes causas de morte nos seres humanos, razão a qual se torna de extremaimportância a realização de estudos na busca do tratamento medicamentoso e uma possível cura (CALLE; ARIAS;HERNÁNDEZ, 2017). É uma doença com taxas elevadas mundialmente, que instiga a pesquisa pela compreensão da evoluçãodos sintomas clínicos e da terapêutica que favoreça o tratamento, com maior qualidade de sobrevida (CONTARATO; BENTO;RAMPELLOTTI, 2016). Na cultura medicinal popular de alguns países a graviola (Anona muricata) é utilizada contra alguns tiposde câncer, possui ação anti-inflamatória, hipoglicêmica, relaxante muscular, hipotensora e antiespasmódica(MONGHADAMTOUSI et al., 2015). O consumo da fruta cresceu consideravelmente nos últimos anos, já que na polpa foramidentificados compostos bioativos como polifenóis e acetogeninas que estão ligados à prevenção de várias doenças, comoneurodegeneração, câncer, diabetes e doenças cardiovasculares (QAZI et al., 2018).Objetivo: Descrever sobre os efeitos terapêuticos da graviola (Annona muricata) no tratamento do câncer.Desenvolvimento: Qazi et al.(2018) citam que produtos naturais extraídos de plantas e seus derivados vêm sendotradicionalmente utilizados para tratar várias doenças, incluindo o câncer. Diversos produtos quimioterápicos líderes são direta ouindiretamente fundamentados em produtos naturais botânicos. Silva et al. (2015) descrevem que a graviola (Annona muricata)vem sendo analisada como uma fonte possível de compostos anticâncer, despertando a atenção e curiosidade dos especialistaspelo fato de ser empregada em várias regiões do mundo por diferentes culturas para o tratamento de diversas doenças. Oextrato da folha é capaz de induzir a célula cancerígena à apoptose, por meio de interrupção do ciclo mitocondrial, e a inibição damigração e invasão de células cancerígenas ((MONGHADAMTOUSI et al., 2015). A graviola utiliza o extrato de metabólitossecundários (acetogeninas) que apresentam maior toxicidade em células cancerígenas, tornando-se assim, um grande potencialpara o desenvolvimento de drogas para o tratamento tumoral (CALLE; ARIAS; HERNÁNDEZ, 2017). Segundo Yajid et al. (2017),os extratos da graviola demostraram inibir o crescimento de células cancerígenas na mama por levar a uma atividade citotóxicaem células malignas.Conclusão: Pode-se concluir que a ação da graviola (Annona muricata) auxilia na farmacoterapia do câncer atacando célulasmalignas, sendo um tratamento alternativo, menos agressivo para vários tipos de câncer, tornando-se uma alternativa contratratamentos mais invasivos e traumáticos.
ReferênciasCALLE, M. M. G.; ARIAS, S. P.; HERNANDEZ, J. M. Acetogeninas, alternativa en el tratamiento de cáncer en caninos. RevistaMedicina Veterinaria y Zootecnia, Colombia, v. 13, n. 2, p. 157-172, mar./ago. 2017.CONTARATO, A. A. P. F.; BENTO, F. C.; RAMPELLOTTI, L. F. Motivação dos pacientes com histórico de câncer de mama embuscar as terapias alternativas. Revista Extensio, Florianópolis, v. 13, n. 24, p. 64-82, jan. 2016.MONGHADAMTOUSI, S. Z. et al. Annona muricata (Annonaceae): A review of its traditional uses, isolated acetogenins andbiological activities. International Journal of Molecular Sciences, v.16, n.7, p. 15625-58, jul. 2015.QAZI, A. F. et al. Anticancer Properties of Graviola (Annona muricata): A comprehensive mechanistic review. Oxidative Medicineand Cellular Longevity, v. 39, n. 4, p. 522-533, jan./fev. 2018. SILVA, E. M. F. et al. Estudo in vitro do potencial citotóxico daAnnona muricata. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, Maceió, v. 36, n. 2, p. 277-283, dez. 2015.YAJID, M. et al. Valuation of emerging methods on the polyphenol content, antioxidant capacity and qualitative presence ofacetogenins in soursop pulp (Annona muricata). Scientific Communication, Sao Paulo, v. 39, n. e-358, p. 1-8, jan./feb. 2017.
ATVIDADE INIBITÓRIA DO ÓLEO DE COPAÍBA FRENTE A STAPHYLOCOCCUS SPP. ISOLADOS DE LESÕES ACNEICAS
1VANESSA ROSALINE COSTA OLIVEIRA, 2LIDIANE NUNES BARBOSA
1Docente da UNIPAR1Docente do Curso de Nutrição e do PPG Ciência Animal com Ênfase em Produtos Bioativos
Introdução: A Acne é uma afecção da pele que atinge a unidade pilossebácea, surge principalmente na puberdade e pode afetartanto o sexo masculino como o feminino. Sendo que essa afecção é responsável por 80%da procura dos consultórios médicosdermatológicos para o tratamento de mesmo (KEDE; SBATOVICH, 2009). Dessa maneira, a fitoterapia é uma alternativa napromoção da pesquisa de novos antimicrobianos, a exemplo do óleo de copaíba, visto que a eficiência desse extrato écompovada (BRAGA; SILVA, 2007). No Brasil a copaíba é conhcecida como copaíbeira ou paudólio, sendo largamenteencontrada na floresta da Amazônia (norte), do Mato Grosso e Goiás (centro oeste), Santa Catarina (sul) e Ceara (nordeste)(LIMA; LIMA, 2012). O óleo de copaíba (Copaifera officinalis) é estraído de uma árvore típica brasileira, Copaífera sp., eamplamente utilizado para fins medicinais e cosméticos, sendo reconhecido por suas múltiplas aplicações clínicas emicrobiológicas: ação anti-inflamatória, amtimicrobiana, antifúngica, entre outras (GARCIA; YAMAGUSHI, 2012).Objetivo: Testar a eficiência do óleo de copaíba frente ao gênero Staphylococcus spp., nos isolados de lesões acneicas. Materiais e Métodos: O experimento foi realizado na Unipar, Campus Sede de Umuarama, Paraná no período entre abril eagosto de 2019. O óleo foi adquirido e originado no Estado do Pará e foi doado para a Universidade Paranaense, Umuarama -Paraná. As amostras de lesões acneicas já tinham sido coletadas para a realização de uma Dissertação de Mestrado em 2018,não sendo necessário neste ano passar pelo Comitê de Ética Envolvendo Seres Humanos. Foi realizado o MIC com o óleo decopaíba em triplicata com a porcentagem de 50%, 25% e 12,5% e sua concentração (densidade) em cada porcentagem foram:500mg/ml, 250mg/ml e 125mg/ml.Resultado: O estudo encontra-se na fase inicial e até o momento, com base nos resultados obtidos, foi constatado que o óleo decopaíba obteve um potencial insatisfatório de inibição no crescimento bacteriano Staphylococcus spp., pois em todos os poços acoloração foi rósea, caracterizando que não houve atividade inibitória. Discussão: O Óleo de Copaíba vem sendo pesquisada e em alguns destes estudos são comprovados cientificamente e umadessas propriedades é a atividade antimicrobiana e anti-inflamatória (PIERI; MUSSI; MOREIRA, 2009). Em meu estudo estaatividade antimicrobiana não foi atingida, sendo necessário mais estudos com concentrações ou princípios ativos diferentes paraser observado a atividade contrária.Conclusão: Com base nos resultados obtidos, foi constatado que o óleo de copaíba não apresentou um potencial de inibição docrescimento bacteriano nas bactérias de Sthapylococcus spp. das lesões acneicas avaliadas, pois em todas as concentraçõeshouve o crescimento bacterianos. Desejamos que em testes futuros, atingir e demonstrar que o óleo de copaíva apresente aatividade inibitória, sendo assim o óleo promissor para o combate desta bactéria.
ReferênciasBRAGA, M. D.; SILVA, C. C. M. Atividade antimicrobiana do estrato aquoso de Copaifera langsdorffii Desf. sobre Staphylococcusaureus. Revista Unimontes, V. 9, n. 1, p 91-97, 2007.GARCIA, R.F.; YAMAGUCHI, M. H. Óleo de copaiba e suas propriedades medicinais: revisão bibliográfica. Revista Saúde ePesquisa. v. 5, n. 1, p. 137-146, 2012.KEDE, M. P.; SABATOVICH, O. Dermatologia estética. revisada e ampliada. São Paulo. Atheneu, 2009.LIMA, F. A. LIMA, J. F. DE J. F. M. Utilização Medicinal do óleo de copaíva. Pós em Revista do Centro Universitário NewtonPaiva. p. 332 - 336, ed. 5 , 2012.PIERI, F. A. MISSU, M. C. MOREIRA, M. A. S. Óleo de copaíba (Copaifera sap.): histórico, extração, aplicaç pes industriais epropriedades medicinais. Revista Brasileira de Plantas medicinais. Botucatu, v. 11 n. 4, p. 465-472, 2009.
ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE DIFERENTES CINEMÁTICAS PARA DESOBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES:ROTATÓRIOS X RECIPROCANTES
1LUCAS DENER FELICIANO, 2VANESSA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 3RAFAEL ANTONHOLI DA SILVA, 4ARIELLEPIRES ZOBIOLO, 5LUIZ FERNANDO TOMAZINHO
1Acadêmico do Curso de Odontologia UNIPAR1Docente da UNIPAR2Acadêmico do Curso de Odontologia UNIPAR3Acadêmica do Curso de Odontologia - PIC/UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Não é incomum nos depararmos com casos de insucesso de tratamento endodôntico no dia-a-dia da clínica, comisso o profissional tem que estar atualizado e bem capacitado para eliminar a sintomatologia do paciente bem como os sinaisclínicos da infecção persistente. Para isso se faz necessário uma nova exploração dos canais, precedido pela remoção total domaterial obturador existente e nova desinfecção do sistema de canais radiculares. Entretanto, alguns pesquisadores afirmam queeste procedimento de remoção total do material obturador existente pode ser uma tarefa muito difícil ou mesmo impossível emalguns casos (GERGI et al., 2007; HAMMAD et al., 2008). Com os notórios avanços e pesquisas frente a novas tecnologias emateriais, alguns pesquisadores sugerem que o emprego de instrumentos rotatórios de níquel- titânio no retratamentoendodôntico, abrevia o tempo clínico deste procedimento (SAE-LIM et al., 2000; FERREIRA et al.,2001). Estes autoresconcluíram que devido à rotação contínua, a fricção das limas na guta percha aqueceria a mesma e facilitaria sua remoção, nãonecessitando muitas vezes de o emprego de uma substâncias solvente. Recentemente, uma nova cinemática de instrumentaçãoendodôntica vem sendo proposta. A utilização de limas de níquel titânio em movimentos reciprocantes, o que diminuiria a fadigacíclica do movimento rotatório contínuo, conferindo maior segurança na utilização dos instrumentos (BERUTTI et al., 2012). Estanova cinemática também poderia ser empregada para casos de retratamento, onde a técnica seria em movimentos de pinceladasnas paredes laterais dos canais, facilitando assim a remoção do material obturador (KIM et al., 2012).Objetivo: Este estudo tem como objetivo avaliar a efetividade da técnica convencional de remoção de material obturador, quandocomparada à remoção por limas de níquel-titânio em cinemáticas rotatórias e reciprocantes.Material e Métodos: Foram utilizados 30 dentes humanos extraídos, unirradiculares, removido a coroa deixando umremanescente radicular de 10 mm. Após alcançar a patência dos forames com uma lima manual tipo K, No 10 (Dentsply-Malleifer, Suíça), os mesmos foram instrumentados com limas ProDesign S (Easy, Belo Horizonte- Brasil) em movimentorotatório, seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante. Em seguida todos foram secos com auxílio de cones de papelabsorventes e obturados com cone de guta-percha e cimento AH Plus (Dentsply-Malleifer, Suica), pela técnica híbrida de Taggere finalmente radiografados no sentido orto e mesiorradial, para comprovar a obturação efetiva das amostras. Foi utilizado umaparelho de raios-X periapical (Timex 70 E- GNATUS - EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA. Ribeirão Preto -SP - Brasil) com especificações de 70 Kvp e 8 m.a. Os dentes foram divididos em três grupos: Grupo 1: 10 dentes desobturadospela técnica clássica (Brocas Gates-Glidden e limas Hedstroen( Fabricante). Grupo 2: 10 dentes desobturados com limasNiTiProDesign S em movimento rotatório contínuo; Fabricante. Grupo 3: 10 dentes desobturados com limas NiTiProDesing S emmovimento reciprocante Fabricante. Para a utilização das limas rotatórias e reciprocantes, foi utilizado o motor EasySI(BeloHorizonte, MG, Brasil), com velocidades e torques pré-estabelecidos pelo fabricante. Foram considerados desobturadas as raízesonde não se notava presença de material obturador no instrumento utilizado. Após a remoção do material obturador realizou-seradiografias no sentido mesio e ortorradial utilizando o mesmo aparelho e também o mesmo sistema citado anteriormente. Aavaliação das imagens foi realizada por dois observadores calibrados previamente ao estudo sendo um radiologista e umendodontista. Foram considerados como remanescente de material obturador qualquer imagem radiopaca no interior do condutoradicular, sendo atribuídos os seguintes scores: 0- ausência total de material obturador. 1- até 1mm de material obturadorremanescente. 2-Entre 1mm a 2mm de material obturador remanescente. 3- Acima de 2mm de material obturadorremanescente. Diagnosticada a falha no tratamento inicial, a primeira opção para resolução do caso normalmente é oretratamento endodôntico não cirúrgico. Porém, alguns pesquisadores afirmam que a completa remoção do material obturador dointerior dos condutos, pode ser uma tarefa muito difícil ou em alguns casos impossível (GERGI et al., 2007; AMMAD et al., 2008).Concordando com essa afirmação, nossos resultados, mesmo estando trabalhando em raízes consideradas sem maioresdificuldades, nenhuma das técnicas empregadas foi capaz de remover totalmente o material obturador do interior dos condutos. Conclusão: Durante o procedimento de remoção do material obturador do interior dos condutos, vale frisar que não houveram
fraturas de nenhum tipo de instrumento em nenhumas das técnicas. Analisando as imagens radiográficas finais, foramobservados remanescentes de materiais obturadores na grande maioria das amostras e em todas as técnicas (FIG 1, 2 e 3). Aquantidade de material obturador remanescente nas amostras, de acordo com os critérios de avaliação, foi a seguinte:Grupo 1: 1,4; Grupo 2: 1,6 e Grupo 3: 1,3
ReferênciasAGNES AB. Retratamento endodôntico: Uma revisão de literatura. Monografia. UFRS, p. 39,2009. BERUTTI E, Paolino DS, Chiandussi G, Alovisi M, Cantatore G, Castelucci A, Pasqualini D. Root canal anatomy preservation ofWave One reciprocations with or out glide path. J Endod. 2012;38:102-104.GARCIA-JUNIOR JS, Silva-Neto UX, Carneiro E, Westphalen VPD, Farinuk LF, Fidel RAS, Fidel SR. Avaliacão radiográfica daeficiência de diferentes instrumentos rotatórios no retratamento endodôntico. RSBO, V.5(2), 41-46, 2008.FERREIRA JJ, Rhode JS, Pitt Ford TR. The efficacy of gutta-percha removal using ProFiles.In. End. J. 2001; 34: 267-274.GERGI R, Sabbagh C. Effectiveness of two nickel-titanium instruments and a hand file for removing gutta-percha in severelycurved root canals during retreatment: an ex vivo study. IntEndod J 2007;40:532 7.HAMMAD M, Qualtrough A, Silikas N. Three-dimensional evaluation of effectivenessof hand and rotary instrumentation forretreatment of canals filled with differentmaterials. J Endod 2008;34:1370 3.KIM HC, Kwak SW, Cheung GS, KO DH, Chung SM, Lee W. Ciclic fatigue and torsional resistance of two new niquel titaniuminstruments used in reciprocation motion: Reciproc versus WaveOne. J Endod. 2012;38: 541-4.SAE-LIM V, Rajamancikam I, Lim BK, Lee HL. Effectiveness of ProFile 0.4 taper rotary instruments in endodonticretreatment.Int.Endod. J 2000; 26: 100-04.STABHOLTZ A, Friedman S. Endodontic Retreatment. A case selection and thecnique, Part II:Tratmetplainning for Retreatment.Printed in U.S.A. Vol. 14, No 12. p. 607, December 1988. TAKAHASHI CM, Cunha RS, Sigrist A, Fontana CE, Silveira CFM, Bueno CES. In vitro evaluation of the effectiveness of protaperuniversal rotary retreatment system for gutta-percha removal with or without a solvent.J Endod.35(11), 1580- 82, 2009.
EFEITOS DO ALONGAMENTO NA FUNÇÃO MUSCULOESQUELÉTICA DE IDOSOS
1HENRICH HYORDAN RODRIGUES DUTRA, 2GUILHERME DA SILVA DONADONI, 3FERNANDO SERAFIM DA SILVA,4MARIA GABRIELLA GIROTO
1Discente da Universidade Paranaense1Discente da Universidade Paranaense2Discente da Universidade Paranaense3Docente da Universidade Paranaense
Introdução: Em 2008 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou uma estimativa de que cerca de 14,4milhões de brasileiros são idosos. Da mesma forma estimou que em 2040 o número de idosos terá um aumento expressivo paracerca de 50 milhões. O que daria um aumento exponencial de 18,4% em indivíduos dessa classe. Segundo Gallo et al (2012) àsalterações como perda de força, potência muscular, perda de massa magra se dão devido ao envelhecimento, e uma vez queocorrem elas irão afetar também a capacidade funcional, cuja qual influenciará diretamente na qualidade de vida do indivíduo. Oalongamento é um tipo de exercício físico voltado para a melhora da capacidade de flexibilidade de um indivíduo, além demelhorar o tônus muscular, podendo ser considerado uma ferramenta interessante no trabalho com indivíduos idosos.Objetivo: Investigar através de revisão bibliográfica os efeitos que a prática de alongamento pode acarretar na funçãomusculoesquelética de idosos.Desenvolvimento: De acordo com Gallo et al (2012) através de exercícios de alongamento é possível melhorar e capacidadesfísicas de força, equilíbrio e principalmente flexibilidade. O alongamento pode ocorrer em diferentes metodologias. Gama et al(2018) afirmam que o alongamento deve ser realizado a partir de uma intensidade dada como leve desconforto e em seguida terduração de 30 à 60 segundos. E em seus estudos afirmam que não foram registradas alterações agudas significativas nodesenvolvimento de força muscular de um grupo praticante de alongamento para o grupo controle. A produção de força dosidosos pode não ser alterada devido a rigidez das estruturas, cujas quais podem acomodar o estresse proveniente doalongamento, fazendo com que desta forma não exista alterações nos níveis de força, e que os efeitos agudos são inconclusivos.Porém quando se trata de efeitos crônicos da prática do alongamento os resultados são bem diferentes pois o aumento daflexibilidade traz um aumento na amplitude de movimentos de diversas articulações como aumento de extensão e flexão dequadril, também, aumento da velocidade da marcha, maior comprimento de passo e diminuição no tempo de apoio duplo,melhora de potência muscular de membros inferiores após oito semanas de treinamento e por fim melhora de resistênciamuscular de membros superiores (GAMA et al, 2018). Vale ressaltar que além das melhoras musculoesqueléticas o programa dealongamento é capaz de trazer benefícios psicológicos por meio da interação promovida durante a prática em grupo (GALLO etal, 2012). E segundo Gallon et al (2011) a intervenção multiprofissional é essencial para o progresso de um trabalho dealongamento, bem como aplicação de testes e controles aplicados em períodos sistematizados e o não abandono da prática dealongamento. Uma vez que a prática pode ser deixada de lado devido ao cansaço, disponibilidade de tempo, intensidade exigidae profissionais envolvidos (GAMA et al, 2018).Conclusão: Através da literatura foi possível perceber os efeitos que o alongamento pode acarretar nas funçõesmusculoesquelética dos idosos a curto e longo prazo, especialmente quanto ao ganho de tônus muscular e melhoria decapacidades motoras como o controle de equilíbrio e melhora de flexibilidade. Fazendo com que seja uma boa prática para umamelhor qualidade de vida na terceira idade. Acompanhado de inúmeros benefícios é importante frisar os cuidados que devem sertomados quanto a intensidade, praticantes, exercícios e profissionais envolvidos. Os principais benefícios ao sistemamusculoesquelético sem dúvida alguma é a melhora das articulações do corpo, bem como a personificação de força à longoprazo, cuja qual propiciará um melhor envelhecer.
ReferênciasGALLO, L. H. et al. Alongamento no Programa de Atividade. Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo, v. 23, n. 1, p.1-6, jan./abr. 2012.GALLON, D. et al. Os efeitos do alongamento na flexibilidade, desempenho muscular e funcionalidade de mulheres idosasinstitucionalizadas. Braz J Med Biol Res , Ribeirão Preto, v. 44, n. 3, p. 229-235, mar. 2011. Disponível emhttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-879X2011000300009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 25 de julho de2019.GAMA, H. S. et al. Exercícios de alongamento: prescrição e efeitos na função musculoesquelética de adultos e idosos. Cad.Bras. Ter. Ocup. São Carlos, v. 26, n. 1, p. 187-206, 2018.
IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativas de projeção da população. IBGE, 2008.
A IMPORTÂNCIA DA UROCULTURA NO DIAGNÓSTICO DE INFECÇÃO URINÁRIA NO PERÍODO GESTACIONAL
1JHENEFER MARTINS FERREIRA, 2CRISLAINE MARTINS DA LUZ, 3MARIANA DALMAGRO, 4JANICE LEITE DE SOUZA,5DORA DE CASTRO AGULHON SEGURA
1Acadêmica do curso de Farmácia da Unipar1Acadêmico do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: Segundo Carvalho (2015), as infecções do trato urinário compõem umas das infecções bacterianas mais comuns noser humano, destacando-se no gênero feminino. Isso acontece por causa do formato anatômico, pois há uma maior proximidadedo ânus com o vestíbulo vaginal, já que a uretra da mulher é mais curta. Veiga et al. (2017) ressaltam que as infecções do tratourinário se apresentam muito frequentes durante a gravidez, chegando a ser a terceira ocorrência clínica mais comum decorrenteàs mudanças anatômicas e fisiológicas do trato urinário que acontecem durante esse período, sendo assim, imprescindível oexame de urocultura para um diagnóstico precoce e tratamento eficaz.Objetivo: Descrever sobre a importância do exame de urocultura no período gestacional.Desenvolvimento: As infecções do trato urinário se apresentam mais frequentes durante o período gestacional, devido a umadilatação do trato urinário e o aumento do útero, que ao abranger mais espaço é capaz de obstruir parcialmente o ureter e gerarcondições de parada do fluxo urinário, favorecendo o crescimento bacteriano e a instalação da infecção. Vale lembrar que nesteperíodo a terapia medicamentosa contra as bactérias são mais restritas levando em consideração a toxicidade das drogas para ofeto (PAGNONCELI; ABEGG; COLACITE, 2010). De acordo com Hein, Bertoli e Massafera (2016), diante do risco de infecção dotrato urinário durante a gestação e as consequentes complicações maternas e perinatal, envolvendo parto prematuro, aborto,baixo peso ao nascer, infecção neonatal, além de septicemia, é de suma importância a realização do exame de urocultura comduas amostras urinárias coletadas em horários distintos facilitando o tratamento precoce reduzindo a progressão da infecção dotrato urinário sintomático (CARVALHO, 2015). Para obter uma boa amostra de urina para análise, antes da micção é essencialrealizar uma limpeza genital externa, pois o nível de bacteriúria pode variar de acordo com a forma que a amostra foi coletada(RORIZ FILHO et al., 2010). Borges et al. (2014) ressaltam que grande parte das infecções urinarias é provocada pela espéciebacteriana Escherichia Coli, um microrganismo decorrente de infecções comunitárias não complicadas.Conclusão: Concluiu-se que o exame de urocultura é essencial no período gestacional, pois através do diagnóstico precoce dainfecção do trato urinário é possível iniciar um tratamento adequado evitando futuras complicações.
ReferênciasCARVALHO, C.I. Infecções do trato urinário associado a gestantes e o papel do profissional farmacêutico no tratamentofarmacoterapêutico. Revista Científica FACIDER, Colider, n.7, p.01-18, mai. 2015.BORGES, A.A. et al. Infecção urinária em gestantes atendidas em um laboratório clínico Goiânia - GO entre 2012 e 2013.Revista Estudos, Vida e Saúde, Goiânia, v.41, n.3, p.637-648, jul./set. 2014.HEIN, S.; BORTOLI, C. F.C.; MASSAFERA, G.L. Fatores relacionados à infecção de trato urinário na gestação: Revisãointegrativa. Journal Nursing and Health, Pelotas, v.6, n.1, p.83-91, jan./abr. 2016.PAGNONCELI, J.; ABEGG, M.A.; COLACITE, J. Avaliação de infecção urinária em gestantes do município de Marechal CândidoRondon PR. Arquivos de Ciências da Saúde Unipar, Umuarama, v.14, n.3, p.211-216, set./dez. 2010.RORIZ FILHO, J.S. et al. Infecção do trato urinário. Revista Medicina, Ribeirão Preto, v.43, n.2, p.118-125, jul. 2010.VEIGA. S, P. et al. Incidência de infecções do trato urinário em gestantes e correlação com o tempo de duração da gestação.Acta Biomedica Brasiliensia, Itaperuna, v.8, n.1, p.95-105, jul. 2017.
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: FATORES DE RISCO, SINAIS E SINTOMAS
1MARIO MARQUES PEREIRA FILHO, 2SUELEN STEFANONI BRANDAO, 3LUCIANA LOPES GUTIERREZ BARTOLLI,4WENDREO CHARLES DE CAMPOS, 5DANIELA DE CASSIA FAGLIONI B CERANTO
1Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR1Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Medicina da UNIPAR3Acadêmico do Curso de Medicina da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é a perda da função de uma área do músculo cardíaco, geralmente ocasionadapela arterosclerose, a mesma leva a um estreitamento do vaso formando um trombo que impede a passagem do sangueoxigenado para o coração (MARTINO, 1994). As doenças cardiovasculares, incluindo o IAM, representam um importanteproblema de saúde pública no Brasil e no mundo, apresentando altas taxas de incidência e mortalidade, encontrando-se entre asmaiores do mundo e é semelhante à de países como a China e do Leste Europeu (SANTOS, 2018).Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo, através de uma revisão da literatura, alertar sobre a importância da prevenção doInfarto Agudo do Miocárdio destacando sinais, sintomas e fatores de risco que podem desencadear a doença. Desenvolvimento: Nas últimas décadas, foram implementadas a Política Nacional de Promoção à Saúde e o Programa dePrevenção e Controle da Hipertensão e do Diabetes (HIPERDIA), com vistas a reduzir a morbimortalidade por doenças doaparelho circulatório (SANTOS, 2018). No Brasil, o custo das doenças cardiovasculares é significativamente impactante noorçamento das agências financiadoras de saúde, com elevado custo devido ao uso de medicações e internações, que exigemusufruir serviços de alta complexidade (MATHIONI, 2016). Segundo a LANGOWISKI (2016) os principais fatores de risco para asdoenças cardiovascular são: História familiar de DAC doença arterial coronariana prematuras (familiar 1o grau sexo masculino< 55 anos e sexo feminino < 65 anos), homem > 45 anos e mulher > 55 anos, tabagismo, hipercolesterolemia (LDL-c elevado),Hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, Diabetes mellitus, obesidade (IMC ≥ 30 Kg/m2), gordura abdominal, sedentarismo,ingesta alcoólica, dieta pobre em frutas e vegetais, estresse psicossocial. As pessoas que sofrem um IAM apresentam sinais esintomas como: dor torácica, geralmente em região precordial (coração), de forte intensidade, com duração aproximada de 20 a30 minutos, podendo irradiar-se para o braço esquerdo, mandíbula, pescoço e costas, acompanhada de sensação de morte,sudorese intensa, dispnéia (falta de ar), palidez cutânea, náuseas e vômitos. A dor pode manifestar-se também como: sensaçãode opressão no peito, peso retroesternal, engasgamento esofágico e epigastralgia (dor no estômago). Raramente algumaspessoas podem sofrer um IAM sem dor (MARTINO, 1994). Consoante Johansson; Vedin; Wilhelmsson (1983) apud Dantas eAguilar (1998), o sexo masculino é considerado fator de risco para doença isquêmica cardíaca, principalmente, para os homenscom idade inferior a 50 anos. Até essa idade, o homem tem um risco de sofrer um infarto cerca de três vezes maior que a mulherda mesma idade. Após os 50 anos a diferença na incidência da doença entre os dois sexos diminui e as mulheres, após amenopausa, tornam-se tão vulneráveis ao infarto quanto os homens da mesma faixa etária. A vantagem da mulher sobre ohomem, antes da menopausa, parece estar relacionada a alguns mecanismos da fisiologia reprodutiva, responsáveis por umamenor tendência trombolítica e uma proteção hormonal. Vale salientar, que a metade das mortes por doença cardíacacoronariana está diretamente relacionada com o IAM, e pelo menos a metade destas mortes ocorre até 1 hora após o início dossintomas, e antes do paciente chegar à unidade de emergência do hospital (GOLDMAN; AUSIELLO, 2005 apud CHAGAS, 2012).Conclusão: Trata-se de uma doença que pode levar à morte, necessitando de ações de prevenção e controle dos fatores derisco, bem como o acesso aos serviços de saúde por parte de toda população, tendo em vista que sua incidência não temdiminuído nos últimos anos.
ReferênciasCHAGAS, Jair Periago Soares. Fatores de risco que podem levar ao infarto agudo do miocárdio (IAM), e o papel do Enfermeirona sua prevenção. Fundação Educacional do Município de Assis - FEMA -Assis, 2012.JOHANSSON, Saga; VEDIN, Anders; Wilhelmsson, Class. Myocardial infarction in women. Epidemiologic Reviews, v.5, n.1,p.67-95, 1983.DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti; AGUILAR, Olga Maimoni. Perfil de pacientes com infarto agudo do miocárdio naperspectiva do modelo de \"campo de saúde\". Rev. bras. enferm., Brasília , v. 51, n. 4, p. 571-588, Dec. 1998. Availablefrom . access on 23 Aug. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71671998000400004.
LANGOWISKI. André Ribeiro. Linha guia de infarto agudo do miocárdio. Secretaria de Estado da saúde. Curitiba, 2016.Disponível em: http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/LinhaGuiaInfartoMiocardio_2017.pdfAcesso em: 22 agosto 2019.MARTINO, Milva Maria Figueiredo de et al. Manual de orientação para paciente infartado. Rev. Bras. Enferm., Brasilia, v.47, n.3,p. 304-313, Sept. 1994.MATHIONI, Simone Mertins, et al. Prevalência de fatores de risco em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Rev. enferm., Bogotá , v.34, n.1, p.30-38, Jan. 2016. Available from . access on 23 Aug. 2019. http://dx.doi.org/10.15446/av.enferm.v34n1.37125.SANTOS, Juliano dos et al. Mortalidade por infarto agudo do miocárdio no Brasil e suas regiões geográficas: análise do efeito daidade-período-coorte. Ciênc. Saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 5, p. 1621-1634, May 2018 . Available from . accesson 23 Aug. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018235.16092016.
COMPARAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS EXTRATOS BRUTOS DE Rosmarinus officinalis e SennaSpectabilis FRENTE A CEPA PADRÃO DE Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 e
Escherichia coli ATCC 25922
1NAYENNE DE OLIVEIRA, 2CAROLINE PINTO ZANI, 3ALINE PINTO ZANI, 4ANA CAROLINA SOARES BARBIERI, 5VINICIUSPEREIRA ARANTES
1Acadêmica do PIC/UNIPAR1Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR2Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR3Acadêmica do Curso de Farmacia da UNIPAR4Docente da UNIPAR
Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera as plantas medicinais como importante instrumento deassistência farmacêutica, estima-se que 40% dos medicamentos disponíveis são desenvolvidos a partir de fontes naturais. Ogênero Candida sp é responsável por inúmeras infecções em humanos, podendo acometer infecções em pele e mucosas, tratodigestivo, vagina e cavidade oral. Os Stasphylococcus sp são bactérias Gram-positivas em forma de cocos, microrganismocomensal presente em diversas partes do corpo humano, pele e mucosas, colonizam nasofaringe, axilas, vagina, faringe,períneo, umbigo (crianças), trato urinário e feridas abertas. Os S. aureus são causadores de infecção em pacientes pós-cirúrgicos, tais como endocardites, pneumonias e septicemias. As feridas cirúrgicas, as escaras e os locais de saída dedispositivos médicos, também podem ser colonizados. Rosmarinus officinalis L., conhecida popularmente como alecrim, éoriginária da Região Mediterrânea e cultivada em quase todos os países de clima temperado de Portugal à Austrália. A plantapossui porte subarbustivo lenhoso, ereto e pouco ramificado de até 1,5 m de altura. Folhas são lineares, coriáceas e muitoaromáticas, medindo 1,5 a 4 cm de comprimento por 1 a 3mm de espessura. A planta e os extratos de alecrim são utilizados naindústria agro alimentícia por suas propriedades antioxidantes e conservantes, Também é indicado para uso tópico local, comocicatrizante, antimicrobiana (Staphylococus sp e Monilia) e estimulante do couro cabeludo,O gênero Senna é sinônimo Cassia,pertence à família Leguminosae, distribuída em diversos países, têm sido utilizada na medicina como antigripal e laxativo..(LORENZI, H.; MATOS,F., 2006).Objetivo: Avaliar atividade comparada entre extratos brutos Rosmarinus officinalis e Senna spectabilis frente a Staphylococcusaureus ATCC 6538 , Candida albicans ATCC 10231 e Escherichia coli ATCC 25922.Material e Método: O material vegetal de Rosmarinus officinalis e Senna spectabilis foi seco em estufa de ar circulante emtemperatura de 40 ºC e posteriormente moído em moinho de facas, utilizou-se malha com diâmetro de 0,5 mm, a droga vegetalfoi macerada com álcool-água em uma proporção de 90-10% (v/v) por 48h a temperatura ambiente 25 ºC e protegido da luz. Osextratos foram filtrados e concentrados em rotaevaporador (modelo: IKA RV10 BASIC),obtendo extrato hidroalcoólico de estoque.A cepa de C. albicans ATCC 10231 Newprov® empregada neste estudo, foi adquirida através da Universidade Paranaense-Unipar, as cepas foram reativadas em Caldo Sabouraud, repicadas em Ágar Sabouraud Dextrose 4% e disponibilizadas parauso. Empregou-se a metodologia do MABA Microplate Alamar Blue Assay para determinação da atividade antimicrobiana.Resultados: Inibição do crescimento de Candida albicans ocorreu em 500 µg/mL,quando exposto ao extrato hidroalcoólico deSenna spectabilis, 250 µg/mL ao submeter a mesma cepa frente ao extrato de Rosmarinus officinalis. Para uso frente a cepas deStaphylococcus aureus, obtivemos espectro de 250 µg/mL quando o microrganismo foi exposto ao extrato de Senna spectabilis e 250 µg/mL quando exposto ao extrato de Rosmarinus officinalis. Ao empregarmos Escherichia coli obtivemos inibição da cepaem 500µg/mL, independente do extrato de Rosmarinus officinalis ou Senna spectabilis .Discussão: Cavalcanti et al., (2011), realizaram avaliação do óleo essencial de R. officinalis frente a cepa de C. albicans e C.tropicalis as cepas foram inibidas. Estudo realizado por Costa et al., (2015), avaliaram atividade antimicrobiana dos extratoshidroalcoolicos de R. officinalis e folhas de S. spectabilis, destaca-se que possuem atividade frente a C. albicans na concentraçãode 250 mg/mL independente do extrato em uso.Conclusão: Os extratos de Senna spectabilis e Rosmarinus officinalis apresentaram atividade frente a C. albicans nasconcentrações (CIMs) de 500 e 250 mg/mL respectivamente, para Escherichia coli os resultados de CIM foram de 500mg/mLindependente do extrato em uso, para Staphylococcus aureus os CIM são de 125mg/mL e 250mg/mL, respectivamente.
ReferênciasCAVALCANTI,Yuri Wandeley; ALMEIDA,Leopoldina de Fátima Dantas de; PADILHA,Wilton Wilney Nascimento. Atividade
antifúngica e antiaderente do óleo essencial de Rosmarinus officinalis sobre Candida. Arqu. Odontol: Belo HorizonteV.47,n.3.p.146-152,2011.COSTA,Gustavo Meireles , ENDO,Eliana Harue, CORTEZ,Diógenes Aparício Garcia, NAKAMURA,Tania Ueda,NAKAMURA,Celso Vataru and FILHO,Benedito Prado Dias. Effect of plant extracts on planktonic growth and biofilm ofStaphylococcus aureus and Candida albicans. Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. v. 4, n.6 p. 908-917, 2015.
LOMBALGIA NA TERCEIRA IDADE - REVISÃO DE LITERATURA
1RENATO HENRIQUE CAETANO JUNIOR, 2JEFFERSON J. AMARAL DOS SANTOS
1Dicente do curso de Fisioterapia, UNIPAR Campus Toledo Pr1Docente do curso de Fisioterapia, UNIPAR Campus Toledo Pr.
Introdução: A lombalgia é uma condição debilitante (FOURNEY et al., 2011) que causa declínio funcional em idosos (WONG;SAMARTZIS, 2016). A patologia subjacente causadora é difícil de determinar, porque a lombalgia é uma síndrome clínicacomplexa, derivada de uma infinidade de causas, como fatores mecânicos e não mecânicos e doença visceral (JARVIK; DEYO,2002). A dor lombar é uma condição que pode atingir até 65% das pessoas anualmente e até 84% das pessoas em algummomento da vida (WALKER, 2000), apresentando uma prevalência pontual de aproximadamente 11,9% na população mundial(HOY et al., 2012), o que causa grande demanda aos serviços de saúde (HART; DEYO; CHERKIN, 1995). Entretanto, essesvalores podem estar subnotificados uma vez que menos de 60% das pessoas que apresentam dor lombar procuramtratamento (FERREIRA et al., 2010). Apesar desses números, um diagnóstico específico sobre possíveis causas da dor lombarnão é determinado entre 90-95% dos casos (KRISMER et al., 2007).Objetivo: Este trabalho centrou-se no estudo das lombalgias em idosos.Desenvolvimento: No Brasil, de acordo com a World Health Statistics (1997), em 1950 havia 2,1 milhões de idosos e, em 2025,estima-se que este contingente se elevará a 31,8 milhões (JACOB FILHO, 2000). Como consequência haverá um aumento daprevalência das doenças degenerativas, geralmente relacionadas com a dor crônica e de difícil controle (PAIXÃO JÚNIOR;REICHENHEIM, 2005). Em estudo transversal realizado em um bairro na cidade de Londrina Pr., entrevistaram 245 idosos,destes, 141 (57,5%) era do gênero feminino e 104 (42,5%) do gênero masculino, com idade variando de 60 a 91 anos. Do totalde idosos, 181 (73,9%) referiram apresentar dor (108 eram do gênero feminino e 73 masculino). As queixas de dores na lombar,estavam presentes em 76 (31,0%) pessoas, e foram relatadas dor crônica em 166 idosos (67,7%), com maior prevalência nogênero feminino (69,6%) e o gênero masculino (40,4%). Os autores concluíram que a dor crônica está presente em muitosidosos, sendo mais acometidas nas mulheres. Isso demonstra a necessidade da implantação de estratégias de controle de dorque possam ser implementadas ao maior número de idosos através dos serviços de saúde, especialmente naqueles portadoresde quadros crônicos (PANAZZOLO et al., 2007).Conclusão: A expectativa média de vida humana aumentou significativamente em todo o mundo devido aos avanços namedicina, na assistência médica e na tecnologia nos últimos anos, porem a lombalgia ainda está subnotificada no Brasil, devido anão procura de tratamento em muitos casos. Embora a lombalgia seja prevalente entre os idosos, pouco se sabe sobre astrajetórias da lombalgia, os determinantes da lombalgia crônica e a eficácia das intervenções da lombalgia em idosos. Dadas ascausas multifatoriais de lombalgia e mudanças físicas e psicológicas relacionadas à idade em pessoas idosas, os prestadores decuidados primários devem adotar exames subjetivos e físicos abrangentes para fazer diagnósticos.
ReferênciasFERREIRA, Manuela L. et al. Factors defining care‐seeking in low back pain A meta‐analysis of population basedsurveys. European Journal of Pain, Australia, v. 14, n. 7, p. 747. e1-747, Aug. 2010.FOURNEY, Daryl R. et al. Chronic low back pain: a heterogeneous condition with challenges for an evidence-basedapproach. Spine, Canada, v. 36, n.21 suple., p. S1-S9, oct. 2011.HART, L. Gary; DEYO, Richard A.; CHERKIN, Daniel C. Physician office visits for low back pain. Frequency, clinical evaluation,and treatment patterns from a US national survey. Spine,Seattle v. 20, n. 1, p. 11-19,Jan. 1995.HOY, Damian et al. A systematic review of the global prevalence of low back pain. Arthritis & Rheumatism, Australia, v. 64, n. 6,p. 2028-2037, Jun. 2012.JACOB FILHO W. Envelhecimento e atendimento domiciliário. In: Duarte YAO, Diogo MJD. Atendimento Domiciliar: UmEnfoque Gerontológico. 1st ed, São Paulo, Atheneu, 2000;19-26. p. 630.JARVIK, Jeffrey G.; DEYO, Richard A. Diagnostic evaluation of low back pain with emphasis on imaging. Annals of internalmedicine, Washington, v. 137, n. 7, p. 586-597, out. 2002.KRISMER, M. et al. Low back pain (non-specific). Best practice & research clinical rheumatology, Europe, v. 21, n. 1, p. 77-91,Feb. 2007.PAIXAO JR., Carlos Montes; REICHENHEIM, Michael E. Uma revisão sobre instrumentos de avaliação do estado funcional doidoso. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 7-19, Feb. 2005. PANAZZOLO, Danilo, et al. Dor crônica em idosos moradores do Conjunto Cabo Frio, cidade de Londrina/PR. Revista
Dor, Londrina, v. 8, n. 3, p. 1047-1051, Jul. 2007.WALKER, Bruce F. The prevalence of low back pain: a systematic review of the literature from 1966 to 1998. Clinical SpineSurgery, Australia, v. 13, n. 3, p. 205-217, jun. 2000.WONG, Arnold Y.; SAMARTZIS, Dino. Low back pain in older adults the need for specific outcome and psychometric tools,Journal of Pain Research, China, v. 9, p. 989-991, out. 2016.
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA MINIMIZAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS E DE PROTEÇÃO ASSOCIADOS ÀDEPRESSÃO PUERPERAL
1CLAUCIA CRISTINA RODRIGUES, 2TOANE CAMILA LEME GOMES
1Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNIPAR1Docente do Curso de Enfermagem da UNIPAR
Introdução: O período que a mulher passa após o nascimento do filho é denominado puerpério, sendo marcado por diversas eintensas mudanças físicas, hormonais, emocionais e sociais que podem contribuir para o desenvolvimento depressão pós-parto(DPP) (LIMA et al., 2017). Para minimizar os fatores de risco e proteger a puérpera da depressão puerperal é necessário umaassistência contínua e apoio emocional durante o ciclo gravídico-puerperal e as intervenções de enfermagem executadas emprogramas de assistência são indispensáveis para enfrentamento da doença (ANDRADE et al., 2015; SILVA, 2018).Objetivo: Analisar a assistência de enfermagem na identificação dos fatores de risco e de proteção associados à DepressãoPuerperal.Desenvolvimento: Vários fatores podem influenciar a vulnerabilidade DPP, como históricos de episódios depressivos anteriores,insatisfação com a gravidez, idealização a maternidade, baixo apoio social e familiar, conflito e insatisfação conjugal, entreoutros, para que haja proteção psicológica é necessário que a mulher no ciclo gravídico-puerperal participe de um Programa dePré-Natal com base numa abordagem psicológica e tenha relações sociais positivas (LIMA et al., 2017). De acordo com Boska,Wisniewski e Lentsck (2016) a equipe de saúde, em especial o enfermeiro, deve ter a capacidade de reconhecer os fatores deriscos, os sinais e os sintomas da DPP, planejando e executando ações de prevenção, além de estabelecer uma relação desegurança e de empatia com a puérpera e sua família. A enfermagem integra a equipe de saúde no cuidado com a mulher nociclo gravídico-puerperal, sendo indispensável na área da saúde em todos os níveis de atenção, especialmente no contexto daEstratégia Saúde da Família (ESF) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) desenvolvendo ações de cuidado junto à gravidas epuérperas na consulta de pré-natal, planejamento familiar, e ainda na consulta ou visita domiciliar no pós-parto, com ênfase aoestado emocional, atuando na perspectiva de promoção da saúde mental, quando necessário oferecendo uma rede de apoiomatricial (VALENÇA; GERMANO, 2010). Para concretizar esse modelo assistencial o enfermeiro deve direcionar o atendimento àgestante e puérpera, conhecendo o contexto social e realizando intervenções de apoio emocional, se encaminhar a mulher asRedes de Atenção Psicossocial (RAPS) representado, entre outros serviços, pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) eNúcleo de Apoio a ̀ Saúde da Família (NASF) promovendo um cuidado integralizado (OLIVEIRA et al., 2016).Conclusão: O cuidado prestado pelo enfermeiro deve ser humanizado, contínuo e integral, de acordo com as necessidades dousuário. Para a prevenção de DPP é necessário identificar os fatores de risco que podem contribuir para a DPP, bem como,identificar os sintomas que podem caracterizá-lá no período puerperal imediato na atenção básica de saúde, desenvolvendoações de cuidado a ̀ mulher, e direcionar as estratégias assistenciais baseado no s protocolos definidos pelo Ministério da Saúde,sintetizados no Manual Técnico de Pré-natal e Puerpe ́rio, implementando na rotina clínica nas unidades de saúde da ESF,encaminhando para os servic ̧os especializados em atendimento psiquia ́trico.
ReferênciasANDRADE, Raquel Dully. et al. Fatores relacionados à saúde da mulher no puerpério e repercussões na saúde da criança.Escola Anna Nery, v. 19, n. 1, p. 181-186, mar. 2015.BOSKA, Gabriella Andrade; WISNIEWSKI, Danielle; LENTSCK, Maicon Henrique. Sintomas depressivos no período puerperal:identificação pela escala de depressão pós-parto de Edinburgh. Journal of Nursing and Health, v. 1, n. 1, p. 38-50, 2016.LIMA, Marlise de Oliveira Pimentel. et al. Sintomas depressivos na gestação e fatores associados: estudo longitudinal. ActaPaulista Enfermagem, v. 30, n. 1, p. 39-46, 2017.OLIVEIRA, Andrêza Maria de. et al. Conhecimento de profissionais da Estratégia Saúde da Família sobre depressa ̃o pós-parto.Journal of Nursing and Health, v. 6, n. 1, 2016.SILVA, Damaris Cordeiro. Depressão Pós-Parto: O Papel do Enfermeiro Durante o Pré-Natal. Revista CientíficaMultidisciplinar Núcleo do Conhecimento, v. 7, n. 8, p. 138-162, ago. 2018.VALENÇA, Cecília Nogueira; GERMANO, Raimunda Medeiros. Revenindo a depressa ̃o puerperal na estratégia sau ́de da família:ações do enfermeiro no pre ́-natal. Revista Rene, v. 11, n. 2, p. 129-139, abr./jun. 2010.