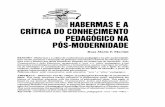Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento (GC): o...
Transcript of Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento (GC): o...
RSP Revista do Serviço Públicoovo l . 64 , n 1 - Jan /Mar 2013 - ISSN:0034/9240
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal
Igor Ferraz Fonseca; Raimer Rodrigues Rezende; Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucional de
coordenação e cooperação intergovernamentalAdélia Zimbrão
Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento (GC): o caso do Repositório do Conhecimento do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea)Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluções de Tecnologia da Informação com a
oInstrução Normativa n 4/2010 da SLTI
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
Ambientes virtuais de aprendizagem: desafios de uma escola de governoAndrea Filatro e Natália Teles da Mota
RSP Revisitada – O São Francisco e a interligação com as bacias vizinhasLucas Lopes
ENAPENAP
Missão da Revista do Serviço PúblicoDisseminar conhecimento sobre a gestão depolíticas públicas, estimular a reflexão e odebate e promover o desenvolvimento deservidores e sua interação com a cidadania.
ENAP Escola Nacional de Administração PúblicaPresidente: Paulo Sergio de CarvalhoDiretora de Formação Profissional: Maria Stela ReisDiretor de Desenvolvimento Gerencial: Paulo MarquesDiretor de Comunicação e Pesquisa: Pedro Luiz CostaCavalcante
Diretora de Gestão Interna: Aíla Vanessa de OliveiraCançado
Conselho EditorialBarbara Freitag-Rouanet, Fernando Luiz Abrucio,Helena Kerr do Amaral, Hélio Zylberstajn, Ana LúciaAguiar Melo, Luiz Henrique Proença Soares, MarcelBursztyn, Marco Aurelio Garcia, Marcus André Melo,Maria Paula Dallari Bucci, Maria Rita G. LoureiroDurand, Nelson Machado, Paulo Motta, ReynaldoFernandes, Silvio Lemos Meira, Sônia Miriam Draibe,Tarso Fernando Herz Genro, Vicente Carlos Y PláTrevas, Zairo B. Cheibub.
PeriodicidadeA Revista do Serviço Público é uma publicaçãotrimestral da Escola Nacional de AdministraçãoPública.
Comissão EditorialPaulo Sergio de Carvalho; Maria Stela Reis; PauloMarques; Enid Rocha Andrade da Silva; AílaVanessa de Oliveira Cançado; Elisabete Ferrarezi;Luis Fernando de Lara Resende e Elda CamposBezerra.
ExpedienteEditor responsável: Paulo Sergio de Carvalho. Editoraexecutiva: Márcia Knop. Colaboradores: Diego Gomes eJoão Tomacheski. Revisão: Renata Fernandes Mourão,Roberto Carlos R. Araújo e Simonne Maria de AmorimFernandes. Projeto gráfico: Livino Silva Neto. Revisãográfica: Simonne Maria de Amorim Fernandes. Fotos:Alice Prina e Vinícius A. Loureiro. Editoração eletrônica:Maria Marta da R. Vasconcelos.
© ENAP, 2013Tiragem: 1.000 exemplaresAssinatura anual: R$ 40,00 (quatro números)Exemplar avulso: R$ 12,00Os números da RSP Revista do Serviço Público anterioresestão disponíveis na íntegra no sítio da ENAP:www.enap.gov.br
As opiniões expressas nos artigos aqui publicados sãode inteira responsabilidade de seus autores e nãoexpressam, necessariamente, as da RSP.
A reprodução total ou parcial é permitida desde quecitada a fonte.
Revista do Serviço Público. 1937 - . Brasília: ENAP, 1937 - .
v. : il.
ISSN:0034/9240
Editada pelo DASP em nov. de 1937 e publicada no Rio de Janeiro até 1959. A periodicidade varia desde o primeiro ano de circulação, sendo que a partir dos últimosanos teve predominância trimestral (1998/2007). Interrompida no período de 1975/1980 e 1990/1993.
1. Administração Pública – Periódicos. I. Escola Nacional de Administração Pública.CDD: 350.005
Fundação Escola Nacional de Administração PúblicaSAIS – Área 2-A70610-900 – Brasília, DFTelefone: (61) 2020 3096/3092 – Fax: (61) 2020 [email protected]
ENAP
SumárioContents
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial deefetividade no âmbito do Poder Executivo federalPublic hearings: the factors that impact the potential of theireffectiveness in the management process of public policy 7Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silvade Oliveira e Ana Karine Pereira
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Culturacomo arranjo institucional de coordenação e cooperação intergovernamentalFederative Relations and Public Policy: National Culture System asinstitutional arrangement for coordination and intergovernmentalcooperation 31Adélia Zimbrão
Alinhando o modelo, o método de implementação e a práticade gestão do conhecimento (GC): o caso do Repositório doConhecimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea)Matching the model, the method of implementation and thepractice of knowledge management: the case of the InstitutionalRepository of the Institute for Applied Economic Research(Ipea) in Brazil 59Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
Avaliação da percepção da conformidade de processos decontratação de soluções de Tecnologia da Informação com aInstrução Normativa no 4/2010 da SLTIAssessment of the perception of compliance for informationtechnology procurement process with SLTI’s Instruction no 4/2010 77Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
Ambientes virtuais de aprendizagem: desafios de uma escola de governoVirtual Learning Environment: challenges for a School of Public Service 109Andrea Filatro e Natália Teles da Mota
RSP Revisitada: O São Francisco e a interligação com as bacias vizinhas 123Lucas Lopes
Para saber mais 131
Acontece na ENAP 133
5
Editorial
Caro (a) leitor (a),
O primeiro número da Revista do Serviço Público (RSP) deste ano reúne cincotextos inéditos com temas diversificados que versam sobre audiências públicas,relações federativas, tecnologia da informação, gestão do conhecimento e daaprendizagem. Em consonância com o papel do Estado brasileiro de aperfeiçoaros serviços prestados ao cidadão, a RSP busca contribuir para estimular a reflexão,o debate e a análise qualificada da administração pública.
No artigo de abertura da Revista, buscou-se responder à seguinte pergunta: “noâmbito do Poder Executivo federal, quais são os principais fatores que influenciamo potencial de efetividade das audiências públicas como mecanismo de partici-pação social no processo de gestão das políticas públicas?”. O texto contou comquatro estudos de caso de audiências realizadas por órgãos do governo federal.Os resultados da pesquisa apontam fatores importantes que têm impacto naefetividade das audiências, fornecendo subsídios para gestores públicos respon-sáveis pela organização e realização desses processos participativos.
O Sistema Nacional de Cultura é analisado no segundo artigo, a partir de questõesreferentes às relações federativas e à descentralização de políticas públicas. A análisebaseia-se na conceituação política regulada e não regulada, elaborada por Marta Arretche.Examina-se a configuração institucional de articulação e compartilhamentointerfederativo das políticas públicas de cultura presente na proposta dessa política.A autora alega que espaços institucionalizados de negociação e pactuação podemproporcionar melhorias no diálogo e na cooperação entre os entes federados, para odesenvolvimento de ações governamentais na área cultural.
A experiência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com a implan-tação do seu Repositório do Conhecimento é o mote do artigo Alinhando o modelo,o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento (GC): o caso do Repositóriodo Conhecimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea). O texto apontaque, como resultado da implementação do repositório, parte do conhecimentotácito pode ser explicitado (na forma de narrativas, por exemplo) e, porconsequência, pode ser representado, organizado e armazenado de formaestruturada. Além disso, conclui que o Ipea conseguiu alinhar a prática(repositório) com um modelo e método de implementação de gestão do conheci-mento (GC). Por fim, destaca a importância da adoção de um modelo com umavisão integral de GC por parte das organizações.
6
Um mecanismo de avaliação da conformidade de um processo de contrataçãopública de Tecnologia da Informação (TI) com as atividades descritas no guiaprático para contratação de soluções de TI baseado na Instrução Normativa (IN)– SLTI no 4/2010. Essa é a proposta do texto seguinte que, além disso, desenvolveuma avaliação da maturidade das fases da referida norma, por meio de um estudode caso. Os resultados mostram que, para o Ministério Público Brasileiro, a confor-midade com o normativo obteve um nível preocupante de aderência, com médiade 48%. Tal achado indica possíveis deficiências na governança e no planejamentode TI. A maturidade do processo foi enquadrada no nível 2, que tem foco narepetição de procedimentos, porém de forma intuitiva. Acredita-se que, paragarantir maior aderência ao processo, é importante estabelecer controles formaise frequentes, ações de transparência e transferência de conhecimento.
Ambientes virtuais de aprendizagem: desafios de uma escola de governo é o título demais um estudo cujas informações buscam subsidiar gestores e tomadores dedecisão no processo de contratação de solução tecnológica especializada para agestão da aprendizagem e do conhecimento. O texto é resultado das discussõesdo grupo de trabalho Ambientes Virtuais de Aprendizagem (GT-AVA), reali-zadas no âmbito da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Sãoapresentados três cenários possíveis no que tange à infraestrutura tecnológica eàs implicações pedagógicas para a oferta de ações de aprendizagem, dissemi-nação de informações e integração de recursos. Por fim, são apontados fatorescríticos a serem considerados para que a solução tecnológica adotada possacorresponder às demandas metodológicas, tecnológicas e jurídicas emergentes.
A seção RSP Revisitada resgata texto do início da década de 1950, de Lucas Lopes– O São Francisco e a interligação com as bacias vizinhas –, mostrando que a transposiçãodo Rio São Francisco e a questão da segurança hídrica na área do semiárido nordes-tino são assuntos recorrentes na agenda política brasileira. O texto examina aspossíveis extensões da rede de navegação fluvial com destino a outras bacias, ouque visem melhorar a navegação do próprio São Francisco. Atualmente, a iniciativade transposição do rio São Francisco é discutida no âmbito do Projeto de Integraçãodo Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Para ogestor público, obras de engenharia desse porte são um desafio não apenas do pontode vista da engenharia, mas também da complexidade política e social.
Desejo-lhe uma boa leitura,
Paulo Sergio de Carvalho
Presidente da ENAP
RSP
7Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
Audiências públicas: fatoresque influenciam seu potencial de
efetividade no âmbito do PoderExecutivo federal
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende,Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
Introdução
Este artigo apresenta as principais conclusões de pesquisa realizada no âmbito
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que buscou responder à
seguinte pergunta: “no âmbito do Poder Executivo federal, quais são os principais
fatores que influenciam o potencial de efetividade das audiências públicas como
mecanismo de participação social no processo de gestão das políticas públicas?”.
O estudo se estrutura a partir do conceito de pesquisa aplicada, tendo como
foco a melhoria do processo de organização e gestão de audiências públicas
(AP). A pesquisa teve a duração de um ano e contou com análise bibliográfica,
entrevistas com gestores públicos e profissionais atuantes em organizações não
governamentais, além de quatro estudos de caso de audiências públicas realizadas
por órgãos do governo federal: a elaboração do Plano Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS); a discussão sobre as minutas do Edital de Licitação e Contrato
de Permissão dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros
RSP
8 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal
e o licenciamento ambiental de doisgrandes projetos de hidrelétricas – SantoAntônio e Jirau, em Rondônia, e BeloMonte, no Pará. Este artigo está divididoconforme as seguintes seções:
A seção Qualidade da participaçãoapresenta um referencial teórico relacio-nado à avaliação de processos participa-tivos. Embora seja um tema bastante atualna literatura especializada, não háconsenso sobre como realizar uma ava-liação objetiva sobre a efetividade de pro-cessos participativos, entre eles as audiên-cias públicas. No entanto, a literaturaconverge quando aponta que focar namelhoria do desenho institucional dasaudiências públicas e na busca pela efi-ciência e democratização dos mecanismosinternos de coordenação e de participaçãosão iniciativas fundamentais para ampliara efetividade desses espaços.
Uma das dificuldades encontradas napresente pesquisa esteve relacionada àescassez de estudos sobre audiênciaspúblicas. Diferentemente de outros instru-mentos participativos (tais como conselhose conferências de políticas públicas), abibliografia sobre audiências públicas érarefeita, carecendo de uma sistematizaçãode seus atributos básicos. Assim, na tenta-tiva de suprir essa lacuna e também defornecer a base para as demais etapasdessas pesquisas, realizamos um esforçofocado na definição dos atributos básicosdeste mecanismo de participação social.Esse esforço é apresentado na seção Defi-nição de audiência pública (AP).
A seção Metodologia da Pesquisaapresenta a metodologia empregada napesquisa, que foca em metodologia depesquisa qualitativa. A seção Estudo de caso,por sua vez, apresenta breve contextuali-zação dos quatro estudos de caso. Por fim,a seção Resultados e Discussão apresenta os
principais resultados e conclusões dapesquisa. Tais resultados são apresentadose discutidos a partir dos elementosempíricos observados na análise dosestudos de caso.
Qualidade da participação
Após um processo de grande expansãoe diversificação ancorada nas inovaçõesinstitucionais promovidas pela Consti-tuição Federal de 1988, o Brasil conta comum leque de processos participativos – quepromovem a interface entre Estado e socie-dade – institucionalizados no âmbito dogoverno federal, compreendendo mais de90% dos programas e políticas públicasnacionais (PIRES & VAZ, 2010).
Com relação a essas instituiçõesparticipativas, há diversos estudos sobreconselhos e conferências nacionais (ver,p. ex., FONSECA et al., 2012; ALENCAR et al.,2012; SOUZA, 2012; AVRITZER, 2012;POGREBINSCHI, 2012). Já as audiênciaspúblicas continuam sendo pouco estu-dadas, apesar de sua alta frequência empolíticas de infraestrutura e de regulaçãodo setor privado, a exemplo dolicenciamento ambiental e de processoscoordenados por agências reguladoras.
A ampliação desses estudos tem cadavez mais priorizado a questão da efetividade(IPEA, 2011; AVRITZER, 2010). O diagnósti-co é que há dúvidas se os processosparticipativos estão de fato ampliando osprocessos democráticos (CLEAVER, 2001,2005; KOTHARI, 2001; SAYAGO, 2007;MANOR, 2004; FUKS & PERISSINOTTO, 2006)e contribuindo para o aperfeiçoamento depolíticas públicas. No entanto, averiguar emensurar a efetividade de espaçosparticipativos é tarefa complexa e nãoencontra consenso na literatura especializada(PIRES et al., 2011).
RSP
9Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
Diante disso, autores como Pires et al.(2011) apontam que os estudos que anali-sam a qualidade de processos participativospodem identificar fatores fortemente rela-cionados com a efetividade. A qualidadede processos participativos está relacionadacom o desenho institucional dos meca-nismos de participação social; com asregras e normas que condicionam seufuncionamento; com a atuação e recursosmobilizados por governo e sociedade; pelamanifestação de relações de poder; entreoutros.
A premissa é que, mesmo sem um con-senso sobre como mensurar a efetividadede instituições participativas, ações con-cretas visando a aperfeiçoar o desenho, asregras e o processo democrático no interiordesses mecanismos participativos contri-buem tanto para ampliar sua efetividade –no que se refere ao aperfeiçoamento depolíticas públicas – quanto para ampliar alegitimidade desses espaços de interaçãoentre Estado e sociedade, implicando umanova forma de processo decisório naspolíticas públicas (PIRES et al., 2011).
Dessa forma, esta pesquisa pretendecontribuir para o alcance de políticaspúblicas mais legítimas e efetivas, por meioda identificação de fatores que contribuempara a ampliação da qualidade do processoparticipativo em audiências públicas.
Definição de audiência pública (AP)
Não há consenso em relação a umadefinição de audiência pública na literaturasobre participação social e tampouco naspolíticas e ações realizadas pelo PoderExecutivo federal.
As fontes utilizadas nesta pesquisa paradefinir audiência pública, delimitando, assim,o objeto de estudo, incluem sistematizaçãoda literatura disponível sobre o assunto,
entrevistas com burocratas do governofederal e representantes da sociedade civilcom grande experiência em AP, além deanálise dos dados sobre audiências públicascontidos no Sistema de InformaçõesGerenciais de Planejamento do GovernoFederal (SIGPlan), do Ministério do Plane-jamento, Orçamento e Gestão1.
Entre os resultados, identificou-se queas audiências públicas têm caráter consul-tivo e não deliberativo (SOARES, 2002;
VASCONCELOS, 2000). Nas AP, o governofederal tem maior discricionariedade doque em outros fóruns participativos, taiscomo em conselhos deliberativos. Assim,além de gerar transparência sobre os atosgovernamentais, uma AP visa também acolher opiniões e propostas da população.Cabe, entretanto, à administração acatar ounão as propostas.
“... em muitoscasos, alegislação estáultrapassada oué omissa ouinsuficienteem relação àrealizaçãode audiênciaspúblicas.”
RSP
10 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal
Além disso, as AP têm caráter pontual.Diversas instituições participativas, como osconselhos gestores, são perenes, com atri-buições permanentes relacionadas a uma áreade política pública. A existência de um conse-lho não está vinculada a uma ação governa-mental específica, pois promove a articulaçãopermanente entre Estado e sociedade civil.Ao contrário, as AP são invariavelmentevinculadas a um processo decisório especí-fico, seja ele a elaboração de um plano, aelaboração de normas regulatórias, a avaliaçãode uma ação governamental ou mesmo a cor-reção de rumos nas políticas públicas. Outracaracterística é o caráter presencial das AP,que não podem ser realizadas pela internet oupor intercâmbio documental (SOARES, 2002;MATTOS, 2004; GRAU, 2011). O caráterpresencial da audiência pública está relacio-nado à possibilidade de manifestação oral dosparticipantes, não excluindo, entretanto, apossibilidade de manifestação por escrito(SOARES, 2002; GRAU, 2010). Além disso, oideal é que se propicie o debate entre os atoresinteressados (SOARES, 2002; GRAU, 2010;BARROS & RAVENA, 2011; SERAFIM, 2007).Esse último ponto aproxima as AP de outrosfóruns participativos, tais como os conselhosgestores, o orçamento participativo e asconferências de políticas. Ao mesmo tempo,essa característica distancia as AP de outrasformas “individualizadas” de interface entreEstado e sociedade civil, tais como as con-sultas públicas e as ouvidorias. Ressalta-seque, embora seja possível a participação deatores individuais, a audiência pública temcaráter coletivo e não pode excluir atores nãoorganizados do processo participativo. Assim,uma AP é aberta a todos os interessados. Apossibilidade de manifestação de interessese opiniões de cidadãos não organizados é umadiferença clara entre a AP e espaços de parti-cipação com caráter formalmente represen-tativo – como os conselhos e as conferências.
Além disso, as AP possuem regrasespecíficas para o seu funcionamento,como procedimentos formais e orientaçõesmetodológicas, tais como data e hora defi-nidas, pauta, atas de reunião, determinaçãode gravação em vídeo e/ou de voz dos de-bates (SOARES, 2002; MATTOS, 2004). Hátambém regras relacionadas à condução dodebate, tais como a determinação de quaisatores têm a palavra, quanto tempo de falatem cada participante, se haverá réplicas,tréplicas, entre outras. Por fim, há regrasque visam a orientar a sistematização daopinião dos atores e a incorporação de suasdemandas na política ou na ação com aqual a AP está relacionada.
A partir do exposto acima, estapesquisa adotou uma definição deaudiência pública composta das caracte-rísticas elencadas no Quadro 1.
Metodologia da pesquisa
Esta pesquisa ocorreu entre dezembrode 2011 e dezembro de 2012, utilizando asseguintes fontes de dados: levantamentobibliográfico sobre participação social e sobreaudiências públicas; sistematização das princi-pais leis e demais atos normativos que tratamde audiências públicas; análise dos registrosde realização de audiências públicas noâmbito dos programas do governo federal,disponíveis em banco de dados do SIGPlan;e realização de quatro estudos de caso. Foifeito o acompanhamento das AP que ocor-reram durante o período da pesquisa2. Nocaso das AP que já haviam ocorrido3, foi feitauma análise das gravações de áudio e/ouvídeo. Todos os casos contaram com análisedocumental, bem como entrevistas comparticipantes e organizadores. Para a seleçãodos casos, além dos critérios relacionados àsua relevância e à viabilidade, optou-se poruma estratégia dupla. Por um lado, foram
RSP
11Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
escolhidos casos que representassem a maiordiversidade possível, por outro lado, foramescolhidos dois casos relativamente seme-lhantes, ambos de licenciamento ambientalde grandes empreendimentos, que corres-pondem ao padrão mais frequente de utili-zação de audiências públicas pelo governofederal (ver IPEA, 2012).
A metodologia utilizada nos estudosde caso foi baseada em dois conjuntos dedimensões de análise (ver Quadro 2). Asdimensões que caracterizam o processo serelacionam à análise da qualidade do pro-cesso de planejamento e condução dasaudiências públicas, buscando identificaros principais fatores que influenciam seupotencial de efetividade e, portanto, ascausas de sucessos e insucessos. As dimen-sões para a análise do resultado levam emconta os objetivos desse mecanismo departicipação social e têm por funçãoorientar a avaliação da efetividade de deter-minada audiência pública, ou seja, seuimpacto na sociedade.
Por meio da lista de dimensões,objetivou-se também criar uma referênciapara gestores ou pesquisadores interessadosem analisar outros processos, tendo em vistaa possibilidade de adaptá-la de acordo com
os objetivos e possibilidades de cada pesquisa.Por essa razão, foram incluídas tambémdimensões que não teriam como ser anali-sadas com profundidade nos estudos de casoda presente pesquisa, devido a seus objetivose limites de escopo e tempo.
Estudos de caso4
Elaboração do Plano Nacional deResíduos Sólidos (PNRS)
A Política Nacional de ResíduosSólidos, criada pela Lei no 12.305/2010,estabeleceu o Plano Nacional de ResíduosSólidos (PNRS) como um de seus principaisinstrumentos de gestão. Essa lei,regulamentada pelo Decreto no 7.404/2010,instituiu o Comitê Interministerial (CI), com-posto por 12 ministérios, responsável pelaelaboração, coordenação e implementaçãodo PNRS, com a coordenação do Minis-tério do Meio Ambiente (MMA). Umaprimeira versão do PNRS foi elaborada apartir do diagnóstico da situação dos resí-duos sólidos, cenários, metas, diretrizes eestratégias para o cumprimento das metas5
(BRASIL, 2011). Essa versão, comoestabelecida em lei, foi submetida ao debatecom a sociedade civil por meio de cinco
Quadro 1: Definição de audiência pública
Características básicas dasaudiências públicas
Possui caráter consultivo.
Possui caráter pontual.
Possui caráter presencial.
Possui caráter coletivo.
Pressupõe manifestação oral dos participantes.
Implica debate entre os atores envolvidos.
É aberta a todos os interessados.
Contém regras específicas para o seu funcionamento.
Fonte: Elaboração própria.
RSP
12 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal
audiências públicas regionais e uma nacio-nal, nas quais os participantes puderamfazer emendas e sugestões ao texto. Essasaudiências ocorreram entre setembro edezembro de 2011.
O MMA coordenou o processo deinterlocução com estados e sociedade paraa realização das AP, com a colaboraçãode representantes de outros ministériosque compõem o Comitê Interministerial.Foi utilizada uma metodologia comum emtodas as AP, de forma que pudessempadronizar o trabalho e as formas decontribuição. Os pesquisadores do Ipeaacompanharam todas as seis audiênciasrealizadas pelo MMA, bem como proce-deram à análise documental e realizaçãode entrevistas com organizadores e parti-cipantes.
Licitação e Contrato de Permissãodos Serviços de Transporte RodoviárioInterestadual de Passageiros
Foram estudados dois processos deaudiência pública: 1) a audiência públicano 120/2011, que colocou em discussão oplano de outorga6 sobre os serviços detransporte rodoviário interestadual depassageiros, operados por ônibus do tiporodoviário; 2) a audiência pública no 121/2011, que teve como objetivo coletarcontribuições sobre as Minutas do Editalde Licitação e Contrato de Permissão dosServiços de Transporte Rodoviário Inte-restadual de Passageiros, da Agência Nacio-nal de Transportes Terrestres (ANTT).
Esses dois processos de audiênciaspúblicas se desdobraram em sessõespúblicas em diferentes cidades, as quais
Quadro 2: Dimensões de análise
Dimensões que caracterizam o processo
• Atos normativos e seus impactos no processo
• Mapeamento dos principais atores
• Características relevantes do responsável pelas AP
• Desenho e processo de realização das AP
• Momento da participação e timing do processo
• Escopo e amplitude do debate
• Mobilização e representatividade dos participantes
• Recursos (inclusive humanos) e infraestrutura disponibilizados, e organização do evento
• Processo preparatório para as AP
• Condução da AP, metodologia e efetividade das regras procedimentais
• Sistematização das propostas e devolutiva
• Transparência
Dimensões de resultado
• Impacto na tomada de decisão e em compromissos políticos
• Mediação: diminuição de conflitos e aumento da cooperação
• Construção de capacidades (capacity building)
• Divulgação das ações governamentais
Fonte: Elaboração própria.
RSP
13Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
seguiram rigorosamente as mesmas regrase não houve diferença entre as audiências,a não ser o lugar onde foram realizadas.
Pesquisadores do Ipea acompanharampresencialmente as sessões públicas queestavam em andamento, vinculadas à AP121/2011, realizadas entre janeiro e marçode 2012. Além disso, foram analisadas asatas das sessões públicas vinculadas àAP 120/2011, que aconteceram entreagosto e outubro de 2011. Foram realiza-das entrevistas com organizadores eparticipantes.
Licenciamento das hidrelétricas deSanto Antônio e Jirau, em Rondônia
Este estudo de caso analisou asaudiências públicas realizadas, em 2006,no âmbito do licenciamento ambiental dasusinas hidrelétricas de Santo Antônio eJirau, no Estado de Rondônia, iniciado em2003. Este estudo de caso utilizou,em primeiro lugar, informações coletadasem 2009, por ocasião de uma pesquisa demestrado sobre o processo de licencia-mento em questão (REZENDE, 2009). Paraa presente pesquisa, foi feito novo estudobibliográfico e trabalho de campo emPorto Velho (RO) e em Brasília (DF), comentrevistas, análise das gravações de áudioe vídeo das AP e nova análise dos autosdo processo de licenciamento. Ao todo,foram entrevistadas 51 pessoas dogoverno, da sociedade civil e do setorprivado. Além da análise dos autos doprocesso, foram analisados tambémdiversos outros documentos (relatórios doMinistério Público, da Fundação Nacio-nal do Índio –Funai – etc.).
As barragens de Santo Antônio e Jirauformam, juntas, um dos maiores projetosde geração de energia elétrica na Amazô-nia e teriam uma potência instalada de6.450 MW (3.150 MW em Santo Antônio
e 3.300 MW em Jirau). Ambas as usinasestavam sendo construídas no momentodesta pesquisa, no Rio Madeira, no Muni-cípio de Porto Velho, capital do Estado deRondônia. O Rio Madeira é o segundomaior rio da Bacia Amazônica e o princi-pal tributário do Rio Amazonas. Sua baciainclui também territórios da Bolívia e doPeru e é uma das áreas mais ricas embiodiversidade do mundo (ORTIZ, 2007).Além disso, a construção das usinas de
Santo Antônio e Jirau foi considerada umaprioridade estratégica para o governo fe-deral e, por isso, foi incluída no Programade Aceleração do Crescimento (PAC) comoum dos seus principais projetos.
Após um longo processo marcado porprotestos da sociedade civil e processosjudiciais visando a suspender o processo delicenciamento ambiental (que contempla a
“Um elementoque pode ampliaro potencial deefetividade deuma audiênciapública é aexistência, noórgão públicoresponsável, deuma estruturainterna voltada àparticipaçãosocial.”
RSP
14 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal
realização de audiências públicas), as APaconteceram em novembro de 2006, nosmunicípios de Jacy-Paraná, Porto Velho,Abunã e Mutum-Paraná, com, respecti-vamente, 800, 1100, 404 e 669 participantes.
Licenciamento da hidrelétrica deBelo Monte, no Pará
A usina de Belo Monte está sendoconstruída no Estado do Pará, no RioXingu, um dos principais afluentes do RioAmazonas, próximo à cidade de Altamirae à rodovia federal Transamazônica (BR-230), numa região caracterizada pela exis-tência de grande quantidade de florestanativa, pecuária e agricultura (SOUZA &REID, 2010). A responsável pela construçãoda usina é a Norte Energia S.A, compostapor empresas estatais e privadas do setorelétrico.
Apesar de ser um projeto antigo emultifacetado, este estudo se limitou àanálise do processo de participação socialcoordenado pelo Ibama como parte dolicenciamento ambiental, iniciado em20067.
As primeiras audiências relacionadasao licenciamento do empreendimento deBelo Monte datam de agosto de 2007, reali-zadas com o objetivo principal de obterinformações para o termo de referência doEstudo de Impacto Ambiental (EIA) a serfeito. No entanto, essas audiências sãoconsideradas pelo Ibama como informais,porque não têm caráter obrigatório, já quea resolução no 9/87 do Conama somenteprevê AP após a conclusão do EIA, parasua avaliação.
Além dessas AP informais, o processoparticipativo que antecedeu as audiênciaspúblicas obrigatórias incluiu, em 2009,reuniões em 12 comunidades indígenas,coordenadas pela Funai e com a colabo-ração do Ibama.
Por fim, em novembro de 2009,ocorreram quatro audiências públicas nosmunicípios de Brasil Novo, Vitória doXingu, Altamira e Belém. Essas audiênciasconstituíram o foco desta pesquisa porserem, ao contrário dos eventos que asantecederam, consideradas audiênciasformais e obrigatórias, de acordo com aResolução no 9/87 do Conama.
A metodologia utilizada neste estudode caso incluiu múltiplas fontes. Foi feitauma revisão bibliográfica com o objetivode obter informações sobre o histórico doprocesso, os atores e interesses envolvidose as alterações no projeto inicial da usina.Em seguida, foram estudados os autos doprocesso de licenciamento ambiental.Foram realizadas entrevistas qualitativas,em Altamira, com atores que estiveram pre-sentes nas audiências e que têm tido umaatuação ativa no processo decisório de BeloMonte; em Brasília, com funcionários doIbama envolvidos no licenciamento da obrae que estiveram presentes nas audiências.Além disso, foram assistidas as gravaçõesdas quatro audiências formais.
Resultados e discussão
Nesta seção, são apresentados osprincipais resultados e conclusões destapesquisa. O formato de apresentação segueas dimensões de análise que orientaram apesquisa8 e foca em como determinadosfatores e características podem influenciar– positivamente ou negativamente – opotencial de efetividade de uma audiênciapública. Tais análises foram baseadas nosestudos de caso realizados nesta pesquisae se utilizam de ilustrações retiradas deles.Apesar de não serem passíveis de genera-lização, tais resultados são úteis paragestores públicos envolvidos na organi-zação de processos participativos e para
RSP
15Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
estudiosos interessados em aprofundar oconhecimento de um campo de pesquisaainda pouco explorado.
Atos normativosPrevisões em atos normativos a
respeito da realização de AP podem, porum lado, garantir as condições mínimasnecessárias para a efetividade da partici-pação, mas podem também, por outrolado, engessar o processo, limitando a açãodos gestores.
O mapeamento que realizamos da utili-zação de audiências públicas no âmbito dogoverno federal evidenciou que grande partedelas ocorre em observância a atosnormativos. Como consequência, em umgrande número de casos, previsões em leis,decretos, resoluções, instruções normativase/ou portarias determinam, mesmo que emparte, como as audiências devem ser reali-zadas, tendo impactos diversos no seupotencial de efetividade. Nesse sentido, asprevisões normativas podem contribuir paraaumentar a transparência do processoparticipativo, ao garantir o acesso aosdocumentos relevantes e demais infor-mações importantes e ao apresentar deforma clara prazos e regras para a manifes-tação. Tais atos normativos também podemaumentar o potencial de efetividade daaudiência, ao estipular uma metodologia aser utilizada, que contribua para uma maiorparticipação, ao mesmo tempo em quepermita a sistematização das contribuiçõese exija uma devolutiva do órgão gover-namental para a sociedade que explicitequais contribuições foram aceitas, quais nãoe por quê.
Concluímos que, em muitos casos, alegislação está ultrapassada ou é omissa ouinsuficiente em relação à realização de au-diências públicas. Nos casos estudados delicenciamento ambiental, observou-se que
a legislação vigente está ultrapassada e teveimpacto negativo na efetividade da parti-cipação. As tentativas do Ibama de fazermais do que a legislação exige – porexemplo, realizando reuniões públicas paradiscutir o termo de referência do Estudode Impacto Ambiental – evidenciam essadeficiência normativa. As resoluções doConselho Nacional de Meio Ambiente(Conama) somente preveem a obrigatorie-dade de realização de audiências públicaspara licenciamento ambiental no momentode avaliação do Estudo de ImpactoAmbiental. Em relação a comunidadesindígenas e povos tradicionais, no caso deempreendimentos que tenham impacto emseus territórios ou modo de vida, valeressaltar que o Brasil ratificou a Convenção169 da Organização Internacional doTrabalho, a qual prevê a consulta préviaaos povos indígenas e tribais. No entanto,até o momento desta pesquisa, o meca-nismo de consulta prévia ainda não haviasido devidamente regulamentado9. Osestudos de caso de hidrelétricas apontamque audiências públicas anteriores à reali-zação do EIA podem ser úteis para que asociedade possa contribuir na definição dequais temas são importantes de seremestudados. Além disso, audiências públicasno momento de planejamento dosempreendimentos, bem como audiênciascom foco em públicos específicos – comoindígenas, quilombolas e ribeirinhos –podem ser necessárias para ampliar ainclusão social e garantir a expressão detodas as opiniões e interesses envolvidosna questão.
Um exemplo positivo é o das audiên-cias realizadas pela Agência Nacional deTransportes Terrestres (ANTT), as quaisseguem regras procedimentais expressasem documentos públicos que disciplinamo processo de participação e o controle
RSP
16 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal
social. Para os servidores da agência, háainda um manual interno que orienta suasações sobre o processo participativo. Aatenção a essas normas amplia o potencialde efetividade ao aumentar a transparênciado processo e indicar as etapas a seremseguidas. É importante ressaltar, contudo,que os atos normativos devem permitircerta flexibilidade para que seja possívelcorrigir problemas identificados naaudiência pública, permitindo o aprendi-zado e aperfeiçoamento.
Por último, é importante que o prazopara a realização das audiências, contidonos atos normativos, seja compatível coma complexidade da temática e com o graude organização e peculiaridades do público-alvo. Essas características podem serilustradas pelo caso das audiências deelaboração do Plano Nacional de ResíduosSólidos. O Decreto no 7.404/2010 deter-minava o prazo de 180 dias para a elabo-ração do referido plano. Dentro desses 180dias, deveriam ser realizados todos osestudos técnicos necessários; a organizaçãoe mobilização para, no mínimo, cincoaudiências públicas regionais e umaaudiência pública nacional; consultapública via internet; e a sistematização dascontribuições da sociedade e o prazo paraa elaboração e publicação da versãopreliminar do plano. A necessidade de cele-ridade dificultou as atividades de mobili-zação, divulgação prévia de documentos esistematização das contribuições sociais.
Momento de realização das audiên-cias públicas
É fundamental atentar para o momen-to do ciclo de política pública em que asaudiências públicas ocorrem, tendo em vistaque a AP foca em um processo decisórioespecífico, tendo caráter pontual e nãopermanente. Por um lado, o processo
participativo deve ocorrer em um momentono qual ainda seja possível incorporardemandas e valores dos atores envolvidosna temática. Isso pode envolver eventospreparatórios ao processo de audiênciapública, no sentido de incluir atores antesexcluídos do processo decisório e nivelarconhecimento entre os participantes. Poroutro lado, se a AP é realizada em ummomento muito inicial do ciclo de política,pode ser que informações necessárias parauma participação informada ainda nãoestejam disponíveis ou que não haja temposuficiente para a devida mobilização daspartes interessadas e difusão de conheci-mento sobre o assunto. Uma solução porvezes sugerida seria a realização de diversasAP em momentos estratégicos do ciclo depolítica.
Nos estudos de caso de licenciamentoambiental, foi patente a insatisfação derepresentantes da sociedade civil quantoao momento de realização das audiências.Nesses casos, as audiências públicasformais (de caráter obrigatório) ocorreramseguindo as resoluções do Conama,somente após a publicação do EIA e seurespectivo Relatório de Impacto do MeioAmbiente (EIA-Rima). Nesse momento,decisões importantes já haviam sidotomadas, tais como a definição dos temasa serem analisados no EIA. Além disso,deficiência na participação social emmomentos anteriores ao licenciamento trazpara os debates do licenciamento temasfora do seu escopo, que deveriam ter sidoamplamente discutidos anteriormente,como a escolha do local para o empreen-dimento e a definição das principais carac-terísticas do projeto.
Em ambos os casos de licenciamentoestudados, houve processos preparatóriospara as AP que visaram a incluir popula-ções ribeirinhas e/ou indígenas. Entretanto,
RSP
17Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
eles foram muito criticados pela sociedadecivil. No caso de Santo Antônio e Jirau, oprocesso prévio foi criticado por incluirsomente comunidades ribeirinhas, excluin-do outras populações tradicionais, e por tertido um início muito tardio. Tanto no casode Santo Antônio/Jirau quanto no caso deBelo Monte, faltou uma conexão clara entreessas reuniões com populações tradicionaise as audiências públicas formais. No pri-meiro caso, houve uma sistematização dasdemandas, mas que, no entanto, não foidiscutida nas AP e a qual foi criticada porparecer uma lista de desejos (wish list). Nosegundo caso, não houve sistematização.Apesar das falhas, esses processos contri-buíram, mesmo que de maneira limitada,para a inclusão, no debate, das populaçõesafetadas, evidenciando a necessidade de suaocorrência. Nesse sentido, ficou claro quea regulamentação da participação social emum momento anterior às AP atualmenteprevistas como obrigatórias pode ter umimpacto positivo.
No caso do processo de elaboração doPNRS, por sua vez, há razões para crer queas audiências foram realizadas em momentoideal. Se, por um lado, já havia um substratolegal que determinava a elaboração do plano,bem como um texto preliminar para a con-sulta da sociedade civil, por outro, a parti-cipação ocorreu em um momento deplanejamento da política, em que foramdiscutidas diretrizes, ações e metas que iriamcompor a política pública. Essa abertura porparte do governo para permitir o acesso adecisões-chave da política aumentou aschances de cooperação entre governo esociedade civil, potencializando a efetividadedas audiências.
O caso da ANTT ilustra outra facetada temporalidade na realização dasaudiências. A audiência pública no 121/201110, cujo objetivo era complementar ao
da AP 120/201111, ocorreu em um momen-to em que o relatório final de sistematizaçãodas contribuições da audiência públicaanterior ainda não havia sido publicado. AANTT realizou a audiência no 121/2011 emum momento em que havia questõespendentes do processo anterior. Isso preju-dicou a percepção dos participantes emrelação à legitimidade da segunda audiência,minorando seu potencial de efetividade.
É importante lembrar que audiênciaspúblicas são eventos pontuais e seu obje-tivo deve ser compatível com essa carac-terística. Portanto, diversas políticaspúblicas demandam outros instrumentosparticipativos em vez de audiênciaspúblicas e, em determinados casos, outrosmecanismos de participação podemser utilizados em complementação às
“Apesar deser um elemento-chave para aefetividade,a interface coma sociedadeno momentoposterior àaudiência públicaé, em diversoscasos, relegadaa segundo plano ...”
RSP
18 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal
audiências. Existe uma relação dinâmica en-tre os diversos instrumentos, variando, decaso a caso, o mecanismo mais adequadoou a melhor combinação deles. A dependerda temática e da fase do ciclo de políticapública, outros instrumentos, tais como con-ferências setoriais, conselhos e/ou consultaspúblicas, podem ser utilizados.
Escopo das audiências públicasPor escopo de uma audiência, enten-
demos o recorte do objeto e a temática queserá discutida e que definirá seu perfil. Oescopo de uma audiência pública deve serdefinido com cuidado para que os interes-sados tenham a possibilidade de opinar emrelação aos temas que consideram impor-tantes, mas também para que o(a) gestor(a)possa sistematizar as contribuições dosparticipantes de forma compatível com oobjeto da audiência.
Por um lado, foi observado que aexcessiva limitação do escopo pode levar auma menor valoração do processoparticipativo pelas partes interessadas e,consequentemente, a uma menor percep-ção da legitimidade da política em questão.Por outro lado, quanto mais amplo oescopo da participação, mais difícil tendea ser a coordenação do debate e a sistema-tização das propostas de uma maneiratrabalhável, para que sejam analisadas pelosgestores públicos e, eventualmente, incor-poradas na política.
Os casos das hidrelétricas estudadasrefletem bem essa questão. Essesprocessos foram negativamente impac-tados pela falta de participação popularem momentos prévios de planejamentoda política e definição de diretrizes e pelafalta de definição clara do escopo das AP.Assim, no momento de realização dasaudiências, questões como, por exemplo,a insatisfação com o modelo energético
nacional e com os modelos de desenvol-vimento regionais estiveram muito presen-tes no debate. No entanto, tais temas nãopertencem ao escopo de uma audiênciade licenciamento ambiental, que foca nospotenciais impactos específicos de umaobra de infraestrutura e sua viabilidadesocioambiental.
Ao mesmo tempo em que a limitaçãodo escopo do debate pode reduzir apercepção de legitimidade da audiênciaperante a sociedade, a qual pode ficarinsatisfeita por não perceber eco por partedos gestores governamentais aos seusanseios, um escopo demasiado amplo podefazer com que as contribuições da socie-dade sejam dispersas, fragmentadas e comgrau de abrangência que vai além do que épossível ser alterado naquela fase da polí-tica. Torna-se difícil sistematizar as contri-buições recebidas e menores são as chancesde que a política em questão seja reformu-lada conforme as contribuições.
É fundamental, portanto, que o escopode uma audiência seja definido a partir desua temporalidade e adequação à política eque esse esteja claro desde o início tantopara os gestores quanto para as partesinteressadas.
Infraestrutura adequadaProver infraestrutura adequada ao
número de participantes e ao tipo deaudiência é fator essencial para que oevento tenha uma participação socialefetiva. Na comparação entre os casosestudados, esse fator esteve associado auma maior percepção de abertura, serie-dade e comprometimento, por parte dopúblico presente, em relação ao governo.
Recursos e infraestrutura disponibili-zados – lugar de fácil acesso, espaço comcapacidade para acolher os participantes,com equipe técnica capacitada e adequada
RSP
19Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
para conduzir os trabalhos – são elementosque contribuem para a efetividade da parti-cipação.
Os casos das AP de licenciamentoambiental mostram que, por vezes, foramutilizados auditórios com tamanho avaliadopelo público presente como insuficientepara acomodar o grande número depessoas, motivando comentários por parteda sociedade civil de que o governo nãoqueria a presença de todos; em outro caso,os participantes afirmaram que o localescolhido tinha uma acústica ruim e que obarulho excessivo prejudicou a concen-tração e interação entre os participantes.Há relatos, no caso de Belo Monte, de queo transporte fornecido para garantir apresença de comunidades isoladas noevento foi deficitário. Nesses e em outroscasos, a maior dificuldade relatada pelosgestores foi a de prever a quantidade departicipantes, já que não havia inscriçãoprévia. A participação nos dois casos delicenciamento estudados foi significativa,algumas vezes chegando a mais de milpessoas por audiência.
Já a infraestrutura das audiências doPNRS variou muito conforme a região,sendo em geral bastante satisfatória. Noentanto, um caso merece destaque, pordemonstrar outro elemento importante eque vai além da simples adequação físicadas instalações destinadas a abrigar o evento.Em São Paulo, o local escolhido para arealização da audiência foi a sede da Fede-ração das Indústrias do Estado de SãoPaulo (Fiesp). Embora esse local fosse idealpara realizar as audiências em termosfísicos, não o era em termos simbólicos. AFiesp é uma tradicional representante deum dos principais grupos de interesseenvolvidos na questão dos resíduos sólidos:a indústria. Esse fato gerou um sentimento,por parte dos catadores de materiais
recicláveis (outro dos principais grupos deinteresse na temática, cuja posição tinhapontos importantes de divergência com osinteresses da indústria), de que eles nãoeram bem-vindos na audiência. Assim,concluiu-se que é importante identificarnão somente obstáculos relativos à estru-tura física, mas também sensibilidadespolíticas na escolha do local de realizaçãodo evento.
Capacidade institucional do órgãopúblico responsável
Um elemento que pode ampliar opotencial de efetividade de uma audiênciapública é a existência, no órgão públicoresponsável, de uma estrutura internavoltada à participação social. Isso implicacontar com documentos de referência,instalações e servidores capacitadosresponsáveis pela realização das AP.
Um exemplo vem dos casos delicenciamento ambiental. A falta de pessoalespecializado em participação social, desta-cado para as audiências públicas no Ibama,pode ter prejudicado a efetividade daparticipação, já que os próprios servidoresresponsáveis pelas análises técnicas doEIA, entre outras funções, eram incum-bidos de lidar também com a interface coma sociedade. Por exemplo, eles tiveramdificuldade em analisar os muitos docu-mentos protocolados por organizações dasociedade civil. Além disso, segundopesquisa do Banco Mundial (WORLD BANK,2008), no Ibama são raros os profissionaiscom formação em ciências humanas ousociais, o que pode indicar, no geral, umbaixo preparo de seu corpo de servidorespara lidar com demandas da sociedade.Deve-se admitir que o órgão investe nacapacitação de seus servidores em relaçãoà participação social, à mediação deconflitos etc. Mas a efetividade da
RSP
20 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal
capacitação eventual de funcionários jásobrecarregados com outras tarefas tendea ser inferior à de uma equipe de especia-listas destacada para as funções relacio-nadas à participação.
É importante que as pessoas respon-sáveis pela participação social tenhambom conhecimento dos regulamentos edos procedimentos internos relacionadosao tema, mas também que tenham capaci-dade de lidar com as contribuições dasociedade. Além disso, perícias relacio-nadas à mediação de conflitos e ao diálogosocial são fundamentais para que o pro-cesso participativo promova o diálogo –e não a polarização – entre governo esociedade.
Em casos em que há falta de pessoale demais elementos de estrutura internapara a participação social, uma estratégiapara compensar essa deficiência édescentralizar e compartilhar o processode organização das audiências. O caso doPNRS mostra, por exemplo, que houveganhos de qualidade no processo porqueo Ministério do Meio Ambiente realizouas audiências em parceria com governosestaduais. Assim, o processo de divulgaçãoe mobilização, bem como o provimentode infraestrutura (auditórios, equipa-mentos de áudio e vídeo, etc.), foi compar-tilhado entre diversos atores, compensandoa falta de recursos do MMA e, ao mesmotempo, garantindo um comprometimentopolítico dos demais atores envolvidos.Quanto à questão da falta de pessoal tecni-camente capacitado, o MMA contratouconsultores especialistas na temática deresíduos sólidos, para auxiliar no esclare-cimento de dúvidas dos participantes. Issocontribuiu para que a pesada linguagemtécnica da temática fosse, em parte,traduzida pelos especialistas, facilitandoa participação.
Neutralidade e postura pró-debatedo(a) mediador(a)
Um ponto-chave na busca por efeti-vidade passa pelo papel do(a) mediador(a)/facilitador(a) do debate. É ele ou ela queirá dar o tom e coordenar o debate. Suaatuação tem reflexos na capacidade dopúblico presente de participar efetivamentee na sua percepção quanto à neutralidade,à seriedade e à legitimidade do processo.
Na escolha do(a) mediador(a), é im-portante combinar três características:
A) capacitação em metodologiasparticipativas;
B) neutralidade com relação à temática; eC) reconhecimento do(a) mediador(a)
como neutro(a) pelo público presente.É importante ressaltar que B e C,
apesar de inter-relacionadas, são caracte-rísticas distintas. No caso das hidrelétricasdo Rio Madeira, até onde pudemosobservar pelas gravações de vídeo, apostura do mediador foi neutra na con-dução do debate. No entanto, ele – que erao diretor de licenciamento ambiental doIbama e dividia a mesa da AP com o propo-nente do projeto – não era visto comoneutro por todos os interessados noprocesso e a avaliação de sua atuação porparte do público presente foi prejudicada,o que levou a críticas, aparentementeindevidas, em relação à sua atuação.
O caso da ANTT mostra um problemaquanto à característica A. O caráter eminen-temente técnico da agência reflete-se nascapacidades de sua equipe. Dessa forma,o perfil mais técnico que político do ser-vidor designado para atuar como mediadorfez com que as audiências – apesar decontarem com boa infraestrutura e transpa-rência – não promovessem o debate demaneira satisfatória, mantendo, do pontode vista de alguns participantes, um focodemasiado no caráter técnico das decisões
RSP
21Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
a serem tomadas, em detrimento do caráterpolítico.
O caso do PNRS também ilustra umafalha na dimensão A, mas sob prisma dife-rente. Enquanto muitos mediadores seesforçavam para fomentar o debate eampliar a participação, a falta de capaci-tação em metodologia participativa porvezes levou à falta de dimensionamento dotempo e de objetividade na condução dotrabalho.
Metodologias do processo partici-pativo
Nos casos estudados, metodologiasadequadas e claras, seguidas com coerên-cia, tenderam a aumentar a percepção delegitimidade e de seriedade da AP porparte do público presente e potenciali-zaram a capacidade dos gestores de siste-matizar as propostas.
A metodologia utilizada na audiênciadeve ser adequada à especificidade dosparticipantes; à complexidade e abrangênciado tema a ser debatido; aos objetivos da APe ao tempo e recursos disponíveis para arealização do evento.
A questão da especificidade dos partici-pantes é retratada nos casos de licenciamentoambiental. Comunidades indígenas e ribei-rinhas necessitam de audiências que con-templem suas especificidades culturais etipos de organização; que traduzam o pesa-do aparato técnico da política pública paraa realidade local; e que levem em contadistâncias territoriais e dificuldades de acessoao local das audiências12. Em alguns casosem que o tema é abrangente, como naformulação de políticas nacionais, é impor-tante que as audiências abordem dimensõesregionais e/ou setoriais.
Nos contextos citados, pode ser neces-sário que a audiência seja desmembradaem etapas focadas na participação de
públicos específicos, tais como audiênciaslocais, estaduais e regionais, e audiênciascom foco temático reduzido, que contem-plem a complexidade do tema. Em diversoscasos, é importante ampliar o tempo derealização do processo de audiência, o quepode demandar recursos extras. Apesar dea questão dos recursos ser frequentementeapontada como obstáculo à ação gover-namental, observamos que a restriçãodemasiada de tempo e a não atenção àcomplexidade da temática em questãopodem reduzir a efetividade do processoparticipativo.
O desenho da audiência é parte impor-tante da metodologia. Mas também éfundamental ter atenção à metodologiaempregada por mediadores e coordena-dores durante o evento. Tal metodologiadireciona a participação e indica como seráfeita a sistematização das contribuições dasociedade. Uma das principais críticas comrelação às audiências de Belo Monte e deSanto Antônio e Jirau foi que elas nãocontaram com uma metodologia quepermitisse a sistematização das contribui-ções de forma trabalhável pelos(as)gestores(as).
As audiências do PNRS, por sua vez,contaram com um documento de referência,e a metodologia utilizada para o debatefocava nas contribuições relativas ao docu-mento, fazendo com que as manifestaçõesfossem mais objetivas. Além disso, a meto-dologia incluía a priorização de propostas,o que permitiu identificar quais itens dapolítica atendiam à maior parte dos pre-sentes. Tal metodologia facilitou o trabalhodos responsáveis pela sistematização dascontribuições e, consequentemente, possibi-litou uma melhor consideração das contri-buições pelos responsáveis pela redação daversão final do plano. Nesse caso, o nívelde incorporação das contribuições e de
RSP
22 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal
satisfação dos participantes foi significa-tivamente alto.
Ressalta-se, contudo, que, embora con-tasse com inovações bem-sucedidas, ametodologia utilizada no PNRS teve suasfalhas. A primeira delas refere-se à falta declareza, em certos momentos, quanto àsregras procedimentais. Tais regras nãoforam suficientemente disponibilizadas aosparticipantes com antecedência e os pró-prios mediadores por vezes tinham dúvidasem relação à sua aplicação. Além disso, ainterpretação e aplicação das regras pelosmediadores não foi totalmente coerente nasvárias etapas da audiência. Isso gerou, emalguns momentos, um sentimento de con-fusão e incerteza por parte dos partici-pantes, influenciando de forma negativa asua percepção sobre a efetividade do pro-cesso. Além disso, alguns elementos dametodologia tinham um caráter delibe-rativo, dissonando do caráter consultivo daAP, tais como a votação para eleger umaúnica proposta a ser encaminhada. Issolevou a uma percepção errada sobre oobjetivo do processo. Audiências públicassão, por definição, consultivas e asaudiências do PNRS não fugiram a essaregra. Mas se observou que a utilização deelementos metodológicos típicos de pro-cessos deliberativos tem o potencial degerar insatisfação entre os participantes,que esperam que aquilo que foi votadoconste no documento final.
Devolutiva à sociedadeApesar de ser um elemento-chave para
a efetividade, a interface com a sociedadeno momento posterior à audiência públicaé, em diversos casos, relegada a segundoplano pelos(as) gestores(as) de políticapública. Esse momento deve incluir umadevolutiva clara à sociedade, indicando aincorporação ou não das contribuições,
com justificativa, o que pode aumentar apercepção de legitimidade da audiênciapública.
Para que seja possível promover umadevolutiva formal, é preciso que tenhahavido um processo adequado de sistema-tização das propostas. Isso implica, comoapontado anteriormente, que a audiênciatenha empregado uma metodologiaadequada para esse fim e, também, que oórgão responsável pela AP tenha capaci-dade institucional para analisar as contri-buições recebidas.
Entre os estudos de caso incluídosnesta pesquisa, os de licenciamentoambiental são exemplos em que a falta dedevolutiva formal gerou insatisfação nasociedade, que viu nesse fato um indíciode que as audiências públicas haviam tidoefeitos limitados na política em questão.Nesses casos, não houve uma sistemati-zação dos resultados das audiências e,como consequência, não houve umadevolutiva para a sociedade.
Já os casos do PNRS e da ANTTincluíram devolutivas para a sociedade. Nocaso do PNRS, a primeira devolutivaocorreu na audiência nacional em Brasília/DF, quando houve a disponibilização deuma nova versão do documento de refe-rência, incorporando as contribuiçõesoriundas das audiências regionais, quehaviam ocorrido anteriormente. Essainiciativa (e o conteúdo do documento)ampliou a percepção de seriedade eefetividade da participação entre os presen-tes, que reconheceram que o documentocontemplava parte significativa das contri-buições oriundas das audiências regionais.
A ANTT promoveu a devolutiva daAP no 120/2011 em um relatório de con-teúdo claro e detalhado, inclusive com aanálise e justificativa para o acatamento ounão de cada contribuição. O problema em
RSP
23Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
relação a esse caso foi o prazo em que adevolutiva ocorreu, em momento posteriorao início do processo da audiência no 121/2011, que era vista pelos participantescomo audiência complementar à de no 120/2011. Consequentemente, para os partici-pantes, a continuidade da participação naAP no 121/2011 foi prejudicada, uma vezque não conheciam o resultado da outrafase do processo.
TransparênciaÉ necessário que todo o processo de
audiência pública seja pautado pela trans-parência. A publicidade de informaçõesdeve acompanhar todas as fases do pro-cesso: seja na divulgação e na mobilizaçãodos atores relevantes; na disponibilizaçãoe acessibilidade de documentos de refe-rência; sobre a clareza dos objetivos daaudiência e da metodologia utilizada; esobre o que será feito com as contribuiçõesda sociedade.
Nesse aspecto, o procedimento daANTT foi exemplar. Informações sobreprazos, metodologia, contribuições, docu-mentos de referência, atas, entre outros ele-mentos importantes foram disponibi-lizados no site da agência. Isso foi essencialpara que os interessados tivessem umaparticipação mais informada e fosse geradoum sentimento de confiança da sociedadepara com o órgão governamental. No casodo PNRS, houve reclamações quanto àdivulgação deficitária do evento; ao redu-zido prazo entre a disponibilização dosdocumentos de referência e a audiênciapública13 ; e com relação à falta de clarezasobre a metodologia. Mas é importanteressaltar que não há nenhuma evidência deque os problemas das audiências do PNRStenham resultado de uma postura ativados(as) gestores(as) no sentido de reduzira transparência, mas, sim, de falhas de
organização por parte dos órgãos respon-sáveis pelo evento e do curto tempodisponível devido a prazos legais.
Nos casos de Belo Monte e SantoAntônio e Jirau, por sua vez, as principaisreclamações quanto à transparência, ouseja, quanto ao acesso a informaçõesconfiáveis e de qualidade, se concentramno EIA-Rima, que é o principal documentoa ser debatido na audiência. Uma primeiracrítica se refere a dúvidas quanto à inde-pendência da empresa de consultoriaresponsável por realizar o estudo, já quequem escolhe e paga a consultora é aempresa proponente do projeto. Dessaforma, há dúvidas quanto à liberdade dostécnicos contratados de criticar os planose ações da empresa contratante.
Além disso, em ambos os casos, apesarde o EIA, o Rima e vários outros docu-mentos estarem disponíveis em formadigital no site do Ibama, foram identificadasreclamações por parte da sociedade quantoao acesso on-line a outros documentosrelevantes. Até então, os autos dos pro-cessos não eram digitalizados e disponibi-lizados no site, dificultando o acesso dosinteressados, que tinham que se deslocaraté Brasília ou requerer uma cópia, arcandocom custos relativamente altos. Recente-mente, o Ibama começou a digitalizar osautos em sua integralidade e disponibili-zá-los on-line, aumentando de maneirasignificativa a transparência e facilitando aparticipação, além de reduzir custos para opróprio governo federal. Esse é um bomexemplo que deveria ser seguido por todaa administração pública.
Houve insatisfação também quanto àlinguagem utilizada nos relatórios, conside-rada muito técnica e prejudicial à com-preensão por parte de muitos atoresinteressados, tais como comunidadesindígenas e ribeirinhas. Dessa forma, seria
RSP
24 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal
interessante que fossem disponibilizadasdiversas versões dos relatórios sobre oempreendimento, os benefícios e os impac-tos esperados, com diferentes linguagens eníveis de complexidade técnica.
Considerações finais
As conclusões aqui expostas são prove-nientes de uma pesquisa que teve a duraçãode um ano e contou com quatro estudosde caso. A partir da análise da bibliografia,de análise documental e de entrevistas comparticipantes e organizadores das AP,foram identificados fatores que influenciamo potencial de efetividade da participaçãosocial em audiências públicas. Procurou-se compreender como variações nessesfatores podem interferir na referida efetivi-dade, de modo a aperfeiçoar o uso dasaudiências públicas como instrumento departicipação.
No entanto, tendo em vista a limitaçãoa quatro casos, as conclusões desta pesquisanão são passíveis de generalização. Não hácomo afirmar que a adoção de medidasidentificadas nos casos como elemento desucesso (ou o esforço em evitar elementosque contribuíram para minorar o poten-cial de efetividade) será bem-sucedida emqualquer caso, tendo em vista a limitação
de escopo desta pesquisa e porque ele-mentos contextuais são fundamentais paraa efetividade de processos participativos.Destaca-se, contudo, que os diversosestudos apontados no referencial teóricopermitem afirmar que a participação socialamplia a capacidade de governo e aefetivação do processo de gestão daspolíticas públicas.
As conclusões aqui apresentadasapontam boas práticas e gargalos na organi-zação de audiências públicas. Essas con-clusões, empiricamente fundamentadas,certamente serão úteis tanto para gestorespúblicos responsáveis pela organização egestão desses espaços participativos quantopara estudiosos que pretendem desbravarum campo de estudos ainda pouco explo-rado. Além de responder à pergunta depesquisa, as análises apresentadas nesteartigo têm o potencial de servir como cata-lisador do debate contínuo sobre o tema,agregando a teoria e a experiência práticade gestores envolvidos com a realizaçãode audiências públicas. Espera-se, assim,que as informações compiladas tomemvida própria e se desenvolvam com oacúmulo de novas ideias, teorias eexperiências.
(Artigo recebido em janeiro de 2013. Versãofinal em março de 2013).
Notas
1 Para mais informações e análises relacionadas ao SIGPlan, consultar o relatório preliminarde pesquisa (Ipea, 2012), disponível em www.ipea.gov.br/participacao .
2 Elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e Licitação e Contrato de Permissãodos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros (da ANTT).
3 Licenciamento das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, em Rondônia, e de Belo Monte,no Pará.
RSP
25Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
4 Para uma análise detalhada e completa sobre cada um dos quatro casos estudados, consul-tar o relatório final de pesquisa, disponível em: www.ipea.gov.br/participacao.
5 O diagnóstico foi elaborado pela equipe da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais,Urbanas e Ambientais (Dirur), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
6 O plano de outorga traz os aspectos técnicos necessários para a prestação do serviçopúblico.
7 Esse projeto foi objeto de inúmeras audiências em outros momentos e espaços, como asrealizadas pelo Ministério Público e pelo Poder Legislativo. Devido ao escopo limitado do pre-sente estudo, o foco foi somente no processo de licenciamento ambiental, não tendo sido pos-sível analisar os demais fóruns de discussão.
8 Ver Quadro 2.9 No momento da pesquisa, o governo federal estava realizando um amplo processo de
consulta, no intuito de regulamentar o mecanismo de consulta prévia previsto na Convenção169 da OIT.
10 O objetivo da audiência pública nº 121/2011 foi coletar contribuições sobre as Minutasdo Edital de Licitação e Contrato de Permissão dos Serviços de Transporte Rodoviário Interes-tadual de Passageiros, operados por ônibus do tipo rodoviário.
11 O objetivo da audiência pública nº 120/2011 foi a discussão do plano de outorga sobre osserviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros, operados por ônibus do tiporodoviário.
12 A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Bra-sil, prevê a realização de consulta prévia a povos indígenas e tribais, no caso de empreendimen-tos e políticas públicas que tenham impacto nessas comunidades.
13 Esse fato foi observado também no caso de Belo Monte, no qual houve reclamações dasociedade civil sobre o fato de os últimos volumes do EIA somente terem sido disponibilizadospoucos dias antes da primeira AP.
Referências bibliográficas
ALENCAR, J. ; FONSECA, I. ; CRUXÊN, I. ; PIRES, R.; RIBEIRO, U. Participação Social e Desigual-dades nos Conselhos Nacionais. 8O Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP),Gramado/RS, 2012.
AVRITZER, L. (Org.). Experiências nacionais de participação social. Belo Horizonte: CortezEditora, 2010.
. Conferências Nacionais: Ampliando e Redefinindo os Padrões de Partici-pação Social no Brasil. Texto par discussão, 1739. Rio de Janeiro: Ipea, 2012.BARROS, T; RAVENA, N. Representações sociais nas audiências públicas de Belo Monte:do palco ao recorte midiático. IV Encontro da Compolítica, UERJ, 2011.
BRASIL. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Versão preliminar para Consulta. Ministério doMeio Ambiente, 2011.
RSP
26 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal
CLEAVER, F. Institutions, agency and the limitations of participatory approaches todevelopment. In: COOKE, B.; KOTHARI, U. (Org.). Participation: the new tyranny? NewYork: Zed Books, 2001.
. The inequality of social capital and the reproduction of chronic poverty.World Development, v. 33, n. 6, p. 893-906, 2005.FONSECA, I; BURSZTYN, M; MOURA, A. Conhecimentos Técnicos, Políticas Públicas eParticipação: O Caso do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Revista deSociologia e Política, v. 20, p. 183-198, 2012.
FUKS, M.; PERISSINOTTO, R. Recursos, decisão e poder: conselhos gestores de políticaspúblicas de Curitiba. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 21, n. 60, p. 67-81, 2006.
GRAU, N. Control y participación social en la administración federal brasileira: balance y perspec-tivas. Relatório de Pesquisa. Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão/WorldBank/PNUD, 2011.
. Modelos de controle e de participação sociais existentes na administração públicafederal. Relatório de Pesquisa. Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão /WorldBank/PNUD, 2010.IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Audiências Públicas no Âmbito do GovernoFederal: Análise preliminar e bases para avaliação. Relatório de pesquisa. Brasília: IPEA,2012. Disponível em: www.ipea.gov.br/participação.
. Efetividade das Instituições Participativas no Brasil: estratégias de avaliação.Roberto Rocha C. Pires. (Org.). v. 7, 372 p., 2011.
. Potencial de Efetividade das Audiências Públicas do Governo Federal: relatório deconclusão da pesquisa. Brasília: IPEA, 2013. no prelo. Disponível em: www.ipea.gov.br/participação.KOTHARI, U. The case for participation as tyranny. In: COOKE, B.; KOTHARI., U. (Org.).Participation: the new tyranny? New York: Zed Books, 2001. p. 1-15.
MANOR, J. User committees: a potentially damaging second wave of descentralization?The European Journal of Development Research, v. 16, n. 1, p. 192-213, 2004.
MATTOS, P. Regulação econômica e social e participação pública no Brasil. IX CongresoInternacional del Clad sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Madrid, Espanha,2004.
ORTIZ, L. O maior tributário do Rio Amazonas Ameaçado. Hidrelétricas no Rio Madeira,2007. Disponível em: http://www.riosvivos.org.br/dowloads/rio_madeira_portugues.pdf. Acessadoem: 15/05/2012.
PIRES, R; VAZ, A. Participação social como método de governo? Um mapeamento dasinterfaces socioestatais no governo federal. Texto para discussão, 1707. Rio de Janeiro:Ipea, 2012.
PIRES, R; VAZ, A.; ALMEIDA, A.; SILVA, F.; LOPEZ, F.; ALENCAR, J. Em Busca de umaSíntese: Ambições comuns e abordagens diversificadas na avaliação da efetividade dasinstituições participativas. In: Roberto Rocha C. Pires. (Org.). Efetividade das InstituiçõesParticipativas no Brasil: Estratégias de Avaliação. Brasília: IPEA, 2011, v. 7, p. 347-364.
POGREBINSCHI, T. Conferências Nacionais e Políticas Públicas Para Grupos Minoritários.Texto para discussão, 1741. Rio de Janeiro: Ipea, 2012.
RSP
27Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
REZENDE, R. Navigating the turbulent waters of public participation in Brazil: a case study ofthe Santo Antônio and Jirau hydroelectric dams. 2009. Dissertação de mestrado. UtrechtUniversity.
SAYAGO, D. Os conselhos de desenvolvimento territorial: entre a participação e a repre-sentação. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, v. 3, n. 4, p. 9-21, 2007.
SERAFIM, L. Controle social nas Agências Reguladoras Brasileiras: entre Projetos Políticos eModelo Institucional: a ANEEL nos governos FHC e Lula. 2007. Dissertação de Mestrado,Universidade Estadual de Campinas.
SOARES, E. A audiência pública no processo administrativo. Jus Navigandi, 2002. Disponívelem: http://jus.uol.com.br/revista/texto/3145. Acesso em: 08/08/2011.
SOUZA, C. A que vieram as conferências nacionais? Uma análise dos objetivos dos pro-cessos realizados entre 2003 e 2010. Texto para discussão, 1718. Rio de Janeiro: Ipea, 2012.
SOUZA, W; REID, J. Uncertainties in Amazon Hydropower Development: Risk Scenariosand Environmental Issues around the Belo Monte Dam. Water Alternatives, v. 3, n. 2, pp.249-268, 2010.
VASCONCELOS, P. A audiência pública como instrumento de participação popular na avaliação doestudo de impacto ambiental. 2002. Dissertação de mestrado, Universidade Federal dePernambuco.
WORLD BANK. Environmental licensing for hydroelectric projects in Brazil. Summary Report.World Bank, 2008.
RSP
28 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbito do Poder Executivo federal
Resumo – Resumen – Absctract
Audiências públicas: fatores que influenciam seu potencial de efetividade no âmbi-to do Poder Executivo federalIgor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
Este artigo apresenta os principais resultados e as principais conclusões de uma pesquisaaplicada que visou a responder a seguinte pergunta: “No âmbito do Poder Executivo federal, quaissão os principais fatores que influenciam o potencial de efetividade das audiências públicas comomecanismo de participação social no processo de gestão das políticas públicas?”. Para tanto, e apartir de metodologia qualitativa, o estudo contou com quatro estudos de caso de audiênciasrealizadas por órgãos do governo federal: a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos; adiscussão das minutas do Edital de Licitação e Contrato de Permissão dos Serviços de TransporteRodoviário Interestadual de Passageiros; e o licenciamento ambiental de dois grandes projetos deusinas hidrelétricas – Santo Antônio/Jirau e Belo Monte. Os resultados da análise empírica apon-tam fatores importantes que têm impacto na efetividade das audiências. Essa análise teve porobjetivo fornecer subsídios para gestores públicos responsáveis pela organização e realização des-ses processos participativos, bem como para estudiosos envolvidos com o tema.
Palavras-chave: audiências públicas; participação social; resíduos sólidos; transporte rodo-viário; licenciamento ambiental
Audiencias públicas: factores que influyen en su potencial de efectividad en el ámbitodel Poder Ejecutivo federalIgor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira y Ana Karine Pereira
En este artículo se presentan los principales resultados y las principales conclusiones de unainvestigación aplicada cuyo objetivo era responder a la siguiente pregunta: “Dentro del PoderEjecutivo federal, ¿cuáles son los principales factores que influyen en el potencial de efectividadde las audiencias públicas como mecanismo de participación social en el proceso de gestión delas políticas públicas?”. Para ello, y mediante el uso de una metodología cualitativa, el estudio sebasó en cuatro estudios de caso de audiencias realizadas por agencias del Gobierno federal: lapreparación del Plan Nacional de Manejo de los Desechos Sólidos; la discusión sobre el proyectodel documento de licitación y sobre el contrato de autorización para explotar servicios de autobusesinterestatales; y licencias ambientales para dos grandes proyectos hidroeléctricos - Santo Antô-nio/Jirau y Belo Monte. Los resultados del análisis empírico indican factores importantes queafectan a la eficacia de las audiencias. Este análisis tuvo como objetivo proveer subsidios paralos gestores públicos responsables de la organización y realización de estos procesos participativos,así como académicos interesados en el tema.
Palabras clave: audiencias públicas; participación social; desechos sólidos; transporte enautobuses; licencias ambientales
RSP
29Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 7-29 jan/mar 2013
Igor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira e Ana Karine Pereira
Public hearings: the factors that impact the potential of their effectiveness in themanagement process of public policyIgor Ferraz Fonseca, Raimer Rodrigues Rezende, Marília Silva de Oliveira and Ana Karine Pereira
This article presents the main results and the main conclusions of an applied research thataimed to answer the following question: “within the Federal Executive Branch, what are themain factors that impact the potential of effectiveness of public hearings as a mechanism ofsocial participation in the management process of public policy?”. For this purpose, and throughthe use of qualitative methodology, the research relied on four case studies of hearings held byFederal Government agencies: the preparation of the National Solid Waste Management Plan;the debate on the drafts of the bidding terms and conditions, and regarding the contract ofpermission to exploit Interstate Bus Services; and the environmental licensing of two majorhydroelectric projects - Santo Antônio/Jirau and Belo Monte. The results of the empiricalanalysis point out important factors that impact the effectiveness of the hearings. This analysisaimed to provide subsidies for public managers responsible for organizing and conducting theseparticipatory processes, as well as for scholars concerned with the issue.
Keywords: public hearings; social participation; solid waste; road transport; environmentallicensing
Igor Ferraz Fonseca
Sociólogo e mestre em Política e Gestão Ambiental pela Universidade de Brasília. Técnico de Planejamento e Pesquisa, daDiretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Instituto de Pesquisa EconômicaAplicada (Ipea). Contato: [email protected]
Raimer Rodrigues Rezende
Antropólogo pela Universidade de Amsterdam e mestre em Desenvolvimento Sustentável e Política Ambiental pela Uni-versidade de Utrecht. Pesquisador do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD), na Diretoria deEstudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada(Ipea). Contato: [email protected]
Marília Silva de Oliveira
Cientista Política, mestre em Ciências Sociais e doutoranda em Ciência Política pela Universidade de Brasília.Ex-pesquisadora do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD), na Diretoria de Estudose Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).Contato: [email protected]
Ana Karine Pereira
Cientista Política, mestre e doutoranda em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Pesquisadora do Programa dePesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD), na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e daDemocracia (Diest) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Contato: [email protected]
RSP
31Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
Políticas públicas e relaçõesfederativas: o Sistema Nacional
de Cultura como arranjoinstitucional de coordenação e
cooperação intergovernamental1
Adélia Zimbrão
Sobre o que se versa?
Entre as questões conformadoras da complexidade que atravessa o processo
de materialização dos direitos sociais, identificam-se débeis acordos entre os entes
federados no tocante à provisão de políticas públicas nacionais. Fragilidade que
persiste ao longo desses últimos vinte e quatro anos, apesar de o federalismo
tripartite consagrado no Texto Constitucional ser considerado de tipo cooperativo2,
como ilustra o art. 23 da Carta Magna de 1988 e seu parágrafo único, que tratam
das competências comuns a todas as esferas da Federação e da cooperação entre
elas para o “(...) equilíbrio do desenvolvimento e bem-estar em âmbito nacional”
(Parágrafo único, art. 23, CF/1988). No entanto, o compartilhamento de poder
e autoridade entre governo central e governos subnacionais sobre a ação estatal
não é “automático” e nem pacífico. A Federação brasileira “desliza” num contínuo
entre relações de competição e de cooperação, em que há projetos políticos
frequentemente divergentes e em disputa.
RSP
32 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
Essa configuração federativa geratensões e dilemas ao Estado, na sua obriga-ção de garantir direitos que requerem polí-ticas públicas para serem gozados. Nessesentido, tendo como diretriz constitucionala universalização das denominadas políticassociais, um dos grandes desafios a serenfrentado pela União diz respeito àsrelações intergovernamentais. Não obstanteesse cenário, a colaboração interfederativatem sido experimentada em algumas áreas,como, entre outras, as da saúde (SistemaÚnico de Saúde – SUS) e da assistênciasocial (Sistema Único de Assistência Social– SUAS), por meio da constituição dearranjos político-institucionais que visam apromover a convergência de esforços daUnião, Distrito Federal, Estados e Muni-cípios e superar pontos de estrangulamentoconcernentes ao desenvolvimento de polí-ticas públicas. Os mecanismos – que podemser considerados inovadores ao obser-varmos o contexto – de coordenação ecooperação intergovernamental, adotadospelas citadas áreas, objetivam, em especial,conciliar as tensões federativas – resultan-tes principalmente das significativas desi-gualdades sociais e regionais do País – demodo a possibilitar o cumprimento das obri-gações constitucionais pelos entes federados,referentes às responsabilidades e propósitoscomuns. Assim, a descentralização deresponsabilidades para os poderes execu-tivos subnacionais, na condução de políticassociais, ocorre com base nas políticaspúblicas nacionais, acordadas nas instânciasapropriadas, previstas na configuraçãoinstitucional dos sistemas de políticaspúblicas de saúde e de assistência social.
No que diz respeito às políticas culturais,estas também não escapam da problemá-tica atinente às relações federativas. OMinistério da Cultura, na última década, vemconduzindo um processo de reformulação
e redimensionamento de suas políticas,inclusas nesse cenário a criação e estrutu-ração do Sistema Nacional de Cultura3
(SNC), que aspira a ser o principal meca-nismo de articulação e coordenação federa-tiva para implementação de programas eações culturais.
O trabalho aqui apresentado tem oobjetivo de analisar a proposta do SistemaNacional de Cultura a partir da conceituaçãopolítica regulada e não regulada, elaborada pelacientista política Marta Arretche para distin-guir relações intergovernamentais relativasà autoridade sobre a formulação e sobre aexecução de políticas públicas. Balizadopelas questões concernentes às relaçõesfederativas e à descentralização de políticaspúblicas, o estudo examina a configuraçãoinstitucional de articulação e compartilha-mento interfederativo de políticas públicasde cultura presente no projeto do sistema,tomando como referência o Sistema Únicode Saúde, por ser o modelo inspirador detal iniciativa.
O Sistema Nacional de Cultura visa acolaborar com o aprimoramento do pactofederativo ao estabelecer parâmetros paraa ação cooperativa, com cofinanciamento,entre os diversos níveis de governo, naárea de cultura. O desafio posto ao Estado– acentuado por um contexto de desigual-dades inter e intraestaduais – consiste emassegurar o exercício dos direitosculturais4 a todo cidadão, equilibrando asações públicas necessárias para o cumpri-mento de tal obrigação, com o singulardesenho federativo tripartite brasileiro.Nesse sentido, o que está em debate sãoos meios para garantir o direito ànominada “cidadania cultural”, combateras desigualdades territoriais e assegurar adiversidade cultural, assim como a cons-trução de canais para o indispensável diá-logo federativo.
RSP
33Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
A garantia do exercício dos direitosculturais a todos os brasileiros é compe-tência constitucional comum às três esferasde governo. As informações disponíveissobre este tema revelam que há variaçõesterritoriais em relação ao acesso dos cida-dãos aos bens culturais e às políticaspúblicas de cultura. Há uma expressivaconcentração de recursos públicos e açõesculturais nas maiores capitais dos estadosda Região Sudeste. Além disso, umsignificativo percentual da população estáexcluído dos benefícios assegurados poressas políticas (Cultura em Números –Anuário de Estatísticas Culturais – 2009).
O Suplemento de Cultura da Pesquisade Informações Básicas Municipais(Munic, 2006), do Instituto Brasileiro deGeografia e Estatística (IBGE), quelevantou um conjunto de informações arespeito da diversidade cultural e territorialdos municípios brasileiros, confirmou apercepção já existente a respeito da baixacentralidade das políticas culturais naagenda dos governos locais5, além demostrar a pouca institucionalização dosetor da cultura nos municípios e a precáriacapacidade organizacional e administrativado poder executivo local. Em outrostermos, grande parte dos governossubnacionais municipais não dá a devidaatenção à área da cultura. Em decorrência,esses entes federados não desenvolvempolíticas culturais, mas apenas ações muitopontuais. O entendimento mais comum porparte das autoridades competentes é ofertar“entretenimento” à população local.
Na outra ponta, no âmbito federal, naúltima década, várias iniciativas foramtomadas. Porém o alcance das ações doMinistério da Cultura é limitado, dado otamanho do País, as diversidades de váriasordens (cultural, geográfica, ambiental etc.)e as condições restritas de gestão e de
recursos do próprio órgão. Portanto, argu-menta-se que a redefinição induzida deresponsabilidades por meio da descentrali-zação pactuada de políticas públicas decultura é essencial para fortalecer a funçãodo Estado em assegurar o pleno exercíciodos direitos culturais, ainda mais num paíscom a dimensão territorial do Brasil eexpressiva diversidade cultural. Nessesentido, os mecanismos institucionaisprevistos/desenhados para forjar a atuação
estatal de forma articulada e cooperativaestariam na proposta do Sistema Nacionalde Cultura.
Relações federativas, políticaspúblicas e regulação federal
Várias questões perpassam a discus-são sobre o federalismo e os efeitos de seu
“A ideia dascomissõesintergestores foiuma das grandescontribuiçõesdo SUS para acondução deum trabalhointergovernamental.”
RSP
34 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
desenho para as relações federativas:competição, cooperação, autonomia polí-tica das unidades subnacionais, ingerência/intromissão/interferência federal, reformatributária, pacto federativo, entre outrosaspectos. Essas questões alimentam umintenso debate teórico a respeito da perti-nência do modelo de federalismo brasileiro.
O federalismo, conforme Souza(2005), tem sido associado mais à descen-tralização, em muitos trabalhos no país,principalmente após a Constituição de1988, do que a uma ordem política e cons-titucional com suas particularidades. Aautora aponta ainda que é significativa apresença de textos que analisam as relaçõesque se estabelecem entre esferas de gover-nos tendo como foco as designadasrelações intergovernamentais. Esse inte-resse também seria “(...) resultado da emer-gência de políticas descentralizadas, mas,sobretudo, pelo considerável aumento deprogramas ‘intergovernamentalizados’,tendência observada na maioria dos paísesfederais e unitários” (SOUZA, 2005, p. 106).
Da perspectiva das relações intergover-namentais, para Almeida (2005), aFederação brasileira pode ser entendidacomo uma configuração complexa na qualconvivem tendências centralizadoras edescentralizadoras, estimuladas pormúltiplos fatores, gerando efeitos diversosao longo do território nacional. A seu ver,o modelo cooperativo adotado constitucio-nalmente em 1988 para o federalismobrasileiro “(...) combinou a manutenção deáreas próprias de decisão autônoma dasinstâncias subnacionais; descentralizaçãono sentido forte de transferência de auto-nomia decisória e de recursos para osgovernos subnacionais e a transferênciapara outras esferas de governo de responsa-bilidades pela implementação e gestão depolíticas e programas definidos no nível federal”
(ALMEIDA, 2005, p. 32, grifo nosso). Dessemodo, para a autora, a apreciação doscaminhos do federalismo brasileiro, no quediz respeito à polaridade descentralização-recentralização, “(...) deve levar em contaa complexidade desse arranjo cooperativoe as formas distintas que assumem asrelações governamentais em diferentesáreas de políticas públicas” (ALMEIDA, 2005,p. 32).
Abrucio (2005), com a intenção de iralém da dicotomia centralização versusdescentralização, propõe a temática dacoordenação federativa como objeto deexame. Em seu texto, comenta a respeitode um estudo realizado pela Organizationfor the Economic Cooperation andDevelopment (OECD), com base emdiversas federações, que aborda a questãocentralização e descentralização, e no qualé apresentada a conclusão de que “Nósprecisamos agora estar dispostos a moverem ambas as direções – descentralizandoalgumas funções e ao mesmo tempo centrali-zando outras responsabilidades cruciais na formu-lação de políticas. Tais mudanças estão acaminho em todos os países” (OECD,1997, p. 13 apud ABRUCIO, 2005, p. 42, grifonosso). A seu ver, há dilemas de coorde-nação intergovernamental constatadosinternacionalmente, que o Brasil igual-mente precisa enfrentar. Por isso, consideranecessário analisar o problema da coorde-nação interfederativa, que compreende asformas de integração, compartilhamento edecisão conjunta existentes nas federações.
Entretanto, o caminho analítico trilhadopor Abrucio (2005) difere do percorridoneste trabalho, posto que, como dispõe aprópria OECD, às vezes é necessáriocentralizar outras responsabilidades cruciais naformulação de políticas. Essa perspectiva divergedas questões trabalhadas por Abrucio(2005), que destaca como aspecto inovador
RSP
35Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
do sistema de Federação, no que tange àorganização político territorial do poder, ocompartilhamento matricial da soberania emcontraposição ao piramidal.
Assim, a tensão entre autonomia polí-tico-institucional federativa e regulaçãofederal vem se traduzindo em complexosprocessos de descentralização e centrali-zação dos poderes governamentais entreas unidades jurisdicionais. Nesse sentido,não se pretendeu esgotar o assunto, pois,tal como destaca Almeida, “a relação entrefederalismo e descentralização, em termosconceituais e empíricos, está longe de sersimples e incontroversa” (2005, p. 30).
Para Lima et al. (2012), problemascomo as desigualdades territoriais, que sãode ordem estrutural, dificilmente podemser resolvidos apenas pela ação articuladados estados e municípios, sem uma efetivaatuação do governo federal.
Ainda numa outra perspectiva, diferen-te dos autores que focalizam principalmentea autonomia dos governos subnacionais,Arretche (2010) vai trabalhar com a ideiade que é possível compatibilizar descentrali-zação da execução de políticas com acentralização da autoridade, mesmo emestados federativos. É essa autoridade dopoder central de definir políticas e progra-mas que mune o governo federal de instru-mentos para coordenar políticas públicas.
Para Marta Arretche – que tem entresua produção acadêmica a investigação detemas como descentralização de políticaspúblicas, políticas sociais, relações federa-tivas e federalismo –, os teóricos, que ques-tionam o atual modelo federativo doEstado brasileiro, têm tido como principaisobjetos de análise a autonomia dos governossubnacionais e as regras eleitorais. Nesse sentido,conforme assinala Arretche (2010), caracte-rísticas presentes no Estado e no sistemapolítico brasileiro ganham demasiado realce
nas interpretações desses estudiosos.Porém, essa pesquisadora considera que háum superdimensionamento na importânciadesses traços, por ignorarem dois aspectosque julga como centrais: “o papel das desi-gualdades regionais na escolha da fórmulafederativa adotada no Brasil, bem como aimportância das relações entre a União eos governos subnacionais sobre seu funcio-namento” (2010, p. 588). Por isso, para umainterpretação mais precisa a respeito dasmotivações para a adoção da fórmulafederativa no Brasil e de seus resultados,Arretche considera necessário incluir naanálise as dimensões desigualdades territoriaise relações federativas central-local.
Como bem observa Arretche (2010),a nação brasileira é historicamente divididaentre jurisdições ricas e pobres e essa cliva-gem está na origem da escolha por umdesenho de Estado e de suas instituiçõespolíticas que pudesse proporcionar o equilí-brio regional. Portanto, para tal finalidade,segundo a autora, concentrou-se autoridadedecisória no governo central, no processode construção do Estado-nacional brasi-leiro, bem como no poder regulatório e degasto, prevalecendo, dessa forma, a ideiade uma “comunidade nacional única” sobreos pleitos por autonomia regional. Assim,as transferências de recursos federais têmsido, historicamente, como assinala Arretche,um componente central na constituiçãodesse Estado, na busca de reduzir desigual-dades territoriais sócio-econômicas.
No que se refere às relações federativascentral-local, segundo Arretche (2010), asprioridades políticas dos governos estaduaise municipais podem ser amplamenteafetadas pelos mecanismos de incentivosdecorrentes de suas interações com níveissuperiores de governo, tal como já expu-seram pesquisadores desse tema (SELLERS,Jefferey M. e LIDSTRÖM, Anders, 2007; e
RSP
36 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
RAZIN, Eran, 2007). Além disso, Arretchedestaca que, mesmo em estados federa-tivos, é possível compatibilizar descen-tralização da execução de políticas com acentralização da autoridade (OBINGER,Herbert; LEIBFRIED, Stephan; e CASTLES,Francis G., 2005). Assim, de acordo comsua reflexão, é preciso diferenciar a dimen-são de autoridade sobre a formulação depolíticas públicas, da dimensão de autori-dade sobre a execução de políticas públicas,para uma análise mais apropriada dessasrelações. Sua argumentação prossegue:
“Distinguir quem formula de quemexecuta permite inferir que, no casobrasileiro, embora os governos subna-cionais tenham um papel importante –e até mesmo pouco usual em termoscomparados – no gasto público e naprovisão de serviços públicos, suas deci-sões de arrecadação tributária, alocaçãode gasto e execução de políticas públicassão largamente afetadas pela regulaçãofederal.” (Arretche, 2010, p. 589).
Em outros termos, a agenda dosgovernos estaduais e municipais é“balizada” por normas e supervisão federais,mesmo se tratando de unidades politi-camente autônomas, com responsabilidadena arrecadação de tributos e na execução depolíticas, pois suas decisões são limitadaspor legislação nacional (ARRETCHE, 2010).
Portanto, para estudar o fenômenofederalismo brasileiro, Arretche (2010) consi-dera essencial examinar o impacto daregulação federal sobre as decisões dosgovernos locais, assim como sobre as desi-gualdades sócio-regionais, que acarretamdiscrepâncias de acesso dos cidadãos apolíticas públicas no cenário nacional.
A tradição de centralização da autori-dade política, por conseguinte, de regulação
federal – presente no Estado federativobrasileiro – para implementar políticas decompensação das desigualdades sociais eterritoriais tem, entre sua fundamentação,como expõe Arretche (2010), a desconfiançana disposição das elites políticas locais emprover serviços públicos básicos e respeitaros direitos dos cidadãos. Por isso, conformeArretche, “a regulação federal parece seruma condição para ‘amarrar’ subunidadesindependentes em torno de um dado obje-tivo nacional” (2010, p. 611).
Portanto, para Arretche (2010), a legiti-midade da regulação federal, ou seja, deque a União deve estar munida de aparatopara legislar e supervisionar a ação dosgovernos subnacionais apoia-se tanto naideia de nação, de pertencimento a umacomunidade nacional única, quanto noreceio e suspeita com relação às práticasdos governantes locais. Desse modo,estados federativos que concentram naUnião autoridade regulatória, segundoArretche, têm a possibilidade de constituirmecanismos institucionais para atuarem nadireção da diminuição das desigualdades.
Assim, o sentido que Arretche (2010)atribui à regulação federal diz respeito aoconjunto da legislação federal sobre aspolíticas executadas pelas unidades consti-tuintes, à autoridade para supervisionar essaspolíticas e à função de redistribuição derecursos entre os entes federados, isto é,refere-se à regulamentação e à supervisãofederais sobre as políticas operacionalizadaspelos governos estaduais e municipais. “É,portanto, o emprego dos recursos institu-cionais da União para regular a execuçãodescentralizada de uma dada política que aconverte em uma política regulada” (2010,p. 604). Nesse sentido, para Arretche, essapossibilidade existe potencialmente paraqualquer área de política pública, em razãodas propriedades do federalismo brasileiro.
RSP
37Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
Com base na reflexão apresentada,Arretche (2010), no que se refere às polí-ticas descentralizadas, observa que épossível distinguir dois tipos atinentes àrelação central-local:
(1) reguladas: aquelas nas quais alegislação e a supervisão federais limi-tam a autonomia decisória dos gover-nos subnacionais, estabelecendo pata-mares de gasto e modalidades deexecução das políticas.
(2) não reguladas: aquelas nas quais aexecução das políticas (policy-making)está associada à autonomia para tomardecisões (policy decision-making) (2010,p. 603).
Arretche (2010) explica que um ele-mento fundamental das políticas federaisde regulação referentes às políticas descen-tralizadas são as normas que vinculam asreceitas dos governos subnacionais aogasto em políticas específicas. Como conse-quência, a autonomia decisória desses entesfederados, no que tange à alocação de seuspróprios recursos, fica limitada. Entretanto,Arretche observa que, de qualquer forma,o governante local possui autoridade sobrea execução, dentro das regras de uso dosrecursos. Ademais, sua autonomia políticalhe permite a possibilidade da discordância.
A partir de sua tipologia, Arretche(2010) analisou comparativamente aspolíticas públicas de educação e saúde,classificadas como reguladas, e as políticasdas áreas de desenvolvimento urbano(infraestrutura urbana, habitação e trans-porte público), consideradas como nãoreguladas. No Estado brasileiro, essesserviços básicos ficam a cargo dos gover-nos municipais. A investigação, de acordocom Arretche, consistiu em identificar os
efeitos das relações central-local sobre a desi-gualdade na oferta de serviços municipais,por meio do exame da provisão de serviçospúblicos e a alocação setorial do gasto.
Os resultados encontrados, segundoArretche (2010), demonstram primazia nogasto em saúde e em educação, e grandedesigualdade na prioridade de alocaçãode recursos financeiros às políticas deinfraestrutura urbana, ou seja, políticasreguladas e não reguladas apresentam
comportamentos distintos. Arretche obser-vou que a desigualdade entre municípios,referente ao gasto nas políticas reguladas,é consideravelmente menor do que naspolíticas não reguladas. Conforme suasconsiderações, o impacto da regulaçãofederal sobre as decisões dos governoslocais fica claramente demonstrado nopadrão de gasto apurado dos municípios
“... a área dacultura, por nãoter políticasreguladas, não éprioridade para aautoridade localna alocação derecursos etampouco naprovisão deserviços.”
RSP
38 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
brasileiros: “alta prioridade e baixa desi-gualdade nas políticas reguladas acompa-nhado de baixa prioridade e elevada desi-gualdade nas políticas não reguladas”(2010, p. 611). Em outras palavras, as polí-ticas reguladas têm precedência na alocaçãodo gasto municipal, enquanto que aspolíticas não reguladas não têm preferênciade gasto. Logo, para Arretche (2010), é opapel de regulamentação e de supervisãoexercido pela União que pode explicar essecomportamento convergente dos muni-cípios, em que há redução do intervalo dedesigualdades, no que tange à provisão deserviços e aplicação de recursos em saúdee educação.
O que se evidencia, portanto, segundoArretche (2010), é que há uma tensão entrea redução das desigualdades territoriais decapacidade de gasto e de provisão deserviços públicos e a plena autonomia deci-sória dos governos locais. O exercício dessaautonomia pela autoridade local possibi-lita a discordância política, que podeproduzir divergências de políticas públicasentre jurisdições. Projetos políticos muitodistintos e até opostos, em conjunto comlimites de capacidade de recursos dasprefeituras, levam a grandes variações nasprioridades municipais de gasto. Dessemodo, a propensão é o aumento da desi-gualdade intermunicipal no fornecimentode serviços públicos. Entretanto, conformea autora, estados federativos que conciliamregulação centralizada e autonomia políticados governos municipais tendem a res-tringir os patamares da desigualdadeterritorial, pois “a combinação de regulaçãodas receitas municipais com regulação dasdespesas municipais tem como efeito maisuniformidade de gasto nas políticas regu-ladas” (2010, p. 610). Assim, é por meiode mecanismos institucionais regulatóriose redistributivos, como vinculação de
receitas municipais, transferências derecursos federais e transferências condicio-nadas universais, que a União atua nadiminuição de desigualdades interjuris-dicionais de receita e na redução dedesigualdades territoriais de acesso doscidadãos brasileiros a políticas públicas.
Outro aspecto importante observadopor Arretche (2010), acerca das políticasreguladas analisadas, é que os repasses derecursos não estão associados a barganhaspolíticas, ao contrário, são feitos com baseem critérios públicos e universais, regula-dos por regras constitucionais ou infra-constitucionais.
A citação abaixo pode ser consideradauma espécie de síntese de suas conside-rações:
“Portanto, em estados federativosque centralizem a formulação de polí-ticas executadas pelas unidades cons-tituintes e que contam com um siste-ma interjurisdicional de transferências,é possível encontrar redução das desi-gualdades territoriais. Assim, de acordocom esta teoria, os papéis regulatórioe redistributivo do governo centralseriam mecanismos necessários paraobter cooperação entre jurisdições”.(ARRETCHE, 2010, p. 593).
Posto que, conforme Arretche, “nãohá nenhuma garantia intrínseca à auto-nomia dos governos locais que os torneresponsáveis, comprometidos com asnecessidades dos cidadãos e determinadosa administrar com eficiência” (2004, p.334), as atribuições de regulação e deredistribuição do governo central seriamdispositivos inevitáveis para obter coopera-ção entre jurisdições e adesão dos governossubnacionais às políticas públicas, emespecial às sociais (ARRETCHE, 2010).
RSP
39Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
Assim, a baixa centralidade das políticassociais na agenda dos governos locais –que, por consequência da inação, contri-bui para a manutenção da desigualdade –vem sendo enfrentada justamente por meiode aparatos institucionais de incentivos econtroles, que estimulam e também forjamo comprometimento desses dirigentes comdeterminadas políticas.
Estrutura e mecanismos de coorde-nação e cooperação federativa inova-dores: o SUS
A regulação federal da saúde – apon-tada por Arretche (2010) como possívelfator de redução da desigualdade entremunicípios na provisão de serviçospúblicos nessa área – tem se realizado nasúltimas duas décadas pelo Sistema Únicode Saúde (SUS). O SUS, definido constitu-cionalmente pelos princípios de univer-salidade, equidade, integralidade, controlesocial e descentralização (Art. 196 a 200da Constituição brasileira de 1988), foicomplementado por normas infraconsti-tucionais, como as Leis Orgânicas daSaúde, Lei no 8080 – que regula as condi-ções para a promoção, proteção e recu-peração da saúde, a organização e ofuncionamento das ações e serviços desaúde – e Lei no 8142 – que dispõe sobrea participação da comunidade na suagestão, sobre as transferências intergover-namentais e vincula descentralização àmunicipalização –, ambas de 1990, masque passaram por alterações e ajustesposteriores. Além desses suportes jurí-dicos de regulamentação da política desaúde, há vários outros instrumentosnormativos que, ao longo desses vinte edois anos, foram sendo editados de acordocom as circunstâncias político-institucio-nais, com as condições das interações
federativas e com os processos necessáriospara a estruturação do sistema.
O SUS é, desse modo, um sistema dedescentralização político-administrativa deresponsabilidades na condução das açõespúblicas de saúde, integrado pelos gover-nos nacional e subnacionais, com organi-zação regionalizada e hierarquizada da redede serviços, com direção única em cadaesfera governamental e com participaçãosocial em seu comando. É também ummodelo de planejamento e gestão de polí-ticas públicas que buscou promover aracionalização dos serviços de saúde pormeio da integração das redes federal, esta-dual e municipal, do redesenho do papel eatribuições de cada ente federado, dadefinição de fontes de financiamento e dacriação de mecanismos automáticos detransferência de recursos no interior da redepública e privada.
O SUS, de acordo com Arretche(2004), construiu, entre 1988 e 1993, umacomplexa estrutura institucional para atomada de decisões. Nesse sentido, fazemparte de sua configuração instâncias dearticulação, pactuação e deliberação depolíticas públicas. As conferências e os con-selhos (de composição paritária) são arenaspolíticas (reproduzidas nos três níveisfederativos) de negociação entre governoe sociedade civil, para deliberações dasações de saúde e de seu planejamento, alémde serem instâncias de controle social. AsComissões Intergestores Tripartite (entreUnião, Estados e Municípios) e Bipartite(entre Estado e Municípios) são espaçosinstitucionalizados de cogestão, ondeocorrem as negociações e os acordos entreos níveis de governo, referentes à operacio-nalização do SUS (gerenciamento efinanciamento). Ademais, o SUS tem entreseus principais instrumentos de gestãoplanos de saúde e fundos de recursos do setor,
RSP
40 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
todos relativos às esferas nacional, estaduale municipal.
Nesse sentido, o desafio de coordenaçãono SUS, no que diz respeito às relaçõesfederativas, foi enfrentado por meio darepartição de competências e atribuiçõesentre as unidades federativas de governo.Na distribuição das responsabilidades, aUnião é a encarregada das funções deformulação da política nacional de saúde,financiamento e coordenação das açõesintergovernamentais. É incumbência tam-bém da instância federal, em seu âmbito deatuação, monitorar, avaliar, capacitar esistematizar as informações. Cabem aos esta-dos, ao Distrito Federal e aos municípios,respeitando os princípios e as diretrizes esta-belecidos pela política nacional de saúde, acoordenação e a execução dos programas eações do setor, dentro de suas respectivasesferas de competência, além do cofinan-ciamento. Os governos subnacionais partici-pam do processo de formulação da políticade saúde por terem representações nasarenas de articulação, pactuação e delibe-ração. Em tese, esses espaços de negociaçãoinstitucionalizados buscam suprimir dogoverno federal a possibilidade de estabe-lecer unilateralmente as regras de funciona-mento do SUS, posto que atuariam comoum mecanismo de contrapeso à concen-tração de autoridade conferida ao Executivofederal (ARRETCHE, 2004).
O Ministério da Saúde, ao longo dadécada de 1990 e meados dos anos 2000,no processo de construção do SUS, editousucessivas normas operacionais que tinhamcomo objetivo definir os vários aspectosrelativos à organização e forma de funcio-namento do sistema, como arenas decisórias,fluxos de financiamento e estruturaçãodo modelo de atenção à saúde. Nessesentido, para induzir e regular a descentra-lização, foram implementadas as Normas
Operacionais Básicas do SUS – NOB/91,NOB/93 e NOB/96 –, que provocaram aredefinição de atribuições e competênciasdas esferas de governo (federal, estadual emunicipal) no que tange à gestão, organi-zação e prestação de serviços de saúde, pormeio da transferência de recursos (princi-palmente financeiros) do nível federal eestadual para os municípios. Já as NormasOperacionais da Assistência à Saúde –NOAS/2001 e NOAS/2002 – tiveram umpapel de estimular a regionalização da assis-tência à saúde por meio da organização deredes de serviços que articulassem os váriosníveis de atenção, centralizando nas secre-tarias estaduais de saúde a função de orga-nizar os sistemas microrregionais de saúde.
Em suma, esses instrumentos de regu-lação tiveram por finalidade disciplinar adescentralização, o financiamento e arelação entre os três níveis de governo,instituindo mecanismos de coordenação ecooperação interfederativa e de indução àadesão dos governos locais à política desaúde. Além disso, outro propósito daedição dessas regras organizacionais foinormatizar a gestão pública da política desaúde no território brasileiro, a ser exercidade modo sistêmico pelos entes federados.
Com a mudança de governo em 2003,que resultou na entrada de novosdirigentes no Ministério da Saúde, confor-me Paim e Teixeira (2007), instalou-se umdebate sobre a alternativa excessivamente“normativa” tomada durante a década de1990. Uma crítica feita, segundo Lima(2012), foi a de que esse modelo dedescentralização – de intensa normati-zação vinculada aos incentivos financeiros– conduzido no SUS pelo governo federalteria provocado “burocratização dasrelações intergovernamentais” e “frag-mentação acentuada dos mecanismos detransferência de recursos federais” (2012,
RSP
41Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
p. 1905). Por isso, estabeleceu-se o diag-nóstico de que seriam indispensáveisalterações nas formas de relacionamentoentre as esferas de governo, no tocante àpolítica de saúde.
Esse processo de discussão culminouna aprovação, em 2006, pelo ConselhoNacional de Saúde e pela ComissãoIntergestores Tripartite, do Pacto pelaSaúde6. Os pactos representariam novas prá-ticas, em substituição aos métodos e ferra-mentas adotados até aquele momento, porserem compreendidos como novo instru-mento de política, para instituir um processode negociação permanente entre gestores,em busca da superação dos conflitosintergovernamentais, com o propósito degarantir a implementação de políticas e açõesprioritárias. Nesse sentido, a inovação maissignificativa refere-se à pactuação comomecanismo de gestão, de coordenaçãointerfederativa da política de saúde.
O Ministério da Saúde, portanto, comesse novo mecanismo, segundo Paim eTeixeira (2007), busca substituir a estra-tégia adotada anteriormente, “(...) a deinduzir a tomada de decisões no âmbitoestadual e municipal a partir de incentivosfinanceiros, por uma outra centrada nocompromisso político entre os gestores(...)” (PAIM e TEIXEIRA, 2007, p. 1822).Nesse sentido, o espaço próprio para aconstrução desses acordos políticosintergovernamentais, no âmbito nacional,é a Comissão Intergestores Tripartite, e,em cada estado, são as Comissões Inter-gestores Bipartites.
Pode-se dizer que, mesmo com amudança de estratégia, que busca compro-meter politicamente os gestores, por meiode maior participação na tomada dedecisão, é o governo federal quem controlao financiamento e os mecanismos decoordenação intergovernamental.
Sabe-se que o SUS enfrenta muitosdesafios e que, mesmo após duas décadasde implementação, sua configuraçãoinstitucional encontra-se ainda em processode adequação no País. Há uma vasta litera-tura crítica que analisa tanto a organização,funcionamento e gestão do sistema quantoseus aspectos político-institucionais, e queaponta problemas de várias ordens, masnenhuma aborda a ideia de desmontagemdo sistema. Com todos os percalços, os
pesquisadores, no geral, consideram o SUSum grande avanço, quando comparado àsituação anterior à sua criação.
Assim, conforme demonstrado porArretche (2010), a regulação federal trouxecontribuições e melhorias, por reduzir asdiscrepâncias municipais na provisão deserviços públicos básicos de saúde. Naausência do exercício/desempenho pela
“A regulaçãofederal, por meioda implementaçãodo SNC, portanto,parece ser umacondição paramobilizar evincular estados emunicípios emtorno das políticaspúblicas decultura.”
RSP
42 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
União de seu papel de regulamentação ede supervisão, a tendência seria “umacorrida para baixo” no gasto em saúde dosgovernos locais, prejudicando o atendi-mento à população.
O Sistema Nacional de Culturacomo arranjo institucional dearticulação e compartilhamentointerfederativo de políticas culturais
As políticas culturais empreendidaspelo governo federal, em sua quase totali-dade7, não apresentam, até o atual contexto,traços que as possam caracterizar comopolíticas reguladas, nos termos de Arretche(2010). São políticas de âmbito nacional,mas que em seu desenho, em geral, nãopreveem processos e mecanismos dedescentralização de ações – e consequen-temente de recursos – para estados emunicípios. Pode-se afirmar que o Minis-tério da Cultura não tem tradição dearticulação com outras esferas de governopara apoio de iniciativas públicas culturaissubnacionais. Nesse sentido, não é usualencontrar nos programas e projetosfederais da área intenções e diretrizes parauma atuação interfederativa. Uma exceçãoé o “Programa Arte Cultura e Cidadania –Cultura Viva”, que, num processo incre-mental, teve seu formato institucionalalterado, passando a “descentralizar” paraestados interessados no programa, comomeio de potencializar suas ações e alcance.Além disso, as ações culturais federaissofrem frequentes redesenhos e constantesalterações programáticas e orçamentárias.
Até meados da década passada, aspolíticas culturais, de origem federal, prati-camente se reduziam à política de finan-ciamento, via incentivo fiscal. O ProgramaNacional de Apoio à Cultura (Pronac) –instituído pela Lei Rouanet (Lei no 8.313/
1991) –, no seu mecanismo de implemen-tação III – Incentivo a projetos culturais, erabasicamente a política cultural nacional. OPronac atendia e ainda atende essencial-mente aos artistas, sejam eles das ditas“grandes artes” ou “populares”.
Esse programa ainda representa o“carro-chefe” das políticas culturaisoriundas do Ministério da Cultura. Entre-tanto, no governo do presidente Lula, como ministro Gilberto Gil, iniciou-se ummovimento – pautado no discurso dedemocratização da cultura e promoção da“cidadania cultural” – de construção depolíticas públicas que, além de fomentarpráticas culturais em sua diversidade,fossem capazes de assegurar a todos oscidadãos brasileiros o exercício dos direitosculturais, dispostos na nossa Constituiçãode 1988. Esse desafio converteu-se emprojetos de reformulação de leis, redesenhode mecanismos institucionais, inclusivepara uma atuação intergovernamental, e naelaboração de novas ações e programas.
O debate sobre o Sistema Nacional deCultura (SNC) foi lançado pelo MINC em2003. A ideia já estava presente na platafor-ma de governo do então presidenciável LuísInácio Lula da Silva. A proposta foi ampla-mente discutida em vários fóruns, com aparticipação de representantes gover-namentais das três esferas, de mandatáriosdo Poder Legislativo, de movimentos sociaise de segmentos culturais da sociedade.
O projeto do Sistema Nacional deCultura é resultado desse processo dedebates e de constituição de um novo marcolegal8 para a área da cultura. Nesse sentido,os argumentos apresentados no documentoEstruturação, Institucionalização e Implementaçãodo Sistema Nacional de Cultura (MINC, 2011)alegam que se trata de uma políticaestruturante do campo, uma política deEstado, que se pretende mais resistente às
RSP
43Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
alternâncias democráticas de poder e garan-tidora dos direitos culturais.
Em suma, os direitos culturais têmcaracterísticas mistas; são simultanea-mente civis, políticos, econômicos esociais; subvertem as classificaçõesrígidas e adquirem estatuto próprio; enecessitam, para efetivar-se, da açãocompartilhada de indivíduos, comuni-dades e Estado.
Essa constatação leva a concluir quesão múltiplas e complexas as ações queenvolvem a implantação de um SistemaNacional de Cultura. Não se trata decolocar uma “camisa de força” nacultura, como pensam críticos isolados,mas de fortalecer a política pública decultura. De fato, a criatividade humanaé livre e dinâmica, como demonstra aexistência mesma da História, e nãocabe ao Estado dirigir seus passos.No entanto, há atribuições que oEstado, objetivamente, tem de cumprir:(1) assegurar que a liberdade de criarnão sofra impedimentos; (2) garantiraos criadores as condições materiaispara criar e usufruir dos benefíciosresultantes das obras que produzem;(3) universalizar o acesso de todos oscidadãos aos bens da cultura; (4) pro-teger e promover as identidades e adiversidade cultural; e (5) estimular ointercâmbio cultural nacional e interna-cional (MINC, 2011, p.16).
Assim, o sistema idealizado tem duplafunção; é ao mesmo tempo uma políticapública nacional e um modelo de gestãocompartilhada, tal como o Sistema Únicode Saúde e o Sistema Único de AssistênciaSocial. Conforme o documento, o SNC foiconcebido com um arranjo institucional
que possibilite articulação e pactuação dasrelações intergovernamentais, com instân-cias de participação e controle social, demodo a viabilizar implementação de polí-ticas culturais em todo território nacional.De acordo com a proposta, a “essência”do sistema é a coordenação e cooperação entreos entes da federação, para que se tenhaeconomicidade, eficiência, eficácia, equi-dade e efetividade na aplicação dos recursospúblicos.
O SNC tem como objetivo geral“Formular e implantar políticas públicasde cultura, democráticas e permanentes,pactuadas entre os entes da federação e asociedade civil, promovendo o desenvol-vimento – humano, social e econômico –com pleno exercício dos direitos culturaise acesso aos bens e serviços culturais”(MINC, 2011, p. 42). É constituído pelosseguintes elementos: órgãos gestores da cul-tura, conselhos de política cultural, confe-rências de cultura, sistemas de financiamento(com fundos de fomento à cultura), planosde cultura, sistemas setoriais de cultura,comissões intergestores tripartite e bipartite,sistemas de informações e indicadoresculturais e programas de formação na áreada cultura. Estrutura e componentesbastante similares aos do SUS.
Sua configuração comporta a integra-ção dos sistemas municipais, estaduais edistrital de cultura, e dos sistemas setoriais(de bibliotecas, museus, patrimônio etc.), àmedida que forem criados (ou reformu-lados) dentro dos parâmetros previstos naproposta. Desse modo, conforme o docu-mento do SNC, todos os sistemas de cultura(estaduais e municipais) devem seguir,balizados pelas condições e pertinência, omesmo desenho, ou seja, ter os mesmos ele-mentos constitutivos do sistema nacional.A adoção de um padrão de estrutura simi-lar em todos os níveis governamentais pode
RSP
44 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
ser explicada como estratégia para garantira existência dos fóruns, instrumentos ecanais necessários para facilitar o diálogopolítico e o fluxo de programas e recursosrelativos às políticas de cultura. Comodefesa ao questionamento da uniformi-zação, que se estaria pondo a “cultura”numa “camisa de força”, argumenta-se queo conteúdo da política pública local seráconstruído principalmente pelas instânciasde negociação e pactuação – entre governo
e sociedade – previstas no sistema muni-cipal, em consonância com a políticaestadual e nacional. Essa lógica de cons-trução das políticas culturais asseguraria amanifestação da diversidade culturalexistente no território do País.
O diagrama seguinte, reproduzido dodocumento Estruturação, Institucionalização eImplementação do Sistema Nacional de Cultura(MINC, 2011, p. 45), pode ajudar na com-preensão da arquitetura estruturada.
Figura 1: Sistema Nacional de Cultura
Fonte: MINC, 2011.
ComissãoIntergestores
TripartitePrograma
Nacional deFormação na Área
da Cultura
SistemasNacionais Setoriais
de Cultura
Sistema Nacional deCultura
Ministério daCulturaConferência
Nacional deCultura
PlanoNacional de
Cultura
SistemaNacional de Infor-
mações e IndicadoresCulturais
ConselhoNacional de
Política Cultural
Sistema Nacionalde Financiamento
à Cultura
RSP
45Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
ComissãoIntergestores
BipartitePrograma
Estadual deFormação na
Área da Cultura
Sistema Estadualde Cultura
ConferênciaEstadual de
Cultura
PlanoEstadual de
Cultura
ConselhoEstadual de
Política Cultural
Secretaria Estadualde Cultura
SistemaEstadual de Infor-mações e Indica-dores Culturais
SistemasEstaduais Setoriais
de Cultura
Fonte: MINC, 2011.
Figura 2: Sistema Estadual de Cultura
Sistema Estadualde Financiamento
à Cultura
SecretariaMunicipalde Cultura
SistemasMunicipais Setoriais
de Cultura
SistemaMunicipal de Infor-mações e Indica-dores Culturais
PlanoMunicipal de
Cultura
ConferênciaMunicipal de
Cultura
ConselhoMunicipal de
Política Cultural
SistemaMunicipal de
Financiamento àCultura
ProgramaMunicipal de
FormaçãoCultural
Sistema Municipalde Cultura
Fonte: MINC, 2011.
Figura 3: Sistema Municipal de Cultura
RSP
46 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
Posto que uma das finalidades dapolítica pública Sistema Nacional de Culturaé justamente articular a cooperaçãointergovernamental, verifica-se que seurecorte territorial é o federativo. Por isso,vai se utilizar de mecanismos de indução àconstituição de sistemas distrital, estaduaise municipais, com aparato institucional quepossibilite o estabelecimento de relaçõesde colaboração entre os governos demesma estatura jurisdicional e entredistintos níveis federativos.
Tal como no SUS, estão previstos naestrutura do SNC espaços institucio-nalizados de articulação, pactuação edeliberação para construção de políticaspúblicas de cultura, de forma comparti-lhada entre Estado e sociedade. As prin-cipais instâncias de participação social sãoas conferências de cultura e os conselhosde política cultural, nos quais devem sernegociadas e deliberadas as diretrizes daspolíticas públicas para o setor. Os conse-lhos são de caráter permanente e ambi-ciona-se que tenham como uma de suasprincipais atribuições a formulação deestratégias e diretrizes para a alocação derecursos das políticas públicas de cultura,além de ter o papel de controle da execuçãodessas políticas.
Dessa configuração complexa, o queinteressa para esse trabalho, nesse momento,são as comissões intergestores tripartite(com representação federal, estadual emunicipal) e bipartites (com representaçãoestadual e municipal), por igualmente seremespaços de concertação e de estabelecimentode acordos, porém com a especificidade dese tratar de fóruns de pactuaçãointerfederativa das ações governamentais, noque tange aos aspectos operacionais dagestão do sistema. Essas arenas portam aparticularidade de possibilitarem o diálogopermanente intergovernamental, essencial
para a tomada de compromissos politica-mente negociados no âmbito do SistemaNacional de Cultura, constituindo-se, dessemodo, como um dos principais mecanismosde coordenação e cooperação federativadessa arquitetura institucional. A ideia dascomissões intergestores foi uma das grandescontribuições do SUS para a condução deum trabalho intergovernamental.
Importa também saber que a gestão ecoordenação do SNC, na esfera nacional,competem ao Ministério da Cultura, e nosoutros níveis de governo, às secretariasestaduais (distrital) e municipais de culturaou equivalentes. São esses elementos insti-tucionais combinados que pretendempermitir a regulação federal, por meio daconstrução das regras de funcionamento dosistema. Nesse sentido, verificam-se sinaisde uma política regulada, nos termos deArretche (2010), uma vez que a autoridadecentral é responsável pela formulação (emacordos negociados com a representação dasunidades subnacionais) do que vai ser exe-cutado pela autoridade local, dentro dosparâmetros normatizados. Além disso,caberá ao governo federal controlar a prin-cipal fonte de financiamento e os meca-nismos de coordenação intergovernamentaldo SNC. Fatores que afetam fortemente asdecisões dos governos subnacionais, deacordo com Arretche (2010).
Observa-se, portanto, que o arranjoinstitucional intergovernamental projetadona proposta do SNC – à semelhança doSUS – contempla a descentralização depolíticas públicas a estados e municípios,de forma regulamentada e sob a supervisãodo governo federal. Esse aspecto é refor-çado pelos instrumentos de gestãoprevistos para todos os entes federados queaderirem ao SNC: planos e orçamentos decultura, relatórios de gestão e sistemas deinformações e indicadores culturais. Os
RSP
47Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
planos nacional, estaduais e municipais decultura visam a estabelecer planejamentosdecenais de políticas públicas que sejamconvergentes ou que tenham pontos decontato potencializadores dos esforços erecursos. O planejamento orçamentário(com suas peças: Planejamento Plurianual(PPA) –, Lei de Diretrizes Orçamentárias(LDO) e Lei Orçamentária Anual – LOA)seria a “ferramenta” de tradução dos planosde cultura de modo a expressar a projeçãodas receitas e autorizar os limites de gastosnos programas e ações culturais propostos.Quanto aos sistemas de informações erelatórios de gestão, são instrumentos deapoio ao controle e supervisão.
Desde 2010, a adesão ao SistemaNacional de Cultura tem sido por meio daassinatura de Acordos de CooperaçãoFederativa9, nos quais o governante domunicípio ou estado assume o compro-misso, sobretudo, de criar, coordenar edesenvolver o Sistema Municipal/Estadualde Cultura, com os componentes previstosna arquitetura do sistema, especialmente oconselho de política cultural, o plano decultura e o fundo de cultura (o “CPF”,como ficou conhecido). E ao Ministérioda Cultura compete, entre outras obriga-ções, criar condições de natureza legal,administrativa, participativa e orçamentáriapara o desenvolvimento do SistemaNacional de Cultura. Além disso, compro-mete-se a compartilhar recursos paraexecução de programas, projetos e açõesculturais, relativos ao SNC, bem como aapoiar os estados e municípios em outrosquesitos, como na formação de gestores eagentes de cultura, na realização das confe-rências de cultura, e na própria criação eimplementação dos sistemas subnacionais.
O processo de adesão é voluntárioposto que os entes da federação têm auto-nomia político-administrativa, mas, assim
como no SUS, os mecanismos de induçãodesenhados se utilizam da estratégia deexplorar as relações de dependência entreos níveis governamentais, talhadas pelomodelo do federalismo brasileiro vigente.Entretanto, no caso da cultura, a pasta nãoconta ainda com recursos financeiros vigo-rosos e nem com uma estabilidadeorçamentária, que lhe permita fazer dosrepasses de recursos um grande trunfo paraa coordenação das políticas dos entessubnacionais (GONÇALVES et alii., 2008).Pode-se inferir que é especialmente aexpectativa de mudança nesse campo quetem sido a força motriz das adesões. Ouseja, há o reconhecimento de que o poderde coordenação está com a autoridadecentral, que é quem poderá fazer repassede recursos para as políticas acordadas nosplanos de cultura.
A proposta do SNC, nesse sentido,também postula a reformulação do FundoNacional de Cultura para que ele seja oprincipal mecanismo de financiamentodas políticas públicas de cultura. Para isso,é preciso que o fundo tenha um formatoque possibilite realizar transações fundo(nacional) a fundo (estaduais e muni-cipais). Assim, está em tramitação no Con-gresso Nacional o Projeto de Lei no 6.722/2010, referente ao Programa Nacional deFomento e Incentivo à Cultura (Procul-tura), que pretende corrigir as distorçõesidentificadas na Lei Rouanet, e tambémdispõe sobre a montagem de um esquemade repasse de recursos do Fundo Nacionalde Cultura para Estados, Distrito Federale Municípios. Os governos estaduais emunicipais terão que aportar recursospróprios aos seus respectivos fundos decultura, de modo que esses fundos possamse tornar peças centrais do sistema decofinanciamento das políticas públicasde cultura.
RSP
48 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
Além disso, há a Proposta de EmendaConstitucional no 150/2003, que tem comoprincipal objetivo designar recursos finan-ceiros à cultura com vinculação orçamen-tária. Busca-se, desse modo, criar condiçõespara o estabelecimento de transferênciasregulares condicionadas ao cumprimento dasregras de uso dos recursos nos programase ações culturais definidos nos planos decultura. Trata-se, portanto, de normas quebuscam vincular o gasto de recursos finan-ceiros públicos a políticas específicas.Nesse sentido, esse mecanismo seria maisum aparato institucional que caracterizariao SNC como uma política regulada, umavez que, para Arretche:
“Regras que vinculam as receitas dosgovernos subnacionais ao gasto empolíticas específicas são um compo-nente central das políticas federais deregulação das políticas descentrali-zadas. Estas limitam a autonomiadecisória das unidades constituintescom relação à alocação de seuspróprios recursos.” (2010, p. 602).
No que diz respeito à questão queenvolve o tema limitação da autoridade localna tomada de decisão sobre o gasto, o cenárioatual, no qual há total autonomia alocativados governantes estaduais e municipais nocampo das políticas culturais, é de assom-brosas desigualdades inter e intraestaduais,mesmo em se tratando de direitosconstitucionalizados. Como consequência,não é igual territorialmente o acesso da po-pulação a políticas públicas desse setor.Nesse sentido, a área da cultura, por nãoter políticas reguladas, não é prioridade paraa autoridade local na alocação de recursose tampouco na provisão de serviços. E,como ainda não há mecanismos deatrelamento que constranjam o Poder
Executivo local a cumprir “patamares degasto e modalidades de execução das polí-ticas” (ARRETCHE, 2010, p 603), os direitosculturais não estão assegurados a todos osbrasileiros.
Ademais, esse modelo de gestão –análogo ao SUS –, que se realiza principal-mente pelo estabelecimento de relaçõescoordenadas e cooperativas entre a União,os Estados, o Distrito Federal e os Municí-pios, permitiria superar os limites impostospelos instrumentos atuais de colaboração– convênios e contratos –, simplificandoas relações burocráticas interfederativas.
Considerações finais
A regulação federal é um tema polêmicoque gera demasiadas tensões, pois é inter-pretada por muitos teóricos e atores polí-ticos como uma grande intromissão (atémesmo intervenção) do governo federal nosassuntos das outras unidades constituintesda Federação. O que estaria em jogo, oumelhor, supostamente ameaçada seria aautonomia política dos governos subna-cionais frente à autoridade central. Porém,há outras leituras possíveis, como a de quea regulação federal da descentralização deresponsabilidades na condução das políticaspúblicas estaria, na verdade, reforçando umalógica de fortalecimento dos governosestaduais e municipais.
Em meio a essas controvérsias, o quepode ser verificado, segundo a análisecomparativa realizada por Arretche (2010)a respeito das políticas públicas descentra-lizadas reguladas e não reguladas, é que aspolíticas não reguladas – nas quais a autori-dade local goza de autonomia para tomardecisões sobre a formulação e a execuçãodas políticas – têm resultado num gastomunicipal baixo ou nulo em políticassociais. Esse comportamento-padrão
RSP
49Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
demonstra que, sem constrangimentosexógenos aos municípios, os prefeitos nãocostumam eleger como prioridade aalocação de recursos nas áreas sociais,como saúde e educação, que beneficiamprincipalmente os mais pobres. Pode-sedizer, com base na Munic 2006, queocorre o mesmo comportamento para aárea da cultura.
A autonomia decisória da autoridadelocal assegura-lhe a possibilidade dediscordância da política conduzida pelogoverno central, ou seja, abre espaço paraprojetos políticos divergentes, que tendema aumentar os patamares de desigualdadeno gasto público e na provisão de serviçospúblicos entre os municípios. Emcontraponto, a autoridade regulatóriacentralizada na União permite a adoção demecanismos institucionais que produzemefeitos de convergência sobre os muni-cípios, isto é, adesão a objetivos que visama reduzir desigualdades interjurisdicionais,relativas à atuação estatal no campo dosserviços públicos municipais. Nesse sen-tido, o federalismo brasileiro, como explicaArretche (2010), combinaria duas ten-dências apenas aparentemente contradi-tórias, que seriam o papel regulatório dogoverno central operando no sentido dauniformidade e a autonomia dos governoslocais operando no sentido da divergênciade políticas. É o equilíbrio tenso entre ofator de convergência e as forças diver-gentes, nas relações central-local, que reduzo intervalo de discrepâncias territoriais, noque diz respeito à produção de políticaspúblicas, sobretudo as sociais.
Portanto, para cumprir o disposto noinciso III, art. 3º da Constituição, que fazreferência a um dos objetivos fundamentaisda República Federativa do Brasil,“erradicar a pobreza e a marginalização ereduzir as desigualdades sociais e regionais” (grifo
nosso), compete à União, por meio dogoverno federal, atuar na superação dasdesigualdades interjurisdicionais, coorde-nando a cooperação entre os diversoscentros de governo na produção de polí-ticas públicas, ou seja, exercendo seu papelregulatório e redistributivo.
Assim, a regulação federal no formatoinstitucional SUS tem desempenhado opapel “de ‘amarrar’ subunidades indepen-dentes em torno de um dado objetivonacional” (ARRETCHE, 2010, p. 611). O SUSdesenvolveu mecanismos de enfrenta-mento dos gargalos federativos de modo aaprimorar a implementação de políticaspúblicas federativas e a viabilizar a suagestão. Criaram-se espaços instituciona-lizados de negociação e pactuação, quepossibilitaram a conformação de estraté-gias de coordenação intergovernamental.Os Pactos de Saúde, adotados a partir de2006, são decorrência desse processo, que,sob a compreensão de que se trata de umfederalismo cooperativo, como apresentadopor Franzese (2010), representa umacomposição de autonomia com interdepen-dência e um compartilhamento entregoverno central e governos subnacionaisde compromissos políticos relacionados àpolítica de saúde, decididos conjuntamente.
Poder-se-ia perguntar, a partir de outraperspectiva teórica, se a atual estruturainstitucional do SUS para a tomada dedecisões – que hoje está mais pautada pelapactuação como mecanismo de coorde-nação interfederativa da política de saúde,ou seja, pelo compromisso político entreos gestores, do que pela estratégia deinduzir a tomada de decisões no âmbitoestadual e municipal a partir de incentivosfinanceiros – não configuraria um processodecisório mais matricial entre os entesfederados do que piramidal (centralizadona autoridade no governo central). E se esse
RSP
50 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
entendimento não questionaria apertinência da regulação federal tal comodisposta por Arretche (2010). Entretanto,conforme Arretche (2010), a regulaçãofederal diz respeito ao conjunto da legisla-ção federal sobre as políticas executadaspelas unidades constituintes da federação,à autoridade para supervisionar essas polí-ticas, e à função de redistribuição derecursos entre os entes federados, ou seja,é o governo federal quem controla ofinanciamento e os mecanismos de coorde-nação intergovernamental. Esse aparatoinstitucional exerce constrangimento sobreas decisões dos governos subnacionais.
A leitura acerca do padrão de gasto dosgovernos locais para políticas reguladas e nãoreguladas pode ser estendida, tomando comobase a Munic (2006) e outros levanta-mentos, para as políticas culturais. Nessesentido, em razão de não haver, no campodas políticas públicas de cultura, mecanis-mos institucionais que induzam e regulema execução descentralizada, o painel é deenorme desigualdade no território nacional,com centralização de recursos e ações noSudeste e grande fragmentação de esforçose iniciativas. Juntam-se a esse cenáriodesarticulação e ausência de cooperaçãoentre os entes federados nas ações governa-mentais do campo cultural.
Arranjos institucionais como o pro-posto – com estratégias e instrumentosinterfederativos de planejamento, regulaçãoe cofinanciamento – podem ter efeitospositivos na performance da ação estatal, napromoção ou indução de políticas culturais,tal como demonstrado por Arretche (2010)nas áreas de saúde e educação.
A regulação federal, por meio daimplementação do SNC, portanto, pareceser uma condição para mobilizar e vincularestados e municípios em torno das polí-ticas públicas de cultura. Ademais, o
mecanismo de transferências condicio-nadas de recursos “fundo a fundo”, centralpara o cumprimento pela União do papelde redistribuição de receitas entre as uni-dades subnacionais, tem previsão defuncionar no SNC, tal como no SUS e noSUAS, com base em regras transparentese, por isso, não sujeito a barganhas polí-ticas. Outro aspecto a destacar sobre aproposta de política regulada SNC é o papeldo sistema na redução das desigualdadesfinanceiras, técnicas e de gestão dosgovernos subnacionais, para que tenhamcapacidade de implementar políticaspúblicas de cultura. Uma estratégia proje-tada é a de fortalecimento institucionaldesses governos por meio de programasde formação e de capacitação nessa área.
De qualquer forma, nas políticaspúblicas reguladas, ou seja, em que a Uniãocompromete os governos subnacionais compolíticas específicas, há a autonomia daautoridade local sobre a execução das polí-ticas, assim como sobre a possibilidade dadiscordância e encerramento da cooperação.Ressalta-se que a adesão ao SNC é umaescolha (induzida, é claro, principalmentepela promessa de incentivos financeiros) dogovernante da unidade federada. Além disso,o projeto do SNC prevê instâncias apro-priadas para negociações federativas refe-rentes à implementação e execução daspolíticas culturais, que podem se configurarem espaços de resolução de tensões, pormeio da colaboração e atuação conjunta. Emtese, com os fóruns tripartite de negociação,estados e municípios estão incluídos noprocesso de compartilhamento decisório daFederação. Trata-se, dessa forma, de umacombinação entre regulação federal (regula-mentação e supervisão) e autonomia local(porém pautada por legislação federal).
O Sistema Nacional de Cultura pode,portanto, tornar viável a pactuação – no
RSP
51Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
campo da cultura – da distribuição de com-petências e atribuições pelos três níveis degoverno. A aposta é a de que a concertaçãoadvinda do pacto federativo permitiria aintegração das políticas culturais, quepodem evitar ações atomizadas e super-postas, causadoras de desperdícios devários recursos. Considerando todos essesaspectos, o SNC também pode ser vistocomo uma política estratégica para o desen-volvimento local, articulando-o com oregional e com o nacional.
A atuação federal, via SNC, no que tangeà participação cidadã na gestão da “coisapública”, pretende também instigar oprotagonismo da população do “lugar” paraa definição de suas políticas culturais. Por isso,o município (e/ou estado) deve, ao criar oseu sistema, “reproduzir” o desenho do SNC(dentro da pertinência), principalmente noque se refere às instâncias de articulação,pactuação e deliberação com a sociedade civil.O discurso é que, desse modo, estar-se-ácriando condições para dinamizar a diversi-dade cultural, que é um dos princípios doSistema Nacional de Cultura.
Outra aposta, que diz respeito ao SNCcomo política garantidora de acesso (doexercício dos direitos culturais), por meioda indução dos governantes locais na provi-são de políticas públicas, é possibilitar odesenvolvimento de potencialidadesculturais em todo o Brasil, ou seja, investirno estímulo a interações sócio-culturais,
compreendendo que o contato com o“diferente” é provocador/instigador dequestionamentos e de inquietações. E, porisso, tem potencial de alargamento do hori-zonte de possibilidades dos modos de criar,fazer e viver dos diferentes grupos forma-dores da sociedade brasileira.
Assim, pode-se chegar à conclusão deque a proposta do SNC, por todos os seuscomponentes e instrumentos, enquadra-sena conceituação de política regulada, tal comoo SUS. Com isso, vislumbra-se a possibili-dade de equalizar a oferta de ações quepossam garantir os direitos culturais, cons-tituindo-se em uma forma de reverter asdesigualdades inter e intraestaduais no quetange à promoção de políticas culturais eao seu acesso.
Por fim, arranjos institucionaisintergovernamentais que reforcem ospapéis regulatório e redistributivo dogoverno central, conforme Arretche (2010),parecem ser mecanismos necessários paraobter cooperação entre jurisdições. Nessesentido, o Sistema Nacional de Cultura éapontado como essencial para fortalecer afunção do Estado na institucionalizaçãodas políticas públicas culturais. Portanto, aregulação federal pode ser indispensávelpara induzir a universalização das políticaspúblicas de cultura e, dessa forma, garantira nominada “cidadania cultural”.
(Artigo recebido em janeiro de 2013. Versãofinal em março de 2013).
RSP
52 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
Notas
1 Este artigo é uma versão revisada e ampliada do trabalho “Relações Federativas e ArranjosInstitucionais Intergovernamentais: o Sistema Nacional de Cultura” apresentado (e publicadonos Anais) no VIII ENECULT – Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, promo-vido pelo Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Cult), pelo Programa Multidisciplinarde Pós-Graduação em Cultura e Sociedade–Pós-Cultura, pela Faculdade de Comunicação epelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC), da Universi-dade Federal da Bahia, realizado de 8 a 10 de agosto de 2012.
2 Segundo Franzese (2010), a teoria do federalismo cooperativo, elaborada por MortonGrodzins (1966) e Daniel Elazar (1962), tem sua origem na ideia de federalismo como pacto, efoi apresentada como uma alternativa à abordagem norte-americana do federalismo dual (sepa-ração absoluta de competências), posto que assevera a existência de uma indispensável interaçãoentre as esferas de governo na estrutura federativa, ou seja, “(...) o federalismo não significaapenas a afirmação de autonomia entre os entes, mas uma combinação de autonomia (self rule)com interdependência (shared rule)”. (Franzese, 2010:21-22).
3 A Emenda Constitucional no 71, promulgada no dia 29 de novembro de 2012, institui oSistema Nacional de Cultura. Foi apresentada pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS) em 2005,como Proposta de Emenda Constitucional. A PEC no 416/2005 foi aprovada nos dois turnos daCâmara Federal, no primeiro semestre de 2012, na forma do substitutivo da comissão especial,de relatoria do deputado Paulo Rubem Santiago (PDT-PE), que incorporou em seu texto aconfiguração institucional presente no documento do Ministério da Cultura Estruturação,Institucionalização e Implementação do Sistema Nacional de Cultura. No Senado Federal, já como Pro-posta de Emenda Constitucional no 34/2012, teve como relatora a então senadora Marta Suplicy,que se empenhou para que sua aprovação ocorresse em tempo recorde.
4 A respeito do debate acerca dos direitos culturais dos cidadãos brasileiros presentes naConstituição de 1988, ver Silva (2001), Cunha Filho (2000), Cunha Filho (2011), Mata Machado(2007), Mata Machado (2011).
5 Apesar de 57,9% das administrações municipais terem respondido – à pesquisa Munic(2006) – positivamente acerca da existência de política cultural municipal, esse número deve serrelativizado. Calabre (2009) pondera que é necessário pesquisar e analisar detalhadamente comque conceitos de política cultural atuam as gestões municipais, sob o argumento de que, quandose examina os outros dados relacionados, verifica-se percentual alto de ausência de estruturaespecífica para a gestão municipal na área da cultura. Situação que inviabilizaria a implementaçãode políticas para o setor. Por isso, para Calabre (2009), haveria uma confusão conceitual, na qualos gestores estariam considerando como política cultural um somatório de ações implementadasde maneira dispersa, não planejada, sem relação entre si e de alcance limitado.
6 O Pacto pela Saúde foi publicado na Portaria do Ministério da Saúde GM/MS nº399, de22 de fevereiro de 2006. É mais uma forma de consolidação do SUS por meio de um conjuntode reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípi-os), em que a implementação do Pacto pela Saúde ocorre pela adesão de Municípios, Estados eUnião ao Termo de Compromisso de Gestão (TCG), que substitui os processos anteriores dehabilitação e estabelece metas e compromissos para cada ente da Federação, e que deve serrenovado anualmente (conforme informação na página do Ministério da Saúde http://portal.saude.gov.br/portal/saude/ profissional/ area.cfm?id_area=1021, acesso em 11 de janeiro de2013).
RSP
53Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
7 Caberia uma análise detalhada das políticas voltadas ao patrimônio, aos museus e às bibli-otecas públicas para melhor identificação; porém, esses setores não são objeto deste estudo.Entretanto, suas políticas possuem arranjos sistêmicos, que foram desenvolvidos ou fortaleci-dos institucionalmente a partir da metade da década passada, isto é, dentro do contexto dereestruturação das políticas culturais federais.
8 Há ainda: o Plano Nacional de Cultura (Lei no 12.343/2010); o Programa Nacional deFomento e Incentivo à Cultura (ProCultura) – Projeto de Lei no 6.722/2010 –, que inclui oredesenho institucional do Fundo Nacional de Cultura; o projeto de vinculação de recursos para acultura (Proposta de Emenda Parlamentar – PEC no 150/2003); a inserção da cultura como direitosocial no art. 6o da Constituição (PEC no 49/2001); a proposta de revisão da Lei de DireitoAutoral; entre outros projetos.
9 Até 7 de janeiro de 2013, foram realizados acordos de cooperação federativa com 23estados da Federação (incluindo o Distrito Federal), o que representa 85,2% do universo, e com1.411 municípios, 25,4% dos 5.564 entes federados municipais.
Referências bibliográficas
ABRUCIO, Fernando L. A coordenação federativa no Brasil: a experiência do período FHCe os desafios do Governo Lula. Revista de Sociologia e Política, no 24, p. 41-67, junho 2005.
ALMEIDA, Maria Hermínia T. de. Recentralizando a federação. Revista de Sociologia e Políti-ca. no 24, p. 29-40, junho 2005.
ARRETCHE, Marta. Relações Federativas nas Políticas Sociais. Educ. Soc., Campinas, v.23, no 80, , p. 25-48, setembro/2002. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br.
. Financiamento federal e gestão local de políticas sociais: o difícil equilí-brio entre regulação, responsabilidade e autonomia. Ciência e Saúde Coletiva, v. 8, no 2, p.331-345, 2003.
. Federalismo e Políticas Sociais no Brasil: problemas de coordenação eautonomia. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 18, no 2, p. 17-26, 2004.
. Quem Taxa e Quem Gasta: a barganha federativa na federação brasileira.Revista de Sociologia Política, Curitiba, 24, p. 69-85, jun. 2005.
. Federalismo e Igualdade Territorial: Uma Contradição em Termos?Revistade Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 53, p. 587-620, 2010.BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 5 deoutubro de 1988. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2006.
. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm.BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito in: BUCCI, MariaPaula Dallari. Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006.
CALABRE, Lia. Gestão Cultural Municipal na Contemporaneidade. In: Calabre, Lia(org.). Políticas Culturais: reflexões e ações. São Paulo: Itaú Cultural; Rio de Janeiro: Fun-dação Casa de Rui Barbosa, 2009.
RSP
54 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
. Políticas Culturais no Brasil: História e Contemporaneidade. Coleção Tex-tos Nômades no 2. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2010.CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos Culturais como Direitos Fundamentais noOrdenamento Jurídico Brasileiro. 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica - DF, 2000.
. Federalismo Cultural e Sistema Nacional de Cultura. Fortaleza: Editora UFC, 2010. . Direitos Culturais no Brasil. Revista Observatório Itaú Cultural, v. 11, p.
115-126, 2011.FRANZESE, Cibele; ABRUCIO, Fernando L. A combinação entre federalismo e políticas públi-cas no Brasil pós-1988: os resultados nas áreas de saúde, assistência social e educação.Caderno EIAPP – Reflexões para Ibero- América: Avaliação de Programas Sociais. Brasília: ENAP,p. 25-42, 2009.
FRANZESE, Cibele. Federalismo Cooperativo no Brasil: da Constituição de 1988 aos Sistemas dePolíticas Públicas. 2010. 210 f. Tese (Doutorado em Administração Pública e Governo) -Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getulio Vargas. São Paulo.
GONÇALVES, Renata da R.; LOTTA, Gabriela S.; BITELMAN, Marina F. A CoordenaçãoFederativa de Políticas Públicas Duas Décadas Após a Constituição Federal de 1988.ENAPG, 2008.
GUERREIRO, Jória Viana; BRANCO, Maria Alice Fernandes. Dos pactos políticos à políticados pactos na saúde. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, Mar. 2011. Dispo-nível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232011000300006&lng=en&nrm=iso>. acesso em 16 nov. 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232011000300006.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa de Informações BásicasMunicipais. Perfil dos Municípios Brasileiros 2006 (Munic). Suplemento de Cultura. Riode Janeiro: IBGE, 2007.
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Políticas Sociais – acompanhamentoe análise no 16, 129-154, nov. 2008.
LIMA, Luciana Dias de et al . Descentralização e regionalização: dinâmica e condicionantes daimplantação do Pacto pela Saúde no Brasil. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 7, jul.2012. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext& pid=S1413-81232012000700030&lng=pt&nrm=iso>. acesso em 23 out. 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000700030.
MATA MACHADO, Bernardo Novais da. Direitos Humanos e Direitos Culturais. 2007. Dispo-nível em <http://www.direitoecultura.com.br/wp-content/uploads/Direitos-Humanos-e-Direitos-Culturais-Bernardo-Novais-da-Mata-Machado.pdf>. acesso em 6 de novembrode 2012.
. Os direitos culturais na Constituição brasileira: uma análise conceitual epolítica. In: Calabre, Lia (org.). Políticas culturais: teoria e práxis. São Paulo: Itaú Cultural;Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2011.MENDES, Constantino Cronemberger. O Federalismo no Brasil: pesquisas, estudos ereflexões do IPEA. Boletim de Análise Político-Institucional. Instituto de Pesquisa EconômicaAplicada. – n.1, 55-58. Brasília: Ipea, 2011.
RSP
55Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
MINISTÉRIO DA CULTURA. 1a Conferência Nacional de Cultura / 2005-2006: Estado e Socie-dade Construindo Políticas Públicas de Cultura. Brasília: Ministério da Cultura, 2006a.
. Oficinas do Sistema Nacional de Cultura. Brasília: Ministério da Cultura,2006b.
. Política Cultural no Brasil, 2002-2006: acompanhamento e análise. FredericoA. Barbosa da Silva, autor. Brasília: Ministério da Cultura, 2007.
. Plano Nacional de Cultura: Diretrizes Gerais.2ª Ed.. Brasília: Ministério daCultura, 2008.
. “Conferindo os Conformes”: Resultados da II Conferência Nacional de Cultura.Brasília, 2010.
. Estruturação, Institucionalização e Implementação do Sistema Nacional de Cultura.Conselho Nacional de Política Cultural. Secretaria de Articulação Institucional – SAI.Coordenação Geral de Relações Federativas e Sociedade.. Dezembro, 2011.MINISTÉRIO DA CULTURA; FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES (FUNARTE). Cultura em Números –Anuário de Estatísticas Culturais 2009. Brasília: Minc, 2009.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL). Série Pensando oDireito – Federalismo – no 13/2009 – versão integral. Universidade PresbiterianaMackenzie. Faculdade de Direito. TAVARES, André Ramos et al (Coord. Acad.). Brasília:Ministério da Justiça, 2009, 145 p.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABC do SUS: doutrinas e princípios. Brasília: Ministério da Saúde,1990.
. Descentralização das ações e serviços de saúde: a ousadia de cumprir e fazercumprir a Lei. NOB 01/93. Brasília: Ministério da Saúde; 1993.
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. Política Nacional de AssistênciaSocial: PNAS/2004 – Norma Operacional Básica: NOB/SUAS. Brasília: MDS, 2004.
OBINGER, Herbert, LEIBFRIED, Stephan e CASTLES, Francis G. (eds.). Federalism and the WelfareState. New World and European Experiences. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
PAIM, Jairnilson Silva. TEIXEIRA, Carmen Fontes. Configuração institucional e gestão doSistema Único de Saúde: problemas e desafios. Ciência & Saúde Coletiva, 12(Sup),p. 1819-1829, 2007.
RAZIN, Eran. Introduction: Deconcentration of Economic Activities Within MetropolitanRegions: A Qualitative Framework for Cross-national Comparison. In RAZIN, Eran et alii(eds.). Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas. Toronto: Springer, 2007.p. 1-28.
SILVA, José Afonso da. Ordenação Constitucional da Cultura. São Paulo: Malheiros Editores,2001.
SELLERS, Jefferey M. e LIDSTRÖM, Anders. Decentralization, Local Government, and theWelfare State. Governance, vol. 20, no 4, p.609-632, 2007.
SOUZA, Celina. Federalismo, Desenho Constitucional e Instituições Federativas no Brasilpós-1988. Revista de Sociologia Política, Curitiba, 24, p. 105-121, jun. 2005.
TREVISAN LN, JUNQUEIRA LAP. Construindo o ‘pacto de gestão’ do SUS: da descentralizaçãotutelada à gestão em rede. Revista Ciência e Saúde Coletiva,123(4), p. 893-902, 2007.
RSP
56 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
ZIMBRÃO DA SILVA, Adélia C. SUS: avanços e obstáculos no processo de descentralização ecoordenação intergovernamental. Revista do Serviço Público, Brasília: ENAP, 55(4), p. 67-70,2004.
. As Relações Federativas e o Sistema Único de Assistência Social, 2006,ENAP, mimeo.
. Sistemas nacionais na área de gestão pública: a construção do SistemaNacional de Cultura. In: Anais do II Congresso Consad de Gestão Pública, 6, 7 e 8 de maio de2009, Brasília, (http://www.consad.org.br/sites/1500/1504/00001338.pdf).
RSP
57Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Adélia Zimbrão
Resumo – Resumen – Abstract
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura comoarranjo institucional de coordenação e cooperação intergovernamentalAdélia Zimbrão
Este texto tem o objetivo de analisar o projeto do Sistema Nacional de Cultura balizado porquestões referentes às relações federativas e à descentralização de políticas públicas. Para esseintento, toma como base a conceituação política regulada e não regulada, elaborada por Marta Arretchepara distinguir relações intergovernamentais central-local atinentes à autoridade sobre a formu-lação e sobre a execução de políticas públicas. Examina-se a configuração institucional de articu-lação e compartilhamento interfederativo de políticas públicas de cultura presente na propostadessa política cultural, tendo como referência o Sistema Único de Saúde. Arranjos com meca-nismos institucionais que induzam e regulem a execução descentralizada, como o proposto noSistema Nacional de Cultura, parecem ser uma condição para mobilizar e vincular estados e muni-cípios em torno das políticas públicas de cultura. A aposta é de que espaços institucionalizados denegociação e pactuação podem proporcionar melhorias no diálogo e na cooperação entre os entesfederados, para o desenvolvimento de ações governamentais na área cultural.
Palavras-chave: Políticas públicas de cultura; Sistema Nacional de Cultura; relações federativas
Relaciones Federativas y Política Pública: Sistema Nacional de Cultura como me-canismo institucional de coordinación y cooperación intergubernamentalAdélia Zimbrão
Este texto tiene como objetivo analizar el Proyecto del Sistema Nacional de Cultura demar-cado por cuestiones relativas a relaciones federales y la descentralización de las políticas públi-cas. Para esto, se basa en los conceptos de política regulado y no regulado, elaborados por MartaArretche para distinguir relaciones centro-localidades intergubernamentales relacionadas con laautoridad en la formulación y la implementación de políticas públicas. Examina la configuracióninstitucional de articulación interfederativo y el intercambio de las políticas culturales públicasen el diseño de esta política cultural, teniendo como referencia el Sistema Nacional de Salud.Configuraciones con mecanismos institucionales que inducen y regulan la ejecución descentra-lizada, como se propone en el Proyecto Sistema Nacional de Cultura, parece ser una condiciónpara movilizar y unir los estados y municipios alrededor de las políticas públicas de la cultura. Laapuesta es que los espacios institucionalizados de negociación y el acuerdo puedan proporcio-nar mejoras en el diálogo y en la cooperación entre las entidades federativas, para el desarrollode las acciones gubernamentales en el área cultural.
Palabras clave: Políticas públicas de cultura; Sistema Nacional de Cultura; RelacionesFederativas
Federative Relations and Public Policy: National Culture System as institutionalarrangement for coordination and intergovernmental cooperationAdélia Zimbrão
This article analyzes the National Culture System project focusing on questions on federativerelations and decentralization of public policies, in particular on the relationships between cen-tral, state and local administrations, as they deal with the elaboration and implementation of
RSP
58 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 31-58 jan/mar 2013
Políticas públicas e relações federativas: o Sistema Nacional de Cultura como arranjo institucionalde coordenação e cooperação intergovernamental
public policies. For this purpose, we rely on the concepts of regulated and unregulated policiesformulated by Marta Arretche. In examining such processes and mechanisms, comparisons withits analogue, the National Health System appears to be relevant. Institutional arrangements thatinduce and regulate decentralized execution, as proposed in the National Culture System, facilitatesthe mobilization of the public actors involved, strengthening the ties between them around thepublic cultural policies. The main idea is that the creation of institutionalized spaces of negotiationand agreement may bring dialogue and cooperation among federal entities for the developmentof governmental actions in the cultural area.
Keywords: Cultural Public Policies; National Culture System; Federative Relations
Adélia Cristina Zimbrão da Silva
Graduada em Psicologia (UERJ), especialista (lato sensu) em Sociologia Urbana (UERJ) e Mestre em Administração Pública(EBAP/FGV). Integra a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Ministério do Planeja-mento, Orçamento e Gestão, em exercício na Fundação Casa de Rui Barbosa. Contato: [email protected]
RSP
59Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
Alinhando o modelo, o método deimplementação e a prática
de gestão do conhecimento (GC): ocaso do Repositório do Conhecimento
do Instituto de Pesquisa EconômicaAplicada (RCIpea)
Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
Introdução
Entre as decisões mais importantes para o êxito da implementação da gestão
do conhecimento (GC) nas organizações, encontram-se as escolhas do modelo,
do método de implementação e das práticas mais adequadas para alcançar os
resultados esperados com a iniciativa.
Organizações públicas brasileiras vêm adotando modelos distintos no momento
de implementar GC (BARBOSA, 2011 e ALVARENGA NETO e VIEIRA, 2011). O objetivo
deste artigo é analisar como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
implementou de forma alinhada um modelo, um método e uma prática de gestão
do conhecimento (GC). O referencial teórico utilizado é o Modelo de Gestão do
Conhecimento para a Administração Pública Brasileira, construído por um dos
autores deste trabalho após a realização de uma revisão sistemática da literatura
sobre modelos de GC na administração pública (BATISTA, 2012).
Além dessa introdução, este artigo é composto de três seções. Na primeira,
“Modelo teórico e conceitual de gestão do conhecimento (GC)”, definimos
RSP
60 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento: o caso do Repositório doConhecimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea)
conceitos, apresentamos o referencialteórico e detalhamos o Modelo de Gestãodo Conhecimento para a AdministraçãoPública Brasileira – proposto e adotadopelo Instituto de Pesquisa EconômicaAplicada (Ipea). Em seguida, descrevemoso roteiro para a elaboração do plano deGC utilizado pela instituição.
Na segunda seção, “Implementação dagestão do conhecimento no Ipea”,apresentamos o perfil organizacional do Ipeae analisamos como a fundação elaborou eimplementou o projeto RCIpea com baseno modelo e no roteiro escolhidos.
Finalmente, na terceira e última seção,“Considerações finais”, destacamos osresultados da implementação da gestão doconhecimento para a instituição.
Modelo teórico e conceitualde gestão do conhecimento (GC)
Para uma melhor compreensão,apresentamos, a seguir, algumas definiçõesde conceitos importantes adotadas nestetrabalho e extraídas da literatura sobre GC:
i) Gestão do conhecimento na administração pública brasileira:
“(...) um método integrado de criar,compartilhar e aplicar o conhecimentopara aumentar a eficiência; melhorar aqualidade e a efetividade social; econtribuir para a legalidade, impessoa-lidade, moralidade e publicidade naadministração pública e para odesenvolvimento brasileiro.” (BATISTA,2012, p. 49)
ii) Conhecimento:
“(...) uma mistura fluida de expe-riência condensada, valores, informação
contextual e insight experimentado, a qualproporciona uma infraestrutura paraavaliação e incorporação de novasexperiências e informações. Ele temorigem e é aplicado na mente dosconhecedores. Nas organizações, elecostuma estar embutido não só emdocumentos ou repositórios, mastambém nas rotinas, processos, práticase normas organizacionais.” (DAVENPORT
e PRUSAK, 1998, p. 5)
iii) Conhecimento tácito:
“(...) é altamente pessoal e difícilde formalizar, sendo difícil de sercomunicado ou compartilhado comoutros. Insights subjetivos, intuiçõese dicas integram esta categoria deconhecimento. Além disso, conheci-mento tácito é profundamente enrai-zado na ação e experiência doindivíduo, assim como nos ideais,valores ou emoções abraçados porele ou ela.” (NONAKA e TAKEUCHI,1995, p. 8)
iv) Conhecimento explícito:
“(...) pode ser expresso em palavrase números, e facilmente comunicadoe compartilhado na forma de dados,fórmulas científicas, procedimentoscodificados ou princípios universais (...)pode ser facilmente ‘processado’ porum computador, transmitidoeletronicamente ou armazenado embanco de dados.” (NONAKA eTAKEUCHI, 1995, pp. 8-9)
v) Repositório do conhecimento:
“Repositórios do conhecimentosão normalmente tipos de intranets ou
RSP
61Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
portais que servem para preservar,gerenciar e alavancar a memóriaorganizacional (...) Há vários tiposdiferentes de repositóriosdo conhecimento utilizado hoje (...)eles podem ser classificados demaneiras diferentes. Em geral, umrepositório de conhecimento conterámais do que documentos (sistema degestão de documentos), dados(banco de dados), ou registros(sistema de gestão de registros).Um repositório do conhecimentoconterá conhecimento valioso queé uma mistura de conhecimentotácito e explícito, baseado nasexperiências únicas dos indivíduosque são ou foram parte daquelacompanhia, assim como o Know-how que tem sido tentado, testadoe demonstrado como bem sucedidoem situações de trabalho.” (DALKIR,2011, pp. 213-214)
Ao realizar uma revisão sistemática daliteratura sobre modelos de GC na obra“Modelo de GC para a AdministraçãoPública (AP) Brasileira”, Batista concluique: i) há poucos estudos que propõemmodelos específicos para a AP (SALAVATI,SHAFEI e SHAGHAYEGH, 2010 eMONAVVARIAN e KASAEI, 2007); ii) é muitofrequente encontrar estudos de caso nosquais os autores utilizam modelos jáexistentes; iii) são escassos os trabalhospropondo modelos de GC holísticos eespecíficos para a AP; e iv) até os poucosmodelos de GC para a AP não apresentamcontribuições relevantes para aimplementação da GC na AP brasileira(BATISTA, 2012).
À luz da revisão de literatura e baseadoem modelos, instrumentos de avaliação eroteiros de implementação da GC
utilizados na AP, Batista constrói e propõeo Modelo de GC para a AP Brasileira(SALAVATI, SHAFEI e SHAGHAYEGH, 2010;FONSECA, 2006; INSTRUMENTO PARA AAVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, CICLO
2010; APO, 2009; OECD, 2003; THE KNOW
NETWORK, 2011; EUROPEAN KM FORUM,2001; HEISIG, 2009, entre outros).
As seguintes características dessemodelo, entre outras, levaram o Ipea aadotá-lo: i) simplicidade; ii) praticidade;
iii) definição clara, objetiva e contextua-lizada de GC para a AP; iv) sólida funda-mentação teórica; v) relevância e utilidadepara a AP; vi) contempla fatores críticosde sucesso; e vi) manual de implemen-tação de GC que acompanha a obra(BATISTA, 2012).
Passamos, a seguir, a descrever essemodelo.
“... oconhecimentotácito pode serexplicitado eincluído norepositório pormeio de vídeoscom narrativas,compartilhamentode liçõesaprendidas e demelhorespráticas”
RSP
62 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento: o caso do Repositório doConhecimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea)
Modelo de Gestão do Conheci-mento para a AdministraçãoPública Brasileira
A Figura 1 mostra os seis compo-nentes do Modelo de Gestão do Conheci-mento para a Administração PúblicaBrasileira proposto e utilizado pelo Ipea:i) direcionadores estratégicos: visão,missão, objetivos estratégicos, estratégiase metas; ii) viabilizadores: liderança,tecnologia, pessoas e processos; iii) ciclode GC: identificar, criar, armazenar, com-partilhar e aplicar; iv) ciclo KDCA;v) resultados de GC; e vi) partes interes-sadas: cidadão-usuário e sociedade(BATISTA, 2012).
O modelo foi construído com base noscomponentes identificados na revisão daliteratura sobre modelos de GC e nosmodelos, instrumentos de avaliação eroteiros de implementação de GC utilizadospor organizações públicas (BATISTA, 2012).
Os direcionadores estratégicos, isto é,a visão de futuro, a missão institucional,os objetivos estratégicos e as metas, são oprimeiro componente e servem defundamento para o modelo. É essencialpara êxito da iniciativa alinhar a Gestão doConhecimento (GC) com tais direcio-nadores. Assim, a GC servirá como instru-mento para alcançar os resultadosorganizacionais (BATISTA, 2012).
Os fatores críticos de sucesso ou viabili-zadores da GC constituem o segundo compo-nente do modelo. São eles: i) liderança;ii) tecnologia; iii) pessoas; e iv) processos(BATISTA, 2012).
O terceiro componente do Modelo deGC para a Administração Pública Brasileiraé o processo de GC. Para mobilizar demaneira sistemática o conhecimento paraalcançar os objetivos organizacionais, cincoatividades do processo de GC sãonecessárias: identificar, criar, armazenar,
Fonte: BATISTA, 2012.
Figura 1: Modelo de Gestão do Conhecimento para a AdministraçãoPública Brasileira
RSP
63Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
compartilhar e aplicar o conhecimento.Essas atividades devem ser colocadas emprática na gestão de processos e de projetos.Para tal, deve-se utilizar o ciclo KDCA(BATISTA, 2012).
O ciclo KDCA é composto de quatroetapas. O objetivo da primeira etapa,Knowledge (conhecimento), é elaborar oplano de GC. Na segunda etapa, Do(executar), a organização deve: 1) educar ecapacitar os colaboradores; 2) executar oplano de GC; e 3) coletar dados einformações. Na terceira etapa, Check(verificar), é verificado se a meta demelhoria da qualidade foi alcançada e se oplano de GC foi executado conformeprevisto. Finalmente, na etapa Act (corrigirou armazenar), caso a meta não tenha sidoatingida, a organização corrige eventuaiserros nas atividades do processo de GC(identificação, criação, compartilhamentoe aplicação do conhecimento). Se a metafoi alcançada, a organização armazena onovo conhecimento por meio da padro-nização (BATISTA, 2012).
Como se trata de um modelo de GCcom foco em resultados, o quintocomponente enfoca os resultados dagestão do conhecimento. Há dois tipos deresultados esperados com a implemen-tação da GC: imediatos e finais.Os resultados imediatos são apren-dizagem e inovação. Como consequência,há o incremento da capacidade derealização do indivíduo, da equipe, daorganização e da sociedade na identi-ficação, criação, armazenamento, compar-tilhamento e aplicação do conhecimento(BATISTA, 2012).
Os resultados finais destacados nomodelo são consequência dos resultadosimediatos (aprendizagem e inovação; eaumento da capacidade de realização doindivíduo, das equipes, da organização e
da sociedade) e consistem em: aumentar aeficiência; melhorar a qualidade e aefetividade social; contribuir para a legali-dade, impessoalidade, moralidade e publi-cidade na administração pública e para odesenvolvimento brasileiro (BATISTA,2012).
Finalmente, o sexto e último compo-nente do modelo de GC para a adminis-tração pública são as partes interessadas, asaber: o cidadão-usuário e a sociedade. Éfundamental para a organização públicagerenciar o conhecimento sobre os cidadãos-usuários para que ela possa cumprir suamissão e atender as necessidades eexpectativas em relação aos serviçosprestados. Identificar as necessidades eexpectativas da sociedade em geral é umatarefa relevante na gestão do conhecimentonas organizações públicas. Para a GC naadministração pública é importante abordartemas relevantes para a sociedade, tais como:desenvolvimento, responsabilidade pública,transparência, inclusão social, interação egestão do impacto da atuação daorganização na sociedade (BATISTA, 2012).
Na próxima seção, apresentamos oroteiro para a elaboração do plano de GCutilizado pelo Ipea. Esse roteiro é baseadono Modelo de GC para a AdministraçãoPública Brasileira que acabamos dedescrever.
Roteiro para a elaboraçãodo plano de gestão do conheci-mento (GC)
As seguintes perguntas norteiam asetapas de elaboração do plano de gestãodo conhecimento (PGC): i) Onde estamosagora? ii) Onde queremos estar? iii) Comochegaremos lá? iv) Quais são as métricasou indicadores para avaliar o grau desucesso? e v) Estamos alcançando nossosobjetivos e visão de GC?
RSP
64 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento: o caso do Repositório doConhecimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea)
Para responder a pergunta “Ondeestamos agora?” (etapa 1), a organizaçãopública deve, em primeiro lugar, realizar aautoavaliação do grau de maturidade emGC (passo 1). A autoavaliação é baseadaem sete critérios do instrumento para aavaliação do grau de maturidade em GC, asaber: 1) liderança em GC; 2) processo; 3)pessoas; 4) tecnologia; 5) processo de GC;6) aprendizagem e inovação; e 7) resultadosda GC.
Cada um dos critérios elencados acimaé constituído de assertivas – totalizando 42– que devem ser cuidadosamente analisadase pontuadas com base em evidências. Aautoavaliação permite identificar o grau dematuridade em GC da organização, assimcomo realizar benchmarking com organi-zações congêneres. Utilizam-se duas escalasna aplicação do instrumento (BATISTA, 2012).
Após a realização da autoavaliação,a organização identifica seus pontosfortes (PF) e oportunidades de melhoriaOM (passo 2). Aqui é possível identificaro que está bom (PF) e o que precisa sermelhorado (OM) para que ocorra aefetiva institucionalização da GC naorganização.
O passo seguinte na elaboração doPGC é identificar as lacunas de conheci-mento (passo 3). Uma lacuna do conheci-mento é a diferença entre o que aorganização sabe e o que ela deveria saberpara alcançar seus objetivos estratégicos.É nesse ponto que ocorrerá a intervençãoda gestão do conhecimento. No planeja-mento estratégico procuram-se eliminar aslacunas estratégicas (diferença entre o quea organização faz e o que ela deveria fazerpara alcançar seus objetivos estratégicos)por meio da eliminação das lacunas doconhecimento.
Após identificar as lacunas doconhecimento e para responder a pergunta
“Onde queremos estar?” (etapa 2), aorganização define a visão de gestão doconhecimento (passo 4), isto é, a situaçãofutura após a implementação da GC emque a lacuna de conhecimento já terá sidoeliminada.
Em seguida, para responder apergunta “Como chegaremos lá?” (etapa3), a organização deve executar osseguintes passos: i) definição dos objetivose estratégia de GC (passo 5); ii) elaboraçãodo plano de gestão do conhecimento(PGC) (passo 6); e iii) elaboração do planode melhoria do grau de maturidade emGC (PMM) (passo 7).
O PGC mostra como a organizaçãoeliminará as lacunas do conhecimento,enquanto que o PMM aponta para as açõesa serem executadas para trabalhar asoportunidades de melhoria (OM) identi-ficadas na autoavaliação e, consequen-temente, para elevar o grau de maturidadeem GC na organização.
Em seguida, para responder a pergunta“Quais são as métricas para avaliar o graude sucesso?” (etapa 4), a organizaçãodeverá elaborar os indicadores dos resul-tados da estratégia (passo 8) para verificaro sucesso na eliminação das lacunas doconhecimento. Para avaliar se está havendoou não elevação no grau de maturidade emGC, a organização comparará a pontuaçãoobtida no diagnóstico atual com odiagnóstico anterior (passo 9).
Finalmente, para responder a pergunta“Estamos alcançando nossos objetivos evisão de GC” (etapa 5), a organização deverealizar o monitoramento, avaliação eelaboração de relatórios (passo 10).
Na próxima seção, apresentamos operfil organizacional do Ipea e descre-vemos como a instituição elaborou seuplano de GC com base no roteiro aquiapresentado.
RSP
65Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
Implementação da gestão doconhecimento no Ipea
Perfil organizacionalO Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) é uma fundação públicafederal vinculada à Secretaria de AssuntosEstratégicos da Presidência da República(SAE/PR). Suas atividades de pesquisafornecem suporte técnico e institucional àsações governamentais para a formulação ereformulação de políticas públicas eprogramas de desenvolvimento brasileiros.Os trabalhos do Ipea chegam à sociedadepor meio de inúmeras publicações,seminários, assessoramento técnico, cursose divulgação na imprensa e, mais recente-mente, via programa semanal de TV emcanal fechado.
Elaboração do plano de gestãodo conhecimento (GC) do Ipea
Seguindo o roteiro para a elaboraçãodo plano de gestão do conhecimentoapresentado, o Ipea iniciou a elaboraçãodo seu plano de GC com a realização daautoavaliação. O Ipea obteve umapontuação de 75,8 de um total de 210pontos. Com essa pontuação, o Ipeaencontra-se ainda na primeira etapa(reação) dos graus de maturidade em GC.As demais etapas são: iniciação (125pontos), introdução (expansão – 146pontos), refinamento (188 pontos), ematuridade (210 pontos).
Na autoavaliação, o Ipea identificoutambém os pontos fortes (PF) e asoportunidades de melhoria (OM). Éimportante destacar que, no critério 5.0Processo de Conhecimento, o Ipea identificoua OM “inexistência de um processosistematizado de armazenamento, reno-vação, acesso e utilização do conheci-mento produzido na instituição”. Essa
OM ajudou a identificar a lacuna doconhecimento em que a intervenção deGC deveria ocorrer.
O Ipea decidiu iniciar a implementaçãoda GC para eliminar a seguinte lacunaestratégica do conhecimento: o conheci-mento produzido pelo Ipea não estavarepresentado, organizado e armazenado deforma estruturada e não seguia as recomen-dações internacionais para a disseminação,acesso e utilização da informação, visando
a aumentar a visibilidade da pesquisa e ainteroperabilidade em rede.
A situação esperada depois da imple-mentação da GC, isto é, a visão de GCdefinida pelo Ipea foi: “Conhecimentoproduzido pelo Ipea representado,organizado e armazenado de formaestruturada, seguindo as recomendaçõesinternacionais para a disseminação, acesso
“Osrepositóriosinstitucionais têmsido abordadostanto como umaferramenta quantocomo umaestratégia paramaximizar avisibilidade dapesquisa de umainstituição.”
RSP
66 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento: o caso do Repositório doConhecimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea)
e utilização da informação, permitindo,assim, sua utilização adequada pelo públicointerno e externo”.
Os principais objetivos definidos peloIpea para alcançar a visão de GC foram:i) aumentar a visibilidade e o acesso àpesquisa e a interoperabilidade de toda aprodução do Ipea em rede; ii) recuperaros documentos pelo texto completo oupor meio de busca simples e avançada edisponibilizar informações estatísticas deacesso e download ; iii) identificar aspublicações mais acessadas; iv) mostraras relações existentes entre as publicaçõesdo Ipea, em seus diversos suporteseletrônicos.
Para isso, o instituto definiu a estratégiade implantar processo de representação,organização, armazenamento, renovação,disseminação, acesso e utilização doconhecimento produzido nos processosfinalísticos do Ipea.
O Ipea ainda não elaborou o plano demelhoria do grau de maturidade em GC(passo 7). Por isso, passamos agora para opasso seguinte: indicadores de resultadosda estratégia.
Para monitorar se a estratégia de GCda organização está sendo bem-sucedida,o Ipea decidiu adotar indicadores relativosaos processos de representação, orga-nização, armazenamento/disseminação,acesso e utilização do conhecimento. Paracada processo foram elaborados indicado-res, a saber: i) armazenamento/dissemi-nação, ii) acesso, e iii) utilização.
A autoavaliação deverá se repetiranualmente. Assim, o passo 9 (pontuaçãona autoavaliação) ocorrerá com essa perio-dicidade. Já o passo 10 (monitoramento,avaliação e elaboração de relatórios) seráexecutado mensalmente.
Em síntese, o Ipea seguiu o roteiro paraa elaboração do plano de gestão do
conhecimento apresentado para eliminar alacuna do conhecimento referente aosprocessos de representação, organização,disseminação, acesso e utilização doconhecimento produzido.
Na próxima seção, analisamos como oIpea construiu o protótipo do Repositóriodo Conhecimento do Ipea (RCIpea).
Repositório do Conhecimentodo Ipea (RCIpea)
A implementação do Repositório doConhecimento do Ipea (RCIpea) teve porfinalidade, portanto, eliminar uma lacunaestratégica do conhecimento referente aosprocessos de representação, organização,disseminação, acesso e utilização doconhecimento produzido pela instituição.
O RCIpea é uma iniciativa de gestãodo conhecimento porque, conformedestaca Dalkir, é um repositório quecontém conhecimento valioso que é umamistura de conhecimento tácito e explícito(DALKIR, 2011). O conhecimento explícitopode ser inserido no RCIpea na forma delivros, artigos, imagens etc. Já o conheci-mento tácito pode ser explicitado eincluído no repositório por meio de vídeoscom narrativas, compartilhamento delições aprendidas e de melhores práticas(BATISTA, 2012).
O RCIpea é uma prática de GCassociada às atividades de armazenar,compartilhar e aplicar o conhecimento noâmbito do ciclo de GC do Modelo de GCpara a AP Brasileira. Além disso, contribuipara a melhoria do processo “realizaçãode estudos e pesquisas”. Assim sendo, estáassociado ao viabilizador “processos” domodelo. O RCIpea está vinculado tambéma todos os passos do roteiro para a elabo-ração do plano de GC (passo 1: autoava-liação; passo 2: solução para umaoportunidade de melhoria; passo 3: solução
RSP
67Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
para lacuna de conhecimento; e assim pordiante).
Os repositórios digitais podem servistos também como uma prática de GC,ligada à gestão de processos e projetos. Paraatingir esse objetivo, o conhecimento norepositório digital deve ser organizado deuma maneira que a aprendizagem sejapossível. Dessa forma, há uma preocupaçãoem alimentar o repositório com informaçõesúteis para as equipes de projetos futuros:1) metodologias de pesquisa empregadas;2) lições aprendidas com erros e acertos;3) softwares e base de dados utilizados durantea execução do projeto; 4) questionários einstrumentos de pesquisa; 5) projetos depesquisa semelhantes, conduzidos poroutras instituições de pesquisa etc.
Repositórios institucionais são tambémrepositórios digitais voltados para oarmazenamento, preservação edisseminação da produção intelectual deuma instituição (COSTA & LEITE, 2006). Osrepositórios institucionais têm sido abor-dados tanto como uma ferramenta quantocomo uma estratégia para maximizar avisibilidade da pesquisa de uma instituição.Essa prática de GC potencializa a troca deconhecimento no seio das comunidadestécnicas e científicas e alimenta a preo-cupação com o acesso à pesquisa e osimpactos causados pelo acesso aberto (OpenAccess) ao conhecimento gerado porpesquisadores de todas as áreas (COSTA &LEITE, 2006).
Como o Ipea produz conhecimentotécnico (que serve para subsidiar açõesgovernamentais) e científico (que visa acontribuir para o debate científico, emespecial na área de economia) – os pesqui-sadores do Ipea, inclusive, publicamtrabalhos em revistas e participam deeventos científicos –, o RCIpea tem caracte-rísticas tanto de repositório do conheci-
mento (descrito na literatura de GC) quantode repositório institucional (citado naliteratura sobre comunicação científica).
Nesse sentido, o repositório maximizae acelera o impacto das pesquisas e,consequentemente, sua produtividade,progresso e recompensas (BRODY &HARNAD, 2004). Resultados de pesquisasrecentes apontam para isso. Lawrence(2001), por exemplo, apresenta resultadosde um estudo que mostrou um crescimentode 336%, em média, nas citações a artigosdisponíveis online, em relação a artigospublicados off-line, na mesma fonte. (COSTA
& LEITE, 2006).Tendo em vista essa abordagem, tanto
como prática quanto como estratégia, paramaximizar a visibilidade da pesquisa, osrepositórios institucionais são hoje, nocontexto brasileiro, uma realidade.
O RCIpea disponibiliza a produçãodo Ipea segundo os princípios da Iniciativade Arquivos Abertos, ou Open ArchivesInitiative (OAI). Além da sua produção, oRCIpea disponibilizará no futuro tambéma produção técnica e científica deinstituições parceiras, que desenvolvem eproduzem trabalhos relevantes no campode atuação do Ipea, nas diversas áreasrelacionadas ao DesenvolvimentoEconômico e Social. Para tanto, taisinstituições também devem seguir asespecificações do OAI.
A Iniciativa de Arquivos Abertos teveinício em 1999, quando Ginspard, Luce eVan de Sompel fizeram uma chamada paraexplorar a cooperação entre arquivos dee-prints. Isso foi possível devido aos ideaise conceitos estabelecidos pela OAI eresumidos como: uso do software livre,também chamado Open Source; criação derepositórios de acesso aberto (Open Access);uso de padrões de preservação de objetosdigitais etc. (KURAMOTO, 2007).
RSP
68 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento: o caso do Repositório doConhecimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea)
Nesse contexto, o termo archivesignifica repositório. O termo open éutilizado na perspectiva da arquitetura dainformação, no sentido de definir e adotarinterfaces de máquina que promovam adisponibilidade de conteúdos (LAGOZE &VAN DE SOMPEL, 2001).
Além disso, a OAI estabeleceu o OpenArchives Initiative Protocol for MetadataHarvesting (OAI-PMH), um protocolo decomunicação que possibilita a coleta demetadados a partir de determinadosprovedores de dados. Esse protocolo,juntamente com um padrão de meta-dados, gera alto nível de interoperabili-dade entre os repositórios. Os metadadostambém são apresentados em um padrão.O padrão de metadados mais utilizado éo Dublin Core (DC), porém, o OAIpermite a adoção de outros padrões demetadados.
O Ipea, na implementação do seurepositório institucional, tendo em vista ainteroperabilidade com outros repositórios,utilizou o Dspace, software Open Source;adotou o Dublin Core (DC) como padrãode metadados e habilitou o Open ArchivesInitiative Protocol for Metadata Harvesting(OAI-PMH).
A construção do protótipo doRepositório do Conhecimentodo Ipea (RCIpea)
O protótipo do Repositório doConhecimento do Ipea foi construído porum grupo de trabalho multidisciplinar.Participaram desse grupo representantesdas seguintes áreas: Gestão do Conheci-mento (CGPGO); Gestão de Projetos(DVPPI); Ciência da Informação (Biblio-teca); Tecnologia da Informação eComunicação (CGTIC); Assessoria deComunicação (ASCOM) e ainda represen-tantes das áreas finalísticas do Ipea, ou seja,
técnicos de planejamento e pesquisa(pesquisadores).
O trabalho em grupo objetivou, alémde buscar legitimidade para o projeto, acolaboração e a participação das áreas doinstituto que se relacionariam futuramentecom o repositório. O trabalho foi enri-quecido pela equipe multidisciplinar, querepresentou a diversidade dos usuários dosistema de informação em construção.
Definição das diretrizes para odesenvolvimento do acervo
Nessa etapa buscaram-se definir asdiretrizes para o desenvolvimento doacervo. Tais diretrizes visam a embasar oplanejamento das coleções, oferecendoparâmetros de consistência e qualidade aoacervo e evitando o crescimento desor-denado das coleções. Foram definidos osobjetivos gerais do acervo e as estratégiasde prospecção, seleção, alimentação edisponibilização dos objetos digitais, deacordo com: 1) os interesses e metas doIpea; 2) os serviços de informação queseriam disponibilizados; e 3) o perfil dosusuários.
Instalação e customização dosoftware Dspace e aplicação daidentidade visual
Após a definição das diretrizes doacervo, instalamos a versão mais atualizadado software Dspace/MIT. Uma das diretrizesdefinidas, na primeira etapa, foi manter osoftware sem alterações significantes em seucódigo-fonte. Dessa maneira, teríamosmais facilidades na atualização das futurasversões do Dspace, usufruindo dos aperfei-çoamentos propostos pela comunidaderesponsável pelo seu desenvolvimento emanutenção. A principal alteração feita nocódigo foi justamente para conferir umaidentidade visual ao repositório.
RSP
69Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
Realização do estudo do domínio dorepositório e definição da sua estruturahierárquica (arquitetura informacional)
Segundo Brascher, os sistemas deorganização do conhecimento (SOC) sãosistemas conceituais que representamdeterminado domínio do conhecimentopor meio da sistematização dos conceitose das relações semânticas existentes entreeles. Englobam sistemas de classificação,cabeçalhos de assunto, arquivos deautoridade, tesauros, taxonomias eontologias.
A organização da informação noRepositório do Conhecimento do Ipea(RCIpea) foi estabelecida a partir de seteeixos temáticos e dos grandes temas da áreade Desenvolvimento Econômico e Social.Os eixos são utilizados pela instituição comomacrolinhas de pesquisa. São eles: 1)inserção internacional soberana, 2)macroeconomia para o desenvolvimento, 3)fortalecimento do Estado, das instituiçõese da democracia, 4) estrutura tecnoprodutivaintegrada e regionalmente articulada, 5)infraestrutura econômica, social e urbana,6) proteção social, garantia dos direitos egeração de oportunidades, e 7)sustentabilidade ambiental. Já os grandestemas foram extraídos do estudo do domíniodo repositório, por meio da análise deconceitos e das relações semânticas doMacroThesaurus da Organização para aCooperação e Desenvolvimento Econômico(OCDE), chamado MacroThesaurus forInformation Processing in the Field of Economicand Social Development (Quinta Edição).
Existem diferenças na organização dainformação em função das ferramentasutilizadas. No Dspace, software utilizado paraa construção do Repositório do Conheci-mento do Ipea (RCIpea), a organizaçãoprincipal está estabelecida em comuni-dades, subcomunidades e coleções. As
comunidades representam o 1o nível deorganização da informação, as subcomu-nidades representam o 2o nível deorganização da informação, e as coleçõesrepresentam o 3o nível de organização dainformação.
O Dspace também apresenta organi-zações secundárias, que permitem visua-lizar os documentos ou objetos digitais dorepositório de diferentes maneiras. Consi-derou-se aqui a proposta conceitual de
Brascher e Café, que definem a organizaçãoda informação (OI) mostrando os aspectosque a diferenciam da organização doconhecimento (OC). Segundo as autoras,a OI é um processo que envolve a descriçãofísica e temática dos objetos informa-cionais. Ela compreende a organização deum conjunto de objetos, para arranjá-lossistematicamente em coleções, como a
“A prática(repositórioinstitucional) tevepor objetivoeliminar umalacuna estratégicade conhecimento,assegurar atransparência,melhorar odesempenhoinstitucional...”
RSP
70 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento: o caso do Repositório doConhecimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea)
organização da informação em bibliotecas,museus, arquivos, tanto tradicionaisquanto eletrônicos. A OI resulta narepresentação da informação, compreen-dida como o conjunto de atributos querepresenta determinado objeto informa-cional, obtido pelos processos de descri-ção física e de conteúdo (BRASCHER
& CAFÉ, 2008).Essas organizações secundárias no
repositório do Ipea são possíveis em funçãoda descrição física e temática dos objetosinformacionais digitais, que compreendemo preenchimento dos seus metadados.Como resultado desse tratamentoinformacional, no RCIpea é possívelvisualizar o acervo percorrendo listas deautores, títulos, assuntos e tipos de objeto.
As comunidades, que representam o1o nível de organização da informação, sãoos sete eixos temáticos para o desenvol-vimento. As subcomunidades, que repre-sentam o 2o nível de organização dainformação, são os grandes temas da áreade Desenvolvimento Econômico e Social,resultantes do estudo do domínio dorepositório. Por fim, as coleções, querepresentam o 3o nível de organização dainformação, foram definidas a partir datipologia documental do acervo.
Em relação ao 1o nível de organizaçãoda informação, a escolha dos sete eixostemáticos para o desenvolvimento daorganização da informação no RCIpeadeu-se em função da importância delespara a instituição. Todos os estudos,pesquisas e demais atividades técnicasdo Instituto de Pesquisa EconômicaAplicada (Ipea) são desenvolvidos emfunção dos sete eixos temáticos para odesenvolvimento.
O 1o nível de organização da infor-mação no RCIpea é, inicialmente, fixo, ouseja, não é extensível. Não será ampliado
de acordo com as necessidades das diversasáreas, mas poderá ser modificado se oseixos temáticos para o desenvolvimentoassim o forem.
As subcomunidades, que são o 2o
nível de organização da informação, sãoos grandes temas da área deDesenvolvimento Econômico e Social. Apartir do estudo do domínio do RCIpea,foram identificados inicialmente 26grandes temas. As 26 subcomunidadesinicialmente definidas poderão, além deser ampliadas, conter um terceiro ouquarto nível temático.
As subcomunidades são dinâmicas eflexíveis, ou seja, são extensíveis eadaptáveis. Poderão ser ampliadas oualteradas, com base no estudo do domíniodo RCIpea, de acordo com a necessidadede especificação dos assuntos das áreastécnicas da instituição.
Definição do padrão de metadadose do formulário de entrada de dados
O repositório foi construído segundorecomendações internacionais paradisseminação da informação, visando aaumentar a visibilidade e o acesso dapesquisa, bem como a interoperabilidadede toda a produção do Ipea em rede.
O conjunto de metadados do Repo-sitório do Conhecimento do Ipea (RCIpea)foi definido segundo o padrão Dublin Core.O padrão Dublin Core é um esquema demetadados que visa a descrever objetosdigitais, tais como: vídeos, mapas,animações, softwares, sons, imagens, textos,sites na web etc.
A Dublin Core Metadata Initiative(DCMI) é uma organização dedicada apromover a adoção de padrões deinteroperabilidade de metadados edesenvolver vocabulários especializadospara descrever objetos digitais, que tornem
RSP
71Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
mais inteligentes os sistemas de recupe-ração da informação.
A qualificação dos metadados foinecessária em função das necessidades doIpea, e realizada conforme orientações daDublin Core Metadata Initiative (DCMI). ODCMI estabeleceu maneiras padronizadaspara qualificar ou refinar os elementos eencorajar o uso de esquemas de codificaçãoe vocabulário. Cada metadado Dublin Coreé opcional e pode ser repetitivo. Além disso,não há ordem no padrão Dublin Core paraapresentar ou utilizar os metadados(elementos de dados).
O princípio orientador para a quali-ficação dos elementos Dublin Core afirmaque uma aplicação que não compreende ometadado qualificado deve ser capaz deignorar o qualificador e tratar o valor dosmetadados, como se fosse um elementoabsoluto. Embora isso possa resultar emalguma perda de especificidade, o valor doselementos restantes (sem o qualificador)deve continuar a ser correto e útil para arecuperação da informação e para a intero-perabilidade em rede.
O sistema é capaz de fazer a recupe-ração dos documentos pelo texto completoou por meio de buscas simples e avançada.Não há limite em relação ao tamanho eformato dos arquivos. Além disso, estarãodisponíveis informações estatísticas deacesso e downloads. Serão também mostradasno repositório as relações existentes entreas publicações do Ipea, em seus diversossuportes eletrônicos.
Definição do fluxo geral do reposi-tório e do fluxo de submissão dosobjetos digitais
O fluxo geral do repositório foi defi-nido conforme as necessidades iniciais doprotótipo, que não contempla o autoarqui-vamento e a revisão midiático-pedagógica.
Utilizamos uma funcionalidade do Dspaceque permite somente desabilitar algumasetapas do f luxo, não excluindodefinitivamente as possibilidades futuras deinclusão de novos atores no fluxo.
O fluxo de submissão dos objetosdigitais foi organizado em sete passos, asaber: 1) perguntas iniciais: 1.1 Objetopublicado anteriormente em outra fonte?1.2 O objeto possui título alternativo?1.3 O objeto possui mais de um arquivo?;2) indicação da coleção, que compreendea classificação do objeto na coleção emostra a localização física principal doobjeto no repositório; 3) preenchimentodos metadados do bloco de descrição geral;4) preenchimento dos metadados do blocode descrição temática; 5) preenchimentodos metadados do bloco de direitosautorais; 6) Upload e 7) publicação noRCIpea.
Definição da política de acessoaberto e direitos autorais
A política de acesso aberto e de direitosautorais do Repositório do Conhecimentodo Ipea (RCIpea) visa a nortear a imple-mentação do acesso aberto e a gestão dosdireitos autorais no RCIpea, garantindo anão violação dos direitos autorais, de ordempatrimonial ou moral, resguardando todosos envolvidos de futuras implicações legais.
Pretende-se garantir dessa maneirao depósito, a disponibilização e o uso dosobjetos digitais em conformidade com:1) a legislação brasileira (Lei no 9.610/1998); 2) os tratados internacionais sobreo assunto; e 3) os objetivos do Instituto dePesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Além de nortear a implementação doacesso aberto e a gestão dos direitosautorais no RCIpea, a política de acessoaberto e direitos autorais objetiva também:1) estabelecer instrumentos de negociação
RSP
72 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento: o caso do Repositório doConhecimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea)
padronizados para a negociação dosdireitos autorais no Ipea; 2) especificarquais são as permissões e restrições de usoda produção técnica e científica do Ipeano RCIpea, em qualquer suporte ouformato eletrônico; 3) orientar, com basena Lei Brasileira de Direitos Autorais (Leino 9.610 de 1998), como deve ser feita acitação e referência aos autores e colabo-radores nos próprios objetos digitais;4) estabelecer regras e critérios para opreenchimento dos instrumentos denegociação e dos metadados relacionadosaos direitos autorais e conexos, como porexemplo: autoria (individual, coletiva,institucional, organizadores), colaboraçõesque geram direitos autorais (tradução,dublagem, ilustração etc), outras colabo-rações, detentores de direitos autorais,permissões e restrições de uso, tipo ouregime de negociação, validade, neces-sidade de registro na Biblioteca Nacionaletc.; 5) esclarecer conceitos e disponibilizarinformações sobre diversos assuntosrelacionados aos temas acesso aberto edireitos autorais, tais como direitos moraise patrimoniais do autor, direitos de imageme conexos, sistema de licenciamento CreativeCommons, licenças comuns, termos decessão de direitos, cessão gratuita, cessãoparcial, cessão não exclusiva, domíniopúblico, plágio, violação de direitosautorais, exceções à Lei Brasileira deDireitos Autorais etc.
Definição das regras de preen-
chimento dos metadadosTão importante quanto definir os
metadados, é definir as regras de preen-chimento para cada um deles. Por essarazão, iniciamos os estudos que fundamen-tarão a definição dessas regras, que com-preendem estudos relacionados à catalo-gação e classificação (descrição física e
temática) de diferentes tipos de objetosdigitais, garantindo assim o seu corretopreenchimento e recuperação.
No RCIpea, foi definido apenas umformulário de entrada de dados para todosos tipos de objetos digitais. Foram defi-nidos metadados obrigatórios, que sãoutilizados para descrever todos os tipos deobjetos digitais, como, por exemplo, autore título. Outros metadados são facultativos,pois alguns objetos digitais não requerema utilização de todo o conjunto de meta-dados para a descrição física e temática.Nesse caso, somente os metadados nãoobrigatórios poderão não ser utilizados nadescrição.
Considerações finais
Com a implementação do Repositóriodo Conhecimento do Ipea (RCIpea), partedo conhecimento tácito pode ser expli-citado e, juntamente com os demaisconhecimentos explícitos da instituição,pode hoje ser representado, organizado earmazenado de forma estruturada. Alémdisso, tal conhecimento pode ser dissemi-nado com base em padrões internacionaisde interoperabilidade, promovendo, assim,um acesso bem mais amplo dos públicosinterno e externo à produção técnica ecientífica da organização.
Esse caso mostra a importância daadoção, por parte de organizações públicascomo o Ipea, de um modelo de GCholístico (que considera os vários aspectosda GC: alinhamento estratégico, viabili-zadores, ciclo de GC, ciclo KDCA,resultados e partes interessadas). Ilustratambém a relevância de se utilizar ummétodo de implementação voltado paraeliminar lacunas estratégicas do conheci-mento e que conduz a organização a definiruma visão de GC, objetivos, estratégia e
RSP
73Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
plano de GC, assim como indicadores paraverificar se os resultados da estratégia estãosendo alcançados.
Não se resume, como procuramosdemonstrar, a apenas uma questão deimplementar uma prática ou ferramentaisolada de GC. A prática (repositórioinstitucional) teve por objetivo eliminar umalacuna estratégica de conhecimento, assegurara transparência, melhorar o desempenho
institucional e contribuir para o cumprimentoda missão do Ipea de produzir, articular edisseminar conhecimento para aperfeiçoarpolíticas públicas e contribuir para oplanejamento do desenvolvimento brasileiro.Além disso, é importante destacar que aprática está alinhada com o modelo de GC ecom o método de implementação.
(Artigo recebido em março de 2013. Versãofinal em abril de 2013).
Referências bibliográficas
ALVARENGA NETO, R. C. D. de; VIEIRA, J. L. G. V. Building a knowledge management(KM) model at Brazil´s Embrapa (Brazilian Agricultural Research Corporation): towardsa knowledge-based view of organizations. Electronic Journal of Knowledge management, v. 9,Issue 2, 2011.
APO. Knowledge management: facilitator´s Guide, 2009. Disponível em: http://www.apo-tokyo.org/00e-books/IS-39_APO-KM-FG.htm. Acessado em: 9 dez. 2011.
BATISTA, Fábio Ferreira. Modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira:como implementar a gestão do conhecimento para produzir resultados em benefício docidadão. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2012. Disponívelem: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/754. Acesso em 28 fev. 2013.
BAPTISTA, A. A. et al. Comunicação científica: o papel da Open Archives Initiative no contextodo Acesso Livre. Disponível em: http://journal.ufsc.br/index.php/ eb/article/view/1518-2924.2007v12nesp1p1/435 Acesso em: 23 fev. 2013.
BARBOSA, J. G. P. et al. A proposed architecture for implementing a knowledge managementsystem in the Brazilian National Cancer Institute. Brazilian administration Review, v. 6, n. 3,p. 247-262, July/Sept. 2009. Disponível em: http://www. anpad. org. br/periodicos/arq_pdf/a_888.pdf Acesso em: 11 nov. 2011.
BRASCHER, M.; CAFÉ, L. Organização da Informação ou Organização do Conhecimento?In: IX ENANCIB. ANCIB, 2008. Disponível em: http://skat.ihmc.us /rid=1KR7TM7S9-S3HDKP-5STP/BRASCHER %20CAF%C3%89 (2008)-1835.pdfAcesso em: 23 fev.2013.
BRODY, Tim; HARNAD, Stevan. The research impact cycle. Disponível em: http://docs.lib.purdue.edu/context/iatul/article/1729/type/native/viewcontent Acesso em: 22fev. 2013.
COSTA, S. M. S; LEITE, F. C. L. Repositórios institucionais como ferramentas de gestãodo conhecimento científico no ambiente acadêmico. Perspectivas em Ciência da Informação,
RSP
74 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento: o caso do Repositório doConhecimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea)
Belo Horizonte, v. 11 n. 2, p. 206-219, maio/ago. 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/%0D/pci/v11n2/v11n2a05.pdf Acesso em: 22 fev. 2013.
DALKIR, Kimiz. Knowledge management in Theory and practice. 2. ed.. Cambridge: MassachusettsInstitute of Technology, 2011.
EUROPEAN KM FORUM. Standardized KM implementation. 2001. Disponível em: http://www.providersedge.com/docs/km_articles/Standardised_KM_Implementation.pdf.Acessado em: 29 maio 2013.
FONSECA, A. Organizational Knowledge assessment methodology. Washington, D.C.: World BankInstitute, 2006.
HEISIG, P. Harmonization of knowledge management – comparing 160 KM frameworksaround the globe. Journal of Knowledge Management, v. 13, n. 4, p. 4-31, 2009.
INSTRUMENTO PARA A AVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA. CICLO 2010. Disponível em: http://www.gespublica.gov.br/projetos-acoes/pasta.2010-04-26.8934 490474/Instrumento_ciclo_2010_22mar.pdf Acessado em: 10 de dez. 2011.
LAGOZE, C.; SOMPEL, H. V. de. The Santa Fe Convention of the Open Archives Initiative.Dlib Magazine, vol. 6. n. 2, february 2000. Disponível em: http://www.dlib .org/dlib/february00/vandesompel-oai/02vandesompel-oai.html Acesso em: 22 fev. 2013.
LAWRENCE, Steve. Free online availability substantially increases a paper’s impact. Naturewebdebates. Disponível em: http://www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/lawrence.html?ref=Penisbuyutucuu.com Acesso em: 22 fev. 2013.
Medeiros, G.M. Organização da informação em repositórios digitais. UFSC, 2012. Disponívelem: http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/9165. Acesso em: 05 maio 2012.
NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. The knowledge-Creating Company. How Japanese companies createthe dynamics of innovation. New York: Oxford University Press, 1995.
OECD. Survey of knowledge management practices in ministries/ departments/agencies of centralgovernment. Paris: OECD, 2003 [Fontes: Documentos OECD: Gov/PUMA (2003) 17 mar.2003; PUMA/HRM (2002) 23 jan. 2002; PUMA/HRM (2001) 8 jun. 2001].
SALAVATI; A.; SHAFEI, R.; SHAGHAYEGH, E. A model for adoption of knowledgemanagement in Iranian public organizations. European Journal of Social Sciences, v. 17, n. 1,2010.
THE KNOW NETWORK. Oito critérios mundiais na certificação internacional de auditores em processosde gestão do conhecimento – Metodologia MAKE – Most Admired Knowledge Enterprises.The Know Network. Disponível em: http://www.premiomake.com.br/uploads/6/1/1/8/6118855/folder-curso_make_janeiro-fevereiro_2012-sao_paulo.pdf. Acesso em: 29maio 2013.
RSP
75Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
Resumo – Resumen – Abstract
Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão doconhecimento (GC): o caso do Repositório do Conhecimento do Instituto de PesquisaEconômica Aplicada (RCIpea)Fábio Ferreira Batista e Veruska da Silva Costa
O objetivo deste artigo é analisar como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)implementou de forma alinhada um modelo, um método e uma prática de gestão do conhecimento(GC) (repositório do conhecimento). O referencial teórico utilizado é o Modelo de Gestão doConhecimento para a Administração Pública Brasileira construído por um dos autores destetrabalho após a realização de uma revisão sistemática da literatura sobre modelos de GC naadministração pública (BATISTA, 2012). O trabalho iniciou-se com a escolha do modelo. Emseguida, utilizou-se de um roteiro para elaborar o plano de GC. O foco desse plano foi aimplementação do repositório institucional. As principais conclusões deste artigo são: i) comoresultado da implementação do repositório, parte do conhecimento tácito pode ser explicitado(na forma de narrativas, por exemplo) e, juntamente com os demais conhecimentos explícitos,pode hoje ser representado, organizado e armazenado de forma estruturada; ii) o Ipeaimplementou não apenas uma prática isolada de GC, mas conseguiu alinhar a prática (repositório)com um modelo e método de implementação de GC; e iii) a importância da adoção, por parte deorganizações públicas como o Ipea, de um modelo de GC holístico, isto é, com uma visãointegral de GC.
Palavras-chave: Modelo de Gestão do Conhecimento; método de implementação degestão do conhecimento; repositório institucional de acesso aberto
Alineando el modelo, el método de implementación y la práctica de gestióndel conocimiento (GC): el caso del Repositorio del Conocimiento del Institutode Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea)Fábio Ferreira Batista y Veruska da Silva Costa
El propósito de este artículo es analizar cómo el Instituto de Investigação Econômica Aplicada(Ipea) puso em práctica un modelo, un método y una práctica de GC de forma integrada. Elmarco teórico de este trabajo es el Modelo de Gestión del Conocimiento para la AdministraciónPública Brasileña construido por uno de los autores de este trabajo tras llevar a cabo una revisiónsistemática de la literatura sobre modelos de GC en la administración pública (BATISTA, 2012).El trabajo tuvo inicio tras la elección del modelo: Modelo de Gestión del Conocimiento para laAdministración Pública Brasileña. En seguida, se formuló un guión para elaborar el Plan de GC.El enfoque del plan fue la implementación del repositorio con vistas a eliminar una brecha deconocimiento. Las principales conclusiones de este artículo son: i) como resultado de laimplementación del repositorio, parte del conocimiento tácito puede ser explicitado (en la formade narraciones, por ejemplo) e, junto con los otros conocimientos explícitos, ahora se puederepresentar, organizar y almacenar de forma estructurada; ii) IPEA puso en ejecución no sólouna práctica aislada GC, pero ha logrado integrar la práctica (repositorio) con un modelo ymétodo de aplicación GC; e iii) la importancia de la adopción –por organizaciones públicascomo el IPEA– de um modelo de GC holístico, es decir, con una visión integral de la GC.
Palabras clave: Modelo de Gestión del Conocimiento; Método de Implementación deGestión del Conocimiento; Repositorio Institucional de Acceso Abierto
RSP
76 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 59-76 jan/mar 2013
Alinhando o modelo, o método de implementação e a prática de gestão do conhecimento: o caso do Repositório doConhecimento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (RCIpea)
Matching the model, the method of implementation and the practice of knowledgemanagement: the case of the Institutional Repository of the Institute for AppliedEconomic Research (Ipea) in BrazilFábio Ferreira Batista and Veruska da Silva Costa
This paper aims to assess how the Institute for Applied Economic Research (Ipea) was ableto implement a KM framework, a KM method and a KM practice in an integrated way. Thetheory behind this work is the KM Framework for the Brazilian Public Administration designedby one of the authors of this paper after a literature review about KM frameworks in the publicadministration (BATISTA, 2012). Following this decision, a KM Plan was draft based on animplementation method designed for that purpose. The plan main focus was the implementationof a repository to eliminate a knowledge gap and to improve organizational performance. Thisarticle main conclusions are: i) as a result of the repository implementation, part of Ipea´s tacitknowledge (for example in the form of storytelling) can be made explicit and, together withother explicit knowledge, can now be represented, organized and stored in a structured form;Ipea did not implemented a single KM practice, but it was able to integrate the practice (repository)with a KM framework and KM implementation method; and iii) the importance of the adoptionof a holistic (or systematic view) KM framework by public organizations, such as Ipea.
Keywords: Knowledge Management Framework; KM Implementation Method; OpenAccess Institutional Repository
Fábio Ferreira Batista
Doutor em Ciência da Informação. Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada(Ipea). Professor da Universidade Católica de Brasília (UCB). Contato: [email protected]
Veruska da Silva Costa
Bacharel em Biblioteconomia. Gerente do Projeto Repositório do Conhecimento do Ipea (RCIpea), no Instituto dePesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Contato: [email protected]
RSP
77Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
Avaliação da percepçãoda conformidade de processos
de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação
com a Instrução Normativano 4/2010 da SLTI
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
Introdução
Weil e Ross (2006) citam os investimentos e a priorização da Tecnologia da
Informação (TI) entre as cinco decisões-chave a serem tratadas para se alcançar
uma governança de TI eficaz. Essa decisão estratégica envolve determinar quan-
to gastar, em que gastar (o portefólio de investimentos de TI) e como alinhar as
necessidades de diferentes partes interessadas com as prioridades estratégicas.
A questão sobre investimentos também tem destaque na norma ABNT NBR
ISO/IEC 38500:2009 – referencial sobre governança corporativa de TI –, que
elenca o princípio da aquisição entre os seis princípios que devem nortear a boa
governança de TI, nos seguintes termos:
“As aquisições de TI são feitas por razões válidas, com base em análise apropriadae contínua, com tomada de decisão clara e transparente. Existe um equilíbrio apro-priado entre benefícios, oportunidades, custos e riscos, de curto e longo prazo”(ABNT, 2009, p. 6).
RSP
78 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
Grembergen e De Haes (2010) identifi-cam 33 práticas, 12 estruturas, 11 processose 10 mecanismos relacionais para gover-nança corporativa de TI, e sua pesquisamostra que o controle e reporte do orça-mento de TI está entre os cinco elementosde maior efetividade para se alcançar osucesso dessa governança.
Além do destaque encontrado emnível estratégico, esse assunto também étratado nas esferas tática e operacional.Encontram-se referências na área de ges-tão de projetos, como no guia PMBOK4.0 e na Metodologia de Gerenciamentode Projetos do Sistema de Administra-ção dos Recursos de Informação eInformática (MGP-SISP), que trazem umcapítulo exclusivo tratando da área de co-nhecimento “Aquisições”; e no frameworkCOBIT 5, com as práticas APO06.03Create and maintain budgets e BAI03.04Procure solution components, e o processoAPO10 Manage Suppliers.
No âmbito da administração públicafederal (APF), as contratações de soluçõesde TI ganham importância e relevânciaao se considerar o volume dos gastos emTI, que, em 2010, somaram cerca de R$12,5 bilhões, sendo que parte significati-va desse orçamento se dirige para acontratação de serviços relacionados asoftware, conforme levantamento do Tri-bunal de Contas da União (TCU) (BRA-SIL, 2012a, p. 14).
Uma parcela tão significativa doorçamento público e a provável depen-dência direta ou indireta da TI para a exe-cução de um orçamento que chega aR$ 1,8 trilhão (BRASIL, 2010) trouxeramgrande visibilidade e preocupação aos ór-gãos de controle como o TCU, o que podeser observado no crescimento contínuo eacelerado da quantidade de acórdãos edecisões relacionados a contratações deTI, como mostra a Figura 1 (CRUZ, 2011,p.25).
Figura 1: Evolução das deliberações do TCU acerca de contratações deserviços de TI
Fonte: Cruz, 2011.
700
600
500
400
300
200
100
01995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ano da deliberação (acórdão ou decisão)
Qua
ntid
ade d
e acó
rdão
s e d
ecis
ões
RSP
79Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
Em atendimento ao item 9.4 doAcórdão 786/2006-TCU-Plenário, a Secre-taria de Logística e Tecnologia da Infor-mação (SLTI) publicou a InstruçãoNormativa no 4/2008 (IN – SLTI 4/2008),que passou a vigorar em janeiro de 2009.Ainda em 2008, destacam-se também osAcórdãos 1.603/2008 e 2.471/2008 doTCU, que tratam amplamente de recomen-dações acerca de como devem ser geren-ciados e formulados os processos deaquisição de serviços de TI por parte dosórgãos da APF.
A IN – SLTI 4 é um importantenormativo que, assim que foi publicado,causou grande impacto nos órgãos quecompõem o Sistema de Administração dosRecursos de Tecnologia da Informação(SISP). Este, em resposta, propôs, em suaEstratégia Geral de Tecnologia da Infor-mação (EGTI),
“um conjunto de objetivos e açõesvoltadas a adequar o arcabouçoinstitucional e gerencial, de modo quese viabilizasse a transição entre a situ-ação existente anteriormente à ediçãoda IN – SLTI 4/2008 e o pleno cum-primento das novas normas relativas àcontratação dos serviços de TI”(HENKIN; SELAO, 2010, p.75).
Contudo, apesar do andamento dasações institucionais relacionadas a IN –SLTI 4, como a publicação do guia práticopara contratação de soluções de TI e treina-mentos para servidores públicos, observa-se uma lacuna no que se refere ao acompa-nhamento e monitoramento da real adoçãodo processo proposto.
Alguns estudos que abordam ascontratações de TI no setor público relatamproblemas em decorrência da falta deformalização do processo de contratação,
falta de conhecimento sobre ele e das defi-ciências na sua execução (GUARDA, 2011;BARBOSA et al., 2006; CARDOSO, 2006).
Um levantamento com abordagemdireta, porém sem aprofundamento, sobreo processo de contratação de TI foi oautodiagnóstico aplicado aos diferentesórgãos da APF no ano de 2009 e 2010 pelaSLTI, no qual foram realizadas apenas duasperguntas genéricas: “A área de TI possuium processo formal de aquisição de bens
e serviços?” e “O processo está alinhadocom a IN – SLTI 4/2008?”, tornando oinstrumento insuficiente para uma análisemais detalhada do assunto.
Para este estudo foi elaborado uminstrumento avaliativo que visa a identi-ficar a conformidade do processo decontratação de soluções de TI em execuçãoem uma entidade pública com o processo
“... apesar doandamento dasações institucionaisrelacionadas aIN – SLTI 4, (...)observa-se umalacuna no quese refere aoacompanhamentoe monitoramentoda real adoção doprocesso proposto. ”
RSP
80 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
descrito no “Guia prático para contrataçãode soluções de Tecnologia da Informaçãoversão 1.1” baseado na IN – SLTI 4/2010,considerando contratações a partir de 2011.
Além de explicitar quais atividadesestão ou não conformes ao normativo, esseinstrumento também propõe umaautoavaliação da maturidade para cada umadas três fases da IN – SLTI 4/2010: Plane-jamento da Contratação de Soluções de TI(PCTI), Seleção do Fornecedor de Soluçõesde TI (SFTI) e Gerenciamento do Contratode Soluções de TI (GCTI).
Sendo assim, durante o desenvolvimen-to deste artigo é mostrado o panorama geraldas legislações relacionadas às contrataçõesno setor público, com ênfase na IN – SLTI4, sendo o referencial teórico completadocom considerações acerca de modelos deavaliação de maturidade e de conformidadede processos. A seção seguinte traz a des-crição dos procedimentos metodológicosutilizados na pesquisa, em que o MinistérioPúblico Brasileiro (MPB) é também situadocomo universo da pesquisa, cujo processode aquisições de TI está em elaboração eserá baseado na IN – SLTI 4/2010. Apósos ajustes decorrentes em um estudo-pilotoaplicado em uma instituição pertencente aoMPB, esse instrumento foi utilizado em umlevantamento nacional com participação de13 ministérios públicos, que representamcerca de 43% do total, obtendo-se o pano-rama atual desse segmento público comrelação aos processos de compras de solu-ções de TI. Finalizando, realiza-se a análisedos dados obtidos e apresentam-se asconclusões.
Espera-se que este estudo possa con-tribuir com um mecanismo eficaz paramedir e analisar a evolução e o graude implementação, conformidade e matu-ridade dos processos de contrataçãopropostos na IN – SLTI 4, como sugerido
por Henkin e Selao (2010, p.94), permi-tindo uma aplicação regular para forma-ção de uma base histórica de uso internoou externo.
Este trabalho poderá auxiliar tambémno entendimento da aceitabilidade eaplicabilidade dos referidos processos naesfera da administração pública federalbrasileira, em especial contribuindo paraque o normativo no âmbito do MPB, aoser elaborado e proposto, considere a realsituação de suas instituições.
Referencial teórico
Normativos aplicáveis às contra-tações no setor público
A garantia de conformidade com osrequisitos legais e regulatórios é conside-rada um dos pilares da governançacorporativa de TI (ABNT, 2009) que estáem consonância com a ConstituiçãoFederal brasileira, conforme o princípio dalegalidade, pelo qual as ações do adminis-trador público devem ser pautadas pelalegislação e jurisprudência em vigor (BRA-SIL, 1988, art. 37, caput).
Os gestores públicos brasileiros en-frentam um grande desafio para atender atoda legislação e normativos aplicáveis aosetor público, mesmo quando se reduz oescopo para processos de contratação desoluções de TI. A criação e institucionali-zação desses processos envolvem frequen-temente ações complexas, como:
“a identificação dos requisitos neces-sários, a garantia da qualidade dosresultados esperados, os critérios deaceitação, a gestão de mudanças, astransferências de conhecimentos, a legis-lação pertinente, entre outros. E envol-vem também questões de relaciona-mento entre clientes e fornecedores, o
RSP
81Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
que implica competências administra-tivas e jurídicas” (CRUZ, 2011).
Segundo Cruz (2008), o normativo apli-cável às contratações de serviços de TI ébastante extenso e o processo de sua catalo-gação não é simples. Devem-se consideraros aspectos constitucionais, de organizaçãoadministrativa, orçamentários, de licitaçõese contratos, de direito autoral, de segurançada informação e crimes digitais, relativos apolíticas governamentais e de requisitos dasinstâncias do controle, além de se conside-rar as normas e modelos de governança deTI: ISO/IEC 38500 e Cobit; normas emodelos de melhoria de processo de software:ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15504, CMM,CMMI, MPS.BR; modelos de capacidade emcontratações: e SCM-SP, e SCM-CL; mode-los com foco em aquisição de software: IEEESTD 1062, SA-CMM, CMMI-ACQ, Guiade Aquisição-MPS.BR.
Diante desse cenário, Cruz (2008) criouo Quadro Referencial Normativo paracontratações de serviços de TI no setorpúblico (QRN), que foi reconhecido comoreferencial para orientação de gestores pormeio do Acórdão 1.215/2009-TCU-Plená-rio (BRASIL, 2009) aplicável ao Executivo,Judiciário, Legislativo e Ministério Público.
“O QRN foi elaborado com base emum modelo genérico do processo decontratação de serviços no setor público(organizado em fases, atividades e etapas)compilado a partir de modelos de refe-rência. Contém 289 entendimentoscondensados (corolários) que sumarizamos requisitos legais extraídos de 153fontes da legislação, jurisprudência eoutras fontes auxiliares” (CRUZ, 2008).
Somando-se a esse conjunto de legis-lações, normas, modelos e jurisprudências
para contratação, também é necessárioconsiderar os regulamentos internos aoórgão, como a política de segurança dainformação (PSI), além da legislação e dajurisprudência específicas sobre os pro-cessos de trabalho que a solução apoiará,como considerar a Lei no 8.112/1990 naaquisição de um sistema de gestão derecursos humanos (BRASIL, 2012, p. 42).
Em seu “Guia de Boas Práticas emContratação de Soluções de Tecnologia daInformação: Riscos e Controles para oPlanejamento da Contratação”, o TCUressalta um dos aspectos mais importantesdas contratações, que é a prática conhecidacomo “terceirização de serviços”. Encon-tra-se no Decreto-Lei no 200/1967, art. 10,§ 7o a diretriz para que a APF se desobrigueda execução de tarefas operacionais, recor-rendo, sempre que possível, à execuçãoindireta, desde que a iniciativa privada estejasuficientemente desenvolvida na área, bemcomo não haja comprometimento da segu-rança nacional.
O Decreto no 2.271/1997 regula-mentou, trinta anos depois, a diretriz de exe-cução indireta contida no § 7o do art. 10 doDecreto-Lei 200/1967 e incluiu as ativi-dades de informática no rol de serviços quedevem ser preferencialmente objeto de exe-cução indireta (Decreto 2.271/1997, art. 1o,§ 1o). Posteriormente, a IN – SLTI 4/2008regulamentou a execução indireta de ser-viços de TI, à luz da legislação corrente (Leis8.666/1993 e 10.520/2002) e da juris-prudência sobre o assunto, que, depois, foiatualizada pela IN – SLTI 4/2010. Asnormas citadas, bem como muitas outras,regulamentam o uso de montante conside-rável aplicado em TI pela APF.
Por fim, a fundamentação legal citadaé, em grande parte, aplicável a toda a APF.Contudo, alguns normativos não são deobservância obrigatória por alguns órgãos,
RSP
82 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
a exemplo do Decreto no 2.271/1997, quenão se aplica a entidades como as estatais,e de instruções normativas da SLTI quenão são de cumprimento obrigatório paraórgãos não pertencentes ao SISP. Entre-tanto, são considerados boas práticas emcontratação, sendo a adoção voluntáriadesses normativos recomendada pelo TCU(BRASIL, 2012, p.16).
A Instrução Normativa no 4/2010da SLTI
No âmbito da APF, para os órgãos inte-grantes do SISP no Poder Executivofederal, o processo de contratação desoluções de TI passou a ser objeto de legis-lação específica a partir da edição daInstrução Normativa nº 4/2008, que foipublicada inicialmente em maio de 2008 edepois atualizada em novembro de 2010e, novamente, em fevereiro de 2012 pelaIN – SLTI 2/2012.
Cabe registrar que o fato de ter sidoelaborada uma Instrução Normativa espe-cífica para serviços de TI
“implica a admissão de que a natu-reza e o processo da compra deserviços de Tecnologia da Informaçãopossuem características que os distin-guem da natureza e do processo decompra de outros serviços; caso con-trário, seria suficiente a legislação entãovigente sobre compras governamentais(leis e instruções normativas sobrelicitações, pregões, entre outros aspec-tos das aquisições de bens e serviçospela administração pública federal)”(HENKIN; SELAO, 2010).
O conjunto de normas e regras queconstituem a IN – SLTI 4/2008, 3/2009 e4/2010 foram derivadas de recomendaçõesdos Acórdãos 786/2006, 1.480/2007,1.999/2007, 2.471/2008 e 1.915/2010,
todos do Plenário do TCU. Observa-se, noentanto, que a IN – SLTI 2/2012 não seencontra alinhada às recomendaçõesdaquele órgão, pois afirma, contrariamenteàs recomendações do TCU, a nãoaplicabilidade da IN – SLTI 4 para:
“I – as contratações em que a contra-tada for órgão ou entidade, nos termosdo art. 24, inciso VIII da Lei no 8.666,de 1993, ou empresa pública, nos termosdo art. 2o da Lei no 5.615, de 13 de outu-bro de 1970, modificado pela Lei no
12.249, de 11 de junho de 2010; e
II – as contratações cuja estimativade preços seja inferior ao disposto noart. 23, inciso II, alínea “a” da Lei no
8.666, de 1993” (BRASIL, 2012a).
A Figura 2 mostra a estrutura da normaque traz, no seu primeiro capítulo, doisimportantes mecanismos de governançaque apoiam a contratação de soluções emTI. O primeiro é a Estratégia Geral deTecnologia da Informação (EGTI), elabo-rada pelo órgão central em conjunto comos órgãos setoriais e seccionais do SISP,que é revisada anualmente e contémorientações gerais para as áreas de TI dosórgãos e entidades da APF e entidadesintegrantes do SISP (art. 3o).
Em seguida, a norma aborda a obriga-toriedade do “planejamento, elaborado emharmonia com o Plano Diretor deTecnologia da Informação (PDTI),alinhado ao planejamento estratégico doórgão ou entidade.” (art 4º). Fica, portanto,estabelecido que os órgãos e entidades daAPF devem realizar seus processos deaquisição de serviços de TI de forma queestejam orientados e alinhados por instru-mentos estratégicos, sejam institucionais ouespecíficos de TI de cada órgão. A ênfaseno processo de planejamento se refere a mais
RSP
83Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
de uma dimensão: o planejamento de cadacontratação deve ser precedido pelo PDTIde cada órgão e estar alinhado com este,que, por sua vez, deve estar em consonânciacom as estratégias gerais do órgão ou enti-dade da APF à qual pertence, bem comocom as diretrizes da EGTI do SISP.
No segundo capítulo, encontra-se oprocesso de contratação de serviços de TI,constituído das fases de planejamento dacontratação, de seleção do fornecedor e degerenciamento do contrato, que também éconsiderado um importante mecanismo degovernança para contratação de soluçõesem TI (CRUZ, 2011).
Na fase PCTI, observam-se os cuidadoscom a definição das responsabilidades dosenvolvidos, justificativas e resultados espe-rados e fonte de recursos. Essa fase tem iní-cio com o recebimento do Documento deOficialização da Demanda (DOD) pela Áreade Tecnologia da Informação, oriundo daÁrea Requisitante da Solução. A Figura 3elenca as etapas do Planejamento daContratação com base no guia prático para
contratação de soluções de Tecnologia daInformação versão 1.1.
Conforme o art. 21 da IN – SLTI 4/2010, “a fase de Seleção do Fornecedorterá início com o encaminhamento do Ter-mo de Referência ou Projeto Básico pelaÁrea de Tecnologia da Informação à áreade licitações”, cabendo à última a respon-sabilidade pela fase. Além disso, caberá àárea de TI:
• apoiar tecnicamente o pregoeiro oua Comissão de Licitação nas respostas aosquestionamentos ou às impugnações doslicitantes; e
• apoiar na análise e julgamento daspropostas e dos recursos apresentados pe-los licitantes.
Essa fase é encerrada com a assinatu-ra do contrato e com a nomeação de pes-soas para exercerem os papéis de: gestordo contrato; fiscal técnico do contrato; fis-cal requisitante do contrato; e fiscal admi-nistrativo do contrato. A Figura 4 mostrao detalhamento dessa fase, com as princi-pais etapas da SFTI.
Figura 2: Estrutura da IN – SLTI 4/2010 atualizada pela IN – SLTI 2/2012
Fonte: Brasil, 2012a. Adaptado pelos autores.
RSP
84 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
O GCTI, de acordo com o art. 25 daIN – SLTI 4/2010, “visa a acompanhar egarantir o fornecimento dos bens e a ade-quada prestação dos serviços que com-põem a solução de tecnologia da informa-ção durante todo o período de execuçãodo contrato”, e conta com as etapas des-critas na Figura 5.
Figura 4: Etapas da Seleção do Fornecedor de Soluções de TI (SFTI)
Fonte: Brasil, 2012a. Adaptado pelos autores.
Avaliação da conformidade com aIN – SLTI 4/2010
Segundo definição da norma ABNTNBR ISO/IEC 17000:2005, a avaliação daconformidade é a “demonstração de queos requisitos especificados relativos a umproduto, processo, sistema, pessoa ouorganismo são atendidos” (ABNT, 2005).
Figura 3: Etapas do Planejamento da Contratação de Soluções de TI (PCTI)
Fonte: Brasil, 2012a. Adaptado pelos autores.
RSP
85Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
Apesar de o processo de contratação desoluções de TI estar definido e detalhadono Modelo de Contratação de Soluções deTecnologia da Informação (MCTI),proposto no “Guia prático para contrataçãode soluções de Tecnologia da Informaçãoversão 1.1”, e que se baseia nas fases e pro-cessos descritos na IN 4/2010, esse modelonão oferece uma proposta para avaliação deconformidade (BRASIL, 2011).
Portanto, para se executar esse tipo deaferição, é necessário considerar o queseriam os requisitos do referido processo eos critérios para atendimento dos mesmos.O MCTI é composto por fases que contêmfluxos ou processos, atividades, artefatos eatores, conforme a Tabela 1.
Poder-se-ia considerar, por exemplo,que os requisitos especificados para o
MCTI se traduzem na forma dos artefatosgerados para cada uma de suas fases, con-cluindo-se que, se os artefatos existem, afase está em conformidade. Essa aborda-gem, no entanto, tem alguns pontos defalha: um artefato pode ter sido gerado sema execução de alguma atividade como pre-vê o modelo, ou mesmo posteriormente,quebrando o fluxo de um processo. Hátambém a questão do vocabulário adotadona denominação dos artefatos, pois, apesarde apresentarem uma descrição, não existeuma taxonomia ou uma ontologia que certi-fique que o entendimento é padronizado ecomum nas diferentes instituições quedevem seguir o normativo.
Com essas observações e considerandoa definição de requisito como uma caracte-rística ou condição indispensável para a
Fases Processos Atividades Artefatos AtoresPCTI 5 41 8 7
SFTI 3 7 1 4
GCTI 5 19 4 5
Tabela 1: Distribuição dos Processos, Atividades, Artefatos e Atores do MCTI
Fonte: Brasil, 2011.
Figura 5: Etapas do Gerenciamento do Contrato de Soluções de TI (GCTI)
Fonte: Brasil, 2012a. Adaptado pelos autores.
RSP
86 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
existência ou execução do processo, o item“Atividades” apresenta-se como o melhorcandidato para aferição da conformidade.Afinal, para as atividades serem executadas,é necessária a participação dos atores e oseu resultado final é a criação, atualizaçãoou eliminação de algum artefato. Alémdisso, essas atividades ocorrem segundoum fluxo mapeado, agregando, emconsequência, todos os componentes dasfases do MCTI. Em resumo, ao se avaliara execução ou não de cada uma das ativi-dades, deve ser possível demonstrar queos requisitos relativos ao processo são aten-didos, evidenciando que há conformidadeou não com a norma.
Dada a natureza dinâmica dos proces-sos, é possível existirem instâncias dife-rentes de um mesmo processo acontecendosimultaneamente, onde as atividades queo compõem podem ocorrer em uma ins-tância, mas terem sido negligenciadas emoutra. Logo, a utilização de checklists comopções binárias só funcionaria para avaliara conformidade de cada instância do pro-cesso, o que poderia tornar a avaliaçãodemorada, prejudicando sua eficiênciaquanto ao provimento de informaçõesgerenciais em tempo hábil.
Por isso, é conveniente considerar ouso de uma escala Likert, que permite aosavaliados se posicionarem em diversosníveis, e analisarem, para um conjunto decontratações de TI, se uma atividade é reali-zada sempre, nunca ou às vezes (confor-me a granularidade escolhida para a escala),em vez de analisarem individualmente cadacontratação.
O critério para medir a conformidadepode ser, portanto, a execução ou não dasatividades de cada fase, considerando umperíodo e um conjunto de contratações. Porexemplo, se no ano de 2011 ocorreramcinco contratações de TI e somente em três
delas (60%) a atividade A foi executada e aatividade B ocorreu em todas as cinco ins-tâncias do processo (100%), a fase com-posta pelas atividades A e B não pode serconsiderada 100% conforme, pois apenas50% da fase (atividade B) é sempre execu-tada. Logo, seria considerado 50% de con-formidade para esse exemplo.
Cabe ressaltar que o uso da escalaLikert também proporciona uma oportu-nidade para análise mais detalhada, pois,no exemplo acima, apesar de haver umnível de conformidade de apenas 50%, épossível observar que o esforço para sealcançar um índice de 100% consiste emaumentar o índice de execução da atividadeA de 60% para 100%.
Avaliação da maturidade deprocessos
A IN – SLTI 4/2010 se destaca entreos diversos modelos ou processos comfoco em aquisição de software, como o Guiade Aquisição-MPS.BR, o CMMI forAcquisition (CMMI-ACQ) e o COBIT, porser aplicada à realidade da gestão públicabrasileira e alinhada à nossa legislação.Porém, o MCTI não provê uma ferramenta,modelo ou orientações para a medição damaturidade do processo.
A Melhoria do Processo de SoftwareBrasileiro (MPS.BR) é um programa coor-denado pela Associação para Promoção daExcelência do Software Brasileiro(SOFTEX), composto por diversos docu-mentos. O Guia Geral 2009 descreve aestrutura do modelo e dos níveis de matu-ridade, processos e capacidade, resultadosesperados e oferece uma visão geral dosguias de implementação dos níveis, do pro-cesso de avaliação e do guia de aquisição(SOFTEX, 2009).
Nesse modelo, cada nível de maturidaderepresenta uma combinação entre processos
RSP
87Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
e suas capacidades, com uma evoluçãocaracterizada por sete estágios de melhoria(de A a G), possibilitando prever o desem-penho da organização a partir da imple-mentação de um ou mais processos.Observa-se que o Processo Aquisição –AQU encontra-se no Nível F – Gerenciado,o que significa, nesse modelo, que é acres-cido pelos processos do nível de maturi-dade anterior e dos demais processos donível F: Garantia da Qualidade; Gerênciade Configuração; Gerência de Portfólio deProjetos; e Medição (SOFTEX, 2009). É,portanto, um modelo de maturidade bemespecífico e aplicável somente no contextoproposto no MPS.BR.
Já o CMMI-ACQ versão 1.3 provê orien-tação para a aplicação das melhores práticasCMMI pelo contratante, que são focadas ematividades para iniciar e gerir a aquisição deprodutos e serviços que atendam às necessi-dades do cliente (SEI, 2010). Quanto à ava-liação, o documento se refere ao AppraisalRequirements for CMMI (ARC), que descreveos requisitos para se criar modelos para dife-rentes tipos de avaliações, variando a forma-lidade em três classes, em que a classe A édefinida como um método formal para umbenchmarking completo. Conforme a finalidadeda avaliação e natureza das circunstâncias,pode-se elaborar uma autoavaliação, umabreve avaliação inicial ou uma avaliaçãoexterna (SEI, 2010). De qualquer forma, oCMMI-ACQ não detalha uma avaliação dematuridade específica para os processos deaquisições de TI, mas se apoia no ARC, queé considerado uma referência para se entenderou propor modelos de avaliação.
O COBIT 4.1 é um framework paragerenciar e controlar as atividades de TI,com uma compilação de boas práticas divi-didas em quatro domínios, num total de 34processos (ITGI, 2007). Entre esses, odomínio de Aquisição e Implementação é o
que está mais relacionado à contratação deserviços de TI, embora processos de outrosdomínios também sejam referenciados.
Para o ITGI (2007), o propósito domodelo de maturidade é identificar ondeos problemas estão e como estabelecerprioridades para melhorias, e não simples-mente avaliar o nível de aderência aos obje-tivos de controle. Analisar a maturidade deum processo COBIT deve permitir àorganização identificar o estágio atual da
empresa, o estágio atual do mercado(benchmarking), a maturidade pretendida eo caminho a ser percorrido para sair dasituação atual para a situação futura. Cadaprocesso do COBIT é avaliado segundouma escala genérica, complexa, e que exigeuma visão completa e sistêmica da organi-zação, que é apresentada no Quadro 1(XAVIER, 2010).
“... as instituiçõescom áreas de TImuito pequenasobtiveram os pioresíndices deconformidade ematuridademedidos.”
RSP
88 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
Quadro 1: Maturidade do COBIT 4.1
0 - Inexistente
1 - Inicial / Ad hoc
2 - Repetível,porém Intuitivo
3 - Definido
4 - Gerenciado eMensurável
5 – Otimizado
Completa falta de um processo reconhecido. A orga-nização nem mesmo reconheceu que existe umaquestão a ser trabalhada.
Existem evidências de que a organização reconhe-ceu a existência de questões que precisam ser traba-lhadas. No entanto, não existe processo padroniza-do; ao contrário, existem enfoques ad hoc que tendema ser aplicados individualmente ou caso a caso. Oenfoque geral de gerenciamento é desorganizado.
Os processos evoluíram para um estágio em que pro-cedimentos similares são seguidos por diferentes pes-soas, fazendo a mesma tarefa. Não existe um treina-mento formal ou uma comunicação dosprocedimentos padronizados e a responsabilidade édeixada com o indivíduo. Há um alto grau de confi-ança no conhecimento dos indivíduos e,consequentemente, erros podem ocorrer.
Procedimentos foram padronizados, documentadose comunicados por meio de treinamento. É requeri-do que esses processos sejam seguidos; no entanto,possivelmente, desvios não serão detectados. Os pro-cedimentos não são sofisticados, mas existe aformalização das práticas existentes.
A gerência monitora e mede a aderência aos proce-dimentos e adota ações quando os processos nãoestão funcionando bem. Os processos são constan-temente aprimorados e fornecem boas práticas.Automação e ferramentas são utilizadas de uma ma-neira limitada ou fragmentada.
Os processos foram refinados em um nível de boaspráticas e são continuamente aprimorados. A TI éutilizada como uma opção para automatizar o fluxode trabalho, provendo ferramentas para aprimorar aqualidade e efetividade, tornando a organização rá-pida em adaptar-se.
Fonte: ITGI, 2007, p.21. Adaptado pelos autores.
RSP
89Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
O COBIT 4.1 oferece uma abordagempara avaliação da maturidade em que cadaprocesso apresenta um modelo de maturi-dade próprio, tornando este um modelomuito específico para avaliação da matu-ridade e único para cada um dos 34 proces-sos. Porém, esse framework, após um estudointitulado IT Governance and Process Maturity(ITGI, 2008), passou a apresentar tambémuma proposta com operacionalizaçãosimplificada e genérica por meio do usode atributos.
Esse modelo genérico prevê a identi-ficação de seis atributos referenciais(Sensibilização e Comunicação; Políticas,Planos e Procedimentos; Ferramentas eAutomação; Habilidades e Conhecimen-to; Responsabilidade e Responsabilização;e Metas e Mensuração). Tais atributossão organizados em uma escala de 0 a 5(0 = não existente, 1 = inicial ou ad hoc,2 = repetível, mas intuitivo, 3 = definido,4 = gerenciado e mensurável, e 5 = otimi-zado) que permite a sua aplicação paraqualquer processo, eliminando a necessi-dade de utilizar o modelo de maturidadeespecífico de cada processo, bastando uti-lizar a Tabela de Maturidade de Atributos
parcialmente mostrada no Quadro 2(XAVIER, 2010).
Procedimentos metodológicos
Ao explicitar quais atividades estão ounão em conformidade com o normativo,os conhecimentos sobre o processo e asdeficiências na sua execução podem seraplicados de forma imediata e eficaz nasinstituições envolvidas, evidenciando osproblemas vivenciados nessas organizaçõesquanto à execução do processo conformeprediz a norma.
A avaliação da percepção da maturida-de das fases do processo por parte dosgestores de TI também proporciona umconjunto de informações que podem serutilizadas pelos gestores envolvidos em seusplanejamentos futuros, seja na imple-mentação de ações corretivas ou controlesou, até mesmo, na manutenção de determi-nado nível de maturidade alcançado.
Este estudo pode, então, ser caracteri-zado, quanto à sua natureza, como umapesquisa aplicada, pois “visa a fornecersubsídios para a resolução de problemaspráticos” (GONDIM e LIMA, 2006).
Fonte: Xavier, 2010.
Quadro 2: Trecho da Tabela de Maturidade de Atributos (nível de maturidade 1)
RSP
90 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
Neste estudo, os dados coletadosexpressam a percepção dos respondentes,indicando uma interpretação do fenômenoe configurando uma característica qualita-tiva. Por outro lado, essas opiniões pude-ram ser traduzidas em números com oobjetivo de análise apoiada em recursos etécnicas estatísticas como a média, percen-tagem e mediana, indicando uma caracte-rística quantitativa.
Quanto aos fins, o aspecto descritivodesta pesquisa fica claro pois “expõe ascaracterísticas de determinada população oude determinado fenômeno” (VERGARA, 1998,p. 45) ao investigar o universo do MinistérioPúblico Brasileiro. Ela também pode serconsiderada exploratória, já que envolveulevantamento bibliográfico e entrevistas comos gestores responsáveis pelos processos degovernança de TI e contratações de soluçõesde TI em suas organizações, e pesquisadocumental, em especial a procura e seleçãode normativos como os Acórdãos do TCUrelacionados a contratações de TI. Comomeio de investigação (ou procedimentotécnico), foi utilizado o levantamento que,“mediante a utilização de questionários eentrevistas estruturadas, possibilita o conheci-mento direto da realidade e a quantificaçãodos fenômenos, além de permitir a obtençãode resultados com relativa rapidez e econo-mia” (GIL, 2009, p. 9).
O protocolo de trabalho incluiu asatividades prévias, como a escolha doMPB como universo para pesquisa, a elabo-ração de questionário e identificação dosresponsáveis em cada instituição e umaapresentação presencial dos objetivos eprocedimentos da pesquisa, estabelecendoo período para respostas, por ocasião deencontro realizado com a alta direção dasáreas de Tecnologia da Informação dos MPbrasileiros em outubro de 2012. As ativi-dades posteriores ao levantamento de
dados foram o envio de relatório conso-lidado com uma análise dos dados e o agra-decimento aos respondentes.
Uma análise documental também foirealizada, em que se procurou identificar,no piloto e nas demais instituições, a exis-tência de algum normativo, mapeamento deprocesso, mecanismo de controle ou docu-mento formal que tratasse especificamentedo tema das contratações de TI. Além deter sido realizado um estudo aprofundadoda IN – SLTI 4/2010 e do seu guia práticopara contratação de soluções de tecnologiada informação versão 1.1.
Nas instituições participantes, a únicadocumentação encontrada foi uma porta-ria regulamentadora do processo decontratações de TI na organização piloto.Ela foi analisada com especial atenção naidentificação das atividades das fases daIN – SLTI 4/2010, por meio de ummapeamento entre os artigos da IN – SLTI4/2010 e os artigos dispostos na portariaregulamentadora do órgão. Foi identifica-do que todos os artigos que descrevematividades do processo são idênticos nosdois documentos. As diferenças encontra-das foram nos artigos sobre planejamentoprévio (PDTI e EGTI), e vedações e dis-posições finais, como o Art.32 da IN –SLTI 4/2010 que trata da revogação daIN – SLTI 4/2008.
O instrumento proposto para medir aconformidade das contratações de soluçõesde TI com a IN – SLTI 4/2010 consistiuem um questionário com uso de escalaLikert de 5 pontos, variando de “0 – Nun-ca é realizada a 4 – É realizada para todasas demandas”, composto pelas atividadesdas fases, como pode ser observado naFigura 6. Essa escala é amplamente utili-zada e força os entrevistados a indicar ograu de concordância ou discordância dasvariáveis apresentadas (MALHOTRA, 2001).
RSP
91Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
O critério para determinar a confor-midade dos processos de contratação coma IN – SLTI 4/2010 foi a verificação dequantas atividades de cada fase foramrealizadas para todas as demandas. Ouseja, em um primeiro momento, se a ativi-dade foi realizada em mais de 50% dasdemandas, ela não está em conformidadecom a norma, pois se espera que sejasempre executada, e não apenas executadana maioria das vezes. Contudo, essainformação é considerada na análise dosdados, para se identificar quais atividadesou fases estão mais próximas de seremconsideradas em conformidade e quaisestão em pior situação. Sendo assim, umafase com sete atividades, em que cincoforam informadas como “realizada paraTODAS as demandas”, tem uma confor-midade de aproximadamente 71% com aIN – SLTI 4/2010, para uma instituiçãoem particular.
Ao se considerar o conjunto de insti-tuições que participaram da pesquisa,objetivando gerar um panorama geral daconformidade, os dados obtidos foramclassificados por meio do percentual deinstituições que responderam “realizadapara TODAS as demandas” para cadaatividade. A partir daí, utilizou-se a médiadesses percentuais encontrados nas
atividades para se obter a conformidadeda etapa ou processo.
A Tabela 2 apresenta o resumo dessespercentuais, mostrando um detalhamentopara o PCTI e outro para o Plano deSustentação, que é parte do PCTI. Ou seja,considerando o Plano de Sustentação, 15%das instituições respondentes indicaramque a atividade (a definição dos recursosmateriais) é “realizada para TODAS asdemandas”. A média de 13% para o Planode Sustentação é resultado dos valoresinformados para as atividades dessa etapa,que aparecem na parte inferior da tabela.Por sua vez, a média encontrada para oPlano de Sustentação é considerada nocálculo da média de 31% do Planejamentode Contratações de TI e esta, junto com osvalores obtidos similarmente para a Seleçãode Fornecedores de TI (69%) e Gerencia-mento do Contrato da Solução de TI(46%), geram o valor médio de 48% deconformidade dos Processos de Contra-tação dos MP brasileiros com a IN04.
Na seção “Avaliação da conformidade coma IN – SLTI 4/2010” deste artigo foi apre-sentado o modelo de maturidade poratributos do COBIT 4.1, que é genérico osuficiente para permitir a sua aplicação aqualquer processo, bastando utilizar aTabela de Maturidade de Atributos. Com
Figura 6: Exemplo de pergunta do questionário
Fonte: Elaboração própria.
RSP
92 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
isso, o questionário foi elaborado paramedir também a maturidade de cada fasedo processo, PCTI, SFTI e GCTI. A Figura7 traz um exemplo para o atributo Cons-ciência e Comunicação com a escala paraautoavaliação por meio da escolha do nívelmais adequado à organização. Como aescala não oferece valores intermediários,os respondentes foram orientados a seposicionarem no nível em que todas ascaracterísticas fossem atendidas, ou seja, onível de menor maturidade no caso dedúvida entre dois níveis.
A Tabela 3 mostra o detalhamento damedição e cálculo da maturidade da fase
PCTI para uma instituição participante, emque os resultados obtidos para cada umdos seis atributos são utilizados para ocálculo da média que identifica o nível dematuridade para aquela fase. Para consoli-dação e visão geral do segmento MPB, amédia foi novamente utilizada após ocálculo individual de cada instituiçãoparticipante.
A aplicação do questionário no pilotofoi realizada com três participantes dediferentes cargos na hierarquia da insti-tuição, sendo todos conhecedores doprocesso de aquisições de TI em vigor, eteve por objetivo possibilitar um melhor
Fonte: Elaboração própria.
Tabela 2: Cálculo da conformidade dos processos com a IN – SLTI 4/2010Planejamento de Contratações de TI (PCTI) MP que indicaram
“atividade SEMPREexecutada”
Processo de Iniciação
Análise de Viabilidade da Contratação
Plano de Sustentação
Estratégia da Contratação
Consolidação das informações
Análise de Riscos
Média do PCTIMédia do SFTI
Média do CGTIConformidade dos Processos de Contratação dos MPBrasileiros com a IN04
Plano de Sustentação MP que indicaram“atividade SEMPRE
executada”[A definição dos recursos materiais][A avaliação do Plano de Sustentação][A definição das atividades de transição][A elaboração da estratégia de continuidade][A elaboração da estratégia de independência]
[A consolidação das informações]Média do Plano de Sustentação
20%40%
38%
11%
62%31%
69%
46%
49%
15%8%8%
15%15%15%13%
13%
RSP
93Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
ajuste no instrumento de pesquisa, obten-do-se diferentes visões e críticas. Para asdemais instituições participantes, o ques-tionário foi aplicado somente com umparticipante.
A coleta de dados do piloto foireferente a aquisições realizadas peloórgão no período de janeiro de 2011 asetembro de 2012. Cada respondente nãotomou conhecimento das respostas dosdemais e despendeu aproximadamenteuma hora para responder a todo o questio-nário, em dias distintos.
Alguns dos ajustes necessários foram:o acréscimo de um breve resumo sobre oescopo da IN – SLTI 4, esclarecendo queo questionário deveria ser respondido
baseado nas compras reais – que ocorre-ram no período indicado pelo respondente– que fossem acima de R$80.000,00, queé o limite estabelecido pelo normativo; ea explicitação de qual processo estavasendo avaliado na maturidade em cada umdos atributos, para não confundir com oprocesso completo da IN – SLTI 4.
Também foram coletadas caracterís-ticas acerca do tamanho da área de TIde cada instituição, com participação de13 ministérios públicos que representamcerca de 43% do total, assim como infor-mações acerca das estruturas e mecanis-mos de governança de TI, com afinalidade de apoiar o processo deinferência dos resultados.
Fonte: Elaboração própria.
Tabela 3: Maturidade do PCTI de uma instituição
Figura 7: Exemplo de pergunta sobre maturidade do PCTI no questionário
Fonte: Elaboração própria.
*Considerando o atributo de CONSCIÊNCIA E COMUNICAÇÃO, escolha o nível de maturidade mais adequado para a sua organização.
Escolha uma das seguintes respostas:
Nível 1 - Reconhecimento da necessidade do processo está surgindo. Existe uma comunicação esporádica das questões.
Nível 2 - Existe consciência da necessidade de agir. A gerência comunica as questões genéricas.
Nível 3 - Existe um entendimento da necessidade de agir. O gerenciamento é mais formal e estruturado em sua comunicação.
Nível 4 - Existe um entendimento de todos os requisitos. Técnicas de comunicação maduras são aplicadas e ferramentas de comunicação padrão são utilizadas.
Nível 5 - Existe um entendimento avançado dos requisitos. Existe uma comunicação proativa das questões baseada em tendências. Técnicas de comunicação maduras são aplicadas e ferramentas integradas são utilizadas.
RSP
94 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
Universo da pesquisa: o Minis-tério Público Brasileiro
Em 1988, a Constituição Federal fezreferência expressa ao Ministério Públicono capítulo “Das funções essenciais àJustiça”, definindo as funções institucio-nais, as garantias e as vedações de seusmembros. A partir de então, na área cível,o Ministério Público adquiriu novasfunções, destacando a sua atuação na tutelados interesses difusos e coletivos, comomeio ambiente; consumidor; patrimôniohistórico, turístico e paisagístico; pessoaportadora de deficiência; criança e adoles-cente; comunidades indígenas e minoriasético-sociais.
O Ministério Público Brasileiro podeser entendido como a composição das ins-tituições: Ministério Público da União(MPU), que engloba o Ministério PúblicoFederal, o Ministério Público do Trabalho,o Ministério Público Militar e o MinistérioPúblico do Distrito Federal e Territórios;e o Ministério Público do Estado (MPE),presente em cada um dos 26 estados brasi-leiros. Essas instituições têm asseguradasua autonomia funcional, administrativa efinanceira, sendo similar à estrutura doJudiciário, sem, no entanto, fazer parte domesmo.
Todas essas instituições respondem aum único órgão de controle externo e defiscalização do exercício administrativo efinanceiro: o Conselho Nacional doMinistério Público (CNMP). Desde suacriação, em 2004, pela Emenda Constitu-cional no 45, o CNMP tem mostradopreocupação com o planejamento estra-tégico e a atuação das áreas de Tecnologiada Informação, por meio de resoluções erecomendações. Para melhor se estruturar,no intuito de compartilhar experiências,promover estudos, coordenar atividadese fixar políticas e padrões em TI, foi criado
o Comitê de Políticas de Tecnologia daInformação do Ministério Público, oCPTI-MP, exclusivo para as áreas deTecnologia da Informação dos MinistériosPúblicos (MP), com a participação da altadireção.
Apesar de não fazer parte do Sistemade Administração dos Recursos deTecnologia da Informação e, portanto, nãoestar diretamente obrigado a seguir aIN – SLTI 4/2010, o CNMP recebeu reco-mendações do TCU por meio do Acórdãono 1.603/2008 no item 9.1.6, do Acórdãono 1.233/2012 no item 9.16 e do Acórdãono 54/2012 no item 9.4, para que:
“9.4.1. oriente os órgãos e as entida-des do Ministério Público da União aexecutar as seguintes ações nascontratações de serviços de TI:
9.4.1.1. elaborar estudos técnicospreliminares, à semelhança do dispos-to no art. 10 da IN SLTI/MPOG 4/2008, previamente à elaboração dostermos de referência e projetos bási-cos, inclusive nos casos de dispensa einexigibilidade de licitação, em atençãoao art. 6o, inciso IX, alínea “e”, da Lei8.666/1993;
9.4.1.2. elaborar plano de trabalho,inclusive nos casos de dispensa einexigibilidade de licitação, em atençãoao disposto no art. 2o do Decreto2.271/1997;
9.4.1.3. instruir cada processo decontratação com termo de referênciaou projeto básico à luz do item 9.1 doAcórdão no 2.471/2008 – Plenário,inclusive nos casos de dispensa einexigibilidade de licitação, em atençãoao disposto no inciso II do art. 21 doDecreto no 3.555/2000, no inciso IXdo art. 6o da Lei no 8.666/1993, e noart. 17 da IN SLTI/MPOG 4/2008;
RSP
95Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
[...]9.4.1.6. observar o disposto na IN
SLTI/MPOG 4/2008, com relação àgestão contratual, em especial o art. 14,incisos II e III, e o art. 20, inclusivenos casos de dispensa ou inexigibi-lidade de licitação, em atenção ao art.6o, inciso IX, alínea “e”, da Lei no
8.666/1993;9.4.1.7. designar formalmente o
preposto da contratada, inclusive noscasos de dispensa ou inexigibilidade delicitação, em atenção ao art. 68 da Leino 8.666/1993" (BRASIL, 2012b).Com base nessas recomendações, em
reunião do CPTI ocorrida em outubro de2012, foi instituído um grupo de trabalhopara elaborar a minuta da resolução sobrecontratações de TI baseada na IN – SLTI4/2010, válida para o MPB. Esse trabalhofoi apoiado com a aplicação do questio-nário discutido neste estudo.
Resultados obtidos
Os resultados obtidos para o grau dematuridade de cada processo foram con-solidados utilizando-se a média, como podeser observado na Figura 8.
A conformidade dos processos com aIN – SLTI 4/2010, por sua vez, está resu-mida na Tabela 4.
Por fim, foram criadas duas tabelasagrupando as atividades com os maioresíndices de não execução e os maiores índi-ces de execução, em cada uma das três fases:PCTI, SFTI e GCTI. As Tabelas 5 e 6mostram uma parte dos resultados encon-trados para o PCTI com essa abordagem.
Análise dos resultadosComo pode ser observado na Figura
9, as áreas de TI muito pequenas (de 1 a15 pessoas) representam apenas 15% daamostra. É esperado que essa quantidade
Figura 8: Média da maturidade dos processos da IN – SLTI 4/2010
Fonte: Elaboração própria.
RSP
96 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
Tabela 4: Resumo dos índices de conformidade
Fonte: Elaboração própria.
Fonte: Elaboração própria.
Tabela 5: “Não execução” das atividades no PCTI
RSP
97Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
de recursos humanos se traduza emdeficiências na execução de um processocomplexo como o de aquisições de TI, oque foi verificado, pois as instituições comáreas de TI muito pequenas obtiveram ospiores índices de conformidade e maturi-dade medidos.
Nota-se, também, que 54% das insti-tuições possuem um Comitê Estratégico
de TI (CETI), mas apenas 8% possuemum Plano Estratégico de TI (PETI). Comoabordado na introdução deste artigo, agovernança de TI tem uma ligação diretacom aquisições e investimentos, e aexistência de um CETI favorece o controlee acompanhamento das compras de TI. Jáa falta de um PETI e um índice modestode instituições com PDTI podem ter
Tabela 6: “Execução” das atividades no PCTI
Fonte: Elaboração própria.
Fonte: Elaboração própria.
Figura 9: Características da amostra
RSP
98 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
contribuído para que a fase com maior focoem planejamento, a PCTI, tenha sido a fasecom o menor índice de conformidade.
Observando-se as fases da IN – SLTI4/2010 para a organização piloto, verificou-se, conforme a Figura 10, que a SFTI tem omelhor índice de conformidade, poucoacima da média nacional medida para essesegmento público. O GCTI obteve índicesmedianos, mas também acima da médianacional, e o PCTI foi a fase com o menoríndice de conformidade, o que seguiu a ten-dência encontrada nos outros órgãos.
O PCTI é a fase com maior quantidadede artefatos, atividades e atores, o que a tornamais complexa. Entretanto, vale ressaltar queo planejamento adequado das contrataçõescria condições para que os órgãos executema seleção de fornecedor e gestão contratualcom maior probabilidade de êxito e de formamais segura (BRASIL, 2012).
Ainda segundo o TCU (2012), o pla-nejamento da contratação é fundamentalpara que:
1) a contratação agregue valor ao órgão;2) os riscos envolvidos sejam geren-
ciados;3) a contratação esteja alinhada com o
planejamento do órgão e de sua TI, bemcomo com o planejamento do órgãogovernante superior ao qual esteja vincu-lado; e
4) os recursos envolvidos sejam bemutilizados, não só os recursos financeiros,mas também os recursos humanos.
Salienta-se que planejamento é umprincípio fundamental que deve permeartoda a atuação da APF, como consta noDecreto-Lei no 200/1967, art. 6o, inciso Ie art. 10, § 7o. Adicionalmente, na IN –SLTI 4/2010, art. 4o, consta que ascontratações de TI deverão ser precedidas
Figura 10: Média da conformidade para o PCTI, SFTI e GCTI (Piloto)
Fonte: Elaboração própria.
RSP
99Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
de planejamento, elaborado em harmoniacom o Plano Diretor de Tecnologia daInformação (PDTI), que, por sua vez,deverá estar alinhado com o planejamentoestratégico do órgão (BRASIL, 2012, p. 21).
Além da complexidade, a percepção dematuridade mais baixa no PCTI pode tersido influenciada pela falta dos planos PETIe PDTI, como comentado anteriormente, etambém pela falta de entendimento de cadaatividade pelos participantes, tendo em vistaa introdução de um vocabulário novo, logono primeiro artigo da norma, a falta demapeamento do processo e a não existênciade modelos dos artefatos citados, como oDOD, que foi verificado no piloto e podese repetir nas outras instituições. Outro fatorque pode ter contribuído para esse resul-tado está relacionado à forma de implan-tação do normativo na instituição-piloto,que, apesar de complexo, entrou em vigorna data de sua publicação, sem prever umatransição ou iniciativas de sensibilização ecapacitação.
Observando-se que a escala de matu-ridade não oferece níveis intermediários eque o questionário continha uma instru-ção para que se considerasse o nível maisbaixo, no caso de não atendimento de todasas características descritas no nível em aná-lise, a maturidade medida enquadra-se nonível 2, já que a média encontrada foi de2,42 para os processos PCTI e SFTI, e de2,46 para o GCTI. Segundo o modeloadotado, baseado no COBIT 4.1, nessenível de maturidade:
“os processos evoluíram para umestágio em que procedimentos similaressão seguidos por diferentes pessoas,fazendo a mesma tarefa. Não existe umtreinamento formal ou uma comunica-ção dos procedimentos padronizados ea responsabilidade é deixada com o
indivíduo. Há um alto grau de confiançano conhecimento dos indivíduos e,consequentemente, erros podemocorrer” (ITGI, 2007, p.21).
A Figura 11 apresenta os resultados daavaliação de maturidade com o uso de di-agramas de caixa, também conhecidoscomo Boxplot, cuja tendência central dosdados é feita utilizando a mediana, que nãoé afetada por modificações de valores abai-xo ou acima dela, permitindo uma análisesem a interferência de valores discrepan-tes. A elaboração é feita a partir da deter-minação dos valores máximo e mínimopara a variável observada, além da media-na e do 1o e 3o quartis (HAIR et al, 2005apud XAVIER, 2012, p. 63).
O Boxplot ilustra a distribuição dosdados. O tamanho de cada quadrado bran-co indica que a amostra está pouco disper-sa e que os valores são atípicos, indicadospelos asteriscos (respostas fora dos padrõesobservados para a maioria dos MP). Parao PCTI, duas instituições se posicionaramcom uma percepção de alta maturidade,alcançando os níveis 4 – Gerenciado eMensurável e 5 – Otimizado, e para oGCTI duas instituições se posicionaram nonível 4 – Gerenciado e Mensurável. Essesníveis de maturidade denotam um alto graude aprimoramento e uso de boas práticas,incluindo ferramentas e automação, e sepoderia esperar que processos tão madu-ros resultassem em um alto índice de con-formidade. Isso foi observado, pois essasinstituições obtiveram os maiores índicesde conformidade também.
Além disso, a área representada pelosretângulos no PCTI e GCTI ilustra comoa amostra encontra-se com valores muitopróximos uns dos outros, sendo possívelafirmar que a média de 2,42 realmenterepresenta um valor válido para a maioria
RSP
100 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
dos casos, já que 75% da amostra (terceiroquartil) encontra-se abaixo de 2,7. Essafigura indica que ações para essas fasespoderiam ser realizadas de maneira uni-forme, pois atenderão à maioria dos casosque são relativamente similares uns aosoutros. Para se estabelecer um conjunto deações a serem tomadas sobre as fases, énecessário um detalhamento das metas dematuridade que se deseja alcançar; porém,essa avaliação não fez parte do escopo desteestudo, sendo uma oportunidade paratrabalhos futuros.
Para a fase SFTI, a Figura 11 mostraum maior distanciamento dos valores ilus-trado pelo retângulo ligeiramente maior queos do PCTI e GCTI. Sendo assim, apesarda média ter sido igual à da fase PCTI, érecomendável que ações de melhorias parao grupo de órgãos com maturidade maispróxima do nível 1 e 2 sejam diferentes
das ações que atenderão às necessidadesdo grupo de instituições com maturidademais próxima do nível 3 e 4. Pelo fato de ogrupo encontrar-se mais disperso, sugere-se procurar soluções diferenciadas para osmesmos, caso se proponha um aumentona maturidade dessa fase do processo.
É importante ressaltar que a matu-ridade das fases diz respeito ao reconhe-cimento do processo pela organização, compadronização, documentação, monitora-mento e controle, utilização de ferramentasautomatizadas, utilização de boas práticase preocupação com qualidade e efetividadedos processos, enquanto a conformidadese preocupa em verificar se os processosestão sendo executados como está descrito.
Sendo assim, um baixo nível de matu-ridade e um alto índice de conformidadepara o SFTI podem indicar que, apesar deestarem sendo executadas, as atividades não
Figura 11: Bloxplot dos Processos da IN – SLTI 4/2010 para o MPB
Fonte: Elaboração própria.
RSP
101Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
são automatizadas, não há monitoramentoe controle, ou mesmo padronização edocumentação. Uma atividade como“Nomeação do gestor e fiscais do contrato”,que é realizada em mais de 50% dasdemandas por 77% da amostra, ou seja, umbom índice de conformidade, em umambiente de baixa maturidade, pode ocorrerem momentos diferentes do processo, orajunto com a assinatura do contrato, ora apóso início da execução dos serviços, massempre acontece. Com um índice de maturi-dade elevado, seria possível afirmar que elasempre ocorre em um momento específicodo processo e que pode ser medida, porexemplo, pela quantidade de portarias comnomeações no período avaliado.
Para uma análise mais completa, énecessário responder à pergunta “Qual onível de maturidade desejado para cada pro-cesso?”. Essa meta pode ser estabelecidano plano de ação do CNMP para a transi-ção e implantação do processo de contra-tações de soluções de TI a ser estabelecidopor meio de uma resolução em nível nacio-nal. Outra pergunta que pode subsidiar estetrabalho seria: “É possível estabelecer onível de maturidade por atributo para cadaprocesso?”.
Somente a análise da percepção damaturidade das fases não é suficiente parauma conclusão sobre a conformidade coma IN – SLTI 4/2010. Para isso, é neces-sário avaliar a execução das atividades decada fase. Foram consideradas “confor-mes” aquelas atividades que foram execu-tadas sempre, ou seja, para todas ascontratações do período avaliado pelogestor.
Para fins deste estudo, também foramdestacadas as atividades que são menosexecutadas, ou seja, atividades que foramexecutadas em até “cerca de 50% dasdemandas”. Esse levantamento pode indicar
os principais pontos de melhoria e necessi-dade de suporte para os MP no Brasil.
Observou-se que algumas atividadescomo “PCTI [Instituição Formal de umaEquipe de Planejamento da Contratação]e SFTI [Destituição da Equipe de Planeja-mento da Contratação]” tiveram um altoíndice de não realização. Cerca de 69% dosrespondentes nunca realizaram essas ativi-dades, chegando a 84% e 77% respectiva-mente, se considerarmos aqueles queexecutaram menos de 50% das demandas.Nota-se, nesse caso, que são atividades deresponsabilidade da autoridade competenteda área administrativa, o que pode indicara falta de conhecimento do processo porparte da área administrativa e, consequente-mente, a falha em assumir essa responsabi-lidade. A realização de um estudo maisdetalhado sobre os motivos da nãoexecução dessas atividades pode indicarfatores de sucesso ou barreiras na implan-tação da IN – SLTI 4/2010.
Sobre o PCTI, foi possível verificar queas atividades relacionadas ao Plano deSustentação e Análise de Riscos são asmenos executadas; logo, deve-se avaliardetalhadamente a viabilidade de implan-tação dessas atividades, procurando-seestabelecer qual o suporte necessário emtermos de pessoal, treinamento, consul-toria, modelos, entre outras atividades emecanismos disponíveis. Esse é tambémo processo com mais atividades e quepercentualmente apresentou mais defi-ciências. De um total de 32 atividades,somente 13 são realizadas em mais de 50%das demandas.
Apesar das fases PCTI, SFTI e GCTIterem alcançado o mesmo nível de maturi-dade pela autoavaliação dos gestores, afrequência com que as atividades são rea-lizadas no SFTI é consideravelmente maiorque nas outras fases, com índices de 77%
RSP
102 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
a 92% de realização para todas as ativi-dades, exceto “Destituição da Equipe dePlanejamento da Contratação”, ou seja,próximo de se alcançar a conformidadecompleta com a IN – SLTI 4/2010 para amaior parte da amostra. Logo, as açõesnecessárias são no sentido de se melhorara maturidade dos órgãos provendo ferra-mentas automatizadas, modelos e consul-toria, se assim for necessário.
Para o GCTI, apenas três atividadeschamam a atenção, a Atividade de Encer-ramento do Contrato, Elaboração do Planode Inserção pelo Gestor do Contrato eTransição Contratual, por apresentarem ospiores índices de execução para esse pro-cesso. Contudo, ao analisar a outra pontada escala, ou seja, execução acima de 50%,apenas quatro atividades (de um total de12) se enquadram nessa categoria. Dessaforma, observa-se a existência de umamaior distribuição, com parte das atividadesapresentando péssima execução, uma partena média e outra parte próxima do ideal,não sendo possível, portanto, afirmar queo GCTI está mais próximo de estarconforme do que não conforme.
Conclusões
O mecanismo proposto pode se tornarum eficaz instrumento para a governançade TI de uma instituição, ao medir apercepção da conformidade com umnormativo de alta relevância. Ele pode,também, trazer à luz pontos de melhoriana comunicação e propostas de controlesinternos que fortaleçam a gestão egovernança de TI.
Os resultados obtidos mostraram que,para o Ministério Público Brasileiro, a con-formidade com o normativo IN – SLTI4/2010 é baixa, alcançando uma média de48%. Considerando a relevância do tema,
tanto em termos financeiros quanto para agovernança de TI, esse é um nívelpreocupante de aderência ao normativo.Apesar de recente, a IN - SLTI 4/2010 nãoaltera leis ou regulamentos sobre licitações,mas as complementa e fornece uma estru-tura de processo, conceitos e artefatos queorientam as compras de soluções de TI,com bastante ênfase no planejamento.Logo, a falta de conformidade com amesma poderia indicar uma falha grave nocumprimento de leis, assim como deficiên-cias na governança e planejamento de TI.Ao se observar com detalhe quais ativi-dades são mais prejudicadas, é possívelinferir que, para o Ministério PúblicoBrasileiro, a baixa conformidade estárelacionada à segunda hipótese: falhas nagovernança e planejamento de TI.
Por outro lado, vale ressaltar que a IN– SLTI 4/2010 não se aplica diretamentea esse segmento governamental, e que esseresultado poderá ser utilizado na criação eimplantação do seu próprio normativo,considerando, por exemplo, um período detransição para que realmente seja possívela adequação do pessoal e das rotinas dasinstituições impactadas.
A etapa de Seleção do Fornecedor daSolução de TI é a que se encontra maispróxima da conformidade total com a IN-SLTI 4/2010. O Planejamento da Contra-tação de Soluções de TI, por sua vez, é oque apresenta os piores índices.
Uma limitação do mecanismo pro-posto é a não exigência da formalizaçãodo processo executado nas instituições paracompará-lo à IN – SLTI 4/2010. Segundoo TCU:
“um processo de trabalho somentese torna formal quando está documen-tado e publicado pelo ator competente(e.g. dirigente máximo do órgão), que
RSP
103Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
se compromete com a adoção efetivado processo ao formalizá-lo. Além disso,somente pode ser considerado comoimplantado quando é feita a divulgaçãodo processo junto aos executores edemais interessados e, se necessário, érealizado o treinamento dessas pessoas.Por fim, um processo somente é consi-derado como utilizado quando háevidências da sua adoção pelos execu-tores.” (BRASIL, 2012, p. 16).
Essa falta de formalização aumenta ograu de incerteza e poderia ter impactosna qualidade dos dados obtidos. SegundoGil, “é comum entre os leitores de estudosde caso serem feitas indagações acerca desua validade. Ou, em outras palavras: osleitores querem saber se os resultadosobtidos referem-se de fato à realidade estu-dada ou à interpretação do pesquisador”(GIL, 2009, p. 111). Por outro lado, foramtomados cuidados em relação à represen-tatividade dos participantes e à participaçãodo pesquisador, no sentido de que sua pre-sença não fosse reconhecida como umaameaça ou que os dados fossem obtidosde maneira invasiva. Por exemplo, foi colo-cado claramente que o estudo não consti-tuía uma auditoria e que as entidades seriampreservadas em sua identidade individual.
A avaliação da percepção da matu-ridade para cada fase do processo mostrouque os gestores classificam esses processosno nível 2, segundo o ITGI (2007): “Repe-tível, porém intuitivo. Os processos sãoestruturados e procedimentos similares sãoseguidos por diferentes indivíduos para amesma tarefa. Há forte dependência doconhecimento individual e existe algumadocumentação”. Outra limitação nesteestudo foi a de não ter medido o grau de
maturidade desejado para esses processos.Com isso, seria possível estudar e proporações que assegurassem o aumento damaturidade em conjunto com o aumentoda conformidade, segundo as expectativasde cada instituição.
No entanto, as medições da conformi-dade e da maturidade do processo de aqui-sições de TI de forma isolada não trazeminformações suficientes para se diagnosticarcausas de falhas no mesmo. É necessáriotecer considerações acerca dos recursoshumanos necessários para uma execução emconformidade com IN – SLTI 4/2010.Além disso, o processo de planejamento decontratação de soluções de TI não ocorreisoladamente em uma instituição. Ele estáinserido em um “contexto de diversos pro-cessos de trabalho [...], que influenciam nãosó a capacidade de produção de resultadosdas contratações de soluções de TI, como aprópria viabilidade dessas contratações”(BRASIL, 2012, p. 24).
Propõe-se, como estudos futuros, ainvestigação das barreiras e facilitadores naimplantação da IN – SLTI 4/2010, e aaplicação do mecanismo proposto nesteestudo para a avaliação da conformidadenas instituições do Executivo que têm porobrigação seguir a IN – SLTI 4/2010.
Concluindo, para garantir uma maioraderência ao processo é importante estabe-lecer controles formais e frequentes, alémde ações que garantam publicidade, trans-parência e transferência de conhecimentoem relação às boas práticas descritas nonormativo, entendendo que os objetivospodem variar entre alcançar a conformidadee/ou alcançar um determinado nível dematuridade.
(Artigo recebido em fevereiro de 2013. Versãofinal em abril de 2013).
RSP
104 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
Referências bibliográficas
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR ISO/IEC 38500:2009 –Governança corporativa de tecnologia da informação. Rio de Janeiro, 2009. 15 p.
. NBR ISO/IEC 17000:2005. Avaliação de conformidade - Vocabulário eprincípios gerais. Rio de Janeiro, 2005.ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO – SOFTEX. MPS.BR– Melhoria de Processo do Software Brasileiro – Guia geral. Campinas: SOFTEX, 2009.
BARBOSA, A. F.; JUNQUEIRA, A.R. B.; DE LAIA, M. M.; DE FARIA, F. I.. Governança de TICe contratos no setor público. In: CATI – CONGRESSO ANUAL DE TECNOLOGIA DA INFOR-MAÇÃO, 2006, São Paulo. Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FundaçãoGetulio Vargas (FGV-EAESP), São Paulo, 2006.
BRASIL. Decreto-Lei 200/1967. Diário Oficial da União. Seção 1, Brasília, DF: SenadoFederal, 1967.
. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,DF: Senado Federal, 1990. 210 p.
. Decreto 2.271/1997. Diário Oficial da União. Brasília, DF: Senado Federal,1997.
. Acórdão no 1.603/2008 – Plenário. Brasília: Tribunal de Contas da União,2008.
. Acórdão no 1.215/2009 – Plenário. Brasília: Tribunal de Contas da União,2009. Disponível em: http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:tribunal.contas.uniao;plenario:acordao:2009-06-03;1215 . Acesso em: 10/01/2013.
. Tribunal de Contas da União. Acórdão 2.308/2010-TCU-Plenário. Relató-rio de levantamento. Avaliação da governança de tecnologia da informação na adminis-tração pública federal. 2010. Disponível em: http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:tribunal.contas.uniao;plenario:acordao:2010-09-08;2308 . Acesso em: 04/01/2013.
. Guia prático para contratação de soluções de tecnologia da informação versão 1.1.Brasília: SLTI/MPOG, 2011. Disponível em: http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/guia-pratico-para-contratacao-de-solucoes-de-ti-mcti. Acesso em:10/08/2012.
. Tribunal de Contas da União. Guia de boas práticas em contratação de soluçõesde tecnologia da informação: riscos e controles para o planejamento da contratação/Tribunalde Contas da União. Versão 1.0. Brasília: TCU, 2012. 527 p.
. Instrução Normativa no 4, de 12 de novembro de 2010. Brasília: SLTI/MPOG, 2010.
. Instrução Normativa no 2, de 14 de fevereiro de 2012. Brasília: SLTI/MPOG,2012a.
. Acórdão no 54/2012 - Plenário. Brasília: Tribunal de Contas da União,2012b.Cardoso, Gisele Silva. Processo de aquisição de produtos e serviços de software para administraçãopública do Estado de Minas Gerais. 2006. 166f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Com-putação). Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, 26 de junho de 2006.
RSP
105Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
CRUZ, Cláudio Silva da. Governança de TI e conformidade legal no setor público: um quadroreferencial normativo para a contratação de serviços de TI. 2008. 252f. Dissertação(Mestrado em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação). UniversidadeCatólica de Brasília, Brasília, 2008.
CRUZ, C. S.; ANDRADE, E. L. P.; FIGUEIREDO, R. M. C. Processo de Contratação de Serviços deTecnologia da Informação para Organizações Públicas. Secretaria de Política de Informática/MCT, Brasília, 2011, 212 p.
GIL, A. C. Estudo de Caso: Fundamentação científica, subsídios para coleta e análise dedados, como redigir o relatório. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 147.
GONDIM, Linda M. P.; LIMA, Jacob Carlos. A pesquisa como artesanato intelectual: considera-ções sobre o método e bom senso. São Carlos: EdUFSCar, 2006. 88p.
GUARDA, Graziela Ferreira. Análise de contratos de terceirização de TI na Administração PúblicaFederal sob a ótica da Instrução Normativa no 4. 2011. 110 f. Dissertação (Mestrado emEngenharia Elétrica)-Universidade de Brasília, Brasília, 2011.
GREMBERGEN, W. V.; DE HAES, S. Enterprise Governance of Information Technology. NovaYork: Springer Science + Bussiness Media, 2010.
HENKIN, H.; SELAO, D. C. A contratação de serviços de tecnologia da informação pelaadministração pública federal. In: CEPIK, M., CANABARRO, D. R. Governança de TI – Transfor-mando a Administração Pública no Brasil. Porto Alegre: WS Editor, 2010. p.75-94.
ITGI, Information Technology Governance Institute. COBIT – Control Objectives forInformation and related Technology 4.1. (em português). Rolling Meadows: ITGI, 2007. Dis-ponível em: <http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Pages/Downloads.aspx>.Acesso em: 06.01.2013.
. IT Governance and Process Maturity. Rolling Meadows: ITGI, 2008. Dispo-nível em: <http http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research /Documents/IT-Gov-Process-Maturity-12Nov08-Research.pdf>. Acesso em: 06.02.2013.ISACA. COBIT 5 Enabling Process. Rolling Meadows, 2012, 230 p.
MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3. ed. Porto Alegre:Bookman, 2001. p. 719.
SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE – SEI. Capability Maturity Model Integration CMMIfor Acquisition (CMMI-ACQ), version 1.3, CMU/ SEI-2010-TR-032. Pittsburgh, PA:Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2010.
VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 1998.
WEILL, P.; ROSS J. W. Governança de Tecnologia da Informação. São Paulo: M. Books do BrasilEditora LTDA, 2006.
XAVIER, Maria Betânia Gonçalves. Mensuração da maturidade da governança de TI na adminis-tração direta federal brasileira. 2010. 167f. Dissertação (mestrado) – Universidade Católicade Brasília, Brasília, 2010.
RSP
106 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTI
Resumo – Resumen – Absctract
Avaliação da percepção da conformidade de processos de contratação de soluçõesde Tecnologia da Informação com a Instrução Normativa no 4/2010 da SLTIDiana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
Este estudo propõe um mecanismo de avaliação da conformidade de um processo decontratação pública de Tecnologia da Informação (TI) com as atividades descritas no guia práticopara contratação de soluções de TI baseado na IN – SLTI no 4/2010, em conjunto com umaavaliação da maturidade das fases dessa norma, por meio de um estudo de caso. Os resultadosobtidos mostraram que, para o Ministério Público Brasileiro, a conformidade com o normativoalcançou um nível preocupante de aderência, com uma média de 48%. As falhas de conformi-dade, neste caso, indicam possíveis deficiências na governança e planejamento de TI. A maturi-dade do processo foi enquadrada no nível 2, que tem foco na repetição de procedimentos,porém de forma intuitiva. Concluiu-se que, para garantir uma maior aderência ao processo, éimportante estabelecer controles formais e frequentes, ações de transparência e transferência deconhecimento.
Palavras-Chave: IN 4/2010; Contratações Públicas de TI; Aquisições de TI
Evaluación de la percepción de la conformidad de procesos de contratación de so-luciones de Tecnología de la Información con la Instrucción Normativa no 4/2010de la SLTIDiana Leite Nunes dos Santos y João Souza Neto
Este trabajo propone un mecanismo de evaluación de la conformidad de un proceso decontratación pública de TI con las actividades descritas en la “Guía práctica de contrataciones desoluciones de tecnología de la información”, basada en la IN - SLTI 4/2010, así como unaevaluación de la madurez de las fases de la presente norma, a través de un estudio de caso. Losresultados mostraron que para el Ministerio Publico brasileño, el cumplimiento de la normativa haalcanzado un nivel preocupante de adherencia con un promedio de 48%. La falta de conformidaden este caso indica posibles fallos en la gobernanza y la planificación de TI. La madurez delproceso se enmarcó en el nivel 2, que se centra en los procedimientos de repetición, pero intuiti-vamente. Se concluyó que, para asegurar una mayor adherencia al proceso, es importante establecercontroles formales y frecuentes acciones de transparencia y transferencia de conocimientos.
Palabras Clave: IN 4/2010; Contrataciones públicas de TI; Adquisiciones de TI
Assessment of the perception of compliance for information technology procurementprocess with SLTI’s Instruction no 4/2010Diana Leite Nunes dos Santos and João Souza Neto
This study proposes a mechanism for evaluating the compliance of a public IT procurementprocess with the activities described in the “Practical Guide to contract solutions for InformationTechnology v 1.1” based on IN - SLTI 4/2010. In this case study it was also performed a maturityassessment of the phases of this standard. The results showed that for the studied Brazilian PublicInstitution, compliance with the normative reached a low level of adherence with a 48% average.The poor conformity in this case indicates possible failures in governance and IT planning. Theprocess maturity was framed at level 2, which means that some processes are repeatable, butintuitive. It was concluded that to ensure greater adherence to process it is important to establishformal controls and frequent actions of transparency and knowledge transfer.
Keywords: IN 4/2010; Public IT procurement; IT acquisitions
RSP
107Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 77-107 jan/mar 2013
Diana Leite Nunes dos Santos e João Souza Neto
Diana Leite Nunes dos Santos
Mestrado em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação – Universidade Católica de Brasília (UCB). Contato:[email protected]
João Souza Neto
Doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília (UnB) e Professor do curso de Mestrado em Gestão doConhecimento e da Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Contato: [email protected]
RSP
109Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Andréa Filatro e Natália Teles da Mota
Ambientes virtuais deaprendizagem: desafios
de uma escola de governo
Andréa Filatro e Natália Teles da Mota
Introdução
Em mais de 20 anos de atuação, a Escola Nacional de Administração Pública
(ENAP) vem consolidando sua missão de desenvolver competências de servido-
res públicos para aumentar a capacidade de governo na gestão de políticas públi-
cas por meio da oferta de diferentes eventos de aprendizagem, como cursos,
oficinas, palestras e especializações.
Referência no campo da formação e da capacitação continuada de servidores
públicos, a Escola busca continuamente aprimorar seu ambiente tecnológico, a fim
de sustentar o crescimento sistemático de seus serviços e capacitações. A incorpo-
ração de tecnologias contemporâneas a seus eventos de aprendizagem não só con-
tribui para um crescimento quantitativo, mas também torna o processo de ensino
e aprendizagem mais dinâmico, flexível, contextualizado, empreendedor e inova-
dor. Isso significa ampliar os espaços e tempos de aprendizagem e concretizar uma
pedagogia de protagonismo, que valoriza o sujeito como autor de sua história.
RSP
110 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Ambientes virtuais de aprendizagem: desafios de uma escola de governo
A decisão de ampliar as possibilidadeseducacionais da Escola por meio do usomais intenso de tecnologias de informaçãoe de comunicação implica prepará-la paralidar com contextos dinâmicos e mutáveis.O desafio maior é o de se evitar a rápidaobsolescência dos esforços em função dafluidez tecnológica do contexto em queestamos inseridos (ENAP, 2006, 2008, 2010;AMARAL, 2008).
Várias são as inovações tecnológicasque intentam dominar o mercado nofuturo próximo da educação – entre elas,podemos citar as apontadas pelo 2010Horizon Report (EDUCAUSE, 2010) para ospróximos quatro a cinco anos: compu-tação móvel1, conteúdos abertos2, livroseletrônicos, realidade aumentada3, compu-tação baseada em gestos4, análise visualde dados5.
A decisão sobre qual plataformatecnológica adotar, contudo, repousa sobreum modelo de gerenciamento de aprendi-zagem e de conteúdos que requerconsiderações em diversos níveis (metodo-lógicos, tecnológicos e jurídicos).
No campo da metodologia de ensino-aprendizagem, as principais tendênciasapontam para práticas pedagógicas maiscontextualizadas (socioconstrutivismo eabordagem situada) e para a perspectivaandragógica6, focada exclusivamente naeducação de adultos. Novos conceitos,como a heutagogia7 e o conectivismo8,emergem na tentativa de teorizar as trans-formações educacionais em curso, muitasdelas formadas fora das instituições deensino convencionais (HASE & KENYON,2000; SIEMENS, 2004).
O desafio logístico de ofertar opor-tunidades de aprendizagem a qualquerhora, em qualquer lugar e por quaisquermeios, inclusive móveis e tridimensionais,as novas formas de produzir, armazenar
e acessar informações, e a redefiniçãode papéis e atores envolvidos no proces-so educacional configuram uma novalógica de ensino-aprendizagem queprecisa ser considerada na decisão por umou outro ambiente virtual de aprendi-zagem (AVA)9.
Ao considerar a linha evolutiva paraesses sistemas identificada por SIQUEIRA
(2005) – que vai dos gerenciadores deferramentas (LMS), passando pelosgerenciadores de conteúdos (LCMS), parachegar aos mais recentes dedicados aogerenciamento de atividades (LAMS) e àpersonalização total da aprendizagem(PLE) –, delineia-se uma segunda geraçãode ambientes virtuais de aprendizagem(VLE 2.0)10. Esses sistemas são capazes deintegrar-se não apenas com ferramentasisoladas e fechadas, mas com todo umconjunto de dados, objetos e funciona-lidades (WELLER, 2007). Baseiam-se emuma nova lógica computacional ,pautada em padrões abertos de progra-mação e interoperabilidade técnica, queprecisam ser considerados na contrataçãode uma plataforma tecnológica.
Par e passo com essa evoluçãometodológica e tecnológica, questões rela-tivas à propriedade intelectual se revelamcríticas no que diz respeito ao debate“software livre” versus “software proprie-tário”11 e também à autoria colaborativa,ao reuso e ao compartilhamento institu-cional de recursos produzidos por meiodessas tecnologias.
Além disso, demandas que não se res-tringem apenas à aquisição de produtostecnológicos, mas abrangem tambémserviços intrínsecos a eles, manifestam anecessidade de uma nova lógica decontratação e de gestão de contratosque considere a complexidade inerente acontexto tão inovador.
RSP
111Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Andréa Filatro e Natália Teles da Mota
Situação atual da ENAP e cená-rios prospectados
Mesmo realizando aproximadamente34 mil capacitações/ano em mais de 150cursos voltados à formação do servidorpúblico – entre educação continuada eespecialização, nas modalidades mista,presencial e a distância – e contando comum fluxo mensal de cerca de 100 mil con-sultas às suas bases documentais (dadosde julho de 2010), a ENAP experimentahoje uma defasagem tecnológica, se consi-deradas as tendências externas delineadasanteriormente e as demandas internas porcrescimento.
Nesse sentido, está surpreendente-mente alinhada com instituições parceirasnacionais e internacionais que, insatisfeitascom a base tecnológica ora disponível paraas ações de aprendizagem e gestão de
conhecimento, necessitam simultanea-mente inovar e crescer.
A partir das demandas explicitadas pe-las diversas áreas da ENAP, foramprospectados – entre as inúmeras possibili-dades – três cenários que combinam ênfasesmetodológicas e níveis de apropriação dasTIC pela Escola, para apoiar a definição dotipo de plataforma tecnológica (produtos eserviços) a ser adotada nos próximos anos.
Para isso, foram consideradas as trans-formações de natureza técnica, pedagógicae produtiva que traçam uma linha evolutivana adoção de tecnologias em educação(FILATRO, 2008; LITTO & FORMIGA, 2008).Combinada a uma estimativa de expansãoqualitativa e à respectiva ampliação do nívelde absorção pela Escola, consideramos queessa linha evolutiva abriga três cenáriosbásicos representados na Figura 1 edescritos mais detalhadamente a seguir:
Figura 1: Cenários prospectados no âmbito do GT-AVA e suas respectivas ênfasesFonte: Elaboração própria.
RSP
112 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Ambientes virtuais de aprendizagem: desafios de uma escola de governo
Cenário 1
O Cenário 1, que enfatiza o acessovia computador pessoal (PC) a ações eeventos concentrados em um ambientevirtual de aprendizagem fechado (AVA),mantém o foco atual de utilização detecnologias nas ações da ENAP, buscandoaperfeiçoamentos no que tange à incor-poração do recurso de videoconferência,bem como à solução de questões deinfraestrutura e atendimento a demandasinternas da Coordenação-Geral deEducação a Distância (CGEAD), configu-rando-se uma gestão mais rigorosa docontrato de fornecimento de serviços demanutenção, suporte ao usuário e atuali-zação.
O Sistema de Gestão de Aprendizagem(Learning Management System – LMS) em queesse cenário está apoiado restringe-se acentralizar e simplificar a administração ea gestão dos programas educacionais,permitindo matrícula de estudantes, arma-zenamento e consulta a informações, publi-cação de arquivos em diferentes formatos,comunicação síncrona e assíncrona entreusuários, criação e aplicação de testes,rastreamento de dados e geração de rela-tórios sobre o progresso dos participantes.
É, portanto, um modelo focado nogerenciamento de ferramentas, no qual aimplementação de conteúdos no ambienteon-line se dá de maneira artesanal. Hádescentralização na produção e noarmazenamento de conteúdos, sem aderên-cia a padrões de programação, descrição,busca e interoperabilidade técnica.
As equipes de EAD (interna e externa)realizam manualmente adaptações neces-sárias no caso de públicos diferenciados,correção de erros, atualização de versões,modificação de interfaces etc. A médio elongo prazo, representa uma oportunidade
de crescimento qualitativo da EAD, masem baixa escala.
Por outro lado, com o apoio de ferra-mentas integradas em um LMS conven-cional, as diferentes estratégias pedagógicasusadas nos cursos presenciais são facil-mente transportadas (e até expandidas,como é o caso das comunidades virtuais)para o ambiente digital, requerendo paraisso apenas capacitação dos docentes e dasequipes responsáveis por eventos presen-ciais com relação ao uso dessas tecnologias.Entretanto, nesse cenário, o uso dosambientes virtuais de aprendizagem perma-nece quase restrito à oferta de cursos adistância. O uso de comunidades virtuaisem apoio a eventos presenciais de apren-dizagem funciona mais como repositório12
de arquivos do que como ambiente dediscussão, integração e construção coletivade conteúdos.
Esse é, em boa medida, o modeloadotado pela ENAP hoje, ressalvando asdificuldades no uso de chats e webconferências,recursos críticos para a efetividade da rela-ção aluno-tutor. O mesmo públicoatendido atualmente pode beneficiar-se dodesenvolvimento natural dos recursostecnoeducacionais, por exemplo, pela atua-lização de novas versões do LMS eintegração com computação móvel e semfio, o que implicaria uma sofisticação daoferta, provavelmente a um custo maiselevado por aluno.
Cenário 2
O Cenário 2 dá maior destaque àgestão profissional de conteúdos educa-cionais e genéricos, apoiando-se no modelode produção “fábrica de conteúdos” e naorganização desses conteúdos por meio derepositórios de recursos e objetos de apren-dizagem13.
RSP
113Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Andréa Filatro e Natália Teles da Mota
O foco da disponibilização deconteúdos se traduz em uma ênfase consi-derável nas mídias de entrega, que reque-rem uma produção de profissionais,especializada e geralmente cara, segundoprocessos padronizados, que permitemo desenvolvimento de soluções educa-cionais em larga escala. Por esse motivo,exige-se grande atenção ao equilíbrio custo-benefício.
O Cenário 2 compreende, além dosrecursos mencionados no Cenário 1 (LMSe webconferência), a utilização doconceito de sistema de gerenciamento deconteúdos (Learning Content ManagementSystem – LCMS), que fornece os meiospara armazenar, indexar, recuperar,referenciar e reutilizar conteúdos deaprendizagem de forma mais eficiente,visando à gestão, organização e aoreaproveitamento parcial ou integral deconteúdos e reduzindo, assim, os esforçosde desenvolvimento.
Além dos LMS para gestão de acessose registro de participações, os gerenciadoresde conteúdo (LCMS) são adotados poroferecerem mecanismos de indexaçãobaseados em metadados14, e repositóriospara armazenamento centralizado de con-teúdos institucionais. O acervo é disponi-bilizado a desenvolvedores, conteudistas,educadores e alunos para maior utilizaçãoe reutilização.
Esse modelo de elaboração de con-teúdos e entrega on-line permite umcrescimento do número de servidoresatendidos, o que pode representar umaestratégia de expansão quantitativa,inclusive no que diz respeito à amplia-ção de uso da plataforma em apoio aoscursos presenciais. O uso do ambientevirtual de aprendizagem tende a extra-polar os cursos a distância e se expandirpara outras áreas da Escola.
Ao possibilitar a integração de dadose a interoperabilidade de recursos, estendeo escopo da solução tecnológica paraatender a demandas por otimização dosesforços de construção e disseminação dedocumentos e informações relativos aeventos de aprendizagem comuns a dife-rentes áreas da ENAP, além de favorecero compartilhamento de cursos e eventosde aprendizagem pela Rede Nacional deEscolas de Governo.
Cenário 3
O Cenário 3 tem foco em atividadesde aprendizagem personalizadas, baseadasem situações didáticas contextualizadas. Paraisso, adere plenamente à web 2.015, à compu-tação móvel e sem fio, às redes sociais einovações como realidade aumentada e afins,em larga escala.
“... barreirasculturais e geracionaispodem retardar autilização de toda agama de recursosdisponíveis e aintegração emambientes virtuais desegunda geração.”
RSP
114 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Ambientes virtuais de aprendizagem: desafios de uma escola de governo
LMS de segunda geração permitemacoplamento de conteúdos gerenciados porLCMS e de eventos e atividades de apren-dizagem planejadas por Learning ActivityManagement System – LAMS (softwares paraplanejamento pedagógico). Esses sistemasde gerenciamento de atividades de apren-dizagem possibilitam o desenho e execuçãode unidades de aprendizagem estruturadasa partir de atividades individuais e coletivas,com base na ideia de que o que interessa éo que as pessoas fazem com os conteúdoseducacionais, e o que as ferramentas comoe-mail, fórum, chat etc. permitem que aspessoas façam, a fim de que a aprendiza-gem ocorra.
Os produtos resultantes são armaze-nados em repositórios acessíveis a toda acomunidade de aprendizagem envolvida,configurando-se inclusive um espaço decolaboração interinstitucional para cons-trução e compartilhamento de cursos econteúdos.
Nesse cenário, o uso dos ambientesvirtuais se dá de forma sistêmica por todasas áreas da Escola, expandindo-se exter-namente em apoio a ações educacionaiscom parcerias nacionais e internacionais.
Os alunos acessam os recursos pormeio de seus próprios Personal LearningEnvironment – PLE (ambientes virtuais per-sonalizados, organizados pelos própriosalunos e baseados fortemente no que seconvencionou chamar de web 2.0), nos quaisdefinem e atualizam suas preferênciastecnológicas e metodológicas, optando, porexemplo, por estudar sozinhos ou de formacolaborativa, não apenas em um cursoespecífico, mas em qualquer ação de apren-dizagem realizada no decorrer de sua vidaeducacional. Esses dados de perfil e histó-rico individual são intercambiados com osistema de gerenciamento da aprendizageminstitucional no momento em que o aluno
se inscreve em um curso ou unidade deestudo. Da mesma forma, dados de desem-penho do aluno em situações didáticasespecíficas retroalimentam seu portfólioindividual, além de ficarem armazenadosno ambiente institucional.
Pela provisão de serviços de alta quali-dade a um custo menor (por exemplo, pelasubstituição de redução de pacotes com-plexos de software por softwares disponíveisem “nuvens”16 e pelo planejamentocontextualizado e uso compartilhado dosrecursos – desde que garantidas, em ambosos casos, a privacidade, a manutenção e oresgate das informações), esse modelo deprodução permitiria um crescimento emescala do número de servidores atendidos.
Essa perspectiva pressupõe descola-mento do padrão PC-AVA, presente nosCenários 1 e 2, alargando as possibilidadesde construção de redes de aprendizagem,de ensino e de parcerias. Pela natureza ine-rentemente inovadora, implica açõescontinuadas e parcerias para pesquisa edesenvolvimento, reforçando o papel deliderança da ENAP no cenário nacionale internacional de formação do servidorpúblico.
Há de se considerar, contudo, que, porser um modelo bastante inovador, muitasdas funcionalidades necessárias para darsuporte a esse cenário ainda não estãocompletamente disponíveis ou encontram-se em caráter experimental. Portanto, paraa efetividade dessa análise, elencamosalgumas funcionalidades já plenamenteoperacionalizáveis que, utilizadas emconjunto, proporcionam o mínimo neces-sário para a adoção do cenário proposto.
Outro ponto a ser destacado é a neces-sidade de uma curva de aprendizagemrelativamente grande antes da utilizaçãodo ferramental de planejamento peda-gógico pelos docentes e pela equipe de
RSP
115Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Andréa Filatro e Natália Teles da Mota
coordenação. Além disso, barreiras culturaise geracionais podem retardar a utilização detoda a gama de recursos disponíveis e aintegração em ambientes virtuais de segundageração.
Nesse cenário arrojado, a ENAP assu-miria um papel mais pró-ativo, na medidaem que nem todas as questões envolvidas– como direitos autorais na era digital –estão encaminhadas. Isso significaria arcarcom o ônus do pioneirismo, em especialno cenário nacional, capitaneando mudançade paradigma não apenas no âmbitotecnológico, mas principalmente de natu-reza cultural.
Considerações quanto aoscenários
Independentemente da decisão sobreo cenário a ser adotado, algumas conside-rações se fazem necessárias à atenção degestores e tomadores de decisão para quea solução tecnológica adotada possacorresponder, em médio ou longo prazo,às demandas metodológicas, tecnológicase jurídicas emergentes.
Considerações de natureza meto-dológica
Uma das questões mais críticas aodecidir que tipo de plataforma tecnológicaadotar remete aos perfis dos públicos-alvoatendidos pela instituição. Emboradistintos, esses públicos refletem diferençasprofundas nas concepções sobre o quesignifica aprender e ensinar, que se tradu-zem em abordagens pedagógicas maisautênticas e contextualizadas e em práticasandragógicas e heutagógicas emergentes.
De um lado, encontram-se servidoresformados por um tipo de escolarizaçãotradicional, desafiados a aprender continua-mente e a rever suas práticas profissionais
para adequar-se às novas demandas detrabalho, em boa parte capitaneadas pelaadesão maciça a soluções tecnológicas, porexemplo, na digitalização de processos, nacomunicação por meios eletrônicos e nacriação e manutenção de comunidadesvirtuais de prática, para citar algumas. Deoutro lado, observam-se novos ingressantesnas carreiras públicas que apresentam perfilmais próximo da chamada “geração digital”(TAPSCOTT, 1999), nascida e criada em umacultura midiatizada, globalizada e mundial-mente conectada, em que aprender é umaatividade constante, realizada de formaindividual e coletiva, a partir e por meiodo grande acervo de recursos informa-cionais, humanos e ferramentais providopela web.
É importante realçar que, embora arealidade de boa parte do serviço públicoseja de restrições tecnológicas e a exclusãodigital persista entre algumas instituições eservidores, a disposição para o avançotecnológico e pedagógico se relaciona a umcontexto organizacional mais amplo, favo-rável à mudança de mentalidade e à adoçãode tecnologias e recursos mais avançados.
Nesse sentido, ambos os perfis citadosimpulsionam e reivindicam formas diferen-ciadas de aprender, distintas da oferta deeducação tradicional e em grande medidabaseadas em maior autonomia por partedo aluno sobre o que e como aprender, emconvergência de mídias para criar e apre-sentar conteúdos e em possibilidade depersonalizar percursos didáticos e modali-dades de aprendizagem (a distância,presenciais, mistas), segundo necessidadesparticulares e temporais.
Acrescente-se que essa mudança depostura reflete-se também no corpodocente, que vislumbra as possibilidadesde planejar e apresentar soluções deaprendizagem de forma mais colaborativa,
RSP
116 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Ambientes virtuais de aprendizagem: desafios de uma escola de governo
beneficiando-se mais ativamente de ferra-mentas e espaços virtuais voltados àorganização e ao compartilhamento dotrabalho pedagógico.
A evolução dos sistemas para aprendi-zagem em meio eletrônico – de LMSfocados na gestão de ferramentas paraLCMS focados na gestão de conteúdos;para LAMS focados na gestão de atividadesde aprendizagem; e, por fim, para os PLEfocados na personalização dos ambientesde aprendizagem – reforça a compreensãode que a educação – mesmo aquela total-mente mediada por tecnologias, como é ocaso da educação mediada por tecnologiastotalmente a distância – implica ação indi-vidual e interação entre pessoas.
Isso equivale a dizer que apenas ferra-mentas – ou apenas conteúdos – nãotraduzem a complexidade dos processos deensino-aprendizagem; portanto, qualquersolução tecnológica adotada por uma insti-tuição não pode se limitar à aquisição deprodutos (hardware, software, rede), mas devetambém e principalmente estar voltada àcontratação de serviços (manutenção, aten-dimento ao usuário, planejamento e desen-volvimento de conteúdos, atividades eferramentas, capacitação da equipe).
Considerações de natureza tecno-lógica
Um requisito que emerge da análisede tendências tecnológicas é a compreen-são da natureza dinâmica, inovadora emutante das tecnologias aplicadas àeducação, e, por consequência, da necessi-dade de gestão profissional e estratégicados diferentes aspectos envolvidos.
As inovações tecnológicas anunciadascolocam em uma nova perspectiva omodelo ora predominante de transmissãode informações de um para muitos(broadcasting), pois possibilitam formas
diferenciadas de criação, armazenamento,distribuição, acesso, manuseio e reutilizaçãode conteúdos, eventos e atividades. Isso fazcom que sejam extrapolados os limites dasala de aula convencional, seja pelo acessoem sala de aula a um repositório mundialde conteúdos e pessoas, como é a web, sejapela possibilidade de consultar essesconteúdos e pessoas de qualquer lugar, emqualquer hora, por meio de dispositivosmóveis e sem fio. A hierarquia professor-aluno (na medida em que os usuáriosdeixam de ser apenas consumidores deinformações e se tornam eles mesmosprodutores) e até mesmo o próprioconceito de sistema da informação (com aintegração entre diferentes softwares, disposi-tivos e informações) são também refor-mulados nesse novo contexto.
A multiplicidade de soluções dispo-níveis, cada qual com vantagens e desvan-tagens específicas, torna mandatória aadesão a padrões tecnológicos abertos euniversais, a fim de assegurar a capacidadede acoplagem a novas ferramentas, areutilização de recursos e a interoperabi-lidade de dados.
Destaca-se a importância de cultivaruma filosofia de “abertura”, que possibi-lite a criação e utilização de recursosabertos (conteúdos, metodologias e ferra-mentas). Isso reforça a necessidade de umplanejamento integrado para as áreas deeducação, gestão do conhecimento etecnologia, que considere as interfaces entreas áreas e as possibilidades de compartilha-mento de hardware, software e redes.
Também se faz desejável a provisãode serviços profissionais por empresascertificadas internacionalmente, a fim degarantir a estabilidade do sistema, a quali-dade dos serviços prestados e a constanteatualização tecnológica necessária à evo-lução incessante das tecnologias.
RSP
117Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Andréa Filatro e Natália Teles da Mota
Considerações de natureza jurídicaDos cenários elencados para contra-
tação de uma plataforma tecnológicaadvirão um ou mais contratos administra-tivos. Estabelecer condições (cláusulas) efiscalizar seu cumprimento requer servidordevidamente qualificado, preparado paraa missão e atento a algumas premissasbásicas:
• Definição clara e transparente dasregras e condições de contratação e fiscali-zação do contrato pela instituição, possi-bilitando julgamento objetivo, célere eeficiente.
• Definição do objeto de contrataçãoe identificação das ofertas do mercadofornecedor por uma equipe técnicaformada por profissionais da área de TI,das áreas de ensino demandantes, da áreade contratos e outras afins, sendo possívela realização de consulta pública com vistasa promover o debate sobre as especifi-cações e características de determinadobem ou serviço a ser contratado, em estritaobediência aos princípios da isonomia epromoção da competitividade.
• Designação e preparação de gestor oucomissão gestora do contrato para acom-panhamento e fiscalização sistemática, a fimde garantir atendimento às exigências erequisitos previamente estabelecidos eaplicação de sanção administrativa pela insti-tuição contratante, se cabível.
• Caso seja feita opção por um modelode licitação que implique contratação dediversas empresas, cada uma oferecendodeterminada ferramenta ou tecnologia, hánecessidade de atentar para as questõesde interoperabilidade. Não há garantias nomercado de que a comunicação entretecnologias diferentes, especialmente asmais recentes, ocorra de forma transpa-rente ao usuário. Nesses casos, o estudopormenorizado dos requisitos de
interoperabilidade a serem definidos nodocumento de licitação contribui paraminimizar os problemas na fase posteriorde prestação do serviço.
Considerações de natureza econô-mica
Os cenários 1, 2 e 3 não são excludentes;pelo contrário, complementam-se aoespelhar a evolução tecnológica emetodológica, descrita neste artigo, bem
como níveis de apropriação das TIC paraconstrução e oferta de soluções educa-cionais, sejam elas presenciais apoiadas portecnologias, mistas ou totalmente a distância.
O cenário 1 é o que mais se aproximadas práticas em curso e, ainda assim, nãoestá plenamente consolidado entre as ins-tituições que optam por incorporartecnologias às ações educacionais.
“... qualquersolução tecnológicaadotada por umainstituição não podese limitar àaquisição deprodutos (hardware,software, rede), masdeve também eprincipalmente estarvoltada àcontratação deserviços...”
RSP
118 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Ambientes virtuais de aprendizagem: desafios de uma escola de governo
O cenário 2 é bastante factível nomomento atual e está relativamente absor-vido pela comunidade de EAD nacional,especialmente nas ações de educaçãocorporativa privada. Representa um avan-ço na produção de eventos de aprendi-zagem, uma vez que permite desenhosdidático-pedagógicos mais elaborados,implicando uma mudança efetiva no papeldocente, de principal fonte de transmissãode conhecimentos a mediador e orientadordos aprendizes.
Com as demandas por atendimento emlarga escala no curto prazo, e as especi-ficações técnicas e metodológicas levan-tadas neste estudo, recomenda-se a adoçãodo Cenário 2 para a oferta de alguns cursos,visando a atender a outras áreas, em espe-cial a área de Comunicação e Pesquisa, eampliar as parcerias para compartilhamentode cursos e recursos no âmbito da RedeNacional de Escolas de Governo e outras
instituições parceiras. Essa recomendaçãose aplica especialmente a uma projeção depúblico total atendido próxima ou acimade 1 mil alunos.
Ressalta-se que essa recomendaçãorepresenta uma etapa intermediária emdireção ao cenário 3, o qual requer esforçosmais significativos não apenas para inte-gração das ferramentas aqui descritas, mastambém para formação e desenvolvimentodos profissionais internos que levarão acabo sua implementação.
Embora não se observe a mesmaredução de custos em função do númerode usuários atendidos como acontece noCenário 2, o Cenário 3 representa umaevolução qualitativa em termos de materiaisapresentados em diversas mídias e do tipode interação entre todos os participantes,justificando sua adoção futura.
(Artigo recebido em abril de 2012. Versão finalem março de 2013).
Notas
1 Computação móvel: paradigma computacional advindo da tecnologia de rede sem fios e dossistemas distribuídos, em que são utilizados dispositivos móveis, tais como celulares, PDAs etc.
2 Conteúdos abertos: em inglês, open content. Qualquer tipo de trabalho criativo (por exem-plo, artigos, imagens, áudio, vídeo etc.) pode ser utilizado ou modificado sem (ou com poucas)restrições legais e distribuído num formato que, explicitamente, permite a cópia da informação.
3 Realidade aumentada: tecnologia que possibilita o enriquecimento do ambiente físico comelementos virtuais, criando um ambiente misto em tempo real. Os elementos podem variar desimples projeções sobre objetos físicos a projeções holográficas de personagens 3D que interagemcom pessoas reais.
4 Computação baseada em gestos: refere-se ao conjunto de dispositivos e softwares que reco-nhecem, interpretam e reagem a movimentos corporais controlados por movimentos naturaisdos dedos, mãos, braços e corpo, reduzindo a necessidade de aprender a interagir com os com-putadores, que passam a reagir aos comportamentos humanos.
5 Análise visual de dados: campo emergente que combina estatística, mineração de dados (datamining) e visualização que permite a qualquer pessoa navegar, exibir e compreender conceitos erelacionamentos complexos em grandes conjuntos de dados. Possibilita a descoberta e a compre-ensão de padrões por meio de interpretação visual e manipulação de modelos em tempo real.
RSP
119Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Andréa Filatro e Natália Teles da Mota
6 Andragogia (andros = adulto + agogus = guiar, conduzir, educar para a “formação de adultos”):conjunto de teorias e práticas educacionais que considera a maturidade biológica dos apren-dizes, juntamente com seu rol de experiências acumuladas, psicológicas, afetivas, profissionais eculturais, que implicam maior grau de autonomia nas decisões sobre como estudar.
7 Heutagogia (heuta = próprio + agogus = guiar, conduzir, educar): conjunto de teorias epráticas educacionais ainda em formação que pressupõe elevada (ou absoluta) autonomia porparte de quem aprende, não importa a faixa etária ou a formação acadêmica em questão, nocenário moderno em contínua transformação, que exige flexibilidade e proatividade para atuarem espaços de convivência e trabalho carregados de incertezas.
8 Conectivismo: teoria proposta por Siemens (2004) para o cenário de uma sociedade total-mente digital, na qual aprender é um processo de conectar fontes de informação especializadas.
9 Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é a expressão preferida pelos educadores paraenfatizar menos o monitoramento e o controle, e mais a ação e a interação entre as pessoas, emuma espécie de sala de aula on-line.
10 VLE 2.0, sigla em inglês para Virtual Learning Environment 2.0 (ambiente virtual deaprendizagem de segunda geração): refere-se ao conjunto de aplicativos interoperantes no qualferramentas de desenho e exibição permitem que conteúdos e atividades educacionais sejamreutilizados e recombinados de acordo com as necessidades e interesses do aluno.
11 O software livre fundamenta-se na socialização sistematizada dos códigos-fonte e dadocumentação dos programas em repositórios internacionais livres, utilizados para controlar emanter o desenvolvimento de soluções abertas. É pautado por um modelo horizontal e descen-tralizado de desenvolvimento, em que qualquer usuário da internet pode atuar na tradução, nodesign de interface gráfica, na codificação, nos testes e na programação. Já a distribuição desoftwares proprietários é pautada pela lógica de restrições e permissões de acesso, inclusive aocódigo fonte, onerosas ou não, estabelecidas pelo regime jurídico clássico comercial (TAURION,2004; RAYMOND, s/d).
12 Repositório: banco de dados que permite a catalogação, o armazenamento e a busca dosobjetos de informação e de aprendizagem.
13 Objetos de aprendizagem: em inglês, learning objects. Unidades de software autocontidas,organizadas em determinada ordem segundo padrões de empacotamento, o que permite que osobjetos sejam fechados em pacotes executáveis por diferentes sistemas e que os dados produzi-dos pelo usuário sejam rastreáveis por diferentes LMS (DUTRA, 2008; DUTRA & TAROUCO, 2006).
14 Metadados: descritores de identificação que podem ser pesquisados e compartilhados emações educacionais, que trazem detalhes sobre autores, palavras-chave, assunto, versão, localiza-ção, regras de uso e propriedade intelectual, requisitos técnicos, tipo de mídia utilizada, nível deinteratividade, entre outros, e permitem buscas rápidas em repositórios.
15 Web 2.0: conjunto de funcionalidades tecnológicas que caracterizam uma web não apenasconsumida (lida, acessada, pesquisada), mas também produzida pelos usuários, por meio deredes sociais e softwares como blogs e wikis.
16 A computação baseada em nuvens se refere à forma de armazenamento da informação(software e todos os dados) em um servidor central, cujo acesso é feito por meio de navegadorweb, independente de dispositivos.
RSP
120 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Ambientes virtuais de aprendizagem: desafios de uma escola de governo
Referências bibliográficas
AMARAL, H. K. Desafios da capacitação de servidores públicos: contribuições da educação adistância. Apresentação no ENCONTRO NACIONAL DE EAD PARA REDE DE ESCOLAS DE
GOVERNO. Curitiba: Escola de governo do Paraná, set. 2008.
DUTRA, Renato Luís de Souza. Encapsulamento e utilização de objetos de aprendizagem abertosSCORM para ensejar a avaliação formativa. 2008. Tese de doutorado apresentada ao Pro-grama de Pós-Graduação em Informática na Educação da Universidade Federal do RioGrande do Sul. Porto Alegre: UFRGS.
DUTRA, Renato Luís de Souza; TAROUCO, Liane Margarida Rockenbach. Objetos deaprendizagem: uma comparação entre SCORM e IMS Learning Design. Revista NovasTecnologias na Educação, v. 4, n. 1, 2006.
ENAP. Educação a Distância na ENAP – Riscos e Oportunidades. Relatório Final deGrupo de Trabalho. Brasília: set. 2009.
. Projeto para Implementação na ENAP do Ambiente Virtual “Moodle”.Relatório Final de Grupo de Trabalho . Brasília: abr. 2008.
. Referenciais orientadores da proposta educacional da ENAP. Brasília: 2010.
EDUCAUSE Learning Initiative (ELI) and the New Media Consortium (NMC). 2010 HorizonReport. Austin, TX: The New Media Consortium, 2010.
FILATRO, Andrea. Learning design como fundamentação teórico-prática para o design instrucionalcontextualizado. 2008. Tese de doutorado apresentada à Faculdade de Educação da USP.
HASE, S.; KENYON, C. From andragogy to heutagogy. Austrália: Southern Cross University, 2000.
LITTO, F. M.; FORMIGA, M. Educação a distância: o estado da arte. São Paulo: PearsonEducation, 2008.
RAYMOND, Eric S. A catedral e o bazar. Disponível em: <http://www.geocities.com/CollegePark/Union/3590/pt-cathedral-bazaar.html> Acesso em: 06 mar. 2008.
SIEMENS, G. Connectivism: a learning theory for the digital age. In: International Journal ofInstructional Technology and Distance Learning, 2(1), 2004.
SIQUEIRA, S. W. M. EDUCO: modelando conteúdo educacional. 2005. Tese de Doutorado apre-sentada ao Programa de Pós-graduação em Informática da PUC-Rio.
TAPSCOTT, D. Geração digital. São Paulo: Makron Books, 1999.
TAURION, Cezar. Software livre: potencialidades e modelos de negócio. Rio de Janeiro:BRASPORT , 2004.
WELLER, M. Virtual learning environments: using, choosing and developing your VLE. NewYork: Routledge, 2007.
RSP
121Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Andréa Filatro e Natália Teles da Mota
Resumo – Resumen – Absctract
Ambientes virtuais de aprendizagem: desafios de uma escola de governoAndrea Filatro e Natália Teles da Mota
Este estudo apresenta informações que buscam subsidiar gestores e tomadores de decisão noprocesso de contratação de solução tecnológica especializada para a gestão da aprendizagem e doconhecimento, que possibilite o desenvolvimento, implementação e oferta de eventos de aprendi-zagem – a distância, presenciais ou mistos. A síntese aqui apresentada consolida as discussões doGrupo de Trabalho “Ambientes Virtuais de Aprendizagem” (GT-AVA) realizadas no âmbito daEscola Nacional de Administração Pública (ENAP). Fundamenta-se em uma série de debatesinterdisciplinares promovidos internamente pelo Grupo em 2010, resultando na construção detrês cenários possíveis para o quadriênio 2011-2014, no que tange à infraestrutura tecnológica eimplicações pedagógicas para a oferta de ações de aprendizagem, disseminação de informações eintegração de recursos. Segue-se uma seção de considerações relativas aos fatores críticos a seremconsiderados para que a solução tecnológica adotada possa corresponder, em médio ou longoprazo, às demandas metodológicas, tecnológicas e jurídicas emergentes.
Palavras-chave: ambientes virtuais de aprendizagem; plataformas tecnológicas para edu-cação; cenários para oferta de EAD em organizações públicas
Entornos virtuales de aprendizaje: desafíos de una escuela de gobiernoAndrea Filatro y Natália Teles da Mota
En este artículo se presenta la información que busca subsidiar los administradores yencargados de adoptar decisiones en el proceso de contratación de una solución tecnológicaespecializada en la gestión del aprendizaje y los conocimientos necesarios para el desarrollo,aplicación y oferta de eventos de aprendizaje - a distancia, presencial o mixtos. El resumenpresentado aquí consolida las discusiones interdisciplinares del Grupo de Trabajo de EntornosVirtuales de Aprendizaje (GT-AVA) que se llevaron a cabo en la Escuela Nacional deAdministración Pública (ENAP). Se fundamenta en una serie de debates interdisciplinares pro-movidos internamente por el Grupo en 2010, lo que dio lugar a la construcción de tres escenariosposibles para 2011-2014, con respecto a la infraestructura tecnológica y alcances pedagógicospara la oferta de acciones de formación, difusión de información e integración de recursos. Acontinuación, se encuentra una de las secciones de las consideraciones sobre los factores críticosa considerarse, para que las soluciones tecnológicas adoptadas puedan responder, a medio olargo plazo, a las exigencias metodológicas, tecnológicas y jurídicas emergentes.
Palabras clave: Entornos virtuales de aprendizaje; plataforma tecnológica para la educación;los escenarios para oferta de educación a distancia en instituciones públicas
Virtual Learning Environment: challenges for a School of Public ServiceAndrea Filatro and Natália Teles da Mota
This study presents information that seek subsidize managers and decision makers in theprocess of hiring of technological solution specialist for the management of learning andknowledge to enable the development, implementation and offering of distance education, faceto face courses or mixed events of learning. The summary presented here consolidates thediscussions of Virtual Learning Environment Working Group (GT-AVA) carried out under theNational School of Public Administration - ENAP). It is based on a series of interdisciplinary
RSP
122 Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 109-122 jan/mar 2013
Ambientes virtuais de aprendizagem: desafios de uma escola de governo
debates promoted internally by the group in 2010, resulting in the construction of three possiblescenarios for 2011-2014, regarding the technological infrastructure for learning sharing, releaseof information and integration of resources. It concludes with a section of considerationsrelated to critical factors to be considered in choosing an e-learning technological solution, inorder to respond to emerging ethodological, technological and legal demands.
Keywords: virtual learning environments; technological platform for education; scenariosfor supply of distance education in public institutions
Andrea Filatro
Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, consultora em educação a distância e especialista em designinstrucional. Contato: [email protected]
Natália Teles da Mota
Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade de Brasília, coordenadora didático-metodológicada Coordenação-Geral de Educação a Distância da ENAP. Contato: [email protected]
Lucas Lopes
Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 123-129 Jan/Mar 2013 123
RSP
RSP RevisitadaO São Francisco e a interligação
com as bacias vizinhasLucas Lopes
Texto publicado na RSP, vol. 3, no 2, de agosto de 1952
A transposição do Rio São Francisco e a questão da segurança hídrica naárea do semiárido nordestino sempre foram assuntos presentes na agendapolítica do Brasil. Na época do Império, a ideia já era vista por alguns intelec-tuais como a única solução para a seca do Nordeste. O projeto não foi iniciadoentão por falta de recursos da engenharia e de consenso na sociedade. Já naRepública, os Constituintes de 1946 determinaram a aplicação de 1% dasrendas da União para projetos de viabilização econômica do Rio, durante 20anos. O artigo que revisitamos faz parte desse longo debate envolvendo otema, que nos dias atuais se apresenta na iniciativa de transposição do Rio SãoFrancisco, denominado “Projeto de Integração do Rio São Francisco comBacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional”.
É interessante notar também a mudança do cenário político e social que prece-deu os projetos anteriores que tinham o Rio São Francisco como objeto de inter-venção. Como sabemos, o projeto atual foi cercado de debates sobre a funçãosocial do Rio e seus impactos ambientais e sociais na região. Trata-se de um debatelegítimo e mostra a complexidade política e social que cerca essas grandes obrasde engenharia. Para o gestor público, apresenta-se um problema não somente delogística e engenharia, mas também uma questão política e de “engenharia social”.Basta lembrar as questões que envolvem a construção da Usina de Belo Monte,que emprega cerca de 20 mil trabalhadores, vindos de todos os lugares do Brasil.Não é difícil de entender a complexidade dessas obras.
“O problema das comunicações resume fatos ‘fundamentalmente geográficos’, por istoque entende com a maior ou menor permeabilidade das linhas fisiográficas e com a maiorou menor articulação dessas linhas com o mar.
O problema dos transportes resume fatos ‘essencialmente humanos’, conseqüentemen-te variando com a época que se considere, isto é, segundo os recursos técnicos à disposiçãodo homem”.
(MÁRIO TRAVASSOS – Introdução à Geografia das Comunicações Brasileiras)
Há muito vêm sendo aventadas idéias sôbre a intercomunicação de águas do SãoFrancisco com outras bacias hidrográficas vizinhas. Algumas indicações que se propõema desviar águas do São Francisco para irrigação de zonas sêcas do nordeste – serão
O São Francisco e a interligação com as bacias vizinhas
Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 123-129 Jan/Mar 2013124
RSP
estudadas em trabalho à parte. As que aquíserão examinadas se referem a possíveisextensões da rêde de navegação fluvialcom destino a outras bacias, ou que visemmelhorar a navegação do próprio SãoFrancisco.
Quase tôdas elas foram apresentadasem épocas já remotas, quando não se pre-via a expansão de outros meios de trans-portes terrestres, e se utilizavam os rios napenetração do território, por piores quefôssem as suas condições de navegabilidade.As versões modernas dêsses projetosprocuram justificar-se com a observação detrabalhos semelhantes de interligaçãode bacias em áreas altamente industrializadasda Europa e da América do Norte.
Com relação ao São Francisco, existemvárias sugestões que foram atualizadas noestudo que apresentou, à Comissão deRevisão do Plano Geral de Viação Nacio-nal, o Coronel Jaguaribe Gomes de Matos,em trabalho de fôlego, que é a primeiratentativa de elaboração de um PlanoNacional de Viação Fluvial.
A ligação do São Francisco aoParnaíba, por meio de um canal navegável,do rio Prêto à lagoa de Parnaguá, jásugerida por Eduardo José de Morais, élembrada pelo Coronel Jaguaribe em seutrabalho. De posse de uma cartografia maiscompleta e de informações recentes foramverificadas as dificuldades que êsteempreendimento apresenta. As transpo-sições possíveis do divisor entre as duasbacias se fariam em áreas de pequeníssimavazão e se desenvolveriam em extensõesde grande declividade. Abrir canais,construir grandes açudes e numerosascomportas são obras exeqüíveis pela enge-nharia moderna. Entretanto não se justi-ficam senão quando destinadas a umaexploração econômica. É o que aconteceno projeto de ligação do São Francisco ao
Parnaíba, como no projeto de ligar o SãoFrancisco ao Tocantins.
Os estudos procedidos pelo EngenheiroRogério Teixeira Mendes, da C. V. S. F.,mostram a inexeqüibilidade econômica detais ligações nas próximas décadas.
Tais projetos nos fazem meditar sôbreo aforismo de Wellington: “A engenharia émuitas vezes a arte de não construir”.
Um terceiro projeto que merece exameé o da interligação da bacia do rio Grande,afluente do Paraná, com o São Francisco. Emtôrno dessa intercomunicação de bacias, háduas idéias em curso – a primeira visando oproblema da navegação, que foi desenvol-vida pelo Coronel Jaguaribe de Matos, asegunda visando principalmente a formaçãode um potencial hidrelétrico artificial e odesvio de um contingente ponderável de águapara melhoria do caudal do São Franciscoem épocas de estiagem, foi estudado em1945 pelo Engo Décio Vasconcelos, pordeterminação do Secretário de Viação deMinas de então, Engo Lucas Lopes.
Dos estudos procedidos pela C. V. S.F. foi julgado inexeqüível, no momento, oprojeto referente à navegação, por falta defundamentos econômicos.
O projeto do Govêrno de Minasmerece maior exame.
Já anteriormente, Horácio Williams noseu trabalho notável intitulado “NotasGeológicas e Econômicas sôbre o Rio doSão Francisco” assim vislumbrava oproblema:
“Em período geológico talvez não muitoremoto, a bacia formada pelos rios Grandee Sapucaí, constituía a mais longínqua e maisalta cabeceira do rio São Francisco. A serrada Canastra encurvava-se para sudeste, nazona de Pium-í e, por meio dêste arco, enca-minhava as águas no rumo do norte.
Depois, a ação solidária de outrosagentes externos proporcionou a essas
Lucas Lopes
Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 123-129 Jan/Mar 2013 125
RSP
águas romperem aquêle arco, e cortaremuma passagem precipitada para a bacia dorio Paraná, definida no desfiladeiro deJaguara. Aberto êsse canhão de Jaguara, aságuas de ambas as bacias, assim divor-ciadas, baixaram e as erosões definirammais e mais essa separação. A contribuição,assim perdida, faz falta sensível ao SãoFrancisco, ao mesmo tempo que serásempre excessiva para os charcos doParaná e para os seus saltos insuperáveis abons transportes. Não é suntuosidade, nempoesia, prever que os vindouros (talvez osfilhos de nossos netos) se decidam a apro-veitar melhor a contribuição da baciaGrande-Sapucaí, reconduzindo-a para abacia do São Francisco, por meio de rebai-xamento da garganta de Pium-í; e então oSão Francisco será navegável acima da barrado Paraopeba.
Os estudos procedidos pelo Govêrnode Minas conduziram às seguintes conside-rações, do Engo Décio Vasconcelos:
“Em Pôrto Capetinga, de acôrdo comos dados fornecidos pelo 2o Distrito daDivisão de Águas do Ministério daAgricultura, a vazão mínima do rioGrande, cuja bacia hidrográfica é ali de25.520 quilômetros quadrados, apresentouum valor médio de 180 metros cúbicospor segundo, para o período compreen-dido entre 1938 e 1942, correspondendoa uma contribuição unitária de 7,2 litrospor segundo por quilômetro quadrado.
A vazão mínima do rio São Franciscoem Pôrto Real, conforme elementos damesma Repartição, apresentou um valormédio de 27,8 metros cúbicos porsegundo, correspondendo a 5,75 litrospor segundo por quilômetro quadrado,para uma bacia hidrográfica de 4.836 quilô-metros quadrados.
Em Pirapora, para uma baciahidrográfica de 61.539 quilômetros
quadrados, a média das vazões mínimasverificadas no mesmo período foi de 200metros cúbicos por segundo, sendo de 3,2litros por segundo por quilômetro quadra-do a respectiva contribuição unitária.
Bastam êstes elementos para seaquilatar da importância do empreendi-mento que visa tornar o São Franciscoamplamente navegável, a partir de PôrtoReal, pois suas vazões mínimas nesse localficariam equivalentes às verificadas hoje emPirapora, 467 quilômetros a jusante.
De acôrdo com os estudos prelimi-nares realizados, não há grandes dificul-dades técnicas a vencer para execução dodesvio proposto, cujas característicaseconômicas são também satisfatórias.
Uma barragem no rio Grande, comapenas 10 metros de altura, localizada logoa jusante da barra do ribeirão Capetinga,elevará as águas do rio Grande até a cota720 metros, invertendo o curso naquele seutributário, numa extensão de 21 quilômetros,nas quais serão feitos trabalhos de alarga-mento e desobstrução do leito.
Numa extensão de 6 quilômetros serápreciso a execução de cortes visandotranspor o divisor de águas, sendo talveznecessária a construção de túnel apenas naextensão de 2 quilômetros, onde a alturado corte seria superior a 20 metros.
Transposto o divisor, as águas do rioGrande atingirão, já na bacia do São Fran-cisco, as cabeceiras do córrego da Cafua,afluente do córrego da Limeira, que porsua vez lança suas águas no ribeirão dosPatos, tributário do São Francisco, ondetem sua barra cerca de 10 quilômetros amontante de Pôrto Real.
Neste trecho, de 45 quilômetros deextensão, serão realizados igualmente traba-lhos de alargamento e desobstrução, a caixado rio São Francisco, a jusante, já compor-tando vazões da ordem de 400m3/s.
O São Francisco e a interligação com as bacias vizinhas
Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 123-129 Jan/Mar 2013126
RSP
A transposição do divisor de águasproporcionará uma queda de 55 metros.
Na base de 180 metros cúbicos porsegundo a potência permanente obtida seráda ordem de 100.000 kw.
O desvio indicado não irá prejudicar orio Grande em nenhum serviço de utilida-de pública. De Pôrto Capetinga à barra dorio Sapucaí, o perfil acidentado do rioGrande impede qualquer tentativa de nave-gação. As corredeiras ali existentes, poroutro lado, não apresentam condiçõesfavoráveis a aproveitamentos hidrelétricosde vulto, que poderiam talvez ser projetados,completivamente ao desvio proposto.
Cêrca de 50 quilômetros a jusante dePôrto Capetinga, já recebe o rio Grande oseu principal afluente mineiro, o rio Sapucaí,curso d’água volumoso, com uma baciahidrográfica de 24.853 quilômetrosquadrados e uma vazão mínima da ordemde 170 metros cúbicos por segundo.
O volume d’água é, portanto, na barrado rio Sapucaí, sensìvelmente idêntico aodo rio Grande em Pôrto Capetinga.
A barragem de Pôrto Capetinga virá,ainda, represando as águas do rio Grande,melhorar as condições da navegaçãoexistente, no trecho Ribeirão Vermelho –Capetinga.
Comportas de regularização permi-tirão limitar o desvio das águas do rioGrande nas proporções necessárias ànavegação do São Francisco.
A Central Elétrica projetada no divisorde águas referido, nas imediações da vilade Pimenta, virá suprir de energia extensaregião do Estado, compreendida pelosmunicípios de Pium-í, Pains, Pôrto Real,Arcos, Formiga, Guapé, Bambuí, Lagoada Prata, e muitos outros”.
A Comissão do Vale do São Franciscoteve sua atenção voltada para êste problemaque envolve obras de múltipla finalidade
de grande interêsse. De fato uma contri-buição de 180 metros cúbicos por segundo,introduzida nas nascentes do São Francisco,representaria um aumento substancial emPirapora, onde a vazão média das mínimasgira em tôrno de 200 metros cúbicos porsegundo, com reflexos favoráveis nanavegação existente.
Acontece, porém, que as grandes obrasde regularização do regime do São Fran-cisco devem visar a retenção das grandesenchentes, tanto quanto a melhoria detirante nas épocas de estiagem.
Se bem que a transposição do rioGrande para o São Francisco apresentemúltiplas vantagens, tem o inconvenientede nada influir no controle das enchentes,mas, ao contrário, agravar, em pequenaescala, os transbordamentos danosos.
Sendo uma obra de custo elevado, quenão poderia ser conduzida ao mesmotempo que as barragens de regularizaçãono próprio São Francisco, julgou-se conve-niente adiar a sua execução para épocaposterior.
A Comissão do São Francisco progra-mou o estudo detalhado desta questão.
O São Francisco e sua articu-lação com o mar
“Acontece que o melhoramento dorio, assim como o transporte fluvialsôbre o rio melhorado, deve ser con-siderado em conexão com o transportesôbre a ferrovia de junção (portagerailway) em volta da catarata de PauloAfonso; porquanto, sem a abertura euso dessa linha férrea, é algum tantoduvidoso que o transporte por meiode vapores no Alto S. Francisco possatornar-se proveitoso”.
(W. MILNOR ROBERTS – Relatóriosôbre o S. Francisco)
Lucas Lopes
Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 123-129 Jan/Mar 2013 127
RSP
Se não existisse Paulo Afonso e ostrechos encachoeirados de Sobradinho aPiranhas, se o São Francisco houvesseatingido, como nível de base de todo seuperfil de equilíbrio, o horizonte do Atlân-tico, se sua barra não se mostrasse tão repe-lente à fixação humana, se houvesse sidopossível a penetração e o tráfego de gentesao longo de todo seu caudal, outra seria afisionomia do Brasil, de sua economia, desua vida.
Penetrando barra acima, o São Fran-cisco só é navegável numa extensão decêrca de 228 quilômetros, por barcos demodesto calado. De Piranhas a Itaparica,em cêrca de 128 quilômetros, estende-seum trecho de utilização inviável para anavegação. O “canion” e a cachoeira dePaulo Afonso eliminam qualquerpossibilidade de melhoria do rio para otráfego de barcos. De Itaparica a BoaVista, em cêrca de 270 quilômetros,inúmeras corredeiras e desníveis exigirãoobras vultosas de canalização e represa-mento para que seja possível a navegaçãofranca. De Boa Vista a Juàzeiro, em 120quilômetros, o rio exige pequenosserviços para estabilizar uma navegaçãoque já se procede em condições técnicasrazoáveis.
Apenas de Juàzeiro a Pirapora, numaextensão ponderável de 1.370 quilômetros,pôde o rio ser navegado de forma satis-fatória. De Sobradinho a Pirapora êleatingiu um perfil de equilíbrio que permiteo tráfego, relativamente fácil, de barcas.
A idéia de se ligar o trecho médionavegável ao mar, por intermédio decanais laterais que contornassem o trechoencachoeirado, ou transpusessem as águasdo São Francisco para as bacias do Vaza-Barris ou do Itapicuru, é, ainda em nossosdias, um sonho, em face do aspecto econô-mico que essas obras envolveriam.
Acreditamos, entretanto, que chegouo momento de se desenvolver um planode articulação do trecho médio negável àseção inferior e ao mar, por intermédiode uma rêde de transportes terrestres.
Já analisamos a importância inegávelda seção que vai de Pirapora a Juàzeiro ejá mostramos que é justo esperar que aregião por ela atravessada venha a presen-ciar, em breve, um surto razoável deprogresso. Destacamos a importância dascidades gêmeas de Juàzeiro e Petrolina,como entrepostos comerciais de primeiragrandeza, no interior são-franciscano.
Parece-nos que de Juàzeiro-Petrolinadeve irradiar um sistema amplo de trans-portes terrestres, ligando-os ao mar e aossertões vizinhos.
Naturalmente, a possibilidade de umavia de transportes de Juàzeiro ao baixo SãoFrancisco, viria alargar a projeção dessenúcleo de intercâmbio e permitir que osrecursos naturais drenados pelo trechomédio navegável atingissem o baixo SãoFrancisco.
Com a construção da Usina de PauloAfonso e a eletrificação do Nordeste,surgem novas circunstâncias a alterar ostêrmos primitivos do problema. A ligaçãode Juàzeiro a Piranhas por uma via férreanão teria mais a finalidade precípua depermitir o escoamento da produção dovale médio para o mar. Em vez disto, seriao elemento a possibilitar o tráfego dematérias-primas para um grande parqueindustrial em perspectiva.
De fato, existindo grandes disponibi-lidades de energia em Paulo Afonso, serálógica a formação de uma região industrialno Baixo São Francisco, que é a área donordeste onde se encontra, além de outros,um fator essencial às grandes indústrias,especialmente químicas – água potável emgrande abundância. Êsse parque industrial
O São Francisco e a interligação com as bacias vizinhas
Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 123-129 Jan/Mar 2013128
RSP
necessitará, provàvelmente, de matérias-primas provenientes do trecho médionavegável, que seriam transportadas pelaferrovia de Juàzeiro-Petrolina a Propriá-Penedo a que nos referimos no estudo doPlano Ferroviário na Bacia do São Francisco.
A idéia de se incentivar a criação deum parque industrial, na região do baixoSão Francisco, vem sendo analisada poruma Comissão especial de estudo sôbre aaplicação da energia de Paulo Afonso emindústrias eletroquímicas e eletrometa-lúrgicas. Sua viabilidade tornar-se-á maisforte quando estiver ligado o baixo aomédio São Francisco por via terrestre deboas condições técnicas.
A possibilidade de extensão da nave-gação a jusante de Juàzeiro e Boa Vista atéItaparica está, a nosso ver, condicionada aoplano de represamentos dos trechosencachoeirados, que sugeriram Geraldo Rocha,Maurício Joppert, e a Organização Henrique Lage,visando, entre outras finalidades, grandestrabalhos de irrigação. Diz o professorMaurício Joppert: (*) “Os 428 km que vão dacorredeira de Sobradinho a Jatobá (Itapa-rica), para serem melhorados constituem umproblema tècnicamente mais difícil. Pare-ce-nos, porém, que a questão deve serencarada de um ponto de vista mais amplo,isto é, não reduzindo o São Francisco apenasao papel secundário de uma via navegávelmas, considerando que êle se intromete econsegue atravessar, com um saldo final de 600m3/s, uma das regiões mais sêcas do nordeste brasi-leiro, é, assim, um verdadeiro presente divino que ohomem tem de aproveitar para transformar osemideserto num dos paraísos criados pelas maravi-lhas da irrigação” .
Esta nos parece, realmente, a teseacertada sôbre os problemas do trechoencachoeirado, o que isola o baixo e omédio São Francisco. A possibilidade dese criarem áreas de irrigação perene no
coração da região sêca do nordeste, deveser o primeiro objetivo da série de barra-gens indicadas por aquêles técnicos nacio-nais. A navegação dos trechos represadosserá um subproduto do esquema principal,como o será a geração de energia.
Com êste pensamento em menteiniciamos, na Comissão do Vale do SãoFrancisco, o estudo do problema, lutandode início com uma grande deficiência decartografia adequada. O esquema quesugerimos para prosseguimento dosestudos é o seguinte: A Comissão do Valedo São Francisco, juntamente com oDepartamento Nacional de Obras Contraas Sêcas, estudará um conjunto de obrasde represamento e irrigação no trecho deSobradinho a Itaparica. A Comissão doVale do São Francisco se incumbirá dedetalhar os projetos das barragens dederivação e eclusagem, incumbindo-se,posteriormente, de sua execução. ODepartamento Nacional de Obras Contraas Sêcas fará estudos de canalização lateral,inclusive os açudes de transposição devales, incumbindo-se de sua execução e dasobras complementares de irrigação.
Esta cooperação é lógica e indispen-sável, em face da deficiência de recursos àdisposição da Comissão do Vale do SãoFrancisco.
Finalmente devemo-nos referir ao pro-blema da barra do São Francisco.
Enquanto não existir na seção inferiordo rio uma grande atividade econômica,enquanto não se tornar iminente a forma-ção de um grande parque industrial no bai-xo São Francisco, e sua ligação ferroviáriaao médio, não será aconselhável a inver-são de grandes somas na desobstrução desua barra. O acesso marítimo se faz hojeaté Penedo por embarcações de cabota-gem de 2.000 toneladas. A abertura e pro-teção de um canal de acesso para navios
Lucas Lopes
Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 123-129 Jan/Mar 2013 129
RSP
de 10.000 toneladas, que tornaria Penedoum pôrto de proporções oceânicas é umaobra cara, já estudada em todos os detalhespelo Engo A. E. F. Portugal, que hoje prestauma valiosa colaboração à Comissão doVale São Francisco, e orçada em duzentosmilhões de cruzeiros.
A inversão dessa importância vultosanão se compreende quando as portas deAracaju e Maceió, a curta distância da barra
do São Francisco, e servindo a dois entre-postos comerciais de importância, estão aexigir da Nação trabalhos essenciais deacesso, acostamento e aparelhamento.
O problema da barra do São Franciscoé caracterìsticamente a questão de mais umpôrto marítimo em nosso litoral e deveráser resolvida de acôrdo com a política deaparelhamento portuário que adotar oDepartamento Nacional de Portos.
Nota
(*) Maurício Joppert da Silva – Problemas Nacionais – Rio – 1943.
RSPPara saber mais
131Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 131-132 jan/mar 2013
Para saber mais
Audiências públicas: fatoresque influenciam seu potencial deefetividade no âmbito do PoderExecutivo federal
BRELAZ, Gabriela de; ALVES, Mario A..Principais Descobertas do Processo deInstitucionalização da Participação naCâmara Municipal de São Paulo: umaAnálise das Audiências Públicas doOrçamento (1990-2010). In: 36º EncontroAnual da ANPOCS, 2012, Águas deLindóia-SP.
LEMOS, Chélen Fischer de. Participacióny medio ambiente: La realización deaudiencias públicas ambientales en losEstados Unidos, Quebec y Brazil. RevistaGestión y Ambiente, Medellín, v. 4, n.2, p. 53-66, 2001.
Políticas públicas e relaçõesfederativas: o Sistema Nacional deCultura como arranjo institu-cional de coordenação e coope-ração intergovernamental
BAPTISTA, Tatiana Wargas de Faria.Regionalização e relações federativas napolítica de saúde no Brasil. Cadernos de SaúdePública, Rio de Janeiro, v. 29, n. 1, Jan.2013.
DOURADO, Daniel de A.; ELIAS, PauloEduardo M.. Regionalização e dinâmicapolítica do federalismo sanitário brasileiro.Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 45, n.1, p. 204-211, 2011.
Alinhando o modelo, o métodode implementação e a prática degestão do conhecimento (GC): ocaso do Repositório do Conheci-mento do Instituto de PesquisaEconômica Aplicada (RCIpea)
BRASCHER, M.; Carlan, E.. Sistemas deorganização do conhecimento: antigas enovas linguagens. In: Robredo, J.; Brascher,M.. (Org.). Passeios pelo bosque da informação:estudos sobre representação e organizaçãoda informação e do conhecimento. Brasília:Ibict, p. 147-176, 2010.
MORENO, Fernanda Passini; LEITE,Fernando César Lima; ARELLANO, MiguelÁngel Márdero. Acesso livre a publicaçõese repositórios digitais em ciência dainformação no Brasil. Perspectivas em Ciênciada Informação, Belo Horizonte, v.11, n.1, p.82-94, Abr. 2006.
Avaliação da percepção da confor-midade de processos de contratação desoluções de Tecnologia da Informaçãocom a Instrução Normativa no 4/2010da SLTI
Albertin, Alberto Luiz; SANCHES,Otávio Próspero. Outsoursing de TI:impactos, dilemas, discussões e casos reais.Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.
CEPIK, M.; CANABARRO, D. R.Governança de TI – Transformando aAdministração Pública no Brasil. PortoAlegre: WS Editor, 2010.
RSP Para saber mais
Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 131-132 jan/mar 2013132
Ambientes virtuais de aprendi-zagem: desafios de uma escola de go-verno
KLERING, Luis Roque; SCHRÖEDER,Christine da Silva. Desenvolvimento de umAmbiente Virtual de Aprendizagem à luzdo enfoque sistêmico. Tecnologias deAdministração e Contabilidade, Curitiba, v. 1,n. 2, p. 42-54, Jul./Dez. 2011.
PEREIRA, Alice Cibys (org.). AVA:ambientes virtuais de aprendizagem emdiferentes contextos. Rio de Janeiro: Ed.Ciência Moderna, 2007.
Comentários, observações e sugestões sobre a RSP devem ser encaminhados à Editoriada Revista, pelo e-mail [email protected] ou por carta, para o endereçoSAIS Área 2-A – Sala 116 – CEP: 70610-900 – Brasília, DF, a/c editor(a) da RSP.
Fale com a RSP
Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 133-134 jan/mar 2013 133
RSPAcontece na ENAP
Acontece na ENAP
Telessaúde em MG conquista 1o lugar no17o Concurso Inovação
Iniciativa do Hospital das Clínicas da Universidade Federalde Minas Gerais (UFMG), Teleassistência em Rede para Regiões Remotas:Melhorando o Acesso da População à Atenção Especializada em Saúdeconquistou o 1o lugar no 17o Concurso Inovação na Gestão Pública Federal. O anúncio foifeito no dia 26 de março, em cerimônia no auditório do Ministério do Planejamento,Orçamento e Gestão (MP). O evento também contou com os lançamentos do livro contendoos relatos das iniciativas premiadas nesta edição e do 18o Concurso Inovação.
A Telessaúde da UFMG conquistou uma visita técnica à Noruega. A iniciativa éconsiderada uma das maiores experiências de teleassistência sustentável no mundo,servindo de modelo para outras experiências similares no Brasil e na América Latina.
Classificado em 2o lugar, o Projeto Visita Virtual e Videoconferência Judicial, do Ministérioda Justiça, ganhou uma visita técnica à França. Completam a lista das 10 iniciativasvencedoras: Eco Universidade: Plano Ambiental para uma Universidade Socioambientalmente Correta,da Universidade Federal de Lavras/MG (3a); Projeto Porto Sem Papel, da Secretaria dePortos da Presidência da República (4a); Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condiçõesde Trabalho na Cana-de-Açúcar, da Secretaria-Geral da Presidência da República (5a); Sistemade Emissão e Controle de Autorização de Voo da Anac (Siavanac), da Agência Nacional deAviação Civil (6a); Termo de Ajuste Sanitário (TAS), do Ministério da Saúde (7a); Modelo deGestão do Ambiente de TI Aplicado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (8a); AlmoxarifadoVirtual: uma Proposta de Sustentabilidade por Contratação de Gerenciamento de Meios, do ICMBio(9a); e Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv): um Novo Paradigma nasTransferências Voluntárias da União, do Ministério do Planejamento (10a).
Iniciativa da ENAP, em parceria com o MP, o Concurso contou com o apoio, para aspremiações, das embaixadas da França, da Noruega e da Nova Zelândia; da CooperaçãoAlemã para o Desenvolvimento (GIZ); e da Agência Brasileira de Cooperação (ABC).
Especialista espanhol fala na ENAP sobreambientes federados europeus
A ENAP promoveu, em 1o de fevereiro, uma palestrasobre sistema compartilhado de cursos, ministrada peloprofessor espanhol Manuel Cebrián de la Serna. A partir daexperiência de trabalho em comunidades e de ambientesfederados na Europa, a palestra se estruturou em dois aspectos: tecnológico e pedagógico.
Cebrián é pesquisador de temas relacionados à formação de professores para o usodas tecnologias da informação e comunicação e coordenador do Grupo de Investigaçãode Tecnologias Aplicadas à Educação (GTEA). Também lidera o Projeto Internacionalpara o Desenvolvimento de Entornos Federados na Educação a Distância e o serviço federadoe-rubrica, para a avaliação da aprendizagem universitária da União Europeia.
RSP Acontece na ENAP
Revista do Serviço Público Brasília 64 (1): 133-134 jan/mar 2013134
“Estamos cada vez mais digitalizados, interdependentes e obrigatoriamente inter-relacionados no mundo globalizado”, disse o especialista ao citar o caso da Europa, emque fronteiras foram superadas com o advento da União Europeia e a adoção de umamesma moeda (o Euro). Segundo Cebrián, há uma tendência para a informatização dosprocessos de trabalho e de formação permanente nas instituições. Dessa forma, procura-se atualmente concentrar as inovações tecnológicas no indivíduo (usuário).
O professor Cebrián explicou que, na Espanha, há um sistema que oferece diferentesserviços centrados em uma base tecnológica, o que possibilita que o indivíduo desfrutede todos os serviços disponíveis, sejam eles de educação ou de saúde.
Palestra debate gestão da diversidade e doenvelhecimento na Austrália
As implicações do envelhecimento da força de trabalho eda gestão da diversidade no serviço público australiano foramdebatidas em 7 de fevereiro, na ENAP. O tema foi apresentadopela professora doutora Jennifer Waterhouse, especialista emNegociação e coordenadora de Relações de Trabalho e Gestão de Recursos Humanos,da Universidade de Newcastle (Austrália).
Jennifer Waterhouse iniciou sua fala expondo os três tipos de abordagem paradiversidade adotados em seu país: direitos humanos, justiça social e Business Case. Segundoela, na Austrália, há uma vasta legislação no campo dos direitos humanos, tanto no nívelfederal quanto no estadual, com o maior número de leis antidiscriminatórias com baseem gênero, raça, idade e necessidades especiais no mundo. No âmbito da justiça social,estão ações afirmativas, definidas como “discriminação positiva baseada em certascaracterísticas”, que visam a reparar erros históricos, em especial com os aborígenes e asmulheres. O Business Case, por sua vez, vale-se das abordagens voluntárias para adiversidade, quando organizações se dão conta de que essa área é interessante. SegundoJennifer, o problema consiste em provar para as instituições que a gestão da diversidadeé algo positivo para os negócios. Por isso é que abordagens legais são necessárias.
O envelhecimento da força de trabalho é, na visão da professora, uma das principaisquestões de diversidade enfrentadas pela Austrália. Jennifer informou que, atualmente,todos os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico(OCDE) têm populações envelhecendo. “Temos leis que tratam da discriminação poridade bastante amplas, mas não estabelecem diferenciação entre meia-idade e terceiraidade. Dessa forma, não existem ações afirmativas nesse sentido”. Por isso, há oentendimento de que é importante manter os trabalhadores mais antigos no mercado detrabalho, a fim de preservar o histórico organizacional que esses carregam.
A palestrante informou que, no serviço público australiano, o governo incentiva ostrabalhadores a permanecerem em seus cargos por meio de fundos de pensão; e queainda não são praticadas, por parte das áreas de recursos humanos, políticas proativasde valorização dos servidores mais antigos. Em geral, as áreas de recrutamento aindasão alinhadas à cultura de priorizar a contratação da força de trabalho mais jovem,considerando os mais velhos inadequados para funções de um mundo contemporâneo.
RSP
Revista do Serviço Público Brasília 61 (3): 325-328 Jul/Set 2010 135
Normas para os colaboradores
A Revista do Serviço Público, editada pela Escola Nacional de Administração Pública há mais de 70anos, publica artigos inéditos sobre temas relacionados a Estado e Sociedade; Políticas Públicas eAdministração Pública. Os artigos passam por análise prévia de adequação pela editoria da revista eposterior avaliação de dois a três pareceristas por sistema de blind review.
Regras para submissão:
1. Artigos: 1. Artigos: deverão ter aproximadamente seis mil palavras (em torno de 20 páginas) e ser acompanhadosde resumo analítico em português, espanhol e inglês, de cerca de 150 palavras, que permita uma visão globale antecipada do assunto tratado, e de três palavras-chave (descritores) em português, espanhol e inglês queidentifiquem o seu conteúdo. Tabelas, quadros e gráficos, bem como notas, devem limitar-se a ilustrarconteúdo substantivo do texto. Notas devem ser devidamente numeradas e constar no final do trabalho e nãono pé da página. Citações de autores no corpo do texto deverão seguir a forma (AUTOR, data). Referênciasdevem ser listadas ao final do trabalho, em ordem alfabética, observadas as normas da ABNT.*
2. Vinculação institucional: artigos devem vir acompanhados de breve informação sobre a formação, vinculaçãoinstitucional do autor (em até duas linhas) e e-mail para contato.
3. Avaliação: a publicação dos textos está sujeita à análise prévia de adequação pela editoria da revista e avaliação porsistema de blind review de dois a três pareceristas, os quais se reservam o direito de sugerir modificações ao autor.
4. Encaminhamento: os artigos devem ser encaminhados por e-mail, em formato word (.docx, .doc, .rtf ou .txt),para [email protected]. A ENAP compromete-se a informar os autores sobre a aprovação para publicaçãoou não de seus trabalhos em aproximadamente quatro meses.
* Exemplos de citação e referência
Citação no corpo do texto: (ABRUCIO, 2009)
Referências no final do trabalho:LivroCOHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Gestão Social: como obter eficiência e impacto nas políticas sociais.Brasília: ENAP, 2007.
Artigo em coletâneaSARAVIA, Enrique. Introdução à teoria da política pública. In: SARAVIA, Enrique e FERRAREZI, Elisabete(Org.). Coletânea Políticas Públicas. Brasília: ENAP, 2006. v. 1 p. 21-42.
Artigo em periódicoCOSTA, Frederico Lustosa da. História das reformas administrativas no Brasil: narrativas, teorizações erepresentações. Revista do Serviço Público, Brasília, ENAP, v. 59, n. 3, p. 271-288, jul. a set. de 2008.
Monografia, dissertação ou tese acadêmicaMONTEIRO, Ana Lúcia de Oliveira. A Relação Estado e Sociedade Civil no Processo de Formulação e Implementaçãode Políticas Públicas. 2008. Dissertação (Mestrado em Administração Pública). Programa de Pós-Graduaçãoem Administração – PPGA, Universidade de Brasília, Brasília.
Sítio da internetEscola Nacional de Administração Pública. Catálogo de Cursos 2009. Disponível em:www.enap.gov.br. Acesso em: 8 jan. 2009.
Para mais informações acesse www.enap.gov.br
Escola Nacional de Administração PúblicaDiretoria de Comunicação e PesquisaSAIS Área 2-A Brasília, DF – CEP 70610-900Tel: (61) 2020 3327 – Fax: (61) 2020 3178 – E-mail: [email protected]
Revista do Serviço Público Brasília 61 (3): 325-328 Jul/Set 2010
RSP
136
Para conhecer ou adquirir as Publicações ENAP visite o sítio www.enap.gov.br
Ações premiadas no 17º Concurso Inovação na GestãoPública Federal – 2012, 2013. 197p.
Este livro traz os relatos das 10 iniciativas premiadas no 17o ConcursoInovação na Gestão Pública Federal. Iniciativa da ENAP, em parceriacom o MP, o Concurso conta com o apoio, para as premiações,das embaixadas da França, da Noruega e da Nova Zelândia; daCooperação Alemã para o Desenvolvimento (GIZ); e da AgênciaBrasileira de Cooperação (ABC). Ao longo de 17 anos, o Concursotem cumprido seu objetivo de estimular a implementação deiniciativas inovadoras de gestão em organizações do governofederal; disseminá-las e valorizar servidores públicos que atuam deforma criativa em suas atividades.
Como escrever e usar estudos de caso para ensino eaprendizagem no setor público
De autoria do professor Andrew Graham, do Instituto de Adminis-tração Pública do Canadá (Ipac), a publicação representa mais uminvestimento da ENAP em novas metodologias de ensino deaplicação, que permitam a reflexão teórica a partir de situaçõesconcretas do setor público. O objetivo é estimular a investigação, ainovação e o compartilhamento de experiências profissionais,propiciando a reflexão crítica sobre a atuação dos servidores naadministração pública e sobre as políticas públicas.
Administração pública – Coletânea
Edição em língua portuguesa da coletânea organizada pelos pro-fessores B. Guy Peters e Jon Pierre. Administração pública –Coletânea reúne 28 artigos de especialistas de diversos países, quesintetizam o pensamento acadêmico atual sobre o tema e analisama relação entre a teoria e os melhores processos de gestão de polí-ticas públicas. O livro inclui textos de autores brasileiros: Carlos AriSundfeld escreve sobre direito administrativo; Fernando LuizAbrucio destaca desafios contemporâneos para a reforma daadministração pública brasileira e Virgílio Afonso da Silva abordafederalismo e articulação de competências no Brasil. A obra é umaco-edição da ENAP e da Editora Unesp.
RSP
Revista do Serviço Público Brasília 61 (3): 325-328 Jul/Set 2010 137
Cartão de aquisição de publicações
Para adquirir nossos periódicos, envie-nos este cartão preenchidoatravés de fax ou correio juntamente com o comprovante de pagamen-to ou nota de empenho.
Nome/Instituição:
CPF/CNPJ:
Endereço:
Cidade: UF: CEP:
Telefone: Fax:
E-mail:
Revista do Serviço Público
Periodicidade: trimestralAssinatura anual: R$ 40,00 Ano 63 – 2012 Número avulso: R$ 12,00 Edição no __________ Exemplar avulso anterior a 1997: R$ 8,00
Cadernos ENAP
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33* 34 36
Preço unitário: R$ 10,00(*)Caderno 33 (2 volumes): R$ 20,00
Outros
Revista do Serviço Público Brasília 61 (3): 325-328 Jul/Set 2010
RSP
138
Formas de pagamento
Os interessados em adquirir as publicações ENAP poderão dirigir-se diretamente à sede da Escolaem Brasília ou solicitá-las por fax ou pelos Correios, informando os títulos das publicações eendereço completo para entrega.
O pagamento pode ser realizado por meio de uma das formas a seguir:
1. Nas agências do Banco do Brasil:• Compareça ao caixa e solicite o depósito do valor das publicações na Conta Única do Tesouro Nacional, Agência 1607-1 Conta 170.500-8, informe seu CPF ou o CNPJ de sua instituição e o código identificador 11470211401288187.• Posteriormente, encaminhe o comprovante de depósito juntamente com o Cartão de Aquisição para a ENAP.
2. No sítio do Banco do Brasil (www.bb.com.br), por meio de transferência entre contas correntes(para clientes do Banco do Brasil):• Acesse sua conta.• Na guia “Transferências”, clique em “para Conta Única do Tesouro”.• Digite o valor total das publicações solicitadas.• No campo “UG Gestão finalidade”, digite o código identificador: 11470211401288187.• No campo CPF/CNPJ, digite o seu CPF ou o CNPJ de sua instituição.• Em seguida, prossiga com a transação normalmente, como se fosse uma transferência comum entre contas correntes.• Imprima o comprovante e encaminhe-o para a ENAP juntamente com o Cartão de Aquisição.
3. Nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil (para clientes do Banco do Brasil):• Na tela principal, selecione a opção “Transferência”.• Na próxima tela, selecione a opção “Conta corrente para Conta Única do Tesouro”.• Em seguida, digite o valor total das publicações solicitadas e tecle Ok.• Na próxima tela, digite no campo Identificador 1 o código 1147021140128818-7 e no campo Identificador 2 o seu CPF ou o CNPJ de sua instituição.• Prossiga normalmente com a transação, como uma transferência comum.• Encaminhe posteriormente o comprovante de transferência juntamente com o Cartão de Aquisição para a ENAP.
4. Enviar nota de empenho (com original anexado) em nome de: ENAP Escola Nacional deAdministração Pública – CNPJ: 00.627.612/0001-09, UG: 114702, Gestão: 11401
5. Enviar por fax ou pelos Correios, a Guia de Recolhimento da União (GRU Simples) paga noBanco do Brasil com o valor das publicações. Acesse o link “Como adquirir” na página da ENAPpara mais informações.
Escola Nacional de Administração PúblicaDiretoria de Comunicação e PesquisaSAIS – Área 2-A70610-900 – Brasília, DFTel: (61) 2020 3096 / 2020 3092 / 2020 3186 – Fax: (61) 2020 3178CNPJ: 00 627 612/[email protected]