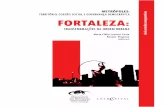Agricultura Metropolitana e Sustentabilidade de Mário Campos - MG
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Agricultura Metropolitana e Sustentabilidade de Mário Campos - MG
Agricultura Metropolitana e Sustentabilidade de Mário Campos - MG∗
Ronan Silva Rodrigues
UFMG/IGC Maria Aparecida dos Santos Tubaldini
UFMG/IGC Palavras-chave: agricultura familiar, agricultura metropolitana, sustentabilidade, horticultura.
1. Introdução
Do ponto de vista teórico, o fio condutor deste estudo é a discussão sobre a
concepção de agricultura familiar praticada no espaço da agricultura metropolitana. Ao
pensar a agricultura familiar e metropolitana, emergem três questões: a primeira é
“quem faz a agricultura metropolitana?”; a segunda é “como as características dessa
agricultura insere-se no contexto da sustentabilidade?”, a terceira é “como o processo de
metropolização gerou um mosaico de atividades rurais/urbanas?”.
Um aspecto de grande relevância são as ligações entre as características das
unidades familiares de produção estudadas e os modelos teóricos propostos por
LAMARCHE (1998). A concepção dos modelos lamarchianos foi elaborada a partir das
variáveis presentes nas noções de lógica familiar e nas noções de dependência. Essas
duas noções são a base para a explicação das lógicas produtivas presentes nas unidades
familiares de produção.
A respeito de quem faz a agricultura metropolitana, a agricultura familiar torna-
se linha de análise muito importante. Isto porque quem faz a agricultura metropolitana
são os agricultores familiares. Daí a importância de se entender como se organizam as
unidades familiares de produção.
∗ Trabalho apresentado no XIII Encontro da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, realizado
em Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil de 4 a 8 de novembro de 2002.
Em relação à sustentabilidade nas unidades familiares de produção, a maneira
como tais unidades se organizam é muito importante. A partir da análise dessas
características, podem-se encontrar pontos de sustentabilidade1.
As técnicas agrícolas empregadas na agricultura metropolitana da área
pesquisada apresentam características do pacote tecnológico da revolução verde, em que
um dos aspectos centrais é o uso intensivo de insumos químicos e máquinas agrícolas,
gerando enorme degradação ambiental. Entretanto, mesmo assim, é possível encontrar
alguns pontos de sustentabilidade social, econômica, ambiental, cultural e política.
No que diz respeito ao espaço onde as unidades de produção familiares estão
situadas, na área de estudo, a concepção de agricultura metropolitana torna-se de vital
importância. Isto ocorre devido à grande proximidade das unidades de produção do
núcleo metropolitano, o que gera contexto favorável ao desenvolvimento de usos do
solo, tanto agrícolas com a horticultura quanto urbanos com os loteamentos populares.
A horticultura é totalmente dependente da água para a irrigação, sendo este um
dos principais desafios dessa atividade na área pesquisada.
A área de estudo, Bom Jardim, está localizada no município de Mário Campos –
MG. Este município está situado muito próximo a Belo Horizonte, na poção sudoeste da
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Da Praça Sete, no centro da capital,
até a sede de Mário Campos há 39 Km de distância, estando situado, portanto, na
periferia do núcleo metropolitano.
A área estudada especializou-se em atender dois tipos de demandas da metrópole
de Belo Horizonte: uma por hortaliças de folhas, outra por moradia. Como resultado, a
convivência, lado a lado, de nichos agrícolas e loteamentos populares. Estes, conforme
COSTA (1985), dispõem de precária infra-estrutura de equipamentos urbanos.
O destino da produção está totalmente ligado à concepção da agricultura
metropolitana no que diz respeito a proximidade do mercado, questão esta trabalhada
por BICALHO (1996), e a concepção da agricultura familiar no que concerne à
1 A expressão “pontos de sustentabilidade” é utilizada na redação dessa pesquisa como sinônimo de
“aspectos de sustentabilidade”. Assim, “pontos de sustentabilidade” corresponde a “aspectos positivos de sustentabilidade”, e “ausência de pontos de sustentabilidade” é o mesmo que “aspectos negativos de sustentabilidade”.
2
dependência da unidade de produção familiar em relação ao mercado, proposta por
LAMARCHE (1998).
Os objetivos desse estudo foram os seguintes: discutir a inserção da agricultura
familiar no espaço metropolitano onde se pratica agricultura metropolitana; levantar
pontos de sustentabilidade social, econômico, ambiental, cultural e político a partir de
características encontradas nas unidades de produção familiares; e verificar como se dá
a interação entre os nichos agrícolas e os loteamentos populares na área pesquisada.
Na elaboração dessa pesquisa, foi necessário percorrer diversas etapas, que
foram fundamentais no sentido de dar subsídio às análises, discussões e conclusões de
aspectos intrínsecos à temática estudada. Tais etapas foram as seguintes: a)
levantamento bibliográfico sobre agricultura familiar, agricultura metropolitana e
sustentabilidade, seguido de uma discussão teórica sobre os referidos temas; b)
levantamento de dados e informações sobre Mário Campos; c) criou-se o questionário
pelo qual foram realizadas entrevistas para a coleta de dados diretos do campo. Os itens
abordados no questionário e utilizados no estudo são seis: características gerais das
propriedades amostradas, o trabalho nos nichos agrícolas, a influência das tecnologias
agrícolas, o mercado e os nichos agrícolas, interações rurais/urbanas, e água para
irrigação.
Para definir o tamanho da amostra de horticultores, recorreu-se ao técnico da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
(EMATER-MG) de Mário Campos2 que, com base em sua experiência de trabalho no
município, estimou existir cerca de 100 propriedades na localidade de Bom Jardim, em
que se praticam a horticultura. Para dar subsídio à pesquisa, foi retirado deste universo,
por amostragem aleatória, 30 estabelecimentos que representam 30% da amostra.
A aplicação dos questionários, realizada por meio de entrevistas em maio de
2001, teve como público alvo tanto horticultores familiares que são proprietários quanto
agricultores meeiros, uma vez que esses são os personagens que cultivam a terra e são
responsáveis por uma unidade de produção familiar. Estão excluídos da amostra os
donos das propriedades dos meeiros amostrados, porque eles não cultivam hortaliças,
2 Entrevista realizada com o técnico da EMATER-MG em Mário Campos, em agosto de 2000.
3
mas trabalham na administração das meações, compra de insumos e na comercialização
da produção. As pessoas que iniciaram na horticultura e não obtiveram êxito também
ficaram fora da amostra, limitando-se, portanto, aos horticultores bem sucedidos na
prática de tal atividade.
2. Bases Teórico-Metodológicas
2.1 O enfoque teórico da agricultura familiar
Nessa pesquisa, optou-se pela visão de LAMARCHE (1998) para embasar o
estudo. Isto se deve ao fato de que sua concepção aproxima-se mais das características
dos produtores familiares de hortaliças da área pesquisada, que possuem caráter familiar
muito forte no desenvolvimento de suas atividades e total dependência em relação ao
mercado.
A visão de LAMARCHE (1998) é centrada no que ele chama de lógicas
produtivas. Essas lógicas produtivas derivam duas noções importantes para o
entendimento da teorização do autor sobre agricultura familiar: a noção de lógica
familiar e a noção de dependência.
A primeira noção das lógicas produtivas está centrada na lógica familiar. A
lógica familiar significa participação da família no funcionamento da unidade de
produção, podendo esta, desempenhar papel muito importante, em alguns casos, ou
pouco importante em outros.
Essa noção de lógica familiar se divide em três temas: terra, trabalho/família e
reprodução do estabelecimento. Em relação à terra, há três variáveis importantes a
serem enfatizadas: a propriedade fundiária familiar, a importância dada à propriedade
fundiária e o apego à terra. A propriedade fundiária familiar considera ao mesmo tempo
a propriedade individual do responsável pelo estabelecimento e a propriedade dos
outros membros da família. A importância dada à propriedade fundiária leva em conta a
possibilidade do agricultor, com suas economias, investir em terra e a probabilidade de
ampliar a área da propriedade. Quanto ao apego à terra, o autor levanta as possibilidades
em que o agricultor venderia sua terra: falta de sucessores, mudança de profissão, ajudar
os filhos a se estabelecerem, investir na terra ou em outro lugar se for mais vantajoso.
4
No que diz respeito à relação trabalho/família, vale ressaltar que ela corresponde
à maneira como se dá a divisão das tarefas entre os membros das famílias e a utilização
de mão-de-obra externa para o funcionamento das unidades de produção. Desta forma, a
participação dos integrantes das famílias varia muito. Em algumas situações há maior
participação da força de trabalho familiar, enquanto em outras ocorre o predomínio do
trabalho assalariado (assalariados permanentes, temporários ou sazonais). Outro aspecto
importante dessa relação é a opinião dos agricultores sobre a importância de ter ou não
família numerosa para se alcançar o êxito na agricultura.
Quanto à reprodução do estabelecimento, são levantadas três variáveis de grande
relevância. A primeira delas é a situação profissional dos filhos, relacionada ao tipo de
trabalho desenvolvido por eles e à ligação deste tipo de trabalho à atividade agrícola. A
segunda variável corresponde ao que os pais desejam para seus filhos em termos
profissionais, se é ou não profissão ligada à atividade agrícola. A terceira diz respeito
aos destinos que o produtor daria a possíveis investimentos. Tais destinos podem ser os
mais variados: uma das possibilidades seria o agricultor pretender investir na melhoria
da unidade de produção, por exemplo, na compra de máquinas ou de mais terras;
enquanto a outra possibilidade seria em relação ao destino dos investimentos para
prioridades fora da agricultura, como equipamentos domésticos, moradia, instalação dos
filhos e lazer.
A segunda noção das lógicas produtivas é a de dependência. A noção de
dependência é de grande importância, tendo em vista que a agricultura familiar insere-se
no contexto de suas relações com a economia de mercado. E estando na economia de
mercado, o produtor está vulnerável às mudanças ocorridas nesse mercado. Se ele não
conseguir se adaptar a tais alterações, poderá passar por conseqüências que podem
dificultar ou até mesmo inviabilizar o andamento das atividades em sua unidade de
produção.
Essa noção de dependência se divide em três parâmetros: dependência
tecnológica, dependência financeira e dependência do mercado.
Em relação à dependência tecnológica, são levantadas duas variáveis: as técnicas
de produção utilizadas e a assistência técnica.
5
Quanto à utilização de técnicas agrícolas, LAMARCHE (1998:65) salienta que
“Os sistemas de produção implementados caracterizam-
se geralmente pelas técnicas utilizadas. Entre um país e outro,
uma região e outra, um município e outro, mas também dentro
de um mesmo vilarejo, nem todos os produtores utilizam as
mesmas técnicas de produção.”
Já a assistência técnica está ligada às técnicas de ponta, que levam o agricultor a
ter maior dependência externa.
Na dependência financeira são trabalhadas, também, duas variáveis: o grau de
endividamento e a importância que os produtores dão à utilização do crédito.
A dependência financeira varia de acordo com o sistema de produção
implementado, mais ou menos intensivo. É essa intensidade que irá determinar a
necessidade de financiamento ou autofinanciamento e, conseqüentemente, a
dependência financeira.
No que concerne à dependência do mercado, são levantadas duas variáveis: a
dependência alimentar e a importância da produção agrícola vendida.
Quanto ao grau de integração ao mercado, é importante salientar que os
produtores comercializam sua produção de diferentes maneiras. Há produtores
diretamente ligados ao mercado, pois vendem toda sua produção agrícola. Outros
produtores vendem parte da produção e ainda destinam uma certa quantia ao
autoconsumo. Há também aqueles que não tem ligação com o mercado, destinando sua
produção para o consumo próprio (LAMARCHE, 1998).
Quanto à participação do trabalho familiar, as unidades de produção agrícolas
são muito heterogêneas. Em certos casos, conforme LAMARCHE (1998), a
participação de membros da família desempenha papel essencial para a atividade
agrícola; em outras situações, ela é pouco significativa e até mesmo ausente. E, entre
essas duas situações opostas, há certamente grande variação da participação do papel da
família na produção agrícola.
Sobre o trabalho nas unidades de produção existem dois tipos principais. De
acordo com LAMARCHE (1998), o primeiro tipo seria aquele em que o trabalho é
exercido principalmente pelos membros da família; no segundo tipo, a forma de
6
trabalho predominante seria aquela baseada no trabalho assalariado, podendo este ser
permanente, sazonal ou temporário.
A partir dos conceitos de lógica familiar e de dependência, LAMARCHE (1998)
definiu quatro diferentes modelos teóricos de funcionamento das unidades de produção:
empresa, empresa familiar, agricultura camponesa e de subsistência, e agricultura
familiar moderna.
Quanto ao modelo empresa, verifica-se que ele apresenta duas vertentes: a
primeira é marcada pelo sistema pouco familiar e a segunda é caracterizada pelo sistema
dependente. A primeira vertente – sistema pouco familiar – apresenta quatro
características: a) além da exploração da terra diretamente pelo proprietário, pode
também ocorrer arrendamento, ou ainda as duas coisas; b) é grupo pouco ligado à noção
de patrimônio familiar; c) o trabalho familiar ainda permanece bastante presente,
podendo-se limitar ao trabalho do responsável pelo estabelecimento; d) é utilizada
regularmente a mão-de-obra externa.
A segunda vertente – sistema dependente – possui três características: a) os
produtores recorrem abundantemente aos empréstimos para financiar seus
investimentos; b) produzem exclusivamente para o mercado; c) os objetivos da unidade
de produção são produzir para vender e obter lucro ou pelo menos remuneração
adequada da mão-de-obra.
No que diz respeito ao modelo empresa familiar, vale ressaltar que ele apresenta
cinco características. Tais características são as seguintes: a) a organização do trabalho é
baseada principalmente na mão-de-obra familiar; b) o patrimônio é exclusivamente
familiar; c) o futuro da unidade de produção é pensado em termos de reprodução
familiar; d) a produção da unidade é pensada em termos de renda agrícola e o trabalho
em termos de salário, embora em contexto familiar; e) as noções de remuneração e de
produtividade do trabalho estão muito presentes.
Sobre o modelo agricultura camponesa e de subsistência, vale destacar que ele
possui duas características. Essas características são as seguintes: a) as unidades de
produção produzem pouco e utilizam técnicas bastante tradicionais; b) o objetivo
principal é satisfazer as necessidades familiares.
7
No que concerne ao modelo agricultura familiar moderna, vale ressaltar que ele
se organiza em torno de dois aspectos bastante interligados. De um lado, está a busca da
diminuição constante do papel da família nas relações de produção; de outro, a busca
pela maior autonomia possível. Enfim, esse modelo já teria se libertado
simultaneamente de dois aspectos: o das limitações materiais, principalmente de origens
morais e ideológicas; e o das dependências tecnológicas e econômicas.
Esses modelos não são absolutos. Permanecem virtuais para a população de
agricultores estudada e não representam, em nenhum caso, a realidade concreta. São
modelos puros, modelos de referências, em direção aos quais há tendência
(LAMARCHE, 1998).
2.2 O enfoque teórico da agricultura metropolitana
A agricultura metropolitana é bastante estudada mundialmente, havendo sido
realizados estudos para metrópoles da Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Austrália.
No caso de Brasil, BICALHO (1992) realizou trabalhos para o Rio de Janeiro e
TUBALDINI & RODRIGUES (2000) realizaram estudos em Ibirité, na RMBH.
A agricultura metropolitana, conforme BRYANT & JOHNSTON (1992),
corresponde à agricultura praticada no interior das metrópoles ou em áreas próximas a
elas – até o raio de 80 a 100 km de distância do centro metropolitano – em que haja
forte interação entre usos do solo rural e urbano.
As áreas metropolitanas possuem afinidade com a horticultura. De acordo com
LAWRENCE (1988), isso se deve às próprias características das hortaliças que, em
áreas relativamente pequenas, produzem quantidades relativamente elevadas. Já
BICALHO (1996) lembra que, mesmo que a melhoria das estradas, transportes e
armazenagem tenham criado a possibilidade de se cultivar produtos agrícolas perecíveis
em áreas localizadas mais distantes do mercado consumidor metropolitano, tais
produtos continuam sendo cultivados na periferia dos centros metropolitanos.
8
O espaço onde ocorre a agricultura metropolitana é bastante peculiar. Assim:
Hoje, observa-se que a metropolização do espaço é muito
mais complexa do que um mero avanço urbano sobre o campo,
dando origem a espaços interativos do urbano com o rural nos
quais mantêm-se atividades agrícolas dinâmicas. Esta é uma
realidade marcante nos países pós-industriais e com exemplos
nas regiões metropolitanas do Brasil. (BICALHO, 1996:11).
Outro aspecto de grande relevância, presente na agricultura metropolitana, é a
multifuncionalidade do espaço.
“… aponta-se para a interação multifuncional do
produtor e sua família com atividades agrícolas e não-agrícolas,
internas e externas à produção rural, decorrente da natureza do
ambiente simultaneamente rural e urbano que oferece
oportunidades em setores econômicos diferenciados”
(BICALHO, 1996:15).
Ao contrário de BICALHO (1996) que usa o termo multifuncional, SILVA
(2000) usa o termo pluriatividade para se referir às atividades também praticadas pelos
agricultores e que não são ligadas à agricultura. De acordo com SILVA (2000:4), a
pluriatividade pode se apresentar de duas formas:
“… a) através de um mercado de trabalho relativamente
indiferenciado, que combina desde a prestação de serviços
manuais até o emprego temporário nas indústrias tradicionais
(agroindústrias, têxtil, vidro, bebidas, etc.);
b) através da combinação de atividades tipicamente
urbanas do setor terciário com o “management” das atividades
agropecuárias”.
Em determinados locais, nas áreas metropolitanas, segundo TUBALDINI &
RODRIGUES (2000:1), “… há predominância do uso do solo com horticultura, no qual,
também, há convivência complementar, conflitantes ou meramente justapostas, de
atividades e serviços voltados a interesses e necessidades tanto rurais quanto urbanos.”
9
A respeito das mudanças na agricultura situada em áreas metropolitanas,
BICALHO (1996) lembra que hoje não existe mais a idéia de que as áreas agrícolas vão
sendo substituídas pelo simples avanço das áreas urbanas. Segundo a autora, o que
ocorre é a interação entre usos do solo agrícola e usos urbanos e, como resultado dessa
interação, pode ocorrer ou não o desaparecimento dos nichos agrícolas.
Os produtos hortifrutigranjeiros são alternativas para a sustentabilidade das
unidades de produção familiares em áreas metropolitanas, contribuindo para a
sustentabilidade metropolitana. Eles contribuem na geração de emprego e renda,
especialmente para as populações menos favorecidas economicamente, que, em geral,
encontram dificuldade de conquistar emprego em atividades tipicamente urbanas. É de
grande relevância a participação do poder público principalmente em situações que a
população local ainda não despertou para o potencial econômico da agricultura.
Segundo SANTOS (1997), a disseminação dos meios de transporte e de
comunicação proporcionou o surgimento do fenômeno chamado especialização
produtiva. Esse autor afirma que a especialização produtiva corresponde à possibilidade
existente em determinada região de se especializar na produção de certo tipo de produto,
que pode ser um tipo de cultivo. O autor lembra ainda que isso somente foi possível
porque tal região não precisa produzir para sua subsistência, pois ela pode comprar os
produtos que não produz em outra região dentro ou até fora do país, uma vez que os
meios de transporte e as comunicações tornaram-se muito ágeis.
2.3 O enfoque teórico da sustentabilidade
Nas últimas décadas, um dos grandes desafios colocados para a humanidade é
conciliar o desenvolvimento e a preservação ambiental: a proposta mais recente é pelo
desenvolvimento sustentável. Sendo assim, todas as atividades econômicas
desenvolvidas pelo homem devem ser reavaliadas sob a luz desse novo paradigma.
Assim, a atividade agrícola, como tantas outras, tem o desafio de encontrar estratégias
viáveis para a caminhada em direção à sociedade sustentável.
Esse estudo emprega a concepção teórica de desenvolvimento sustentável
formulada nas últimas décadas pelo economista e cientista social Ignacy Sachs. De
acordo com SACHS (1985:135), o conceito de desenvolvimento sustentável é “a
10
tentativa de definir estratégias de desenvolvimento que sejam socialmente úteis,
ecologicamente sustentáveis e economicamente viáveis…”.
Essa concepção de desenvolvimento leva em consideração a escala global; no
entanto, para buscar alcançar tal escala, é necessária a implementação de inúmeras
estratégias de operacionalização dos critérios de sustentabilidade em escala local.
SACHS (2000) levanta diversos critérios de sustentabilidade e, para cada
critério, aponta alguns princípios básicos. Quanto à sustentabilidade social, o autor
apresenta quatro princípios básicos: a obtenção de patamar aceitável de igualdade
social, distribuição de renda justa, a existência de emprego pleno e/ ou autônomo de tal
forma que permita haver qualidade de vida satisfatória, e igualdade quanto ao acesso
aos recursos e serviços sociais.
No que concerne à sustentabilidade cultural, são apresentados três componentes
básicos: realização de mudanças que tenham como objetivo a busca de equilíbrio entre o
respeito à tradição e inovação, autonomia suficiente para elaboração de projeto nacional
integrado e voltado para interesses internos, e autoconfiança com abertura para o
exterior.
Sobre a sustentabilidade ecológica são apresentados dois princípios básicos:
preservação do potencial do capital natureza na sua produção de recursos renováveis e
criação de restrições ao uso de recursos não-renováveis.
No que diz respeito a sustentabilidade ambiental, o autor cita um princípio geral.
Esse princípio consiste na necessidade de considerar e avivar a capacidade de
autodepuração dos ecossistemas naturais.
No que concerne à sustentabilidade do ponto de vista econômico, esse autor
aponta cinco componentes básicos. Estes princípios são os seguintes: desenvolvimento
econômico intersetorial equilibrado, segurança alimentar, conseguir estar sempre
modernizando os instrumentos de produção, razoável autonomia na pesquisa científica e
tecnológica, e ingresso de forma soberana na economia internacional.
Quanto à sustentabilidade política/nacional, são apresentados três princípios
básicos: democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos,
desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto nacional em
parceria com todos os empreendedores, e razoável coesão social.
11
Ao comparar a concepção de desenvolvimento sustentável de SACHS (1985) e
de SACHS (2000), verifica-se que o autor incorporou novos critérios de
sustentabilidade como, por exemplo, o político.
Atualmente, a agricultura está diante de novas exigências de produção derivadas
de operacionalizar o conceito de desenvolvimento sustentável. Embora ainda se tenham
relativamente poucas experiências e elas se apresentem de forma pontual no espaço,
existe a possibilidade de que, no futuro, essas experiências sejam estendidas a toda a
agricultura.
3. Considerações sobre a área de estudo
3.1 O município de Mário Campos: espaço fruto do processo de metropolização
A formação histórica de Mário Campos está ligada a Ibirité, pois desmembrou-
se desta cidade; é importante colocar que:
Sua identidade se formou pela superposição de formas
urbanas representativas de dois processos básicos: a formação
dos núcleos tradicionais da sede municipal e de Sarzedo, no
contexto de uma economia local apoiada na agropecuária e na
extração mineral, e, posteriormente, o processo de
industrialização do setor Oeste da Aglomeração, que repercute
em Ibirité através do intenso parcelamento do solo e dos
assentamentos de população de baixa renda. Assim, além da
perda de terras aptas à produção agrícola, grande parte deste
espaço, inclusive a sede municipal, se converte em área
dormitório dos centros produtivos regionais, marcada pela
descontinuidade do tecido urbano e pela presença de
loteamentos de baixo padrão urbanístico, desarticulados entre si
e com vínculos muito frágeis com a sede. (PLAMBEL,
1980:81).
12
O processo de metropolização na RMBH, ao qual a área de estudo está
submetida, pode ser definido da seguinte forma:
Além do inchamento urbano, o processo de
metropolização implica o estreitamento das relações cotidianas
entre os diversos lugares e os principais centros de atividades,
com ampliação dos movimentos pendulares entre esses pontos,
sobrecarga do sistema de transporte intra-regional e
congestionamento do centro de Belo Horizonte, seu pólo
articulador (PLAMBEL, 1986:90).
Por ter sido influenciado pela implementação da Cidade Industrial em
Contagem, na década de 40, e pela proximidade do núcleo metropolitano, Mário
Campos pode ser considerado município-dormitório. Essa característica é explicada da
seguinte maneira:
Entende-se por municípios-dormitório aqueles que
tiveram o crescimento de sua população diretamente ligado à
expansão de áreas de moradia para alojar, principalmente, a
população de baixa-renda… (BÓGUS, 1992:37).
A região horticultura de Bom Jardim especializou-se na produção de hortaliças
de folhas para atender à demanda metropolitana. A produção agrícola na área
pesquisada se baseava no cultivo de milho, feijão, cana, para a subsistência das famílias.
Posteriormente, a horticultura tornou-se a principal atividade econômica
desenvolvida no município de Mário Campos. Segundo a EMATER-MG (1999:4),
“… a agricultura do município envolve
aproximadamente 1.200 trabalhadores (meeiros, parceiros,
arrendatários, proprietários, diaristas, atravessadores) que estão
diretamente ligados à produção agrícola, garantindo a
sobrevivência de 235 famílias”.
Além de ser especializado na produção de hortaliças de folhas, o município de
Mário Campos é local para a moradia de populações de baixa renda que trabalham no
aglomerado metropolitano e que adquiriram casa própria alí.
13
A população de Mário Campos dobrou na última década. Passou de 5.081
habitantes, em 1991, para 7.247, em 1996 (FJP, 1998). Em 2000, a população mário-
campista já era de 10.525 habitantes (IBGE, 2000).
Em 2000, verifica-se grande predomínio da população urbana sobre a rural. Dos
10.525 habitantes, 7.945 são considerados população urbana e 2.580 população rural.
No município, 75,9% da população é urbana (IBGE, 2000).
Mário Campos apresentou taxa de crescimento anual bastante acentuada no
período de 1991 a 1996, se comparada aos outros municípios que compõem a RMBH.
Sua taxa foi de 7,36% no período em questão, sendo superado apenas por dois
municípios da RMBH: São José da Lapa, com 12,21%, e Betim, com 7,88% (FJP,
1998).
No período de 1996 a 2000, a taxa de crescimento anual de Mário Campos foi a
maior entre os municípios da RMBH: 9,7. Em seguida vêm os municípios de São
Joaquim de Bicas, com 8,38; e Sarzedo, com 8,2. Portanto, na porção sudoeste da
RMBH, o crescimento populacional é muito intenso, se comparado ao crescimento
anual de Belo Horizonte, que foi de 1,61 (IBGE, 2000).
Segundo COSTA (1994:74),
Assim, os resultados do censo de 1991 mostram com
clareza que vários municípios da periferia da Região
Metropolitana vêm apresentando taxas de crescimento
extremamente elevadas ao longo dos anos 80. Alguns deles,
como Betim, Ibirité, Igarapé, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e
Vespasiano cristalizam evidências de crescimento, em torno de
7% ao ano, já presentes na década de 70. Já Belo Horizonte
cresceu apenas 1,28% ao ano, sugerindo a intensificação de usos
não / residenciais.
3.2 A área pesquisada: espaço marcado pela convivência entre nichos agrícolas e
loteamentos populares
No núcleo de Bom Jardim, os loteamentos em sua quase totalidade são
populares. Os loteamentos populares, conforme COSTA (1985), atendem à populações
14
de baixo poder aquisitivo que estão em busca da casa própria, possuem precária infra-
estrutura, carência de asfalto, ausência de rede de esgoto e áreas de lazer.
Os loteamentos populares, mesmo com problemas relacionados à precária infra-
estrutura, possuem função social muito importante. Neste sentido, COSTA (1985:128)
lembra que “… a compra de um lote seguida da autoconstrução se constitui em
praticamente a única forma em princípio possível de acesso à propriedade para a maior
parte da população.”
Na área estudada, os loteamentos Bom Jardim, Palmeiras, Tangará e Bela Visa
são populares. No bairro Bom Jardim, aprovado em 1954, muitos sítios foram
incorporados às áreas loteadas, sem nenhum sistema de arruamento no interior deles,
apenas o havendo nas bordas, e esta é uma estratégia do loteador de ir incorporando
novas áreas à área loteada, deixando de cumprir exigências legais quanto à infra-
estrutura. O bairro Palmeiras, que já existia em 1977, possui sistema de arruamento
traçado ao acaso. Parte do bairro assemelha-se a uma vila, há ruas muito estreitas com
várias casas pequenas muito próximas umas das outras. O bairro Tangará, com
aproximadamente 20 anos, foi sendo loteado aos poucos, segundo os relatos de um
morador. Quase todas as casas são simples e ainda estão em processo de
autoconstrução. O mais novo bairro da região de Bom Jardim é o Bela Vista, com lotes
de 250 m2. É um loteamento criado em 1997, portanto imediatamente após a
emancipação. Por exigências da nova legislação, as ruas desse bairro estão todas
asfaltadas.
Há também dois loteamentos que não são populares: as Chácaras Maria
Antonieta e as Chácaras Joaquina Maria. O primeiro é marcado pelo planejamento
quanto ao traçado das ruas. O outro loteamento não possui sistema de arruamento em
seu interior, e o acesso só pode ser feito por duas ruas.
4. A organização dos nichos agrícolas na área estudada
4.1 Características gerais das propriedades amostradas
A agricultura familiar da área pesquisada é composta por proprietários e
meeiros. Nessas duas condições a família participa da produção. Os proprietários estão,
15
teoricamente, entre os modelos empresa familiar e agricultura familiar moderna de
LAMARCHE (1998).
A participação do meeiro enquanto sujeito no processo de produção da
horticultura, na área estudada, é muito significativa, encontrando teoricamente, em
LAMARCHE (1998), a explicação para defini-lo no modelo empresa familiar no que se
refere à dependência do trabalho familiar e do mercado, excetuando-se quanto à posse
da terra.
Há uma ligeira maioria de meeiros (56,67%) sobre o número de proprietários
(43,33%). Isso indica que a propriedade da terra, na área estudada, não é fator tão
importante como propõe LAMARCHE (1998) em sua concepção de agricultura
familiar; entretanto, em outros quesitos mencionados por esse autor, como a
dependência do trabalho familiar e do mercado, os meeiros se igualam aos proprietários.
Quanto ao tamanho das propriedades amostradas na área estudada, é importante
mencionar que elas diferenciam-se muito. As áreas das propriedades que estão afastadas
dos loteamentos são maiores que aquelas que estão situadas no interior deles. Estas
últimas, recebem, conforme TUBALDINI & RODRIGUES (2000), a denominação
local de “hortas de fundo de quintal”.
Os agricultores que estão em propriedades menores em termos de área
geralmente recorrem a outra fonte de renda fora das hortas para complementar o
orçamento familiar. Desta forma, quanto maior o tamanho do estabelecimento, mais
importante se torna a sua sustentabilidade socioeconômica para as famílias de
horticultores.
Uma outra característica das propriedades é o policultivo de hortaliças; estratégia
esta utilizada por 90% dos horticultores da área pesquisada, com o objetivo de garantir
maior sustentabilidade econômica. Esta alternativa, adotada pelo agricultor familiar,
representa forma de sustentabilidade econômica porque, quando determinado tipo de
hortaliça está ruim para a comercialização, ele tem a oportunidade de substituí-lo por
outro que tenha melhor aceitação no mercado.
Os tipos de hortaliças mais cultivados na área estudada são alface e couve,
presentes em 56,66% dos estabelecimentos. Em seguida, mostarda e salsa, em 50% das
hortas; e, cebolinha e almeirão, em 46,66% das unidades de produção. Esses cultivos
16
são mais freqüentes em virtude dos hábitos alimentares do mercado consumidor
metropolitano.
4.2 O trabalho nos nichos agrícolas
A participação dos filhos nas etapas de manejo nas unidades de produção
familiares é muito significativa. Evidência disto é o fato de que metade dos horticultores
entrevistados possui filhos que os ajudam na horticultura.
Em relação à participação da mão-de-obra das esposas dos horticultores,
verificou-se que, além de trabalhar em casa, mais da metade delas ajudam no trabalho
nas unidades de produção familiares. São várias as atividades por elas desenvolvidas:
algumas apenas amarram cebolinha e salsa, outras ajudam somente na colheita, há
também aquelas que ajudam em todas as etapas da produção das hortaliças.
Na área pesquisada, é comum a mão-de-obra dos membros da família não ser
suficiente para desempenhar todas as atividades nas unidades de produção; nestas
situações os horticultores recorrem ao trabalho de diaristas.
Esse é o contexto das lógicas familiares de LAMARCHE (1998); seu aspecto
central é a participação de membros da família na produção.
Na área estudada, parte significativa dos horticultores, 26,67%, possui fonte de
renda fora das hortas (serviços de vigilante, por exemplo) sendo, portanto, uma
evidência tanto do conceito de pluriatividade de SILVA (2000) como de
multifuncionalidade de BICALHO (1996). Essa pluriatividade, típica de áreas
metropolitanas, é estratégia de sustentabilidade econômica dos horticultores.
A área de estudo recebe trabalhadores de outros locais para ingressar na
horticultura: 50% da amostra (15 entrevistas) são migrantes. A maior parte dos
migrantes, 73,33%, são originários da RMBH; destes, 33,33% são oriundos do
município de Belo Horizonte. Outros vêm de áreas mais distantes como é o caso de
migrantes que deixam o Alto Jequitinhonha.
Quanto à migração de trabalhadores para a área pesquisada, identificaram-se
várias causas que os levaram a tomar tal decisão. Estas causas podem ser resumidas em
seis grupos: 1) Fugir dos altos alugueis em Belo horizonte; 2) Busca por trabalho; 3)
Deixaram o cultivo de hortas em outros locais e foram para Bom Jardim – Mário
17
Campos; 4) Atração pela horticultura; 5) Motivos religiosos; 6) Mudar da agricultura de
subsistência para a horticultura.
O município que mais enviou migrantes para a área estudada foi Belo Horizonte.
Chegando em Bom Jardim, eles tornaram-se proprietários de lotes onde aprenderam e
passaram a cultivar hortaliças, ao contrário dos migrantes oriundos do Alto
Jequitinhonha, que começaram a trabalhar nas hortas e depois compraram lotes. Do
ponto de vista da sustentabilidade, estes migrantes encontraram melhores condições de
renda para a família e socialmente sentem-se mais adaptados ao novo meio onde
passaram a residir.
4.3 A influência das tecnologias agrícolas
Para a maioria dos horticultores, 60%, houve mudanças nas técnicas de manejo,
desde que iniciaram na horticultura. Essas mudanças aconteceram nas seguintes etapas:
preparo do solo, sistema de irrigação, mudas de estufa e adubações.
Mudanças ocorridas nas técnicas de preparo do solo foram mencionadas por
36,66% dos entrevistados. Suas respostas apontam para a introdução do uso do trator no
manejo das hortaliças.
Apenas 26,66% dos horticultores adotam algum tipo de prática de combate a
erosão. Isso é muito importante porque é evidência da adoção de técnicas agrícolas
sustentáveis, estando, portanto, ligado a um dos princípios de sustentabilidade ecológica
apresentado por SACHS (2000:86): “preservação do potencial do capital natureza na
sua produção de recursos renováveis”.
As mudanças nas técnicas de irrigação foram citadas por 36,66% dos
horticultores. Suas respostas enfatizam a passagem do uso de regadores e mangueiras
para o uso de aspersores no processo de irrigação das hortaliças.
No plantio de hortaliças, houve implementação de mudas de estufas em
substituição ao uso de mudas preparadas pelo produtor familiar. Esta mudança foi
mencionada por 13,33% dos horticultores. No entanto, metade da amostra, 15
entrevistados, disse usar mudas de estufa. Esta etapa constitui-se na entrada de outro
elemento no processo de produção, que é negativo para os produtores muito pequenos,
pois sente-se uma coerção ao pequeno produtor adquirir mudas de estufas.
18
Muitas mudanças também aconteceram no processo de adubação. Exemplos de
tais mudanças foram citados por 13,33% dos horticultores entrevistados. Suas respostas
são todas no sentido de que o processo de adubação, que antes se limitava ao uso de
esterco e que era mais sustentável do ponto de vista da manutenção e fertilidade do solo,
teve o acréscimo de adubos químicos. Esse uso intensivo de adubos químicos é reflexo
da aplicação dos insumos agrícolas da modernização conservadora.
4.4 O mercado e a produção nas unidades familiares da agricultura metropolitana
Aspecto muito importante para entender a horticultura da área estudada é o
destino da produção. Esta informação é importante tanto para a concepção de
agricultura familiar de LAMARCHE (1998) no que diz respeito à integração da unidade
de produção ao mercado quanto a concepção de agricultura metropolitana de BICALHO
(1996) no que se refere a proximidade ao mercado.
Os destinos da produção de hortaliças são bastante variados (sacolões, Centrais
de Abastecimento de Minas Gerais, restaurantes e feiras), mas voltados para os três
principais municípios do aglomerado metropolitano: Belo Horizonte, Contagem e
Betim. O aspecto mais favorável nesse sentido é a grande proximidade do mercado, que
é um ponto de sustentabilidade econômica.
A maior parte dos horticultores entrevistados, 66,66%, vende suas hortaliças
para compradores da área estudada, chamados de atravessadores. O fato de muitos
compradores serem da área de estudo demonstra que a horticultura gera também muitos
empregos nessa etapa da comercialização.
Uma das estratégias de comercialização utilizadas pelos horticultores é o
Programa Direto da Roça, uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte em parceria
com a EMATER-MG e produtores. No entanto, o número de entrevistados que participa
desse programa é pequeno, apenas 10%; e a produção deles não é toda vendida no
programa, sendo necessário que eles recorram também a outros compradores. Segundo
a EMATER-MG (1999), 19 horticultores do município de Mário Campos participam do
programa.
O Programa Direto da Roça está totalmente ligado às diversas dimensões da
sustentabilidade: social, econômica, ambiental, cultural, política e, consequentemente, a
19
metropolitana. Esse programa é exemplo de política pública regional que está
melhorando as condições de vida de muitas famílias de agricultores.
4.5 Interações rurais/urbanas
A quase totalidade dos horticultores pesquisados, 93,34%, vê o fato de os nichos
agrícolas estarem situados próximo ao centro metropolitano como aspecto positivo. A
principal justificativa por eles apresentada foi a proximidade do mercado consumidor,
mencionada por 73,33% da amostra.
Essa proximidade do mercado é característica intrínseca da agricultura
metropolitana. Isto é reforçado pelo grande vínculo espacial entre o núcleo
metropolitano e sua periferia, que estimula os agricultores familiares a vender
exclusivamente para o mercado. Essa proximidade é também importante ponto de
sustentabilidade econômica para os nichos agrícolas, que desencadeia as outras
dimensões da sustentabilidade (social, ambiental, cultural e política).
A maioria dos horticultores, 56,66%, considera muito vantajoso o fato de as
hortas dividirem o espaço com os loteamentos ou estarem próximas a eles. Uma das
razões é a facilidade de providenciar mão-de-obra assalariada para determinadas
atividades nas unidades de produção familiares. Tudo isso é evidência principalmente
de um ponto de sustentabilidade social, pois contratar o trabalhador depende antes de
tudo do agricultor saber se relacionar no local em que reside.
Um outro aspecto da interação rural/urbana são as condições de moradia. A
grande maioria dos horticultores pesquisados, 70%, possui casa própria; apenas um
deles comprou o imóvel com a edificação concluída; havendo, portanto, sinais da
existência de forte comércio de lotes na área pesquisada.
4.6 Água para irrigação: um grande desafio para a horticultura
Em relação à origem da água destinada à irrigação, verificou-se que quase
metade dos horticultores pesquisados, 46,66%, usa água oriunda de poços
comuns/cisternas, que situam-se junto à horta. Outros 23,33% utilizam água retirada de
córrego. Já a água originada de mina/nascente é utilizada por 20% dos entrevistados,
20
enquanto apenas 10% deles utilizam água extraída de poços artesianos. Para transportar
a água da fonte até a horta, o recurso utilizado é a bomba elétrica. O acesso dos
horticultores à água para irrigação é imprescindível para a sustentabilidade da própria
horticultura, que, sem água, deixaria de existir.
Dos dois córregos que cortam a região, um é intermitente, portanto parte
significativa da área pesquisada não tem a opção de usar água oriunda de curso d’água,
devido à distância; além do mais, a água desse córrego é insuficiente para atender à
demanda de todos os estabelecimentos situados em suas proximidades.
A perfuração de poços comuns ou cisternas é bastante utilizada porque grande
número de hortas estão localizadas em locais afastados dos cursos d’água. Isso
demonstra que a horticultura na área pesquisada é pouco dependente das águas
superficiais, como córregos; e muito dependente das águas subterrâneas, de poucos
metros até dezenas de metros abaixo da superfície.
Quanto à qualidade da água em bom Jardim – Mário Campos, a questão maior é
o risco de poluição dos lençóis freáticos de onde são retiradas as águas subterrâneas –
que podem estar interligando-se às fossas cépticas domésticas, o que seria um ponto de
insustentabilidade.
5. Considerações Finais
Concluiu-se que os agricultores familiares da área estudada têm características
de dois modelos de LAMARCHE (1998): o modelo empresa familiar e o modelo
agricultura familiar moderna. Tais modelos consideram a importância do trabalho
exercido pelos membros das famílias dos agricultores e também a acentuada
dependência do mercado.
A especialização produtiva de uma área, conforme SANTOS (1997), só é
possível devido ao estímulo do centro consumidor urbano e as facilidades de acesso,
que são viabilizadas pelo Estado pela implementação de infra-estrutura. Foi isso que
aconteceu na área pesquisada.
A agricultura da região de Bom Jardim é familiar, mas nem sempre os membros
da família conseguem desempenhar todas as atividades no estabelecimento. Nestes
casos, os horticultores recorrem aos serviços dos trabalhadores diarista, sendo esta uma
21
estratégia para conseguirem melhores resultados financeiros na unidade de produção,
aumentando a velocidade e volume produzidos, tornando-a sustentável
economicamente.
Constatou-se que as concepções teóricas de agricultura familiar e de agricultura
metropolitana se complementam. O aspecto principal da agricultura familiar é o
trabalho de membros da família, e o aspecto principal da agricultura metropolitana é a
proximidade do centro metropolitano e o mosaico multivariado de atividades resultado
disso; essas duas situações foram constatadas na área de estudo.
Metade dos agricultores familiares entrevistados morava fora da área pesquisada
e para lá se mudou. Os migrantes do Alto Jequitinhonha foram trabalhar na horticultura
e compraram lote, e os migrantes oriundos de Belo Horizonte foram porque
conseguiram comprar um lote e depois iniciaram na horticultura. Isto pode ser
considerado um ponto de sustentabilidade sociocultural para as unidades de produção
familiares, pois os migrantes fundaram uma nova unidade de produção, não tendo mais
que pagar aluguel e também se adaptaram a cultura local.
As técnicas usadas na horticultura estão longe de se aproximar da concepção de
sustentabilidade trabalhada por SACHS (1985). A busca da sustentabilidade na área
estudada se baseia no esforço de buscar estratégias de desenvolvimento que apresentem
simultaneamente resultados positivos dos pontos de vistas social, econômico, ambiental,
cultural e político.
Quanto ao fator água, a estratégia dos horticultores de perfurarem poços comuns
(ou cisternas) é ponto de sustentabilidade econômica, que desencadeia outras dimensões
(social, ambiental e cultural). A disponibilidade de água, mesmo sendo subterrânea,
garante essas várias dimensões de sustentabilidade. Caso essa água subterrânea venha a
ser poluída, por exemplo, pelos esgotos oriundos das fossas sépticas, uma vez que na
região não há redes de esgoto, aí sim, essas dimensões da sustentabilidade estariam
ameaçadas. Diante disso, torna-se importante o posicionamento do Estado no sentido de
monitorar a qualidade dessa água, assim como regulamentar seu uso, pois se a pressão
sobre esse recurso natural for muito excessiva, ele poderá deixar de estar disponível, o
que significaria tornar impraticável a horticultura.
Constatou-se que, na área pesquisada, há diversos pontos de sustentabilidade na
convivência entre os nichos agrícolas e os loteamentos populares. Fato que engloba as
22
dimensões econômica e, conseqüentemente, social, ambiental e cultural da
sustentabilidade, nas unidades de produção familiares, é a existência de grandes áreas
plantadas, o que demonstra que a horticultura está fortalecida. Ponto de sustentabilidade
sociocultural é o fato de muitos agricultores familiares estarem esperançosos de
conseguir ampliar a área plantada; desta forma, eles conseguem aumentar a renda e
permanecem na tradição agrícola. Ponto de sustentabilidade cultural é a forte tradição
agrícola passada de pais para filhos, que é importantíssima para que a horticultura
continue desempenhando seu papel, que é o de gerar renda para a sobrevivência de
muitas famílias.
Uma das características da agricultura metropolitana na área pesquisada é o fato
de os nichos agrícolas estarem situados em áreas urbanas. Eles estão situados no interior
do novo perímetro urbano criado pela prefeitura de Mário Campos em 1999. Isso cria,
conforme BICALHO (1996), a situação em que os usos agrícolas estão lado a lado com
os usos urbanos, em convivência. O fato de essa convivência existir é importante porque
engloba diferentes pontos de sustentabilidade ligados às suas diversas dimensões
(social, econômica, ambiental, cultural e política).
Finalmente, mesmo que as unidades de produção familiares não apresentem
sustentabilidade sob todos os pontos de vistas, foi possível encontrar pontos de
sustentabilidade inseridos no processo de produção, nas relações entre nichos agrícolas
e loteamentos populares e no interior da agricultura, enquanto familiar e metropolitana,
na área estudada.
6. Referências Bibliográficas
BICALHO, Ana Maria de Souza Mello. A Agricultura Metropolitana. In: ENCONTRO
NACIONAL DE PRODUTORES E USUÁRIOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS,
ECONÔMICAS E TERRITORIAIS, 1996, Rio de Janeiro. Encontro Nacional de
Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais:
Informações para uma Sociedade Justa. Rio de Janeiro: IBGE, 1996, p. 11-25.
BICALHO, Ana Maria de Souza Mello. Agricultura e Ambiente no Município do Rio
de Janeiro. In: ABREU, Maurício de Almeida (Org.). Sociedade e Natureza no Rio de
23
Janeiro. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1992, Cap. 9, p. 285-
316.
BÓGUS, Lucia Maria M. Urbanização e metropolização: o caso de São Paulo. In:
BÓGUS, Lúcia Maria M., WANDERLEY, Luiz Eduardo W. (Orgs.). A luta pela
cidade em São Paulo. São Paulo: Cortez, 1992, p. 29-51.
BRYANT, Christopher R. & JOHNSTON, Thomas R. R. Agriculture in the City's
Countryside. Toronto: University of Toronto Press, 1992, 233p.
COSTA, Heloisa S. M. Habitação e produção do espaço em Belo Horizonte. In:
MONTE-MÓR, R. L. M. (Coord.). Belo Horizonte: espaços e tempos em construção.
Belo Horizonte: PBH/CEDEPLAR, 1994, p. 51-77.
COSTA, Heloisa S. M. Reflexões sobre o processo de Produção da Periferia
Metropolitana. In: SIMPÓSIO SITUAÇÃO AMBIENTAL E QUALIDADE DE
VIDA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – MG. Belo
Horizonte: Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Instituto de Geociências
/ UFMG, 1985, p. 127-137.
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – EMATER-MG. Relatório Anual de Atividades: Município de
Mário Campos. 1999, 14p.
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO/CENTRO DE ESTUDOS MUNICIPAIS E
METROPOLITANOS – FJP. Informações Básicas da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Belo Horizonte: FJP/Centro de Estudos Municipais e Metropolitanos, 1998,
43p.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Sinopse
Preliminar do Censo Demográfico, Belo Horizonte: IBGE, 2000.
LAMARCHE, Hugues. As Lógicas Produtivas. In: LAMARCHE, Hugues (Coord.).
Agricultura Familiar: Comparação Internacional – Do mito à realidade. Campinas:
Editora da UNICAMP, 1998, v. 2, p. 61-88. (Tradução: Frédéric Bazin).
LAWRENCE, Henry W. Changes in Agricultural Production in Metropolitan
Areas, Professional Geographer, n. 2, v. 40, 1988, p. 159-175.
24
PLAMBEL – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA. Termo de Referência de Ibirité. Belo Horizonte: PLAMBEL,
1980.
PLAMBEL – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA. Estrutura Urbana da RMBH: O Processo de Formação do
Espaço Urbano. Belo Horizonte, PLAMBEL, v. 1, 1986, 172p.
SACHS, Ignacy. A Questão Alimentar e o Ecodesenvolvimento. In: MINAYO, M. C. S.
(Org.). Raízes da Fome. Petrópolis: Vozes/Fase, 1985. p. 135-141.
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro:
Garamond, 2000. 96p.
SANTOS, Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado. 5 ed. São Paulo: Hucitec,
1997, 124p.
SILVA, José Graziano da. O Novo Rural Brasileiro. Instituto de
Economia/UNICAMP – Projeto Rurbano. 2000. 24p.
<http://www.eco.unicamp.br/projetos/rurbano7.html>.
TUBALDINI, Maria Aparecida dos Santos & RODRIGUES, Elizabeth Felisberto.
Conflitos e Interação Rural-Urbana nos Nichos Agrícolas da Agricultura
Metropolitana de Ibirité. Belo Horizonte: IGC/UFMG, 2000, 16p. (mimeog.).
25