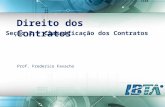A Reescrita da História: Assimilação e Apropriação dos Debates do Movimento dos Direitos Civis...
Transcript of A Reescrita da História: Assimilação e Apropriação dos Debates do Movimento dos Direitos Civis...
Universidade Estadual “Julio de Mesquita Filho”
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
Alexandre Luís Martins da Costa
A Reescrita da História: Assimilação e Apropriação dos Debates do Movimento dos Direitos Civis nos EUA pelos
XMen
Franca 2015
RESUMO
A partir da década de 30, histórias em quadrinhos passam a ser consideradas mídias de massa em decorrência, quase que direta, dos eventos da Grande Depressão de 1929 nos EUA. A idéia de entreteinimento de baixo custo e fácil aceitação, principalmente entre o público infantojuvenil – além da baixa popularidade dos aparelhos televisores entre as famílias de classemédia norteamericanas, que só foi introduzido amplamente em consumo após a Segunda Guerra Mundial devido a retomada da produção manufaturada e avanços tecnológicos bélicos –, garantiu à banda desenhada um largo passo a frente das formas midiáticas conhecidas na primeira metade do século XX pelo mundo ocidental. Líder entre os temas de tais histórias estava a imagem do SuperHerói, representado pelo sujeito de força extraordinária, cujo nobre caráter o leva a realizar atos dignos – caso do SuperHomem, Mulher Maravilha e Batman – mesmo que tais atitudes não condizam diretamente com as condições de uma sociedade civil, onde se abre mão do direito de vingança pessoal em virtude da delegação da justiça a um órgão legítimo do estado, como já argumentava John Locke (16321704). Nas décadas subsequentes desde a introdução da banda desenhada à elite das comunicações midiáticas, a sociedade civil nãofictícia dos E.U.A. é confrontada com um debate de proporções nacionais sobre o papel, os direitos e o espaço dos negros (people of color) dentro desse plano social específico. As décadas de 50~60 foram especialmente decisivas para o Movimento dos Direitos Civis AfroAmericanos (195468), que tinha como meta o fim da
segregação racial e discriminação contra Americanos negros e assegurar reconhecimento legal e proteção federal dos direitos de cidadania enumerados na Constituição e leis federais dos Estados Unidos. O movimento foi caracterizado por grandes campanhas de resistência cívica, registrando atos de protesto pacíficos e de desobediência civil que refletiam diretamente os pensamentos de duas frentes antagônicas na idealização da abordagem que os negros deveriam ter ante a sociedade elitista, branca e cristã que os reprimia personificadas nas figuras do Rev. Martin Luther King Jr. e Malcolm Little (posteriormente alterando seu sobrenome para X). Ambos defendiam a inclusão das pessoas de cor na sociedade mediante os requerimentos acima citados mas diferiam profundamente em suas exposições de como atingir tal resultado. Concomitantemente ao desenrolar desse debate acerca dos direitos civis nos E.U.A., a Marvel Comics estréia a série que tem sido umbestsellerentre os quadrinhos nos últimos 25 anos, assim como uma das mais rentáveis franquias de cinema sobre superheróis, Os Fabulosos XMen e seus títulos relacionados conduzidos por uma metáfora e uma mensagem – de tolerancia e aceitação – que tem sido escritos com elogios brilhantes de seus fãs e críticas de todos os tipos.Este trabalho tem como objetivo identificar, explicitar e entender a possível relação existente entre os personagens Professor Charles Xavier, pacifista declarado e líder do grupo de protagonistas autonomeados de XMen e Max Eisenhardt, que sob a alcunha de Magneto defende uma inserção agressiva do genero Mutante ante a sociedade civil com as figuras históricas de Martin L. King e Malcolm X, assim como a apropriação dos discursos sobre
opressão, aceitação e vitimização propagado pelo Movimento dos Direitos Civis que os mutantes superhumanos são capazes de assimilar por serem apresentados como o “outrem” da ordem racial da sociedade humana. PalavrasChave: super heróis.comunicação.mass media.história. Quadrinhos.sociedade civil.cultura.política INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
“Temidos e odiados”, como segue o clichê, por humanos normais devido a suas diferenças anormais e/ou vantagens físicas, os XMen se consistem de uma raça de superhumanos “mutantes” que conseguiram suas habilidades por um acidente no nascimento. Como com as vítimas de racismo, sexismo ou violência homofóbica, os XMen são similarmente incapazes de rejeitar ou negar seus poderes mas ainda assim são punidos por família, amigos e pelo estado por os possuírem. O criador Stan Lee explica simplesmente que “pessoas temem coisas que são diferentes”, e a variedade de escritores que o quadrinho teve durante a sua história argumentam que a sua mensagem antiopressiva pode ser aplicada para qualquer pessoa ou povo que sofre alguma forma de opressão quando inseridas dentro de um sistema político hegemônico (Meth, 2005:1). Ian McKellan – mais comumente conhecido por seu papel como Magneto na série de filmes de XMen – explica como o quadrinho carrega um apelo incrívelmente amplo: “Eu sei, falando da Marvel Comics, que não é apenas a comunidade LGBT que se identifica com os mutantes – são outras minorias também, minorias
religiosas, raciais”2. Ainda na mesma entrevista, concedida ao jornal L.A. Times, o diretor da franquia cinematográfica Brian Singer também declara: “O que é fascinante sobre esses dois personagens [Magneto e Professor X] é que eles realmente são o Malcolm X e o Martin Luther King da mitologia dos quadrinhos”3.
Esta última afirmação é particularmente problemática, não apenas por demonstrar um conceito defeituoso na exploração do posicionamento/identidade mutante que interseta (no sentido de criar uma interseção) as complexas dinâmicas de raça, gênero, classe, religião, orientação sexual, habilidade, etc., revelando uma falsa compreensão de que “toda opressão é igual”4, mas também porque relaciona a imagem política de líderes de uma organização socioracial protagonista de uma resistência inédita – até a época – com uma versão caricata e superficial de uma ideologia igualitária. Como o principal propagador do Black Nationalism, o desafio que Malcolm X fazia à abordagem multiracial e nãoviolenta de Martin Luther King Jr. ajudou a estabelecer o tom dos conflitos ideológicos e táticos que tomaram parte dentro dos esforços pela liberdade dos negros na década de 60. Devido ao criticismo abrasivo de Malcolm X a King e sua política de separatismo racial, não é surpreendente que King tenha rejeitado as aberturas e introduções de um dos seus críticos mais intensos. Entretanto, ainda que diferenciassemse em métodos, Martin L. King e Malcolm X mantinham um profundo respeito pela sua contraparte ideológica, como inspecionado nesse fragmento da carta enviada por King a recémviúva Betty Shabazz, dias depois do assassinato Malcolm: “Mesmo enquanto nem sempre
entravamos em concordância em métodos para resolver o problema de raça, eu sempre tive uma profunda afeição por Malcolm e sentia que ele tinha uma grande habilidade em colocar o dedo na existência e na raíz do problema”5.
Parte da problemática em se relacionar as figuras destes personagens mutantes do universo ficcional com opressões, discriminações e tribulações do mundo real dentro da comunidade negra da década de 60, ou da comunidade LGBT na década de 70 – com debates encabeçados por Harvey Milk em São Francisco, California – ou qualquer outro tipo de minoria dentro de um sistema hegemonico civil, é que esses problemas seriam interpretados por um elenco dominado por personagens bem abastados, heterossexuais, cisgêneros, cristãos, fisicamente capazes e que, salvo algumas exceções, quase sempre brancos.
“Nós [os XMen] precisamos entrar no mundo. Salvando vidas e ajudando com qualquer desastre que aconteça... Precisamos nos apresentar como um time igual a qualquer outro. Os Vingadores,
Quarteto Fantástico – Eles não são perseguidos pelas ruas por pessoas com tochas nas mãos.”
Ciclope, Os Incríveis XMen #1 (Joss Whedon, 2004: 16)
“[S]empre preeminente é o impulso de afirmar a humanidade de indivíduos e grupos frente realidades sociais restritivas e
frequentemente violentas. Historicamente, entretanto, esse processo de afirmação indivídual ou grupal tem encabeçado uma objetificação ou vilanização de “outrem” etnicamente ou racialmente definidos.” Aldo Regalado, “Modernity, Race, and the American Superhero”
(2005: 86) OBJETIVOS DA PESQUISA
Com essa pesquisa pretendemos complexizar a discussão
acerca da relação comumente traçada e largamente aceita entre os protagonistas da série XMen Charles Xavier e Max Eisenhardt (Magneto) e os líderes do Movimento dos Direitos Civis americanos Martin Luther King Jr. e Malcolm X, respectivamente. Stan Lee, criador e roteirista original da série junto com Jack Kirby, quando perguntado sobre a origem da série em uma entrevista recente declarou:
“E se eu criasse outras pessoas que temessem e suspeitassem deles porque eles são diferentes? Eu amei essa idéia; isso não apenas os tornou diferentes, mas era uma boa metáfora para o que estava acontecendo com o movimento dos direitos civis no país naquela época”1
Partindo desta declaração, almejamos estabelecer que mesmo que a referência a tais personagens tenha de fato existido, relacionar esses personagens fictícios a essas personalidades políticas é correr o risco de traçar paralelos desencaminhados acerca das interpretações de suas ideologias e representações históricas. Vale ressaltar também que a apropriação do discurso de igualdade racial promovido pelos afroamericanos desse período não se concretiza na sua totalidade a partir do momento em que pormenores socioculturais diferenciam fundamentalmente as ferramentas de opressão do sistema político hegemônico que cerca os personagens fictícios que se apropriaram de tal discurso.
QUADRO TEÓRICOMETODOLÓGICO
A História política, na segunda década do século XX, passa o seu foco fundamental de análise, para aspectos relativos à atividade humana em seu sentido mais pleno, como a vida cotidiana e as fontes de estudos históricos voltadas para a indústria cultural de 1960.
Segundo Walter Benjamin, as novas técnicas de produção artística, trouxeram a possibilidade de alterar a produção e recepção da obra de arte e acabam redimensionando papel delas na sociedade, principalmente a norte americana na década de 1960.
A cultura popular produto de uma atividade econômica de lardga escala , está vinculada com o capitalismo industrial. Noam Chonsky considera essa, uma forma de totalitarismo, visto que a cultura de massas reproduz apenas a cultura vigente que detém os meios de comunicação, que nos Estados Unidos da Améria, em 1960, era sociedade tradicional familiar, branca, elitista e nacionalista. A grande transformação do discurso dessa forma de produção e reprodução cultural, pelos veículos de transmissão, veio de maneira paulatina, através das subculturas que alcançaram a mass media.
O discurso de poder nas relações sociais é sempre de hegemonia daquele que detém o saber. Michel Foucault fala do discurso como uma forma de manutenção do poder e da ordem vigente
por mais aparentemente o discurso seja pouco importante, as interdições que atingem logo e depressa revelam a sua ligação com o desejo e com o poder. E o que há de surpreendente nisso, já que o discurso – como a psicanálise nos demonstrou – não é simplesmente o que manifesta o desejo; é
também o que é o objecto do desejo; e já que – a história não cessa de nos indicar – o discurso não simplesmente o que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, aquilo pelo que se luta, o poder do qual procuramos apoderarnos1
Em vez de ser criada para o ritual, a obra de arte passa a ter um fundamento material, ligado à existência real do ser humano, à práxis política do indivíduo que a cria (BENJAMIN, 1994, p. 171172).
Por fim, a História política cultural – que não se limita ao estudo do Estado e suas extensões, e sim de uma perspectiva mais ampla que caracteriza o poder, a partir da análise de discurso das camadas sociais que detém os veículos de transmissão popular cultural, é possivel reconhecer que os personagens fictícios de XMen são em sua maioria a reprodução dessa elite hegemônica hétero, cisgênera, cristã e em sua maioria branca, pois mesmo que exista o discurso igualitário proferido por uma minoria representada por um personagem dentro do roteiro, esse discurso não é feito por um dos oprimidos. Um mutante não está falando. Uma pessoa de cor não está falando. Mas sim uma pessoa que não está nem perto de pertencer a uma minoria é o autor dessas palavras. PLANO DE TRABALHO
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil. IBRASA. São Paulo. 1963
REGALADO, Aldo. “Modernity, Race, and the American Superhero.” in Comics as Philosophy. Ed. Jeff McLaughlin. Jackson: UP Mississippi, 2005. 8499. METH, Clifford. “Stan Lee: Grand Master – Part Two.” Silver Bullet Comics. 2005. Acessado em 25 Nov. 2014. <http://www.silverbulletcomicbooks.com/masters/108326857658949.html> MARTIN, Orion. “What If the XMen Were Black?” 16 Dez. 2013. Acessado em 22 Dez. 2014. <http://www.hoodedutilitarian.com/2013/12/whatifthexmenwereblack/> BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. In: Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaios Sobre Literatura e História da Cultura. Obras Escolhidas. Vol. 1. São Paulo, Brasiliense, 1994. FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo, Loyola, 1996. Portal da literatura. CHOMSKY, Noam, BARSAMIAN, David. Sistemas de Poder: Conversas Sobre As Revoltas Democraticas Globais e os Novos Desafios do Império Americano. Editora Unesp Segmento, São Paulo, 2013. BURKE, Peter. Cultura Popular na Idade Moderna: Europa, 15001800 . São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
CHARTIER, Roger. "Cultura popular": revisitando um conceito historiográfico. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 8, n 16, 1995, p. 179192. “The Uncanny Suspects.” XMen 1.5. Bonus feature. Dir. Bryan Singer. With Ian McKellan, Tom DeSantos, et al. 20Th Century Fox, 2002. “Bryan Singer: An 'XMen: First Class' sequel could be set in Vietnam, or amid the civil rights movement.” Steven Zeitchik, L.A. Times. June 7 2011. Acessado em 11 Jan. 2015. <http://latimesblogs.latimes.com/movies/2011/06/xmenfirstclassjamesmcavoymagnetoxaviersequelsingervaughn.html> “Martin Luther King, Jr. and the global freedom struggle” The Martin Luther King, Jr. Research and Education institute. Stanford University Encyclopedia. Acessado em 11 Jan. 2015. <http://mlkkpp01.stanford.edu/index.php/encyclopedia/encyclopedia/enc_malcolm_x_1925_1965/> FONTE PARA OBJETO DE ESTUDO The Uncanny XMen (Série). Lee, Stan e Kirby, Jack. Marvel
Comics, Nova Iorque. 1963.
2 Ian McKellan, entrevista para o L.A. Times, 11 de junho/2011
3 Brian Singer, Idem.
4 Sobre o tema, ler o artigo “The Racial Politics of XMen”, por Mikhail Lyubansky, Junho/2011.
5 “Telegram from Martin Luther King, Jr. to Betty alShabazz”, Stanford Unv. encyclopedia document sentry.
1 Stan Lee, entrevista para o jornal The Guardian, 12 de Agosto/2000
1FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso