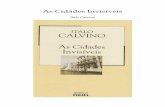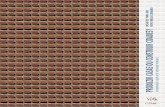A MEMÓRIA DAS CIDADES E OS NOVOS INSTRUMENTOS DE PRESERVAÇÃO: PROPOSIÇÕES PARA O CASO DE...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of A MEMÓRIA DAS CIDADES E OS NOVOS INSTRUMENTOS DE PRESERVAÇÃO: PROPOSIÇÕES PARA O CASO DE...
A MEMÓRIA DAS CIDADES E OS NOVOS INSTRUMENTOS DE
PRESERVAÇÃO: PROPOSIÇÕES PARA O CASO DE LAGUNA/SC1
Liliane Monfardini Fernandes de Lucena
IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Superintendência do IPHAN no Paraná
Resumo:
A valorização do passado e da memória das cidades é um tema bastante discutido entre
pesquisadores que apontam esta característica como uma necessidade deste século, frente a
tantas estruturações econômico-sociais e espaciais. Embora os instrumentos de preservação
criados para este fim, no Brasil, estejam sendo aperfeiçoados, estes não conseguem acompanhar
no mesmo ritmo as mudanças ideológicas. O caso de Laguna/SC é exemplo típico de uma
proposta de preservação que, se pudesse ser revista, associando-se os novos instrumentos
disponibilizados, certamente conseguiria obter melhores resultados com a preservação do seu
sítio histórico. Este trabalho apresenta uma discussão sobre os instrumentos de preservação no
Brasil propondo assim, uma readequação de seus usos, utilizando o caso de Laguna, para
salvaguarda de nossas cidades históricas e suas memórias urbanas.
Palavras chaves:
Memória urbana - vida urbana - instrumentos de preservação - paisagem - Laguna/SC.
A valorização do passado, a memória das cidades e a participação do
Estado na construção da memória urbana.
Diversos pensamentos têm sido discutidos para se compreender porque nossas
sociedades, a cada dia, vêm valorizando cada vez mais o passado de suas cidades e sua
memória.
Algumas das justificativas apresentadas são advindas de interesses
econômicos, suscitados através do turismo (cultural, de negócios, rural, lazer entre
outros) que tem encontrado na valorização da história e memória das cidades “o objeto
de valor de uso e de troca”. Muitas vezes, estas intervenções estimulam nos moradores
e usuários o espírito de pertencimento, de orgulho do lugar e de suas gerações passadas,
fazendo com que eles hoje, sintam-se participantes e protagonistas, seja através da
identificação dos seus avós ou pais como construtores e participantes ativos, seja como
agentes preservadores, que moram, cuidam, sabem contar a história do lugar e que dão
1
* O estudo sobre Laguna foi apresentado por esta autora na dissertação de mestrado do Curso de Pós-
Graduação em Geografia da UFSC, concluído em 1998, cujo título é: Laguna de Ontem a Hoje - Espaços
públicos e Vida urbana. O mesmo objeto de pesquisa foi utilizado como estudo de caso para esta nova
discussão, sobre os instrumentos de preservação apresentados neste artigo.
continuidade a esta história, através de suas atividades cotidianas e da manutenção de
suas festas tradicionais.
Para Le Goff (1996), esta tendência de valorização do passado está relacionada
com o período final do iluminismo e com o período da modernidade. Estas duas visões
de mundo tinham, inicialmente, o olhar voltado para o futuro, o progresso, negando o
passado, as tradições, sua história. Somente após a segunda guerra mundial, depois dos
horrores do fascismo e do nazismo, estes levaram a sociedade a fazerem uma crítica à
ideia de progresso (desvinculada da história) e recuperaram a importância da história
como ciência – da mutação e da explicação da mudança. “A história tornou-se, portanto,
elemento essencial da necessidade de identidade individual e coletiva.” Le Goff
(1996:14).
Para Lefebvre (1991), a valorização do passado e da memória das cidades é
uma das consequências do fenômeno da industrialização sobre a cidade - a
industrialização, que trouxe um novo modo de vida e que caracterizou a sociedade
moderna, provocou grandes mudanças estruturais, dentre elas a constituição de redes de
cidades, agora ligadas por diversos meios de comunicação como correio, telefone, rádio
e maiores possibilidades de circulação e transporte, como as estradas terrestres, e as vias
aéreas, fluviais e marítimas, estreitando dessa forma as relações comerciais e bancárias
diversas e “levantando-se sobre esta nova estrutura o Estado como poder centralizador
e, como causa desta centralização do poder, uma cidade predominante entre as outras –
a capital” (Lefebvre, 1991:05).
Para este autor, três termos se destacam com esta nova estruturação: a
sociedade, o Estado e a cidade. Mas, apesar do acelerado processo de urbanização que
atinge a grande maioria das cidades do mundo, os seus núcleos urbanos não são
completamente dizimados. Dessa forma ele consegue sintetizar o fenômeno da
industrialização em três momentos, os quais as cidades vivenciaram: o primeiro, quando
a indústria “assalta e saqueia a realidade urbana pela prática e pela ideologia”. A
indústria assume inicialmente um papel negativo em que o “econômico industrial quer
substituir o social urbano”. O segundo momento é quando a urbanização se desenvolve
em função da industrialização, descobre-se que a sociedade inteira pode se decompor se
lhe faltar à centralidade (ideológica e física). Então, inicia-se o terceiro momento, que é
o reencontro, reinvento reequilíbrio da realidade urbana, quando se tenta restituir a
centralidade, embora modificada. É sobre este momento final do período Moderno a que
Le Goff (1996) também se referia, quando falava sobre a “ambiguidade da
Modernidade”. No momento que o movimento se esvazia por completo do passado
(negando-o e não aceitando sua influencia na cultura da sociedade) perde o sentido de
existir, pois a obra fica sem conteúdo e o “moderno, à beira do abismo do presente,
volta-se para o passado” (Le Goff, 1996: 199).
Diante do que foi exposto, torna-se compreensível que no Brasil, a
preocupação com a preservação do passado das cidades e da memória urbana tenha se
desenvolvido com a expansão do movimento moderno, tendo como foco central a
identificação e valorização da cultura nacional e que acabou culminando com a criação
de um órgão do governo federal específico para cuidar da preservação dos bens
culturais ditos nacionais – SPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional).
Desde os anos de 1920, intelectuais que depois vieram se integrar ao
movimento, publicavam artigos alertando para a ameaça de perda irreparável dos
monumentos de arte colonial; mas a primeira iniciativa do poder público, no sentido de
tentar responder os questionamentos do meio intelectual partiu dos governos estaduais:
a criação das inspetorias estaduais de monumentos históricos em MG (1926), na Bahia
(1927) e em Pernambuco (1928). O que aconteceu após este período, meados dos anos
de 1930, é que “o Estado, apresentando-se como responsável pela identidade cultural
brasileira, desejava realizar a unidade orgânica da nação e recorria aos intelectuais para
alcançá-la”. (Fonseca, 2008:57)
Segundo Fonseca (2008), quando os modernistas brasileiros tiveram contato
com as vanguardas europeias, perceberam que a modernização da expressão artística,
entendida como rompimento radical com o passado, só tinha sentido em países onde
havia uma tradição nacional internalizada, situação esta completamente diferente em
países de formação mais recente como era o caso do Brasil, cuja tradição ainda estava
por construir. Assim, em 1933, pelo decreto nº 22.928, o governo federal eleva a cidade
de Ouro Preto a categoria de Monumento Nacional, sendo esta a primeira iniciativa
voltada à proteção do Patrimônio e em 1937 é criado o SPHAN – e Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pela Lei Nº 378, sob a direção de Rodrigo
M.F. de Andrade, integrado ao Ministério da Educação e Saúde, na época, dirigido por
Gustavo Capanema. Além dos criadores Mário de Andrade e Rodrigo M.F. de
Andrade, participaram do SPHAN nesse primeiro período (1937 a 1969): Lucio Costa,
Carlos Drummond de Andrade, Afonso Arinos de Melo Franco e Prudente de Morais
Neto, Manuel Bandeira, entre outros.
Mas, quando se discute o que aconteceu no Brasil ou nas cidades brasileiras em
termos de preservação da memória, é na verdade uma análise que se faz em nível local,
de um fenômeno externo a ela, em nível global. A preocupação com o passado e
memória das cidades é um reflexo, um dos subprodutos causados por uma intenção
econômica de dimensões muito maiores, que Santos (1994) denominou de
“internacionalização das técnicas2”, antes mesmo de desembocar, neste final do século
XX, em sua globalização: “uma vontade de fundar o domínio do mundo na associação
entre as grandes organizações e uma tecnologia cegamente utilizada” (Santos, 1994:
53). A globalização trouxe uma nova forma de ver, sentir e se apropriar do mundo.
Com as facilidades e velocidades alcançadas para realização de deslocamentos bem
como para aquisição e emissão de informações, em tempo real, redescobriu-se o que ele
denominou de “corporeidade” – os lugares passam a ser percebidos como o
intermediário entre o mundo e o indivíduo. E são nestas dimensões, ou seja, no local e
no cotidiano, que como também aponta Lefebvre, acontecem os impactos, as recriações
das relações sociais, “uma relação permanentemente instável e onde globalização e
localização, globalização e fragmentação são termos de uma dialética que se refaz com
frequência.” (Santos, 2008:314). Enfim, ao mesmo tempo em que cada lugar “se
globaliza”, como receptivo das novas relações sociais e econômicas geradas neste novo
meio cientifico-técnico-informacional, cada lugar “se globaliza” de forma diferenciada,
de acordo com suas possibilidades físico-econômico e culturais.
“As próprias necessidades, do novo regime de acumulação, levam a
uma maior dissociação dos respectivos processos e subprocessos, essa
multiplicidade de ações fazendo do espaço um campo de forças
multicomplexo, graças à individualização e especialização minuciosa
dos elementos do espaço: homens, empresas, instituições, meio
ambiente construído, ao mesmo tempo em que se aprofunda a relação
de cada qual com o sistema do mundo. “Cada lugar é à sua maneira, o
mundo.” (SANTOS, 2008:314)
E é através da experiência do cotidiano que será possível observar o fenômeno
da globalização-fragmentação, pois como dizia Lefebvre, “a análise da vida cotidiana
envolve concepções e apreciações na escala da experiência social em geral” (Lefebvre,
1991:28).
Lefebvre (1991) também defende que as especificidades da cada cidade é que
determinam como “a projeção do global para a prática e para o plano específico da
cidade”, inscrever-se-ão no “texto urbano”.
Mais do que isso, como Lefebvre analisou muito bem, é através do
conhecimento do cotidiano dos lugares que se conhece a vida urbana do lugar: seus
2 Para Milton Santos, a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o homem
e o meio é dada pela técnica. As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais
o homem realiza sua vida, produz e ao mesmo tempo, cria espaço.
valores, conhecimentos, rituais e ritmos são estas as características que enriquecem uma
cidade e as diferenciam das demais: a especificidades da cidade. A vida urbana de uma
cidade é resultado de um passado, uma história de construção do lugar e de seus
cidadãos, daquela sociedade, com incorporação e refutação de ideologias, com a
(re)interpretação e (re)impressão dos aspectos ideológicos (econômicos, políticos e
sociais) sobre aquele plano - a sociedade e a cidade. E o que é uma cidade, sem
preservação do seu passado, da memória urbana e da sociedade que a construiu, sem a
história da vida urbana que hoje se vivencia? Não seria apenas uma obra sem conteúdo,
como diria Le Goff, um cenário ou museu ao ar livre, para ser visitado, apreciado,
consumido sem ser vivenciado, sentido?
Os órgãos brasileiros criados para a institucionalização da preservação e da
memória das cidades (federais, estaduais e municipais) são representações do poder do
Estado que trabalham com diversas limitações e dificuldades, tanto em relação ao
acompanhamento da evolução dos conceitos de preservação e gestão do patrimônio
(muitas vezes por falta de instrumentos jurídicos - políticos que demoram a ser
elaborados e aprovados) como no desempenho de suas atribuições de preservação,
divulgação e conscientização.
Desde 1937 até o ano 2000, o único instrumento jurídico disponível pelo
principal órgão de preservação em nível federal – atual Iphan (Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional) – é o Tombamento3, utilizado largamente para a “guarda
do passado e da memória das cidades”; no entanto, é voltado exclusivamente para a
proteção do patrimônio material. Na interpretação jurídica da legislação disponível até
então, o que se compreendia como patrimônio a preservar era somente a materialidade,
o que foi criado e construído pelo homem, por aquele grupo social4; mas sobre a vida
urbana nela inscrita e que dá a identidade, a especificidade ao lugar, o seu valor
simbólico que explica sua existência, forma, função e sentido de existir e até de
continuar a existir, enfim a memória dos espaços e a sua cotidianidade, só passou a
valorizado e identificado com a abertura propiciada pela Constituição Federal Brasileira
de 1988, reconhecendo como patrimônio nacional também os aspectos imateriais da
cultura nacional5.
3 Até o ano de 2010 existiam 98 conjuntos urbanos tombados em 78 cidades brasileiras.
4 Art 1º da Lei 25/1937: “Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional, o conjunto de bens móveis
e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história do Brasil, quer pelo seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico,
bibliográfico ou artístico. 5 Art 216 da Constituição Federal de 1988: “Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto....”
Foi então criada a Lei Nº 3551/2000, que institui o Registro de Bens de
Natureza Imaterial, com a criação dos Livros de Registro bem como o Programa
Nacional de Patrimônio Imaterial. Posteriormente é homologada a Portaria Nº
127/2009 que estabelece a Chancela da Paisagem Cultural Brasileira, como nova
proposta de investigação e preservação da relação entre a materialidade e a
imaterialidade, criação humana e meio ambiente. Dessa forma a principal Instituição,
que é também responsável pela preservação e notadamente pela guarda do passado e da
memória das cidades, abre-se para novas possibilidades, novos olhares sobre a memória
urbana das cidades.
Hoje, as instituições municipais, estaduais e a federal contam com o auxílio das
universidades para auxiliar no desenvolvimento de estudos, pesquisas, conceitos e
propostas além da abertura propiciada para a participação social, cada vez mais
consciente, e ativa politicamente.
Diante destes novos instrumentos de preservação - o Registro do Patrimônio
Imaterial e a Chancela da Paisagem Cultural - não seria oportuno uma revisão sobre a
forma de condução da preservação dos sítios históricos, incluindo o aspecto da
imaterialidade? Sendo a preservação da vida urbana nestes espaços (a manutenção da
identidade, do vínculo afetivo e ideológico daquela sociedade, daquele grupo) o
princípio que garante o seu uso (compatível) com a memória urbana e,
consequentemente, a sua preservação material, não seria este aspecto importante a ser
estudado, identificado e também preservado? Também, com estas novas possibilidades,
seja o Registro e/ou a Chancela, não seria esta a forma de se trabalhar a conscientização
dos valores da sociedade, o combate à pressão e a desvalorização imobiliária, mostrando
que estes centros históricos são lugares privilegiados de se viver e trabalhar por que
além de “guardar” a história urbana daquela cidade, propiciam uma vida social diferente
da existente em qualquer outro bairro? Conforme Bosi (1994:441), “A ordem desse
espaço povoado nos une e nos separa da sociedade: é um elo familiar com sociedades
do passado, pode nos defender da atual revivendo-nos outra.”
O centro histórico de Laguna/SC: da materialidade à imaterialidade.
O Centro Histórico de Laguna é um caso típico que exemplifica a maneira
como o órgão federal de proteção poderia realizar a guarda do patrimônio histórico, da
memória das cidades, até o ano 2000, quando da criação da Lei 3551/2000 que
estabelece o Registro do Patrimônio Imaterial e até 2009, com a criação da Portaria
127/2009, da Chancela da Paisagem Cultural.
A cidade de Laguna está situada no litoral sul do estado de Santa Catarina, a
aproximadamente 120 km de Florianópolis (pela BR 101). Desde a sua fundação, em
1676, até a primeira metade do século XX foi uma das principais cidades de Santa
Catarina que deixou integrou fatos importantes na história do Estado e no próprio
espaço urbano.
Laguna é a terceira cidade mais antiga do estado. Foi colonizada por vicentistas
e açorianos, cuja influência ainda é notória na etnia e cultura desta população, assim
como está significativamente representada na sua arquitetura e urbanismo histórico do
séc. XVIII, XIX e inicio séc. XX, no Centro Histórico da cidade.
O nome do município provém da característica física do local. Inicialmente
denominada pelo seu fundador de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, mais tarde fora
simplificada para Laguna. Sua área, de 353 Km2, está localizada numa planície
litorânea, numa zona de laguna, que significa “braço de mar pouco profundo, entre
ilhas e bancos de areia”, forma um conjunto de oito lagoas ocupando uma área de
aproximadamente 108 Km2, representando, portanto, 33% do território do município e
uma importante fonte econômica de exploração pesqueira artesanal – vocação natural
que envolve grande parte da população, principalmente a rural, seja para
comercialização ou para consumo próprio.
Vista aérea da cidade, em 1994, com delimitação da área tombada pelo IPHAN.
Cidade de médio porte, com uma população de 51.5626 habitantes, seu núcleo
urbano foi estruturado às margens da lagoa de Santo Antônio, protegido visualmente
pelos morros que o separam da costa, para o oceano atlântico. A cidade expandiu-se em
direção à área balneária. É constituída atualmente por 6 (seis) bairros que contornam os
Morros da Glória, Caixa D’água e do Moinho.
Laguna progrediu muito economicamente como cidade portuária e comercial;
destacou-se politicamente (revoluções e movimentos políticos) e socialmente, pelas
festas religiosas e populares, pela variedade de peças teatrais, musicais, bailes e até
atividades esportivas, como regatas e futebol, que mobilizavam a participação da
população local e de outras cidades e estados adjacentes. Os espaços públicos do
Centro Histórico de Laguna foram constituídos historicamente e imbuídos de uma vida
urbana tradicional. Estes espaços sempre foram requisitados como palco das
representações ideológicas (instituições da Igreja e do Estado, monumentos históricos,
museus) e das manifestações sociais (usos cotidianos tradicionais, festas religiosas,
cívicas e culturais). No entanto, ressentem-se, atualmente, de um processo de
desvalorização e “esvaziamento” de usos. Novas ideologias se superpõem ao espaço
urbano da cidade, que repercute no Centro e compromete a preservação da “memória
social” dos seus espaços, que são os valores históricos e culturais da cidade e da
sociedade.
A decadência da atividade portuária, iniciada nos anos de 1940, aliada a uma
precária estratégia política estadual e municipal na tentativa de reversão do quadro
econômico que se esboçava, não conseguiram impedir o seu declínio econômico. O
processo de urbanização que fora aquecido a partir da década de 1970, vislumbrando a
implantação do turismo na área balneária da cidade, proporcionou efeitos não tão
benéficos para a área histórica. Enquanto a renovação urbana da área central conseguiu
ser “freada” pelo Tombamento Federal, em 1985, a área balneária do Mar Grosso foi
sendo ocupada por população de veranistas de média e alta renda e de novas atividades
de lazer e serviços voltados para o turista e veranista: restaurantes, hotéis, bares, boates,
shows e festas de Carnaval e final de ano: a praia e a avenida principal tornaram-se os
maiores e mais importantes espaços públicos da cidade.
Assim, algumas das práticas tradicionais da vida urbana que aconteciam
somente na área central, notadamente o lazer da população da cidade, foram
“descentralizadas”, não se limitaram mais à Praça da Matriz - o principal espaço público
do Centro. Estenderam-se, ou mesmo, deslocaram-se para outros bairros, causando uma 6 IBGE, censo de 2010.
sensação de “esvaziamento” no Centro. Mas o Centro mantém-se ainda hoje como
principal espaço econômico, político e sociocultural, elementos que caracterizam sua
“centralidade urbana”.
Pode-se caracterizar dessa forma, que o centro de Laguna passou por uma
“crise de centralidade”, assim denominado por CASTELLS (1979). Este autor, ao
explicar as diversas causas de uma crise dos “sistemas de centralismos”, aponta dentre
elas a reestruturação social, que repercute na cidade e no centro com o surgimento de
novas funções urbanas que se impõem sobre as formas espaciais existentes, causando
conflitos e, através das pressões sociais dos novos poderes (novas funções econômicas),
conseguem iniciar o processo de renovação urbana nas áreas centrais.
Este processo de deslocamento de funções, desvalorização de áreas históricas
pelo seu “congelamento urbano e arquitetônico”, ou a suposta obsolescência dos
edifícios antigos, já é conhecido e se assemelha ao de outras cidades e conjuntos
urbanos. Trata-se de uma concepção equivocada caracterizar o desenvolvimento urbano
pela destruição das estruturas existentes com sua substituição por novas estruturas. “De
fato, as cidades progridem se autodestruindo, em lugar de ir crescendo a partir de uma
base de manutenção do que já existe.” (CASTELLS, 1979:68).
As cidades vivem em contínua transformação. Estão sendo constantemente
construídas e reconstruídas, assim como suas sociedades, que se reestruturam,
modificam seus valores e suas relações com o ambiente urbano. No entanto, essa forma
de “reestruturação” ora vigente nas cidades, talvez pela falta de clareza em assumir
novos valores, vêm ocasionando a destruição das áreas históricas e a perda dos valores
culturais e tradicionais da sociedade, ou seja, a descaracterização cultural das cidades.
Dessa forma acredita-se na importância da preservação de suas áreas históricas e de sua
memória urbana, pois: “A Cidade é obra de uma história, isto é, de pessoas e grupos
bem determinados que realizam essa obra em determinadas condições históricas.”
(LEFEBVRE, 1991: 46). É imprescindível a adequação de outra proposta de
desenvolvimento econômico que tenha como uma de suas premissas, uma política de
valorização do patrimônio urbano, partindo-se da preservação das estruturas existentes e
agregando-as, de forma compatível às novas necessidades.
O Tombamento Federal do Centro Histórico de Laguna
A Lei de Tombamento Federal, aplicada em 1985 nesta cidade, conseguiu
preservar a paisagem construída deste bairro que já se encontrava em processo de
“renovação urbana”, mas não abrange o aspecto preservação da vida urbana, da
imaterialidade que dá sentido, conteúdo ao espaço construído. Mas este era o
entendimento e o único instrumento disponível na época, “para preservá-la como
expressão da cultura brasileira... como um modo de garantir a qualidade de vida dos
cidadãos... e para preservação da paisagem urbana.” (IPHAN, 1995: 08)
O Centro Histórico de Laguna foi inscrito em dois Livros: Livro de Tombo
Histórico e Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Em linhas gerais,
o parecer técnico elaborado pelo arquiteto Luiz Fernando P.N. Franco, para avaliação e
apresentação junto ao Conselho Consultivo do Iphan, que aprova ou não o
Tombamento, e indica em qual Livro de Tombo será inscrito, é decisivo ao afirmar que
“em sua dimensão estritamente arquitetônica, o patrimônio construído do Centro
Histórico de Laguna não apresenta as características de excepcionalidade normalmente
adotadas como critério para decidir sobre a oportunidade do tombamento.”7 Até o
edifício da Casa de Câmara e Cadeia, tombado individualmente em 1953, foi indicado
pelos acontecimentos históricos que ali ocorreram, conforme informa no parecer. Mas,
justifica sua preservação pela excepcionalidade do sítio, pois foi escolhido
estrategicamente para que a cidade não pudesse ser vista pelas navegações, situada
7 Muitos tombamentos de sítios históricos no Brasil foram procedidos por influência da Carta de Veneza
(1964), que valorizava os conjuntos urbanos mais modestos. Assim, começaram a serem identificados e
tombados também aqueles conjuntos que representavam a ocupação e formação do território nacional, e
não mais somente os conjuntos barrocos.
Vista aérea do Centro Histórico de Laguna, 1995, com poligonal de tombamento.
assim entre os últimos acidentes de relevo da Serra do Mar próximo ao litoral sul, de
domínio português, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Este mesmo sítio, por
estar rodeado pelos morros do Rosário, da Glória, da Caixa d’água, do Moinho e
Progresso não estava sendo “hostilizado” pela nova cidade, os novos bairros que
surgem, tornando-se uma barreira física natural, até então. O relator também destaca a
peculiaridade do traçado urbano, que liga as praças com o cais, formando os principais
espaços públicos e a morfologia urbana da área, enfim conclui:
“Recomenda-se assim, o tombamento do centro histórico de Laguna
em seu acervo paisagístico constituído pelo sistema natural que o
envolve, pelo conjunto de logradouros em seu traçado e dimensão,
pelo cais junto à lagoa de Santo Antônio e pelo conjunto de
edificações em sua volumetria, em sua ocupação de solo e em suas
características arquitetônicas, que expressam a continuidade da
evolução histórica do núcleo urbano original, acervo delimitado pelo
perímetro apresentado. V. planta 3.”(IPHAN:1995; 16)
O que se observa é uma análise estritamente material do objeto para a
preservação. Pelo relatório desenvolvido, os aspectos históricos e socioeconômicos não
foram considerados relevantes para que fossem apontados como justificativas à
preservação e, consequentemente, levassem a sua inscrição no Livro de Tombo
Histórico. Também, em relação à análise do contexto espacial do Centro, a paisagem
dos morros e da lagoa também foi associada como barreiras físicas e ou visuais
somente, sendo os mesmos em parte incluídos no perímetro de tombamento como
“molduras” do objeto principal que é o centro histórico. O que determinou a
preservação da área, através do seu tombamento foi exclusivamente a materialidade do
objeto em questão.
Ribeiro (2008) confirma esta característica ao analisar outros tombamentos
dessa época. Mesmo aqueles como o do município de Parati ou de Porto Seguro,
inscritos no Livro de Tombo de Belas Artes (1958) e posteriormente no Livro de
Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico (1974), estão vinculados a ameaças
que estes conjuntos estariam sofrendo, com as aberturas de rodovias e intensificação da
exploração turística. Este autor aponta que os tombamentos que se sucederam após a
Carta de Veneza modificaram o olhar da instituição, “o aspecto da monumentalidade e
da excepcionalidade dando lugar à ideia de documento, registro da história nacional e da
relação do homem com seu ambiente” (RIBEIRO, 2008: 94). A “cidade monumento” é
vista agora como “cidade documento”.
Um caso que se difere dos demais, e que por este motivo é destacado pelo
autor, foi o do Tombamento de Natividade/TO (1987), que conjugou os aspectos
imateriais e ambientais: “A paisagem é constituidora do próprio bem e não é vista
apenas como moldura... a imensa serra de Natividade era fonte de matéria-prima da
atividade econômica básica da população que se estabelece ali.” O Tombamento de
Natividade foi registrado em 3 (três) livros de Tombo: Belas Artes, Histórico e
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. E no tombamento de São Francisco do
Sul/SC (1987), “vemos o mar intervindo no dia a dia das pessoas, constituindo um
cotidiano coletivo”, também registrado nos mesmos livros que Laguna.
Estes últimos tombamentos se aproximam de uma proposta que poderiam ter
sido projetados em Laguna, mas ainda não dão conta do aspecto mais rico e mantenedor
da sua centralidade: a vida urbana!
Memória urbana de Laguna/SC: espaços públicos e vida urbana
A maioria das cidades brasileiras, principalmente as de pequeno e médio porte,
tem o seu centro urbano coincidente com a área mais antiga da cidade - o Centro
Histórico. Este é o ponto de partida da cidade. O que se tem nos Centros Históricos
hoje é um produto de todas as transformações físicas e socioculturais que a cidade
sofreu.
Os espaços públicos de uma cidade podem ser caracterizados como o “ponto
de interseção” entre a cidade e a sociedade. Se a cidade é o “habitat” do homem
urbano, a forma de apropriação e o uso dos seus espaços públicos representam a
maneira como a sociedade se relaciona com a cidade. A memória urbana do Centro
Histórico de Laguna é representada pelo estudo dos espaços públicos e da vida urbana
inserida na área central da cidade.
Mais do que simples elementos de circulação e organização da malha urbana
de uma cidade, são nestes espaços que a sociedade manifesta publicamente seus valores
socioculturais, seus anseios, suas necessidades - do lazer, da palavra, da sociabilidade.
Proporcionam o uso coletivo, gratuito e igualitário para a população. Neles ocorrem
manifestações da vida urbana pública: dois pontos das atividades cotidianas, como o
simples encontro entre amigos numa praça, o jogo de bola na rua, os movimentos
sociais, comícios, manifestações de greves, shows e, ainda, as celebrações religiosas
como as procissões e festas cívicas. A Carioca, fonte d’água, continua a ser requisitada
por sua água, a Praça República Juliana é ainda hoje a praça cívica, onde a semana da
pátria é comemorada. O Jardim é o principal lugar de encontro da juventude e onde se
comemoram também as festas religiosas tradicionais; as procissões percorrem as
mesmas ruas, o mesmo trajeto de 200 anos atrás. No cais, os pescadores ainda chegam
com seus barcos pequenos e vendem seus peixes. Agricultores do interior chegam e
organizam sua feirinha na frente do Mercado Municipal, semelhante ao que se fazia em
1880. Ali, junto da feira e do Mercado, homens, taxistas, aposentados se agrupam para
seus “bate-papos” diários. Os espaços foram “modernizados”, ganharam calçamento,
iluminação, mobiliário urbano, mas as cenas, os rituais se repetem.
São nestes espaços que também se repercutem as transformações físicas e sociais da
sociedade - o seu modo de vida, suas crenças e aspirações frente àquele período que
estão vivenciando:
“A vida urbana, a sociedade urbana , numa palavra “o urbano” não
podem dispensar uma base prático- sensível, a cidade.” Se considera a
cidade como Obra de certos “agentes” históricos e sociais, isto leva a
distinguir a ação e o resultado, o grupo (ou grupos) e o seu “produto”,
sem com isso separá-los.” (LEFEBVRE, 1991:49)
A presença da vida urbana e da “esfera pública”, ou seja, de “um termo comum
a todos” é o que garante a existência das relações sociais:
“A presença de outros que vêm o que vemos e que ouvem o que
ouvimos garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos.
Somente quando as coisas podem ser vistas por muitas pessoas, numa
variedade de aspectos, sem mudar de identidade, de sorte que os que
estão a sua volta sabem que vêm o mesmo na mais completa
diversidade, pode a realidade do mundo manifestar-se de maneira real
e fidedigna.” (ARENDT, 1958:59).
As formas de apropriação dos espaços públicos das áreas centrais de uma
cidade representam um conjunto de ideologias incorporadas ao longo da história, que
transformam os espaços físicos e as relações sociais.
Nos espaços do Centro da cidade é possível realizar o encontro com o passado
- conhecer e valorizar a história daquela cidade e sociedade, que também fazem parte da
nossa própria história e da história do nosso país. Viver o presente nos espaços do
“passado” é manter, preservar e continuar a história da cidade e daquela sociedade. E a
continuidade dos usos, embora os mesmos estejam modificados pela própria história,
significa perpetuar a memória urbana da cidade.
Assim os espaços públicos da cidade se revelam como reais instrumentos de
análise da vida urbana. Não só possibilita a socialização, mas seus usos também
indicam as características e anseios da sociedade. As transformações na qualidade e a
intensidade de uso dos espaços públicos, ao longo da história da cidade, permitem
analisar as relações do homem com o seu “ambiente construído”.
Portanto, será a partir do estudo da cidade ao nível local que se possibilitou
caracterizar as mudanças verificadas por novas ideologias impostas sobre o espaço
urbano. Conhecendo as causas destas mudanças, pode-se chegar com maior precisão à
possíveis soluções para a alteração do quadro que ora se apresenta.
A preocupação com as transformações da “vida urbana” não significa uma
aversão ao desenvolvimento econômico e sociocultural, atenta para o fato de que a
preservação destes valores torna-se imprescindível como diretriz, “o fio condutor”, para
o desenvolvimento urbano e a preservação da memória das cidades.
Sobre os novos instrumentos de preservação: uma associação possível?
É notório que se vive, atualmente, um período de ampliação da noção de
Patrimônio e, consequentemente, da forma de ver a preservação da memória urbana das
nossas cidades brasileiras. Se antes, o único instrumento de preservação era o
Tombamento, hoje, disponibilizamos dos Registros para reconhecimento e salvaguarda
do patrimônio imaterial e ainda a Chancela como mais novo instrumento de
preservação, que além de associar a materialidade à imaterialidade em um mesmo
recorte (dissociados historicamente pelos processos anteriores), pressupõe sua
vinculação ao meio ambiente natural no qual está inserido e ainda, compreende,
identifica e valoriza a dinâmica da transformação cultural que ocorre nestes lugares,
buscando sua salvaguarda através da associação entre os diversos atores que utilizam e
se dependem diretamente e indiretamente do local, sejam eles moradores, órgãos
públicos, empreendedores particulares, que deverão juntos, realizar a gestão
compartilhada do lugar ou região.
Inicialmente, quando se dispunha apenas do instrumento de Tombamento, estes
eram enquadrados nos Livros de Tombo, a partir de uma hierarquia ideologicamente
criada pela visão da época, do que se entendia como representação da história e
identidade nacional. Segundo Fonseca (2008), quando um bem era considerado
excepcional, de valor notório, este era inscrito no Livro de Belas Artes e quando seu
valor não era julgado tão expressivo, acabava por ser inscrito no Livro de Tombo
Histórico e também, dependendo do caso, no Livro de Tombo Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico. A autora identifica a tendência da época que caracterizava o
patrimônio do Brasil a partir de uma perspectiva predominantemente estética. Durante
este período, foi valorizado basicamente o Barroco e o Neoclássico8. A ideologia sobre
a forma de pensar estes tombamentos será modificada após a década de 1970, com o
grande Congresso Internacional de arquitetos e técnicos dos monumentos históricos,
que gerou a Carta de Veneza em 1964. O número de tombamentos de sítios históricos
foi ampliado e alguns bens que foram inscritos anteriormente somente no Livro de
Tombo de Belas Artes, foram reinscritos no Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico
e Paisagístico, visando justamente à preservação da paisagem envoltória.
A diferença entre este instrumento – Tombamento, com a possibilidade de sua
inscrição no Livro de Tombo Etnográfico, Arqueológico e Paisagístico e a Chancela da
Paisagem Cultural é quanto à questão da materialidade: no Tombamento, a preservação
material é o seu objeto, seu foco, diferente da nova proposta - a Chancela da Paisagem
Cultural, que abarca a materialidade e a imaterialidade do bem em si, ou seja, a obra e
seu conteúdo.
Este novo instrumento de Preservação, conforme descrito em sua Portaria de
criação, considera, dentre outras ponderações, que “os fenômenos contemporâneos de
expansão urbana, globalização e massificação das paisagens urbanas e rurais colocam
em risco contextos de vida e tradições locais em todo o planeta” e conceitua “paisagem
cultural” a partir da fundamentação inscrita na Constituição Brasileira, definindo assim
a paisagem cultural:
“Paisagem Cultural Brasileira é uma porção peculiar do território
nacional, representativa do processo de interação do homem com o
meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiam marcas ou
atribuíram valores.” (IPHAN, 2009)
Há de se recordar que o conceito de paisagem cultural, já defendida em
algumas correntes da Geografia desde o final do século XIX, foi inicialmente
apropriada pela UNESCO em 1992, como lembra Ribeiro (2007), quando esta inclui a
categoria de “Paisagem Cultural” para inscrição de bens na lista de Patrimônio Mundial,
tendo em vista a “dicotomia existente na lista desde a sua criação, em 1972, entre
patrimônio natural e cultural”. Assim, a categoria ora descrita passou a ser aplicada
para aqueles sítios que expressavam a combinação de trabalhos da natureza e do
homem, vistos em conjunto.
Apesar de parecer que o foco do conceito de Paisagem Cultural sejam sítios ou
lugares mais associados à existência ou predominância do meio ambiente natural ou
8 A arquitetura moderna, introduzida em 1928 no Brasil, teve seu primeiro exemplar tombado
em 1947 – a Igreja de São Francisco de Assis na Pampulha- Belo Horizonte/MG.
rural, há de se destacar como exemplos importantes, sítios que foram inscritos na
categoria de paisagem cultural pela UNESCO, subcategoria “paisagens evoluídas
organicamente”. Conforme destaca Araújo (2009), tem-se a inscrição da Paisagem
Industrial de Blaenavon, no Reino Unido; o Palácio de Versailles e seus jardins, na
França e ainda Ryukyuan, conjunto de sítios e monumentos no Japão.
Assim, muitos sítios conjugam estes dois vetores: a materialidade e
imaterialidade. Também, não perderam a “centralidade urbana”, com as reestruturações
econômico-sociais, principalmente no que se diz respeito à tradicionalidade dos usos
dos espaços públicos, mas, no entanto, não foram ainda identificados ou inventariados
pelo Iphan. Assim, considerando a inscrição destes sítios no Livro de Tombo
Arqueológico, Histórico e Paisagístico, pela presença do aspecto do meio ambiente
natural que determinou a escolha do sítio e que interage de diversas maneiras com a
paisagem urbana histórica tombada e com o meio ambiente natural envoltório, não
deveriam também estes sítios ser reavaliados e possivelmente enquadrados como
paisagens culturais brasileiras?
Como exemplo, o caso específico do Centro Histórico de Laguna, a chancela
como paisagem cultural possibilitaria a identificação e salvaguarda sob dois pontos de
vista:
1. Olhando-se para “dentro do centro”: para os espaços públicos e a vida urbana
nele inserida, que mantém sua centralidade urbana através das atividades
econômicas, político-institucionais e socioculturais explicitadas anteriormente e
dos usos cotidianos e ritualísticos tradicionais dos espaços públicos e das
edificações que cultiva as festas centenárias nos mesmos espaços (cívicos e
religiosos) além das atividades rotineiras, como a feira de hortifrutigranjeiros e a
banca do pescado em frente ao cais do centro, o transporte por barcos, dentre
outros.
2. Olhando-se de “dentro para fora do centro”: seu entorno imediato, formado
pelos elementos naturais que interagem e intervém no modo de vida das pessoas,
como a lagoa à frente da cidade, que é via de circulação, é meio de vida de
muitas famílias que moram tanto nos bairros adjacentes ao centro como no
interior do município (pescadores artesanais)9 e é opção de lazer e
entretenimento através dos passeios de barco e pesca amadora. Os morros, cada
9 É notória a interação da população com as lagoas e o mar que cercam esta parte do território. São
pescadores de camarão, que se utilizam das lagoas, são pescadores de tainha, que pescam “associado à
pescaria dos botos”, no canal de acesso ao mar. A relação da população dita lagunense com o mar é
bastante evidente no dia a dia.
um com uma representação simbólica histórica, onde “símbolos” foram
instalados, como a imagem de Nossa Senhora, o cemitério, as Cruzes para
pagamento de promessas, e a Igreja do Rosário como o “reduto dos negros”, no
Morro que acabou ganhando a mesma denominação10
.
Para ambos os olhares, através dos inventários e da Chancela, estes valores,
além de identificados poderiam ser preservados através de planos de salvaguarda ou
programas específicos criados para este fim. A Chancela da paisagem reconheceria os
valores imateriais e associá-los-ia tanto com a paisagem urbana construída como a
paisagem natural e toda a sua dinâmica de transformação física, econômica e
sociocultural, sendo possível assim a salvaguarda dos mesmos.
Além do mais, permanência dos mesmos espaços públicos constituídos desde
1880 – as ruas, praças, orla da lagoa, acessos aos morros e de sua tradicionalidade
quanto aos usos possibilita esta mistura – do uso lúdico com os usos de troca
(sociabilidade), consumo, circulação, com o uso político e cultural. É uma caraterística
histórica e ainda latente na vida desta população, embora esteja se esvaindo em função
de diversos fatores externos a eles, como por exemplo, a poluição das águas, o aumento
do esforço da pesca, o aumento da atividade econômica no centro histórico, entre
outros. Como diria Lefebvre (1991:133), “A centralidade lúdica tem suas implicações:
restituir o sentido da obra trazido pela arte e pela filosofia – dar ao tempo prioridade
sobre o espaço, não sem considerar que o tempo vem se inscrever num espaço – por a
apropriação acima do domínio.” Não seria isso o que desejaríamos para nossos centros
históricos, tendo dessa forma a memória urbana preservada?
Existe outro aspecto bastante peculiar na Portaria da Chancela da Paisagem
Cultural, sobre o “Pacto e a Gestão” o qual seria de grande valia para os Centros
Históricos. À medida que a chancela “implica no estabelecimento de pacto que pode
envolver o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, visando à gestão
compartilhada” podendo este ser “integrado de Plano de Gestão a ser acordado entre as
diversas entidades, órgãos públicos e privados envolvidos, acompanhado pelo Iphan”,
modifica-se a postura centralizadora desta instituição de preservação, “abrindo mão do
controle total” e chamando a população e suas diversas representações civis a participar
da discussão e da gestão sobre o que se preservar, como manter, o que refutar. Todos
passam a ser protagonistas, coadjuvantes, fiscais, usuários, promotores de eventos, em
prol da preservação daquele sítio, daquela “vida urbana” que se quer preservar. Esta não 10 Apesar da Igreja não mais existir, apenas suas fundações.
seria a melhor forma de politização da população, no sentido de fazê-la refletir sobre
quais valores lhe são caros e devem ser preservados, dando-lhes poder e instrumentos e
voz de decisão e de ação?
Esta pode ser considerada uma atitude bastante audaciosa, tendo em vista a
forma como a ideologia do capitalismo corrompe, deturpa os valores e faz com que tudo
se torne consumível. É provável que a principal instituição de preservação do
patrimônio cultural tenha entendido, quando criou o instrumento da Chancela da
Paisagem Cultural, a dimensão deste universo que compõe o patrimônio cultural,
reconhecendo que é impossível que somente um órgão seja responsável pela
identificação, guarda e proteção deste patrimônio, o qual aumenta, se diversifica e se
valoriza, a cada dia, a cada ano que passa, devido a expansão da própria concepção de
cultura. É a sociedade brasileira que deve, paulatinamente, assumir o papel de agente
preservador, por ser importante para ela e para o grupo social a que pertence. Os
Tombamentos ainda se fazem necessários, pois estes ainda são os instrumentos
principais de preservação, mas a associação dos mesmos a Registros e principalmente à
Chancela seria essencial para quem sabe, num momento futuro, como aspirado por
Lefebvre (1991), quando a sociedade pós-moderna emergir, esta possa realmente cuidar
e gerir a preservação com menos interferência do Estado.
Considerações Finais
A perda do equilíbrio de funções que constitui a Centralidade urbana dos centros
históricos (econômica, político-institucional e lúdica), tendo em vista a tendência
crescente da atividade econômica, acarreta no empobrecimento da qualidade de vida
urbana e o início do processo de desvalorização social. Perder a centralidade simbólica e
lúdica é perder o valor de uso do centro, pois como diria Lefebvre:
“As qualidades estéticas desses antigos núcleos desempenham um
grande papel na sua manutenção. Não contem apenas monumentos,
sedes de instituições, mas também espaços para as festas, os
encontros, os passeios e diversões. O núcleo torna-se assim, produto
de consumo de uma alta qualidade para estrangeiros, turistas. Torna-se
“lugar de consumo e consumo do lugar”. (Lefebvre, 1991: 12)
A presença dos espaços públicos históricos, na área central da cidade de
Laguna, bem como a tradicionalidade quanto aos seus usos, possibilita esta mistura:
espaços para o lúdico, para o consumo, circulação, uso político e cultural. No entanto, é
uma característica histórica que tem sido reestruturada e tem perdido espaço para o
vetor econômico, ou mesmo esvaziando-se, pois muitos imóveis são abandonados e
fechados.
O instrumento do tombamento é ainda muito restritivo quanto a sua
abrangência, cuidando somente da materialidade do patrimônio edificado, sem preservar
o que garante a sustentabilidade destes centros: a vida e a memória urbana. Muitos
centros, agora destituídos da ação da especulação imobiliária, ressentem-se pela baixa
da procura: são “abandonados” pela população tradicional (que não tem estrutura
econômica para manter o imóvel) e/ou substituídos por empresários e populações de
outras culturas que procuram nos espaços e imóveis “o valor de troca”, sem qualquer
vínculo afetivo com o local. São situações verificadas nos centros históricos de Salvador
(Pelorinho) ou em Parati (Rio de Janeiro) e, certamente, não é isso o que as instituições
de preservação pretendem e desejam.
Os novos instrumentos de preservação - Registro e Chancela - devem ser
pensados como alternativa para se associarem ao instrumento de tombamento, pois estes
instrumentos reconhecem a importância da vida urbana, a imaterialidade e toda sua
dinâmica, o conteúdo que dá sentido a forma e função dos centros históricos,
proporcionando a preservação da memória urbana destes lugares. Afinal,
“As necessidades urbanas específicas, não seriam necessidades de
lugares qualificados, lugares de simultaneidade e de encontros, lugares
onde a troca não seria tomada pelo valor de troca, pelo comércio e
pelo lucro?” (Lefebvre, 1991:104).
A implementação do instrumento da Paisagem Cultural em Laguna propiciaria
também um processo de gestão compartilhada entre a municipalidade e demais
parceiros públicos e privados, como órgãos ambientais e culturais, para a criação de
instrumentos normativos, de obras de revitalização, de políticas que valorizem e
preservem as configurações sociais existentes no centro histórico, que estimulam o
lúdico, o cultural e a memória urbana nestes espaços. Por exemplo: a revitalização de
praças com áreas de lazer e convivência; melhorias de circulação para pedestres e
bicicletas; atividades nos centros culturais, nos cinemas e nos clubes recreativos
existentes, atividade pesqueira artesanal e a circulação de barcos; a preservação dos
morros e seus simbolismos, entre outros.
Assim como em Laguna/SC, diversos outros centros históricos brasileiros
possuem esta potencialidade que merece ser reestudada para que seja estabelecida a
Chancela da Paisagem Cultural como uma ferramenta importante no avanço da gestão
do patrimônio cultural e natural. Políticas públicas podem promover programas,
projetos, normatizações que visem a preservação das manifestações locais, dos modos
de produção tradicional e sua relação com o meio ambiente, mas principalmente, podem
estimular a organização da sociedade para discutir sobre sua cidade, seu município. Esta
é a melhor forma de se trabalhar a tão debatida e esperada “educação patrimonial” na
sociedade, assim denominada pelos órgãos gestores, que nada mais é que a iniciativa ao
debate, a conscientização e a politização da sociedade. Só assim se alcançará resultados
positivos para os instrumentos de gestão do patrimônio cultural propostos, e, enfim, a
gestão compartilhada entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada.
Bibliografia
ARAÚJO, Guilherme Maciel. Paisagem Cultural: um conceito inovador. In.
CASTRIOTA, Leonardo Barci (org). Paisagem Cultural e Sustentabilidade. Belo
Horizonte: UFMG, 2009.
ARENDT, Hanna. A Condição Humana. RJ: Forence Universitária, 1993.
BOSI, Eclea. Memória e Sociedade. SP: EDUSP, 1987.
CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana. SP: Paz e Terra,1975.
LE GOFF, Jacques. História e Memória. 4ª Edição. Campinas, SP:Editora UNICAMP,
1996.
LEFEBVRE, Henry. O Direito à Cidade. 1ª Edição. São Paulo, Editora Moraes, 1991.
LUCENA, Liliane Monfardini Fernandes. Laguna de Ontem a Hoje: Espaços públicos e
Vida Urbana. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Geografia), UFSC,
Florianópolis, 1998.
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4ª
Edição. São Paulo: Edusp, 2008.
------------. Técnica, espaço, tempo. São Paulo: Hucitec, 1994.
FONSECA, Cecília Londres. O patrimônio em processo. Trajetória da política federal
de Preservação no Brasil.2.ed.Rio de Janeiro: UFRJ, IPHAN,2005.
RIBEIRO, Rafael Winter: Paisagem Cultural e Patrimônio. Rio de Janeiro: IPHAN,
2007.
IPHAN- INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO NACIONAL.
Estudos de tombamento. Rio de Janeiro: 1995. (Série Cadernos de Documentos,
n.2).
------------. Portaria Nº127 de 30 de abril de 2009.
------------. Coletânea de Leis sobre Preservação do Patrimônio. Rio de Janeiro:
IPHAN, 2006.
------------. Cartas Patrimoniais. 3.ed. ver. e aum. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.
SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA. Bens móveis e imóveis inscritos nos Livros de Tombo do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Brasília, 1982.