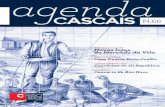A linha de Cascais: construção e modernização. Reflexos no turismo e no processo de...
Transcript of A linha de Cascais: construção e modernização. Reflexos no turismo e no processo de...
!
!
!
!"#$%&'"()"*'+,'$+-",.%+/0123.")"4.()0%$5'23.6"7)8#)9.+"%."/10$+4.")"%.":0.,)++."()"+1;10;'%$5'23."('"
,$('()"()"<$+;.'6"!
"#$%$!&$'$()%$!*)+)($!,$-.)%#!
!
!
/-'-0(#!1+!2342!
!
5)66+('$78#!1+!9+6'($1#!+:!;)6'<()$=!!
+6>+?)$.)@$78#!+:!;)6'<()$!&#%'+:>#(A%+$!
Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do
grau de Mestre em História, especialização em História Contemporânea, realizada
sob a orientação científica do Professor Doutor Luís Nuno Espinha da Silveira.
Agradecimentos
Antes de mais gostaria de agradecer aos meus familiares, particularmente, à minha mãe,
à minha avó e ao meu pai, que sempre viveram as minhas «vitórias» como se deles fos-
sem. Acredito que esta não será excepção!
Ao Professor Luís Nuno Espinha da Silveira por me ter estimulado a aproximação ao
estudo de Cascais e o interesse pelas questões populacionais, Agradeço-lhe a imensa
disponibilidade ao orientar a minha dissertação de Mestrado e todo o apoio prestado ao
ter-me acompanhado no «mundo» da investigação desde o final do meu primeiro ano de
licenciatura.
Ao Professor Daniel Alves por ter reconhecido o meu potencial e me ter aproximado ao
estudo dos caminhos-de-ferro.
À Ana Alcântara pelo apoio essencial e pela sua «genialidade» nos SIG.
Ao Nuno, pela problematização constante, que muito ajudou ao longo do meu percurso
académico.
Ao João, amigo de sempre, pelas questões matemáticas que me ultrapassam.
A todos aqueles que aqui não constam, mas que sabem que estão presentes em todos os
momentos importantes da minha vida.
A linha de Cascais: construção e modernização. Reflexos no turismo e no processo de
suburbanização da cidade de Lisboa.
Joana Catarina Vieira Paulino
Resumo
Os projectos iniciais de construção do ramal de Cascais, remontam à década de 50 do século XIX e eram dependentes da edificação da linha de Sintra. Neste contexto, destacam-se aqueles que foram apresentados por Claranges Lucotte e por Thomé Ga-mond, que visavam ligar a capital a dois espaços de lazer, um associado à montanha, a vila de Sintra e, outro, associado ao crescente gosto pelos banhos de mar, a vila de Cas-cais.
Só a partir da apresentação dos projectos de Hersent, Burnay e da Companhia Real dos Caminhos de Ferro, já na década de 80, é que os planos passaram a apresentar a linha de Cascais de forma independente. À questão turística e de veraneio inerente aos objectivos de construção deste ramal, acrescentou-se a ideia de conexão das vias-férreas à capital e de ligação ao porto de Lisboa. Tendo sido outorgada a construção à C.R.C.F.P., a sua inauguração deu-se de forma faseada entre o final dos anos 80 e mea-dos dos anos 90.
Por outro lado, não se deve descurar o pioneirismo desta linha no que concerne à modernização da via-férrea, motivo pelo qual é bastante importante estudar as razões que levaram à electrificação do ramal de Cascais (concorrenciais, de preço do carvão e custo de manutenção da tracção a vapor), incentivando-se uma nova actividade industri-al associada à produção de energia eléctrica. Importa ainda referir como esta moderni-zação foi perspectivada, sobretudo, no seio da C.R.C.F.P. e a forma como o empresário Fausto Cardoso de Figueiredo (1880-1950) emergiu neste contexto. A ele está também associada uma iniciativa num novo sector de actividade, o turismo, materializada no seu projecto cosmopolita para o Estoril, o Parque Estoril, intimamente relacionada com a electrificação da linha de caminho-de-ferro.
O ramal de Cascais, construído no final do século XIX, tendo, inicialmente, um fito turístico, de veraneio e prática de banhos acabou por se revelar, a partir da sua ex-tensão ao centro de Lisboa e, numa primeira fase, uma via-férrea com um cariz urbano importante ainda que, a partir de 1901/2, se verificasse um significativo aumento do tráfego a partir da zona rural e dentro desta. Uma análise mais detalhada do tráfego mostra que o caminho-de-ferro não só teve influência no desenvolvimento da actividade turística, como também foi determinante na fixação de população nas povoações subur-banas e rurais por ele servidas, que já tinham algum relevo demográfico e sector de ac-tividade a elas associado. Atestou-se, assim, o processo de suburbanização da cidade de Lisboa o qual, alguns anos mais tarde, originou a formação da Área Metropolitana de Lisboa.
Palavras-chave: História, História Contemporânea, História Urbana, Suburbanização, Caminho-de-ferro, Lisboa, Cascais, Algés, Estoril.
Cascais railway: construction and modernization. Reflection on turism and Lisbon’s suburbanization.
Joana Catarina Vieira Paulino
Abstract
The initial projects concerning the construction of Cascais railway go back to the years 50 of the 19th century and were dependent to the edification of Sintra railway. In this context, we can differentiate those that were presented by Claranges Lucotte and by Thomé Gamond, aiming to connect the capital to the two leisure spaces, one of them related to the mountain, Sintra and, the other, related to the growing taste for sea bath-ing, Cascais.
Only after the submission of Hersent, Burnay and Companhia Real dos Caminhos de Ferro, in the 80 decade, the plans began to show the Cascais railway as independent. To the touristic view, inherent to the projects of this construction, was added the idea of connecting the railways to the capital and to de Lisbon port. As the construction was granted to C.R.C.F.P., the inauguration took place in a phased manner in the late 80 and the mid 90 of the 19th century.
On the other hand, one must not overlook the pioneering character of this rail-way when it comes to the modernization of this sector. That’s the reason why it is very important to study the reasons that led to the electrification of the Cascais railway (competitive ones, the price of coal and the maintenance cost of the steam traction), encouraging a new industrial activity related to the production of electric energy. It should also be noted how this modernization was envisaged, mainly, in C.R.C.F.P. and the way that the businessman Fausto Cardoso de Figueiredo (1880-1950) emerged in this context. To him is also related an initiative of a new business sector, tourism, mate-rialized in his cosmopolitan project to Estoril, the Parque Estoril, closely related to the electrification of this railway.
The Cascais railway, built in the end of the 19th century, initially having a touris-tic and sea bathing propose, became, from it arriving to the Lisbon center, in a first phase, an important urban railway even though, from 1901/2, there was a traffic in-crease from the rural area and within that. A more detailed analysis shows that the rail-way not only influenced the tourism development, as well was determinant in establish-ing population in the suburban and rural settlements that it serves and that already had a demographic importance and a business sector. In this way, we verified the suburbani-zation process of Lisbon that, some years later, let to the formation of Lisbon Metro-politan Area.
Palavras-chave: History, Contemporary History, Urban History, Suburbanization, Railway, Lisbon, Cascais, Algés, Estoril.
Índice!
!
Introdução ……………………………………………………………………………….1
Capítulo 1. A construção do ramal de Cascais .......................................................... 13!
1.! Os primórdios da ideia de ligação de Lisboa a Cascais. ...................................... 14!
2.! O principiar dos projectos para construção de um troço do ramal de Cascais. A linha de Cascais como um braço dependente da linha de Sintra (1854-1880). .......... 16!
3. As primeiras propostas de construção do ramal de Cascais: de Hersent à emergência da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. ...................... 19!
4.! A concessão do ramal de Cascais à Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. ................................................................................................................ 24!
5.! Da construção à inauguração do ramal de Cascais. ............................................. 35!
5.1.! A construção do troço entre Pedrouços e Cascais. ....................................... 35!
5.2.! A construção do troço entre o Cais do Sodré e Pedrouços. .......................... 37!
5.3.! A inauguração do ramal de Cascais. ............................................................ 41!
Capítulo 2. A electrificação do ramal de Cascais ...................................................... 47!
1.! Porquê electrificar? .............................................................................................. 48!
2.! Quem era Fausto Cardoso de Figueiredo (1880-1950)? ...................................... 50!
3.! O Parque Estoril: uma estância cosmopolita e internacionalmente reconhecida. 54!
3.1. Os princípios ideológicos subjacentes ao Parque Estoril. ............................... 56!
3.2.! O Parque Estoril. .......................................................................................... 59!
4.! A electrificação do ramal de Cascais: da perspectiva da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses e do ascendente de Fausto de Figueiredo ao escrutínio à Sociedade Estoril. ................................................................................... 63!
Capítulo 3. O tráfego de passageiros e o crescimento das povoações da linha de Cascais ........................................................................................................................... 81!
1.! As mutações urbanas dos séculos XIX e XX. ..................................................... 82!
1.1.! A cidade do Porto. ........................................................................................ 83!
1.2.! A cidade de Lisboa. ...................................................................................... 84!
2.! O tráfego de passageiros no ramal de Cascais. .................................................... 88!
2.1.! Como evoluiu o tráfego total na linha? ........................................................ 91!
2.2.! Circulação de passageiros por secção do ramal. .......................................... 96!
2.3.! Passageiros enviados e recebidos por estação. ............................................. 99!
3.! O crescimento das povoações da linha de Cascais. ........................................... 107!
Conclusão ..................................................................................................................... 116!
Bibliografia ................................................................................................................... 119!
Lista de Abreviaturas
A.H.A.R. – Arquivo Histórico da Assembleia da República
A.H.F.C.P. - Arquivo Histórico e Fotográfico da Comboios de Portugal
A.M.L. – Área Metropolitana de Lisboa
C.C.F.L. – Companhia Carris de Ferro de Lisboa
C.M.C. – Câmara Municipal de Cascais
C.M.L. – Câmara Municipal de Lisboa
C.R.C.F.P. - Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguesa
C.R.G.E. - Companhias Reunidas de Gás e Electricidade
F.M.N.F. - Fundação Museu Nacional Ferroviário – Armando Ginestal Machado
I.N.E. – Instituto Nacional de Estatística
T.C.A.M. - Taxa de Crescimento Anual Médio
1
Introdução
Numa edição recente do Notícias de Cascais Oeiras aponta-se a possibilidade de
encerramento da linha de Cascais, considerada obsoleta por já não serem fabricados os
equipamentos que a compõem. Esta hipótese é reforçada pelo facto de uma das medidas
da troika visar reduzir os custos e cortar no endividamento das empresas públicas no
sector dos transportes, ao que se deve somar a crise atravessada pelo sector ferroviário e
a progressiva tendência para o incremento da utilização do automóvel privado, concor-
rencial em termos de tempo e de deslocação no espaço. Actualmente, há quem defenda
que a linha de Cascais não possui qualquer viabilidade. Mas, terá sido sempre assim?1
Existem estudos que se debruçam sobre a História dos meios de transporte no
geral, outros que os analisam para o caso de Lisboa e ainda referências ao seu serviço e
utilização na marginal que vai até Cascais. Da mesma forma, foram desenvolvidas
abordagens ao caminho-de-ferro, seja no seu prisma económico-financeiro, de tráfego,
institucional e/ou técnico. Falta uma história com um carácter regional, que analise uma
linha em concreto e os seus reflexos no espaço por ela servido (exceptue-se a
dissertação de mestrado de Manuel Ribeiro e a obra de Jorge Trigo, atempadamente
referidas). Não existe nenhum estudo que se debruce sobre o ramal de Cascais, sendo as
análises que o referem pouco aprofundadas. Neste contexto, apresento o estado da arte
referente às temáticas mencionadas, fazendo um ponto da situação do que, até à data,
foi escrito sobre a via-férrea que pretendo estudar.
No que diz respeito a uma perspectiva geral sobre os meios de transporte,
destaca-se Transportes e comunicações em Portugal, Açores e Madeira (1750-1850), de
Teodoro de Matos. O autor principia a sua análise com o estudo das vias (Parte I), para
depois se centrar nos transportes em si (na Parte II), incluindo a sua variante terrestre
(estradas), marítima e fluvial e fundamentando a sua tese com cartografia diversa. Teo-
doro de Matos demonstrou como a distribuição desigual dos meios de deslocação se
reflectiu na difusão do pensamento e das ideias, o que o levou a dedicar parte da sua
1 Notícias de Cascais, Nº 47, 17.08.2011, p. 2.
2
tese aos serviços de correios e telégrafos, representativos do tempo e alcance dos meios
de transporte.2
No que concerne à história dos caminhos-de-ferro, vários investigadores têm-se
debruçado sobre esta temática. Na sua tese de doutoramento, Maria Fernanda Alegria
começa por estudar, em termos nacionais, o período anterior à construção das vias-
férreas, analisando como se viajava nessa altura e reforçando o contraste temporal entre
a inauguração da primeira linha em Inglaterra (1825) e em Portugal (1856), um atraso
provocado pela “(…) instabilidade política e social de toda a primeira metade do século
XIX, (…) dificuldades económicas com o país se debatia e ainda da oposição que os
caminhos-de-ferro começaram por suscitar”.3 Ressalta a importância desta construção
enquanto valorizadora do País no contexto internacional, atribuindo o dinamismo outro-
ra perdido ao porto de Lisboa, ponto de entrada na Europa e saída para a América. Se-
guem-se os passos que se deram para a construção das linhas que viriam a constituir,
ainda que de forma não planeada, a rede ferroviária nacional para, depois, se debruçar
sobre o tráfego de mercadorias, o epicentro do seu estudo. Na sua tese as referências ao
ramal de Cascais são bastante breves e sucintas, podendo ser resumidas a dois prismas
de análise: enquadra-o no seio das linhas construídas sem qualquer tipo de subvenção
estatal, opção similar à que foi tomada nas linhas periféricas à cidade do Porto; e, justi-
fica o tráfego de mercadorias pela proximidade e confluência desta via-férrea a Lisboa.4
Magda Pinheiro, na sua tese de doutoramento, adopta uma perspectiva de análise
semelhante à anterior até chegar ao seu tema principal. Opta por não abordar a mobili-
dade na época anterior à construção férrea, mas realça os 31 anos de atraso da constru-
ção portuguesa neste sector. Por este motivo, a autora inicia o seu estudo em 1853,
apontando para o debate da internacionalização da economia portuguesa com base no
progresso tecnológico assente nos caminhos-de-ferro, seguido da constituição da rede
nacional. Não obstante, o tema central da sua tese reside nos recursos financeiros e fi-
nanciamentos utilizados para efectivação da estrutura férrea nacional, até 1891, fossem
eles nacionais/estatais e, sobretudo, incidindo sobre a dependência externa.5
Seguindo o prisma económico-financeiro há ainda dois estudos a destacar. O de
António Lopes Vieira, que trata os investimentos no caminho-de-ferro, aprofundando a 2 MATOS, 1980. 3 ALEGRIA, 1987, p. 42. 4 ALEGRIA, 1987. 5 PINHEIRO, 1986.
3
política de especulação promovida pela introdução de capitais britânicos e franceses
neste sector, através da delimitação da natureza e mobilidade destes «apoios». Neste
sentido, segue o objecto de análise de Magda Pinheiro relacionado com a dependência
externa portuguesa para a construção da rede férrea e do progresso nacional. Acrescen-
te-se o estudo de Maria Eugénia Mata, que trata as consequências dos meios de trans-
porte na indústria, analisando a forma como as vias-férreas condicionaram a redistribui-
ção deste sector que, durante o processo de industrialização, se concentrou na zona lito-
ral atlântica (sobretudo, entre Lisboa e o Porto, a bicefalia portuguesa).6
Sobre os reflexos na ocupação demográfica do espaço, no desenvolvimento ur-
bano e turístico das regiões, emergem os artigos “Population and railways in Portugal,
1801-1930” e “Caminhos de ferro, população e desigualdades territoriais em Portugal,
1801-1930”, desenvolvidos por um grupo de investigação do Instituto de História Con-
temporânea.7
A dissertação de mestrado de Ângela Salgueiro é dedicada a um aspecto institu-
cional, a orgânica da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Esta empre-
sa, criada em 1860 pela concessão das linhas de Leste e Norte a José de Salamanca e
constituída, maioritariamente, por capitais estrangeiros (situação que se alterou a partir
de 1884), é apresentada pela mesma como um novo instrumento para o desenvolvimen-
to do transporte ferroviário e da rede férrea nacional, ao mesmo tempo que promove o
progresso nacional pelo seu elevado peso económico, institucional, político e nas políti-
cas de transporte. Neste sentido, esta foi a primeira companhia ferroviária bem sucedida
em Portugal (não sendo apenas especulativa como as até então formadas), surgindo
“(…) como um verdadeiro gigante económico no panorama financeiro português, carác-
ter que consolidou (…).”8 Paralelamente, a autora não descura breves referências às
linhas das quais a C.R.C.F.P. era concessionária, entre elas, o ramal de Cascais. Este é,
de todos os estudos gerais dos caminhos-de-ferro, aquele que se debruça de forma mais
atenta e detalhada sobre o desenvolvimento da via-férrea que pretendo estudar, constitu-
indo um contributo importante, que apresenta informações sobre a concessão do ramal à
C.R.C.F.P.9
6 VIEIRA, 1983, VIEIRA, 1988 e MATA, 2008-2009. 7 SILVEIRA, 2011 e SILVEIRA, 2011. 8 SALGUEIRO, p. 8, 2008. 9 SALGUEIRO, 2008.
4
No âmbito da expansão urbana e a sua relação com o meio de transporte em es-
tudo destaca-se Cidade e Caminhos de Ferro, de Madga Pinheiro, que principia com
uma abordagem genérica, sobre a articulação entre Portugal e Espanha na construção da
rede ferroviária nacional, sendo que “(….) aos caminhos de ferro atribui-se uma missão
mais ampla, a de assegurar uma boa inserção de Portugal na Península Ibérica e na Eu-
ropa. Os caminhos de ferro deviam assegurar a Lisboa o lugar que “geograficamente”
(naturalmente) lhe devia caber.”.10 Canalizando para a temática proposta no título e feita
esta abordagem inicial, a autora foca-se nas consequências do caminho-de-ferro no es-
paço urbano e seu crescimento, crendo que a rede ferroviária nacional foi edificada para
colmatar a inexistência de uma rede de estradas. Atribui ainda bastante relevo à ligação
Lisboa-Madrid como forma de reavivar o porto de Lisboa, inserindo-o no contexto in-
ternacional, tomada de posição contestada pela cidade do Porto, que apelou a uma liga-
ção a Vigo, o que proporcionou o rápido crescimento destas duas cidades, cimentando o
fosso entre elas e as cidades mais pequenas. Por sua vez, também a construção de esta-
ções condicionou a arquitectura urbana, na medida em que estas eram edificadas onde o
terreno tinha menor custo, nomeadamente, longe do centro, em eixos de modernização
estimulando, mais uma vez, o crescimento periférico das cidades. É neste contexto e, na
perspectiva do desenvolvimento do veraneio marítimo, que a autora introduz o ramal de
Cascais, apresentando as propostas de concessão até chegar a 1889, com a entrega da
sua construção e exploração à C.R.C.F.P.. Magda Pinheiro constata que “é de admitir
que, desde cedo, alguns membros das elites começassem a utilizar o caminho de ferro
de Cascais (a partir de Algés aonde chegava também o eléctrico) como elemento de
deslocações pendulares diárias”11, argumento que se aproxima do estudo que viso reali-
zar. Contudo, esta não desenvolve este tópico, ainda que apresente alguns dados estatís-
ticos que demonstram o aumento do tráfego do ramal.12
Seguindo uma análise localizada, circunscrita à cidade de Lisboa, António Lopes
Vieira, tratou Os transportes públicos de Lisboa entre 1830 e 1910, obra que corres-
ponde ao aprofundamento da sua dissertação de mestrado em História Económica. Ten-
do dividido o seu estudo em quatro capítulos, o primeiro pretende relacionar a industria-
lização, a urbanização e os transportes públicos, demonstrando que estes últimos não
foram resultado dos dois primeiros, mas antes “(…) a sua determinante principal (…)”,
10 PINHEIRO, 2008, p. 8. 11 PINHEIRO, 2008, p. 78. 12 PINHEIRO, 2008.
5
emergindo como causa e não como efeito e contrariando a tendência sentida na Europa
Central e Ocidental. Os restantes três capítulos analisam, cronologicamente, a evolução
dos transportes, até aos nossos dias, com uma rede alargada fora e dentro da cidade,
dando maior atenção ao seu financiamento, construção e exploração. No que concerne
ao estudo que pretendo realizar esta é uma obra de relevo pois, no terceiro capítulo, o
autor aborda o início da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, que monopolizou a rede
urbana da capital e, no quarto momento, desenvolve a passagem da tracção animal para
a tracção eléctrica, com a emergência do eléctrico, concorrente do ramal de Cascais no
seu troço urbano.13
A evolução da C.C.F.L., entre 1850-2006, é desenvolvida por António Ventura
nos três volumes que compõem a História da Companhia Carris de Ferro de Lisboa em
Portugal. Estes retratam não só a conjuntura das várias épocas, como também a inter-
venção desta empresa na cidade, durante os seus 133 anos de existência, reflectindo
sobre o seu contributo para o desenvolvimento e modernização da capital e para o deli-
mitar de soluções perante a crescente necessidade de mobilidade da população. O de-
senvolvimento da companhia é perspectivado nesta colecção como, simultaneamente,
causa e efeito da expansão urbana. De acordo com este último dado, esta obra constitui
um ponto de partida para estudar os limites da cidade de Lisboa, permitindo analisar os
reflexos do caminho-de-ferro e do eléctrico no processo de suburbanização da mesma.14
O artigo de Gilberto Gomes, Lisboa: a plataforma portuária e as ligações ferro-
viária, embora não se debruçando concretamente sobre o ramal de Cascais, também o
refere, nomeadamente, pelo carácter indissociável entre a construção da via-férrea e as
obras daquele porto. Considerando a importância do desenvolvimento dos transportes
para o progresso industrial, o autor opta por tratar as infra-estruturas portuárias, cuja
ligação ao caminho-de-ferro era da maior importância, contexto em que insere o objecto
de estudo da presente dissertação. A construção do ramal, tal como as obras do porto de
Lisboa, implicavam a conquista de terrenos ao Tejo, sendo que a morosidade das obras
do segundo atrasavam a edificação do primeiro, realizado e inaugurado por secções. É
de acordo com esta relação dual que Gilberto Gomes apresenta algumas referências ao
13 VIEIRA, 1982 e VIEIRA, 1980. 14 VENTURA, 2006.
6
caminho-de-ferro de Cascais, importantes para compreender a construção segmentado
do mesmo.15
Num prisma técnico, mas que favorece a compreensão dos benefícios da electri-
ficação, destaca-se o artigo “Substituição do motor a vapor pelo motor de corrente con-
tínua nas locomotivas do Caminho de Ferro”, de F. A. Velho da Costa. O autor aponta a
importância da modernização eléctrica das vias-férreas suburbanas, entre as quais a de
Cascais, tornando-as concorrenciais em termos de rapidez e custo face ao automóvel.
Electrificadas estas linhas poder-se-ia proceder à modernização da rede geral. Como
forma de conclusão, o autor aponta as vantagens da adopção da energia eléctrica no
sector férreo, em detrimento da tracção a vapor. Na continuidade da modernização do
ramal, acrescente-se o artigo de Luís Cruz, “A electrificação da linha de Cascais”, re-
centemente publicado e que, não obstante o seu carácter descritivo, apresenta informa-
ção inovadora referente à relação entre as Companhias Reunidas de Gás e Electricidade
(C.R.G.E.) e a Sociedade Estoril.16
Acrescente-se a dissertação de mestrado de Manuel Ribeiro, que pretende estu-
dar “(…) a influência do caminho de ferro na modernização das infra-estruturas e nas
transformações urbanísticas em Sintra. O objectivo central deste trabalho é, assim, ligar
essas transformações à construção do caminho de ferro”.17 Para tal, o autor divide o seu
estudo em dois momentos, um correspondente à edificação da linha de Sintra, essenci-
almente vocacionada para práticas de lazer (tal como a de Cascais) e, outro, onde anali-
sa os seus reflexos, repercutindo-se na ocupação demográfica do espaço, o que implicou
uma «reestruturação» e adaptação do urbanismo pré-existente. Seguindo o mesmo tipo
de análise e debruçando-se sobre a mesma vila, evidencia-se Sintra: caminhos-de-ferro
e crescimento urbano no concelho. Contribuição para um estudo, de Jorge Trigo, que
começa por fazer uma referência à situação urbanística anterior à presença do caminho-
de-ferro, para depois estudar os projectos para construção da linha de Sintra, até àquele
que foi concretizado, mencionando elementos relacionados com a sua inauguração tais
como: estações e apeadeiros, horários, movimento de passageiros, preço das viagens e a
sua qualidade. Fazendo um contraponto com a altura em que Sintra não possuía cami-
15 GOMES, 2009. Sobre a história deste porto acrescente-se a obra da Administração do Porto de Lisboa, intitulada 100 Anos do porto de Lisboa (1897). 16 COSTA, 1929 e CRUZ, 2011. 17 RIBEIRO, 2002, p. 5.
7
nho-de-ferro, Jorge Trigo analisa, sinteticamente, a influência da linha de Sintra no
crescimento do concelho por ela servido.18
No que concerne à linha marginal, devem-se destacar alguns estudos gerais que
tratam não só o crescimento da vila de Cascais e do espaço circundante, a sua vida
política, orgânica administrativa, desenvolvimento económico-financeiro e cultural,
como também referem, de forma breve, a evolução dos transportes, anterior e posterior
ao aparecimento do caminho-de-ferro, contrapondo ambos os momentos em termos de
melhoria da segurança, tempo e comodidade de deslocação. Incluo neste contexto as
obras de Ferreira de Andrade, de Branca de Gonta Colaço e Maria Archer, destacando,
particularmente, as teses de mestrado e doutoramento de João Henriques, relativas à
Costa do Sol entre 1850-1930, nas quais são dedicadas breves páginas à construção do
ramal de Cascais e, ainda menos, à sua eléctrificação (o autor optou por se centrar no
projecto turístico de Fausto de Figueiredo). Qualquer uma das obras destes autores apre-
senta um carácter descritivo.19
Quanto a um estudo genérico do caminho-de-ferro de Cascais, tanto da sua cons-
trução como electrificação, destaca-se o IV volume da colecção de Manuel Ribeiro, Os
comboios de Portugal: do vapor à electricidade, o qual contou com a colaboração de
José da Silva Ribeiro e que apresenta uma parte dedicada ao ramal de Cascais, caindo
no mesmo problema de uma análise narrativa, quanto aos marcos históricos desta via-
férrea.20
Mencione-se ainda o recente artigo, “Viagem na Linha de Cascais nos primeiros
dias de abertura ao Público”, de Ana Abrantes, que começa por introduzir o novo con-
ceito de viagem desenvolvido em Oitocentos, nomeadamente, com a emergência das
viagens de lazer e turismo, favorecidas pelos meios de transporte, com destaque para o
caminho-de-ferro, que estimulou uma progressiva massificação desta prática. “Consci-
entes dessa possibilidade, as próprias empresas que exploravam as linhas férreas ofere-
ceram um conjunto de ofertas comerciais que visavam o incentivo à viagem; publicaram
guias de viagem, aplicaram tarifas especiais (…).21 Feita esta abordagem inicial, a auto-
ra analisa a viagem inaugural da linha de Cascais “(…) através dos relatos de duas pu-
blicações periódicas – O Ocidente e A Gazeta dos Caminhos de Ferro Portugueses.
18 SILVEIRA, 2011, RIBEIRO, 2002 e TRIGO, 2000. 19 ANDRADE, 1975, ANDRADE, 1969, COLAÇO, 1999,HENRIQUES, 2004 e HENRIQUES, 2008. 20 RIBEIRO, 2008. 21 ABRANTES, 2012, p. 30.
8
Estas duas publicações, com objectivos diferentes têm em comum não só a descrição de
viagens nacionais e estrangeiras, [como] informações sobre as linhas ferroviárias que se
vão construindo em Portugal (…)”.22 Desta forma, Ana Abrantes descreve a abertura do
ramal e a forma como esta foi perspectivada na opinião pública o que apresenta um pon-
to de contacto com o estudo inaugural da linha férrea atempadamente desenvolvido.23
Sobre as cidades de Lisboa e do Porto deve-se referir o artigo de Álvaro Ferreira
da Silva e a obra, de Teresa Rodrigues, Nascer e morrer na Lisboa oitocentista: migra-
ções, mortalidade e desenvolvimento. Para o caso específico da capital portuguesa, des-
taca-se ainda A cidade de Lisboa: de capital do império a centro da metrópole, de Ví-
tor Matias Ferreira e, analisando a história da mesma desde a ocupação romana ao 25 de
Abril de 1975, Biografia de Lisboa, de Magda Pinheiro.24
É ainda de referir estudos relacionados com a actividade turística e, em particu-
lar, com o Parque Estoril. Sobre o turismo balnear em Portugal (1759-1974), apesar de
ter como estudo de caso a Costa da Caparica, emerge a dissertação de mestrado de Pe-
dro Martins que, indo ao encontro do presente estudo, apresenta elementos relacionados
com as praias da linha marginal de Lisboa a Cascais e com o Parque Estoril. A esta refe-
rência e debruçando-se, essencialmente, sobre os «Estoris» e o Parque Estoril, some-se
o artigo de Cristina Carvalho, “1930s Estoril: How Electricity and Concrete Roads sha-
ped a Tourist Resort”, que começa por descrever como eram os «Estoris», caminhando
para a emergência do Parque Estoril e a sua relação com o caminho-de-ferro, contexto
em que refere como eram as viagens entre Lisboa e o Estoril antes da electrificação do
ramal, temática que desenvolve, e referindo ainda a emergência do automóvel nos anos
30 do século XX.25
Como se pode verificar não existe qualquer trabalho de fundo relativo à linha de
Cascais, sendo as referências pontuais e, frequentemente, circunscritas em estudos mais
amplos, quer gerais dos caminhos-de-ferro, quer no que concerne à dinâmica do espaço
costeiro em que a linha integra. É neste contexto que proponho como objecto de estudo
a linha de Cascais, no período compreendido entre meados dos anos 50 do século XIX e
22 ABRANTES, 2012, p. 30. 23 ABRANTES, 2012. 24 SILVA, 1997, FERREIRA, 1987, RODRIGUES, 1995 e PINHEIRO, 2011. 25MARTINS, 2011 e CARVALHO, 2011.
9
a década de 20 do século XX. Todavia, este último ano não deve ser considerado como
um limite absolutamente estanque. Desta forma pretende-se proceder a uma abordagem
histórica dual: por um lado, centrando-se no caminho-de-ferro e, por outro, pendendo
para um cariz regional, circunscrito à zona ribeirinha entre o Cais do Sodré e Cascais.
A ideia base parte da seguinte verificação: o fito inicial de construção do ramal
de Cascais era, essencialmente, turístico, mas este acabou por se tornar um caminho-de-
ferro que estimulou o incremento de população de facto das povoações por ele atraves-
sadas. Desta forma, visou-se estudar os vários projectos anteriores à outorga e constru-
ção do ramal de Cascais pela C.R.C.F.P., bem como as várias forças que se encontra-
vam em «jogo», a forma como a C.R.C.F.P. emergiu como concessionária e os objecti-
vos de edificação do ramal de Cascais, nomeadamente, o seu fito turístico, a criação de
uma circunvalação à cidade de Lisboa, acompanhando a zona ribeirinha para Oeste da
capital e, simultaneamente, uma ligação ao porto de Lisboa.
Simultaneamente, importava desvendar os motivos que levaram à electrificação
da linha de Cascais, os negócios que lhe foram inerentes e a intervenção de Fausto de
Figueiredo neste processo, uma figura incontornável da oligarquia portuguesa do final
do século XIX, início do século XX e indissociável do pioneirismo da modernização
ferroviária em Portugal. O nome deste empresário ficou não só associado à aplicação da
energia eléctrica, como uma nova área industrial, como também a um novo sector eco-
nómico, o turismo, materializado no seu projecto para o Parque Estoril que será analisa-
do não à luz das questões físicas e arquitectónicas do espaço, uma vez que estas já fo-
ram estudadas, mas considerando os princípios e a ideologia subjacente à construção de
tal empreendimento.
Tendo em mente a circulação dos passageiros na linha de Cascais, constitui ain-
da um dos objectivos do presente estudo verificar o papel deste caminho-de-ferro no
turismo, uma vez que este foi um dos fitos iniciais da sua construção. Indo mais além,
procurou-se discernir se os reflexos do ramal de Cascais se circunscreveram apenas a
este novo sector económico, ou se também se reflectiram na suburbanização de Lisboa,
com base no crescimento das povoações por ele servidas, de forma a originar, alguns
anos mais tarde, a Área Metropolitana de Lisboa.
Perante este prisma, o presente estudo encontra-se dividido em três capítulos: o
primeiro, referente à história da construção do ramal de Cascais, desde os projectos ini-
10
ciais de edificação da linha, à concessão da sua construção e exploração à C.R.C.F.P.,
findando, esta primeira parte, com a inauguração desta via-férrea. O segundo capítulo
tratará a modernização do ramal, pela passagem da tracção a vapor para a tracção eléc-
trica, uma progressão aplicada ao caminho-de-ferro pioneira em Portugal e indissociável
do empresário Fausto Cardoso de Figueiredo (1880-1950), bem como do seu projecto
turístico para o Parque Estoril.26
Ambos os capítulos possuem um cariz descritivo e narrativo mas, mesmo assim,
procurando problematizar determinados momentos charneira da história do ramal de
Cascais. Cronologicamente, este primeiro momento situa-se entre meados de 1850 e o
final dos anos 20 do século XX.
O terceiro e último capítulo da presente dissertação, apoia-se em dados estatísti-
cos e representações gráficas, correspondendo à análise do tráfego de passageiros desta
via no que concerne aos seus quantitativos gerais, por secção e dentro de cada secção
(urbana e rural), incluindo uma abordagem micro-espacial, ao nível da estação.
No que respeita à análise do tráfego de passageiros, esta corresponde ao período
cronológico compreendido entre 1894, quando surgem os primeiros dados ao nível da
estação para o ramal de Cascais, findando em 1917. Este ano constitui o último de ex-
ploração da C.R.C.F.P. e, a partir de então, deixaram de existir dados de tráfego tão de-
talhados descritivos deste caminho-de-ferro. As referências nos Resumos Estatísticos da
C.R.C.F.P. passaram a ser, meramente, associadas ao tráfego geral.
Com base nos quantitativos da circulação de passageiros entre secções e por es-
tação, procurou-se articular estes dados ao recenseamento populacional, o que permitiu
estudar a forma como o acesso ao caminho-de-ferro influenciou o crescimento das po-
voações por ele servidas e, assim, estimulou o processo de suburbanização da cidade de
Lisboa para Oeste, junto à zona ribeirinha do Tejo.
O crescimento dos centros de povoamento constitui uma temática pouco estuda-
da, não só no que concerne à linha marginal que liga a Cascais, como a outros espaços
26 Não estando disponíveis para consulta os dados estatísticos que permitam analisar o tráfego de passa-geiros no ramal de Cascais com uma periodicidade mensal, não foi possível analisar a questão turística quantitativamente. Desta forma, uma vez que o turismo, enquanto actividade económica, emergente, já se encontrava traçado como um tópico a desenvolver no presente estudo, optou-se por abordar os princípios e a ideologia inerente à construção do projecto turístico do Parque Estoril, uma vez que a sua construção e arquitectura já se encontram estudados. Desta forma, este tópico será relacionado e inserido no contexto da electrificação da linha e o carácter visionário do seu empreendedor.
11
suburbanos das cidades portuguesas, motivo pelo qual existem algumas questões à quais
se pretende responder: terá este meio motivado e estimulado o processo de suburbaniza-
ção da zona litoral, na medida em que circunvala a capital e o seu lado Oeste ribeirinho?
O caminho-de-ferro terá motivado o crescimento dos espaços por ele servido na área
suburbana e rural perto da cidade de Lisboa? Ou terá o ramal de Cascais apenas tido
importância na sua secção urbana, entre o Cais do Sodré e Pedrouços?
Para a elaboração deste estudo e consequente resposta às perguntas enunciadas
recorreu-se, essencialmente, a fontes manuscritas e impressas pois, como referido, a
bibliografia apresenta meros apontamentos, não havendo, até à data, um trabalho de
fundo sobre a linha de Cascais e seus reflexos segundo os parâmetros delimitados.
Neste sentido, os dois primeiros capítulos baseiam-se na documentação guarda-
da na Fundação Museu Nacional Ferroviário – Armando Ginestal Machado e no Arqui-
vo Histórico e Fotográfico da C.P. Ambos apresentam informação bastante detalhada,
quer no que concerne à construção quer à electrificação. Procurou-se ainda conciliar os
dados destes arquivos com a documentação da Assembleia da República, nomeadamen-
te, propostas, decretos-lei e debates parlamentares da Câmara dos (Senhores) Deputados
e da Câmara dos Pares do Reino, disponíveis on-line (em
http://debates.parlamento.pt/?pid=r3). Estes últimos foram essenciais para discernir os
acontecimentos anteriores à concessão do ramal à C.R.C.F.P., bem como para estudar
os problemas inerentes a esse processo e à delimitação dos projectos e traçados a apli-
car. A estas fontes some-se a imprensa da época, essencial para estudar a inauguração
do ramal de Cascais. Contudo, ao contrário do que seria de esperar, uma vez que a inau-
guração foi feita por troços, a imprensa nem sempre abordou estes momentos e, quando
o fez, não foi tratada de forma detalhada, contexto em que a Gazeta dos Caminhos de-
Ferro se revelou determinante, colmatando algumas dessas lacunas.
Para o estudo da vertente turística, materializada no Parque Estoril, serviu-se da
informação bibliográfica, articulada ao próprio projecto para construção do mesmo inti-
tulado Estoril – Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva.27
27 Estoril – Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, 1914.
12
No que diz respeito ao terceiro capítulo do presente estudo, destaca-se a infor-
mação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística, nomeadamente, o Anuário
Estatístico de Portugal, os relatórios do conselho de administração da C.R.C.F.P. e os
resumos estatísticos da mesma Companhia, que permitiram analisar o tráfego de passa-
geiros quantitativamente. Contudo, deve-se salvaguardar que os dados contidos nestas
publicações não são homogéneros, quer no período cronológico por eles abrangido quer
no tipo de informação que disponibilizam. Para analisar a dimensão do processo de
suburbanização e a forma como este se desenvolveu, tornou-se essencial recorrer aos
censos populacionais (1878, 1890, 1900, 1911, 1920, 1930, 1940). No aprofundamento
de ambas as análises foram utilizados, como ferramentas essenciais, os SIG.
Perante a falta de estudos sobre a linha de Cascais e considerando a hipótese ac-
tual de encerramento da mesma, é relevante estudá-la. Sendo, nos dias de hoje, conside-
rada arcaica, esta constituiu uma das linhas portuguesas com maior dinamismo: foi o
meio de deslocação da família real e sua Corte para um dos vértices da sua tríade de
veraneio (Lisboa-Sintra-Cascais), tendo a vila sido eleita para tal fim a partir do reinado
de D. Luís I (1838-1889, r. 1861-1889); foi pioneira no contexto da electrificação férrea
em Portugal; dinamizou o turismo nacional na Costa do Sol, onde no contexto da II
Guerra Mundial se concentraram muitos monarcas exilados, bem como figuras de
prestígio da sociedade portuguesa e internacional; e, ajudou na promoção da
suburbanização de Lisboa. Há que fazê-la perdurar na memória, emergindo o presente
estudo como um contributo tanto para a história dos caminhos-de-ferro como para a
história regional.
14
1. Os primórdios da ideia de ligação de Lisboa a Cascais.
Ao longo do século XIX a zona marginal que liga Lisboa a Cascais viu a sua
atractividade crescer, com particular destaque para a vila de Cascais, espaço eleito para
repouso e banhos de mar, evasão ao «turbilhão» da capital e ao seu calor durante o Ve-
rão.28 Cascais passou, assim, a integrar “(…) um dos vértices do triângulo do lazer deli-
neado pelos monarcas”, conjuntamente com Lisboa e Sintra.29
Foi, sobretudo, a partir de 1870, quando a rainha D. Maria Pia (1847-1911) pas-
sou a sua primeira estadia em Cascais, que a posição desta vila se tornou determinante
no contexto da tríade, suplantando o relevo de Sintra, cujas estadias passaram a ser mais
curtas, em detrimento do crescente gosto pelas praias: “a vilegiatura marítima veio (…)
produzir algumas modificações nos hábitos do veraneio em Sintra”.30 Tal levou D. Luís
I (1838-1889) a fazer da Cidadela de Cascais a sua residência entre meados de Setembro
e Novembro, atraindo a corte e instigando a prática de uma vilegiatura sazonal, que se
foi «estendendo» à restante aristocracia. Cascais passou a constituir a “(…) primeira
estância de turismo do País”.31 Este foco turístico teve continuidade com D. Carlos I
(1863-1908), o qual tornou a vila verdadeiramente cosmopolita: “do teatro aos despor-
28 Não se deve descurar, igualmente, a importância das zonas envolventes da vila, detentoras de termas e águas medicinais. Aos poderes curativos da água se ficou a dever a notoriedade de toda a região do Esto-ril, em particular, dos banhos da Poça, importância que remonta a D. José I (1714-1777; reinado 1750-1777), que aí curou as chagas de que padecia nos membros inferiores, hospedando-se no palácio do seu ministro, Marquês de Pombal, em Oeiras. Acresce que, desde o século XVIII, esta região era um chama-riz para a classe médica e doentes, não existindo ainda, todavia, explicação para os poderes curativos da água. Memôria sobre a utilidade, e uso medicinal dos banhos do Estoril, 1939, pp. 3 e 5. 29 HENRIQUES, 2004, p. 121. 30 RIBEIRO, 2002, p. 24. 31 ANDRADE, 1969, p. 183. “Em 1871, procedem-se as obras de adaptação da casa do governador da Cidadela, a Residência Real” (ABRANTES, 2011, p. 31). Tal justifica que Cascais tenha constituído (e ainda constitua) o local da “(…) sociedade elegante” (ANDRADE, 1969, p. 185), fazendo crescer a vila para zonas como o Monte Estoril e o Estoril, espaços pontuados por villas de tipo italiano e chalets de estilo francês e suíço, pois este estrato elevado não se misturava com a população residente, tendencial-mente pobre. Como refere Pedro Falcão: “(…) «no meu Cascais Menino há dois grupos distintos: os que vêm passar o Verão e os que ficam no Inverno. São grupos completamente diferentes que mal se toleram, quase se desprezam. Quando está quase a acabar a temporada, os que cá ficam estão ansiosos por que os “lisboetas” se vão embora. E nós, os de Cascais, estamos como quando se recebe uma visita em casa. Gostamos que esteja, mas quando já é tempo de mais, ansiamos por que se vá»” (Pedro Falcão in HEN-RIQUES, 2004, p. 124). Sobre esta vila refira-se a obra Cascais, de Raquel Henriques da Silva.
15
tos, das touradas e dos concertos às festas na baía, a vila vê-se envolvida, nesses meses
em que a família real habitava a Cidadela, numa verdadeira atmosfera turística”. 32
O crescente ascendente de Cascais implicava a existência de ligações entre esta
vila, Sintra e Lisboa. A ligação entre Cascais e Sintra está relacionada com o que Pedro
Martins designa “(…) de afirmação de um conceito social de vilegiatura que é tripartido
(…)”: o campo, aqui associado a Sintra; a praia, compreendendo o espaço costeiro entre
Lisboa a Cascais; e, as termas, particularmente relacionadas com «os Estoris». As des-
locações tinham como base as estradas existentes, nomeadamente, a estrada que ligava
Cascais a Oeiras (concluída em 1862) e a que conectava Sintra a Cascais (inaugurada
em 1868), consolidando o elitismo da praia da vila, pois as famílias que passavam o
Verão nas quintas em Sintra podiam, desta forma, ir tomar banhos a Cascais.33
A conexão a Lisboa pode ser associada a movimentos excursionistas (de ida e
retorno num mesmo dia), o que implicava o desenvolvimento de meios de transporte de
ligação urbana, suburbana e rural. Não estando as estradas existentes em bom estado (e
existindo um obstáculo no caneiro de Alcântara), as viagens eram morosas e desagradá-
veis, imperando a necessidade de um meio alternativo. Foi neste contexto que o cami-
nho-de-ferro se tornou determinante, surgindo a ideia de ligação a Cascais com base na
Linha de Sintra, como de seguida se desenvolverá e, assim, unindo a tríade sob o signo
das vias-férreas.34
32 ANDRADE, 1969, p. 184 e MARTINS, 2011, p. 27. Contudo, à data, Cascais ainda não tinha a maioria das infra-estruturas que fariam dela uma estância balnear de renome. Só com a presidência da C.M.C. por Jaime Pinto (1890-1909) é que se levaram a cabo obras de melhoramento na vila, tendo-se construído a Avenida D. Carlos I e o Passeio Maria Pia (1891), zonas de lazer como a Esplanada Príncipe Real Luís Filipe (1896) e encetando-se modernizações como a adopção da iluminação a gás (1899). Assim, aquando do Regicídio (01.02.1908), Cascais não perdeu a sua importância pela ausência da família real. “Só com a edificação do projecto de Fausto de Figueiredo [anos 1930] é que Cascais começaria a ceder o protago-nismo, em termos turísticos, para o Estoril (…)” (MARTINS, 2011, p. 28). MARTINS, 2011, pp. 27-28. 33 MARTINS, 2011, pp. 17-18 e 26-27. 34 As ligações entre Cascais e Lisboa podiam ser feitas tanto por via terrestre como pelo rio Tejo. No primeiro caso, utilizavam-se trens particulares, char-à-bancs e omnibus, puxados por cavalos ou muares, havendo duas viagens diárias em ambos os sentidos, demorando cada uma 5 horas e ligando a Praça do Pelourinho (Lisboa) ao edifício da C.M.C. De acordo com João Henriques, o responsável pelas carreiras de chars-à-bancs, ripperts e omnibus era José Florindo de Oliveira, sendo o trajecto executado entre Oeiras e Belém, bem como entre S. Julião da Barra e Lisboa e só se estendendo a Cascais por iniciativa de Augusto Sempescoço. O mesmo autor defende que terá sido o filho do primeiro, com o mesmo nome, que terá dinamizado este sector implementado as duas viagens diárias.
No que concerne ao trajecto por rio, destacava-se o vapor Lusitano, pertencente à companhia Vapores Lisbonenses, exploradora dos transportes marítimos entre Lisboa e Cascais, e os vapores de rodas de Frederico Burnay. Inicialmente, ambos transitavam apenas entre o Terreiro do Paço e Belém, mas, inaugurado o troço férreo Cascais-Pedrouços (1889), a Vapores Lisbonenses prolongou o trajecto à
16
2. O principiar dos projectos para construção de um troço do ramal de
Cascais. A linha de Cascais como um braço dependente da linha de Sintra
(1854-1880).
A construção das linhas de Sintra e Cascais permitiram viabilizar as práticas de
veraneio nos espaços por estes servidos e desenvolvê-los enquanto zonas turísticas. Tal
como refere Manuel Ribeiro para o caso de Sintra: “o aumento da rede de comunicações
(…), as facilidades tarifárias e as combinações de horários, através de um número cres-
cente de comboios em circulação, permitiram a estes novos viajantes satisfazer o desejo
de passar um dia ou um fim-de-semana em Sintra”, podendo-se apontar, algumas déca-
das mais tarde, para uma abertura do leque social que afluía às duas vilas.35
Mas não foi só no que concerne ao veraneio que os caminhos-de-ferro foram
importantes. O seu relevo pode-se associar ao crescimento da cidade de Lisboa e conse-
quente desenvolvimento do seu processo de suburbanização. As linhas de Sintra e de
Cascais, seguiram o que José Antunes e Gilberto Gomes apontam como uma tendência
nacional, sentida entre 1880-1891, a edificação de vias em torno dos grandes centros
populacionais (inserindo-se na 2ª fase de construção férrea em Portugal), embora estas
duas vias só tenham beneficiado a extensão da capital para Oeste.36 Ainda que o desen-
volvimento da vilegiatura e do turismo tenham constituído o motivo essencial de edifi-
cação do ramal em estudo, este também teve reflexos na ocupação efectiva/residente do
espaço por ele servido, como se verá adiante. Todavia, na época este aspecto não mere-
ceu o mesmo destaque nas discussões que tiveram lugar.
Não obstante a linha de Sintra e a via-férrea de Cascais, como as conhecemos
hoje, constituírem realidades distintas e a primeira ser anterior à segunda, pode-se con-
vila, com viagens regulares e directas, dotando ainda os vapores de um maior conforto, com salões de fumo e cadeiras estofadas, tornando este meio concorrencial face ao «recém-chegado» caminho-de-ferro.
Previa-se que o ramal de Cascais fosse importante no tráfego de passageiros, “(…) pois é por as-sim dizer uma linha de circunvalação pelo lado do Tejo, que há de fazer concorrência aos americanos e outros meios de transporte, que hoje fazem carreiras entre Lisboa e Belém” (Diário da Câmara dos Senho-res Deputados, Legislatura 26, Sessão 1, 11.05.1888, p. 1562). E foi exactamente isto que aconteceu, a sua extensão ao Cais do Sodré (1895) estimulou “(…) o desaparecimento dos aludidos meios de transpor-te, assumindo-se como um poderoso instrumento de desenvolvimento (…)” (ANDRADE, 1969, p. 112). ANDRADE, 1969, p. 112, Bastão Piloto, 2007, p. 7 e HENRIQUES, 2004, pp. 115-116. 35 RIBEIRO, 2002, p. 10. 36 ANTUNES, 2006, p. 3 e PINHEIRO, 2008, p. 60.
17
siderar que a base da sua construção foi comum, pois os projectos de edificação da linha
incluíam parte do que viria a constituir o ramal.
Em 1854, quando o conde Claranges Lucotte apresentou o projecto pioneiro de
ligação da capital à vila de Sintra criando, para tal efeito, a Sociedade Anónima dos
Caminhos de Ferro e Docas de Lisboa, propôs que a linha seguisse pela margem direita
do Tejo, o que implicava a rectificação e conquista de terrenos ao rio, entre o Cais do
Sodré e Algés, os quais passariam para sua posse.37 O contrato foi assinado entre este e
o governo no mesmo ano e pelo prazo de 5 anos, prevendo uma ligação férrea que, ini-
ciando-se no forte de S. Paulo e acompanhando o Tejo até Belém, seguia pelo vale de
Algés e, via Barcarena, ligava a Sintra, o mais próximo possível do Palácio Real. As-
sim, “a linha seria completada por dois ramais, ambos com partida de Sintra. Um em
direcção a Colares e outro a Cascais”.38 À construção férrea somava-se a edificação de
um cais entre o Arsenal da Marinha e Belém e de docas na praia do Bom Sucesso e en-
tre o Cais do Sodré a Alcântara. Qualquer uma das construções não contava com sub-
venção estatal, devendo as obras ter início um mês após a aprovação dos planos e serem
concluídas em 20 meses, sob pena de rescisão do contrato. Segundo o Director Geral
das Obras Públicas foi o incumprimento desta última cláusula que ditou o fim do acordo
(1861), embora logo em 1856 as obras tenham sido entregues à C.M.L. Não obstante, os
trabalhos chegaram a ter início (1855), nomeadamente, próximo da Torre de Belém, em
cuja praia se deu o acto inaugural da construção desta via-férrea.39
Segundo Gilberto Gomes, nos anos 60, sucederam-se outras propostas. Porém,
este não as desenvolve nem remete para as respectivas fontes o que, associado a uma
37 Em 1846, o engenheiro Dupré alvitrou que a linha férrea do Tejo devia ser construída na sua margem direita, partindo do Cais dos Soldados (Santa Apolónia), pois nesta vertente, não só o solo era mais favo-rável como, saindo do centro da capital, a linha permitiria uma rentabilidade muito superior. Por sua vez, em 1852, o engenheiro inglês Thomaz Rumball invocou que esta acção implicava expropriações de terre-nos industriais na zona ribeirinha, impondo-se este facto como um entrave, ao mesmo tempo que se isola-va a parte oriental da cidade. Assim, o mesmo propôs que a estação terminal se localizasse próximo do Intendente, ligando a Santa Apolónia. Só em 1855 esta última passou a ser considerada, definitivamente, estação terminus da via-férrea do Tejo o que, em parte, está relacionado com a tentativa de articulação do caminho-de-ferro ao porto de Lisboa. PINHEIRO, s.d., p. 2 e ANTUNES, 2006, p. 3. Claranges Lucotte era o “empreiteiro francês da ponte suspensa do Douro e subempreiteiro das estradas do Minho” (TRIGO, 2000, P. 21). 38 TRIGO, 2000, p. 22. 39 A Sociedade Anónima dos Caminhos de Ferro e Docas possuía a sua sede administrativa em Paris e Lisboa (estatutos aprovados pelo decreto de 23.11.1859). De acordo com Jorge Trigo, o objectivo do conde, mais tarde alcançado, era conseguir apoio em Paris para formar uma Companhia. RIBEIRO, 2002, pp. 28-31, GOMES, 2009, p. 2, FINO, 1883, p. 51, VENTURA, 2006, p. 88, TRIGO, 2000, pp. 21-22 e PINHEIRO, s.d., p. 3.
18
lacuna documental a respeito do ramal de Cascais anterior à proposta de Hersent e con-
sequente intervenção da C.R.C.F.P., dificulta o estudo das décadas de 1860 e 1870. Esta
lacuna é igualmente sentida na restante bibliografia, a qual tratando o primeiro projecto
(de Lucotte), não refere os intermédios até 1887, quando a construção e exploração do
ramal foi concedida à C.R.C.F.P.
Não obstante, importa mencionar as propostas invocadas por Gilberto Gomes:
em 1861, foi apresentado o projecto Chemin de Fer et Doks de Lisbonne que, seguindo
os moldes do anterior, visava a construção de uma via-férrea rumo a Sintra que passasse
pela margem direita do rio Tejo, conquistando-lhe terrenos destinados a instalações por-
tuárias e particulares.40 Não apresentando os motivos pelo qual este projecto não foi
avante, o mesmo autor refere ainda que “no início da década de sessenta, novas propos-
tas foram apresentadas por Notman e Clear, J. D. Powels, conde de Lucotte, Herbert
Debrousse e João Evangelista de Abreu”.41 Não é dito, porém, se estas propostas impli-
cavam uma ligação directa de Lisboa a Cascais ou se a mesma seria indirecta, tendo
como destino Sintra. Subentende-se que fosse este último caso a vigorar, considerando
que na década posterior a construção do caminho-de-ferro de Cascais contínua a ser um
braço dependente dos projectos para a linha de Sintra.
Para a década de 1870 Gilberto Gomes refere o plano de Aimé Thomé de Ga-
mond (1807-1876), que retomava a construção da linha de Sintra, que sairia de uma
estação da linha de Leste, acompanhando a margem direita do rio até Caxias e sendo
este troço construído pela conquista de terrenos ao Tejo. “Passaria a seguir por Paço de
Arcos, Oleiros, São Julião, Murtal, Estoril e Cascais. Daqui dirigir-se-ia a Sintra, por
Alcabideche, lateralmente à estrada que já existia. Terminaria finalmente em Colares”,
contando com 45 quilómetros, 6 dos quais no troço urbano.42 Jorge Trigo refere que este
projecto era dedicado ao duque de Saldanha, “(…) por quem o engenheiro francês nutria
uma profunda estima e antiga simpatia, rogando-lhe a aceitação do trabalho. (…) O Ma-
rechal Duque de Saldanha chefiava na altura o governo e o engenheiro francês esforça-
40 Desde os primórdios da ideia de construção do ramal de Cascais que à sua edificação estavam inerentes as obras necessárias no porto de Lisboa, o que passava pela conquista de terrenos ao rio Tejo. Tal consti-tuiu uma realidade em 1860, tal como o veio a ser na década de 70 ou mesmo aquando da concessão da construção e exploração à C.R.C.F.P., sendo, portanto, transversal a qualquer um dos momentos. 41 GOMES, 2009, p. 3. 42 TRIGO, 2000, p. 39.
19
va-se para que as suas propostas tivessem a sua aprovação.”43 Magda Pinheiro acrescen-
ta que este projecto visava engrandecer Lisboa pela utilização dos aterros a Oeste do
Cais do Sodré, destinados à construção de uma grande avenida e de um parque em Al-
cântara, enquanto o espaço a Este do Terreiro do Paço seria ocupado por docas comer-
ciais e um bairro operário.44 Assim, em 1874 foi assinado o contrato “(…) entre o go-
verno e o príncipe Adam Wisziewski, Augusto Bloudat, conde de Clarange Lucotte,
Hermano Frederico Moser e Henriques Maia Cardoso, para a construção de um muro de
cais e aterro, de docas e de um caminho-de-ferro, na margem direita do Tejo”, no prazo
de 4 anos. Porém, este caducou por incumprimento das cláusulas estipuladas.45
Já no final da década de 1870, foi aprovada a primeira lei ferroviária nacional
(1879). No que concerne às linhas suburbanas, esta propunha a construção de uma liga-
ção entre Lisboa, Sintra e Cascais, face à “(…) carência de comunicações para os arra-
baldes aprazíveis que o crescimento da população, tornava patente. Mas até 1880 nada
foi construído”.46 Tal revela uma consciencialização progressiva de que a linha de Sin-
tra e a de Cascais não teriam apenas um fito turístico e de veraneio. Estas eram, igual-
mente, meios essenciais para o crescimento da cidade de Lisboa, que se expandia para o
espaço que lhe era limítrofe atendendo aos primórdios do processo de suburbanização.
3. As primeiras propostas de construção do ramal de Cascais: de Hersent à
emergência da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses.
A lacuna documental para o período compreendido entre 1854-1880 persiste a
respeito da concessão do ramal de Cascais desconhecendo-se, de forma aprofundada,
projectos apresentados por outras empresas – terão as propostas de Hersent e da
C.R.C.F.P. sido as únicas? As fontes, e a própria bibliografia, só apresentam referências 43 TRIGO, 2000, p. 35. 44 GOMES, 2009, p. 2-3 e PINHEIRO, s.d., p. 5. 45 FINO, 1883, p. 268 e TRIGO, 2000, p. 37. Este contrato ia ao encontro do pretendido na comissão nomeada a 9 de Setembro de 1870 para estudar os melhoramentos do porto de Lisboa e engrandecer a capital, motivo pelo qual foi aprovado – “embora a comissão tivesse uma forte componente militar, estu-dou globalmente o problema da defesa da cidade, dos cais e docas comerciais e industriais, da higiene e até da urbanização dos terrenos a conquistar. Propôs a construção de um caminho-de-ferro que ligasse o Cais dos Soldados à nova doca de Alcântara” (PINHEIRO, 2008, p. 71). 46 PINHEIRO, 2008, pp. 71-72.
20
mais sólidas a partir da efectivação da concessão, nomeadamente, a partir do alvará de
1887, abordado no ponto seguinte, e que entrega a concessão do ramal à C.R.C.F.P.
Como excepção, destacam-se as referências nos debates parlamentares ocorridos no
âmbito da Câmara dos Senhores Deputados.
Nesta última (18.04.1888) foi referido que o Estado possuía o “(…) pleno arbí-
trio de escolher entre os concorrentes, por mais numerosos que fossem, o que bem lhe
agradasse, porque era a ele que competia decidir quais as obras complementares ou
quais das cessões de vantagens eram mais úteis ao estado (…)”. Desta forma, apresenta-
ram-se ao concurso duas entidades “(…) que estão consideradas, na opinião pública,
como quinto e sexto poder do Estado, poder que exercem, alternada e às vezes conjun-
tamente. Estas entidades são a Companhia dos Caminhos de Ferro do Norte e Leste, de
um lado, e o Burnay de outro”.47 É de salientar a ausência de informação quanto à pro-
posta de Henry Burnay (1838-1909), a qual nunca aparece na documentação relativa à
concessão e construção do ramal, ausência essa que também se faz sentir nos debates
parlamentares, com excepção desta referência e de uma outra constante na Gazeta dos
Caminhos de Ferro, de seguida apresentada.48 À proposta da C.R.C.F.P. e do empresá-
rio Burnay acrescente-se a de Pierre Hildernet Hersent (s.d.).49
Tanto a proposta mencionada como tendo sido apresentada por Burnay como a
de Hersent devem ser enquadradas no âmbito da comissão nomeada para o estudo dos
melhoramentos do porto de Lisboa (1883), a qual propôs a construção de um cais entre
Santa Apolónia e Alcântara (primeira secção das obras desse porto), incluindo um ca-
minho-de-ferro com duas estações intermédias. “Aprovado pelas Comissões Parlamen-
47 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 25.04.1888, p. 1236. 48 Na procura de informação sobre a proposta de Henry Burnay para construção e exploração do ramal de Cascais impuseram-se alguns entraves para além dos mencionados: a documentação referente ao mesmo, presente na Torre do Tombo (fundo: PT/TT/HB), encontra-se em processo de tratamento. Procurou-se discernir se documentação considerada pertinente para a presente análise se encontrava disponível para consulta. Tendo-se realizado um levantamento e feito a leitura da mesma, chegou-se à conclusão de que não permitia reflectir sobre o tema em causa. Por outro lado, verificou-se se existia alguma relação entre as propostas de Burnay e Hersent. Tendo-se analisado correspondência (disponível) entre ambos, conclu-iu-se que a mesma não referia qualquer tópico no que concerne à proposta do empresário Burnay. 49 Hersent era um conhecido engenheiro de portos marítimos já tendo, à data, edificado os portos de An-vers, Philippeville, Saignon, entre outros. Por ser conhecido em toda a Europa, alguns membros da Câma-ra dos Senhores Deputados criam que a sua proposta para as obras da primeira secção do porto de Lisboa (entre Santa Apolónia e Alcântara-Mar) era a mais vantajosa, útil e barata. Àqueles que criticavam a falta de patriotismo por se entregar a obra a um estrangeiro, era referido que Hersent moveu, em seu torno, a sua própria onda patriótica, colocando do seu lado muitos partidos e levando-o a ser perspectivado como um salvador. Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 25, Sessão 2, 25.05.1885, p. 1772; 16.06.1885, p. 2336; 27.06.1885, p. 2664; e, 2681 01.07.1885, p. 2771.
21
tares de Obras Públicas e da Fazenda, o relatório teve um parecer positivo da Junta Con-
sultiva de Obras Públicas, a 21 de Abril de 1884 (…)”.50
Neste contexto, na Gazeta dos Caminhos de Ferro, é referida a apresentação de
dois projectos pelo Grupo Nacional o qual, na sua comissão executiva, integrava, entre
outras empresas, a Burnay & C.ª. Possivelmente, foi neste contexto que surgiu a menção
a Henry Burnay no debate da Câmara dos Senhores Deputados. O projecto referente ao
porto de Lisboa foi elaborado pelo engenheiro francês Adolfo Guerard, director das
obras do porto de Marselha. “As linhas férreas que por esse projecto se estabeleceriam
no Porto de Lisboa, seriam destinadas ao serviço ferroviário dos caminhos de ferro do
N. L. [Norte e Leste] e S.S. [Sul e Sueste], de Sintra e Cascais e de Torres Vedras e Fi-
gueira (…)”. Mais concretamente, no que concerne ao segmento urbano que se estipula-
va para o futuro ramal de Cascais, previa-se uma construção férrea de 10 quilómetros,
que “(…) começando em Santa Apolónia passaria pelo sul da Alfândega e da Praça do
Comércio, seguiria pelo molhe da doca do Arsenal, continuaria pela rua 24 de Julho e
iria passar pela frenda da nova Estação Central dos Caminhos de Ferro, a terminar no
Caneiro de Alcântara, podendo prosseguir até Algés”.51
No entanto, a obra da primeira secção do porto de Lisboa foi adjudicada a Her-
sent, o qual apresentou uma proposta (1887), na qual visava “(…) construir gratuita-
mente (…) um caminho-de-ferro de via reduzida entre Lisboa e as proximidades de Be-
lém, com faculdade para o proponente de o prolongar até Cascais com o seu respectivo
material fixo e circulante para transporte de passageiros e mercadorias (…)”.52 A explo-
ração desta via-férrea era feita por 99 anos e findo este período o caminho-de-ferro pas-
sava gratuitamente para a posse do Estado. Contudo, Hersent não previa mais do que a
construção da via, colocando de parte a rectificação da margem do Tejo até ao Porto
Franco, à Junqueira, imposta pelo programa do concurso de melhoramentos do porto.53
50 PINHEIRO, s.d., p. 7. 51 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 965, 01.03.1928, p. 74. 52 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 07.05.1888, p. 50. De acordo com Paulo Jorge Fernandes, “em Novembro de 1887, o engenheiro francês Pierre Hersent e Henry Burnay ainda disputaram entre si a empreitada das obras de construção do porto de Lisboa, não olhando a meios para assegurar os fins” (FERNANDES, 2010, p. 285). 53 Sobre o porto de Lisboa refira-se a obra 100 Anos do porto de Lisboa. As obras da primeira secção do porto de Lisboa foram entregues a Hersent por contrato assinado a 20 de Abril de1887, entre o Governo e este empreiteiro, no Ministério das Obras Públicas. “Sabia-se que três ou quatro propostas inglesas, uma francesa, a do construtor do porto de Antuérpia, o Sr. Hersent e ainda
22
No contexto dos debates parlamentares é referido que após a aceitação do pro-
jecto de Hersent, salvo na questão da rectificação da margem do rio, a C.R.C.F.P. con-
testou a decisão, invocando que a via-férrea até Alcântara constituía um ramal das suas
linhas, de acordo com o contrato assinado com o Estado a 14 de Setembro de 1859
(aprovado pela lei de 5 de Maio de 1860), apresentando a sua proposta. Esta última foi
entendida como um «grande favor» pois, até então, a Companhia não tinha colocado a
hipótese de integrar este ramal na sua rede, demonstrando “(…) oferecer o serviço pa-
triótico de construir uma linha suburbana, que ligasse o coração da cidade com todas as
linhas férreas que a cingem” o que, por sua vez, era levado a cabo por sua conta própria,
“(…) sem um real de encargos para o tesouro (…)”.54
A consideração da «generosidade» da Companhia acresce quando se constata
que esta não só propunha a construção de um caminho-de-ferro de via larga de Lisboa a
Cascais, com o seu material fixo e circulante, para a deslocação de passageiros e merca-
dorias, a concluir no prazo de 2 anos como, contrariando o motivo que desvalorizou a
proposta de Hersent, “(…) ofereceu-se para fazer as obras da segunda secção [do porto
de Lisboa], de Alcântara a Belém (…)”. Mas a C.R.C.F.P. não se ficou por aqui, projec-
tando ainda “(…) a ligação de concordância das linhas do porto com a estação de Al-
cântara, pagando ela as expropriações; mais a cobertura do caneiro de Alcântara [para a
ligação da estação de Lisboa às linhas de Sintra e Torres Vedras com os cais marginais e
com o ramal a construir] (…), e mais uma linha urbana, com uma estação central pró-
ximo do Rossio [consistindo num túnel que partindo de Alcântara ligasse a esta esta-
ção]”. Registe-se o retomar da ideia subjacente à construção inicial de parte do ramal de
Cascais: a ligação deste à vila a Sintra. Quanto aos terrenos conquistados, a Companhia
cederia ao Estado os necessários ao serviço do rio e à construção de uma avenida com a
outras provavelmente, seriam apresentadas ao governo (…)” (Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 25, Sessão 2, 25.05.1885, p 1772). Tendo este último pago uma caução de 54 000$000, a entrega foi feita pela quantia de 10 790 000$000. Assim, concretizou-se a adjudicação prevista na comis-são nomeada em 1883, estipulando-se que o projecto completo fosse apresentado no prazo de 90 dias a contar de 09 de Abril de 1887 e iniciando-se as obras a 31 de Dezembro do mesmo ano. Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, sessão 2, 30.04.1888, p. 1321 e GOMES, 2009, p. 4. O Porto Franco, desde 1796, ano da sua criação para recepção de mercadorias e géneros de países estran-geiros ou de portos nacionais para lá do Cabo da Boa Esperança (excepto açúcares e tabacos), situava-se no forte de S. João, na Junqueira e terrenos anexos, nos quais foram construídos armazéns. (http://www.dgaiec.min-financas.pt/dgaiec/Templates/Description.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={2ED9FCFD-1803-4C15-8146-0F645D8F6870}&NRORIGINALURL=%2fpt%2fquem_somos%2farquivo_historico%2fnotas_historicas%2f&NRCACHEHINT=Guest#PortFranc (12.09.2012) 54 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 30.04.1888, pp. 1236 e 1290.
23
largura de 30 metros, bem como aqueles que o governo considerasse essenciais à utili-
dade pública (sem exceder os 2 hectares na secção entre Alcântara e Belém).55
Os elementos propostos pela C.R.C.F.P. constituíam uma mais-valia que poupa-
ria muito dinheiro ao Estado. A sua proposta albergava planos plurais, que não passa-
ram despercebidos e estimularam a aceitação do que era proposto. Não tendo o Estado
capacidade para construir, explorar ou sequer apoiar (subsidiariamente) a prossecução
do ramal por outra empresa, esta revelou-se uma alternativa viável e vantajosa. Neste
contexto, o que os debates políticos levam a crer foi que, perante tal atitude da Compa-
nhia, a concessão da construção e exploração do ramal de Cascais foi-lhe entregue, ex-
cepcionalmente, sem concurso público e sem aprovação parlamentar. Assim, “tem-se
explicado esta concessão pelos demasiados favores e protecção que o governo dispensa
à Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses”.56
O que a C.R.C.F.P. pretendia efectuar colmatava, largamente, as lacunas da pro-
posta de Hersent. Contudo, os opositores a esta concessão presentes na Câmara dos Se-
nhores Deputados referiam que “a Companhia não precisava fazer uma estação no Ros-
sio, nem a linha urbana, nem as obras ao Tejo, tudo de graça; mas fez tudo por ciúme;
tudo para fazer ferro ao Hersent (…) mas tudo isto são bagatelas que não explicam a
evolução dos sentimentos patrióticos daquela empresa, postos só em evidência pela ne-
gra emulação que lhe despertou o procedimento do empreiteiro Hersent”57. De acordo
com esta visão era a ambição da Companhia e o seu desejo de monopólio da rede de
caminhos-de-ferro nacional que estava em causa. Magda Pinheiro considera que faltava
à Companhia Real infiltrar-se nos espaços urbanos e suburbanos à grande cidade, pelo
que se antevia que esta “(…) preparava-se para manter o exclusivo das linhas ferroviá-
rias penetrando na capital”, alcançando o exclusivo das vias que ligavam a Lisboa e que
dela partiam.58 Estaria a administração da C.R.C.F.P. a antever os rendimentos subja-
centes ao futuro crescimento urbano e suburbano de Lisboa em direcção a Cascais? In-
cluir o ramal na sua vasta rede, um troço importante no seio da capital e acompanhando 55 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 30.04.1888, pp. 1290 e 1320-1321. Inclua-se, ainda, a construção de duas docas de maré destinadas a embarcações de pequenas dimen-sões, situadas em Santo Amaro e no Bom Sucesso. Mais tarde, a grande afluência ao mercado de peixe de Belém tornou imperativa a construção de uma terceira doca nesta zona. Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 1, Sessão 1, 09.04.1901, p. 4. 56 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 25.04.1888, p. 1236 e 12.08.1887, p. 2513. 57 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 01.05.1888, p. 1353. 58 PINHEIRO, s.d., p. 6 e PINHEIRO, 2008, p. 73.
24
o porto de Lisboa, teria um grande relevo não só no contexto das movimentações intra-
urbanas de passageiros, como no que diz respeito às trocas comerciais que, por conse-
guinte, fariam afluir fortes rendimentos à sua futura concessionária.
É ainda de referir, já após a outorga do alvará de concessão do ramal à
C.R.C.F.P., o requerimento apresentado pelo Sr. William Reeves, datado de dia 13 de
Abril de 1887, o qual oferecia 100 000$000 pela concessão de uma linha que ia de San-
ta Apolónia a Alcântara, e 30 000$000 pelo seu prolongamento até Cascais. Contudo,
esta proposta não vingou e o proponente referiu que “(…) tivera intenção de incluir es-
tes projectos na sua proposta de concurso, mas que o não fizera porque o Sr. Engenheiro
Matos o avisara de que tais caminhos-de-ferro não podiam ser tomados em considera-
ção, conforme o programa do concurso”.59
4. A concessão do ramal de Cascais à Companhia Real dos Caminhos de
Ferro Portugueses.
A concessão da construção e exploração do ramal de Cascais foi entregue à
C.R.C.F.P. pelo alvará régio de 9 de Abril de 1887. Este documento previa a construção
de uma linha férrea que tivesse como pontos extremos o Cais dos Soldados (Santa Apo-
lónia), no centro da capital, e Cascais. Para a construção do ramal dentro da cidade, no-
meadamente, junto à marginal, era imperativa, tal como nas concessões anteriores, a
conquista e rectificação de terrenos junto ao Tejo, na segunda secção das obras do porto
de Lisboa (entre Alcântara-Mar e Belém), tal como a própria Companhia tinha sugerido
(e considerando a adjudicação da primeira secção, entre Santa Apolónia e Alcântara-
Mar, a Hersent). Estes terrenos, correspondentes a 650 000m2, passariam para a sua
posse, detendo esta poder para os transitar para outra(s) entidade(s).60
59 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 30.04.1888, p. 1321. Este também tinha apresentado uma proposta no âmbito das obras de melhoramento do porto de Lisboa. Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 965, 01.03.1928, p. 74. 60 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 1, 09.07.1887, p. 1628, GOMES, 2009, pp. 4-5 e PINHEIRO, 2008, pp. 75-76. O ramal de Cascais não chegou a ter a sua estação terminus em Santa Apolónia, ficando-se pelo Cais do Sodré, como se verá no último ponto do presente capítulo.
25
Relativamente aos terrenos que fossem ocupados com novas ruas, praças e/ou
dependências municipais, a C.M.L. devia indemnizar a Companhia.61 Uma vez que a
construção deste ramal não contava com qualquer tipo de subsídio estatal, era nesta
conquista de terrenos, a saber, no seu elevado valor patrimonial, que residia a mais-valia
e o retorno do investimento. Contudo, as expropriações e indemnizações para a constru-
ção da via-férrea ficavam a cargo da própria C.R.C.F.P., embora numa sessão parlamen-
tar da Câmara dos Senhores Deputados (11.05.1888) se tenha referido que foram poucas
as expropriações realizadas pela Companhia circunscrevendo-se, no âmbito deste estu-
do, aos terrenos necessários para a edificação do ramal entre Belém e Cascais. Por sua
vez, quanto às expropriações “(…) à beira mar, por onde segue a directriz do caminho-
de-ferro, não me parece que arruinassem ninguém e muito menos a patriótica Compa-
nhia Real dos Caminho de Ferro Portugueses”.62
Por não possuir mais de 30 quilómetros de extensão (contando apenas com
25,415 quilómetros), esta linha de caminho-de-ferro tinha a categoria de ramal, sendo
integrado na linha de Leste, à qual ligaria aquando da conclusão das obras da primeira
secção do porto de Lisboa. Na Câmara dos Senhores Deputados (05.05.1888), apresen-
tou-se o significado de «ramal» como uma linha que entronca noutra considerada prin-
cipal. Porém, a atribuição desta característica à via-férrea em estudo gerou discussões na
Câmara, pois os deputados criam que a via era, antes, um prolongamento da linha do
Leste (pois, no projecto inicial, um dos extremos do ramal era em Santa Apolónia).63
Para além de «entroncar» na linha do Leste, previu-se ainda que o ramal de Cas-
cais ligasse à linha de Sintra e Torres Vedras, retomando a anterior tríade que incluía a
cidade de Lisboa e as duas vilas. Não obstante, e por oposição aos projectos iniciais de
construção de parte caminho-de-ferro de Cascais, no alvará em análise já se verifica uma
«autonomização» e um reconhecimento implícito da importância desta vila em relação
61 Exceptue-se a entrega dos terrenos necessários ao serviço do rio, o espaço para construção de uma avenida com 30 metros de largura, 2 hectares na secção entre Alcântara e o Porto Franco e 4 hectares entre este último e o Bom Sucesso, destinados à utilidade pública. GOMES, 2009, pp. 4-5. 62 AHFCP, Alvará autorisando a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses a explorar a linha ferrea directa, 1887, p. 7 e Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 11.05.1888, p. 1561. 63 AHFCP, Alvará autorisando a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses a explorar a linha ferrea directa, 1887, p. 1 e Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 05.05.1888, p. 7.
26
Sintra, considerando que a ligação à primeira já se faz per si, não estando subordinada à
segunda enquanto terminus de uma linha comum.64
Delimitada a categoria e as projecções futuras de ligação do ramal de Cascais à
rede ferroviária nacional, e no que concerne a questões monetárias, o alvará determina-
va que a C.R.C.F.P. “(…) efectuará [a construção] à sua custa, sem subsídio do Estado
nem garantia de qualquer outro beneficio: (…)”. Os estudos e projectos tinham o prazo
de 8 meses para serem apresentados a contar da data do mesmo ofício, determinando-se
que “a construção do ramal de Lisboa a Cascais e da linha urbana começará no prazo de
sessenta dias a contar da data de aprovação dos respectivos projectos pelo governo, e
terminará no prazo de trinta e dois meses a contar da data deste alvará”. O incumpri-
mento dos prazos estipulados implicava o caducar da concessão, a qual podia ser pro-
longada caso o governo assim o pretendesse. Se, por outro lado, a C.R.C.F.P. não apre-
sentasse os estudos, não iniciasse ou não concluísse os trabalhos nos prazos delimitados,
por cada mês de morosidade, pagava uma multa a fixar pelo governo (não inferior a
2000$000 ou superior a 6000$000 mensais).65
Ainda no quadrante financeiro, as “tarifas dos preços para condução de passagei-
ros, gado e mercadorias serão fixadas por acordo entre o governo e a Companhia (…)”.
Na ausência de tal acordo eram aplicadas as tarifas aprovadas por esta última em vigor
nas linhas de Norte e Leste, sendo o preço dos bilhetes alvo de revisão com a periodici-
dade de 5 anos. Acrescente-se que não só as tarifas eram alvo de aprovação do governo,
como também os horários.66 Estaria o governo a tentar balizar o poder da C.R.C.F.P.?
Efectivamente, esta era uma empresa de grandes dimensões e importância no contexto
institucional nacional. Ao submeter à sua aprovação o preço dos bilhetes e os horários,
o governo podia estar a tentar escrutinar o «potentado» desta Companhia, não permitin-
do que a mesma sobrepusesse o seu interesse face ao rendimento a obter, ao interesse do
serviço público e daqueles que, mais tarde, seriam servidos pelo ramal de Cascais.
64 A ligação entre as vias-férreas de Cascais e Sintra passava pela construção de um ramal que as conec-tava, situado entre o Cacém e o Ramalhão, ou qualquer outro ponto que o Governo considerasse preferí-vel. Acrescente-se a edificação, sem subsídio, de “(…) uma via dupla no túnel que ligue a estação central próximo da Praça de D. Pedro à linha de Lisboa a Sintra e Torres Vedras no vale de Alcântara, junto ao aqueduto das águas livres (…).”, tal como proposto pela C.R.C.F.P. AHFCP, Alvará autorisando a Com-panhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses a explorar a linha ferrea directa, 1887, p. 1-3. 65 AHFCP, Alvará autorisando a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses a explorar a linha ferrea directa, 1887, pp. 2, 6 e 6-12. 66 AHFCP, Alvará autorisando a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses a explorar a linha ferrea directa, 1887, p. 10.
27
É ainda de salientar o destaque atribuído à defesa da costa entre Lisboa e Cas-
cais, considerando que o projecto da estação de Caxias e suas dependências, cuja cons-
trução foi imposta por necessidades militares, devia ser aprovado pelo Ministério da
Guerra, tendo o objectivo de apoio estratégico. Esta questão foi discutida num amplo e
aceso debate parlamentar, na Câmara dos Senhores Deputados e na Câmara dos Pares
do Reino, tendo repercussões aquando da apresentação do projecto do traçado do ra-
mal.67 O que estava em causa era a protecção da zona ribeirinha, para a qual a futura
edificação do ramal era considerada prejudicial, o que era agravado quando se contabi-
lizava o dinheiro dispendido na defesa da capital. De acordo com uma referência feita
na Câmara dos Senhores Deputados (14.06.1887), o Ministro das Obras Públicas con-
sultava sempre engenheiros militares para o estudo das vias de comunicação considera-
das importantes, tal como aconteceu para o caso do ramal de Cascais, tendo estes defi-
nido o traçado mais conveniente para a defesa de Lisboa e do seu porto.68 Muitos foram
aqueles que se opuseram à construção desta via-férrea. As problemáticas inerentes à
questão militar e à construção do ramal de Cascais serão desenvolvidas quando se tratar,
de seguida, a apresentação dos projectos para a via em estudo.
No que concerne à apresentação dos projectos e construção do ramal pela
C.R.C.F.P. é de sublinhar que esta foi feita no sentido de Cascais para Lisboa, tendo em
conta o estado e a conclusão das obras do porto de Lisboa: deste modo, foram abertos,
sucessivamente, os troços entre Cascais e a Torre de Belém (Pedrouços), Pedrouços e
Alcântara-Mar e entre este último local/estação e o Cais do Sodré (ver cronologia - ane-
xo I).
Assim, em Julho do 1887, a Companhia apresentou o seu projecto para a secção
entre Cascais e a Torre de Belém (Pedrouços), cumprindo o prazo definido no alvará
régio e demonstrando o seu real interesse na construção e exploração do futuro ramal de
Cascais. Em Setembro, D. Luís aprovou o projecto, definindo algumas condições para a
67 AHFCP, Alvará autorisando a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses a explorar a linha ferrea directa, 1887, p. 8. Foi no seio da Câmara dos Pares que predominaram os debates relativos à defesa da zona costeira de Lisboa e à sua relação com a construção do ramal, temática que se encontra presente, explicita ou implicitamente, em todos os momentos a partir de 1887-1888. Foram ainda aborda-dos outros temas, como a questão das expropriações ou o privilegiar da C.R.C.F.P. no contexto da con-cessão da edificação e exploração, mas com menor desenvolvimento por comparação ao anterior. 68 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 1, 14.06.1887, p. 1221.
28
sua efectivação, as quais se encontram, grosso modo, relacionadas com a prática balnear
e revelam a compreensão da parte do monarca da importância de um caminho-de-ferro
para o desenvolvimento turístico de toda a zona ribeirinha (e não apenas da vila de Cas-
cais). Exemplo disso são as exigências de “(…) que se estabeleçam as passagens de
nível e as superiores e inferiores que forem julgadas necessárias nos diferentes pontos
da linha férrea e especialmente para serviço das praias de banhos (…)”. Também o es-
paço compreendido entre Algés e Dafundo, devia ficar “(…) livre para recreio do públi-
co a parte do actual aterro, que não for indispensável para o estabelecimento das vias
férreas a qual será vedada convenientemente estabelecendo-se passagens que facilitem o
acesso à praia com segurança”. Exigências do mesmo tipo eram feitas em relação à zona
em frente ao antigo convento do Estoril. A estas condições associadas a práticas de la-
zer, some-se uma militar, igualmente presente em discussões parlamentares - o monarca
pretendia “que se projecte a estação de Caxias de modo que possa servir para o rápido
embarque e desembarque de contingente de tropas de qualquer arma e respectivo mate-
rial de guerra (…)”, não descurando o papel de defesa de toda a zona costeira.69
No início de 1888, a Companhia apresentou o projecto definitivo para a secção
referida em dois momentos: primeiro, o projecto para o espaço compreendido entre a
Torre de Belém (Pedrouços) e o Estoril; mais tarde, o do segmento entre o Estoril e
Cascais. Não obstante, na memória descritiva da linha é referido que, por uma questão
de coerência, se tratam ambos os projectos como um todo, o que, possivelmente, pode
estar associado ao facto de terem sido apresentados em datas próximas e por representa-
rem partes de uma mesma secção do ramal de Cascais.70
Este projecto, tido como final, apresenta uma novidade que não constava na car-
ta régia: a Companhia propõe a adopção de via dupla “(…) de Lisboa até à estação do
Estoril. A parte entre Estoril e Cascais é demasiado difícil para permitir o estabeleci-
mento da segunda via; e atendendo à pequena distância entre esta estação e a de Cas-
cais, reconhece-se não haver inconveniente em terminar a via dupla na estação de Esto-
69 AHFCP, Carta de D. Luís I à C.R.C.F.P. aprovando o projecto de 2 de Julho de 1887, 1887, p. 1. 70 FMNF, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Ramal de Sta. Apolónia a Cascaes. Memoria justificativa do projecto rectificado e Processo referente à apresentação por parte da Compa-nhia do projecto definitivo da secção entre Belém e Cascais - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0447: Aprova-ção do projecto entre Belém e Cascais (1888.01.16 – 1888.04.26).
29
ril”.71 Tal foi determinado no contrato de empreitada assinado com os engenheiros Jean
Alexis Duparchy e Edmond Bartissol (1887), os quais ficaram encarregues de construir
a estação do Cais do Sodré e a ligação entre Pedrouços e Cascais. Inicialmente determi-
nou-se que o ramal teria via dupla apenas até à Cruz Quebrada, mas os engenheiros con-
seguiram prolonga-la a Caxias. Prevendo-se um grande movimento para esta via-férrea,
acabou por se acordar a extensão da via dupla ao Estoril. Aquando da construção do
ramal, o «obstáculo» verificado entre o Estoril e Cascais foi ultrapassado, sendo toda a
via-férrea dotada de via-dupla, ainda que de forma faseada.72
Indo ao encontro do apelo para a existência de passagens de nível (inferiores e
superiores), a C.R.C.F.P. decidiu criar não só as que foram pedidas pelo monarca, como 71 A definição do espaço onde se adoptou a via dupla coincide com as delimitações sectoriais apresenta-das no projecto definitivo entre Belém e Cascais. A realização dos estudos para a implementação desta «novidade» pode ajudar a explicar a entrega desse plano em dois momentos. FMNF, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Ramal de Sta. Apolónia a Cascaes. Memoria justificativa do projecto rectificado e Processo referente à apresentação por parte da Companhia do projecto definitivo da secção entre Belém e Cascais - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0447: Aprovação do projecto entre Belém e Cascais (1888.01.16 – 1888.04.26). 72 Estes engenheiros foram responsáveis pela construção da linha Torres-Figueira-Alfarelos. Por sua vez, a empreitada do troço entre Pedrouços e o Cais do Sodré foi contratada com Hersent, em Julho de 1887. SALGUEIRO, 2008, pp. 80-81 e INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1888, p. 47.
O primeiro segmento de via dupla a ser finalizado correspondeu ao espaço entre Caxias e o Esto-ril, inaugurado em Outubro de 1890. Não obstante, estas obras já estavam concluídas em Agosto, tendo sido nomeada uma comissão para inspecção dos trabalhos e autorizando o monarca D. Carlos I “(…) a abertura à exploração provisória da referida segunda via (…)”, a qual acabou por não beneficiar os passa-geiros na época de banhos por abrir ao público um mês e pouco mais tarde. (FMNF, Processo referente à pretensão da Companhia dos Caminhos de Ferro Portuguezes de explorar o cais e terraplano corres-pondente, junto à estação do Cais dos Soldados e explorar as linhas férreas que os trabalhos da 1ª sec-ção do porto de Lisboa, permitia assentar em ligação com a rede das estações dos Caes dos Soldados e Alcântara-Mar, 1890 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0533: Projecto do ramal de ligação da estação de Alcântara-Mar ao cais do Porto de Lisboa (1893.08.14 – 1910.03.01)).
A segunda inauguração da via dupla deu-se em 1892, correspondendo ao troço entre o Estoril e Cascais, aquele para o qual se havia previsto uma grande dificuldade de construção, a qual foi colmatada (FMNF, Processo referente ao exame da 2ª via entre a estação do Estoril e Cascais da linha férrea de Cascais, 1892 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0479: Exame da exploração da segunda via da linha de Cas-cais (1892.05.10 – 1892.05.14)). Por sua vez, estando concluídos, em meados 1896, os trabalhos de cons-trução da segunda via entre Pedrouços e Belém, a Companhia pediu ao monarca a autorização para o exame. Foi ainda referido que “os trabalhos prosseguem activamente até Alcântara, sendo de esperar que este ano seja construída a dupla via até ao Cais do Sodré” o que, na realidade, só ocorreu no ano seguinte (Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 205, 01.07.1896, p. 230).
Para as restantes aberturas não existe informação documental, quer no que concerne ao núcleo do ramal quer na imprensa da época. Não obstante, de acordo com João Henriques, sabe-se que o segmento entre Belém e Alcântara-Mar foi inaugurado em 1896 e, o troço entre esta última estação e o Cais do Sodré em 1897 (HENRIQUES, 2008, p. 112).
Mas quais foram os reflexos desta adopção? “No passado ano de 1898, primeiro de completa ex-ploração em dupla via, desde o Cais do Sodré, aumentou [o tráfego de passageiros] cerca de 33% relati-vamente ao ano anterior”. Esta forte influência implicou a proposta de 4 ampliações desde 1895 para a estação de Algés, o que pode ajudar a atestar o crescimento populacional do espaço suburbano, nomea-damente, das povoações limítrofes à cidade de Lisboa, como é o caso de Algés. Estes reflexos serão apro-fundados no 3º capítulo do presente estudo (FMNF, Processo referente ao relatório sobre a linha de Cascais, o estado da linha, estações, plano de exploração e sinalização, 1899 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0502: Relatório de Exploração da linha de Cascais (1899.05.06 – 1899.06.10).
30
outras que se considerassem necessárias noutros pontos da linha férrea, destinadas a
deslocações rumo às praias. Era notória a ideia de que este ramal tinha como fito o ve-
raneio, havendo na própria «comunidade» política o “reconhecimento de que esta será
uma linha essencialmente de passageiros (com fraca movimentação de mercadorias
(…)) e sazonal, com maior movimento no Verão, verificando-se no Inverno o mesmo
decréscimo que se faz sentir em Sintra”.73 Ainda assim, era reconhecido que a maior
movimentação seria na zona intra-urbana, entre Santa Apolónia e Alcântara, devido à
proximidade ao porto de Lisboa, pelo que a Companhia devia estabelecer tarifas reduzi-
das. Havia ainda quem referisse que “(…) para mim o primeiro troço dessa linha (…)
era a mais importante que viria a haver no País; não só há-de servir ao movimento do
próprio comércio que se destina à cidade de Lisboa, e há-de ser um caminho-de-ferro
muito importante também para passageiros, pois é por assim dizer uma linha de circun-
valação pelo lado do Tejo, que há-de fazer concorrência aos americanos e outros meios
de transporte, que hoje fazem carreiras entre Lisboa e Belém”.74
A criação de passagens de nível visou ainda servir os muitos proprietários e resi-
dentes na extensão que era abrangida pelo ramal de Cascais, sendo prevista a construção
de um total de 44 passagens, número que a Companhia considerava suficiente. Assim,
esta apelou para que este valor fosse aceite pois, frequentemente, os proprietários e resi-
dentes locais possuíam pretensões exageradas, que não correspondiam às suas reais ne-
cessidades, não se consciencializando dos problemas inerentes à construção de tais in-
fra-estruturas porque, se as passagens superiores implicavam custos bastantes elevados,
as inferiores assemelhar-se-iam a túneis devido à largura da futura via dupla.75 De acor-
do com Ana Abrantes, este tipo de estrutura constituiu “(…) um aspecto de modernida-
de introduzido na construção desta linha (…)”.76
Respondendo à questão militar, a saber, no que concerne à estação de Caxias, a
Companhia determinou que nesta “(…) está indicada uma área de 22,218,30m2, que
73 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 11.05.1888, p. 1562. 74 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 30.04.1888, p. 1289. 75 FMNF, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Ramal de Sta. Apolónia a Cascaes. Memoria justificativa do projecto rectificado e Processo referente à apresentação por parte da Compa-nhia do projecto definitivo da secção entre Belém e Cascais, 1888 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0447: Aprovação do projecto entre Belém e Cascais (1888.01.16 – 1888.04.26). 76 ABRANTES, 2011, p. 34.
31
(…) julga suficiente para ali serem instalados provisoriamente os cais e mais depen-
dências necessárias para o serviço militar quando assim lhe for exigido (…)”77.
Em Abril de 1888 este último plano da C.R.C.F.P. foi aprovado. Poder-se-ia ini-
ciar a construção do ramal de Cascais! Porém, perante as mutações ocorridas na propos-
ta inicial, verificou-se o incumprimento do prazo de 8 de meses estipulado no alvará
para apresentação do projecto. Este atraso pode-se relacionar com a harmonização do
que foi apresentado pela Companhia com as alterações sugeridas por D. Luís. A tal so-
me-se a necessidade de sanção do governo devido a todas as alterações a efectuar.78
Mas não só esta conciliação ajuda a explicar a morosidade. É de ressaltar o deba-
te na Câmara dos Senhores Deputados e na Câmara dos Pares do Reino, em torno da
questão da concessão da construção e exploração do ramal de Cascais à C.R.C.F.P.
Como já foi referido, a Companhia foi criticada pela sua ambição e pelo facto de apenas
se querer tornar concessionária desta via-férrea para fazer frente à proposta do enge-
nheiro Hersent, demonstrando o seu poder no contexto institucional nacional e visando
o quase monopólio da rede de caminhos-de-ferro portuguesa.
Aos elementos desenvolvidos acrescente-se a crítica de que a outorga foi reflexo
da nomeação do Ministro da Guerra, Januário Correia de Almeida, visconde de São
Januário (1829-1901), para director e membro do Conselho Fiscal da Companhia dos
Caminhos-de-ferro de Norte e Leste, tendo acumulado ambas as funções. Este último já
tinha aceite o proposto pela comissão de defesa, a qual indeferiu o traçado do caminho-
de-ferro definido pela C.R.C.F.P., crendo que representava uma preocupação mais eco-
nómica do que estratégica. Contudo, mediante a nomeação do Ministro da Guerra para
esta última instituição «esqueceu-se» do seu parecer. Assim, no contexto dos debates
políticos era insinuado que a ocupação do cargo na referida Companhia permitiu uma
mais fácil aceitação da proposta da concessionária o que se reflectiu, sobretudo, na
aprovação do traçado do ramal, com o qual muitos não estavam de acordo, tendo em
conta a defesa da zona costeira e o capital dispendido. Mais concretamente, o que estava
em causa era o segmento entre a Cruz Quebrada e Oeiras, embora também fosse consi-
77 FMNF, Processo referente à apresentação por parte da Companhia do projecto definitivo da secção entre Belém e Cascais, 1888 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0447: Aprovação do projecto entre Belém e Cascais. 78 AHFCP, Alvará autorisando a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses a explorar a linha ferrea directa, 1887, p. 4.
32
derada prejudicial a extensão do ramal a Cascais (exceptuando entre Oeiras e Carcave-
los), pois “(…) não satisfaz às condições exigidas pela importância da zona militar que
atravessa”. Foi, possivelmente, com base na nomeação do Ministro para os quadros da
Companhia que se contornou esta situação, colocando em causa a defesa do espaço a ser
servido pelo ramal, bem como os interesses militares e estratégicos, em detrimento da
mais-valia económico-financeira. O visconde entendeu que os problemas invocados
apenas podiam recair sobre a estação de Caxias, insistindo para que no que lhe concer-
nia fossem cumpridas as condições militares, o que ajuda a justificar a conciliação ocor-
rida nesta estação, a única na qual se fizeram alterações indo ao encontro das objecções
governamentais.79 Desta forma se afirmou que se “(…) fez a concessão às cegas, sem
base, nem exames e sem estudos. E sem procurar previamente um traçado que harmoni-
zasse quanto possível os interesses do comércio com outros interesses mais altos – os da
defesa nacional (…).”80
Outra questão militar/estratégica, invocada por Manuel Ribeiro e José Ribeiro da
Silva, consistiu nas dificuldades impostas pelos contrafortes da Boa Viagem-Gibalta, no
Estoril, tendo-se tornado necessário convencer os militares do Campo Entrincheirado de
Lisboa a desactivar alguns fortes que não estavam a favorecer o traçado ferroviário do
ramal de Cascais.81 Mais uma vez se pode considerar que a posição do Ministro da
Guerra na C.R.C.F.P. favoreceu os interesses desta última em detrimento do que se con-
siderava ser imperativo e do que se tinha investido na defesa da costa.
O processo de aprovação poderá também ter sido alvo de uma maior lentidão
dada a conflituosidade com os proprietários (não só de residências, como de lojas e ar-
mazéns). Estes, ao perderem o acesso directo ao rio, foram indemnizados. Possivelmen- 79 Esta discussão desenvolveu-se no contexto da apresentação da lei de incompatibilidade, considerando o arguente que “vejo nestas acumulações um grande inconveniente, além de muitos outros. Amanhã um presidente do conselho de ministros, ou qualquer homem importante, conseguindo ser director das com-panhias dos caminhos-de-ferro do gaz, das águas, etc., etc, pode tornar-se um ditador, porque tem nas suas mãos os elementos mais poderosos que constituem a sociedade portuguesa”. Esta lei procurava con-trariar a usurpação do poder de várias instituições que, à data, «movimentavam» e «alimentavam» a eco-nomia portuguesa, revelando grande importância no contexto nacional (Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, sessão 2, 06.03.1888, p. 694). Respondendo às acusações que lhe eram feitas, o visconde de São Januário referiu que a sua opinião sempre foi uniforme. Considerou que a comissão de defesa queria que este ramal tivesse um cariz unicamente militar, mas que tendo em conta o que o Gover-no pretendia visou conciliar ambos os interesses, ou seja, as questões militares com as questões económi-cas – “se o caminho-de-ferro de Belém a Cascais fosse necessário o indispensável para serviço dessa zona de defesa, a própria comissão do defesa tê-lo-ia proposto e reclamado (...)” (Diário da Câmara dos Senho-res Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, e 28.01.1888, p. 208 e 04.04.1888, p. 988). 80 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 10.02.1888, p. 208. 81 SILVA, 2008, p. 220.
33
te, essas indeminizações terão sido bastante altas, considerando que a existência de um
caminho-de-ferro na proximidade destes terrenos provocava o aumento do preço dos
mesmos. É neste prisma que se deve invocar o complexo processo de expropriações
subjacente à conquista de terrenos e à construção do ramal, terrenos esses, sobretudo
entre Pedrouços e Cascais que, se encontravam “(…) na posse dos melhores nomes da
burguesia e da nobreza oitocentista portuguesa, como os últimos metros da chegada a
Cascais, junto do Palácio do Duque de Palmela.”.82 Não só dificuldades impostas pelas
expropriações atrasaram as negociações, como as obras de terraplanagem se impuseram
como um entrave ao começo dos trabalhos de construção do ramal.83
A importância social dos proprietários ajuda, igualmente, a justificar o porquê
de, no plano definitivo para o troço entre Pedrouços e Cascais, a Companhia ter dado
importância à colocação das passagens de nível. Não obstante, numa discussão na Câ-
mara dos Pares do Reino (10.07.188), foi referido que, apesar das indemnizações pagas
e das tentativas de conciliação da construção do ramal com as propriedades existentes,
esta via-férrea colocava em causa um dos elementos mais importantes do direito de pro-
priedade - a fruição exclusiva: “(…) no caminho-de-ferro de Cascais a linha corta um
parque, uma propriedade de grande estimação que um membro desta Câmara ali possui
e criou. Tem um palácio magnífico, uma grande extensão de terreno, plantado a capri-
cho, alindado a primor. A poucos passos da casa de residência, mesmo em frente da
porta de entrada, num espaço estreito, a cada momento a locomotiva que passa destrói
um dos direitos mais sagrados da propriedade, o direito de fruição exclusiva. É um pre-
juízo que se não compensa”.84
Por seu lado, utilizando o seu «poder» de transmissão dos terrenos que não fo-
ram necessários à construção do ramal e respectivas infra-estruturas, a Companhia ven-
deu-os a várias entidades ou alugou-os. Das vendas efectuadas destacam-se: Companhia
de Gás (1888, 4 000 m! próximo da Torre de Belém); Companhia dos Açúcares (1896, 2
500 m! + 1897, 1 000 m!); Pedro Maia da Fonseca Araújo (1899, 2 250 m!); Vacuum
Oil Company (1902, 3 300 m!); Companhia de Gás e Electricidade (1908, 6 500 m! e
outros terrenos, a posteriori¸ onde instalou a Central Tejo); Companhia de Petróleo
Shell (1922, 3 000 m!). Desta forma verifica-se que, vendidos ou alugados, estes terre-
82 SILVA, 2008, p. 220. 83 INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1888, p. 47. 84 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 10.07.1888, p. 1245.
34
nos conquistados ao Tejo serviram para a fixação de indústrias de sectores estratégicos
(como o gás, a electricidade e o petróleo), tradicionais (como a refinação de açúcar,
fiação e tecelagem, conservas e construção civil) e de apoio a empresas de pesca e asso-
ciações, a que se devem somar os clubes desportivos de futebol.85
Quanto ao troço entre o Cais dos Soldados e Pedrouços, não existem dados que
refiram a apresentação do projecto pela C.R.C.F.P. ao governo. Tal prende-se com o
facto de, como se verá no ponto 5.2, este troço estar incluído na primeira secção das
obras de melhoramento do porto de Lisboa, levadas a cabo pelo engenheiro Hersent.
Um dos segmentos desta parte da via-férrea, nomeadamente, o compreendido entre Al-
cântara-Mar e Pedrouços foi construído sob o traçado do projecto de 1874, que visava
fazer do ramal de Cascais um braço dependente da linha de Sintra. Contudo, este último
segmento carece de documentação oficial, quer da Companhia, quer do governo.
Em 1895, a Companhia enviou uma carta a D. Carlos I pedindo que, estando
avançadas as obras do porto de Lisboa, autorizasse a construção de uma linha provisória
entre o Cais do Sodré (e não Santa Apolónia) e Alcântara-Mar, considerando que esta
secção traria grandes benefícios ao serviço público, facilitando as viagens no ramal e
incluindo na rede geral uma das zonas mais importantes de Lisboa. A aprovação foi
concedida, mediante o cumprimento das seguintes condições: o ramal devia ser constru-
ído e explorado sem qualquer encargo para o Estado; este devia estar separado da gran-
de avenida (Rua 24 de Julho, actual Avenida 24 de Julho) por uma vedação, como for-
ma de garantia da segurança pública; e, por fim, devia ser deixado um espaço de pelo
menos 10 metros para conclusão definitiva da terraplanagem do porto de Lisboa86.
85 GOMES, 2009, pp. 5-6 e 10. 86 FMNF, Carta de 4 de Maio de 1895 da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses ao Di-rector Geral da Exploração dos Caminhos de Ferro, 1895 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0492: Electrifi-cação da linha entre o Cais do Sodré e Alcântara (1909.03.28 – 1927.03.29) e Processo referente ao esta-belecimento de uma linha provisória do caminho de ferro ao longo do aterro confinante com a rua 24 de julho, ligando a estação de alcântara mar com o cais do sodré, 1895 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0481: Linha provisória entre Alcântara-Mar e o Cais do Sodré (1895.05.02 – 1898.01.10).
35
5. Da construção à inauguração do ramal de Cascais.
5.1. A construção do troço entre Pedrouços e Cascais.
O troço do caminho-de-ferro de Cascais, entre Pedrouços e Cascais, apresentan-
do uma extensão de 19 quilómetros de comprimento. É imperativo destacar que, na sua
construção, foram aproveitadas as estruturas já estabelecidas para edificação desta via-
férrea em projectos anteriores à concessão do ramal de Cascais à C.R.C.F.P., nomeada-
mente, no projecto da década de 197087 - “o traçado do caminho-de-ferro da Torre de
Belém a Cascais está estabelecido na sua origem sobre o antigo traçado do caminho-de-
ferro de Belém a Sintra. Tendo sido abandonados os trabalhos desta linha, era evidente
que se devia aproveitar este traçado que está até à Cruz Quebrada em um bom estado de
conservação. Somente próximo da ponte de Algés terá de ser reconstruido”.88
Outra questão de relevo consiste no percurso da linha (para além daquele que foi
aproveitado). Devia este seguir junto ao Tejo ou próximo da estrada de Cascais? Optou-
se pela primeira opção, considerando os vários obstáculos próximo da rede viária e a
dificuldade de construção no terreno que o compunha, dificuldade essa que já tinha sido
atestada aquando da necessidade de construção de muros que sustentavam a estrada.89
Quanto às estações, os referidos 19 quilómetros de via-férrea contavam com um
total de 11, sendo elas: Pedrouços, Algés, Dafundo, Cruz Quebrada, Caxias, Paço de
Arcos, Oeiras, Carcavelos, Parede, Estoril e Cascais. Na Memória descritiva e justifica-
tiva das estações da linha de Cascais, de 1889, estas foram divididas em três tipos se-
gundo a importância das localidades por elas servidas:90
87 Diario Illustrado, Nº 5 922, 30.09.1889, p. 1. 88 FMNF, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Linha de Torre de Belem a Cascaes. Memoria descriptiva., 1887 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0411: Memória Descritiva da linha de Belém a Cascais (1887.06.02). 89 FMNF, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Linha de Torre de Belem a Cascaes. Memoria descriptiva., 1887 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0411: Memória Descritiva da linha de Belém a Cascais (1887.06.02). 90 INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1888, p. 47 e FMNF, Ramal de Cascais. Estações. Memória descritiva e justificativa e Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Linha de Torre de Belem a Cascaes. Memoria descriptiva., 1887 - PT/DGCF-DFECF/8/1052: Memória descritiva e justificativa das estações da linha de Cascais (07.01.1889).
36
1) As estações da Cruz Quebrada e do Estoril estavam associadas a deslocações
com fito balnear, sendo dotadas de um serviço de relevância temporal e sa-
zonal.
2) As estações de Pedrouços, Algés e Parede tinham dimensões maiores por
possuírem um movimento anual de passageiros superior. O relevo de Pe-
drouços e Algés estaria relacionado com o desenvolvimento do processo de
suburbanização no qual a cidade de Lisboa cresceu para fora de si mesma?
Estaria esse crescimento associado à posição intermédia ocupada por estas
estações no contexto da presente hierarquia? Por outro lado, o destaque atri-
buído à Parede pode estar relacionado tanto com o Sanatório nela situado,
como com à pedreira existente, elementos que motivaram uma ocupação po-
pulacional do espaço com alguma importância?
3) As estações de Caxias, Paço de Arcos, Oeiras e Carcavelos, situavam-se em
localidades muito povoadas e com um movimento de passageiros permanen-
te, sendo compostas por edifícios de grandes dimensões. Estaria este movi-
mento relacionado com as actividades dos sectores primário e terciário exis-
tentes nesta região? Sabe-se que em Paço de Arcos existiam “(…) oficinas de
canteiros em número de seis (…)”, em Oeiras minas “(…) lavradas por H.
Hersent e Genelioux, com destino às obras do porto de Lisboa (…)”, bem
como pedreiras em zonas diversas como o Espargal, Figueirinha, Fontainha,
Murganhal e Ribeiro de Arcos. No Inquérito Industrial de 1881, foi ainda
atestado que Paço de Arcos e Oeiras eram povoações onde “(…) o movimen-
to industrial se tem acentuado de um modo sensível”, destacando-se, na se-
gunda, 48 fábricas de calçado e a Fábrica de Pólvora do Estado, com 150
trabalhadores.91 Mas seriam as minas, pedreiras e indústrias suficientes para
atribuir tais dimensões a estas estações? A população residente nestes lugares
podia ser significativa, mas aqueles que trabalhavam nestes sectores eram
naturais e residiam nessas mesmas povoações ou noutras consideradas pró-
ximas, não utilizando o caminho-de-ferro como forma de deslocação.92 Era
esta proximidade que fazia circular os passageiros entre as estações mais
próximas, atribuindo a estas deslocações um carácter permanente e pendular?
91 Inquérito Industrial de 1881: inquérito directo, Vol I, 1881-1883, pp. 235-236, 285 e Vol III, 1881-1883, p. 42-43. 92 Inquérito Industrial de 1881: inquérito directo, Vol I, 1881-1883, p. 236.
37
O aproveitamento do troço férreo até à Cruz Quebrada ajuda a justificar a forma
rápida como esta primeira secção do ramal de Cascais foi construída. “Os estudos [para
construção da via-férrea] começaram em 1 de Maio de 1887 e os trabalhos em meados
de Setembro do mesmo ano (…). (…) este caminho-de-ferro, (…) é muito superior ao
de Sintra pela sua regularíssima construção, isenta de perigos e por facilitar o acesso a
todas as povoações dos arredores da capital, onde se encontram estações balneares, das
quais Estoril e Cascais serão dentro em pouco as mais frequentadas”.93 No Relatorio do
Conselho de Administração e Parecer do Conselho Fiscal apresentados à Assembléa
Geral de 26 de Junho de 1889, é referido que os trabalhos de edificação da via-férrea já
estavam muito avançados, indo a construção próximo do Estoril e prevendo-se o início
do serviço provisório (pois o ramal ainda não estava concluído na sua totalidade) para
Agosto, “(…) aproveitando-se ainda este ano o grande movimento das estações balnea-
res entre Belém e Cascais”.94
5.2. A construção do troço entre o Cais do Sodré e Pedrouços.
Se a conclusão do troço entre Pedrouços e Cascais foi simples e acelerada, o
mesmo não se verificou na construção do segmento de Pedrouços ao Cais ao Sodré. O
prazo de 32 meses estipulado no alvará para a sua finalização não foi cumprido, sendo
que a Junta Consultiva das Obras Públicas e Minas determinou que “se não se provou
ter havido casos de força maior, como dispõe a condição 39ª, o governo terá de aplicar a
multa a que se refere a condição 37ª, isto é uma multa variável entre 2 a 6 contos de reis
por cada mês de demora”.95
Mas porquê esta demora? Gilberto Gomes apresenta como justificativo o aterro
existente neste segmento, pois para a construção do caminho-de-ferro era imperativa a
execução de obras no porto de Lisboa, tendo de se esperar pela sua projecção, desenvol-
vimento e conclusão para se poder iniciar a edificação da via-férrea. Porém, esta não era
a única condição necessária, pois também se impunha a conquista de terrenos ao Tejo,
nomeadamente, entre o Bom Sucesso e Alcântara-Mar, os quais ainda tinham de ser
93 Diario Illustrado, Nº 5 922, 30.09.1889, p. 1. 94 INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1889, p. 33. 95 AHFCP, Carta da Junta Consultiva de Obras Públicas e Minas à Direcção Fiscal dos Caminhos de Ferro de Leste e Oeste, 1890.
38
terraplanados, o que era agravado e dificultado pela longa fileira de expropriações na
zona ribeirinha. Por outro lado, de acordo com António Ventura, as obras entre Alcânta-
ra-Mar e Santos revelavam-se as mais importantes, uma vez que a conquista de terrenos
ao rio abrangia uma secção superior (c. 900 m).96
Retomando a Gilberto Gomes, no alvará de 1887, ficou definido que estes terre-
nos conquistados passavam para a posse da Companhia (mediante as contrapartidas
enunciadas). Contudo, a posse dos terrenos por parte desta última provocou conflitos
entre esta empresa, a Administração do Porto de Lisboa e o Estado, nomeadamente, o
Ministério da Marinha, levado à nomeação de uma comissão encarregada de redistribui-
los, sendo parte desses terrenos entregues à última entidade.97
A lentidão das obras do porto de Lisboa fez com que a construção desta secção
fosse feita e concluída dois momentos distintos, de acordo com o avançar dos trabalhos:
um entre Pedrouços e Alcântara-Mar e, o outro, entre Alcântara-Mar e o Cais do Sodré.
Em 1890, a Direcção Fiscal dos Caminhos de Ferro de Leste e Oeste aprovou a planta
provisória do traçado entre Alcântara-Mar e Pedrouços, por carta enviada à Junta Con-
sultiva de Obras Públicas e Minas. O troço era composto por 4,048 quilómetros, pre-
vendo-se a existência de três estações: Docas, Belém e Junqueira.98
Deve-se reter o seu carácter «transitório»: “este troço de linha constitui uma so-
lução meramente provisória e é destinado a servir melhor o público que procure a linha
de Cascais, independentemente da solução pelo projecto definitivo cuja realização não
pode ter lugar tão cedo”.99 Novamente se invoca esta característica do ramal, por ter
sido inaugurado de forma parcelar, perante a morosidade da sua conclusão total. O ca-
minho-de-ferro de Cascais foi aberto ao público para suprir as necessidades deste último
e, desta forma, visando obter lucros que permitissem pagar as despesas de edificação,
exploração e manutenção que lhe eram inerentes.
96 VENTURA, 2006, p. 88. 97 GOMES, 2009, pp. 4-5. 98 FMNF, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Ramal de Lisboa a Cascaes. Memória justificativa e descritiva, 1887-1888 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0408: Memória descritiva e justificati-va da linha de Cascais e de Santa Apolónia a Cascais (1887.08.12 – 1888.03.21). 99 FMNF, Processo referente à linha provisória de exploração entre Alcântara-Mar e Pedrouços, 1890 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0511:Linha férrea provisória entre Alcântara-Mar e Pedrouços (1890.10.18).
39
Em resposta à aprovação da planta, a C.R.C.F.P. determinou “(…) poder apro-
veitar grande parte do aterro da 2ª secção das Obras do Tejo, adoptando-o como terra-
pleno para o prolongamento provisório do ramal de Cascais a Lisboa”.100 O projecto
para o aterro entre Alcântara e Pedrouços era composto por 2 docas de marés, em Santo
Amaro e Belém, tendo sido inteiramente levado a cabo pela Companhia, segundo o
acordo estabelecido pelo alvará régio.101 Contudo, não estipulava a construção de uma
estação nas Docas, atribuindo a categoria de apeadeiros a Belém e à Junqueira.102
A construção do segmento do ramal de Cascais entre Alcântara-Mar e o Cais do
Sodré esteve envolta numa grande polémica. Tal ficou-se a dever ao facto da C.R.C.F.P.
ter contratado Hersent para a empreitada deste segmento.103 Acrescente-se que, desde
pelo menos 1891, “(…) entre o empreiteiro Hersent e o governo português surgem al-
guns “embaraços” e “dificuldades” que conduziram a que, por portaria de 26 de Julho
de 1892, o governo tenha tomado posse administrativa de todas as obras, materiais, fer-
ramentas, utensílios e máquinas pertencentes à empreitada da 1.ª secção das obras do
porto de Lisboa”.104 Desta forma, muitos membros da Câmara dos Senhores Deputados
julgavam que a Companhia queria ficar imune aos custos inerentes à construção, os
quais seriam pagos pelo Estado, possivelmente, no contexto das obras de melhoramento
da primeira secção do porto de Lisboa das quais, inicialmente, o engenheiro era conces-
sionário, tendo as mesmas depois passado a constituir um encargo governamental. Con-
tudo, salvaguarde-se que esta crítica apenas surge neste contexto, não sendo plasmada
em qualquer outra documentação referente ao ramal ou mesmo na bibliografia.
Neste sentido, a discussão revelou-se acesa, apontando-se que “(…) a Compa-
nhia recebeu de mão beijada e do governo a linha que de Santa Apolónia vai ao caneiro
100 FMNF, Relatório acerca da linha provisoria de exploração entre Alcantara-Mar e Pedrouços, 1890 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0511:Linha férrea provisória entre Alcântara-Mar e Pedrouços (1890.10.18) 101 FMNF, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Ramal de Lisboa a Cascaes. Memória justificativa e descritiva, 1887-1888 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0408: Memória descritiva e justificati-va da linha de Cascais e de Santa Apolónia a Cascais (1887.08.12 – 1888.03.21) e Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Obras do Tejo: linha provisória d’exploração entre Alcântara e Pe-drouços. Memoria Justificativa, 1890 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0412: Memória descritiva da linha entre Alcântara e Pedrouços (1890.09.23). 102 FMNF, Relatório acerca da linha provisoria de exploração entre Alcantara-Mar e Pedrouços, 1890 -(PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0511: Linha férrea provisória entre Alcântara-Mar e Pedrouços (1890.10.18). 103 SALGUEIRO, 2008, pp. 80-81. 104 Não obstante, a 8 de Maio de 1895 efectuaram-se modificações ao contrato de adjudicação de 1887, entre Hersent e o Governo, só tendo a exploração do porto de Lisboa sido entregue ao segundo em 1907. 100 Anos do Porto de Lisboa, 1987, p. 120.
40
de Alcântara, que tem 5 quilómetros de extensão e que, sendo como é, um troço impor-
tantíssimo das linhas do porto de Lisboa, há-de ter um grandíssimo movimento comer-
cial e dar por consequência um grande rendimento”. Concluídas as obras deste porto,
que implicariam um custo de 10 000 000$000 (mais exactamente 10 790 000$000), o
movimento comercial ascenderia de forma muito significativa, “(…) fazendo deste por-
to o cais do ocidente”.105 A Companhia seria aquela que retiraria mais partido do troço,
para o qual não tinha contribuído, criticando-se o governo por lhe atribuir o troço não
para que esta o construísse e explorasse, mas apenas para que retirasse os benefícios
dessa exploração. Se os 400 quilómetros de linhas rurais exploradas pela C.R.C.F.P. já
possuíam um elevado rendimento médio (4 20$000), “(…) não parecerá absurdo nem
exagerado calcularmos o dobro ou o triplo para aqueles 5 quilómetros, todos no coração
de Lisboa, e costeando os novos cais do Tejo. A engenheiros muito distintos tenho ou-
vido calcular esse rendimento, termo médio, em 10 000$000 réis por quilómetro”.106
Em 1895 a Companhia pediu a “(…) licença necessária para explorar desde já as
linhas que o estado dos trabalhos da 1ª secção do porto de Lisboa permita assentar em
ligação com a rede da Companhia Real nas estações do Cais dos Soldados e Alcântara”,
embora as obras “(…) estejam longe da sua conclusão (…)”107. Como já foi referido, a 2
de Maio, por carta da C.R.C.F.P. ao monarca, menciona-se que os trabalhos de terraple-
nagem se encontravam adiantados e a prosseguir rapidamente, permitindo a construção
da via-férrea de Alcântara-Mar ao Cais do Sodré.108
Em Junho de 1895, não colocando como obstáculo as obras do porto de Lisboa e
a extensão da linha até ao Cais dos Soldados, o Ministro das Obras Públicas autorizou
que a Companhia explorasse os troços de linha que fosse construindo, pedindo a sua
entrega oficial à concessionária e autorizando a abertura do segmento entre Alcântara-
105 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 28.04.1888, p. 1261. 106 Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Legislatura 26, Sessão 2, 25.04.1888, p. 1236 e 28.04.1888, p. 1261. 107 FMNF, Processo referente à pretensão da Companhia dos Caminhos de Ferro Portuguezes de explo-rar o cais e terraplano correspondente, junto à estação do Cais dos Soldados e explorar as linhas férreas que os trabalhos da 1ª secção do porto de Lisboa, permitia assentar em ligação com a rede das estações dos Caes dos Soldados e Alcântara-Mar, 1895 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0533: Projecto do ramal de ligação da estação de Alcântara-Mar ao cais do Porto de Lisboa (1893.08.14 – 1910.03.01). 108 FMNF, Processo referente ao estabelecimento de uma linha provisória do caminho de ferro ao longo do aterro confinante com a rua 24 de julho, ligando a estação de alcântara mar ao cais do Sodré, 1895 - (PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0481: Electrificação da linha entre o Cais do Sodré e Alcântara (1909.03.28 – 1927.03.29).
41
Mar-Cais do Sodré, contando com uma estação intermédia em Santos.109 Apesar da
conclusão desta seccção datar de 1895, só em 1909 “(…) foram definitivamente entre-
gues à Companhia Real os terrenos a que tinha direito em virtude dos seus contractos
com o governo”, compreendidos nesta secção.110
5.3. A inauguração do ramal de Cascais.!
Ao contrário do que seria de esperar, devido à importância atribuída à constru-
ção do ramal de Cascais e a todas as problemáticas que lhe foram inerentes, consultada
a principal imprensa da época, verifica-se que a sua inauguração não teve uma posição
de destaque na mesma. Neste contexto, pode-se considerar que a abertura do primeiro
troço, entre Pedrouços e Cascais, foi a que mais relevo teve, ainda tenha sido remetida
para um plano secundário. O fraco eco deste momento estava relacionado, de acordo
com Ana Abrantes, com o débil estado de saúde do monarca D. Luís I, o qual se encon-
trava na Cidadela de Cascais, onde acabou por falecer a 19 de Outubro.111 Some-se, um
dia antes da abertura da linha, a morte do infante D. Augusto (1847-1889), duque de
Coimbra e irmão do monarca, acontecimento que ocupou as primeiras páginas dos pe-
riódicos durante os dias seguintes.
As aberturas dos restantes troços pouco ou nenhum relevo tiveram na imprensa
da época e, assim, contrariando as expectativas inicias. Seria de aguardar uma posição
de destaque na abertura dos troços de Pedrouços-Alcântara-Mar e Alcântara-Mar-Cais
do Sodré, uma vez que correspondiam a uma ligação intra-urbana e da urbe com o espa-
ço suburbano e rural, ou seja, ligando o centro da capital na sua faixa costeira entre o
Cais do Sodré e Pedrouços e deste para Cascais. O único periódico que tratou ambos os
momentos foi a Gazeta dos Caminhos de Ferro, o que pode estar associado ao facto de
109 FMNF, Processo referente à pretensão da Companhia dos Caminhos de Ferro Portuguezes de explo-rar o cais e terraplano correspondente, junto à estação do Cais dos Soldados e explorar as linhas férreas que os trabalhos da 1ª secção do porto de Lisboa, permitia assentar em ligação com a rede das estações dos Caes dos Soldados e Alcântara-Mar, 1895 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0533: Projecto do ramal de ligação da estação de Alcântara-Mar ao cais do Porto de Lisboa (1893.08.14 – 1910.03.01). 110 FMNF, Parecer do C.S.O.P.M. referente ao projecto de assentamento definitivo da linha férrea entre o Cais do Sodré e Alcântara-Mar, 1910 - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8/0435: Parecer do Conselho Supe-rior de Obras Públicas e Minas (1910.01.20). 111 ABRANTES, 2011, p. 30.
42
ser uma imprensa relacionada e vocacionada para os caminhos-de-ferro, perspectivando
estas inaugurações como algo incontornável na história férrea portuguesa.
Assim, o primeiro troço do ramal de Cascais, entre Pedrouços e Cascais, foi
inaugurado a 30 de Setembro de 1889 “e a razão que havia para esse interesse, [foi]
porque ela facilita um dos mais agradáveis passeios que se podem dar nas proximidades
de Lisboa”.112 De acordo com a revista Occidente, a abertura do caminho-de-ferro rumo
à vila foi entendido como uma mais-valia no contexto férreo nacional, pois “tínhamos
já, apesar de que não em grande número, linhas férreas de utilidade, vias destinadas
como que somente a negócio, a transportar o indivíduo que tem que ir a uma maior ou
menor distância, tratar da sua vida, ou excepcionalmente tomar banhos, ou ares de cam-
po (…). Tínhamos também as grandes comunicações que nos levavam aos países es-
trangeiros (…). Faltavam-nos as pequenas linhas de recreio, os comboios rápidos para
as estações de Verão e balneares, que nos facilitassem as pequenas viagens de algumas
horas, quando menos se pensa em viajar, quando se quer fumar um charuto longe da
cidade, respirando um pouco de ar puro, e voltar a casa, a tomar chá com a família, ou
estar em Lisboa e tempo de não perder o teatro”.113 Era este tipo de linhas que, nos úl-
timos anos, se tinham inaugurado, primeiro a de Sintra (1887) e, então, a de Cascais.
Estas viagens, por meio do caminho-de-ferro tornavam-se mais rápidas e mais baratas.
Não se pode deixar de considerar que, nesta fase de abertura, a imprensa não
avaliou apenas o carácter sazonal e o fito de veraneio inerente à construção do ramal de
Cascais. Já era compreendido o contributo desta via-férrea no crescimento da cidade de
Lisboa para fora de si mesma, com ocupação populacional do espaço suburbano – os
lisboetas, “(…) vão assim convidando a cidade a expandir-se por esses campos, e con-
vidando-a tão energicamente, pela barateza dos preços, que não há de resistir”.114
Já no jornal republicano O Século esta inauguração é criticada. Refere-se que já
devia ter sido feita, considerando que já era aguardada há algum tempo e que tinha sido
concretizada com grande morosidade - “abriu ontem, finalmente, à circulação, esta nova
linha férrea. E não foi sem tempo. Depois de tantos e tão sucessivos adiantamentos, que 112 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 43, 01.10.1889, p. 290. Na edição do Diário de Notícias do dia anterior foi referido que “ontem novas experiências foram feitas ao caminho-de-ferro de Pedrouços a Cascais. Os comboios simularam o serviço indicado no horário que deve começar a vigorar de segunda-feira em diante. (…) Tudo correu bem segundo nos consta”. Diário de Notícias, Nº 8 523, 29.10.1889. 113 Occidente, Nº 392, 11.11.1889, p. 251. 114 Occidente, Nº 392, 11.11.1889, p. 254.
43
pareciam repetir-se até ao infinito, começou ontem, efecticamente, a funcionar a linha
férrea de Pedrouços a Cascais, destinada a realizar um grande melhoramento”. O que
este periódico realmente critica é a anterior utilização do mesmo (antecedente à inaugu-
ração «pública») pela família real e pela aristocracia, nomeadamente, “(…) o caminho
estava bom para a rainha, para o príncipe real, para o infante D. Afonso, para o Sr. Mo-
ser e para os amigos deste senhor”. Porém, ainda não se tinha dado a sua abertura e uti-
lização pelos «comuns» passageiros, o que só ocorreu em 1889 – “até que enfim acabou
o enguiço. Ora ainda bem”.115
No Diário de Notícias de 30 de Setembro não foi atribuído qualquer destaque a
este momento (salvaguarde-se a referência do dia anterior, transcrita na nota de rodapé
nº 90). Na página dos anúncios é apenas mencionada a inauguração da linha férrea, sem
se acrescentar qualquer descritivo.116 Não obstante, no dia seguinte, numa breve refe-
rência na primeira página do periódico, foi relatada a inauguração, referindo-se que “re-
alizou-se ontem pelas 4 horas da tarde a inauguração deste novo caminho-de-ferro, que
conta 19 quilómetros de extensão e 11 estações” e o qual, até às 19h transportou 60 pas-
sageiros para Cascais.117 Este serviço era provisório e limitado até 30 de Novembro,
esperando-se que no mês seguinte estivesse concluído o segmento até Alcântara, face à
rápida progressão dos trabalhos, o que não se concretizou.118 Assim, não se esperou pela
conclusão da construção do ramal, visando “(…) satisfazer ao público na época dos ba-
nhos do mar (…), ou seja, indo ao encontro do desejo de vilegiatura, que desde os pri-
mórdios esteve na base da prossecução do projecto e de algumas condições para a cons-
trução do ramal.119
No final de 1890, inaugurou-se a ligação de Pedrouços a Alcântara-Mar. Porém,
a abertura deste troço passou despercebida - “abriu à exploração no dia 6 este troço, que
estabelece a ligação entre Alcântara e Cascais, facto que passou despercebido de todos
os que não frequentam aquela linha, e que tão pouca importância teve que até nós pró-
prios dele damos notícia nesta secção, reservada ao registro do pequeno noticiário quin-
115 O Século, Nº 2 745, 01.10.1889, p. 1. 116 Diário de Notícias, Nº 8 524, 30.09.1889, p. 1. 117 Diário de Notícias, Nº 8 524, 01.10.1889, p. 1 e O Século, Nº 2 745, 01.10.1889, p. 1. 118 Diário de Notícias, Nº 8 524, 01.10.1889, p. 1. 119 INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1889, p. 4. À data, ainda não chegando o caminho-de-ferro ao centro da capital, impunha-se a necessidade de articulação com outros meios de transporte, terrestres ou marítimos, com destaque para os vapores que ligavam ao Terreiro do Paço.
44
zenal”.120 Na realidade, nos jornais de grande tiragem como o Diário de Notícias ou O
Século, este momento importante no que concerne à via-férrea de Cascais e, sobretudo,
às ligações urbanas não foi referido. A ausência de menção a esta inauguração foi justi-
ficada, na Gazeta dos Caminhos de Ferro, por este segmento ser dotado de obras de arte
de pouca importância, apenas seguindo a linha do rio Tejo (ao que se deve somar o fac-
to das estação de Alcântara-Mar, Junqueira e Belém serem construídas em madeira),
considerando-se que “sítios há em que o viajante, vendo água dos dois lados, chega a
imaginar que vai embarcado, e não em caminho-de-ferro”.121
Só a 4 de Setembro de 1895 ficou concluído o caminho-de-ferro de Cascais em
toda a sua extensão, crendo-se, na Comissão Executiva da C.R.C.F.P. que “só assim
podia aquele ramal satisfazer completamente ao serviço de passageiros e mercadori-
as”.122 Na Gazeta dos Caminhos de Ferro foi anunciado que “em muito breves dias Lis-
boa vai ter uma estação de caminho-de-ferro num dos seus pontos mais centrais, estação
que apesar de provisória, feita por um milagre de esforço de boa vontade da parte da
companhia, do seu activo engenheiro de construção e de todos os que tiveram que coo-
perar para aquela obra, apesar de ter por enquanto madeira em lugar de pedra, de cal e
de cimento, será desde a sua abertura à exploração uma das de maior movimento de
passageiros que temos no país”.123 Se neste periódico foi referida a tão grande impor-
tância do troço urbano do ramal de Cascais, esperar-se-ia que na imprensa em geral,
tivesse sido mencionada, ou mesmo atribuído algum relevo, a tal inauguração.
Desta forma, na sua extensão máxima, o ramal de Cascais passou a ser composto
por 26 quilómetros. “A conclusão da linha marginal do Tejo impunha-se portando como
uma necessidade, e esta está hoje satisfeita, bem que provisoriamente, mostrando-se já
pelo novo horário que aquele percurso não exige mais que 14 ou 20 minutos, isto é a
terça parte do tempo, e menos exigirá quando o serviço puder ser feito em definitivo”.124
Esta menor demora estava igualmente relacionada com o facto da estação do Rossio já
não ser a única a situar-se no centro da capital, permitindo um menor afluxo a esta, bem
como à estação de Campolide, traduzindo-se numa maior comodidade e rapidez para os
passageiros. Por outro lado, existia ainda uma ligação entre a estação do Rossio e a es-
120 Gazeta dos Caminhos de Ferro Portugueses, Nº 68, 16.12.1890, p. 386. 121 Gazeta dos Caminhos de Ferro Portugueses, Nº 68, 16.12.1890, p. 386. 122 AHFCP, Extracto da acta nº 498 da sessão da Comissão Executiva em 16 de Junho de 1905. 123 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 185, 01.09.1895, p. 260. 124 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 185, 01.09.1895, pp. 260-261.
45
tação de Alcântara-Mar (onde foi construída uma plataforma especial, pois a conexão
fazia-se um pouco mais a sul da estação), via Alcântara-Terra, e que tinha sido inaugu-
rada em 1891 contando com um serviço de dois diários combóis em cada sentido.125
“Finalmente, às vantagens de menos incómodo e menos demora vem reunir-se duas
outras que a nova estação faculta: o aumento de comboios que, de 6 que eram no princí-
pio deste Verão e mesmo de 9 que fora feito na maior força da estação balnear passada,
passam a 15 diariamente em cada sentido; - a redução dos preços (…) que representa,
pela frequência das viagens que cada um faz, uma considerável economia”.126
Salvaguardando-se estas mais-valias, verifica-se que não se cumpriu o prazo de
32 meses para a conclusão dos trabalhos. Some-se que não foi só este ponto que não foi
cumprido, mas também o término da via, prevendo-se que fosse até Santa Apolónia. O
terminus do ramal de Cascais ficou no Cais do Sodré, não obstante os planos para ex-
tensão da linha, transversais ao processo de electrificação. De acordo com Magda Pi-
nheiro, tal ficou-se a dever à crise económico-financeira, que não permitia canalizar
verbas para tal investimento o qual implicava não só a construção do troço entre o Cais
do Sodré e Santa Apolónia, como também expropriações e trabalhos de terraplenagem.
A esta questão some-se o aluimento de um muro no cais da Alfândega (1897), construí-
do por Hersent no contexto das obras da primeira secção do porto de Lisboa.127
Em frente à Alfândega previu-se edificar a definitiva (uma vez que era composta
por barracões) “(…) estação fluvial do Sul e Sueste (…), com serventia directa para o
rio e para a doca da Alfândega e com um apeadeiro na linha férrea marginal”, aproxi-
mando-se, cada vez mais, o ramal de Cascais da estação de Santa Apolónia e, desta
forma, constituindo uma linha de cintura junto ao rio Tejo.128 Em 1898, foi nomeada
uma comissão para elaborar os estudos referentes à construção desta estação, tendo o
projecto sido aprovado por despacho ministerial no final do mesmo ano. Para tal pros-
secução importava resolver a questão do aluimento do muro do cais da Alfândega. Po-
rém, como as obras eram mais caras do que o previsto, Hersent colocou entraves – “esse
125 AHFCP, Carta da C.R.C.F.P. com o pedido para passarem dos comboios para o Rossio, 1891; Carta do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, 1891, Carta da Direcção Fiscal de Exploração de Caminho de Ferro, 1891 e HENRIQUES, 2008, p. 122. 126 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 185, 01.09.1895, pp. 260-261. 127 PINHEIRO, 2008, p. 76 e Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 1067, 01.06.1932, p. 262. 128 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 1067, 01.06.1932, p. 262. A estação de Sul e Sueste fazia a ligação à estação de barcos cuja função era realizar o transbordo para a linha de caminho-de-ferro com o mesmo nome.
46
alvitre naufragou, infelizmente, em objecções (…). Reconstruiu-se, pois, o muro em
condições de não ser acostável”.129
A questão da construção da estação fluvial de Sul e Sueste prolongou-se por vá-
rios anos, tendo esta, projectada por Cottinelli Telmo (1897-1948), só sido inaugurada
em 1932, resultado da pretensa de conservar “(…) os interesses do comércio e a estética
das construções pombalinas”.130 Por esta abertura ter sido tão esperada, no final de
1931, já era anunciada na Gazeta dos Caminhos de Ferro: “os barracões provisórios que
já contam a bonita idade de 70 anos, a vida de uma pessoa, vão desaparecer dentro em
breve, para dar lugar a uma estação – verdadeira -, daquelas que nós olhamos com certo
carinho, pois é verdadeiramente definitiva. Para à esquerda do Terreiro do Paço e por
detrás da Bolsa, nos terrenos da Alfândega, foi construído um edifício que vai servir
para a Estação do Sul. De estilo moderno, exteriormente o seu aspecto é sóbrio, haven-
do de importante a assinalar que, a sua colocação não desmancha a estética da formosa
Praça do Comércio”.131
Registe-se ainda que, no início de 1932, o engenheiro António Belo esboçou um
ante-projecto para a linha marginal, entre Santa Apolónia e Cascais, o qual partiu da
iniciativa da Casa Burnay.132 “Era parte primacial desse projecto baseado na transferên-
cia do Arsenal da Marinha para a margem esquerda [passava, assim, do Terreiro do Pa-
ço para o Alfeite], a construção duma grande estação central e marítima no terrapleno
da Alfândega com uma estacada para atracação de grandes paquetes”. 133 Esta estação
ligaria a Santa Apolónia, bem como ao Cais do Sodré e, desta forma, a Cascais, através
de vias rebaixadas que não condicionassem o movimento citadino. Visava-se, desta
forma, construir uma gare marítima. “Infelizmente nada se resolveu”.134
129 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 1067, 01.06.1932, p. 263. 130 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 1067, 01.06.1932, p. 265. 131 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 1050, 16.09,1931, p. 378. 132 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 1 067, 01.06.1932, p. 265. Este projecto foi, a posteriori¸”(…) perfilhado por uma comissão composta de representantes de diversos serviços e interesses económicos” (Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 1 067, 01.06.1932, p. 266). 133 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 1 067, 01.06.1932, p. 266. 134 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 1 067, 01.06.1932, p. 266.
48
1. Porquê electrificar?
Antes de passar à análise do processo de electrificação do ramal de Cascais, im-
porta questionar porque se optou pela utilização da energia eléctrica - que problemas
inerentes à tracção a vapor se pretendiam resolver? Quais as vantagens da tracção eléc-
trica? Vários eram os entraves da primeira, por contraponto aos benefícios da segunda.
Paralelamente, impuseram-se como meios concorrenciais a esta via-férrea o eléctrico da
Companhia Carris de Ferro de Lisboa e o automóvel. Estas questões serão desenvolvi-
das de seguida, como introdução ao tema da electrificação do ramal de Cascais.
Num artigo do jornal Público, comemorativo dos 80 anos da modernização da
linha de Cascais, referiu-se que “o facto de a linha ter muitas estações onerava imenso a
exploração pois os comboios a vapor, mal arrancavam, tinham logo de voltar a parar,
consumindo muito carvão e prejudicando a velocidade”.135 O elevado consumo deste
recurso energético também foi invocado na Gazeta dos Caminhos-de-ferro: “o carvão, a
que, com muita propriedade, chamam o pão da indústria, fica-nos demasiado caro,
mesmo quando estamos há beira-mar”.136 Efectivamente, à data do contrato de electrifi-
cação e exploração do ramal de Cascais (1918), assinado entre a C.R.C.F.P. e a Socie-
dade Estoril, o carvão custava 77$00 a tonelada, sendo o seu elevado preço reflexo da
sua raridade.137
Considere-se que, aquando da inauguração do ramal na sua extensão total
(1895), este contava com 18 estações e apeadeiros, tendo a posteriori sido abertas as
estações do Bom Sucesso (1900), Santo Amaro (1900) e Cai-Água (1907), totalizando
21 paragens a partir de 1907. A distância média entre cada uma destas era de apenas
1,265 quilómetros, agravando a situação referida no jornal Público pois, mal o comboio
arrancava tinha de voltar a parar, não conseguindo atingir uma velocidade significativa.
Assim, as viagens revelavam-se morosas, considerando que despendendo 50 minutos no
trajecto entre Pedrouços e Cascais, 20 minutos desse total eram destinados às paragens
do comboio. As travagens e arranques constantes implicavam um gasto energético
acrescido, ao que se deve somar a constante necessidade de manutenção do material
135 CIPRIANO, 2006, p. 46. 136 Gazeta dos Caminhos-de-ferro, Nº 340, 16.2.1902, p. 50. 137 Caminhos-de-ferro portugueses 1856-2006, s.d., p. 63.
49
(fixo e, sobretudo, circulante), funções que careciam de recursos humanos significati-
vos. A necessidade de reparação implicava uma maior lentidão em todo o processo e
recfletia-se na duração das máquinas tornando-as, com o passar do tempo, menos rentá-
veis e produtivas.138 Neste sentido, apontava-se que a adopção da energia eléctrica pro-
porcionava uma economia de “(…) aproximadamente 66% das despesas que se fazem
com a locomotiva a vapor”.139
Aos problemas do tipo de tracção utilizada acrescia a já invocada concorrência
da Companhia Carris de Ferro de Lisboa a qual, em 1901, inaugurou a sua primeira li-
nha de eléctrico, que fazia o trajecto entre o Rossio e Algés, havendo um paralelo ao
troço urbano e à primeira estação suburbana do ramal de Cascais. As deslocações no
eléctrico eram mais rápidas e baratas, tornando-o numa opção viável, senão mesmo pre-
ferencial ao caminho-de-ferro. Na prática, tal repercutiu-se na diminuição significativa
das receitas da C.R.C.F.P., contrastando com as elevadas despesas inerentes à circula-
ção e manutenção da tracção a vapor - as receitas deste ramal diminuíram dos 290
937$523 em 1901, para os 256 611$285 em 1902.140
Visando inverter esta tendência, em 1902, a C.R.C.F.P. diminuiu o preço de des-
locação no trajecto entre o Cais do Sodré e Algés, apresentando um custo de 60 réis
para a 1ª classe e 50 réis para a 2ª. Era ainda permitido que aqueles que tinham bilhetes
de assinatura de 3ª classe viajassem nos comboios com carruagens de todas as classes.
Desta forma, as receitas desta via-férrea aumentaram para os 268 951$75, embora se
deva considerar que este aumento não se revelou estável, quando analisamos o tráfego
de passageiros, como será demonstrado no terceiro capítulo do presente estudo.141
Porém, a concorrência da Companhia Carris de Ferro de Lisboa não era a única a
fazer-se sentir, devendo-se atender ao aparecimento do automóvel. F. A. Velho da Costa
refere a necessidade de “(…) electrificação imediata dos Caminhos-de-Ferro Suburba-
nos, no redor das grandes cidades, (…) única maneira de se fazer frente ao caminhão
138 Por contraponto à tracção eléctrica, que contabilizava uma rentabilidade superior aos 80% por cada 24h de actividade, a tracção a vapor rondava os 30-40%, pois só a caldeira representava 50% dos arran-jos. Impunha-se, assim, pela tracção vigente, um tráfego lento e com elevados custos de manutenção, exigindo mais tripulantes, por oposição às “(…) locomotivas eléctricas [que] podem trabalhar em múlti-plo, com uma única tripulação” (COSTA, 1929, p. 147). Revista de Obras Públicas e Minas, 1917, p. 1, Gazeta dos Caminhos-de-ferro, Nº 341, 16.2.1902, p. 50 e HENRIQUES, 2008, p. 121 139 COSTA, 1929, p. 146. 140 INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1889 e 1892-1906, Ministério da Fazenda, 1907 e HENRIQUES, 2008, p. 124. 141 Gazeta dos Caminhos-de-ferro, Nº 341, 01.03.1902, p. 69, INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1889 e 1892-1906, Ministério da Fazenda, 1907 e HENRIQUES, 2008, p. 124.
50
que dentro de pouco tempo ameaça desviar imediatamente a maior parte do trafego sub-
urbano (…) de um Caminho-de-Ferro para o «Transporte de Estadas» (…)”. Efectiva-
mente, o início do século XX foi pautado pela generalização do automóvel, símbolo de
status social e que, simultaneamente, tornava as deslocações mais rápidas e cómodas.
Para enfrentar o crescente peso do automóvel e, sobretudo, do eléctrico, era necessário
igualar as viagens no ramal de Cascais às características evocadas, aliando a rapidez e a
comodidade a um menor custo. Na afirmação transcrita, denota-se ainda a emergência
do processo de suburbanização, indissociável da existência de vias de comunicação que
o tornavam possível. Como tal, considerando o crescimento das cidades e o desenvol-
vimento suburbano, este autor julgava que se deviam electrificar, primeiramente, as
linhas férreas tidas como suburbanas e só depois a restante rede.142
2. Quem era Fausto Cardoso de Figueiredo (1880-1950)?
A modernização da via-férrea em estudo, tal como a construção do projecto tu-
rístico do Parque Estoril, constituem os projectos de vida do empresário Fausto de Fi-
gueiredo. Antes de iniciar o estudo da electrificação do ramal de Cascais, importa redi-
gir uma breve referência biográfica ao «pai» destas iniciativas modernizadoras, não obs-
tante a fase inicial da sua vida ser, grosso modo, desconhecida (sobretudo, até à implan-
tação da I República). O elemento obscuro, que mais dúvidas suscita, tem a ver com a
ascensão não só em termos políticos mas, sobretudo, institucionais, no seio da Compa-
nhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses.
Fausto Cardoso de Figueiredo nasceu a 17 de Setembro de 1880, no Baraçal
(Celorico da Beira), filho do professor António Cardoso de Figueiredo (s.d.) e de Maria
José de Almeida Figueiredo (c. 1855-?). De acordo com o testemunho da sua neta, Ma-
ria Empis (n. 1947), fugiu de casa e apanhou um comboio rumo a Lisboa com apenas 11
anos, onde fez recados para uma farmácia. Simultaneamente, à noite, tirou o curso de
farmacêutico na Escola de Lisboa, profissão à qual se dedicou durante alguns anos na
Farmácia Alberto Veiga, onde foi empregue logo após a conclusão dos estudos.143
142 COSTA, 1929, pp. 141-142. 143 De acordo com um estudo do Gabinete de Estudos Históricos e Sociais da Farmácia (FF-UL), Alberto da Costa Veiga (?-1932) estabeleceu-se em Lisboa em 1889, fundando esta Farmácia na Rua dos Retro-seiros. Foi pioneiro no desenvolvimento de uma pomada bastante em voga que continha salicilato de
51
Em termos políticos, nesta fase inicial da sua vida, apoiou João Franco (1855-
1929), ingressando no Partido Regenerador Liberal. Não obstante, segundo João Henri-
ques, não foi o pro-franquismo que motivou a sua ascensão social, mas os laços desen-
volvidos com o seu mentor, José Ferreira do Amaral (1842-1915), rico proprietário de
São Tomé e Príncipe que tinha um escritório no mesmo edifício onde o jovem trabalha-
va. A relação entre ambos consolidou-se, em termos familiares, em 1910, quando Faus-
to de Figueiredo casou com a filha deste último, Clotilde Hermenegilda Ferreira do
Amaral. A partir de então o futuro empresário passou a residir no Monte Estoril, próxi-
mo da Quinta do Viana, epicentro do seu projecto turístico, apresentado na Câmara dos
Deputados poucos anos mais tarde.144
Foi por via de José Amaral que Fausto de Figueiredo ingressou na C.R.C.F.P., en-
quanto seu representante na Assembleia Geral dos Obrigacionistas. Desconhece-se a
forma como ascendeu na hierarquia desta Companhia, embora se saiba que foi vice-
presidente e presidente do Conselho de Administração da mesma, ao serviço da qual
realizou várias viagens pelo estrangeiro. Some-se, ainda no sector férreo, o cargo ocu-
pado enquanto Presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro Portu-
gueses da Beira Alta.145 De acordo com documentação constante na Fundação do Mu-
seu Nacional Ferroviário sabe-se que, em 1918, Fausto de Figueiredo era vice-
presidente do Conselho de Administração da C.R.C.F.P., o que coincide com o ano de
assinatura do contrato de electrificação e exploração da via-férrea de Cascais entre esta
Companhia e a Sociedade Estoril, a qual também integrava. Porém, não se consegue
discernir qual a sequência dos restantes cargos, podendo-se questionar as suas funções
aquando da apresentação da proposta de modernização da linha de Cascais (sabendo-se
que era membro da Administração da Companhia à data da assinatura do contrato).
Certamente, aquando da implantação da I República, Fausto de Figueiredo já ti-
nha algum protagonismo em termos locais. Em Fevereiro de 1911, após a demissão co-
lectiva da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Cascais, reflexo da insta-
bilidade do poder local, o seu nome emergiu enquanto elemento integrante da nova
Comissão. Fausto de Figueiredo distinguiu-se como vice-presidente (03.04.1911-
chumbo. http://www.ff.ul.pt/paginas/jpsdias/dicinfar/dicinfar-farm_veiga.html, (26.05.2011). CRUZ, 2004, p. 629, http://content.yudu.com/Library/A15su8/CorreiodeCascaisn12/resources/9.htm (26.05. 2011) e HENRIQUES, 2008, p. 223. 144 O primeiro de cinco filhos desta relação, Fausto José Amaral de Figueiredo, nasceu a 1 de Março do ano seguinte. HENRIQUES, 2008, p. 223 145 HENRIQUES, 2008, p. 223 e CRUZ, 2004, p. 629.
52
03.06.1912) e, a posteriori, como presidente (29.07.1913-21.12.1913) desta Câmara,
tornando maioritário o Partido Republicano Português, o qual apoiava, maioria essa que
se consolidou pela vitória democrática nas eleições de 30 de Novembro de 1913 e se
materializou numa maior estabilidade da Comissão Administrativa por si dirigida.146
Apesar de, a 30 de Dezembro de 1913, se ter demitido da presidência da C.M.C.,
compreendeu a importância de permanecer vinculado ao poder local, possivelmente, em
virtude da consecução dos seus dois grandes projectos. Neste Sentido, durante o ano
seguinte, integrou a Comissão Executiva da C.M.C., coincidindo com dois momentos
essenciais: a apresentação do projecto do Parque Estoril à Câmara dos Deputados e o
apoio e pressão exercida por Fausto de Figueiredo na Comissão Executiva da
C.R.C.F.P. para electrificação do ramal de Cascais.147
Após o vínculo ao poder político local, Fausto de Figueiredo pertenceu à Câmara
dos Deputados (1921-1924), embora haja uma referência onde se afirme que um mem-
bro da mesma Câmara, Correia Gomes, já o tinha aliciado a ingressar na vida política
em 1911.148 Fausto de Figueiredo foi eleito pelos círculos de Torres Vedras e da Covi-
lhã, tendo participado nas comissões parlamentares referentes aos caminhos-de-ferro,
colónias, comércio e estudo de medidas para a crise económica e financeira.149 Era um
deputado independente, não estando vinculado ao P.R.P., embora o apoiasse - “não
pertenço a nenhum partido, não tenho que dar satisfações dos meus actos senão a mim
próprio (…)”.150 Valorizava repetidamente esta sua posição, defendendo as propostas e
ideais dos mais variados partidos e demonstrando que o que estava em causa era a viabi-
lidade dos seus projectos e o espírito patriótico.151
Porque não ingressou Fausto de Figueiredo na Câmara dos Deputados aquando
da proposta de Correia Gomes? Podemos considerar que, na década de 10, o empresário
tinha demasiados projectos entre mãos para se dedicar inteiramente a esta actividade.
146 HENRIQUES, 2008, pp. 197-198. 147HENRIQUES, 2008, pp. 198 e 224. 148 Diário da Câmara dos Deputados, Legislatura 1, Sessão 1, 12.03.1924, p. 12. 149 AHAR, Direcção Geral da Secretaria, Boletim para a constituição do Registo Político dos membros do Congresso da República, s.d., p. 64. Enquanto membro da Câmara dos Deputados Fausto de Figueire-do proferiu discursos relativamente longos, reflexo da sua linha de pensamento e ideologia, bem como dotados de uma elevada consciência da situação vivida e imparcialidade face aos seus interesses pessoais. Debruçou-se sobre temáticas variadas, o que remete para o seu à-vontade e conhecimento no que concer-ne a amplos domínios, com particular incidência para a crise económica e financeira, posição internacio-nal portuguesa e, por vezes, pendendo para alguns apontamentos políticos. 150 Diário da Câmara dos Deputados, Legislatura 1, Sessão 1, 12.02.1924, p. 16 e Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, 1940-42, p. 306. 151 Diário da Câmara dos Deputados, Legislatura 1, Sessão 1, 12.03.1924, p. 8.
53
Por outro lado, os seus cargos na administração local, bem como os projectos para a
linha de Cascais e para o Estoril, ter-lhe-iam dado uma maior legitimidade e facilitado a
entrada no meio político. Não seria este ingresso a forma mais fácil e rápida de ver os
seus projectos aprovados?
Esta última questão leva a crer que Fausto de Figueiredo estava rodeado por uma
rede de pessoas influentes. Este foi um homem que se adaptou à conjuntura política
vivida, o que motivou algumas críticas, tendo sido igualmente criticada a sua visão pro-
gressista no que concerne à electrificação do ramal de Cascais e ao Parque Estoril. Co-
mo tal, procurava estar próximo de pessoas que o apoiavam a si e ao seu empreendedo-
rismo - “os seus amigos e os seus melhores colaboradores (…) assistiram ao que foi, por
vezes, a luta desse grande sonhador que foi Fausto de Figueiredo, contra a apatia, o cep-
ticismo, o derrotismo que, nos primeiros anos, o cercaram. Batalhou como um homem.
Bateu-se, por vezes, como um leão. Sofreu desenganos e reveses. Chamaram-lhe visio-
nário – e foi-o, de facto, porque a vida é feita de visionários e sem eles o que seria da
grandeza da existência? Mas nada o fez esmorecer”.152
A sua saída da Câmara dos Deputados (1924) não foi pacífica. A carta enviada
renunciando ao cargo foi alvo de contestação da parte de muitos deputados. O motivo é
explicado no discurso de um deles: “o Sr. Fausto de Figueiredo, efectivamente, não
conseguia realizar grande parte dos seus propósitos; mas as circunstâncias nem sempre
permitem que os homens públicos consigam realizar as suas aspirações; e daí dizer-se
que a obra desses homens não seja útil vai uma grande distância”.153 A esta questão so-
me-se a parcialidade de alguns membros da Câmara que sobrepunham os seus interesses
pessoais à mais-valia nacional, atitude criticada por Fausto de Figueiredo perante o ca-
rácter independente e patriótico demonstrado ao longo dos 3 anos.154
Não existe bibliografia ou fontes que permitam discernir a posição política de
Fausto de Figueiredo na transição da I República para o Estado Novo ou, sequer, se teve
participação directa na mudança do regime. Não obstante, a sua adaptação aos vários
regimes persistiu, tendo ocupado o cargo de procurador à Câmara Corporativa nas sec-
ções de Turismo e Transportes, sectores nos quais tinha algum relevo na sociedade por-
152 CASTRO, 1951, p. 6. 153 Diário da Câmara dos Deputados, Legislatura 1, Sessão 1, 12.03.1924, p.4. 154 Diário da Câmara dos Deputados, Legislatura 1, Sessão 1, 26.03.1924, p. 8.
54
tuguesa pelos projectos por si empreendidos e pelos cargos ocupados na C.R.C.F.P.155
Somem-se as viagens efectuadas pelo estrangeiro que lhe incutiram uma visão turística
progressista e modernizadora, justificando o papel de vogal na organização do I Con-
gresso Nacional de Turismo (1936).156
Fausto de Figueiredo, rico proprietário da oligarquia portuguesa da primeira me-
tade do século XX, faleceu a 6 de Abril d 1950, no Estoril, local que muitos considera-
vam o seu reino - “(…) o Príncipe Reinante do Estoril. Aqui ele tem a sua memória.
Aqui fundou um reino, teve uma corte e deixou uma dinastia”.157 Este revelou-se um
mentor do progresso nacional, (…) pertence ao número dos que continuam vivos nas
obras que criaram”. “O Estoril criou-o ele e nele foi capaz de realizar uma Obra”158.
3. O Parque Estoril: uma estância cosmopolita e internacionalmente reco-
nhecida.
Fausto de Figueiredo desenvolveu o projecto de uma grande estância turística, o
Parque Estoril, apresentado à Câmara dos Deputados em 1914, e ao qual anexou a bro-
chura Estoril. Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, explicitando o que
pretendia construir e reflectindo sobre a ideologia subjacente a tal empreendimento.159
155 Este ingressou na secção de Turismo na I Legislatura (1935-38) e na secção de Turismo e Transportes nas Legislaturas II (1938-1942), III (1942-1945) e IV (1945-1948), embora nesta última não tenha emiti-do qualquer parecer. Desconhece-se o motivo para este último facto - não se sabe se tal terá ocorrido por doença ou não, considerando que faleceu um ano após o fim desta legislatura. De um total de sete parece-res, apenas um remete para o turismo (7/I – Urbanização da Costa do Sol), estando os restantes relaciona-dos com os transportes (94/I – Despacho e registo de veículos automóveis; 100/I – Modificação da consti-tuição do Conselho Superior de Viação; 11/II – Navegação para as colónias; 26/II – Autorização ao Go-verno para criar um imposto sobre os lucros extraordinários de guerra; 7/III – Distribuição dos lucros líquidos anuais das empresas de navegação; 23/III – Coordenação de transportes terrestres). 156 Relatório do I Congresso Nacional de Turismo, 1936, p. 17. 157 CASTRO, 1951, p. 7. 158 Gazeta dos Caminhos de Ferro Portugueses, Nº 1747, 01.10.1960, pp. 263-264. 159 Em 1914 as obras já tinham tido início - “no instante em que escrevemos, já cerca de duzentos homens iniciaram os trabalhos preliminares de aterros e desaterros, construção de avenidas, pesquisa e captação de águas termais, ensaios de cultura de plantas decorativas – enfim, a realização de um programa singu-larmente completo, em que cada pormenor foi objecto dos mais minuciosos cuidados por parte dos que procederam á sua elaboração” (Estoril. Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, 1914). O empreendimento estava a ser levado a cabo pela Figueiredo & Sousa Lda. Neste contexto, em 27 de Março de 1915 foi criada a Sociedade Estoril, sociedade anónima de responsabilidade limitada com sede em Lisboa, na Praça Duque da Terceira nº 24 tendo como sócios Fausto Cardoso de Figueiredo e Augusto Carreira de Sousa, únicos sócios da Figueiredo & Sousa Lda, e João Pedro de Sousa, José Henriques Tota, Alberto de Lavandeyra, Manuel Rodrigues Vaquinhas, António Maria de Oliveira Belo, João da Fonseca Cruz, António Teixeira Pinheiro, António Tavares de Carvalho. Esta era concessionária das termas do Estoril, possuindo um imóvel, a Quinta do Estoril, e vários terrenos próximos, tendo “(…) por
55
Nesta análise, a variante turística e/ou urbanística do projecto será abordada sintetica-
mente, uma vez que este estudo já se encontra feito e constitui a perspetiva dominante
na bibliografia relativa a este tema.160 Atribuir-se-á uma maior atenção à questão ideo-
lógica e à importância que Fausto de Figueiredo atribui ao turismo, o que será estudado
não só à luz da referida brochura, como também da tese defendida pelo empresário no
contexto da 1ª secção do I Congresso Nacional de Turismo (1936, subordinada ao tema
«A Organização Nacional do Turismo»)161.
Acrescente-se a esta introdução que o objectivo de Fausto de Figueiredo era cri-
ar uma estância moderna que englobasse a acomodação, a saúde e o lazer, similar às
existentes na restante Europa, dotando-a dos mesmos serviços e actividades – o que
Boyer denomina de Spa, “(…) ville thermale (…) toujours le décor à l’antique, la vie
mondaine, les jeux d’argent”.162 A popularização deste tipo de estâncias, como aconte-
ceu no caso do Parque Estoril, foi reflexo da difusão das vias de comunicação e trans-
portes, destacando-se, à data, para o caminho-de-ferro. Tal justifica o carácter indisso-
ciável dos 2 grandes projectos de vida de Fausto de Figueiredo, ainda que em Estoril.
Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva não seja referida esta relação.163
Assim, podemos perspectivá-los como um só, apresentando dois fitos – turístico e de
transporte - intimamente ligados e com reflexos mútuos: o afluxo turístico permitia au-
mentar o tráfego no ramal de Cascais e, por sua vez, era o comboio que fazia com que
chegasse tão elevado número de passageiros ao Parque Estoril.
objectivo «a fundação e exploração de uma estação de vilegiatura no Estoril, (…) podendo aproveitar e transformar as termas ali existentes, construir e explorar balneários, hotéis, casinos, parques, jardins e jogos desportivos, e, em geral, fazer todos os contratos e operações e praticar todos os actos tendentes ao desenvolvimento do turismo e indispensáveis, directa ou indirectamente, à realização daquele objecto” (HENRIQUES, 2008, p. 224). 160 Destaquem-se os estudos locais de João Henriques, a abordagem relativa à praia de Pedro Martins (incidindo, em vários momentos, sobre Cascais e os Estoris, não só na sua variante de banhos, como tam-bém no que concerne ao Parque Estoril) e o artigo de Cristina Carvalho, que visa articular o projecto turístico à modernização do caminho-de-ferro de Cascais. 161 O I Congresso Nacional de Turismo ocorreu entre 12-16 de Janeiro de 1936, em Lisboa, e “(…) cons-tituiu uma assembleia animada por um grande número de ideias e princípios tendentes a estabelecer uma organização perfeita do fomento turístico português, o qual, como se sabe, está ainda longe de poder contribuir eficazmente para o ressurgimento económico que é lícito esperar da sensata exploração das nossas condições de clima, de hidroterapia e de paisagem” (Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 1154, 16.01.1936, p. 58). Pendendo para a visibilidade do projecto turístico de Fausto de Figueiredo, o congres-so incluía uma excursão a Sintra, sendo o regresso a Lisboa feito via Cascais e Estoris (dia 14). Por sua vez, o banquete oficial realizado no último dia, ocorria no Palace Hotel do Parque Estoril. Relatório do I Congresso Nacional de Turismo, Lisboa, 1936. 162 BOYER, 1996, p. 38. O Spa surgiu na Inglaterra Setecentista, dirigido para os ricos e aristocratas. Na brochura considera-se que a acomodação, saúde e lazer são indissociáveis, pois “hotéis sem casinos, ane-xos e diversões de toda a ordem, seriam qualquer coisa de comparável a um excelente teatro sem palco, sem músicos e sem actores” (Estoril. Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, 1914). 163 MARTINS, 2011, p. 10 e Estoril. Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, 1914.
56
3.1. Os princípios ideológicos subjacentes ao Parque Estoril.
A justificação para a construção do Parque Estoril, e que se pode estender à elec-
trificação do ramal de Cascais, assenta no seu caracter modernizador. Em Estoril. Esta-
ção Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva o apelo à modernização é explícito:
“(…) os portugueses de agora olham apenas para a frente, (…) procuram reaver o tempo
que perderam (…)”. Este apelo tem uma dimensão histórica: «Os portugueses d’agora»
eram diferentes dos anteriores, agarrados à tradição e sem interesse pela modernização.
O tempo que perderam fora aproveitado pelos estrangeiros em prol do seu próprio de-
senvolvimento. É contra a tradição e os «velhos do Restelo» que este projecto se afirma,
caminhando para o futuro e, com ele, rumo ao progresso.164
Mas qual era a base desse progresso? Este passava pelo desenvolvimento do tu-
rismo, o qual estimularia o crescimento de outras indústrias, como havia acontecido na
Suíça tendo, desta forma, um grande peso na economia portuguesa aquando do seu de-
senvolvimento, motivo pelo qual este sector devia ser valorizado. Porém, era patente o
atraso nacional neste campo – “(…) outras nações sabem atrair o turista, proporcionan-
do-lhe todas as comodidades e divertimentos e fazendo um reclamo constante das suas
belezas naturais e dos seus monumentos de arte, nós ainda não fizemos nesse senti-
do”.165 O turismo era uma mais-valia local e nacional para diversos sectores (o comér-
cio, a indústria, as artes e as ciências) carentes de desenvolvimento. Acima de tudo, esta
actividade económica e, com ela, a estadia de estrangeiros em Portugal, era uma forma
de enriquecer os cofres do Estado, de estimular o aumento da receita! Invocando o tes-
temunho do Engenheiro Duarte Ferreira no Congresso da União Nacional, Fausto de
Figueiredo refere que este “(…) calcula em mais de meio milhão de libras a despesa
feita por turistas em Portugal no ano de 1931 (…) a indústria do turismo, considerada
com o instrumento de entrada de ouro no país, vem imediatamente a seguir às exporta-
ções de vinho, conservas e cortiças”166.
Como tal, importava que o próprio Estado apoiasse o turismo nacional, para que
Portugal pudesse oferecer os mesmos serviços e comodidades encontradas pelos turistas
noutros países. Este apoio passava pela promulgação de leis (por exemplo, que apoias-
164 Estoril. Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, 1914. 165 Estoril. Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, 1914. 166 FIGUEIREDO, 1936, p. 3.
57
sem/facilitassem a construção de hotéis e de espaços lúdicos, como os casinos) e pela
propaganda no estrangeiro do que o País tinha para oferecer.167 Não obstante, o Estado
devia apenas apoiar, limitando-se a esta acção, considerando que desenvolvimento turís-
tico per si devia partir, unicamente, da iniciativa privada, pois crê-se que “o empreende-
dor particular (…) cuja existência, muitas vezes, depende do triunfo da sua iniciativa,
dedica-se-lhe naturalmente de corpo e alma, e não é raro vermos a sua assiduidade leva-
da até ao sacrifício. A sua tarefa é portanto não só mais perfeita como mais útil (…). A
Cesar o que é de Cesar… Deixemos pois às iniciativas extraoficiais os lucros e os riscos
das empresas deste género, e limite-se o Estado a exercer as suas atribuições sem pre-
tender invadir as dos outros ”.168 Alguns anos após a publicação da brochura, já no con-
texto do I Congresso Nacional de Turismo, Fausto de Figueiredo concluí que as inicia-
tivas de particulares que tinham e estavam a ser levadas a cabo tinham reflexos positi-
vos - “o aumento de visitantes estrangeiros prova não terem sido inúteis os esforços
postos em prática, principalmente por iniciativas particulares, para atrair o turista”169.
O turismo teria nascido de emigrações sazonais e com elas se desenvolveu, es-
tando estas associadas a uma mutação da mentalidade,“(…) a tendência cada vez mais
caracterizada do homem civilizado para emigrar temporariamente em certas épocas da
sua vida (…). As estações de águas, praias de banhos, os ares da montanha, são a cada
passo procurados como antídoto às mil e uma misérias que atormentam a humanidade
culta”. Até então tais estações de evasão só existiam no estrangeiro, emergindo o Estoril
como um espaço a desenvolver neste sentido, pois reunia todas estas condições, tornan-
do-se concorrencial e atraindo, igualmente, os nacionais que muitas vezes procuravam
este tipo de estâncias lá fora.170 “Vamos ao Estoril - ao Estoril que prepara a desafiar a
Riviera, Biarritz e Ostende – e, antes de lá chegarmos, já nos extasiamos com a ideia do
que será, dentro em pouco, a formosa e clara encosta, semeada de luxo e conforto, orgu-
lhosa do seu clima e da sua vegetação, abrindo os braços, carinhosa e bela, a milhares
de criaturas vindas dos mais diversos pontos do globo, atraídas pelos seus encantos, pela
sua vida cosmopolita e de prazer, pela fama das suas águas, do seu bulício e dos seus 167 No que concerne ao apoio concedido pelo Estado à construção de hotéis destaque-se o Decreto nº 1 121 (1914), que concedia vantagens para a sua edificação e, no que diz respeito aos casinos, o Decreto nº 12 643 (1927), que regulamentava os jogos de fortuna ou azar. 168 Estoril. Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, 1914. 169 FIGUEIREDO, 1936, p. 5. 170 No que concerne à nacionalidade dos estrangeiros que acorriam ao Parque Estoril (sobretudo, nos meses de Julho, Agosto e Setembro), no I Congresso Nacional de Turismo, Fausto de Figueiredo refere que estes eram, maioritariamente, de nacionalidade espanhola, que optavam pelas praias portuguesas em detrimento das suas. FIGUEIREDO, 1936, p. 4.
58
hotéis”.171 Contudo, no que concerne à «fama das suas águas», importava aproveitar
melhor as estâncias hidrológicas, não só no que concerne às termas do Parque Estoril,
mas em todo o País. Para tal, deviam ser levados a cabo estudos que permitissem co-
nhecer melhor o seu valor terapêutico, ao mesmo tempo que se devia dotá-las com o
conforto e animação que se encontrava nas estâncias estrangeiras. Paralelamente, impu-
nha-se a necessidade de uma publicidade destes espaços mais consistente e atractiva. 172
Por outro lado, Fausto de Figueiredo seguiu a ideia internacionalmente aceite de
que a estância “(…) não apenas têm o efeito de reunir uma clientela dos locais de cura
como também concentram a atenção do cliente sobre os desejos pontuais que escalonam
o seu dia”.173 Tudo devia ser levado a cabo em prol do interesse e bem-estar do turista,
sob o signo da qualidade e do profissionalismo, o que implicava um aperfeiçoamento e
aprendizagem constantes, caminhando para uma real indústria de lazer/turística. É neste
sentido que no I Congresso Nacional de Turismo, o empreendedor refere que, conhe-
cendo-se os problemas do turismo nacional, cabia resolvê-los.174
Assim, o empresário impunha a necessidade de profissionalização daqueles que
se dedicavam ao lazer enquanto trabalhadores. Tal passava por uma melhoria dos hotéis,
através do luxo, comodidade, higiene e limpeza, mas também pelo pessoal que os com-
punha, contexto em que propôs o desenvolvimento de cursos hoteleiros, tal como existi-
riam na Suíça, França, Itália, Alemanha ou Áustria, criticando que “só em Portugal se
confia da improvisação e da experiência a habilitação do pessoal destinado a todos os
serviços dum hotel. A improvisação desta matéria não conduz a nada de aproveitável. A
experiência é feita no completo desconhecimento das mil pequenas coisas que represen-
tam economia para a exploração do bem-estar e conforto para o hóspede”175. Exemplo
desta necessidade de contratação de pessoas com know how e experiência no sector ho-
teleiro, é a nomeação de Charles Ritz para administrador delegado dos hotéis, sendo que
este que era “(…) filho do grande industrial que fez da indústria hoteleira uma ciência o
que em toda a parte traz o seu nome ligado a sumptuoso hotéis que nenhum turista igno-
rava” e ainda de Galdolpho, que “(…) tem dirigido em Paris o Hotel Westminster e será
171 Ilustração Portuguesa, II Série, Nº 442, 18.08.1914, p. 165. Contudo, esta ideia fez com que, inicial-mente, se tenha desenvolvido um turismo de elite. Ainda que Fausto de Figueiredo procure, como se verá, tornar o leque social rumo ao Parque Estoril mais amplo, a sua base é claramente elitista. Também as emigrações sazonais no estrangeiro o tinham sido. 172 FIGUEIREDO, 1936, p. 10. 173 CORBIN, 1995, p. 96. 174 FIGUEIREDO, 1936, p. 9. 175 FIGUEIREDO, 1936, pp. 9-10.
59
o director geral dos estabelecimentos do Estoril.176 Assim, sugere uma boa organização
do turismo nacional resultando num chamariz aos turistas “(…) quer movidos pela curi-
osidade de conhecer os nossos monumentos históricos e património artístico, quer ainda
para contemplar a variedade panorâmica das nossas regiões”.177
Desta forma se compreende que, aquando da morte de Fausto de Figueiredo, se
afirme que este “(…) foi o primeiro a confiar na capacidade industrial de um turismo
português – a conceber a existência, perto da capital, de uma zona turística e internacio-
nal. O Estoril nasceu dessa ousadia e enamorada concepção que hoje pode parecer banal
– mas que, no espírito de um homem de negócios, há quarenta anos, foi simplesmente
heróica. Assim nasceu, neste encantador e pequeno balcão atlântico, a verdadeira «sala
de visitas» de Lisboa. Sem ela, a capital seria ainda hoje uma cidade provinciana, mobi-
lada à pombalina, sem verdadeiros arrabaldes turísticos”.178 O que estava em causa era a
equiparação do Parque Estoril às restantes estâncias termais internacionais de relevo, o
que foi alcançado pois, durante a II Guerra Mundial (1939-1945), este foi um espaço
atractivo e cosmopolita, que «reunia» monarcas exilados, espiões e famílias aristocratas
que pretendiam fugir ao conflito. “Paz e Sol – que admirável e verdadeiro slogan!”.179
3.2. O Parque Estoril.
Desde a década de 1870 que o Estoril (e o Monte do Estoril) eram uma mera zona
de pinhais junto ao mar, situados a 25 quilómetros de Lisboa e circunscritos ao municí-
pio de Cascais. Inicialmente, desenvolveu-se o Monte do Estoril como região turística,
destinada, sobretudo, aos cidadãos britânicos que para aí se deslocavam durante o In-
verno ameno.180 No que diz respeito ao Estoril, Ferreira de Andrade e João Henriques
associam a Ramalho de Ortigão (1888) o principiar dos ideais turísticos que, alguns
anos mais tarde, foram desenvolvidos por Fausto de Figueiredo. Em 1905, a aristocracia
176 Diário de Notícias, Nº 17 597, 04.11.1914, p. 1. 177 FIGUEIREDO, 1936, p. 5. 178 CASTRO, 1951, p. 8. 179 ANDRADE, 1969, p. 189. 180 “«É sobretudo para o Monte Estoril que afluem os milhares de pessoas, transportadas diariamente de Lisboa por muitos comboios, metade deles rápidos. O fluxo e refluxo dão-se desde a madrugada até altas horas da noite. Estação de Inverno de primeira ordem, não vive apenas de uma população adventícia, flutuante, como a de outras praias, que, semelhantes a vastas metrópoles, finda a estação balnear mantém em todas as épocas do ano o mesmo movimento, alimentando quase sempre o mesmo número de comboi-os»” (ANDRADE, 1969, p. 184).
60
já convergia às praias desta região o que, com a contínua deslocação da família real para
a Cidadela de Cascais, levou à construção de palacetes e ao arrendamento, no Verão, de
muitas habitações, instigando à prática turística à qual, alguns anos mais tarde, o empre-
sário atribuiu um cariz cosmopolita.181
O Parque Estoril, projecto de Fausto de Figueiredo, teve como epicentro a Quin-
ta do Viana, adquirida por este e Augusto Carreira de Sousa em 1913, os quais contrata-
ram o arquitecto francês Henry Martinet para elaborar o projecto turístico.182 Neste es-
paço já existia uma zona termal destinada ao tratamento de reumatismo, doenças de
pele, do aparelho circulatório, digestivo, …, tendo o Governo concedido uma licença
ilimitada de exploração da nascente, que foi aproveitada pelos sócios.183 As termas
constituíram, assim, o ponto central do projecto turístico.184
A entrada do parque situava-se quase em frente à estação férrea do Estoril, tendo
dos dois lados edifícios destinados a estabelecimentos comerciais de luxo e duas aveni-
das, no topo das quais se construiria o casino, dotado de uma esplanada com uma vista
privilegiada para a praia e o arvoredo. A primeira pedra para construção deste último foi
colocada em 1916, contando com a presença do Chefe de Estado, Bernardino Machado
(1851-1944, p. 1915-1917 e 1925-1926), e de membros do Governo e, correspondendo
ao início da construção do Parque Estoril.185
181 De acordo com Ramalho de Ortigão: “«A meia hora de Lisboa, por caminho-de-ferro de luxo, na mar-gem do Tejo, Estoril-les.Bains, com o seu grande estabelecimento de banhos, com o seu casino, com as suas salas de ópera e de concertos, com suas roletas, com seus pavilhões enigmáticos, com as suas cotta-ges misteriosas, com os seus camarões permanentes em gabinetes reservados é um imprescindível com-plemento da civilização que felizmente desfrutamos»” (ANDRADE, 1969, p. 186). 182 Com 46 anos de idade, Henry Martinet era um arquitecto de relevo, conhecido pelos seus inúmeros projectos de hotéis e casinos em França. Em Portugal, conjuntamente com Henry Lusseau, levou a cabo o plano do Parque Eduardo VII. HENRIQUES, 2008, p. 156 e 221 183 A licença referida data de 12 de Abril de 1894, tendo sido transmitida à Figueiredo & Sousa, Lda. A qualidade e o poder curativo destas águas, como já foi referido, remonta ao século XVIII. Para o bom funcionamento das termas foram contratados os “(…) mais distintos clínicos de Lisboa, sob a superior direcção do celebre dr. Brandt, que actualmente se encontra á testa das águas de Royat, no sul de França” (CARVALHO, 2011, p. 2). Os tratamentos faziam-se durante todo o ano, reflexo das boas condições climatéricas do Estoril, tidas como únicas no contexto europeu – “enquanto a maioria das estâncias ter-mais se encontram cobertas de neve, durante o inverno, o Estoril conserva-se com temperaturas médias mensais nunca inferiores a 10,5º. Não há subidas rápidas nem descidas bruscas de temperatura; não há, praticamente, inverno, mas uma primavera precoce; em vez de outono, um verão prolongado” (Memôria sobre a utilidade, e uso medicinal dos banhos do Estoril, 1939, p. 7). 184 Estes também tomaram posse das Quintas do Machado e do Caldas, correspondendo o somatório das três a uma superfície superior a 2 milhões de metros quadrados, correspondentes a pouco mais do que um enorme espaço revestido de pinheiros. Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 1 747, 01.10.1960, p. 264 e Viajar. Viajantes e Turistas à Descoberta de Portugal no Tempo da I República, 2010, p. 88. 185 Boletim da C.P., 1936, p. 186, ANDRADE, 1969, p. 6 e HENRIQUES, 2008, p. 225.
61
Em termos hoteleiros e de acordo com a perspectiva de quem se situa no casino,
à esquerda previa-se a construção do Palace Hotel, “(…) com categoria internacional
que resulta das suas instalações e do luxo e conforto que oferece aos seus hóspedes”.186
Este era “(…) uma das pérolas do projecto original de Martinet (…). A par do casino, o
Hotel tornou-se num dos ex-líbris do “novo Estoril” de Fausto de Figueiredo, sendo
apresentado pela imprensa e pela ditadura militar como um marco na indústria hoteleira
em Portugal”.187 Do lado direito, encontrar-se-ia o Hotel do Parque, com preços mais
modestos sendo acessível a um maior número de pessoas, remetendo para uma tentativa
de contrariar a tendência para um turismo de elite, visando o massificar desta prática188.
No que concerne ao lazer some-se, acima do Hotel do Parque, um pequeno pavi-
lhão para banhos de sol e luz e outros sistemas terapêuticos modernos. Existiria ainda
um enorme parque que, na sua parte mais elevada, teria um posto metereológico de
construção rústica semelhante dos Alpes. Alguns metros acima do casino deviam-se
construir espaços destinados a práticas desportivas, de entre as quais destaco o golf,
símbolo de modernidade e elitismo. Também o casino seria dotado de zonas para des-
portos de salão, esgrima, bilhar, dança e um teatro. Junto à praia, zona de repouso e di-
vertimento, existiria um café-restaurante e cabines de banhos de mar.189
Para facilitar a circulação dentro do parque previa-se “(…) a construção de uma
linha de tramways eléctricos (…) que (…) deve prolongar-se depois até Sintra ao longo
da vertente da Serra (…)”, projecto que já havia sido aprovado pelo Governo.190 Mais
uma vez se revela a transversalidade da tríade Lisboa-Sintra-Cascais, embora esta liga-
ção dos dois espaços turísticos nunca tenha sido concretizada.191
186 Boletim da C.P., 1936, p. 186. 187 MARTINS, 2011, p. 45. 188 Estoril. Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, 1914. 189 HENRIQUES, 2008, p. 222 e Estoril. Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, 1914. “Quando o Estoril foi concebido com um plano de conjunto para a sua zona central, existia uma proprie-dade particular pertencente ao Cons. Schroeter que o separava do mar. É o Tamariz de hoje. / Estava-se no tempo em que o conceito de propriedade privada dificilmente admitia a ideia de expropriação, e por-tanto o Estoril tinha aqui a primeira barreira que impedia a sua natural saída para o mar”(Gazeta dos Ca-minhos de Ferro, 01.10.1960, p. 265). Estoril. Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, 1914. 190 Estoril. Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, 1914. 191 MARTINS, 2011, p. 38. Em 1928 existam excursões que ligavam Lisboa-Cascais-Sintra: “Por meio de uma combinação de tarifas com a C.P. e a Cooperativa Lisbonense de Chauffeurs, a Sociedade “ESTO-RIL” vende bilhetes para um percurso que abrange o maravilhoso triângulo (…). A viagem pode começar no Cais do Sodré, tomando-se em Cascais o autocar para Sintra (…); de Sintra a viagem prossegue em comboio até á estação do Rossio. Pode fazer-se o mesmo percurso no sentido inverso (...) Uma das refei-ções é servida no Estoril e outra em Sintra” (Sociedade “Estoril” – Horário – Assinaturas, Passeios, Excursões, Tarifas, Diversas Regalias, 1928, pp. 15-16).
62
Embora prevendo-se a conclusão do projecto em 2 anos, as perturbações da I Repú-
blica, a incapacidade de auxílio do recém-criado Conselho Nacional de Turismo, o de-
gradar da relação com Martinet e a I Guerra Mundial levaram a uma interrupção dos
trabalhos.192 Visando conseguir capital para terminar as obras, a Sociedade Estoril teve
de urbanizar e colocar à venda terrenos.193 Em 1923, foi ainda criada a Sociedade Esto-
ril-Plage, inteiramente dedicada a assuntos relacionados com o Parque Estoril, ficando a
Sociedade Estoril apenas associada à electrificação do ramal de Cascais.194
Foi a conclusão da modernização da linha de Cascais (1926) e a legalização da con-
cessão do jogo (1927), que deram um novo ânimo ao Parque Estoril, inaugurado a 6 de
Outubro de 1929, com a presença do Chefe de Estado, Óscar Carmona (1869-1951, p.
1926-1951), de vários membros do Governo. O Palace Hotel foi inaugurado em 1930 e
o novo casino em 1931. Some-se “(…) no inicio de Setembro de 1930, a transformação
da estação do caminho-de-ferro do Estoril no terminus do Sud-Express, que ligava a
nova estância a Paris”.195 (ver cronologia – anexo I)
Só então se podia afirmar que “(…) o Portugal ignorado passa ao domínio da lenda.
(…) uma obra de civilização e uma obra de patriotismo.”196 “O Estoril foi, em Portugal,
mais alguma coisa: foi a primeira verdadeira realização turística portuguesa. E é sob
esse aspecto que Fausto de Figueiredo foi um grande precursor e a sua acção representa
uma página que não pode apagar-se, da vida portuguesa dos últimos quarenta anos”.
Neste projecto, o seu mentor foi “(…) como todos os criadores, ele foi tudo aqui: o ar-
quitecto, o urbanista, o decorador, o banqueiro, o mestre-de-obras, o engenheiro – e o
poeta”.197
192 O arquitecto e a sua equipa foram dispensados face à sua falta de competência, sendo substituídos pela liderança de António Rodrigues da Silva Júnior, o qual seguiu o projecto de Martinet. Por sua vez, o Con-selho Nacional de Turismo foi criado a 21 de Julho de 1929, visando “(…) coordenar os esforços de todos os organismos nacionais relacionados com o turismo, imprimindo-lhes uma orientação comum”, embora Fausto de Figueiredo seja da opinião de que este organismo não chegou a promover um real desenvolvi-mento desta actividade económica (FIGUEIREDO, 1936, p. 6). LOBO, p. 20. 193 Em 1918 foi aberto o concurso de projectos para este efeito, com o fito de angariação de capitais da Sociedade, tendo a Companhia Edificadora Portuguesa adquirido parcelas de terreno visando construir prédios para venda por conta própria. MARTINS, 2011, p. 38 e HENRIQUES, 2008, p. 226. 194 HENRIQUES, 2008, p. 227. 195 Neste contexto, Fausto de Figueiredo foi condecorado pela Ordem de Mérito Agrícola e Industrial. Os primeiros hóspedes oficiais do Palace Hotel foram o príncipe Takamatsu (irmão do Imperador do Japão) e a sua mulher, que se encontravam em lua-de-mel. HENRIQUES, 2008, pp. 228-230. 196 Estoril. Estação Marítima, Climaterica, Thermal e Sportiva, 1914. 197 CASTRO, 1951, p. 6.
63
4. A electrificação do ramal de Cascais: da perspectiva da Companhia Real
dos Caminhos de Ferro Portugueses e do ascendente de Fausto de Figueire-
do ao escrutínio à Sociedade Estoril.
Não obstante as medidas tomadas pela C.R.C.F.P. para incrementar o tráfego e
combater a concorrência do eléctrico da Carris, tornava-se imperativa a necessidade de
modernização! Tal foi compreendido de imediato pela própria Companhia, em 1903,
apenas dois anos após a adopção da nova tracção pela Carris: “(…) desde a concorrên-
cia da tracção eléctrica até Algés, e ameaçada ainda de futuro de maior decrescimento
se a tracção eléctrica for prolongada até Paço d’Arcos, é evidente que a única possibili-
dade de manter e talvez desenvolver o tráfico da linha de Cascais será pela aplicação da
electricidade, aproveitando-se as suas vantagens ao barateamento dos preços”.198
A adopção pioneira do eléctrico pela Companhia Carris de Ferro de Lisboa que
beneficiou, logo a priori, por ter sido implementado de forma definitiva, tinha demons-
trado que a tracção eléctrica constituía uma mais-valia para o tráfego dos passageiros
lisboetas, incutindo a ideia de que uma outra empresa poderia adoptar este recurso ener-
gético, com ele obtendo rendimentos superiores, ao mesmo tempo que motivava o de-
senvolvimento das indústrias urbanas, considerando as infra-estruturas e os materiais
necessários a tal modernização.199 Contudo, no seio da própria C.R.C.F.P. havia consci-
ência de que esta não tinha meios para executar este empreendimento – “sabe V. Exª. e
o Governo (…) qual a sua situação, condições de vida e dificuldades, que atravessamos
e que o normal crescimento das receitas nos garantia vencer em breve, se não fora a
nova crise (…). Daí a depressão das receitas, em que infelizmente continuamos (…)”.200
Neste sentido, logo em 1903 previu-se o arrendamento do ramal de Cascais, podendo tal
partir da criação de uma nova companhia. O prazo para esta outorga era de 50 anos,
mediante a electrificação da via e cabendo à C.R.C.F.P. uma percentagem do rendimen-
to excedente, invocando-se ainda a possibilidade de indicação de representantes seus
para o corpo administrativo da nova empresa. No mesmo documento ficou ainda patente
que a nova concessionária devia prolongar o ramal até à Marinha (situada um pouco
mais além da estação de Santa Apolónia, possivelmente, motivado pelo tráfego de mer-
cadorias), um espaço férreo correspondente a 5 quilómetros, logo, propondo uma exten- 198 AHFCP, Carta da C.R.C.F.P., 1903, p. 1. 199 Gazeta dos Caminhos-de-ferro, Nº 339, 01.02.1902, p. 49. 200 AHFCP, Carta enviada ao Ministro do Fomento pela Companhia dos Caminhos de Ferro, s.d., p. 1.
64
são superior aquela que foi inicialmente pretendida, com terminus em Santa Apolónia e
que, até à data, ainda não tinha sido construída.201
Contudo, embora a ideia de concessão da electrificação e exploração do ramal de
Cascais remonte a 1903, só a partir do último mês de 1913 esta se começou a desenvol-
ver de forma consistente, coincidindo com a emergência do nome de Fausto de Figuei-
redo nos extratos de acta da Comissão Executiva da C.R.C.F.P.
Pode-se questionar o porquê deste distanciamento de dez anos entre o esboçar da
ideia de modernização e a sua efectivação. Será que Fausto de Figueiredo, em 1903,
ainda não detinha um(a) posição/cargo sólido na C.R.C.F.P., capaz de tornar os seus
ideais vanguardistas susceptíveis de serem colocados em prática? Estaria este a estender
a sua rede clientelar, tendo em vista recrutar um apoiante no meio político, que apresen-
tasse o seu projecto à Câmara dos Deputados? Perante a incapacidade da C.R.C.F.P. e a
percepção de que esta era a melhor opção, possivelmente, a electrificação poderia ter
sido levada a cabo de forma mais rápida. Ou seria necessário a visão de um empreende-
dor como Fausto de Figueiredo? Sabe-se que o empresário representou José Amaral na
Assembleia Geral dos Obrigacionistas desta Companhia (embora se desconheça o ano),
o que lhe permitiu ascender ao Conselho de Administração da mesma.202 Pode-se ques-
tionar se, sendo ele o «pai» da electrificação do ramal, em 1903, já estaria a mover os
seus interesses enquanto representante do seu mentor, consolidando a sua posição na
administração da empresa a partir de 1913 e permitindo-lhe levar avante o seu projecto.
É evidente o seu destaque no seio da Comissão Executiva a partir do último mês de
1913 podendo-se, igualmente, distinguir a pressão por ele exercida para a prossecução
da modernização do ramal de Cascais. Não se pode esquecer que, em 1914, o mesmo
apresentou o projecto turístico para o Parque Estoril, estando a electrificação do ramal
integrada neste ideal de um Estoril cosmopolita, o que ajuda a justificar todas as movi-
mentações do empresário.
Como referido, o empresário é invocado pela primeira vez nos extractos de acta da
Comissão Executiva da C.R.C.F.P. no final de 1913 - “o Snr. Fausto de Figueiredo diz 201 Acrescente-se que retomar-se-iam as carruagens de duas classes, em detrimento de três, dividindo-se o preço dos bilhetes em duas zonas: uma, compreendida entre Cascais e Oeiras e, a outra, entre Oeiras e a Marinha, sendo a tarifa para cada um dos troços de 100 réis para a 1ª classe e 50 réis para a 2ª. Tendo em consideração a comodidade daqueles que se deslocavam no ramal de Cascais, deviam circular comboios com a periodicidade de 15 minutos durante o dia e, de noite, com intervalos de 30 minutos. “A Compa-nhia, pelo seu actual serviço de Verão tem 130 comboios diários e pelo novo projecto ficaria tendo 132 comboios” (AHFCP, Carta da C.R.C.F.P., 1903, p. 1). 202 HENRIQUES, 2008, p. 223 e CRUZ, 2004, p. 629.
65
achar muito importante para a exploração da linha de Cascais a electrificação da mesma
linha, pois lhe consta haver que[m] se proponha fazê-la [não se referindo quem], e neste
sentido poderá procurar-se entrar em negociações, salvaguardando sempre os interesses
da Companhia”.203 Estava dado o mote para a concessão da electrificação e exploração
do ramal de Cascais, em associação ao nome de Fausto de Figueiredo.
Numa sessão da Comissão Executiva da C.R.C.F.P. do ano seguinte
(18.03.1914), Fausto de Figueiredo refere que, não podendo a Companhia proceder à
electrificação por conta própria, devia arrendar o ramal em troca da sua modernização.
Caso a empresa aceitasse esta proposta, apelou para que fosse submetida ao Comité de
Paris, dando o parecer ao Governo e, depois, à Assembleia Geral dos Obrigacionistas.204
Neste contexto, é retomada a questão da extensão da via-férrea a Santa Apolónia, deci-
são que Fausto de Figueiredo apelou para que fosse tomada antes de qualquer conces-
são. Estaria o empresário a clarificar o que estava em causa no processo de electrifica-
ção ao qual pretendia concorrer? Efectivamente, a 22 do mesmo mês, este pediu a “(…)
modificação do prazo de concessão a fim de ser garantido o número de anos da sua ex-
ploração”, o que demonstra que visava conduzir as decisões da C.R.C.F.P. de forma a
coincidirem com as do seu projecto.205 Neste caso, nenhum elemento da Comissão Exe-
cutiva apresentou inconvenientes, pedindo Fausto de Figueiredo que a proposta de mo-
dernização do ramal fosse apresentada ao Parlamento, o qual devia determinar o prazo
máximo de concessão e o prolongamento ou não da via-férrea a Santa Apolónia.206
Assim, o pedido de autorização da transformação da tracção a vapor para a trac-
ção eléctrica do ramal de Cascais foi apresentado à Câmara dos Deputados por Achiles
Gonçalves Fernandes (1880-1915, dep. 1911-1915), em 1914. Faria este parte da «rede
clientelar» de Fausto de Figueiredo? 207 Não obstante esta questão, na carta introdutória
é apontada a vantagem de tal empreendimento – “a transformação referida é de grande
alcance para o progresso e desenvolvimento do Turismo por facilitar, tornando-a mais 203 AHFCP, Extracto da acta nº 912 da Sessão da Comissão Executiva de 24 de Dezembro de 1913. 204 Na mesma sessão, a Comissão Executiva aceitou a proposta de arrendamento com obrigação de elec-trificação, referindo-se que se devia preparar uma exposição para ser apresentada ao Comité de Paris. É ainda de ressaltar a persistência da ideia de que o ramal de Cascais devia ter continuidade, prolongando-se até Santa Apolónia, como estipulado aquando da sua construção. AHFCP, Extracto da Acta nº 925 da Sessão da Comissão Executiva de 18 de Março de 1914. 205 AHFCP, Extracto da Acta nº 932 da Sessão de Comissão Executiva de 22 de Abril de 1914. 206 AHFCP, Extracto da Acta nº 297 da Sessão de Comissão Executiva de 9 de Maio de 1914. 207 Achiles Fernandes, nascido em Lisboa, estudou Direito na Universidade de Coimbra, exercendo advo-cacia na cidade de onde era oriundo. Foi em Coimbra que iniciou a sua actividade política, integrando o P.R.P. Foi deputado da Câmara dos Deputados (1911-1915) e representante desta Câmara na Junta do Crédito Público. Na primeira metade de 1914 ocupou a Pasta do Fomento. MARQUES, s.d., p. 237-238.
66
rápida, a ligação da Capital com a região que vai transformar-se numa estação de Tu-
rismo”. Constituindo esta modernização um benefício para o sector turístico nacional,
Achiles Fernandes crê que o Governo devia contribuir para o desenvolvimento desta
actividade “(…) que virá melhorar as condições económicas do nosso País e a sua acção
neste sentido deve actuar rapidamente para não deixar esmorecer as forças vivas que se
manifestam em plena actividade”. Neste sentido, na proposta de lei aponta-se para a
concessão da electrificação e exploração por 50 anos, detendo o Estado uma participa-
ção nos lucros que a Companhia recebesse do concessionário, nomeadamente, 20% do
excedente, desde que superior ao último rendimento líquido.208 Nada é referido no que
concerne ao troço a construir entre o Cais do Sodré e Santa Apolónia.
A pressão exercida por Fausto de Figueiredo é notória, revelando a ligação entre
a modernização do ramal e o seu projecto turístico. Tal é levado ao extremo na reunião
da comissão Executiva da C.R.C.F.P., em Julho de 1914, na qual refere o empresário
que “(…) não tendo ainda o Governo respondido ao nosso ofício (…) de 21 de Maio
último, sobre a electrificação do Ramal de Cascais, propõe que seja expedido novo ofi-
cio recordatório e fazendo ver a necessidade de se conhecer com urgência a sua respos-
ta, - o que é aprovado”.209 O ofício foi enviado no mesmo dia, o que demonstra o/a po-
der/autoridade de Fausto de Figueiredo no seio da Comissão Executiva da C.R.C.F.P.
O empresário «assiste» à primeira aprovação governamental do seu projecto de
modernização do ramal de Cascais no Decreto nº 1 046, constante no Diário de Gover-
no (14.11.1914). Várias foram as vantagens enumeradas para tal tomada de decisão:
“atendendo a que é de grande utilidade a transformação da linha férrea de Cascais em
tracção eléctrica, tornando mais rápidas e mais económicas as comunicações entre Lis-
boa e as localidades por ela servidas; atendendo a que esta transformação é de grande
incremento turístico, nacional e estrangeiro, e virá trazer à região que borda o Tejo e o
mar, desde Algés a Cascais, o aumento de visitantes aos seus atractivos naturais; aten-
dendo a que o Estado tem a lucrar com a sua execução, porque virá a auferir lucros efec-
tivos e proporcionais ao rendimento da linha, enquanto hoje é nula a sua participação
nas receitas respectivas, que não cobrem as despesas de exploração; atendendo às repre-
sentações feitas a favor da electrificação da linha férrea de Cascais pela Câmara Muni-
cipal de Lisboa, Associação Comercial de Lisboa, Associação Industrial Portuguesa e
208 AHAR, Projecto de lei nº347-A, 1914. 209 AHFCP, Extracto da Acta nº 297 da Sessão da Comissão Executiva de 15 de Julho de 1914.
67
Sociedade de Propaganda de Portugal; atendendo a que a Companhia dos Caminhos de
Ferro Portugueses manifestou estar de acordo com a transformação da linha (…)”.210
Perante tais benefícios, o Governo autorizou a electrificação pela C.R.C.F.P., outro
indivíduo, empresa ou sociedade, fixando o prazo de concessão de 50 anos a partir da
data do arrendamento e determinando que o Estado receberia lucros, oriundos da con-
cessão da Companhia “(…) desde que sejam superiores à quantia que foi o último ar-
rendamento líquido daquela linha, mas só na parte de exceder esse rendimento”, ou seja,
o Estado receberia 20% desse excesso. É de referir que, caso a modernização fosse feita
pela C.R.C.F.P., existiria uma “(…) coparticipação do Estado [a qual] será só na parte
do rendimento da Companhia que exceder um total que seja a soma do rendimento lí-
quido (…) com a importância destinada à amortização dos encargos da transformação
da linha”. O alvará de 1889 continuava em vigor, logo, o Governo seria soberano na
aprovação (ou negação) do contrato de concessão, limitando o poder da C.R.C.F.P. 211
Para além do Governo, também o Comité de Paris consentiu este projecto – “le Co-
mité autorize l’ouverture de négotiations à ce sujet, en réservant les droits de la Compa-
gnie pour que le ligne soit prolongée jusqu’à Sta. Apolonia d’après les contrats de con-
cession”.212 Mediante tais aprovações, a Comissão Executiva da C.R.C.F.P. considerou
que deveria convidar a concorrer as seguintes empresas: Estoril – Sociedade Anonyme;
Companhias Reunidas de Gaz e Electricidade; Lisbon Electric Tramway Cº.; A.E.G.
Thomson Houston Iberica; Companhia Portugueza de Electricidade; Siemens Schuckert
Werke; General Electric Company – New York; British Westinghouse Electric – Man-
chester; Kerr. – London; Société Alsacienne de Constructions Mécaniques – Mulhouse;
Ayéliers Construction Oerlikon et Brown Boveri (Casa Suissa, de Baden, representada
pelo Snr. Wilmann).213
Apelando à autorização do Conselho de Administração da C.R.C.F.P., Fausto de Fi-
gueiredo envia uma carta no final de 1914 (quase meio ano antes da abertura da recep-
ção de propostas), na qual propõe o arrendamento da linha de Lisboa a Cascais, tendo
como contrapartida a sua electrificação no prazo de 2 anos a contar da assinatura do
contrato, sem qualquer encargo para a Companhia, a qual deveria garantir a cedência
por 50 anos do serviço de tracção eléctrica. A C.R.C.F.P. receberia uma renda anual e,
210 Diário do Governo, I Série – nº 213, 14 de Novembro de 1914, decreto nº 1046, p. 11. 211 Diário do Governo, I Série – nº 213, 14 de Novembro de 1914, decreto nº 1046, pp. 11-12. 212 AHFCP, Extrato da Acta nº 264 da Sessão do Comité de Paris de 21 de Novembro de 1914. 213 AHFCP, Extrato da Acta nº 993 da Sessão da Comissão Executiva de 5 de Maio de 1915.
68
findo o período de concessão, passavam para a sua posse o ramal, material fixo e circu-
lante, bem como as estações geradoras de energia.214
Durante o período de electrificação, no qual ainda estava a funcionar a tracção a va-
por, a C.R.C.F.P. seria responsável por assegurar o tráfego, não se interrompendo a ex-
ploração. Cabia-lhe ainda fornecer os terrenos necessários para a instalação de infra-
estruturas, como a estação geradora de electricidade, determinando o seu local de fixa-
ção. Paralelamente, demonstrando a mais-valia para o público da electrificação do ramal
de Cascais e, simultaneamente, o carácter concorrencial da nova fonte de energia, na
mesma carta é referido que “(…) o preço da I classe será semelhante ao da II actual e o
da 3ª inferior ao actual (…)”.215
O real interesse na modernização do ramal de Cascais da parte de Fausto de Figuei-
redo, nomeadamente, a sua articulação ao projecto turístico do Parque Estoril, só foi
revelada após as duas aprovações anteriores (do Governo e do Comité de Paris, ainda
que existam afirmações anteriores nos extratos de acta que remetam para esta ligação).
Neste sentido, é referido que Fausto de Figueiredo e Augusto Carreira de Sousa tinham
interesse pela electrificação por constituir um “(…) complemento da obra que os dois se
propuseram fazer a favor do turismo, tendo enviado [sic] todos os esforços para que ela
se faça o quanto antes”. O Presidente da Comissão Executiva defendeu que era justa a
outorga da concessão da electrificação e exploração ao empresário, em igualdade de
circunstâncias perante os restantes concorrentes, tendo em consideração o capital por
este despendido nas obras do Estoril.216 Porém, sem motivo conhecido, no início de
1915, “Snr. Fausto de Figueiredo faz ciente à Comissão Executiva que de acordo com o
seu colega Augusto Carreira de Sousa desistiram de fazer a sua proposta de electrifica-
ção como era intenção sua, não necessitando portanto de fazer uso da autorização que
lhe foi conferida pelo Conselho de Administração em sua sessão de 31 de Dezembro
último”217.
214 AHFCP, Carta de Fausto de Figueiredo ao Conselho de Administração da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, a 31 de Dezembro de 1914, pp. 1-2. 215 AHFCP, Carta de Fausto de Figueiredo ao Conselho de Administração da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, a 31 de Dezembro de 1914, p. 2. 216 Para além da aceitação da parte do referido Presidente, some-se a referência de Vasconcellos Corrêa, o qual considerou que os capitais investidos por Fausto de Figueiredo na C.R.C.F.P. lhe davam o direito de preferência. AHFCP, Extracto da acta nº 968 da Sessão da Comissão Executiva de 2 de Dezembro de 1914, p. 2. 217 AHFCP, Extracto da Acta nº 980 da Sessão da Comissão Executiva de 24 de Fevereiro de 1915.
69
Em 1915 foi apresentado o Programa do Concurso e Caderno de Encargos. Para se-
rem admitidas, as companhias deviam fazer chegar até 24 de Agosto, às 15h, na Secre-
taria da Direcção-Geral da C.R.C.F.P., em Santa Apolónia ou no Rossio, 20 000$, igual
valor em títulos de Dívida Pública Portuguesa ou obrigações de 1º grau na Companhia
arrendatária. No prazo de 15 dias da publicação do concorrente preferencial em Diário
do Governo, este devia elevar o depósito para 100 000$000, sob pena de perca do mes-
mo para a Companhia. A C.R.C.F.P. detinha ainda o poder de rejeição de todas as pro-
postas, se assim o considerasse.218
Tal como se processou aquando da construção do ramal, também no que concerne à
electrificação a locatária devia levar a cabo os estudos, projectos e obras inteiramente a
seu cargo, mediante a aprovação da Companhia e, depois, do Governo, após a apresen-
tação de um plano a este último no prazo máximo de 4 meses a contar da assinatura do
contrato. Por sua vez, os trabalhos deviam iniciar-se em 10 meses, findando em 2 anos,
sob a pena de perda de 1/10 do depósito por cada mês de atraso.219
Quanto ao pagamento da renda, estipulou-se que a concessionária devia pagar à
Companhia uma renda anual, até 30 de Dezembro (e a percentagem complementar após
4 meses), desde que as receitas brutas fossem superiores a 45 000$000 nos 5 primeiros
anos e 50 000$000 nos seguintes, bem como 30 000$000 por despesas gerais.220
Tendo em consideração a utilidade pública do ramal de Cascais, no serviço
combinado de passageiros e mercadorias, as obras de electrificação não podiam afectar
o normal funcionamento da tracção a vapor que, como foi referido, continuaria vigente
até à inauguração do novo tipo de energia. Em caso de perturbação, a nova concessioná-
ria tinha de pagar uma indemnização no prazo de 30 dias. Por outro lado, o locatário não
podia invocar o funcionamento a vapor como motivo para prolongar o prazo de electri-
ficação. Estas obras deviam ser concretizadas com o melhor material, mediante a autori-
zação do Governo, após aprovação da Companhia. Esta última devia entregar os terre-
218 Cada proposta deveria ser entregue num envelope fechado com a legenda Proposta para a electrifica-ção e arrendamento da linha de Cascaes, nele contendo a proposta de renda assinada, a exposição ou memória descritiva dos trabalhos a realizar e o certificado do depósito (o qual era levantado pelas compa-nhias às quais não fosse entregue a concessão, constituindo a garantia do cumprimento do contrato). Elec-trificação do Ramal de Cascas – Condições Geraes do Concurso, 1915, p. 15. 219 Electrificação do Ramal de Cascas – Condições Geraes do Concurso, 1915, pp. 16-17. 220Electrificação do Ramal de Cascaes – Condições Geraes do Concurso, 1915, p. 18.
70
nos necessários à transformação ou instalação de infra-estruturas, sem qualquer custo,
tendo ainda o direito de ligar o ramal às suas linhas ou atravessá-lo.221
O locatário devia ainda demonstrar que, sendo ou não proprietário de uma esta-
ção geradora de energia, era capaz de produzir electricidade para o completo e bom fun-
cionamento do ramal. A sua utilização para fins não relacionados com a circulação da
via-férrea dependiam da sanção do Governo.222
A entrega do ramal à nova concessionária só era feita após autorização do Go-
verno para exploração da nova tracção, quando tivessem concluídos os trabalhos. Só
então se assinaria o contrato, sendo a concessão por 50 anos.223 Concluído o contrato de
concessão ou perante uma rescisão, “a linha será entregue em condições da Companhia
locadora poder continuar a exploração sem interrupção alguma e pelo mesmo sistema
eléctrico, se lhe convier, como se arrendamento não tivesse havido e somente a emprei-
tada de transformação, que fica paga pelos lucros eventuais da exploração, sem mais
encargo algum para a Companhia locadora”.224 Quanto à estação geradora de energia,
esta ficaria como parte integrante do material fixo do ramal, logo, pertencendo ao domí-
nio público e sendo restituída ao Estado finda a concessão.225
Fausto de Figueiredo e o seu sócio Augusto Carreira de Sousa voltaram atrás na
sua decisão de renúncia à proposta de electrificação e exploração do ramal de Cascais.
Neste sentido e no âmbito do concurso, representados pela Sociedade Estoril, em Agos-
to de 1915, entregaram o seu projecto de modernização, remetendo para algumas vanta-
gens da electrificação enunciadas no ponto 1 do presente capítulo. A intenção era cla-
ramente modernizadora, reflectindo o futuro crescimento do serviço férreo no ramal
Cascais – pretendia-se que o horário aplicado fosse igual ao da Companhia em normal
funcionamento, aumentando-se o número de comboios assim que o tráfego de passagei-
ros o exigisse, considerando-se a realização de estudos para um serviço normal (corres-
pondente a 220 dias) e outro intensivo (representativo de 145 dias), podendo este último
221 Electrificação do Ramal de Cascaes – Condições Geraes do Concurso, 1915, pp. 17-18. 222 Electrificação do Ramal de Cascaes – Condições Geraes do Concurso, 1915, p. 17. 223 AHFCP, Electrificação do Ramal de Cascaes. Projecto a submetter ao Conselho de Administração, 1915, p. 7. 224 AHFCP, Electrificação do Ramal de Cascaes. Projecto a submetter ao Conselho de Administração, 1915, p. 11. 225 Electrificação do Ramal de Cascaes – Condições Geraes do Concurso, 1915, p. 19.
71
estar associado à época de banhos ou ao período entre a Primavera e o Verão, no qual as
saídas rumo à vila de Cascais e ao espaço costeiro eram mais aprazíveis.226
Assim, no ante-projecto da Sociedade Estoril para a electrificação do ramal de
Cascais é referida a diminuição do tempo de viagem nos comboios rápidos (25 minutos,
parando em S. João do Estoril, Estoril, Monte Estoril, Cascais), semi-directos (35 minu-
tos, rápidos até Paço de Arcos e depois omnibus), comboios omnibus (25 minutos até
Paço de Arcos, incluindo paragens), entre o Cais do Sodré e Cascais (45 minutos com
paragens) e entre o Cais do Sodré e Algés (15 minutos com paragens). Estes comboios
atingiriam os 75 Km/h, reduzindo o tempo de paragem para um máximo de 30 segundos
em cada estação, o que permitiria “(…) 210 comboios diários, na hipótese de 20 horas
de serviço (…)”, embora se considere que tal valor variasse de acordo com a hora do dia
e estação do ano, o que também justifica a adopção de automotoras de 3 classes, ainda
que se soubesse que a proporção de passageiros por classe não era uniforme, “(…) pois
que até Algés há um maior movimento de passageiros de 3.ª classe, e para os Estoris e
Cascais é relativamente maior a percentagem de passageiros de 1.ª e 2.ª classes”.227
No que concerne ao material circulante, determinou-se que “as automotoras te-
rão lugares de 1ª e 2ª classe. O número de lugares será de 16 para a primeira classe e 48
para a segunda, todos sentados, havendo ainda, em cada carruagem 8 lugares suplemen-
tares sentados (dobradiças) na primeira classe e 16 na segunda. A 1ª classe situar-se-ia
no meio da carruagem tendo dois compartimentos de 2ª classe nas extremidades”. Cada
automotora seria ainda dotada de um compartimento para bagagens, o que remete para o
fito de vilegiatura desde os primórdios associado ao ramal de Cascais. Existiriam ainda
carruagens mistas, com 20 lugares de 1ª classe, 48 de 2ª e 140 de 3ª, sem qualquer com-
partimento para bagagens o que, pela adopção de carruagens deste último tipo, pode
estar associado a deslocações de índole pendular.228
Contudo, a Sociedade Estoril não foi a única a apresentar uma proposta, tendo-o
o feito não só empresas nacionais, como internacionais de renome. Apresento, de segui-
da, uma tabela descritiva das mesmas:
226 AHFCP, Memoria Descritiva dos Trabalhos que o Concurrente se Propoe Executar para a Electrifi-caçao e Subsequente Exploraçao da Linha de Cascaes e Modo de Fazer esses Trabalhos, 1915, pp. 1-2, 20. 227 Revista de Obras Públicas e Minas, 1997, p. 2, 7 e 14. 228 AHFCP, Memoria descritiva dos trabalhos que o concorrente se propoe executar para a electrifica-çao e subsequente exploraçao da linha de Cascaes e modo de fazer esses trabalhos, pela Sociedade Esto-ril, 1915, pp. 1, 4, 17, 19.
72
Tabela 1. Empresas que concorreram à concessão do ramal de Cascais.
Nacionais Internacionais
Companhia Portugueza de Electricida-
de
A.E.G. - Thomson Houston Iberica
Companhias Reunidas de Gaz e Elec-
tricidade
Ateliers de Construction Oerlikon
Estoril – Sociedade Anonyme British Westinghouse Electric
Lisbon Electric Tramway Cº. General Electric Company
Kerr
Société Alsacienne de Constructions Méca-
niques
Société Anonyme Brown, Boverie & Cie de
Baden
Fonte: AHFCP, Extracto da Acta nº 993 da Sessão da Comissão Executiva de 5 de Maio de 1915.
Contudo, em virtude do deflagrar da I Guerra Mundial (1914-1918), todas estas
empresas, excepto uma, acabaram por cancelar as suas propostas, o que justifica que na
acta de 25 de Agosto de 1915 se leia: “o Snr. Presidente participa à Comissão Executiva
que acaba de se proceder à abertura das propostas para a electrificação e arrendamento
do Ramal de Cascais, cujo concurso estava marcado para hoje pelas 15 horas, tendo
sido presente uma única proposta da – “Estoril, - Sociedade Anónima de Responsabili-
dade Limitada”.229 Todos os accionistas da C.R.C.F.P. aprovaram esta concessão, com
229 AHFCP, Extracto da Acta nº 1008 da Sessão da Comissão Executiva de 25 de Agosto de 1915. A título de exemplo, a A.E.G. declarou não poder electrificar o ramal de Cascais, “(…) supondo que no mesmo caso estarão quase todas as Sociedades similares e que no caso de ela [concessão] ser adiada dese-jaria ser novamente convidado a concorre”. A Société Alsacienne de Constructions Mécaniques, justifi-cou o cancelamento da proposta por “(…) ter todo o seu pessoal de tracção mobilizado”. A Ateliers de Construction Oerlikon desistiu, “(…) oferecendo-se no entanto para fornecer locomotivas e materiais eléctricos”, posição similar à da Société Anonyme Brown, Boverie & Cie de Baden, que afirmou “(…) concorrer ao fornecimento e montagem do material eléctrico necessário para a transformação da linha existente e do material circulante, pedindo então um prazo de 2 " a 3 meses para a entrega do seu projec-
73
excepção de Henrique Carlos Meirelles Kendall (1839-1917), que não concordou nem
com o arrendamento nem com o prazo de 50 anos fixado, por motivo que não é explici-
tado, mas que pode estar articulado com a ligação que este poderia ter a alguma das
empresas que se propôs como concessionária.230
Aprovada a concessão à Sociedade Estoril, o contrato entre esta última, tida co-
mo terceira outorgante, o Governo, primeiro outorgante e a C.R.C.F.P., segundo outor-
gante, foi assinado a 7 de Agosto de 1918231, não sendo apresentado um justificativo
para a morosidade deste processo, que poderá estar relacionado com factores diversos e,
sobretudo, com o envolvimento de Portugal na da I Guerra Mundial232.
Direitos e/ou deveres para com o Estado
to” AHFCP, Extracto da Acta nº 1003 da Sessão da Comissão Executiva de 7 de Julho de 1915; Extracto da Acta da Conferência da Sessão da Comissão Executiva de 21 de Julho de 1915; Extracto da Acta da Conferência da Sessão da Comissão Executiva de 14 de Julho de 1915; Extracto da Acta nº 1008 da Sessão da Comissão Executiva de 25 de Agosto de 1915 (respectivamente). 230 AHFCP, Acta da Assembleia Geral Extraordinária, em 2ª reunião dos accionistas d’esta companhia, constituída em 17 de Novembro de 1915, pp. 1-2. 231 O Governo era representado por Joaquim Mendes do Amaral, Secretário de Estado do Comércio, a C.R.C.F.P. pelos seus administradores José Adolfo de Melo Sousa e Manuel Francisco da Costa Serrão e a Sociedade Estoril pelos seus directores José Carreira de Sousa e João de Sommer Ribeiro. Pode-se ques-tionar porquê não foi invocado, neste contexto, o nome de Fausto de Figueiredo. Pela participação simul-tânea na administração da C.R.C.F.P. e na Sociedade Estoril não lhe seria permitido entrar na assinatura de contrato, por poder ser entendido como uma valorização dos seus interesses pessoais? Termo de Con-trato de Transformação em Sistema de Tracção e do Arrendamento da Exploração do Troço da Linha Ferrea Compreendido entre Lisboa (Caes do Sodré) e Cascaes Feito pela Sociedade Anonima de Res-ponsabilidade Limitada “Estoril” e Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses com Aprovação do Governo, 1918, p. 4. 232 ROSAS, 2010, p. 290 e RAMOS, 2010, p. 607.
C.R.C.F.P.
20% da renda paga pela Sociedade Estoril por 50 anos (sempre que superior a 63 190$73 - receita líquida do Balanço de 1917). Prazo de pagamento: 60 dias a partir da recepção ou aprovação das contas de exploração da linha.!
Sociedade Estoril
A n t e r i o r e s e n c a r g o s d a C.R.C.F.P. determinados pelo contrato de 14.07.1859 e pelo alvará de 09.04.1887. Cumprimento das claúsulas do Programa do Concurso e Caderno de Encargos para a electrificação do ramal de Cascais.!
74
Direitos e/ou deveres para com a C.R.C.F.P.
Direitos e/ou deveres para com a Sociedade Estoril
Imagem 1. Direitos e deveres entre cada uma das partes outorgantes do contrato de 7 de Agosto de 1918
entre o Governo, a C.R.C.F.P. e a nova concessionária do ramal de Cascais, a Sociedade Estoril.
Fonte: Termo de Contrato de Transformação em Sistema de Tracção e do Arrendamento da Exploração
do Troço da Linha Ferrea Compreendido entre Lisboa (Caes do Sodré) e Cascaes Feito pela Sociedade
Anonima de Responsabilidade Limitada “Estoril” e Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses
com Aprovação do Governo, 1918.
Tal como referido na proposta de Fausto de Figueiredo, no concurso aberto pela
C.R.C.F.P. e, depois, no projecto apresentado pela Sociedade Estoril, o contrato estipu-
lava a passagem da tracção a vapor para a tracção eléctrica, mediante um prazo de con-
cessão de 50 anos. Somem-se os deveres e direitos de cada um dos outorgantes perante
os restantes, especificados na imagem 1.
Na fase transitória de passagem da tracção a vapor para a tracção eléctrica, a
contar a partir de 15 de Agosto de 1918, a Sociedade Estoril encarregava-se de explorar
Sociedade Estoril
Transformação da tracção. No período de tracção a vapor (anualmente): Indemnização de parte das despesas gerais da Companhia: 30 000$. 10% da receita bruta (mínimo 45 000$) Pelo uso do material e amortização do mesmo: $02/km (mínimo de 15 000$) Prazo de pagamento: 30 de Dezembro + diferenças do valor percentual 4 meses após o fim do ano civil. !
C.R.C.F.P.
Concessão por 50 anos. Mão-de-obra. Durante a exploração a vapor: material fixo e circulante.!
75
o ramal de Cascais pela tracção vigente até conclusão da sua modernização. Como tal,
durante este período, esta era obrigada a pagar à Companhia os elementos referidos na
imagem 1. Não obstante, como no primeiro ano o ramal não foi explorado desde o seu
início civil pela Sociedade Estoril, considerou-se o pagamento dos valores proporcio-
nais ao tempo de exploração.233
Em termos de direitos da Sociedade Estoril perante a C.R.C.F.P., esta última
“(…) porá à disposição (…) o pessoal da exploração da linha de Cascais, que o terceiro
[outorgante] queira conservar, durante a totalidade ou parte do período de 6 meses (…)”
ou pelo período que a Sociedade desejar. Salvaguardando os trabalhadores nesta transi-
ção, era apontado que a adjudicatária não podia, em cada um desses 6 meses, dispensar
mais do que uma sexta parte do pessoal conservado. Por outro lado, enquanto o terceiro
outorgante mantivesse a tracção a vapor, o pessoal continuava a pertencer à Companhia.
Para além da força humana, a Companhia devia ainda colocar ao dispor da Sociedade
Estoril o material fixo e circulante – “(…) tudo quanto é inerente a essa exploração, e
em especial todo o material necessário (...)”. O material utilizado devia permitir à Soci-
edade Estoril a adopção de um horário igual ao de 1917, com um mínimo de 7 locomo-
tivas, 6 fourgons e 29 carruagens, aceitando ainda a C.R.C.F.P. um aumento de 50 car-
ruagens quando necessário, o que demonstra a supremacia do serviço público e de uma
continuidade daquilo a que os passageiros e transportadores de mercadorias estavam
habituados. Possivelmente, este aumento do número de carruagens estava associado à
época de veraneio e banhos, indo igualmente ao encontro de uma ideia de continuidade
do serviço em prol dos transeuntes. Aquando da inauguração da tracção eléctrica, o ma-
terial circulante devia retomar à posse da Companhia. Paralelamente, se a Sociedade
Estoril recebia todas as receitas de exploração do ramal de Cascais, também eram por
sua conta as despesas de conservação e exploração do mesmo, nomeadamente, os en-
cargos com o pessoal e reparações de material (ainda que coubesse à C.R.C.F.P. as re-
parações no material por ela fornecido, a um custo sem lucro)234.
233 Termo de Contrato de Transformação em Sistema de Tracção e do Arrendamento da Exploração do Troço da Linha Ferrea Compreendido entre Lisboa (Caes do Sodré) e Cascaes Feito pela Sociedade Anonima de Responsabilidade Limitada “Estoril” e Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses com Aprovação do Governo, 1918, p. 4. Contudo, de acordo com o Diário de Notícias¸ a exploração do ramal de Cascais por tracção a vapor só passou para a Sociedade Estoril a 19 de Agosto de 1918. No mesmo jornal acrescenta-se que “hoje devia ser inaugurado o novo horário da C.S.E., nova empresa, que devido a casos fortuitos de última hora, só poderá ser iniciado no dia 22 do corrente. O novo horário será 80 comboios (…)” (Diário de Notícias, Nº 18 953, 19.08.1918). 234 Termo de Contrato de Transformação em Sistema de Tracção e do Arrendamento da Exploração do Troço da Linha Ferrea Compreendido entre Lisboa (Caes do Sodré) e Cascaes Feito pela Sociedade
76
Se existiam direitos e deveres em e entre cada umas das partes, também é verda-
de que se promovia uma reciprocidade entre a C.R.C.F.P. e a Sociedade Estoril, pois
ambas deviam “(…) assegurar, facilitar e desenvolver a exploração, em que ambas são
interessadas, da linha de Cascais”. Como tal, a primeira podia utilizar o ramal para
transportar combustível e materiais, sem pagar qualquer valor; enquanto a segunda po-
dia transportar na rede da primeira combustível, materiais, ferramentas e outro tipo de
elementos destinados tracção a vapor, pagando apenas as despesas de transporte (sem
qualquer lucro para a Companhia). Quanto às fontes de obtenção de energia eléctrica
para transformação da tracção no ramal, a Sociedade Estoril devia comunicar à
C.R.C.F.P. quaisquer contratos, devendo ainda fornecer à segunda a energia sobrante do
seu serviço, obtendo um lucro de apenas 5%, quer esta a utilizasse ou não.235
Já tendo a Sociedade Estoril “(…) elevado o seu depósito de garantia de 20
000$000 a 100 000$000 (…) [a C.R.C.F.P.] confirma essa adjudicação e autoriza a So-
ciedade adjudicatária a proceder aos estudos, planos e mais trabalhos para começar a
obra, e esta Sociedade adjudicatária, terceiro outorgante, obriga-se da sua parte ao pre-
sente contrato, e confirma a obrigação, em que está, de executar a obra dentro dos pra-
zos e sob as condições e termos do respectivo concurso (…)”.Como se verá, em virtude
da conjuntura externa, este artigo do contrato não foi cumprido.236
No que concerne à extensão do ramal de Cascais a Santa Apolónia, ficou deter-
minado que a Companhia continuava a deter o espaço entre esta última e o Cais do So-
dré para futura construção, a qual ficou a cargo do Estado. Não ficou, porém, definido
se essa construção iria ou não ser concretizada. Pode-se considerar que, mais uma vez,
esta questão ficou pendente, definindo-se apenas a pertença dos terrenos e a efectivação
da construção do troço, ao que a Sociedade Estoril ficou «imune».237
Anonima de Responsabilidade Limitada “Estoril” e Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses com Aprovação do Governo, 1918, pp. 7-8. 235 Termo de Contrato de Transformação em Sistema de Tracção e do Arrendamento da Exploração do Troço da Linha Ferrea Compreendido entre Lisboa (Caes do Sodré) e Cascaes Feito pela Sociedade Anonima de Responsabilidade Limitada “Estoril” e Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses com Aprovação do Governo, 1918, p. 5 e 9. 236 Termo de Contrato de Transformação em Sistema de Tracção e do Arrendamento da Exploração do Troço da Linha Ferrea Compreendido entre Lisboa (Caes do Sodré) e Cascaes Feito pela Sociedade Anonima de Responsabilidade Limitada “Estoril” e Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses com Aprovação do Governo, 1918, p. 4. 237 Termo de Contrato de Transformação em Sistema de Tracção e do Arrendamento da Exploração do Troço da Linha Ferrea Compreendido entre Lisboa (Caes do Sodré) e Cascaes Feito pela Sociedade Anonima de Responsabilidade Limitada “Estoril” e Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses com Aprovação do Governo, p. 6.
77
Findas as obras e cumpridas estas condições, a exploração pela Sociedade Esto-
ril iniciar-se-ia assim que estivesse concluída a electrificação, sem qualquer interrupção,
pelo prazo de 50 anos.238 Contudo, com a I Guerra Mundial todo este processo se atra-
sou, não permitindo a finalização da modernização do ramal no prazo de 2 anos. Visan-
do não prejudicar a Sociedade ficou “(…) entendido que o período de cinquenta anos se
começará a contar desde um ano depois de terminar a guerra”, sem qualquer multa para
a Sociedade. Assim, seria a partir de 5 de Maio de 1920 que se iniciaria a contagem para
o fim dos 50 anos de concessão.239
A I Guerra Mundial afectou o prazo de concessão, tal como o cumprimento dos
2 anos para conclusão dos trabalhos. A falta de homens, centrados no esforço de guerra,
era agravada pela situação económico-financeira e pela instabilidade política e social da
I República. Tal justifica que só em Setembro de 1924, a Sociedade Estoril tenha envia-
do um ofício a pedir autorização para iniciar os trabalhos de electrificação, nomeada-
mente, de estabelecimento dos cabos subterrâneos que forneciam a energia entre a Jun-
queira, onde se situava a Central Tejo - das Companhias Reunidas - e Paço de Arcos,
local da subestação geradora pertencente à Sociedade. Dada a demora da resposta, este
entidade enviou novo ofício ao Director da Fiscalização dos Caminhos-de-ferro recor-
dando o pedido e invocando os prejuízos derivados do atraso, considerando que “(…) se
trata de um trabalho cuja execução é muito morosa e difícil, pelo que todo o atraso que
238 Não se optou por tratar o contrato estabelecido entre a Sociedade Estoril e as Companhias Reunidas de Gaz e Electricidade no corpo do texto por ser demasiado técnico e, neste contexto, secundário. Não obs-tante, este contrato foi assinado entre as duas entidades a 10 de Abril de 1920, estipulando um prazo de 10 anos (a contar do início da utilização no ramal) e possibilidade de prolongamento por mais 5 (caso a So-ciedade o pretendesse, devendo ser solicitado 2 anos antes do fim do prazo inicial). Às Companhias cabia o fornecimento de energia eléctrica por cabos subterrâneos (pertencentes à Sociedade ou dela derivados) a partir da Central Tejo (na qual as Companhias Reunidas instalariam as infra-estruturas e equipamentos necessários).
Embora este contrato tenha um carácter exclusivo, pois a Sociedade só podia utilizar a energia desta Companhia, revelava-se vantajoso (e sendo assim preferível à construção da estação geradora e das duas subestações), pois esta podia ser aplicada não só à via-férrea, como em “(…) todos os serviços, institui-ções, dependências e instalações da Sociedade Estoril, da firma Figueiredo & Sousa , Limitada, da Sintra-Atlântico e outras empresas que pertençam a qualquer uma das três (…); no Parque Estoril e suas infra-estruturas, bem como propriedades com ele confinantes; nos terrenos que a Sociedade Estoril venha a adquirir para o desenvolvimento do Parque” (AHFCP, Escritura de 10 de Abril de 1920 entre a Socieda-de “Estoril” e as Companhias Reunidas de Gaz e Electricidade, p. 5). Ou seja, mais uma vez, tal como na questão política, o que estava em causa na assinatura deste contrato era a viabilidade dos projectos de Fausto de Figueiredo no seu todo, quer no que concerne à modernização do caminho-de-ferro, quer da sua estância turística. ACP, Escritura de 10 de Abril de 1920 entre a Sociedade “Estoril” e as Companhias Reunidas de Gaz e Electricidade, pp. 1-3, 5, 12. 239 Termo de Contrato de Transformação em Sistema de Tracção e do Arrendamento da Exploração do Troço da Linha Ferrea Compreendido entre Lisboa (Caes do Sodré) e Cascaes Feito pela Sociedade Anonima de Responsabilidade Limitada “Estoril” e Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses com Aprovação do Governo, 1918, p. 6 e AHFCP, Parecer. Prazo de execução do contrato “Estoril”, s.d., p. 3.
78
provenha da sua aprovação carretará possivelmente o adiamento da inauguração da
tracção eléctrica neste caminho-de-ferro”.240
Não obstante esta morosidade, em 1925, na Câmara dos Deputados a moderni-
zação do ramal de Cascais era perspectivada como uma mais-valia – “a electrificação de
linhas férreas, acção considerada hoje como um acto de vida nova para o futuro desen-
volvimento do País, e o estabelecimento de centrais eléctricas, hoje caríssimas, mas de
enorme e vasta utilidade para o país, quer estabelecidas junto dos cursos e quedas de
água, energia nova a aproveitar, quer junto de jazigos dos fracos carvões nacionais, im-
pedindo a saída de muito ouro para o estrangeiro, são actos de utilidade económica de
alto valor que o Estado tem o dever de amparar e até promover”. Não só a produção de
energia eléctrica não implicava a compra de carvão ao estrangeiro, como promovia o
desenvolvimento de indústrias nacionais a ela associadas. As vantagens inerentes à
adopção da tracção eléctrica levaram à aprovação de uma lei que estimulava a electrifi-
cação das linhas férreas nacionais ainda que, nesta fase inicial, tal apenas tenha sido
realizado na via-férrea em estudo.241
A conclusão da modernização do ramal de Cascais data de 15 de Agosto de
1926, tendo este sido entregue à Sociedade Estoril no final do mesmo ano, para explo-
ração por sistema eléctrico.242 A modernidade tinha chegado à marginal que ligava Lis-
boa a Cascais, constituindo a primeira via-férrea a ser electrificada em todo o País,
acompanhando a tendência internacional pela mão do empresário Fausto de Figueiredo -
“realizou-se no domingo passado a inauguração dos comboios eléctricos na linha de
Cascais. É a primeira iniciativa levada a cabo em Portugal, neste género, que muito hon-
240 FMNF, Processo referente à electrificação do caminho de ferro de Cascais. Instalação de cabos sub-terrâneos de alta tensão entre a Central Tejo e a subestação de Paço de Arcos - PT/FMNF/DGCF-DFECF//8/1268: Electrificação da linha de Cascais entre a Junqueira e Paço de Arcos (1924.09.10 – 1926-04-24). 241 Durante um prazo de 5 anos eram isentos de direitos de importação os materiais necessários para o assentamento e funcionamento das linhas electrificadas (incluindo material fixo e circulante), bem como o material para instalação de centrais eléctricas junto a quedas ou cursos de água e jazigos de carvão mi-neral (desde que ao abrigo desta lei, pois as isenções não compreendiam os materiais ou produtos que se fabricassem ou produzissem correntemente e em boas condições no nosso País) – Lei de 08.04.1924. Diário da Câmara dos Deputados, Legislatura 6, Sessão 4, 24.03.1925, pp. 7-8. 242 Neste termo de recepção definitivo estavam presentes, na estação do Cais do Sodré, Augusto Carreira de Sousa e Virgílio Cardoso de Figueiredo (Administradores da Sociedade Estoril, cunhado e irmão, respectivamente, de Fausto de Figueiredo que, indirectamente, neste acto se fazia representar), bem como Ruy Ennes Ulrich e António de Almeida Vasconcellos Corrêa (Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da C.R.C.F.P.). AHFCP, Termo de recepção definitiva das obras de electrificação do ramal de Cascais, de 30 de Dezembro de 1926, pp. 1-2.
79
ra aqueles que conseguiram pô-la em prática”.243 De acordo com a Gazeta dos Cami-
nhos de Ferro, em jornais de grande tiragem, como o Diário de Notícias e O Século,
“(…) podiam ler-se apreciações como estas: «espectáculo grandioso e belo de transfor-
mação do velho Estoril, numa nova estância», «é verdadeiramente assombroso o que se
tem feito no Estoril»”.244
As vantagens eram notórias, “a par da comodidade que oferece o novo sistema
de condução pela beleza do material circulante, temos também resolvido o problema do
tempo em que se faz o percurso do Cais do Sodré a Cascais, podendo-se assim intensifi-
car o tráfego de forma a proporcionar fartos meios de transporte”.245 Assim, às 11h30
saiu do Cais do Sodré o primeiro comboio eléctrico do País, “(…) transportando mem-
bros do Governo e altas individualidades, imprensa, e cerca de trezentos convidados”.
Mais uma vez, Fausto de Figueiredo, que entrou na estação de Paço de Arcos, não podia
deixar de atribuir visibilidade ao seu projecto do Parque Estoril, pois não só felicitou os
passageiros quando rumavam a Cascais, como no regresso, às 12h45 “(…) o comboio
parou no Estoril, dirigindo-se todos os convidados para o casino, pertencente à Socieda-
de do Estoril, onde se realizou o almoço oferecido por esta Sociedade. (…) Às 17,7 [sic]
partiu o comboio do Estoril, directamente para o Cais do Sodré, gastando no percurso
23 minutos”.246
Contudo, este símbolo de progresso e modernidade teve uma vida de curta dura-
ção, pois, dada a queixa apresentada pela Companhia do Cabo Submarino ao Governo,
6 dias após a inauguração do ramal de Cascais, o tráfego foi parcialmente suspenso
“(…) em virtude das perturbações notadas no funcionamento dos cabos submarinos da
estação de Carcavelos”.247 O que estava em causa era a dificuldade no envio e recepção
de telegramas, tendo-se colocado a hipótese de suspensão total do tráfego ferroviário da
via-férrea ou máxima redução do serviço, optando-se por esta última medida, permitin-
do a intervenção dos membros de fiscalização do Governo. Fausto de Figueiredo consi-
derou que a Sociedade Estoril não tinha qualquer culpa pois, em 1919, esta havia dado
conhecimento das obras à Companhia do Cabo Submarino, fornecendo os dados pedi-
243 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 928, 16.08.1926, p. 245. A inauguração da primeira linha de trac-ção eléctrica ocorreu nos E.U.A. (1882), seguindo-se a Suíça (1889), França (1900), Itália (1901) e Ingla-terra (1903). Esta tendência foi travada pela I Guerra Mundial, mas acelerou-se no período subsequente. 244 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 1747, 01.10.1960, p. 264. 245 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 928, 16.08.1926, p. 245. 246 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 928, 16.08.1926, p. 425. 247 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 928, 16.08.1926, p. 261 e AHFCP, Extracto da Acta nº 1 574 da sessão da Comissão Executiva de 18 de Agosto de 1926.
80
dos. A circulação foi interrompida durante cerca de 6 meses, só retomando o normal
funcionamento no final do de 1926, notando-se, à data, que “os prejuízos que da inter-
rupção deste serviço a Sociedade «Estoril» tem de sofrer são certamente grandes e difí-
ceis de compensar”.248 (ver cronologia – anexo I)
248Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 929, 01.09.1926, p. 261 e Caminhos-de-Ferro Portugueses. 1856-1914, s.d., p. 49.
82
1. As mutações urbanas dos séculos XIX e XX.
O crescimento urbano português foi lento, por comparação com a restante Euro-
pa. Tal está relacionado com o fraco desenvolvimento económico nacional, na primeira
metade de Oitocentos, e com o débil crescimento da indústria, que não estimulou a con-
centração populacional em núcleos urbanos. Por outro lado, o peso da população urbana
encontrava-se associado às duas maiores cidades portuguesas, Lisboa e Porto. “Essa
escassa urbanização, polarizada entre Lisboa e Porto, pouco se altera desde o princípio
da centúria (XIX) e indica o desfasamento do País no contexto europeu. Apesar da re-
cuperação em finais do século, este contínua a ser mais um País de vilas e grandes al-
deias do que de verdadeiras cidades”.249 Não se esqueça que, todavia, no contexto euro-
peu, as cidades de Lisboa e Porto apresentavam dimensões médias.
“A taxa de urbanização da Europa (excluindo a Rússia) evoluiu drasticamente
dos 19% em 1850 para os 48% em 1930. No caso de Portugal, (…) os valores eram
consideravelmente mais baixos, cerca de 13% em 1864 e 24% em 1930 (…). Sabendo-
se que existe uma relação entre a taxa de urbanização e a evolução da riqueza nacional,
este resultado é um sinal claro das dificuldades de modernização económica e social do
país”.250 Neste contexto, o peso de Lisboa na população urbana, em 1864, correspondia
a 37% e a do Porto a 17%, enquanto, em 1930, o valor da primeira cidade cresce pouco,
para os 39% e, o da segunda cidade diminui, para os 15,33%. Registe-se, desde as pri-
meiras décadas do século XX, o crescimento populacional significativo dos núcleos
urbanos de média dimensão (entre 10 000 e 40 000 habitantes).
A partir do século XIX deu-se também uma transformação interna nas cidades,
que pode ser dividida em três momentos estruturantes: “(…) o núcleo de povoamento
inicial [«centro/núcleo histórico»], que no último quartel de Oitocentos perde a lideran-
ça do crescimento urbano; uma zona intermédia, que se afirma como o principal recep-
táculo de população durante o período do apogeu populacional da cidade dos anos 1930
a 1960 [primeira «coroa circular» e outras periferias]; e, por fim, as áreas de limite ur-
bano (…)”.251 Desta forma, por volta de 1890, emergiram os centros de povoamento
exteriores às duas grandes cidades, que atraíram população nos anos posteriores e se 249 RODRIGUES, 1995, p. 45. RODRIGUES, 1995, p. 46, PINHEIRO, 2001, p. 7e SILVA, 1997, pp. 786-789. 250 SILVEIRA, 2011, p. 21 251 PINHEIRO, 2001, p. 7.
83
revelaram determinantes no contexto do crescimento demográfico dos lugares circun-
dantes às mesmas. Tal motivou uma outra alteração no equilíbrio do sistema urbano
que, iniciando-se em 1890, só se consolidou nos anos 60-80 do século XX, relacionada
com o processo de metropolização.252
1.1. A cidade do Porto.
Posicionando-se como segundo na hierarquia urbana portuguesa, o Porto teve
um forte crescimento demográfico durante Oitocentos, nomeadamente, com uma ocu-
pação intensiva do seu núcleo histórico. Tal foi motivado por um intenso processo de
industrialização (com unidades de pequena e média dimensão), sobretudo, na primeira
metade do século XIX, ainda que tal se tenha repercutido de forma espacialmente dis-
persa. Outro motivo inerente a tal crescimento reside num maior peso do comércio de
exportação, que continuou a ser feito por intermédio desta cidade.253
A partir de 1890 e, coincidindo com a emergência dos centros de povoação peri-
féricos, a importância Porto inverteu-se e “ (…) o [seu] quociente (…) de urbanização
(…) reduz-se (…). O seu crescimento não mais será fundamental para a subida do nível
de urbanização português, ao contrário do que tinha sucedido até ao último terço do
século passado”.254 Efectivamente, “entre 1890 e 1911 nota-se o abrandamento do cres-
cimento do Porto e o contributo dos centros de menos dimensão para o acréscimo da
população urbana (…)” deste concelho.255 Mas que centros de povoamento eram esses?
Álvaro Ferreira da Silva destaca a crescente população de facto de Matosinhos e Vila
Nova de Gaia, povoações periféricas à cidade, que se tornaram atractivas pela fixação
de indústrias, aliadas ao desenvolvimento transportes.256
252 SILVA, 1997, p. 810. 253 SILVA, 1997, pp. 791-792. 254 SILVA, 1997, pp. 791-792. “No início de Oitocentos, a Invicta era em termos populacionais quase quatro vezes menor [que Lisboa], para se aproximar da metade durante essa centúria e decair ao longo do presente século [XX)]”. PINHEIRO, 2001, p. 10. 255 SILVA, 1997, p. 805. 256 SILVA, 1997, p. 809. Por exemplo, no caso da povoação de Matosinhos, a população de facto aumen-tou, entre 1911-1940, de 9 918 para 31 676 habitantes. INE, Ministério das Finanças – Direcção Geral da Estatística, 1911 e Instituto Nacional de Estatística, 1940.
84
1.2. A cidade de Lisboa.
Lisboa sempre foi um polo de concentração da população no contexto nacional.
Este seu relevo está articulado com a concentração do poder administrativo/político,
comercial e económico-financeiro, elementos que exercem um elevado poder atractivo,
fazendo a ela afluir um maior número de pessoas.257
A capital portuguesa, tal como o Porto, cresceu junto ao centro histórico, depois,
nos espaços que o envolvem e, mais tarde, nas zonas consideradas suburbanas e rurais.
De acordo com Vítor Matias Ferreira, primeiro, deu-se uma «centralização urbana» (re-
flexo da tensão do centro com o espaço imediatamente envolvente, tendo como eixo a
Avenida da Liberdade, então Passeio Público), correspondente ao «espaço construído; e,
a posteriori, uma «exteriorização metropolitana» (de fuga e expulsão da cidade para o
espaço suburbano/periférico), num «espaço a urbanizar». Este último caso gerou um
crescimento suburbano que pode ser ou não espacialmente contínuo, como se estudará
para o caso da marginal. “A lógica do processo de urbanização tenderá, deste modo, a
organizar-se em função, também, daquelas componentes «periféricas», mas agora no
sentido Centro-Periferia e, (…) organizando, igualmente, todo o espaço, para além dos
limites meramente administrativos da cidade de Lisboa”.258
Segundo dados apresentados por Daniel Alves, o crescimento populacional de
Lisboa, entre 1878-1911, revelou-se mais rápido nas freguesias periféricas, pertencentes
aos antigos concelhos de Belém e Olivais, em contraste com as freguesias do centro
histórico. Por exemplo, nestas últimas, em 1890 a TCAM era de 2,2%, contrastando
com os 2,6 das freguesias periféricas. Enquanto o valor do primeiro quadrante vai dimi-
nuindo até 1911, quando alcança 1,9%, o do segundo aumenta, atingindo 2,8%, verifi-
cando-se, assim, uma «desertificação» do núcleo histórico da cidade, pela ocupação
demográfica das freguesias que lhe são limítrofes.259
No caso da capital, vários factores sustentaram tais mutações de entre os quais se
destaca, indo ao encontro do presente estudo, a construção da rede férrea, na segunda
metade de Oitocentos, que distinguiu a capital do contexto nacional, ao que se deve as- 257 Após 1878, o crescimento da população lisboeta foi contínuo, apesar de ritmos variados, verificando-se maiores aumentos em 1890, 1911, 1930 e 1940. Estes picos foram sentidos em todo o País, ainda que tenham tido um cariz mais acentuado na capital. FERREIRA, 1987, p. 90. 258 FERREIRA, 1987, p. 85. 259 ALVES, 2010, p. 59.
85
sociar o seu porto, local de entrada na Europa e saída para a América.260 Já o Inquérito
Industrial de 1881 retratou a nova realidade económica portuguesa, fundada no sector
industrial e intensificada a partir do mesmo momento.261
Vejamos, mais detalhadamente, como se processaram estes fenómenos. Antes do
terramoto de 1755, a população lisboeta concentrava-se no núcleo histórico junto ao
Tejo, correspondente à actual Baixa Pombalina e integrando as freguesias de Conceição
Nova, Santa Justa, Mártires, São Julião e São Nicolau.262 A partir da reconstrução da
capital, acelerou-se “(…) o processo de expansão urbana para a zona dos planaltos ao
longo do rio (Santos e Belém) e sobretudo para o interior, incluindo a Pena de França, o
Campo de Santa Clara e também o Rato, Campolide e o Campo Grande”263
Desde meados de Oitocentos, deu-se uma saturação fruto do aumento da popula-
ção residente no centro histórico. Acresceu a construção da estrada da circunvalação
(1852), delimitando o futuro crescimento de Lisboa e facilitando a ocupação demográfi-
ca da periferia. Esta exteriorização urbana foi acompanhada por alterações administrati-
vas, fazendo crescer as dimensões da capital e aumentando as freguesias e bairros.264
Assim, a partir de 1878, quando já circulavam as carreiras de americanos (que,
aliadas à estrada da circunvalação, colmatavam os problemas de circulação interna),
Lisboa cresceu para a considerada primeira «coroa circular», acompanhando dois eixos
dotados de um elevado peso demográfico: um com origem nas Avenidas Novas, rumo
ao Campo Grande e, outro, a partir da Avenida Almirante Reis, rumo ao Lumiar.265 Este
aumento demográfico resultou, sobretudo, de “(…) um crescimento de «conquista» de
260 SILVA, 1997, p. 810. 261 RODRIGUES, 1995, p. 43. 262 FERREIRA, 1887, pp. 85 e 110. 263 PINHEIRO, 2001, p. 9. 264 A estrada da circunvalação – tendo como limites a Oeste a Rua Maria Pia, a Norte a Avenida Duque de Ávila e, a Este, a Rua Morais Soares – motivou a ocupação demográfica da zona norte de Lisboa. Esta foi responsável pela reformulação do limite da cidade (1885), passando a capital a ser composta por 6500 hectares e correspondendo ao seguinte espaço: “Partindo da actual pelo vale de Chelas, vá entroncar com a estrada militar até Benfica, e abrangendo esta povoação, e percorrendo a margem esquerda da ribeira de Algés, termine na ponte do mesmo nome” (VENTURA, 2006, p. 57). Em 1886, além de parte das fregue-sias que havia perdido para os concelhos de Belém e Olivais, Lisboa anexou as freguesias de Camarate e Sacavém, passando a capital a ter uma dimensão de 8 244 hectares. Porém, esta vasta extensão não signi-ficava que todo o espaço estivesse urbanizado - «expansão urbana sem urbanização». ALVES, 2004, p. 2, FERREIRA, s.d., p. 4, FERREIRA, 1987, p. 89 e 110, PINHEIRO, 2001, p. 8, RODRIGUES, 1995, pp. 50-51 e VENTURA, 2006, p. 58. 265 Tal foi favorecido pela substituição do Passeio Público pela Avenida de Liberdade, inaugurada a 4 de Agosto de 1879 e que permitiu uma expansão urbana para estas áreas. FERREIRA, 1987, p. 95, PINHEI-RO, 2001, p. 9 e PINHEIRO, 2011, p. 250.
86
populações não-naturais daquele concelho, oriundas, por isso, de «meios rurais» situa-
dos, na generalidade, no próximo exterior ao distrito de Lisboa”.266
Indo ao encontro do espaço ribeirinho em análise na presente dissertação, pode-
se considerar um outro eixo de crescimento que, partindo do núcleo central, acompanha
o rio Tejo para Oeste, correspondente às freguesias de Alcântara e Belém, ocupadas por
industrias – “(…) toda a zona ribeirinha de Lisboa (à excepção da margem abrangida
pelo «centro histórico») irá ser «especializada» numa função urbana dominante – portu-
ária – na dependência da qual se intensificará uma progressiva implantação industrial e
comercial”.267 Estas zonas destacam-se por terem “(…) traços semi-urbanos e solos
abundantes e baratos, é a zona economicamente mais atractiva, onde se implantam in-
dústrias e passa a viver grande parte dos trabalhadores aí empregues”.268
Por exemplo, Alcântara era dotada de uma intensa ocupação industrial, justifica-
da pelo porto de Lisboa e pela implantação de fábricas e armazéns - “a Alcântara ou a
zonas muito aproximadas estão ligados nomes de empresários decisivos como os Rat-
ton, os Daupias, o conde de Burnay; aqui funcionaram importantes fábricas como a da
Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense e a de Fiação e Tecidos do Alto de Santo
Amaro (…), a Fábrica da Cabrinha ou a Fábrica de Louça de Lopes e C.ª; aqui nasceu,
em 1898, a Companhia União Fabril”.269 Nesta freguesia, ao trabalho industrial deve-se
somar uma ocupação residencial associada ao operariado e à pequena burguesia indus-
trial, o que levou a um duplicar da população entre 1890-1950. Exemplo disso é o Bair-
ro do Calvário, projectado em 1876, construído nos terrenos da Real Quinta de Alcânta-
ra e situado entre a Junqueira e Alcântara, fruto das obras no aterro e da utilização dos
americanos como meio de transporte. Contrastando, e remetendo para um estrato social
mais elevado, a elite ocupava Belém, entre a Junqueira e o Restelo, espaço que quase
triplicou a sua população no mesmo hiato cronológico.270
266 FERREIRA, 1987, pp. 99-100. Nestas povoações «emergentes» a população podia usufruir de terrenos baratos e abundantes. RODRIGUES, 1995, p. 51. 267 FERREIRA, 1987, p. 90-93 e 113. 268 RODRIGUES, 1995, p. 54. António Ventura refere que os empresários pretendiam que os trabalhado-res habitassem junto às fábricas, construindo residências de raiz ou adaptando edifícios existentes, criando «vilas», ao mesmo tempo que davam subsídios para que conseguirem pagar as suas rendas. Assim, as habitações eram edificadas nas zonas marginais da cidade, como o vale de Alcântara, tendo a Companhia de Fiação de Tecidos Lisbonense sido pioneira neste tipo de iniciativa. VENTURA, 2006, p. 77 e 85. 269 VENTURA, 2006, p. 72. 270 Sobre Alcântara, refira-se Les habitants d'Alcântara. Histoire sociale d'un quartier de Lisbonne au début du XXe siècle, de Frédéric Vidal. FERREIRA, 1987, p. 112, PINHEIRO, 2001, p. 66 e VENTURA, 2006, p. 63.
87
Correspondendo ao que pode ser considerada a segunda «coroa circular», por
um maior afastamento ao centro histórico, deu-se a expansão da cidade noutros eixos.
Tal resultou da saturação do centro e da primeira coroa, bem como do elevado custo do
solo para urbanização. Neste grupo integra-se o concelho de Oeiras, bem como a restan-
te marginal, onde se destacam as povoações de Algés, Paço de Arcos, Oeiras, Parede,
Estoril e Cascais, que já tinham uma população de facto significativa estando, igual-
mente, associadas a uma ou mais actividades económicas, como se verá no fim do capí-
tulo. Acrescente-se o eixo Benfica-Amadora-Queluz-Sintra, acompanhando a linha de
Sintra, construída em 1887 e electrificada em 1956; Loures; Vila Franca de Xira-Arruda
dos Vinhos; Sobral de Monte Agraço; bem como povoações da margem sul do Tejo,
nomeadamente, o Barreiro e Montijo com o seu elevado atractivo industrial.271
Este crescimento das povoações periféricas é o prenúncio da Área Metropolitana
de Lisboa, que se forma nos anos 70 do século XX, assistindo-se a uma mutação de
funções: a zona central deixa de ter um cariz residencial para predominarem as funções
administrativas e comerciais, enquanto as povoações periféricas passam a constituir
zonas dormitório, ainda que espacialmente descontínuas, desenhando o que Vítor Mati-
as Ferreira designa de «manchas d’óleo».272
É ainda de referir que, tanto no caso do desenvolvimento das povoações em tor-
no de Lisboa, como do Porto, aquelas que apresentavam um maior crescimento popula-
cional são as que possuíam maior e melhor acesso aos meios de transporte. Desta forma,
numa primeira fase, o caminho-de-ferro motivou o rápido e forte crescimento de Lisboa
e do Porto, bem como das povoações envolventes.273 Também os americanos e os
tramways tiveram um papel decisivo – “a expansão da cidade fez-se, então, sobretudo
graças aos tramways, electrificados em 1901, que acompanharam a expansão dos limi-
271 A margem sul apresenta uma posição de destaque. Por exemplo, entre 1890 e 1940, sendo a média de crescimento populacional da aglomeração de Lisboa 133%, o Barreiro encontrava-se muito acima desse valor, ocupando a primeira posição, com 364%. Tal é justificado pelo “(…) seu papel de terminus da Linha do Sul e Sueste em que estavam instaladas as oficinas dos caminhos de ferro do Estado, os moi-nhos de maré, bem assim como a indústria corticeira (…). O Barreiro vai, durante o período da Primeira República, evoluir para uma company town graças à instalação da CUF” (PINHEIRO, 2011, p. 306). “Em 1911 o conjunto da população suburbana da margem sul atingia 55 880 habitantes e chega-va a 79 130 em 1930” (PINHEIRO, 2011, p. 306). Não obstante, este crescimento não estava associado a uma maior dependência face à capital, mas a autonomização desta margem. Contudo, não se pode deixar de considerar que este aumento está associado a uma ocupação do espaço por população mais jovem e a uma construção clandestina. FERREIRA, 1987, p. 101-103 e 243-249. 272 FERREIRA, 1987, pp. 236 e 242. 273 PINHEIRO, 2008, p. 46.
88
tes legais da cidade, precedendo nalguns casos a urbanização”.274 Some-se, já no século
XX, o papel do automóvel.
2. O tráfego de passageiros no ramal de Cascais.
O ramal de Cascais atravessa o espaço marginal que, ao longo do rio Tejo, vai
do Cais do Sodré a Cascais. Como tal, percorre uma zona urbana e outra rural. Tendo
este facto em mente e para caracterizar a distribuição do tráfego entre aquelas zonas,
bem como por estação, optou-se por dividir o ramal em duas secções:
1) A zona urbana que, em 1894 vai de Alcântara-Mar a Pedrouços e, a partir de
1895, vai do Cais do Sodré a Pedrouços (tendo como estações intermédias
Santos, Alcântara-Mar, Junqueira, Belém e Bom Sucesso). Esta corresponde
ao espaço da cidade de Lisboa atravessado pela via-férrea. Quando conside-
ramos, na divisão administrativa, o limite do concelho da capital, a estação
de Pedrouços encontra-se no seu extremo ocidental, motivo pelo qual é con-
siderada a última no contexto deste enquadramento.
2) A zona rural, que vai de Algés a Cascais (sendo as estações intermédias
Dafundo, Cruz Quebrada, Caxias, Paço de Arcos, Santo Amaro, Oeiras, Car-
cavelos, Parede, Cai-Água, São João do Estoril, Estoril e Monte Estoril).275
Algés insere-se no concelho de Oeiras e na freguesia de Carnaxide (Carnaxi-
de e Benfica no censo de 1911 e Benfica (extra-muros) no recenseamento de
1890).
Feita esta divisão e considerando a grandeza quantitativa dos dados transforma-
ram-se os valores absolutos em valores percentuais, facilitando a sua apresentação grá-
fica e a sua leitura. Exceptue-se o gráfico 1, cuja construção não implicou a adopção
desta metodologia, permitindo utilizar os valores absolutos referentes ao número de
passageiros transitados no ramal de Cascais.
274 PINHEIRO, 2008, p. 56. 275 Salvaguarde-se que as estações referidas para ambas as zonas não abriram todas no mesmo ano, embo-ra a grande maioria, no ano inicial da análise (1894) já estivesse sido inaugurada. Como já foi abordado, a estação terminus do Cais do Sodré abriu em 1895, tal como a estação de Santos. Seguiram-se as estações do Bom Sucesso e Santo Amaro, em 1900, e a estação de Cai-Água, em 1907.
89
Cronologicamente, a presente análise compreende o período entre 1894-1917,
sendo este último ano antecedente à assinatura do contrato de concessão, electrificação
e exploração entre a C.R.C.F.P. e a Sociedade Estoril. Não existem dados estatísticos,
anteriores a 1894, que nos permitam aferir o tráfego entre secções e de e para as esta-
ções. Por outro lado, destaca-se a ausência de dados a partir de 1918, ano da outorga do
ramal à Sociedade Estoril. Ainda que tal tenha ocorrido um ano após o nosso limite cro-
nológico, datando a assinatura do contrato de Agosto de 1918, os dados apenas repre-
sentam 8 meses de circulação da tracção a vapor, motivo pelo qual se optou por não
apresentar os quantitativos referentes a este ano.
Deve-se fazer uma outra salvaguarda resultante dos extremos cronológicos apre-
sentados: como explicámos, em 1894, a linha não estava aberta na sua totalidade, sendo
os dados representativos do troço entre Alcântara-Mar e Cascais. Só em 1895 abriu a
estação do Cais do Sodré, data a partir da qual esta passa a integrar a análise estatística.
Desta forma, e à luz desta constatação, a transição do primeiro para o segundo ano per-
mite estudar a importância da inauguração de uma estação no centro da capital, não de-
vendo ser perspectivado como algo prejudicial ao estudo a desenvolver. Refira-se ainda
a ausência de dados para os anos de 1910 e 1914 (este último, excepto no gráfico 1), o
primeiro associado à Implantação da I República e, o segundo, relacionado com o início
da I Guerra Mundial (1914-1918).276
A análise estatística apresenta-se de forma bipartida. Ainda que, uma primeira
observação revele um crescimento do tráfego de passageiros entre 1894-1917, uma veri-
ficação aprofundada demonstra que esta evolução não foi contínua ou progressiva. Por
este motivo, optou-se por dividir aquele período em dois ciclos: 1894-1907 e 1907-
1917. Cada um deles apresenta uma evolução distinta, o que pode ser justificado, no
primeiro caso, por decisões institucionais (da própria C.R.C.F.P. ou de empresas exter-
nas que, com ela, a dado momento, concorreram, como a C.C.F.L.) e, no segundo, por
desenvolvimentos políticos nacionais e/ou externos que se reflectiram no tráfego de
passageiros no ramal de Cascais.
É ainda de salientar que, aquando da inauguração do ramal de Cascais (1889),
existiam 8 trajectos diários em ambos os sentidos, demorando 50 minutos e circulando
276 O envio de contingentes para a guerra foi feito, inicialmente, para o palco africano (em defesa das colónias de Angola e Moçambique, o que ocorreu a 11 de Setembro de 1914) e, depois, para a frente europeia, na Flandres (26.01.1917). ROSAS, 2010, p. 290 e RAMOS, 2010, p. 607.
90
em via dupla entre Algés e a Cruz Quebrada, enquanto a restante viagem era concreti-
zada em via única até Cascais, o que justifica o reduzido número de composições.277 Em
termos de capacidade, cada comboio comportava 150 passageiros em 2ª classe e 400 em
3ª, contexto em que se aponta, à data, a ausência de carruagens de 1ª classe, o que, à
primeira vista, reforça a ideia de uma circulação provisória e limitada, ainda não res-
pondendo à circulação elitista, que já tinha como destino as estações de Cascais e do
Estoril. Contudo, não podemos deixar de admitir que o estrato social mais elevado tam-
bém utilizava este meio, sobretudo, pela existência de 2 comboios extraordinários: um
que saía de Pedrouços às 6h, cimentando a ideia de vilegiatura e de gosto pelos banhos
de mar e, outro, que saia de Cascais à 1h, respondendo aos desejos lúdicos associados
ao casino. Os preços destas últimas deslocações eram bastante elevados e só a elite tinha
acesso, pois alcançavam os 500 réis, contrapondo aos normais 140 réis para a 2ª classe
ou 100 réis para a 3ª classe.278 Por outro lado, as carruagens de 2ª classe existentes “(…)
já tiveram a honra de serem elevadas a salões reais, transportando a simpática rainha
viúva, e tudo quanto há de melhor da nossa sociedade”.279 Numa análise mais detalhada,
pode-se considerar a inexistência de um lazer de massas, demarcando-se uma “(…)
«classe de lazer» (…)”, com capacidade para financeira e dispondo de tempo livre.280
277 “Comboios ascendentes: - Partida de Pedrouços às 7, 9 e 11 horas da manhã e 2, 4, 6, 8, e 10 da tarde. Comboios descendentes: - Partida de Cascais, 7, 9, e 11 da manhã, e 2, 4, 6, 8, e 10 da tarde.” Diario Illustrado, Nº 5 922, 30.09.1889, p. 1. 278 HENRIQUES, 2008, p. 121. 279 Occidente, Nº 392, 11.11.1889, p. 254. 280 CORBIN, 1995, p. 20. Inicialmente, considerava-se que o ramal de Cascais não seria viável, pois cria-se que estava meramente articulado à sazonalidade do serviço balnear e lúdico, bem como dependente da situação económica vivida pela população lisboeta e da sua capacidade de dispender capital nesta deslo-cação não laboral, de lazer e evasão. Contudo, esta visão rapidamente se revelou desajustada da realidade, contrapondo-lhe um forte crescimento das áreas circundantes ao caminho-de-ferro, o que justifica um posterior aumento do número de estações e/ou apeadeiros, bem como a adopção de carruagens de 1ª clas-se (em Setembro de 1890), ponto em que se deve diferenciar o estrato social daqueles que saiam nas esta-ções da circunvalação de Lisboa, face àqueles cujo destino era o Estoril ou Cascais. Magda Pinheiro refe-re que a estação de Algés estava associada a um arrabalde socialmente mais desfavorecido, predominando a utilização de carruagens de 3ª classe, contrapondo com as estações finais do ramal, como o Estoril ou Cascais, cujo predomínio recaia sobre as carruagens de 1ª e 2ª classe. Pela adopção das carruagens de 1ª classe, possivelmente, já existiria uma consciencialização da ocupação marginal pela elite, ao que se deve aliar uma maior viabilidade do ramal, justificando o tráfego os custos inerentes a tais carruagens. HEN-RIQUES 2008, p. 122 e PINHEIRO, 2008, p. 59.
91
2.1. Como evoluiu o tráfego total na linha?
Gráfico 1. Evolução do tráfego total anual de passageiros transitados no ramal de Cascais (1894-1917)
[anexo II].
Fonte: Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1889 e 1892-1906; Ministério
da Fazenda, 1907; Resumo do Trágefo – Anos de 1914 a 1918.
Existem duas questões às quais se pretende responder numa primeira fase. Como
evoluiu o tráfego geral no ramal? Que factores influenciaram essa evolução?
O primeiro ciclo, entre 1894-1907, foi genericamente pautado por um cresci-
mento do tráfego de passageiros até 1901, seguido de uma inversão dessa tendência até
1907. Este pode ser dividido em 3 momentos: um primeiro, aquando da exploração «in-
completa» do ramal, entre 1894-1895; o segundo, entre 1895-1901, no qual se assinala
o seu grande boom de crescimento; e, o restante hiato, entre 1901-1907, fase inconstan-
te, a partir da qual se fazem sentir os reflexos da circulação do eléctrico da C.C.F.L.,
podendo-se questionar a solidez e viabilidade da via-férrea em estudo.
Assim, entre 1894-1895 deu-se um crescimento do número de passageiros tran-
sitados, o qual quase triplica. Não obstante esta última constatação, o acréscimo não se
revela tão significativo como foi entre 1895-1901, o que está relacionado com o facto já
mencionado de, à data, a via-férrea ainda não possuir a sua extensão definitiva.
No entanto, se esquecermos esta última questão articulada com o terminus urba-
no da via-férrea, o gráfico 1 faz crer que, per si, a ligação à vila de Cascais e a outros
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000 18
94
1895
18
96
1897
18
98
1899
19
00
1901
19
02
1903
19
04
1905
19
06
1907
19
08
1909
19
10
1911
19
12
1913
19
14
1915
19
16
1917
Tota
l de
pass
agei
ros
Total anual de passageiros
TPassageiros
92
espaços balneares e de vilegiatura justificava a abertura incompleta da via. O saldo posi-
tivo de 1894 confirma esta ideia, consolidando, simultaneamente, a importância das
deslocações com destino suburbano e rural e indo ao encontro do objectivo subjacente à
abertura do ramal, nomeadamente, a ligação às praias ao longo da costa.
No segundo subciclo, entre 1895-1901, verifica-se o pico do tráfego do cami-
nho-de-ferro de Cascais, que atinge o seu valor máximo neste último ano, quase sextu-
plicando em apenas 6 anos. Considere-se que o baixo valor de 1895 reflecte o facto da
estação do Cais do Sodré só ter sido aberta a 4 de Setembro do mesmo ano. Não obstan-
te, esta abertura foi acompanhada pela adopção de novas tarifas, a aplicar nas estações e
apeadeiros até Algés - Cais do Sodré, Santos, Alcântara-Mar, Junqueira, Belém, Pe-
drouços e Algés – os quais foram divididos em duas zonas: uma, entre o Cais do Sodré
e a Junqueira, sendo que entre estes pontos extremos os bilhetes passavam a custavam
50 réis para a 1ª classe, 40 réis para a 2ª e 30 réis para a 3ª; e, a outra, entre a Junqueira
e Algés, com um custo das viagens de 80 réis para a 1ª classe, 60 réis para a 2ª classe e
40 réis para a 3ª classe.281
Acrescente-se que o aumento do tráfego verificado entre 1895-1901 também se
encontra relacionado com a adopção da via dupla (entre 1889 e 1897) que, em 1895,
permitiu um incremento do número de comboios que transitavam. Já em 1897, dos mo-
destos 8 comboios a circular em cada sentido aquando da inauguração do ramal, passa-
ram-se a contabilizar 65 comboios em cada direcção.282
Apesar do relevo da adopção de via dupla, considere-se a inauguração da estação
do Cais do Sodré como o elemento determinante na evolução do tráfego do ramal neste
subciclo. A vila de Cascais, o espaço suburbano circundante à cidade e a própria zona
urbana passaram a ser dotados de uma conexão ao centro da capital. Foi esta abertura
que consagrou de forma muitíssimo positiva a viabilidade de todo o ramal, atribuindo-
lhe um novo dinamismo e incrementando o tráfego por comparação àquele que se veri-
ficou em 1894. Numa análise posterior estudaremos o tráfego por estações para cruzar
informação e verificar quais eram aquelas que, neste hiato, possuíam um maior destaque
no contexto da linha e em que secção se inseriam. Os dados apresentados levam a crer
que, entre 1894-1895, a importância recairia sobre as estações rurais, nomeadamente,
aquelas que eram servidas por praias e, particularmente, a da vila de Cascais, conside-
281 O Diário Popular, Nº 10 151, 07.08.1895, p. 3. 282 HENRIQUES, 2008, p. 123.
93
rando o propósito inerente à construção e inauguração deste ramal. Por outro lado, o
boom de tráfego a partir da abertura da estação terminal do Cais do Sodré, em 1895, faz
crer que o tráfego urbano ou a partir da cidade para os seus arredores era determinante e
condicionava de forma muito acentuada os valores apresentados. Neste último caso po-
der-se-á colocar a seguinte questão, que só poderá ser analisada à luz do tráfego sectori-
al de passageiros: seriam estas deslocações efectuadas no seio urbano ou da urbe para as
suas áreas limítrofes e, ainda mais longe, para o espaço rural?
Não se pode, contudo, descurar a importância do aumento do número de com-
boios em circulação. Esta medida foi relevante em 1895, como o viria a ser a 1 de Junho
de 1898, coincidindo com a época de banhos. Esta coincidência faz associar este ramal a
uma utilização de características balneares e de vilegiatura, sendo, simultaneamente,
sazonal, sobretudo no seu quadrante rural, onde se encontram a maioria das praias e
estâncias destinadas a tais práticas. A medida adoptada em 1898, crendo no carácter
sazonal do ramal, visava aumentar a oferta de comboios do Verão anterior, passando de
60 para 130 em cada sentido.283 No seu percurso total, até 1898, as deslocações demo-
ravam 1h10, excepto 2 comboios que faziam o trajecto em 45 minutos. Assim, a partir
de 1898, a inauguração de um serviço com um maior número de comboios, dos quais 26
eram directos, permitiu efectuar o trajecto entre os extremos da via-férrea em 35 minu-
tos. Se para o ano de 1895 a documentação refere que o aumento do número de com-
boios em circulação era inerente à adopção da via dupla, em 1898 o incremento não se
fundou na aquisição de material circulante, mas na racionalização do existente. Os re-
sultados foram positivos.284
Como constatado anteriormente, o terceiro e último subciclo, compreendido en-
tre 1901-1907, foi caracterizado, globalmente, por uma diminuição do tráfego de passa-
geiros transitados (embora haja um pico de crescimento entre 1904-1905). Desta forma,
entre 1901-1904, verifica-se uma diminuição acentuada do número de passageiros
transportados, justificada pela concorrência do já invocado potentado nos transportes
públicos urbanos da capital, a C.C.F.L. que, em 1901, inaugurou a sua primeira linha de
eléctrico, ligando o Rossio a Algés e, desta forma, se impôs como um meio de desloca-
283 Para o ano de 1897, João Henriques refere a adopção de 65 comboios em cada sentido, tal como refe-rido na página anterior. Porém, o relatório da C.R.C.F.P. (1899) atesta uma circulação de 60 comboios para cada direcção. HENRIQUES, 2008, p. 123 e INE, Companhia dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1899, p. 9. 284 INE, Companhia dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1899, p. 9.
94
ção alternativo às viagens (urbanas) por comboio entre o Cais do Sodré e Algés.285 As
despesas de circulação e manutenção da tracção a vapor eram elevadas tornando as des-
locações mais caras, por comparação com o eléctrico. A maior rapidez deste último
permitiu a adopção de um maior número de carreiras, diminuindo-se o preço dos bilhe-
tes. Assim, os reflexos desta inovação no tráfego do ramal foram notórios nos anos que
sucederam, sobretudo, entre 1902-1904 (e na zona urbana da via-férrea), demonstrando
que a C.R.C.F.P. não foi capaz de, de imediato, tomar medidas sólidas, o que resultou
em seu prejuízo. Esta forte quebra é ainda indicativa da importância das deslocações
urbanas no contexto geral das trocas de passageiros. Mais uma vez se torna imperativa a
análise do tráfego por estação para compreender se, de facto, este argumento possui
uma base quantitativa que o legitime.
Tal foi compreendido pela própria Companhia, que no seu relatório afirmou que
“o número de passageiros em 1904 foi inferior (…) em relação ao ano de 1903. Esta
diminuição incide sobre as 2ª e 3ª classes e especialmente na linha de Cascais entre o
Cais do Sodré e Dafundo onde mais se ressente a concorrência dos carros eléctricos
(…). Esta diminuição do número de passageiros de pequeno percurso foi compensada
pelo aumento do número de passageiros em maior percurso que circulam na mesma
linha (…).”286
A excepção à tendência geral deste último subciclo surge entre 1904-1905,
quando se verifica um aumento do número de passageiros. Esta progressão esteve rela-
cionada com a resposta da C.R.C.F.P. à inauguração do eléctrico. Segundo a Gazeta dos
Caminhos de Ferro, em 1902, aquela companhia reduziu o preço dos bilhetes entre o
Cais do Sodré e Algés, apresentando um custo de 60 réis para a 1ª classe e 50 réis para a
2ª.287 “Esta modificação de tarifa é evidentemente motivada pela concorrência da linha
elétrica, e que implicará ainda, num futuro não distante, outras alterações na tarifa de
toda a linha, talvez”.288
Mas, foi esta diminuição dos preços dos bilhetes suficiente para estabilizar ou
fazer crescer o tráfego no ramal? Entre 1905-1907 e tomando como prisma de análise o
tráfego urbano, verifica-se que a medida da C.R.C.F.P. não alcançou os objectivos. Ao
285Gazeta dos Caminhos de ferro, Nº 341, 01.03.1902, p. 69. 286 INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1905, p. 9. 287 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 341, 01.03.1902, p. 69. 288 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 341, 01.03.1902, p. 69.
95
contrário das expectativas, o número de passageiros transitados decresceu, revelando-se
esta medida incapaz de inverter a tendência de evolução do tráfego neste período.
Desta forma, verifica-se que até 1907 existe uma procura do caminho-de-ferro
de Cascais como meio de transporte, ainda que os valores de passageiros transitados
tendam a diminuir a partir de 1901, fruto da concorrência da Carris. Havendo procura
deste meio de deslocação, o aumento do número de passageiros foi favorecido por ino-
vações do serviço introduzidas pela Companhia, não só para satisfazer essa mesma pro-
cura, como também para procurar contrariar a concorrência do eléctrico.
No segundo e último ciclo, compreendido entre 1907-1917, existe uma incons-
tância na evolução do tráfego de passageiros da via-férrea, o que é indissociável do en-
quadramento histórico vivido em Portugal durante este período.
Entre 1907-1909 aumenta o número de passageiros transitados. Como já foi re-
ferido não existem dados estatísticos para 1910. Não obstante, entre 1911-1912 o tráfe-
go de passageiros continua a aumentar, fazendo crer que no ano da Implantação da I
República se faria sentir essa tendência progressiva, que só inverte entre 1912-1913.
Porém, esta descida não se manteve e o decréscimo do tráfego foi contrariado entre
1913-1916, quando se verifica um aumento do número de passageiros que circularam
nesta via-férrea. Não obstante, o tráfego de passageiros volta a diminuir até 1917.
Nem a I República nem o envio de contingentes portugueses para a frente afri-
cana da I Guerra Mundial se reflectiram no tráfego de passageiros do ramal pois, entre
1912-1916, o número de pessoas transitadas aumentou. Efectivamente, só entre 1916-
1917 se fez sentir um decréscimo das deslocações na via-férrea, correspondente a uma
diminuição da procura deste ramal e coincidente com a entrada portuguesa na frente
europeia do conflito.289 Não se pode esquecer que neste último data já eram volvidos 3
anos de participação na guerra em África, aguçando-se os reflexos humanos, derivados
do recrutamento e a pressão económica inerentes a este tipo de conflito. Assim, a entra-
da no palco europeu não explica, por si só, o decréscimo do tráfego, não devendo ser
perspectivada como uma causa única. O envio de tropas para a Flandres juntou-se a um
conjunto de situações que se foram acumulando com o passar dos anos e sobrecarregan-
do os esforços canalizados para a Grande Guerra.
289 ROSAS, 2010, p. 290 e RAMOS, 2010, p. 607.
96
Por outro lado, pode-se colocar a seguinte questão: estaria o ramal de Cascais a
funcionar na sua plenitude depois de 1916? Estaria em circulação o mesmo número de
comboios? “Com a guerra surge a escalada de preços, em especial, do carvão que, no
espaço de um ano, passou de 5$55 para 15$22 a tonelada. Reduziram-se os stocks, ini-
ciou-se a utilização de lenha nas fornalhas das locomotivas, com consequentes proble-
mas na manutenção das máquinas e nas condições de exploração dos comboios. As em-
presas reduziram a oferta, com a diminuição do número de comboios, em especial, de
passageiros”.290 Tal colocava em evidência os problemas inerentes à tracção a vapor,
diminuindo a oferta numa altura em que já existia o contraponto da tracção eléctrica,
materializado no eléctrico da Carris, um meio de transporte moderno e concorrencial.
Não se esqueça que a abertura do concurso para electrificação da via-férrea, reflexo das
dificuldades de exploração, data de 1915.
2.2. Circulação de passageiros por secção do ramal.
O gráfico 2 representa a percentagem de passageiros em circulação entre secções (da
urbana para a rural (U-R) e da rural para a urbana (R-U)) e em cada secção (dentro da
zona urbana (U-U) e da zona rural (R-R)). O que se pretende neste tópico é uma análise
mais pormenorizada: sabendo como evoluiu o tráfego global do ramal de Cascais, visa-
se discernir qual o peso de cada um dos quatro tipos de deslocação enunciadas.
290 Os caminhos de ferro portugueses 1856-2006, s.d., p. 13.
97
Gráfico 2. Circulação de passageiros entre secções (1894-1917) [anexo III].
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1894-1896, 1898-1910, 1912-1913,
1915, 1917-1918.
Uma análise primária do gráfico 2 revela um predomínio da circulação de pas-
sageiros do espaço urbano para o rural. Segue-se o seu inverso, ou seja, as trocas do
rural para o urbano. Esta relação reforça a ideia de que este era um ramal, essencialmen-
te, turístico, associado a práticas de vilegiatura e, como tal, sazonal. Todavia, até cerca
de 1904 existe uma diferença entre os dois fluxos, que não é fácil de explicar e que
aponta para uma saída de pessoas da cidade em direcção às zonas servidas pela linha.
Por fim, denota-se uma superioridade das deslocações intra-rurais face às intra-urbanas
(excepto entre 1896-1902).
Na fase inicial, entre 1894-1895, destacava-se a circulação dentro do espaço
rural, que liderava, claramente, o quadro geral. O troço urbano do ramal de Cascais ain-
da não tinha sido concluído, ao mesmo tempo que se atestava a ausência de meios de
transporte alternativos, no segmento entre Algés e Cascais, capazes de concorrer com o
recém-inaugurado caminho-de-ferro.
Nos dois anos seguintes (1895-1896), a circulação de passageiros na secção ru-
ral, contraiu-se de uma forma abrupta, passando a deter uma importância bastante baixa
e decrescendo até 1898. Tal é justificado pela inauguração do Cais do Sodré que fez
com que as restantes secções, estando elas articuladas com o espaço urbano (fosse no
envio, recepção ou deslocações internas), vissem, no imediato, a sua importância relati-
va aumentar ainda que com intensidades diferentes e evoluções futuras também diferen-
"!
#"!
$"!
%"!
&"!
'"!
("!
)"!
1894
18
95
1896
18
97
1898
18
99
1900
19
01
1902
19
03
1904
19
05
1906
19
07
1908
19
09
1910
19
11
1912
19
13
1914
19
15
1916
19
17
% d
e pa
ssag
eiro
s Circulação de passageiros entre secções do ramal
Urbano
R-U
U-R
Rural
98
tes. Por exemplo, no caso U-R existe um aumento até 1897, para depois a linha que re-
presenta esta troca decrescer até 1902; em R-U há um aumento, grosso modo, até 1909,
apesar da sua evolução ser instável; e, para o caso das trocas urbanas, verifica-se um
forte crescimento até 1901, quando estas deslocações atingem o seu pico máximo. Ou
seja, a conclusão do segmento urbano do ramal de Cascais no imediato constituiu uma
mais-valia, dinamizando a circulação de passageiros para fora e dentro da capital, neste
último caso junto à zona ribeirinha, entre Pedrouços e o Cais do Sodré.
Inaugurado o eléctrico da Carris, as trocas intra-urbanas caiem abruptamente até
1904, ano em que estagnam a um nível muito baixo, ainda assim talvez sustentadas pela
diminuição de preços dos bilhetes urbanos da C.R.C.F.P. Simultaneamente, as desloca-
ções no sentido urbano-rural estagnam até 1909. Contrastando, a circulação intra-rural e
rural-urbana apresenta uma tendência crescente.
A partir de 1909, tendo em conta as lacunas de dados, não é fácil identificar as
tendências do tráfego das várias secções, aparentando a circulação urbano-rural e urbana
uma importância decrescente e culminando o trânsito rural-urbano e rural a evolução
positiva anterior.
Desta forma, e na sequência do que se atestou anteriormente quanto ao volume
de tráfego do ramal de Cascais, podem-se distinguir dois ciclos, correspondentes à de-
limitação cronológica definida anteriormente. O primeiro momento foi marcado por
uma por dinamização da circulação de passageiros do espaço rural para o urbano e um
aumento da importância das deslocações no sentido inverso. Contudo, as circulações
intra-urbanas tinham relevo. Assim, este primeiro ciclo, foi pautado por um ascendente
das trocas vinculadas ao espaço urbano.
Por sua vez, no segundo ciclo, verifica-se uma diminuição ou um estagnar das
circulações relacionadas com o espaço urbano: as deslocações intra-urbanas e do urbano
para o rural diminuem no tempo. Contrastando, aumentam aquelas que se encontram
relacionadas com a zona rural, nomeadamente, com uma dinamização das deslocações
do rural para o urbano e no seio da zona rural. A dinamização do tráfego nesta secção, é
um sinal do desenvolvimento que o caminho-de-ferro trouxe às povoações situadas na
zona costeira, exteriores à cidade de Lisboa.
99
2.3. Passageiros enviados e recebidos por estação.
Sabendo como evoluiu o tráfego entre e no seio de cada secção, procura-se estu-
dar o envio e recepção de passageiros ao nível da estação. O objectivo consiste em, ten-
do em mente a evolução de cada uma das zonas, verificar quais as estações que contri-
buíram para a evolução da área que integram e aquelas onde maiores repercussões tive-
ram os acontecimentos internos e externos.
Neste sentido, optou-se por, em cada secção, selecionar-se as estações mais im-
portantes, nomeadamente, aquelas cujo tráfego anual percentual era superior à média do
espaço onde se inseriam, sendo as únicas representadas nos gráficos 3, 4, 5 e 6.291
Acrescente-se ainda que, no que concerne ao tráfego urbano, decidiu-se não inserir a
estação do Cais do Sodré no cálculo da média, uma vez que esta estação apresenta valo-
res muito mais altos do que as restantes. O Cais Sodré no contexto dos passageiros
enviados e recebidos pela secção urbana era a «estação por excelência», possuindo uma
evolução própria, que a distingue das restantes: ainda que determinados factores que se
reflectiram no tráfego se repercutissem em toda a secção, os efeitos que produziram
nesta estação foram menos acentuados quantitativa e temporalmente.
Deste modo, o gráfico 3 representa os passageiros enviados das estações da sec-
ção urbana e o gráfico 4 os passageiros enviados das estações da secção rural. Os gráfi-
cos 5 e 6 apresentam o mesmo tipo de análise, mas no que concerne aos passageiros
recebidos em cada uma das estações das secções, respectivamente.292
291 Desta forma, não serão estudadas detalhadamente todas as estações, embora estejam incluídas nos gráficos aquelas que apenas possuíam um valor percentual significativo para um curto espaço de tempo, como é o caso Junqueira, que, no que diz respeito aos passageiros enviados pela secção urbana, apenas se encontrava acima da média no ano de 1902. 292 No gráfico 6 a única estação posicionada acima da média percentual do tráfego de passageiros era a estação da Junqueira. No entanto, para uma análise desta comparativamente às restantes optou-se por apresentar as estações selecionadas no que concerne ao envio de passageiros da secção urbana.
100
Gráfico 3. Percentagem anual de passageiros enviados por estação da secção urbana (1894-1917) [anexo
IV e V].
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1894-1896, 1898-1910, 1912-1913,
1915, 1917-1918.
Numa abordagem mais detalhada, no ciclo compreendido entre 1894-1907,
distinguem-se dois momentos essenciais: a inauguração da estação terminus do Cais do
Sodré (1895) e o aparecimento concorrencial do eléctrico da Carris (1901).
No ano inicial do presente estudo o predomínio do tráfego de passageiros
enviados pela secção urbana pertencia à estação de Alcântara-Mar, à data, a mais
próxima do centro da capital, constituindo o terminus deste ramal. Contudo, a partir de
1895, com a abertura da estação do Cais do Sodré, a posição de Alcântara-Mar
decresceu de forma drástica para valores abaixo dos 3% (sobretudo, a partir de 1896,
primeiro ano completo de funcionamento da nova estação terminal). Assim, 1894 e
1895 constituiram os únicos anos nos quais o tráfego percentual desta estação se situava
acima da média. O predomínio passa a ser detido pelo Cais do Sodré que, no seu
primeiro ano de funcionamento, enviou 32,37% dos passageiros da secção.
A partir de 1895, o tráfego de passageiros de todas as estações aumenta e
estabiliza (excepto de Alcântara-Mar) até 1901/2. Tal demonstra que a extensão do
ramal à nova estação terminus viabilizou o tráfego urbano e, sobretudo, geral, como se
atestou pela análise do gráfico 1. A abertura desta estação alterou a ideia estabelecida de
que o ramal de Cascais era uma via-férrea cujo fito era ligar o espaço urbano ao
0,00 5,00
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00
1894
18
95
1896
18
97
1898
18
99
1900
19
01
1902
19
03
1904
19
05
1906
19
07
1908
19
09
1910
19
11
1912
19
13
1914
19
15
1916
19
17
% d
e pa
ssag
eiro
s
Percentagem anual de passageiros enviados por estação da secção urbana
Cais do Sodré
Santos
Alcântara-Mar
Junqueira
Belém
Pedrouços
101
suburbano e rural, para deslocações de vilegiatura e balneares, passando a constituir,
também, uma via de conexão intra-urbana, sobretudo, neste primeiro ciclo de análise.
Remetendo para a inauguração do eléctrico da C.C.F.L., este afectou a
trajectória de crescimento de todas as estações da secção urbana. Contudo, na estação
do Cais do Sodré este reflexo revelou-se menos prejudicial a médio e longo prazo -
diminuiram os passageiros enviados entre 1901-1902, mas este decréscimo revelou-se
pontual, considerando o aumento logo em 1903, o qual se prolongou até 1907.
Nas restantes estações, o impacto da abertura do eléctrico não se deu logo em
1901, mas a partir de 1903, quando as estações de Santos, Junqueira e Belém diminuem
os seus valores. Ainda que possam existir ligeiros aumentos, estes são pouco
consistentes e sólidos. Desta forma, a tendência geral das estações apresentadas, excepto
o Cais do Sodré, é, grosso modo, para uma diminuição das pessoas que circulavam no
sector urbano do caminho-de-ferro de Cascais. O eléctrico, tendo um trajecto
parcialmente similar ao percorrido pelo ramal de Cascais, sendo mais barato e mais
rápido, impôs-se como um meio preferencial nas ligações intra-urbanas que, como
verificámos no gráfico 2, apresentam uma tendência decrescente que se estende até
1909. Nem mesmo as medidas concorrenciais C.R.C.F.P. conseguiram contrariar esta
situação. Só a estação terminal apresentava um envio de passageiros sólido saldando-se,
por uma tendência de evolução diferente do contexto da secção urbana. 293
Exceptue-se o caso da estação de Pedrouços que, até 1906, apresenta um
significativo envio de passageiros. Tal pode estar relacionado com a sua proximidade ao
espaço suburbano, uma vez que esta é a última estação do concelho de Lisboa
pertencente ao ramal de Cascais. Deste modo, pode-se questionar se estes envios eram
para a zona rural, revelando-se esta estação importante no contexto de
suburbanização.294
Entre 1907-1917, persiste a liderança do Cais do Sodré. Enquanto entre 1908-
1909 esta estação progride, entre 1907-1909 a estação da Junqueira estagna e, as
restantes, decrescem. O hiato de 1911 a 1913 é pautado por uma certa inconstância.
Entre 1916-1917 consolida-se, em todas as estações, uma evolução nula ou uma redução
293 Num período em o eléctrico se impôs bem sucedidamente dentro da cidade, deve-se sublinhar que a tendência do Cais do Sodré está relacionada não só com ligações no seio da urbe como, possivel e maioritariamente, com ligações para fora desta, para o espaço suburbano e rural. 294 VENTURA, 2006, p. 72.
102
do número de passageiros enviados, com a excepção da estação do Cais do Sodré, cujo
número de pessoas enviadas aumenta.
Gráfico 4. Percentagem anual de passageiros enviados por estação da secção rural (1894-1917) [anexo IV
e V].
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1894-1896, 1898-1910, 1912-1913,
1915, 1917-1918.
No contexto do envio de passageiros da secção rural, destaca-se a estação de
Algés, seguida da estação de Cascais. No que diz respeito à primeira, deve-se ao facto
de, embora se situe no espaço suburbano à cidade de Lisboa, ser aquela que mais
próximo se enconta do centro da capital. Por seu turno, o relevo da estação de Cascais
prende-se com o intuíto já referido subjacente à construção desta via-férrea.
No primeiro ano de análise verifica-se que o predomínio pertencia à estação de
Cascais. Esta era ainda uma via-férrea predominantemente rural, sector que dominava o
contexto geral, revelando que o objectivo de construção da via-férrea tinha sido bem
sucedido e justificando o capital investido. Aquele predomínio pode estar associado não
só ao facto de, então, a via-férrea só ir até Alcântara-Mar, como também 1894 ser um
ano próximo da inauguração do ramal, ainda constituindo uma novidade, tornando as
viagens e a vilegiatura ao longo da costa mais atractivas. Este é o ano de pico máximo
de todas as estações rurais, excepto Algés.
0
5
10
15
20
25
30
#*+&!
#*+'!
#*+(!
#*+)!
#*+*!
#*++!
#+""!
#+"#!
#+"$!
#+"%!
#+"&!
#+"'!
#+"(!
#+")!
#+"*!
#+"+!
#+#"!
#+##!
#+#$!
#+#%!
#+#&!
#+#'!
#+#(!
#+#)!
% d
e bi
lhet
es v
endi
dos
Percentagem anual de passageiros enviados por estação da secção rural
Algés
Paço de Arcos
Oeiras
Carcavelos
Parede
Estoril
Cascais
103
A situação altera-se com a abertura da estação do Cais do Sodré. Ainda que esta
pertença à secção urbana, a sua inauguração teve reflexos no sector rural, pois a via-
férrea passou a deter um carácter urbano ou suburbano vincado, motivo pelo qual a
importância da estação de Cascais e das restantes para lá de Algés foi, grosso modo,
decaindo até 1901. Por contraponto, assistiu-se ao ascendente da estação de Algés, mais
próxima do espaço urbano, o que é saldado, em 1896, com o cruzamento desta linha
com a de Cascais, com uma supremacia notória daquela que representa Algés. Desta
forma, pode-se concluir que a inauguração da estação do Cais do Sodré fez decair a
importância das estações rurais, salvo Algés, pela sua proximidade ao espaço urbano.
Os reflexos do eléctico da C.C..F.L. não se fizeram sentir negativamente na
evolução dos passageiros enviados pelo sector rural. Por exemplo, na estação de Algés,
a mais próxima da urbe e que constituia o terminus do eléctrico, a tendência foi para um
aumento dos valores percentuais. As viagens de maior distância e intra-rurais eram
viaveis, pois algumas estações aumentaram o seu tráfego neste período, particularmente,
Paço de Arcos, Carcavelos, Parede e Estoril, o que reflecte a ausência de meios de
transporte alternativos no espaço rural, capazes de concorrer com o caminho-de-ferro.
Desta forma, perante a concorrência do eléctrico no sector urbano, a zona rural vê a sua
posição. no contexto do tráfego geral do ramal de Cascais, consolidada.
Quanto ao segundo hiato, entre 1907-1909 todas as estações consolidam a sua
posição com um aumento do envio de passageiros, ainda que se tenha registado uma
diminuição, entre 1911-1912. Por sua vez, entre 1915-1917 há um aumento do envio de
pessoas da maior parte das estações, nomeadamente, Paço de Arcos, Oeiras, Carcavelos,
Parede e Cascais, que contrasta com a quebra do Estoril e com uma diminuição abrupta
de Algés.
104
Gráfico 5. Percentagem anual de passageiros recebidos por estação da secção urbana (1894-1917) [anexo
IV e V].
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1894-1896, 1898-1910, 1912-1913,
1915, 1917-1918.
No gráfico 5 a estação do Cais do Sodré continua a ser a que mais dinamismo
atribui ao ramal. Por sua vez e, como já foi referido, a única que, se situa acima da mé-
dia percentual anual de passageiros recebidos da secção urbana é a Junqueira.
Para o período compreendido entre 1894-1907, recordando que a estação de Al-
cântara-Mar enquanto terminus do ramal de Cascais verifica-se que, no primeiro ano,
esta era a única que não apresentava um valor percentual no limiar dos 0%, como todas
as restantes embora, a partir de então, decresça.
No seu ano inaugural, a estação do Cais do Sodré começou por receber 26,39%
do total de passageiros da secção urbana valor que apresenta uma tendência globalmente
positiva até 1901. Das restantes estações, só a Junqueira apresenta um sentido ascenden-
te desde 1894 até 1902, o que se pode justificar pela presença, nas suas proximidades,
do Bairro do Calvário, como já se disse, ocupado pela pequena burguesia que afluia a
ele afluía por via do caminho-de-ferro.295 Porém, a partir desta última data, verifica-se
uma quebra resultante da concorrência do eléctrico da C.C.F.L., também sentida, embo-
295 VENTURA, 2006, p. 63.
0,00 5,00
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00
1894
18
95
1896
18
97
1898
18
99
1900
19
01
1902
19
03
1904
19
05
1906
19
07
1908
19
09
1911
19
12
1913
19
15
1916
19
17
% d
e pa
ssag
eiro
s Percentagem anual de passageiros recebidos por estações da
secção urbana
Cais do Sodré
Santos
Alcântara-Mar
Junqueira
Belém
105
ra em 1901, no Cais do Sodré, não retomando a Junqueira estação o dinamismo que
outrora tivera.296
Até 1907 como reflexo da adopção modernizadora pela C.C.F.L., a linha
representativa das recepções de passageiros no Cais do Sodré estagna (com uma ligeira
tendência para decrescer). Tal revela que o «contra-ataque» da C.R.C.F.P. foi
parcialmente bem sucedido, na medida em que conseguiu contrariar a tendência
globalmente decrescente sentida a partir de 1901. Ainda assim, as medidas não foram
sólidas o suficiente para aumentar as recepções nesta estação.
Para o período compreendido entre 1907-1917 os valores dos passageiros rece-
bidos pelas estações da cidade de Lisboa, salvo Cais do Sodré e Junqueira, nunca se
situam acima dos cerca de 1,30%. Até mesmo esta primeira estação, mantém a sua
tendência decrescente. Salvaguarde-se o pico na estação da Junqueira, com um aumento
de 1911 para 1912, seguido de uma diminuição no ano seguinte. Junto desta estação
existia a Central da Junqueira, que fornecia energia a particulares. Em 1908 determinou-
se que esta se estabeleceria próximo desta estação, justificando-se o acréscimo de pas-
sageiros pela afluência dos trabalhadores para edificação do espaço.297 A estação de
Belém cresce entre 1915-1917, hiato que se insere no contexto da participação portu-
guesa na I Guerra Mundial. O acréscimo das recepções nesta estação pode-se associar à
presença, nas suas proximidades, da Nacional Fábrica de Máquinas, da Sociedade de
Refinação Privilegiada de Portugal e da Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense,
partindo-se do princípio de que o conflito estimulou a produção industrial de
determinados sectores.298
296 A ligeira «proeminência» da estação de Santos, ainda que pouco significativa, entre 1900-1904, pode estar relacionada não só com a proximidade ao Cais do Sodré, como pela presença da Central Térmica, pertencente à Carris e que fornecia energia eléctrica aos primeiro eléctricos que circularam na capital, enquadrando-se este hiato na modernização encetada por esta companhia. Por sua vez, a estação de Belém destaca-se, entre 1902-1907, hiato coincidente com a presença da Fábrica de Gás, inaugurada alguns anos antes, em 1888, e situada próximo da Torre de Belém. 297 http://www.wikienergia.pt/~edp/index.php?title=Central_Tejo:_1908_-_1921 (29.10.2012). 298 http://www.engenhoeobra.net/esxx_investigacao_21.asp?investigacao=3 (12.08.2012) e Inquérito Industrial de 1881: inquérito directo, Vol. III, 1881-1883, pp. 27-38.
106
Gráfico 6. Percentagem anual de passageiros recebidos por estação da secção rural (1894-1917) [anexo
IV e V].
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1894-1896, 1898-1910, 1912-1913,
1915, 1917-1918.
Analisando o gráfico 4, verifica-se, em certa medida, que as linhas que
representam cada uma das estações no gráfico 6 apresentam um paralelismo com o
primeiro, o que ajuda a atestar a presença de movimentos pendulares.
No que concerne ao primeiro hiato, todas as estações rurais, à excepção da
estação de Algés, possuem o seu pico máximo em 1894. Destaque-se a posição ocupada
por Cascais, que revela o cumprimento do objectivo inerente à edificação do ramal.
Porém, mais uma vez, a inauguração da estação do Cais do Sodré revelou-se
determinante na evolução deste quadrante. Genericamente, a estação de Cascais e, com
ela, as restantes estações rurais, decaiem na recepção de passageiros até 1901,
contrastando com o crescimento exponencial de Algés até 1898.
A única estação «vitimizada» pela concorrência do eléctrico da Carris foi Algés,
a estação mais urbana do sector rural, apesar do seu peso só se fazer sentir a partir de
1903. No entanto, esta modernização reflectiu-se prolongadamente, até 1909, enquanto
nas restantes estações rurais se assistia ao aumento do número de passageiros recebidos.
E, por fim, o hiato entre 1907-1917. No que concerne à estação mais próxima do
núcleo urbano, não obstante o pico entre 1909-1913, verifica-se uma diminuição acen-
tuada do número de passageiros recebidos que se estende até 1917. Contrariando esta
0
5
10
15
20
25
30
35 #*+&!
#*+'!
#*+(!
#*+)!
#*+*!
#*++!
#+""!
#+"#!
#+"$!
#+"%!
#+"&!
#+"'!
#+"(!
#+")!
#+"*!
#+"+!
#+##!
#+#$!
#+#%!
#+#'!
#+#(!
#+#)!
% d
e bi
lhet
es v
endi
dos
Percentagem anual de passageiros recebidos por estação da secção rural
,-./0!
1234!56!,7840!
96:720!
;2782<6-40!
127656!
=0>47:-!
;2082:0!
107
tendência, as restantes estações apresentam uma quebra em 1913, para depois progredi-
rem até ao último ano (excepto o Estoril), demonstrando que os acontecimentos políti-
cos, internos e externos, não se repercutiram na recepção de passageiros no espaço rural.
A salvaguarda referente à estação do Estoril pode demonstrar, neste período e, sendo
este espaço vocacionado para a prática turística, a incapacidade de dinamismo deste
sector económico motivada por uma redução das viagens com fito de lazer.
Em suma, no estudo do tráfego de passageiros por estação, ressalta com grande
evidência a estação do Cais do Sodré, constituindo, não só, o terminus do ramal de Cas-
cais, situado no centro da capital, como também aquela que um maior número de pesso-
as recebe e envia. Segue-se a estação de Algés que, sendo da secção rural aquela que
mais próxima se encontra do núcleo urbano, possui um grande relevo, atestando a rela-
ção funcional entre a grande cidade e este subúrbio.
Uma das restantes estações de destaque é Cascais, indo ao encontro do fito inici-
al de construção do ramal, de ligação da capital a esta vila. Some-se Paço de Arcos,
Oeiras, Parede e Estoril, cujo acréscimo do tráfego reflecte o facto de já serem povoa-
ções em crescimento, quer económico, pelas actividades que albergam, quer demográfi-
co, pelo aumento da sua população de facto, como mais à frente se verá.
3. O crescimento das povoações da linha de Cascais.
Feita a análise do tráfego entre secções e por estação, vamos analisar o cresci-
mento da população de facto nas povoações servidas pelo ramal de Cascais, para averi-
guar a influência deste último na ocupação demográfica entre Algés e Cascais.
Para este estudo, a baliza cronológica situa-se entre 1911-1940. Tal prende-se
com o facto dos dados sobre população de facto, ao nível da povoação, só existirem
nestes 2 anos censitários.299 Tendo-se extraído os dados da população de cada um dos
lugares da zona rural, nomeadamente, dos concelhos de Oeiras e Cascais (segundo a
299 Considerou-se como hipótese estimar a população de facto por povoação antes de 1911. Contudo, chegou-se à conclusão de que, partindo-se dos dados desse ano, os cálculos obtidos para o período ante-rior à inauguração do ramal de Cascais incorreriam em erro, pois eram feitos com base nos quantitativos de 1911, quando a linha de Cascais já estava construída.
108
divisão administrativa de 1940) que, em 1911, possuíam mais de 100 habitantes, calcu-
lou-se a Taxa de Crescimento Anual Médio, de forma a caracterizar a sua evolução du-
rante os 29 anos intermédios. Deve-se considerar que, no período em estudo, foi electri-
ficado o ramal de Cascais, tornando a área costeira mais atractiva, uma vez que as via-
gens eram muito mais rápidas, mais baratas e mais cómodas. Assim, um dos factores
que terá estimulado o aumento da população de facto nas povoações analisadas não se-
rá, apenas, a presença do caminho-de-ferro, mas também a sua modernização. Para a
análise e representação dos dados foi utilizado um SIG.
Parta-se da ideia desenvolvida no tópico 1 do presente capítulo de que existia
uma grande concentração populacional no centro histórico de Lisboa, que motivava um
encarecimento do custo do solo, levando à ocupação dos espaços periféricos ainda den-
tro da cidade e, depois, fora dela, estimulando o desenvolvimento de centros de povoa-
mento, sobretudo, a partir de 1890. Como já foi referido, um dos eixos de crescimento
foi junto à zona ribeirinha, tendo o caminho-de-ferro estimulado e promovido a fixação
de habitantes entre Algés a Cascais, sobretudo, nos espaços suburbanos ou onde já se
encontrava estabelecido algum sector de actividade. Neste sentido, as principais povoa-
ções eram Algés, Paço de Arcos, Oeiras, Parede, Estoril e Cascais.
109
Imagem 2. Crescimento da população de facto nas povoações dos concelhos de Cascais e Oeiras com
mais de 100 habitantes.
Divisão administrativa de 1940; TCAM (1911-1940) e distância ao caminho-de-ferro (1 quilómetro, 2
quilómetros e 5 quilómetros).
Fonte: INE, Ministério das Finanças – Direcção Geral da Estatística, 1911 e Instituto Nacional de Estatís-
tica, 1940.
Vejamos agora qual foi a influência do caminho-de-ferro - este motivou um in-
cremento do povoamento da zona litoral, da zona interior, de ambas ou apenas de uma
delas?
Como se pode constatar pela imagem anteriormente apresentada, as povoações
que apresentam uma TCAM mais elevada correspondem, grosso modo, àquelas que se
situam junto ao ramal de Cascais, nomeadamente, a uma distância inferior ou igual a 1
quilómetro, salvo 5 excepções de seguida enunciadas. Desta forma, existe uma relação
entre a proximidade a este meio de transporte e o crescimento da população de facto nas
povoações por ele servidas. Enquanto a TCAM. das povoações situadas no primeiro
110
anel do buffer (= ou <1 km) se situa entre os 2-6% e, para o caso do Estoril, acima dos
6%, conforme nos afastamos da via-férrea, sobretudo em distâncias superiores de 5 qui-
lómetros, esta tendência tende a dissipar-se, apresentando os lugares uma TCAM inferi-
or aos 2% e, em dois casos particulares (na Outorela e em Manique), chegando a apre-
sentar valores negativos.
Imagem 3. Relação entre TCAM (1911-1940) e a distância ao caminho-de-ferro.
Tabela 2. Número de povoações para cada classe de distância ao caminho-de-ferro e
respectiva média.
Classes DistCF
Nº de Povoa-ções Média
1 13 3,506
2 10 2,092
5 16 1,197
6 6 3,877
Fonte: INE, Ministério das Finanças – Direcção Geral da Estatística, 1911 e Instituto Nacional de Estatís-
tica, 1940.
111
A surpresa surge quando se analisa a mesma taxa no que concerne às povoações
com um afastamento igual ou superior a 6 quilómetros: embora constituam um número
mais reduzido, de 6 lugares, apresentam um crescimento percentual anual de cerca de
3,88%, suplantando aquele foi apresentado para as zonas próximas da linha de Cascais.
Não obstante, os valores apresentados neste último caso podem ser facilmente
explicados. Tendo-se adoptado a divisão administrativa de 1940, deve-se ter em conta
que a concelho de Oeiras tinha grandes dimensões. Incluíam-se, neste, as povoações da
Amadora, Venda Nova e Damaia, cuja elevada TCAM é justificada não pela influência
do ramal de Cascais, mas da linha de Sintra, pela qual estas eram directamente atraves-
sadas. Atesta-se, aqui, um processo de suburbanização motivado por esta última via-
férrea e que, contrastando com aquele que se processa junto à zona ribeirinha, se dá
rumo ao interior. Importava desenvolver-se um novo estudo que se debruçasse sobre o
processo de suburbanização à luz destas duas linhas férreas. As 3 restantes povoações
com uma maior TCAM. são a Portela de Carnaxide, Malveira da Serra e Amoreira.
Contudo, estes são lugares interiores, com ausência de caminho-de-ferro, pelo que se
torna difícil discernir um justificativo para o seu peso.
Sabendo que o crescimento junto ao litoral foi mais relevante do que na zona
interior, quais as povoações com uma TCAM mais representativa e que, neste sentido,
contribuíram para a suburbanização de Lisboa na faixa costeira para Oeste?
Tabela 3. Evolução da população de facto nas principais povoações servidas pe-
lo ramal de Cascais e respectiva TCAM.
Povoação PopFacto1911 PopFacto1940 TCAM Algés 2 427 7 836 4,12 Caxias 579 1 507 3,35 Dafundo 945 2 244 3,03 Paço de Arcos 1 571 3 502 2,80 Oeiras 1 715 4 011 2,97 Parede 1 301 4 603 4,45 Estoril 298 2 935 8,20 Cascais 3 445 7 115 2,53
Fonte: INE, Ministério das Finanças – Direcção Geral da Estatística, 1911 e Instituto Nacional de Estatís-
tica, 1940.
112
Em 1895 constatava-se que “de há muito que a área da nossa capital foi alargada
até Algés, mas, apesar da população cobrir numa grande intensidade aquela zona, ela
conservava-se pouco menos que afastada do coração da capital (...)”.300Acompanhando
a tendência sentida em 1895, verifica-se que a TCAM das povoações próximas de Al-
gés, nomeadamente, do Dafundo e, embora com uma percentagem mais reduzida, da
Cruz Quebrada, é significativa.
A povoação de Algés é uma das que possui uma das TCAM mais elevadas. Este
lugar, no período em análise, quase triplicou o seu peso demográfico, passando de 2 427
habitantes (1911) para 7 836 (1940). O seu relevo está associado, tal como o de Caxias
e Dafundo, ao facto de se encontrem no espaço imediatamente limítrofe à cidade de
Lisboa. Qualquer uma destas três povoações pode-se considerar um subúrbio da capital,
uma vez que desenvolvem uma relação funcional e de dependência face a esta. Assiste-
se, assim, a uma ocupação de lugares que não estavam associados à presença de indús-
trias fabris e manufactureiras, constituindo zonas residenciais limítrofes à capital. Tal é
verificado pelo trânsito de passageiros, a partir do qual se nota esta relação entre Lisboa
e Algés, bem como entre a capital, Dafundo e Cruz Quebrada, ainda que com menor
importância por comparação à primeira povoação.
Assim, de Algés à Cruz Quebrada pode-se atestar uma ocupação espacial com
um carácter contínuo, sem ruptura desde o núcleo da grande cidade. Tal pode-se encon-
trar relacionado não só com a presença do caminho-de-ferro, como com a extensão do
tramway eléctrico à Cruz Quebrada, em 1911.301 O espaço entre Algés e a Cruz Que-
brada estava a contribuir para o processo de suburbanização, pela ocupação residencial
deste segmento, o que justificava o investimento nesta modernização e atesta a existên-
cia do tráfego da periferia urbana para o seu interior.
Considere-se que o crescimento da população de facto, entre 1911-1940, no
espaço compreendido entre a Cruz Quebrada e Cascais, deu-se em povoações que já
eram dotadas de algum desenvolvimento, como Paço de Arcos, Oeiras, Carcavelos,
Parede, Estoril, e Cascais. Estas contribuiram largamente para o que foi concluído nos
gráficos 4 e 6, correspondente às trocas das estações intra-rurais: pode-se atestar que os
movimentos analisados possuem um carácter pendular, justificando as deslocações
menores, entre as estações mais próximas.
300 Gazeta dos Caminhos de Ferro, Nº 185, 01.09.1895, p. 260. 301 PINHEIRO, s.d., p. 12.
113
Quanto a Paço de Arcos e Oeiras, embora possuam umas das TCAM mais
reduzidas, com um crescimento de 1 571 habitantes (1911) para 3 502 (1940) e de 1 715
(1911) para 4 011 (1940), respectivamente, de acordo com o Inquérito Industrial de
1881, ambas as povoações estavam associadas ao sector extrativo. Segundo a mesma
fonte, em Paço de Arcos existiam pedreiras, cuja “(…) maior quantidade de pedra ex-
plorada para cantaria é destinada ao revestimento de muros de cais, especialmente das
obras do porto de Lisboa, onde ela é empregada largamente (…)”.302 Por sua vez, na
povoação de Oeiras, existiam pedreiras exploradas por Hersent e Genelioux, cuja ex-
tracção era destinada ao porto de Lisboa e indo o calcário para os Açores. Possivelmen-
te, aquando da conclusão das obras do porto de Lisboa o sector extrativo poderá ter per-
dido a sua importância, justificando a baixa TCAM. É ainda invocado que estas duas
povoações eram dotadas de um desenvolvimento industrial significativo, o que ajudou a
manter um crescimento da população de facto sustentado.303 Por outro lado, não se deve
descurar a importância de Paço de Arcos nas práticas de veraneio, sobretudo, ao Do-
mingo.304 Ainda que este seja uma povoação atractiva para a prática de banhos e, sendo
referido que apenas o era num dia, associam-se movimentos pendulares, em detrimento
de uma ocupação absoluta do espaço.
Na povoação da Parede, cujo TCAM de 4,45 é a mais elevada a seguir ao Esto-
ril, verifica-se mais do que um triplicar da população nos 29 anos de análise. Neste lu-
gar, a estação ferroviária tinha sido construída quase exclusivamente para o serviço das
pedreiras. Simultaneamente, “esta localidade tem uma das estâncias balneares mais
afamadas do País. O microclima suave e a elevada concentração de iodo na sua praia
converteram esta freguesia do concelho de Cascais num lugar de excelência para o tra-
tamento de doenças ósseas”, estando este espaço associado a um veraneio medicinal,
terapêutico e cientificamente certificado.305 Foi por este motivo que aí se fixou o Sana-
tório de Santa Ana (1904) considerado, à data, um dos melhores hospitais ortopédicos
da Europa.306 Segundo Pedro Martins, por volta de 1930-1940, a Parede era,
fundamentalmente, uma área residencial, considerando a existência de poucos hotéis.307
302Inquérito Industrial de 1881: inquérito directo, Vol. I, 1881-1883, p. 235. 303 Inquérito Industrial de 1881: inquérito directo, Vol. I, 1881-1883, p. 235. 304 COLAÇO, 1999, p. 35. 305 SILVA,2008, p. 229. 306 SILVA,2008, p. 229 e MARTINS, 2011, pp. 37-39. 307 MARTINS, 2011, pp. 44-45.
114
Este atractivo medicinal, que se deve associar ao sector económico emergente, o
turismo, também justifica o peso de São João do Estoril, Estoril e Monte Estoril. A a
presença de estâncias termais nestas zonas tornou-as atractivas enquanto espaços
residenciais. Neste contexto, ressalta o crescimento do Estoril, sobretudo, a partir da
construção do projecto cosmopolita e internacional de Fausto de Figueiredo, o Parque
Estoril. A sua TCAM é a mais elevada havendo um aumento de 8,20% por ano, que
corresponde a uma transição de apenas 298 (1911) pessoas para 2 935 (1940), o que é
explicado pelo loteamento dos terrenos junto ao Parque Estoril, constituindo este um
«chamariz» à fixação de população. Por outro lado, considere-se que as pessoas que
trabalhavam no Parque e nas infra-estruturas por ele desenvolvidas residiam neste
espaço ou nas povoações próximas. Neste contexto, o Estoril destacava-se enquanto
local de lazer, com um turismo vocacionado para o cosmopolitismo e de cariz
internacional, tendo o projecto de Fausto de Figueiredo incrementado a urbanização em
seu torno, a qual foi, igual e incentivada pela electrificação do ramal de Cascais.308
Quanto a Cascais, esta era uma vila piscatória, cuja importância não remonta à
presença do caminho-de-ferro, ainda que este a tenha dinamizado. O destaque atribuído
à mesma está relacionado com a prática turística e, com ela, ao gosto pelos banhos de
mar e veraneio. Tal justifica quem, em 1911 já existissem 3 445 habitantes, o maior
valor de todas as povoações analisadas. Contudo, o seu crescimento não foi tao signifi-
cativo como as restantes contabilizando-se, em 1940, 7 115 habitantes. Ainda que con-
tinuasse a ser das povoações com um maior número de pessoas, o seu crescimento de-
mográfico nestes 29 anos não foi tão significativo como o das restantes povoações.
Pode-se, assim, atestar um crescimento do espaço suburbano à cidade de Lisboa
e uma tendência para delimitação da zona metropolitana a Oeste da capital e junto à
zona ribeirinha. Este processo de suburbanização, ainda que na mesma zona costeira,
realizou-se de acordo com dois padrões distintos. Por um lado, a população ocupou os
lugares imediatamente limítrofes à cidade, como Algés, Dafundo e Cruz Quebrada. Por
outro lado, emerge um outro tipo de ocupação do espaço, extremamente vinculado à
presença do caminho-de-ferro e à existência de aglomerados cujo desenvolvimento era
notório pela presença de determinados sectores de actividade (fosse pela extracção ou
pelo turismo/práticas de vilegiatura). Estão incluídos neste grupo Paço de Arcos, Oeiras,
Carcavelos, Parede, São João do Estoril, Estoril, Monte Estoril e Cascais. Como se
308 MARTINS, 2011, pp. 45-47.
115
constata pelo afastamento entre cada uma destas povoações, pode-se concluir que a sua
ocupação estimulou uma ruptura com a fixação contínua que se tinha processado até à
Cruz Quebrada, sendo indissociável da proximidade a pontos de trabalho e ao caminho-
de-ferro. Estas povoações, contrastando com Algés, Dafundo e Cruz Quebrada, não
tinham uma relação funcional e dependente da cidade de Lisboa.
116
Conclusão
Os projectos iniciais de construção do ramal de Cascais remontam aos anos 50
do século XIX, integrando a construção da linha de Sintra, da qual o caminho-de-ferro
em estudo ficaria dependente. Partindo da capital, os planos estipulavam, no caso de
Claranges Lucotte, a ligação até Belém e, no caso de Thomé Gamond, até Caxias, par-
tindo depois para Sintra. Em qualquer um dos casos, o objectivo da construção era turís-
tico, pretendendo-se ligar a tríade de lazer: Lisboa, a capital; Sintra, o espaço onde a
família real e a aristocracia passavam o Verão, pelas temperaturas amenas proporciona-
das pela montanha; e, Cascais, cuja importância está associada ao crescente gosto pelos
banhos de mar, desenvolvido a partir do século XIX.
Só a partir da década de 80 é que o projecto para construção do ramal de Cascais
começou a ser apresentado de forma independente. Tal está relacionado não apenas com
um fito turístico, de ligar a capital à vila de Cascais, motivo mais vincado e demarcado
pelos monarcas da época, mas também se encontra articulado às obras do porto de Lis-
boa, nomeadamente, no que concerne às propostas de Burnay e Hersent, ao que se deve
acrescentar a pretensa de ligação do conjunto das vias-férreas da capital, como era am-
bição da Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Partindo da ideia de que
o ramal visava ligar Cascais a Santa Apolónia e, desta forma, conectar com a linha de
Leste, seria construída uma circunvalação férrea da cidade de Lisboa, acompanhando a
margem norte do Tejo, embora tal nunca se tenha chegado a concretizar.
A proposta da C.R.C.F.P. acabou por prevalecer face às duas restantes o que, em
certa medida, se encontra relacionado com o potentado que esta empresa representava.
Tal foi atestado nos debates da Câmara dos Senhores Deputados, que criticavam a valo-
rização que era atribuída à proposta da Companhia e o facto de que o que a movia ser a
sua ambição de monopólio da rede geral dos caminhos-de-ferro portugueses e, sobretu-
do, das ligações à grande cidade. Para conseguir a aceitação do traçado ao qual muitos
se opunham, sobretudo, militares, a C.R.C.F.P. integrou o Ministro da Guerra no seu
conselho fiscal, o que revela o seu poder no quadro institucional do século XIX.
A inauguração do ramal de Cascais, contrariando as expectativas iniciais de que
este caminho-de-ferro teria uma importância crucial, foi remetida para segundo plano
117
pela imprensa da época, perante a ocorrência de outros acontecimentos, nomeadamente,
a morte do infante D. Augusto, não lhe sendo atribuído o relevo esperado.
O caminho-de-ferro de Cascais foi a primeira linha férrea nacional a ser electri-
ficada (com grande distanciamento face às restantes)! Desta forma, seguiu-se a tendên-
cia adoptada no estrangeiro, inserindo-se este ramal e, com ele, Portugal, no contexto da
modernidade ferroviária não apenas nacional, como também interacional. Tal como a
construção da rede geral visava a internacionalização, pode-se concluir que a electrifi-
cação da linha de Cascais constituiu um passo de aproximação e igualdade face ao que
era levado a cabo no sector ferroviário estrangeiro. Esta modernidade foi reflexo e mo-
tivada pelos entraves da tracção a vapor, bem como pela concorrência de dois meios
modernos, um deles igualmente dinamizador da indústria emergente da produção eléc-
trica, o eléctrico da C.C.F.L., ao qual se deve acrescentar o automóvel, já no século XX.
No que concerne ao conceito de «modernidade», devem-se invocar os dois pro-
jectos de vida de Fausto Cardoso de Figueiredo, cujo percurso de vida, em parte, conti-
nua por conhecer. À já referida electrificação do ramal de Cascais, na qual o empresário
se destacou de forma interessante, demonstrando que se moldava não só à conjuntura
política, mas que também tinha um carácter persuasivo para prossecução dos seus pro-
jectos, deve-se acrescentar o incentivo a um novo sector económico, o turismo, materia-
lizado no Parque Estoril. A ideologia subjacente a este empreendimento consistia em
dotar este espaço de cosmopolitismo, tal como existia nas estâncias estrangeiras. Este
representaria o progresso nacional e a equidade turística ao que lá fora se fazia.
Assim, não se podem dissociar ambos os projectos – a electrificação da linha e o
Parque Estoril - deste empresário incontornável do final do século XIX, início do século
XX, cujas viagens pelo estrangeiro permitiram idealizar uma região diferente (o Esto-
ril), similar àquelas que visitou, procurando que Portugal equivalesse em termos de qua-
lidade (mais do que de quantidade) turística ao que no estrangeiro se concretizava. Ain-
da que, no presente estudo, se tenha atribuído um maior relevo à modernidade férrea,
uma vez que este pretende ir ao encontro de uma história dos caminhos-de-ferro (ainda
que regional), devem-se perspectivar ambos os projectos como sendo comuns e com
uma simbiose própria, pois cada um deles era causa e efeito da existência do outro.
A análise do tráfego de passageiros permitiu verificar que o ramal de Cascais
constituiu, efectivamente, um dos eixos de expansão e crescimento da cidade de Lisboa
para fora de si mesma. Num momento inicial, nomeadamente, entre 1894-1895, o cami-
118
nho-de-ferro de Cascais revelou-se crucial para o tráfego intra-rural. Este rapidamente
foi ultrapassado em importância pelas deslocações urbanas, efectuadas a partir da aber-
tura da estação do Cais do Sodré (1895). Inaugurado o eléctrico, como meio concorren-
cial à via-férrea (1901), esta retomou a importância das suas ligações de, para e dentro
da área rural, o que se encontra relacionado com o desenvolvimento dos centros de po-
voamento por ela servidos, cuja população de facto cresce de forma significativa. As-
sim, pôde-se integrar o espaço marginal atravessado pelo ramal de Cascais no processo
de suburbanização da cidade de Lisboa.
A utilização dos S.I.G. permitiu atestar o crescimento da população de facto com
particular concentração junto ao caminho-de-ferro e, com ele, acompanhando a zona
litoral. Entre 1911-1940, deu-se uma suburbanização a Oeste de Lisboa, que se fez sen-
tir nas povoações limítrofes à grande cidade, nomeadamente, Algés, Dafundo e Cruz
Quebrada, com uma ocupação contínua do espaço, ainda que estes lugares tivessem um
carácter de dormitórios, dependentes da capital. Neles não se pode invocar apenas a
influência da via-férrea, mas também do eléctrico, com terminus na Cruz Quebrada.
Por sua vez, noutras povoações servidas pelo caminho-de-ferro, como são o caso
daquelas que se situam entre Paço de Arcos e Cascais, verificou-se um aumento da ocu-
pação demográfica do espaço, a qual já tinha algum relevo. Este resultou não só o papel
da via-férrea, como também o facto de a elas estar associado determinado sector de ac-
tividade, fosse ele primário, como a extracção, ou terciário, como o turismo. Alguns
anos mais tarde estas povoações viriam a integrar a Área Metropolitana de Lisboa.
119
Bibliografia
Fontes
Arquivos:
Arquivo e Biblioteca da Assembleia da República.
Debates parlamentares disponíveis em: http://debates.parlamento.pt/?pid=mc
Arquivo Histórico e Fotográfico da C.P.
GFundos: Fundos Modernos; Fundo: CP; Secção: Administração; SSecção: Se-
cretaria-Geral; Série: Contratos e Documentação Afim; SSérie: Linha de Cas-
cais-Sociedade Estoril, caixas 484 e 485.
Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas.
Arquivo da Fundação Museu Nacional Ferroviário – Armando Ginestal Machado.
Disponível em: http://www.fmnf.pt/arquivo - PT/FMNF/DGCF-DFECF/8-Série
- Linha de Cascais - 1874-1940.
Instituto Nacional de Estatística.
Fontes impressas:
Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses Linha de Cascais. Contrato de 7 de
Agosto de 1918, Lisboa, Imprensa Nacional, s.d.
Direcção Geral de Estatística, Censo da População de Portugal – Dezembro de 1920,
Lisboa, Imprensa Nacional, 1923.
Direcção Geral de Estatística, Censo da população de Portugal – Dezembro de 1930, Lis-
boa, Imprensa Nacional, 1933.
Estatística de Portugal, População no 1º de Janeiro de 1878, Lisboa, Imprensa Nacional,
1881.
Estoril. Estação Maritima, Climaterica, Thermal e Sportiva, Lisboa, A Editora Limita-
da, 1914.
120
Estoril – Termas. Estabelecimento hidro-mineral e fisioterapêutico, Lisboa, Pap. e Tip.
Casa Portuguesa, 1923.
FIGUEIREDO, Fausto de, Organização do Turismo, tese apresentada no I Congresso
Nacional de Turismo - 1 Secção, Lisboa, s.n. 1936.
Inquerito industrial de 1881: inquérito directo, Lisboa, Imprensa Nacional, 1881.
Instituto Nacional de Estatística, VIII Recenseamento geral da população no Continente
e Ilhas Adjacentes em 12 de Dezembro de 1940, Lisboa, Imprensa Nacional, 1945.
Memôria sobre a utilidade, e uso medicinal dos banhos do Estoril, Estoril, Edição da
«Estoril Plage», 1939. (Reprodução fac-similada da 1ª edição impressa em 1839)
Ministério das Finanças – Direcção Geral da Estatística – 4ª Repartição, Estatística de-
mográfica – Censo da População de Portugal no 1º de Dezembro de 1911, Lisboa, Im-
prensa Nacional, 1913.
Ministério das Obras Públicas, Commercio e Industria – Direcção da Estatistica Geral
do Commercio – Repartição de Estatistica Geral, Censo da população do reino de Por-
tugal no 1º de Dezembro de 1890, Lisboa, Imprensa Nacional, 1896.
Ministério dos Negocios da Fazenda – Direcção Geral da Estatistica e dos Proprios Na-
cionaes, Censo da população do reino de Portugal no 1º de Dezembro de 1900, Lisboa,
Imprensa Nacional, 1901.
Relatório do I Congresso Nacional de Turismo, Lisboa, s.n., 1936.
Sociedade “Estoril”, Horário – Assinaturas, Passeios, Excursões, Tarifas, Diversas
Regalias, s.l., s.n., 1928.
Periódicos:
Diário de Manhã.
Diário de Notícias.
Diário Illustrado.
Gazeta dos Caminhos de Ferro.
Gazeta dos Caminhos de Ferro de Portugal e Hespanha.
Illustração Portuguesa.
121
O Século.
Occidente.
Revista da Associação dos Engenheiros Civis Portugueses.
Revista de Obras Públicas e Minas.
Estudos
100 Anos do Porto de Lisboa¸ s.l., Administração do Porto de Lisboa, 1987.
ABRANTES, Ana, “Viagem na Linha de Cascais nos primeiros dias de abertura ao Pú-
blico” in Comboios em Linha, Nº 3, Maio 2012, pp. 30-35.
ALEGRIA, Maria Fernanda, A organização dos transportes em Portugal (1850-1910):
as vias e o tráfego, Lisboa, 1987 (tese de Doutoramento).
ALVES, Daniel, A República atrás do balcão: os lojistas de Lisboa na fase final da
monarquia, Lisboa, s.n., 2010. Disponível em:
http://run.unl.pt/bitstream/10362/4658/1/DanielAlves_Lojistas.pdf
ALVES, Daniel R., Evolução das freguesias da cidade de Lisboa ao longo do século
XIX. SIGMA – Sistema De Informação Geográfica e Modelação de Dados Aplicados à
História de Portugal, apresentado no VIII Encontro de Utilizadores de SIG, Oeiras, 2-4
de Junho de 2004. Disponível em:
http://www2.fcsh.unl.pt/deps/historia/docs/Lisboa.pdf
ANDRADE, Ferreira de, Cascais – Vila de Corte, Cascais, Edição da Câmara Munici-
pal de Cascais, 1975.
ANDRADE, Ferreira de, Monografia de Cascais, Cascais, Edição da Câmara Municipal
de Cascais, 1969.
ANTUNES, José Aranha, GOMES, Gilberto, As séries estatísticas ferroviárias dos ca-
minhos de ferro portugueses. 1856-1914, apresentado no IV Congresso História Ferro-
viária, Málaga, 20-22 de Setembro de 2006). Disponível em:
http://www.docutren.com/archivos/malaga/pdf/IV11.pdf
BONIFÁCIO, Maria de Fátima, A Monarquia Constitucional (1807-1910), Alfragide,
Texto Editores, 2010.
122
BOYER, Marc, Histoire du tourisme de masse, Paris, PUF, 1999.
BRIZ, Maria da Graça Gonzalez, A Arquitectura de Veraneio. Os Estoris - 1880/1930, 2
vols., Lisboa, s.n., 1989.
BRIZ, Maria da Graça Gonzalez, “A arquitectura do Estoril: da quinta do Viana ao Par-
que do Estoril, 1880-1930” in Boletim Cultural do Município nº8, Cascais, Arquivo de
Cascais, s.d., pp. 51-74.
BRITO, Sérgio Palma, Notas sobre a evolução do Viajar e a Formação do Turismo, 2
vols., Lisboa, Medialivros, 2003.
CASTILHO, J. M. Tavares, Os Procuradores da Câmara Corporativa, 1935-1974, Al-
fragide, Texto Editores, 2009.
CARVALHO, 1930s Estoril: How Electricity and Concrete Roads shaped a Tourist
Resort, apresentado na 9th International Conference: Transport and Mobility on Display,
Berlim, 6-9 de Outubro de 2011. Disponível em: http://t2m.org/wp-
content/uploads/2011/09/Carvalho_Paper.pdf
CASTRO, Augusto de, Fausto de Figueiredo. Discurso pronunciado em 16 de Setem-
bro de 1951 por ocasião da transladação do seu corpo para o cemitério do Estoril,
Lisboa, Typ. da Emp. Nac. de Publicidade, 1951.
CELSO, Cacilda, Linha Marginal, Cascais, Câmara Municipal, 1993.
CIPRIANO, Carlos, “Linha de cascais foi electrificada há 80 anos” in Público, Agosto
de 2006, p. 46.
COLAÇO, Branca de Gonta, ARCHER, Maria, Memórias da Linha de Cascais, Lisboa,
Parceria António Maria Pereira, 1999.
CORBIN, Alain, História dos tempos livres, Lisboa, Teorema, 1995.
“Costa do Sol” in Turismo. Revista de Hotéis, Viagens e Actualidades, nº 13, Maio de
1938, p. 9.
COSTA, F. A. Velho da, “Substituição do motor a vapor pelo motor de corrente contí-
nua nas locomotivas do Caminho de Ferro” in Revista da Associação dos Engenheiros
Civis Portugueses, s.d., pp. 141-147.
CRUZ, Luís, “A electrificação da Linha de Cascais” in Comboios em Linha, nº 2, Outu-
bro 2011, pp. 26-31.
123
CRUZ, Manuel Braga da, PINTO, António Costa (dir.), Dicionário Biográfico Parla-
mentar 1935-1974, vol. I (A-L), Lisboa, Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa e Assembleia da República, 2004.
FERNANDES, Paulo Jorge, Mariano Cirilo de Carvalho. O «Poder Oculto» do libera-
lismo progressista (1876-1892), Lisboa, Divisão de Edições da Assembleia da Repúbli-
ca e Texto Editores, Lda., 2010.
FERREIRA, António Vicente, Os caminhos-de-ferro na organização nacional dos
transportes e do turismo: conferência realizada na Câmara Municipal de Lisboa em 22
de Janeiro de 1934, Lisboa, C.P., 1934.
FERREIRA, Carlos Henriques, O projecto nas periferias: dos limites da cidade à in-
termunicipalidade, Lisboa, CEFA e CIAUD, 2009. Disponível em:
https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/1484/1/Carlos%20Henriques%20Ferrei
ra.pdf
FERREIRA, Jaime, “Um século de moagem em Portugal, de 1821 a 1920. Das fábricas
às companhias e aos grupos da Portugal e Colónias e da Sociedade Industrial Aliança”
in A indústria portuense em perspectiva histórica: actas do Colóquio, Porto, Centro
Leonardo Coimbra / Faculdade de Lestras da Universidade do Porto, s.d., pp. 271-283.
FERREIRA, Vítor Matias, A cidade de Lisboa: de capital do império a centro da me-
trópole, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1897.
“Figueiredo (Fausto Cardoso de)” in Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol.
XI, Lisboa / Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia Limitada, 1940-1942, p. 306.
FIGUEIREDO, Fausto Amaral de, “A propósito do VI Centenário da Vila de Cascais”
in Ocidente, vol. LXVII, Lisboa, 1964, pp. 18-27.
FINO, Gaspar, Legislação e Disposições Regulamentares sobre Caminho de Ferro,
Lisboa, Imprensa Nacional, 1883.
GOMES, Gilberto, Lisboa: a plataforma portuária e as ligações ferroviárias, apresen-
tado no V Congresso de História Ferroviária, Palma, 14-16 de Outubro de 2009). Dis-
ponível em:
http://www.docutren.com/congreso_palma/pdfs/com/Ses02/0206_Gomes.pdf
124
HENRIQUES, João, Cascais. Do final da Monarquia ao alvorecer da República (1908-
1914), Lisboa, Edições Colibri / Câmara Municipal de Cascais, 2001.
HENRIQUES, João, História da Freguesia de Cascais: 1870-1908 (Uma Proposta de
Estudo), Lisboa, Edições Colibri / Câmara Municipal de Cascais, 2004.
HENRIQUES, João, Da Riviera Portuguesa à Costa do Sol. Fundação, Desenvolvimen-
to e Afirmação de uma Estância Turística (Cascais, 1850-1930), Lisboa, 2008 (disser-
tação de Doutoramento).
LOBO, Susana, “A colonização da linha de costa: da marginal ao «resort»” in Jornal
Arquitectos, n.º 227, Abril-Junho de 2007, pp. 18-25.
MARQUES, A. H. de Oliveira, et. al. (coord), Parlamentares e ministros da 1ª Repúbli-
ca (1910-1926), s.l., Edições Afrontamento, s.d.
MARTINS, Pedro, Contributos para uma história do ir à praia em Portugal, disserta-
ção de mestrado em História Contemporânea, UNL-FCSH, 2011 (dissertação de Mes-
trado).
MATA, Maria Eugénia, “As bees attracted to honey: transport and job mobility Portu-
gal, 1890-1950” in Journal of Transport History, vol. 29, nº 2, 2008-2009, pp. 173-192.
MATA, Maria Eugénia, TAVARES, Lara, “The value of portuguese railways for con-
sumers on the eve of the First World War” in Transporte, Servicios y Telecomunica-
ciones, nº 7, 2004, pp. 81-100.
MATA, Maria Eugénia, PEREIRA, Pedro Telhado, Urban dominance and labour mar-
ket differentiation of a European capital city: Lisbon 1890s-1990, Norwell, Kluwer Ac-
ademic Publishers, 1996.
MATOS, Ana Cardoso de, RIBEIRO, Elói Figueiredo, BERNARDO, Maria Ana, Ca-
minhos-de-ferro e turismo em Portugal (final do século XIX e primeiras décadas do
século XX), apresentado no V Congresso de Historia Ferroviária, Palma, 14-16 de Ou-
tubro de 2009). Disponível em:
http://www.cidehus.uevora.pt/textos/artigos/amatos_camferro_turismo_xix-xx.pdf
MATOS, Ana Cardoso de, SANTOS, Maria Luísa, “Os Guias de turismo e a emergên-
cia do turismo contemporâneo em Portugal (dos finais do século XIX às primeiras dé-
cadas do século XX)” in Scripta Nova. Revista electrónica de geografia y ciencias so-
ciales, vol. VIII, nº 167, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2004.
125
EIRELES, José de, Coisas de turismo, s.l., Edição do Autor, 1969.
MONTEIRO, Gilberto, MORGADO, Alves, O sítio da Cuz Quebrada. Nótulas de mi-
cro-história, s.l., s.n., s.d.
ORTIGÃO, Ramalho de, As Praias de Portugal: Guia do Banhista e do Viajante, Lis-
boa, Frenesi, 2002 (1.ª ed. 1876).
Os caminhos-de-ferro portugueses 1856-2006, s.n., C.P. – Comboios de Portugal / Pú-
blico – Comunicação Social, SA, s.n.
PAIVA, Manuel João, “Linha de Cascais. Viagem ilustrada ao passado” in Bastão Pilo-
to, nº 229, Agosto de 2007, pp. 7-10.
PINA, Paulo, Cronologia do Turismo Português, 1900-1929: colectânea de factos e
opiniões, Porto, Direcção Geral de Turismo, Delegação do Porto, 1982.
PINA, Paulo, O Turismo no século XX, Lisboa, Lucidus, 1988.
PINHEIRO, Magda, Biografia de Lisboa¸ Lisboa, A Esfera dos Livros, 2011.
PINHEIRO, Magda, Chemins de fer, struture financiere de l'état et dépendance exte-
rieure au Portugal (1850-1890), Paris, 1986 (tese de Doutoramento).
PINHEIRO, Magda, Cidade e Caminhos de Ferro, Lisboa, Centro de Estudos de Histó-
ria Contemporânea Portuguesa, 2008.
PINHEIRO, Magda, BAPTISTA, Luís V., VAZ, Maria João (org.), Cidade e Metrópo-
le. Centralidades e Marginalidades, Oeiras, Celta Editora, 2001.
PINHEIRO, Magda, Impacto da construção ferroviária sobre a cidade de Lisboa, s.l.,
s.n., s.d.
PINHEIRO, Magda, MÓNICA, Maria Filomena, Para a história do caminho de ferro
em Portugal, Lisboa, Caminhos de Ferro Portugueses, 1999.
RIBEIRO, Elói de Figueiredo, A Gazeta dos Caminhos de Ferro e a Promoção do Tu-
rismo em Portugal (1888-1940), Évora, tese de mestrado, 2006.
RIBEIRO, Manuel, Sintra e o caminho férreo. Transformações urbanísticas e de infra-
estruturas, 1850-1910, Lisboa, 2002.
RODRIGUES, Teresa, Nascer e morrer na Lisboa Oitocentista. Migrações, mortalida-
de e desenvolvimento, Lisboa, Edições Cosmos, 1995.
126
SALGUEIRO, Ângela Sofia Garcia, A Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portu-
gueses (1859-1891), Lisboa, 2008 (dissertação de Mestrado).
SILVA, José Ribeiro da, Os comboios em Portugal. Do Vapor à Electricidade, Vol. 1,
Queluz, Mensagem, 2004.
SILVA, José Ribeiro da, RIBEIRO, Manuel, Os comboios em Portugal. Do Vapor à
Electricidade, Vol. 4, Lisboa, Terramar, 2008.
SILVA, Raquel Henriques da, Cascais, Lisboa, Editorial Presença, 1989.
SILVA, Raquel Henriques da, “Estoril, Estação Marítima, Climática, Thermal e Sporti-
va – As etapas de um projecto: 1914-1932” in Boletim Cultural do Municipio nº 10,
Cascais, Arquivo de Cascais, 1991, pp. 41-60.
SILVA, Raquel Henriques da, Lisboa de Frederico Ressano Garcia: 1874-1909¸ Lis-
boa, Fundação Calouste Gulbenkian, Abril/Maio 1989.
SILVEIRA, Luís Espinha da, (et. al.), " Caminhos de ferro, população e desigualdades
territoriais em Portugal, 1801-1930" in Ler História, nº 61, 2011SILVEIRA,
Luís Espinha da, (et. al.), “Population and railways in Portugal, 1801-1930” in Journal
of Interdisciplinary History, vol. XLVII:I, 2001, pp. 29-52.
TEIXEIRA, Manuel C., “A história urbana em Portugal. Desenvolvimentos recentes” in
Análise Social, vol. XXVIII (121), 1933 (2º), pp. 371-390.
TISSOT, Laurent (dir), Construction d’une industrie touristique aux 19e et 20e siècles.
Perspectives internationales. Development of a Tourist Industry in the 19th and 20th
Centuries. International Perspectives, Neuchâtel, Ed. Alphil, 2003.
TRIGO, Jorge, Sintra. Caminhos-de-ferro e crescimento urbano do concelho: contri-
buição para um estudo, Lisboa, Universitária Ed., 2000.
VARANDA, Paulo, Estação de Caminhos de Ferro do Cais do Sodré, Lisboa, Câmara
Municipal de Lisboa, 2001.
VENAYRE, Sylvain, “Présentation. Pour une histoire culturelle du voyage au XIXe
siècle» in Sociétés & Représentations, nº 21, 2006/1, pp. 5-21.
VENTURA, António, et al., História da Companhia Carris de Ferro de Lisboa, vols. 1
e 2, Lisboa, Companhia Carris de Ferro de Lisboa / Academia Portuguesa da História,
2006.
127
Viajar. Viajantes e Turistas à Descoberta de Portugal no Tempo da I República, s.l.,
Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, 2010.
VIDAL, Frédéric, Les habitants d'Alcantara au début du XXe siècle : identités, proximi-
tés et distances sociales dans un quartier industrialisé de Lisbonne, Lyon, s.n., 2003.
VIEIRA, António Lopes, “A política da especulação – uma introdução aos investimen-
tos britânicos e franceses nos caminhos-de-ferro portugueses” in Análise Social, vol.
XXIV (2º-3º), nº 101-102, 1988, pp. 723-744.
VIEIRA, António Lopes, “Algumas questões sobre os transportes públicos da cidade de
Lisboa nos finais do século XIX” in Análise Social, vol. XVI (1º-2º), 1980, nº 61-62,
pp. 71-84.
VIEIRA, António Lopes, Os transportes públicos em Lisboa entre 1830 e 1910, Lisboa,
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1982.
VIEIRA, António Lopes, The role of Britain and France in the finance of portuguesa
railways, 1850-1890, Leincester, 1983 (tese de Doutoramento).
Internet
http://www.dgaiec.min-
finan-
cas.pt/dgaiec/Templates/Description.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID={2
ED9FCFD-1803-4C15-8146-
0F645D8F6870}&NRORIGINALURL=%2fpt%2fquem_somos%2farquivo_historico%
2fnotas_historicas%2f&NRCACHEHINT=Guest#PortFranc
http://content.yudu.com/Library/A15su8/CorreiodeCascaisn12/resources/9.htm
http://www.ff.ul.pt/paginas/jpsdias/dicinfar/dicinfar-farm_veiga.html
http://www.engenhoeobra.net/esxx_investigacao_21.asp?investigacao=3
http://www.wikienergia.pt/~edp/index.php?title=Central_Tejo:_1908_-_1921
II
Índice
Anexo I…………………………………………………………………………………IV
Cronologia da construção do ramal de Cascais.
Cronologia da electrificação do ramal de Cascais e do Parque Estoril.
Anexo II………………………………………………………………………………..XI
Tabela 1. Total de Passageiros transitados no ramal de Cascais (1894-1917).
Anexo III.......................................................................................................................XII
Tabela 2. Circulação de passageiros entre secções (1894-1917).
Anexo IV………………………………………………………………..……………XIII
Tabela 3. Circulação entre estações em 1894.
Tabela 4. Circulação entre estações em 1895.
Tabela 5. Circulação entre estações em 1896.
Tabela 6. Circulação entre estações em 1897.
Tabela 7. Circulação entre estações em 1898.
Tabela 8. Circulação entre estações em 1899.
Tabela 9. Circulação entre estações em 1900.
Tabela 10. Circulação entre estações em 1901.
Tabela 11. Circulação entre estações em 1902.
Tabela 12. Circulação entre estações em 1903.
Tabela 13. Circulação entre estações em 1904.
Tabela 14. Circulação entre estações em 1905.
Tabela 15. Circulação entre estações em 1906.
Tabela 16. Circulação entre estações em 1907.
Tabela 17. Circulação entre estações em 1908.
Tabela 18. Circulação entre estações em 1909.
III
Tabela 19. Circulação entre estações em 1911.
Tabela 20. Circulação entre estações em 1912.
Tabela 21. Circulação entre estações em 1913.
Tabela 22. Circulação entre estações em 1915.
Tabela 23. Circulação entre estações em 1916.
Tabela 24. Circulação entre estações em 1917.
Anexo V......………………………………………………………………………XXXV
Tabela 25. Passageiros enviados: percentagem por estação e estações acima da
média para cada ano (1894-1917, excepto Cais do Sodré).
Tabela 26. Passageiros recebidos: percentagem por estação e estações acima da
média para cada ano (1894-1917, excepto Cais do Sodré).
IV
Anexo I
Cronologia da construção do ramal de Cascais
1854 O conde Claranges Lucotte apresentou o primeiro projecto de ligação de Lisboa a
Sintra, incluindo uma linha que passava pela margem direita do Tejo (entre o forte de
São Paulo e Belém).
30.09.1854 Assinatura do contrato entre o conde Claranges Lucotte e o governo.
26.07.1955 Lei de aprovação do contrato assinado entre o conde Claranges Lucotte e o
governo.
27.03.1861 Fim do acordo entre o conde Claranges Lucotte e o governo em virtude do
incumprimento do prazo de construção.
1861 Apresentação do projecto Chemin de fer et doks de Lisbonne que, partindo da
construção da linha de Sintra, pretendia que esta passasse pela margem direita do rio
Tejo.
Década 1870 Projecto de Thomé de Gamond com base na construção da linha de
Sintra, acompanhando a margem do rio Tejo até Caxias.
15.09.1874 Assinatura do contrato referente ao projecto de Thomé Gamond.
09.09.1875 Nomeação de uma comissão que propôs a construção de uma via-férrea
ligando o Cais dos Soldados à doca de Alcântara.
16.02.1876 Carta de lei com a aprovação do contrato com Thomé Gamond. Caducou
por incumprimento das cláusulas.
1879 Aprovação da primeira lei ferroviária nacional.
16.03.1883 Nomeação de uma comissão para o estudo dos melhoramentos do porto de
Lisboa.
V
25.04.1884 Apresentação à Câmara dos Senhores Deputados da proposta de lei
referente aos melhoramentos do porto de Lisboa.
16.07.1885 Lei que aprovou as obras de melhoramento do porto de Lisboa.
04.09.1886 A direcção de obras do porto de Lisboa apresenta o plano geral definitivo
para os melhoramentos do mesmo.
20.09.1886 Aprovação do plano geral definitivo para os melhoramentos do porto de
Lisboa.
22.12.1886 Programa de concurso de melhoramento do porto de Lisboa.
20.03.1887 Abertura das propostas de melhoramento do porto de Lisboa.
1887 (entre Março e Abril) Proposta de Hersent para o caminho-de-ferro de Cascais.
1887 (entre Março e Abril) Proposta da C.R.C.F.P. para o caminho-de-ferro de
Cascais.
09.04.1887 Alvará régio que concede a construção e exploração do ramal de Cascais à
C.R.C.F.P.
13.04.1887 O Sr. Revees apresenta a sua proposta para construção do ramal de Cascais.
20.04.1887 Adjudicação da primeira secção das obras do Porto de Lisboa (Santa
Apolónia-Alcântara-Mar) a Hersent.
21.04.1887 Assinatura do contrato de empreitada do segmento Torre de Belém
(Pedrouços)-Cascais entre a C.R.C.F.P. e os engenheiros Jean Alexis Duparchy e
Edmond Bartissol.
07.1887 Assinatura do contrato de empreitada do segmento Torre de Belém
(Pedrouços)-Cais do Sodré entre a C.R.C.F.P. e Hersent.
02.07. 1887 A C.R.C.F.P. apresentou o seu projecto para o troço Belém-Cascais.
12.09.1887 D. Luís I aprova o projecto para a secção Belém-Cascais.
VI
30.10.1887 Inauguração das obras de melhoramento do porto de Lisboa.
14.01.1888 C.R.C.F.P. apresenta o projecto definitivo para o troço Belém-Estoril.
21.03.1888 C.R.C.F.P. apresenta o projecto definitivo para o troço Estoril-Cascais.
12.04.1888 Aprovação do plano definitivo para Belém-Cascais apresentado pela
C.R.C.F.P.
30.09.1889 Inauguração do troço Pedrouços-Cascais.
01.10.1890 Inauguração da via dupla entre Caxias e o Estoril. Adopção de carruagens
de 1ª classe.
18.10.1890 A direcção Fiscal dos Caminhos de Ferro de Leste e Oeste aprovou a planta
provisória entre Alcântara-Mar e Pedrouços.
06.12.1890 Inauguração do troço Pedrouços-Alcântara-Mar.
10.08.1891 Inauguração da ligação da estação de Alcântara-Mar à estação de Alcântara-
Terra, ligando o ramal de Cascais ao Rossio.
25.05.1892 Inauguração da via dupla entre o Estoril e Cascais.
02.05.1895 Pedido de autorização da C.R.C.F.P. a D. Carlos para início da construção
de uma linha provisória entre Cais do Sodré-Alcântara-Mar.
03.06.1895 Concessão da autorização à C.R.C.F.P. para construir a linha provisória
entre Cais do Sodré-Alcântara-Mar.
04.08.1895 Conclusão do ramal de Cascais, completando-se o troço Alcântara-Mar-Cais
do Sodré, passando esta última a constituir a estação terminus na capital.
25.07.1896 Inauguração da via dupla entre Pedrouços-Belém.
28.07.1896 Inauguração da via dupla entre Belém-Alcântara-Mar.
04.07.1897 Inauguração da via dupla entre Alcântara-Mar-Cais do Sodré.
VIII
Cronologia da electrificação do ramal de Cascais e do Parque Estoril.
17.10.1880 Nascimento de Fausto Cardoso de Figueiredo no Baraçal, Celorico da Beira.
1895 O ramal de Cascais atinge a sua extensão máxima, com a estação terminal no Cais
do Sodré.
1901 Inauguração do primeiro eléctrico pela Companhia Carris de Ferro de Lisboa,
compreendendo o trajecto entre o Rossio e Algés.
1900 Inauguração das estações do Bom Sucesso e de Santo Amaro.
1907 Inauguração da estação de Cae-Água, actual São Pedro do Estoril.
09.05.1910 Casamento de Fausto Cardoso de Figueiredo e Clotilde Hermenegilda do
Ferreira do Amaral, no Lumiar.
05.10.1910 Implantação da I República Portuguesa.
1911 O deputado Correia Gomes instiga Fausto de Figueiredo a ingressar na vida
política nacional.
16.02.1911 Demissão colectiva na sessão camarária da Comissão Administrativa da
C.M.C.
04.04.1911-03.06.1912 Vice-presidência de Fausto de Figueiredo na C.M.C.
29.07.1913-21.12.1913 Presidência de Fausto de Figueiredo na C.M.C.
24.12.1913 Primeira vez que o nome de Fausto de Figueiredo é invocado no contexto
dos extractos de acta da Comissão Executiva da C.R.C.F.P.
1914 Fausto de Figueiredo exerce funções na Comissão Executiva da C.M.C.
25.05.1914 Apresentação à Câmara dos Senhores Deputados do projecto referente ao
futuro Parque Estoril.
28.06.1914 Achiles Gonçalves Fernandes apresentou o projecto de electrificação do
ramal de Cascais à Câmara dos Senhores Deputados.
14.11.1914 Pelo decreto nº 1 046 o Governo aprova a mudança da tracção a vapor para
tracção eléctrica no ramal de Cascais.
IX
02.12.1914 Decreto nº 1 121 que concede vantagens para promover a construção de
hotéis que satisfaçam as exigências dos turistas.
24.12.1914 Fausto de Figueiredo envia uma carta à C.R.C.F.P. na qual propõe o
arrendamento, electrificação e exploração do ramal de Cascais.
24.02.1915 Fausto de Figueiredo retira a sua proposta de arrendamento do ramal de
Cascais.
23.07.1915 Programa do Concurso e Caderno de Encargos da electrificação e
exploração do ramal de Cascais.
23.08.1915 A Sociedade Estoril apresenta projecto de modernização e exploração do
ramal de Cascais.
16.01.1916 Colocação da primeira pedra para construção do casino do Parque Estoril.
1918 Fausto de Figueiredo Vice-presidente do Concelho de Administração da
Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses.
07.08.1918 Contrato de concessão da electrificação e exploração do ramal de Cascais
assinado entre o Governo, a C.R.C.F.P. e a Sociedade Estoril.
10.07.1921 Eleição de Fausto de Figueiredo para a Câmara dos Senhores Deputados
pelos círculos de Torres Vedras e da Covilhã.
23.08.1921 Tomada de posse de Fausto de Figueiredo como membro da Câmara dos
Senhores Deputados.
26.03.1924 Pedido de renúncia final de Fausto de Figueiredo face ao seu cargo de
deputado na Câmara dos Senhores Deputados.
15.08.1926 Inauguração da tracção eléctrica no ramal de Cascais.
21.08.1926 Suspensão parcial do tráfego no ramal de Cascais electrificado, devido a
perturbações com a Companhia do Cabo Submarino.
22.12.1926 O ramal de Cascais retoma o seu normal funcionamento.
30.12.1926 Entrega do ramal de Cascais à Sociedade Estoril.
03.12.1927 Decreto nº 12 643 que regulamenta os jogos de fortuna ou azar pelo.
21.07.1929 Criação do Conselho Nacional de Turismo pelo Decreto nº 16 999.
06.10.1929 Inauguração do Parque Estoril.
X
30.08.1930 Inauguração do Palace Hotel no Parque Estoril.
09.1930 A estação do Estoril torna-se no terminus do Sud-Express oriundo de Paris.
15.08.1931 Inauguração do casino no Parque Estoril.
22.05.1935 Lei nº 1 909 que delimitou a região da Costa do Sol (integrando parte dos
concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais) e estabeleceu disposições para a sua
urbanização.
12-16.01.1936 I Congresso Nacional de Turismo, em Lisboa.
06.04.1950 Fausto de Figueiredo falece, no Estoril.
XI
Anexo II
Tabela 1. Total de Passageiros transitados no ramal de Cascais (1894-1917).
Ano Passageiros 1894 151 443 1895 418 200 1896 1 133 431 1897 1 449 838 1898 1 909 885 1899 2 124 194 1900 2 299 898 1901 2 469 742 1902 2 010 310 1903 1 936 203 1904 1 759 021 1905 1 920 752 1906 1 730 104 1907 1 628 862 1908 1 786 118 1909 1 975 238 1910
1911 2 024 611 1912 2 251 745 1913 1 920 752 1914 1 970 302 1915 2 129 267 1916 2 156 731 1917 1 429 276
Fonte: Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1889 e 1892-1906; Ministério
da Fazenda, 1907; Resumo do Trágefo – Anos de 1914 a 1918.
XII
Anexo III
Tabela 2. Circulação de passageiros entre secções (1894-1917).
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1894-1896, 1898-1910, 1912-1913,
1915, 1917-1918.
Ano Urbano Rural-Urbano Urbano-Rural Rural
1894 0,00 1,21 34,71 64,08 1895 8,75 20,35 45,47 25,42 1896 12,93 26,18 47,80 13,08 1897 15,35 25,44 46,96 12,26 1898 16,08 26,04 46,70 11,19 1899 15,16 25,99 46,04 12,81 1900 16,32 27,45 43,51 12,72 1901 20,53 25,90 41,09 12,48 1902 17,24 27,15 39,21 16,40 1903 11,26 28,71 42,23 17,80 1904 6,48 32,30 41,67 19,55 1905 6,87 32,02 41,86 19,25 1906 5,71 32,76 41,47 20,06 1907 5,32 32,94 41,81 19,93 1908 4,46 33,78 39,49 22,27 1909 4,32 33,17 40,19 22,32 1910
1911 4,54 33,53 26,43 22,18 1912 9,32 31,13 38,84 20,71 1913 6,87 32,02 41,86 19,25 1914
1915 3,55 32,24 36,65 27,56 1916 3,68 31,67 35,93 28,73 1917 3,13 32,25 36,35 28,27
XIII
Anexo IV
Tabela 3. Circulação entre estações em 1894.
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1895, pp. 204-221.
Origem (ao lado) / Destino (em baixo)
Alc
ânta
ra-
Mar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te
Est
oril
Cas
cais
Alcântara-Mar
79
33 12 6 1427 35
153
Junqueira
3
Belém
14 5 4 2 1
6
17
Pedrouços
2
1
6 6
4
4
15
Algés 2236 56 66 7
12 397 1026 1564 1026 308 124 92 523
1482
Dafundo 367 9 65 21 31
139 726 1263 335 111 22 44 306
359
Cruz Quebrada 1929 75 365 80 357 206
1028 1217 553 472 45 84 512
686
Caxias 2952 125 694 102 905 674 456
1285 567 133 27 16 164
501
Paço de Arcos 8676 278 1564 216 1773 1324 2508 1776
1788 701 367 120 707
1820
Oeiras 4162 144 1235 217 1320 589 1285 848 1959
1851 559 91 729
2952
Carcavelos 2170 32 511 37 301 101 616 208 710 634
133 100 568
1690
Parede 1302 7 192 15 79 54 131 67 410 462 172
173 1740
3719
São João do Estoril
57 Estoril 5086 250 976 154 841 358 806 263 898 740 754 950 92
11374
Monte Estoril
84 Cascais 12168 587 2867 564 2215 604 931 724 2142 2540 1944 1975 877 8929 38
XIV
Tabela 4. Circulação entre estações em 1895.
Origem (ao lado) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-
Mar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré 28 743 1537 10166 19002 27638 2389 3728 4752 9873 4186 2268 1252 848 4055
17884 Santos
847
Alcântara-Mar
51
295 65 136 848 6
613
Junqueira 4684 251 7
21 165 505 74 255 504 648 360 159 66 35 282
14
Belém 1
1
1 23 1 90 4 12 34 104
122
Pedrouços
1 1 3 18 1 4 35 1
28
Algés 79933 13019 5278 401 303 16
87 393 777 1420 899 277 107 183 471
1369
Dafundo 2245 192 487 18 73 18 79
115 899 1002 266 86 10 74 222
288
Cruz Quebrada 4662 218 1292 151 413 116 456 178
735 1013 484 566 34 93 431
623
Caxias 3445 171 2689 193 755 107 733 723 615
1452 394 129 84 91 265
475
Paço de Arcos 9457 523 6474 266 1295 180 1513 1052 2104 1477
1592 728 359 254 971
2082
Oeiras 3852 86 3277 185 1131 166 1232 462 1137 620 2373
2587 547 373 648
2484
Carcavelos 1712 74 1719 32 506 45 297 140 752 263 858 578
241 309 668
2201
Parede 1220 49 831 35 145 8 89 29 77 102 442 462 232
589 2225
4274
São João do Estoril Estoril 5054 130 3818 268 791 189 717 322 671 403 1153 905 837 1374 218
13574
Monte Estoril Cascais 19099 225 7556 521 2533 519 2017 474 990 649 2850 2512 2447 2198 1793 10995 1189
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1896, pp. 198-217.
XV
Tabela 5. Circulação entre estações em 1896.
Origem (ao lado) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-M
ar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré
219 3433 11043 52094 57389 97936 13240 17484 17298 32125 16300 8394 5230 8145 14802 3303 46032
Santos
2 1 Alcântara-Mar
2 5
28 226 200 5 7 15 14 9 106
Junqueira 19538 1988 47
72 730 2254 490 1464 1784 2739 1277 790 258 273 842
2830
Belém 2
3 158 153 43 4 34 124
237
Pedrouços
1 2 39 4
1
4 9 55
Algés 242989 53298 10052 1660 1106 12
446 922 1124 1934 905 327 102 147 604 194 2110
Dafundo 10713 2146 573 115 372 52 166
210 851 1469 314 97 24 126 154 32 389
Cruz Quebrada 16581 2465 1305 377 977 240 745 256
1107 1712 442 544 65 77 256 56 970
Caxias 13711 2938 1791 287 1338 251 1077 793 1101
2766 539 187 105 221 525 56 860
Paço de Arcos 30307 4657 3502 717 2426 503 1878 1340 2527 2650
2345 1333 545 453 1108 108 3385
Oeiras 14240 1640 1795 220 1263 256 893 326 766 629 2292
3586 920 573 1126 62 3393
Carcavelos 6821 1396 891 75 667 127 310 160 655 242 1551 962
635 762 866 62 2884
Parede 4231 570 589 14 192 36 111 46 117 128 641 758 612
1079 2755 247 6472
São João do Estoril Estoril 20627 2813 1770 344 821 201 625 329 462 667 1578 1202 1358 2358 486
430 18693
Monte Estoril Cascais 59275 5072 3957 520 3095 820 2315 695 1319 1126 4227 3192 3337 3579 2983 13597 2338
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1898, pp. 240-259.
XVI
Tabela 6. Circulação entre estações em 1897.
Origem (ao lado) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-M
ar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré
212 5530 21642 86112 71727 131861 16415 19016 18552 38056 16360 9302 6997 11359 17187 8687 54507 Santos
3
8
Alcântara-Mar
9 1
7 296 160 4 9 2 10 4 183
Junqueira 32534 3307 75
55 1202 3411 682 1568 2326 3375 1341 581 351 456 425 831 3580
Belém 12 1 1
3 8
6 146 142 27 2 10 106 4 154
Pedrouços 111
2 36 7 5 3 11 14 100 124
Algés 319639 77262 16971 2965 2693 201
894 1376 1145 2097 830 402 137 204 825 211 1971
Dafundo 13303 2935 619 221 320 110 254
434 1113 1364 248 179 57 101 251 42 466
Cruz Quebrada 17179 3014 1438 442 909 290 966 544
1275 2549 617 286 178 128 444 107 1052
Caxias 14033 2822 2246 573 1463 342 1147 1078 1149
3045 562 209 107 113 333 106 979
Paço de Arcos 34822 7119 3981 1844 2833 612 2310 1607 3636 3090
1250 703 651 1299 310 3736
Oeiras 13396 2337 1753 222 1429 723 793 326 855 599 2241
4233 1064 769 1294 232 3719
Carcavelos 6813 1769 817 139 555 76 337 160 403 177 1335 2380
797 672 1081 185 2732
Parede 4948 1425 727 59 207 40 145 56 216 155 748 1116 784
1535 2814 756 8344
São João do Estoril
743 Estoril 24243 3731 1595 314 1016 358 1068 330 762 496 2173 1713 1621 3314 575
868 24159
Monte Estoril Cascais 61633 7152 4535 828 3873 865 2777 843 1292 1250 4729 3416 3181 4225 3807 16712 4432
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1898, pp. 246-265.
XVII
Tabela 7. Circulação entre estações em 1898.
Origem (ao lado) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-M
ar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré
365 8780 36038 116320 93690 195320 26091 21531 21566 42298 15026 10589 7940 12296 21605 15523 80483 Santos
Alcântara-Mar
6
13 479 113 21 13 8 63 3 41
Junqueira 44503 4585 90
98 2411 7567 854 1602 1881 3007 1589 767 577 585 1324 944 4681
Belém 61 1 1
2 78 51 102 5 36 22 66 18 338
Pedrouços 75
2
1 37 9 43 3 2 5 21
77
Algés 428716 101663 24713 5680 4114 241
1004 1885 2147 3452 922 292 248 222 590 297 2131
Dafundo 20879 3549 949 197 644 89 233
596 1283 1281 197 93 113 74 209 72 623
Cruz Quebrada 19131 2465 1071 460 1037 328 1707 623
1935 2749 540 481 209 101 592 151 796
Caxias 16991 2675 1680 433 1338 391 1671 1367 1787
3654 618 147 94 161 395 197 746
Paço d'Arcos 39018 5312 3373 877 2460 526 2853 1777 3766 3581
2569 1340 855 610 1098 336 3838
Oeiras 18601 2907 2027 618 1926 526 1604 658 1382 1318 4009
4206 1543 628 1364 245 3526
Carcavelos 8358 1878 767 137 523 154 321 194 731 229 1363 1032
1023 697 1031 150 3138
Parede 6199 1417 621 151 461 110 269 72 280 144 921 996 1135
1692 4506 922 10151 São João do Estoril
Estoril 28990 2962 1813 511 1301 256 976 329 781 654 1938 1475 1431 4494 734
1103 31299
Monte Estoril Cascais 99244 7171 4488 1209 4629 947 3433 1144 1263 1182 4768 2680 3505 5758 5479 20190 6237
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1899, pp. 240-257.
XVIII
Tabela 8. Circulação entre estações em 1899.
Origem (ao lado) / Destino (em baixo) C
ais d
o So
dré
Sant
os
Alc
ânta
ra-
Mar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te
Est
oril
Cas
cais
Cais do Sodré
700 15061 35695 113156 94160 220648 22150 23414 20587 38595
11530 12107 10641 15592 29238 24568 95431 Santos
2
2
1 1
1
Alcântara-Mar
39 20
2 3 456
121 6 18 6 182 13 79
Junqueira 52494 5982 127
41 3522 9001 626 1433 1950 2616
799 840 566 557 1798 1152 4360
Belém 270 51 4 1
51 21 8 12 50 4
119 11 76 21 96 44 329
Pedrouços 557 28 40
1 2 40 6
26 35 7 11 18 30 86
Algés 448443 113774 28576 7071 6050 265
1141 1471 1948 2786
583 440 440 408 946 506 2066
Dafundo 17904 3742 843 159 430 101 490
530 1374 1312
141 148 138 79 364 151 547
Cruz Quebrada 19697 3357 1470 312 996 300 1484 706
1528 2409
448 622 285 137 541 266 1034
Caxias 15168 3004 1578 457 1591 367 1744 1340 1914
3279
443 249 242 195 608 328 1090
Paço de Arcos 32717 5782 3407 645 2110 413 2727 1714 3756 3177
2007 1582 1119 776 1791 681 3798
Santo Amaro
1
Oeiras 20077 3544 2415 711 1765 527 1970 949 2044 1433 4736
5550 2133 771 1645 529 3649
Carcavelos 9176 2285 948 210 616 150 490 244 788 322 1419
1216
1181 606 1402 208 4015
Parede 8888 1676 781 134 459 92 403 111 374 198 1071
1616 1342
2148 7002 2177 13925
São João do Estoril
2 1
2622 Estoril 40583 3321 2143 660 1647 415 1381 503 5 7 2
1627 1606 6085 1129
1839 45747
Monte Estoril
5 11
1
1010 874 Cascais 135076 7448 4560 1261 4736 899 3903 1459 1653 1673 4235
3037 4640 7821 7321 30109 12155
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1900, pp. 248-267.
XIX
Tabela 9. Circulação entre estações em 1900.
Origem (em cima) / Destino (em baixo) C
ais d
o So
dré
Sant
os
Alc
ânta
ra-
Mar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Su
cess
o
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te
Est
oril
Cas
cais
Cais do Sodré
502 13863 45526 138696 9723 93109 272489 22154 25288 20069 36227 2168 13234 13371 13959 15657 35519 22967 89862 Santos 0
1 29 0 4 0 11524 82 301 187 494 0 299 166 125 0 213 0 673
Alcântara-Mar 28 9
1 0 1 104 2198 8 26 73 491 32 254 69 48 5 126 45 711
Junqueira 57735 7086 199
57 120 3663 11873 669 1457 1941 2385 149 681 835 466 562 1549 1114 4213
Belém 1069 82 0 0
0 15 247 55 4 174 58 4 106 47 218 35 153 20 720
Bom Sucesso 362 3 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrouços 3401 47 0 2 0 0
1 16 1 110 7 0 78 39 10 8 37 5 107
Algés 479425 120451 31172 9301 7705 96 256
1475 2253 1922 2782 108 508 461 607 425 1095 363 2065
Dafundo 20271 3409 1424 314 654 0 130 571
474 1585 2279 86 281 187 99 117 320 90 435
Cruz Quebrada 22121 5041 1642 467 1229 0 253 1790 910
2587 3495 158 460 895 182 158 613 191 1159
Caxias 14660 3084 1172 447 1448 0 352 1475 1438 2348
3454 101 468 430 238 117 396 177 1101
Paço de Arcos 28968 5314 3090 774 1956 0 387 2755 1862 3786 2990
341 2128 2527 1450 736 1961 514 3872
Santo Amaro 63 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
Oeiras 22795 3963 2690 332 1644 0 513 1742 1164 2189 1719 6040 5
7045 2084 831 2261 406 4216
Carcavelos 10515 2094 998 197 585 0 189 477 248 1003 476 2370 16 5554
1711 1107 2149 267 4788
Parede 10924 2231 1005 100 557 0 95 693 162 315 189 1288 33 1762 2200
3384 8263 1913 14941
São João do Estoril 1005 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
0 3 232
Estoril 43934 3723 1986 673 1602 0 326 1435 533 988 656 2251 32 2175 2296 6834 1037
1879 40805
Monte Estoril 3252 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
631
Cascais 97750 6687 4498 1170 4747 0 798 3276 1042 1549 1195 3926 46 3721 5589 9128 6466 29259 10681
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1901, pp. 40-41.
XX
Tabela 10. Circulação entre estações em 1901.
Origem (em cima) / Destino (em baixo) C
ais d
o So
dré
Sant
os
Alc
ânta
ra-
Mar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Su
cess
o
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te
Est
oril
Cas
cais
Cais do Sodré
605 21958 67291 162339 55896 89541 266525 22393 24429 18804 39243 17417 14517 13396 15002 16787 33453 22136 84805 Santos 0
0 95 0 25 0 10342 81 339 267 595 0 435 294 196 0 233 0 807
Alcântara-Mar 56 48
1 0 63 49 1076 40 39 198 695 73 448 72 80 5 111 16 562
Junqueira 83398 12819 255
44 583 3116 13428 1154 1631 2208 2774 1210 754 864 793 589 1476 1216 3747
Belém 1976 159 0 0
29 27 88 18 5 98 65 148 236 30 28 52 116 28 527
Bom Sucesso 3315 3 0 5 0
0 0 0 0 6 10 2 11 4 2 0 7 0 31
Pedrouços 3267 116 0 0 0 0
0 5 0 108 30 20 41 10 10 4 20 1 100
Algés 481538 128207 30308 9387 8373 454 335
1965 1688 2139 3154 949 449 598 623 336 670 440 1997
Dafundo 22067 4287 1671 351 683 30 108 846
365 2131 3448 1036 253 189 83 93 224 104 617
Cruz Quebrada 21224 4680 1375 573 1172 52 167 1772 599
2261 4581 1267 517 990 170 180 376 318 1151
Caxias 13913 2934 1303 444 1983 164 229 1677 1432 2521
3433 1043 536 368 192 143 347 198 989
Paço de Arcos 30693 6702 3288 750 2011 116 400 3318 2382 4661 3502
3897 2298 2933 1453 973 2112 520 3171
Santo Amaro 931 0 2 0 0 0 36 21 0 17 21 68
0 31 0 0 19 0 76
Oeiras 24760 5612 2939 448 1716 259 486 1770 1211 2677 1815 7169 176
7111 1786 718 1996 418 3380
Carcavelos 10416 2383 803 135 716 36 188 574 246 1350 572 3079 374 5840
2610 934 2274 356 4796
Parede 11331 2612 1006 283 516 52 107 701 181 377 209 1384 281 1507 2862
3756 7640 1853 15016
São João do Estoril 1591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 432
Estoril 42159 3400 1744 574 1289 85 321 1179 456 713 456 2590 545 1922 2466 8190 1120
1631 38973
Monte Estoril 3223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453
Cascais 93941 6323 4228 1029 4223 327 639 3245 1222 1738 1152 3496 695 3167 5467 8738 7401 29495 9334
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1902, pp. 42-63.
XXI
Tabela 11. Circulação entre estações em 1902.
Origem (em cima) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-
Mar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré
428 6452 98359 90144 49792 51385 222790 7701 15277 18940 38033 16502 13168 13266 16330 16564 33769 21240 72622 Santos 0
0 22 0 30 0 10415 23 131 258 601 0 390 369 229 0 224 0 698
Alcântara-Mar 14 0
7 0 22 72 1843 45 33 63 592 101 237 45 64 13 114 19 467
Junqueira 38267 5426 71
33 303 1567 6306 176 700 1823 2102 1206 338 755 508 562 1037 654 3088
Belém 1060 95 26 0
8 27 371 21 41 333 151 388 748 69 79 70 151 29 407
Bom Sucesso 1208 2 0 3 0
0 0 0 0 80 17 0 36 1 0 0 2 1 43
Pedrouços 1655 58 0 1 1 0
1 9 6 21 20 64 11 13 5 17 23 3 83
Algés 345840 95909 17570 6002 3286 299 133
955 1581 2242 3516 1381 569 545 461 426 1037 470 1942
Dafundo 13552 2494 872 117 170 79 19 229
590 3127 5326 1864 441 298 270 153 340 132 978
Cruz Quebrada 15702 3296 833 309 615 108 209 1082 631
2638 6091 1823 1362 1493 247 152 374 189 835
Caxias 13791 3035 1324 422 1301 420 175 1839 1966 2578
3401 1500 584 404 237 119 353 132 978
Paço de Arcos 31519 5906 2338 547 1792 403 307 3490 3096 6386 3026
3966 2482 2640 1852 1012 2186 408 3354
Santo Amaro 516 0 0 13 0 0 1 41 2 4 75 42
0 4 0 0 42 0 52
Oeiras 24983 4792 2460 650 1699 508 255 1930 1850 3253 2420 7883 146
6801 2291 828 1718 359 4724
Carcavelos 10467 2280 534 153 585 77 93 540 373 1386 512 2589 452 5479
3028 1700 1946 311 4978
Parede 12592 2917 982 222 416 50 77 685 270 453 243 1596 381 1777 2704
4072 9195 1906 17965
São João do Estoril 1354 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 4 325
Estoril 42683 3088 1634 595 1068 170 217 1182 675 851 485 2623 562 1642 2592 11587 946
1314 36761
Monte Estoril 3073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
282
Cascais 82285 5616 3397 916 3293 432 412 2727 1506 1361 1114 3315 756 4125 4934 11473 7550 28029 8268
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1903, pp. 38-59.
XXII
Tabela 12. Circulação entre estações em 1903.
Origem (em cima) / Destino (em baixo) C
ais d
o So
dré
Sant
os
Alc
ânta
ra-
Mar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Su
cess
o
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te
Est
oril
Cas
cais
Cais do Sodré
533 2741 3636 95216 44737 55821 220406 6040 15785 22082 41311 18857 12398 15175 17922 17699 35355 22750 73865 Santos 0
0 4 0 0 0 10430 7 105 247 574 1 391 293 251 0 325 0 764
Alcântara-Mar 0 0
0 0 8 49 190 10 15 115 414 73 97 20 49 18 124 7 362
Junqueira 8979 1065 31
8 0 1 4 1 46 22 22 12 11 21 6 2 43 12 77
Belém 975 164 2 30
149 1183 4560 216 961 2561 2906 1594 803 1031 540 650 1114 877 2988
Bom Sucesso 473 15 0 0 0
0 0 0 0 12 20 0 2 1 1 1 7 0 31
Pedrouços 2136 16 0 0 5 0
0 0 1 15 17 82 8 5 12 7 16 6 83
Algés 373339 99849 6936 988 4350 206 101
549 1074 1786 2870 959 388 620 511 349 1158 431 1676
Dafundo 6437 947 408 50 126 50 53 57
706 2351 3598 1251 294 256 253 149 455 223 750
Cruz Quebrada 16555 3284 1041 187 862 121 235 1293 698
2892 5719 2021 810 1516 309 164 312 230 831
Caxias 16335 3491 1785 148 1707 536 269 1447 1684 2705
4170 1470 613 514 334 86 274 117 1101
Paço de Arcos 35534 5991 2376 424 2638 353 346 2785 3080 5728 3642
3478 2664 3205 2274 1139 1990 388 3156
Santo Amaro 704 0 0 0 30 0 0 12 2 0 11 225
0 0 0 0 32 1 63
Oeiras 25226 4548 2193 314 2098 336 344 1472 1255 3149 2035 7280 112
9913 2362 821 1430 286 3340
Carcavelos 11990 2757 784 112 1005 101 120 523 256 1424 669 2986 539 7504
3418 1106 1772 425 4825
Parede 14137 2960 968 152 714 44 129 583 277 555 359 2098 449 1862 3225
4639 10976 2088 19834
São João do Estoril 1690 0 0 27 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
0 1 498
Estoril 45678 3299 1498 279 1565 164 173 1289 597 725 454 2482 589 1674 2901 15440 1379
1572 40035
Monte Estoril 3112 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316
Cascais 86555 5597 3039 520 3937 400 374 2293 1195 1384 1182 3218 785 3065 5224 14753 9127 30263 8362
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1904, pp. 66-69.
XXIII
Tabela 13. Circulação entre estações em 1904.
Origem (em cima) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-
Mar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré
284 1445 1461 27394 13398 60725 229471 8687 17639 22959 42302 20197 11497 16892 20824 17678 33630 20569 70805 Santos 0
0 2 0 0 0 10513 20 188 321 794 0 559 433 341 0 232 0 778
Alcântara-Mar 15 0
0 0 9 146 193 55 57 120 258 103 181 35 203 4 97 12 331
Junqueira 5046 420 17
12 0 0 0 3 88 46 28 0 15 2 1 0 54 12 63
Belém 515 72 0 9
60 729 3484 241 818 2304 2597 1609 695 1130 839 514 777 589 2842
Bom Sucesso 256 14 0 0 0
0 0 11 0 7 35 1 5 19 18 0 9 0 27
Pedrouços 1897 58 3 0 0 0
0 0 1 105 27 74 12 16 17 3 20 4 68
Algés 308938 80009 5892 564 3919 124 154
889 1405 1374 3158 1003 547 574 515 386 778 407 1583
Dafundo 8895 1315 467 34 217 56 51 161
639 2409 3140 949 316 268 375 172 347 225 785
Cruz Quebrada 17439 3767 746 301 655 92 225 1828 514
2476 4991 1620 590 1086 389 281 462 231 968
Caxias 17559 3396 1387 192 2000 346 271 1337 2066 3089
4377 1837 601 472 255 79 311 84 1013
Paço de Arcos 36507 6274 2651 357 2124 308 215 3268 2800 6841 3792
3966 2948 3971 3016 1090 1706 559 3588
Santo Amaro 688 0 0 0 37 2 0 11 0 2 15 143
0 2 1 0 23 0 89
Oeiras 25654 4546 2354 272 2072 382 332 1680 1233 3265 2277 7856 177
10468 2593 682 1290 321 3431
Carcavelos 13427 3001 867 197 906 132 154 504 306 1510 608 3534 532 6080
3155 1227 1803 330 4900
Parede 16560 3426 1556 159 790 57 124 544 308 569 349 2714 527 2126 3299
4900 11730 1720 20625
São João do Estoril 1550 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 474
Estoril 43439 3147 1252 308 1251 142 152 1018 585 904 411 2198 506 1441 2296 15557 1279
1404 36922
Monte Estoril 3231 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292
Cascais 80877 5221 2692 468 3256 461 421 2320 1230 1595 1057 3729 817 3215 5540 14818 8301 27227 8300
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1905, pp. 68-70.
XXIV
Tabela 14. Circulação entre estações em 1905.
Origem (em cima) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-M
ar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
d'A
rcos
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré
379 1202 1192 39727 15163 64947 241133 6311 15370 21943 52868 21065 11728 17397 19517 15545 35298 26464 92060 Santos 0
0 2 0 0 0 7812 13 72 178 1681 0 409 492 223 0 321 0 933
Alcântara-Mar 0 1
0 0 6 137 298 44 53 97 248 84 233 51 124 3 52 7 840
Junqueira 3882 432 8
44 0 0 1 0 121 57 153 0 12 5 13 3 120 20 89
Belém 900 90 0 51
122 929 4984 214 812 2536 3457 1589 756 973 700 542 866 850 4237
Bom Sucesso 361 5 0 0 0
0 1 1 3 32 99 0 12 9 0 0 8 1 85
Pedrouços 2251 77 3 0 0 0
0 0 0 50 262 123 32 17 23 3 15 14 136
Algés 338919 77600 5961 648 4445 87 131
708 952 1435 3361 1186 444 620 559 418 722 450 1835
Dafundo 8128 1391 433 54 166 28 35 70
791 2446 2792 1008 300 352 343 155 443 227 884
Cruz Quebrada 15017 3695 824 146 1028 115 197 1250 534
2532 3644 1661 574 1027 1295 208 527 236 1188
Caxias 17216 3147 1175 188 1918 407 220 1249 1882 2998
4571 1658 624 419 603 103 298 196 1332
Paço de Arcos 49617 6550 2475 455 2867 375 641 3252 2564 5793 4489
4195 2237 3250 2789 1074 1586 858 4163
Santo Amaro 992 0 0 0 1 12 0 2 0 0 0 110
0 0 6 0 24 19 286
Oeiras 26908 4444 2294 321 2173 314 358 1620 1141 3509 2142 7544 134
8584 2865 675 1375 650 4678
Carcavelos 14032 3192 890 111 807 112 120 545 331 1430 832 2933 611 6284
3304 824 1967 623 5340
Parede 16008 3128 1153 164 641 50 83 498 367 1363 608 2232 689 2427 3661
4931 8937 3440 18626
São João do Estoril 1045 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 1823
Estoril 44256 3302 1361 326 1282 77 148 953 606 1037 490 2197 500 1468 2272 11191 1322
4506 48252
Monte Estoril 3730 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3 0 0
310
Cascais 107765 5637 3423 613 5317 515 653 2595 1437 1739 1471 4509 1037 4222 6267 14358 10104 35841 11716
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1906, pp. 68-70.
XXV
Tabela 15. Circulação entre estações em 1906.
Origem (em cima) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-M
ar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré
169 789 731 23496 6658 61202 223341 8405 15790 20507 38555 21510 13681 19603 21970 16708 36935 24270 77792
Santos 0
0 0 1 0 0 5754 11 71 217 366 0 260 222 122 0 142 0 597
Alcântara-Mar 0 0
0 0 18 25 155 71 40 94 87 63 411 43 81 8 91 0 319
Junqueira 2318 224 11
4 0 0 4 4 46 55 12 0 11 1 8 2 28 4 72
Belém 520 140 2 17
15 550 3667 192 753 2479 2846 1031 612 887 685 464 576 655 2707
Bom Sucesso 392 14 0 0 0
0 0 1 2 7 37 0 5 4 0 1 12 1 20
Pedrouços 1312 122 2 0 0 0
0 0 14 130 223 104 11 17 31 9 44 1 54
Algés 288020 68498 5329 491 3055 50 111
509 943 1578 3130 1050 471 551 496 447 546 340 1530
Dafundo 9216 1595 340 46 204 38 70 58
794 2661 2247 1045 326 371 296 166 451 148 804
Cruz Quebrada 16234 4281 524 89 866 55 173 1024 598
3236 4110 1387 512 866 1505 192 321 200 795
Caxias 16427 3129 1027 109 1702 287 311 1402 2203 3340
4145 1530 572 381 394 72 253 58 713
Paço de Arcos 37462 4878 1727 229 2404 172 596 2866 2422 6690 4328
4635 2222 3424 3365 1041 1472 566 3455
Santo Amaro 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
0 0 0 0 12 18 67
Oeiras 31326 2881 1958 249 1697 192 299 1502 1173 2286 1845 7629 149
9033 3608 721 1336 434 3118
Carcavelos 17686 1864 651 104 875 63 117 497 360 1042 778 3091 548 5968
3608 1030 1673 642 4576
Parede 20284 1752 786 106 642 66 132 538 270 1281 587 3399 728 3579 3781
5699 9026 2462 18365
São João do Estoril 1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
0 0 1621
Estoril 49239 1942 1004 247 959 64 150 797 576 597 382 2393 490 1706 2500 12459 958
3115 43144
Monte Estoril 3444 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221
Cascais 95908 2930 1941 406 3356 268 355 1859 1065 1140 796 4079 737 3026 5346 13399 8584 33259 9040
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1907, pp. 72-75.
XXVI
Tabela 16. Circulação entre estações em 1907.
Origem (em cima) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-M
ar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
Cai
-Águ
a
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré 136 409 1007 22644 5904 51411 201305 7628 14637 19803 37688 22365 12589 19598 19812 2791 18417 36035 23621 72359 Santos 0
0 0 0 0 0 5515 16 110 342 320 0 269 173 96 0 0 153 0 1243
Alcântara-Mar 0 0
1 0 15 53 142 59 8 20 267 71 36 21 33 1 4 39 3 115
Junqueira 1954 144 14
9 0 0 20 2 2 26 14 8 26 6 11 1 0 29 1 100
Belém 419 236 3 16
27 621 2507 257 610 2614 3603 1100 523 1084 628 64 429 640 458 3211
Bom Sucesso 120 23 0 0 0
0 0 1 0 57 70 0 4 14 4 0 4 0 0 37
Pedrouços 1381 140 0 0 1 0
0 0 0 127 216 91 8 12 18 0 3 13 1 150
Algés 261863 64279 5154 572 2778 47 92
837 943 2020 3283 1140 470 521 576 33 389 535 325 1691
Dafundo 9556 1598 283 56 231 15 43 69
504 3030 2712 1144 300 457 314 48 331 301 180 912
Cruz Quebrada 16739 3411 411 68 677 36 159 1308 428
3277 4600 1467 731 1551 1536 29 324 454 108 1025
Caxias 16544 3168 798 76 1976 250 283 1789 2431 3588
3732 1146 449 381 372 8 49 275 92 680
Paço de Arcos 38432 4773 1793 170 2496 219 802 3539 2666 7943 4226
4148 2094 4415 3170 117 1052 1613 426 2965
Santo Amaro 981 2 0 0 3 0 6 1 0 0 10 105
0 3 0 0 0 26 3 129
Oeiras 31627 2478 1545 225 1537 176 355 1565 1090 2486 1760 6124 125
7110 2669 313 822 1757 423 2838
Carcavelos 18720 1678 637 79 890 77 80 600 377 1929 854 3709 601 5151
3010 220 895 2459 610 4457
Parede 18991 1325 576 79 587 71 82 636 338 958 535 3511 479 2345 3391
893 4042 8847 2022 16632
Cai-Água 314 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 82 8 88
0 67 0 216
São João do Estoril 1129 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0
0 4 1111
Estoril 50372 2282 867 178 915 70 224 914 480 884 376 2036 694 1948 2879 9306 1228 1123
1547 34654
Monte Estoril 3703 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 13 0 0 0 0 0 0
307
Cascais 88532 3398 1812 345 3465 292 511 2254 1101 1305 692 3539 768 3078 5312 11901 1562 7770 26422 6783
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1908, pp. 72-75.
XXVII
Tabela 17. Circulação entre estações em 1908.
Origem (em cima) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-M
ar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
Cai
-Águ
a
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré 251 569 1167 17284 4620 51373 240180 8097 18646 24105 50720 23150 13773 21072 22967 3413 17399 36358 28910 68626 Santos 0
0 0 0 0 0 4577 9 120 305 432 0 253 229 149 0 0 87 0 249
Alcântara-Mar 0 0
0 0 0 31 108 148 49 164 131 121 167 61 37 5 0 48 8 229
Junqueira 1685 205 7
0 0 0 48 14 114 136 51 6 24 9 40 0 0 63 5 1568
Belém 702 76 0 5
27 576 2867 313 600 2656 3458 937 585 832 866 76 404 667 464 316
Bom Sucesso 73 5 0 0 0
0 0 1 2 48 15 0 23 6 7 1 0 7 1 14
Pedrouços 831 88 0 0 84 0
1 0 14 276 465 51 13 58 25 34 3 49 10 49
Algés 263330 61842 5556 492 3057 72 89
783 1132 2239 4104 1220 437 694 744 192 472 688 352 1363
Dafundo 12872 1859 456 102 142 15 34 85
585 3939 4134 1090 405 440 411 124 297 286 213 779
Cruz Quebrada 18708 3623 430 60 661 35 147 1069 476
4148 6236 1689 659 1969 1135 42 276 322 160 922
Caxias 19301 3513 1008 201 2195 246 386 1848 2699 4714
4323 1492 561 570 479 13 66 236 168 695
Paço de Arcos 48474 5215 1732 269 2800 142 850 4016 3585 8711 4985
4687 2206 4071 3720 240 1178 2270 711 3205
Santo Amaro 956 0 0 0 6 0 4 0 1 0 3 111
0 0 6 7 0 103 21 53
Oeiras 32760 2386 1643 179 1248 241 207 1841 1064 2804 2093 6763 204
9456 3500 163 1097 1760 664 3351
Carcavelos 19568 1726 572 86 631 62 142 662 384 2058 963 3502 882 7294
3884 419 1526 2574 997 4540
Parede 21431 1583 713 137 699 50 121 840 286 851 474 4175 455 2717 4339
1552 6446 12283 4015 18861
Cai-Água 368 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1 8 0 3 4 245
0 80 0 267
São João do Estoril 1024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 18 1 0 0
0 34 1180
Estoril 51577 1936 743 254 931 59 287 1264 466 883 409 2684 1015 2000 3518 14883 1480 1772
4231 41262
Monte Estoril 3556 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 0 1 0 0
280
Cascais 90444 2420 1796 313 2026 213 349 1961 1003 1291 831 3764 818 3263 5977 15000 2213 9298 32310 12142
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1909, pp.52-54.
XXVIII
Tabela 18. Circulação entre estações em 1909.
Origem (em cima) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-M
ar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
Cai
-Águ
a
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré 134 641 831 21435 2803 54360 263908 9348 17221 22534 53553 23848 13325 21857 25494 3222 20696 41050 32967 77808 Santos 0
0 0 0 0 0 4950 30 89 312 700 0 259 216 215 0 0 178 0 384
Alcântara-Mar 0 0
0 0 38 60 613 180 22 124 103 156 105 119 80 0 7 35 2 320
Junqueira 1672 160 3
1 0 0 59 2 142 26 42 5 32 15 89 0 0 45 3 125
Belém 1585 106 0 8
27 622 3455 288 652 2520 3496 1013 647 679 741 66 556 701 636 2159
Bom Sucesso 33 0 0 0 0
0 0 0 1 37 13 3 12 5 10 0 0 11 0 9
Pedrouços 801 37 3 0 0 0
0 0 4 182 373 50 26 18 15 21 13 62 6 79
Algés 287307 64994 5985 604 3425 41 61
576 840 1921 4417 1150 435 616 817 79 454 873 320 1886
Dafundo 17584 2865 834 49 220 16 51 106
377 3101 4718 1361 346 332 443 68 243 618 314 1028
Cruz Quebrada 17607 3718 413 96 559 41 150 896 317
4138 6917 1910 594 1265 1334 31 394 528 227 1323
Caxias 18026 2962 987 67 1829 131 365 1561 1911 4828
4379 1596 656 597 765 15 98 261 138 799
Paço de Arcos 50219 5912 1737 242 2700 112 877 4142 3524 9703 4905
6010 2686 5995 3802 193 1294 2345 940 4071
Santo Amaro 1065 0 1 0 3 8 22 0 0 3 9 76
1 2 21 0 1 89 8 85
Oeiras 33045 2667 1601 187 1360 124 277 1779 1152 3312 2443 8450 283
10541 3314 114 914 1515 546 4314
Carcavelos 49727 1539 603 121 581 34 84 695 294 1616 1010 4301 1558 8300
4124 358 1504 2505 988 4864
Parede 24161 1622 722 153 636 43 127 832 341 713 642 4823 820 2664 4062
1388 6786 12783 4931 20856
Cai-Água 269 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 2 13 1 107
0 145 0 417
São João do Estoril 1518 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 12 4 0 0
0 17 1921
Estoril 58303 2255 925 288 1048 101 261 1392 623 1162 408 3098 1048 1876 3624 17183 1608 1628
5649 46448
Monte Estoril 4446 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 12 1 2 1 0 0 0 0
463
Cascais 103414 2508 1633 302 2661 181 358 2516 1107 1701 856 4709 908 3838 6360 15744 2860 12226 37955 14011
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 19101, pp. 52-54.
XXIX
Tabela 19. Circulação entre estações em 1911.
Origem (ao lado) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ântr
a-M
ar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
Cai
-Águ
a
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré
161 746 2435 23031 3581 54801 260728 9505 20611 29561 56493 21699 13659 24102 27582 4529 24170 43274 31334 83358 Santos 0
0 0 33 0 0 4932 18 123 284 484 0 171 152 185 0 0 113 8 714
Alcântara-Mar
0
0 0 3 73 414 62 21 117 55 47 94 46 26 0 3 73 5 577
Junqueira 2365 235 1
0 2 0 10 0 80 47 12 20 27 8 76 0 5 73 1 144
Belém 2570 180 0 8
27 834 3251 188 1028 2993 3324 951 772 696 472 119 428 684 418 2759
Bom Sucesso 57 0 0 0 0
0 0 0 0 3 8 0 7 6 1 0 0 5 0 26
Pedrouços 743 82 0 0 0 0
0 0 5 348 191 49 21 8 14 8 6 18 16 113
Algés 296069 67520 6744 606 3590 17 167
1057 1040 2254 4376 1323 480 717 736 118 553 785 392 2328
Dafundo 15559 2498 696 18 162 14 53 131
599 3524 3808 1131 378 416 434 36 327 460 373 1247
Cruz Quebrada 19613 4237 384 31 772 31 163 925 362
4874 6569 1640 638 1154 1553 55 304 588 157 1555
Caxias 24545 3914 1013 135 2233 121 416 1956 1925 5498
5317 1338 1170 512 647 59 131 343 70 968
Paço de Arcos 52800 5764 1576 186 2756 137 530 3863 2645 9806 5483
5590 3930 5188 3571 297 1213 2133 846 3749
Santo Amaro 1846 0 0 0 2 0 14 0 0 9 3 283
0 1 16 0 0 49 0 150
Oeiras 32992 2489 1373 209 1699 120 289 2063 972 3325 2681 10159 247
13854 3392 308 904 1463 413 4299
Carcavelos 22368 1536 678 76 582 69 87 655 355 1541 927 4392 1222 11294
4654 311 1450 2862 549 5387
Parede 26415 1793 595 163 420 22 57 676 273 673 641 4537 743 2466 4564
1715 7286 17693 3787 23857
Cai-Água 622 0 0 0 4 0 2 3 0 0 7 18 0 4 13 161
0 355 0 320 São João do Estoril 2667 0 1 0 1 0 0 2 0 6 3 6 1 9 3 27 0
0 1 847
Estoril 63950 2244 1203 197 836 54 172 1153 542 1137 568 3245 872 1874 3737 19003 3025 2738
2137 41511
Monte Estoril 5991 0 0 0 6 0 3 9 9 6 1 35 3 5 27 97 0 0 5
328
Cascais 107027 2969 2133 418 2595 272 504 3035 1243 2065 1001 4311 1122 3645 6709 18149 2868 10804 32641 10848
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1911, pp. 52-63.
XXX
Tabela 20. Circulação entre estações em 1912.
Origem (ao lado) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-
Mar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
Cai
-Águ
a
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré
897 22564 13745 55374 14760 56258 276150 13933 20748 31690 59665 23365 16081 24687 27781 4450 22544 39144 30050 80030 Santos 0
0 0 0 85 0 3942 65 124 425 385 0 273 175 172 0 0 187 0 537
Alcântara-Mar 60 1
0 0 197 73 743 93 43 222 187 22 117 60 32 2 4 55 5 408
Junqueira 30367 2642 76
41 0 0 64 18 58 24 38 1 39 11 85 1 5 44 0 103
Belém 5276 395 4 45
49 794 5207 536 768 2967 3459 1031 973 867 747 97 586 758 428 2188
Bom Sucesso 4927 86 193 0 0
0 0 0 7 1 29 6 13 8 7 2 1 1 1 17
Pedrouços 887 48 0 0 0 0
0 0 1 294 237 279 186 15 16 5 5 15 13 45
Algés 339372 76611 11812 1399 4946 75 192
1177 1110 2125 4317 1435 639 624 847 269 400 716 294 1848
Dafundo 21422 3324 1122 195 504 54 103 343
351 3847 3932 1072 424 394 339 62 272 501 367 1717
Cruz Quebrada 17399 4001 545 115 786 27 161 892 223
5823 6853 1616 1258 1501 988 172 207 621 298 1199
Caxias 26546 4228 1289 138 2472 120 418 1954 2183 6756
6514 1349 1355 700 488 24 113 256 148 1025
Paço de Arcos 57784 5654 1988 307 3047 117 601 3962 2983 9645 6928
5987 4165 5450 3904 302 1292 2167 750 3714
Santo Amaro 1894 0 0 0 0 0 7 0 0 4 1 175
1 8 87 1 1 79 0 86
Oeiras 37656 2724 1527 257 1933 115 445 2361 1012 3517 2741 10885 408
12635 3859 273 810 1390 413 3810
Carcavelos 22476 1369 800 86 723 58 103 504 340 1816 923 4981 1220 10124
5268 416 1482 3766 717 6911
Parede 26057 1761 676 171 647 52 87 850 231 675 424 4059 858 2855 5514
1602 8370 17125 4130 23769
Cai-Água 599 0 1 0 0 0 0 1 3 0 1 9 0 1 12 189
0 256 0 236
São João do Estoril 2549 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0 3 0 2 6 27 0
0 0 940
Estoril 60017 2466 1106 216 1095 83 215 975 492 1191 377 3232 951 1658 4492 19619 2767 2374
2963 44485
Monte Estoril 5377 0 0 0 0 1 7 6 2 47 31 13 0 0 6 25 0 0 0
245
Cascais 101984 3168 2021 377 2232 278 342 2387 1459 1747 1043 4432 1051 3313 8011 18105 3206 10449 34105 10739
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, s.d., pp. 52-63.
XXXI
Tabela 21. Circulação entre estações em 1913.
Origem (em cima) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-M
ar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais do Sodré
379 1202 1192 39727 15163 64947 241133 6311 15370 21943 52868 21065 11728 17397 19517 15545 35298 26464 92060 Santos 0
0 2 0 0 0 7812 13 72 178 1681 0 409 492 223 0 321 0 933
Alcântara-Mar 0 1
0 0 6 137 298 44 53 97 248 84 233 51 124 3 52 7 840
Junqueira 3882 432 8
44 0 0 1 0 121 57 153 0 12 5 13 3 120 20 89
Belém 900 90 0 51
122 929 4984 214 812 2536 3457 1589 756 973 700 542 866 850 4237
Bom Sucesso 361 5 0 0 0
0 1 1 3 32 99 0 12 9 0 0 8 1 85
Pedrouços 2251 77 3 0 0 0
0 0 0 50 262 123 32 17 23 3 15 14 136
Algés 338919 77600 5961 648 4445 87 131
708 952 1435 3361 1186 444 620 559 418 722 450 1835
Dafundo 8128 1391 433 54 166 28 35 70
791 2446 2792 1008 300 352 343 155 443 227 884
Cruz Quebrada 15017 3695 824 146 1028 115 197 1250 534
2532 3644 1661 574 1027 1295 208 527 236 1188
Caxias 17216 3147 1175 188 1918 407 220 1249 1882 2998
4571 1658 624 419 603 103 298 196 1332
Paço de Arcos 49617 6550 2475 455 2867 375 641 3252 2564 5793 4489
4195 2237 3250 2789 1074 1586 858 4163
Santo Amaro 992 0 0 0 1 12 0 2 0 0 0 110
0 0 6 0 24 19 286
Oeiras 26908 4444 2294 321 2173 314 358 1620 1141 3509 2142 7544 134
8584 2865 675 1375 650 4678
Carcavelos 14032 3192 890 111 807 112 120 545 331 1430 832 2933 611 6284
3304 824 1967 623 5340
Parede 16008 3128 1153 164 641 50 83 498 367 1363 608 2232 689 2427 3661
4931 8937 3440 18626
São João do Estoril 1045 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 1823
Estoril 44256 3302 1361 326 1282 77 148 953 606 1037 490 2197 500 1468 2272 11191 1322
4506 48252
Monte Estoril 3730 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3 0 0
310
Cascais 107765 5637 3423 613 5317 515 653 2595 1437 1739 1471 4509 1037 4222 6267 14358 10104 35841 11716
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1915, pp. 52-72.
XXXII
Tabela 22. Circulação entre estações em 1915.
Origem (em cima) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ântr
a-M
ar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
Cai
-Águ
a
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais Sodré
112 783 6530 14662 9926 33781 209904 8035 16734 28471 60930 30969 19455 27378 35616 4986 26951 48113 41164 94743 Santos 0
0 0 0 0 0 2247 105 421 740 1374 248 733 466 838 26 86 489 177 1397
Alcântara-Mar 0 0
0 0 13 210 782 182 251 355 515 193 241 156 388 39 60 273 81 810
Junqueira 4187 475 3
0 9 0 7 0 98 115 57 0 22 14 67 8 6 49 15 161
Belém 3193 323 0 6
22 415 1858 169 450 2852 3007 1087 1086 906 879 178 484 901 565 3108
Bom Sucesso 44 3 0 0 0
0 0 0 0 10 27 0 5 0 8 0 0 0 0 32
Pedrouços 869 55 0 2 0 0
0 0 3 107 557 103 32 7 207 0 6 36 3 62
Algés 226367 55318 7651 620 1683 54 88
514 1097 2244 4239 1700 573 455 760 66 452 1100 548 2108
Dafundo 12699 2625 1195 15 105 41 25 119
325 1065 4806 1809 550 693 578 82 311 491 527 1179
Cruz Quebrada 15968 3020 603 181 440 36 85 1024 249
5306 7074 2417 1686 1318 568 41 310 536 311 1045
Caxias 24024 3657 1335 169 2368 261 171 1951 2485 5548
4547 1167 1179 707 479 54 119 352 255 1129
Paço de Arcos 56299 5776 2227 298 2598 251 456 3606 3011 9703 4849
6462 4123 7213 5492 372 1716 2788 1350 5301
Santo Amaro 4358 250 108 1 1 0 0 3 33 8 0 3
0 0 11 0 1 19 0 6
Oeiras 44566 3999 1901 210 2222 228 262 2725 1648 5511 3434 10834 248
17369 6239 433 1001 2210 846 4949
Carcavelos 25656 1722 653 119 752 63 110 497 457 1218 807 6221 1336 13478
7341 758 2342 4036 1193 7544
Parede 33472 2409 1408 129 666 71 309 789 480 687 646 4550 1114 4811 6966
2100 12914 24798 9037 29873
Cai-Água 1409 26 38 1 1 0 0 3 0 0 7 17 0 15 43 148
0 490 0 320
São João do Estoril 6070 86 55 1 1 0 0 2 1 0 0 20 0 0 1 0 1
27 4 2100
Estoril 66694 2975 1419 234 1404 69 266 1337 595 1101 456 3401 1218 2517 5736 30268 3136 2083
5463 64980
Monte Estoril 12987 177 71 4 1 0 0 0 0 2 0 7 0 0 1 0 0 0 0
280
Cascais 119531 5100 2775 544 3243 455 369 2935 1458 1798 4979 5562 1525 4493 9468 24917 3819 15473 39838 15005
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1917, pp. 8-22.
XXXIII
Tabela 23. Circulação entre estações em 1916.
Origem (em cima) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ântr
a-M
ar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
Cai
-Águ
a
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais Sodré
127 569 7226 15481 12161 34418 198987 8591 19132 33061 58970 30539 23702 27395 36060 5870 26482 46219 35253 97607 Santos 0
0 0 0 0 0 1759 85 532 1110 1207 264 912 678 894 73 175 604 136 1731
Alcântara-Mar 0 0
0 0 22 181 584 173 136 377 603 138 369 222 343 32 108 218 105 966
Junqueira 3772 375 7
0 1 0 2 0 79 2 36 0 5 18 36 7 2 26 38 169
Belém 3340 306 0 4
18 431 1854 209 511 3219 2873 1016 1312 1055 924 245 480 974 457 3915
Bom Sucesso 21 1 0 0 0
0 0 0 0 1 18 0 9 9 2 1 0 10 4 29
Pedrouços 776 55 0 0 3 1
1 0 8 115 490 91 36 25 210 7 13 28 5 63
Algés 215369 49926 7985 619 1662 60 59
378 820 2329 4783 1957 766 418 647 69 364 782 384 1981
Dafundo 12225 2628 903 74 126 14 38 78
486 5944 7461 2822 1588 846 801 65 356 454 373 1573
Cruz Quebrada 17729 3230 721 213 503 61 87 678 381
6710 8155 2842 3308 2240 1321 31 302 494 228 1079
Caxias 27820 5006 2139 179 2675 529 283 1908 3133 7092
4958 1381 1708 1043 481 75 234 340 206 1178
Paço de Arcos 53885 5409 2210 280 2391 392 374 4650 4413 12824 6111
8161 6183 7788 5287 475 1442 2883 1085 6298
Santo Amaro 4531 272 69 2 0 0 0 17 0 0 2 11
0 1 3 0 0 73 30 44
Oeiras 50268 4594 2152 152 2491 466 214 3756 2462 8615 3895 13435 423
20534 7161 582 1320 3201 785 7846
Carcavelos 25437 1895 718 132 957 50 103 445 520 2084 1547 6893 1595 15838
6377 685 1667 3979 1135 7851
Parede 34239 2488 1207 170 691 71 276 754 610 1135 630 5531 1107 4996 5983
2204 10943 25176 6975 31121
Cai-Água 1344 73 29 2 2 0 0 1 0 0 0 33 0 53 20 139
0 258 2 833
São João do Estoril 6781 175 106 0 0 0 0 1 0 1 5 5 0 1 0 0 0
2 7 1493
Estoril 64684 2999 1227 272 1112 98 289 1102 682 1077 667 3690 1071 3486 5215 31094 2892 1511
4343 55104
Monte Estoril 10530 137 81 15 0 0 1 3 0 0 7 0 0 0 2 3 0 0 0
150
Cascais 119644 5534 2988 520 3767 644 317 3051 1501 1995 1376 5836 1418 6797 10317 25593 4945 12408 35260 14516
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1917, pp. 6-18.
XXXIV
Tabela 24. Circulação entre estações em 1917.
Origem (em cima) / Destino (em baixo)
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-
Mar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Suc
esso
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
Cai
-Águ
a
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te E
stor
il
Cas
cais
Cais Sodré
128 1032 3515 10633 6706 14965 67937 4650 8684 24188 44513 27703 24305 24202 36129 4933 21249 35622 26688 87196 Santos 0
0 0 0 0 0 186 3 16 246 309 0 253 156 250 0 0 351 0 630
Alcântara-Mar 0 0
0 0 28 136 274 172 168 107 108 157 182 46 157 0 1 96 49 623
Junqueira 3152 214 10
13 0 1 1 0 133 11 50 0 20 9 36 1 44 16 6 202
Belém 3290 167 0 2
12 79 1453 140 215 1961 2399 1086 1384 739 927 126 453 953 580 4293
Bom Sucesso 56 0 0 0 0
0 0 0 4 0 9 0 0 0 2 3 0 1 1 30
Pedrouços 554 54 14 0 0 0
0 0 1 294 438 84 96 12 96 0 1 7 17 32
Algés 81874 16832 3786 209 489 36 36
87 435 1387 3321 1563 469 496 619 143 324 746 348 2309
Dafundo 7963 1659 698 15 88 7 12 197
253 4758 7543 2138 1187 710 884 79 278 549 357 1453
Cruz Quebrada 9787 1306 291 109 209 49 25 416 139
4684 8298 2884 3584 2170 1464 94 531 627 287 1827
Caxias 22776 3078 1345 125 1604 300 163 1126 1885 4684
2931 847 944 524 426 60 111 291 93 1309
Paço de Arcos 45331 3874 1605 358 1596 272 388 3137 3231 10039 3225
3339 2967 4536 3883 335 897 1740 888 4341
Santo Amaro 1563 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 8
0 2 0 0 11 3 0 22
Oeiras 52215 3526 2349 179 2171 448 279 2692 1776 8338 2837 6721 283
15401 6663 386 1180 2338 659 6656
Carcavelos 23280 1306 509 94 693 70 41 434 460 1887 1186 4064 1181 12329
4128 773 1244 1839 661 5991
Parede 34510 1685 1137 243 569 78 154 571 428 1820 474 3126 923 4035 3613
1230 6240 11319 3660 22848
Cai-Água 685 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 9 0 7 23 39
1 109 0 352
São João do Estoril 3111 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1 1 524
Estoril 53377 2240 1188 170 1111 81 143 885 418 1627 478 2101 970 2628 3193 15588 2130 743
1990 24410
Monte Estoril 5647 0 1 3 3 0 0 0 0 0 4 3 0 1 5 92 0 0 0
64
Cascais 104466 4409 2747 314 3527 530 430 2357 974 3470 1189 4853 1506 5486 7110 18813 3689 7040 14981 4277
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1918, pp. 6-18.
XXXV
Anexo V
Tabela 25. Passageiros enviados: percentagem por estação e estações acima da média para cada ano (1894-1917, excepto Cais do Sodré).
Ano\Estações
Cai
s do
Sodr
é
Sant
os
Alc
ânta
ra-
Mar
Junq
ueir
a
Bel
ém
Bom
Su
cess
o
Pedr
ouço
s
Alg
és
Daf
undo
Cru
z Q
uebr
ada
Cax
ias
Paço
de
Arc
os
Sant
o A
mar
o
Oei
ras
Car
cave
los
Pare
de
Cai
-Águ
a
São
João
do
Est
oril
Est
oril
Mon
te
Est
oril
Cas
cais
1894
27,10 1,03 5,64
0,93 5,16 2,59 4,80 4,46 7,57
5,74 4,27 2,78
2,06 9,48 0,03 16,36
1895 32,37 3,58 8,17 0,86 4,34
4,91 8,44 1,42 2,59 2,69 5,52
3,12 2,48 1,54
1,58 5,10 0,28 11,01
1896 38,74 6,99 2,62 1,36 5,68
5,35 9,56 1,60 2,38 2,44 4,72
2,52 1,82 1,22
1,36 3,24 0,61 7,80
1897 37,43 7,80 2,78 2,02 7,00
5,28 10,01 1,58 2,12 2,08 4,29
2,04 1,52 1,24
1,41 2,95 1,16 7,29
1898 38,26 7,17 2,64 2,42 7,06
5,22 11,31 1,79 1,86 1,89 3,66
1,46 1,26 1,20
1,22 2,78 1,37 7,43
1899 37,71 7,28 2,92 2,23 6,29
4,77 11,50 1,46 1,81 1,66 3,09
1,12 1,37 1,45
1,40 3,57 2,10 8,29
1900 35,58 7,12 2,77 2,58 7,00 0,43 4,36 13,59 1,38 1,83 1,56 2,94 0,14 1,38 1,57 1,62
1,33 3,65 1,77 7,41
1901 34,41 7,32 2,87 3,29 7,49 2,36 3,88 12,41 1,35 1,72 1,46 3,07 1,18 1,33 1,53 1,62
1,34 3,26 1,56 6,54
1902 31,86 6,73 1,91 5,39 5,19 2,62 2,73 12,71 0,96 1,72 1,86 3,87 1,55 1,66 1,84 2,42
1,70 4,01 1,76 7,49
1903 33,56 6,95 1,23 0,35 5,90 2,44 3,06 12,77 0,82 1,77 2,09 4,13 1,67 1,68 2,27 3,02
1,93 4,42 1,95 7,98
1904 33,11 6,53 1,21 0,25 2,54 0,89 3,62 14,57 1,08 2,19 2,31 4,65 1,93 1,75 2,64 3,58
2,08 4,58 1,98 8,50
1905 33,89 5,89 1,10 0,22 3,15 0,91 3,57 13,86 0,84 1,88 2,15 4,82 1,85 1,65 2,36 3,02
1,87 4,60 2,62 9,74
1906 34,20 5,46 0,93 0,16 2,27 0,46 3,70 14,07 1,03 2,01 2,29 4,41 2,02 1,93 2,72 3,59
2,09 4,98 2,42 9,25
1907 34,46 5,47 0,88 0,18 2,35 0,44 3,36 13,64 1,09 2,20 2,44 4,64 2,17 1,85 2,88 3,29 0,45 2,19 4,89 2,25 8,89
1908 32,90 4,86 0,85 0,18 1,78 0,32 3,06 14,63 1,08 2,38 2,67 5,32 2,12 1,93 2,98 3,81 0,56 2,25 5,05 2,97 8,28
1909 33,96 4,63 0,81 0,15 1,85 0,19 2,92 14,53 1,00 2,15 2,29 5,27 2,11 1,81 2,85 3,76 0,51 2,37 5,15 3,12 8,57
1911 33,50 4,72 0,85 0,22 1,91 0,22 2,87 14,02 0,95 2,35 2,73 5,32 1,88 2,01 3,06 3,99 0,66 2,49 5,12 2,54 8,61
1912 33,87 4,86 2,03 0,76 3,28 0,71 2,66 13,34 1,10 2,16 2,66 5,04 1,81 1,93 2,89 3,67 0,61 2,17 4,49 2,28 7,70
1913 33,89 5,89 1,10 0,22 3,15 0,91 3,57 13,86 0,84 1,88 2,15 4,82 1,85 1,65 2,36 3,02
1,87 4,60 2,62 9,74
1915 30,92 4,14 1,04 0,43 1,42 0,54 1,72 10,79 0,91 2,11 2,65 5,53 2,42 2,58 3,71 5,39 0,76 3,02 5,94 3,59 10,39
1916 30,25 3,95 1,07 0,46 1,48 0,68 1,72 10,18 1,07 2,62 3,11 5,80 2,54 3,30 3,89 5,44 0,85 2,68 5,61 3,06 10,25
1917 31,74 2,83 1,17 0,37 1,59 0,60 1,18 5,71 1,00 2,92 3,29 6,35 3,12 4,19 4,40 6,31 0,98 2,82 5,01 2,84 11,55 Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1894-1896, 1898-1910, 1912-1913, 1915, 1917-1918
XXXVI
Tabela 26. Passageiros recebidos: percentagem por estação e estações acima da média para cada ano (1894-1917, excepto Cais do Sodré).
Estações\Ano 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1911 1912 1913 1915 1916 1917 1918 Cais do Sodré
26,39 35,69 36,80 37,98 36,87 38,45 39,94 39,93 37,31 36,26 36,41 36,54 36,23 36,54 35,79 36,32 37,03 36,41 33,78 33,28 33,23 32,36
Santos
0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,56 0,67 0,69 0,81 0,63 0,45 0,51 0,36 0,37 0,36 0,28 0,63 0,44 0,47 0,17 0,14 Alcântara-Mar 1,15 0,48 0,05 0,05 0,04 0,04 0,18 0,15 0,19 0,08 0,10 0,12 0,09 0,05 0,07 0,10 0,08 0,10 0,12 0,21 0,21 0,16 0,18
Junqueira 0,00 1,92 3,30 3,87 4,04 4,13 4,21 5,35 3,23 0,54 0,33 0,26 0,16 0,15 0,22 0,12 0,15 1,49 0,26 0,25 0,21 0,27 0,18 Belém 0,03 0,09 0,07 0,04 0,04 0,05 0,13 0,15 0,20 1,20 1,13 1,28 1,09 1,17 0,92 1,01 1,07 1,21 1,28 1,01 1,07 1,42 1,32
Bom Sucesso
0,02 0,14 0,07 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,24 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 Pedrouços 0,03 0,02 0,01 0,03 0,01 0,04 0,17 0,15 0,10 0,12 0,13 0,16 0,12 0,13 0,11 0,09 0,08 0,09 0,16 0,10 0,09 0,12 0,13
Algés 5,89 25,09 28,05 29,65 30,28 29,04 28,80 27,27 24,08 25,73 23,43 22,93 21,80 21,34 19,53 19,08 19,31 19,99 22,93 14,45 13,51 8,08 5,70 Dafundo 2,51 1,45 1,57 1,52 1,63 1,34 1,42 1,56 1,54 0,95 1,18 1,04 1,21 1,36 1,58 1,76 1,57 1,79 1,04 1,37 1,80 2,16 1,46
Cruz Quebrada 5,02 2,74 2,49 2,17 1,80 1,68 1,88 1,76 1,89 2,02 2,20 1,86 2,14 2,35 2,39 2,15 2,25 1,98 1,86 1,98 2,33 2,71 2,83 Caxias 5,68 2,95 2,52 2,09 1,80 1,58 1,43 1,37 1,72 2,00 2,31 2,09 2,20 2,34 2,50 2,12 2,58 2,58 2,09 2,44 2,89 3,12 3,10
Paço de Arcos 15,60 7,25 5,27 4,81 3,88 3,21 2,84 3,04 3,82 4,19 4,89 5,17 4,85 5,34 5,77 5,64 5,54 5,36 5,17 5,82 6,15 6,72 6,58 Santo Amaro
0,00 0,00 0,05 0,04 0,06 0,06 0,08 0,05 0,08 0,07 0,07 0,12 0,10 0,08 0,23 0,23 0,11 0,17
Oeiras 11,85 5,06 3,00 2,48 2,47 2,56 2,68 2,69 3,46 3,54 4,03 3,73 4,13 4,11 4,11 3,95 4,11 3,94 3,73 5,21 6,23 8,19 8,79 Carcavelos 5,16 2,49 1,68 1,41 1,14 1,19 1,51 1,53 1,86 2,19 2,45 2,31 2,61 2,89 2,94 4,29 3,01 2,85 2,31 3,58 3,71 4,35 4,73
Parede 5,63 2,58 1,64 1,66 1,57 2,00 2,18 2,09 2,91 3,41 4,10 3,59 4,25 4,07 4,59 4,51 4,86 4,44 3,59 6,44 6,32 6,90 7,19 Cai-Água
0,05 0,06 0,05 0,07 0,06
0,12 0,13 0,09 0,11
São João do Estoril 0,04 0,00 0,00 0,05 0,00 0,12 0,05 0,08 0,08 0,11 0,12 0,15 0,15 0,14 0,13 0,18 0,18 0,16 0,15 0,39 0,40 0,26 0,35 Estoril 15,55 7,27 4,83 4,71 4,24 5,12 4,92 4,45 5,51 6,29 6,49 6,54 7,09 6,94 7,37 7,54 7,42 6,70 6,54 9,17 8,47 8,08 9,15
Monte Estoril 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,17 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,21 0,25 0,22 0,25 0,32 0,26 0,21 0,64 0,51 0,41 0,59 Cascais 25,82 14,00 9,83 8,66 9,08 10,92 8,33 7,53 8,53 9,36 9,75 11,41 10,84 10,49 10,49 10,93 10,59 9,35 11,41 12,37 11,98 13,45 14,94
Fonte: INE, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes, 1894-1896, 1898-1910, 1912-1913, 1915, 1917-1918.