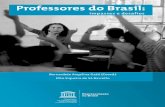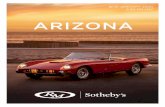Análise das principais influências ideológicas na constituição do MST
A formação do MST no Brasil
Transcript of A formação do MST no Brasil
Alegro-me muito em poder recomendar a le1tura deste hvro a todos os m1htantes e at1v1stas da reforma agrima. Tenho certeza que sera de mu1ta utihdade aos estud1osos da questao agrana E tambem a todos que se interessam pelos verdadeiros problemas que o povo bras1le1ro vern enfrentando.
0 professor Bernardo Man<;ano Fernandes consegu1u reahzar uma fac;anha mUlto grande que nos sens1b1hzou a todos. Pnme1ro, como estud1oso optou por urn lema candente, polemico e de muita sign1ficac;ao social, para realizar sua pesquisa e lese de doutorado. lsso e muito importante, pois representa urn exemplo para nossa academ1a cada vez ma1s d1stante dos problemas do povo. E nos remete a propria func;:ao da umvers1dade publ1ca
Segundo, como pesquisador deu uma demonstrac;ao 1mpressionante de dedicac;ao e espfrito de sacnf1c1o. para. sem recursos e com pouca mfra-estrutura. percorrer esse nosso pa1s continental e pesqu1sar in loco. v1S1tar acampamentos e assentamentos, conversar com nossos m1htantes, Ia nos fundoes onde moram, sentir na carne, no d1a-a-d1a. como e mesmo a luta pela reforma agrima e a construc;:ao de um mov1mento SOCial como o MST
Terce1ro. apesar de ser e sendo um mtelectual compromet1do com a causa dos trabalhadores e tendo posic;:oes politicas claramente contrarias ao latifundio, soube utllizar-se do instrumental c1ent1f1co da Geografia. da H1st6ria e das C1encias Socials para compreender com profund1dade as ongens. a natureza e as caracterist1cas de nosso mov1mento pela reforma agrana.
0 resultado dessa fac;:anha esta consubstanciado neste livro, que certamente sera uma referencia b1bhografica. para todos os que tlverem Interesse em estudar a questao agrima e os mov1mentos soc1a1s no Brasil.
Enfim. uma le1tura 1nd1spensavel a IOdOS OS que acred1tam que e posslvel construirmos uma nac;:ao livre do latifundio. da pobreza e das des1gualdades soc1a1s
Joao Pedro Stedile
Dados Internacionais de Cataloga~iio na Publica~ao (CIP) (Cfrmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Fernandes, Bernardo Man((ano
A formayao do MST no Brasil /Bernardo Manyano Fernandes.- Petr6polis, RJ: Vozes, 2000.
Bibliogratia.
ISBN 85.326.2345-X
1. Camponeses- Brasil2. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-TerraHist6ria 3. Movimentos sociais- Brasil 4. Posse da terra- Brasil 5. PropricdadeAspectos sociais- Brasil 6. Reforma agnl.ria- Brasil I. Titulo.
00-1443 CDD-305.56330981
, Indices para catalogo sistematico:
I. Brasil: Movimento dos trabalhadores Rurais Scm Terra: Sociologia: Hist6ria 305.56330981
2. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra : Geografia: Sociologia : Brasil : Hist6ria 305.56330981
© 2000, Editora Vozes Ltda. Rua Frci Luis, 100
25689-900 Pctr6polis, RJ Internet: http://www. vozes.com.br
Brasil
Todos os direitos rcscrvados. Nenhuma parte dcsta obra podcra ser rcproduzida ou transmitida por qualqucr forma c/ou quaisquer mcios ( clctr6nico ou mcdinico, incluindo fotoc6pia e grava.;ao) ou arquivada em qualqucr sistema ou banco de
dados sctn pcnnissao escrita da Editora.
Editora,·iio e organiza<;iio literaria: Orlando dos Rcis
Fotos da capa: Douglas Mansur
ISBN 85.326.2345-X
Este livro foi composto e impressa pela Editora Vozcs Ltda.
Para Ana Lucia de Jesus Almeida e Leonor Fernandes Man<;:ano Pelo carinho e apoio no feliz traiet6ria de nossas vidas.
Para Ariovaldo Umbelino de Oliveira e Edgar Kolling Pelo apoio e motiva<;:ao para a realiza<;:ao deste trabalho.
AGRADECIMENTOS
Para o desenvolvimento desta pesquisa realizei, num certo sentido, uma marcha. Afinal, foram milhares de quil6metros rodados por 21 cstados eo Distrito Federal. Foram cinco anos de trabalhos intensos que marearam a minha vida.
Nessas via gens, conheci muitas pcssoas que nao mediram csfon;os para contribuir com este trabalho. Assim, agradevo a todos pclas diferentes fonnas de apoio.
Em primciro Iugar, aos Scm Terra, o apoio fundamental do MST, representado por todas as Secretarias Estaduais c pcla secretaria nacional. Sao centenas de pessoas que possibilitaram as visitas aos assentamcntos, aos acampamentos co contato com as pesseas entrevistadas, que viabilizaram o accsso aos arquivos, enfitn, as condiyOes necessarias para a realizaviio do projeto de pesquisa. Jgualmente agradevo aos companheiros do !terra, da Conerab, de todos os setores de atividades, do Jornal dos Trabalhadores Rurai.< Sem-terra e aos companhciros da articula<;ao dos pesquisadores do MST.
Aos colegas das universidades: Emilia Moreira (UFPB); Valeria de Marcos (UFPB); Maria Celia Nunes Coelho (UFPA); Eliano Sergio Azevedo Lopes (UFS); Jose Alexandre Filizola Diniz (UFS); Paulo Roberto Alentejano, Leonilde Servolo Medeiros e Sergio Leite (CPDA- UFRRJ); Zander Navarro (UFRGS); Monica Castagna Molina (Decanato de Extcnsao da UnB); Sueli L. Couto Rosa (UnB); Aldo Aloisio Dantas da Silva (UFRN); Francisco Amaro Gomes Alencar (UFC) e Edenilo Baltazar Barreira Filho (Projeto Lumiar, CE), que contribuiram com a pesquisa documental, na cessao de bibliografia e de dados de pesquisas.
Meus agradecimentos aos companheiros da Comissao Pastoral da Terra (Nacional), em Goiania, pela atenyao e disposiviio.
Aos colegas da Fundayiio lnstituto de Terras do Estado de Sao Paulo (ITESP); das superintendencias do Instituto Nacional de Colonizavao e Reforma Agniria (Jncra) e da Confederayao Nacional dos Servidores do Iuera (Cnasi), pela atenyao e -cooperayao.
Meus agradecimentos a Pr6-Reitoria de Extensao da Unesp (PRO EX), pelas cssenciais balsas de estudos que ajudaram a viabilizar o DA T ALUT A.
Agradevo as professoras Zilda Iokoi e Regina Sader pelas contribuiyoes na participayao de meu Exame de Qualificayao.
Ao professor Antonio Thomaz Junior, pelas leituras e sugestiics que com certeza qualificaram este trabalho.
Ao Douglas Mansur e Fernando Martinez pela eessao das lotos.
Aos funeiom!rios da Secrctaria P6s-Gradua<;ao do Departamento de Geografia da USP, pela aten<;ao e acompanhamento.
Ao CNPq, pela bolsa de cstudos que contribuiu parcialmente para a realiza<;ao dcsta pcsquisa.
A todos os amigos da Faculdade de Ciencias e Tecnologia (FCT/Uncsp), campus de Presidente Prudente, que acompanharam de perto este trabalho. Em especial aos amigos do Departamento de Geografia pelo apoio inconteste. Agradc<;o tambcm a atcn<;ao e disponibilidade dos funciom!rios da Se<;ao de Reprografia e da Biblioteea da FCT.
E aos que colaboram ainda mais de perto: a professora Arlctc Meneguctte co professor Jailton Dias, pela contribui<;ao, disposi<;ao e interesse em trabalhar com a Geografia das Ocupa<;iies do Pontal do Paranapanema.
Men agradecimento especial ao professor Edilson Ferreira Flores, do Departamento de Engcnharia Cartogn!fica da FCT, pela intensa dedica<;ao c prontidao, colaborando na confec<;ao dos mapas da Geografia da Luta pela Terra. E a Meire Lucia Espinhosa, que tambem muito eontribuiu com este trabalho.
Men agradecimento especial para a Cristiane Barbosa Ramalho, que participa desde o come<;o dcstc projeto. E para os estagiarios que participaram da primcira ctapa: Alexandre Domingues Ribas, Flavia lkuta e Julio Cesar Ribeiro.
E para os estagiarios do Nucleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Refonna Agraria (NERA), que participaram ativamente desta ultima etapa da pesquisa: Gleison Moreira Leal, Femando S. Avila, Solangc Lima, Gilberta Vieira dos Santos, Cloves Alexandre de Castro, Maria Bemadete G.F. Almeida, Silcne Pires de Morais, Juliana Vaz Pimentel, Debora C. de Paula e Sergio Gon<;alves.
Agrade<;o it estimada amiga Elaine Louren<;o, que sempre me aeolheu em sua casa em Sao Paulo, o que facilitou muito mens trabalhos na USP.
Manifesto minha gratidao aos membros da banca examinadora: os professores Manoel Sea bra, Zilda Iokoi, Eduardo Supliey e Antonio Thomaz Junior, pclas leituras e analises apuradas, bem como pelas considera<;6es a respeito do conteudo deste trabalho.
Tambem sou muito grato ao Joao Pedro e it Maria Stedile, ao Neuri Rossetto e ao Edgar Kolling, pelas leituras e contribui<;oes essenciais na realiza<;ao deste trabalho.
E com distin<;ao e louvor, agrade<;o ao men orientador Ariovaldo Umbclino de Oliveira, que desde a inicia<;ao cientifica acompanhou com dedica<;ao a minha forma<;iio acadCmica.
Por fim, agrade<;o aos alunos da disciplina de Geografia Agraria de 1999, que compreenderam minhas atribula<;iies nos ultimos momentos de conclusao da lese.
/sto aqui e um pouquinho de Brasil, esse Brasil que canto e e feliz, e tambem um pouco de uma rac;a, que nao tem medo de fumac;a e nao se entrega nao.
Ari Barroso
A fame tem que ter raiva pro interromper, a raiva e a fame de interromper.
Joao Bosco/Aidir Blanc
Queremos que abrace esta terra par ela quem sente paixao, quem poe com carinho a semente para alimentar a Nac;ao. A ordem e ninguem passar fame. Progresso e o povo feliz. A reforma agr6ria e a volta Do agricultor a raiz.
E vamos entrar naquefa terra e nao vamos sair. Nosso lema e ocupar, resistir e produzir.
Ze Pinto
' SUMARIO
Prefacio . 13
Introduyao 19
Capitulo 1 -A formayao camponesa na !uta pcla terra . 25
Capitulo 2- Gestayao e nascimento do MST: 1979-1985 49
Capitulo 3 - Territorializayao c consolidayao do MST: 1985-1990. 95
Capitulo 4- Territorializaviio e institucionalizayao do MST: 1990-1999 . 199
Capitulo 5 -A ocupayao como forma de acesso a terra . 279
Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Pref6cio
Dos indios ate Antonio Tavares Pereira: a justa causa do MST
"Eu vi a afliyao do mcu povo no Egito, c ouvi o scu clamor causado pela crueza daqueles que tern a supcrintcndcncia das obras. E, conhcccndo a sua dor, dcsci para o livrar das maos dos egipcios, e para o conduzir daquela para uma !etTa boac cspa<;osa, para uma terra onde corre o Ieite e o mel, nas rcgiocs do Cananeu e do Hcfeu, e do Amorreu, e do Ferezcu, c do Hcvcu, c do Jcbuseu. 0 clamor, pois, dos filhos de Israel chegou ate mim: e eu vi a sua afli<;ao, com que sao oprimidos pelos cgipcios. Mas vem, e eu te enviarei ao Fara6, a fim de que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E Moises disse a Deus:- Quem sou eu, para ir ter como Fara6, c tirar os filhos de Israel do Egito7 - E Deus disse-lhe: Eu serei contigo; e teras isto por sinal de que eu te mandei: Quando tiveres tirado o meu povo do Egito, ofereceras sacrificios a Deus sabre cstc monte".
-Este e um trecho do capitulo Ill do livro do Exodo, do Antigo Testamento, que foi lido pelo paroco, Padre Amildo, para cerca de 50 pessoas que haviam pedido pousada na Par6quia de Ronda Alta, Rio Grande do Sui. Notanda que havia uma scmelhan<;a com a sua hist6ria, clas rcsolvcram participar dos divcrsos acampamcntos que cxistiam na rcgiao, rcalizar asscmblCias ncsscs acampatncntos e assim construirctn un1a fonna de organiza.;iio que lhcs possibilitasscm melhor lutar por seus dircitos. Postcriormente, na madmgada de 7 de sctcmbro de 1979, tendo em vista que o govemo Lcio lhes dava resposta sobre a possibilidade de serem assentadas nas glebas Macali c Rrilhante, descumprindo a palavra do govcmador, II 0 familias resolveram ocupar a area de Macali. Ali fincaram uma cruz e nela uma bandeira do Brasil, simbolizando o sofrimcnto para obtcr a conquista pela terra e a sua !uta para serem cidadiios.
Essa 6 a genese do Movimcnto dos Trabalhadorcs Rurais Scm Terra (MST), contada com riqucza de detalhcs, fruto de intensa c aprofundada pesquisa fcita pelo Professor Bemardo Manyano F cmandes, para claborar a sua vibrantc c apaixonante tesc sabre a fonna<;ao e tcrritorializa<;iio do campesinato brasileiro, apresentada no Departamento de Gcografia, da Faculdade de Filosofia, Ciencias c Letras da Universidade de Sao Paulo. Oricntado pclo Professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, o Professor Bernardo pritnciro lcvantou as causas hist6ricas da conccntrac;ao fundiiria e das raz6es que levaram os indios, os negros e os trabalhadores no campo a serem destituidos de scu direito de cultivarem a terra para a sua propria sobrcvivcncia com a devida dignidade.
13
Analisou a escravidao a que foram submctidos 350.000 indios nos seculos XVI c XVII e as lutas de resistencia dos Tamoios, dos Potiguaras e dos Guaranis. Rclembrou a organizayao dos Quilombos, com destaque para a Uniao dos Palmares, localizada na Zona da Mata, entre Alagoas e Pernambuco, onde, de 1602 a 1694, sob a lideran<;a de Canga Zumba e Zumbi, ccrca de 20 mil pessoas constituiram urn territ6rio livre onde plantavam milho, fcijao, mandioca, cana-de-a<;ucar, criavam galinha, ca<;avam c pescavam, mas acabaram sendo dizimados pclos jagunyos de Domingos Jorge Vclho.
Para comprccnder as razoes pclas quais o Atlas Fundi:\rio do Incra de 1996, com dados rcferentcs ao anode 1992, dcnota que as 2,8% maiores propriedadcs detinham 56,7% da area agricu[tave[ do pais, faz-se necessaria conhecer COffiO e que OS govcrnos, ha 500 anos, vern lidando com essa questiio. Urn born cxemplo disso foi a distribui<;ao da terra, que era propriedade comum dos que aqui viviam, para as 12 capitanias hereditarias, de 1530 a 1550. Depois, a cria<;iio das scsmarias e, mais adiante, a Lei de Terras de 1850 e tantos outros inumcros mecanismos pclos quais se propiciaram oportunidades para que a terra acabasse se transfonnando em propriedadc privada, ccrcada e apropriada, em sua maior parte, por grandes propriet3rios. Cabe rcssaltar que, em 1998, ap6s quatro anos de a<;iio do governo Fernando Hen rique Cardoso, levantamento fcito pelo proprio Incra indicava que as 2,9% maiorcs propricdadcs dctinham 57,9% da area agricultavcl do pais.
Bernardo Man<;ano Fernandes mostra as inumeras lutas de resistencia camponcsa ao Iongo da hist6ria prccursora do MST, com destaque para a forma<;iio da Fazcnda Canudos, em Bela Monte, em 1893. Ali, Antonio Conselheiro c seus scguidores organizaram a produ<;ao atraves do trabalho cooperado. Todos tinham o dircito a terra, dcsenvolviam a produ<;iio familiar e fonnavam urn fundo comum para a parcela da popula<;iio, espccialmcnte os vclhos e dcsvalidos, que niio tinha como subsistir dignamcntc. Em 5 de outubro de 1897, diante de 5.000 soldados que rugiam raivosamcnte, sO sobraram mn velho, do is homcns feitos c uma crianya.
Em 1914, na Guerra do Contestado, em Santa Catarina, cerca de 15 mil camponeses foram tambem dcstro<;ados por tropas. Houve a organizavao do canga<;o, outra fonna de rcsistencia. Depois vieram as ligas camponesas dos anos scssenta, a forma<;ao da Confcdera<;iio Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e tantos outros movimcntos e organizay6cs.
Dentre essas, entretanto, em 1979, surgiu o MST que, segundo os depoimentos do antrop6logo Darcy Ribeiro, do economista Celso Furtado, do fot6grafo Sebastiiio Salgado, do premia Nobel de Literatura Jose Saramago, do compositor e cantor Chico Buarque e do historiador Eric Hobsbawm, tern se constituido num dos rna is importantes movimentos sociais de toda a hist6ria do Brasil.
Nas ultimas decadas, para cstimular o crescimento da agricultura e da pecu:\ria, os diversos governos foram criando uma teia de incentivos fiscais e crcditicios bastante generosos para aqueles que ja tinham consider:\ vel riqueza e/ou possibilidadc de accsso as instituiyOcs financciras, a fim de realizarem invcstimcntos c cxpandircm
14
•
suas propriedades, de tal maneira que as dcsigualdades acabaram se accntuando. Mcsmo quando surgiam programas visando uma maior democratiza<;ao de oportunidades, clcs eram mais do que compensados em scus efeitos por aqucles que dificultaram a transforma<;ao da realidade social, mesmo em anos recentes. Dai nao ser surpreendcnte que OS ultimos indicadorcs socioecon6micos disponivcis do IBGE, refcrentes a 1998, denotem um indice Gini de 0,575, s6 inferior aos registrados por Serra Leoa, com 0,629 (1989), Guatemala, com 0,596 (1989), Paraguai, com 0,591 (I 995) e Africa do Sui, com 0,593 (1993-4), no Relat6rio do Desenvolvimento do Mundo de 1999/2000, do Banco Mundial. Mesmo no 4' ano do governo Fernando Henrique Cardoso, em que pese suas inumeras afirrna<;iies de que tem tido por objetivo realizar justi<;a no Brasil, a disparidade e de tal ordem que o 1% mais rico detem 13,8% da renda nacional, mais do que os 13,5% que cabem aos 50% mais pobres. Essa conccntrayao Hio acentuada da renda tern, scm dUvida, uma de suas maio res causas na concentra<;ao da terra.
Se o MST tcve a sua gesta<;iio c nascimento no periodo 1979-1985, elc se consolidou e se territorializou de 1985 ate os nossos dias. Para tra<;ar um hist6rico bastante completo, Bernardo Man<;ano Fernandes rcsolveu ira campo e entrevistar 156 pessoas, sobretudo os sem-terra e as pessoas que mais intcragiram com eles, em 22 cstados nos quais hoje eles tem desenvolvido suas a<;iies. Parter se solidarizado com sua causa, obteve a ampla coopcra<;ao da organiza<;ao, da sua base ate a sua coordena<;ao nacional. 0 que nao o impede de fazcr uma avalia<;ao critica de aspectos que, como ge6-grafo e cientista social, se considera na responsabilidade de registrar.
Tendo sido honrado para ser membra da sua banca de tese na USP, em 22 de dezembro de 1999, ali estabelecemos um dia!ogo. Notei que, dentre os principais pens adores que contribuiram para a forma<;ao intelcctual e pratica do MST, Bernardo havia registrado Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilitch Lenin e Rosa Luxcmburgo, Caio Prado Junior, Josue de Castro, Celso Furtado, Manuel Correia de Andrade, Paulo Freire, Florcstan Fernandes, Jose de Souza Martins, Leonardo Boff, Frci Betta, Emiliano Zapata, Che Guevara, Luis Carlos Prestes, Gandhi, Martin Luther King Jr., Zumbi dos Palmares c Antonio Conselheiro. Nessa ocasiao, tendo sido convidado para dar palestras para mais de 1.000 jovens do MST em curses organizados em colabora<;ao com a Univcrsidade de Campinas, rcsolvi prcsentea-los com a tradw;ao de dais textos que considero de grande releviincia:
0 primeiro, "Justi<;a Agraria", de Thomas Paine, que em 1795 cscreveu cste ensaio para o Parlamento e o Diret6rio da Fran<;a, expondo que a pobrcza era urn fen6-meno que se relacionava com a civiliza<;ao e com a institui<;ao da propriedade privada. Que c ate razoavel que uma pcssoa que cultive a terrae fa<;a nela bcnfeitorias passa dela usufruir. Entretanto, seu plano era de que toda pessoa que cultivassc a terra contribuisse com uma parccla para um fundo ~note que alga parecido como organizado em Canudos ~ que pcrtenceria a todos. Oeste fundo se pagaria, na medida que crescesse, um dividendo a todas as pcssoas naquele pais como um direito que dcvem ter de participar da riqueza da na<;ao e que lhcs foi rctirado quando instituida a pro-
15
priedade privada naquclc Iugar. Eis ai o fundamento da razao pela qual todas as pessoas devcriam ter o direito a uma renda garantida, instrumcnto que devc scr conquistado junto com a realiza9ao da refonna agniria.
0 segundo, "!have a dream", o bela discurso, "Eu tenho um sonho", pronunciado par Martin Luther King Jr., perantc mais de 200 mil pessoas, em 28 de agosto de 1963, diantc do Memorial de Abraham Lincoln, em Washington D.C. c que teve cnonne impacto no sentido de avan9ar a !uta pclos direitos civis nos EVA. Pouco depois foram votadas c sancionadas tanto a Lei dos Direitos Civis quanta a Lei de Direitos lguais de Vota9ao, que acabaram com tantas discrimina96cs antes vigcntcs nos EVA.
Em suas palavras, Luther King Jr., que cstava continuamcnte dialogando com todos os n1ovimentos, instou a todos que nfio aceitassem cstar tomando do ch3 do gradualismo, pais nao se podcria admitir o adiamcnto de solu96cs que acabasscm com os impedimentos aos negros de ffcqiicntarem os tncsmos banhciros, 6nibus, mot6is, escolas ou de votarcm, mas que, por outro I ado, nfio procurassctn tamar do calicc do 6dio, da vingan9a e da violcncia. Creio que ha um paralelo entre aquela Marcha pelos Dircitos Civis com as marchas que o MST tcm rcalizado. Estou certo de que o Movimcnto conscguini amp liar o apoio que recebc da opiniiio publica na medida em que conseguir criar formas bastantc assertivas, na linha da nfio-violCncia, para fazcr avanyar a sua causa tao justa.
No dia 2 de maio de 2000 rcgistrou-se, infclizmente, mais uma tragedia dcssa !uta de 500 anos.
Quando a Vsina Hidreletrica de Itaipu foi construida, no Rio Parana, inundou-sc uma grande area para a forma9iio do !ago da rcprcsa. Havia muitas familias que moravam nas ilhas do rio, onde trabalhavam como agricultores c pescavam. 0 entiio menino AntOnio Tavares Pereira foi transferido para outra area, juntmnente com scus pais e tres dos scus irmaos,ja que sua lena ficara submersa. Ap6s muita !uta, a familia foi assentada em Cand6i, no Centro do Parana, h;\ 14 anos. Antonio casou-se com Maria Sebastiana. Tiveram cinco filhos, hoje com idades entre 5 e 15 anos, todos freqiicntando a cscola, com cxce9ao da mais nova. Antonio tornou-se urn dos principais !ideres do Assentamcnto dos Ilheus de Cavernoso, ondc moravam ccrca de 60 familias. Tornou-se dirigentc sindical e era urn dos diretorcs da Coagri, Cooperativa dos Asscntados de Cantagalo.
No dia I" de maio de 2000, Antonio sc uniu aos seus cornpanheiros para ira Curitiba. Solidario, como sernpre, considerado pai exemplar, Antonio veio num dos anibus com outros 35 cole gas. lriam pcdir melhores condi96es de financiamento para os assentados c a acelera<;ao da rcfonna agraria para o beneficia dos que ainda estavam acampados. 0 Governo do Estado do Parana, cntretanto, considcrou que os scm-tcna nao poderiam se manifestar na capital, ainda que nao estivcssemos em estado de guena, de sitio ou emcrgencia. Na altura do km 50, uma barreira policial come9ou a parar OS onibus. Obrigava que todos OS ocupantes dcsccsscm. Retirava dos vciculos todas as fcnamentas, tais como foices c facoes, que o MST leva como simbolo da !uta
16
pela terra. Em seguida, a policia mandava prosseguir. Mas logo adiantc, nova barrcira po!icia! OS fazia descer dos onibus.
Era ponca mais de 8 horas do dia 2 de maio. Na medida em que desciam, sc tornavam objeto de agrcss6cs c ofcnsas. Jair Dangui logo foi ao chao dcvido a uma cacetada dcsfcrida par um policial militar. 0 PM colocou scu cao pastor-alemao para mordcr o pc de Jair c dizia para que elc comcssc a terra que tanto queria. 0 trabalhador, cntao, rcclamou que o cachorro !he arrancaria o pc. 0 PM !he den um tiro de bala de borracha, que atingiu um dedo da sua mao. Jair conscguiu dar uma paulada no cao e corrcr para o mato. La ainda ajudou outros fcridos, dcntre os quais um que ate agora, quando cscrcvo, n:lo se sabe se sobrcvivcu.
AntOnio Tavares Pereira, cntretanto, enfrentou do is po1iciais que portavam carabinas carregadas com balas de vcrdade. Um deles atirou e a bala atingiu sen abdomc. Um casal que passava de carro o lcvou para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, a pcdido de sen companhciro, Aparccido Alves. A hemorragia foi tao seria que nao houve chance de sobrcvivcncia. Somente tres dias depois do ocorrido, o govcrnador Jaime Lerner co sccrct:irio da Scguranya reconheceram que a policia havia usado de excessiva brutalidade, nao muito diferente daquela usada para dizimar os camponeses de Canudos.
Ao falar no vel6rio de Antonio Tavares Pereira, Joao Pedro Stcdile, um dos coordcnadores nacionais do MST, pcdiu a todos que a morte do companheiro nao se transforrnasse em motivo de vingan<;a, tal como Martin Luther King Jr. Mas a expeetativa dele proprio, de Maria Sebastiana, de seus irrniios e filhos, era de que todos deveriamos estar ainda mais dispostos a lutar par justi<;a e pela reforrna agniria no Brasil. Se antes scmpre lcmbn\vamos de Zumbi, Che e Antonio Conselheiro, agora podcriamos falar em Zumbi, Chc, Antonio e Conselheiro.
Reeomendo fortemente a leitura do livro de Bcmardo Man<;ano Fernandes para compreenderrnos ainda melhor as raziies da !uta de Antonio c de sua grande familia, o MST.
Eduardo Matarazzo Sup! icy
17
-INTRODUC::AO
Nos ultimos 20 anos, as ocupa~oes de terras tornaram-se uma das principais formas de acesso a terra. Dcsde o comc~o da derrocada dos governos militares, esta forma de !uta pcla terra tem se intensificado, resultando em milhares de asscntamentos mrais por todo o Brasil e dcterminando cssa realidade que chamamos hoje, incorretamentc, de refonna agr:iria.
0 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), desde sua genese, ' tem sido a principal organiza~ao no dcscnvolvimcnto dessa fonna de !uta. E impassi-
ve! compreendcr a sua fonna~ao, semen tender a ocupa~ao da terra. 0 MST nasccu da ocupa~ao da terra c a reproduz nos proccssos de espacializa~ao e territorializa~ao da !uta pcla terra. Em cada cstado onde iniciou a sua organiza~ao, o fato que registrou o scu principia foi a ocupa~ao. Essa ar;ao c sua reprodu~ao matcrializam a cxistencia do Movimcnto, iniciando a constm~ao de sua forma de organiza~ao, dimcnsionando-a.
A ocupa<;iio c uma realidade dctenninadora, e cspar;o/tempo que estabelecc uma cisao entre latif(mdio e asscntarnento e entre o passado eo futuro. Nesse sentido, para os sem-tcrra a ocupayiio, como espayo de !uta c rcsistCncia, reprcsenta a fronteira entre o sonho c a realidade, que c construida no cnfrentamento cotidiano com os latifundi:irios e o Estado.
0 sentido da forma~ao do Movimcnto dos Trabalhadores Rurais Sem Terra esta na sua espacializa~ao e territorializar;ao, porque traz o significado da resistencia por meio da sua rccriac;iio. Nessas duas decadas, no desenvolvimento dcsses processos, os scm-terra se organizaram em vinte c duas unidades da federac;iio e construiram uma estrutura organizativa multidimensionada em suas inst3ncias reprcsentativas e nas formas de organiza~ao das atividades. Dessa forma, ampliaram a !uta pela terra em !uta por outros direitos: cduca~ao, politica agricola, saude etc., construindo as condi~iies para conquista-los.
Hoje, quando os jornais noticiam ac;oes do MST desde o Para ao Rio Grande do Sui, cstao mostrando realidades constmidas pelos scm-terra, que chamam a atcn~ao da sociedadc para cssa questfio secular. Mas como os scm-terra construiram cssa organiza~ao admir:ivel? Que tem um poder de pressao tao forte sabre os governos federal c estaduais e que mantem quotidianamente a questiio agr:iria na paula politica.
Para eompreendcr cssas realidades, foi necessaria a realiza~ao de uma ampla pesquisa, envolvendo eentenas de pcssoas que contribuiram das mais difcrentes formas
19
para que concluissemos os trabalhos. Assim, pesquisamos os proeessos de fmma.;ao e territorializa.;ao do MST em todos os estados, onde estava organizado ate 1997.
0 estudo desses proccssos em escala nacional s6 foi possivcl gra.;as ao imbrieamento de do is projetos, o meu projeto de tese de doutorado eo projeto A historia do MST. No final de 1996, fui con vi dado por membros da Dire.;ao Nacional para realizar esse projcto, como objetivo de escrevcr urn livro c criar um arquivo central da documenta<;iio do MST 1
• Esse e um projeto importantc, considerando que niio existia ncnhum trabalho, com cssa cxtcnsiio, a rcspcito dessc tcma. Tan1b6m porquc C uma contribui<;ao para os estudiosos da questao agniria e, principalmente, para os scm-terra que nasccram durante esse momenta hist6rico da forma<;ao do MST. Em mcu projeto de doutorado, nmn prin1ciro momenta, eu prctendia pesquisar os processes de forn1ac;ao e territorializa<;iio do MST no Centro-Sui do Brasil 2 Portanto, essa proposta foi um desafio, porque aumcntava a amplitude de meu objeto de pesquisa. Por outro !ado, tanto o meu interesse pclo projcto, quanta as condiy6es concretas para a realizac;ao da pesquisa: o apoio das Sccretarias Estaduais, da Secretaria Nacional e dos setares de atividades, instigou-mc a aceitar o desafio.
Dessa fonna, trabalhei concomitantcmente nestes dois projetos, procurando viabiliza-los. Para descnvolve-los, realizci em 1997 e 1998 uma ampla pesquisa de campo por vintc e duas unidades da fcderac;iio, onde o MST esta organizado, utilizando-me de uma mctodologia de pesquisa em que pudesse rccuperar as prineipais lutas do Movimento nos estados. Dessa forma, por meio da pesquisa memorial, cntrevistei 156 pessoas: scm-terra, rchgiosos, prcfcitos, parlamcntares, sindicalistas, asscssorcs e pcsquisadorcs, que relataram suas participa<;iics na constru<;ao do MST'. As questOcs colocadas nas cntrevistas sao refcrcntes a fonna<;ao, espacializayllo e territorializa<;iio do Movimcnto nos estados.
Uma das minhas preoeupa<;iies era o registro da genese do MST em eada unidade da federa<;iio cas principais lutas construidas nos processos de fonna<;iio c tcrritorializa<;3o. Assim, por meio das cntrcvistas, busquei recuperar o principia da organizay3o do Movimcnto, as institui<;Oes que apoiaram as lutas, as difcrentes experiCncias de resistCncia, a construy3o da autonmnia politica, das inst3ncias de representa<;3o e dos diversos setores de atividades. Tambcm claborei questiies acerca das origens e das formas de organiza<;:io nos assentamentos, as formas de organizay:lo do trabalho, nas cooperativas c assoeia<;iies, a produc;iio agropeeuiria, as formas de eomereializa<;ao e os impactos socioecon6micos locais. Nessc contcxto, quais as tnudanyas significativas oconidas na vida das familias asscntadas: escolaridadc, saUdc, trabalho, alimcn-
1. 0 arquivo csta scndo implantado no Centro de Documcnta~iio c MemOria da Unesp (CEDEM), por meio de um convCnio entre a Univcrsidadc co MST.
2. Em mcu mcstrado fiz cssa pcsquisa no estado de Siio Paulo. Vcr Femandcs, 1996a.
3. Uma das cntrcvistas foi public<Jda pcla Editora Funda~iio Pcrscu Abramo. f: a cntrcvista com Joiio Pedro Stcdilc. cujo livro tern como titulo: Bnn'a genre: a trajetciria do MST e a fur a pet a terra no Brasil.
20
ta<;ao, moradia etc. TambCm claborci qucstocs rcfcrcntcs as principais dificuldades e desafios que as familias cnfrcntam; qucstOcs rclativas a outros tnovimentos sociais que atuam nos cstados; e a respeito das instituiyOes contnirias a reforma agniria, bern como sabre os processes de negocia<;ao com os governos estaduais e federal.
Outro procedimento metodol6gico adotado foi a pesquisa documental. Pcsquisci nos arquivos das Secretarias Estaduais e da Sccrctaria Nacional. Nos arquivos da Comissao Pastoral da Terra, nos estados, na Sedc Nacional, em Goiania. Tambem visitei as bibliotecas das universidades federais e cstaduais, lcvantando as monografias, disserta<;oes e teses a respeito do MST nos estados. Rccolhi dados dos asscntamentos rurais nas superintendencias do Incra, ctn sccrctarias e institutos cstaduais. No ambito das possibilidades, procurci rcproduzir csses materiais. Esse conjunto de informa<;oes c dados foram analisados na clabora<;iio da tese c dcste Jivro.
' A Juz do referencial te6rico a respeito do proccsso de forma<;ao do campesinato, procurei refletir e debater sobre qucstocs fundamcntais para entcndcr essa nova realidadc que emergiu na luta pela terra, desdc as primciras ocupa<;ocs rcalizadas pelo MST. Desse modo, procurei comprecndcr o proccsso de fonna<;ao c territorializa<;ao do Movimento a partir dos contcudos das cntrevistas, dos estudos realizados por pcsquisadores de diferentes areas das Ciencias Humanas, e dos dados colhidos por meio da pesquisa documental.
Assim, apresento divcrsas cxpcriCncias, ctn que os se1n-terra, ao realizarctn suas lutas, desenvolveram outras dimcns6cs da rcsistCncia carnponesa, procurando an1pliar suas conquistas. Dessa forma, cada a<;iio, cada atividade contem a perspectiva da supera<;ao, contem o desafio, porquc os trabalhadores rurais:
"Que~·em mais que reform a agrdria encabrestada pelos agentes de mediac;:iio. Querem urn a refOrrna social para as novas gerac;:Ues, uma reforma que reconher.·a a ampliar.Yio hist6rica de suas necessidades sociais, que os reconhe9a nGo apenas como trabalhadores, mas como pessoas com direito a contrapartida de seu trabalho, aos jrutos do trahalho. Querem, portanto, mudanr;as sociais que os reconher.'am como membros integrantes da sociedade. Anunciam, em suma, que seus problemas siio problemas da sociedade inteira. Que a den·ota politica de seus agentes de mediac;:iio niio os suprime historicamente. Afalta de reforma agrciria niio acaha com o cam panes, como pequeno agricultor, como trabalhador rural. Ao contrario, multiplica as responsabilidades das elites politicas porque suprime uma alternativa de integrac;·iio politica social e econ6mica de mil hOes de brasileiros que vivem no campo, em condi90es cada vez mais dijiceis" (Martins, 1994, p. 156).
As expericncias que expandem as possibilidades dcssa !uta foram constmidas na persistencia da autonomia politica dos sem-terra. Condi<;ao refor<;ada pela organicidade do Movimcnto, que se transforrnou numa organiza<;ao ampla e atuante em di-
21
vcrsas dimcnsoes da vida dos scm-terra. A inexistencia de uma politica de rcforrna agniria nao impediu que o MST se territorializasse para todas as regioes brasileiras, lutando contra a cxclusao e a explora,ao. Nesse sentido, a !uta pela terra e uma !uta popular, de que as institui10oes, entre clas o Estado, procuram se apropriar politieamente. Por essa via, o Movimento se reproduz mas nao so pcla 16gica do desenvolvimcnto das rcla106es eeon6micas, mas tambem na constrw;ao de rela106es politicas: por mcio da ocupa10iio da terra. De aeordo com Oliveira:
"A o mesmo tempo que aumenta a concentrat;iio das terras nas miios dos lat(fundicirios, aumenta a nUmero de camponeses em !uta pela recuperat;iio das terra.r; expropriadas. Nem que para isso tenham que continuar seu devir hist6rico: fer a estrada como caminho. 0 que vale dizer: a rnigrar;iio como necessidade de sua reprodur;iio, a /uta pelafrar;iio do territOrio distante como alternativa para continuar campones. Espw;.·o e tempo unem-se dialeticamente na exp!icGf;iio desse processo. Quando essa possibilidade de recuperar ajrar;iio do territ6rio perdido niio pode ser realizada, ele encontra novasfOrmas de !uta para abrir aces so cl terra camponesa, on de ela se tornou capita/isla. 0 Movimento dos Sem- Terrae urn bam exemplo dessa rea/idade" {Oliveira, 1991, p. 26).
Ao se tcrritorializarem, constroem as eondi106es hist6ricas da fonna<;ao do eampesinato. Ao expandirem sua estrutura, desafiam-sc na busea de novas condi.;iies para a supera10ao das suas realidades. E nessa mareha, nas experiencias que dcsenvolvem, cspacializam as mem6rias da Iuta, que servem como refcrCncias para a mistica do Movimento.
Nessc senti do, estudar o campcsinato scm ponderar sabre sua hist6ria e sua inseryao nas relay6cs sociais contemporancas pode ocasionar formas de compreens3o dcslocadas da rcalidade. Por essa razao, procurei recuperar, no primeiro capitulo, uma leitura da forma,ao camponesa no Brasil, tendo como referencias te6ricas os trabalhos de cientistas que se dedicaram profundamente aos estudos a respeito da trajct6ria historica do campesinato brasileiro. Tomei como refcrencia os trabalhos de diversos autares, analisando cssa trajet6ria ate a genese do MST. Essa e uma leitura fundamental para compreendermos as lutas dos scm-terra que trazem nas suas tnisticas, nos names dos acampamentos e dos assentamentos, a perseveran10a das mcm6rias dessas lutas.
No segundo capitulo, analisei os fatores economicos e politicos que nos ajudam a compreender a natureza do MST e os proeessos de gcsta10ao ate o nascimento do Movimcnto. Assim, estudei as prineipais cxperiencias e a conslrul'ao dos principios que proporcionaram a funda,ao do MST, em 1984. Foram analisadas as lutas dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo e Malo Grosso do Sul, desde 1979 ate a realiza,ao do Primeiro Congresso, em janeiro de 1 985.
No terceiro capitulo, estudei a forrna,ao e territorializa10iio do MST pelo Brasil e sua consolida,ao. Esses processos aconteceram no pcriodo 1985-1990, quando o
22
MST se organizou na regiao Nordeste, em Goiis, Rondonia, Minas Gerais, Espirito Santo e no primeiro memento da organizavao do MST no Rio de Janeiro. Foi o pcriodo da conquista da autonomia e do reconhecimento politico. Analisei seus principais evcntos, cncontros e congresses que dctcrminaram as linhas politicas adotadas no enfrentamcnto da I uta. A consolidaviio do Movimento aconteccu por meio do cstabelccimento de sua cstrutura organizativa, dimensionada em formas de organizaviio das atividades e instancias de represcnta<;ao.
0 quarto capitulo expiic os processes de territorializaviio e institucionaliza<;ao do Movimento. Nessa parte, estudo o periodo de 1990 a 1999, quando o MST se organizou nos Estados do Para, Mato Grosso e no Distrito Federal. Nesse periodo, ni\o ocorreram mudanyas substanciais na sua estrutura organizativa, apenas o scu dimensionamento. Desde meados desta decada, o MST tornou-se conhecido em todo o Brasil, bem como em varias partes do mundo. Tambem analiso a participa<;ao do MST, comparando-o com outros movimentos sociais, e apresento um con junto de dados sobre ocupa<;iies de terra e implanta<;ao de assentamentos, representando-os em figuras de modo a possibilitar a visualiza<;iio da distribui<;ao geogrifica da !uta pela terra.
A elabora<;ao dos capitulos 2, 3 e 4 foi realizada a partir das leituras das entrevistas, reunindo fragmentos das informa<;iies (porque, em muitos casos, os entrevistados viveram parte da hist6ria da !uta) e compondo os processes de forma<;iio e territorializa<;ao do MST, na confronta<;ao com os documentos: dossies, pareceres, atas, anota<;iies e jornais, bern como com as produ<;iics cientificas: disserta<;iies, monografias, teses, livros, ccnsos e relat6rios. Ao utilizar essa forma de organiza<;ilo do material da pesquisa, a partir dos processes estudados, interpretando-os it luz do referencial te6rico, estou atcndendo a uma solicita<;ao do MST de ni\o citar o nome dos entrevistados.
No quinto capitulo, apresento uma contribui<;ao te6rica para pensar esse memento de forma<;i\o do campesinato brasileiro. Este capitulo e um ensaio te6rico, que foi sc constituindo it medida que se desenvolvia a pesquisa. Assim, sugiro ao leitor que, caso sinta necessidadc de compreender melhor os significados dos conccitos utilizados ao Iongo dos capitulos 2, 3 c 4, con suite este ultimo capitulo. Pois neste discuto os difcrentes tipos de movimcntos sociais do campo e procure fazer uma constru<;i\o analitica dos processes de (re)cria<;ilo do campesinato, a partir das fonnas de I uta eresistencia contra a explora<;ao e a cxclusi\o, refletindo sobre os significados da espacializa<;ao c da territorializa<;ao dos movimentos socioterritoriais. Por fim, fa<;o uma reflcxao sobre urn con junto de dados a rcspcito das origens dos assentamcntos rurais, concluindo que a ocupa<;ao e uma importante forma de acesso it terra na atual con juntura da qucstao agn\ria neste final de seculo e milcnio.
Sao quinhcntos anos de latifundio. Desde as lutas contra o cativeiro, contra o cativeiro da terra, dos movimentos messianicos, das Ligas Camponcsas ate o MST, essa !uta nunca ccssou, em nenhum momento. Lutaram e estao lutando ate hoje e entrarao o seculo XXllutando.
23
CAPiTULO I -A FORMA<:;:AO CAMP ON ESA
NA LUTA PELA TERRA
Lutas popularcs: do cativciro ao cativeiro da terra
As lutas camponesas scmpre estivcram prcsentcs na hist6ria do Brasil. Os conflitos sociais no campo n:lo sc restringctn ao nosso tempo. As ocupay6es de tcnas realizadas pclo Movimento dos Trabalhadorcs Rurais Scm Terra (MST), e por outros movimentos popularcs, sao a<;6es de resistcncia frcnte a intensifica<;ao da concentra<;iio fundiaria c contra a cxploray:lo. que marcam uma luta hist6rica na busca continua da conquista da terra de trabalho, a fim de obter condi<;6es dignas de vida e uma sociedade justa, Sao cinco seculos de latifundio, de !uta pela terrae de forma<;ao camponesa. E um processo em movimento que apresentamos ncste breve capitulo para, nos capitulos scguintes, conhecermos melhor a forma<;ao do MST e pensam1os o futuro.
A hist6ria da forma<;ao do Brasil c marcada pcla invasao do territ6rio indigena, pcla escravidao e pela produ<;iio do tcrrit6rio capitalista. Nessc processo de forma<;ao de nosso Pais, a !uta de rcsistencia come<;ou com a chegada do colonizador europcu, ha 500 anos, desde quando os povos indigenas rcsistem ao genocidio hist6rico. Comeyaram, cntllo, as lutas contra o cativeiro, contra a cxplorayfio c, por conscguinte, contra o cativciro da terra, contra a expropriay:lo, contra a expulsao e contra a cxclusao, que marcam a hist6ria dos trabalhadores dcsde a !uta dos cscravos, da luta dos imigrantes, da fonna<;ao das lutas camponesas. Lutas e gucrras, uma ap6s a outra ou ao tncsmo tempo, scm cessar, no enfrcntmnento constante contra o capitalismo. Essa c a memoria que nos ajuda a compreender o processo de fom1a<;iio do MST.
SepC Tiaraju dos povos guaranis
Nos seculos XVI e XVII, ccrca de 350 mil indigcnas escravizados trabalharam na economia brasileira. A ca<;a aos indios para cscravizci-los teve divcrsos movimentos de resistcncia, como por exemplo: a Confcdcra<;ao dos Tamoios e a Gue1n dos Potiguaras. Outra grande batalha na luta contra a escravidao acontcceu onde hojc e a regiao fronteiri<;a do Sul do Brasil com a Argentina, Paraguai e Uruguai. Neste espa<;o,
25
disputado por Portugal e Espanha, foram construidas as missoes religiosas pclos padres jesuitas. Em tcrras comuns viveram os Trinta Povos Guaranis, on de cada povoado chcgou a ter entre 1.500 a 12 mil indios. Atacados constantementc pclos bandeirantes e pclos cxcrcitos de Espanha e Portugal, os povos guaranis rcsistiram ate a exaustiio. Em 1756, ocorreu o massacre dcrradeiro que culminou com a mortc de Scpe Tiaraju, lider guarani que se tornou simbolo da resistencia indigena. A escravidao indigena foi scndo substituida pela escravidao negra, ao mesmo tempo que a maior parte dos grupos indigenas foi quase que totalmente dizimada (Prezia e Hoornaert, 1989, p. 91-9).
Zumbi dos Palma res
A luta dos povos indigenas c dos cscravos negros contra o cativciro durou seculos. Em 1570, no Brasilja se implantaram mais de cinqiienta engenhos. Em 1584, trabalhavam nas fazendas, na cultura da cana-de-a<;ucar, em torno de 15 mil afficanos cscravizados. Data de 1597 a primcira refercncia a urn quilombo na rcgiao de Palmares. 0 quilombo foi o territ6rio hvre, era a tetra ondc viviam negros, alguns indios e tambcm trabalhadores livres e marginalizados pela sociedade colonial.
Palmares foi o maior quilombo. Localizava-se na Zona da Mata, a cerca de 70 quil6metros do litoral, onde hojc c a regiao fronteiri<;a entre os Estados de Alagoas e Pernambuco. Era um con junto de povoados soeialmente organizados que forn1ou a Uniao dos Palmarcs. Os principais cram Acotirene, Andalaquituche. Zumhi. Tabocas. Osenga. Subupira, Macaco, Aqualtume. Dambranga e Amaro. Os povoados cram forrnados pelos nuclcos de moradia, onde existirammais de 1500 casas protegidas por pali<;adas. Nessas terras os palmarinos cultivavam suas ro<;as de milho, fcijao, mandioca, cana-dc-ayUcar, criavam galinhas, cac;avam e pescavam. Estima-se que, par volta de 1670, perto de 20 mil pessoas viviam neste territ6rio. Ganga Zumba e Zumbi foram seus principals lideres (Funari, 1996, p. 26-37).
Os quilombos foram espa<;os de resistencia e para se defenderem os quilombolas tambem atacavam engenhos e fazendas da regiao. Durante todo o scculo XVII, aconteceram inumeros eonflitos e os quilombos foram atacados diversas vezes. De 1602 a 1694, Palmares resistiu, quando o excrcito do bandeirante Domingos Jorge Velho,jagun<;o hist6rico, enfrcntou e destruiu o exercito de Zumbi, aniquilando o territ6rio palmarino. Palmares preeisava ser destruido. A sua vit6ria signiticaria novos territories livres, o que aos scnhorcs cscravocratas niio interessava. Pahnares entrou para a hist6ria do Brasil como uma das grandes lutas de rcsistcncia contra uma das mais erueis forrnas de explora<;ao: 0 cativciro.
As lutas de resistencia aconteceram em todo o Brasil. Muitos foram os quilombos criados em difcrentes por<;iies do territ6rio. Desde o Para ate o Rio Grande do Sui, passando pclo Maranhao, Piaui, Ceara, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Scrgipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goias, Mato Grosso, Sao Paulo, Parana e Santa Catarina. Foram tres seculos de revoltas que conduziram o cnfrentamento contra o insustent:lvcl sistema escravocrata.
26
Os sem-terra
No final do s6culo XIX, no desenvolvimcnto do capitalismo, nos processos de cxplorayilo e dominayilo e na insustentabilidade do trabalho escravo, estabelecia-se o trabalho livre. E importante lembrar que o trabalhador livre sempre existiu na sociedade escravocrata. Entre os trabalhadores livres vale destacar os sitiantes, os agregados 1 e os negros. Os sitiantes eram pequenos proprietarios ou posseiros. Os agregados eram moradores em terra alheia, que viviam e trabalhavam nas grandes fazendas. Os negros eram ex-escravos que por diferentes meios haviam sido libertados ou tinham comprado sua liberdade.
Como fim da escravidiio, a geravilo do trabalho livre determinava uma outra relaviio social: a venda da forva de trabalho. 0 escravo nao vendia sua forva de trabalho, ele era vendido como mercadoria e como produtor da mercadoria. Ele era objeto de comcrcio do seu proprietario. Com a formayilo do trabalhador livre, conservou-se a separayiio entre o trabalhador e os meios de produviio. Agora a subordinayiio acontecia pela venda de sua forya de trabalho ao fazendeiro, ao capitalista.
Desse modo, com a instituivilo do trabalho livre, que se expandiu com a chegada do imigrante europeu, o antigo escravo conseguiu ser dono de sua forva de trabalho; ja o imigrante expulso de sua terra era livre por so possuir a sua forva de trabalho. Se para o escravo a forva de trabalho era o que conseguira, para o imigrante era o que restara (Martins, 1986a, p. 16-7). Portanto, agora, a !uta pela liberdade se desdobrara, igualmcntc, na !uta pela terra.
Ao mesmo tempo, enquanto os trabalhadores fizeram a !uta pela terra, os ex-senhores de escravos e fazendeiros grilaram a terra. E para realizarem seus interesses por meio da trama que construiu o dominio das terras, exploraram os camponeses. Estes trabalharam a terra, produziram novos espayos sociais e foram expropriados, expulsos, tomando-se scm-terra. Nessa realidade, surgiu o posseiro, aquele que possuindo a terra niio tinha o seu dominio. A posse era conseguida pclo trabalho c dominio pelas armas e podcr econ6mico. Dcsse modo, o poder do dominio prevaleceu sobre a posse. Evidente que esse processo de apropriayiio das tcrras gcrou conflitos fundiarios, de modo que a rcsistencia e a ocupayao cram perenes. Assim, formaram os latifundiarios, grilando imensas porv6es do territ6rio brasileiro. Dessa forma, aconteceu, em grande parte, o processo de territorializavilo da propriedade capitalista no Brasil.
Sao Paulo e uma refcrencia importante para comprccndermos esse processo. 0 tcrrit6rio paulista foi apropriado, principalmentc, por meio da fommvilo de fazendas de cafe (Monbcig, 1984; Martins, 1986a). Para a abertura de novas fazendas, os coroncis criaram a industria da gri]agem de terras, compreendida pe]a fa]sificayaO de do-
I. Vcr a rcspcito: Franco, Maria Sylvia de Carvalho. !lomens livres na ordem escravocrata. Sao Paulo: Editora da Uncsp, 1997, p. 98s.
27
cumentos e outras atividades ilicitas, como subornos de funciomirios pliblicos, a!em dos critncs praticados contra os camponescs posseiros. Era esse processo cscuso que detcrminava o pre<;o das tcrras, antes dcvolutas, passando, dcssa fonna, a ser propriodade particular. Por essas pniticas, os grileiros cram verdadciros traficantcs de tcrras, scmelhantcs aos traficantcs de escravos. 0 trabalho com a dcrrubada das tlorestas era cxecutado por caboclos e caipiras, que plantavam nessas terras ate a fonna<;ao da fazenda. Dcpois de fonnadas as fazcndas de cafe, come<;ava o trabalho da familia camponesa migrante. Outra pratica de cxplora<;ao foi o arrendamento, em que os camponcses derrubavam a mata e fonnavam pastas. Neste, entrctanto, faziatn suas ro\as de subsistencia. Tenninado o desmatamento, acabava o arrendamento cos camponeses eram obrigados a abandonar a terra e scguir em busca de outras tcrras. Assim, as fazendas cram formadas pelo trabalho dos camponescs c apropriada pelos coronCis.
As terras dos grupos indigenas cas terras ocupadas pclos posseiros eram invadi-•
das pelos grilciros. Indios c posseiros scm pre migraram, tcntando se distanciar da ccr-ca e do cerco do capital. Aos que rcsistiam, restava o cnfrcntamento com os jagun<;os dos fazendeiros-grileiros (Leite, 1998).
0 cativciro do homcm chegara ao fim quarcnta anos dcpois de tcr come<;ado o ccrco a terra: o cativciro da terra. Os imigrantes curopeus chcgaram, muitos expulsos de suas terras de trabalho. A terra no Brasil come<;ava a ser ccrcada pelos cmcrgentcs coroneis, latifundiarios c grileiros. De modo que os escravos que abandonavam as fazendas vagavam pelas estradas e acmnpavam. Mas com as ccrcas eles estavam impcdidos de ter acesso a terra. Mesmo que procurassem viver livres como vivcram nos quilombos, era impossivcl, ja que scm terra cairam na condi<;iio de miscraveis. E todas as vczes que acampavam nas fazendas, os proprietaries convocavam as foryas policiais para expulsa-los (Ribeiro, 1995, p. 221 ). Tam hem a imcnsa maioria dos camponeses imigrantes continuou a pcrsistentc caminhada em dire\ao a terra. Trazidos da Europa para Santa Catarina, Rio Grande do Sui, Parana e Sao Paulo, seus filhos, nctos e bisnetos continuaram migrando para outras regiOcs, rompendo as cercas do latifimdio. A maioria absoluta dos trabalhadores, ex-cscravos e imigrantes come<;aram a fmma<;ao da categoria, que na scgunda metade do seculo XX seria conheeida como sem-terra. Lutaram pela terra, pelo desentranhamcnto da terra, numa !uta que vern sendo realizada ate hoje. Essas pessoas formaram o campesinato brasileiro, dcsenraizadas, obrigadas a migrar constantcmente. Do Sui para o Nordeste c para o Norte. Do Nordeste para o Sudeste, Sui c Norte. Do Norte para o Sudeste. Do Sudeste para o Nordeste, est a c uma hist6ria de pcrambula<;ao e de resistcncia. A ocupa<;iio da tetra pelos camponescs scm-terra era c C a principal fon11a de tcr accsso a tcn·a. A ocupay3.o ton1ara-se uma a\ffO hist6rica da resistCncia camponcsa.
Canudos de Antonio Consdheiro
Desdc o final do seculo XIX e todo o seculo XX, a Hist6ria rcgistrou diversas guerras c lutas de resistcneia do campesinato brasileiro. Uma condi<;iio para a existen-
28
- -------~
cia do trabalho livre no Brasil foi a criavao da propriedade privada da terra, circunstiincias cssenciais para o desenvolvimento do modo eapitalista de produviio. Com a Lei de Terras de 1850, intensifieou-se o cerco as tcrras, bern como a grilagem e a cxpropriayao dos posseiros. Desse modo, o latifundio - marca do Brasil colonia, do Brasil momirquico- tornava-se, e mantem-se ate hojc, marca do Brasil republica. Das capitanias hereditarias as scsmarias e destas ate a Lei de Tcrras de 1850, a terra licou restrita ao poder da nobrcza. Desde 1850, a terra foi transformada em propricdadc privada, cercada e apropriada, em sua maior parte, pclos latifundiirios. As tcrTas que n3o formn cercadas, dcvcriam scr devolvidas ao govcrno, dai o termo terras devolufas. Dcssa forma, a propricdade da terra s6 seria passive! par meio da compra em dinheiro. No proccsso de claborayao da Lei de Terras, foram apresentados dais projetos de lei2 que limitavam o tamanho da propricdade e possibilitavam aos camponeses o acesso a teiTa por mcio de doay6es. Todavia, csses projetos jamais sairmn do papcl, porque fcriam os privili:gios e interesscs dos grandes proprietirrios. Entao, os trabalhadorcs scm-terra, ex-escravos c imigrantes trabalharam para os fazendeiros, para que pudcssem poupar e comprar a terra. Essa foi a condiyao que garantiu o trabalho nas fazcndas c, ainda, propiciou o proccsso de grilagern de tcrras pelos coronCis, que se apodcraram de toda a terra que foi passive! grilar, cxtenninando povos indigenas, matando posseiros, dcstruindo as matas, construindo o pais do latifundio.
0 coronelismo loi uma fonna de controlc da politica e do territ6rio. Formaram-se os currais eleitorais, criando o voto de cabresto, de modo que tudo que estava na terra do coroncl era como se fossc scu. Na luta contra o ccrco da terrae da vida, nasccram v3rias formas de rcsistencia. Na Bahia, camponescs c cx-cscravos, seguidorcs de AntOnio Consclhciro, terminaram sua peregrinayao c sc cstabeleceram no atTaial de Canudos. Era um movimento messi<inico que se opunha a ordcm da submissilo, cstabeleeida pclos coroneis, e foi dcclarado inimigo de guerra.
A guerra de Canudos foi o maior cxcmplo da organizayao de resisteneia camponcsa do Brasil. Consclhciro e seus scguidores instalaram-sc na fazenda Canudos em 1893 e passaram a chamar o Iugar de Belo Monte. A organizavao econ6mica sc realizava por mcio do trabalho cooperado, o que foi esscncial para a reproduyao da eomunidade. Todos tinham direito a terrae desenvolviam a produyaO familiar, garantindo um fundo comum para uma parccla da populayao, especialmente os vclhos e desvalidos, que niio tin ham como subsistir dignamcntc.
Em Canudos viveram aproximadamentc 10 mil pessoas3 Populaviio equivalcntc as maiores cidadcs da Bahia. Acusados, falsamente, de defender a volta da monar-
2. Projetos de JosC Honifitcio de Andrada c Silva c do padre Diogo AntOnio Fcij6. A rcspeito. vcr Motta, M:ircia Maria Mcnendes. lv'asfi·onlciras do poder. Rio de Janeiro: Vicio de Lcitura: Arquivo Pl1bl ico do Estado do Rio de Janeiro. 1998. p. 127s.
3. Tomamos como rcfcrCneia o trabalho de Villa, Marco Antonio. Camulos: a pm·o da terra. Siio Paulo: Editora Atica, 1995. Todavia, h3 autorcs que indicam uma pupula.;iio de atC 35 mil pessoas. V cr cssa qucstiio em V ilia. p. 220.
29
quia, foram atacadas par expedi<;oes militares de quase todo o Brasil. Mais de cinco mil soldados combateram contra os sertanejos de Conselheiro. De outubro de !896 a outubro de 1897, os ataques do exercito foram enfrentados e rcfreados ate o cerco completo co massacre do povo de Canudos.
"Canudos nGo sc rendeu. Exemplo Unico em toda a histOria, resistiu a{(: o esgotamenta camp/eta ... caiu no dia 5 de outubra de I 897, ao entardecer, quando cairam as seus Ultimos dejf.msores, que todos nwrreram. Eram quatro apenas: um velho, dais homens feitos e uma crian\-·a, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil so/dados" (Cunha, 1982, p. 433).
Fechava-se o seculo XIX com a guerra mais tnigica, mais violenta do Brasil.
Esta guerra representou o desdobramento das disputas pelo poder, entre os coroneis e o govemo. Derrotar Canudos significava mais for<;a politica entre militares e civis, ligados ao interesse da economia da monocultura cafeeira. Para os sertanejos, com bater os republicanos tinha, antes de mais nada, o sentido de lutar contra os inimigos dos trabalhadores: os fazendeiros e os militares.
A Guerra do Contestado
Abria-se o seculo XX com outra guerra contra os camponeses. No Sui do Brasil, no Parana e em Santa Catarina, tambCm, os coronCis controlavam a terra c a vida dos carnponeses. Na primeira decada deste seculo, na regiao fronteiri<;a destcs estados, comec;ara outro movimento de resistencia.
Em 1908, o govern a fez uma grande concessiio a em pre sa norte-americana Brazil Railway Company de uma enorrne faixa de terra de trinta quil6metros de largura, no trecho compreendido para a constru<;ao da ferrovia Sao Paulo-Rio Grande. As terras, atravessadas pela ferrovia, foram exploradas, dcsflorestadas, pela empresa que comercializou as madeiras no Brasil e no exterior. Milhares de familias que viviam nessas terras forarn expropriadas, expulsas brutalmente. Ainda, como tim da constru<;ao da fcrrovia, cerca de 8 mil trabalhadores contratados, ern outros estados, ficaram desemprcgados. Sern terra e sem emprego, pcrambularam pelo sertao, ocupando terra, saqueando e muitas vezes se oferecendo como jagunvos para conseguirem emprego . , . JUnto aos coronets.
Essa situaviio era insuportavel. Em 1912, em Campos Novos (SC), formara-se urn movimento camponcs de carater politico-religioso, liderado par urn homem que sc dizia curandeiro, denominado mange Jose Maria. Depois de se envolver com a dispula politica local, recebeu o apoio de urn coronel, o que proporcionou o conflito de interesses no sistema coronelista. 0 monge foi acusado de tcr proclamado a monarquia e, perseguido, retirou-se para Irani, localizado na regiao contestada pclos Esta-
30
dos do Parana e de Santa Catarina. A chegada do mange c seus seguidores na rcgiao pretcndida pelo Parana foi intcrpretada como uma invasao dos catarinenses. Foram atacados pcla Policia Militar do Parana, mesmo depois de tercm proposto que partiriam daquela regiao. Foram atacados de madrugada c revidaram. 0 monge foi atingido mortal mente na batalha em que os seus seguidores derrotaram a tropa polieial.
No final do ana de 1913, na rcgiao de Taquaru<;u, em Santa Catarina, ressurge o tnovimento tnessi:lnico. Unem-sc OS coroneis, a C111presa Brazil Railway c 0 governo que mobilizaram as tropas federais para enfrcntar os camponeses. No primeiro alaque, a tropa foi derrotada e bateu em retirada, abandonando muni<;ao e annas. Em fevereiro de 1914, o movimento era composto por mais de 10 mil pcssoas. 0 segundo ataque foi de surpresa, de madrugada, quando o arraial onde viviam os camponeses fora atacado com tiros de canhao e centcnas de bombas. 0 Iugar foi arrasado. Os sobrcviventes fugiram para um novo reduto: o arraial de Garaguata, no cora<;ao daregiao do Contcstado.
Neste reduto, passaram a vivcr cerca de 5 mil pessoas, onde nao existia propriedadc, j3 que a terra era urn bctn com urn. Novamente, o govcmo da RepUblica, acusando-os de monarquistas, enviou tropas para atacar esse movimento insurgentc, em 9 de mar<;o de 1914. De novo, as tropas foram rebcladas. Por causa de uma cpidemia de tifo, os camponeses mudaram de lugar, fom1ando pequenos nUcleos. Outra vez, foram atacados e numa !uta sangrenta as tropas destruiram o principal nucleo de rcsistencia. Entiio, da dcfcnsiva os camponcscs passaram a ofcnsiva. Em setembro de 1914, cram mais de 15 mil pessoas. Acusando o govemo de assassinar os trabalhadores e cntrcgar as terras para emprcsas cstrangciras, passaram a atacar fazcndas e cidades e controlaram partes da ferrovia. A guerra final aconteceu em dczembro, quando 7 mil homcns do cxCrcito, mil policiais c trczcntos jagunyos iniciaram um conjunto de ataques. Avi5es foram utilizados para lcvantamcnto das localizay5es dos redutos camponeses. Foram encurralados e scm suprimcntos comcr;ava o fim da resistencia (Dcrengoski, 1987).
0 cangar;o
"Da mesmaforma no Contestado, como em Canudos e em diversos outros movimentos messiclnicos que ocorreram no BrasU, os camponeses foram destro~'ados. Foram movimentos populares que acreditaram na constru~·iio de uma organiza(·iio em oposi~·iio a repUblica dos coroneis, da terra do latifundio e da miseria. Em nome da defesa e da ordem, as latifundiGrios eo governo utilizaram as JOn;as militares, promovendo guerras politicas. Niio era a monarquia que combatiam, mas sim a insurreir;iio dos pobres do campo" (Martins, 1981, p. 62).
A rea<;ao e instintiva quando a morte faz parte do dia-a-dia. 0 limite eo descspero e ou a revolta, que geram dcsdc a submissao ate a insubordina<;ao. Nas primeiras dccadas do scculo XX, nas terras do Nordeste, onde a expulsao e a pcrsegui<;ao ate a
3 I
mmie eram coisas cmnuns aos camponeses, surgiu uma forma de banditismo social que ficou conheeida como cangayo. Tornar-se cangaceiro era decorrCncia da ayao em defcsa da propria dignidadc e da vida de sua familia. Nas terras onde a lei nao alean<;a 0 COronel porque clc C Oll est3 acima da lei, restou bern pOUCO 3 resistCncia camponesa a niio sera rebcli3.o.
0 canga<;o foi uma fon11a de organiza<;iio de camponeses rebcldcs que atacavam fazcndas c vilas. Os grupos eram formados, prineipalmente, por camponescs em !uta pela terra, expulsos de suas ten·as pclos coronCis. Os cangaceiros rcplicavam, vingando-se em uma ou mais pessoas da familia do fazendeiro. Os diferentes grupos cangaceiros dcscnvolvimn suas ay6es por meio de saqucs nas fazendas e nas casas cmncrciais. Alguns, como foi o caso do banda de Lampiao, nao distinguiam o rico coroncl do camponcs. Essa fon11a de banditismo eolocava em qucstao o proprio poder do coronclismo (Martins, I 981, p. 60).
A forma de organizayao desde os movimentos messi3.nicos atC os grupos de cangacciros demarcavam os espayos politicos da rcvolta camponcsa. Eram conseqUCncias do cerco a terrae a vida. Embora fossemlutas isoladas, aeontceiam em quase todo o tenit6rio brasilciro e representaram uma in1portantc forya politica que dcsafiava e contestava inecssantcmentc a ordem instituida. sao partes da marcha camponesa que percon·e o cspa<;o da historia do Brasil.
Construindo o caminho: as hi las pela terrae pela reforma agrtiria
Em seu processo de formayao, os camponcses setnpre cnfrcntaram os coronCis-latifundi3rios c grileiros, se opuseram ao Estado rcpresentantc da classc dominante, que construiu ditaduras para manter seu poder. Assim, a resistCncia camponcsa manifcsta-sc em diversas ay6es que sustcntam formas distintas c sc modificam em seu movimento. sao caminhos abertos e construidos no tempo c no cspayo, c ncssa marcha participam do processo de transforma<;ao da sociedadc. Dcsde meados doseculo XX, novas feiy6es e novas fonnas de organizay3.o foram criadas na I uta pcla terrae na I uta pcla rcfonna agriiria: as ligas eamponesas, as difercntcs formas de assoeia<;ocs cos sindicatos dos trabalhadorcs rurais. Por cssa raziio, na 16gica do modclo de descnvolvimento do pais, sempre estiveram, mantidas e eontidas, a I uta pel a tena c a objeyiio ao assalariamcnto.
Nas difcrcntes rcgiocs do pais, continuos conflitos c evcntos foram testemunhos da forma<;iio camponesa no principia da segunda metadc do scculo XX. As lutas dos possciros e dos pequenos proprict3rios para resistirem na terra, as lutas dos atTendatiirios, dos colonos, juntamcnte com as lutas dos trabalhadorcs assalariados, os cncontros cos congresses camponcses, indicavam o dcscnvolvitnento do processo de organizay5.o politica. 0 Partido Comunista Brasilciro (PCB) e a lgrcja Catolica, entre outras institui<;oes, disputaram esse cspa9o politico, intcrcssados ncssc processo de forrna.;ao.
32
As Ligas Camponcsas'
A fonna<;iio das Ligas Camponcsas comc<;ou por volta de 1945. Neste ano acabava a ditadura do govcrno Vargas, que durou 10 anos. As Ligas foram uma fom1a de organizayao politica de camponescs proprictarios, parceiros, possciros e mcciros que rcsistiram <:i cxpropriayiio, a expuls3.o da tcna c ao assalariamento. Foram criadas em quasc todos os estados c organizaram dczcnas de n1ilharcs de camponescs. Elas tinham o apoio do Partido Comunista Brasilciro, do qual cram dependentes. Em 194 7, o govcmo Dutra declarou o PCB ilcgal c, cmn a rcprcssao gcneralizada, as Ligas foram violcntamcntc rcpritnidas, muitas vczcs pclos pr6prios fazendciros c scus jagunyos.
Em 1954, em Pernambuco, no municipio de Vit6ria de Santo Antao, em uma propricdadc dcnominada Engenho da Galilcia, foi criada a Socicdadc Agricola de Plantadorcs c Pccuaristas de Pcn1ambuco, que por sua fonna de organizayUo ficou conhccida como a Liga Camponcsa da GalilCia. Seus associ ados cram j(Jreiros que pagavam ao fazcndeiro rend ada terra em fonna de alugucl annal (juro ). Reagiram ao aumenlo da cxplora<;ao c tcnlativa de expropria<;ao pelo dono do engcnho c buscaram apoio como advogado e deputado Francisco Juliiio, do Partido Socialista Brasilciro, que pas sou a reprcsent3-los.
No cntrctanto dcssa !uta, novas Ligas foram formadas em Pernambuco e em oulros cstados do Nordeste, bcm como em outras rcgi6es. Varios trabalhadorcs morreram em conf1itos com os fazcndciros, na rcsistCncia contra a cxpulsfio da tcn·a. No Estado da Paraiba, em 1962, foi assassinado Joiio Pedro Teixeira, fundador da Liga de SapC, a maior do Brasil. Neste mcsmo ano, estavam organizadas em 13 cstados, rcalizaram vilrios cncontros e congressos, promovendo a criayao de uma consciCncia nacional em favor da refonna agrilria.
A atuayao das Ligas era definida na !uta pcla rcfonna agnlria radical, para acabar como monop61io de classc sobre a tena. Em suas ayOcs, os camponcscs rcsistiam na tcna c passaram a rcalizar ocupayOcs. Por parte das institui~Ocs, ao contr<irio, tanto o PCB quanto a Igrcja Cat6lica dcfendian1 uma rcforma agr<iria que dcveria ser realizada por etapas, por meio de pequenas rcfom1as e com indcniza~ao ctn dinheiro e em titulos. Par1e das Iigas tcntou organizar grupos guerrilheiros, quando cntao ocorrcu a prisao de muitos trabalhadorcs cos grupos foram dispersados pelo Exercito. Como golpe militar de 1964, as Ligas Camponcsas c outros movimcntos foram aniquilados.
AfiJrnuu;tw camponesa no plano das institui~·Oes
Em 1954, o PCB criou a Uniao dos Lavradores c Trabalhadorcs Agricolas (UL TAB), a fim de coordcnar as associa~Ocs camponesas. Com csta organiza~ao, o Partido Co-
4. Para cscrcvcr csta parte do capitulo, as rcfcrCncias tcOricas foram: Andrade, 1964; Azevedo. 1982: fiastos ! 9X4; Medeiros. 19S9; Morais, 19t}7.
33
munista pretendia criar as condiy6es nccessarias para fonnar uma alianya politica entre os opcnirios e os camponcses. Com raras exccc;oes, os lidcrcs da UL TAB cram camponcscs. Eram outros trabalhadores indieados ou impastos pelo Partido. Somcnte em Pen1ambuco, onde estavam organizadas as Ligas Camponesas, e no Rio Grande do Sui, onde existia o Movimento dos Agrieultores Sem Tcna (MASTER), e que a UL TAB nao se fixou.
0 MASTER surgiu no final da dccada de 50, na rcsistcneia de 300 familias de posseiros em Enemzilhada do Sui, e nos anos seguintes sc territorializou por todo o cstado. Em 1961, o cntao govcrnador do Rio Grande do Sui, Leoncl Brizola, passou a apoiar o tnovimento. Os agricultores scm-terra eram: o assalariado da granja, o parcciro, o pcao e tambcm os pcquenos proprietarios cos filhos destes. Em 1962, os scm-terra con1eyaram a organizayao de acampatncntos. Esta era uma singularidadc do MASTER, que, ao se aproximar das eercas do latifundio, tomava-sc uma ameaya concrcta. Estes trabalhadores nao cstavam rcsistindo para n3o sair da terra, como era o caso dosforeiros das Ligas Camponesas. Eles estavam pclcjando para entrar na terra. Foram v3.rios acatnpamentos. Um grande acampamento foi montado em Sarandi, em uma fazenda com o mesn1o nome do tnunicipio, na regiao Noroeste do estado. Como suportc do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), partido do govemador, o movimento crcsccu. Com a deJTota do PTB nas eleiyoes de 1962, o movimento sofrcu diversos ataqucs do governo estadual, de instituic;iies e cntidadcs, a!Cm de dcspcjos dos acampamentos. Essas ayOes enfraqucccram o MASTER que pcnnancccu no ccn3.rio da !uta pcla rcforma agraria ate 1964 (Eckert, 1984).
Em novembro de 1961, a UL TAB realizou, em Bela Horizonte, o I Congresso Nacional de Lavradores c Trabalhadorcs Agricolas. Neste cvento participaram 1.400 trabalhadores, sen do 215 dclcgados das Ligas Camponesas e 50 delegados do MASTER. A proposta das Ligas, de uma reforma agraria radical- na lei ou na marra -, ganhou cspayo politico, supcrando as propostas claboradas pelo PCB, que atcndiam aos assalariados rurais, para promover a sindicalizayao, lcgislayao trabalhista, campanha salarial, accsso a previdCncia etc. Estc congresso nacional camponCs foi um marco na hist6ria da formay3o ca1nponcsa no Brasil, dando utn grande impulso as Jutas no campo.
0 crescimento da !uta dos trabalhadores foi acompanhado pel as disputas da rcprcsentayao do movimento cam pones. A ULTAB era controlada pclo Partido Comunista. Outra organizayao se formara em 1960, por meio da ac;iio politica da lgreja Cat61ica. Esta cstava dividida em do is setores: o conservador eo progrcssista. 0 prime ira, eriado no Rio Grande do Norte, foi denominado Scrvil"' de Assistcncia Rural, fundou dezenas de sindicatos e reuniu mais 40 mil camponeses. Em Pernambuco foi criado o Serviyo de Orientayiio Rural e no Rio Grande do Sui a Frente Agn\ria Gaucha. De fato, estas entidadcs sc originaram para fazer frcntc ao proccsso de fom1ayao das organizay6es camponesas, tcntando cvitar a influencia das idCias socialistas c em defesa da reforma agraria. 0 segundo setor da ayao cat6lica era uma tcndencia progressista, liderada pela Confederaviio dos Bispos do Brasil (CNBB). Assim, foi for-
34
mado o Movimento de Educa<;ao de Base, com a participa<;ao do educador Paulo Freire, que trabalhava com a alfabctiza<;ao e com a fonna<;ao politica dos camponescs. Outra tcndencia foram as Ligas Camponesas, consideradas independcntes, que recebiam inllucncia tanto da lgrcja quanto de cx-militantes do PCB. No Rio Grande do Sul havia o MASTER, sob inllucncia do governador Leone! Brizola.
A cria~ao da Confedera~ao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG)
A cria<;ao de sindicatos era a forma de organizaqao defcndida pclas principais institui<;ocs de apoio a !uta, e pclo governo federal. Era uma posi<;ao politica frcnte ao crescimento das divcrsas organizay6es camponesas. Criavam-se as condiy6es para institucionalizar mais cssas organizay6cs, transformando-as cn1 sindicatos subordinados ao governo, cnfraqucccndo, assim, os tnovitncntos camponescs. Em 1962, com a regulamcnta<;ao da sindicaliza<;ao rural, come<;ou a anancada com a finalidade de transformar as organizayOes em sindicatos, para depois fonnar as fcderay6es e a confederayilo. Foram rcalizados v3.rios cncontros locais e estaduais, mas, de fato, a maioria dos trabalhadores cstava a margem dessc proccsso de disputa, que acontecia no ambito das cupulas das organiza<;oes.
0 Partido Comunista Brasileiro e a lgrcja Cat6lica disputavam esse espa<;o, com a perspectiva de tcrcm o controle politico da futura confedera<;iio. Emjulho de 1963, em Natal, foi realizada a primcira Conven<;iio Brasileira de Sindicatos Rurais. Nesse cvento, com a participa<;iio de sindicatos ligados a Igreja Cat6lica, scndo a grande maioria do Nordeste, foi proposto a fundaqao de uma confedera<;ao sindical. No final destc ano, as fcdera<;ocs cristiis do Rio Grande do Norte, Scrgipe e Pernambuco aprcsentaram ao Ministerio do Trabalho os documentos para a cria<;ao da confedera<;iio. Mas, como existiam outras 19 federayOes cspcrando a tramitayao de scus documentos junto aos 6rg1ios do governo, essa tentativa de fundar primeiro a confedera<;ao foi frustrada. A UL TAB rcunia a maior parte das federa<;ocs e denubou a pretensao eat6-lica. Em dczctnbro, num acordo entre cstas instituiy6es, fonnou-sc uma lista tmica, con1 eandidatos das duas tendcncias e foi criada a Confedera<;ao Nacional (CONTAG) (Martins, 1981; Medeiros, 1989).
Ncsse entretanto, as Ligas Camponesas viviam uma profunda crisc interna por causa das persegui<;oes e pris6es de seus lideres. Se, por urn !ado, nao tinham interesse em participar de sse processo de sindicaliza<;ao, por outro, fica ram a mar gem do debate a respcito da organiza<;ao dos trabalhadores rurais.
Lutas de resistencia pel a cnnquista da terra
No periodo comprcendido entre os anos de 1940 e 1964, esse tempo de realizaqao dos prin1eiros encontros c congressos catnponcscs foi igualmente abundantc cmlutas
35
de resistencia pela conquista da terra. Lutas em dcfesa da posse da terra, ocupa<;iies para conquistar a tctTa; ay6cs expropriat6rias, cxpulsOcs, assassinatos: difcrcntcs formas de violencia contra os trabalhadorcs; rcay5o e revolta, migray3o, grilagem praticada por fazendeiros e grandcs cmprcsas- muitas vezes com a complacCncia do Estadogreves, rcivindicac;Ocs, fundaylio de associay6es, de sindicatos, de fcderayOcs c da Confcdcrayao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, foram as principais caractcristicas da resistencia dos trabalhadores rurais. A const:lncia dcssas lutas em todo o tcnit6-rio nacional e um cxcmplo do avanyo da fonnayao camponcsa ncssa Cpoca. Estas foram as lutas na constJuy3.o das cxpcriCncias das Ligas Camponesas, do Movimento dos Agricultores Sen1-Tcna c da Uniao do Lavradores e trabalhadores Agricolas do Brasil. As lutas relatadas a seguir fazcm parte desse contexto e sao, apcnas, algumas das liyOcs dessa hist6ria. Portanto, relatamos de fonna bastantc rcsumida as lutas de alguns esta-
• dos. E importante dcstacar que as lutas acontcceram em todo o Brasil. As que relatamos aqui sao lutas mais conhecidas porquc foram as mais estudadas, todavia cxistiram muitas outras lutas que nao dcscrcvemos por falta de referCncias.
Minas Gerais
Em Minas Gerais, nos vales dos rios Mucuri c Docc, OS posseiros formaram varios movimentos camponeses e resistiram a cxpropriayao. Na regiao de Governador Valadares, em Minas Gerais, dcsde o inicio da d6cada de 40, os posseiros enfrentaram fazendeiros intercssados naquelas ten·as, par causa da constn.Iy3o da rodovia Rio-Bahia. Para formar fazendas, os fazcndciros impuscram aos possciros a condic;3.o de detTubar a mata para a forrna<;ao de pastas, e s6 poderiam plantar para a subsistcncia. Desse modo, com a formayao das fazcndas, os possciros foram scndo cxpulsos da terra e se organizaram, o que fez aumcntar a violCncia dos fazendciros contra eles. Durante a gestao do presidentc Joao Goulart, os possciros exigi ram que uma fazcnda experimental, de propriedade do governo federal, invadida pclos fazendciros, fosse dcsapropriada. A reayao dos fazendeiros foi imcdiata esc organizaram para impcdir a desapropria<;ao da fazenda5
, que estava marcada para o dia 30 de maryo de 1964. No dia seguintc, cmn o golpc militar, muitos trabalhadores foram presos e torturados, intenompendo, naquele momenta, a perspectiva de conquista daquelas tenas (Martins, 1981, p. 67; Pereira, 1990).
Espirito Santo
Nesse mesmo pcriodo, entre os vales dos rios Mucuri e Dace, agora no Espirito Santo, na pory5.o noroeste do estado, ocorreram v3rios conflitos, ondc muitos camponeses foram assassinados pel a Policia Militar e jagmwos. Nessa regiao est{!localiza-
5. 0 MST ocupou csta fazcnda em agosto de 1994. Vcr capitulo 4: Tcrritorializayi'io c institucionalizadas do MST.
36
do o municipio de Ecoporanga. No final da dccada de 40, a regiao era eontestada pelos Estados de Minas Gerais c do Espirito Santo. Essas terras cstavam ocupadas por posseiros e passaram a ser disputadas por fazcndciros-grilciros, que procuravam tirar vantagcm daqucla situay5o indcfinida. Os possciros se organizaram e procuram apoio de dcputados estaduais. Foi instaurada uma Comissao Parlamcntar de Inquerito que rcgistrou as atrocidades cometidas contra as familias que resistiam a cxpuls3o. A fontc da violCncia era a alianya entre o govcrno cstadual cos latifundiarios-grilciros, que promovcram uma intcnsa guerra contra os posseiros, com o objetivo de sc a propriarem das tcrras daquela rcgiao. Scmpre que foi prcciso, o govcrno cnviou tropas militarcs para cnfrcntar os camponcscs revoltosos. Os ataqucs da Policia Militar rcsultavam em qucima de royas, de casas e assassinatos. TambCm os grilciros colocavam seus jagunyos na tcntativa de canter a organizay3.o dos camponcscs. Os pistolciros circulavam pclas cidadcs e distritos ostcntando suas annas. Em mcados da decada de 50, o Partido Comunista Brasileiro enviou alguns militantcs para contribuir com a organiza<;ao dos posseiros. Essa luta rcsistiu ate o golpc de 1964, quando foi intcnsamentc reprimida e scus militantes foram dispersados ou presos (Dias, 1984 ).
Goi6s
Em Goi<is, no norte do estado, cmn a construy3.o da Transbrasiliana e por causa do projeto de coloniza<;ao promovido pclos govcrnos federal c cstadual, as terras da regiao foram valorizadas. As tcnas dcvolutas, ocupadas por possciros, passaram a scr griladas por fazcndeiros. 0 proccsso de legaliza<;ao tundiaria foi feito por meio de documentos falsos. Forjada a situayao, os grileiros passaran1 a intimidar os camponcscs, propondo-lhes o pagamento das benfcitorias para que saissem da terra. Os camponescs recusaram a proposta e foram ameayados pelos jagunyos dos grileiros. Com aresistencia dos camponeses, os grilciros fizeram outra proposta: cles iicariam nas tenas desde que formassem pastas para os fazendciros. Diante de nova rccllsa, os camponescs foram atacados c tiveram suas casas e royas qucimadas. Um dos camponescs atacados, JosC Porfirio, viria a se tornar uma importante lidcranya do movimcnto de rcsistCncia camponcsa de Trombas c Formoso.
Trombas c Formoso cratn do is povoados localizados no tnunicipio de Uruayu. Esses povoados foram atacados por jagun<;os e pcla Policia Militar. Com a intensificay3.o dos contlitos na rcgiao, o Partido Comunista Brasilciro enviou militantcs para acompanhar a rcsistcneia e colaborar com a organiza<;ao dos trabalhadorcs. Formaram os Conselhos de C6rregos que sustcntavam a resistCncia armada pela defesa contra os ataques dos jagun<;os e da policia. No final da dccada de 50. toda a regiao cstava organizada c dominada pelos possciros. Fundaram a Associa<;ao dos Lavradorcs de Formoso c Trombas, elcgeram Jose Porfirio a deputado estadual, em 1962, fortaleccndo o movimento c conquistando cspa<;o politico para negociar como govemo a manuteny3.o da posse da terra. Criaran1 o municipio de For-
37
------------------------------------------ -- -
moso c a rcgi8.o da rcsistCncia ton1ou-se territ6rio dos camponcscs. Fundaram v<irios sindicatos, rcalizaram cncontros e congresses, participaram dos eventos nacionais e tomaram-sc uma importantc rcfcrCncia no processo de formayiio camponesa na luta pela terra. Como golpe de 1964, muitos lideres foram prcsos c torturados. Jose Pornrio refugia-sc em Balsas, no Maranhao. Descoberto pcla Policia Federal, retorna para a regiao de Trombas c Formoso c vive na clandestinidade. Foi prcso em 1972 e sol to em 7 de junho de 1973. Dais dias dcpois desapareceu. Suspeita-sc de scqiiestro cassassinato (Barbosa, 1988; Medeiros, 1984).
Parwul
No Parana, no norte c no sudoeste do estado, ocorreram divcrsos conflitos por terra. Na regi3.o de Porecatu acontcceu urn enfrcntamcnto armada entre possciros c a policia. Dcsde mcados da decada de 40, os possciros estavam em !uta com um grande latifundiario, que recebia prote9ao do govcrnador do Estado, cnvolvido em neg6cios irrcgularcs com a compra c vcnda de terras. A policia rcalizava violentos dcspcjos c os possciros sc armaram para rcsistir. Em 1950, o Partido Comunista Brasilciro cnviou alguns militantes para tamar parte da !uta armada. Como aumento dos conflitos e com a mudan9a de govcmo, as terras em qucstao foram dcclaradas publicas e destinadas a desapropriayaO. Os ultimos resistentes toram desarmados e presos pcla policia.
No sudocstc do estado, tamb6m aconteceram manobras ardilosas com as ten·as devolutas, entre o govemo e latifundiarios, gerando conflitos com os trabalhadores que Ia viviam. Eram camponcses que migraram do Rio Grande do Sui em busca de novas terras, dcsbravaram e tomaram posse, organizando a ocupayao da rcgiao. Tamhem vicram para o sudoeste camponeses da regiao do Contestado, trazidos pelo governa para instala9ao de uma col6nia, denominada Bom Retiro, que dcu origem ao municipio de Pato Branco. Nos primeiros anos da decada de 50 toi criada a Colonia Agricola Nacional General Osorio, para o povoamento da faixa de frontcira.
Ncsse tempo, entrou em cena a empresa Cleveliindia, Industrial e Tenitorial Limitada, que em uma ncgociata passou a tcr o controle das tcrras. Os colonos pioneiros que ocuparam c compraram tcrras foram declarados posseiros pela ctnpresa, que os amea9ava com despejos. A emprcsa amea9ava os trabalhadores com a expulsao, a niio scr que comprassem as tcrras em que viviam c trabalhavan1. A situayiio levou os camponeses a revoha. 0 governador Moises Lupion, famoso grileiro do estado, dcu to do apoio a Clevcliindia, que obrigava os colonos a assinar contratos de arrendamcnto. Os que sc recusavam cram violcntamente arrancados de suas terras. As terras tomadas cram repassadas para amigos e parentes do govcrnador, que as utilizavam para tamar dinhciro emprestado como Banco do Estado. No primeiro semestre de 1957, os camponeses revoltosos armaram-se e enfrcntaram os grileiros. Organizaram-se em Pato Branco, Capanema e Francisco Bcltrao, onde tomaram a cidade. 0 govcrno mandou tropas militares para negociar com os colonos mna soluyao para o conflito.
38
Contudo, a questao s6 foi amenizada em I 962, quando o govemo Goulart criou o Grupo Executivo de Tcrras do Sudoeste do Parana, que inieiou a entrega de titulos definitivos aos eolonos (Gomes, 1986).
Maranhao
Em meados da deeada de 50, na regiao do Pindarc, ehegaram familias expulsas do vale do Mcarim, que ioram expulsas do Piaui e que ja vinham expulsas do sertiio do Cean:l. Nessa mcsma epoca, iniciou o proccsso de grilagem da rcgi3.o, expulsando novamente muitas familias, que partiram para o oeste c sudoestc do Maranhao, scmpre em busca da terra liberta c da conquista da liberdade. Assim, eamponeses migrantcs e expulses chcgaram na rcgi8.o que dcpois se tomaria conhecida como Bico do Papagaio.
De 1950 a 1960, muitas familias scm-terra migraram para a regiiio, que sc transfonnou em grande produtora de arroz. Chegaram os grilciros, constituiram a elite local e logo tornaram-se o poder politico da regiao. Alian,as politicas, entre prefcitos, govcrnadores c grileiros, formaram o pacto da grilagem das terras do oeste maranhcnsc. 0 interesse dos grilciros por essas terras tinha como prcssuposto o trabalho dos camponeses, que haviam ocupado as tcrras e fonnado ro10as. Dcsde cssa cpoca iniciaram os conflitos entre grilciros e possciros que transformaria a regi3.o em uma das mais violentas do Brasil, com intensos conflitos por terrae de continua resistCncia dos camponeses (Sader, 1986; Asselin, 1982).
Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, a grilagem de terras tambcm foi uma forte marca dos conflitos entre posseiros c grileiros. Por causa do desrespcito a posse das terras, OS posseiros lutaram contra os jagun10os e policiais, que rccebiam apoio de dcputados e juizcs. Para protestar contra os dcspejos, os trabalhadores realizaram marchas ate a Asscmbleia Lcgislativa, ao Palacio do Govemo c ao Palacio da Justiya, para dcnunciar as injustiyas praticadas contra as familias camponesas. Com a ocorrencia de v<irios protcstos, as a106es de despejos diminuiram, mas em pouco tempo a pcrsistencia dos grileiros provocava novos conflitos. Os trabalhadorcs comeyaram a construir sua fonna de organizayao: primeiro criaram comiss5es e dcpois fundaram a Associa9ao dos Lavradores Flumincnses, como apoio do Partido Comunista Brasileiro.
0 aumento dos despcjos cada vcz mais violcntos, com queimas de casas c das lavouras, fez os camponcscs se annarcm e desafiarem as pretens6es dos grileiros. Com o avan10o da !uta, os lavradores fluminenses passaram a intcnsificar as ocupa<;6es de terra. Os enfrentamentos ocorreram etn quase todo o estado, principalmcnte nos municipios de Nova Igua,u c Cachoeiras de Macacu e Duque de Caxias. Neste municipio, no inicio da dccada de 50, num conflito fundiario em tcrras griladas, o juiz dcterminou o dcspejo dos posseiros, que acamparam em frente ao Palacio do Govemo. De-
39
pois de urn acordo como Governo do Estado, foram transfcridos para o municipio de Casimiro de Abreu.
Em 1963, Jose Pureza, uma lideranva hist6riea do movimento campones fluminense, eoordenou uma oeupayao no municipio de Campos. Desde 1959, havia um documcnto na AsscmblCia Lcgislativa que previa a rcgularizayao fundi3.ria daquela regiao. Os usinciros controlavam as tcrras e agirarn rapidamcnte numa rcayfro em cadcia, quando utilizaram seus jagunyos e a policia para impcdir o avanyo dos camponeses. Com a intcnsificayao do conf1ito, o govc1no dccrctou a area de interesse social para fins de desapropriayao. Todavia, OS conf1itos nao pararam, urn posseiro foi assassinado cos t6cnicos do govcrno foram impedidos, pelos jagunyos dos usinciros, de fazcr a demarcayao das tcrras. Anos dcpois o govcrno militar rcvogou o decreta c as t3.milias ocupantcs foram transfcridas para outra rcgi3o. As lutas crcsccram em to do o cstado at6 1964, quando o movimcnto camponCs fluminense tambem foi extinto pclo golpe militar de 1964 (Pureza, 1982; Medeiros, 1989).
S,io Paulo
Durante as dccadas de 50 e 60, os conflitos por terrae as grcves foram eonstantes em todo o Estado de Sao Paulo. A !uta para rcsistir na terra, a !uta para conquistar a terra e a !uta dos trabalhadores assalariados marcaram esse periodo, em que o secular proecsso de grilagem prosseguia, devorando a terrae o trabalho dos posseiros, bem como aumcntava a cxplorayao dos trabalhadores arrendat<irios c assalariados. Nas regiOes de Ribcir3o Prcto c Araraquara aconteceram viirias grevcs por mclhorcs sahirios c, tmnbcm, para poder reeeber OS saJarios. No Pontal do Paranapanema, desde 0 final do sceulo XIX, os grileiros continuavam com a derrubada da f1oresta tropical, transfmmando-a em pastas, apropriando-se das rcscrvas florcstais do Estado. Para dcsmatar a rcgiiio, cxploravam o trabalho das familias scm-terra, conscntindo que plantasscm para a subsistCncia, cnquanto derntbavam a tnata. Forn1ados os pastos, as fmnilias cram cxpulsas c as que resistiam cram atacadas por jagunyos, que qucimavam a morada e a roya. Assim, lonna va-se um dos maiorcs grilos de terra do Estado de Sao Paulo.
Em Santa F c do Sui, este mesmo processo de dcrrubada de mala e formac;ao de pastas pclos camponeses gerou viirios conflitos entre fazendciros c arrendat3rios. Estes, aJCm de pagarcm a renda da terra, no fim do aJTendamento tinham que entregar a area com capim plantado. Quando o trabalho dos catnponescs n:lo intcrcssou mais ao fazendeiro, porque o pasta cstava fon11ado, os contratos de ancndamento nao foram rcnovados. Os camponescs arrcndat<irios cram migrantcs, que jii haviam sido expulsos da terra em suas reg16es de origem. Agora, novamente, estavam sctn terra e sem trabalho. Assim comcyou a ]uta pcla exigCneia da pronogayffo dos contratos. No municipio vi via uma lideram;a do Partido Comunista Brasileiro, que iniciara a organizayiio dos trabalhadorcs com a criayao da Associavao de Lavradores de Santa Fe. Todavia, os arrendamcntos nao foratn prorrogados e os fazcndciros plantaram capim no meio das royas. Os lavradores arranearam o capim e recorreram a justiya, enquanto os i3.zcndciros
40
soltaram 0 gada nas areas de lavoura. Den·otados, lideranyas foram prcsas e OS trabalhadores foram despejados. Pcrsistiram, e depois de quase uma dccada os trabalhadores conquistaram a terrae foram assentados (Mar1ins, 1981; Welch c Gcraldo, 1992).
0 Golpe militar de 1964: o retrncesso
Os militarcs sempre cstiveram presentes em difcrcntes mmncntos da vida politica brasilcira, desde a proclamavao da Republica. Na dccada de 30, colocaram Vargas no poder, que tentou control3-los, mas foi dcnubado por seu ministro, o marechal Eurico Gaspar Dutra, em 1945.
Em 1964, os militarcs tomaram o podcr, dcstituindo o prcsidcnte clcito Joiio Goulati, numa alianya politica em que participaram diferentes setorcs da burguesia: latifundi3rios, cmprcs3rios, banquciros etc. 0 golpc aeabou com a democracia e por conscguinte reprimiu violentamentc a luta dos trabalhadores. Os movimentos camponcses foram aniquilados, os trabalhadores foram pcrscguidos, humilhados, assassinados, cxilados. Todo o proccsso de fonnaviio das organizavocs dos trabalhadorcs foi dcstruido. lgualmente significou a impossibilidade dos camponeses ocuparcm scu cspayo politico, para promovercm por seus direitos, participando das transfom1ay6es fundamentais da organizayao do Estado brasileiro. 0 golpc significou um retraces so para o Pais. Os projctos de dcsenvolvimento implantados pelos governos militares levaram ao aumcnto da desigualdade social. Suas politicas aumentaram a concentrayao de rcnda, conduzindo a imensa maioria da populayao a misCria, intensificando a conccntra<;ao fundi aria e promovendo o maior exodo rural da hist6ria do Brasil. Sob aret6rica da modcn1izayiio, os militarcs aumentaram os problemas politicos e econ6micos, e quando dcixaram o poder, em 1985, a situayao do Pais cstava extremamentc agravada pclo que fora chamado de "milagrc brasileiro".
No campo, o avanyo do capitalismo fez aumcntar a tnis6ria, a acumulayao e a conccntrayao da tiqueza. Esse processo transfonnou o meio rural com a mecanizayao e a industrializavao, simultaneamentc a modcmiza<;ao tecnol6gica de alguns sctores da agricultura. Tamb6m expropriou e expulsou da tcn·a os trabalhadores rurais, causando o crescimento do trabalho assalariado e produzindo um novo persona gem da luta pcla tetra c na !uta pela refom1a agniria: o b6ia-fria (Fernandes, 1996b; D'Incao c Mello, 1975).
A intensifica~iio da questiio agraria
Em seu pacta tacito, os militares e a burgucsia pretendiam controlar a qucstao agraria, por meio da violencia e com a implanta<;iio de scu modelo de desenvolvimento econ6mico para o campo, que priorizou a agricultura capitalista em detrimento da agricultura camponesa. Ainda, o governo da ditadura ofereceu aos cmprcsarios subsidios, incentivos e iseny6cs fiscais, impulsionando o crcscimento econ6mico da agricultura e da indUstria, cnquanto arrochava os sal<lrios, estimulava a expropriayao c a cxpulsao, multiplicando os despcjos das familias camponesas. Essas ac;iics politicas
41
tivcram cfcitos na questao agniria, modificando completamente a cstrutura fuodiaria. como pode ser observado nos gra ficos 1.1 e 1.2. Observe-se que a tendcncia do aumenlo do numero de estabelecimentos e da area destes se invcrteu, ao comparann os 0
pcriodo compreeodido entre a dccada de 40 e 70 com o periodo de 1970-1 985, quando os militares estavam no poder.
200
-;; :: ISO " ~ ... c. I 00 g :; E " so <(
0
.
• _!
Gr:ilico 1.1
Aumcnto pcrccntual do numero de csta beleccimentos c da a rea ocupada - Brasil - 1940170
I I I
1•--->: I ' 1.• I' -~
Meno• de 100
Classes de area (hn)
100 · -1 1.000 1.000 - I I 0.000 I 0 .000 e mui< Total
42
Fonte: IBGE
Gralico 1.2
0 Nirnero de "stnbdecimentos
0 Area Ot'4'0dJ
Aumento pcrcentual do numero de cstabclcccimentos e da area ocupada - Brasil - 1970/85
" 60 ~------------------------~~---------
= 50 +-------------------,~~ c ~ 40 +-------------------1 ... c. 30 +-------------1 0 -~ 20
§ 10 +--1 <(
0 +-~~--~~-L--~~~~~~--~+-~~--~-r~--~~~
Mcnos de I 00 I 00 --11.000 1.000 --I I 0.000 10.000 c mais Total
Classes de area (ha)
Fonte: IBGE
D Nilmcro de csl3belecimentos
D Area ocupnda
0 Brasil se transformara no paraiso dos latifundiarios e os camponeses foram foryados a migrayiio pelo territ6rio brasileiro e para o Paraguai. 0 ataque contra os trabalhadores, e especificamente contra os camponeses, agregou novas elementos a qucstilo agr:iria, aumentando e expandindo os conflitos, fazendo eclodir as lutas no campo.
Evidcnte que esse modele concentracionista dimensionava a questao agr3ria. No cntanto, o que os militares pretendian1, era refre3.-la. 0 sentido desta contradiyao estava na politica ccon6mica e, principalmente, na tcntativa de impedir que os camponeses participassem do processo politico. A alian<;a militares-burguesia tratava o problema da terra cas lutas camponcsas n3o cmno mna qucsHio politica, inerente ao sistema capitalista, mas sim como urn clemente sccund3rio da cconmnia do Pais. Dcssa forma, a insustentabilidade do modelo concentrador e a misCria em que foram colocadas as familias camponesas produziram novas e intensos conflitos. Em meados da dCcada de sctcnta, a questao agnlria comeyava a se tornar um dos principais problemas do governo autorit<irio.
No inicio da ditadura, os militares haviam criado o Estatuto da Terra, como intuito de resolver isoladamente os conflitos fundi<irios para desmobilizar os camponeses. 0 objetivo era evitar que a quest3.o agr<iria se transformasse num problema nacional. Na prctcnsiio deter o controle sabre a questiio agraria, o govemo planejava usar o Estatuto da Terra, conforme a sua concepy3.o de rcforrna agr<iria, em que constavam a utiliza.;ao da tributa<;ao e os projctos de coloniza.;iio, de modo que a desapropriaviio era uma exceviio. No entanto, no final da decada de 70, o aumento do numero de conflitos fundiarios obrigou o presidente da Republica a utilizar, intensamente, o recurso da desapropriaviio.
A eclosiio da !uta camponesa
Niio h:i rcpressiio que consiga controlar todo o tempo e todo o espayo. Sao diversos os carninhos possivcis de serem criados nas formas de resistCncia, no desenvolvimento da luta de classes. Assirn, os catnponcses comcyaram a romper as ccrcas darepressao da ditadura militar. Sofrendo a violencia dos latifundiarios, que aproveitavam a con juntura politica para expulsar os trabalhadores de suas terras, os camponeses organizaram seus espa9os de socializaviio politica, de constru<;iio do conhecimento, para transformaviio da realidade. E nesse andar matreiro, proprio de quem sabe como lutar, construiram novas caminhos de rcsistCncia camponesa.
De meados da ctecada de 60 ate o final da decada de 70, as lutas camponesas eclodiam por todo o territ6rio nacional. Os conflitos fundiarios triplicaram e o govemo, ainda na perspectiva de controlar a questiio agraria, determinou a militarizaviio do problema da terra. Nessa epoea, eriou o Grupo Exeeutivo das Terras do Araguaia-Tocantins (GETA T) e o Grupo Executivo do Baixo Amazonas (GEBAM). As sedes destes organismos govemamentais eram utilizadas tanto como escrit6rios para administra.;iio dos conflitos, como para a prisiio dos camponeses revoltosos.
43
A militarizayao proporcionou diferentes e combinadas fom1as de violCncia contra OS trabalhadorcs. A violencia do peao, que e 0 jagun<;o da for<;a privada, muitas vezes como amparo da for<;a publica. A violencia da policia, escorada najusti<;a dcsmoralizada, que decretou ayOes contra os trabalhadores, utihzando rccursos dos grileiros e grandes empres<irios, defendendo claramente c t3.o-somcnte os intcresscs dos latifundi8.rios. Aumcntaram os nl11neros da vio!Cncia e colidiram com a relut3ncia camponcsa. que n:J.o se entregou c a cada dia rcalizava novas lutas. No ano dcrradciro do govcrno militar, 19R5, osjagun<;os dos latifundi8.rios c a policia assassinavam um trabalhador rural a cad a dais dias.
Essa fotnla de tenor contra os trabalhadores significou o limite da rcpressao, na tentativa de manipular a cnorme crisc que os militares cos capitalistas haviam produzido. Sc num primciro momenta, dcssc periodo totalit<irio, prctenderam controlar a qucstao agr{tria, nessc Ultimo mom en to foram engolidos pclo imenso problema politico que cles mcsmos criaram (Martins, 1984).
A Comissao Pastoral da Terra
No comeyo dos a nos 60, nasceram as primeiras Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Em meados dos anos 70, clas existiam em todo o Pais. No campo c na cidadc, foram importantes lugares sociais, onde os trabalhadores encontraram condiyOes para sc organizar e lutar contra as injustiyas e por scus direitos. A luz dos ensinamentos da Tcologia da Libcrta<;ao. as comunidades tornaram-se espa.;os de socializa<;ao politica, de libcrta<;ao c organiza<;iio popular. Em 1975, a Igrcja Cat61ica criou a Comissao Pastoral da Tcn·a (CPT). Trabalhando juntamcnte com as par6quias nas pcriferias das cidades e nas comunidades rurais, a CPT foi a articuladora dos novas movimcntos camponeses que insurgiram durante o regime militar.
Divcrsos rcligiosos assumiran1 as lutas camponcsas, como foram os exemplos de Dom Pedro Casald8.liga, no Mato Grosso; Dom JosC Gomes, em Santa Catarina; Dom Tomas Balduino, em Goias. Na !uta pcla tena, o livro do Exodo era uma das refcrCncias dos estudos e reflexOes a respcito do estado de violCncia em que viviam os trabalhadorcs. Rompcndo as cercas do latifUndio, da militarizayao, das injustiyas, rciniciavam um novo pcriodo da hist6ria da fonna<;iio camponesa. Nas lutas pcla tcna c pcla rcfonna agr3ria, dcsmascararam as politicas c os projetos dos tnilitarcs. Evidenciaram as artimanhas encobertas pclo discurso oficial e partiram para a conquista da terra.
As tri!sfiTnlcs de /uta no campo
0 rccmdescimento da qucstiio agniria promovido pela expansiio do capitalismo no campo e pcla nao realizac;5o da reforma agnlria gerou igualmcnte a expansao dos con flitos c das lutas. A luta dos assalariados par mclhorcs condi<;iies de trabalho c reivindicac;Ocs salariais. As lutas de resistCncia dos posseiros contra a grilagem e rap ina-
44
gem dos latifundiarios c das grandes emprcsas capitalistas, e as lutas ercseentcs dos sem-tcrra, no final da dccada de 70, na rcaliza.;ao das ocupa<;oes, acampamentos, caminhadas e conquista da terra.
Os assalariados, os b6ias-frias, lutaram dcntro dos paramctros impastos pcla ordem burgucsa. Nfio lutaran1 para transformar o legal em jus to, mas tivcram scus dirci tos detcnninados pcla lcgalidadc imposta. Lcgalidadc prcscnte na Lei, mas semmatcrializac;ao na rcalidadc. Na rcalizay:J.o das grcvcs, os trabalhadores foram pcrscguidos, prcsos, anancados de dcntro de suas casas, assassinados em nome da ordcm. Desdc o Nordeste ao Sudcstc c ao Sui do Pais, os assalariados cnfrcntaram a policia na rcivindicac;ao das condic;Ocs de cxistCncia. Organizaram-sc em sindicatos c, por mcio das grcvcs, ncgociam com os capitalistas o padrao das condic;Ocs b3sicas de vida.
Os possciros lutam para garantir a terra como condiy3o de sua cxistCncia. E a luta contra a cxpropriayio. E a ]uta contra o grilciro que usurpa a Lei c por csta C protegido. A scu 1:1vor, o possciro tcm a resistCncla e a persist6ncia, dctcn11inadas pela 16gica da sobrcvivCncia. 0 posseiro nao csta dentro do conflito. Eo conflito que o envolve, que o cerca por mais que clc migrc em busca da terra libcrta. Ao contnirio dos assalariados e dos sem-tcna, os possciros sao segrcgados no espayo e suas fonnas de organizayao sao localizadas, nao sao institucionalizadas ncm sao massivas.
Os scm-terra sao camponescs expropriados da terra, ou com pouca terra, os assalariados e os dcscmprcgados. Sao trabalhadorcs na !uta pcla rcinsen;ao nas condi<;6cs de trabalho c de rcprodu<;ao social. das quais foram excluidos, no proccsso desigual de descnvolvimento do capitalismo. Suas lutas sao pcla conquista da terra, pela reforma agr<lria e pcla transformayao da sociedade. Qucstionam o modclo de descnvolvimcnto co sistema de propricdade, lutam contra o modo de produ<;ao capitalista cdcsafiam a lcgalidade burguesa, em nome da justi<;a (Martins, 1984, p. 88s).
A coloniza('iio contra a re.fhrma agrciria
Colonizar para nao rcformar era, tambCm, o objetivo dos militarcs para manter o dominio sobre a qucstilo agnlria. Nos anos setenta, o govcrno federal iniciou vilrios projetos de colonizay:1o, principalmentc. na AmazOnia e no Centro-Oeste, em conjunto com cmpresas privadas e 6rg3.os pU.blicos. A colonizayao foi imposta como forma de controlar a qucstao agniria scm fazer a rcfonna agr<iria.
Camponescs de divcrsos cstados do Brasil, cspccialmentc os do Rio Grande do Sui, Santa Catarina e Parana, migraram para as rcgiOcs de colonizayao. A maior parte desscs projctos transformou-se em csc3ndalos nacionais, por causa do tamanho da corrup<;ao c da fom1a como foram gcridos. Foram mais de 50 projctos particulares de colonizayao, em que as cmprcsas sc apropriaram das tcJTas, fundaram cidadcs, criaramlatifimdios, formando milhares de familias scm-terra. Tambcm parte dos pnlJCtos de colonizayao oficial fracassou. As raz6es dos fracassos sao: falta de assistCncia
45
tecnica, falta de alimentos, falta de financiamentos, fa ita de assistcncia medica etc. Tudo is so mostrou a inefic3.cia das cmpresas de colonizayao e do Instituto Nacional de Colonizayiio c Refonna Agn!ria (Incra). Scm condi<;6es de sobreviver muitos voltaram para o Sui ou migraram para outras rcgi6es. Muitas famflias tivermn que venJer as tcnas pclo pre~o das passagcns de Onibus para retomarem aos seus cstados. Essa situac;3o contribuiu para que muitos latifundi3.rios '"comprasscm" as tcrras, aumcntando a concentra<;ao fundiaria (Tavares dos Santos, 1993, p. 169s).
Mudam-sr: os names, mas niio se muda a politica
A hist6ria da refonna agniria no Brasil cst3. marcada pclos v8.rios organismos criados pelo govemo federal como objctivo de manter o controle sobre as lutas camponesas. Tambcm foram decretadas e promulgadas diversas leis que niio foram implcmcntadas, mcsmo com todas as lutas dos trabalhadorcs.
Primciro foi a Superintendencia da Politica Agraria (SUPRA), criada pclo governo Goulart. 0 govemo militar acabou com a SUPRA c criou o JBRA (Jnstituto BrasiIeiro de Refonna Agraria) eo INDA (Instituto Nacional de Dcscnvolvimcnto Agrario ). TambCm promoveu o Estatuto da Terra para fazer a rcforma agniria, que nao saiu do discurso, a nao scr quando os trabalhadorcs se organizaratn c dcsafiaram a reprcssiio. Eml969, o governo criou o GERA (Grupo Interministerial de Trabalho sobrc a Refonna Agraria). Em 1970, os militarcs acabaram como !BRAe como INDA e criaram o Instituto Nacional de Colonizayiio e Refonna Agn\ria (Incra). Desenvolveu projctos como o PIN (Plano Nacional de lntcgmyao ). Depois o Programa de Rcdistribuiyiio de Terras do Norte e Nordeste (PROTERRA).
Esses 6rgiios, programas e projctos, mais do que rcgularizar a qucstao fundi3ria, promoveram a conccntrayao da terrae a violencia contra os trabalhadores. Como faram os casas do GETA T c do GEBAM. Em 1982, para militarizar a questiio agraria, o govemo criou o MEAF (Ministerio Extraordinario para Assuntos Fundiarios). Em I 985, no inicio da Nova Republica, o governo transfonnou o MEAF em MJRAD (Ministcrio da Reforma e do Desenvolvimento Agrario). Depois, nessa confusao, o govemo extinguiu o INCRA e criou o esquisito INTER (Jnstituto Juridico de TciTas Rurais). Depois desse atropclo, o govemo voltou atras, fechou o INTER e ressuscitou o JNCRA (Fernandes, 1996a).
Nesse cntretanto, os trabalhadores ocuparmn a terra, construindo a fonna mais importantc de conquistar a terra.
A gestar;iio do Movimenlo dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
Ao reprimir a !uta pela terrae nao realizar a rcforma agniria, os governos militares tcntaram restringir o avan<;o do movimento campones. Com a implanta<;iio do
46
atualmodclo de descnvolvimento eeonomico da agropccuaria, apostou-se no fim do campcsinato. No en tanto, por causa da repressiio politica e da expropria<;ao rcsultantes do modelo cconOmico, nasccu urn novo movimcnto camponCs na hist6ria da forma<;ao camponesa do Brasil. Aos que acrcditaram no t!m do campones, nao atentaram para o fato que o capital nao cmnporta somcntc uma forma de rc1a~ao social, ou seja: o assalariamento. Ainda, a prop6sito, o proprio capital, em seu desenvolvimento
' desigual e contradit6rio, cria, dcstroi e recria o campesinato. E par essa logica que po-demos compreender a genese do Movimento dos Trabalhadores Rurais Scm Terra.
A !uta pela sobrcvivcncia foi a marca historica da resistencia camponesa. Foi assim que em 1979, no dia 7 de setembro, II 0 familias ocuparam a gleba Macali, no municipio de Ronda Alta, no Rio Grande do Sui. Essa ocupa.;ao inaugurou o processo de forrna<;ao do MST. As terras da Macali cram remancsccntcs das lutas pel a terra da decada de 60, quando o MASTER organizara os acampamentos na regiao. Portanto, a !uta pcla conquista dcstas terras estava registrada na memoria dos camponescs, que agora participavam de uma !uta maior: a !uta pela constru<;ao da dcmocracia.
No inicio da dccada de 80, as expcriencias com ocupa<;oes de terra nos estados do Sui c em Sao Paulo e Mato Grosso do Sui reuniram os trabalhadores que iniciaram o proccsso de fonna<;ao do Movimento dos Trabalhadores Rurais Scm Terra. A construyao do Movimento se constituiu na intcrac;ao com outras instituic;Ocs, especialmente a lgreja Catolica, par meio da Comissao Pastoral da Terra (CPT). Aprendendo com historia da fonna<;ao camponesa, na sua caminhada o MST constmiu o seu espayo politico, garantindo a sua autonomia, uma das difcrenyas cmn os outros movimentos camponeses que o precederam.
0 MST lcvara na memoria a historia camponesa que esta constmindo. Esse conhecimento cxp!ica que e politico 0 fato de OS camponescs nao tcrem entrada na terra6
' ate os dias de hoje. E a forma estrategica de como o capital se apropriou e se apropria do territ6rio. Portanto, as lutas pela terra c pcla rcfonna agnlria sao, antes de mais nada, a !uta contra o capital. E cssa !uta que o MST vem construindo ncsses 20 anos de sua hist6ria, cmno analisaremos nos capitulos que sc scgucm.
6. Fayo essa afinnayiio no contexto hi::.tl'lrico. confonne JosC de Souza Martins, do campesinato brasilciro: "£> um campesinatu que quer entrar na terra, que. ao ser expulso, comfreqiiCncia tl terra r£'/onw, mesnw que seja teJUI distallfc daquela 01ulc suiu (Mattins, 1981, p. 16). 0 MST, em scu processo de fonnayiio c tcrritoriali;...ayil.o, rctomou a !uta camponcsa Os scm·tcm1 dcscnvo\wm lut;_L~ c rcsistCncia<> em v<lrias rcgi6cs do paise, principalmcnte, nos cstados em que vivcm_
47
' CAPITULO 2 -
GESTACAO E NASCIMENTO DO MST: 1979-1985
A natureza e a forma~lio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
0 MST e fmto do processo hist6rico de rcsistencia do campesinato brasilciro. E, portanto, parte e continuayao da hist6ria da luta pela terra que dcscrcvctnos no capitulo anterior. Ncssc proccsso, OS fatorcs econ6micos c politicos sao fundamentais para a comprcensao da natureza do MST. Na dccada de 1970, os govemos militares implantaram um modclo ccon6tnico de dcscnvolvimcnto agropccu<irio que visava acclcrar a modcmizayao da agricultura com base na grande propricdadc, principalmcntc pcla criayao de um sistema de crCditos c subsidies. Esse sistema financiou a modernizayao tccnol6gica para alguns sctorcs da agricultura, de fom1a que esta passou a dcpender menos dos recursos naturais c cada vcz mais da indUstria produtora de insumos. Esse modelo causou profundas transfom1ay6es no campo. De um lado, aumcntou as areas de cultivo da monocultura da soja, da cana-de-ayUcar, da laranja entre outras; lntensificou a mecanizaya:o da agricultura c aumcntou o nUmero de trabalhadores assalariados. De outro lado, agravou ainda mais a situay3o de toda a agricultura familiar: pequenos proprict3rios, n1eeiros, rendciros, parceiros etc., que continuaram excluidos da politica agricola. Essa politica que ficou conhccida como modern;za~·clo conservadora promoveu o crescimcnto econ6mico da agricultura, ao mesmo tempo que conccntrou ainda mais a propricdadc da tena, cxpropriando c cxpulsando mais de 30 milhiics de pcssoas que migraram para as cidadcs c para outras rcgiOcs brasileiras 1•
Mcsmo com a rcprcssao as formas de organizayao camponesas pclo regime militar, a I uta pela terra continuou em todo o tenit6rio nacional. Um fa tor esscncial que contribuiu para o descnvolvimcnto c crescimento da !uta foi a participayiio da lgrcja Catolica, por mcio da Comissao Pastoral da Terra. A CPT foi a aiticuladora das difcrcntes experiCncias que construiram uma nova rcalidade no campo. Durante o regime
1. Confonnc Martine, George. l~xodo mral, eonccntrayao urbana c fronteira agricola. In Martine. George c Garcia. Ronal do Coutinho (org.). Os impact us sociais da modemi:::a(·iio agricola. Siio Paulo: Editora CactCs, \987, p. 59-79.
49
militar, as Comunidades Eclesiais de Base foram os espa<;os de socializayao politica que pcnnitiram a rccria.;ao da organiza<;ao camponcsa. A Igrcja Cat6lica vinha passando por profundas mudanyas e era cada vez maior o envolvimento de religiosos com a realidade dos trabalhadores. Essa postura era resultado de dccisiics tomadas na Igreja ap6s o Concilio Vaticano II ( 1965), c postcrimmcntc na II Confcrencia Gcral do Episcopado Latino-Americano em Medellin, Colombia ( 1968), c na III Confercncia em Pucbla, Mexico ( 1979). Por mcio dcsse movimento de renova.;ao da lgreja pcla Teologia da Libcrta<;ao, as Comunidades Eclesiais de Base tomaram-se espa.;os de reflcxao e aprendizado de como transfonnar a realidade, por intennedio da !uta pela terra, recusando a condiyfio in1posta pela politica da modernizac;iio conservadora.
A genese do MST aeonteceu no interior dessas lutas de rcsistencia dos trabalhadores contra a expropriayao, a expulsao eo trabalho assalariado. 0 Movimcnto comeyou a ser fonnado no Centro-Sui, desdc 7 de setembro de 1979, quando aconteceu a ocupa.;ao da gleba Macali, em Ronda Alta no Rio Grande do Sul. Essa foi uma das a.;iics que resultaram na gesta.;ao do MST. Muitas outras a<;oes dos trabalhadores scm-terra, que aconteceram nos Estados de Santa Catarina, Parana, Sao Paulo e Mato Grosso do Sui, fazem parte da genese c contribuiram para a fonna.;ao do Movimento. Assim, a sua genese nao pode ser cmnpreendida por um momenta ou por uma ayao, mas porum con junto de momentos e um eon junto de a.;iics que duraram um periodo de pelo menos quatro anos.
De 1979 a 1984 aconteceu o processo de gesta<;ao do MST. Chamamos de gesta<;iio o movimento iniciado desde a genese, que reuniu e atticulou as primeiras experiCncias de ocupay5es de terra, bern como as rcuni5cs c os cncontros que proporcionaram, em 1984, o nascimento do MST ao ser fundado oficialmente pelos trabalhadores em seu Primeiro Encontro Nacional, realizado nos dias 21 a 24 de janeiro, em Cascavel, no Estado do Parana. Em 1985, de 29 a 31 de janeiro, os sem-tena realizaram o Primciro Congresso, principiando o processo de territorializa<;ao do MST pelo Brasil. Portanto, ncste capitulo analisamos algumas das expcriencias construidas no pcriodo 1979-1985 nos estados onde se desenvolvcram as lutas que geraram o MST.
A !uta dos colonos de Nonoai
Os lugarcs c os momcntos formam a realidade. As pcssoas fazcm os momentos, trans formam os lugares e constroem a realidade. Foi assim que trabalhadores sem-terra de varios cstados come<;aram a fom1ar o Movimcnto dos Trabalhadores Rurais Scm Terra. A expropria.;ao, a expulsao das familias camponesas e a usurpa<;ao do tcrrit6-rio indigena geraram uma das condiyOcs que lcvaran1 a I uta os camponcscs que iriam rcalizar a ocupa<;iio de terra, que tambcm inaugurou o processo de forma9iio do MST, na rcgiao noroeste rio-grandense.
Maio de 1978 6 um marco hist6rico dessa !uta. Foi quando os indios Kaigang da Reserva Indigena de Nonoai, que vinhamlutando desdc 1974 como apoio do Consc-
50
lho Indigenista Missionario (CIMI), iniciaram as a<;iies para recuperar seu territ6rio e rcsolveram expulsar as 1.800 familias de colonos-rendeiros que viviam naquelas terras. A Reserva Indigena de Nonoai foi criada em 1847 e a entrada na area das primeiras familias scm-terra come<;ou na dccada de 1940, sendo que em 1962 ja existiam 400 familias que arrcndavam lotes de ate 20 ha. Em 1963, em torno de 5.000 familias do MASTER que estavam acampadas na fazenda Sarandi, e em outros acampamentos da regiao, foram dcspejadas. Para parte das familias que rcsistiram, o govemo estadual ofereceu a condi<;ao de se tomarem rendeiros do Servi<;o de Prote<;ao ao indio (SPI), ocupando as terras da area indigena. Somente 15 anos depois, com a sua organizay5.o, os Kaigang, cessaram essa relac;ao de explorac;ao.
Em maio de 78, em menos de urn mes, os Kaigang expulsaram os colonos. Para csses trabalhadores rcstavam Ires alternativas: I) migrar para os projetos de coloniza<;ao da Amazonia; 2) tornar-sc assalariados de emprcsas agropeeuarias ou de industrias, migrando para as cidades, e 3) lutar pela terra no Estado do Rio Grande do Sui. Esta irltima altemativa era a aspira<;ao da maior parte dos colonos sem-terra. A quest3.o C que niio existia nenhuma forma de organizac;ao social de que pudessem sc valer para rcalizarcm os scus intcntos. Dcssa forma, ocorrcu a dispcrsao da 1naior parte das familias que passaram a vagar pclos municipios do noroeste rio-granderJSe. Algumas acamparam nas bciras das estradas, outras foram n1orar em pai6is, porOcs e casas de parentes e camaradas, outras passaram mesmo a viver em chiqueiros junto com os anima is, e, ainda, muitas familias perambulavam pela regiao sem terem onde ficar. Todavia, como j3 dissc o poeta,por mais que se queira tran5formar em nada, saibam que a hist6ria e como a madrugada, quem acorda cedo jaz o amanhecer (Bogo, s.d.), de modo que, menos de dois meses depois de terem saido da Reserva indigena de Nonoai, os colones sem-terra comeyaram as primeiras ocupay6es.
Era junho de 1978, alguns grupos de familias isolados e sem uma forma de organiza.;ao definida entraram nas Glebas Macali e Brilhante, em Ronda Alta, e na Rcserva Flores tal da fazenda Sarandi, em Rondinha. As glebas cram terras publicas que estavam arrcndadas para empresas. As ocupa<;iies come<;aram com 30 familias e chcgaram a quase 300. Essa a<;ao tern urn importante significado hist6rico, porque a !uta recome<;ava exatamente onde havia sido interrompida em 1963. Frente ao fato, o Governa do Estado enviou o secretcirio da agricultura para cadastrar estas familias, promctendo assenta-las "quando fossc feita a reforrna agraria". Com esse ato, os colonos foram convcncidos a rctornarem para as casas de amigos c familiares, onde estavam abrigados. Dessc modo, se par urn !ado o govemo tentou se livrar do problema, por outre I ado, surgiram muitas outras familias querendo se cadastrar, com a espcranya de serem assentados no Rio Grande do Sui.
Outra parte das familias de Nonoai foi transfcrida para o Parque de Exposi<;iies de Esteio, proximo a Porto Alegre. 0 govemo estadual propos assentar uma parte em Bage, ao sul do estado. 0 governo federal propunha as senti-las em Mato Grosso, em urn projeto de coloniza<;ao dcnominado Terranova. Para Bage foram 128 familias c para Tenanova foram 550 familias.
5 I
0 Povo de Deus
Ncssc entretanto, na Par6quia de Ronda Alta, chegaram 5 familias, em torno de 50 pessoas, c pediram pousada ao paroco, padre Arnildo, que trabalhava na Comissao Pastoral da Terra c, por mcio da Biblia, procurava conscientizar os colonos cxpulsos. Os sem-tctTa argumcntavam que j3 haviam buscado apoio em v<irias par6quias de municipios da rcgiao, nos sindicatos, nas prefeituras c a rcsposta que obtivcram f~i que o problema era do govcrno. Padre Arnildo ofcrcccu abrigo na casa paroquial. A noite, fizcran1 uma rcflexao sabre o capitulo terceiro do livro do Exodo, que relata o sofrimcnto c a libcrtay:lo do Povo de Deus em busca da terra promctida. As pcssoas disscram que aqucla tamb6m era a sua hist6ria eo padre Arnildo pcrguntou, cntao, o que clcs prctcndiam fazcr. As familias decidiram participar dos divcrsos acampamcntos que cxistian1 na rcgiiio. Por meio dcssa reflexao, ficara entendido que a soluc;ao teria que partir da ac;ao e da organizayao dos pr6prios trabalhadorcs. Essa era a lmica fom1a de mudarem as suas rcalidadcs. Cada familia tinha um trabalho a rcalizar: devcria discutir com as outras familias acampadas qual scria a sa ida, e voltar um membra de cada familla para sc rcunirem c decidirem o que fazer. Quinze dias depois, encontraram-se na casa paroquial e rcsolvcram realizar asscmblCias nos acampamcntos para construircm uma forma de organizac;:lo e lutarem pclos scus direitos.
AtC esse momenta, frente aos limites das tres experiCncias: a ocupayao eo cadastramento, o assentamento em BagC c a migrayao para o Mato Grosso, os trabalhadores rcsolveram criar uma fOrma de organizac;ao para fazer avanc;ar a luta. Emjulho de 1979, dcpois de um intenso trabalho de base, em tomo de 1.100 familias rcuniram-sc no salao do Centro de Tradi<;ao Gaucha de Nonoai, ondc os colonos rcalizaram uma assemblCia para dccidirem sobre os seus destinos: lutarpcla terra no cstado ou migrar para o Mato Grosso. Dclibcraram que as soluyOes para os seus problemas dcveriam scr alcan<;:adas em comum e n3.o de forma individualizada. Tomaram mais duas dccisOcs: fazcr um abaixo-assinado ao govcrnador, reivindicando o asscntamcnto no estado c. scnao fosscm atendidos, ocupariam a fazenda Sarandi novamente. Assim, gcrminava a organizayfi.o dos colonos e se solidificava pcla sua prOpria legitimac;ao.
No dia primeiro de agosto de 1979, os colonos conscguiram uma audiCncia como goven1ador c rcivindicarmn o asscntamento nas Glebas Macali c Brilhante. 0 governador pediu trinta dias de prazo para dar uma resposta. Foi quando um colona pcrguntou o que o governo faria, se elcs ocupasscm a terra. Numa atitude demag6gica, o govcrnador respondcu que iria junto para a ocupayao. No dia primciro de sctembro, venccu o prazo de trinta dias, eo governo n5o deu ncnhuma resposta. Os colonos se rcuniram e discutiram a situac;ao. Chegaram ao acordo que o governo nao iria resolver o problema delcs e que o lmico jeito seria a ocupayao da terra.
A ocupa(.·clo comofhrma de !uta
Resolvcram rcalizar a ocupa<;ao na noite do dia 6 c madrugada do dia 7 de setcmbro. A data cscolhida possibilitava urn maior tempo para organizar a ocupa<;ao e a rc-
52
sistCncia. As lideranyas dos acampamcntos espalhados pcla regi3o iniciaram os trabalhos de mobiliza<;iio e na noite do dia 6, os caminhocs transportando II 0 familias de colonos scm-terra cntraram pel a Gleba 13rilhante e acamparam na Gleba Macali. Era a madrugada do dia 7 de setembro de 1979, a lua chcia clareava o caminho da terra prometida e em pouco tempo a Macali era terra ocupada. Haviam dccidido nas rcuniOes que assim que entrasscm na terra fincariam uma cruz, que significa tanto o sofrimento quanto a conquista. E na cruz colocaram a bandeira do Brasil, porque era o dia da patriae porquc lutavam para screm cidadaos.
Na tarde do dia 7 realizaram a primcira celcbra<;iio. Recordaram a caminhada, pas so a pas so, como quem reconstr6i a prOpria hist6ria, I cram os versiculos do livro do Exodo. que dcscrevia a caminhada do Povo de Deus em busca da terra promctida. No dia 8, chegou a Brigada Militar2 e n1ontou acampamento prOximo a c1rea e no dia 9 reforyaram o pelot:io com urn nllmero tnaior de soldados. 0 acampamento dos colonos era um espayo de ]uta e de rcsistCncia, de modo que cstavam dispostos ao cnfrentamento. As tnulhcres pegarmn scus filhos e formaram uma barrcira em torno do acampamento. Esse enfrentamento fez os brigadianos recuarcm de suas posiyOes e come<;aram as negocia<;iies como govemador. Algumas lideran<;as foram cobrar do govcmador se cle iria ou nao ocupar tambem aquela terra. Levaram como prova urn rccortc de jornal, em que havia a declara<;ao que ele tinha feito ha 40 dias atras. 0 governa autorizou os colonos a plantarem na area e retirou a Brigada Militar do local. Iniciava a primeira experiCncia de organizay3o do trabalho e da produy3o na ten·a conquistada. A conquista da Macali fortalccia a decisao dos colonos de scrcm assentados no proprio cstado.
Ncssc cntretanto, comeyou a fonnay3.o de um novo gmpo de familias para realizarem nova ay:lo. No dia 25 de setembro, cento c setenta familias ocuparam a Brilhantc. A terra estava arrcndada e eultivada com soja c milho. A repressao policial foi mais intensa, mas a I uta pela terra ganhava o apoio da sociedadc, de modo que o governa n3o se atrevcu a usar de violCncia. TambCm um gtupo de oitcnta familias, mobilizadas por vcrcadorcs do Partido Dcmocn\tico Social (PDS)3
, ocuparam outra parte da glcba Brilhante c formaram o acampamcnto 2. Essa ocupay3o era utna reay3o isolada dos politicos locais, que "defcndiam" o asscntamcnto de lilhos de agricultures dos municipios de Sarandi, Ronda Alta c Rondinha. Essa atitude oportunista tinha como objetivo se aproveitar das ayOes iniciadas pclos colonos de Nonoai. Todavia, cssas fatnilias foram abandonadas pclos vcrcadores, muitas dcsistiram e outras persistiratn juntando-se aos colonos.
No dcscnrolar das ncgociay6cs, que nao sc concluiam, novamente as mulhercs partiram para o cnii·cntamcnto. Na cpoca da colheita, fizeram um cordao de isola-
2. Nome da Policia Militar do Rio Grande do Sui.
3. 0 PDS era succssorda ARLNA (Aiianya Rcnovadora Naclonal), que rcunia os politicos mais conscrvadorcs c contra a rcforma agrUria.
53
menta em tomo das maquinas, impedindo o trabalho dos empregados do arrcndatario. Essa a<;iio resultou na rcsolu<;iio parcial da qucstiio, as familias foram assentadas e tambem colheram parte do milho e da soja. Contudo, como havia aumentado o numero de acampados, a area nao era suficicnte para assentar todas as familias. Depois das conquistas das Glebas Brilhante e Macali, as familias remanesccntcs ocuparam a Fazenda Anoni, em outubro de 1980. A Policia Federal interveio imediatamente, realizou o despejo e prendcu doze trabalhadorcs, dcsmobilizando o grupo de familias. Embora cssa ocupa<;ao tivcssc sido dcrrotada, cia rcfor<;ava a !uta que originaria a conquista da Anoni, na segunda mctadc da decada de 1980. Outra ocupa<;ao tambem havia sido frustrada. Ela aconteceria em Campinas do Sui, proximo a Barragcm de Passo Fundo. Todavia, a Brigada Militar foi informada do plancjamcnto da a<;iio e cntrou na area antes que os scm-terra chegassem.
No dia 4 de novembro de 1980, urn grupo de scm-terra acampou no centro de Porto Alegre para reivindicar do governo cstadual o assentamcnto das familias rcmancsccntes. Depois de duas scmanas de ncgociayOes, os colonos conseguiram urn acordo com o govcmo, que cedeu uma area do Estado, de 240 ha, no municipio de Rondinha, e comprou uma area de 1.049 ha, no municipio de Palmcira das Missoes, para asscntar parte das familias. Todavia, ainda ficaram familias acampadas. Dessa fonna, os trabalhadorcs scm-terra rctomavam as suas for<;as, inaugurando urn novo movimento social que gcnninava em varios lugares do Brasil.
As encruzilhadas da historia
A encruzilhada c o Iugar onde se cruzam os caminhos. A !uta que nasccu com o acampamcnto na Encruzilhada Natalino se opunha a politica fundiaria do governo. Era, tam bern, urn conflito entre o modelo cconomico agropccmirio implantado pelos militarcs, com a politica de dcscnvolvimento para a agropccu3ria que os camponcscs vern construindo por mcio de suas Iutas. Aquela a<;ao reprcscntava, igualmente, o momenta e o Iugar do cruzamento de dois projctos politicos para o campo brasileiro. Essa fonna de luta significa a recusa dos cmnponeses a modernizac;do conservadora. Essa politica do govemo privilegia o grande capital e tern conduzido os camponeses a expropria9iio, a expulsao da terra, a exclusiio, a miscria c a fomc. A politica dos trabalhadores leva a resistcncia na conquista da terra c do trabalho, da dignidade, da cidadania, com a rcssocializay3o dos camponeses sem-tcrra. Esse conflito tem mn car3tcr hist6rico, porquc a encruzilhada se tomaria o espa<;o politico em que se cncontram os scm-terrae os govcrnos estadual c federal. E neste cruzamcnto de politicas opostas, buscam solu<;oes para os conflitos fundiarios, desde a dcsapropria<;iio da terra ate as politicas de dcscnvolvimento da agricultura camponesa, como por exemplo: o credito agricola, a educay3o, o coopcrativismo etc. Todavia, an1bos continuam seguindo caminhos politicos distintos. E ncste sentido, a !uta pcla terra torna-se uma a<;ao fundamental para fazer crescer a !uta pcla reforma agraria.
54
Na luta pela terra, a cncruzilhada tambcm tem o sentido do cruzamento dos caminhos construidos durante a resistencia. Cruzam-se os cmninhos da vit6ria e da dcrrota. A cncruzilhada eo Iugar co mom en to da to~ada de decisao para qual dire<;ao devc se scguir, como objctivo de conquistar a terra. E, portanto, um Iugar onde se para, reflctc e olha, procurando visualizar qual o mclhor caminho a percorrer. E muitas vezes, sc o cmninho ainda nao cxiste, e prcciso fazC-lo. Foi assim que aconteceu na Encruzilhada Natalino, ali tambi:m foi o ponto de partida para a constru<;iio do caminho da I uta pela terra. Montar o acampamcnto foi uma decisao tomada na encruzilhada da luta. E na encruzilhada sao muitos os caminhos possivcis. Desde os existentes ate os que estao por construir, porque abrir caminhos na rcalidade e fazer hist6ria. Foi assim que csta !uta tornou-sc uma das principais referencias da Hist6ria do MST.
0 acampamento Encruzilhada Natalino4
Na luta pela terra, acampar e dcterminar urn Iugar e um momenta transitorio para transformar a realidade. Quando os sem-terra tomam a decisao de acampar, estao desafiando o modelo politico que os cxclui da condi<;ao de cidadaos. A resistcncia no acampamento e a fa<;anha. A persistencia c 0 desafio. Para sobreviver, OS acampados dependem de sua organiza<;ao, do trabalho e do apoio dos que defendem a reforn1a agraria. 0 acampamento da Encruzilhada Natalino era resultado das experiencias das lutas anteriores. Come<;ou quando um colona, expulso da Reserva Indigcna de Nonoai, montou seu barraco proximo ao en contra das estradas que lcvam a Ronda Alta, Sarandi e Passo Fundo. Esse fato acontcccu no dia 8 de dezcmbro de 1980. 0 Iugar se chama Encruzilhada Natalino, porque havia uma casa comercial, cujo proprietario chama va-se Natalia. 0 primeiro colona que acampou tambem se chamava Natalia. Foi scguido de outras familias de Nonoai e de familias remanesccntcs da ocupac;ao da Gleba Brilhante. Da mesma forma, vieram outros camponeses scm-terra de toda a rcgi8.o. Eram rendciros, parceiros, agregados, pe6es, assalariados e filhos de pcquenos proprictarios.
Na tentativa de desmobilizar o acampamcnto, o govemo cstadual mandou uma comissao ofcrcccr empregos aos scm-terra. Acompanhada do bispo de Passo Fundo, D. Claudio Colling, os rcpresentantes do govemo procuraram con veneer os acampados. Frente a recusa incondicional das familias, a comissao co bispo dcsistiram do intento. Supcrando desafios, pcrsistia o processo de gesta<;ao do acampamento, que era rcsultado da conscicncia construida pclos camponcscs, de que somcnte por meio da Juta mudariam suas rcalidades, e tamb6m pel a articulac;ao fcita pela CPT e pelo Movimento de Justic;a e Dircitos Humanos, que ajudavam na organiza<;ao dos scm-terra. Comeyaram a fazcr o levantamcnto dos latifUndios nos municipios pr6ximos, classificados pelo Incra como latirundios por cxplorac;ao, provando ao govcmo que a qucstao poderia scr resolvida na propria regiao. A lgreja Evang6lica de Confissao Lutera-
4, A rcspcito do acampamcnto Natal ina, vcr: Marcon, Tel mo. Acampamento Naralino: hisuJria da !uta pel a refomw Agn/ria. Passo Fundo: Editora da Univcrsidadc de Passo Fundo, 1997.
55
na fez urn levantamcnto e mostrou que, proximo ao acampamento, havia 4.000 hade tcrras 3. venda, contrariando os argumcntos do governo que continuava afirmando niio haver tenas disponlvcis no Rio Grande do Sui c, pm1anto, era nccessllrio transferir as familias para outros cstados do Norte c Nordeste.
0 acampamcnto localizava-sc num lugar cstratCgico, porque ficava prOximo da Anoni, bcm como da Macali c da Brilhantc. Em abril de 1981, havia 50 familias acampadas. Emjunho havia 600 fami!ias, reunindo rna is de 3 mil pessoas que habitavam em barracos de lana, de capim, de madeira, de sacos de cimento ou adubo. Os barracos cstcndiam-sc por quase dois quilOmetros da cstrada. Com base nas cxpcrifncias antcriorcs, as familias cmncyaram a sc organizar em grupos, sctorcs c comiss6cs. A coordcna~ao era fonnada por lideran9as escolhidas entre os scm-terra. Essas pcssoas mais alguns asscssorcs forn1avan1 a Comissao Central, rcspons<ivel pel a dirc~ao politica da I uta. Era o embrii'io de uma fmma de organizay:1o social que seria referCncia nas novas lutas animadas pela Encruzilhada. Criaram as comiss6es de saU.de, de alimcntayao, de negociayao. TambCm criaram um bolctim informativo dcnominado Sem Terra, que viria a se ton1ar o .lorna.! do Movimento dos Trahalhadores Rurais Sem Terra. Como apoio da Campanha de Solidariedadc aos Agricultorcs Sem Terra, montaram uma sccrctaria em Porto Alegre. As condi<;Ocs do acampamcnto cram prcc3rias: faltavam utensilios, acomoday6cs, agasalhos, alimentayao, condiy6es de higienc etc. Ainda, as familias viviam sabre pressi'io do govcrno que nao ofcrccia uma solu<;ao concreta voltada para as reivindica.;oes dos trabalhadores. Sotriam intimiday6es da Brigada Militar que sobrcvoava o acampamcnto constantcmentc, na tcntativa de desanimar os cmnponeses para que desistisscm da rcsistCncia.
A intervcm,'iio militar-federalna Encruzilhada Natali no
A I uta pela terra ensina. Cada familia da !uta tem uma hist6ria rica em acontecimentos que marcam para toda a vida. Nfio h3 como esquccer, tanto pclo sofrimcnto na caminhada, quanta pela alegria da chegada, na conquista da terra. Ncssc sentido, Natalino foi uma cscola. Muitas das ay6cs de resistCncia construfdas nessa I uta foram refcrCncias principais na troca de cxperiCncias com outras lutas que acontcciam cn1 todo o Brasil. Foi urn cxcmplo de luta c resistcncia que animou os trabalhadorcs. Como simbolo de rcsistCncia, os scm-terra fizcram uma cruz rU.stica. Comeyaram a recebcr apoio e contribui<;oes de sindicatos de varias catcgorias de trabalhadores, de comunidades de diversas par6quias, de alguns prefeitos, de agricultorcs c de estudantes. De modo que na festa da P<iscoa comcmoraram a caminhada e colocaran1 escoras na cruz, que tinham os names das entidades que auxiliavam na I uta. No principia, a cruz era fincada na ten-a. Depois, com as a judas que recebcram, a cruz passou a ser sustentada pclas cscoras que simbolizavmn os apoios. Assim, sempre que havia uma manifestayfio, a cruz era transportada e era mantida em pC pclas escoras. Durante o period a do acampamento morreram cinco crianyas e as familias colocaram cinco faixas brancas, rcprcsentando as suas presenyas na I uta pel a terra.
56
No dia 21 de junho foi rcalizada uma missa como bispo D. Pedro Casaldaliga, de Sao Felix do Araguaia (MT), que vcio trazcr sua solidaricdadc aos acampados. Acelebrayfro reuniu 6 mil pcssoas c a I uta ganhava conotay3o nacional, sendo divulgada em quase todo o Brasil. Como crcscimcnto da organizac;ao, o govcmo federal a presen tau uma proposta, que foi rccusada pclos scm-terra, de transfcrir as f~nnilias para projetos de colonizac;ao em Roraima, Acre, Mato Grosso e Bahia. No dia dos trabalhadorcs rurais (25 de julho) fizcram uma grande comcmorac;iio com mais de I 0 mil pcssoas c que tevc a participac;ao de D. Tomas Balduino, bispo de Goiils Vclho (GO), que denunciou a misCria em que viviam os colonos que haviam se deslocado para o Projeto de Colonizaviio em Canarana (MT). 0 bispo dcfendia a rcsistencia co asscntamento das familias no estado. D. Tomas prcnunciou o significado hist6rico daquela !uta, ao afirmar que cia reprcsentava para o campo o que as grcvcs do ABC signilicaram para a organizayao dos trabalhadorcs da cidade. 0 govcrno tcmia que ncstc dia fosse feita uma grande ocupayao na Fazcnda Anoni. Por essa razao, mandou a Brigada Militar ccrcar a Anoni.
Como o govemo scmprc aprcscntava a 1ncsma proposta, os acampados decidirmn, em asscmbh~ia, que acampariam na frentc do Pahicio do Governo, na Prac;a da Matriz, em Porto Alegre para o pressionar. Quatro Onibus sairan1 em direc;ao a capital. Encontraram vilrias barrciras pclo caminho. Em Sarandi foram barrados pcla Brigada Militar. Chcgando em Porto Alegre, cnfi-entaram outro batalhao da Brigada com mais decem brigadianos c vintc viaturas que fizeram os Onibus desviarcm da rota. Os scm-terra rcsolvcram scguir ape ate o local da manifestaviio. Como apoio da CPT, da Comissao de Direitos Humanos e de dois deputados, conseguiram uma audiCncia como governador. que rcproduziu a mcsma proposta. Se os trabalhadorcs n5o vi am perspectivas junto ao goven1o cstadual, a situac;ao era pior com rehu;ao ao governo federal. Logo depois da reuniiio com o govcrnador, a comissao de ncgociac;ao rcccbeu a infonnac;ao que o ExCrcito iria invadir o acampamcnto c quem cstava fora nao entrava, e quem cstava dentro n5o saia. Os scm-terra voltaram rapidamente para a Encruzilhada e chegaram um pouco antes do Ex6rcito. Com a intcrvcnc;ao, o acampamcnto foi dcclarado Area de Seguranya Nacional.
A cspionagem no acampmncnto vinha sendo praticada pclos militarcs h3. algum tempo. Divcrsas vczcs os scm-terra cxpulsaram suspeitos do acampan1ento, que cram infiltrados da Policia c do Excrcito. De modo que estes ja possuiammuitas informac;iics a rcspeito da situac;ao dos colonos. No dia 30 de julho de 1981, o acampamcnto sofrcu intervenc;ao militar federal, com a prcscnc;a do Exercito, da Policia Federal c da Policia Rodovi3.ria Estadual. 0 comando da intcrvcnc;ao estava a cargo do major CuriO\ espccialista em destnobilizar ac;Ocs de resisH~ncia popular c garantia que em 15 dias ele rcsolvcria aquclc caso. Etc ja havia atuado em areas de cont1itos nas Rc-
5. Major Sebasti3o CuriO. conhecido como Coronel CuriO. membra do Servic;:o de lnteligCncia do ExCrcito. Durante a ditadura era dcslocado para atuar na repressil.o em divcrsas regitic_~ do pais.
57
giiies Norte c Nordeste. 0 cerco ao acampamento consistia no fechamento de todas as cntradas. Os intervcntorcs alugaram urn pavilhao em uma fazenda vizinha ao acampamento, montaram uma barraca na entrada principal c colocaram alto-falantes em torno do acampamento. Proibiram a entrada de religiosos e de todas as pessoas que apoiavam a !uta. Atcndcndo a pressao dos acampados, que cxigiam o direito de entrarem e sairem do acampamento, implantaram um sistema de controle por meio de fichas, que registrava a movimentavao dos scm-terra. Nem para celebrar a missa, os padres podiam entrar.
Neste estado de isolamento, os intcrvcntores comcc;aram a perseguir os colonos. As pessoas que j3 haviam trabalhado na cidadc, com carteira rcgistrada, ermn consideradas sem voca{'iiO para a agricultura e, portanto, nao tcriam direito a terra. Alertavam as familias que tinham ida para o Mato Grosso c rctomado, que tambCm nao teriatn mais direito a terra. Exigiram de todas as familias, que trouxcssem uma ccrtidao negativa para provar que nao cram proprietiirios de terra. Passaram a cntregar a limenlos as familias, mas para isso fazian1 com que ficassem muitas horas nas filas. Concentravam as pessoas e utilizavatn un1a pcrua com alto-falante para divulgarcn1 noticias voltadas para a dcsmobiliza<;ao das familias: urn excmplo era a repetic;ao de uma entrcvista de D. Vicente Scherer, arcebispo de Porto Alegre, afinnando que os scm-terra nao tinham direito de exigir o assentamento no Rio Grandee que o governo nao tinha obrigac;ao de atende-los. lnformavam que cstava ali a pedido do prcsidente da Republica, Joiio Batista Figueiredo, c Curio se envaidecia porter sido vitorioso em 16 casos de tensao social. Amcayava dizendo que aquclcs que n3o aceitasscm ir para os projetos de coloniza<;ao nao iriam mais reeeber alimcntos. Enfim, utilizaram de todos os artificios para dcsfazer o acampamcnto.
Em terra de quero-quero, CuriO nGo canta
0 major tornou-se conhecido entre os acampados. Havia urn trabalhador que o conhecia de Serra Pelada, no Para, c divulgava suas pr<iticas e tatieas. Tamb6tn urn acontecimento not<ivcl possibilitou tnaior conhecimento das tUticas do interventor. Numa ocasi3o, quando um acmnpado tentava sintonizar uma estay3o de nldio, captou a freqiiCncia na qual os intervcntorcs se comunicavam com Brasilia. Desse dia em diante, os acampados passaram a acmnpanhar suas conversas ease antcciparem as suas tcntativas de cooptac;ao, como por excmplo quando Curio chamou a imprensa para distribuir doccs as crianyas. Como os pais cstavam informados, orientaram scus filhos para accitarem o presentc, agradecerem e pedircm terra para plantar.
A missiio de Curio era desmanchar o acampamcnto e levar as familias para os projctos de colonizac;ao. Montou uma grande barraca onde mostrava slides e filmes acerca dos projetos de coloniza<;iio no Acre, em Roraima, Mato Grosso c Bahia. Propos levar uma comissao de scm-terra para conhcccr o projeto Serra do Ramalho, na Bahia. Vieram dois aviiies Bllfalo da For<;a Acrea e transportaram os colonos para a
58
area. Chegando numa agrovila do projeto, foram recepcionados com uma churrascada. Contudo, quando a comitiva comeyOU a lavar as maos acabou a agua. E nao tinha mais <lgua. De volta, a maior parte da comissao declarou que o projcto era inviavcl, porque o solo era muito arenoso e pcla falta de agua. Uma pequena parte, que Curio tentou convencer, chcgou a afirmar que o lugar era bom. Na polCmica, os intervcntores conseguiram reunir 87 familias tendentes a accitarem a proposta do governo. Contudo, quando tomaram conhecimento da cooptayao e por causa de um dossie da CPT baiana, que informava a insustentabilidade do projeto, pouco a pouco foram desistindo c por fim nenhmna familia accitou ir para a Bahia.
Diante da rccusa, aumcntava a violCncia. Passaram a transitar continuamentc com os caminhOes, de ponta a ponta do acan1pamcnto, lcvantando pocira. Destruirmn as fontcs de agua, colocando os cavalos para pisotearcm, criando pavor. Depois fez outra proposta, lcvar as familias para o projeto de co1onizayiio Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, criado cxclusivamentc para assentar os acampados da Encruzilhada. Diante da pressiio, os interventores conseguiram dividir o acampamento e 13 7 familias accitaram partir para a :irea. A maior parte rccusou. Alem da rcpressao, outros fatores que levavam as familias a accitarem a mudan9a para o projcto de colonizayiio cram a situac;:ao prec3ria ern que se encontravatn eo descspero. Estes mesmos fatores tambem causariam o retorno da maior parte dessas familias. Os intervcntores criaram outro acampamento e transfcriram as familias aceitantcs. Esse aeampamcnto foi denominado de Quero-Qucro. No acampamento Natalino, os barracos dessas familias faram queimados, amea9ando os que nao accitaram a proposta de transferencia. Impediram totalmente visitas ao acampamento Natalino. Varias entidades de apoio denunciaram na imprensa que o acampamento fora transfom1ado num campo de concentrayao. Entraram cmn um pedido de salvo-conduto para que uma comitiva visitassc o acampamento. Realizaram uma grande manifestayiio com a participa('iio de 137 padres do Rio Grande do Sui e Santa Catarina, de membros da Ordem dos Advogados do Brasil, de deputados fcderais e estaduais. Quando outros visitantes foram impedidos de entrar pe-1os soldados do Exercito, os acampados pegaram a cruz com as escoras e romperam a barreira militar, possibilitando a entrada. 0 ato marcou a rcviravolta da situa9iio c os setn-terra recobraram as csperanyas. Comeyava, assim, a derrota dos intervcntores fedcrais. A resistcncia dos scm-terrae o apoio das entidades foram dcterminantes.
No dia 31 de agosto, os interventores se retiraram do acampamento Encruzi1hada Natalino. Curio foi dcrrotado. Passaram-se 30 dias da sua chcgada e a maior parte das familias pennanecia no acampamento, recusando a proposta do goven1o. Ao sair do acampan1ento, o major reccbeu de prescnte dos colonos um cip6 com 16 n6s c tneio, significando que depois de 16 vitorias em outras regioes do Brasil, na Encruzilhada ele pcrdeu. Embora vencidos, os intervcntores devastaram parte do acampamento. Por meio da coopta,ao, da ameaya, da cxplorayao da miseria dos acampados e de outros modos mcnos aceitaveis, eles tentaram desenraizar a I uta. A vitoria dos acampados da Encruzilhada dcmarcou a historia das lutas camponcsas. Foi uma prova concreta de que a resistencia e a persistCncia eram as annas que o model a ccon6mico c a
59
-------------
politica dos militares niio puderam veneer. 0 govemo federal intcnsificou os ataqucs. Amea.;ou prender padre Amildo e cxpulsar uma freira italiana, i1mii Aurelia, que tambCm trabalhava no acampamcnto. 0 arccbispo de Porto Alegre ncgociou cotn o goven1o uma mcdida paliativa: proibiria o padre de rczar missa no acampamento c solicitaria a supcriora da frcira que a "convidassc" para rctornar 3 Italia. Assitn foi fcito, a irma voltou ao seu pais, mas padre Arnildo, mesmo proibido de rczar a missa, continuou frcqiientando o acampamento c seguiu scu trabalho, realizando novas formas de celcbra<;iio, criando uma mistica popular. Os bispos do Rio Grande do Sui se reuniram em Passo Fundo c elaboraram um documento defendendo os intcrcsses dos acampados. Propunham a compra de tcrras no cstado para asscntar as familias acampadas, inclusive na Fazcnda Anoni.
Nova Ronda Alta: terra prometida
Com a saida dos interventores, os acampados retomaram a fonna de organizac;ao de Natalino, rccriando as comiss6cs e retmnando as atividades. De outubro a dezetnbro de 1981, os sem-teJTa procuraram o govcrno estadual por diversas vczcs para ncgociar o assentamcnto 110 estado. Em dezembro algumas familias comec;aram a voltar de Mato Grosso, informando que o projeto Lucas do Rio Verde nao ofcrccia condi<;Oes de sobrcvivCncia e que o govcmo federal nao cumprira com as promessas. Para divulgar a !uta, alguns acampados viajaram para Sao Paulo, Rio de Janeiro c Brasilia, onde participaram de cve11tos de apoio 3 luta pel a reforma agr3ria. Todavia, a situac;ao das familias 110 acampamento continuava critica. Era necessaria criar um fa to novo, que fizessc avanyar a !uta. No Natal de 1981, a tristcza e a pcrscvcranya foram as marcas principais da celebrac;ao e j3 indicavam o esgotamento da resistCncia.
Em fevereiro de 1982, num encontro da Confercncia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), OS acampados propuseram a lgrcja que comprassc uma area em Ronda Alta, para ondc as J8.milias pudessem scr tra11sferidas provisoriamentc. Era uma fonna de retomar a !uta e continuar o enfrentamcnto cmn o goven1o, cxigindo o asscntamento no estado. Nesse mcs, a CPT rcalizou a V Romaria da Terra c reuniu mais de 20 mil pessoas. A CNBB atcndcu o pedido dos scm-terra, eontribuiu c coordenou uma campanha nacional de atTecadac;ao nas par6quias, para comprar a terra c transferir os acampados. A lgrcja EvangCliea de Confissiio Lutcrana tambcm eontribuiu e realizou a campanha em suas par6quias. F oi comprada uma area de I 08 ha, proxima a Banagem do Rio Passo Fundo, no municipio de Ronda Alta, dcstinada ao asscntamento provis6rio das familias da Encruzilhada. A area foi denominada de Nova Ronda Alta.
No dia 12 de marc;o, as familias comec;aran1 a ser transferidas para o asscntamento provis6rio. Em Nova Ronda Alta, organizaram-se em cquipcs de trabalho e comissOcs para continuar a pres sao contra o govcmo. Todavia, mesmo dentro de seu territ6-rio, os scm-terra continuaram a scr perscguidos pcla Brigada Militar. No comc<;o de abril, em tomo de vintc brigadianos acamparam em uma ilha, a trczcntos metros de
60
Nova Ronda Alta c obscrvava1n o movimcnto do assentamento provisOrio. Durante mais urn ano e meio, os scm-terra pcrsistiram na I uta. Cmn as eleiyOcs para govemador, discutiram com os candidates a soluyiio que defendiam para a qucstiio da terra. Em setembro de 1983, o govcrnador cleito autorizou a compra de 1.870 ha para o asscntamcnto definitive das familias, nos municipios de Ronda Alta, Cruz Alta c Palmeira das Miss6es. Tambcm foram assentadas no estado 30 familias que aguardavam no acampamento Quero-Qucro, mas que dcsistiram de ir para Lucas do Rio V crdc (MT). Tcrminava aqucla ayiio dos scm-terra, mas a !uta pela terra continuava com os scntidos c significados da rcsistencia c da persistt:!ncia que marcaram a Encruzilhada. 0 govcmo militar foi dcrrotado c os camponcscs deram uma liyfro de organizayao, contribuindo para a construyao da dcmocracia.
0 Acampamcnto Nataline chegou a tcr 601 familias. Sen do que 142 desistiram e 252 foram para Malo Grosso. Para Nova Ronda Alta foram, provisoriamcntc, 207 familias, ondc pcnnancccram dcz familias em uma area de 105 ha. As outras foram asscntadas no municipio de Ronda Alta, nos assentamentos Nos sa Senhora Conquistadora da Terra c VitOria da Unifro, c no asscntamento Rindio do Ivai, no municipio de Saito do Jacui. Das familias que foram para o projcto Lucas do Rio Verde (MT), em 1986 rcstavam apenas 15. As outras vcnderam os lotes e migraram para outras rcgi6cs ou voltaram para o Sui. Dcsde a beira da estrada ate o assentamento, os scm-terra aprcndcram a rcsistir. A rcsistCncia foi alimentada pelo apoio con stante c pela organizaviio. 0 aprcndizado da rcsistcncia foi uma das mais importantcs livilcs de cidadania na formayao do Movimcnto.
Rio Grande do Sui
Durante o anode 1983, os sem-ten·a, como apoio da CPT, iniciaram os trabalhos de base nas Comunidades Eclesiais, em diversos municipios da microrrcgifro de TrCs Passos. Constituindo uma forma de organizac;ao social, os trabalhadorcs e a gentes de pastorallomcntavam a participa<;iio par mcio da criayiio de nuclcos nas comunidades, que compunham as cmniss6cs municipais. Nas rcuniOcs dos gn1pos de familias cram debatidos temas refercntes ao Estatuto da Terrae a expericncia da Encruzilhada Nataline. Os coordcnadores utilizavam um filme a rcspcito da !uta e da rcsistcncia dos scm-terra da Encruzilhada para ilustrar as qucst6es debatidas. Dcpois de mcses de discussao sabre a situayao das familias scm-terra, propuseram a realizayao de uma assemb16ia para dcliberarem quanta aos encaminhamcntos. Nas rcuni6es de base, os grupos haviam chcgado a um consenso: nfro podcriam ficar parados, se quisessem chcgar na terra, era preciso caminhar, dar movimento para a questao da terra, portanto, era fundmnental sc organizar.
No dia primciro de outubro de 1983, no saliio do semin;irio em Trcs Passos, 7 mil colonos se reuniram para realizar a Primcira AssemblCia dos Scm-Terra. Vilrios sindicalistas participaram dessc even to que foi promovido pcla CPT. Uma das qucstoes
61
debatidas foi a recusa em participarem de projetos de eoloniza<;iio. Muitos eram colonos retornados c cstavatn intcrcssados em conseguir terras no Estado. Aconteccram varias exposi<;oes de expcricncias de !uta, como por excmplo: os rclatos de membros do Movimento dos Scm-Terra do Oeste do Parana (MASTRO), dos assentados em Nova Ronda Alta e dos coordcnadores das comiss6es municipais. Durante as manifestavoes, a ocupa<;ao foi indicada como uma forma de acesso i terra. Todavia, deliberaram que fossc uma comissao dos sem-terra a Porto Alegre, para reivindicar do govctno o assentamcnto das familias. Na primeira scmana de novctnbro, a comissao composta por quarenta pessoas circulou pcla Secretaria da Agricultura, pela Assembleia Legislativa e no Palacio do Governo. Na reuniao como entao govcrnador Jair Soares, cobraram promessas de campanha, quando candidate prometera criar urn projeto que foi denominado de Fundo de Terras, para aquisi<;iio e assentamento das familias scn1-terra. A comissao retornou aos municipios com promessas do governo, que iria procurar un1a soluyao para a situayao dos scm-terra.
Nos dias 17 e 18 de dezembro, como apoio da CPT, da lgreja Luterana e de sindicatos de trabalhadores rurais, foi realizado o I Encontro Estadual dos Sem-Terra, na cidade de Frederico Westphalen. 0 evento reunia cern representantes de comissoes municipais da regifio noroeste rio-grandcnse e de municipios do litoral. Era tanto um encontro prcparat6rio para a realizayfio do 1 o En contra N acional, que sc rcalizaria em Cascavel, em janeiro de 1984, quanto para dcliberar a respeito da proposta de cria<;ao do Fundo de Terras. Na reuniao, em outubro, haviam proposto modifica<;oes no projeto do govemo. Decidiram por rna is uma tentativa de negocia<;iio com o governo para cobrar resultados concrctos ou a tmica soluyao seriam as ocupayOcs de terra. Rcuniram-se com o govcrnador e com o superintcndcntc do Incra por vclrias vezes no primeiro semestre de 1984, fizeram manifesta<;iics e nao obtiveram uma resposta efetiva a respeito do assentamento das familias.
Em 28 de agosto de 1985, o MST fez sua primeira ocupaviio no Rio Grande do Sul6 Ncssc dia, setenta e cinco familias ocuparam uma area da Esta<;iio Experimental Fitotecnica da Secretaria da Agricultura, no municipio de Santo Augusto, na regiao noroeste rio-grandense. A repressao foi imediata. A Brigada Militar executou odespejo e dispersou as familias pelos municipios da regiao. A CPT, que apoiava a organiza<;ao dos scm-terra, auxiliou na reorganiza<;iio dos grupos de familias, que acamparam no municipio de Erval Scco, numa area cedida par um pequeno proprietario. Depais de nove mescs de rcuniOes e manifcstayOes em Porto Alegre, os scm-terra conscguiram ser asscntados em duas areas adquiridas pelo govcrno cstadual, no municipio de Erval Seco e em Tupacireta, na regiao ocidental rio-grandcnse.
6. E imponantc dcstaear que essa foi a prime ira oeupavao do MST no RS, desde a sua funday:1o em 1984. As oeupayOes oeorridas no anode 1979, em Ronda Alta, foram parte do processo de gestac;iio do MST que oeorreu nos 5 estados do Sul. Dcssa forma. vale enllltizarquc sua genese nil.o pode ser eomprcendida porum momenta ou por uma ayil.o. mas por urn conjunto de ac;Ocs que aeonteeeram nos Estados de Sao Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sui. Parana e Rio Grande do Sul, em urn tempo que durou pclo menos dl· 1978 atC janeiro de 1984.
62
Os trabalhos de base continuavam nas comunidades em diversas regiiies do Estado, ondc os scm-terra discutiam o Plano Nacional de Rcfonna Agraria. Emjulho de 1985, o MST c a CPT rcalizaram urn ato politico, em Palmeira das Miss6es, onde reuniram trCs tnil farnilias num acampamento provis6rio, na realizayiio de cadastrmncntos para o PN RA. Todavia, quando em outubro o Plano jit estava completamcnte desfigurado7, os scm-terra dccidiram partir para a ocupa<;ao. No dia 29 de outubro, 1.500 familias, em torno de 6.500 pessoas, de 33 municipios ocuparam a fazcnda Anoni, de 9.500 ha, no municipio de Sarandi. A Brigada Militar cstava em cstado de alcrta, porquc havia rumorcs de que acontcccria uma grande ocupayiio. Todavia, essa ayiio foi tao bcm organizada que conscguiu bom €:xito, de modo que efetivaram a ocupayiio scm maiorcs problemas. Essa I uta se dcsdobraria ate a primcira metadc da dCcada de 1990, na criayao de novas fonnas de resistCncia que levari am a conquista da Anoni c de outras areas.
Santa Catarina
No oeste de Santa Catarina, em meados da dccada de 1970, a Diocese de Chapcc6 rcalizava impm1antc trabalho pastoral junto as comunidades rurais. Dcsse trabalho surgiram quatro frentes de lutas: o movimcnto de oposi<;ao sindical para a tomada dos sindicatos das maos de sindicalistas pclegos, o Movimento das Mulhcres Agricultoras, o Movimcnto dos Atingidos por Barragcns e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Scm Terra.
Os trabalhos de conscicntiza<;ao a rcspcito da realidadc feitos pela Diocese de Chapec6, por meio da Comissao Pastoral da Terra c da Pastoral da Juvcntudc, foram essenciais para o crcscimcnto c fortalccitncnto das lutas. Esses trabalhos foram iniciados pelo bispo D. Jose Gomes em v3rios municipios do oeste catarinense. Nas comunidades de base, as familias refletiam sabre a necessidade de se organizarcm e lutarem para enfrentar os processes de cxpropria<;ao e expulsao que estavam vivendo. Os textos biblicos cram as rcfcrCncias para sc comprccndcr as injustiyas c tomarcm atitudcs que transfonnassem suas realidades. Esses trabalhos fm1aleciam as difercntes forrnas de organiza<;ao, motivando il participaviio das liunilias. No dcsenrolar desse processo de constru<;iio da cidadania, os trabalhadorcs procuravam forrnas de mudar o sentido dos acontecimentos. Se ate aquele momenta estavam sofrendo os impactos da moderniza(Jio conservadora, j3 era tempo de daren1 outra direy3.o para os seus destines. E foi assim, sabcdores pela necessidade e com a ajuda de urn con junto de causas, que aconteccu a primeira ocupa<;iio de terra que rcgistrou a genese do MST em Santa Catarina.
A ocupa<;ao da fazenda Burro Branco, no municipio de Campo Ere, em maio de 1980, aconteccu de fonna espontiinea. Alguns camponeses da rcgiao haviam sido infom1ados por tccnicos do Institute Nacional de Coloniza<;ao e Reforma Agraria
7. 0 Dccrdo de aprovar;iio do PNRA fiJi assinado em I 0 de outubro. 0 Plano passou por diversas versOes e foi inviabilizado, rcprcscntando uma vi tOri a das fon;:as politicas contn'trias a rcalizar;ao da rcfonna agniria.
63
(lncra), que uma fazcnda da regiao seria desapropriada. Assim que saiu o decreta de dcsapropriayao, cinco trabalhadores de uma mcsma familia ocuparam uma Urea de um latifUndio. Duas semanas dcpois foram informados que cntraram na fazenda crrada. A fazcnda dcsapropriada era outra. Contudo, diante de tanta terra que nilo estava sendo oeupada com trabalho e servia il especulac;iio, os trabalhadorcs deeidiram permancccr. Essa rcsistCncia lcvou ao confronto comjagunyos da fazcnda, com a policia c como Excrcito. Estc litigio acabou por mobilizar c juntar mais !ami lias de toda aregiao, que tam bern prctendiam urn pedac;o de tena. Isso fez com que, pouco a pouco, aumcntassc o nUmero de familias no acampamcnto, de modo que chcgou a aproximadamente 350 familias.
Ncssc entrctanto, D. Jose Gomes foi infonnado pelo paroco de Campo Ere que os camponeses fizcram a ocupayao c cstavam resistindo. A CPT passou a apoiar a I uta, contribuindo para organizar as familias. Na visita que o padre cum agente de pastoral fizcram ao acampamcnto, encontraram os scm-tena disperses no mcio da mata, por causa da a<;iio da policia que tinha prcndido alguns trabalhadores, ateado fogo em varios barracos c dcstruido os mantimcntos, na tcntativa de dcspcjar os ocupantes. Dcpois de trCs horas, quando foram infom1ados que os visitantes cram um padre c um agentc pastoral, que nao cram da policia c nem era oficial de justic;a, as pcssoas voltaram a sc rcunir. A Diocese de Chapec6 e a Igrcja EvangClica de Confissao Luterana comec;aram os trabalhos de apoio aos scm-terra, na organizayao do acampamento, na coleta de alimentos nas pan'Jquias, assessorando na parte juridica, acompanhando nas
. -negoctayoes como governo.
Cmn o apoio da CPT, uma comissao de acampados participou em uma reuniao como govcn1ador em Florian6polis. 0 latifundi3rio havia cntrado com um pedido de rcintcgrayao de posse c os advogados da CPT tcntavam adiar a ayao de dcspejo, ao mcsmo tempo que faziam prcssao junto ao govcn1o federal para desapropriar a <lrca. Como crcscimcnto da organizac;ao c do apoio, era imincntc o conflito entre scm-terra c a polfcia, em caso de novo dcspejo. A resistCncia e as ncgociar;Oes continuaram ate que, em 12 de novcmbro de 1980, o prcsidentc da Republica desapropriou a fazcnda Buno Branco. Os scm-terra rcalizaram uma grande fcsta com uma missa cclcbrada por D. Jose Gon1es. Essa vit6ria tem do is significados hist6ricos: foi a primeira ocupac;ao de tena do oeste catarincnsc c inaugurou a !uta que marcou a gCnese do MST em Santa Catarina. Essa ayao foi a semente que gcrminou novas lutas, novas ocupay6es de terra, no proccsso de gestac;ao do Movimento. Parte da primeira colheita na terra conquistada foi doada para as familias acampadas na Encruzilhada Natalino, em Ronda Alta no Rio Grande do Sui. Os assentados da Fazcnda Buno Branco, num ato de solidariedadc, lcvaram a sacaria de milho e de fuba para as fmnilias scm-terra que tmnbem resistiam a violcncia do Excrcito c do govemo militar, lutando pcla terrae pcla dcmocracia.
Parana
Em outubro de 1981, os sem-tcrra da Encruzilhada reccberam cart as de apoio dos scm-tcna organizados no Movimento dos Agricultures Scm Tena do Oeste do Para-
64
mi (MASTRO). Muitas outras fom1as de apoio chegavam de movimento de scm-terra, sindicatos e igrcjas de diversos estados brasilciros. A resistCncia em Ronda Alta animou muitas lutas can1poncsas, da mesma fom1a cmno foi cstitnulada por lutas de quase todo o Brasil, que serviram como referencias para o avan<;o da organiza<;ao.
0 Parana C muito conhccido pelas lutas de resistCncia. A revolta dos posseiros do Sudocstc, em 1957, e as lutas de Porccatu, no Norte Central, sao marcas da hist6rica !uta pcla terra. Em 1980, acontcceu um violcnto conflito entre camponescs scm-terra, Policia Militar e os jagun<;os da Empresa Giacometti Marodim S.A. A Giacomctti tambcm era proprietaria de umlatifi:mdio de 95.000 ha, localizado nos municipios de Quedas do lgua<;u e Laranjciras do Sui, no oeste paranaense, ondc cxplorava madeira. Dcpois de screm infonnados pela imprenS(,l que o latifU.ndio havia sido desapropriado, as familias scm-terra ocuparam 1.000 ha. A rea<;ao dos latifundiarios foi rapida. Enviaram jagunyos e contaram como apoio da Policia Militar para cxpulsar os agricultores da terra ocupada. Foi uma opera<;ao de terror: rajadas de metralhadoras par sabre a cabcya das pcssoas dcitadas: amarraram outras em 3rvorcs c torturaram. Faram dcspcjados, mas ficou a marca, tanto nos corpos de muitos trabalhadores como em suas mentes. Aqucle latifundio havcria de ser conquistado. Do decreta de dcsapropriay3.o n3.o se fa lou rna is. 0 Incra nao se manifestou. Aquela terra tinha um destino: a conquista pelos camponescs. Era uma questao de tempo, de se fazer a hist6ria.
Ainda na d6cada de 1970, os agricultorcs paranacnscs conheceram um dos piorcs momentos de cxpropria<;ao da terra. Em dcz anos, desapareceram cerca de 100 mil propriedades rurais (Mmiins, 1993, p. 138). Neste estado, a ]uta recome.;ou pcla resistCncia camponcsa contra a politica do govcn1o. Eram pcqucnos proprict<irios, parcciros, possciros, arrcndat3rios que lutaratn contra a cxpulsao da terra, que aumcntava ainda mais com a construc;5.o das barragcns. A maior de las, a constrw;Uo da U sina Hidrclctrica de ltaipu cxpropriou milhares de familias de oito municipios do extrema oeste do estado. Des de 1975, o govemo federal prometia pagar prc<;o jus to pel a indenizayao. TrCs anos depois, pouquissimas familias haviam sido indenizadas e porum pre<;o muito a baixo do esperado; os posseiros foram extremamente prejudicados, reccbendo pre<;os ainda menorcs. Parte das familias foram transferidas para o Projeto de Coloniza<;iio Pedro Peixoto no Acre. Enfrentavam uma scric de dificuldades e estavam dcsamparadas. Essa situa<;ao fez com que, em 1978, as lgrejas Luterana c Cat6lica, par meio da CPT, e tambem alguns sindicatos de trabalhadores rurais comc<;assem um trabalho de organiza<;ao nas comunidades, que gerou, em 1980, o Movimento Justi<;a e Terra. Justiya era o que exigiam do governo e a terra era a condic;iio primcira para continuarem agricultorcs. Portanto, a principal rcivindica.;ao era terra par terra.
0 Movimento pressionou o govemo par meio de v3.rias ay6es. Pcrto de 2 mil trabalhadores acamparam no trevo de acesso a Itaipu por quase do is mcscs. Conquistaram suas reivindicayOes: o aumento do preyo das indenizay6es e conscguiram do is asscntamcntos nos municipios de Arapoti c Toledo. 0 Movimcnto Justiya c Terra cumpriu duplamente a sua funyao. De um !ado, promoveu a organizayilo e contribuiu para que as familias atingidas ncgociassem com o govcrno. De outro lado, criou cspayos
65
de conscientizayao, onde as familias sem-terra passaram a se organizar para lutar pcla terra (Ferreira, 1987, p. 22-3).
Em 1981, ainda haviam em tomo de 500 familias que perdcram suas ten·as, scus emprcgos, suas casas, atingidos pela constmyiio da Usina de ltaipu. A Comissao Pastoral da Ten·a organizou estas familias e comeyou a cadastrar outras familias, que, expulsas da terra, estavam intcrcssadas em lutar por terra no Parana. Em menos de urn ano, havia mais de 6 mil familias cadastradas e passaram a fonnar o MASTRO. A proposta do governa era transtCrir as f8.milias para o Estado de Mato Grosso ou para o Nmic do Pais, onde seriam asscntadas em projctos de colonizayao. Iniciou-sc um processo de resistCncia e os camponeses expropriados passaram a fon11ar movitncntos localizados. Assim, nos anos de 1982 e 83, surgiram vc'trios movimcntos sociais em diversas rcgiOcs do estado: o Movimento dos Agricultorcs Scm Terra do Sudocstc do Parana (MASTES): o Movimento dos Agrieultorcs Sem Terra no Nmie do Parana (MASTEN); o Movimento dos Agricultorcs Scm Terra do Centro-Oeste do Parana (MASTRECO) co Movimento dos Agrieultorcs Scm Ten·a do Litoral do Parana (MASTEL).
A ocupayao de terra C uma criayao hist6rica. :E urn acontecimento resultado de 11111 con jut~ to de causas, que contCm a necessidade, o interesse c a resistCncia dos camponcscs. E portanto um fa to criado pelas pessoas c suas causas. E a principal causa C a dcfcsa da vida. Dcsdc a ocupayiio da Fazenda Burro Branco, em Campo Ere (SC), no mCs de maio de 1980, muitas familias moravam nos lotes de parentcs e nao tinham perspectivas de conscguirem terra para trabalhar. Por cssa razao organizaram uma nova luta c, em 1982, ocuparam a fazcnda Anoni, no municipio de Marmclciro, no Estado do Parana. Esta ocupayiio rcprescntou a prime ira vit6ria dcsde o golpe militar de 1964, reanimando a !uta pcla ten·a no estado.
0 MASTRO e o MASTES organizaram ocupayocs no primeiro scmestrc de 1984. Um grupo de familias organizadas no MASTRO ocupou uma area da Rcserva Florestal do Incra, em Sao Miguel do lguayu, de onde foi despcjado. Outro grupo ocupou a Fazcnda Mineira, tambem em Sao Miguel do lguayu c da mcsma forma foi despejado, algumas lideranyas foram presas c as familias foram dispersadas em diversos municipios da regiao. 0 MASTES ocupou um grande latifimdio, dcnominado Fazcnda lmaribo, no municipio de Mangucirinha. As familias prcssionaram o govcrno, organizando um acampamcnto em frentc a scde do Incra em Curitiba. Ap6s muita pressao e ncgocia<;ao, em janeiro de 1985, o govemo federal desapropriou 10.000 ha da Fazcnda Imaribo para o asscntamcnto dos ocupantcs c mais as fmnilias que haviam ocupado a Rcscrva do Incra c a Fazenda Mincira. Criou-sc, assim, o Assentamcnto Vit6ria da Uniao. Essas lutas sc constituiram num marco da hist6ria do MST e contribuiram cfetivamcnte para a forma<;iio do MST no Estado do Parana.
Sao Paulo
0 oeste do Estado de Sao Paulo foi ocupado, principal mente, por meio da grilagcm de tcrras. Desde o final do sCculo passado, na regi5o ocorrcram diversos conf1i-
66
los entre grileiros e posseiros. A Fazcnda Primavera, localizada na rcgiao de Andradina, era terra grilada. Nessa terra nasccu a primcira !uta da gcsta<;ao do MST em Sao Paulo. Ha dccadas, os possciros da Primavera pagavam renda ao grilciro. Na dccada de 1970, o grilciro comc<;ou a trazcr gado do Mato Grosso para en gorda nos pastos da fazcnda. Iniciava, assim, a cxpropria<;ao dos possciros, a medida que o gado ia dcstruindo as lavouras. 0 grilciro tmnbCm contratou jagunyos para ameayar os possciros que sc rccusavam a pagar, por causa da dcstruiy3.o das lavouras. Os que resistiratn, tivcram suas casas qucimadas. Como assassinato de um possciro, os agricultores procuraram o Podcr Judici<irio, solicitando a intervenyJ.o para cvitar que o conflito sc intensificassc. Em sctcmbro de 1979, a Comissao de Justi<;a c Paz de Andradina organiza a Comissao Pastoral daTen-a, criando um cspayo de socializay3.o politica, ondc os
. . possctros passaram a se orgamzar.
Os possciros comcyaram as negociayOes com o Incra, cxigindo a dcsapropriayao da Fazcnda Primavera. Organizaram gmpos de familias em cada baino rural da fazenda, onde realizavam rcuniOcs para informar o andamcnto das ncgociay6es. Emjulho de 1980, o general-presidente Joao Batista Figueiredo assinou o decreta, desapropriando os 9.385 ha da Primavera. A vit6ria tomou-se uma !uta e organiza<;ao permancntes, pressionando o Jncra para a implantayao do asscntamcnto. Esse processo demorou do is anos. Nessa cxpcriCncia, os agricultores formaram o Movimento dos Trabalhadorcs Rurais Scm Terra do Oeste do Estado de Sao Paulo.
No sudocstc paulista, os trabalhadores scm-terra lutavam pela conquista da Fazenda Pirituba, de 17.500 ha, localizada nos municipios de ltapeva e Itabera. Essas tciTas haviam sido repassadas, em 1950, ao govcmo cstadual como pagamcnto dedividas hipotecarias. Nessa epoca, o govemo arrendou as tenas a grandcs arrendatarios, que por meio de proccssos judiciais prctcndiam sc apropriar da Pirituba. Em 1981, os scm-terra fizeram a primeira ocupa<;ao. Foram despcjados pela Policia Militar c pclos jagun,os dos grandes arrendatarios. Com as elei<;oes de 1982 que resultou na mudan<;a politica do governo estadual, criou-se um novo cemirio para a questiio agraria do Estado de Sao Paulo. Jose Gomes da Silva assumiu a Secretaria da Agricultura e implantou um projeto de rcgulariza<;ao fundiaria.
No mes de abril de 1983, os scm-tcna realizaram outra ocupa,ao, pcrmancccram uma semana na terrae foram dcspcjados novamcntc. Com a intcrvcnyao do govcrno, criou-se uma comissao intermunicipal de regularizayao da Fazenda Pirituba, como objctivo de resolver o conflito. A comissao fracassou e se extinguiu por enfrentar v8.rios problemas, como por cxemplo: a participayfro de vereadores e prcfeitos que defendiam intcresscs dos grandes proprictarios c de grandes arrendatarios que cram contra a mudmwa na estmtura fundiaria. Scm perspectivas, em maio de 1984, os scm-terra ocuparam novamente as terras da Fazenda Pirituba. Foram trezentas familias de seis municipios da regiao c tambcm do Estado do Parana. Dcssa vcz, os grandcs arrendat{trios nfro conseguiram concretizar os despcjos c partiram para a violencia com as familias, instalando um clima de tcnsfro social. Diantc de um conflito iminente, o
67
govemo entrou com medida cautclar c tomou posse da area ocupada. Iniciava. dessa fonna. a primeira vit6ria par ocupa<;iio de terra em Sao Paulo, nos anos 80.
No Pontal do Paranapancma, regiao que se originou de um grilo de mais de um 1.100.000 ha, desdc o final do seculo XIX, a !uta pela terra nao tcm sido uma !uta de mortc. Nao se tern registro do ntnncro de posseiros mortos que rcsistiram a um dos maiores processos de grilagem de terras devolutas da hist6ria do Brasil. Mas a rcsistcncia dos trabalhadores durou mais tempo que a grilagem, de modo que o Pontal sempre foi a rcgi3o com o maior nUmcro de conflitos do estado. Em novcmbro de 1983, na continua<;ao de uma !uta secular, 350 familias sem-tetTa ocupamm as fazendas Tucano c Rosancla, no municipio de Teodoro Sampaio. Ncssc tempo, as lutas no Pontal nao tinham apoio de instituiyoes como a CPT, de modo que as trabalhadorcs contavam apenas como apoio isolado de alguns rcligiosos e de um ou outro parlamentar, que procuravam mediar as ncgociayOes entre o Estado cos grilciros. As familias foram dcspejadas e acamparam nas margens de uma rodovia.
A perspcctiva de desapropria<;iio das tcrras griladas promovcu o aumcnto do numero de familias no acampamento. Em mar<;o de 1984, o govcmo dccretou as primciras dcsapropria<;oes e arrecadou uma area de 15.110 ha, de algumas fazendas, para assentar cerca de 460 familias. Dcpois de um seculo de grilagcm, pel a primeira vcz, o Estado cnsaiava a recuperac;3o das tcrras devolutas, griladas par gran des latifundi3rios, govcrnadorcs, prcfcitos c grandes empresas. A rcay5o foi instantfinca. Por causa dessas dcsapropria<;oes e da possibilidadc do Brasil vir a ter uma rcforma agraria, os grileiros do Pontal somaram for<;as com os outros latifundiarios de todo o pais c criaram a UDR (Uniao Democratica Ruralista), para a dcfcsa de seus privilcgios c intercsscs. 0 assentamento implantado recebcu o nome de Gleba XV de Novembro. Nascia, assin1, o primeiro tcrrit6rio da luta pela terra na rcgiao, que sc tornaria rcfcrCncia para a conquista das tcrras devolutas e griladas do Pontal.
Em Suman~, municipio da rcgiao de Campinas, originou-se outro movimcnto de !uta pcla terra. Esta regiao conhcceu nas dccadas de 1970-80 um proccsso de intcrioriza<;iio da industria. De modo que a !uta pela terra na rcgiao c distinta das outras regiiics do estado. Nas regiocs Oeste e Sudocste, a popula<;ao scm-terra era composta por posseiros, rcndciros, mcciros, b6ias-frias etc. Etn Sumare, as familias que participaram da !uta moravam na cidade. Expropriados ou expulsos do campo, migraram para a cidade em busca de trabalho. Agora cnfrentavam o problema do dcsemprcgo, e a luta pcla terra era uma forma de garantir a sobrevivCncia.
As CEBs foram os espa<;os de socializa<;iio politica que promoveram a conscicntizac;ao das familias. Depois de conheccrem a cxperiCncia dos posseiros da Primavera, decidiram que a I uta pcla terra seria o cmninho que iriam consttuir. Em 1982, iniciaram mna experiencia de horta comunit<lria. Em 1983, iniciaram as reuni6cs nas CEBs para definirem as fon11as de luta com base nas cxpcriCncias que aconteciam em Sao Paulo e no Rio Grande do Sul. Da mcsma forma, rc!1ctiam sabre as lutas camponcsas, como Canudos, Contestado c as Ligas Camponesas. Tambcm, com base em
()8
textos biblicos reconstruiam as suas hist6rias e comparavam com a hist6ria popular. Assim, foram construindo suas decis6es a ponto de, em novcmbro daquele ana, rcalizarcm a ocupayao de uma us ina de cana, no municipio de Araraquara, que estava com parte de suas terras pcnhorada pelo Estado. Foram expulsos pclos jagun<;os da us ina e ocuparam um horto florcstal, pcrtencente a Fcrrovia Paulista S/A. Ncgociaram como govcnlO, que propOs o asscntamento em uma outra area da prOpria cn1presa. Os se1n-tcrra nao accitaram a negocia<;iio c foram despejados pela Policia Militar.
As duas ocupa<;6cs haviam resultado em derrotas. Na avalia.;ao, os trabalhadorcs rcconhcceram que a I uta nao deveria ser dcscnvolvida somcntc pclos homens, como haviam praticado. Dccidiram que nas pr6ximas lutas poderia participar toda a familia. Continuarmn a ncgociayao como Estado e recusaram algumas 8.reas ate a proposta de assentar as familias em uma area de 237 ha, no proprio municipio de Sumarc. Dessa cxpcriencia nasccu o Movimento dos Scm-Terra de Sun1arC, que comeyou a negociar cmn o governo o asscntamento de urn novo grupo de familias que cstava se organizando nas periferias dos municipios da regiao de Campinas.
0 triunfo dcssas Iutas tornou-sc referencia em outras lutas no cstado. Em algumas Comunidades Eclesiais de Base, discutia-se a !uta pela terra c a Campanha Nacional pel a Rcfonna Agraria. Em fcvcrciro de 1983, o Movimcnto dos Trabalhadorcs Rurais Scm Terra do Oeste do Estado de Sao Paulo, o Movimento dos Scm Terra de Suman; c a CPT realizaram, em Andradina, um eneontro que reuniu mais de 1. 700 trabalhadores de 34 municipios. Nascia ali o embriiio do MST no Estado de Sao Paulo.
Mato Grosso do Sui
No final da dceada de 1970, no Mato Grosso do Sul, a pratica de explora<;iio da mao-de-obra camponesa para fonnayiio de fazcndas c pastagens era comum. Essa pratica fora utilizada no Estado de Sao Paulo dcsde o final do seculo X! X. Efctivada a grilagcm, comc<;ava a forrna<;iio das fazendas, quando os latifundiarios-grileiros arrendavam as tcrras aos camponeses scm-terra, para que derrubasscm a mata e plantasscm capim. Depois de formadas as fazendas, acabam os aJTcndamcntos cos camponcscs sao obrigados a migrarcm em busca de novas tcrras. Por meio desse modo de explora<;iio, muitas fazendas foram formadas pelos trabalhadores sempre expulsos e migrantes. Evidcntc que essa situayao gcrou conflitos. Par essa razao muitos camponcses foram assassinados. A causa maior dos conflitos era a constantc luta pcla conquista da terra de trabalho.
Contra essa fonna de explorayiio, os sem-terra sul-mato-grossenscs fizeram a !uta que gcrou o MST. Desde 1979, nos municipios de Navirai, ltaquirai, Taquarussu, Bonito e Gloria de Dourados, as latifundiarios pararam de arrcndar terras, pais as fazcndas ja cstavam fonnadas. Enquanto forrnavam as fazendas, derrubando a mala e plantando capim, as camponeses plantavam algodao e outras culturas, faziam poyos e se estabeleciam. Durante muito tctnpo, com o fim do arrendatncnto, os camponeses migravam,
69
mas naquele ano resistiram. Algumas das lutas de resistCncia aconteceram em Navirai, nas fi1zendas Entre Rios, Agua Dace c Jcquitiba, envolvcndo em tomo de 240 familias. A !uta contra a cxplora<;iio c cxpropria<;ao continha o principal scntido da resis!Cncia desses cmnponcses, que contavam como apoio da Comissao Pastoral da Terrae de alguns sindicatos de trabalhadorcs rurais para a organiza<;ao das familias.
De inicio, as familias resistiram na terrae reivindicaram a prorrogayao dos contratos de arrendamento. Em alguns casas, os contratos foram prorrogados, em outros as familias foram despcjadas. Como o numcro de despejos era maior, as familias comcyaram a acampar nas lllat·gens das rodovias e fizeram pequenas ocupay6es deterra. No caso da fazenda Jequitib8., os scm-terra ganharam a causae puderatn ficar na terra por mais um ano. Na continuayao da luta, passarmn a rcivindicar a desapropria<;iio da fazenda para fins de refonna agniria. 0 latifundiario soltou milharcs de cabe<;as de gado sobre as lavouras dos camponcscs. 0 advogado dos scm-terra Joaquim das Neves Norte pediu a aplicac;ao das nom1as do Estatuto da Terra. Em 1981, o advogado foi assassinado em frcnte a sua casa. Esse fato acirrou os cont1itos e mais de mil scm-terra realizarmn uma n1anifestayao de protcsto no centro de Navirai. Os nUmeros de conflitos aumentarmn c diante dos fatos o governo interveio.
Os latifundiarios mandaram malar o advogado e tambem ordcnaram aos pistoleiros que amea<;assem as familias que resistiam na fazenda Jequitiba. Muitas familias deixaram seus lotes c as que rcstaram foram dcspejadas violentamcntc pclos jagunyos. Esse fato soma va-se a v8.rios outros, de 1nodo que o nllmero de conflitos crescia a cada dia. Com a intcnsifica<;ao dos conflitos o govemo estaduallan<;ou o Projeto Guatambu, em que o governo prometia assistCncia tCcnica, econ6mica e social aos camponcscs. Mas o projeto niio foi desenvolvido c em contrapartida 800 familias ocuparam a Fazenda Baunilha em ltaquirai. A area era devoluta e estava em litigio entre dois grilciros. Com a ocupa<;ao, os sem-terra reivindicavam a desapropria<;iio. Os grileiros exigiram a desocupayao das tcrras e pressionaram o governo, que enviou a Policia Militar para realizar o despcjo. lniciou-se uma ncgocia<;ao entre o govemo e os scm-terra com a participa<;ao da Federa.;ao dos Trabalhadores na Agricultura. Criaram uma comissao com pcssoas indicadas pclo goven1o para solucionar o cont1ito. Nao cxistia uma fonna de organizayao dos scm-terra, de modo que a comissao decidiu c convcnceu as familias a deixarem a Urea. Diante desse fato, os ocupantes se desmobilizaram. Contudo, metade das familias acampou nas margcns de uma rodovia e denominou o acampamento de "Guatambu". Com esse ato, os sem-tcrra demonstravam que 0 projcto do govemo nao significara absolutamente nada.
A policia ccrcou o acampamento com arame farpado impedindo que novas [amilias viessem se samar aos acampados. Ninguem poderia entrar ou sair. Nem mesmo o padre podcria cntrar para celebrar a missa. Por 13 meses pennaneceram confinados e somente obispo da Diocese de Dourados conseguiu celebrar uma missa. Da mcsma forma, como na Encruzilhada Natalino, o govcmo militarizou a !uta, de modo que os militares mantinham o acampamcnto sobrc rigido controle, procurando dcscstimular as familias. Coagidas, isoladas, scm apoio, pouco a pouco foram abandonando o
70
acampamento. Rcstaram 68 familias que sobreviveram trabalhando de b6ia-fria. 0 govemo transferiu cssas familias para uma area de ccrrado, no municipio de Cassilandia, na divisa como Estado de Goias, distante 1.000 km de ltaquirai. Quando chegaram a 3rca, pcrcebcram que, mais uma vcz, haviam sido enganados. 0 Incra havia lhes promctido que a 3rca era boa, n1as cncontraram arcia c cstavmn a 90 km da cidade mais prOxima. TambCm nessa 3rca a policia mantevc o ccrco c impcdiu que a CPT realizasse rcuniOes com os trabalhadorcs. Durante 4 meses pcn11aneccram alojadas em urn barrac5o atC serem transferidas para os lotcs, onde n5o havia 3.gua, sO areia c pcdra.
A pritncira colhcita foi um fracasso. Para nao morrcrcm de fame, passaram a trabalhar como diaristas cn1 areas pr6xitnas, ondc a agricultura era mecanizada. A falta de agua, a terra arcnosa, a fomc, as doenyas, a dist<'incia e a falta de comunicay3o agravaram a situa<;ao das familias. A CPT rcalizou uma campanha de alimcntos para ajudar as familias e passou a denunciar o descaso do governo para com os trabalhadores assentados. Encaminhou um dossiC ao governador, pedindo uma soluy3o para o caso. 0 govemo propos a transfercncia das familias para o norte do Malo Grosso. As familias ten tam ncgociar a transfcrcncia para o sui do Mato Grosso do Sui, mas diante da misCria em que se encontravam e da intransigencia do govcn1o, aceitaram a mudanya para o municipio de Colider, a 1.500 km de onde sc encontravam.
De maio de 1981, quando ocuparam a Fazenda Baunilha, em Itaquirai, ate sctcmbro de 1983, quando chegaram a Colidcr, essas familias que foram 800 na ocupa<;iio, 468 no acampamento, na bcira da estrada, 64 quando chcgaram em Cassilandia, cram agora 59. Em fevcrciro de 1984, umlavrador cscrcveu de Co1ider para a CPT, informando que o prometido, mais uma vcz, nao fora cumprido. Promctcram lotcs de I 00 ha, mas de ram 50, c muitos niio tem I 0 ha que sc aprovcitcm. A area era pedregosa. A malaria cstava aumcntando no asscntamento, muitos pais, para nao vcrem os filhos morrer de fon1e, partiram para os garimpos. Mas tambem 13 cstavam tnorrendo de malaria. Muitos rnorreram na caminhada da luta atC chcgarem em Colider. No assentamento, nao tinham perspectivas de sobrevivencia. Se o objctivo do govcrno foi ode climinar as familias sem-tcrra, tinha conscguido. A li<;iio que ficara c que jamais deveriam ter aceito sair do estado. Aquela cxpcriencia fora uma li<;iio de que a !uta pcla tetra tern que scr feita na terra. Servira como exemplo que, scm organizayao, nao ha conquista. Quem faz a !uta tcm que decidir sabre os rumos da !uta. Nao se pode pcrmitir que as decis6cs sejam ton1adas por quem nao esta na caminhada.
Em 1981, as fan1ilias scm-terra realizavarn reuni6es ctn 20 municipios. Diversas lutas acontcccram e forarn formados acampamcntos como fonna de resistCncia. No fim de 1982 foi realizado urn encontro em Taquarussu, ondc os scm-terra discutiam as forrnas de apoio e as perspectivas de !uta. Avaliam que ficar enviando abaixo-assinado por mcio de sindicatos nao traz solu<;ao para os scus problemas. Elaboram um documento em nome do Movimcnto Sem Terra do Malo Grosso do Sui c cncaminham ao govemo, reivindicando o asscntamento imediato. Nao conseguiram nenhum tipo de acordo: s6 promessas. Esperar do governo alguma atitudc com rela<;ao a situa-
71
y3o das familias sem-terra era morrer na estrada. Dccidirarn sobrcvivcr c corneyaram . -a orgamzar uma ocupayao.
No final de 1983, realizaram um lcvantamento do ni1mero de familias que estavam participando das reunioes e pesquisaram as fazendas que podcriam ser oeupadas'. Com as infonnay6es em mi'ios, passaram a organizay3o da ocupay3o. Para chegar na fazenda a scr ocupada era necessaria atravcssar o rio Guirai. Esse rio divide os municipios de Jatei c Ivinhcrna. Para atravcss3.-lo, os scm-terra comcyaram a construir uma passarcla com 50 m de comprimcnto, tendo dais cabos de a9o como suportc e 140 tabuas de urn metro cada. A ponte seria montada algumas horas antes de comc9ar a ocupa9iio.
A area a ser ocupada era urn grande latifimdio de 18.000 ha, denominado Santa Idalina', que cstava sabre o domini ada Soeicdadc de Mclhoramentos e Colonizayao (SOMECO), loealizado no municipio de Ivinhema. Eram mais de mil familias dearrendatarios, assalariados, posseiros, ribeirinhos, desempregados da cidade que havimn n1igrado do campo e brasiguaios, cmno viriam a scr conhccidos os sem-tena brasilciros que trabalhavam em fazcndas no Paraguai. Foram mcses de reunioes para accrtar o trajeto e a ocupayao. Cinco dias antes da data marcada para a cfetivayfio da ocupayao come<;ou a circular um boato, de que as policias militar c civile a prcfcitura de Mundo Novo, municipio localizado no extrema sui do estado, na divisa como Paraguai, e tarnb6tn o Incra, cstavam infon11ados da organizayfio dos scm-terrae prepararam um plano para impedir a sa ida dos 13 caminhiics das familias do municipio.
Os scm-terra investigaram para saber se os coment3.rios tinham fundamento. De fato, nas periferias das cidadcs, nos bares e tnercearias, o comentil.rio gcral era que cstava para acontcccr uma ocupayao. Mas isso nfio significava muito, porque ocupayao de terra sempre acontccia. Scmpre acontece uma em cada canto do cstado. Contlitos fazem parte do dia-a-dia. Ondc h3 latifimdio e scm-terra, hal uta. Mas a noticia come<;ou a prcocupar, quando a Federa9ao dos Trabalhadores na Agricultura, que possuia informay6es sabre a ocupayao, tentou desarticular a organizayfio que demorara mcscs para ser construida. Era a v6spcra do dia da ocupa<;iio.
Os trabalhadores que iriam na frcntc para arrnar a ponte dccidem aguardar. A policia poderia estar de prontidao. Rcsolvem que o mais seguro scria chcgar todos juntos. 0 material da passarcla deveria ser levado no caminhiio com a alimentayao. Cogitou-sc na mudanya do dia da ocupayao, mas era impassive! avisar todas as pcssoas em todos os municipios. Nao existia sa ida, a ocupay3o iria ocorrer de qualqucr jeito. Durante os trajetos ate a fazenda Santa Idalina, aconteceram v::lrios incidcntes. Em Mundo Novo, a Policia Militar tentou impedir a sa ida de um comboio e prender alguns tra-
8. Nessa !uta, alguns scm-terra da tazcnda Burro Branco. em Santa Catarina, vi cram contribuir com a organizayiio das fllmilias.
9. Uma a nUl isc dcta!hada dcsta !uta cst:i em: CortCz, CUcia: Silva, Edson: Taqucs, Luiz. A tnn·cssra do rio dos Piissaros. Bclo Horizontc: s. cd .. 1985.
72
balhadores. Sem sucesso, os policiais dirigiram-se a uma fazenda no municipio Japora, ao sui de Mundo Novo, certos de que seria oeupada. Mas, os caminhiies vao em direyiio ao norte, para lvinhema. 0 cncontro dos comboios acontcceu na cidade de Sctc Placas, mais de 20 caminhiics. Outros se perdcram ou cstavam atrasados. Alguns faram barrados pcla Policia Rodoviaria. 0 caminhilo com os alimentos qucbrou c, pior, cstava com a maior parte do material para a construyiio da passarela sabre o rio.
Era madrugada de 29 de abril de 1984, e a caravana de caminhiics iluminava a estrada de terra que chegava ate o rio. Diante da terra a scr ocupada, as familias comcyaram a dcscarregar seus utcnsilios. Scm a ponte, era prcciso cncontrar outra fonna de atravessar o rio. Conscguiram trazer apcnas um cabo de ayo, o yuc era insuficiente. Tcriam que atravcssar a nado, antes que a policia chegassc. Mas era muito pcrigoso, principalmcnte para as erianyas c para os idosos. Nesse mcio tempo, a policia chcgou. Pritnciro tcntou impedir, como cram n1uitos, tcntou convcncer os scm-tcna a desistircm de scu intcnto, porque a fazenda estaria cheia de jagunyos. Era muito arriscado atravessar o rio c n1ais pcrigoso era cnfrcntar os jagunyos. Criara-sc mna situayiio de indecisllo, n1as na luta pela terra niio tern volta. As familias haviam investido tudo o que tinham naquela ocupayiio c depois de supcrarcm diversos obstaculos, durante todo 0 trajeto, defrontavam-se com a ultima barrcira: 0 rio.
Foi quando um rapaz se jogou no rio levando o cabo de a90. Na outra margcm amarrou o cabo de a~o no tronco de uma arvorc. Agora tinham um apoio para atravessar o rio. Em scguida, scgurando no cabo de ayo, as pessoas comeyam a passar para o outro !ado. Carrcgavam o que podiam, ajudavam as crianyas c pouco a pouco mantaramo acampamcnto. Fizeram alguns barracos para se abrigarem e uma fogucira para sc protcgerem do frio. Comc<;ou a chover torrcncialmcntc. A maior parte das familias atravcssou o rio sob uma forte tcmpestade. Quando amanheceu o dia, o batalhao da policia militar j<i havia sc posicionado na n1argcm em frente ao acampamento eo comandante ainda tentava impedir que os scm-terra continuassem atravessando o rio.
Ao meio-dia, um aviao da empresa comeyou a sobrcvoar o acampamcnto. Primeiro os acampados batizam o Iugar de Porto dos Sacrificios, dcpois de Porto da Espcran<;a e por fim de Acampamento Vcnceremos. Estabclccido o acampamcnto, chegou a imprensa junto como secretario de Seguran9a do Estado, que veio com a ordem para que os scm-terra deixassem a area imediatamcntc. A Policia Militar se posicionara em pontos estratCgicos em torno do acampamento. Utilizavam os carros da SOMECO para fazcr a ronda. 0 acampamento estava cercado. Tcntaram impcdir a entrada de padres e freiras que vicram trazer apoio, mas nao conseguiran1. Muitas pessoas ficaram doentcs por causa das condi9iics precarias. A maior parte dos alimcntos que trouxcram foi perdida. Diante da situayao, os sem-terra procuram accle-
. -rar as negoctavocs.
Uma comissao de II lavradores foi para Campo Grande negociar como govemador, que repctiu as mesmas prmnessas. Estava se empenhando para cncontrar uma soIu,ao, mas desde que saisscm da terra ocupada. De modo que ncnhuma resoluyiio foi
73
acertada. Do !ado do latifimdio, todavia, as decis6cs cram tomadas com rapidez. A SOMECO entrou com pcdido de rcintcgra9ao de posse, a liminar favoravel foi dada no mesmo dia eo batalhao sc prcparou para o despejo. Como apoio da CPT e a interVCIJ9iio do bispo D. Teodardo, da Diocese de Dourados, evita-se urn confronto entre scm-terra, policiais e jagun9os. 0 govcmo cstadual pretendia que os acampados !ossem levados de volta para os municipios de onde vicram. Era a forma de dcsmobilizar a luta: separar as familias, isola-las. Mas, obispo ofercccu uma Urea da Igrcja, no municipio de Gloria de Dourados.
A desmobiliza9ao e dispcrsao das familias significaria uma derrota para os scm-terra c a vit6ria de urn govemo sem proposta c sctn ncnhun1 interesse em resolver o problema. Era preciso veneer esse dcsproposito. Era fundamental manter as familias mobilizadas como imica fom1a de continuar prcssionando e exigindo uma solu9iio. A hist6ria da Encruzilhada Natalino foi uma li9ao. Scm organiza9ao e resistencia nao haveria conquista. As familias foram transfcridas para uma area de 4 ha da Diocese, na Vila Sao Pedro, em Gloria de Dourados. Da sua parte, o governo ofereceu emprego em destilarias de alcool, o que foi recusado pclos scm-terra, ja que muitos haviam abandonado as usinas, por causa do regime de pconagem ou trabalho escravo, porquc nao ganhavam ncm para pagar as dividas do barradio, ondc compravam a com ida.
Como apoio das comunidades, os scm-terra come<;aram a reccber alimentos, que cram arrecadados pelos agcntes de pastoral. 0 govemo prometera enviar alimentos, mas tnais mna vcz nao cumprira com suas prmnessas. Ncssc tempo, varias criam;as morreram. A CPT era responsive! pela coordena<;ao gcral. Foram organizadas varias eomiss6es: mulheres, educa<;ao, saudc, jovens etc. Na continua<;ao da !uta, acamparam em frente :i Assembleia Legislativa, em Campo Grande, ocupando espa<;o politico, prcssionando c acompanhando as negociac;Ocs como govcn10. A ocupac;ao de detcnninados espac;os politicos C fundamental para manter a negociayao. A pressao or-
, ganizada 6 uma forma eficiente para dar movimcnto il pauta de ncgocia<;iio. E criado-ra de fatos e novas realidades, e a exposi,ao publica do problema agrario cos conflitos que the sao proprios. E dimensionar a !uta pcla terra na cidade, mostrando a importancia e a ncccssidade da resolu<;ao do problema agn\rio. Os scm-terra rcccbcram o apoio de diversas entidadcs c instituiyOcs. Todavia, o governo ordena a retirada das familias, e a Policia Militar fez o despejo. Na persistcncia da luta, acamparam em frente a Catedral de Sao Jose.
Depois de cinco mcscs de negocia<;ao, os acampados accitam uma area de 2.500 ha no municipio de Nioaquc, comprada pclo governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Seria um asscntamento provis6rio, porquc a area maxima para cada familia era de 5 ha. No final do mcs de setcmbro, todas as familias foram transfcridas para o assentamento que foi denominado Gleba Padroeira do Brasil. Era uma vit6ria parcial. Estavam conscientes que teriatn que continuar a luta por mais terra. Aquela conquista era apcnas urn ponte de partida da !uta pela terra c pcla refonna agraria.
74
MST: gcsta~iio e nascimento de urn movimento nacional
As lutas rclatadas foram expericncias que construiram uma nova realidadc no campo. Comcyava mn novo periodo das lutas camponesas no Brasil. Em cada estado, os camponcscs scm-terra criaram as condiyOcs necess:irias para a luta c conquista da terra. Essas lutas foram os primeiros momentos da vida do MST. Nessc tempo de gestayao, cada luta rcprcscntou urn instantc dcssa constnH;ilo hist6rica. Muitas outras lutas acontcccrmn em todo o tcrrit6rio nacional. As lutas aqui rclatadas foram as cxpcriencias que levaram ao principia da forma<;ao do MST. Dcsde 1979, quando comc<;aram as expcriencias, a CPT promovcu a articula<;ao das lutas, criando cspa<;os de socializay3.o politica entre os trabalhadorcs de quasc todo o Pais. Ncsscs lugarcs, os scm-terra trocaram cxpcriCncias e comcyarmn a pcnsar o descnvolvimcnto da !uta pel a terrae pcla refom1a agraria. A CPT rompia o isolamcnto das difcrentes praticas, realizando cantatas, visitas c cncontros entre sem-tena de diferentes estados. Em 1982, a CPT organizou cncontros rcgionais em prcparayffo ao primciro cncontro nacional para discutir o crescimento da !uta pela terra em todo o Brasil. 0 primciro encontra regional acontcceu na cidadc de Medianeira (PR), nos dias 9 a II de julho de J 982, e reuniu ccrca de 100 agricultores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo e Mato Grosso do Sul.
Ncsse cncontro, os participantcs fizeram uma avaliayao dos divcrsos tnovimentos sem-tcna dos cstados; aprcscntaram as causas e os limitcs das lutas, bern cmno as diferentes fom1as de apoio que reccberam. Analisaram as alian<;as estabelecidas e as suas perspectivas diante da politica do govemo. Discutiram a participayao dos sindicatos cas articulay6es neccssilrias para melhor organizar os trabalhadorcs sctn-tcrra. Para o desenvolvimcnto dos trabalhos foram criados grupos que relataram as difcrcntes expcricncias da !uta pela terra: posse, despejo, ocupa<;ao c acampamento. A expcricncia dos posseiros da Primavera, em Andradina (SP), foi destacada na !uta pcla posse da terra. No caso dos despejos, vilrias cxpcriCncias de resistCncia c cnfrentamento foram rclatadas, principalmcnte as lutas dos arrendatarios do Mato Grosso do Sul. lgualmente aconteceu com as experiencias sabre ocupa<;6cs, em que foram destacadas as ocupayoes da Burro Branco, no municipio Campo Ere (SC), e das glcbas Macali e Brilhante, em Ronda Alta (RS). A rcspeito da vida nos aeampamcntos foram evidenciadas as expericncias da Encruzilhada Natalino e diversas do Mato Grosso do Sul. Tambcm foram relatadas as expcricncias do MASTRO, no Parana.
No final do encontro, os agricultores aprcscntaram as seguintes conclusOcs: o modelo de descnvolvimento econ6mico foi considcrado o maior inimigo dos trabalhadores, porque represcnta apenas os intercsses dos latifundiarios, dos grileiros c grandes empresarios. 0 lncra foi apontado como uma das instituiv6cs oficiais que mais tem prejudicado os sem-terra. 0 Servi<;o Naeional de Informav6es (SNI), que atuava ostcnsivarncnte no meio dos tnovirnentos camponcscs, foi repudiado portodos os participantes, que dcnuneiaram tambcm algumas fedcra<;6cs e sindieatos pclegos sem compromisso com a classc. Rcafirmaram os trabalhos realizados nas lutas c
75
delibcraram que scria fundamental amplia-los. Era preciso formar comissi5es de scm-terra nos sindicatos, aumentar a articulavao c a solidariedadc entre os varios movimentos, promover cncontros cstaduais c regionais c criar bolctins informativos para cada movimento. 0 Boletim Informative da Campanba de Solidaricdadc dos Agricultorcs Scm Terra, que circulava apcnas no Rio Grande do Sui, foi escolhido como 6rgao de divulga<;iio dos cinco estados do Sui.
0 encontro de Goilinia
Nos dias 23 a 26 de setembro de 1982, reuniram-se em Goiania trinta trabalhadores rurais e vinte e do is agentcs de pastorais dos Estados do Rio Grande do Sui, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito Santo, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte, Piaui, Ceara, Maranhao, Goias, Mato Grosso e Rond6nia. Esse cncontro possibilitou o conhecimento das pessoas que vinham construindo a !uta pela terra, a troca de expericncias e a pcrspectiva de articula<;ao das lutas. Os participantes sc organizaram em grupos par frcnte de I uta: posseiros, assalariados, arrendat<irios, meciros e parcciros. Primciro relataram as difcrcntes formas de !uta e rcsistCncia: em scguida, fizcram uma analise critica das falhas, crros, acertos c limitcs. Rcssaltaram os principais inimigos da !uta camponcsa, nos estados, nas rcgiOcs c em nivcl nacional. Concluiram a importftncia de sc estabclcccr articula<;i5cs rcgionais, par frcnte de !uta, para avan~ar na organiza<;ao dos trabalhadores rurais. Surgiram v;:irias idCias sabre cssa qucstiio. Uma dclas era a de se formar um nlovimento nacional. No debate, alguns apoiaram a idCia e outros acrcditavam que, cxistindo a CPT, n3.o havcria ncccssidade de sc criar um movimento. Dessc debate, foi sc fonnando a idCia da urgCncia em reunir os diversos movimcntos que cram gerados na !uta pcla terra para debater a respeito da organiza~ao dos scm-terra.
Ncssc processo de elaborac;:ao de idcias e propostas, urn dos asses sores, o soci6logo Jose de Souza Martins, expos suas idcias a rcspeito do futuro da I uta pcla tena na forma<;iio dos movimentos camponcscs. E, nessc scntido, ccrtamentc tcvc muita ini1uCncia na fonnulayao da noyao de sc organizar um movimcnto nacional. Nas rcsoluyOes finais foi constituida uma Coordcnac;:ao Nacional Provis6ria dos Trabalhadores Rurais Scm Terra, com a funyiio de prcparar o segundo cncontro nacional entre sctembro de 1983 c janeiro de 1984. No final do encontro, os participantes divulgaram uma carla em que conclamavam todos os trabalhadores a assumirem a !uta pel a terra.
"AOS COMPANHEIROS SEM-TERRA DO BRASIL
NOs, trabalhadores sem-terra vindos de 16 est ados de diversas regiOes do Pais, reunidos em Goiiinia, queremos enderec;ar este connmicado, transmitindo o objetivo deste encontro, hem como da importiincia do mesmo.
Queremos ainda fCJZer de perto um convite a todos, para que entr::;mna /uta pel a CONQUISTA E DEFESA DA TERRAe dos direitos que siio negados para nos.
76
Este 1mlioso encuntro teve como objetivos: a) avaliar as lutas e a caminhada de nossos movimentos; b) colocar em comum todos os pontos positivos e negativos; c) avaliar como estamos resistindo, que resultados conseguimos e d) encuntrar rneios de continuar e reforr;ar nossas lutas.
Toda !uta C d(ficil, purque ela exige muito e.~jOn;:o e wna dedicar;iio comprometida. Lamentamos e protest amos pela perda de muitos companheiros nossos quefOram assassinados, vitimas da gandncia dos grandes. Apesar disso, muitas vi tOri as jci se teve par todo Pais cum us muvimentos. Muitos irmclos nossos, depois de muita /uta, venceram, conquistando o chilo que lhes pertence e seus direitos. Niio esquecemos, ainda, que as lutas eo prOprio movimento nos ajudam a tamar consciCncia da realidade e a descobrir quem silo nossos inimigos.
VerUicamos que em todas as regiOes do Pais exist em COI?flitos de terra, eo pi or de tudo issu C a mane ira como se reso!vem esses problemas. Lamentamos outra vez em dizer que esses problemas sao resolvidos com repress cia policial, e a corda quebra sempre do !ado maisji·acu.
NrJs trahalhadores somos viti mas de wn sistema que estU volt ado para o intere.~·se das grande.\· empresas e lat{/imdicirios. Se nOs ni'io nos organi:::armos em nussos sindicatos e assucia(:Oes declasse, em nossas regiOes, nos est ados e ern nivelnacional; se nclo sentarmosjuntos para ana/ism· as nossas lutas, para confi·ontar com est a realidade que hoje cscraviza osfracos, se nGojizermos isso, nunca iremos nos fibertar des/a vida de explorados e de verdadeira escravidiio.
Vivemos nwn mundo sem jinalidade humana. Mundo que C fabricado par todo wn sistema il~justo, implantado em nosso Pais. A terra nas mOos de poucos, as sa!tirios baixos, as leis quefOvorecem os grandes poderosos, u poder e a riqueza nas mOos des/a minoria, re1·elam claramente estefato que na nossa mane ira de pensar C uma \'erdadeira vio!Cncia contra o hom em e a natureza. 0 sistema prega vio!Cncia e total desrespeito aos direitosfundamentais de cada pessoa. Este mundo, cujajinalid(,dc niio e ()hom em, que(; mantido pel a sistema implantado, e ()grande geraclor de todo tipo de mal que il?f'esta nossa sociedade, como: a criminalidade, a}Ome, o roubo. o men or ahandonado, a prostituiy·iio, a misi:ria e outros tipos de vio/Cncia.
Alertamos, aill(/a, a todos os companheiros, da importiincia de wna participa{iio consciente nas decisrJes politicas, porque os problemas citados sZiofl-utos das injusti('OS e daj(dta de parliCijJa~·cJo. Convidamos para que pens em e para que ni'io deixem se enganar pelasj(dsas promessas de pessoas que tCm interesse pelo povo s6 na hora do voto.
Queremos, at raves des! a carla, nos solidarizar com os canavieiros em greve no Estado de Pernambuco e com todos os companheiros de !ado o Pais, que estiio !ulandoe sqji·endo. Queremos dizer que continuem firmes e mais uma vez convidamus a todos os companheiros para que se unam pelos nossos direitos.
77
Ao encerrar, queremos em poucas palavras agradecer a todos que estiio assumindu a causa do trabalhador. Um abrw;o a todos.
Goi<inia, 26 de setembro de 1982.
Seguem as assinaturas dos represe11tantes dos 16 estados ''. 10
Esse cncontro foi o ponto de partida para a articulac;ao das lutas dos scm-tcn·a. Em seguida, realizaram uma s6rie de reuni6es regionais, em que aprofundaram a idcia da articula<;ao dos movimcntos. Em janeiro de 1983, a Coordcnac;ao Nacional Provis6ria dos Trabalhadores Rurais Scm Terra reuniu-sc em Bela Horizonte para tratar dos cncaminhmnentos estabclecidos durante o Encontro de Goifrnia. A Coordenay3o havia feito mnlcvantamento e identificara mais de trinta rcgi6es, on de existiam conflitos e as lutas estavam articuladas. Discutiram-se as condiy6cs concretas dessa realidade para a fon11ac;Uo de urn movimento nacional. Os pmiicipantes concluiram que aqucla realidade n3o possibilitava as condiy6es neeess<irias para uma articulayao nacional, apenas possibilitava o fortalecimento regional. Desse modo. recomendou que as lutas fossem articuladas com o movimento slndical autCntico ou outras organizac;ocs dos pr6prios trabalhadores.
0 Movimento dos Trabalhadores Sem Terra da Regional Sui
Os scm-terra dos Estados do Rio Grande do Sui, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo e Mato Grosso do Sui continuaram se encontrando com o objetivo de articular as lutas. Realizaram reuni6es em v3rios municipios, onde prosseguiram o debate sabre as difcrcntcs pniticas c scus dcsafios. Nesse proccsso de aprcndizado da !uta, cada vez mais, ficava patcnte a nccessidade de formalizar a organizac;ao dos trabalhadorcs scm-terra. No encontro realizado em Chapec6 (SC), no mcs de fevcreiro de 1983, avaliaram a con juntura politica que sc fonnara com as cleiyOes para govetnadorcs e analisaram a perspectiva de organizay3o e articulay3o dos movimentos nos cstados. Os agricultores fizeram um balanc;o das decisocs tomadas dcsde os cncontros de Mediancira e Goiania, do que havia sido fcito co que faltava fazcr. Estabcleccram as prioridades em niveis locais c regionais e encaminharam sugest6es a Coordcnayao Provis6ria Nacional, para a rcalizayiio do pr6xitno encontro nacional. Decidiram criar uma Comissao Regional Provis6ria que reuniu os movimentos dos cinco cstados do Sui, formando o Movimento dos Trabalhadores Scm TcJTa da Regional Sui.
Esse Movimcnto rcpresentava o desenvolvimento do processo que levaria ao nascimento do MST. Os agricultores organizados estavam conscicntcs de que, isolados, nao tcriam for<;a politica para fazcr avanc;ar a ]uta pe]a (CJTa, pe]a rcfonna agniria
10. Esta carta foi publicada no Bolctim SEM TERRA, ano ll. n" 28, outubro de !982, p. 8.
78
e pela dctnocracia. Neste senti do, a fonnayao de divcrsos movimentos s6cio-politicos vinha acontcccndo ctn v<irias rcgi6es do Pais. Na cidadc, a luta mais rclevantc foi a organiza.;ao dos trabalhadores metalurgicos do ABC paulista nas grevcs que irromperam ncssc proccsso de redcmocratizayao. Assim cmcrgiu o novo sindicalismo, que fundou a Central Onica dos Trabalhadores. Outra !uta que se descnvolvia era pcla constru.;ao do Pmiido dos Trabalhadorcs. Todas essas lutas represcntaram a reconquista dos dircitos, da dignidade da classe trabalhadora. Eram fom1as de automovimentayao, em que as lutas do campo e da cidade sc tnotivavam.
A fonna.;iio do Movimento da Regional Sui foi a principal a<;ao que abriu caminho para amp liar as cxpcriCncias de luta pela terra. Se ainda nao cxistiam as condiy6es concrctas para a fonnayao de urn tnovimcnto nacional, era urgentc construi-las. A articula<;iio aconteceria na constru<;iio de cspa.;os de socializa<;iio politica pclos pr6prios trabaIhadorcs. Convcnceram-se que somente clcs podcriatn fazer a !uta avanyar. E para isso era necess<irio construir novos espayos sempre. As ocupay6cs sao cspayos de resistencia, sao praticas que lev am as reflex6es. Essas, por sua vcz, sao fcitas nos encontros dos
• trabalhadores, onde socializam scus conhecimentos. E na reprodu<;iio desscs cspa<;os que novas experiencias sao geradas, nasccndo novas lutas num processo continuo. E esse proccsso em movimento dos espa<;os de !uta c chamado de espacializa<;iio da !uta pcla terra. Foi com esse jeito de trabalhar que os scm-terra organizados na Comissao Regional prosscguiram cmn as lutas e com as reuni6es nos municipios, fm1alecendo a troca de cxpericneias c promovendo debates a respeito das conjunturas eeon6mica e politica do Pais. Par essas iniciativas foram construidas as condi<;iies para a realiza<;ao do Encontro Nacional, que aconteceu em janeiro de 1984.
Terra para quem nela trabalha
A Comissao Regional Sui organizou, nos dias 20 a 22 de janeiro de 1984, em Cascavel (PR), o Primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadorcs Rurais Sem Terra com a participa<;ao de 92 pessoas: scm-terra, sindicalistas, agcntcs de pastoral e asscssorcs. 0 cvcnto reprcscntou, antes de rna is nada, uma vit6ria. Ap6s vitrias conquistas de terras c da caminhada em dirc<;ao a unifica<;iio e formaliza<;ao das a<;iies das lutas camponesas, os scm-terra fundavam a sua organizayao. Estivcram prcscntcs trabalhadores dos Estados do Rio Grande do Sui, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Malo Grosso do Sui, Espirito Santo, Bahia, Para, Goias, Rondonia, Acre c do cntao Tcrrit6rio de Roraima.
A CPT contribuiu com a organiza<;ao do Encontro, que foi coordenado pclos scm-terra c dais asscssorcs. 0 bispo D. JosC Gomes c prcsidcnte da CPT cnviou uma mensa gem de apoio a ti.mda.;ao do MST, informando que a Pastoral scmprc foi c sera urn scrvi~o da Igreja aos camponescs em !uta por seus dircitos. TambCm pat1iciparam rcprcscntantes da Associac;ao Brasileira de Refom1a Agraria (ABRA), da Central Onica dos Trabalhadorcs (CUT), da Comissao Indigcnista Missionaria (CIMI) c da
79
Pastoral Opcniria de Sao Paulo. Essas participac;iies cxpressavam a dimcnsao da !uta pel a terra que une os grupos lndigenas, os camponeses e os openirios. Na realizac;ao das atividades, foram apresentadas as principais lutas e as politicas dos governos estaduais c federal, que depois de sistematizadas tornaram-se as rcfcrCncias para as amlliscs das difercntcs rcalidadcs dos camponeses. Essas infonna<;ocs, mais os conhccimcntos construidos na hist6ria da !uta, foram os parametres para pcnsar a formac;ao do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Os problemas enfrentados pelos trabalhadorcs cram resultados do modclo cconomico que scmpre os excluiu. Em alguns Estados a expans3o da soja, da cana c da pecu3-ria, em outros o cafC c o cucalipto. F oram analisadas as caractcristicas comuns dcssc modelo: a expropriac;iio, a expulsiio da terrae a intensificay3.o da concentrac;3.o fundi<iria scmprc gcraram lutas de rcsistCncia; a migrac;ao continua dos camponcscs em busca de tcrras, rcsistindo ao trabalho assalariado. Em dcfesa das lutas de rcsistencia estava a Pastoral da Terra, como principal organiza<;iio de apoio. Em alguns Estados, os poucos sindicatos combativos cxistcntcs cram a (mica forc;a dos trabalhadores. 0 crcscimcnto do trabalho assalariado, os grandes projctos de colonizac;iio, a violcncia contra os posseiros c contra os scm-terra cram as marcas das politicas govcn1amcntais.
Nos cinco Estados do Sui havia cxperiencias dos scm-terra na organizayao de movimentos isolados. No Par:i, acontccia a !uta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarem (PA), que cstava sob intcrvcn<;iio. Os trabalhadorcs criaram uma scric de taticas de rcsistcncia contra o processo de grilagem, organizando os posseiros em suas comunidades. Nos outros Estados, havia resistencia e a neccssidade de construir uma fonna de organiza<;iio para fazcr avan<;ar a !uta pcla terra. Foram rcgistradas divcrsas formas cmcrgcntcs de organizac;ao que abrangiam os grupos de base, as comissOcs municipais, comissOcs rcgionais, mobilizayOes etc. As fonnas de ]uta incluiam as ocupayOes e a rcsistencia na terra, os acampamcntos, na sua grande tnaioria csponHincos, as ncgociayOcs para prcssionar o Incra cos govcrnos cstaduais.
Por outro !ado, as taticas do govcmo cram dcsmobilizar a !uta pcla terra com aimplantac;ao de projctos de coloniza<;ao, com promessas que levam ao esgotamento, principalmente com a coopta<;iio de lidcranc;as. Dcssc modo, fragmcntava c cnfraquecia os movimcntos pcla dcsmoralizac;ao dos lidcres. Noutras vezes, apresentava soluc;oes individuais, ameac;ava e reprimia por meio da militariza<;ao da questao agniria. Dcssa formao governo cstimulava a migra<;iio de mao-dc-obra para as regiiies onde desenvolvia grandcs projetos, como a Transamazonica e Carajas. Ainda prctendia resolver os problemas fundiarios do Centro Sui e Nordeste, levando os scm-lena para a Amazonia. Em alguns Estados, embora tivesscm sido eleitos govemadores de oposic;iio ao govemo federal, as politicas fundiarias nao priorizavam os problemas dos sem-terra. Com poucas exccc;iics, as rcla<;ocs de forc;as na composi<;ao politica poderiam viabilizar apcnas alguns assentamentos, por causa da intensifica<;ao dos conflitos.
80
Na lcitura dcssas rcalidadcs, os trabalhadorcs pondcraram sabre as perspectivas da I uta de dcfcsa c de rcsistencia da classe. Era necessaria fortalcccr c consolidar a luta, por mcio de uma organizayao aut6noma; investir na socializayao dos conhccimcntos dos dircitos, gerados pclas expcriCncias de rcsistCncia c de organizac;3o; divulgar mais a I uta par mcio de publica96cs popularcs c dos mcios de comunica9ao; realizar atos pltblicos, debater com a socicdadc, romper o isolamcnto eo localismo; motivar a participa9ao de toda a familia para o fortalccimento da organizac;ao da base; lutar scm trCgua e nao accitar de modo algum o jogo do govcrno e dos capitalistas. Essas pondcrac;Ocs tinhan1 con1o rcferCncias as cxperiCncias, uma vcz que todas as vit6rias acontcccram na marra, por mcio da ocupac;fio, dos acampamentos c da press3.o. Essas ac;Ocs cxplicam o sentido da I uta e das conquistas. Sao, em ccrta mcdida, a linguagem da !uta pcla terra. E que scm pre prccisa scr ampliada em cduca9ao, saudc, tecnologia, organizayao da produyao e da comcrcializayao etc.
0 nosso Movimento daqui parafrente
Esse Encontro tevc como marca principal a pcrsistCncia. Os cxcmplos da hist6ria camponcsa c das praticas de lutas construidas, desde 1979, foram as li~oes que possibilitaram aos trabalhadores scm-terra fundar o MST. Mcsmo frcntc aos difcrcntcs obstaculos politicos c ccon6micos, os sem-tcna pcrseveraram. A funda9ao do MST rcprcsentou a firmeza c o animo da !uta pela dignidade. No Documento Final do Encontro, os scm-terra declararam suas intenyOes de prosseguir com a I uta pcla conquista da terra e pela dcmocracia:
ENCONTRO NACJONAL DOS SEM-TERRA DOCUMENTO FINAL
Companheiros, nOs trahalhadores sem-terra, representantes dos cinco eslados do Sui, convidados da mesma cat ego ria dos Est ados da Bahia, Espiritu Santo, GoiGs, RondOnia, Acre, Roraima e Pan/, Organizafy:Oes dos Trabalhadores, CUT, Sindicatos dos Trahalhadores Rurais e oper(irios, bem como rcpresentantes da ABRA. CPT, Pastoral Operaria e CIMI, nos reunimos nos dias 20 a 22 dejaneiro de 1984, no Centro Diocesano de Formw;iio de Cascavel (PR). con lando com a participac;iio de aproximadamente 100 pessoas, como objet iva de estudar os problemas e lutas dos Sem Terra.
Queremos, a/raves deste documento, levar aos companheiros da Regional Sui, bem como a todos os 14 milhOes de trabalhadores sem-terra do pais inteiro, incluindo nossos inn/los indios, a comunicm;iio dosprincipais debates e conclusOes tiradas neste encontro:
81
I. REAL/DADE
No relata das experif!ncias de lutasfeitas pelos cornpanheiros dos d{ferentes estados, representadus de Norte a Sui do pais, constatamus com muita tristeza que as problemas aumentaram: cresceu o nUmero de cm?flitos, afome, a misCria, desemprego, mortes, assassinatos hrutais de companheiros. SO no ana de 1983 for am mortos 116 trabalhadores em 15 est ados, e seus assassinos conhnuam soltos. Aumentaram as migrar.·Oes sohretudo do Sui para o Norte,fi·uto de uma campanha puhlicitciria desencadeada pelos Orgiios do governo e colonizadoras particulares. Esses mesmos imigrantes, mal-h~fi:Jrmados, vivem hoje na maior mi.w?ria, enfiTntando pistoleiros, maltiria, doenr,·as,falta de escolas e estradas. Os que gostariam de voltar nGo conseguem, pais seus recursos niio pagam sequer passagens de volta.
Todos esses problemas e outros mais slio conseqiii:ncias da politica econOmica, fundiciria e agricola voltada tiio-somente para a export{l(;Qo, em beneficia do capital nacional e estrangeiro. Esse capital, par sua vez leva U concentrac;Go das ten·as nas miios de poucos, eleva sempre mais o nU.mero dos sem-terra. SO no Parana, na dCcada de 70. sab·am mais de 2.5 milhoes da lavow·a. No Rio Grande do Sui. 1.5milhi5es e em Santa Catarina. 61)() mil.
II. LUTAS
Par sua vez, aos pequenos proprietcirios s6 resta a /uta de defesa e resistCncia pela permanCncia na terra. Uma primeira manifi!star,'iio dessa /uta sc"io os conjlitos de terra dos posseiros, meeiros e arrendatlirios.
A situm;iio de opressiio e explorar;iio a que cad a vez mais siio submetidos as lavradores e os Sem- Terra e suas lutas de d~fesa, faz com que estes comecem a agir contra o projeto da burguesia latifimdiciria que quer se apropriar de toda a terra, e em vez de s6 se defender, comq:am uma /uta pel a reconquista da mesrna.
Est a e a /uta do Movimento dos Sem- Terra em quase todo a Brasil, no campo e na cidade: os acampamentos, as ocupac;Oes, o cumprimento do £statuto da Terra, atC a !uta par wn go verna eleito pelos trabalhadores.
III. VITORIAS
Nossa !uta pel a reconquista da terra tem alcwu;ado muitas vit6rias em vilrios est ados: jazcndas Macali e Brillumte, em Ronda Alta (RS); BwTo Branco e Aldarico Azevedo (SC); Fazendas Anoni e Cavernoso (PR); Cachorrinha (MG); Castilhos e Primavera (SP).
IV. CONCLAMA(:AO
Conclamamos a todos os companheiros a se reunirem em torno de nossa causa que j!i nos une, que e a /uta pel a terra, con lando para tanto como apoio das lgrejas, CPT e CJMJ e Sindicatos Autenticos.
82
Esperamos, num prOximo encontro, ver multiplicados os e.~fOrr;:os, articular;Oes e o mlmero de representantes engajados com a participa~·iio na mesma !uta, de todos os estados da F edera(·iio.
A TERRA PARA QUEM NELA TRABALHA E VJVE
Cascavel, 22 de janeiro de 1984 11
No Encontro comc<;aram os trabalhos para a defini<;ao da atua<;ao politica do MST, c a elabora<;ao dos objctivos gerais que delincariam as a.;oes, identificando o Movimcnto como fonna de organizayao dos trabalhadorcs scm-teiTa. Nesse proccsso, csboyaratn os primeiros objetivos gerais 1 ~ pelos quais os scm-terra se propunham:
1 - lutar pela reform a agr(lria;
2- lutar par wna sociedadejusta, .fi·aterna e acabar com o capitalismo;
3- integrar d categoria dns sem-terra: trabalhadores rurais, arrendatcirios, meeiros, pequenos proprietilrios etc.;
4- a terra para quem nela trabalha e de/a precisa para viver.
Outros objetivos, mais cspccificos, foram estabclccidos para o desenvolvimento do Movimcnto na conquista c rcsistCncia na teiTa. Era prcciso dar prosseguimento aos cncontros para trocas de cxpcriCncias; envolver os sindicatos nas lutas; articular as lutas do campo com as da cidade, solidarizar -se com as lutas dos indios e sensibilizar a opiniao pirblica para os dircitos fundamentais do povo do campo. Tambem definiram as tcrras priorit3rias para ocupayao: todos os latifU.ndios e as terras devolutas.
Para a amplia<;ao e desenvolvimento do Movimcnto foi cstabelecido que os scm-terra organizados sc dcslocariam para os municipios onde os scm-terra nfro estao organizados, espacializando a !uta c continuando a articula<;ao regional. Esses trabalhos tinham por objetivos a fonna<;ao do Movimento em todas as rcgioes. Para a cspacializa.;ao da !uta era fundamental desenvolvcr os scguintes trabalhos: procurar o apoio de lgrcjas, dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais; rcalizar rcunioes com as familias em suas casas, nas comunidades; formar grupos de scm-terra; realizar assembleias; escolher lideres; estudar as leis cas situac;oes dos sem-terra. Tambcm ficou detenninado que os sem-terra devcriam contribuir para como fortalecimento dos sindicatos c desmascarar os dirigentcs sindicais que nao se comprometem com a luta pcla tciTa. Nos sindicatos dirigidos por pel egos, fariam trabalho de base para tentar mudar a dirctoria. Onde nao cxistia sindicato seria precise funda-lo.
11. Rclat6rio do I" Encontro Nacional do Movimcnto dos Trabalhadorcs Rurais Scm Terra. MST: Porto Alegre, 1984, p. 19-20.
12. Jd.,p.l4-15.
R3
Com csses objetivos trayados, o caminho construido foi o da intcnsificayao da !uta pela terra, principalmcnte, por mcio da ocupac;ao. Como au men to das lutas, seria necessaria organizar comissOcs municipais, rcgionais c cstaduais, dcscnvolvendo as atividadcs inerentcs da !uta para dar forma ao Movimento. Os cstados mais bern organizados dcveriam ajudar na fom1ayao do MST em outros cstados. Os scm-terra dccidiram que a forma de tratamento com os govcnws seria de acordo com os compromissos assumidos com a !uta popular. Decidiram pela autonomia politica do Movimcnto. recusando propostas que significassern controlc e manipulayfio das lutas.
0 conjunto de decisiics cos objctivos definidos no Encontro foi constituindo o cardtr:rpofilico do MST. Ncssc proccsso de 10nnay5o cstao contidos os principios que consolidariam o Movimcnto. Nesse contcxto nasccu o MST, fruto da !uta popular, das expcriCncias das lutas camponcsas. Dcsdc sua genese em 1979 ate o scu nascimcnto em 1984, o Movimento foi sc dcsenvolvcndo pela sua praxis, procurando comprecndcr c mudar suas realidadcs. Assim os trabalhadorcs construiram e conquistaram scus cspac;os politicos, cnfrentando dcsafios nos debates c em bates da !uta. Dcpois de vintc anos da perseguic;ao c extinc;ao das Ligas Carnponesas, do MASTER c da UL TAB, nascia na !uta pcla terra urn novo movimcnto camponCs que comcc;ava a recolocar a pauta darefOrma agr3ria no campo politico. A pmiir dessas lic;Ocs hist6ricas e do fazcr-se na luta, os scm-ten·a tinham aprcndido que: terra nGo se ganha. terra se conquista.
Pode entrar todo mundo
Mais do que as decisOcs e objetivos, a prOpria rcalidade construida pclos scm-terra dctinia com pcculiaridadcs as suas principais caracterfsticas. 0 Movimento foi se fazenda com lutas massivas, tendo a pat1icipac;3o das familias e a rcligiosidade popular como elementos aglutinadorcs. Esse carGterpopular de uma fonna de organizay3o, em que participam as n1ulheres, as crianc;:as, os homens, os jovcns e os anci3os, diferenciava o Movin1cnto das outras instituic;Oes politicas. Durante a fon11ac;:ao do Movimento, as familias criam espac;os de partieipac;ao porquc a dimcnsao da !uta pcla terra requer c cnvolve a todos. Na constituic;ao do MST, foi-sc aprcndcndo que a !uta nao era apenas porum peda<;o de terra. era uma !uta pcnnanentc pcla dignidadc c pcla vida. Dai a nccessidadc de participac;ao de todos. Tambcm pcrccberam que ncssc ponto rcsidia toda a sua forc;a politica. A pmiicipay·ao das mulhcrcs e das crianyas no enfrcntamcnto con1 a policia dcmonstra que a luta e de vida e de mortc. A medida que todos sc inclucm no Movimcnto, os camponcscs tomam-se uma _potencialidade cxtraordin3ria, de modo que o MST cst:i scmprc a multiplicar o scu poder politico de !uta c resistencia.
Essa expcriencia foi alcm da participac;ao da familia. Podc cntrar todo mundo que quiscr lutar pel a rcfonna agniria. Pode entrar o professor, o padre, o engenheiro agr6nomo, o advogado, o tCcnico, o administrador etc. Essa condiy3o dcu consistCncia ao MST, que ao sc abrir para a participac;:3o superou as caracteristicas tipicas do movimcnto camponCs, quando pm1icipavam predominantetncntc os homens que trabalhavam
84
na terra. Procurando amp liar a !uta, o MST criara diversas cxpericncias de participa<;iio, scm perder sua identidade camponesa. A adesao ao Movimento dos que se predispuseram a lutar pcla tcrTa c pcla rcfonna agn!ria dinamizou a organiza.;iio c a amplia.;ao dos intcrcsscs dos camponcscs. No campo dos interesses reside a dirc<;iio politica, ondc prcvalcce a 16gica da participa<;ao efetiva dos que fazcm a !uta pela terra.
Em sua forma<;3.o, o MST acrescentou um componente corporal iva, no scntido associative. A razao dcsta caractcristica dcvc-sc ils cxpcriCncias vividas nos asscntamcntos. Ap6s a conquista da terra, os scm-terra prccisatn assumir um conjunto de lutas cspccificas, como par cxcmplo: credito agricola, cstradas, energia eletrica, preyo minimo, etc., que sao lutas que interessam diretamentc aqucla comunidade. Ora, esse can\tcr foi incorporado par causa da propria 16gica de dcscnvolvimcnto do Movimcnto. A conquista da terra nao 6 o fim da !uta, 6 scmprc urn ponto de partida. Os scm-terra toram aprcndcndo na caminhada que quem s6 !uta pela terra tern na prOpria terra o seu fim. Perder o vinculo com a organizayao dos trabalhadorcs 6 cair
• no isolamento. Ejustamente a organizac;ao que abre caminho para o avan<;o da !uta. Somcntc por mcio de urn forte n1ovimcnto, os scm-terra transfonnarao a luta pcla terra em !uta pcla rctorma agrirria. 0 canitcr popular eo componentc corporativo dimcnsionou o MST, qualificando a !uta e dando urn passo impmiante na constru<;ao da hist6ria da organizayao camponcsa.
Outro carater, cunhado na !uta, 6 o politico. 0 politico aqui possui o senti do da pluralidade e da coerencia, porque e a politica que sustcnta a convivcncia na divcrsidade. E a diversidade e a marc a principal do MST, ja que pas sou a rcunir gcntc de todos os credos, de todas as culturas e de todas as rcgiiics brasilciras. 0 MST, em sen dcscnvolvimcnto, rcimc o povo pobre do campo c da cidadc disposto a lutar. Em suas lcituras das rcalidades, nas suas praticas de !uta enos cspa<;os de socializa.;iio politica, os camponeses scm-terra foram percebendo que a !uta pel a terrae a !uta pel a rcfom1a agraria s6 sc dcscnvolvcm sc torcm fcitas no contcxto da !uta de classes. Foi cssa consciencia politica que detenninou a forma de organiza.;ao como movimento. Rompcram com a cstrutura na constrw;ao de urn processo continuo de transformayao. Para garantir cssa fom1a e preciso ter a autonomia politica como cssCncia. Essa conccpyao c rcsultado da pratica social c da lcitura que os scm-terra fizcram da hist6ria dos movimcntos camponcscs. Dcssc modo, procurando sctnprc aprcndcr para n3o comctcrem crros do passado, os scm-terra procuraram os lidcrcs das lutas camponcsas das dccadas de 1950-60 para conhcccrcm suas cxpcricncias.
Os principios da organizw;iio
Essa clabora<;ao sistematica das cxpcriencias c das leituras da hist6ria da !uta resultou num con junto de principios que passaram a reger o MST. Foi por rncio desses fundamcntos que os scm-terra criaram uma prirtica politica difcrenciada dos outros tnovimcntos sociais. Contudo, considerando a gcnuinidade da forma de organizay3o,
85
os principios, em grande parte, nao foram uma criayao desses camponeses. Na rcalidadc cles se inspiraram em outras organiza<;oes hist6ricas, como as Ligas Camponesas, o MASTER caUL TAB. Foram aprendcndo na pratica c com a hist6ria, que muitas vezes fora rclatada pelas pr6prias lidermwas sobrevivcntcs desses movimentos hist6ricos. Na construyao dcsscs preceitos cncontra-se a essCncia do Cxito do Movimento e que garantiu a sua perenidade.
Em seu desenvolvitncnto, o MST sempre teve como referCncias estes principios: lutar contra o capital na constru<;ao de uma sociedadc scm cxplora<;ao; lutar pela terra e pela reforrna agraria, para que a terra esteja sempre a servit;o de toda a sociedade; lutar pcla dignidade humana, por meio dajusta distribui<;ao da terra c das riquezas produzidas pelo trabalho; lutar sempre pclajusti<;a com base nos direitos humanos; lutar contra todas as fonnas de domina<;ao e procurar em todo tempo e Iugar a participa<;ao igualitaria da mulher.
Esse conteudo politico, fonnado desde a genese e que c proprio da natureza do MST, foi determinando sua forma de organizay8.o. De sse n1odo, os princfpios organizativos obedecem a 16gica dafOrma em movimenlo, em que prcvalcce a idCia de proccsso participativo nas ayOes pcla transformac;ao da rcalidade. Assim, os sen1-teiTa nunca tiveram um presidente. A sua forma de organizayao C composta por uma direyao coletiva. Sc contrapuseram criticamente as visOes burocraticas, pelegas e mediadoras. Recuperaram a no<;ao basica do avan<;o da I uta atravcs da pa11icipa<;ao e organizayao. Dcsse modo, em sua forma nao existc cargo de presidente, tesoureiro, secretario etc. Esse tipo de estrutura facilitaria a repressao, seja do Estado ou dos latifundi<irios. Por essa raziio, as instftncias de poder dcvcriam ser com pastas por colctivos, nunca por cargos individuais.
A divisao do trabalho em todas as suas dimensocs c condi<;ao fundamental para a organizac;ao se desenvolver, incorporando cada vcz mais novas pessoas, de acordo com suas aptidOes. Cotn esse principia, propiciaram a descentralizac;ao administrativa, sendo menos burocratico passive!, man tendo a autonomia de decisao para cada frcntc de I uta. A disciplina e outro principia 16gico sem o qual nao 6 passive! construir uma organiza<;ao. Essas rcgras foram elaboradas por mcio do aprendizado das expericncias hist6ricas, tendo por base a pratica da I uta. Por essa razao, o estudo c outro principia organizativo basico. Nao basta dizer que a I uta 6 justa, e prcciso aprender a lutar e fazcr a I uta.
Da mesma forma, nao basta conquistar a teiTa, C preciso construir tecnologias apropriadas para promover o dcscnvolvimento. Na hist6rica I uta pela terra, os camponcses foram aprcndcndo que rcivindicar nao Co suficientc, C preciso fazer. Assim, nao bastava rcclamar a falta de escola, foi preciso fazer a escola. E nessa escola ensinam que e preciso aprender sempre. Nessa conccpyao, o aprendizado acontece pela pratica c pcla reflexiio. Assim, as lidcranyas e dirigcntes precisam estar vinculados permancntemente com a sua base social. A final fora por meio do trabalho de base que aquclas pessoas tinham gerado o Movimento. 0 trabalho de base e uma metodologia
86
de !uta popular, que atravcs de urn con junto de atividades: de reuniiics e de fonna<;ao de pequenos grupos, procura-se a participa<;ao de todos. Nestes espa<;os de socializa<;ao politica pratica-se a cxpcriencia de democratiza<;ao das infonna<;oes, de conscicntiza<;ao dos principals problemas que afctam a !uta. Nesscs cspa<;os nascem a organiza<;ao e resistencia, que lcvam as familias ao fazimento da !uta.
Nessc proccsso foi gem1inando a concepr;ao de movimcnto social que os scm-terra construiram. Nos divcrsos cncontros que aconteceram entre 1982 e 1984, bem como nos seguintes, os participantes foram gerando o MST. Desdc o cncontro de Goiania, discutiu-se muito o caniter do Movimcnto. Nesse debate surgiram ideias que o vinculavam ora a CPT, ora ao sindicato. Se de umlado havia algumas cxpcriencias positivas da !uta pcla terra, realizadas com os apoios incondicionais da CPT e de Sindicatos dos Trabalhadorcs Rurais autenticos. De outro !ado, nas avalia<;iies concluiram que cxistem os limites dessas instituir;iies no campo politico da !uta pela terra. Primeiro, o movimcnto em cria<;ao tinha que cstar sob o controle dos trabalhadores, para garantir a sua autonomia. Portanto, nao podia ser subordinado a uma institui<;ao rcligiosa. Segundo, a estrutura sindical e restritiva, enquanto que a do Movimento e expansiva. Ao passo que o sindicato mantem um canitcr fonnal, o Movimcnto se constituia, destituindo-sc desse caratcr. A final, durante a ditadura, os trabalhadorcs pudcram sindicalizar -se, o que nao podiam era politizar-se. A consciencia politica era considerada subversao. Por essa comprccnsao, essa nova conccpy3.o de movimento social aut6nomo sob o controlc dos trabalhadorcs sem-terra foi dcfinida no I Encontro do MST.
Todo esse processo que levou a constituir;ao do MST reprcscntou, sem duvida, um amadurecimcnto politico-ideol6gico. Construiram urn movimento de trabalhadores rurais com autonomia e heteronomia. Ou melhor, autonomia porque a dire<;ao politica do Movimento nao csta subordinada a outras institui<;iies, e heteronomia porquc, na !uta pela refon11a agr8.ria, envolveram outras organizay6es politicas, como sindicatos, Igrejas c pmtidos. Nesse ponto, vale lembrar que a !uta pela rcforma agraria e um dos problemas politicos de que cstas instituir;oes se ocupam. Dcfcndem a realiza<;ao da reforma agniria mas nao sao os sujeitos rcalizadorcs dessa !uta. Elas participam da !uta apoiando os camponcses, por meio de alian<;as, porquc quem faz a !uta sao os trabalhadores sem-tcrra. Essa fom1a de organizayfio tcm a cfic<icia de pen11itir que essas organiza<;Ocs politicas perpasscm o Movimcnto. Dessa fonna, resgatou a nor;iio de !uta pel a rcfmma agr<iria por meio de ocupay5cs massivas de enfrentamento. Rccupcrou, assim, as origcns dos movimentos de trabalhadorcs que sempre compreenderam que as conquistas e a corrcla<;iio de for<;as s6 sc altcram com a participa<;ao do povo.
Faltava, ainda, o nome. Esse foi outro debate. Movimcnto c Scm-Terra eram termos que compunham os names dos v3.rios movimentos que fonnaram o MST. Aimprcnsa havia popularizado o nome Sem-Terra, de modo que os camponcses que nao possuiam terra, que trabalhavam em tcrras alheias, como o parcciro, o mcciro, o assalariado, cnfim todos estes trabalhadorcs ficaram conhecidos como scm-terra. Mas cssa dcnomina<;ao ganhou fon;a quando estes camponcses intcnsificaram a !uta pela tctTa. Dcssa forma, no conccito de scm-terra esta contida a idCia de I uta c de rcsistCn-
87
cia. A exprcssiio sem-terraja era conhccida desde os idos dos anos 60 com a formac;iio do MASTER. Mas, na realidade, esse substantive foi cunhado na hist6ria da !uta camponcsa ncste pais, onde o latifUndio e a sua contraposiy3o. Por essas raz6cs, durante a discuss:lo a respeito do nmnc, considerou-sc a incorporayao dos tcrmos n1ovimento sc1n-tcrra. Todavia, procurou-sc contextualizar cssas palavras no frtnbito do can\tcr declasse, introduzindo os termos trabalhador rural. Assim, foi aprovado par unanimidadc o nome: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. Par lim, os participantes dclibcraram que em 1985 rcalizariam o Primciro Congresso do Movimcnto.
Scm rcforma agn\ria nao ha democracia
Convocar todos os que lutavam pel a terra foi o principal objctivo da realiza<;iio do Primciro Congresso, para ampliar o Movin1cnto pclo tcrrit6rio nacional. Durante o anode 1984, varios cncontros cstaduais c rcuniOcs foram rcalizados para a organizayao do Congresso. Os scm-terra contaram cmn o apoio c a participayao da Comissao Pastoral da Terra e da Central Onica dos Trabalhadorcs. De 29 a 31 de janeiro de 1985, em Curitiba (PR), acontcceu o Primciro Congresso, do qual participaram cerca de 1 .500 lavradores de 23 cstados (RS- SC- PR- SP- MS - RJ- MG- ES- BASE-AL- PE- PB- RN -CE- PI-MA-PA- GO -MT- RO-AC e AM).
Par seu tamanho c divcrsidade politica, a mesa de abcrtura reprcsentou a hctcronomia da !uta pel a refonna agraria. AI em dos represcntantcs das eoordenay6cs cstaduais dos scm-terra, a mesa foi composta pelo pastor lutcrano Werner Fuchs, pclo prcsidente da Comissao Pastoral da Terra, obispo D. Jose Gomes c pelos bispos D. Jose Rodrigues, de Juazciro (BA), D. Ladislau Biernarski, de Curitiba e pclo arccbispo D. Pedro Fedalto. 0 go verna cstadual estava rcprescntado pclo en tao secretario da Agricultura Claus Germer, e do Interior Nclton Friedrich, mais o advogado Joao Bonifacio Cabral do Institute de Tcrras do Parana. Tambcm participaram Avelin a Ganzer, vicc-presidcnte da CUT c Ataidc Maranhao, lider sindical do Parana. Havia, ainda, representantcs de movimcntos camponeses da AmCrica Latina, de entidades rcligiosas curopeias, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do CIMI, de grupos indigcnas, do Movimento da Conscicncia Negra, do Centro de defesa dos Dircitos Humanos, do Centro de Estudos Migratorios (CEM), bem como parlamcntares de v3rios cstados brasileiros.
Participaram mais de 300 mulhcrcs. Entre clas, estavam Maria Oncidc, do Para; Elizabctc Teixeira, da Paraiba;. Santina Gracicllc, do Mato Grosso do Sui; Maria de Fatima Lina Bandcira e Maria Pinheiro Pereira, do Parana. Elas representam a hist6-ria da !uta camponcsa em seus estados e no pais. Participaram dos grupos de trabalho, discutindo a intcgrayao da !uta nos acampamcntos enos assentamentos. Ao tomarcm parte da !uta, as mulhercs tambem viabilizam a participayiio de toda a familia. Relataram suas expcricncias c scus sofrimentos. Elizabetc, Maria de Fatima e Maria Oncide
88
haviam perdido scus companheiros na dcfcsa de seus dircitos pela posse da terra. Da mcsma forma, como em suas comunidades, em scus municipios, as mulheres ocuparam seus espavos no proccsso de formaviio do Movimcnto.
Outro ponto forte do Congrcsso foi o lan.;amento da primcira versao do documento Assassinatos no campo: crime e impunidade (196411985). Em tres anos, de 1982 a 1984, foram assassinados 277 trabalhadores rurais. A violencia no campo semprc foi constantc, lutar pela tcna e lutar pcla vida. A violcncia contra os sem-tena tern sido un1a das marcas dos latifundiarios c da impunidadc anunciada dos govcmos. Quatro pessoas que sofreram difcrentes fonnas de violcncia falaram sabre essa qucstiio. Relataram seus trabalhos de !uta c resistencia, o padre Ricardo Rezendc, da CPT Araguaia-Tocantins; Francisco Chagas, possciro do Estado do Para; Manoel da conceiyiio, militante campones do Maranhao, e Juvcncio Mazzarollo, que havia sido condcnado pela Lei de Seguran.;a Nacional c cstivera prcso. No debate, os participantes analisaram a con juntura da !uta e avaliaram que, mcsmo como fim da ditadura, a tendCncia era de aumento da violCncia, porque a impunidade dos assassinos C un1a das marcas da questao agnlria.
As rcalidades da !uta pcla terra foram analisadas por grande regiao. No Nordeste, o coronclismo, a grilagcm, a fome c outras formas de violencia contra a populac;ao faram rclatadas. Para cxplicar as fonnas de rcsistCncia, os camponcscs maranhcnscs cantaram: "a risco que corre o pau, corre a machado I niio lui o que temer I aquele que manda malar, tambCm pode morrer ". TambCm mencionaram as lutas dos atingidos pel a construviio das barragcns co descaso do govern a federal para com os camponescs. Aprcsentaran1 suas fonnas de luta c as conquistas por meio da ocupac;ao. Em todos os estados nordestinos, a !uta pcla tcna estava acontecendo, todavia nccessitava de articulavao para poder descnvolvcr a organizac;ao dos trabalhadores.
No Norte e no Centro-Oeste, os trabalhadores enfrcntavam os maiores conflitos fundiarios. A rcgiao do Bico do Papagaio era a regiao mais violcnta do Pais. A grilagcm de tenas, a cxpropria<;iio dos possciros e o assassinate dos trabalhadores cram os principais fatos da violcncia. De 1982 a 1984, quase mctade dos trabalhadorcs assassinados na !uta e na resistencia pcla tena era dos Estados do Para, Goias e da Pre-Amazonia Maranhense. Os projctos de colonizac;ao realizados por cmpresas particulares ou pclo govcrno federal cram as formas utilizadas para lcvar miio-dc-obra barata do Nordeste, do Sul e do Sudeste para o Norte. Os trabalhadores rurais foram utilizados para derrubar a mala c amansar a tena para os grandcs fazcndciros. A maior parte das familias, que foram levadas para os projetos, cnfrentavam a falta de assistCncia. Scm as condic;Oes b:isicas para sobrcviver, tomavam-sc migrantcs.
Na rcgiiio Sudcste, os trabalhadores cnfrentavam a cxpulsao, a cxpropriavao co assalariamento. Dczenas de milhares de familias migraram para as cidadcs, ondc passaram a viver em condic;Ocs subumanas, nas favclas. A cxpansao da monocultura era a imica politica agricola existcntc, de modo que a maior parte dos agricultores familiarcs cstavam pcrdendo suas propricdadcs. Todavia a !uta pcla terra vinha crescendo
89
na regiiio. Em Sao Paulo, nas regioes de Campinas, Araraquara e Andradina vinham ocorrendo ocupayocs. No norte do Espirito Santo c em mais de dez municipios do Rio de Janeiro, as ocupayiics de terra vinham crescendo. Em Minas Gerais, na rcgiiio de Governador Valadares, nasciam novas lutas de resistCncia.
No Sui, com o avanvo da organiza9iio dos scm-terra, os trabalhadores procuravam articular as lutas politicas, tentando cnvolvcr os sindicatos na !uta pel a terrae na luta pela reforma agniria. Com a conquista de divcrsos assentamentos, a maior prcocupayao dos trabalhadorcs era como dcscnvolvimento do Movimento. Expandir a organizay3.o para todo o Brasil era um dos objetivos que estava em discuss<lo.
Algumas lidcranyas indigcnas participaram do Congresso e dcnunciaram o pro-•
cesso de exterminio contra os indios brasileiros. Alvaro Tucano, da Uniao das NayOcs Indigcnas, expos que ba scculos os povos indigcnas estiio rcsistindo na terra, sofrcndo constantcs invasOcs por parte das empresas capitalistas nacionais c multinacionais, sob a fianva do govcmo federal. Afinnou a resistcncia dos povos indigenas co apoio a !uta pela rcforma agr<iria.
As instituiy6es presentes no Congrcsso fizcram uso da palavra para declararcm seus apoios a !uta pela rcforma agr<lria. Dcntrc OS discursos, 0 tnals aclamado foi 0 do en tao presidentc do Partido dos Trabalhadores, Luis Jm\cio Lula da Silva, que assumiu o compromisso de lutar para acabar com os latiflmdios, para construir uma politica de apoio aos agricultorcs familiarcs, para acabar cmn a misCria do povo brasilciro.
0 prcsidcntc Tancrcdo Neves, eleito indirctamcntc pelo Congrcsso Nacional, em 15 de janeiro de 1985, havia se compromctido a estar no Congrcsso. A confirrna<;ao de sua prcscn<;a tinha sido feita pelo proprio Tancrcdo no dia 2 de outubro de 1984, no estadio Beira-Rio, quando participara de uma manifestayao dos agricultores gauchos para protcstar contra a politica agricola do govemo. Todavia, o presidente nao comparcccu e a cadcira que fora rcscrvada para cle pcm1aneccu vazia durante todo o Congrcsso. A nao prcscnya do presidente era um dos indicadores de que, mais uma vcz, as reivindica<;iies e os direitos dos camponcses cstavam fora do projcto politico do governa. Em suas an8.liscs da conjuntura politica, os scm-terra j8. haviam concluido que o fim da ditadura niio significava o fim das lutas sociais, ao contrario, os trabalhadorcs do campo c da cidadc cstavam conquistando direitos c cspavos politicos para amp liar suas lutas. Nesse sentido, a I uta pela rcforma agraria era uma das condi<;6es da
• conquista da democracia. A final, olema do Congrcsso era: SEM REFORMA AGRA-- . RIA NAO HA DEMOCRACIA.
Naquelc ano, iniciava-se um novo pcriodo da hist6ria do Brasil. Era o come<;o da Nova Republica e algumas das for9as politicas de csqucrda, especial mente o PCB eo PC do B, que apoiaram Tancrcdo, ja haviam procurado os sem-terra para que aguardasscm o projcto de rcforrna agniria do governo. Todavia, pelo conhecimento his torico c pela pratica vi vida, os scm-terra nao sc iludiram. Sabiam que a reforrna agriria s6 scria rcalizada com a participaviio cfetiva dos trabalhadores e por meio de ocupa<;6cs - ' ' -de terra. Dcssa idcia surgiu a bandcira de luta OCUPA(:AO E A UNICA SOLU(:AO.
90
Porque, afinal, todos sao a favor da rcfonna agraria. A questao e fazer. Par essa razao, na ocupa<;ao da terra, os trabalhadores scm-terra assumiram essa responsabilidade inata, realizando a luta pcla terra e impulsionando a !uta pcla refom1a agraria.
Na fom1a<;ao do MST, os scm-terra foram construindo uma eultura popular que traduz o senti do da !uta nas fonnas de can<;oes, poesias, documentos e teatro. Nos intervalos dos lrabalhos de grupo C a noite, OS participantes aprcscntavam suas musicas, suas prosas, em que relatavam suas hist6rias. E uma dimensao pcdag6gica do Movimento, que se rcfcre aos conjuntos de rela<;oes cstabelecidas durante a forma<;ao de grupos de familias na I uta pcla terra. Essa pratiea c uma contribui.;ao para a forma<;ao da identidadc politica dos sem-terra. Essa eultura popular rceupera e produz significados hist6ricos, que sao refcrCncias rctiradas dirctamcnte da rcalidade, das suas pr3-ticas, das suas expcriCncias. sao produyOcs culturais que exprcssam coragem, sofrimento e obstinay3o. Ajudam a comprccnder tnclhor o mundo. Irrevcrcntes mostram com suas palavras que a realidade e para ser descobe1ta em seus mais profundos recantos e incessantementc. Dessa fonna, constroem conhccimentos, fazcm filosofias e dcsafiam as tcorias que os cxcluem da socicdade.
Nos momentos culturais, os scm-terra apresentaram mllsicas de todos os recantos do Brasil. Com a viola, a gaita co pandeiro, cantararn a terra, a luta, o ontctn, o hojc, o amanhii e depois de amanha. Assistiram o filmc "U m cabra mare ado para morrer", que depois foi comentado par Elizabete Teixeira, a principal personagem do documentario. V arias livros que relatavam a !uta e a questao agraria foram lanc;ados. Tamhem aconteccram exposi<;iies fotograficas da !uta em varias regiiies do Pais.
A memoria da !uta, representada par varias das pessoas prescntes, teve seu momenta nas homenagens feitas a Elizabete Teixeira, Manoel da Concei<;ao e Juvcncio Mazarollo, que rcceberam uma escultura de madeira representando o simbolo de resistencia da !uta camponcsa. Fizeram homenagens especiais para Mar<;al Tupa de Souza, indio guarani, assassinado em novembro de 1983, na !uta pelos direitos dos povos indigenas, e Santo Dias da Silva, operario metalurgico de Sao Paulo, assassinado pcla Policia Militar durante a greve de 1979. Tambem foram homenageados: Raimundo Ferreira da Silva ( o gringo), lider cam pones de Concci<;iio do Araguaia; Joao Maria de Paulo, posseiro da fazenda Anoni, no Parana; Margarida Maria Alves, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraiba; Benedito de Assis Bandeira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tome-A<;u, no Para, e Joaquim das Neves, advogado do Movimento Scm Terra do Mato Grosso do Sul. Essas pessoas moneram lutando pclo direito a terrae pela dignidade humana.
Dcpois de tres dias de estudos e debates, os participantcs aprovaram um documcnto final para ser cntregue aos governos federal e estaduais. No documento os scm-terra cxigiam:
"Em relw;iio d distribui~'iio e usa da terra:
Que seja realizada uma refOrma agrciria no Brasil com a plena participar;iio dos trabalhadores rurais;
91
Que o govern a aplique no minima 5% do on;amento da Uniiio na reform a agrciria;
Que o governo distrihua imediatamente todas as ten·as que estiio nas miios dos governos estaduais e. .federal,·
Que as governos estaduais tenham autonumia para realizar desapropriac;Ues para a refOrm a agniria;
Expropriac;Go de todas as ten·as das multinacionais e proibi('iio de estrangeiros adquirirem terra daqui para.fl·ente no Brasil;
Coloniza(·iio:
Fim de tad a e qualquer colonizm;iio dirigida, seja pel a governo, empresa privada au cooperativa;
AssistCncia adequada, em todos os niveis, aos projetos de colonizac;iiojci existentes;
Sobre os Orgclos governamentais de politicafundiciria:
Extinc;iio do Ministc!rio ExtraordinGrio de Assuntos Fundicirios (MEAF), do Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins (GET AT), do Gntpo Executivo do Baixo Amazonas (GEBAM), da Superinlendencia de Desenvolvimento da Amazonia (SUD AM), da Superintendencia de Desenvolvimento do Nordeste (SUD ENE) e da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sao Francisco (CONDEVASF), como tambhn dos institutos de len·as estaduais;
Criac;iio de novas organismosf€derais e estaduais com a participw;iio dos trahalhadores no prucesso de criw:;iio e administrarJ.io,·
Em relm;iio a vioh?ncia no campo:
Exigimos que a governo federal assuma a apurm;G.o de todos os assassinatos e a puni(·iio dos mandantes e executores dos crimes;
Exigimos a desmantelamento de tudos os organ is mas de repressiio, inclusive os paramilitares,·
Exigimos a autonomia do Poder Judiciririo e a criar;iio de um FOrum de Justi(·a Agrciria no Poder Judichirio;
E com relaCy·iio ao Estatuto da Terra, os trabalhadores rurais acabaram decidindo pela sua extin(;'iio e a cria(·iio de novas leis agrcirias com a participac;Go dos trahalhadores rurais e com hase na prGtica e experi€ncia de /uta dos mesmos" (Jornal do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ano Ill, 11° 42, fcvereiro de 1985, p. 19).
92
Evidcntc que estes pontos rcpresentavam as perspectivas para os trabalhadores participarcm do poder politico c contribuirem com as transformac;:Oes sociais, visando soluvoes para os enormes problemas que enfrentavam. 0 golpe militar de 1964 foi resultado da possibilidade dos trabalhadores entrarcm no ccmirio politico e, por scus direitos, participarcm do poder. A Nova Republica foi rcsultado de uma estratcgia das elites para tentar impedir os trabalhadorcs de participarcm da construviio das diretrizes politicas. Nessc tempo, depois de vinte anos de ditadura, as lutas organizadas dos camponeses c dos openirios da cidade retomavam suas potencialidades. Ante essa realidade, no scu Primeiro Congrcsso, os trabalhadorcs rurais scm-terra cstabclcccram a dircy:lo politica da organizavao dos trabalhadores, da !uta e do dcsenvolvimento do MST, com o prop6sito de conquistar espayos politicos, como Unica condiy5o de transfmn1ar suas realidades. Com o objctivo de expandir a !uta c fortalecer seus fundamentos, durante o even to foram propostos c aprovados os scguintcs principios do Movimento:
1 -que a terra s6 esteja nas miios de quem nela trabalha;
2- lutar por zmw sociedade sem exploradores e sem explorados;
3- serum movimento de massas, aut6nomo, den fro do movimento sindical, para conquistar a refOrma agrclria;
4- organizar os trabalhadores rurais na base: estimular a participw;:Go dos trahalhadores rurais nos sindicatos e no partido politico;
5- dedicar-se a [Ormw;:Go de liderwu;as e construir uma direr;Go politica dos trabalhadores:
6- articular-se com os trabalhadores da cidade e com as camponeses da AmCrica Latina (Nonnas Gerais do MST, 1989a, cap. II, p. 5-7).
Dessc modo, estavam fincadas as bases para a formavao do MST. Nos campos da expropriayao e da resistCncia nasceram as sementcs das experiencias hist6ricas do campcsinato na construvao de sua organizavilo. No final do Congresso foi eleita a Coordenavao Nacional com representantes de 12 estados, onde o MST estava organizado ou em vias de organizaviio: RS- SC- PR- SP- MS- MG- ES- RJ- BA-SEMAe RO. 0 fim do evento era o comevo dos trabalhos que levariam o MST a se tornar um amplo movimento,social. Tenninava uma fase da hist6ria do MST, inaugurando um novo momenta da !uta pcla tena, quando o MST comevou a se organizar em v3rias rcgiOcs do Brasil.
No dia 31 de janeiro, realizaram uma manifestaviio pel as ruas do centro de Curitiba, expressando a csperanva de um Brasil, onde a tena scja fruto do trabalho c a sua riqucza seja apropriada pelos trabalhadorcs, na !uta contra as desigualdades sociais, geradora da fome e da miseria.
93
' CAPITULO 3 - -
TERRITORIALIZAC::AO E CONSOLIDAC::AO DO MST 1985-1990
A tcrritorializa~iio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Scm Terra
Para a comprccnsao do processo de fonnayao c tenitorializac;ao do MST 6 necessaria cntcnder como clc foi constnlido. No capitulo anterior dcstacamos os trabalhos da CPT c da Comissao Regional Sui na reuniiio das expcriencias de lutas pcla tena. A coordcnayao dcssas pr<iticas e a rcflexiio sabre as diferentcs fon11as de cnfrcntamcnto contra o latifllndio e o Estado foram ay6cs impot1antcs para sc pcnsar em como constJuir uma organizay3o dos camponcscs scm-terra. Dcsse modo, os trabalhadores criaram as condiyOcs concrctas para a forma.yiio de urn movimento nacional. Na rcalizay3o do En contra de Goitinia, do Primciro En contra N acional c do Primciro CongresS<), os scm-terra rctiraram das liy6es das lutas as principais ideias para a constnl\30 do MST.
0 ponto de part ida para construir o MST em cada cstado foi a organizac;iio de uma cstrutura b3.sica. Essa estrutura, formada pela coordena\ao, dire\30, secretaria e setares, foi conccbida dcsdc as praticas das organizac;ocs camponcsas hist6ricas c, principalmentc, das experiCncias vivenciadas, quando as familias organizaram comissOes e nUclcos nos acampamentos e nos assentamentos. Esses ensaios praticados durante anos de I uta tornaram-se as referE:ncias que delinearam as fonnas de organiza\30 das atividades do Movimcnto. Desse modo, os scm-terra criaram suas insttincias de rcpresenta\ao que sao a dire\ao e a coordena\50 estaduais, as coordenayOcs de asscntamentos e acampatnentos. Evidente que esse processo foi sendo construido por etapas. 0 seu comcyo e a ocupayao da terra.
Nos trabalhos de base, ou no traba/ho de casa em casa, para a organizac;ao das familias, a fim de rcalizar as primciras ocupa\Oes no estado, inicia-se a construyiio do MST. Das conquistas surgcm novas necessidades, aumenta o nlln1ero de pcssoas cnvolvidas na organizac;iio do Movimcnto c assim comcc;a a construviio da estrutura basica. Rcalizam encontros estaduais, definen1 os setores priorit3.rios, escolhem seus representantes e criam uma sccretaria. Com cssas ayOes principiam a consolidayao do MST no cstado. Os dcsdobramentos desscs atos- de conquista de cspac;os c frayocs do tcnit6rio- sao processos de espacializac;ao c tcrritorializayao da luta pel a terra que o MST dcscnvolvcu em quasc todo o Brasil.
95
Esses processos acontecem ao n1esmo tempo em v3.rios municipios, estados eregiiies. Sao lutas simultiineas, desdc a organizac;ao para a ocupac;iio da tcn·a ate as lutas por infra-estrutura no assentmnento, na conquista do Programa Especial de CrCdito para a Rcfonna Agriria (Proccra), na elaborac;ao de um projeto de cducac;ao para as escolas dos acampamentos e asscntamentos, na alfabetizayUo de jovens e adultos, na organizay<lo do trabalho e da cooperay<lo. Para explicar esse movimento, utilizamos a express3.o entretanto que nos d3. uma noy3.o do conjunto de ayOes concomitantcs. Ao fazerem uma ocupac;iio, os scm-terra ja estiio trabalhando na fonna<;iio de novos grupos de familias, negociando como govemo, cnquanto os assentados cst3.o lutando pela liberac;iio da linha de credito. Nesse tempo, trabalham a teJTa, organizam a produc;iio. fonnam o Sctor de Educa<;Ao e lutam pcla cscola. Portanto, o entretanto C um importante inle!Talo de tempo, quando no enquanto de uma !uta come(,:am a nascer outras.
Quando de seu nascimcnto, na realizay3.o do Primciro Encontro Nacional, cxistia uma atiiculay3.o de lutas para ron1pcr como isolamento das difcrentes pnlticas de rcsistCncia. Dessa articulay3.o, a Comissao Regional Sui destacou-se no desenvolvimento dos traba!hos de organizac;ao de um movimento camponcs de amplitude nacional. Para tanto precisava dar conta das propor<;Oes que a luta pela terra atingia, principalmente no Nordeste. A organizayao das lutas precisava estar sob o controlc politico dos trabalhadores. Esse foi um dos desafios enfrentados na construc;iio do MST nessc periodo de sua hist6ria.
Esse modclo de organizac;ao foi elaborado na leitura das rcalidades e da hist6ria de !uta do campcsinato. Criar uma organizay3.o aut6noma, socializar os conhecimentos dos direitos, romper o isolmnento e amp liar as lutas eo Movitncnto sao condic;Oes fundamentais para a construc;iio da forma de organizac;iio do MST. Foram esscs os ohjctivos que os scm-terra carregarmn, quando pmiiram para construir novas espayos de lutas pclo tcrrit6rio nacional.
No Encontro de Goiiinia, em 1982, fora cstabcleeida a importaneia de sc construir articulac;Ocs regionais. 0 que de fa to aconteccu nos cstados do Sui, na criac;3.o da Comissao Regional Sui, que passou a coordenar a formay<lo de um movimento naeional. No Primeiro Encontro Nacional, em 1984, um dos objetivos dcflnidos para a formay3.o de um movimcnto nacional foi que os cstados mais bern organizados deveriam ajudar na constru<;iio do MST em outros estados. No Primeiro Congresso, 1985, formalizaram a coordenayao nacional. Todos esses trabalhos signiticaram o come<;o de um grande desaf!o: eonstruir o MST em todo o Brasil. Este co contcltdo que analisaremos neste capitulo.
A rel1exao sabre as expericncias de !uta e enfrentamento gerou uma metodologia de !uta popular. Dcsde a organizac;ao das familias na eonstru<;iio do espac;o de socializa<;ao politica ate a ocupa,ao e a conquista da teJTa, eada um desses proeedimentos foi aprendido na pnitica social da !uta pela terra. Esse aprcndizado possibilitou a nip ida tcrritorializa<;iio do MST pclas regiiics brasilciras. Todavia, os trabalhadorcs scmteJTa cnfrentaram muitos obstaeulos na constituic;iio das articula<;iics politicas, que contribuiram para a formay3.o do MST, como analisaremos a seguir.
96
Bahia
Uma das ac;oes que marcam a idcntidadc do MST e a ocupac;ao da terra. No processo de construc;ao do MST, a ocupac;ao 6 o ponto de partida. Dcssa pratica social nascem cxpcricncias que se desdobram em pol\ticas publicas e se multiplicam nas conquistas dos dircitos a teJTa, ao trabalho, a educac;ao, enfim as condic;ocs basicas da cidadania. Sem as ocupay6cs nao cxistiriam a maior patie dos assentamcntos rurais. Essa ccrtcza os scm-terra semprc tivcram. Foi assim que criaram as palavras de ordcm: terra niio se ganha, terra se conquista c a ocupa~'ilo C a imica solu~:tw. Em bora o Movimcnto tivcssc uma Coordenayao Nacional, clc s6 existiria de fato por mcio da rcalizay3.o de ocupayOes de terra. N3.o bastavam as lutas para rcsistir na terra, era fundamental criar lutas para cntrar na terra. As cxperiCncias vivenciadas na lida foram as refcrcncias que os trabalhadores utilizaram para construir o MST no Nordeste.
Quando da realizac;ao do Primeiro Congresso, o MST ja tinha urn ano de vida, dcsdc sua fundar;ao e pelo mcnos 6 anos de experiencia de lutas rcalizadas desdc o principia de sua gesta<;ao, em 1979. E rna is, todas as reunioes e cncontros organizados pcla CPT e pcla Comissao Regional Sui foram uma escola, ondc se compararam c sc confrontaram formas de rcsistcncias de !uta pela terra em todo o Brasil. Foi nessc proccsso de aprendizagcm que sc claborou a conccpyao de 1novimento campones. Portanto, era preciso construi-lo. Esse era o desafio.
No extrema sui da Bahia, na divisa como Estado do Espirito Santo, os scm-terra plantaram a primcira semcnte para a organiza<;ao do MST no Nordeste. Naqucla regiiio cxistia uma articulac;ao de lutas organizada pela CPT. Esses trabalhadorcs participaram do Primeiro Congrcsso e compuscram a Coordenayiio Nacional do Movimcnto. Todavia, naquclc ano com 3 criay3.o da Diocese de Teixeira de Freitas e a nomeac;ao de um bispo conscrvador, a Comissao Pastoral da Terra, vinculada a CNBB, sofreu urn a ofensiva cos agcntcs pastorais foram destituidos. No Iugar da CPT, obispo pcrmitiu a organiza<;ao da Pastoral Rural subordinada a Diocese. Pcrante as dificuldadcs para prosscguir com a organizay3.o dos scm-terra, os coordenadores solicitaram ajuda para constituir o Movimento. Ainda nessc ano, vi cram alguns membros do MST de Santa Catarina c iniciaram os trabalhos para a construc;ao do MST na Bahia.
Nessc tempo, os scm-terra participaram da fundac;ao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teixeira de Freitas, dos encontros das Comunidades Eclcsiais de Base, fundaram a Sccrctaria. do Movimento e criaram uma cscola sindical para fonna<;ao politica. Rctomava-se, assim, a artieulac;ao dos trabalhadores por meio de levantamentos das situa<;Oes das familias scm-terra da regiao. Em novembro, realizarmn uma reuniao com sem-te1Ta dos municipios de Itanhem, Teixeira de Freitas, Alcoba<;a, Itamaraju, Eumipolis e Caravelas. Forrnaram uma Coordcna<;ao Regional com dois rcpresentantcs de cada municipio c deliberaram sabre as fonnas de !uta pcla terra na rcgiao.
Na rcuni3o foi discutida a concep<;iio de movimcnto scm-terra, as perspectivas da rcforma agnlria c da !uta pcla terra no contexto da con juntura politica da rcgiiio. Exis-
97
tiam muitos conflitos por tctTa, principalmcnte pelas lutas de resistencia de possciros. Muitas ocupayoes cspontancas cram rechavadas pelas aviies da policia militar e por pistoleiros contratados pelos latifundiarios. 0 debate a respeito da rcforma agraria, no ambito da corrclaviio de forvas politicas, era rejeitado pela dircita c dcixado em segundo plano pcla csqucrda. Defronte a essa rcalidade, prcdominava o medo ao se falar em rcforma agn\ria ou !uta pela terra. A Comissao Pastoral da Terra que tivera uma pnitica de organizayao dos scm-terra, fora dcscstruturada, restando os trabalhos nas CEBs de alguns religiosos, especialmcntc de alguns freis capuchinhos c da Pastoral da Juventude.
Para fazcr avanyar a articulayao dos trabalhadorcs, os scm-terra, como apoio dos Sindicatos de Trabalhadorcs Rurais, come<;aram a convidar as familias para participarcm de rcuniOcs nos povoados. Nessas reuniOes, os scm-terra discutiam a cstrutura da socicdadc capitalista, a questao da rcforma agdria cas formas de organizayao dos trabalhadores para realizarcm a !uta pcla terra. Nesse periodo, o MST comcvara a publicar os cadernos de cstudos, que ilustravan1 as lutas camponcsas, c os caden1os de fom1ayi1o, que dcscrcvimn a trajct6ria de !uta do Movimcnto. TambCm cstudavam o Livro do Exodo c tinham como referencia a cmninhada do Povo de Deus em dircyao a terra prometida. Dcsse modo, avaliarmn que cxistia um forte potencial de organizayao, por causa da alta concentrayao fundittria e do grande nllmcro de dcscmprcgados.
Era necessaria, portanto, definir uma mctodologia de I uta popular. E cssa qucstiio precisa scr aprcndida por mcio da reflexao sobrc suas praticas de I uta, bem como do conhecimento das cxpcriencias dos outros cstados. A metodologia de !uta popular, dcfinida ncsse proccsso, e uma pnitica social que reline uma sCric de procedimcntos de resistencia para a conquista da terra de trabalho. Esse comportamcnto c uma fonna de criayao das condiyOes ncccss<irias para o enfrentamento como latifllndio e as for<;as politicas que o ap6iam.
Em janeiro de 1986, os setn-tcrra realizaram o Primciro Encontro Estadual, quando decidiram fazer a primeira ocupa<;iio para construir o MST. Todavia, as outras foryas da articulayao tecermn criticas a dccisao, argumentando que cssa fom1a de I uta era "autorit<iria", porque era de origcn1 sulista, porque o clima era quente c haveria muito sofrimento etc., de modo que nao era possivel pratica-la naquela rcgiiio. TambCm acrcditavmn no insucesso da ayao, nas dificuldades de manter o acampamcnto por scr muito dificil de se eonseguir alimentos para as familias. Na rcahdade, a pnitiea da artieulayiiO ate entao era de apoio a !uta dos trabalhadores. Reahzavam trabalhos de conscientizayao dos direitos para que os scm-terra decidissem sabre suas ay5cs. Mas, com a gcstaviio do MST na regiiio, os trabalhadores eomec;aram a falar a sua prOpria linguagcm. Conscientes, os scm-terra estavam tomando a ofcnsiva, de modo que nao era mais os assessores das instituivoes de apoio que falavam e decidiam. A palavra final passou a ser dos trabalhadores.
Nesse entrctanto, os scm-terra ja faziatn o levantamento das possivcis areas que podcriam scr ocupadas. Embora houvessem critieas, igualmentc cxistiam pers-
98
pcctivas sabre a ocupayiio, principalmcnte por niio haver outra proposta de !uta e num ponto havia conscnso: a rcforma agnlria somcntc sera reahzada se os trabalhadorcs cstivcrem organizados. Desse ponto de vista, os trabalhos e as criticas continuaram. A participay3o dcssas fon;:as, as pastorais e os sindicatos, foi cssencial para a construqiio e formaqiio do MST.
Durante todo o ana Je 1986 cos primeiros mcses de 1987, os scm-terra promovcram rcuni6cs para a formac;ao de grupos de familias. Esse foi o perfodo de gestac;iio do Movimcnto na Bahia. No mcs Je julho, cxistiam 7 grupos fonnados por aproximadamentc 600 familias. Com as rcunioes foi-se fortalcccndo a organizac;iio do MST na rcgi3o, porquc incorporava novas lideranyas que iam sc dcstacando pcla participay:lo nos trabalhos de formaviio dos grupos de familias. Esse conjunto de fatorcs propiciaram as primeiras condiyOcs necessii.rias para a construy:lo do MST. Outro fator importantc foi a eleic;iio do govemador Valdir Pires, que mudou o comando da policia militar e, com rcceio de screm pcrscguidos, os principais pistolciros dcixaram a rcgiiio, o que aliviou um pouco o temor das familias com relac;ao a vio!Cncia praticada contra os trabalhadores na !uta pela tcn·a.
No dia 5 de setembro de 1987, o MST fez a primeira ocupayiio no Estado da Bahia c marcou o inicio do Movimcnto da regiao Nordeste. A terra ocupada pcrtcncera a Companhia Vale do Rio Dace c fora desapropriada. Por ser uma parte de um projcto de plantaviio de eucaliptos, a area ficou conhccida como Projeto 4.045. Em torno de quatroccntos e cinquenta familias participaram da ocupayiio e acamparam numa parte da area total de 5.100 ha, no entao municipio de Prado, hoje Alcobaya. Por causa dessa ocupayao, o prcfcito mobilizou cerca de 300 familias, que ocuparam uma outra porvao da area. Pelo fato das terras estarem dcsapropriadas, nao houve despcjo e iniciaram as ncgociay6cs para a itnplantayao do assentan1cnto.
No maximo ccnto c cinqtienta familias poderiam scr assentadas, de modo que os grupos exccdcntes deveriam ser remanejados para outras areas. Is so significou tanto a desistcncia de parte das familias, quanta a continuidade dos trabalhos de organizaviio para a rcalizavao de novas ocupa96es. Trcs meses depois, o MST faz nova ocupac;ao em uma outra area conhecida como Riacho das Ostras, que tambcm ja cstava desapropriada. No mcsmo municipio, em torno decem familias ocuparam 2.000 ha. Essas conquistas cram indicios do fortalecimcnto da organizaviio dos trabalhadorcs rurais scm terra na rcgi:lo. Em conscqiiCncia, os latifundiarios se organizaram e fundaram a UDR para dcfcndercm seus intcresses e privilegios.
No dia 12 de marva de J 988, o MST organizou outra ocupayao e num mcsmo dia cntrou com mil e trczentas familias no latifundio denominado fazenda Bela Vista, no municipio de ltamaraju. Diante da conjuntura politica que sc formara com as ocupay6cs, as criticas ao MST aumentaram e aconteceu o rccuo de alguns sindicatos. Estes alegavam que aquelc momenta nao era para fazer ocupaqocs, porque aquele era um a no de eleic;oes e poderia pre judi car os candidatos que clcs apoiavam, que tetniam o aumcnto da violencia contra as familias sem-tcrra por cau-
99
' sa da organiza.;ao da UDR etc. Ncssc cntrctanto, no confronto pclo cspa<;o politico, a Pastoral Rural rcalizou um cncontro na scdc da Diocese c rcuniu agentcs de varias pastorais, sindicalistas, mcmbros do Partido dos Trabalhadorcs, c, tambcm, algumas lidcran.;as do MST. Trouxe asscssorcs para analisar a con juntura politica c a qucstiio agraria. Novamcntc fora rcfor.;ada a tcsc que o MST era autoritario, que cstava se burocratizando, que no Rio Grande do Sul os scm-tcrraja nao participavam das decisoes como no principia da dccada de 1980. Havia uma tcntativa de desmoralizac;ao do MST para dcsautoriza-lo a atuar na rcgi3.o.
Pclo fato do MST ja estar com duas ocupa.;ocs vitoriosas na regiao e possuir reconhccimcnto das for.;as politicas, isso dificultou a intcn<;ao de sc criar a possibilidade de fazer o Movimento deixar de atuar na rcgiiio. Tamb6n1 os scm-terra conseguiram abrir urn canal de negociac;iio como governo do Estado, situa<;ao inedita ate cntiio. Como resposta aos assessorcs, os rcprcsentantcs do MST explicaram que no Rio Grande o Movi1ncnto estava se organizando em dczcnas de municipios, portanto a forma de participa.;iio nas decisoes ja niio era tao simples. Era impraticilvcl reunir sempre centenas de pcssoas, por essa razao os trabalhadores estavam construindo novas expcriCncias de criay3o de novas fonnas de organizayiio c inst<incias de rcprcscntayao. Apcsar das divcrgCncias com relay3o 3 conjuntura politica do momenta, os Sindicatos dos Trabalhadorcs Rurais e o MST ehcgaram a um conscnso: que dcvcriam trabalhar em conjunto para dcsenvolver a !uta pcla rcfonna agr<iria, cmbora isso nunca chcgassc a acontecer.
Em menos de uma semana de acampamcnto, a rcprcssao foi n'tpida e cficicntc. Em bora os sen1-terra estivessem negociando como govcrno do Estado, essa condi<;5o nao impediu que a policia rcalizassc um dcspejo violento. Era uma questao de honra para a UDR que o MST nao efetivassc uma ocupa.;ao no municipio de Itamaraju, onde mantinha sua sede, de 1nodo que os latifundi<lrios dirigiram o despcjo, transportando as familias de dcntro da fazenda para a be ira da BR 101. Como a policia niio estava prcparada para fazer o despejo de uma ocupa.;ao tao grande, fizeram um acordo com os scm-terra para que as familias acampassem pcrto da cidadc. Mas, a elite da cidadc tinha um compromisso de impedir que os scm-terra pen11anecessem no municipio e os latifundi<lrios levaram as t:1milias para outros municipios. Por sua patie, a policia prcndeu varias lidcran<;as, que retomavam da capital, onde tinham participado de uma negocia.;ao com o govemador. A PM alegava que cstava "protcgendo" os sem-tcrra da UDR, tentando assim consumar a dcrrota do Movimcnto.
A rcpcrcussao do fato foi motivo de julgamcnto dessa forma de !uta, de modo que as for<;as que compunham a articula<;5o rcfor<;aram os argmncntos contr<lrios a ocupa<;iio. Embora o MST tivesse acumulado for<;as e reconhecimento com as duas primeiras vit6rias, esse dcspcjo violcnto quase que descstruturou a organiza<;5o das familias em luta. No entanto, mn grupo decem familias cscapou do banimento c acampou numa area de 4 ha pcrtcncente ao seminario dos frcis capuchinhos, na cidadc de Jtamaraju. Se para a burgucsia a questao de honra era cxpulsar as familias, para os capuchinhos era uma qucst5o de principios coopcrar com a perseveranya dos scm-terra.
100
Esse ato foi essencial para a constru<;ao do MST na Bahia. Numa semana, mais de scisccntas familias, que haviam sido segregadas, reconcentraram-sc naquela area ccdida pelos freis, que sc tornou uma base territorial para a rcsistCncia e continuayfio da I uta.
A rcsistencia c uma for<;a politica construida pela organiza<;ao e fortalecida pela consciencia dos dircitos; 6 tanto uma fonna de impedir que as fon;as contnirias a reforma agniria ampliem scu cspayo politico, quanta um processo de constlu<;ao c dimcnsionamcnto do espayo politico dos scm-terra. Portanto, a rcsistCncia dctnarca, no can1po da !uta de classes, a linha divis6ria das a<;oes de podcr que se movimentam de acordo com a compctCncia e a criatividadc de ambas as classes. Dcsse modo, para fazer avan<;ar a !uta, a Coordcna<;ao Estadual do MST ncgociou com o Ministcrio da Reforma c do Dcscnvolvimcnto Agnirio (MJRAD) a desapropria.;ao de uma area, em noventa dias, para o assentamento das familias. Outro ato foi pratieado no dia 7 de abril, quando as familias rcalizaram uma passeata pclas ruas de ltamaraju para ale1tar o govemo do vigor da organiza.;ao. No dia 18 de maio, a Coordena<;ao do MST rcuniu-sc como governador Valdir Pires e deu um ultimata para que o governo intervicssc a lim de agilizar as desapropriay6cs c liberar recursos para a alimcntayiio das famihas.
Vencidos os novcnta dias, sem obtcr rcsposta, os scm-terra rctomaram as ocupa<;oes. No final de julho de 1988, as familias acampadas em ltamaraju ocuparam as fazcndas Rcunidas-Corumbau e Vale do Rio Doce, no municipio de Prado, e a fazcnda Boa Esperan<;a em Pm1o Segura. A Pastoral Rural e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, novmncntc, criticaram o MST por fazcr v3rias ocupay6es ao mesmo tempo. Ate cntao, a pratica era de fazer uma ocupa<;ao por vez. Somente depois de efetivada a conquista e que se fazia uma nova ocupayiio. Todavia, o Movimcnto cxpcrienciava o dimensionamento e a intcnsifiea.;ao da !uta pela terra. 0 numero de ocupa<;oes era equivalente as condi<;6cs de organizar grupos de familias. 0 aumento do numero de ocupa<;6cs pode elevar o potencial da pressao popular e o poder de negocia<;iio.
Ncsse n1omento, o Movimento criou fonnas de enfrentamento para garantir a permancncia na terra. Do outro !ado, a UDR divulgava que estava contratando pistoleiros de outros cstados para expulsar as familias scm-terra das areas oeupadas. No municipio de Prado, os trabalhadores interditaram as estradas de accsso aos acampamentos para rcsistir ao dcspcjo e prcssionaram o governo para abrir canais de discussao a rcspcito dos eonflitos. 0 secretario da agricultura vcio a Jtamaraju para mediar uma negocia<;ao entre o MST e a UDR. No caso da fazenda Reunidas-Corumbau, o latifundiario exigia a retirada imediata das familias. Todavia, diantc da dccisao de resistir, o que agravava o conflito, a policia aguardava os resultados da rcuniiio entre sem-teJTa e latifundiario.
Da reuniao participaram membros da Coordena<;ao do MST, mcmbros da UDR co secret3rio da agricultura. Comcyaram a negociar, no inicio da noite, e as condi<;6cs colocadas por am bas as partes nao lcvavam a solu<;iio do conflito. A UDR ameayou se retirar da rcuniiio por v3rias vezcs eo secrct3rio insistiu na rctmnada das discuss6es. Depois de v3rias horas de em bate, o latifundi3rio aceitava negociar
I 0 I
as terras com o Incra, desdc que' as familias deixassetn a area. Os scm-terra niio aceitaram a proposta. De madrugada, surgiu uma nova proposta: os scm-terra sairiam da area por trinta dias, para que 0 fazcndeiro tirassc a madeira da area c depois retomariam definitivamente para a terra. Scm outra possibilidadc de negociaviio, os scm-terra aceitarmn a proposta. A area ocupada faz divisa com uma reserva indigena. Os trabalhadores solicitaram aos indios uma area de 2 ha para transfcrir o acampamento. Passaram-se os trinta dias; e, scm resposta, as famflias reocuparam a fazenda e aprccndcram uma parte da madeira.
Da mcsma fom1a como na !uta da Encruzilhada Natalino, no Rio Grande do Sui, que teve, na compra da Nova Ronda Alta, a condiyao para superar o dcsgastc da resistencia, promovido pelo Estado, o scminario foi o tcrrit6rio ondc foram geradas as condiv6es fundamentais para a persistcncia. Aqucla !uta, que quase rcsultou num fracasso, foi transfonnada numa das mais intensas fonnas de resistencia. No so Encontro Nacional ( 1989), os sem-tena baianos receberam o premio de mclhor resis!Cncia ao dcspcjo.
Procurando veneer os impcdimcntos ao direito dos trabalhadores sem-terra de construir o scu movimcnto, ctn fcvcrciro de 1989, iniciaram outra ocupa<;iio em terras devolutas, conhecidas como Sapucaieira, no municipio de Prado. Essas terras foram griladas por um deputado estadual do PMDB, do mesmo partido do govcmador. 0 despejo foi imediato. Apenas duzentas familias chcgaram ao local, porque a ayao foi parcialmente interrompida. A policia, informada da ayao, cercou as saidas das cidadcs de ltamaraju c Teixeira de Freitas. Por causa dcsse bloqucio, trinta caminhoes foram apreendidos. Nesse entretanto, doze caminhOcs dos municipios pr6ximos 3 clivisa como Espirito Santo foram retidos ao chcgarem na cidade de Prado. Nessa ayao, a policia identificou noventa pessoas que cntendiam ser lideranyas e prendcu. As dclcgacias de Itamaraju e Prado ficaram lotadas de trabalhadores. Depois obrigou as familias a retornarem para os municipios de onde haviam partido. A policia cstava ccrta de que havia frustrado a tentativa de ocupayao c rctirou o bloqueio das estradas.
Ncsse interim, enquanto as eadeias estavam lotadas de scm-terra, no municipio de Prado, novcccntas familias ocuparam as fazcndas Revesa e TrCs lnniios. Os acampamentos foram montados no meio da mata, de modo a dificultar um possivel despejo. Os scm-terra denunciaram a cxistCncia das terras dcvolutas e exigiratn a prcscn<;a de urn representante do govcrno cstadual para libertar os presos imcdiatamente e negociar solw;ocs para as areas ocupadas. A fazcnda Rcvcsa foi demarcada e sobraram 300 ha que foram ocupados pelas familias. Nessc intcrvalo de tempo, o MST ocupou novamcnte a Sapucaieira. Sem ordcmjudicial, a policia militar comandou o dcspejo de cento e vintc familias. As familias foram espancadas c scus pertcnces queimados. Prenderam, humilharam c torturaram oito lideres. 0 Movimcnto dcnunciou as atrocidades junto a diversas instituiv6es de Direitos Humanos co governo enviou um emissario para acompanhar os conflitos na regiiio.
As areas ocupadas foram destinadas a implantaviio de asscntamcntos. A cada conquista, o MST fortalecia sua ayao c fazia valera tese de que somente por meio da
102
' ocupayao as familias seriam asscntadas. Apesar dos trunfos, existiam familias que participaram das varias ocupay6es e ainda nao alumiavam a possibilidade de entrar na terra. Dessa forma, ocuparam outra fazenda da Companhia Vale do Rio Dace, no municipio de Eunapolis. A area estava em negocia,ao entre emprcsas que plantavam cuealipto. Na tcntativa de expulsar as familias, urn trabalhador foi assassinado por pistolciros. Os sem-terra partiram para o enfrentamento c conquistaram a :lrca, por n1eio do enfrcntmnento e da negociay3o, rompendo com as situayOes em que as pistoleiros sao colocados para expulsar posseiros e sem-terra e a policia e wna cerca para impedir as sem-terra de ocuparem.
Em 1989, uma parte importante da fonna de organizac;ao do MST da Bahiaja estava construida, de modo que os scm-terra comeyaram a tcrritorializar o Movimcnto no Sui Baiano c rcalizaram uma ocupayfio no municipio de Camamu. Ocuparam a fazenda Mariana em uma regi3o de muitos conflitos entre possciros e grileiros. A chcgada do MST na area contribuiu para o descnvolvimento dos embates. Os trabalhadores foram despejados, reocuparam e plantaram numa area de 20 ha. V arias ocupay6cs c reocupac;oes foram realizadas nos latifundios e em terras devolutas e griladas. Para pressionar o governo federal, iniciaram as ocupa<;6es da Superintendencia do Incra, como objctivo de regularizar as areas ocupadas. As experiencias das lutas, os erros e os acertos, foram rel1ctidos e constituidos em sabcres, utilizados no desenvolvimento de novas pratieas de resistencia, como objetivo de transfonnar a realidade. Daquila que, num primeiro memento, foi colocado como muito dificil, isto e, ocupar a terra, era agora uma ayfio conhecida pcla dureza do e11frcntamento e pela alegria da conquista. 0 inieio do processo de construviio do MST no Estado da Bahia estava consumado.
Sergipe
0 processo de construyao do MST no Nordeste foi simultiinco e aconteceu atraves de varias lutas. Foram ac;6cs semelhantes porque fazem parte de um processo de resistencia camponcsa na eonquista da terra. Mas sao distintas pelas hist6rias que construiram. Desde a participayao de nove trabalhadores 110 Primeiro Congresso do MST, iniciaram-se os trabalhos para a formayao do MST em Sergipe. Em 1985, no Leste Sergipano, nas regi6es de Propria c Pacatuba, existiam varios co11l1itos porterra. As forc;as que compunham a articula,ao das lutas cram os Si11dicatos dos Trabalhadores Rurais e a Diocese de Propria, por meio da CPT e das CEBs.
Em setembro de 1985, a fazenda Barra do On<;a, de 6.378 ha, 110 municipio de Poyo Redondo, foi ocupada e eonquistada por varios grupos que eompunham trezentas familias. Durante o processo de resisteneia, a policia invadiu o aeampamento, destruiu os barraeos, prendeu e torturou trabalhadores e assessores. Essa ocupac;ao foi uma ayao con junta da CPT, dos Sindieatos de Trabalhadores Rurais e do MST, que ainda nao tinha uma cstrutura de organizayao definida. Estava vivendo o proeesso de gestac;iio. Nessa epoea, o Movime11to era eoordenado por trabalhadores que tambcm eram membros do Sindieato de Nossa Senhora da Gloria, ondc funcionava a sua secretaria.
103
Em I 986, os scm-terra ocuparam a fazcnda Borda da Mata, de I. I 79 ha, no municipio de Canhoba. 0 MST participou da organizayiio das duzcntas familias envoividas. Dcssa ocupa<;iio, tambem participaram a CPT, o Movimcnto de Educa<;iio de Base (MEB) co PT. Embora as familias fossem despejadas, dcpois de quatro mescs, conquistaram a terra. Em 1987, o MST c a CPT participaram da organiza9ii0 dos posseiros, que resistiam a expropriayao, no municipio de Nossa Scnhora da GlOria. Da mcsma forma, organizaratn uma ocupayao, com setenta familias, da fazcnda Morro do Chaves, no municipio de Propria.
Todas essas cxpcriencias foram fundamcntais para o proccsso de fonnayao do MST-SE. Todavia, de acordo com a concepc;ao de movimcnto elaborada pclos scm-terra dcsdc o Pritneiro Encontro Nacional, os trabalhadores prccisavam criar um movimento aut6nomo. A !uta pcia terra c fcita pelos camponescs, as cntidadcs de apoio sao essenciais, mas nao dcveriam coordenar as ay5cs. Essa prcrrogativa prccisava ser dos trabalhadores, con forme os principios do Movimcnto. Era ncccss:lrio, portanto, construir o MST no Estado de Scrgipe. No Sertiio Sergipano, no municipio de ltabi, em sctcmbro de 1987, aconteceu o Primciro Encontro dos Trabalhadorcs Scm Terra, que reuniu novcnta c duas pessoas de scis municipios. Nesse cvcnto, os sen1-terra dccidiram construir uma politica de rclac;ao com o movimento sindical rural e urbana, com a Igreja e buscar 0 maximo de alian,as em apoio a !uta pcla lena e a !uta pel a ref anna agraria.
No Encontro decidiram realizar uma ocupac;ao no Sertao. Urn mCs depois, novenia e sete familias ocuparam a Fazcnda Monte Santo, de 1.003 ha, no municipio de Gararu. A organiza9iio dos grupos de familias era resultado do trabalho de constru<;ao do cspa<;o de socializa9iio poiitica. Essaja era uma pratica excrcida pelos agcntcs de pastorais c sindicalistas nas comunidades. Par meio da divulga,ao de forma9iio de grupos, novas familias foram se intcgrando ao processo de I uta. A fazenda era conhccida par parte das familias que sabiam da situa9iio de abandono da area. A terra foi de-
. sapropriada por interesse social, mas o latifundiario desmetnbrou a fazcnda em seis areas, tentando evitar a desapropriayilo, de modo que o conflito foi acirrado. 0 primeiro dcspcjo saiu em uma semana e dez trabalhadorcs foram presos. Da ocupac;ao a conquista da fazcnda, dcmorou dais anos c as familias ocuparam c foram despcjadas onze vczes, atC o Incra classificar a fazenda como latifllndio por explorac;ao. Nessa terra foi implantado o Asscntamento Nova Esperanc;a.
0 MST scrgipano nascc ncssa ocupac;ao. De 1985 a outubro de 1987, o Movimcnto foi sendo conccbido. Os scm-terra criaram uma nova sccrctaria no municipio de Gracho Cardoso e elegcram a Coordena<;iio e a Dire,ao do MST. Nesse proccsso rcccberam o apoio de alguns rcligiosos e igualmcnte rcccbcram muitas criticas por parte de a gentes de pastorais e sindicalistas. Construir o scu proprio espa9o politico e te-Io sabre scu controlc, tambem, gerou divergencias entre as forc;as politicas que formavam a articula<;iio de !uta pcia terra em Sergipe. As discordancias cstavam no modo de entendimcnto da forma de organizac;ao do Movimento e das taticas de !uta. Nesse caso, da mesma forma como aconteceu nos outros estados, o em bate rcfcria-se a uma questao estrutural. 0 MST nao c uma organizac;ao de apoio a !uta dos scm-terra.
104
-
Elc e a luta. Por essa razao, nao c uma institui<;ao ou cntidadc de fora do proccsso, que existc para ajudar a organizar as familias na ocupa<;ao dos latifundios. De fato, as familias sao o MST por estarcm organizadas no Movimcnto. 0 MST nao existe scm os scm-terra, cnquanto que a CPT, os sindicatos de trabalhadorcs rurais, os par1idos politicos cxistcm por sercm organizayOcs n1ais amp las. Todavia, cssas instituic;Ocs pcrpassam o MST c sao fundamcntais para a sua constru.;ao.
Construir o MST foi o grande dcsafio dos sem-tcrra em todos os cstados. Para tanto, foi fundamental tomar para si a responsabilidade do proccsso de luta que scmprc fizeram. Essa condiyao foi e 6 dctcrrninante na constru<;ao da idcntidade do Movimcnto, de modo que a dircyao do processo de luta nao podc scr de outras organiza<;iies. Saber pcnsar a !uta concrcta e, antes de mais nada, um procedimcnto de quem a faze vive. Foi dessc modo que os scm-terra criaram uma metodologia da luta popular. Evidentc que o debate com asscssores c intclcctuais a respeito das praticas 6 cssencial, mas n8.o climina, de modo algum, a rcflcxao dos trabalhadores sobre suas pr6prias m;iics, que sao, ate mcsmo, a fonte de rcfcrCncias para todos os outros pensadorcs. Assim, o dcsafio era multiplicar c ampliar as ocupac;Oes, tomando-as massivas. A cada ocupayao aumentava a repressao por parte dos latifundiarios e do Estado, de modo que urn pequeno grupo de familias tinha poucas chances de conquistar a terra. A ocupay3.o era uma forma de /uta, portanto era prcciso desenvolvcr outras formas e combiml-las, tendo como referCncias as expcriCncias construidas em todos os estados.
A ocupa<;iio da fazcnda Monte Santo que resultou na conquista do assentamcnto Nova Esperan<;a marcou o inicio do proccsso de consolida.;ao do MST em Sergipc. 0 Movimento sc tomaria a principal organiza.;ao dos trabalhadores na luta pcla terra. Com o rc11uxo da Diocese de Propria que extinguin a CPT e enfraqueccu o MEB, a !uta pela terra passou a ser desenvolvida principahncntc pclo MST. 0 movimento sindical, !iliado a Federayao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe, apenas rcivindica terra junto ao Incra, postando-se, inclusive, contra a ocupay3.o da tcna. Na constru<;ao do caminho da luta, no Agreste Sergipano, quatrocentas familias organizadas no MST ocuparam a fazcnda Betania, em outubro de 1988, no municipio de Lagarto. Os proprietarios cntraram com pedido de reintegra<;ao de posse e as familias foram dcspejadas de forma violenta. A policia destruiu cento c cinqiienta barracos, queimou par1e dos pcrtcnces das familias e prendeu instrumcntos de trabalho. Construindo a rcsistcncia, os sem-terra acamparam no povoado de .lenipapo.
Nesse tempo, o MST estava com dois acampamentos no scrtao c no agrestc. A Coordcna<;ao Estadual procurou dar um salta de qualidade na !uta. 0 MST vinha realizando trabalhos de base no Leste Scrgipano, de modo que reuniu parte das familias acampadas e efctivou uma ocupa.;ao no municipio de Pacatuba. Na madrugada do domingo de carnaval de 1989, aproximadamentc mil familias, quase cinco mil pcssoas, entraram na Fazenda Santana do Cruiri. A participa<;ao das familias do Scrtao e do Agreste ncssa ocupa<;ao, proxima ao litoral, tinha urn importantc significado do fortalecimento da organiza<;ao dos trabalhadores. A ayao con junta das familias significava conccntrar foryas para a conquista de terms nas suas regiOcs. Assim, procuram
105
colocar na paula politica do governo a questao da rcforrna agraria. Desse modo, o MST aprcsentou ao govcrnador e ao lncra uma paula de reivindica<;oes.
No dia 10 de fevereiro, os sem-terra rcalizaram manifcsta<;oes diante do Palacio do Governo. 0 principal ponto das reivindica.;ocs era a desapropria<;ao de varias fazendas para assentar todas as fmnilias acampadas. Diversas rcuni6es formn rcalizadas, em Aracaju e Brasilia, entre os scm-terra e os govcrnos estadual e federal. As tcrras da Cruiri cram parte de um grande Iatifimdio de 5.000 ha e depois da divisao ficou com 584 ha. No processo de negocia<;ao, a fazenda foi dcsapropriada c foram assentadas trinta c cinco fatnilias. Nesse entretanto, os scm-terra reivindicaram c ocuparam outras areas: Priapu e Pau torto, em Santa Luzia do ltanhy; Paiaia, em Cristian6polis, e Pontal, no municipio de Japaratuba. De I 985 ate 1989, a forma de !uta pcla terra desenvolvida pclo MST propiciou a conquista de oito assentamentos.
Evidentc que esse avan<;o do MST por quase todo o estado alertou os latifundiarios, que criaram a UDR tendo como base politica a Associa<;ao dos Criadores de Sergipc. Os deputados proprietaries de terra reagiram c investiram contra os sem-terra. A midia passou a atacar os trabalhadorcs acusando-os de screm "invasorcs e guerrilheiros", aumcntado o clima de tensao existentc. Em maio de 1989, quando a fazenda Tingui foi ocupada por 250 familias, o govcmador ordenou pessoalmente o dcspejo, alegando que, depois dos acordos para implanta.;ao dos oito asscntamentos, e>perava que as sem-terra niiofizessem mais ocupat;iio no seu estado. A policia agiu violcntamente atacando as familias, prendendo as lidcran<;as e forj an do a apreensao de armas em poder dos trabalhadores. A fazenda de 2.000 ha, localizada nos municipios de Riachuelo, Malhador e Santa Rosa de Lima, estava com urn processo de desapropria<;ao e os sem-terra ocuparam para prcssionar o Incra. Os sem-terra ocuparam a sede do Incra, em Aracaju, para protestar contra o despcjo e a vagareza.
Em sctcmbro duzentas c quarenta familias ocuparam uma area denominada Saco do Couro, no municipio de Malhada dos Bois, c foram novamcnte despejadas por meio da a<;ao violcnta da policia militar e de jagun<;os contratados pelos latifundiarios. As lideran<;as passaram a recebcr amca<;as de morte. 0 MST tornara-se a principal for<;a contra o latifimdio e estava dcsafiando o podcr dos mandataries. A despeito da violencia por meio das pcrsegui<;oes e das amea<;as, os trabalhadorcs scm-terra haviam construido o MST em Scrgipe.
Alagoas
De 1985 a I 990 foi o primciro periodo em que os sem-lcrra trabalharam na eonstru<;ao do MST no Nordeste. Nas terras de Zumbi, as constantes lutas da resist6neia pela eonquista da terra iniciava uma nova fase. Quatrocentos anos depois das conquistas dos primciros quilombos, a !uta contra o cativeiro humano tornara-se a I uta contra o cativeiro da terra. No inicio da decada de 1980, na Regiao Scrrana dos Quilombos, principalmente no municipio de Uniilo dos Palmares, numa area denotninada Terra Prcta, aconteceu
106
'
uma !uta de rcsistencia dos camponcscs, que amea.;ados de expropria<;iio lutaram contra o avan<;o do latifundio. Em mcio das lutas de rcsistcncia iniciou o proccsso de constru<;iio do MST em Alagoas. No Primeiro Congrcsso, o Estado de Alagoas foi representado par do is membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhapi. Esse municipio csta localizado no alto scrtiio alagoano e foi o bcr<;o do MST.
No Sertao Alagoano, no dia 26 de janeiro de 1987, acontcccu a primeira ocupa<;ao de terra organizado pclo MST. Os sem-terra entraram na fazcnda Pcba, no municipio de Dclmiro Gouveia. A decisao para ocupar a fazcnda derivou de um conflito entre o grilciro e 66 familias que haviam feito urn arrendamento de hoca de uma parte da fazenda em 1985. Nesse tempo, o Govcrno apresentou o Plano Naciona1 de Rcforma Agraria. 0 arrendamcnto foi umjeito que o latifundiario-gri1ciro criou para tentar sc livrar da desapropria~ao, ji que a terra era dcvoluta e as tcrras nao cstavam sendo aprovcitadas. No meio do arrcndamcnto, as familias viram suas royas de milho, fcijao, a1godao, batata e arroz screm dcstruidas pelo gada, que fora co1ocado pe1o latifundiario como objetivo de expulsa-los da terra,ja que a area niio fora dec1arada pclo Incra para fins de rcfom1a agnlria. Os ca1nponcses-rendeiros rcsistiram e o grileiro propOs uma indenizayiio. As familias nao aceitaram c a policia comcyou a intimidar os lavradores. Em novcmbro de 1986, foram intimados a comparecer em uma audiencia em Macei6. 0 grileiro tornou-se presidente da UDR da regiao e passou a utilizar seu podcr politico para resolver a questao de acordo com os seus interesses. Diantc das pressocs c amea<;as algumas familias abandonaram a area c a maiorparte rcsistiu.
Ainda, em outubro de 1986, membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhapi e responsavcis pcla constru<;ao do MST em Alagoas promovcram um encontro regional para discutircm a !uta pela terra. Um grupo foi conhecer a rcsistcncia das familias que ocuparam a fazenda Borda da Mata, em Canhoba, no Estado de Sergipe. Em Alagoas, na fazenda Peba, ante ao conflito iminente, os trabalhadorcs em con junto como Sindicato de De1miro Gouveia organizaram cinqiicnta e oito familias c ocuparam a fazcnda Peba para samar for<;as com os rendciros rcsistentes e conquistar a terra. Todavia, no dia seguinte it ocupac;ao, a policia cercou o acampamento e o juiz vcio pessoa1mente e avisou verbalmente para as familias sairem da area. Houvc tentativa de resistencia, mas a policia efetivou o dcspejo. Os scm-terra acamparam na estrada proxima it fazenda e dcnunciaram a situa<;ao, de modo que em maio o Ministcrio da Refmma c do Desenvo1vimento Agnirio aprovou a desapropria<;ao das terras. Em 1987, o MST tambcm ocupou a fazenda Lameirao, em De1miro Gouveia, e comec;ou a negociar a desapropriac;ao da area.
Na madrugada do dia 26 de fevcreiro de 1988, sem que o Incra se pronunciasse com rela<;ao a desapropria<;ao, os scm-terra, agora com um grupo de setenta familias, ocuparam novamente a fazenda Pcba. Em abril, as familias acampadas foram a Macei6 e ocuparam o patio da Secretaria de Agricultura do Estado, para protestar contra a indiferenc;a do govcrno para com a situac;ao dos scm-terra. As reivindica<;oes eram: alimenta<;iio, scmcntes e audiencia com o Incra. Os trabalhadorcs conseguiram cestas basicas para todas as familias par dais mcses e sementes para o plantio. Ao mesmo
107
tempo ncgociaram como In era, que comprou I 86 ha da fazenda e asscntou oito familias. 0 griieiro havia dcsmembrado a fazenda Peba c havia vendido pequenas areas. de modo que se livrou da dcsapropria.;iio e acabou por vender uma parte da area para o govern a. Os trabaihadorcs tambem pressionaram o Incra para a desapropria.;iio da fazenda Lamciriio de I .600 ha. Em dczembro de 1988, a CPT, o MST c a CUT realizaram a Primeira Romaria da Terra do Estado de Alagoas, quando participaram duas mil familias em Uniao dos Palmares. A caminhada terminou no alto da serra, onde csta a estatua de Zumbi. Nesse Iugar, cclcbraram a !uta pela terra, as conquistas c a rcsistCncia.
Essas lutas marcaram o nascimento do MST no estado, que c dominado pclo podcr dos !atifundiarios. Con forme o Ccnso Agropecmirio, em 1980 havia 244 estabclecimentos COm <irca de 458.6 71 ha, OU scja, uma <irca iguaJ il. quarta parte do 1CITit6rio alagoano. Nessa decada, metadc da popu1ay3o alagoana vi via no campo e enfrcntava um intcnso exodo rural. A luta pela terra c a resistCncia dos camponescs cram massacradas pclo poder do coronchsmo. A violencia contra os trabalhadores era marcada tanto pcla atua<;iio dos pistoleiros contratados pelos latifundiarios, quanto pela pnitica violcnta da policia militar. Em Macci6, o MST criou a Secretaria Regional do Nordeste, que era rcfcrCncia para sua organizayao. Etn urna das ayOcs de repressao da Policia, os coordenadorcs do Movimento foram presos c torturados. Na repcrcuss3.o do fato, a Dirc.;ao Nacional mobilizou parlamentares e rcprcsentantcs de institui.;ocs pr6-rcfom1a agraria, que tclcfonaram para a delegacia de policia, exigindo a libcrta<;ao dos trabalhadorcs. Outro !ado dcsse fato foi que a policia alagoana compreendcu que nHo podcria tratar as lutas camponcsas com os rccursos convencionais da vio!Cncia bruta, pois agora tratava-sc de urn movimento organizado.
Em 1989, o MST ocupou um latifundio denominado Lagoa da Serrinha, no municipio de Penedo, grilado pelo en tao governador do Estado Moacir Andrade. Os scm-terra rcsistiran1 por duas scmanas c foram violcntamcnte dcspcjados. A medida que a disposi.;ao dos latifundiarios era impedir a forrna<;iio do MST em Alagoas, o Movimcnto fazia nova ocupay3.o na fazenda Lage, em Taquarana, no Agrcstc Alagoano, com duzcntas e trinta familias. A policia prendeu e torturou membros da dire.;ao do Movimcnto e tcntou invadir o acmnpamento. Os scm-terra rcsistiram c enfrcntaram a Policia, que dccidiu negociar. Os trabalhadores cxigiram a vistoria da fazcnda c o Jnstituto de Tcnas de Alagoas iniciou OS trabalhos de lcvantamcnto da area, cnquanto as familias transfcriram-se para uma 3rea do Institute, no municipio de lgaci. -
No dia primeiro de maio, o MST ocupou a fazcnda Boa Vista, de 1.400 ha, no municipio de Jacuipc, na Zona da Mata. As terras pertcnciam a us ina falida Maciapc c foram desapropriadas, mas a maior parte permanecia arrendada para o cultivo da cana. As familias cnfrcntaram pistolciros c tomaram as tcrras, ondc fOram asscntadas. Em sctcmbro de !989, o MST organizou a ocupa9ao da fazenda Jundia, no municipio de Chii Preta. Foram setccentas familias de diversos municipios do Lcste Alagoano. Todavia, oito caminhoes nao conseguiram chcgar ate a area e ficaram rctidos pel a Policia. Somente quatroccntas familias cntraram na fazenda e foram despcjadas no dia
108
'
scguinte. As duas conquistas no sertiio c a conquista da Boa Vista na Zona da Mata cram sinais da territorializa<;ao da !uta pcla terra, ao passo que o despcjo da fazenda Jundia era o sinal da rcprcssao. Ainda, no anode 1989, o Movimcnto organizou outra ocupa<;iio no municipio de Sao Luis do Quitunde, na Zona da Mala, ondc ocorrcu novo despejo. As ccrcas do latifundio, rompidas pelas ocupa<;6cs, represcntam os dcsafios para a formayao do MST, que em trCs anos lutou e rcsistiu no Scrtfio, no Agrcstc c na Zona da Mata. Todavia, ainda nao sc consolidara c prccisava de n1uita luta para garantir sua cxistCncia em vista do podcr politico da oligarquia.
Pernambuco
Pernambuco foi uma das principais dclcgayOcs do Nordeste prcscntcs no Primciro Congrcsso. Era um grupo de trabalhadores rurais sindicalizados c filiados ao PT, que saiu do Congrcsso como compromisso de fundar o MST no Estado de Pcmambuco. No dia 5 de agosto de 1985 organizaram uma ocupayiio com cern familias na fazenda Caldcirao, de 800 ha, no municipio de Pedra, no Agrcste Pemambucano. Pem1ancceram acampadas por trcs semanas c foram dcspcjadas. Acamparam ao !ado da fazenda c comcyaram a pressionar o Incra para dcsapropriar a itrca. Depois de um anode prcssiio, a fazcnda foi dcsapropriada e novcnta familias conquistaram o assentamento batizado de Libcrdadc. Todavia, os scm-terra decidiram criar o Movimcnto dos Trabalhadorcs Rurais Scm Tena de Pcmambuco (MST-PE) c desvincularam-sc do MST.
No conjunto das lutas de rcsistcncia pcla terra, os camponescs pcmambucanos atingidos pcla construyilo das usinas hidrclCtricas no rio Sao Francisco, lutaram pclo reasscntamcnto c pel a indeniza9ao de scus bens. Dcsdc 1985 ate 1990, nas rcgi6cs do Scrtao e do Sao Francisco Pcrnambucano, ocorrcram dczcnas de conflitos por terra rcalizados por possciros. Os conflitos cram resultados de grilagcm de terras c cxpulsiio das familias. Na Zona da Mata, a ocorrencia de grcvcs era frcqilcntc, por causa dn descumprimcnto dos acordos entre b6ias-frias c usinciros. No inicio de 1989, lllL,n
bros do MST, proccdcntcs dos Estados da Paraiba, Sergipc, Alagoas, Bahia c Espirito Santo, cstabclcccram sua secrctaria no tnunicipio de Palmarcs, na regiao Mata Sctcntrional Pcrnambucana. lniciaram os trabalhos de base com a forma9ao de grupos de famihas para rcalizarcm a primcira ocupa<;3o.
No dia 19 de julho, quatroccntas familias organizadas no MST ocuparam uma parte do Complcxo SUAPE, que tem uma area de 13.500 ha. A propriedade localiza-sc no municipio de Cabo c pcrtcncc ao Govcrno do Estado. No segundo dia de ocupay3o, uma tropa de choquc da policia militar tcntou invadir o acampamcnto c prcndcr as lidcranyas. As familias rcsistiram cos trabalhadorcs tcntaram ncgociar como cnt3o govcrnador M igucl Arraes, que n3o aceitou a pcnnanCncia das familias na <irca. A Urea ocupada ficava a trinta quilOmctros de Recife, na rcgi3o mctropolitana, de modo que facilitou 'i policia militar o uso de scu cfctivo. Uma scmana dcpois, ccrca de duzcntos policiais acompanhados da cavalaria, do canil c hclic6ptcro cfcti-
109
varam o despejo. As familias montaram o acampamcnto nas margens da BR !OJ, no . . .
mcsmo mumc1p10.
No dia scguintc, os sem-terra iniciaram uma manifcsta~ao em frcntc ao Pal<icio do Govetno, prcssionando na tentativa de abrir urn canal de negocia~ao. 0 govcnlador amca<;ou cxpulsa-los da pra<;a ate o final da noite, afirmando que nao ncgociaria sob pressao. Os trabalhadorcs pcrsistiram e, por volta da mcia-noite, um pelotao de choquc realizou o despejo c lcvou-os de volta ao acampamcnto. 0 govcrno propos cadastrar as familias no Projeto Chapen de Palha, oferecendo uma ajuda financcira c ccstas basicas. Os sem-tcrr~ nao accitaram c, ameayados por traficantcs de drogas, ncgociaram como Incra o asscntamento das familias no municipio de Cabrob6, narcgiao de Pctrolina. A area oferecida fora arrccadada por meio de decreta da Justi<;a Federal porquc pertencia a um fazcndciro cnvolvido como esccindalo da mandioca.
Ao aceitarem a transfcrCncia, as familias procuravam cscapar da amcaya constante dos traficantcs de droga. No entanto, foram lcvadas para uma area in6spita c ccrcada por plantadores de maconha. Novamcntc amea<;adas, as familias dccidiram rctornar para a Zona da Mata. Nesse cntretanto, urn grupo de familias, como apoio do governa estadual, cntrou na area do Complexo SUAPE c rcccbcu a conccssao da terra par dez anos. Com esse ato, o govcrno tentava impedir a organiza<;ilo do MST em Pcn1ambuco c procurava manter os movimcntos sociais sob scu controle. Na tentativa de salvar a organiza~ao e as lutas realizadas, os coordcnadores dos grupos de familias do MST procuraram o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cabrob6, o Partido dos Trabalhadorcs cas comunidades de base locais. 0 objctivo era reunir for<;as e organizar ocupa<;iics em areas que pudesscm trabalhar sem as ameayas dos plantadorcs de maconha.
Par meio de indicac;Oes das familias da regiao, ocuparam e conquistaram trCs <ireas: Manga Nova, Fcdcra<;ao e Angico, no municipio de Pctrolina, que estavam em processo de desapropria<;iio. Nesse tempo, o lncra cadastrava familias para a implantayilo dos asscntamentos. Os scm-terra sc antcciparam, entraram nas 3rcas c agilizaram o proccsso. Assim, em meio a resistCncia, nasceu o MST em Pernambuco, fincando-se na terra. Desse modo, os scm-terra continuaram o proccsso de organizayao do MST par meio dos trabalhos de base na constru~ao dos espa<;os de socializa<;ao politica. Nos mcscs de mar<;o, maio e julho de 1990, ocuparam trcs fazendas, no municipio de Florcsta, na regiao de ltaparica. Oitcnta familias ocuparam a fazcnda Periquito de 1.108 ha. Setenta familias entraram na fazcnda Serra Negra de 2.100 hac trinta c cinco familias ocuparam a fazcnda Caldcirao do Periquito, de 650 ha. As trcs propriedades pertencian1 a fazcndciros cnvolvidos no esccindalo da mandioca. Com essas ac;Oes o MST mantcvc o processo de resistCncia c fortalcccu sua organizac;ilo no Estado de Pernambuco.
Paraiba
Desde o proccsso que levou a sua funda<;ao, o MST definira-se como uma fonna de organizac;ao dos trabalhadores. Par esses principios os scm-terra vivenciaram dife-
II 0
rcntes cxperi6ncias de construc;ao do Movitncnto em diferentcs lugares e rcgi6es. Bem como em outros estados do Nordeste, na Paraiba os traba!hadorcs tambcm cncontraram advcrsidades para criar o MST. Desdc 1985, quando a delcgavao voltou do Primciro Congrcsso, havia disposivao de fundar o Movimento. Todavia, ate 1989, o MST fora apenas uma secretaria em Camp ina Grande. Faltava o esscncial: a ocupac;ffo da tena. Nas lutas dos trabalhadores rurais paraibanos predominavam as de rcsistCncia na terra c dos assalariados. Os camponeses que lutavam contra a cxpropriac;ao tinham o apoio da Pastoral Rural, que em !988 transformara-sc em Comissao Pastoral da Terra, e do bispo Dom Jose Maria Pires. A Contag atuava na !uta dos trabalhadores assalariados e somente apoiava a !uta pcla terra quando algum sindicato comprometido com os trabalhadores scm-ten·a organizava as familias para a ocupayao.
Em dezcmbro de 1988, lidcran<;as que trabalhavam na construvao do MST no Nordeste rcalizaram un1 encontro para organizar a primeira ocupac;ao do Movimento na Paraiba. Diversas instituiviies e entidades pmticiparam do encontro: sindicatos de trabalhadores rurais, CPT, PT, CUT etc. Contudo, o assunto principal ficou em segundo plano porque existiam divergencias quanta a concepvao de MST. De um !ado, especialmcnte as asscssorias, um grupo defendia que o Movimento nao podia fazcr ocupac;a:o, mas dcveria apoiar os trabalhadores scm-terra nas suas ac;Oes. De outro !ado, OS scm-terra defendiam que 0 MST sao OS trabalhadorcs, portanto, partiriam para as ocupayiics. Uma das questoes do embatc era a respeito do suposto distanciamento das lidcranvas que vieram de outros estados, algumas do Sui, e que nao conheciam a realidade da !uta pel a terra no Nordeste. Desse pressuposto, algumas instituiviies afinnavam nao accitar a proposta de ocupa<;ao, porquc aquelc nao era o momento, porque tinha o pcrigo da violencia dos pistoleiros e da policia etc. E que: as ocupac;6es aconteceriam no dia em que os trabalhadores tivesscm consciCncia para fazC-las.
A supera<;ao das divergencias aconteceu quando os sem-tcrra defenderam os principios da autonomia e da organizavao dos traba!hadores. Decidiram que fariam a ocupa<;ao, mcsmo com apoio parcial, e definiram uma coordcna<;ao provis6ria. Os trabalhos de base para a forrna<;ao de grupos de familias ja estavam acontecendo, de modo que trcs mcses depois realizaram a ocupa<;ao. Em abril de 1989, duzentas familias ocuparam a fazenda Sapucaia, de 2.040 ha, no municipio de Bananeiras, no Brcjo Paraibano. Ha do is anos tramitava em Brasilia um processo de desapropriavao da fazenda. 0 latifundiario dividiu a propriedade em varias por<;6cs, procurando cvitar a desapropria<;ao.
No segundo dia da ocupa<;ao, um pe!otao da policia militar chegou ao acampamento, afin11ando que tin ham ordens para retirar as familias da area. Mas como nao possuiam uma ordcm de dcspejo, os setn-terra rcsistiram c frustraram a ayao militar. No cntanto, a noite um gmpo de pistoleiros efetivou o despejo. Das trcs as seis horas, os acampados foram atacados c, na fuzilaria, cnquanto algumas pcssoas tentavam se abrigar em mcio aos seus pctiences, outras procuravam cscapar em direy8.o da mata. Torturaram alguns lidcres e, durante o ataque, a menina Luzia de Brito, de dczoito mcses, morreu quando sua mae foi atacada, jogada ao chao e pisoteada pclos jagunyos. Os barracos cos pcrtcnces foram todos qucimados. Os scm-terra se rcarticularam
I I I
e ocuparam a sede do Incra em Joao Pcssoa. Pression ado, o supcrintcndcntc cnviou oficio a Brasilia, pedindo a retomada do processo da fazcnda Sapucaia.
Do outro !ado, o latifundiario cntrcgou a policia uma mctralhadora, dizcndo que pcrtencia aos scm-terra c que fora dcixada no acampamento, quando scus funcionii.rios expulsaram as familias. Entrcgou tambem uma bandcira do MST cum dos cadernos de formac;iio do Movimento, afirmando que a intenc;iio dos trabalhadores era formar um foco de gucrrilha na Paraiba. A midia deu grande repcrcussfio a cssa acusac;iio, publicando p:iginas intciras da cntrevista como fazendeiro. Quanta ao fato da violCncia contra os trabalhadorcs e ao assassinato da menina Luzia de Brito, cstc reccbcu algumas notas no final da p;Jgina. As familias vclaram o corpo de Luzia na scde do Incra e tentaram uma audiCncia com o govcrnador, para que intcrvisse no caso. Os trabalhadorcs nilo foram recebidos pelo govemador que indicou o Chefe da Casa Civil para reccber os sem-terra. Eles rclataram o ataquc dos pistolciros, solicitaram ajuda para procurar pcssoas dcsaparecidas c reivindicaram o assentamcnto das familias.
As familias nilo foram atendidas pelo govemo cstadual c tampouco pclo lncra, de modo que montaram acampamcnto provisOrio numa area do Engcnho Mares, no municipio de Alagoa Grande. As terras cstavam em litigio dcsdc 1981 c foram cadastradas pelo Incra como latifllndio por explorayao. Os foreiros resistiam na ilrea c rcivindicavam a dcsapropriayao. Em setcmbro, as fan1ilias ocuparam a fazcnda Maniyoba, de 2.500 ha, no municipio de Espcranc;a. Come<;aram as perscguic;ocs contra os scm-terra que eram atocaiados quando saiam do acmnpamento. Os trabalhadorcs orgnnizaram-sc em grupos para se dcfcnderen1 das cmboscadas c organizaram a rcsistCncia em ton1o do acampamcnto. 0 PT c a CUT formaram comissOcs de apoio aos scm-terra com visitas pcrmancntcs a area ocupada.
Dez dias ap6s a ocupac;iio, a policia rcalizou o despcjo por mcio de ordemjudicial. As familias foram levadas para divcrsos tnunicipios da regi3o, suas fcnamcntas de trabalho c sacos de scmcntes foram roubados. Algumas lideranc;as foram cspancadas e os barracos foram qucimados. A tcntativa de dispersiio niio dcu rcsultado c, em mcnos de um mCs, as familias reocuparam a fazcnda plantando abO bora, milho, mandioca c fava. A hist6ria dessas familias registrou o principia da construc;iio do MST na Paraiba. 0 Movimcnto nasccra em mcio a gucna contra o latifUndio. Com todos os dcspcjos violcntos, as familias que persistiram conquistaram a tena. Ncssc cntrctanto da rcsistCncia camponcsa, o MST havia fincado suas raizcs na Paraiba e, por mais que os latifundi;lrios tentasscm, nao conseguiram cort;l-las.
Rio Grande do Norte
Para o Rio Grande do Norte, no Plano Nacional de Refonna Agraria constavam as seguintes mctas para o quadrienio !986-1989: assentar 24.200 familias. No final de 1989, somente 1.540 familias estavam asscntadas, ou seja, apenas 6% do planejado. Evidente que csta situac;ao fez aumentar o numero de conflitos fundiarios. Entre-
112
tanto, as lutas eram, ainda, isoladas e prcdominantcmente de resistCncia na terra. 0 proccsso de constm<;iio do MST come<;ou em 1989, no Oeste Potiguar, com os primeiros contatos entre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sao Rafael eo Movimcnto. Lideran<;as dos Estados do Ceara, Paraiba, Espirito Santo, Sergipe c Santa Catarina dcslocaram-se para a regiao e iniciaram os trabalhos de base pam a forn1ayao dos gmpos de i~tmilias. No final do mCs de outubro, os trabalhadores realizaram a primeira ocupay5.o na fazenda Bom Futuro, localizada nos municipios de Janduis e Campo Grande.
Era um grupo de vintc familias que ocupou o latifundio de 2.000 ha. 0 proccsso de dcsapropriay3o do im6vel ja estava decrctado, todavia em menos de vinte e quatro horas as familias foram despejadas por pistolciros. Seguidamente as familias se rcorganizaram c tcntaram ocupar uma fazenda dcnominada Palcstina, no municipio de Jucurutu, tambCm com processo de desapropriayao. Ncssc tempo, os latifundi<irios se articularam para impcdir a nova ocupayfio. Como controlavam o podcr politico local, pressionaram o dclcgado para prcndcr as lidcranyas, o que ocorrcu durante uma das rcuni6es de grupos de familias na cidade de Sao Rafael. As outras familias ocuparan1 as tcrras da Pales tina e ao tomarcm conhecimento da prisfro de uma das lidcranyas c do iminentc ataque de pistoleiros dccidiram dcixar a area. Por mcio da intcrvcnyfio de uma entidadc de dircitos humanos, a lideran<;a do MST foi libe11ada scm que cxistissc um proccsso de acusayao.
Depois de duas ocupay6es scm conquista, os scm-terra decidiram mudar o rumo da hist,)ria. No primciro scmestrc de 1990, comcc;aram novo trabalho de base em conjunto com os Sindicatos dos Trabalhadorcs Rurais de Joao Camara, Parazinho e Bento Femandes na regi3o do Agrcstc Potiguar. Criaram a Sccrctaria do Movimcnto c iniciaram uma alianya com a CUT, PT c sindicatos urbanos. Com cssa nova articulayao intcnsificaram OS trabaJhos de base C fonnaram v8.rios grupos de familias da regi3o do agrestc. Desse modo, no dia 29 de julho de 1990, rcalizam nova ocupa<;ao com trczcntas familias na fazcnda Maraj6, em Joao Camara. Dois anos antes, cssa mesma ftrca fora ocupada pclo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, todavia, o presidente foi amca<;ado pclo latifundi3rio c dcsmobilizou as familias ocupantcs. A Maraj6 tambCm cstava com decreta de desapropriayao cos sindicalistas c os sctn-tcrra sabimn que sOpor mcio da ocupa<;ao seriam passive! conquista-la. A alianc;a do MST, Sindicatos de Trabalhadorcs Rurais, sindicatos de diversas categorias de trabalhadores urbanos, oPT c a CUT, fortaleceu a !uta pcla terra, de forma a cnfrentar os latifundii1rios.
No dia 2 de agosto, sessenta trabalhadorcs acamparam diantc do Palacio do Governa em Natal. Iniciaram as negociay6es como Govcrno do Estado e como Incra, cxigindo a efetivayiio da dcsapropriayao da Maraj6, alimcntos c agua para as familias acampadas. Nun1 primeiro momenta, o govcrnador eo superintendcnte do Incra disscram que OS traba!hadorcs cstavam b!cfando, porque a imprensa nao havia !oca!izado o acampamcnto. Foi ncccss:irio que os scm-terra acompanhasscm os jon1alistas atC o local da ocupac;ao. Todavia, a ncgocia<;ao tornou-sc dificil porquc o Estado s6 accitava ncgociar com a Fcdcrac;ao dos Trabalhadorcs na Agricultura do Rio Grande do Nm1c (FET ARN). Nao accitavam o MST como interlocutor das familias. Os scm-terra con-
I 13
•
vidaram a FET ARN para participar da negocia<;iio. Contudo, antes o govemo sc rcuniu com a Federa<;iio c pressionou a presidcncia para que retirassc as familias da fazenda Maraj6. Nessc cntrctanto, no acampamento, cmTia o boato que os prcsidcntcs dos sindicatos viriam buscar as familias de scus tnunicipios e as que ficassctn no acampamento cnfrentariam os jagun<;os.
Essa situa<;iio eome<;ou a gcrar um clima de terror c medo. Tambem rcecbiam amca<;as da Policia, que nos despejos queimava os barracos para cxpulsar todas as familias e limpar a area. Ainda a fome e a falta de agua no aeampamcnto tomavam a situa<;iio mais dificil. Com exce<;iio do Sindicato de Bento Fernandes, os presidentes dos sindicatos trouxeram caminh6es para transportar as familias de volta para os seus municipios. Parte das familias decidiram rcsistir, porque abandonar a !uta poderia significar a pcrda da (mica condic;iio de conquistar a terra. Parte das familias atenderam aos presidentes dos sindicatos e voltaram. Mas na indecisiio e tcmendo perdcr de fato a possibilidadc de transfonnar suas rcalidades, algumas rctornaram ao acampamento. Essa situac;iio fortaleceu o MST. A rcsistencia dos scm-terra derrubou o ardi I do governo e continuaram a pressionar o governo, de modo que o governador aceitou negociar a entrega de cestas basi cas para as familias, desde que a FE TARN participasse das negocia<;iics.
Os coordcnadores do MST accitaram a participa<;i\o da Federa<;iio nas reuniiics de negocia\8.0. Mas, de novo, o govcmo usou um cstratagema. Entregaria as cestas basicas com uma condi<;iio: que o MST c a FET ARN rctirasscm as familias da area. Embora os dirigentes do MST niio accitassem, os sindica!istas concordaram com a proposta do govemo. Antes dos cam in hoes chegarcm com as cestas, os coordenadores de grupos acertaram que era para todas as familias pegarem os alimentos. Quando foi proposta a dcsocupa<;i\o da Maraj6, os sem-tcrra propuseram uma asscmbleia para que todos decidissem sabre a questiio. As familias niio aceitaram a proposta e afinnaram a rcsistencia. Niio houve dcspcjo e naquele mcsmo ano a desapropria<;iio dos 1.600 ha da Maraj6 foi efetivada.
Apenas cinqiienta e duas familias poderiam ser assentadas na fazenda Maraj6, de modo que os scm-terra organizaram outra ocupa<;iio. Em outubro, a fazcnda Nogueira, localizada no municipio de Touros, no Lcstc Potiguar, foi ocupada por quarcnta familias. 0 govcrno niio aceitou negociar c no dia seguintc as familias foram dcspcjadas pcla Policia, sem aprcsentar liminar ou qualqucr documento. As familias retomaram para o acampamento em Joao Camara. 0 asscntamcnto Maraj6 tornou-sc, nesse tempo, um suporte importantc para as familias. Era tcrrit6rio conquistado, base de sustcntac;ao da I uta, a cxcmplo do seminS.rio dos Capuchinhos, em ltamaraju, na Bahia. Esse lugar tomou-sc urn acampamcnto provis6rio, ondc mais familias montaram scus barracos participando de uma luta continua. Realizaratn nova ocupac;ao no municipio Taipu, vizinho a Joao Camara, e novamentc foram despejados.
Para a implantac;ao do asscntamento Maraj6 scria necessaria transferir as familias rcmancscentes para outra area. TambCm cxistiam mais duas areas em proccsso de
114
desapropria<;iio: reclamadas pelos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Joao Camara e Sao Bento do Norte. De modo que era urgente resolver essas situa.;iies. 0 MST promoveu a primeira caminhada ate Natal. partindo do municipio de Ceani-Mirim, distante vinte e cinco quil6metros da capital. Os trabalhadores passaram a pressionar o Institute de Terras do Rio Grande do Norte, reivindicando a desapropria<;iio das areas ocupadas e das areas em pendenga e demandadas pelos sindicatos. 0 Instituto promctcu resolver as qucst6cs em novcnta dias. N esse cntretanto, o MST organizou nova ocupa<;iio em Siio Gon<;alo do Amarante, em uma area de 500 ha pertencente ao Govcrno do Estado c que dcvcria scr destinada a criac;ao de um Centro de Pcsquisa Agropecu3ria. Foram novamente dcspcjadas cas familias somaran1-sc as outras ja acampadas na area destinada ao assentamcnto Maraj6, em Joao Camara.
Na eonquista da fazcnda Maraj6 foram construidas condi<;iies basieas de resistcncia da !uta pcla terra. Os trabalhadores sem-terra, ao mesmo tempo que procuraram negociar como governo a desapropriac;ao das areas em conflito, cspacializavatn a !uta pela terra, por meio de oeupa<;6es, caminhada e manifesta<;iics, acumulando for<;as c desafiando as institui<;oes. 0 que cstava em questao nos processes de negociac;ao c que o govcrno procura impcdir a todo o custo, era o aumento das conquistas dos scm-terrae sua tcrritorializa.;ao para outras regiocs do estado. Mas, o MST ja havia plantado a raiz da sua organiza<;ao e da !uta pcla conquista da terra.
Ceara
Quando tenninou o Primeiro Congresso, pelos debates e troca de expericncias de !uta, os trabalhadores scm-terra voltaram aos seus estados com a certeza de que a ocupat;iio e a soluc;iio. Em bora houvcssc essa dctcnnina<;iio por parte dos trabalhadores, na pratica cnfrentavam inumeras dificuldadcs para dcsenvolverem a !uta pela terra. Em ncnhum momenta a luta dcixou de acontcccr, se bcm que de fom1a isolada c tnuito mais de resistcncia para nao sair da terra do que para cntrar na terra. De modo que o objctivo dos trabalhadores organizados no MST, ao realizarem as ocupa<;oes, scmpre foi transfonnar e multiplicar as lutas na esperan<;a de solucionar os problemas das familias scm-terra.
No Ceara, os trabalhadorcs dos Sertoes Cearenses, cspecialmente de Quixada e Quixcramobim, que partieiparam do Congresso nao conseguiram, ate 1988, efetivar o processo de constru<;ao do MST. Desde o Noroeste e do Norte Cearensc ate os ScrtOcs, aconteccram v::irios conflitos fundi::irios, quando as familias se negavam pagar rend a aos latifundiarios. Partiram para o cnfrentamento contra os jagun<;os e conquistaratn a terra. 0 interesse dos trabalhadores rurais era reunir cssas lutas c amplia-las por meio da organiza<;ao das familias scm-terra. Com cssa forma pretendiam romper com o localismo, intensificar a divulga<;ao da !uta, possibilitando a maior participa<;iio das familias.
Na retomada dos cantatas como MST, os traba!hadores solicitaram que militantcs de outros estados viessem contribuir com a organizayao do Movimento na rcgiao
I 15
dos Sertiies. Num primeiro momcnto, em sctcmbro de 1988, vcio urn militante do Estado do Espirito Santo para conheccr a rcgiao c trabalhar na construyao do MST. Todavia, a situayao de miseria dos trabalhadores scm-terrae a scca braha foram motivos que levaram a conclus3.o que, naquclc mmncnto, n3o havcria condiyOcs de organizar a I uta no serhlo cearcnsc. PorCm, ctn fcvcrciro de 1989, uma lidcranya, tambCm do Espirito Santo, mudou-sc para o scrtao c comcyou a participar dos trabalhos com os scm-terra que vinhan1 tcntando construir o Movimcnto.
As primciras rcuniOcs foram fcitas nos municipios de CanindC, Quixada c Quixcramobim. F mmaram uma comissao provis6ria que rcunia sctn-tcrra asscntados, scm-tcrra que lutavam para conquistar a terrae mcmbros do Sindicato dos Trabalhadorcs Rurais. Com cssa atiiculayfio, organizaram cncontros tnunicipais c regional, rcunindo pcssoas que vivcram difcrcntcs cxpericncias de organizayao popular, trabalhando nas Comunidades Eclcsiais de Base, na Comissao Pastoral da Terra, nos sindicatos e no Partido dos Trabalhadorcs. Essas militfmcias fmialeccram a !uta pcla terra em dcscnvolvimento. Por outro lado, a maior parte dos trabalhadores nao estava convencida da possibilidadc de se construir um movimcnto camponCs forte como propunha a articular;ao. Bcm como nfio acreditava mais e1n proposta de rcfonna agnlria, haja vista que o Plano Nacional de Rcfom1a Agraria nao sa ira do papel.
Urn dos excmplos utilizados para a fonnayao de grupos de fi:nnilias foram os mutirOcs organizados para brocar a terra. Essa pnitica reunia entre quinzc a vintc trabalhadorcs que plantavam, limpavam c colhiam numa Urea em comutn. Os scm-lena tiraram provcito dcssas cxpcricncias cas utilizavam nas rcuniocs c na Liturgia da missa para justificar a ncccssrdadc de fonnayao de um movimento para lutar pcla terra. Argumcntavam que cssa era uma altemativa ao desemprego c a n1isCtia, que era preciso ter a consciCncia da organizar;:lo como proposta concreta para transfon11arcm suas realidades.
Em quatro mescs haviam formado divcrsos grupos que somavam em torno de 450 familias. No dia 25 de maio de 1989, ocuparam um latifimdio de 23.000 ha no municipio de Quixcramohim. Para essa ay:lo, participaram trezcntas familias que rompcrmn as ccrcas da fazcnda Rcunidas sao Joaquim c rcalizaram a primcira ocupa<;ao do MST no Estado do Ceara. De imcdiato, urn grupo de ccm pcssoas ocupou o lncra, em Fortalcza, c exigiu a dcsapropriayao, uma vcz que ja cstava dccrctada dcsdc 1986. De fa to, restava para a consumay:lo do processo a pressao dos scm-terra. Em nove dias o decreta foi assinado c iniciaram os trabalhos de implantayao do Assentamcnto 25 de Maio.
A Fazenda Rcunidas Sao Joaquim era urn conjunto de medias e pequenas propricdadcs que foram incorporadas no proccsso de cxpropria'r3o do campcsinato, pcla grilagcm c violCncia contra os trabalhadorcs rurais. A ocupa'rao era para alguns a possibilidadc de rcconqnista c para outros a conquista da terra. Essa (rc)conquista motivou os trabalhadorcs para avan<;arem na !uta pcla terra. Parte dos scm-terra do asscntamcnto 25 de Maio iniciara os trabalhos de massifica<;iio da !uta, articulando gnrpos de familias de doze municipios das rcgiiies Norte e Scrtiics Cearcnscs. Da mesma for-
116
rna, os trabalhadorcs come<;aram os trabalhos para a organiza<;ao intcrna do assentamcnto. Apropriaram-sc de todas as partes da fazcnda distribuindo as familias par areas. Num primeiro momcnto, fom1aram 12 grupos coletivos c iniciaram o plantio. Por fim, quinhentas familias foram assentadas.
No dia do trabalhador rural, em Quixada, os scm-terra realizaram uma grande manifesta<;ao com a participa<;ao de aproximadamcnlc mil pessoas. Com esse ato, o Movimento aprescntava suas inten<;6cs de multiplicar as lutas para a conquista dos latifUndios. Fizeram cncontros para trocas c divulgayfio de cxpcriCncias, bem como cursos de forma<;ao de militantes para discutircm a metodologia do trabalho de base na prcpara<;ao dos grupos de familias. Com a participa<;ao de lideran<;as de outros cstados do Nordeste, cstudavam experiCncias cas causas de succssos e fracassos das lutas. No pritneiro dia do mCs de setembro, rcalizaram a segunda ocupayfio.
Por n1cio dos trabalhos de base, os scm-terra organizaram ccntcnas de grupos que somavam em ton1o de duas mil familias nos doze municipios trabalhados. De Inodo que para a SC!:,:runda ocupayfio oitoccntas f~nnilias cstavam prcparadas. 0 latiflmdio a scr ocupado era a fazenda Tiracanga, de 3.750 ha, no municipio de Canindc, na regiao norte cearcnsc. Dcsdc a repercussao da conquista do Assentamcnto 25 de Maio, a UDR se prcparara para tcntar impedir novas ar;ocs do MST. De modo que os pastas da Policia Rodovi3.ria estavam de plan tao quanta a movimcntayao de cmninhOcs com familias scm-terra. Assim, cinco caminhoes foram barrados na rodovia que liga Quixad:i a Canindc. Os grupos que pm1iram dos municipios pr6ximos a CanindC chcgaram atC a fazenda Tiracanga, enquanto os gmpos que vinham da regiao de Quixada foram barrados.
Quando os caminhoes foram libcrados e obrigados a rclornar, os scm-terra dirigiram-se para o municipio de Ita pi Una c duzentas familias ocuparam a fazcnda Touros, de 1.300 ha. Na tcntativa de impedir uma ocupa<;ao, os latifundi:irios viram acontcccr duas. Os scm-terra aprcndcram com as expcriCncias de luta de outros cstados. Portanto, haviam definido mais de uma area, pressentindo a possibilidade de bloqueio nas cstradas. A rea<;iio foi imediata. Naqucle mesmo dia, urn batalhiio da policia militar realizou o despejo das familias ocupantes da fazcnda Touros. As familias dirigiram-sc a Fortalcza, ocuparam o pr6dio do Ioera e ncgociaran1 uma <lrca para que fosscm assentadas. A Sccrctaria de Agricultura do Estado ofereceu uma parte da Fazcnda Experimental Paula Rodrigues, no municipio de Santa Quitcria, na regiao noroeste do cstado, ondc as familias pcnnancccriam ate o Incra arrccadar uma area para asscntil-las. Dcpois de mescs acampadas na Fazenda Experimental, as familias foram transfcridas para divcrsas pequcnas areas. Todavia, a fazcnda Touros scria conquistada, em 1991, par outro grupo de familias.
A luta pcla fazenda Tiracanga teve outro desfecho. Se bem que a policia tivesse tentado realizar o despcjo par duas vczes, as familias eslavam decididas a rcsistir. Montaram divcrsas barreiras para impedir o avan<;o do batalhao em dirc<;iio ao acampamcnto, de modo que o governo voltou atnis e por meio da ncgociayao, quatro mcscs depois, os scm-terra conscguiram a desapropria9ao da fazcnda. Como rcsultado des-
117
sas duas conquistas, visando o crcscimcnto e a territorializa<;iio do MST, os scm-terra criaram a Coordcna<;iio Estadual e decidiram intensificar os trabalhos de forma<;ao dos gmpos de familias. Tambem, nesse tempo, da mcsma forma que o MST do Ceara rccebia apoio de lideran<;as de outros estados, passou a liberar militantes para contribuir com a organizay:lo do Movimento em outros estados. Em mcnos de urn ano, os sem-terra haviarn construido a sua organizayao que estava em vias de consoliday:lo.
Em 1990, o MST realizou diversas oeupa<;oes massivas em varias regioes e fundou a primeira cooperativa, a COPAMA (Cooperativa de Produ<;iio Agropecuaria do Assentamento 25 de Maio Ltda.). Em doze municipios, havia grupos de trabalho de base nos quais as familias se organizavam para 1utar pela terra. Os traba1hadores rompiam com o processo de exclusao c a cada conquista rcssocializavam-se. Etn maio, rea1izaram um ato publico para comcmorar urn ana de vida do MST no Ceara. Um ana de I uta que transformou a vida dos trabalhadores que dccidiram fazer a refonna
' ' agrana na marra.
Piaui
0 processo de gcsta<;iio do MST no Estado do Piaui durou quatro anos e meio. Desde o Pritnciro Congresso, os trabalhadores sem-terra cmncc;aram a constntir o Movirnento, realizando cursos de fonna<;iio nas Comunidades Eclesiais de Base, no sudeste piauiensc, onde mantinham uma secrctaria na cidade de Picas. Eram atividades descnvolvidas par uma articula<;ao composta com a CPT e a CUT, por meio de comissoes municipais, nas quais faziam os trabalhos de base, criando cspa<;os de socializa<;iio politica, discutindo as perspectivas de organiza<;iio do MST no Piaui c, ao mcsmo tempo, conquistar os sindicatos pelegos. Nesse tempo, as principais lutas cram de posseiros que resistiam contra a expropria<;iio. A Comissao Pastoral da Terra coordenava o apoio aos camponcses que negociavam a rcgularizay:lo fundiUria de suas terras.
Ate 1989, esse tipo de a<;ao foi predominantc no Piaui. Essa forma de I uta e importantc, mas por sua hist6ria c pcla l6gica de seus principios o MST nao se limita a !uta pela resistcncia na terra. A a<;iio politica detem1inante do Movimento e para entrar na terra. Desse modo, para eonstmir uma !uta mais ofensiva, o MST preparava-se para executar sua primeira ocupa<;ao. Todavia, era um grande desafio, porque tambern predominava a concep<;ao que no Piaui era muito dificil fazer ocupa<;ao. Era a compreensiio, principalmcnte, de alguns agentes de pastorais que apoiavam a !uta. As institui<;oes desenvolviam a !uta pela reforma agniria, defendiam os posseiros na !uta pcla terra, mas n:lo conccbiam a ocupayiio da terra. Assim, como em outros estados, os membros do Movimento trabalhavam para superar esse ponto de vista.
No final da decada de 1980, o MST eriou uma Secretaria Regional em Macci6, para possibilitar a realiza,ao de trocas de experiencias nos encontros de fonna,ao de lidcranyas. Ncssc periodo, o Movimento nascia em cada estado do Nordeste, sendo a ocupa<;iio da terra o fato que registra a genese do MST, de modo que, no Piaui, os
118
scm-terra procuravam construir as condiyOes necessarias para realizar as ocupar;Oes de terra. Ja haviam cxccutado varias ocupa~oes no Nordeste, vivenciadas por grande parte dos militantes que sc deslocavam para diversos estados, a fim de territorializar o MST. Essas expericncias serviam como rcfcrencias para os coordenadorcs do Movimcnto, que relacionavam a realidadc do seu estado com as pn\ticas de !uta do MST na rcgi3o. Dessa forma, procuravam superar o discurso do localismo, cujo argumento principal era uma suposta diferen~a dos problemas fundiarios de scu cstado para com a regiao ou da questiio agraria brasileira.
Em outubro de 1988, na regiao de Picos, no municipio de Oeiras, a CPT promoveu a Primeira Romaria da Terra, com a participa~ao de oito mil trabalhadores rurais das dioceses e comunidades. Na Romaria, denunciaram os dcsvios de recursos para combatcr a seca, em beneficia dos latifundiarios e empresas agropecuarias. Em manifesto assinado pelo MST, CUTe CPT, divulgaram os projetos govcmamentais de entrega de terras aos empresarios do Sudeste c Sui do Pais, com apoio da SUDENE, FIN ORe Banco Mundial.
A implanta~ao de projctos acontecia em detrimento da realidade dos camponeses, que cxcluidos restava apenas, quando passive!, o assalariamento aos empresarios e latifundiarios. 0 Plano Nacional de Reforrna Agraria nao cumprira com as metas previstas, de modo que para as familias scm-terra continuarem resistindo era preciso que construissem seu proprio caminho. Ha quatro anos, essas pcssoas vinham rcfletindo sabre suas realidades e decidiram que havia chegado a hora de ocupar a terra. Evidente que cssa decisao trouxe conflitos internes na articula~ao de for~as populares. Para o MST, a hora de ocupar a terra ja havia passado. Para a CPT, enquanto alguns agcntes defendiam a ocupa~ao, outros acreditavam que lutar pcla reforrna agraria, por mcio de negociay3.o cmn o governo, seria o caminho mais seguro.
Em dezcmbro de 1988, a articula~ao organizou uma manifesta~ao em frente a sede do MIRAD, em Tcrcsina, para protestar contra a demora na rcgulariza~ao fundiaria das areas de posse, bem como na implanta~ao de assentamentos em areas ocupadas por pequenos grupos de familias. Em janeiro de 1989, o MST e a CUT ocuparam as galerias da Assembleia Lcgislativa na tcntativa de impcdir a aprova~ao de um projeto para a venda de 450.000 hade terras do Estado para empresarios estrangciros e nacionais. A justificativa do govcmo era a sua divida como Banco Central. No entanto, os trabalhadores demonstraram que a venda das tcrras nao conespondia a dez por cento da divida e que fazia parte de um plano para bencficiar e fortalccer ainda mais o latifimdio no Piaui.
Esse con junto de fatores era utilizado pelos scm-terra para convcnccr as outras for~as da at1icula~ao, que ja cstava passando da hora de ocupar a terra. Scm conscnso, o MST bateu o martel a. Dccidiu organizar os grupos de familias e rcalizou a sua primcira ocupa,ao no Piaui, no dia I 0 de junho de 1989. Ccnto c vintc familias ocuparam a fazcnda Marrccas, de 10.000 ha, no municipio de Sao Joao do Piaui. 0 latifundio pcrtencia a um cmpresario pcrnambucano que fora bcneficiado por mcio de subsi-
I I 9
dios de projetos da SUD ENE para cria9iio de gado. Mas, havia des vi ado os rccursos c a fazcnda estava complctatncntc abandonada. De modo que os scm-teJTa pressionaram o lncra para a dcsapropria9iio do im6vcl. As familias comc9aram a trabalhar na terrae rcivindicar rccursos do Programa Especial de Crcdito para a Reform a Agraria.
Num primeiro momenta, o in1pacto da ocupa~ao causou pcrplcxidadc em Sao Joiio do Piaui. Comentarios gcncralizados cram fcitos pcla popula9iio que idcntificavam as familias scm-terra nalgumas vczcs cmno ciganos, noutras como gentc enviada pe/o gol'erno parafazer a reform a agrciria. Em poucos dias, por mcio da imprcnsa, as familias sc idcntificaram como MST c rcccbcram apoio das comunidades. A ocupa9ao reprcscntava uma mudan9a na realidadc local, de modo que alguns sctorcs da vida politica do municipio, cnvolvcndo vcrcadores, sindicatos c cntidadcs, aprovaram aqucle a to, porquc tambCtn significava uma forma de enfrcntamcnto com a politica que dcfcndia os privilcgios c intcrcsscs dos latifundiarios. Reconhccidos como fon;a politica, os se1n-terra passaram a negociar a itnplanta<;Uo do assentamento c nao sofreram despejo.
Quatro tneses depois, no mesmo municipio, ocuparam a Fazenda Lisboa, de 8.800 ha, pertcnccntc ao mcsmo latilundiario da Manccas. Ccnto c cinqi.icnta liunilias cntraram na terra, reivindicaram a desapropriay3o c a implantayao do assentamento. Ncgociaram com o Incra, com a Sccretaria de Seguranya c com a Sccretaria de Plancjamento, a agilidadc do proccsso de dcsapropria9ao, a nao intcrvcn<;ao policial na <irea eo cnvio de alimcntos para as familias dos acampamcntos. De fato, o latifundiario estava intcrcssado em ncgociar com o lncra o arrcsto das areas a tim de ten tar cscapar de futuros proccssos judiciais. Os problemas que as familias enfrcntaram faram cmn os pccuaristas que cstavam utilizando as tcrras das fazcndas para engorda de gado. Os scm-terra comc<;armn a ocupar a terra com suas roy as c expulsaram o gado.
Os trabalhos de base para fom1a.;ao de grupos de familias continuaram, e no dia 25 de julho de 1990 o MST ocupou, com ccm familias, o Projcto Mudubim. Era um im6vcl de 200 ha, pcrtcnccntc ao Estado, onde seriam produzidas scmcntcs sclccionadas de arroz e milho. Todavia, dcsde 1986, toda a infra-cstrutura cstava abandonada. Na propricdade havia areas com tubula<;ocs c piv6s para irriga,ao, p09DS artesianos, annazCns c divcrsas mii.quinas para bcncficiamento. Todo o material estava sc dctcriorando. No mcsmo dia da ocupa<;ilo, a policia militar cercou a fazcnda c, scm mandado judicial, cfctivou o dcspejo. As familias tcntaram rcsistir c, no confronto com a Policia, dais mcmbros da Dire9iio do MST foram fcridos. Efctuado o dcspcjo, os scm-terra acamparam nas margcns da estrada, ao !ado da propricdade. Apcsar da trucu!Cncia, as familias continuaram rcsistindo e ncgociando, de fonna que o govcmo do cstado acabou transformando o projeto etn asscntamento.
Em um ano foram trcs conquistas. 0 MST do Piaui cmne9ava o seu processo de consolida9iio. Mesmo cnfrcntando as dificuldades de organizar ocupa.;oes massivas, o Movimento foi construindo o scu cspa<;o politico, organizando os setorcs c assim criando novas desafios. Entre estes, organizar a produ9ii0, lutar pclo Procera e territorializar a !uta para outras rcgiocs do cstado.
120
Maranhao
A constrw;ao do MST no Maranhao comc<;ou em 1985. No Primciro Congrcsso, participaram divcrsas lidcran.;as camponesas de trajct6ria hist6rica na !uta pcla terra. Esses trabalhadores cram fundadorcs do CENTRU (Centro de Educa<;ao c Cultura do Trabalhador Rural), localizado no municipio de Impcratriz, no oeste maranhensc. 0 CENTRU era coordenado por Manocl da Concci<;ao, lidcran<;a hist6rica do movimento camponcs. Nessa rcgiao, dcsdc o final da dccada de 1960, foi fonnado um grande grilo, dcnominado Fazenda Pindarc, cujos limitcs, confom1e as difcrcntcs dcclara<;iics de propricdadcs cadastradas no Incra, variavam de 125.000 ate 3.518.320 ha 1• Em scu desdobramento, o grilo Pindar6 foi dividido em v3.rias areas que foram apoderadas par divcrsos grilciros, entre estes, grandcs cmprcsas como, par cxcmplo: VARIG, SANBRA, SHARP, CACIQUE, MESBLA e PAO DE A<;:UCAR. Esse proccsso grilcnto acontcceu com a cxpulsllo dos possciros c, em muitos casas, com a limpeza da Grea, que consistc na ayao de policiais c pistolciros realizando chacinas dos posseiros que viviam naquclas tcrras hci dCcadas.
Nessa regillo, tambCm denominada cmno PrC-Amaz6nia Maranhcnsc, desdc a dCcada de 1970, crcscia o nUmcro de conflitos fundi3.rios. Os financiamcntos da SUDAM para a impianta<;iio de varios projctos de cxtrac;ao de madeira c projctos agropccwirios viabilizaram a tcrritorializa<;iio de cmprcsas capitalistas que cxpulsaram violentamcntc os possciros de suas terras. Muitos posseiros migraran1 para o oeste em busca de novas terras ou foram trabalharnos garimpos. Na scgunda mctadc dos anos 80, em Impcratriz c cidades vizinhas, nas periferias concentrou-se um grande nllmero de familias scm-terra. Scm cmprego c com as terras cercadas, a ocupayilo era uma forma de resistCncia e de sobrcvivencia.
Emjunho de I 985, o Incra promoveu um encontro no cntao povoado de Buriticupu, para aprcscntar o Plano Nacional de Reforma Agraria. Ncssc even to pat1iciparam oitoccntos lavradores, representantcs dos municipios do Oeste Maranhcnsc, que discutiram o Plano. Na 6poca, os latifimdios somavam20.804.000 hac no PNRA conslava a meta de ccnto e dez mil fan1ilias a serem assentadas em quatro anos. Naquclc ano, a cada duas semanas, um trabalhador era assassinado na !uta pel a terra. No municipio de Santa Luzia, etnjaneiro, do is possciros foram mortos na limpeza de clrea da fazcnda Capocma, que dcpois foi ocupada pelos scm-terra.
A fazenda era um grilo de aproximadamcntc 60.000 ha, onde quinhcntas e trinta e setc familias montaram acampamento. Existiam divcrsos grupos de possciros na Capocma c junto com os scm-terra comcyaram a prcssionar o Jncra para a desapropria<;iio do latifimdio. Essa ocupac;ao foi organizada pclo CENTRU, que solicitou apoio do MST para coordenar o acampamcnto. Ncsse periodo, o MST co CENTRU trabalhavam conjuntamentc. Nas lutas pcla resistencia na terra e para cntrar na terra, os
1. V cr a rcspcito: Asselin, Victor. Crilagem: conUJ"J(iio e rioliJncia em tenm· do Camj(/s_ Pdr6poli~: Vo,rcslCPT, [ 982.
121
posseiros e os sem-tcrra cnfrentavam os grilciros e scus pistolciros. Nesse conflito pem1anente, de mortes anuneiadas, no dia I 0 de maio de 1986, o eoordenador da CPT na regiao do Bico do Papagaio, padre Josimo Moraes Tavares, foi assassinado na cidade de Imperatriz. No dia do enterro de Josimo, cento e cinquenta latifundiarios rcuniram-se em Impcratriz para fundar a UDR e estavam detem1inados a impedir as ocupa<;6es de terra.
A rcac;ao dos latifundi<lrios acirrou os conflitos. Os continuos enfrcntamentos resultavmn em mortes de posseiros e scm-terra, e do outro lado, nalgumas vezes, em mortcs de policiais e pistoleiros. A UDR de Imperatriz articulava-se para impossibilitar as ocupa<;6cs de terras. Todavia, nessc municipio, em julho de 1987, duzentos e cinqucnta familias ocuparam a fazenda Itaeira, de 5.000 ha, pertenccnte ao Grupo SHARP. 0 im6vcl tambcm era chamado de fazenda Criminosa, conhccida por cstc nome por causa dos varios assassinates de posseiros que rcsistiram a limpeza da clrea. Essa ocupa<;ao foi organizada conjuntamente pelo CENTRU, MST e uma articula<;ao de oposi<;ao sindical que era apoiada pelo CENTRU. 0 objetivo era fortaleccr a opo
_si<;ao para ganhar as clei<;ocs sindicais na rcgiao e fortalecer a !uta pela terra. 0 MST contribuia cmn a I uta pcla terra, 1nas n3o era o principal sujeito politico na tnobiliza<;3o das familias scm-terra.
As amea.;as foram feitas publicamcnte par meio da radio local, de modo que muitas familias abandonaram o acampamento. No dia seguinte a ocupa<;iio, duas ccntenas de policiais efetivaram o dcspejo. As familias acamparam em uma area do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imperatriz, e tres semanas depois reocuparam a Criminosa. A resistcncia dos scm-terra, que sofreram novo despejo, durou ate a sua desapropria<;3o. Ainda nessc ano, ocorrcram divcrsas ocupac;Oes na rcgiiio. Ermn lutas isoladas de familias scm-terra que aconteciam sem a articula<;ao por parte do CENTRU e do MST. No municipio de Buriticupu, quatrocentos c cinqiienta trabalhadores ocuparam a fazenda Terra Bela e foram expulsos pelos pistoleiros. Esse latifundio pcrtencia ao mesmo cmpresario que tivcra as fazcndas Marrecas e Lisboa ocupadas pelo MST no Estado do Piaui. 0 CENTRU eo MST mobilizaram-se para libertar nove trabalhadores que foram presos e torturados.
Nessc contexto de lutas, tambem surgiram divergencias entre o CENTRU e o MST, quando vieram militantcs de outros estados para contribuir com a constru<;ao do Movimcnto no Maranhao. 0 CENTRU e o MST sao duas formas de organiza<;ao social distintas. 0 CENTRU e uma cntidade de apoio a !uta dos trabalhadores c ocupava-se da fonna<;ao politica e organiza<;ao da oposi<;ao sindical. 0 MST nao 6 uma organizac;ao de apoio a I uta, scmpre se constituiu como uma organizac;3o dos scm-terra, portanto, o Movimcnto c a organiza.;ao que faz a !uta. Todavia, os militantes do CENTRU cram as mcsmas pcssoas que militavam no MST. De modo que era muito dificil separar o CENTRU do MST, criando uma situa<;ao indetem1inada sobrc quando era o MST que cstava agindo ou quando era o CENTRU que estava apoiando a oposil'iio sindical. Assim, na realiza<;ao das ocupa<;6es de terra, os objetivos do CENTRU
122
estavam orientados prefereneialmente para fortaleecr a oposic;ao sindical, cnquanto a construc;ao do MST ficava em segundo plano.
Essa situac;iio provocou urn distanciamento entre as duas organizac;iics. Com achegada dejovens militantes de outros estados do Nordeste e do Sui, em 1988, que passaram a investir mais na fom1ayiio do Movimento, ocorreu o acirramento das relayOes. 0 MST se identificava como uma articulac;iio aut6noma de camponeses, cnquanto o CENTRU defcndia que o sindicato era a principal forma de organizar a !uta pcla terra.
Em 1988, o CENTRU tinha como objetivo investir primeiro nas clcic;iies municipais c, portanto, naquclc momenta, as ocupac;iies nao cram sua prioridade. 0 MST tinha como objetivo o trabalho de base na fonnac;iio de grupos de familias para a realizac;iio de ocupac;iies. De forma que o process a eleitoral fossc discutido no descnvolvimento da organizac;ao dos trabalhadorcs. Como essas diferentcs formas de organizac;iio dos trabalhadores atuavam nos mesmos lugares, nalgumas vczes colidiam e procuravam dclimitar seus espac;os politicos.
Em maio de 1988, o MST preparava-se para organizar duas ocupac;iies simultiineas no oeste maranhense. Durante seis meses de trabalho, algumas lideranc;as do Movimento foram constantemente perscguidas. Em outubro, urn membra da com·dcnac;ao naeional foi preso e torturado pela policia. Ao realizarem as reuniiies nas comunidades, os trabalhadorcs procuravam se precaver diante das constantes ameac;as dos pistoleiros. Depois de formados os grupos de familias em Impcratriz c Buriticupu c marcadas as datas, ocorreu a primcira colisao entre as organizay6es. As lidcram;as do CENTRU tinham o reconhecimento das comunidades, dos sindicatos e de alguns agentes de pastorais e divulgavam que aquele nao era o momenta de se fazer ocupac;iies. Os Sindicatos de Trabalhadores Rurais nao estavam apoiando porquc, com as ocupay6es, muitas familias mudavam para municipios que nao peticnciam a sua base territorial. De modo que alguns de scus principais militantes dcixavam de participar da vida do sindicato.
Em outubro, um dia antes da data marcada, os militantes do MST receberam informac;iies dos coordenadores de grupos que muitas familias desistiram daquelas ocupac;iies. Os scm-terra, embora sem apoio e defronte ao problema das desistencias, mantiveram a dccisiio de ocupar. Grande parte dos coordcnadorcs de grupo de familias eram militantes dos sindicatos e estavam decididos a nao realizar as ocupac;iies. As lideranc;as do MST foram para as comunidades e contataram os coordenadorcs que nao estavam vinculados aos sindicatos. Depois de dois dias de trabalho, haviam somado em tomo de quatroccntas familias dispostas a participarem das ocupac;iies. Superados os primeiros desafios, 144 familias scm-terra ocuparam a fazenda Gameleira, de 2.000 ha, no municipio de Imperatriz. A !uta pela conquista da Gamcleira durou varios anos. Nessc tempo, as familias sofreram trcs despejos, ocuparam a sede do Ministcrio da Reforma e do Desenvolvimento Agrario, em Sao Luiz, para reivindicar a desapropriac;ao da fazenda. Entre os despejos, as familias faziam suas roc;as que eram constantcmentc destruidas pclos policiais.
123
Uma scmana dcpois, ocuparam a fazcnda Terra Bela. Esse latifundio era muito conhccido pclos conflitos que rcsultaram das tentativas de ocupayocs e os trabalhadorcs semprc foram rcchayados. Par essa razao havia muito receio por parte das familias em tentar ocup3.-lo. As tres horas da tnanha, confom1c o combinado, os scm-terra comeyaram a sc reunir proximo a cidade de Santa Luzia para de la partircm para a Terra Bela. Esperava-se duzentas familias, chcgaram vinte e scte. Num primeiro instantc, cogitou-se ctn cancelar a ocupayao, mas avaliaram que haviam supcrado os dcsafios para chcgarcm atC aquclc momenta e nao rctornariam. Entraram na fazcnda c organizaram o acampmncnto a uma distfincia de aproximadamcntc dcz quil6mctros da por-
, tcira principal. As scte horas, chegaran1 quatro pistolciros numa caminhonctc e comc-yaram a atirar contra os scm-terra, que rcvidaram. TrCs pistolciros moneram no confronto c um fugiu ferido, abandonando o carro no mcio da cstrada. Os scm-terra se preparam para un1 novo cnfrentamcnto com a policia cos pistoleiros, ao mesn1o tempo que o MST articulou uma comissao composta pelo PT, CUT c CPT para visitarcm a area c criar um canal de negociayiio como MIRAD para a desapropriayao da Tena Bela. Assim, com a divulgayao da ocupayiio e do conflito, o numero de familias acampadas aumentou e chcgou a duzcntas.
Em dezcmbro, a TctTa Bela foi desapropriada co Incra comeyou a demarca<;ao da area para o asscntamcnto de 380 familias. Consolidada a ocupayao, o CENTRU e a CPT passaram a contribuir com a organizay3o do asscntamcnto em implantay3o. Essas duas ocupayOcs marcaram o nascimcnto do MST no Maranhao, que havia construido e conquistado o seu cspayo politico. Desdc entao, ficaram dcmarcados os espayos politicos do MST c do CENTRU. Na Gamelcira e na Terra Bela, a bandcira do MST reprc
.. scntava cspayos de lutas c resistencia dos scm-terra. As pessoas que conshuiram aguelas cxpcriencias cas foryas politicas sabiam distinguir as duas organizay6cs.
No primciro scmcstre de 1989, o MST continuou os trabalhos de base nas comunidades dos municipios do oeste maranhensc. TambCm territorializaram a luta para o nmie maranhensc. Em junho, quinhentas familias ocuparam a fazcnda Diamantc Negro, de 8.400 ha, no municipio de Vit6ria do Mearim. Houve confronto com os pistolciros, que a mando dos latifundiitrios tentaram cxpulsar as familias. Com a cfctivayiio das ocupayOes, os scm-terra estabelcciam os acampamentos c procuravam resistir aos despcjos e ataques de pistoleiros. A soluyao para os conflitos s6 viria com a desapropriay3o. No entanto, esse processo demoraria desdc alguns mcscs atC anos. Nos acatnpamentos, as familias organizavam-se para trabalhar a tetra c construir as outras condiy6es basi cas de sobrcvivencia. Dessa fonna, criavam comissOcs ou setores de cduca<;iio, saude, alimcntayiio, que compunham a coordcna<;ao do acampamcnto.
No dia 27 de agosto, os scm-terra rcalizam duas ocupayocs no oeste maranhcnse. Em Imperatriz, duzentas familias ocuparam a fazcnda Jussara, de 1.300 ha. Em Estreito, sctcnta familias ocuparam a fazcnda Scrafim, de 1.100 ha. Os despcjos foram imcdiatos. Em lmperatriz, os scm-terra continuaram ocupando a fazcnda c enfrcntando dcspcjos atC a conquista da terra. Em Estreito, as familias rcocuparam c novamente foram dcspejadas. No dia 21 de maio de 1990, o MST organizou sua maior ocupac;ao, ate en-
124
tao. Ncsse mes, oitocentas familias ocuparam a fazcnda Ubcraba, de 1.500 ha, no municipio de Impcratriz. Essa a~iio descncadeou uma serie de conflitos e confrontos.
No mcsmo dia da ocupayao, em hnperatriz, a policia invadiu a residCncia de um dos coordcnadores do MST co prendcu. No dia 23, ccnto e cinquenta policiais dcspejam as familias acampadas c no dia scguinte as familias reocupam a fazcnda. No dia 25, tambcm ocupam a fazcnda Cupuzal, de 3.200 ha. Trcs dias dcpois, duzentos c cinquenta policiais dcspejam as familias dos dois acampamcntos. Durante os despejos, os barracos foram qucimados c trcs lidcran~as foram prcsas. A Policia Federal invade a secrctaria do MST em Imperatriz e prcndc outra lideran~a. E1n uma scmana, as policias militar c federal tcntaram desmantelar o Movimcnto. Contra a reprcssao c a violCncia, os scm-terra realizarmn uma manifcstayiio no centro da cidadc, cxigindo a libcrta~iio dos militantes presos.
No dia 11 dcjulho, as familias reocuparam novamentc a fazenda Uberaba. No cncrudclccimento do confronto, na madrugada do dia 13, o Exercito invade o acampamento, despcja as familias c tcnta separar os grupos, conduzindo-os de volta para os scus municipios. Os scm-terra refitgiam-se no acampamcnto da fazenda Criminosa, resistindo a dispersiio. Em 25 de julho, os scm-terra comemoraram o dia do trabalhador rural com uma passeata pclas ruas de lmpcratriz. Uma semana depois, as familias ocupam a fazenda Ferrugcm, no municipio de Joiio Lisboa, a dez quil6metros de Jmpcratriz. Novamcntc sao dcspejadas pel a policia militar. Passados trcs dias, as familias rcocupam a fazenda Ferrugcm e dcssa vez sao expulsas par pistoleiros. Foi um proccsso desgastante que aos poucos fez com que o numcro de familias fosse diminuindo. Depais de urn amplo proccsso de ncgociay5o, que durou um ano, o Incra assentou as cern familias que haviam resistido, na fazcnda Vale Verde, no municipio de Buriticupu.
Nessc periodo, o MST comcyava a sc consolidar no Maranhao. Havia construido sua autonomia, conquistado cinco asscntamcntos e atuava em duas rcgiOcs. Com essas conquistas, os scm-terra tinhan1 que enfrcntar novas desafios: continuar territoria
' lizando a luta pela terra; organizar os assentamentos e construir novas setorcs da organiza<;iio do Movimento.
Goias
0 con junto das cxpericncias de !uta e de resistcncia foi difundido em divcrsos lugares do Pais. lsso acontcccu par mcio das viagens peri6dicas dos militantcs do MST, da rcalizayiio dos encontros de formayao, ou quando os scm-tena sc mudavam dcfinitivamcnte para outros cstados, onde transmitiam seus conhccimcntos. Esses procedimcntos viabilizam a troca de sabercs, ampliando os horizontcs da !uta e motivando pr3ticas que foram recriadas de tnaneiras distintas. Dcsse modo, os scm-terra cnfrentaram diferentcs situayOes de conflito, tendo como rcfcrencias as lutas de outros lugarcs. Entiio csses conhccimcntos aplicados a realidade e somando com as condiyOcs cxistcntcs rcsultam ctn novas cxpcriCncias. Esse proccsso, que chamamos de espacia-
125
liza<;ao da luta pela terra, explicita a eapacidade de organiza<;iio popular do Movimento para rcalizar o objetivo coletivo de conquistar a tcna.
A compreensiio e o rcconhccimento dcsse proccsso sO aconteccriam depois da cfetivayiio de vii.rias conquistas. Mcstno assim, em muitos estados, a visao localista pcrmaneccria, contcstando a cspacializayiio. A I uta pel a tciTa acontcce em todas as rcgiOes a todo momenta. Em cad a Iugar e descnvolvida com caractcristicas pr6prias, todavia os elementos estluturais sao os mcsmos, por cxemplo: a conccntrayiio fundiii.ria c a vio!Cncia, os scm-terrae o interesse de lutar pela conquista da terra, o conflito co nao interesse do Estado em solucioml-lo. Ncssc contcxto, a supcrayiio dos impasses gcrados muitas vezes pcla fa ita de perspectiva csta na elabora<;ao de sabcrcs que ten ham por base pniticas semclhantcs. Ncssc sentido, a cspacializayfro foi fundamental para o crcscimcnto da I uta pel a terra na constru<;ao do MST em todas as regioes brasilciras.
No Centro-Oeste, igualmentc, foi por mcio da troca de cxperiencias que as !'amilias sem-tcrra da rcgifro do noroeste goiano iniciaram o proccsso de formayao do MST. Foi assim que para Goias, em 1985, viajaram trcs trabalhadores scm-terra paranacnses como objetivo de contribuir com a constru<;ao do MST no cstado. Dcsdc a participayfro dos scm-terra goianos no Pritneiro Congresso, iniciaram-se os trabalhos para a organiza<;iio do Movimcnto por meio de uma articulac;ao, em que participavam a CPT, os Sindicatos de Trabalhadorcs Rurais de Goias c ltapuranga c CUT (GO). Ncssc tempo, nas rcgiiies sui e noroeste goiano, aconteeiam lutas de posseiros que rcsistiam a expropriac;ao, e lutas de scm-terra que ocupavamlatifundios. No municipio de Jatai, duzcntas c cinqiicnta familias estavam acampadas nas fazcndas Rio Paraiso c Pcdregulho c prcssionavam o Inera para que rcalizassc a desapropriac;ao das areas. Em Itapuranga, o Sindicato organizara a ocupa<;ao da fazcnda Sena Branca e no municipio de Goias, os possciros das tcrras dcvolutas da fazcnda Estiva rcsistiam a cxpropriac;iio. Em urn cnfrentamento arrnado com jagunc;os foram expulsos c suas casas e royas foram dcstruidas.
Durante a I uta de resistencia dos posseiros da Estiva, aconteccu a ocupa<;ao da fazenda Mosquito. A luta dos possciros tevc o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de ltapuranga c da CPT da Diocese de Goias. Por tres anos, as familias rcsistiram c conquistaram a terra em 1987. Ncsse cntrctanto, o MST inieiou os trabalhos de base, em con junto com a articulay3o, fonnando os grupos de familias para rcalizar a sua primcira ocupac;ao. Nesse trabalho articulado, as familias dccidiram ocupar uma area, tambcm dcvoluta, vizinha da Estiva, denominada fazenda Mosquito. A ocupa<;iio aconteecu no dia 3 de maio de 1985. 0 grileiro entrou com pcdido de rcintcgra<;ao de posse e em cinco dias foi exccutado o dcspejo das familias.
Os scm-terra acamparam em frcntc ao prcdio da Prcfeitura. No inieio da luta cram vintc c trCs familias, durante um tnCs e mcio que ficaram acan1pados, esse nlimero aumentou para sesscnta. Scm perspcctiva de solu<;iio, os trabalhadores divulgaram que iriam voltar para scus municipios c no dia 30 de julho reocuparam a fazcnda Mosquito. Por esse meio os scm-terra haviam conseguido dcspistar a atcnc;ao dos lati-
126
fundiarios. Mas, uma semana depois foram novamcnte dcspejados. Dcssa vcz, as familias montaram acampamcnto proximo ao aeroporto de Goias. Jsolados, dcpois de do is mcscs e mcio, os acampados avaliaram que prccisavam construir uma fonna alternativa para intcnsificar a pressao sabre o govemo. Como apoio da CPT e do bispo da Diocese de Goias, Dam Tomas Balduino, transfcriram-sc para a Pra<;a Civica, defronte ao Palacio do Govemo. No dia 14 de outubro, os scm-terra estabeleceram o acampamcnto no centro da capital do Estado, como forma de espacializar a !uta e pressionar o govemo para a solu<;ao do conf1ito. No tempo em que ficaram acampados, o MST e a CPT distribuiram panf1ctos para a popula<;ao denunciando o dcscaso do govcrno.
L<i pcnnancceram atC prOximo ao dia de NataL Por dois mcses, rcivindicaram a dcsapropria<;iio da fazcnda Mosquito. Frcntc ao impasse cas dificuldadcs para continuar o proccsso de resistCncia, aconteccu um fa to que acabou por contribuir para o desdobramcnto do caso. Naquela pra<;a, todo ano, a primcira dama mandava fazer um prescpio. De modo que, naqucle ano, o acampamcnto poderia vir a scr o pre.w!pio da realidade. Essa
' situa<;:io nao interessava ao en tao govemador Iris Resendc, que procurou transferir as fa-milias provisoriamcnte para uma area do Estado, pertcncentc a Empresa Goiana de Pesquisa Agropecmiria. Os se1n-tcrra aprcscntaram uma pauta de negocia<;3.o em que constavam o compromisso do govemador na ncgocia<;iio junto ao Incra para a desapropria<;ao da fazcnda Mosquito. Em agosto de 1986, a fazenda foi desapropriada e as 36 familias que rcsistiram aos dcspcjos e acampamcntos foram assentadas.
Na conquista da fazenda Mosquito nasceu o MST. Essa !uta foi marcada pela fonna de organiza~iio caractcristica do Movimcnto. Desdc as reuni6es nos trabalhos de base para a fonna<;ao de grupo de familias ate as praticas de rcsistencia descnvolvidas durante a !uta, foram resultados de um con junto de proccdimcntos construido nas diferentcs expcriencias de sua hist6ria. lgualmcnte foi fundamental a participa<;ao da articula~ao, que como em outros estados contribuiram decisivamcntc na gestayao do Movimento.
Em janeiro de 1986, o MST (GO) rcalizou scu primeiro cncontro com a paiticipa<;ao decem trabalhadorcs de vinte c dais municipios e elegeu a coordcna~ao estadual. Em abril, instalou sua secrctaria nas dcpcndcncias do prcdio da CUT, em Goiania. Com essas atividades, os scm-terra deram os primeiros passos para a constru<;:fio do MST. Nesse tempo, ja existiam comiss6cs ou grupos de familias em aproximadamente trinta municipios. Todo esse trabalho foi feito no cntretanto da !uta para conquista da fazcnda Mosquito. Dcsse modo, no tempo da cfctiva<;ao da !uta da Mosquito, os scm-terra comeyaram a organizar novas grupos de fmnilias para uma nova ocupayao.
Ainda, no mCs de junho, os scm-terra realizaram uma caravana a Brasilia. Levaram uma pauta de reivindicayOcs para uma reuniao cmn o entfio prcsidente Jose Sarney. Na paula, rcivindicavam a desapropria<;ao de quarcnta c cinco areas de conf1itos, em que cstavam envolvidas duas mil e quinhcntas familias. Denunciaram os assassinatos de trabalhadorcs, do padre Josimo Tavares e amea<;as de morte contra diversas lidcran<;as. Tambem denunciavam a cxistencia de uma agencia de pistolciros que funcionava no centro de Goiania, denominada "A Solut;ao- Emprecndimcntos c Ser-
127
viyos em Im6veis Ltda.". 0 presidcntc nao OS recebcu e indicou 0 ministro Dante de Oliveira, que ouviu as denUncias e prometeu estudar os casas. N3o satisfeitos, os scm-terra dccidiram falar como presidcntc c foram para frcntc do Palacio do Planalto, quando foran1 barrados pela policia militar. Por vilrios dias, os scm-terra insistiram scm succsso em falar como prcsidentc, que procurou a intctmcdiac;iio da CNBB para reccbcr o documento com as reivindicac;6es. 0 prcsidcntc informou que cstudaria a possibilidadc de dcsapropriar as £lreas reivindicadas nos pr6ximos do is mcses. Os scm-terra formaram uma comissao que pennaneceu em Brasilia para acompanhar a tramita<;:3o do documento, atC a rcalizayao das desapropriayOcs.
Dcsde o inicio de 1986, os sem-tcrra rcalizaram trabalhos de base c no dia 2 de novcmbro oitenta c cinco familias acamparam nas margens da BR 153, em Goifinia. A decisao de montarcm acampamento foi tomada dcvido as crescentcs mneayas de latifundi<irios e pistolciros. Os scm-terra rcsolvcram, a partir do acampamcnto, ncgociar como Incra a desapropriayao de latifUndios para o assentamento das f8.milias. Todavia, dcpois de nove meses acampados, dclibcraram por nao aguardar a dcmorada resposta do Incra. Em uma reuni3o, os trabalhadores determinaram que estava mais que na bora de balangar a muita. Era o dia 12 de agosto de 1987, anivcrsario da primcira conquista. No dia scguintc, ocuparam a fazenda Rio Vcnnelho. No tempo do acampamcnto da bcira da BR, vintc familias desistiram c, quando delibcraram pcla ocupac;ao, um novo grupo desistiu. tcmcndo a violencia dos pistolciros, de modo que foram para a Rio Vcnnclho cinqiienta e scis familias. Como n3o aconteceu nenhuma rcpress3o, o grupo desistente pediu para rcton1ar ao acampamento. Pa1ie das familias acampadas nUo aceitou, alcgando que n3o cram hoi de piranha. Todavia, por meio de discussOcs que envolvcram as coordenac;6es da CPT c MST, o grupo foi rcintcgrado ao acampamcnto.
_ 0 latifundiario, vinculado a UDR, comeyou a sobrcvoar o acampamcnto, fazcndo v6os rasantes para intimidar as familias, ameayou-as e cntrou com liminar de rcintegra<;ao de posse. A CPT promovcu um con junto de atividades para a divulga<;iio da !uta. Entre cstas, a produc;ao de um video que mostrava as roc;as de milho c de fcijiio c que foi divulgado junto a opiniao publica. Ncssc tempo, o Jncra ncgociava a dcsapropriac;iio da ilrea, enquanto as familias sctn-tcrra tambCm ocupavam a fazenda vizinha, conhccida como Vcrcda Bonita. Esse conjunto de fatorcs e a morosidadc da ncgociac;ao acabou por rcsultar na desapropria<;ao da Rio Vcnnelho, cujo proccsso demoraria cinco anos. Os 1.600 ha da fazcnda eram fonnados por tnes areas dcnominadas Rancho Grande, Acaba Vida c Sao Felipe. Ainda uma parte das fami!ias foi transferida para o municipio de Dovcrliindia, onde sc estabcleceram no projeto de asscntamento Lcbrc. A Vcrcda Bonita, da mcsma forma, teve um dcsfccho Iongo c scria dcsapropriada em 1993.
Durante a !uta pela conquista da Rio Vcrmelho, os scm-terra cstavam articulando novos grupos de fami!ias c ocuparam a fa zenda Retiro Velho, de 3.600 ha, no municipio de Itapirapuii. Nessa ocupac;iio, ja participavammilitantcs das anteriorcs, que faram se fo1111ando nas experiencias que construiram, numa articulayao de foryas politicas rcprcscntativas dos traba!hadorcs. A ocupac;ao acontcccu no dia 6 de abril de 1988 c uma semana depois as familias foram dcspcjadas. Os scm-terra acamparam,
128
proximo it fazenda, nas margcns da BR 070. A policia militar pcm1aneccu na area com o argumcnto que prctcndia cvitar o confronto entre scm-terra e pistoleiros. A UDR se manifcstou, amca.;ando as familias c solieitando ao govcmo federal a intcrvcn.;ao nos Sindicatos de Trabalhadores Rurais que apoiaram a ocupa<;ao. As familias pem1aneeeram seis mcscs acampadas e, scm cncan1inhamcntos por parte do Incra, reocuparam a fazenda Retiro Vclho. 0 latifundiario negociou a desapropria.;iio como govemo e as familias pcrmancccram na area, aguardando a implantac;iio do asscntamento.
No final de 1988, o MST -GO procurava se estruturar com a fonna<;iio dos sctorcs de Frente de Massa, Fonna.;ao, Financ;as c Prodw;iio. No Encontro Estadual dcssc ano, realizado em ltapuranga, ondc cstabcleeera a nova scdc da Secretaria Estadual, os sem-tcna discutiram as formas de luta c as rclac;Ocs cmn as fon;as politicas que compunham a articula.;ao. Elegcram a Coordcnaviio c a Dire.;ao Estaduais c se propuscram a trabalhar para consolidar o MST. Em 1989, os scm-terra continuaram os trabalhos de base e participaram das manifcsta<;6es de Primeiro de Maio e da Romaria da Terra. Rcalizaram cursos de fonna<;iio parajovens asscntados e acampados cdcnunciaram o surgimcnto daAssociaqao dos Sem-Terra de Goicis, formada porum militar da rcsen•a que cobrava uma taxa das familias para cadastra-las, promctcndo o assentamento. Com a dcnUncia, a associayiio foi desfcita c seu criador dcsaparcceu. Parte das familias lcsadas pelo vigarista organizaram-se no MST e participaram da sua pr6xima ocupaya:o.
No dia 26 de agosto, o MST ocupou a fazcnda Europa, no municipio de Goias, pertcnccntc a familia Caiado, tradicionallatifundiaria do estado. Nas clei<;oes dessc ano, Ronaldo Caiado, cx-prcsidcnte da UDR, era candidate a prcsidcnte, de modo que a ocupa.;ao em uma fazcnda de sua familia era vista como uma afronta. Era uma area de apcnas 600 ha e OS latifundiarios, que possuiam titula<;iio duvidosa de apcnas uma parte da area, rogavam-sc proprictarios. 0 MST, a CUT c a CPT reivindicavam ao Incra a dcsapropria<;iio da area, cnquanto OS latifundiarios propunham a troca da area por outra, argumcntando que a fazcnda Europa era tradicional e de muitu valor para afiunilia Caiado. 0 processo tramitou par onze mcscs. Nesse tempo, as familias plantaram c, quando o juiz conccdeu a liminar em favor da familia Caiado, foram despcjadas pcla policia militar.
As familias montaram acampamcnto na area do antigo aeroporto de Goias e ocuparam o Incra, que propos a transfcrencia das familias para os municipios de Mambai, Sitio da Abadia e Damianopolis, na regiiio Lcstc goiano. Na asscmbleia realizada para dccidirem se accitavam a proposta do Incra, a coordcna.;ao do MST infonnou que conhecia a area, que o solo era arenoso c impr6prio para a agricultura. Contudo. as familias accitaram a proposta e sc mudaram para o novo asscntamcnto. 0 asscntamcnto nao sc consumou porque a maior parte das familias rctornaram c rctomaram a !uta na regiao noroeste. Desde a ocupayiio da fazenda Europa ate o dcspcjo, os acontecimcntos dclincaram uma trajet6ria, em que tempo c o Iugar estavam dctcrminados para transferCncia das familias scm-terra. Esperaram passar as eleiy6es, aguardaram que os scm-terra colhessem a maior parte da lavoura plantada e acontcccu o dcspejo.
129
Com um pouco de press3o das familias, apresentaram uma area para assent3-las. Todavia, a proposta era muito mais uma fonna de cxpulsao, do que solu9ao para o problema do' sem-terra. 0 MST havia superado varios desafios, mas no final da dccada de 1980 comeyava a enfrentar outros desafios: fortalecer o Movimento para consolida-lo e tcrritorializar a !uta para outras rcgiiies do cstado.
Rondonia
0 proccsso de fonna9ao do MST em Rondonia foi singular. Em 1985, quando os trabalhadorcs scm-terra, que representaram RondOnia no Primeiro Congresso, rctomaram como objetivo de construir o Movimento, iniciaram os trabalhos de base em uma conjuntura de intcnsas transfonnac;Oes da quesHio agdria rondonicnse. Nessc tempo, muitas fiunilias encontravam condiyOes de trabalho como agregados, na mcayao ou como rendeiros, tendo ainda alguma perspcctiva de obtcr um late nos Projctos de Asscntamcnto criados pelo Incra. Todavia, o r3pido cercamento das tcn·as por meio da grilagcm c fom1ayilo de latifllndios, a expropriayao co grande nllmcro de migrantcs fizcram crcscer a parcela de familias scm-tcna, intensificando os conf1itos fundi3rios.
0 proccsso de formay3o do povoamcnto que iniciara no s6culo XVIIL comcyou a sc cfctivar no sCculo XX, com a colonizay3o do grande Vale Madeira-MamorC-Guaporc c sc consolidou desde o final da dccada de 1970, ao Iongo do cixo da rodovia BR 364~. Rond6nia Cum dos cstados amazOnicos onde o govcrno militar cxccutou projctos de colonizayao para nao fazer a rcforma agr3ria3
. Na prime ira metadc da dCcada de 1970, foram criados cinco Projctos lntcgrados de Colonizac;ao, que somados correspondcm a I. 759.571 ha, on de foram asscntadas 17.695 familias. Na segunda metade, foram implantados do is Projctos de Assentamcnto Dirigido, com area de 799.586 ha, onde 6.407 familias foram assentadas. No inicio dos a nos 80, o lncra passou a rcalizar Projctos de assentamento Rapido, quando asscntou 16.000 familias em 1.576.3 J 1 ha. Desde en tao, o governo passou a implantar o que dcnominou de Projelos de Asscntamentos, sendo que parte desses ja era rcsultado de areas ocupadas por possciros c scm-tena.
De 1970 a 1991, a popula9ao do cstado aumentou de 111.064 para 1.132.692 habitantcs4 De 1980 a 1990, Rondonia rcccbcu 938.211 migrantcs. Esse numcro c formado majoritariamente por familias camponcsas, expulsas ou cxpropriadas de todas
, as regiiies, principalmente dos cstados do Sui, Sudcslc c Centro-Oeste. Nessa mcsma
2. Conformc Valverde, Orlando (cnord.). A mxaniz{/(,iio do e.IJHt{'o na {aixa da Tran.wma:::6nrca. Rio de J,mciro: IBGE, 1979.
3. Vcr a rcspcito: Santos. JosC Vicente Tavares dos. ,Hatuchos: exclusiio e h11a. Do Sui para a AmaaJnia_ Pclr(lpolis: V07CS, 1993.
4. IBGE: Contagcm da populayilo, 1996.
130
decada, 30o/o dessa populay3o 1nigraran1 novamcntc para outros cstados, a maior parte na condiy3o de retomados5
. Aos que se estabclcccram, alguns prospcraram c aumentaram suas areas, ofcreccndo-as ctn anedamento para os camponcscs sctn-tcrra. Outros foram empobrccidos c vendcram os lotes. Dcssc modo, muitas familias trabalhavam como meciros ou na condiy3o de assalariados. Uma grande parte dos migrantcs n:io conscguiu lotcs e passou a trabalhar nas tcnas de parcntcs como agrcgados, mceiros ou rendciros. Para as familias que chegaram com poucos ou sem rccursos, ainda enfrentavam o desfalque da unidade familiar, quando alguns de scus membros contraiam malaria. Crcscia, assim, o nUmero de familias scm-terra.
Dcsdc 1985, tornara-se cada vcz mais dificil para as famflias obterem scus lotcs. Muitas areas oeupadas por posseiros foram griladas por latifundiarios, grandcs emprcs<irios e comerciantes, gerando conflitos, mortcs c cxpropriay3o. As emprcsas madcireiras invadiam rescrvas indigcnas, assim como os possciros expropriados. Nessc processo dcsigual c contradit6rio, os posseiros e os sem-tcna comcyam a lutar pela sobrcvivCncia, construindo suas fonnas de resist6ncia6
. Emjulho dcsse ano, no municipio de Aripuanii, foi assassinado o padre Ezcquicl Ram in, por pistolciros da fazenda Catuva, eujos proprietarios residiam em Sao Paulo. 0 padre realizava trabalho pastoral junto aos possciros da Catuva e apoiava a rcsistfncia. Em outubro, um grupo de posseiros foi espaneado pel a polieia e jagunyos da fazenda. Revoltados, mais decem possciros emboscaram c mataram o fazcndciro c um pistolciro no mcstno local da morte de Ezcquicl. Por fim, setc trabalhadorcs e quatro pistoleiros foram prcsos.
Em 1986, em Porto Velho, novecentas familias de posseiros conquistaram uma area de 40.000 ha que fora grilada porum latifundiario residente em Mato Grosso. No municipio de Colorado do Oeste, na rcgiiio Leste Rondoniensc, seiseentas familias de posseiros conquistaram 21.000 ha da fazenda Guarajus, de 60.000 ha. Nesse ano, a CPT dcnunciava a existencia de trabalho cscravo em quinze municipios. Em mcnos de duas dCcadas, em RondOnia acontcccu um r<ipido processo de ocupay3o e dcvastayao, numa violenta agressiio as populav6es indigenas cas suas llorestas. Ncssc cur1o periodo de tempo, o estado foi recortado por divcrsas estradas, com a implantac;ao de grandes projctos de colonizavao e assentamento, com a grilagcm e a fonnayiio de grandes latifUndios e com o aumcnto do nUtncro de familias sem-terra. Os tnilitares impuseram os projetos de colonizayfro para niio realizar a reforma agd.ria, o que resultou na intensificac;iio dos conllitos, mantendo-a na pauta politica como uma das prioridadcs para a soluyiio da questiio agraria.
5. Os dados sao de Pcrdigiio. Francindc c Basscgio. Luiz. fo.Iigrantes amazrinicos. Rondr'iniu: a trajet6ria du i!u.wlo. Loyola: Silo Paulo, 1992. que tomaram como rcfcrCncias as pcsquisas de instituiyOcs do Estado de Rondtlnia c do IBGE.
6. Estc Cum caso singular em que possciros c scm-terra lutam no mcsmo tcrritlu1o contra o pmccsso de cxpropria<;iio c pda conquista da terra_ 0 fcchamcnto da frontcim. com a grilagcm c uwasiio das tcrras camponcsas c dos tcrritlnios indlgcnas, acontcccu simultancamcntc com a chcgada de scm-terra cxpropriados c cxpulsos do Sui.
I 3 I
No desdobramento dessa con juntura, o MST iniciou a constru<;ao de sua forma de organiza<;ao. Os primeiros trabalhos fcitos nas Comunidades Eclesiais de Base como apoio da CPT, tiveram como objctivos organizar grupos de familias para efetivar a primeira ocupa<;ao. Mas, os membros do Movimento encontravam dificuldadcs, parque as familias sem-terra ainda restava outra op<;iio a!Cm da ocupa<;iio, que era a oportunidade de trabalhar como agregados em terras de parcntes, ou na mea<;ao e no arrendamento. Em Ouro Prete do Oeste, o MST mantinha a Secretaria Estadual enos dias 21 a 23 de agosto realizou seu Primeiro Encontro Estadual com a patticipa<;ao de trabalhadores de oito municipios. Participaram do evento rcpresentantcs da CUT, do Movimcnto de Mulheres Agricultoras c a Comissao Pastoral da Tern. No Encontro foi aprovado um plano de lutas, que dcfiniu entre outras a<;iies: a orienta<;ao irs familias de posseiros nas lutas de resistencia: trabalhar na fonna<;ao de grupos de familias scm-terra para a rcahza~ao de ocupayOcs; incentivar a organizayao do trabalho nos asscntamcntos; discutir soluyOcs contra a violCncia; ofcrccer scguranya aos trabalhadorcs amcayados de n1ortc c criar uma articulayao das instituiyOcs que ap6iam as lutas pcla tena c pcla rcfonna agn\ria. Os scm-terra clegcram a Coordena<;iio Estadual, formada por dois membros de cada municipio.
Nos anos de 1985 a 1989, o MST vivcu scu proeesso de gcsta<;ao em Rondonia, participando da eria<;ao do Departamento Rural da CUTe apoiando lutas de possciros que aconteecram nos municipios de Porto V clho, Rolim de Moura, Pimcnta Bueno c Colorado do Oeste. Eram lutas de rcsistcncia c oeupa<;iics cspontiineas rcalizadas por familias migrantcs que csperaram durante anos c niio foram contempladas nos asscntamentos implantados pelo lnera. Nessc pcriodo, o Movimcnto tentou organizar algumas ocupa<;iics em Ariquemcs, Ouro Prcto do Oeste c Machadinho do Oeste, que niio foram cfetivadas. Nas reuniiics de base, os scm-terra organizavam grupos de familias c dcfinimn as areas a scrcm ocupadas. No cntanto, nos dias das ocupay6es, as familias compareciam em nUmero bem menor que o esperado. Urn grupo pcqucno tern muito mais dificuldade de cnfrcntar pistolciros. Por cssa razao, divcrsas vczes, chcgavam ate a area a ser ocupada, avaliavam a situa<;iio c dccidiam nao ocupar. Do conjunto dcssas cxpcricncias, os scm-terra fonnaram grupos de familias ate que em 1989 avaliaram que cxistiam condiy6es de realizar uma ocupayao massiva.
No dia 26 de junho de 1989, o MST rcalizou c cfctivou sua primcira oeupa<;ao no cstado. Trezentas c oito familias oeuparam a fazenda Seringal, de 8.000 ha, no municipio de Espigao do Oeste. Quinze dias depois foram dcspcjadas c ocuparam a scdc regional do Incra, no municipio de Pimcnta Bueno. Durante trCs scmanas, os scm-terra ficaram acampados, pressionando para a dcsapropriayao da fazcnda c o asscntamento das familias. 0 lnera ncgociou uma area de 500 ha com o latifundiario da fazenda Seringal para o assentamcnto provis6rio. No dia dos trabalhadores rurais, os scm-terra reocuparam a fazcnda c a dcnominaram de assentamcnto 25 de Julho. Sem perspectiva de avan<;o das ncgocia<;iics, as familias resolveram eontinuar ocupando as terras do latifUndio. Durante esse proccsso, por divcrsas vezes, tiveram wirios conflitos, que resultaram na morte de dois pistoleiros. Nesses enfrentamcntos, a policia
132
montou barreira na entrada da area ocupada, prendeu e torturou lideran<;as. Depois de dais anos de confronto, as familias conquistaram todo o Jatifimdio.
Essa ocupa<;ao marcou o nascimento do MST em Rondonia. A sua rcpercussao trouxe difcrcntcs resultados na ]uta pel a terra. Se, par um ]ado, inaugurava uma forma de ]uta em que os trabalhadorcs scm-terra demarcavam suas a1=iies, por meio das ocupa<;iies organizadas, par outro !ado, as institui<;oes de apoio come<;aram a divcrgir a respeito das forrnas de atua<;ao. Enquanto o Movimento dcscnvolvcu suas atividadcs de apoio a ]uta dos posseiros e na cria<;ao de sindicatos, com a CPT c o movimcnto sindical, fom1ando uma articulac;ao politica, as rcla<;iics toram amistosas. Todavia, quando o MST insurgiu como sujcito da !uta pela terra, apareceram divergencias. Os trabalhadores que fonnaram o Movimento cram agentes de pastorais e sindicalistas que assumiram rcsponsabilidades nas instiincias da coordcna<;ao do Movimcnto e distanciaram-se das outras institui<;iies. Os agentes de pastoral deixaram seus trabalhos na diocese, os sindicalistas passaram a se dedicar integralmente ao MST, de modo que as institui<;iics rcclamavam a perda de seus membros.
Havia discordancia, par parte de mcmbros da CPT c do movimento sindical, principalmcntc, sabre a autonomia do Movimento. Os trabalhadorcs scm-terra nao aceitavam nenhum tipo de rcla<;ao de dependencia na articula<;iio. E como o MST formara-se desde a CPT e dos sindicatos de trabalhadores rurais tomara-se necessaria o reconhecimcnto do Movimcnto como fonna de organizac;ao de trabalhadorcs c nao como entidade atrelada as instituic;iies ou de apoio as lutas. Essa divergenciaja existia no interior do processo de gesta<;ao do Movimento. Somentc com a a<;ao concreta da ocupac;ao da fazcnda Seringal foi que as rela<;iies se abalaram. Os militantes do MST comc<;aram a receber criticas par parte da CPT e dos Sindicatos porque conduziram a luta sem consultar as outras institui(.·Oes. Mesmo enfrentando esscs problctnas o Movimento foi ganhando maturidadc c rcconhecimento, mesmo porque o contcudo das criticas nao era consenso no interior da articulayao.
Muitos agentcs de pastorais cuidaram de rebater as criticas, na realiza<;ao dos trabalhos de base para a eria<;ao de novas grupos de familias para a efetiva<;ao da segunda ocupa<;ao. Na avalia<;ao da con juntura que os scm-terra c agentes de pastorais faziam era ncccss<lrio romper com as expectativas que as familias scm-terra tinham ao aguardarem a possibilidadc de reccbcrem um late do Incra. Propunham a !uta pela terra como forma de pres sao contra o govemo e lati fundiarios, dcclarando o fracasso dos projetos de coloniza<;ao. Outro resultado da repercussao da primeira ocupa<;iio foi a ampliac;ao dos trabalhos de basc,ja que haviam construido uma outra perspectiva de entrar na terra. Dessc modo, rnuitos sem-terra que participarmn das experiencias de ocupa<;ao do MST foram para diversos municipios com objetivo de fom1ar grupos de familias a partir das comunidades e dos sindicatos. 0 MST tambem ampliou o leque de alian<;as junto aos sindicatos urbanos que passaram a apoiar por meio de campanhas, principalmente de alimcntos.
A divulga<;ao pcla imprensa, da !uta dos sem-ten·a, servia como refercncia para os militantcs na realiza<;ao dos trabalhos de base, que agora relatavam a expericncia
133
que tinham construido, bcm cmno o nlimcro de familias que cstavam plantando suas ro~as. Nas comunidades, o Movimento dos Trabalhadorcs Rurais Scm Ten·a ficara conhccido tanto pclo trabalho de base, quanta pcla divulgayiio da !uta de rcsistcncia na fazenda Scringal. A divulga9iio tambCm era feita pclos parentes que visitavam o assentamcnto provis6rio e confirmavam as declara~6es dos militantcs. Os migrantcs continuavam a chegar em massa cas possibilidades de se conseguir terra em atTcndamento ou meay3.o rarcavam. Para as familias camponcsas que vicram de outras rcgiOcs, acrcditando que em Rond6nia encontrariam terra para plantar, rcstavam poucas opc;Ocs: o assalariamento c a ocupayao da teJTa cram as mais concrctas.
Um a no dcpois do inicio da primcira conquista, no mcs de julho de 1990, o Movimcnto realizou duas ocupay6es. No dia 21, no municipio de Ccrejciras, ccnto c cinqi.ienta familias oeuparam a fazcnda Adriana, de 1.960 ha. No dia 24, duzentas c cinqi.icnta familias ocuparam a fazenda Lambari, de 2.000 ha, no municipio de Espigao do Oeste. Os dais grupos sofrcram dcspejos imcdiatos. As familias oeupantes da fazenda Adriana tcntaram oeupar uma unidade avan9ada do Incra, em Colorado do Oeste, c foram impedidas pclas policias militar c federal e formaram acampamento na peri feria da cidadc. As familias da fazcnda Lambari aeamparam na scdc do Incra em Pi menta Bueno. 0 proccsso de negociay3.o das familias ocupantes em Cerejeiras demorou oito meses, quando a fazenda Adriana foi desapropriada para implantayao do asscntamcnto Boa Conquista. Um ano dcpois da ocupa9iio, as familias da fazcnda Lambari negoeiaram uma i1rca de 2.015 ha, no municipio de Ariquemes, on de foi instalado o assentamento Migrantes.
Com essas tres ocupay6cs, o MST comeyava a se consolidar em Rond6nia. Formara os setores de Frente de Massa, de Formayiio e de Prodw;ao, descnvolvcndo um eonjunto de atividadcs de fom1ayao politica c tccnica dos assentados. Dcssa fonna, ampliava os trabalhos de base, organizando novas grupos de familias para oeupa<;ocs, com vistas a territorializac;ao do MST para outras regi6cs do estado. Ton1ara-se um importante interlocutor junto aos 6rg3os governamentais c a sociedade. Supcrava, assim, os primeiros dcsafios, consttuindo o seu prOprio espayo politico c conquistando o rcconhecimento das instituiy6cs pr6-rcforma agr3ria.
Minas Gerais
Em Minas Gerais, o MST naseeu nos vales do Mueuri c do Jequitinhonha. Em 1984, nas Comunidades Eclesiais de Base do municipio de Pate eome9aram as primciras rcuniOcs, promovidas pela Comissao Pastoral da Terra. Nas CEBs, as ramilias discutiam as experi6ncias de lutas que o MST vinha realizando nos cstados do Sui. Os trabalhadores rurais estavam interessados em eonheeer mais a respeito das ocupay6es de tcn·a e cn1 como construir o Movimcnto em Minas. Por cssa raz5o, aumentava o nllmero de familias participantes nas reuni6cs para discutirem a refonna agr3ria. 0 contelldo das reuni6es era marcado pela compreens5o que n5o bastava cs-
134
pcrar por uma politica do governo, mas que os pr6prios trabalhadores devcriam construir a sua organiza<;ao para lutar pcla terra. Dcsse modo, decidiram cnviar dois dclegados para o 1" Congresso do MS T.
No retorno, os trabalhadores trouxeram novas desafios, que foram aprescntados nas rcunioes das CEB's. Voltaram com a proposta concreta de constru<;iio do MST minciro. A rcsoluyiio niio era somcnte organizar as familias de PotC, mas tambCm iniciarem os trabalhos de base em outras rcgioes. A popula<;ao que compunha as comunidades era fonnada por camponcscs propriet<irios, tncciros, posseiros, parcciros, rcndciros, agrcgados c assalariados. Ncsse primeiro tnmncnto, urn dos vinculos que os unia era o trabalho pastoral. Com a decisao de organizarcm os trabalhadores para lutar pela terra, cada vez mais o vinculo passou a scr o fa to de screm sctn-tcrra. Sem Terra tornou-sc uma idcntidade que reunia diversas categorias de trabalhadorcs mrais, em diferentes condi<;oes. Scm-Terra significava tanto o cstado de exclusao, por meio da ncgay3o de uma condi<;:<lo: de serem camponeses scm podcrcm trabalhar nas suas terras, quanto estava carrcgada de sentido hist6rico e de for<;a politica de uma idcntidade prOpria. Assim, passaram a organizar as comiss5es de scm-terra nas comunidades e postcriormente as cmnissOcs municipais.
Nessc tempo aconteciam lutas de resistCncia c ocupay6es isoladas em todas as regi6cs de Minas. No anode 1985, os scm-terra comeyaram a manter contatos com os Sindicatos de Trabalhadores Rurais para discutirem a fom1a<;iio de uma articula9iio cstadual c fortalcccr a !uta. Com esse objctivo, em junho, os scm-terra promoveram, como apoio da CPT, um encontro regional em Te6filo Otoni, quando rcuniram experiencias de lutas e propuscram a organiza<;ao dos trabalhadorcs nos municipios. Elcgeram uma coordenayao regional e iniciaram os trabalhos de base nos municipios de Ladainha, Tc6filo Otoni, Pavao, Ouro V crdc de Minas e Frci Gaspar. Em agosto, rcalizaram um cncontro estadual na cidade de Bclo Horizonte, com rcprcsentantes das regiiics: Vale do Mucuri, Norte de Minas, Jequitinhonha c Zona da Mata. Os trabalhadorcs relataram as diferentes expcriCncias de lutas de rcsistencia c pcqucnas ocupayoes isoladas, fonnadas principalmentc por posseiros. A qucstao que os scm-terra colocavam era como superar cssas fonnas de I uta, para organizarctn urn rnovimento cmnponCs com o objctivo de ocupar a terra.
Ncsse encontro surgiu uma scric de divergencias a respeito das formas de !uta em suas diferentes frentcs. Predominava a concepyao de que deveriam apoiar as lutas de rcsistencia dos posseiros, principalmente pelo fa to do aumento do numero de assassinatos, que crcsccra de dois em 1983 para onzc em 1984 e duplicara ate agosto de 1985. Dcfendiam tambem a atuayao nas lutas dos assalariados. A ocupa<;ao de terra nao fora contemplada nas deliberayoes. Essas dccisoes dificultavam o processo de construyao do MST, de modo que os sem-terra rcsolveram come9ar a organizayao a partir do Vale do Mucuri. Como apoio de lidcran<;as do MST, que vi cram da Bahia c Santa Catarina, avaliaram que era necessaria, primeiro, organizar o Movimento na regiao e no Vale do Jequitinhonha, por mcio da ocupa<;iio da terra c forma9iio de novas lideran<;as, para depois realizarem os trabalhos
135
de base em outras regioes. Nessa epoca, o MST mantinha uma sccretaria em Bclo Horizonte que foi transferida para Te6filo Otoni.
Os sem-terra se defrontaram com mais desafios, quando constataram que parte importantc das lideran<;as de grupos de familias que exercia diferentes atividades pastorais e sindicais niio se interessava em assumir os trabalhos para participar da ocupac;iio da terra. Por cssa razilo, rcsolveram comeyar novamente os trabalhos de base, como objetivo de formar novas lidcranc;as. Durante o anode 1986, nas comunidades foram retomados os trabalhos de forma<;ao de grupos, que cram organizados por municipios. No inicio do primeiro semestre de 1987, foi rcalizada uma asscmblcia municipal do MST, em Pote, com a participac;ao de aproximadamente trezentos trabalhadores. Em abril, organizaram um cncontro regional em Tc6filo Otoni, onde dclibcram pela ocupac;ao de terra para fazcrem avanc;ar a !uta. Tambcm decidiram se mobilizar para as elei<;oes da Federa<;ao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, apoiando a chapa articulada pela Central Unica dos Trabalhadores.
Desse encontro participaram coordenadores de grupo de dcz municipios das rcgioes do Mucuri e Jequitinhonha. Elegeram nova eoordena<;ao e definiram uma agenda de atividades para o segundo scmestre de 1987, quando pretendiam realizar a primcira ocupa<;iio. Todavia, enfrentaram varias difieuldades: desde a falta de recursos para viajarem pclos municipios mais distantcs ate o impedimenta de chegarcm as comunidades mais pr6ximas, por causa das chuvas, de modo que conseguiram cfetivar a ocupac;iio no dia 12 de fevcrciro de 1988. No municipio de Novo Cruzeiro, quatrocentas familias ocuparam a fazcnda Arucga de 630 ha. Mcsmo cxistindo divcrgcncias, com essa ocupac;:lo os scm-terra unificaram as fon;as politicas c rcccbcram apoio dos sindicatos e da CPT. A con juntura que se formou com essa ac;ao, rcsultou numa situa<;ao indefinida. Por causa do grande numero de familias envolvidas na a.;iio pclo fato do proprictario ter apenas os 290 ha registrados junto ao Incra e porque parte da propriedadc seria uma area de protcc;iio ambiental.
0 impacto politico foi imediato e os latifundiarios responderam prontamente com a articula<;iio da UDR na regiiio. 0 suposto proprietario cntrou com liminar de reintcgrac;ao de posse, que nao foi concedida porquc, com a vistoria, a area foi considcrada improdutiva. 0 govemo estadual enviou seiscentos soldados para Cruzeiro Novo, que acamparam ao !ado dos scm-terra. Por quatro meses, a policia militar bloqueou a area, impcdindo que os trabalhadorcs saisscm do acampamcnto. Isolados, scm alimcntac;ao, algumas familias comc.;aram a dcsistir. Ainda o prcfeito tomou a frcntc da UDR regional e divulgava que os sem-terra nao permaneceriam na Aruega, nem na regiiio. Durante a repressiio, o nlimero de familias caiu para duzentos e cinqiienta. Ao mesmo tempo, a articulac;iio MST-CPT-Sindieatos pressionava os govemos estadual e federal. Em setembro, os trabalhadores ocuparam a sede do Incra em Belo Horizonte, quando conseguiram a dcsapropriac;iio da Aruega.
Nessc confronto de forc;as, um mcs depois, o MST realizou a segunda ocupac;ao. Duzentas e cinqiienta familias ocuparam a fazenda Sapezinho, ao !ado da Aruega.
136
Resistiratn por scis meses, plantando na area e exigi ram a vistoria pelo Incra. Outra vez, os scm-terra foram cereados, agora porum contingente de aproximadamentc mil policiais. 0 acampamento estava localizado em um Iugar de dificil acesso e a policia militar preparou uma ac;:ao estrat6gica para impedir a saida dos trabalhadores. Os que tentavam e eram pcgos, os policiais torturavam. Com a liminar de reintegrac;:ao de posse e a perspectiva de uma ac;:ao violcnta, os scm-terra decidiram transferir o acampamento para uma pcqucna propriedade no municipio de ltaipe. A area pertencia a urn camponcs que tinha um filho acampado. Na fazenda Aruega, com a dcmarcac;:ao dos lotcs, llcara definido que o numero de familias assentadas scria vinte e cinco. Des sa forma, havia um excedente de ccnto c vintc e cinco familias. No acampamento em ItaipC, estavam em tomo de cern familias.
Os trabalhadores continuaram negociando com o Incra, que nao aprcsentava propasta de assentamento das familias acampadas. Ante a falta de pcrspectiva, os scm-terra articularam uma nova ocupac;:ao c no dia 5 de setembro de 1989 tcntaram ocupar a fazenda Bela Vista, no municipio de Te6filo Otoni. As familias acampadas em ltaipe chcgaram ate a area, todavia, as familias da Aruega foram barradas na rodovia pela policia militar. A Bela Vista era urn latifundio de 2. 700 ha, que os scm-terra prctcndiam ocupar e exigir a vistoria. Prime ira os jagunc;:os e depois os policiais impcdiram que as familias montassem o acampamento. No confronto, duas pessoas foram balcadas e as familias recuaram. Varios trabalhadores foram presos e as familias transfcridas para uma area na peri feria da cidadc. As familias excedentes da Arucga, que foram impedidas de chcgar ate o local da ocupac;:ao, retomaram para o assentamcnto.
No final de 1989, o MST iniciara os trabalhos nas regioes Noroeste de Minas e Triiingulo Minciro. A questao agraria fora militarizada. 0 MST dcnunciava a ac;:ao con junta da policia c da UDR, de modo que a repressao policial contra os scm-terra aumcntava na mcsma proporc;:ao que os trabalhadores intensificavam suas ac;:oes. A policia militar de Minas Gerais inventou duas armas com a finalidade de serem usadas no confronto com os scm-terra. Fora1n denominadas aruega e sapezinho, em alusao as primciras ocupac;:oes do Movimento. A aruega 6 uma haste de ferro de dais metros cmn duas pontas em "V", que sao utilizadas como garras para imobilizar a pessoa. 0 sapezinlw C urna haste de madeira com uma corrente de urn metro e mcio e uma esfcra de ferro na ponta, utilizada para arrebatar foices e enxadas. Uma articulac;:ao formada pelo MST, CUTe CPT foi para Brasilia, par diversas vezes, para denunciar a vio!Cncia da policia c jagunc;:os e entregar ao lncra seis pcdidos de vistorias em fazendas das duas regioes.
Par meio das reunioes de negociac;:ao, os trabalhadores nao encontraram soluc;:ao para a rcpressao e para o asscntamcnto das familias. Pelo contrario, as pcrseguic;:oes se intensificavam. Em Unai, no Noroeste de Minas, os scm-terra rcalizavam trabalho de base, quando foram presos. Policiais infiltrados participavam das rcuniocs c prcnderam nove coordenadores de grupo. As lidcranc;:as foram transferidas para Bela Horizontc, fiearam presas par Ires dias c libertadas porque nao havia mandata judicial. Os trabalhadorcs voltaram para a rcgiao, mas todo trabalho de base fora desarticula-
137
do. Durante o tempo em que estiveram presos, a UDR agira, intimidando os trabalhadores nas comunidades. Policiais e jagun<;os fizeram amca<;as as familias que prctcndiam participar de ocupa<;6es.
Em lturama, no Triiingulo Mineiro, em janeiro de 1990, os scm-terra tentaram ocupar a fazenda Colorado e foram impedidos por jagun<;os e policiais. As duzentas e cinqi.ienta familias, que n3o conscguiram ocupar, acamparam nas margcns da rodovia. Urn grupo ocupou a sede do Incra, em Bela Horizonte, exigindo a vistoria da fazenda, que foi declarada empresa rural. Depois de nove meses acampadas. as familias ocuparam a fazenda Varginha de 4.000 ha, em lturama. Foram despejadas numa a<;ao violenta e os barracos foram queimados. A UDR cedeu caminhocs para o transporte de 270 pessoas ate o distrito policial. As lideran<;as foram humilhadas diante das familias numa tentativa de desmoraliza<;ao do Movimento. Os trabalhadores retomaram o acampamcnto na beira da cstrada.
Nos vales do Mucuri e Jcquitinhonha, as familias cxcedentes da Aruega continuaram pressionando o governo, que propos assenta-las no municipio de Pcdra Azul, no Projeto de Assentamento Crauna, de 11.090 ha, desenvolvido pela Funda<;ao Rural Mineira- Coloniza<;ao e Desenvolvimento Agn\rio (RURALMINAS). Levaram dais representantes das familias para conhecer o assentamento. Os tecnicos da Funda<;ao mostraram apenas uma parte do projcto, de fachada, exatamcntc uma area com boa infra-estrutura e proxima a cidade. Nao mostraram a totalidade do projeto que compreendia os tcrrit6rios dos municipios de Jequitinhonha, ltaobim c Pedra Azul. Os scm-terra aceitaratn a proposta, todavia, as familias formn colocadas em uma area isolada, sem ncnhuma infra-estrutura, distante oitenta quilometros da cidadc. As familias se revoltaratn c se rccusaram a ficar. Retivcrmn os 6nibus e caminh6cs c rcuniram-se com os tCcnicos do projeto para que autorizasscm os tnotoristas a levarcm as familias de volta para a Aruega.
A area de fachada que fora apresentada ficava no outro extrema do assentamcnto e ja estava destinada para familias scm-terra da regiao. Diante da resistcneia, a RURALMINAS propos uma troca: levaria OS sem-terra da Aruega para a area que foi mostrada aos representantes e dcstinaria aquela area para as familias da regiao. Os trabalhadores n3o aceitaram c mantiveram a dccis3.o. As familias prcssionaram a Funda~ao por tres dias; no quarto, duzentos policiais ccrcaram os 6nibus e caminhOcs, impedindo os scm-tcna de deixarem a area. Essa ayao caracterizava a fonna como o Estado tratava as familias. A policia semprc fora usada para impedir que os scm-terra deten11inasscm suas trajet6rias e intcrcsscs. Ela servia tanto para tirar quanta para segurar. Todavia, o govemo n:lo conscguiu sustentar a situayao c um mes depois, as scm-terra acampavam nas mm·gens da BR 116, no municipio de Padre Paraiso.
Ainda demoraria ate tres anos para que essas familias, organizadas no MST, conquistassem a terra. As familias que ocuparam a fazenda Sapezinho, dcpois a Bela Vista e ficaram acampadas em Te6filo Otani, foram asscntadas no municipio de ltaipe, no projcto Santa Rosa-C6rrego das Posses, em uma fazcnda que foi eomprada pclo
138
Incra e pcla RURALMINAS. As familias que ocuparam a Aruega, em 1988, que tentaram ocupar a Bela Vista, que foram para Pedra Azul, no engodo da Funda.;iio, depais acamparam em Padre Paraiso, por fim ocuparam a fazenda CalifOrnia, em Tumiritinga, no vale do Rio Doee, no dia I' de junho de 1993, rctomando as oeupa<;oes de terra ness a regiao. A fazenda ja estava em proccsso de desapropria.;ao e nao houve dcspcjo. As familias aeampadas em lturama foram asscntadas no Projcto Santo In3cio do Ranchinho. Os scm-terra conscguiram romper os obstilculos c supcraram as dificuldades, oeupando a terrae eonstruindo o Movimento como eondi<;ao para scrcm camponescs. Nessc tempo, os trabalhos de base continuaram, formando grupos para novas ocupa<;oes.
Espirito Santo
No Espirito Santo, o MST naseeu em 1985 c seu processo de gcsta<;ao come<;ou em 1983. Foi nessc ano que aconteccram as primeiras reuniOcs com grupos de familias scm-terra na favela do Pc Sujo, na peri feria da cidade de Sao Matcus, no Litoral Norte Espirito-santense. Essas familias foram expropriadas e expulsas pcla territorializa<;ao de grandes projctos agroindustriais, principalmcnte, euealipto c cana-dc-a<;ucar, por n1eio de incentivos fiscais c financciros, que ocorreram dcsdc n1cados da dCcada de 1960. As reuniocs para discussiio das realidadcs dessas familias cram parte dos trabalhos das Comunidades Eclcsiais de Base, que reeebiam orienta<;iio c apoio da Comissao Pastoral da Terra c do Sindieato dos Trabalhadorcs Rurais de Sao Mateus. Ncsse mesmo ano, em diversos municipios da regiao, outros grupos de fmnilias comcyaram a sc organizar como objctivo de negociar terra c trabalho com os govemos municipals e cstadual. Das ncgociavoes com prcfeitos c o govcrnador resultaram as conquistas de dois assentamentos: C6rrcgo de Arcia e Sao Roque, no municipio de Jaguarc.
Durante esse periodo de gcsta<;ao do Movimento, nas rcuniocs dos trabalhos de base, os trabalhadorcs rurais se identificavam como lavradores desempregados. Depais das participay6es no I Encontro e no 1 o Congresso, passaram a se denominar se1n-tcrra. Com a participa<;ao nesses cvcntos, os trabalhadorcs trouxcram conhccimcntos de outras cxperiencias de I uta, contribuindo nao s6 no proccsso de construyao da identidadc, mas tambCtn os scm-terra comc<;aram a se organizar para rmnpcr com OS !imites da dcpcndencia das ncgocia<;OCS, por nao atender a dcmanda das fami)ias que reivindicavam terra. Enquanto os grupos de familias cresciam as ccntcnas, o governa cstadual havia asscntado apcnas quarenta e uma familias nos do is assentamcntos implantados. Criou-sc, entao, urn embatc entre os trabalhadores, principalmente os sindicalistas, em que alguns dcfcndiam a continuidade das negocia<;oes e outros sustcntavam que as ocupa<;oes dcveriam sera principal fonna de !uta para conquistar a terrae lutar pel a rcforma agraria.
No calor do debate, ocorreram trcs ocupa<;oes nos municipios de Jaguare, Montanha c Barra do Sao Francisco. Os scm-terra, que haviam participado do 1 o Congresso,
139
voltaram como objetivo de construir o MST no Espirito Santo e defendiam a ocupayiio como forma de accsso a terra. Em mn encontro regional realizado entre lidcranyas scm-terra, sindicalistas e agentcs de pastorais, os trabalhadores manifcstaram-se por meio de urn documento em que rcivindicavam do govcrno: a retomada das tcrras devolutas, dcsapropria9iio de terras do Estado, ocupadas pel a Floresta Rio Doce S/ A - Empresa Estatal, c pelo assentamcnto das familias acampadas. As negociayocs com o governo cstadual co Incra continuaram c resultou na implantayao de oito asscntamcntos num total de duzcntas e sete familias, nos municipios de JaguarC, Sao Mateus, Concciyao da Barra, Montanha, Viana e Pinhciros.
Os assentamcntos conquistados foram rcsultado .de muita negociayao e pressao, principalmente da ocupayao. No dia 27 de outubro de 1985, o MST fez sua primcira ocupayiio no Espirito Santo. Ncssc dia, trezentas c cinqiicnta familias ocuparam a fazenda Georgina, no municipio de Sao Matcus. Na organizac;Uo do acampamento, formaram diversas comissOcs para atendcr ils ncccssidades das familias c para o descnvolvimcnto da !uta. Criaram a comissao de negociayao, de seguranya, de alimenta,ao, de imprcnsa, de cclcbrayaO, de saude, de cducayao, de barracos etc. Com um mcmbro de cada comissao fonnaran1 a coordenayao do acampamento, rcspons3.vel pcla organizayao das asscmblcias para manter todos infonnados da direyao das ncgociac;oes. Essa !uta marcou o nascimcnto do MST no Espirito Santo e diferenciava-sc das anteriorcs por sua forma de organiza9ao c scus objctivos. Aquelcs trabalhadorcs niio cstavam dispostos apcnas a lutar por aqucla terra. Comprcendiam que essa !uta significava a constn1y8.o do Movimento que levaria a luta para outras tcrras, tcrritorializando o Movimento para outras rcgi6es do cstado.
Trcs dias dcpois da ocupac;ao, por ordcm do Poder Judiciario, as familias foram dcspcjadas. Negociaram com o governo estadual a transfcrencia do acampamcnto para uma area proxima ao local da ocupayao, no quil6metro 41 da cstrada Sao MatcusNova VenCcia. 0 processo de ncgociayao durou cinco meses c resultou na conquista de quatro asscntamentos: Georgina, Valeda Vit6ria e Pratinha no municipio de Sao Mateus, e Jundia no municipio de Conceiyao da Barra. Nessc tempo, os sem-terra ja trabalhavam na fom1a9ao de novas grupos de familias em diversos municipios da regiao do Litoral N01te Espirito-santcnse. No mcsmo mcs das primciras conquistas, maio de 1986, o MST-ES realizou o scu Primeiro Encontro Estadual e contou como apoio da CPT e da CUT. Do outro !ado, os latifundiarios organizaram a UDR (Uniao Dcmocratica Ruralista) c com o apoio do govcmo estadual interferiram nas discussoes do Plano Regional de Rcfonna Agniria (PRRA) co inviabilizaram. Ncsse contcxto, os scm-tcJTa capixabas concluiram, no final do Encontro, que naqucla conjuntura era importantc a fonna9iio de uma artieu!ayao das organizayiies pr6-rcforma agraria junto ao MST; que scm a pcrspectiva da reforma agraria, a !uta pela terra, por meio da ocupayao era a soluyao para as familias sem-tcrra que estavam sc organizando.
Emjunho, a Arquidioccsc de Vit6ria, a Diocese de Sao Matcus c a CPT rcalizaram a Romaria da Terra para celebrar as conquistas e manifestar apoio as familias sem-tcrra. A Romaria comcyou no km 41, Iugar do primeiro acampamcnto, e tenni-
140
nou no assentamcnto Georgina, no lugar da primcira ocupac;ao do MST, onde foi fincada uma cruz e celcbrada uma missa pclos bispos arquidioccsano e diocesano. Em julho, aconteccram manifestay6cs dos scm-terra nos municipios das rcgi6cs Noroeste cLitoral Espirito-santcnse contra os govcmos estadual c federal, pela nao implementa<,:iio da reforma agniria. Nessc proccsso de espacializac;iio da !uta, o MST montou um acampamcnto em Vi tori a, proximo ao Palacio do Govcrno e a Assemb!Cia Lcgislativa, para protcstar c divulgar a !uta junto a opiniiio publica.
Ao mcsmo tempo crcscia a rcprcss3.o aos scm-terra. Conhccedor da formayao de novos grupos de familias, o govcrno cstadual ordenou a policia militar que rcalizassc uma opera('iio pentefino nas comunidades dos municipios de S:lo Matcus, Pedro Camlrio, Conceiy3.o da Bana, Boa Espcranya c Linhares, como argumcnto de procurar armas entre os scm-terra c impcdir que novas ocupayOcs acontcccsscm. Em v<irios municipios das rcgiocs do Norte do Espirito Santo, a UDR fundou sccrctarias c realizou leil6cs de gado para fortalcccr a organizayao dos latifundi<irios c defender seus intcresscs e privilcgios. Todavia, mesmo diante de todo esse aparato, o MST conseguiu rcalizar sua segunda ocupayao.
No dia 20 de setembro de 1986, quinhcntas familias ocuparam uma area de uma das fazendas da emprcsa cstatal Floresta Rio Doee S/ A, no municipio de Sao Mateus. Ao mesmo tempo, ocuparam a sede do Incra, em Vit6ria, pressionando o governo federal para negociar o assentamento das familias. A ocupac;ao ocorrcu em uma area cstratcgiea: nas proximidadcs dos assentamentos Georgina e Pratinha e do latifundio Aracruz Cclulosc. A empresa colocou pistolciros para impcdir que os scm-tctTa tambcm ocupassem a propriedade. No decorrcr das ncgoeia<;oes, as familias foram dcspcjadas c transferiram o acampamento para uma area, ondc cstava scndo implantado o asscntamcnto Pratinha. Os scm-terra que ocupavam a scdc do Incra sairam com a promessa que o Instituto proccdcria a dcsapropriac;ao de varias areas rcivindicadas pclos trabalhadores. No entanto, os latifundiarios se mobilizaram c conseguiram liminarcs contra as desapropriayOcs e os proccssos ficaram paralisados.
Os scm-terra voltaram a ocupar a sedc do Incra c marcaram uma audiCncia como entao ministro Dante de Oliveira, que sc compromctcu a cntrar com rccursos para agilizar as dcsapropriayOes c implantar os asscntamcntos. No dia 19 de dczcmhro, o prcsidcntc Sarncy assinou os dccrctos de dcsapropriayao c no dia 26 as familias 0 1_~u
param as areas para agilizar a imiss3o de posse pclo Incra. Ocuparam c foram despcjadas. Contudo, cssas ayOcs foram dctcrminantcs para a cfctivay3o dos proccssos. Dcssa !uta rcsultaram trCs asscntamcntos: em Sao Matcus um grupo de familias foi asscntado na 3rca ocupada da emprcsa Floresta Rio Docc, que foi dcnominada de asscntamcnto Jucrana. Em Nova Venccia, foi dcsapropriada a fazcnda Pip-Nuek, onde foi criado o asscntamcnto como mesmo nome. Outro grupo de familias foi para o assentamcnto Rio Quartel, em Linhares. Ainda, um grupo de familias rcmanescente montou acampamento defronte a fazcnda Castro Alves em Pedro Cam!rio.
Ainda, durante o anode 1987, os scm-terra realizaram divcrsas a~ocs. Em mar<;o, participaram da Romaria Libcrtadora da Terra, organizada pcla CPT, que partiu de
141
Sao Matcus rumo a cidadc de Vit6ria. Durante quinze dias, aproximadamcntc duzcntas pessoas caminharam 227 km, reunindo mile quinhcntas pcssoas na manifcsta<;:Iio final, quando rcalizaram o Tribunal da Tena, que condcnou o latifUndio cas cmpresas pcla cxpulsao c cxpropria<;::io das familias scm-terra. En1 novcmbro, organizaram uma nova marcha em Sao Matcus, para protcstar contra as crescentes amca<;:as que a UDR fazia aos trabalhadores sem-terra. A organiza<;ao dos latifundiarios divulgara que n3o pcnnitiria mais nenhuma ocupayao do MST no Espirito Santo. Ncssc tempo, os scm-tcna ja cstavam organizados em v3.rios grupos de familias em dcz municipios do Norte do estado, para rcalizar a terccira ocupay3o.
No dia 4 de dczcmbro de 1987, quinhentas familias sc mobilizaram para oeupar a fazenda Scardini de 1.900 ha, no municipio de Nova Vcnecia. Durante as viagcns dos sem-tcna em dircy3o a <irea, alguns caminhOes foratn ban·ados pcla Policia. Outros que conseguiram chegar prOximo a fazcnda, cncontraram uma barreira de pistolcirus da UDR, que impediram a efetivay3o da ocupayffo. Osjagun<;:os ameayaram os motoristas, obrigando-os a rctornar. Com a chegada de mais caminhOes co aumento do nUmero de familias, os sem-tcna rcsistiram. Decidiram nao sair do lugar em que foram ban·ados, comcyaram a descancgar scus pet1cnccs c montaram o acampamcnto nas margcns da cstrada. Como acampamento, os trabalhadores materializaram o fa to politico c com a chcgada da policia militar cxigiram o dircito de ncgociar uma soluy3o para o cont1ito. As ferramentas dos trabalhadorcs foram apreendidas c fora proibida a entrada e a saida de qualquer pessoa do aeampamcnto. Durante as noites, os pistolciros e os policiais amcayavam as famf!ias. Os trabalhadorcs municiaram-se de paus das tarim bas, tcmendo um possivcl ataque.
Passados tres dias c sem resposta de nenhum 6rgiio do govcmo, a policia foi aeionada para despcjar os scm-terra das margens da cstrada. Foi cnviado um cfctivo de scisccntos policiais, que, utilizando dczenas de caminhiies cedidos pclos latifimdiarios da regi3o, comeyaram a transpot1ar trezentas c cinqiienta familias de volta para os municipios de ondc haviam partido. Novamentc, os scm-terra resistiram. Os caminhOes cstavam assinalados cmn names de n1unicipios para onde se dirigiriam. Todavia, as familias cntraram nos veiculos scm obcdcccr 3. ordctn imposta. Quando os caminhOes chegavam nas cidadcs, as familias afinnavam que nffo cram daqucles municipios e, dcsorientados, os policiais abandonavam as familias. Ncssc entretanto, os coordenadorcs de grupos reuniram-se e decidiram cnviar as familias para o acampamento de Pedro Camirio, onde estavam as familias remancsccntes da ocupayilo da cmpresa cstatal Florcsta Rio Dace S/A. Articularam-se com os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e conscguiram transporte para conduzir parte das familias atC o acampamento de destino.
Com a forte rcprcssffo, muitas familias desistiram. As que resistiram, formaram urn grande acampamento defrontc a fazenda Castro Alves, no municipio de Pedro Canario, que estava em processo de negoeiayiio para desapropriayao pclo Inera. Com a intcnsificayiio da !uta pcla terra, as lideranyas eomeyaram a scr pcrseguidas por jagunyos da UDR. No dia 6 de fcverciro, o presidente do Sindieato dos Trabalhadores
142
Rurais do Municipio de Pancas, Francisco Domingos Rmnos, foi morto em uma cmboscada. Amcayas de morte ocorreram em outros municipios. TambCm v3rias lideranc;as foram prcsas, acusadas de fonna<;ao de bando ou quadrilha. Ncssc proccsso de enfrentamcnto, prcssao e rcprcssilo, em abril, o Incra desapropriou a fazenda Castro Alves, ondc foram asscntadas 130 tamilias. Outros grupos de tamilias rcmancscentes foram assentados no municipio de Montanha, onde foi dcsapropriada a fazenda Bom Jesus e implantado o asscntamcnto Francisco Domingos Ramos. Outros grupos forum asscntados no municipio de Nova VcnCcia, com a criayilo do assentamcnto TrCs PontOcs.
Nesse tempo, os scm-tcna organizados no MST j3 trabalhavam simultancamcntc em v3rias frcntcs, tanto na rcsistE:ncia das familias acampadas, quanta na realizay3o do trabalho de base para forma<;ao de grupos de familias como objetivo de realizar novas ocupac;Ocs, como na organizayao das familias nos asscntmncntos conquistados. Em dezcmbro de 1987, em uma area de 10.000 ha cedida pc1os scm-terra do asscntamcnto Juerana, o MST fundou o Centro lntegrado de Descnvolvimcnto dos Assentados e Pequenos Produtores (CIDAP), no municipio de Sao Matcus. No Centro sao rcalizados cursos de forma<;iio tccnica c politica, bem como atividadcs de assessoria administrativa aos assentados. 0 MST se consolidara com a constituiyao da Coordcna<;iio Estadual, fonnada pelos coordcnadorcs dos setores de Atividades: Forma<;iio, Educac;ao, Frcnte de Massa, Produ<;ao, Saude, Finan<;as e Comunica<;ao.
No movimcnto da I uta, novos grupos foram formados e no dia 4 de sctembro de 1988, quinhentas e cinqiienta familias de trabalhadores b6ias-frias, a maioria dcscmpregada, ocuparam uma area de 1.500 ha da cmprcsa Aeesita Energctiea, no municipio de Coneei<;ao da Barra. Do is dias dcpois, a policia militar foi cnviada para fazcr o despejo. Houve resistCncia com enfrentamcnto entre os scm-terra c a Policia, quinzc coordcnadorcs foram prcsos, as cnxadas, facOcs c foiccs foran1 aprccndidos e as familias pennancceram na area ocupada. lmediatamente, quarcnta trabalhadores ocuparam a scdc do Incra, rcivindicando a vistoria da area ocupada. 0 lnstituto procurou ncgociar a desapropria<;ao mas a empresa insistiu na reintegra<;iio de posse. No dia 13 de setembro, as fan1ilias foram surprccndidas por urn incCndio, nas matas, em torno do acampamcnto. Transferiram o acampamento para outra area, dcntro das tcrras da Acesita, c foram atacadas por pistoleiros. Em novembro, uma Jideran<;a, membro da Dirc<;iio Nacional do MST sofreu um atentado em sua casa, na cidadc de Sao Mateus. 0 MST divulgou uma nota, alertando para a intensifica<;iio do conflito c manifcstando a dccisao de resistirem na terra ocupada.
No dia 13 de dezcmbro, o scm-terra Hamilton Santos Moura foi cmboscaclo por pistoleiros c assassinado. Os scm-terra voltaram a ocupar a scdc do Incra, cxigindo uma nip ida solu<;iio para a questao. Em janeiro de 1989, outro trabalhador foi assassinado. Gcnniniano Fernandes foi encontrado mm1o na roya, cn1 uma area prOxima ao acampamento. Sem pcrspcctiva de ncgociayfio com a Accsita, as familias foram transfcridas c asscntadas em tres areas arrecadadas pelo Incra nos tnunicipios de Ecoporanga, Sao Gabriel da Palha e Nova Venecia.
143
A intcnsifica<;ao dos conflitos aumentava na propor<;ao em que os sem-ten·a sc organizavam para as ocupa<;6es. No primeiro scmcstre de 1989, o MST preparava a sua maior ocupay:io no Espirito Santo. Aproximadamcnte seteccntas familias cstavam organizadas em v<irios tnunicipios. A UDR havia infiltrado vilrias pessoas nos grupos de base, de modo que conscguiu mapear a origem de parte dos grupos. A policia, infom1ada pcla UDR, bloqueou as estradas, impcdindo os caminh6es de chcgarcm ao dcstino. Apcnas um grupo com dais caminh6es, um Onibus c uma caminhoncte chcgou na fazcnda Ipuera, no municipio de Pedro Cam\rio. Essa ocupa<;ao acontcceu no dia 5 de junho c no momenta que montavam o acampamcnto, foram atacadas pe)o )atifundiario, um po)iciaJ a paisana e cinco pistoJciros, que atiraram contra OS
barracos. No conflito, um scm-terra foi fcrido, o latifundiario Jose Machado co policial a paisana Sergio Narciso loram mortos, o restantc dos pistolciros debandou.
Esse fato resultou numa onda de pcrscgui<;iics e prisocs. As familias barradas nas cstradas e as ocupantes da fazenda foram lcvadas para os distritos policiais dos municipios da rcgiao para intcrrogat6rio. As dclegacias licaram supcrlotadas de familias scm-terra. Yarios coordcnadores de grupos e outras lidcran,as foramtorturados. Os sem-tcrra foram libcrados, dais dias depois, por mcio das a.;6es de advogados dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais c da CPT. 0 latifundiario marta era lideranya da UDR. Essa organizac;ao passou a acusar o Estado e a lgrcja como facilitadorcs das ocupayiics. A Arquidioccse de Yit6ria divulgou uma nota em todas as CEBs, informando que esse conflito era ftuto da "injustir;a instituchJnali:::ada no campo, genu/a pel a concentrw:;iio da terra, pel a insucesso das tentativas de reforma agrciria e pel a impunidade diante de centenas de assassinatos de trabalhadores e indios" (Pizctta, 1999, p. 33). 0 govcmo cstadual sc manifcstou por mcio da imprensa, afirmando que os latifundi;irios se apropriaram de terras dcvolutas, acusando-os de "serem invasores de colarinho branco ... stw invasores tanto quanta os trabalhadores que invadem propriedades ... jcl que nos do is casas a ocupat;·do e feita em eire as que nao pertencem nem aos trabalhadores e nem aos proprietarios" (sic) (Bussinger, 1992, p. 153).
Em sua manifcsta<;ao, o govcrno procurou sc eximir do fato. 0 que sc seguiu foi a intensifica<;iio das pcrscgui<;6es c assassinatos sclctivos de lidcran<;as. Duas semanas depois das mortcs do latifundiario c do policial, o tcsourciro do Partido dos Trabalhadores de Linhares Paulo Damiao Tristao foi assassinado por pistolciros. Um m6s depais, um lidcr sindical e de comunidades de base do municipio de Montanha, Verina Sossai, tambCm foi assassinado por pistolciros. Passado mais urn mCs, outro sindicalista, o trabalhador Valdicio Barbosa, foi assassinado em Pedro Cam!rio. Esses assassinates cstavam rclacionados com o conflito da fazenda Ipuera. 0 MST, a CPT, a CUT eo PT acusaram a UDR de rcprcsalia. Essas a.;ocs de rctaliayao cas perscguiyiies constantes dificultaram os trabalhos de base. Durante um ana, os scm-terra nao conseguiram se mobilizar para as rcuni6es dos trabalhos de base, par causa da pcrscgui<;iio da policia c das ameayas dcclaradas dos pistoleiros contratados pcla UDR.
Trabalhadores scm-terra, 1 idcran,as sindicais c pastorais precisaram dcixar a regiao para nao screm chacinados. Em 1990, no Espirito Santo, o MST ja havia con-
144
quistado vintc e um asscntamentos, ondc foram asscntadas aproximadamente 700 familias. Em cinco anos de vida, estava consolidado c iniciara os trabalhos de organizac;:lo socioeconCnnica dos assentamentos por mcio da constituiy:lo de associav6cs c cooperativas. Cresciam os dcsafios do MST, que precisava enfrentar a escalada da violencia da UDR e se territorializar para outras regi6es do cstado. A organizaviio e terra conquistadas nessc pcriodo eram as condiv6cs que os trabalhadores possuiam para desenvolver a !uta.
Rio de Janeiro
A fonnaviio do MST no Rio de Janeiro tambem foi singular. Um dos principais aspectos dessa distin<;iio com os outros estados foi a ocorrencia de um intcrsticio no processo de formayao do MST-RJ. No periodo de 1985 a 1987 aconteceu a primeira fasc dessc proccsso, quando o Movitncnto tentou, scm succsso, sc consolidar no Rio de Janeiro. No final de 1993, o MST-RJ voltou a sc organizar c desdc cntiio comcyou a sc tcrritorializar por divcrsas regi6cs do estado. Outro aspecto importantc, que difereneiava de outros estados, era a participayao massiva de trabalhadorcs urbanos 7 na !uta pela terra.
0 primciro contato entre membros do MST e trabalhadores cariocas, que lutavam pcla terra, acontcceu em abril de 1984. Naqucle mcs, vcio um grupo de scm-terra paranaenses e gaUchos para conhcccr o mutir3.o8 Campo Alegre, no municipio de Nova Iguac;u, na rcgi3o mctropolitana. Na Cpoca, cento c vintc c cinco familias ocupavam uma area da fazenda Campo Alegre, de 2.500 ha. Esse grupo de familias era forrnado por trabalhadorcs urbanos e par trabalhadorcs rurais expulsos de outras regi6cs do Rio de Janeiro, e estavam decididos a pcnnanecer na terra, para garantir trabalho c moradia. Contavam como apoio da Comissao Pastoral da Terra c da Comissao de Justiva c Paz da Diocese de Nova Iguayu. Em julho de 1984, o entiio govcmador Leone! Brizola dccrctou a utilidade publica do im6vel, iniciando o processo de desapropriayao.
Em outubro de 1984, a Comissao Pastoral da Terra organizou o encontro preparat6rio para o 1 o Congresso do MST. Dcsse cvento participaram trabalhadores de dczcssctc municipios e foram indicados dais dclegados para represcntar o Rio de Janeiro. Os trabalhadorcs cscolhidos eram lideranvas que atuavam no mutirao Campo Alegre c, no Congresso, passaram a compor a Coordcnac;ao Nacional do MST. Retornaram como objetivo de construir o MST -RJ. Em 1985, o assentamento mutiriio Campo Alegre contava com seisccntas familias e foi onde se iniciou a gcstaviio do Movi-
7. Em 1980, segundo o Ccnso Dcmogratico, 92% da popula~iio carioca era urbana.
8. Mulin1o era o tcrmo utilindo pclos trabalhadorcs que sc mobilizavam para ocupar uma flrca. Essa cxprcssiio era cmprcgada na rcali7<H;iio da ocupar;ao, dcnominava o acampamcnto c em alguns casas passou a compor o nome do asscntamcnto.
145
menta. Os trabalhadores criaratn mna comissao e comeyaram a contribuir com a I uta de varios grupos de familia.
Em abril de I 985, quarcnta c cinco familias ocuparam a fazcnda Boa Esperan<;a, no municipio de Nova Jguayu. Como apoio da CPT nas comunidades, durante alguns mcscs, as familias se reuniram como objctivo de se mobilizarcm para lutar pel a ten-a. Nessa )uta, o MST participou na cfctiva<;iio da ocupa<;iio, que passou a sc dcnominar mutirao Guandu. Vintc dias dcpois, as familias foram dcspcjadas e acamparam na margcm da cstrada, em frcntc a fazcnda. 0 mutirao Guandu era um movimento isolado que sc vinculou ao MST no dcscnvolvimcnto da luta. A participa<;iio dos membros do Movimcnto acontccia na fom1a de apoio para negociay3o junto ao Estado. Umana dcpois da ocupa<;ao, a fazcnda foi dcsapropriada pclo Incra, ondc foram assentadas 34 familias.
No dia 7 de sctcmbro de 1985, a fazenda Barreiro, de 1.000 ha, no municipio de Paraeambi, foi oeupada par ccnto c vinte familias. A area era dcmandada par dais grilciros c com a ocupay3.o as familias passaram a reivindicar a desapropriayao para in1-planta<;iio de asscntamento. Essa !uta foi denominada como mutirao Paracambi e tambcm era ummovimcnto isolado, que eontou como apoio da CPT e do MST na organiza<;ao de divcrsas formas de resisteneia. As familias foram dcspejadas, acamparam prOximo a fazcnda cum grupo de familias tambCm acampou nos jardins do Palacio Guanabara, no Rio de Janeiro, como fon11a de pressao c protcsto. Dcpois de v<irias ncgocia<;ocs, em mar<;o de 1986, a fazcnda foi desapropriada e foi implantado o assentamento Vit6ria da Uniao.
Des sa forma o MST -RJ apoiou divcrsas outras lutas, entre elas: as lutas que resultaram no asscntamcnto Conquista, em Valenya, c na fonnayao do mutirao da Paz, no municipio de Pirai, ambas na regiiio Sui-Fiuminense. Essas lutas contaram como apoio de trabalhadorcs do mutirao Campo Alegre, que por mcio dessas a<;oes procuravam construir o MST. As pessoas que mais sc dcstacaram nessas lutas eram convidadas para participar das reunioes de fonna<;ao do MST. Em outubro, realizaram o I Encontro Estadual dos Scm-Tcn·a do Rio de Janeiro e clegeram a Coordcna<;ao Provis6ria do Movimento. Nesse cvcnto discutiram as seguintes quest6es: cxpandir as lutas para outras rcgioes do estado, as perspectivas com rela<;ao ao Plano Nacional de Reforma Agraria e a rcla<;ao MST e govemo Brizola. Essa ultima qucstao era a que mais preocupava os trabalhadorcs interessados em consohdar o Movimcnto no Rio de Janeiro.
Dcsdc a participa<;ao no 1" Congresso ate a rcaliza9iio do I Encontro Estadual, os trabalhadores rcsponsaveis pela constrw;iio do MST-RJ cnfi·cntaram varias dificuldades no dcscnvolvimcnto da I uta. Essa condi<;ao impossibilitou a supcra<;iio da situay3o em que sc cncontravam no processo de formayao do Movimcnto. Ncssc tempo, apesar de todos os csforyos, os scm-terra n3o conseguiram construir un1a forma de organizay5o que fossc alCm dos apoios aos movimcntos isolados. H:l um con junto de raz6cs para cxplicar esse fato. N3o principiaram lutas que levassem as ocupay6es, conquistando asscntmncntos, formando novas militantes, fazendo nasccr o MST-RJ. Desse modo, niio superaram a fasc de gcsta<;iio do Movimcnto, quando a
146
Dircc;ao do MST decidiu pcla sua dissoluc;ao no Rio de Janeiro. Tambcm nao foi possivcl formar uma articulayao com as fon;:as politicas de apoio a !uta, principal mente com a CPT, sindicatos e partidos, que levassc a autonomia da organizayao dos scm-terra. Par outro !ado, um fa tor importante dessc processo foi a cooptac;ao de lidcranc;as, atravcs da pr:\tica populista do govcmo Brizola, que impcdiu o desenvolvimcnto da organizac;ao dos trabalhadores.
Algumas lidcranc;as importantcs fom1adas no proccsso de constrw;ao do MST priorizaram a militancia politica no Partido do govcrnador Lconcl Brizola- Partido Dcmocriltico Trabalhista (PDT). Essa condic;ao criava uma relac;ao de dependcncia como govcrnador, de modo a compromctcr a autonomia c a organizay3o do Movimcnto. As decis6cs a respcito da luta pela terra n3o cram tomadas de acordo com as prioridadcs dos scm-terra, mas a partir dos intercsscs do governo. Dcssa fonna, o governa, por mcio da Sccrctaria de Assuntos Fundi£irios, passou a ter o controlc politico dos nwvimentos. 0 govcrno procurava conduzir a I uta de acordo com os seus objetivos, cvidente que a ocupac;ao de terra nao fazia parte de seu projeto.
Na fonnac;ao do MST, o sctor de Frentc de Massa e um dos respons:\vcis pcla territorializayao do Movimcnto. Com a conquista de fray5es do tetTit6rio, outros setores sao fonnados e em conjunto atuam na cspacializayao e territorializac;J.o por meio do trabalho de base, na constmc;ao e dimensionamento dos espac;os de socializac;ao politica, inaugurando novas ocupac;oes de terra. Nessa fase de eonstmc;ao do MST-RJ, ocotTeu apenas a sua cspacializayao no apoio as lutas dos movimentos isolados. 0 Movimento niio principiou ncnhum gtupo de familias. TambCm e importante destacar que a dccisiio de ocupar a terra C construida na organizayao e pela autonomia dos trabalhadores, o que nao chcgou a existir naquele tnomento. Nesse contexto, a ayao final da dissoluc;ao do MST -RJ aconteeeu quando os scm-terra optaram pel a nao expansao da !uta para outras rcgi6es c dccidiram criar a Comissao dos Assentados. Desde en tao os trabalhadores voltaram-se tnuito mais para os problemas intcrnos dos assentamcntos. Nessa forma de organizayao nao havia a prcocupayao de organizar novas familias para territorializar a luta. Desse modo, as lutas rei1uiram e o govcrno manteve o eontrole politico sobre a qucstao da terra.
Nessc intcrsticio de 1987 a 1993, os scm-terra cariocas mantiveram cantata com o MST, principal mente via comissao do Programa Especial de Credito para a Reforma Agniria (Proccra). Nessc periodo, ocorrermn vitrias reuni6es, quando os scm-terra do Rio c dos outros estados maturaram as discuss6cs a respcito da rcarticulayao do MST-RJ. Em 1993, o Movimcnto enviou uma lidcranc;a do Parana, que juntamentc com as lidcranyas cariocas rciniciaram os trabalhos de construyao do Movimcnto no Rio de Janeiro. Comec;ava, des sa forma, uma nova fase da formac;ao do MST -RJ.
Siio Paulo
No Estado de Sao Paulo, a gestac;ao e naseimcnto do Movimento aconteecram da conjun<;J.o das Iutas c conquistas dos movimentos isolados nas rcgiOes de Andradina
147
(Movimcnto dos Trabalhadores Rurais Scm Terra do Oeste do Estado de Sao Paulo), Pontal do Paranapanema, ltapeva c Campinas (Movimcnto dos Trabalhadores Rurais Scm Terra de Sumarc)". Ate 1984, a artieula<;ao dcsscs movimentos fora coordenada pela Comissao Pastoral da Terra. Com a funda<;ao do MST e a realiza<;ao do Primciro Congrcsso, os sem-tcrra escolheram uma eoordenavao c estabeleeeram a Sccrctaria Estadual na eidade de Sao Paulo, em uma sala na sedc da Central Uniea dos Trabalhadorcs (CUT). Ern 1985, o MST-SP iniciou o scu processo de tcrritorializa<;ao a partir da regiao de Campinas. Ncsse ano, nas regi6cs de Sorocaba c Aravatuba tambern ocorrcram divcrsas ocupayOcs organizadas por movimcntos isolados.
Em janeiro de 1984, no municipio de Suman~. rcgiao de Campinas, os scm-terra haviam conquistado um assentamento em uma area de 23 7 ha. Do Horta Florestal de Surnarc, de propriedadc da Fcrrovias Paulistas S/A (Fepasa) que foi dcnominado Sumarc I. Nas Comunidades Eclesiais da regiao, os trabalhadores realizavarn trabalhos de base para forma.;ao de novas grupos de familias. Em maio de 1985, dcpois de varias ncgociay6es como govcrno cstadual c scm resultados concrctos, quarcnta c cinco familias ocuparam o Horta Florcstal da Boa Vista, tambem no tnunicipio de Suman? e pcrtcnccntc a Fcpasa. Foram despcjadas, continuaram ncgociando atC scrcm asscntadas provisoriamcntc no Horto da Boa Vista, para dcpois scrcm transferidas dciinitivamcntc para uma area remancsccntc do Hm1o de Suman~. ondc cstabcleccram o asscntamcnto Suman~ II. Esses dois grupos tornaram-sc um marco importante na formayao do MST-SP. As lideran9as formadas ncssas lutas continuararn os trabalhos de base, organizando novos gtupos de familias c tcrritorializaram o Movimento para outras regi6cs do cstado.
Nesse momenta do principia da formayiio do Movimento, os sem-tena rcalizam uma ocupayao por vez, ctnbora durante urn a I uta j3 trabalhassem a organizayiio de outra. Assim, no dcsenvolvimcnto de uma luta, germinava outra. Na conquista de SumarC ll, principiou o tcrcciro grupo de familias no proccsso de tcrritorializayfio. Em novcmbro de 1985, o grupo Ill, formado por ccm familias, ocupou uma area do Estado no municipio de Nova Odessa, na rcgiao de Campinas. Despejado, o grupo ficou acampado por quatro mcses em um trevo da rodovia Anhangiicra, na cidadc de Campinas. Em feverciro de 1986, os scm-terra realizaram a primcira caminhada do MST-SP, que pcrcorreu I 00 krn, de Campinas ate o Palacio dos Bandeirantes- scde do govemo estadual -em sao Paulo, para prcssionar a negociay3.o do assentamento de todas as familias aeampadas no cstado. Do is mescs dcpois, foram asscntadas em uma fazenda pcrtcnccnte a Companhia Agricola, lmobiliaria c Colonizadora (CAlC), no municipio de Porto Feliz, na regiao de Sorocaba.
Essas primeiras oeupa96es do MST -SP foram rcalizadas em terras do Estado. A pat1ir do quarto grupo, o Movimcnto comevou a oeupar latifundios c terras devolutas do Estado de Sao Paulo. No pcriodo 1985-1990, o MST territorializou-sc para as rc-
9. Vcr no capitulo 2: Sao Paulo.
148
gioes de Bauru, Ara.;atuba, ltapetininga e Presidcnte Prudente (Pontal do Paranapancma). Tambcm tcntou, scm sucesso, territorializar a !uta para a rcgiiio do Vale do Ribcira, no Litoral Sui Paulista, contribuindo com a !uta dos posseiros da fazenda Valformoso, no municipio de Sete Barras. A artieula<;iio das for.;as politicas que apoiaram o Movimento era formada pela CPT, CUT e PT. 0 movimento sindical niio teve participa<;ao nessc processo. A Fcdera<;iio dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sao Paulo (FETAESP) apoiava o Sindicato dos Trabalhadorcs Rurais de Araraquara, cuja regiao passou a scr territ6rio do Sindicato tambem com rela<;ao as ocupa<;iies de terra. No anode 1986, estava sendo debatido o Plano Regional de Reforrna Agraria (PRRA). Todavia, assim como nos outros cstados, o proccsso de conquista de asscntamcntos aconteccu muito mais pelas ocupa<;6es do que pelos projctos de governo.
Na !uta do grupo III, foi gcrado o grupo IV. Na forrna.;ao desse grupo, o MST espacializou os trabalhos de base para dez municipios das rcgiiics de Campinas e Piracicaba, organizando quatroccntas familias. Durante vintc meses, os coordcnadorcs dos divcrsos grupos de familias por municipio procuraram, por oito vezcs, ncgociar com o lncra uma area para a rcalizayao do asscntamcnto. Nas negocia~t6es, os trabalhadorcs s6 rcceberam promessas, de modo que decidiram scguir os cxcmplos dos outros grupos c partiram para a ocupa.;ao da terra. No dia 2 de novembro de 1987, o MST ocupou a fazcnda Reunidas, de 17.138 ha, no municipio de Promissao, na rcgiao de Bauru. 0 latifundio havia sido desapropriado em junho daquclc ano e o Incra havia fonnado uma comissao de sele<;iio composta por prefeituras, igrcjas c sindicatos da rcgiiio para cadastrar as familias que seriam beneficiadas. A comissao dclibcrou por asscntar familias scm-terra da regi3o, inclusive urn grupo de quarcnta c cinco familias que ja havia ocupado uma area da fazenda. Essa deeisiio excluia as familias do grupo IV, que por quase do is anos vinha pressionando o Incra.
Esse fato gerou um impasse. Sem perspcctiva de negocia.;ao com a comissao de scle<;iio c amca.;adas de dcspcjo, as familias do grupo IV realizaram uma marcha ate Sao Paulo, para ncgociar como Incra c com a Secretaria Executiva de Assuntos Fundiaries do Estado de Sao Panlo, que era rcsponsavcl pclo acompanhamento da cxeeu<;iio do projeto de asscntamento da Reunidas. Com essa a.;ao, os scm-terra conscguiram urn plano de assentamento emergencial e depois foram asscntados dcfinitivamente. Ncssc cntrctanto, formavam o quinto grupo na rcgiiio de Campinas, cnquanto iniciavam as rcuniiies dos trabalhos de base na rcgiao de ltapetininga. Em janeiro de 1989, o MST territorializon a lnta para a regiiio de Ara<;atuba, quando ecnto c trinta familias ocuparam a fazcnda Pcndengo, de 4.160 ha, no municipio de Castilho. Faram despejadas e ocuparam a fazenda Tim bore, de 3.393 ha, 1ocalizada nos municipios de Castilho c Andradina. Em outubro de 1989, o MST ocupou varias areas da fazenda Pirituba, nos municipios de Itapeva e ltabera, na regiiio de ltapetininga. Nessas duas regiiies, o Movimento iniciara as lutas que se dcsdobraram ate meados dos anos 90, com a conquista de viirios asscntamcntos.
Em 1990, no dia 14 de julho, quatroccntas familias organizadas no MST ocuparam a fazenda Nova Pontal, no municipio de Teodoro Sampaio, na regiao do Pontal
149
do Paranapanema. Essa ocupa<;ao marcou o processo de territorializa<;ao do Movimento sabre um dos maiores grilos de terra do Estado de Sao Paulo. Na primeira melade da dec ada de 1990, o Pontal se to maria uma das principais rcgioes de conflitos de terra do Brasil. 0 MST comc<;ava a desentranhar um grilo de mais de 1.000.000 de ha. Nessc tempo, o Movimento sc consolidara no cstado, constituindo scus principais setores: frcnte de massa, educayao, formayao, produyao etc. Descnvolvia v;:irias lutas, em Jiversas regioes, ao mcsmo tempo. No estado, onde se defendia que os latifitndios eram areas ficticias, con forme Graziano Ncto: "Vale a pena repetir que nenhwn dos lat(ji{ndios 'par dimensiio' do Est ado de Sclo Paulo sofi·eu Q(;lio desapropriat{Jria do poder pziblico, simplesmente porque nrlofbram encontrados: eram Ureasfictfcias ... " (Graziano, Neto, 1989, p. 37), os scm-terra espacializaram c tcrritorializaram a !uta pcla terra, dcrrubando cssa tcsc.
Mato Grosso do Sui
A gCnesc do MST -MS acontcceu com as lutas dos arrcndat:irios nos municipios deN avirai. I taquirai, Taquarussu, Bonito e Gloria de Dourados, nas regiocs Leste e Sudoestc do Mato Grosso do Sui. Dcssas mobiliza<;oes de !uta c rcsistcncia rcsultou a ocupa<;ao da fazcnda Santa Idalina, em Jvinhema, no a no de 1984, quando nasceu o Movimcnto, com a conquista do Asscntamcnto Padrocira do Brasil, c1n Nioaquc 10
.
Os scm-terra do MS participaram da funda<;ao do MST, em Cascavcl (PR) e do ro Congresso. Ncsse periodo de fonna<;ao do MST-MS vieram scm-terra de Santa Catarina, Rio Grande do Sui c do Espirito Santo para trabalharem na organiza<;ao do Movimcnto. As principais organizay6es que sc articularam na !uta pcla tcna c contribuiram para a constru<;ao do MST foram a Comissao Pastoral da Terra c os sindicatos dos trabalhadores mrais.
Com esse principia de organizayao, no pri1neiro semcstre de 1985, os sem-tcna come<;aram a partieipar dos trabalhos de base que rcsultaram no rctomo de milhares de familias de agricultorcs brasileiros scm-terra, conhccidos como brasiguaios 11
, que viviam no Paraguai. A Comissao Pastoral da Terra era a principal artieuladora dcsscs trabalhos. As notieias das ocupa<;ocs de terra pclo MST c a pcrspectiva de implcmenta<;iio do Plano Nacional de Refonna Agraria eram motivadorcs para esses trabalhadorcs, extrcmamcnte explorados por latifundi3rios c cmpres3rios brasileiros c paraguaios. A ocupa<;ao da fazenda Santa Idalina, em lvinhema, ficou conhccida nas co
tOni as brasileiras, nas discuss6cs fcitas em rcuni6cs reservadas dos trabalhos de base
10. Vcr no capitulo 2: Malo Grosso do Sui.
II. A rcspci to da traj ct6ria dos brasiguaios, ver CortCz, CJ.cia. Bra.1·iguaios: os rc(ugiados desconhccidns. S:io Paulo: Brasil Agora, 1993: 13atista, Luiz Carlos. Bmsiguaios 1w fronteira: ca111inhos e luta.1· pel a hhenlade. Sao Paulo. I 990. Disscrtw;ao ( Mcstrado em CJcogratia) -- Dcrartamcnto de Gcografia da F aeuldade de Fi losofia, Letras c CiCnc ias H umanas da U niversidadc de Sao Paulo; Wagner, Carlos. Brasiguaius. home liS sem p1itria. Pctrbpolis: Vozcs, 1990.
!50
nas roc;as ou nas casas dos lavradorcs, em vilrios municipios paraguaios. Nos municipios de Mundo Novo, Paranhos e Sctc Quedas, na rcgiao Sudocste do Mato Grosso do Sul, os coordcnadores de grnpos de brasiguaios reuniam-se com membros do MST, da CPT e de sindicatos de trabalhadores rnrais para debaterem as possiveis formas de retorno das familias.
No dia 14 de junho de 1985, em torno de mil familias brasiguaias acamparam no municipio de Mundo Novo. Como acampamento, comec;aram as ncgociac;Ocs como Incra e como goven1o estadual para o assentamento das familias acampadas c garantir a volta de milharcs de familias brasiguaias, que estavam se mobilizando para retomarem. Apesar da situayffo prec<iria do acampamcnto, as familias constituiram cmnissOes de alimcntayao e saUdc de modo a conscguir as condic;Ocs bitsicas de existCncia. Por meio das negociay5es obtiveram alitnentos e uma visita de uma equipe mCdica. A comissao de saudc era fonnada principalmente pelas mulheres acampadas que cuidavam da higiene, de alguns cases de doen<;as e, tambcm, faziam partos. No mes de julho, cento e quarenta e quatro fmnilias brasiguaias fonnarmn novo acampamcnto no municipio de Scte Quedas. 0 governo estadual e os prefeitos eritieavam o MST e a CPT por estarcnl incentivando o retorno dos brasiguaios. 0 Estado procurava sc csquivar do problema. 0 apoio que essas familias recebiam vinha das comunidades de base.
Cmn os acampamentos, os sen1-tcrra pressionavam o Incra eo governo estadual para o asscntamento imediato. Nas rcuni5es de negociayao, receberam a promessa de screm assentadas em seis meses. Em outubro, o Incra desapropriou os 16.580 ha da fazenda Santa Idalina, no municipio de lvinhema. Esse latifundio era uma das areas que estavam em negocia<;ao eja fora oeupado em 29 de abril de 1984 pelo MST. No dia 20 de janeiro de 1986, o Incra implantou oficialmente o assentamento Novo Horizonte, onde foram assentadas setecentas e sesscnta e uma familias. Em 29 de abril de 1992, oito anos depois da oeupa<;ao, foi criado o municipio de Novo Horizonte do Sui, sendo que o assentamento foi a principal causa da emancipa<;iio. Ainda em 1986, no desenvolvimento da !uta, quatro mile seisccntas familias brasiguaias estavam se mobilizando para rctornar. Todavia, o govemo paraguaio eo mato-grosscnse-do-sul montaram esquemas com suas policias dos dais !ados da frontcira, impedindo o retorno dos agricultores.
Poucas familias conseguiram atravessar a fronteira. Mestno com toda a vigiHincia, em torno de duzentas familias brasiguaias acamparam no municipio de Eldorado, scndo que algumas acamparam nos quintais das casas de parentes c amigos. A policia agia de fom1a violenta, pcrseguindo c amea<;ando os brasiguaios que atravcssavam a frontcira. Tamb6m passou a amcayar os tnoradores que abrigassern brasiguaios em suas casas, bem como as lideranyas dos scm-terra. Muitas familias que tentaram sair do Paraguai foram barradas antes n1csmo de chegarem a frontcira. As mncayas e a frontcira vigiada desmobilizaram a volta organizada. Ainda, os sindieatos de trabalhadorcs rurais comeyaram a discordar dessa forma de luta c organizaram acampamentos nos municipios, rcivindicando terra para os municipes c criando outro movimento de I uta dcnominando-o de Brasunidos. AlCm disso, surgiram v<irios acampa-
151
mcntos nas regiocs Leste e Sudocste do estado. Assim, muitos brasiguaios rctomaram em grupos pcqucnos e se intcgraram a esscs acampamentos.
As ccnto e quarcnta e quatro familias brasiguaias que acamparam em Sctc Quedas, no mcs de julho de 1985, ocuparam um latifundio de 2.500 haem maryo de !986, no municipio de Paranhos, ondc foram assentadas. As que acamparam em Eldorado foram transferidas, no comeyo de 1987, para o Projcto de Asscntamento Marcos Freire, no municipio Dois lrmiios do Buriti, na regiiio Pantanais Sul-Mato-Grosscnse, juntamcntc com mais mil familias de trczc acampamentos das regiocs Lcste e Sudoeste. Era urn asscntamcnto provis6rio, ondc o govemo cstadual eo Incra reuniram todas as famihas acampadas como objetivo de acabar com os conflitos fundi<irios e impedir novas ocupay5cs. A area do asscntamento era insuficicntc co govcrno promctcra asscntar as famllias defmitivamcntc em seis mcscs. Como a promcssa nao sc rcalizara, em agosto, os scm-terra ocupam a fazcnda Mo)olinho, de 9.525 ha, no municipio de Anastacio. Os trabalhadores continuaram pressionando o govcrno c o Incra que acabaram por transferir grupos de familias para outras areas, onde foram implantados os assentamcntos Taquaral c Piraputanga, no municipio de Corumba, c Casa V crdc, no municipio de Nova Andradina, na rcgiiio Lcstc do cstado.
0 asscntamcnto provis6rio Marcos Freire reuniu familias acampadas c mobilizadas por difcrcntcs organizayocs: MST, CPT c Fcderayao dos Trabalhadorcs na Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sui (FETAGRI). Essa situayao intcnsiticou o em bate a rcspeito da autonomia MST-MS. Durante esscs trcs primeiros anos de sua formayao, os scm-terra trabalharam para construir a autonomia do Movimento, contando inclusive com a participa,ao de scm-terra de outros estados, ondc o MST ja sc consolidara. A CPT, principalmente, c alguns sindicatos de trabalhadorcs rurais das rcgiocs Leste e Sudocste foram importantes ncssc processo de !uta que fez crcscer o Movimcnto. Dessa forma, a hetcronomia ainda era uma caractcristica marcante, porquc os agentcs da CPT controlavam a direyao das lutas. Para o MST -MS consolidar a sua forma de organizayao era essencial sc apropriar da direyao politica do Movimento. No em bate, havia diferentcs concepyoes de !uta c movimento social. De urn !ado, os que cntcndiam que a CPT era uma cntidade somcntc de apoio as lutas e que a direyao pcrtcncia aos scm-terra. De outro, que era uma forma de organizac;:ao que dcvcria conduzir as lutas 12
.
Niio sc chcgou ao conscnso e acontcccu o rompimcnto entre o MST -MS e a CPT -MS, de modo que comc<;aram a organizar lutas em separado. Essa mptura, embora necessaria, para que o Movimento construisse o seu proprio espayo politico, cnfraqucccu o MST, que demorou do is anos para rctomar as lutas no cstado. 0 Movi-
12. Essa qucstiio esteve prescntc em todos os cstados, com difcrcntcs instituiy5cs, como podc scr obscrvado ncstc capitulo. A raiz dcstc problema j3. aparcccra no cneontro de Gmiinia (capitulo 2), em sctembro de 19X2, quando sc discutiu a importiincia de sc formar um rnovimcnto scm-terra ou sc cxistindo a CPT, niio havcria ncccssidadc de sc criar um movimcnto camponCs.
152
menlo continuou os trabalhos de base c, somente em 1989, rcalizou nova ocupa<;ao. No dia 13 de fcvcrciro dcsse ano, mil duzcntas e oitcnta familias organizadas no MST ocupam a fazenda ltasul, no municipio de ltaquirai, na rcgiao sudoestc do cstado. Os grupos de familias cram procedentcs de varios municipios da rcgiao c do Paraguai .
• Nessa ocupa.;ao, os scm-terra reccbcram apoio da Central Unica dos Trabalhadores, dos sindicatos dos bancarios e dos professorcs do estado, e de asscntados. A ltasul era urn latifundio formado por varias lazendas c pertencia a um grilciro que tam bern tivera outrode scus latifimdios- a fazcnda Timbore- ocupado pclo MST, em Andradina (SP), nestc mcsmo ano 13 A Itasul ja havia sido ocupada outras vczes por familias scm-terra que arrendavam as tcrras do latifundio.
0 MST rcivindicava o asscntamento das familias na Itasul c nas negocia<;6es com o Incra foi fcito urn acordo, em que as scm-terra sairiam da 3rca enquanto tramitava o proccsso de desapropria<;iio. 0 acampamento foi transfcrido para a cidade de Itaquirai. No dia 18 de maio de 1989, o latifundio foi declarado de interesse social para fins de rcforrna agraria por meio de decreta do presidentc da Rcpitb!ica. Todavia, como o Incra demorou para se imitir na posse, as familias rcocuparam a fazcnda em 14 de junho, ondc foram assentadas com a implanta.;ao do Projeto Indaia. No entrctanto dcssa !uta, os scm-terra trabalhavam na forrna<;ao de novos grupos de familias em diversos municipios da rcgiao. Nessc tempo, o MST c a CPT rcalizaram atividades conjuntas na comemora<;ao do dia do trabalhador rural e nos cursos de capacita<;ao de lideran<;as. No segundo semestrc de 1989, o MST rcalizou trcs ocupa<;6es com a participa<;ao de mil c ccm familias, nos municipios de ltaquirai, Jatei e Bataiporii, nas regiocs Sudoestc c Leste. Enfrentando a policia e pistoleiros, as familias foram despcjadas c acamparam nas 111argens das rodovias.
Em mar<;o de 1990, o MST ocupou outro latifitndio no municipio de Anastacio, na regiao Pantanais Sul-Mato-Grosscnse. No final de 1990, mile trczcntas familias organizadas no MST cstavam acampadas c pressionavam o govcmo estadual e o lncra para a dcsapropria<;iio dos latifitndios que foram ocupados. Dcsde a ocupa<;ao da Santa Idalina, em 1984, os scm-terra construiram o MST, transforrnando-o numa importantc organiza<;ao dos scm-terra. 0 Movimento constituira seus principais setorcs, os trabalhadores conquistaram autonomia politica e conso!idaram o MST-MS. Os acampamcntos das fami!ias nas beiras das estradas e os assentamentos conquistados cram resultados c perspectivas dos trabalhos de cinco anos de !uta c rcsistcncia.
Parana
No Estado do Parana, a gesta<;iio e nascimento do Movimcnto aconteceram da conjun<;ao das lutas e conquistas dos movimentos isolados em divcrsas regi6es do cstado,
13. Vcr Fcmandcs, Bernardo Man~ano. MST:_fomwrlio e territorializac;:iio. Sao Paulo: Hucitcc, 1996a. p. 145s.
!53
a saber: o Movimcnto dos Agricultores Scm Terra do Oeste do Parana (MASTRO): o Movimcnto dos Agricultores Sem Terra do Sudocstc do Parana (MASTES); o Movimcnto dos Agricultorcs Scm Terra no Norte do Parana (MASTEN); o Movimento dos Agricultorcs Scm Tena do Centro-Oeste do Parana (MASTRECO) e o Movimcnto dos Agricultorcs Sem Terra do Litoral do Parana (MASTEL) 14 0 MST-PR nasccu da unificac;ao dessas lutas eo I' Congresso, rcalizado em Curitiba, foi o catalisador desse processo. A artieulac;iio politica de apoio a I uta pcla tena era fom1ada pela Comissao Pastoral da Tena com a participac;iio de religiosos das Igrejas Cat(J!ica c Lutcrana, por Sindicatos de Trabalhadores Rurais e pela Central Unica dos Trabalhadorcs.
No anode 1985, os scm-lena intcnsificaram os trabalhos de base para a fonnac;iio de grupos de familias c organizac;ao de novas lutas. No mcs de julho, organizaram 3 acampamentos com mile quinhentas familias, nos municipios de Saito do Lontra (setecentas familias), Marmeleira (quinhcntas e cinqiienta familias) e Chopinzinho (duzcntas c cinqlicnta familias), na rcgiao Sudoeste do Paranacnsc. Com cssas ay6es, o Movin1cnto procurava pressionar o governo para ncgociar o asscntamcnto das familias. 0 governo estadual propOs a criayao de uma comissao formada porum sem-terra, urn representante do Incra, um da Fcdcrac;ao dos Agricultores do Estado do Parana (FAEP) (patronal) cum da Fedcrac;ao dos Trabalhadorcs na Agricultura no Estado do Parana (FETAEP). Os scm-terra rcivindicavam a desapropriac;ao da Gicometti-Marodim 15
, no municipio de Quedas do Iguac;u, na rcgiiio Centro-Sui Paranaense, e outros latifundios localizados nos municipios de Salta do Lontra, Marmeleira e Chopinzinho. Todavia, a comissao foi inviabilizada pela burocracia c dissolvcu-se.
Com a continuac;ao dos trabalhos de base, o MST continuou formando novas grupos de familias. Em outuhro, organizou novas acampamcntos com tnil c quatrocentas familias nos municipios de Sao Miguel do Iguac;u (oitoccntas c quarcnta familias), Cascave! ( quatrocentas e scsscnta familias) e Santa Helena (cern familias ), na regiao Oeste Paranaensc. No final do segundo semestrc de I 985, entre as lutas organizadas pelo Movimcnto c outras isoladas, cxistiam treze acampamentos nas regi6cs Oeste, Sudoeste, Centro-Sui, Centro Ocidental, com tres mile trczentas e vinte e oito familias. Durante scis mcscs acampados, os scm-terra nao conseguiram fazer avanyar o proccsso de ncgociay3o. Os acampamentos nas beiras das estradas ni:io foram suficicntcs para conquistar a terra, de modo que as familias dccidiram par outra fonna de !uta: a ocupac;ao.
Nos ultimos mcses de I 985 enos primeiros de I 986, o MST rcalizou urn con junto de ocupac;iies em areas ja desapropriadas em quatro regiiics do estado. Haviam negociado como govcmo cstadual a pcrmanCncia das familias que cspcravam a imissao de posse. Todavia, as familias foram despejadas em massa pcla policia militar. Ate mcsmo as que cstavam acampadas nas beiras das cstradas, cmno foi o caso das qua-
14. Vcr no capitulo 2: Paraml.
15. Jd. Esse latifllndio jii havia sido ocupado em 1980 pclos scm-terra.
!54
trocentas familias acampadas em Marmeleira, na BR 373, que foram levadas para o patio de um predio da Igreja Cat6lica de Francisco Bcltrao. Scm o cumprimento do acordo como goven1o cstadual, o MST procurou ncgociar como lncra. Em maryo de 1986, uma comissao formada por rcprcscntantcs dos acampamcntos ocupou a SupcrintendCncia em Curitiba c formalizou uma agenda com a assinatura de um acordo para o asscntamcnto de todas as familias acampadas ate o final do anode I 986. Todavia, com as 111udanyas no MinistCrio de Rcfon11a c do Descnvolvimcnto Agrilrio (MIRAD) e a saida do en tao ministro Nelson Ribeiro c sua equipc, a agenda niio foi cumprida, rompcndo como acordo assinado.
Esgotadas as possibilidades de ncgociayao c por causa do nao cumprimcnto dos acordos fcitos como govcrno estadual e como In era, no dia 18 de julho, cern pcssoas rcprescntando todos os acampamcntos enfrcntaram a policia militar c acamparam em frentc ao Pal<1cio do Iguayu, scdc do Govcmo do Estado, em Curitiba. 0 acampamcnto era um espayo politico importantc c criou fatos que fizcram avam;:ar a I uta. Com a prcscnya constantc em frcntc ao Pal3cio, os scm-terra prcssionaram o govcrno c o lncra para a rctomada das ncgociay6es. TambCm contribuiu para divulgar a luta, conquistando a solidaricdade da sociedadc c de diversas instituic;ocs em favor das familias acampadas. Esses atos foram respons3.veis pcla manutcnyao do acampamcnto, por mcio de doay6cs e manifcstay6es de apoio a luta. Dessas ay6cs rcsultaram na dcsapropriayao, pclo Incra, de onze areas, sendo que sete foram contcstadas pelos latifundiarios, de modo que a imissao de posse nao se realizou.
No final do segundo scmcstre de I 986, havia trinta acampamentos com quatro mil familias em dezoito municipios co acampatnento em Curitiba. Os acampamcntos nas beiras das cstradas e em frentc ao Palacio do Iguayu, as constantes negociac;ocs e os dccrctos de dcsapropriayaO naO foram suficicntes para solucionar OS problemas das fal11ilias scm-terra. Para agilizar as desapropriay6es c implantar os asscntamentos, os sem-tcrra retomaram as ocupay6es e passaram a resistir na terra. 0 dcsafio era cntrar e pennanecer na tcna. Para tanto, o MST passou a organizar ocupayocs massivas, reunindo alguns pequenos acampamentos. Em outubro, oitocentas familias ocuparam mna area da fazenda Padroeira do Brasil no municipio de Matelandia, na rcgiao Oeste Paranaensc. Em novctnbro, sctcccntas c cinqiienta familias ocuparam uma cirea da fazenda Corumbata no municipio de Chopinzinho, na regiao Sudocste Paranacnse.
Ocupar c resistir era a palavra de ordem e a imica fonna cncontrada para conquistar a terra. Scm ocupayao as negociay6es nao avanyavam. 0 impasse cstava criado: as areas dcsapropriadas s6 scriam conquistadas cmn ocupayao c resistCncia. Para negociar os assentamentos cram necess<irias as ocupay5es eo enfrentamento. Em dezcinbro, urn destacamento de aproximadamente mil policiais efetivaram o dcspejo da fazenda Corumbata. Os scm-terra tcntaram rcsistir, mas foram dominados pelo forte aparato policial que utilizando-sc de bombas de gas lacrimogcneo dcsocupou a area. Os barracos foram dcstruidos c as familias voltaram a acampar na bcira da cstrada. Nesse mesmo mes, a policia militar tentou despejar as familias acampadas em Matclandia. A Padroeira do Brasil era um con junto de varias fazendas, as oitocentas fami-
!55
lias evitaram o despejo e resistiram na terra, quando no dia de Natal transferiram o acampamento da area com liminar de rcintegra10iio de posse para uma outra area.
No dia 8 de mar10o de 1987, os scm-terra desmontaram o acampamento em Curitiba, avaliando que csta a<;iio cumprira o seu papcl com a retomada das negocia<;6es. Os sem-tcrra ficaram acan1pados durante oito mescs, pressionando o goven1o cstadual eo In era c firma ram um novo acordo: assentar etn caniter provis6rio duas mile quinhentas familias nas regiiies Oeste, Sudoestc e Centro-Sui Paranaense. Nessa negocia<;iio, ficou acertado a implanta<;iio de escolas e distribui10iio de sementes para o primciro plantio. As fami!ias foram para as areas, mas as escolas niio foram implantadas e nao rcccberam as scmentes. Muitas sc assalariaram para podcrcm comprar as scmentes para o plantio. No segundo semcstre de !987, nas regiiies Sudeste, Centro-Ocidental e Centro-Paranaense, mile quinhentas familias ocuparam cinco fazcndas. Sem aprescntar nenhuma proposta de soluyiio para as familias acampadas e assentadas provisoriamcnte, o govemo ameayou com despejo todas as ocupayOes.
Desdc as expericncias das lutas anteriores, a ocupayiio como cspayo de !uta e aresistCncia era a marca da conquista dos assentatncntos. As familias csperavam para qualquer momenta a chegada da policia militar e se prepararam para rcsistir. A primeira tentativa de despejo aconteccu na fazenda Santo Rei, no municipio de Nova Cantu. 0 latifundio fora dcsapropriado ha um ano e estava dcstinado ao assentamcnto, de aeordo com as negocia10iies feitas entre o MST, o govcmo estadual c o lncra, desdc o acampamcnto em frente ao Palacio do Iguayu. Todavia, ate aquele momenta, o Incra niio se imitira na posse. Na madrugada do dia 27 de novembro, as seis horas da manhii, cento e cinqiienta policiais chegaram ao acampamcnto e come(:aram a desmontar os barracos, na tentativa de cfetivar o dcspejo autorizado pelo juiz do municipio de Ubiratii. As setcnta e uma familias acampadas reagiram ao despejo e com cnxadas e foices cnfrentaram os policiais. Os militares recuaram e o comandante da opera(:iio rcquisitou mais trezentos soldados. Fizcram novas investidas e as familias reagiram. No confronto, um trabalhador foi baleado nas duas pemas. Durante o conflito, o MST conseguiu manter contato como deputado estadual do PT, Pedro Tonelli, que intervcio junto ao govcrno estadual e ao Incra. Como a area cstava com decreta de desapropria<;iio, o Tribunal de Justi(:a de Curitiba suspendcu o despejo, considerando que a propricdade estava sub judice.
No processo de forma(:iio e territorializa(:iio do MST-PR, essa ayiio foi uma das mais importantcs marcas da rcsistencia dos sem-terra. Criado o fato, os outros despejos niio acontcccram. Algumas areas foram negociadas c outras ficaram pendcntes, ondc as familias acamparam a cspcra da regulariza(:ao fundiaria. Em fevcrciro de 1988, o Incra sc imitiu na posse da Santo Rei e as familias foram dcfinitivamcnte assentadas. No mes de julho, a CPT rcalizou a 4' Romaria da Terra no municipio de Sao Joiio do Ivai, na rcgiiio Norte Central Paranaense, com a pa~1icipayiio de quarenta mil pessoas. A maior parte. era fonnada por sem-terra, assalariados rurais e pequcnos agricultorcs. A Romaria foi uma manifesta(:ao religiosa de confratemizayiio, que pro-
!56
curou registrar as lutas dos trabalhadorcs sem-terra na conquista da terra, dos pequenos agricultores na rcsisteneia e dos assalariados par mclhores condi<;iies de trabalho.
No mes de agosto de 1988, o MST realizou trcs ocupa<;iies simultaneas. Mil novecentas e cinqiienta familias ocuparam tres lati!Undios nas regii'ies Centro-Sui, Sudeste e Centro Ocidcntal Paranaensc. No municipio de Inacio Martins, mile seiscentas familias ocuparam a fazenda Nova Espcran<;a de 10.000 ha, pcrtencente a uma empresa paulista de reflorestamento. No municipio de Bituruna, cento e cinqiicnta familias ocuparam urn latifundio de 2.000 ha, que ja havia sido vistoriado e cstava com parecer favoravel a desapropria<;iio. No dia seguintc, a policia militar efctivou odespejo, destruindo os barracos, prcndendo dezesseis eoordenadorcs de grupos de familias. Parte das familias despcjadas montaram acampamento em frente a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bituruna. No municipio de Roncador, duzentas familias ocuparam a fazcnda Can-Can de 1.500 ha. Nas areas ocupadas as familias comc<;aram a plantar com sementes doadas pelos assentamentos do cstado.
No processo de eonstru<;iio das expcriencias, os scm-terra foram desenvolvendo novas formas de luta c rcsist6ncia. Ao ocupar e rcsistir acresccntaram o produzir16
,
criando assim mna nova palavra de ordem: ocupar, resistir, produzir, que daria o ton1 do 5° Encontro Nacional, em 1989, c do 2° Congresso, em 1990. A ocupa<;iio era a Lmica solw;3o, tnas n3o bastava em si. Era prcciso resistir na terra c produzir era mna fom1a de fottaleecr a resistcncia e um modo de garantir a sobrevivencia. Em 1989 e 1990, o MST realizou novas ocupa<;i'ies nas regiiies Noroeste c Centro-Sui Paranaense, continuando o seu processo de forrna<;iio e territorializa<;iio. Os sem-tcrra estavam organizados em quase todas as regii'ies do cstado, consolidando o MST no Parana. Em constantes negocia<;i'ies como Incra e como govemo cstadual, ocupando, resistindo e produzindo, o MST -PR, ate 1990, havia conquistado sessenta asscntamentos.
Santa Catarina
Em Santa Catarina, o MST nasceu da ocupa<;iio da fazcnda Burro Branco, no municipio de Campo Ere, na rcgiiio oeste catarinense, em maio de 1980 17 Essa a<;iio marcou o principia das lutas dos anos 80, envolvcndo pessoas que construiram o Movimento. A eonquista da Burro Branco foi uma refcrcncia importante, scmpre debatida, nos trabalhos de base realizados pelos scm-terra vinculados as Comunidades Eclesiais de Base da Diocese de Chapec6, bcm como as comunidades da Igreja de Confissao Luterana. Durante a primcira tnctade dos anos oitenta, os sem-tcrra criaram divcrsos gmpos de trabalhos em dczoito municipios da rcgiiio, que foram deno-
16. I: importantc dcstacar que a produ<;3.o, como forma de rcsistCncia c consolida<;3.o do MST, C uma caractcristica do Movimcnto ncssc momcnto de sua formayao como acontcccu nos outros cstados.
17. Vcr no capitulo 2: Santa Catarina.
157
minados de comissOes municipais. AlCm das pastorais, o movimento sindical autCntico, que estava sendo rctomado pclos trabalhadorcs, foi outro cspa<;o importante para organiza<;ao da !uta. Nesse proccsso de forma<;ao do MST, os scm-terra tambcm par-
, ticiparam da funda<;ao do Partido dos Trabalhadores e da Central Unica dos Trabalha-dores no oeste catarinense. Essas organizayOes fonnaram a articulay3o de apoio a I uta pcla terra na regiao.
Ncsse periodo, com a intensificay3o dos trabalhos de base, os sen1-tena apoiaram as lutas dos posseiros do municipio de Quilombo e participaram das atividadcs de organizay3o do 1° Encontro Nacional c do 1° Congrcsso. Nas con1iss6es municipais, uma das qucstocs dcbatidas cram as situa<;oes das familias rctomadas dos projetos de coloniza<;iio das rcgiocs Norte e Centro-Oeste. Nos grupos de trabalho, as propostas de lutas defcndiam a organizay3o das fmnilias para ocuparem terras no estado. TambCm rcalizaram manifestayOes, em Florian6polis, contra a politica de colonizay3o e reivindicaram do governo cstadual c do Incra o lcvantamento dos latifUndios para desapropriay3o e assentamento das familias scm-terra. Dcssas reuni6es obtiveram uma rcsposta: aguardar a implanta<;iio do Plano Nacional de Rcforma Agniria. Em janeiro de 1985, com a rcaliza<;ao do I" Congresso quando os scm-terra delibcraram pcla ocupay3o de terras, o MST -SC comeyou a articular as comissOcs municipais para a rcalizayao de varias ocupay6es.
Durante os primeiros mcses de 1985, os sen1-tcrra realizaram um levantamento das areas para as ocupa<;ocs. Em dczoito municipios da regiao Oeste Catarinense, as familias se prepararam para uma das mais importantcs lutas da regiiio. No dia 25 de maio, mil seisccntas c cinqlienta e nove familias iniciaram as ocupayOcs c durante uma semana ocuparam sete areas, num total de 9. 728 ha, nos municipios Quilombo, Abelardo Luz, Mandai, Descanso, Romclandia, Sao Miguel do Oeste c Maravilha. Nessc mes, no municipio de Guaraciaba, comemora-se a festa de Nossa Scnhora do Caravagio, para onde sc dirigcm milhares de peregrinos em fonna de caravanas de 6nibus c caminhOes. Apesar dos comboios de caminhOes de sem-tcna n3o chamarem muito a atcny:lo, por causa da grande romaria, na ocupay3o da fazcnda Papua, no municipio de Abelardo Luz, os scm-tcna enfrentaram jagunyos que, na tcntativa de impedir a ocupay3o, colocarmn fogo na ponte, sobrc o rio Chapec6, que da acesso a fazenda. Os scm-terra apagaram o fogo com galhos c len<;6is e efetivaram a ocupayiio.
Com a repcrcussao dos fatos, o prcsidente do Sindicato Rural de Chapcc6 manifestou-se por meio da imprensa, acusando a Diocese de Chapcc6 pelo apoio as ocupay6es eo governo estadual por nao coibi-las. Com as ocupayOcs consumadas, o govcrno estadual eo In era rcuniram-sc com a Coordena<;iio Estadual do MST para discutircm as rcivindicavilcs. A policia militar foi mobilizada para impedir novas a<;ocs dos scm-terra, as liminares de reintegra<;ao de posse foram suspensas, a pedido do governador, cos latifundiarios foram chamados para ncgociayao. Na reuni3o foi assinado um acordo entre os sem-tetTa, o govcrno estadual e o Incra, definindo os seguintes compromissos das pm1es: o Govcn1o do Estado providenciaria areas cmcrgenciais, dotando-as de infra-eshutura basica, nos municipios de Abelardo Luz e Sao Miguel
!58
do Oeste, para transferir as familias das fazcndas ocupadas; o Incra agilizaria os processus de dcsapropriw;ao das areas j<i idcntificadas co assentamento de todas as familias acampadas em ccnto c vintc dias; o MST nfio rcalizaria novas ocupac;Ocs no periodo do acordo, promovcria a transfcrCncia das familias com apoio das prcfcituras e organizaria o cadastramcnto das familias junto ao lncra.
Os 1atifundi3.rios prcssionaram OS proprietarios de tcrras para que nao ncgociasscm como govcrno c comcc;aram a organizar a UDR na rcgi5.o. Em sctcmbro vcnceu o prazo co Incra n3.o cumprira o acordo. Um grupo de trinta scm-terra ocuparam a sede do Incra em Florian6polis c iniciaram uma vigilia para aguardar o cumprimcnto do acordo. Uma scmana depois, foram assinados os decretos de desapropriayao de onzc fazcndas, num total de 13.000 ha. Nessas areas foram asscntadas mile trezentas familias, mais as familias retnancscentcs que foram assentadas provisoriamente, aguardando a arrecadayiio de novas areas para o assentamento definitivo. Com essas conquistas, os scm-terra catarinenses rcfon;avam o processo de construyao do MST. Em bora o acordo nao fora cumprido intcgralmente, os asscntamentos significavam o fortalecimento do Movimento. Os scm-terra continuaram realizando os trabalhos de base para fonnayao de novas grupos de familias. Prosseguiram pressionando o Incra e rcalizaram divcrsas manifestac;:Oes em Florian6polis e nas cidades das rcgiiics do Oeste Catarincnsc.
Em abril de !9S6, o MST -SC realizou scu Segundo Encontro Estadual com a participayiio de duzentos delcgados de sesscnta municipios. Durante o cvento, os trabalhadores aprovaram um documento denunciando o n3.o cumpri1nento do acordo assinado em junho de 1985 e a n3.o realizay8.o da reforma agniria, confonne as mctas do Plano Nacional de Rcforma Agr:iria. Elcgcram nova coordcnaviio cstadual e deliberaram por montar urn acampamento no centro de Florian6polis, em frente a catedral para protestar c exigir o atcndimento integral das reivindicayOes contidas no acordo. Pcrmaneceram acampados durante um mCs negociando com o Incra. Conseguiram a prmnessa que novas areas seriam dcsapropriadas ate o mCs de junho para o assentamento definitivo das familias remancscentes. Em junho, foram desapropriadas tres fazendas nas regi5es Oeste c Norte Catarincnse c iniciada a transferencia das fatuilias. Ncssc processo de mudanya das areas emergenciais para o assentamento definitivo, ocorreram entl·entamentos entre os sem-teiTa e jagunyos da UDR, que tentavam impedir a entrada das familias nas areas ja dcsapropriadas, como foi o caso da Fazcnda Faxinal dos Domingues no municipio de Fraiburgo.
No processo de construyiio do Movimento, os sem-tcrra realizaram encontros e cursos de formayiio fortalecendo a sua organizayao. No mcs de julho, em Chapee6, promovcram um cncontro cstadual de mulheres asscntadas, destacando a pat1icipa<;ao cfetiva das mulheres nas ocupa.;i'ies e na organizaviio dos asscntamentos. Em sctembro, no asscntamento 25 de Maio, no municipio de Ponte Scrrada, foi organizado um encontro estadual dos jovens assentados, com guinhcntos participantcs. Ncsse cvento, osjovcns scm-terra claboraram urn documento para scr entregue ao Incra, reivindicando o assentamcnto das familias acampadas e das asscntadas ctnergcncial-
!59
mente. 0 MST tambcm organizou cursos de forma<;iio tecnica em coopcrar;iio agricola para a cria<;iio de associar;oes de produtorcs nos assentamcntos conquistados. Com cssas atividadcs, os trabalhadorcs scm-terra promoviam a cspacialidadc da !uta, cujas dimensoes cram comprcendidas dcsdc a ocupa<;iio da terra ate a sua conquista e a organiza<;iio para a resisteneia. lgualmcnte procuravam rcfletir a respeito da partieipa<;iio das familias na !uta, em especial as mulheres e os jovcns.
Em sctcmbro, a Comissao Pastoral da Terra rcuniu vintc mil pcssoas na Prime ira Romaria da Terra de Santa Catarina. 0 evento aconteceu no municipio de Fraiburgo, na localidade de Taquaru<;u, ondc ocorreu um dos principais enfrentamentos entre camponeses co ExCrcito, durante a guerra do Contestado 1s. Durante a Romaria, o passado co presente da !uta pela terra foram celebrados. Nas novas comunidades de base formadas nos assentamentos e nas comunidades de base da maior parte dos municipios da rcgiiio Oeste, as lutas cram lembradas durante os trabalhos de formar;iio de grupos de familias para novas ocupa<;iies, continuando dessa fonna o processo de tcrritorializa<;ao do MST. Comemorar e trazer it memoria, recordar, lembrar, de modo que a comemora<;ao das datas de conquistas dos asscntamentos significa tambcm a constru<;iio da memoria da !uta. Serve de reflcxao sabre a nova rcalidade construida c de refcrcncia de analise para a fonna<;iio do Movimcnto. Assim, no dia 25 de maio de 1987, os scm-terra realizaram uma festa em Abclardo Luz, cclcbrando os do is anos de !uta c eonquistas e sete anos de retomada da !uta pel a terra na rcgiao.
Ncssc tempo, os scm-terra iniciavam as primciras discussOcs a rcspcito da rcsistcncia na terra, debatcndo sabre as formas de organiza<;iio da produ<;ao. Procuravam implantar expcricncias de trabalho co!ctivo e de coopcra<;ao agricola como fonnas de fmtalecer a organiza<;iio na !uta contra o capital: a explora<;ao e a expropria<;ao. A conquista da terra gera novas lutas que sao partes do succssivo processo de res is tencia. Nesse processo, pensar o trabalho, a produ<;ao agropecmiria e a educa<;ao sao ac;Ocs fundamentais para resistir na terra. A ocupac;ao, a produyao c a cducac;ao estao entre os principais conteudos c dimensocs da realidade da !uta que fazem a forma do MST. Essa C. a raiz das comissOcs, nU.clcos e sctorcs que os scm-terra criaram no proccsso de formac;iio do MST. Pensando, conhecendo a historia camponesa e comprecndendo o senti doc a dimensao da rcsistCncia, os scm-terra constntiram uma organizar;iio que dimensionou a !uta pela teJTa como !uta pela vida na transformar;iio de suas realidades. Dessa forma, dimensionaram e destrincharam a !uta, ocupando e organizando a vida nos acampamentos c asscntamcntos, lutando pcla autonomia, criando sua prOpria idcntidade. De sse modo, scr scm-terra j3 nao C rna is s6 nao ter terra para plantar e viver, C rcconhecer-se como sujcito de uma luta que nfto tcrmina na conquista da terra, mas que ncssc momenta a I uta sc fortalece e continua ...
Construindo essa concepc;ao de !uta, no dia 30 de outubro de 1987, o MST oeupou varias areas nos municipios de Campo Ere e Irani, na regiiio Oeste Catarinense;
18. Vcr no capitulo I: A Guerra do Contcstado.
1(,0
Campo Alegre na regiao Norte Catarinense e Jbirama no Vale do ltajai. Dessas ocupa<;6es participaram em torno de duas mil familias, formadas por novos grupos criados nos trabalhos de base e, tambcm, por familias remanesccntes das ocupa<;6cs de I 985. A rctomada das ocupa<;ocs foi a (mica fonna encontrada pclos sem-tcna para se tcr accsso a tcrra,ja que o Incra nao havia dcsapropriado novas tcrras para asscntar as familias acampadas. Para organizar cssas a<;Ocs, o MST contou como apoio dos scm-terra asscntados, que cedcram caminh6cs, participando da ]uta, da CPT c do movimento sindical. A mobiliza<;iio para a luta era de conhecimento da UDR c da policia militar, tanto porquc envoi via um grande nllmero de pessoas, quanta porque existimn pcssoas infiltradas nas comunidades, por mais cui dado que sc podcria tamar para evitar ovazamcnto de infonnayOes sigilosas, como por cxemplo: as areas a sercm ocupadas. Tambcm porquc os telcfones das organizat;6es cnvolvidas estavam grampeados.
Na rcalizayao da !uta pcla terra, as negociay6es com as instituiy6es governamentais, as formas de rcsistCncia conshuidas na contingCncia dos cnfrcntamentos com a Policia, jagun<;os c latifundiarios, geram aprendizados politicos que levam a reflcxao do proccsso de novas ayOcs. Dcssc n1odo, os scm-terra cstavam prcparados para possivcis eventualidades. Dcfiniram algun1as itrcas que scriam ocupadas c tinham outras areas como altcn1ativas, caso aconteccsscm imprcvistos. Uma das areas definidas para ocupa<;iio era a fazenda Caldato, no municipio de Palma Sola. Todavia, a policia militar fcchou varias cstradas que davam accsso as fazcndas a serem ocupadas. Con1 as barreiras, as familias partiram para os outros Iatifllndios consumando as ocupavOes. Mcsmo com essas estratCgias quatorzc caminhOcs foram ban·ados c varias lidcranvas foratn prcsas. Em alguns casas, as familias dcsafiaran1 o ccrco policial c caminharam a pC por estradas sccundarias e atalhos atC os locais definidos para tnontarem os acampamcntos. Sc, porum lado, a policia militar impediu as ocupa<;6cs de divcrsas fazcndas, por mcio da rcpressilo, por outro, os scm-terra atingiram scus objetivos: a ocupavao da terra como condiyil.o de prcssao para ncgociar a implantavao de novas assentamcntos.
Efctivadas as ocupa<;6es, os acampamentos foram cercados e isolados pela policia militar. NinguCm entrava, ninguCm saia. Simultaneamente as ocupavOes, um grupo de scm-terra procurava ncgociar com o govcrno cstadual c o Incra a vistoria das areas ocupadas, bcm como indicavam outros latifUndios para desapropria<;iio. Nao houve acordo. A policia militar executou os dcspejos. Fonnaram varios acampamcntos em bciras de cstradas e ate mesmo dentro de assentamento, como foi o caso das familias no municipio de Irani, que dcspejadas acamparam dentro do assentamento 25 de Maio. Durante do is anos, os scm-terra permaneccram acampados, reocupando as areas, ncgoeiando como Incra e conquistando pcquenas areas para implanta<;iio dos assentamcntos. Nessc processo de resistCncia rcalizaram diversas manifcstayOcs: ocupa<;6es da sedc do Incra, em Florian6polis, c caminhadas, pereonendo os municipios da regiao Oeste Catarinense. Nessas a<;6cs, contaram com a participa<;iio da Central Unica dos Trabalhadores, da Comissao Pastoral da Tena e de dcputados cstaduais do Partido dos Trabalhadores. Ao mesmo tempo, procuraram fortalccer os asscntamcntos, realizando encontros de formayil.o por sctorcs da organizayilo.
161
·.
No dia 12 dcjunho de 1989, oitocentas familias ocuparam a fazenda Caldato, de 7.500 ha, no municipio de Palma Sola. Essa ocupayao marcava o acirramento da !uta pcla terra. Nessc ana, havia mile seteeentas familias acampadas no estado. Todavia, as ncgociay6es cstavam cmperradas porque o Incra nao cumprira com os acordos c com as met as do Plano Naeional de Reforrna Agn\ria. Par outro !ado, a UDR ameayava usar scus pr6prios meios para dcspcjar os sem-tcrra. Nessa con juntura, os sem-terra continuavam articulando a resistencia, tendo a ocupayao, o acampamcnto, a negociayao eo cnfrcntamento como tcntativas para fazcr a luta avanyar. No mesmo dia da ocupay:lo, a policia militar cercou o acampamento c confinou as familias, impedindo qualquer tipo de movimentay3.o. No tcrceiro dia, em tomo de cinqlicnta pessoas: agentcs de pastorais, rcligiosos, sindicalistas c politicos vi cram visitar as familias c foram impedidas de ter acesso ao acampamento. Os sem-tena utilizaram-se de foiccs, enxadas c fac6cs e partiram para o confronto com a policia, rompcndo como cerco policial, permitindo a entrada dos visitantes.
Com a liminar de reintegra~ao de posse impetrada e a pcrspectiva de outro enfrcntamcnto com a policia militar na rcalizay:lo do dcspcjo, as familias rccuaram c montaram acampamento em uma area de um hectare e meio, ccdida porum pcqucno proprietario, vizinho da fazenda Caldato. Nessc entrctanto, cem lavradorcs acamparam em frente ao palacio do govemo, em Florian6polis, para protestar contra o deseaso para com as fatnilias sem-tena e cxigindo a vistoria das areas ocupadas. TambCm foram expulsos pel a policia. Nas negocia10iies, o In era propos comprar terras em Mato Grosso e transfcrir as familias para aqucle estado. Como cvidcnte retroccsso das negociac;Oes, os setn-tcna recusaram a proposta. Em seten1bro, rcocuparam divcrsas areas, inclusive a fazenda Caldato. No dia 16, urn batalhao de quinhcntos policiais foi requisitado para efetivar o dcspejo e as familias resistiram. Do eonfronto resultaram vinte c trCs policiais e setenta c dais sem-tena feridos. Durante o conflito, o scrn-tena Olivia AI bani foi marta com um tiro de fuzil. Seis lavradores foram presos cas [amilias retornaram para a area ecdida pelo pequeno proprietario.
Nos meses de outubro e novembro, o MST organizou varias manifestayiies nas cidades de Dionisio Cerqncira, Sao Miguel do Oeste e Chapee6 ate conseguir a libertavao dos presos e a anula,ao da prisao preventiva de outros sem-tcrra. No final de 1989 e inicio de 1990, realizou reocupa~iics nos municipios de Irani e Abelardo Luz, conquistando diversos assentamentos. Em fcvcreiro, a fazenda Caldato foi reoeupada e as familias foram novamente despcjadas. No dia I" de junho de 1990, sessenta [amilias ocnparam a fazenda Carrapatinho, de 2.271 ha, no municipio de Garuva, narcgiiio Norte Catarincnse. A fazenda fora desapropriada havia dez meses. Efetivada a ocupayao, o latifundiario cntrou armada no aeampamcnto amea,ando os scm-terra. No cmbate, inieiaram nm tiroteio que resnlton na morte do fazendciro c do is aeampados feridos. A policia militar interveio, as familias foram despejadas e aeamparam em uma area ccdida pela Par6quia da cidade.
Ate 1990, o MST, par mcio das oeupaviics, sc territorializou por tres regioes do estado, eonquistando einqiicnta assentamentos, ondc foram assentadas duas mil e
162
trinta e uma familias. Ncssc ano, a reprcss3o contra as ocupayOcs sc intensificara. Os scm-terra investiram nas ncgociayOcs para o assentamcnto das familias acampadas e voltarmn suas ayOcs para dentro dos assentamcntos, organizando os setores c consolidando o Movimento.
Rio Grande do Sui
No Rio Grande do Sui, os fatos ocorridos desde as lutas dos eolonos de Nonoai, com as eonquistas das glebas Macali e Brilhantc, ate a ocupa<;iio da Esta<;ao Experimental Fitotcenica da Secretaria da Agricultura, no municipio de Santo Augusto, com as conquistas dos assentamentos nos municipios de Erval Scco e Tupacireta, bcm como o con junto de a<;iics: trabalhos de base, assemblcias, encontros c negocia,oes, comprecnderam o periodo desde a gesta<;iio ao nascimento do MST19
No dia 29 de outubro de 1985, quando mile quinhentas familias, ocuparam a fazenda Anoni, de 9.500 ha, no municipio de Sarandi, o MST-RS dava mais um passo importantc para a territorializa<;ao da !uta pela terra no estado. Como acampamento na Anoni os scm-terra procuravam desentranhar urn processo de dcsapropriayao que sc arrastava h3. onzc anos::!0
. No contexto desse impasse criado pclo Poder Judici3.rio, as familias nao foram despejadas e o juiz permitiu a pennanCncia do acmnpamento, mas proibiu o cultivo da area ate a consuma<;ao da desapropria<;iio. Par seis meses, os scm-terra negociaram em Porto Alegre e em Brasilia, na perspcctiva de encontrar uma solu<;ao como assentamento de todas as familias. Na Anoni, deveriam ser assentadas em tomo de trezentas familias, considerando a reserva legal c a area ocupada par einqiienta e quatro familias de pareeleiros, que ja viviam na fazenda. No dia 27 de fevereiro de 1987, duzentas pessoas: mulhcres, homens e crian<;as, ocuparam a sedc do Ioera em Porto Alegre e obtiveram o eompromisso, em documento assinado, pelo lnstituto de assentar as familias aeampadas ate o final domes de abril. Scm nenhuma resposta, no dia primciro de maio, cinqiienta fmnilias acamparam novamente em frente a sede do Incra, para exigir o cumprimento do compromisso. Ao mesmo tempo, os trabalhadores procuram articnlar-se com deputados e cntidades de apoio para pressionar o governo etn Brasilia.
A ocupa<;iio da Anoni, a ocnpac;ao da sede do Ioera, as negociac;oes em Porto Alegre e em Brasilia nao foram suficientes para modificar a con juntura em que se encontravam. En tao, decidiram rcalizar uma caminhada de 400 km, da Anoni ate Porto Alegre. Denominaram-na de "Romaria Conquistadora da Terra Prometida". Pat1iram no dia 23 de maio e chegaram em Porto Alegre no dia 23 dejunho, onde reecbcram a solidariedade de uma multidao de trinta mil pessoas, quando o prefeito Alceu Coli arcs
19. Vcr no capitulo 2: A !uta dos colonos de Nonoai.
20. A fazc:nda Sarandi fora dc:sapropriada, em 1974, para asscntar as atingidos pel a barragcm do Pas so Real, contudo o procc:sso sc cncontrava inddlnido pel a intcrvctu;:iio de viirios rccursos j udiciais. Con forme Navarro, Zander. 1999, p. 37; Ruckert Aldomar, 1992, p. 398-399.
163
(PDT), cntrcgou a chave da cidadc aos sem-terra. Durante o pcrcurso, o govcrno federal anunciou a dcsapropriayao de trcs areas no municipio de Cruz Alta c declarou que resolveria a pendcncia judicial da Anoni em trinta dias. Essas declarayocs repcrcutiam como cfeitos da Romaria. Tatnb6m, comunidades de vintc tnunicipios que apoiaram a caminhada, come<;aram a discutir a rcspcito da realizay3.o das rcuni6cs de trabalho de base, para a fonnayao de grupos de familia com vistas a participarem da !uta pela terra.
Ern trCs meses de acampamcnto em Porto Alegre, ondc ocuparam um plcn3rio da Asscmblcia Legislativa c a sede do Jncra, fizeram uma grcvc de fome de cinco dias c v<lrias outras manifestay6cs, conscguiram apcnas a promessa: que em breve novas areas seriam dcsapropriadas. Nessc tempo de caminhada e durante acampamcnto na capital gaucha iniciou o processo de emancipayiio do MST-RS. As discuss6cs entre scm-terra e religiosos coordcnadores da CPT apontavam dois scntidos para !uta. De um !ado, a dircyao do MST dcfcndia a proposta de retornar para a Anoni c rcflctir sabre novas ay6es para refon;ar a !uta. Por outro !ado, alguns mcmbros da CPT defcndiam a continuidade da caminhada atC Brasilia. A rccusa a essa proposta significou uma decisiio pcla autonomia do Movimento, que comcyava a definir sua direyao politica. Em outubro de 1986, um ano depois de ocupada, a Anoni foi liberada para o plantio. As familias espacializaram o acampamento por dczesseis areas, ocupando todo o latifundio. Como a fazenda era insuficiente para o assentamcnto de todas as familias aeampadas, o Movimcnto reivindicava a desapropria,ao de novas areas.
Ainda, em 29 de sctcmbro de 1986, os acampados da Anoni iniciaram outra caminhada, des sa vcz em direyiio a Cruz Alta, para ocuparem as areas desapropriadas. Sao impedidos pcla brigada militar e cerca de cinqiienta pessoas sao feridas no enfrentamento com os brigadianos. No dia 3 de outubro, tentam novamente e chegam ate Palmeira das Miss6es, onde sao barrados pela Brigada e obrigados a retomarem ao acampamento. De outubro de 1986 a fevereiro de 1987, trcs areas sao libcradas para o assentamento de cento c trinta c cinco familias nos municipios de Tupacireta e Santiago na rcgiao Centro-Ocidental Rio-Grandensc, e no municipio de Guaiba, na regiao Metropolitana de Porto Alegre. Em 31 de mar10o, os scm-terra participavam de um protesto contra a politica agricola do governo, na rodovia Sarandi-Carazinho, quando aconteceu urn tritgico acidente na barreira formada pelos agricultores. Um caminhao coli diu com tres tratores, fcrindo dez pessoas e matando trcs: Vitalino Mori, Lori Grossclli e Roscli Celeste Nunes da Silva. Rosch estava acampada na fazenda Anoni e era a mae da primeira crimwa nascida na ocupayao da Anoni21
.
21. A hist6ria de Roseli, no contcxto das lutas c trajctbrias das familias da Anoni, cst:i retratada nos tilmes: Terra para Ruse ( 1986) c Sunho de Rose ( 1996), de TctC Moraes. Sunlw de Rose foi financiado pclo lncra que vctouo filmc para cxibi~ilo comcrcial, porquc: "ojicialmenfe, o In era niio/icou satisfeitu cum o re~ultadu do /ilme ... 0 direr or de us.n·ntamentus do lncra, Ai-cio Gomes de 1\Jatos. admitiu, em Silo Paulo. que o prohfema C politico. F: a deciscio /amhhn. _ o n"dco mtH-rra o sucesso da 1· inva.wies. 0 brcra nao poderia asswnir essa 1·isiiu no presente mmm•n!o .. ( 0 P01·u. p. 9, Fortalcza, 28 de maio de \997).
164
'
No inicio de abril de 1987, o MST-RS rcalizou o Primciro Semim\rio de Lideran<;as, em Frederico Westphalen. Nesse encontro foram definidas as prioridadcs do Movimento: intcnsifica<;iio dos trabalhos de forma<;iio de grupos de familias e das ocupa<;Oes para assentar as fmnilias remancsccntcs da Anoni. Ainda estavam acampadas, na fazenda, mil duzentas c dcz familias. Emjunho, come<;aram as ocupa<;iics pelas familias sobrantes da Anoni. Urn grupo de sctcnta e uma familias ocupou uma area de 1.054 ha, proxima ao assentamcnto Sao Pedro, no municipio de Guaiba, ondc posterimmcnte foram assentadas. Emjulho, trezentas familias ocuparam a fazenda Sao Juvenal, de 1.436 ha, no municipio de Cruz Alta, na regiiio Noroeste Rio-Grandcnsc. Durante a ocupayao, dois caminhOcs atrasaram e foram barrados por jagunyos da UDR, de modo que fonnaram-se do is acampamcntos: um de duzentas familias no interior da fazenda c outro acampado a beira da estrada, proximo a sede do latifundio.
0 govemo estadual c o Incra nao intervicram no conflito, argumentando que o problema estava no Judici:\rio, j:\ que a Sao Juvcnal fora desapropriada desde setembro de 1986. 0 grupo acampado dentro do latifundio ficou complctamente isolado porpistoleiros da UDR. Vencidos pcla fame, pelo frio c pcla violencia: durante a noite, os jagunyos atiravam em direyao aos bmracos, dois scm-terra decidiram sair do acampamento, com uma bandcira branca, para dcnunciar a situayfro insustentiivcl dos acampados. Foram pegos por dez capangas a cavalo que os agarraram e os an·cmcssaram para fora da fazenda, por cima da cerca de aramc farpado. As familias foram dcspcjadas tres dias dcpois da ocupa<;iio. 0 grupo que cstava acampado na beira da estrada tambem foi despejado e todas as familias foram reconduzidas para a fazenda Anoni. Derrotados, confinados no acmnpamento da Anoni, as familias pcrsistiram, decidiram cspacializar a luta, continuando a trajet6ria de resistCncia e enfrcntamcnto, que ja completava dais anos.
No dia 13 de outubro de 1987, realizaram cinco ocupa<;iies simultiineas. Foram quatro em esta<;iies cxpcrimentais do govcmo estadual, localizadas nos municipios de Jl!lio de Castilhos e Tupacireta, na regiiio Centro-Ocidcntal Rio-Grandense, em Rondinha, no Noroeste, e em Nova Prata, na regiiio Nordeste Rio-Grandense, e a outra :\rca ocupada foi a fazenda ltapui, de 1.200 ha, no municipio de Canoas, na regiao Mctropolitana de Porto Alegre. Nas areas pertencentcs ao Estado, OS despcjos foram sucessivos e violentos, impondo aos sem-tcrra o retorno para a Anoni. Somente as familias ocupantes da fazenda Itapui, em Canoas, sacm vitoriosas. A cada despcjo a luta sc acirrava cos colonos procuravam intensificar as fonnas de resistCncia, na tentativa de superar o dcs3nimo depois de vcirias derrotas consecutivas. Durante a luta pelo asscntamento das familias da Anoni, par meio dos trabalhos de base, o MST sc cspacializara por sctenta municipios, onde havia em tomo de oito mil familias participando das rcunioes, fom1ando grupos com objetivo de participarcm das ocupa<;iies.
At6 entiio, o MST-RS avaliava que era necessaria, primciro, assentar todas as familias acampadas na Anoni, para posteriormente partir para ocupac;Oes com novas grupos de familias. Todavia, depois de v:\rias derrotas, os scm-terra decidirammudar o nuno da !uta. Se nao era passive! superar a con juntura somentc com a realidade
165
construida como acampamcnto da Anoni, decidiram expandir a !uta com a participa-9iiO de novas tamilias. No dia 23 de novembro de 1987, o MST faz trcs oeupa96es com mil trezentas c cinquenta familias. Na regiiio Noroeste, em Palmeira das Missoes, oitocentas familias ocupam a fazcnda Sal so, de 4.000 ha, e quinhcntas familias ocupam a fazenda ltati, de I. 743 ha, no municipio de Sao Nicolau. Um grupo de cinquenta familias procedentes da Anoni ocupou uma area pertenccnte a Universidade Federal de Pclotas, naquele municipio. Somentc esse gmpo conseguiu ser assentado, dcpois de vcirias ncgociayOes, scndo transfcrido para uma area no municipio de Canoas. Os ocupantcs da fazenda Salsa foram despejados c acamparam em uma area ccdida par um pequcno proprietario de Palmeira das Missiies. As familias dcspcjadas da fazcnda Jtati acamparam em uma area cedida pela Diocese de Santo -Angelo, no municipio de Caibate.
0 MST-RS comc9ara o ana de 1988 com aproximadamente trcs mil familias acampadas. Todas as tcntativas para mudar a conjuntura nao deram resultados favonivcis para os scm-terra. Desde 1985, son1cnte quatroccntas familias foram assentadas em oito assentamentos conquistados pcla persistencia da !uta. Em janeiro, o MST participou da Jornada pcla Refonna Agraria, em Porto Alegre, junto com a Fcdera9iio dos Trabalhadores na Agricultura (Fctag) e diversas outras cntidades, como forma de pressionar os deputados constituintes a respcito da aprcscnta9iio da Emenda Popular para a Reforma Agraria22 Todavia, apesar de todo o esfor9o da sociedade, os ruralislas dissimulados no "Centrao" aniquilaram a reforma agraria na nova Carta Constitucional. Restava aos trabalhadores sem-terra a continua9iio das manifesta96cs e a96es em busca da terra pela !uta c pcla infinda resistencia. Em fevereiro, a CPT promovcu a 11" Romaria da Terrana cidade de Pclotas, com a participa9iio de vinte mil pessoas. 0 conteudo da romaria destacava, entre outros temas, as formas de expropria9iio dos povos indigcnas e dos camponcscs do direito a terra.
Em abril, os sem-terra participaram de manifesta96cs com camponeses gauchos em protcsto contra a politica agricola, que cxpropria centenas de milhares de produtores familiarcs. No mes de maio, o MST negociou como entao Minist6rio da Reforma c do Desenvolvimento Agrario (MIRA D) a transfercncia das familias acampadas em Palmeira das Missiies e Caibat6 para uma area da fazenda da Barra, de 735 ha, no mu--nicipio de Santo Angelo, com a promessa de assenta-1as definitivamcnte em novas areas que scriam atTecadadas ate 0 fim de junho. Mais uma vez, 0 governo nao CU111-
priu como acordo e na comemora9ao do dia do trabalhador rural a maior parte das familias acampadas na fazenda da Barra ocupou a fazenda Buriti, de 11.000 ha, no municipio de Sao Miguel das Missiics. Com a ordem de despejo, a brigada militar mobilizou duzentos brigadianos para efetivar a dcsocupac;ao da Buriti. A UDR e a Fcdera-
22. "A Emcnda Popular das 17 cntidadcs conscguiu 63X.469 assinaturas c a do MST 550.000, atingindo, juntas, a fant:istica marca de 1.201.400 assinaturas (sic)"_ Confom1c Silva, JosC Gomes. Buraco negro: a rej(Jrma agrr'rria na constituinte. Siio Paulo: Paz c Terra, 1989, p. 165.
166
<;iio da Agricultura do Rio Grande do Sui ja haviam montado urn esquema de repressiio as famflias, colocando ccnto e cinqiienta jagunyos na Buriti.
Frcntc a mn cnfrentatncnto imincntc, as familias mudaratn o acampamcnto de lugar, para uma area estrategica da fazcnda, de ondc tentariam sc defender de urn possivel ataquc dos brigadianos e dos jagun.;os. Os scm-terra dcrrubaram uma ponte de accsso ao local, dctivcram urn funciomirio do MIRAD no acampamento e prepararam a rcsistcncia. Em vista dos fatos, o juiz adiou a data do dcspejo, o MST e o governo estadual iniciaram as negociay6cs a fim de cncontrar uma saida para o impasse. Firmam um aeordo de transfcrcncia das familias a uma area de 600 ha, no municipio de Tupacireta, pertencente ao governo cstadual, mas que se cncontrava arrendada. No acordo ficara accrtado a vistoria da fazcnda Buriti e que, em sesscnta dias, o govcrno assent aria tOO. as as familias acampadas. 0 secret3.rio da agricultura autorizara os scm-terra a cncontrarcm areas para serem adquiridas pclo Estado. 0 MST entregou uma rcla<;iio de 20.000 ha, mas o secrctilrio argumentou que poderia comprar apenas 5.000 ha. Nesse entrctanto, os fazendeiros de Tupacireta pressionarmn o sccrct3.rio para transfcrir as familias para outro municipio.
Em setembro de 1988, as familias que tinham ocupado as fazendas Salsa e Jtati, em novembro de 1987, que foram despejadas e acamparam em Palmeira das Missoes c Caibatc, que foram transfcridas para a fazenda da Barra, que ocuparam a fazenda Buriti, que foram transferidas para Tupacireta, cram novamente transferidas, provisoriamente, para uma area prOxima ao asscntamento Rindio do Ivai, no municipio de Saito do Jacui. Essa trajct6ria peregrina revclava pelo menos do is limitcs: o do interesse do govemo em cumprir com os acordos assinados com os scm-terra, co desses pr6prios, cujas paciCncia c rcsistCncia cstavam sc esgotando. Durante esse tempo, o MST conscguiu apenas algumas areas ondc foram assentadas em torno de ccnto c vintc familias. Os acampados em Saito do Jacui aguardaram em vao as promcssas do governo cstadual. Ainda, durante o tempo desse acampamcnto, quatro crianyas morreram viti mas de cnvcnenamento e quinzc foram internadas por intoxica.;ao grave, ja que os avioes dos fazendciros plantadores de soja sobrevoavam os barracos como esguicho aberto23
No final de 1988, o MST -RS se consolidara, tornando-se uma importante forya politica na luta pela terrae no dcsenvolvimento da agricultura. Participara de divcrsas manifcsta<;oes em conjunto com a Fetag e pequenos proprietarios, defendendo a reforma agniria c rcivindicando uma politica agricola para os agricultores camponeses. Ncsse tempo, definira sua forma de organiza.;ao com o estabelecimcnto dos setores basicos: forma<;ao, educa<;ao, produ<;ao, comunica<;ao, para o dimensionamcnto da I uta pre c p6s conquista da terra. Em dezembro, participou como movimcnto sindical da fun-
23. Vcr a rcspcito: G6rgcn, Frci SCrgio. 0 mas.wcre da_fazenda Santa Elmira. Pctr6polis: Vozcs, 1989, p. 34.
167
dayao do Centro de Tecnologias Altcmativas Populares (CETAP)24 que passara a funcionar em uma area de 41 ha na fazenda Anoni. Em 1989, um lrabalho pioneiro de pesquisa::!5 rcgistrava os pritnciros resultados econ6micos dos assentamcntos nn-ais cos impactos da prodw;ao sabre a economia dos municipios da microrrcgiao de Cruz Alta. Na I uta pcla terra, os scm-terra iniciaram o ano como dcsafio de continuar a conquisla de novas areas para assentar as familias acampadas na Anoni e em Saito do Jaeui.
No primeiro semestrc de 1989, o MST rcalizou duas ocupayoes. A fazcnda Ramada, de 2.300 ha, localizada no municipio de Julio de Castilhos, na rcgiao Centro Ocidcntal Rio-Grandensc, foi ocupada no dia 3 de fevcrciro, por ccnto c einquenta familias procedcntcs da Anoni e do acampamento de Saito do Jacui. A fazcnda Santa Elmira, de 3.860 ha, localizada no municipio de Saito do Jacui, na rcgiao Noroeste, foi ocupada no dia 9 de man;o, por quinhentas familias do acampamento ncste municipio. Dcpois de varias ocupayoes e despejos, transfcrcncias de aeampamcntos e todo tipo de humilhac;ao, cssas familias cstavmn na I uta h3. quarcnta mcses, no caso dos acampados da Anoni e quinze para os acampados de Saito do Jacui. Por cssa trajet6ria de rcsistCncia c pcrsistCncia, cstavam dispostos a resistir na terra. Na Ramada resistiram, negociaram e conquistaram a ten-a. Na Santa Elmira rcsistiram, foram massacrados e dcspcjados.
Na Santa Elmira, os scm-terra nao aceitaram outro despejo. Quando o oficial de justiya entregou a liminar, os acampados reunidos decidiram rasgar a ordcmjudicial. A proposta dos colonos era a negociayao com o govcrno para discutlr uma soluyao para o impasse. Nao houvc ncgociayao. Prevcndo a intcnsificayao do conflito, o MST mobilizou cento c cinqiienta scm-terra asscntados em municipios da rcgifio Mctropolitana de Porto Alegre, que ocuparam a scde do MIRAD, na tentativa de prcssionar o Incra para conscguir um acordo. 0 bispo de Cruz Alta sc prontificou para intermcdiar o conflito. Nao houve acordo. Govcmos cstadual c federal se omitiram. Os acampados acompanhavam os dcsdobramcntos das decisiies ouvindo a n\dio local. No dia II de maryo, de uma casa da fazenda, o juiz, fazendciros ligados a UDR co comando da brigada militar plane jam a a~ao de dcspejo. Aviiics da UDR iniciam o massacre. Do is aviOcs agricolas, com os prefixos camuflados, foram utilizados para arrcmessar bornbas de gas lacrimogcnco sabre o acampamcnto. Com cspingardas de cartucho, os scm-terra tentam em vao accrtar os aviOcs.
Os scm-terra ja haviam enfrcntado os jagunyos da UDR no primciro dia da ocupayao, quando esses comeyaram a atirar contra os barracos. Os trabalhadores rcvidaram c os jagunyos sumiran1. Dcpois das bombas, vieram os brigadianos. Eram mil e
24. 0 CET AP tcm por finalidadc a fom1a<;iio tCcnica c assc~soria aos asscntados c pcqucnos proprictUrios, na pcsquisa agropccu<lria para divcrsdlcavao da produ<;iio, na rccupcra<;iio c conscrvm,:iio do solo.
25. Zambcrlam, Jurandir c F!or3o, Santo Rcni S. Assentamentos_ resposta ecol1()mica da pequena prupriedade daregi(/o de Cruz Alta. Passo Fundo: Editora Bcrthicr, 1989.
168
duzentos contra quinhcntas familias. 0 acampamcnto foi completamente cercado. De um !ado, os scm-terra com foices, enxadas, fac6cs, pcdras, pcdayos de pau e bombas molotov, de fabrica<;:ao cascira. Do alto-falantc do acampamento, uma pessoa avisava para que ningucm usasse arma de fogo. De rcpente um tiro, rajadas de metralhadora c o acampamcnto foi invadido pelos militarcs. 0 saldo do confronto: quatroccntas c cinco pcssoas fcridas, sendo cinco brigadianos e quatroccntos sem-terra. Entre os trabalhadorcs fcridos, dczcnovc a bala. Vinic c dois scm-terra foram prcsos"'. Derrotadas mais uma vcz, as familias voltaram para o acampamcnto anterior, onde ainda aguardariam mais um ano para, finaln1cntc, sercm asscntadas.
No mcs de abril, 0 MST fez uma seric de manifcstayOCS de protesto contra 0 descaso do govcrno para com os sem-tctTa. Na Asscmbleia Lcgislativa, quatro trabalhadorcs, um frei e urn pastor lutcrano fizeram grcvc de fomc por dczcsscis dias. Ncssc tctnpo, um g1upo de scm-tcna acampou em frcntc 3 Sccretaria da Agricultura para pressionar o governo a abrir as ncgociay5es e aprescntou uma lista de 28 areas para serem adquiridas pelo goven1o. Em tnaio e junho, trczcntas c cinqi.ienta f<unilias formn asscntadas. Contudo, em torno de mil c duzcntas ainda cstavmn acampadas. Em sctcmbro, o MST comcmorou dez anos de !uta pela terra, dcsdc a ocupa9ao da Macali, em Ronda Alta. Ncssc mes, o Movimcnto continuou seu processo de tenitorializay3.o c realizou sete ocupay5cs nas regi5es Noroeste e Metropolitana. Dessas ay5es, patticiparam fatnilias acampadas na Anoni, em Salta do Jacui e mais quinhentas familias de novas grupos fonnados nos trabalhos de base. Ocorrcm varios dcspejos, fonnaram novas acampamentos c algutnas areas foram conquistadas.
No dia I 0 de janeiro de 1990, o MST promoveu uma passcata, em Cruz Alta, para protcstar contra o empcnamcnto das negociayOcs. Nos mescs de fcvcreiro a agosto, fizeram novas ocupay5cs em vD.rias regi5es do estado, enfrentaram a Brig ada c jagunc;os da UDR, scm conseguirem resultados favor3veis para mudar a situac;Uo dos acampamcntos. No mes de junho, os acampados em Cruz Alta fazcm a marcha da fomc para dcnunciar a situayiio de misCria extrema no acampamcnto. Nessc ato, um scm-ten-a foi fcrido com utn tiro na cabcc;a porum sol dado durante um ataquc rcpressivo da Brigada. Novamcntc, a conjuntura chcgara ao limite. Lidcranyas-coordcnadoras de grupos de familias viajaram a Brasilia para negociar como governo federal. Tentavam abrir a conjuntura por todos os mcios. Niio conscguiram resultados. Os govcrnos federal e estadual pcrsistiam na omissiio. Os scm-terra dccidiram espacializar a !uta, oeupando um importantc c cstrategico espayo politico: a Praya da Matriz em Porto Alegre. Acampar defronte ao Palacio do Govcmo, a Assemblcia Lcgislativa, ao Palacio da Justi9a e a Catcdral. Seriam vistas por todos os podcrcs. Era mais uma tcntativa dos acampados para mudarem as suas rcalidadcs.
No dia 8 de agosto, quatrocentos scm-ten-a provenicntes de v3rios acampamentos, inclusive da Anoni - que complctava cinco anos - acampam em Porto Alegre, para cobrar do govcmo o assentamcnto das familias. Sao cercados por quinhentos
26. A rcspcito dcssc massacre. vcr GOrgcn, frci SCrgio, 1989, op. cir.
169
brigadianos c o comandante exigiu que deixasscm o local. Ncsse entretanto, parlamentares tcntavam marcar uma audiCncia com o governador. Portanto, os scm-terra decidiram esperar pcla resposta. Nesse tempo, a Brigada atacou o acampamento com a cavalaria, dies c bombas de gas lacritnogCnco. Os sctn-terra resistiratn e rcvidaran1, atacando os soldados com pcdras, foices c cnxadas. Alguns colonos c brigadianos sao fcridos. Na intcnsifica~ao do confronto, os scm-terra cavaram uma brecha no ccrco e tcntaram se salvar por uma rua da cidadc. A 1naioria dos scm-terra nao conhccia a cidadc. Dispersam-sc, alguns colones que conheciam a cidade tentaram rcunir os companhciros e oricnt3-los para que se refugiasscm na prcfcitura:n.
Na con·cria, um grupo de sem-tcrra se dcpara com uma viatura policial. No tumulto, no mcio da multidao, pessoas correndo para todos as !ados, o soldado cntrou em confronto com os colonos. Se atracaram, o soldado atirou c fcriu uma scm-tcna no est6mago, um segundo tiro a tinge ope de um colona, par fim o brigadiano e atingido par golpcs de foice. Do confronto, iniciado pela brigada militar, urn brigadiano morrcu c varios scm-terra ficaram feridos, do is a bala, doze colonos indiciados c seis condenadosn. A maior parte dos colones conscguiu se refugiar na prcfcitura. A brigada militar cercou o predio par onze horas, o tempo que duraram as negociavocs para a saida dos colonos. Em apoio a !uta, centenas de pessoas formaram um cordao entre a prefeitura c as fileiras de soldados. Esse epis6dio somou-sc aos outros da !uta pela lena no Brasil. As familias continuaram suas lutas, rompendo ccrcas e tentando superar conjunturas. A conta-gotas faram conquistando pcquenos assentamentos. A situaviio da Anoni s6 sc rcsolveria no final de 1992, sete anos depois da ocupayao. Desde sua genese, o MST-RS conseguira construir uma nova rcalidade no campo rio-grandense. Ncsse tempo, os sem-terra conquistaram scssenta asscntamentos, onde foram assentadas em tomo de duas mile duzentas familias, territorializando o Movimento por quasc todo o estado.
Construindo o caminho
Ncsse periodo- 1985 a 1990- o MST se territorializou par dczoito estados, tornando-sc urn movimento nacional, estando presentc na luta pcla tcna em todas as grandes rcgi6es29
. Ocupayiio par ocupayao, cstado par cstado, lutando pelo direito a tcna por tncio de negociay5es e cnfrcntamentos, os sem-tcrra espacializaram a Juta, construindo o Movimcnto, desdc scu nascitncnto a sua consolidayao, dimensionando
17. Na Cpoca, o prcfci to era Olivia Dutra (PT), que scmprc dcfcndcra as lutas pel a terra c pel a rcforma agnina. E ncssc cnfrcntamcnto os scm-terra procuram na prcfcitura um tcrrit6rio ondc pudcsscm sc rcfugiar.
28. A rcspcito dcssc confronto, vcr: Giirgcn, Frci SCrgio (org.). UmajOice Ionge du terra. Petr6polis: Yozcs, 1991; Lcrrer, DCbora_ 0 ~am do sih!nciu 1ws \'crsr"ies da pnu;a. S;1o Paulo, 1998. Disserta~iio (Ml'Strado em Jomalismo), Escola de Comunieat;iio e Artcs da Universidade de Siio Paulo.
29, Em todos os cstados das regi6cs Sui e Nordeste; na regiiio Norte, no Estado de RondOnia; na regiiio Centro-Oeste, nos Estados de Goias c Mato Grosso do Sul; na regiiio Sudeste, nos Estados de sao Paulo, Minas Gerais c Espirito Santo.
170
e transformando as suas rcalidadcs. Assim, prosseguiram com o proccsso de formayao do MST, ressocializ.ando familias de trabalhadores cxcluidos pela tcrritorializa-9iio do capital c do latifundio, lutando pela refonna agr:iria c pcla transforma9iio da sociedadc. Nessa I uta, o processo de territorializayao do MST tambem e comprecndido como triunfo e trunfo (Raffestin, 1993, p. 58s), vis to que as por9iles do terri torio conquistadas tornaram-se as bases refercnciais para a cspacializayao do Movimento. Os asscntamcntos sao partes fundamentais da infra-cstrutura que representa a consolida<;ao do MST em cada estado. Desse modo, o MST sc consolidou no final dos anos 80, nas lutas c cxpcriCncias que levaram as conquistas dos asscntamcntos c de sua forma de organiza<;ao.
Nessc qiiinqiicnio, o MST dcfinira as bases de sua forma, dcnominando as atividades pertincntcs a sua organiza9ao. Enfrentou desafios para nao dicotomizar o processo de I uta e de fonna<;ao do Movimento: a questao que se colocava era a fonna9ao de urn Inovimento de luta pcla terra c ou urn movimento dos assentados. Os encontros nacionais tornaram-se cspa<;os de dcfini<;ao das linhas politicas do Movimento nas suas rclayiies intemas e externas. No continuo da !uta pcla terra, ocupando, negociando, conquistando, da mesma fonna participava da !uta pcla rcforma agraria, acompanhando os dcsdobramentos do Plano Nacional de Reforrna Agraria (PNRA), bem como a questao da terra na Constituinte. Se, de um !ado, os avan<;os foram notaveis com as ocupa<;iics de terra que formou/territorializou o MST, por outro !ado, o fracasso do PNRA c a fal:icia da refmma agraria na Constituinte foram vcrgonhosos. Sao marcas rcveladoras dos obstaculos enfrentados naquelc momenta de reconstruyiio da dcmocracia brasileira. Assim, se numa parte do campo politico institucional, os latifundi3rios foram vitoriosos, por outra parte, rompendo com as ccrcas, conquistando a tcna, construindo a democracia, os scm-terra dcram os primciros c fundmncntais passos para a forma<;ao do MST.
Na !uta pcla democratiza<;ao do acesso a terra, os scm-terra tambcm vivcram diferentes experiencias de rclayOes com as instituiy5cs que contribuiram como proccsso de forrnayao do MST. Nesse periodo houve csfor<;os, por mcio de debates e embates entre os trabalhadorcs c as institui106es, para constru<;ao da autonomia do Movimento na manutcn<;ao da articulayao das for<;as politicas atuantcs nas lutas pcla terrae pela refonna agraria. Dcssa forma, foi construido o importante espa<;o politico de organizayao camponesa, onde nasceram pniticas c ay5cs fundamentais na consolidayao c na forma91io da identidade dos scm-terra.
Construindo a estrutura organizativa: formas de organiza~ao das atividades
Dessas lutas rcalizadas pelas familias scm-terrae das reflexiies e estudos das hist6rias de movimentos camponeses precedentes, nasceram as cxpcriCncias de constru<;ao da forma de organiza<;ao do MST. Forma em movimento, modificando-se e dimcnsionando-se confonne as necessidades nasccntcs na marcha das transformay5es das realidades, tornuu-se a !6gica da organizac;iio dos sem-terra. E assim, homens,
171
mulhcres, jovens c crianyas foram fazcndo o Movimcnto. Do mesmo modo que niio se pode ignorar o MST no proccsso hist6rico da fonna<;iio camponesa na !uta pcla terra, n3o e possivel comprccnde-Io na sua essCncia scm conhccer as lutas dcsenvolvidas pclas familias sem-terra. Essas familias sao e sustentam o MST. Essas pessoas nascem na I uta, nos trabalhos de base, nas ocupa<;6es, nos acampamcntos, nos asscntamcntos, gcrando os rcspons{lVeis pcla cria~ao da forma c coordcnay3.o do Movimcnto. Ncsse processo de constrw;ao das cxperiCncias nasceram as ncccssidades que rcsultaram em diversas comiss6es, cquipcs, nUclcos, sctores c outrasfOrmas de atividades em que se organizaram para discutir, rcfletir c praticar a !uta pcla terra em todas as suas dimens6es. Elas fazcm-sc c refazcm-se, organizando-sc para ocupar, para o trabalho na terra, para a educa<;3o, para a formayao politica, para resistir, para sercm clas mesmas, para cxistiretn cmno camponeses.
Desse modo, o MST foi construindo sua forma alicer9ada na necessidadc de organizar as atividades essenciais para o seu desenvolvimcnto. Processo c mudanya sao elementos in1portantes da dimitnica dos movimcntos sociais30
. Essas sao fortes caracteristieas do MST, de modo que quando se cstabeleec uma atividade, ela esta sendo praticada lui tempos, porque a fonna surgiu da praxis e nao de um projcto previamente elaborado. Diga-se a proposito, cssa 6 uma earacteristica da propria gera<;iio do MST, que foi sendo concebido, fom1ando-se na marcha da !uta, fazcndo este nome durante pclo menos quatro anos de gesta9ao (1979-1984 ). Assim, uma atividade se estabelccc e reccbe um nome, fundmnentando a fom1a de organizayao dos sem-ten·a. Ao sc dcnominar uma forma, procura-sc dinamizar aquela a<;3o como procedimento para a constru<;iio c consolidayao do Movitncnto, cspacializando-o na sua tcrritorializay3o. Do mcsmo modo que a atividade C incorporada na forma de organiza<;iio, tambcm siio as pcssoas, que podem atuar na coordenayao daqucla atividade pclo envolvimento, dedica<;ao e destaque que tcve no seu desenvolvimento.
Durante o proccsso de constru<;iio da forma de organiza<;iio do Movimento, os scm-tCJTa foram dcscnvolvcndo procedimcntos indispcnsaveis para a qualificayao da I uta. Entre esses procedimcntos, pode-se dcstacar o dimensionamcnto c a intcra<;iio das atividades: forma<;iio politiea, eduea<;ao, produyao, administra<;iio, comunica<;ao. Dcsse modo, foram fazcndo, estudando e refletindo, procurando superar os desafios. Evidente, que alguns desatios foram superados e outros estao em paula. No desenvolvimento das cxperiencias erram, accrtam, retomam no movimcnto dialCtico do fazer sc desafiando. Nessc processo praticado para o aprcndizado c compreens5o das qucst6es rclativas as atividadcs que dcscnvolvem, ou seja: os sctorcs em forma<;ffo, tomaram como refcrencias os trabalhos de diversas matrizes tcOricas e praticas politicas. Ha do is con juntos de pensadores, cujos trabalhos tivcram intlucncia ncsse processo: os universais c os nacionais. No prirneiro, constam, entre outros: Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir II itch Lenin c Rosa Luxcmburgo. No segundo, eonstam entre
30. Vcr a rcspcito: Gohn. Maria da GlOria. TC'oria dos m01-imentos sociais. Silo Paulo. Loyola, 1997, p. 25\s. S ztompka, Piotr. A sot 1ologia da nnufunra social. Rio de Janeiro: Civilizayao Brasilcira. l99X, p. 480s. Tarrow, Sidney. Pmt·er in )Jm·emenl. Cambridge. Cambridge University Press, 1994, P- Xls.
172
outros: Caio Prado Jimior, Josue de Castro, Cclso Furtado, Manuel Correia de Andrade, Paulo Freire, Florestan Fcmandes. Jose de Souza Martins, Leonardo Boff e Frei Betto. Ccrtamente, pcla trajct6ria do Movimento, muitas expericncias hist6ricas c dirigentcs politicos tiveram e tcm influcncia na !uta dos Trabalhadorcs Sem Tcn·a. Entre outros, constam: Emiliano Zapata, Chc Guevara, Luis Carlos Prcstcs, Gandhi c Martin Luther King, Zumbi dos Pal mares, Canudos, Contcstado, Ligas Camponcsas31
.
Por mcio dcssa praxis, dcscnvolveram as ocupayOcs massivas que rcsultaram nos processos de fonnay3.o c tcrritorializayao do Movimcnto. A ocupayao C uma fonna de I uta, C uma ac;Uo popular que comprccndc tempo c cspayo na transfonnay3o da rcalidade. Portanto, C prcciso distinguir o ato de ocupar com o proccsso de ocupayao. 0 ato de ocupar C urn momenta dcssc proccsso, que sc inicia na fonnayao dos grupos de familias, na realizayao dos trabalhos de base c dcscnvolve-sc no acampamcnto, nas ncgociayOes, nos cnfrcntamcntos, nas manifcstayOes, na conquista da terra c nas lutas scguintcs. Esta contido no que conceituci de espacializa(clo e territorializac,:iio da !uta pel a terra 3
"2. Na constituiyfi.o da forma do MST, os scm-terra foram organizando as atividadcs da !uta e scu dcsdobramcnto. 0 conjunto de atividades dcsenvolvidas porum grupo de pcssoas no proccsso de ocupayfi.o e conquista da terra, dcnominou-se sctor de Frcntc de Massa. Na constru<;iio da forma de organiza<;iio do MST, o tenno sctor tornou-sc uma dcnominayao final, num proccsso de nomcay3o das atividadcs que se utilizou de tennos como: comissao, nUcleo, cquipe, colctivo etc. Dcssc modo, foram nomcando as atividadcs na constru<;ao da forma de organiza<;iio do Movimento. Gcradas pcla ncccssidade da !uta, foram scndo modilicadas ate sc cstabclecercm.
0 set or de Frentc de Massas rcaliza as primciras atividadcs, pclas quais en tram as familias que passam a compor o MST. Esse sctor faz a tra-..-·essia das pcssoas de fora para dcntro do MST. E no dcsenvolvimcnto dessc processo de !uta popular, na construy:lo da consciCncia c da identidadc com a I uta e com o Movimento, os scm-terra v:lo sc fazcndo ,vcm-terra33
. De sse modo, tornar-se sem-tcna C rna is que ten tar supcrar a condiy3.o de scr scm-terra, C possuir o scntido de pcrtcnya e a idcntidadc com os principios dessc movimcnto campones. Assim, participando das ocupa<;iies. as pcsso-
31. A respcito Jesse assunto. \Tr mais em SteJ!lc, Joiio Pedro e Fcmandcs. Bernardo Manyano. Rm1"11 genre. it/rujc
l!lrio do MST e u !uta pel a lcrru no Brosd SJ.o P;:IU!o: Editora Fundayii.o Pcrseu Abramo, 1999.
32. V <.T a rc;,peito: l·crnandcs. lkm<~rdo Maw;ano. ;\1ST: formartio e territoriali::.wJio. Siio Paulo: llueitcc, l 996a. p. nss.
33. No::. dicionc'trio,;, o voc:ibulo '"scm·tcrra" aparcccu pc!a primcira vcz dcfinido como: scm-terra slg. ln. [)esigna(,·lio S1!no-polil iu1 de indil"iduo du me1o rural scm JWUJWiedadc e sem traballw, na 14" cdu,:<i<l Jo 1111 nidicionftrio Lutl 1 1998). !nclu::.ivc foi motivo de debate entre espccialistas em cstudos gramaticais. porquc, segundo a regra da lingua. nas pa!avras compostas se flex ionam os substanti \"OS, de modo que confonnc a ''lei gramatJ<.:al"' dcvcria sc c:;crc\ cr os scm-tcrras. Todavia. o termo foi consagrado no singular c quando sc pronuncia ou sc cscrcvc. est[\ subcntcndida a noyiio de trabalhadorcs scm-terra. Vera rcspcito: Martins. Eduardo. Com tudas as le/ras. S:io Paulo: ( J f:"stado deS. ['aulu, l 9lJ9. TambCm. rompcndo com as rcgra~. C i111portantc salicntar que o nome oficial do MST C ~1ovirnL·nto dos Trabalhadorcs Rurais Scm Terra. scm o hlfcn. Jit, quando nos rcfcrimos Us pcssoas vinculadas ao MST. a~ dcnominamos scm-terra (com hi fen). Em tempo: o novo Diciomirio AurClio (1999) tambCm incorporou o \oc~'tbu!o, todavia numa (kfini-,:ii.o muito pobn:: /Jiz-sc de, u/1/rahalhador mralque mlo possui, 011 mio dispt1e de lern:no no qual possa exercer sua atil"idade.
173
as tomam-se integrantes e na espacializayao da luta, muitas, em diversos graus de vincula.;ao, passam a atuar nas difcrcntes atividadcs da fom1a de organiza.;ao praticadas no acampamcnto, como por exemplo: educayao, fonnayao, cmnunicayao, frcnte de mas sa etc. Nessa fOrma em movimentu sfio criadas as condiyOes de participayfio para a organiza<;iio do Movimcnto. Ainda, no dcsdobramento da !uta, na implanta<;iio dos assentamentos e pelo dimensionamento das atividadcs, forrnarn-se militantes que participam dos setorcs e das inst;incias de reprcscntayiio, fazendo parte das coordena<;rJcs e dirc<;ocs do MST, nas escalas: local, regional, estadual c nacional. Essas cxperiCncias transformaram-sc em desafios c, portanto, em lic;Ues da !uta, confonne anidisc c reflexao de Bogo, 1999, p. 47.
i; preciso mobihzar cada vez mais amp/as massas, pois de/as e que vem a fon,'a de tran~'fOrm(J(;rlo. A1as internamente, no Movimento, deve desenvolver-se uma estrutura orgdnica, all-aves de setvres, comissOes e nLicleos e outras.fi.Jrmas que possibilitem aglutinar as pessoas, distribuir o poder, exercitar e praticar a democracia, procurando sati4Uzer Iadas as necessidades dos seres humanos que de/a participam.
• 0 sctor de Frcntc de Massa e, portanto, a "porta de entrada" do Movimento. E cs-
payo/tcmpo de luta e transformayao, e o quando e o onde se inicimn as trajet6rias de participa<;ao na !uta c na constru<;iio do MST. Os scm-terra que trabalham ncssa atividade descnvolvcm o processo de cspacializa<;iio do Movimcnto. Ao sc dcslocarcm para outros municipios, outros cstados, outras rcgiocs, realizando o trabalho de base na cidade c no campo, fonnando novas grupos de fan1ilias, recriando cspayos de socializa<;iio politica, rcalizando novas ocupa<;iies, tenitorializam o MST. Muitos jovcns militantcs, nestajomada de luta, constituem suas familias em terras distantes de scu Iugar de origem, suscitando sonhos, plantando a bandeira da luta. Com cssa pnitica estao (rc)fazcndo-se pennanentemente no cnfrentamento como proccsso cxpropriador, abrindo brcchas nas rcalidadcs, transformando-as. E assim, vao construindo seus projetos politicos, sua forma de organizayiio, descnhando urn novo mapa da geografia da I uta pcla tcna c escrevcndo suas hist6rias. Outra atividade descnvolvida nesse processo foi a formayao sociopolitica dos sem-terra, que tambCm sc configurou em sctor.
Ha varios momentos e distintos lugares de formayao social e politica na luta pela terra. A participa<;iio efetiva na !uta, no proccsso de oeupa<;iio, negociayao, enfrcntamento etc., gcra urn aprendizado politico pel a propria cxpericncia vi vida, quando se constr6i importantcs refcrenciais para o seu desenvolvimento. Mas a mobilizay5o C uma parte da fonnayao efctiva na eonstru<;iio da conscicncia e identidade sociopolitica. AI em da mobiliza<;iio c preciso aperfei<;oar a organiza<;iio. A pratiea soeiopolitica desenvolve-se no cotidiano, nos trabalhos de base e no dimcnsionamento dos espayos de socializa<;iio politica. Mas niio e o suficicnte. E preciso pensar, estudar, analisar, contextualizar a I uta no processo hist6rico da resistencia carnponesa, no desenvolvimento da agricultura e do sistema sociopolitico e econOmico. Esses referenciais sao compreendidos por meio do dialogo, do debate, da leitura, da rcflexao em momentos
174
e lugarcs especificos. Dessa rcalidade surgiu a ncccssidadc de se criar uma atividade de fom1ayiio, que dcpois foi dcnominada de Sctor de Fonnayiio.
Na segunda metade da decada de 1980, diferentes atividadcs foram criadas, proporcionando outros espayos de socializayiio polftica para a fonnayiio dos militantcs. Uma das atividades de formayiio foi rcalizada em con junto como movimcnto sindical, vinculado a Central Onica dos Trabalhadores (CUT), quando organizaram cursos peri6dicos de fonnayiio politica, que foram chamados de escolas sindicais c que recebcram os names de do is sindicalistas e um religioso assassinados na !uta pela terra. Para os cinco estados do Sui (RS, SC, PR, SP c MS) denominaram Escola Margarida Maria Alves; para os Estados de MG, ES, BA, SEe AL, o curso reccbeu o nome de Escola Eloy Ferreira Silva e para os Estados do MAe PA, a escola foi nomeada de pe. Josimo Moraes Tavares. Par meio desses cursos os trabalhadorcs procuravam articular os estudos refercntcs a organizayao ccon6mica, social e politica da sociedadc com as praticas vivcnciadas na I uta, fomentando a consciCncia critica e declasse. Os eursos duraram ate final da decada, quando a crise de perspectiva do movimcnto sindical fez diminuir a participayiio dos sindicatos, inviabilizando a continuayiio da atividade.
Desdc maryO de 1990, o MST organizou a primeira escola nacional, o Centro de Capacitaviio Contcstado, que funciona no municipio de Cayador, em Santa Catarina. Ncssc cspayo sao realizados diversos cursos para atcnder a fonnayao dos scm-terra que atuam nos diversos sctorcs do Movimento. Pela propria neccssidadc, o processo de forma(:iio tambcm foi dimensionado, na tentativa de suprir as carencias para a qualificayao dos sctores. Dcssc modo, o MST associou formayao c cscolarizayao, criando cursos supletivos de primeiro e segundo graus e Magistcrio e Tccnico em Administrayiio de Cooperativas. 0 conjunto das atividadcs na fom1ayiio do Movimento csta associado aos distintos momcntos da vida na !uta, dcsde a organizac;iio das [amilias na ocupayiio c no acatnpamento, ate a implantayao c desenvolvimento do asscntamento. Esse proccsso transformador de realidades faz emergir necessidades que se refcrcm, espccialmentc, a formayao educacional c profissional. Nessa !6gica de organizw;iio da forma em movimento, as atividadcs se intcragem c se distinguem no fazcr-se da luta. Dessc modo, os cursos assumiram caracteristicas diversas, atendcndo outros setores emergentcs, como par excmplo educayao e produyiio.
Para a formayao em todas as dimensoes da !uta, o MST fomentou a publicayiio de cadernos, bolctins, livros, textos, que subsidiaram os estudos nas divcrsas frcntcs de atuayiio, utilizados para a formayao nos diferentcs espayos de socia!izayao politica. Tamb6m canton com a colaborayao de cientistas e asscssores. Na cole,ao Cadcmos de Forma,ao, iniciada em 1984, foram publicados temas referentes aos problemas e desafios enfrentados pelo MST, como por exemplo: a organizayiio do Movimcnto, o Plano Nacional de Rcfonna Agraria (PNRA), a rcforma agn!ria na Constituintc, arelayao Jgreja-Movimento, teoria da organizayao, sindicalismo, a participayao da mulher, ocupayiio e conquista da terra etc. Estes tcmas tambem foram publicados, de forma rcsumida, no .Jamal dos Traba/hadores Rurais Sem Terra. Estc pcri6dico dcrivou
175
do Bo!etim b?fOrmativo da Campanha de Solidm·;edade aos Agrh'ultores Sem Terra, cujo primeiro ninnero foi publicado em maio de 1981, no Rio Grande do Sui. Em julho de 1982, o Boletim passon a ter eirculayao regional c dcsdc julho de 1984 come\'OU a scr publicado na forma de jornal e acompanhando a territorializayiio do MST passou a tcr circulayao nacional.
Outra neccssidade prcmcnte que lcvou os sen1-tc1Ta a constituircm uma atividade foi a cducay3.o. Desde as primciras ocupayOes, nos acampamentos surgiu a prcocupac;3.o com a cscola para as crianyas e para a alfabctizay3.o dos jovcns e adultos. Comcyaram formando comissOcs que rcuniam paise profcssores para rcivindicar c organizar as escolas nos acampamcntos c asscntamcntos. Em 1986, como dcscnvolvimcnto dcssa atividadc, acumularam divcrsas cxpcriCncias nos cstados, dcmandando uma forma de organizayao das atividades. Em julho de 1987, foi realizado o Prime ira Scminario Naciona1 de Educayao, no municipio de Sao Matcus (ES), que reuniu rcprcsentantcs de sctc cstados. Ante as dificuldades enfrcntadas para estabelccer as cscolas nos asscntamentos e, principalmentc, nos acampan1cntos, considerando que na condiy3.o de acampados, as familias estao em movimcnto e transiy3.o, nas discussOcs a rcspeito da cducay3.o na !uta pcla ten·a, fon1mlaram as scguintcs qucstOes: Como./(tzer as escolas que queremos?; 0 que queremos com as escolas dos assentamentos? Essas proposiyoes foram o ponto de pmtida para a elaboraviio de uma proposta pcdag6gica voltada para a realidade das familias sem-ten·a.
Outros cventos similares foram realizados em v3.rios cstados como objetivo de articular as ayoes em dcscnvolvimcnto para a fonna~iio do sctor. Ncssc pcriodo de formayao do MST, os scm-terra foram dcfinindo linhas politicas para a cducayao em suas cscolas. Dcntrc os desafios assumidos, procuraram cfctivar os scguintes objctivos: conhecer a rcalidade educacional dos acampamcntos c asscntamcntos; garantir junto aos govcmos cstaduais c municipais o accsso de todas as crianyas a cscola c seu plcno funcionamento; descnvolvcr uma proposta de educavao que tambem tenha como parametros a rcalidade em transfonnayao da comunidadc; construir principios pedag6gicos para a valorizayao do trabalho cooperativo e desenvolvimcnto do asscntamento; intcgrar a escola e os profcssorcs na organizac;3.o dos assentamentos c acampamcntos; fomcntar relayOcs com cducadores e instituiyOes para desenvolvcr cursos de capacitay3.o c formay3.o de professorcs; investir em programas de alfabetizaviio de jovens e adultos.
Assim, a !uta pel a terra dimensionou a !uta pcla cducayao. De acordo com Ca1dart c Schwaab, 1991, p. 86;
176
Quando a organ;zac;iio do MST CJ·;a em sua estrutura um Setor de Educar;iio, deixa para trds a concepc;iio ;ngi!nua de que a !uta pela terra C apenas pel a conquista de wn pedac;o de chZio para produzh·. Fica clara que estti emjogo a questcio mais amp/ada c;dadania do trabalhador rural sem-terra, que entre tantas coisas h1clw· tambCm o direito a educa(Jio e a escola.
AI em de serum direito de toda comunidadc prcocupar-se como descnvolvimento da educayfio de scus filhos, a organizay:lo para lutar por escolas nos acampamcntos e assentamentos foi uma forma que os scm-terra criaram para fortalccer o Movimcnto em seu proccsso de consolidayilo. Ncssc sentido, procuraram cuidar da formay3o educacional. A escola precisava serum espayo de construyao de conhecimcntos voltados para o descnvolvimento da nova realidadc que as familias estavam construindo em sua inscn;ao na socicdade. Nao podcria scr um espayo dcsagrcgador ou que dcscnvolvesse atividades alienantes a suas rcahdades. Nos trabalhos de educay:lo, cnfrentando difi.culdades relacionadas como alto grau de analfabctismo co baixo indice de cscolarizayao, foram construindo e disscminando a cmnprecnsao da importfrncia da formayao cducacional para o desenvolvimento sociopolitico e ccon6mico dos asscntamcntos. Em 1990, iniciaram a prodw;ao de um tcxto que foi publicado, em 1991, na colec;:ao Caderno de Fonnayao como scguintc titulo: 0 que queremos com as e.YCOlas de assentamentos. 0 texto foi trabalhado nas cmnunidadcs com a finalidadc de fomcntar o debate a rcspcito da elaborayao de um projeto de cducayao para suas cscolas e para a fmn1ayffo educacional dos sem-terra.
Nesse texto foram aprcsentados os contelldos das discuss5es aeumuladas, rcunindo proposiy5cs e motivando a rcflexao de quest5es selecionadas, para sc pensar a escola dos assentamcntos e promover o debate nas comunidades. Entre os diversos tcmas abordados, destacava a rcla<;iio escola-MST, enfatizando a participayao das crianyas na vida do assentamento e do Movimento, bem como estes na vida da escola; a rcla,ao educa<;ao-trabalho, concebcndo a imporlancia do trabalho cooperado para o descnvolvimento da produ<;ao; a defesa dos val orcs das familias e da organiza<;ao de classc, construindo a consciCncia da nccessidade de fonnar sujeitos da hist6ria; invcstir na formay8.o educacional, aprcndendo as rcalidades local e geral c integrar as professoras e professores no Setor de Educa<;ao. Esses trabalhos possibilitaram, com as dificuldade inercntcs ao proccsso de construyao de uma forma de organizayao, o aumento da participa<;ao das maes e dos pais, das professoras e dos professores, das criam;as c jovens na articulay3o do setor, que comeyava a ser formado nos acampamentos, nos asscntamentos e organizavam coordcnay5es cstaduais.
Em 1991, comc.;aram a elabora<;iio de um novo texto que cireulou pelos cstados: nos encontros locais, rcgionais e estaduais, para debate, sugcst6es, criticas e complementa<;iies. Em 1992, esse texto foi publicado no primeiro Cademo de Educa<;ao: Comofazer a escola que queremos. Nessa publicayffo, apresentavam o primciro esboyo de um curricula ccntrado nas refcrCncias construidas pclas expcriCncias c nos di3logos com educadores de v3rias universidades. Com esse docmnento iniciaram as discussiies sobrc a participa<;ao na organizayao da cscola. Discutiu-se o planejamento das atividades cscolares, os conteudos das diferentes areas do conhecimento, as formas e instrumentos de avalia<;iio etc., expandindo as pniticas pedag6gicas, superando vclhos problemas e construindo novas desa!ios. Desse modo, os scm-terra descnvol-
177
veram os trabalhos fundamentais que vieram a eonsolidar o Setor de Eduea<;ao na forma de organizac;ao do Movimento34
.
A organiza<;ao do trabalho e da produ<;ao nos assentamentos foi outra neeessidade iminente no processo de fom1a<;ao do MST. Essas relac;oes sao, sem duvida, urn dos maiores desafios do Movimento. Desdc o principio, com os primciros assentatnentos, cxistiarn prcocupay6es esscnciais rcferentcs a resistCncia dos scm-terra ao proccsso exprop1iador do modclo de desenvolvimento econiimico da agricultura. Afinal, grande parte das familias que lutaram c conquistaram a terra haviam sido cxpulsas ou expropriadas desdc a implantac;ao dcsse modclo35
. Por cssa razao, os scm-terra come<;aram a discutir o dcsenvolvimento da cooperac;ao agricola numa perspcctiva econ6mica e politica da resistCncia. Pel a prOpria /Ogica de sua fOrma em movimento, essas atividades comcc;aram a ter suas bases estabelecidas a partir das cxperiencias vividas e dos debates c reflexocs a respcito das teorias do desenvolvimento do capitalismo, quando procuravam criar difcrentes modos de organizayao coopcrativa nos assentamcntos. Com suas pr6prias hist6rias tinham aprendido que isolados cram prcsas faceis c que organizados fm1aleccriam a rcsistencia constante, condic;iio fundamental para manterem-se na terra.
De 1980 a 1985, as cxperiencias rclativas ao trabalho e a produc;ao nos asscntamentos baseavam-se no trabalho familiar individual e na formac;ao de grupos colctivos. Ncsse periodo de gcstac;ao c nascimcnto do MST, cssas formas foram estabclccidas sem que houvesse urn debate amplo a respcito das fom1as de coopera<;ao e dos problemas que cnfrentavam com a inexistcncia de credito agricola. No periodo de 1986 a 1992, intcnsificaram os debates a respeito da coopera<;ao agricola. Das amilises fcitas a partir das discussiics, dos cstudos referentcs ao dcsenvolvimento da agricultura no capitalismo e dos desafios enfrentados, construiram a concepc;ao a respcito das rcalidadcs que tinham que dar conta. Nao poderiam trabalhar s6 com as referencias do tempo pret6rito, prccisavam de novos refcrcnciais para rcsistir no prescnte e construir o futuro. Desse modo, foram claborando as primeiras noc;iics do modelo de cooperac;ao agricola que comcc;aram a desenvolver.
Nessa praxis, demarcaram OS principais fundamentos dessa atividade: nao separar nas lutas pcla terra c pela rcforma agraria a dimensao econ6mica da dimcnsao politica. Procuraram formar a comprccnsao de que a luta nfio termina na conquista da terra, mas que continua, fortaleccndo a fonnac;ao do MST, ao organizarcm simultaneamente a coopera<;ao agricola e as ocupa<;iies; invcstir scmpre na formac;ao dos scm-terra para a qualificac;ao pro fissional necessaria ao trabalho em vista das transfonnac;ocs da estrutura produtiva. A maior parte da populac;ao scm-terra foi cxcluida da educa<;ao b:isica, condi<;ao importante para acompanhar o descnvolvimento tccnol6gico;
34. A rcspcito do proccsso de forma(,':fi.o do Sctor de Educayiio do MST, vcr: Ca!dart, 1997.
35. Vcr no capitulo 1: A intcnsificao;;iio da qucstil.o agri1ria.
178
criar diferentes fonnas de coopera9iiO e lutar por urn programa de crCdito agricola para os assentamentos rurais. Esses principios iriam pcrmcar o movimcnto dcssa atividadc na construyao da fonna de organizayao do MST.
Em abril 1986, o MST promovcu urn cncontro nacional dos assentados, quando surgiu a proposta de se criar urn outro movimcnto, somcntc de asscntados. Todavia, atravCs das discuss5cs a rcspcito dos principios do MovimentO, os scm-ten-a superaram cssa concepyao desagregante. Estava em fonnayao a Comissao Naeional dos Assentados do MST que comevou uma serie de trabalhos para rcunir e diseutir as dificuldades enfrentadas pelas familias. Fizeram v3rias rcuniOcs no cntao MinistCrio da Rcfonna e do Dcscnvolvin1cnto Agnirio, em Brasilia, para rcivindicar crCdito custeio e comeyaram a tOnnular um programa de crCdito para os assentados. Na epoca com o apoio de um membra da dirctoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico c Social (BNDS), iniciaram as discussocs a respeito de propostas para a cria9iio do programa. No final dcssc ana, haviam claborado o Programa Especial de Credito para a Reforma Agrilria (Proeera), que veio a sera principallinha de eredito dos assentados.
Con1 o scu descnvolvimcnto a Comissao tornou-se setor dos assentados, que realizou eursos de formayao tecnica e ampliou o debate a respeito da cooperayiio agricola. De 1987 a 1989, o setor invcstiu na criaviio de difcrentes associa9iies de produtores, que cram fonnadas par familias, individualmente, ou por grupos colctivos. As expcriCncias de coletivizay5o cram diversas c poderiam incluir rccursos c atividadcs, de fonna integral ou parcial, como par exemplo: tm\quinas, terra, trabalho, comcrcializa<;ao etc. Alem da organiza<;ao da produ<;ao, tratavam das melhorias soeiais da eomunidade, como cscolas, espa<;os publicos, estradas, pastas de saude, etc. Em outubro de 1988, no municipio de Palmcira das Missiics (RS), o MST rcalizou o Primeiro Laborat6rio Nacional Experimental para forma<;iio de organizadores de empresas.
Ate 1992, foram realizados varios laborat6rios organizacionais ou cxperimentais de campo, em diversos estados, para fonna<;iio de cooperativas de prodw;ao. Os laboratories sao uma metodologia de capacita<;ao mass iva, criada par Clodomir Santos de Morais36
, para a organizayao de comunidades. Tern por objetivo a transmissao de conhecimcntos para a construc;5o de uma consciCncia organizativa, visando a melhoria das condi<;iies de vida, par meio da criaviio da organiza<;ao cmpresarial37
. Os laborat6rios cram realizados nos assentan1entos por grupos de familias interessadas em formar, por exemplo, urna coopcrativa. Durante trinta ou quarenta dias, as pessoas estudavam as formas de organiza<;iio do trabalho que iriam utilizar na implantayiio da em-
36. Clodomir trabalhou com as Ligas Camponcsas, contrapondo-sc a !idcram;a de Francisco Juliao. Foi prcso c cxilado durante a ditadura mi!itar. No exterior, foi consultor do Fundo das Na~Yi'lcs Unidas para Alimenta~iio e Agricu!tura (..-AO), para assuntos de rcfonna agriiria c movimcntos camponcscs, em diversos paiscs da AmCrica Latina. E professor da Univcrsidadc federal de RondOnia e professor visitante da Univcrsidadc Aut6noma de Chapingo. MCxico.
37. Vera respcito: Morais. Clodomir Santos de. Elementos sabre a tcoria da organiza!Yii.O. Cudemos dej(Jrmuc;iio, 11°
l !. Silo Paulo: MST, I 986; Correia. Jacinta Castelo Branco. ComunicarJio e calmcila~·iiv. Brasilia: lattcrmund, 1995.
179
presa. Estirnulava-se a divisiio do trabalho co coletivisrno, criando-sc divcrsos setares de atividades c de produyiio, para intensificar a produtividade e melhorar os resultados econOmicos. A maior parte das expcriCncias dos laborat6rios nao se consolidaram e os scm-terra abandonaram a metodologia.
Essas cxpcriCncias rcccberatn v<irias criticas, algumas contundentcs, como foi a de Navarro, 1994, que realizou urna pcsquisa no asscntamcnto Nova Ramada, no municipio Julio de Castilhos (RS). 0 tear das criticas do soci6logo Zander Navarro, da Universidadc Federal do Rio Grande do Sui, refere-sc ao contcudo da proposta c suas perspectivas, como aprcsentado a seguir:
"Evidentemente, derrando de !ado um comentilrio critico propriamente ana!ill"co em rela~·iio a est a propos/a- como man(fi!sta a aherra(·clo anlropo!Ogica que a fimdamenta, ignorando a histrlria social dos agricultores e as dijCren<r·as sOcio-culturais, para niio discutir aqui a extremada simplfjica('clo de wn processo dito como 'educacional!- e importante assinalar a sua dhvia conseqiiCncia ern termos de adesiio a uma vi.wlo tradiciona/ defonnato tecno!Ogico para a agricultura. Se os ol~jetivos do lahoratOrio cram (e tCm sido).fOrmar empresas capazes de competir no mercado, principalmente a partir de uma estruturcu;:iio in lerna similar a 'grande propriedade empresarial ', e apenas urn a conseqth}ncia imediata que a escolha da base tCcnicafusse aquela encontradi~·a em tais empresas, mt seja, uma agricultura em grande escala, .f(Jrtcmente presa d monucultura mecanizada e in tens iva ao uso de insumos agroindustriais, inclusive agroquimicos. Niio swpreende, purtanto, que a distiincia entre o lv/ST e os profissionais preocupados com compreensOes a/ternatiFas de desenvolvimento produtivo no carnpo logo se acentuasse"(Navarro, 1994,p.l4).
Essas cxpcricncias tambem gcraram uma avaliayao critica par parte do MST, confonnc relata Stcdile:
180
"A propos fa do laboratOrio organizacional mostrou ccrtas limila<·cJes ... Niio deu certo porque, em prime ira Iugar, o mCtodo C muito ortodoxo, muito rigido na sua ap/icar;iio. Em segundo, porque e/e ndo e um processo, e muito estanque. Ou seja: tu rezJncs a turma e em 40 dias tem que sair com a cooperativa. A experiCncia nos assentamentos 110s mostra que esse processo e mais Iento. Em geral OS grupos de coopercJ~·ao agricola jcl w?m se formando nos acampamentos em fiau;Go de C{/inidades que viio se criando. Niio estou discutindo se isso e certo ounclo, Ol/ se e par isso que a cooperw:;iio se desenvolve ou.fTacassa. 0 que estou dizendo que nossa e.\periCncia C essa. Ou seja, quando lent amos aplicar um sistema rigido, niio deu certo. Par outro /ado, o metodo do Clodomir teve uma grande utili dade ao nos abrirpara essa questiio da consciCn-
cia do campones. Ele trouxe um conhecimento cient(fico sabre isso. 0 seu !ivro sabre a teoria da organizGl;·iio mostrou com clareza como a organizacJio do trabalho influencia nafOrmGl;iio da consciCncia do campones" (Stedile e Fernandes, 1999, p. 99-100).
Do mesmo modo, a avaliayao de Navarro foi assim entendida dentro do MST:
"ElejCz um estudo de caso sobre a cooperativa Nova Ramada para bater em toda nossa experiencia de cooperar.;Ziu agricola. Ora, see um cstudo de caso, niio dci para generalizar. Espec(jicamente sabre a situacJiu da Ramada, e aquilo mesmo que ele escreveu. Se criamos umaforma de cooperGl;do que nao era adequada ds condi~·Oes o~jetivas e subjetivas daquele Iugar. nau significa que a forma est a en·ada" (Stedile e Femandes, 1999, p. 103).
Nessa trajct6ria de erros e acctios, de desafios e supera<;Oes, os scm-terra vivcram diferentes experiCncias na perspcctiva de espacializar as fon11as de coopcra\3.0 agricola. De modo que os anos 1989 a 1992 rcpresentaram um periodo de maturayao das propastas c projctos que cstavam implementando. De fato, os sem-ten·a se desafiaratn e provocaram difcrentes rcay6es as suas cxperiCncias de coopera\ao. Nao obstante, os fracassos tamb6m foram li96cs aprendidas que os fizcram superar pratieas malsuccdidas e rctirar dclas difcrcntes id6ias, compreendendo ainda mais as extensocs dos desalios para desenvolver a agricultura camponcsa. No final da d6cada de 1980 e inicio dos anos 90, surgiram as pritnciras pcsquisas c amlliscs a respcito das associa\Ocs de coopcray:io agricola (De Lannoy, 1990) e desenvolvimento econ6mico dos asscntamcntos (Zarnberlarn c Floriio, 1989; Zambcrlam, 1990; Giirgen c Stcdilc [ org.], 1991 ). Todas essas pnlticas, pcsquisas, estudos e ref1ex6es foram trabalhos scminais que resultaram na construyao de uma proposta de cooperayao agricola ainda mais ampla.
Em 1989, existiam 730 assentamcntos, ondc viviam 110.913 familias, em 5.540. 290 ha. Vale rcssaltar a incxistCncia de uma politica agricola para a agricultura camponcsa, de modo que as iniciativas dos scm-terra cratn os Unicos trabalhos voltados para transformar cssa rcalidadc. Haviam conquistado uma linha de crCdito- o Proccra- c cstavam gcrando experiCncias para estabclccerctn as bases da coopcra\fiO agricola, condiyao fundamental para o dcscnvolvimento dos assentamentos. A dcspcito das dificuldadcs que enfrentavam com a organizayao dos asscntamcntos, haviam criado "mais de 400 associw/5es de produtores assent ados em d(/€rentes niveis de organizw;ao e coopetm;ao .. (ANCA, 1990, p. 9). Nos assentamcntos cxistiam problemas de ordens diversas: falta de infra-estrutura social basica, baixo indice de mecaniza,ao, dificuldade de annazenamento, trans porte c comcrcializayao da produviio, baixa produtividadc etc. (id., p. 7). Portanto, suas iniciativas cram as unicas, ja que nao havia outras instituiy6es preocupadas com essas quest6es.
I~ I
Para o avanyo da organiza,ao, dcsde o segundo scmcstre de 1988, os scm-terra trabalharam na fonnayao do Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA). Esse sistema formalizaria a organizayao ccon6mica dos asscntamentos em cooperativas. 0 SCA estruturou-se em tres nivcis: cscala local ou microrregional com Cooperativas de Produyao Agropecuaria (CPAs); cscala estadual, com centrais de cooperativas c escala nacional com a criayao de uma confederayao. Desse modo, no Rio Grande do Sui, Santa Catarina, Parana, Espirito Santo, Bahia c Ceara, em cada um desses estados, inauguraram trcs cooperativas de produyao objctivando a fundayao de cooperativas ccntrais estaduais (MST, 1993b, p. 42). Esse proccsso se firmou em maio de 1992, com a criayiio da Concrab (Confedcrayao das Coopcrativas de Rcforma Agriria do Brasil). Durante a d6cada de 1990, o SCA foi dimensionado pclo con junto de cxperiencias construidas pclos asscntados e se consolidou, ampliando a forma de organizayao do Movimento.
No proccsso de fonnayao do MST, outra atividadc inerentc 6 a qucstao de genera. A I uta pela tcna e uma ayao da qual participa, prcdominantementc, a familia. Desde OS trabalhos de base, 0 nucleo gcrador da OrganizayaO 6 composto pclos grupos de familias. Mesmo quando alguns mcmbros nao participam cfctivamente no proccsso de forrnavao da I uta, a refcrcncia e a unidadc familiar. As divcrsas atividades rcalizadas nas comiss5es, nas coordcnac;:Oes, nos sctorcs, nos colctivos criados nas ocupac;Ocs, nos acmnpamentos enos asscntamentos, sao fonnas e organizayao cstabelecidas pcla participayao das macs, dos pais, dos jovcns c das crian,as. Sao cspayos de emulavao a fim de incentivar a todos para tomarcm parte na construyao da I uta e resistcncia. Esse C urn dos desafios na formayao do Movitncnto, porquc continuamente corrc-sc o risco de isolar parte das pessoas, scndo que para muitos dos participantcs c a primeira expcriencia de organizaviio politica que estiio vivcndo. Para evitar o isolamento, principalmente das mulheres, dos jovcns e das crianyas, os scm-terra tomaram como objetivo a busca da cocsao como condiyao na organizavao da I uta.
Evidcnte que este e um desafio permancntc, porque a condivao de paridadc-rcciprocidade de participayao nos cspayos politicos c outra !uta. De modo que hi uma !uta dcntro da !uta. Assim, os sem-terra (em especial, as mulheres) lutaram para consolidar uma relayao mutua na organiza,ao do MST. Yivcndo esse desafio continuamente: mulhcres e homens de idades diversas participam dos difcrentes setores e instiincias do MST. A conquista da tcna 6 uma I uta da familia, portanto, a participa,ao efetiva da mulher acontece desde a genese do Movimcnto". No Primeiro Congrcsso, as mulheres compuscram a organizavao c iniciaram os trabalhos para a fonnavao da Comissao Nacional das Mulheres do MST. Em maryo de 1986, conquistaram o dircito de reccbercm lotes na implantayao dos asscntamentos, sem a condiyao de sercm dcpcndentes de pais ou irmaos. Nesse pcriodo, nos estados, as mulheres scm-terra organizaram encontros para reflexiio e avaliayiio das forrnas de participayiio na I uta. Tam-
38. Vcr no capitulo 2: A I uta dos wlonos de Nonoai.
182
bcm participaram ativamente de diversos encontros estaduais e nacionais de mulheres trabalhadoras rurais.
Desse modo, as mulheres contribuiram na formayao de todos os setores do Movimento e das instiincias politicas. Participando das ocupay6es, nos enfrcntamcntos e nas negociay6es, trabalhando nas lavouras, nas suas casas ou barracos de lona, nas escola.;;, nas associac;Ocs, nas cooperativas, no Jamal e nas sccrctarias, criararn o Coletivo Nacional das Mulheres do MST como atividade da forma de organizayao do Movimento39
. 0 Coletivo tomou-se, tambcm, um espayo de debate permanente a respeito das ay6es das mulhcres na !uta pela terra e das relayoes sociais em suas difercntes dimensoes.
Nesse processo de construyiio da fonna de organiza<;iio do MST, outros setores foram se estabelecendo. Sao os setores de Finan<;as, Projetos, Comunica<;ao, Relay6es Internacionais e as secretarias nacional e estaduais. 0 Setor de Finan<;as tem can!ter administrativo, cnquanto o Setor de Projetos oferece apoio e subsidios as sccretarias cstaduais e aos assentmnentos na elaborayao de projctos institucionais para o desenvolvimento das atividades socioecon6micas das comunidades e do Movimento. 0 Setor de Comunicayao tambem intcrage nas outras atividades como fonnayiio e educa<;iio, tendo como responsabilidade principal a cdi<;iio do Jamal dos Trabalhadores Sem Terra. 0 Sctor de Relay6es Intemacionais c rcsponsavcl pclo cantata com divcrsas organiza<;6cs de diversos paises que ap6iam a !uta do MST. Nas secrctarias sao desenvolvidas as atividades administrativas c politicas. A Secretaria Nacional e responsavcl pelos encaminhamentos c execuyao das atividades definidas pela Coordena<;iio e ou pela Dirc<;iio Nacional. Tambem tem como fun<;iio a articula<;iio entre as sccrctarias estaduais. Estas, por sua vez, articulam as atividadcs desenvolvidas nos acampamentos c nos assentamcntos.
No final da decada de 1980, o dimcnsionamento dcssas divcrsas atividadcs simultancasja envolvia milhares de pcssoas na constrw;ao do MST. Desse modo, na intera<;iio dos trabalhos dcsenvo1vidos nos anos 1985-1990, o Movimento dclincou a estrutura organizativa, que se consolidou nos anos 90. Ainda nesse periodo, os encontros estaduais c nacionais constituiram as instiincias de representac;iio, tornando-se importantes cspayos politicos, onde os scm-terra analisaram as conjunturas c trayaram as linhas de ayiio para o desenvolvimento da !uta pela terra.
Construindo a estrutura organizativa: instancias de reprcsenta<;iio
As instfrncias de representac;ao sao f6runs de decisao: mementos de constrw:;ao, rcflcxao e defini.;ao das linhas politicas do MST, que acontecem nos encontros esta-
39. A rcspcito da participar;iio das mulhcrcs na [uta c na construr;ilo do MST, vcr: Pavan, DulcinCia. As ,/!,[arias semten·as · Tn~jetOria e experiCncius de \'Ida de mulheres assentadas em Promi.\·siio ·· SP- 19R5!1996. Siio Paulo, 1998. Disscrta!):ilo (Mcstrado em H ist6ria Social). Programa de Estudos P6s-Graduados da Ponlit1cia Univcrsidadc C atOlica de Silo Paulo.
183
duais e nacionais. A fom1ayao das instancias tamb6m foi um proccsso. Na Cpoca de gestac;ao do MST, especialmentc de julho de 1982 ate janeiro de 1984, os f6runs de dccisao foram as rcunioes realizadas em Medianeira (PR) (ju1ho de 1982); em Goiiinia (GO) (sctembro de 1982); em Bela Horizonte (MG) (janeiro de 1983) e Chapec6 (SC) (feverciro de 1983), bem como o Encontro Nacional rcalizado em janeiro de 198440
. A Coordcnac;ao Provis6ria Nacional e a Comissao Regional Sui f01111adas nesses encontros dclibcraram a rcspeito das linhas politicas do Movimento em formayiio. No Primeiro Congresso foi eleita uma Coordenayao Nacional com reprcsentantes de 12 cstados, ondc o MST eslava organizado ou em vias de organizat;ao: RS- SC - PR- SP- MS- MG- ES- RJ- BA-SE-MAe RO. Dcssas cxpcricncias c em scu processo de formayiio e tcrritorializayao, foram sendo criadas as inst<lncias de representayao da organizayao do MST. Assim como as fon11as de atividadcs foram scndo denominadas no processo de construyao do Movimcnto, as inst<lncias rcccbcram divcrsos names atC tomarcm sua configurayao no inicio da dCcada de 1990.
Desse modo, a organizayao do MST 6 composta pclas scguintcs instiincias:
l- Congresso Nacional, rcalizado a cada cinco anos c que tem como objetivo a definiyao de lin has conjunturais c estrategicas, bem como a confratcrnizay8.o entre os scm-terra c com a sociedade;
2- Encontro Nacional, rcalizado a cada dois anos para avaliar, fon11ular e aprovar linhas politicas c os pianos de lrabalho dos sclorcs de atividadcs;
3 - Coordenac;ao Nacional, composta por dais mcmbros de cada cstado, clcitos no Encontro Nacional, um membra do Sistema Cooperativista dos Asscntados de cada estado c por dais membros dos setorcs de atividadcs, que sc rcimcm de acordo com um planejamento anual. E responsavcl pclo cumprimcnto das dclibcrat;6es do Congrcsso c Encontro Nacional, bem como pclas dccisocs tomadas pclos setores de atividades;
4- Dircyao Nacional, C uma rcprcscntayao composta por urn nUmcro vari3vel de mcmbros indicados pcla Coordcnac;ao Nacional. As func;ocs e divisiio dos trabalhos dos membros da Dire<;ao Naciona1 sao ratificadas pela Coordenac;ao Naciona1, que dcvcm acmnpanhar c reprcsentar os estados, bem como trabalhar na organicidadc41
do Movimento por meio dos setorcs de atividades.
5 - Encontros Estaduais, rcalizados anualmente para avaliar as 1inhas politieas, as atividadcs cas a<;6es do MST. Programam atividadcs c clcgem os mcmbros das Coordena<;6es Estadual e Naeiona1;
40. Vcr no capitulo 2: MST: gcstac.ii.o c nascimcnto.
41. De acordo com Rogo, 1999. p. 131: ··chamamox de organicidade a relariio que de1·e rer 11m a drea de a/utu;tio do murimen!o de mass as com tudas as outras, isto porque 11111 movimento socwl. 110s moldes do ,\1ST (; nwito complexv e sua conslnt('ao a tinge n/rias dimcnsrJes da Fida lwmmw ··.
184
6 - Coordcna<;oes Estaduais, compostas por membros eleitos nos Encontros Estaduais. Sao rcsponsavcis pcla exeeu<;ao das lin has politieas do MST, pelos setores de atividadcs c pclas ac;Ocs programadas nos Encontros Estaduais;
7- Direc;Ocs Estaduais, sfio rcpresentayOes compostas porum nUmero varia vel de mcmbros indicados pelas coordcnayOes cstaduais. Scus membros tambCm sao responsaveis pelo aeompanhamento c reprcsenta<;ao das rcgiocs do MST nos estados, bem como pcla organieidade e dcscnvolvimento dos setores de atividadcs:
8 - CoordenayOcs Regionais, composta por tncmbros eleitos nos encontros dos asscntados, contribucm com a organizayao das atividades rcfcrentes as instfrncias c aos sctorcs;
9- Coordena<;6es de Asscntamcntos e Acampamcntos, compostas por membros clcitos pclos assentados c acampados, sao rcspons3.veis pcla organicidade c dcscnvolvimcnto das atividadcs dos sctores.
I 0- Na fom1a<;ao das instancias de reprcsenta<;ao c dos set orcs de atividades, nos assentan1cntos c nos acampamentos, cmn maior ou mcnor vincula~ao, foram formados grupos de base. Esses grupos sao eompostos por familias, por jovcns ou por grupos de trabalhos cspecificos: educa.;ao, forma.;ao, frentc de massa, coopcrat;iio agricola, comunicac;ao, finanyas etc., que comp6em a coordenayao do asscntamento. Assim, ncssc proccsso de construy3o de forma em movimento, os sem-tcna construiram sua estrutura organizativa. Todavia, vale lembrar que cssa estn1tura estii em constantc transforma<;ao, conforme as ncccssidadcs da organiza<;iio c dcscnvolvimcnto do MST. Dcsse modo, sao nos asscntamentos, nos acampamentos, nas secrctarias, nas cscolas, nas marc has, nas ocupac:;Oes, nas diversas manifestac;:Oes, nos cncontros e congressos, nesses cspayos, momentos e territ6rios de socializay3o e ressocializay3o que o MST matcrializa sua cstrutura organizativa: das suas fonnas de organiza<;iio das atividadcs e das instancias de represcnta<;iio. E em todas clas, o senti do da organizayao C semprc por 1neio de comissOes c de tmnada de dccis6es colctivas. E irnportantc dcstacar que niio cxistem func;Oes clctivas individuais, como prcsidcntc, tesourciro, sccrctiirio etc.
Esse proccsso de fonna<;iio das instilncias foi desenvolvido, principalmcnte, durante os encontros nacionais e congressos, onde e quando sao dcfinidas as linhas politicas, para fortalecimcnto da organiza.;ao do Movimento, confonne as mudan.;as de conjunturas politicas e da qucstiio agraria, resultantes em parte pclas a<;6es clas lutas pel a terra c pel a rcfonna agniria42
. De sse modo, analisaremos a seguir as principais dccis6es dos cncontros nacionais, quando os sen1-tcrra avaliaram c fonnularam linhas politicas, bem como pensaram e planejaram os trabalhos para a constru.;ao e
42. Evidente que as mudam;as de conjunturas politicas e da qucstiio agr<'tria siio resultados de um imenso conjunto de fat orcs; das politicas govcrnamcntais e das m;iics de divcrsas instituiyOcs. Todavia. as aydcs dcscnvolvidas nas lutas pel a terra e pcla rcfOrma agniria sao fundamentals para o movuncmo e transfonnayiio dcssas realidadcs.
consolida<;ao dos sctores de atividades, procurando abranger, assim, todas as dimensoes da vida das familias, nesses importantes momentos da fonna<;iio do Movimento.
Nos dias 15 a 19 de dezembro de 1985, em Mogi das Cruzes (SP), o MST realizou o 2° Encontro Nacional, quando fez uma avalia<;iio geral das lutas em dcsenvolvimento e do planejamento das atividades. Com rela<;iio as ocupa<;oes, observaram que as de pequeno numero de familias nao estavam resultando em conquistas e que por mcio dos asscntamcntos implantados expandiam as lutas, constituindo grupos de fatnilias c realizando novas ocupay5cs. TambCm avaliaram cmno csscnciais as ocupa<;iies de predios de 6rgaos dos governos estaduais e federal, como forma de cobrar a responsabilidadc dos mcstnos para a qucsUio da refonna agniria. Por esse processo acontccia o crcscimcnto do Movin1cnto, que cnfrcntava divcrsos desafios como, por cxcmplo: alcan<;ar a autonomia, cumprindo assim com urn dos principios do MST. Existiam rcla<;oes de dependencia, porque algumas institui<;6es que compunham as articulac;:6cs de apoio e as asscssorias procuravam detcrminar a dircc;:ao politica ao Movimento. Esses problemas cram criticos, principal mente onde o Movimento era emcrgcnte. Nos cstados em que cstava se consolidando, os cmbatcs estavam scndo superados, nao havendo problemas com assessorias, fortalecendo as alianyas politicas com as institui<;6es de apoio a !uta pela tcna. Tambcm, pela propria demanda, estavam envolvidos com divcrsas ay6es em dcmasiado. Prccisavam, portanto, investir na forma<;ao politica para formar novas lideranyas e qualificar a !uta.
Outros dcsafios discutidos nesse Encontro foram: a falta de clarcza a respeito de um projeto politico de Iongo prazo: a necessidade de mclhorar a articula<;ao das difcrcntes escalas: local, cstadual c nacional e comcyar a dcfinir as inst:incias de rcpresentay3o; cstruturar as sccrctarias nos cstados; avanyar nas discussOcs a respeito da organiza<;ao do trabalho c da produ<;ao nos assentamentos. Tambcm discutiram a critica que recebimn, de seretn wna organizayao paralela ao sindicalismo 43
, em bora os sem-tcrra compreendcsscm o MST dentro do movimcnto sindical. Na realidade, o conteudo desse debate transpassara os limitcs da representatividade do sindicalismo. De modo que o MST comeyava a dimensionar os espa<;os de organiza<;iio politica dos trabalhadores rurais para alem das estruturas sindicais, criando urn outro espa\'O politico para a !uta dos trabalhadores scm-terra, sem todavia negar a importancia dos sindicatos. De modo que, para fortalecer a !uta dos trabalhadores, trabalhavam na organizayao dos sindicatos autenticos, apoiando os processes elctivos, contribuindo e ou criando sindicatos. Por outro !ado, com rcla<;iio ao Plano Nacional de Reforma Agraria, os sem-tena colocavam em questao a necessidade de elaborar urn projeto de reforma agraria dos trabalhadorcs,ja que o PNRA fora complctamente adulterado em sua ultima versao c os sem-terra nao acreditavam que o mesmo seria realizado.
43. A rcspcito dcssc debate ''paralclismo sindical", vcr Ricci, Rud::i. Terra de ningw!m: representariio sindical rural nu Bra.\H Campinas. Editora da Unicamp, 1999, p. 188s.
186
0 3' Encontro Nacional acontcceu nos dias 19 a 23 de janeiro de 1987, no campus da Universidadc Metodista de Piracicaba, interior de Sao Paulo. Participaram em tarno de duzcntas pessoas, representando dezoito estados. Na avaliaviio geral e definiviio das linhas politicas, para fazcr avanvar o Movimento, os scm-terra discutiram os scguintcs pontos: intensificar a organizaviio dos trabalhos de base, definindo critcrios para cscolhcr coordenadores, fortificando as coordenayiics c dircviies em todos os nivcis: local, estadual e nacional, qualificando a !uta, rompcndo com atitudcs imcdiatistas e personalistas, que cmpcnam a organicidadc do Movimento. Nessa constrw;ao da pr<ixis politica, valorizar experiencias colctivas, evitando o isolamento por mcio da descentralizaviio c do incentivo a participayiio. Contar como apoio financciro das instituic;Ocs nacionais e intcrnacionais, como as igrcjas, as comunidades de base e as organizay6es nao-govcrnamcntais, mas tamb6m buscar a autonomia ccon6mica, fortalccendo o plano de finanvas nos estados nas formas de an·ecadar rccursos dos asscntamentos. Cuidar da scguranya, j3. que aumentava a violCncia contra os scm-terra, sendo que em alguns estados as policias e as organizaviics dos latifundiarios: UDR e sindicatos rurais, estavam mapcando as lideranyas.
Com rclayao ao n1omento p6s-conquista da terra, manifestaratn que os assentatncntos sao triunfos e trunfos, scndo referCncias fundamentais para animar a luta na fonnaviio de novas grupos de scm-terra. E rclatavam os desafios das formas de se trabalhar a tena, necessitando construir propostas de organizaviio das atividades para supcrarem as deficiCncias. Por essa razao, procuravam ampliar o Movimcnto em todas as suas dimensoes, scndo fundamental estimular a participayiio das mulhcres, das crianvas e dos jovcns. A respeito da implantaviio da autonomia do MST, continuavam cnfrentando problemas. Era prcciso superar as relaviies de dependcncias e construir alianyas, formando articulayiies44 politicas verdadeiras. Nesse sentido, propunham intensificar as relaviies, inclusive como forma de contribuir para o fortalecimento de toda a articulavao: os sindicatos eombativos, o Partido dos Trabalhadorcs, as pastorais eo Movimcnto. Definiram tambem, articular-se com os pequcnos proprict<irios e assalariados rurais, com as organizaviies dos trabalhadores urbanos e apoiar greves
' por catcgorias e gerais, fortalecendo a Central Uniea dos Trabalhadores, implemen-tando a alianya operario-camponcsa. Para tanto, definiram priorizar e aprofundar os trabalhos de formaviio politiea abrangendo os acampados e os assentados.
Definiram prioridades de ayiio nacional para o ano em curso: realizar ocupayiies massivas em varios estados simultaneamentc. As ocupaviics pequenas c localizadas
44. Utilizamos a no~iio articula~iio par cntcndcrmos scu significado mais apropriado para as rc\ac;Ocs entre as institui~Ocs que apoiavam c apbiam as lutas pc\a terra c pc\a rcfonna agniria. Articular significa rcunir,juntar, ligar etc. Ncsse scntido, o MST procurava as instituic;Ocs para sc juntarem it ]uta. T octavia, a dircsiio politica devc scr, por principia, dos trabalhadorcs scm-terra. Dcssc modo, niio usamos a cxpressi'i.o mediadorcs. tiio utilizada pclos sociOlogos, porquccomprccndc o senti do da intcrvcn~iio como 3rbitro na rcsolu~i'i.o das qucst6cs, enquanto, de fa to, sao os trabalhadorcs que desenvolvem as ac;Ocs cas ncgocia~Oes dctcm1inantes para a rcsolu~iio dos conflitos. A participa~i'i.o das institui~Oes C fundamental mas ni'i.o-cst.i a 16m da organiza~iio dos scm-terra. Em alguns casos, foi cxatamentc a comprccnsao que "os tncdiadorcs" dcvcriam dirigir a ]uta, que impedia a supcrac;iio das rela~Ocs de depcndCncia c consolida~iio da autonomia.
187
eram, cada vez tnais, facilmente reprimidas, de modo que cssas a((Oes precisavam ter o numero de familias ampliado, como forma de fortalcccr a rcsistencia. Tambem cstabcleceram como prioridade trabalhar intensivamente para arrecadar assinaturas em favor da reforma agd.ria na Constituinte; realizar tnanifesta<;Oes nacionais em datas importantcs, como por exemplo: I o de maio: dia do trabalhador; 25 de julho: dia do trabalhador rural; 8 de marvo: dia da mulher; 7 de setcmbro: dia da indepcndencia etc. Em rela((fio a autonomia, continuar os trabalhos com as articula((Ocs, buscando superar dcsafios por mcio das cxperiencias positivas de divcrsos cstados. Nesse senti do, comc((aram a estimular e descnvolver progran1as de interc3mbio entre asscntados c acampados dos varios cstados para troca de conhccimcntos e rclatos das praticas adquiridas cmn as a((Oes e rela((Ocs na luta.
Nessc cncontro foi escolhido um dos principais simbolos do MST: a bandeira. Dcsdc 1986, os scm-terra discutiam a importancia de escolhercm scus simbolos como forma de rcprcscntaviio da imagcm do MST. Dcsdc a genese do Movimcnto, criaram difercntes simbologias que foram incorporadas a hist6ria da !uta, idcntificando-os cmno sujcitos na I uta pcla terra. A cruz com as cscoras c panos brancos da Encruzilhada Natalino tornou-se o principal simbolo daqucla !uta. Entre os simbolos, haviam as palavras de ordctn que demarcam concep((Ocs da luta, tornando-sc memOria, representando mudan((as ocorridas no proccsso de constru((fio do Movimento, na fonnayao de sua idcntidadc. Assim, de 1979 a 1983, a palavra de ordcm da !uta era: terra para quemnela traba/ha. Em 1984, no I Encontro Nacional foi terra niio se ganha, terra se conquista. De 1985 a 1989, foram Sem reforma agraria nclo ha democracia, e, Ocupw:;iio C a zlnica sohu;iio. Em 1989, criaram a palavra de ordcm: Ocupar, resistir, produzir.
Dcsse modo, no cotidiano da I uta, nos sctorcs, nas inst§.ncias, foram criando os simbolos do Movimento. Durante o encontro foram aprescntadas as propostas demodclos de bandcira, trazidas por representantcs de varies cstados. Por fim, vcnccu a bandeira que cncontra-se rcproduzida na capa dcstc livro.
Confonnc a interpretayao dcscrita no Jornal do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 11° 60, fcvcrciro/maryO de 1997, p. 20, OS elementos da bandcira tcm os seguintcs significados:
Nossa I uta, nossa esperan~a
Seu verme!ho representa a hist6ria dos companheiros que antes de nOs derramaram seu sangue ness a jornada e 1ws passaram o compromisso de levar Js geray·Oes futuras este desajiu, esta esperam;a.
0 ca.\·al de camponeses dentro do mapa do Brasil nos mostra o espfrito da unidade dos trabalhadores. Em todas os cantos do pais, o compromisso dos hom ens, mulheres e }ovens Co mesmo. Pel a Libertac;iio do Povo.
188
0 faciio eo nosso instrwnento de trabalho. Com ele tambi>m cortaremos as rat'zes da domintu/io, da miseria e da injustic;a. Senl o dia de nossa libertm;iio. 0 dia em que nossa bandeira estard encravada em todos os cantos, simholizando nossa vitOria (grifos no original).
A bandcira se tornaria um signa conhccido nacionalmcnte, assim como a sigla MST. Outros simbolos, como o facao, a foice, a enxada c os frutos do trabalho tornaram-se presentes no cotidiano da !uta, representando o sentido da rcsisteneia c da identidadc dos scm-terra. Adcmais, o poeta Pedro Tierra, prescntc neste encontro, escrcveu o Hino a Bandeira, que rcproduzirnos abaixo:
Hino a Bandeira dos sem-terra
Com as miios De plantar e co/her,
Com as mesmas miios De romper as cercus do mundo,
Te tecemos:
Desajiando as ventos Sabre nossas cabe~'as.
Te levantamos:
Bandeira da terra, Bandeira da /uta, Bandeira da vida,
Bandeira da Liberdade'
Sinal de terra Conquistada.' Sinal de /uta
E de e;peranc;a Sinal de vida Multiplicada'
Sinal de liberdade 1
Aquijurantos: Nlio renascercl sob tua sam bra
Um mzmdo de opressores.
E quando a terra retornar Aosjilhos da terra,
RepousarGs sobre os om bros Dos meninos !i-vres Que nos sucedenio.
Ncssc encontro, tambCm definiram a abertura de um concurso nos cstados para a elabora<;ao do hino do MST. lnauguravam atividades em que reprcscntavam suas pnlticas, yivcndo a critica como cultura, por mcio da socializac:;ao pcdag6gica que vicram a dcnominar como mistica. No MST, a mistica45 tornou-sc urn ato cultural, em que os scm-terra trabalham com diversas formas de linguagcm para rcprcsentarem suas lutas c esperan<;as. E cspa<;o/tempo de confratcmizac;iio, de aprendizagem e, partanto, de constru<;iio de conhecimento e da eonscieneia da !uta. Na cria<;iio de scus simbolos, na praxis c na mistica, os scm-terra intcragem c confrontam os contclldos
45. A rc:-.pcito da mistica, vcr: MST. Mistica: uma ncccssidadc no traba\ho popular organintivo. Cadernos de jorma-1·iio. n" 27. Siio Paulo: MST. 199::-\a.
189
dos discursos de diferentes matrizes46, constituindo sua identidade e autonomia47
, absorvendo sabcres e elaborando seus conhccimcntos. No fazer-sc de scus principios, fonnaram-se, gerando ideias, incorporando pessoas de diversas matrizes e origcns, dimensionando e transformando realidades. Essa conformay§.o traz em seu conteUdo o senti do do scr scm-terra. Essa consciencia em que se compreendem como organizayao, enquanto classe.
Esses atos e deliberay6es representaram, no campo dos desafios, o processo de consolidayao do MST na construyao de seu projeto politico. Reprcscntantcs das instituiy6es que comp6em a articula<;ao politica de apoio a !uta estivcram prcsentcs ncsse cncontro: deputados petistas, elcitos tambem como apoio dos scm-terra: Luci Choinaski (SC) e Alcides Modesto (BA), cleitos deputados estaduais; e Antonio Marangon (RS) e Geraldo Pastana (PA), eleitos deputados constituintes. Tambcm participaram rcligiosos ligados a Comissao Pastoral da Tena, Pastoral Openlria cas Comunidades Eclesiais de Base. Sindicalistas ligados a CUT, dos Estados de Mato Grosso do Sui, Rondonia, Alagoas, Santa Catarina, Espiritu Santo, Parana e Maranhao debateram as perspectivas da !uta pela terra em a<;6cs conjuntas como MST. As alianyas proporcionavam a constru<;ao de uma nova forya politica dos trabalhadores, que Lula destacou no encerramento do encontro: a questao de n1antcr semprc as rclay<)cs cotidiano/luta politica, como experiencias que fortalecem as organizay6es dos trabalha-d M . ••
ores e que o ovunento preservara .
0 4° Encontro Nacional foi rcalizado em 1988, nos dias 25 a 29 de janeiro, no campus da Universidadc Mctodista de Piracicaba. Participaram representantcs c convidados de dezoito estados (AL, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RO, RS, SC, SEe SP) c do Distrito Federal.
Nesse encontro, o MST defrontava-se como acirramento dos desafios e ncccssitavam maior eficiencia nas respostas aos problemas que se multiplicavam. Os desafios cresciam na propon;ao que o MST sc tenitorializava. Os sem-terra avaliaram a conjuntura e trayaram linhas prioritarias de ayiio como objetivo de supcrarcm deficiencias. Com re!ayao its formas de !uta, enfrcntavam dificuldadcs como crcscimcnto do numero de acampamentos c a falta de pcrspcctiva de so!uyao. Dclibcraram par intcnsificar as ocupay6es e manifesta~6es, ocupando predios de 6rgaos estaduais e federais, e inclusive as prefeituras, como apoio da Central Onica dos Trabalhadorcs c da Comissao Pastoral da TctTa. Na fonna~ao, os dcsafios estavam relacionados com a qualificac;ao dos curses. Era necessaria intensificar os conteUdos referentes aos estudos da realidade brasileira e a interayao com as lutas nos cstados. Nos asscntamcntos,
46. A rcspcito das matrizcs discursivas, vcr: Sader, Edcr. Quando novas personagens entraram em ccna. Silo Paulo: PazcTcrra.\988.p. 141s.
47. A rcspcito dcssc proccsso de constrw;iio da aulonomia c da idcntidadc do MST. vcr Strapazzon, Joan Paulo. Eo verba sefez terra. Chapcc6: Editora Grifns, 1997.
48. lorna{ dos Trabafhadores Rurais Sem Terra, n" 60. fcvcrciro-man;o de 1987, p. 3.
190
pcrsistiam os problemas rcferentcs a coopera~ao agricola. Propuseram rearticular as experiencias de cooperayao, intcnsificar o intcrcfrmbio com cxperiCncias camponesas de paises latino-amcricanos e demandar novas altemativas.
Com os rcpresentantes das organiza~ocs latino-americanas, os scm-terra debateram qucstOes rclativas 3 luta c a resistCncia na terra. As organizayOes rcprcscntadas foram: Confcderac;ao Nacional Camponesa e lndigena do Chile, Movimento Campones Paraguaio (MCP), Confedcrac;ao das Associac;iics Coopcrativas de El Salvador (COACES) e Uniiio Nacional Camponesa de El Salvador. Os trabalhadores discutiram as hist6rias de fonnay3.o de seus movimcntos na I uta pcla terrae as expcriencias de organizayiio de associayOes e cooperativas. Essas cxperiCncias scriam ampliadas nos pr6ximos encontros, de tnodo que o MST passou a atuar na organizayao de uma articulayao dos movimcntos camponcscs da Amhica Latina. Ainda ocorreram debates a rcspeito da con juntura da questiio agniria e das ac;oes do MST. Das discussoes partieiparam reprcsentantcs do Partido dos Trabalhadores, da Central Onica dos Trabalhadorcs e da Comissao Pastoral da Terra. Apesar das articulaviies nos estados para dcsenvolvimcnto da luta pela terra, OS desafiOS referentes as relayOCS politicas das instituiviies pcrsistiam. De modo que era urgente a reflexao a respeito das alianc;as politie<IS. Se, par urn lado, os scm-terra haviam consolidado formas de luta e resistcncia, por outro lado, em scu prOprio dcsdobramento, enfrcntavan1 impasses que exigiam o dimcnsionamento da organizayao.
Evidcntc que esscs problemas nao seriam resolvidos a curta prazo. Com a territorializa<;ao da luta pcla terra, os sem-tena faziam emergir quest6es e desafios, eujas soluyOes cstavam por scr constnlidas. Com a cxpcctativa de pcrcorrer os caminhos da superm;ao dos impasses, procuravmn debater com intclectuais da questao agnlria, com lidcran~as dos movimentos camponeses, que foram aniquilados pcla ditadura tnilitar, c pensar profundamentc sabre scus dcsafios como forma de construircm refcrenciais para trabalharcm as realidades que estavam construindo. Nesse tempo, ante aos inumeros problemas que enfrentavam, propuseram-se a construvao de urn Plano Nacional do MST para os pr6ximos quatro anos, que foi apresentado no 5° Encontro Nacional, realizado no municipio de Suman\ regiiio de Campinas (SP), de 27 de fevereiro a 3 de marc;o de 1989.
Em seu primeiro Plano Nacional49, o MST procurou dclinear quatro pontos fun
damentais para pensar e fazcr a sua formayao. No prin1eiro, aprescntou sua analise do desenvolvimento do capitalismo no campo, sistematizando os principais aspectos hist6ricos, ccon6micos c sociais do campo brasilciro, tomando como refcn?ncias as transfonnav6es reeentes da agrieultura. Essa leitura estava contextualizada no ambito da luta de classes, destacando a !uta pela reforrna agniria como forma de acesso a terra. Todavia, no segundo ponto, enfatizavam que, pela conjuntura, a luta pela terra impulsionava a luta pela refonna agniria e as ocupaviies tomaram-se necessarias. No
49. MST. Plano Nacional do MST. Cadenw de formac,:iio, n" 17. Sii.o Paulo: MST, 1989b.
191
terceiro ponto, a respeito dos dcsafios, entre outras ac;oes, defendiam os trabalhos efetivos na constnty3o de uma alianya entre opcni.rios c camponcscs, para o fortalccimcnto das lutas dos trabalhadorcs e de suas organizac;oes. No quarto ponto, apresentaram as perspectivas para o quadricnio 1989-1993, associando o desenvolvimento das lutas com a organizayao intcrna do Movimento, dcfinindo as instftncias cos setares de atividades.
0 tema dcsse cncontro foi "Ocupar, resistir e produzir ". Est a palavra de ordcm, nascida na praxis do Movimcnto, represcnta a l6gica de !uta. 0 MST elaborou sua conccpy:lo de luta em que din1cnsionava a reciprocidadc da resistCncia nos processes de ocupay3o e de produy3o, rompendo com a visao desagrcgantc que scparava os sem-terra- os que cstavam pat1icipando das ocupayOcs- dos assentados que scriam os com terra 50
. Essa palavra de ordctn se tornaria a bandcira do Movimcnto para a primeira mctadc dos anos 90, quando cnfrcntou um dos pcriodos mais dificcis de sua hist6ria. Nesse encontro foi escolhido o hi no do MST, que fora composto par Ademar Bogo do MST-BA.
Hino do Movimento Sem Terra
Vnn, tec;amos a nossa liherdade, Brac;osfortes que rasgam o chao, Sob a somhra de nossa wdentia, Desfj·a!demos a nossa rebeldia
Bra~·o erguido ditemus nossa histdria, Suj(Jcando com fUrr,·a os opressores,
f{asteemos a bandeira colorida.
e plantemos nesta terra como irmiios.' De.spertemos essa p(ifria adormccida.
0 amanhii pertence a nUs trabalhadores.
Refdio:
Vem, !uternos, Punho erguido,
Nossa jim; a nos leva a edificar Nossa ptitria Livre eforte,
Construida pefo poder popular.
Refi-r1o:
Nossafon;a resgatada pel a charna De esperanr;a no lriw?/(J que vircl, Fmjaremos desta !uta com certeza P6tria livre, operilria camponesa.
Nossa estre/a eJ?fim triw?fiu·ci.
Dcsdc o IV cncontro, o MST promovia mltsicas compostas pclos scm-terra, de modo a fomcntar a divulgayao da cultura da I uta. Como tempo, as cany6cs passaram a ser divulgadas em divcrsos cspac;os dos setores de atividadcs e das instancias de represcntayfio. Seus contel1dos reprcsentam a rcsistCncia no cotidiano e as rcflcxOcs politicas dos scm-terra. Alem da emulac;ao intema, o MST comec;ou a distinguir difcrcntes tra-
50. Essa \ !siio cstava c cstil J1rcscntc em 6rg<'i.os dos govemos estaJuais e ddCral. como tambCtn surgia nas or''aniza-~ ~ ~ ~
~t'ics do::. asscntados, como aconteccu no Estado do Rio de Janeiro.
192
balhos de Artc c CiCncia que tomaram como referCncias as realidadcs dos scm-tcna, prcmiando-os, bcm como as instituiy6cs c personalidadcs que se dcstacaram na articulayiio de apoio 3. !uta pcla tena. Com cssas iniciativas o MST dimcnsionava a sua mistica, utilizando-sc de linguagens das mais divcrsas nos cspayos de socializayiio politica, constituindo relay6es de rcspcito c de admirayiio mUtuas, rompendo cmn obst<iculos cxistcntes no processo de construyiio de sua autonomia, ao mesmo tempo que tornava-se importante refcrCncia como organizayiio da !uta dos trabalhadorcs.
Nos dias 8 a I 0 de maio de I 990, em Brasilia, o MST realizou seu 2" Congresso, que tcvc como tcma: Ocupar, Rcsistir, Produzir. Participaram cinco mil delcgados de dezcnovc cstados no maior cvcnto promovido ate entiio pelos sem-tcna. En1 cinco anos, dcsdc o 1 u Congrcsso, os sem-tena cumpriram com um dos scus objctivos: ser um Movimcnto de rcprcscntayiio nacional. Estiveram prcscntcs, manifcstando apoio ao MST, rcprcscntantes de diversas instituiy6cs c organizay6cs populares: ConfcrCncia Naeional dos Bispos do Brasil, lgreja Evangcliea de Confissao Luterana do Brasil, Central Uniea dos Trabalhadorcs, Comissao Pastoral da Terra, Conselho Indigenista Missiom\rio, Ordem dos Advogados do Brasil, Assoeia9ao Brasileira de Refom1a Agniria, Uniao Naeional dos Estudantcs, alcm de parlamcntares do Partido dos Trabalhadores, Partido Dcmocratico Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro, Partido da Social Democracia Brasilcira, Partido Comunista Brasileiro e Partido Comunista do Brasil. TambCm participaram rcprcscntantcs de organizay6es camponesas e indigenas de onze paiscs: Guatemala, Peru, Equador, El Salvador, Uruguai, Cuba, Chile, Colombia, Mexico, Paraguai c Angola.
Essa rcprcscntayilo de sctorcs politicos reunidos no 2° Congrcsso marcava o rcconhccimcnto de uma rcalidadc constnlida pclos scm-terra em urn importante momento de consoliday3o do MST. Ncssc qliinqih~nio, o Movimcnto tomara-sc uma das principais foryas politicas na !uta pela rcforma agnlria, mcstno como fracasso do Plano Nacional de Refonna Agr3.ria, c mcsmo diantc de um forte rcfluxo que os movimcntos popularcs viviam naqucla cpoca51 Por meio da !uta pcla tcna, o MST manti vera na paula politica a !uta pcla refonna agr:iria. E nesse proecsso de rcsistcncia, os trabalhadorcs procuravatTI dimensionar a luta, organizando a produyiio em fon11as associativas e cooperadas, bcm como ampliavam as atividadcs de fom1a9iio e cscolarizac;ao. 0 cvcnto tcvc difcrentes momcntos de confratcmizayiio c trabalho5 ~. Tomando como refcrCncias as discuss6cs c documentos das instUncias c dos sctorcs, os scm-terra elaboraram as Rcsoluy6cs do 2° Congrcsso, contcndo um conjunto de reivindicayOcs que foram cntrcgues ao Congresso Nacional e ao governo federal.
De fom1a sucinta, o documcnto era composto das seguintes qucst6cs: a) medidas de emergCncia: com o crcscimcnto do nllmero de acampamcntos por causa da niio
51. Vc:r a rcspcito: Gohn. Maria da Glllfia. A crisc dos movimcntos popularcs dos anos 90. In .l!ovimentos soC/a is c Educa~;ilo. Siio Paulo: Cortez Editora, 1992.
51. A rcspcito dcssas atividadc:-., vcr matCria especial no nUmcro 93 do Jonw! dos Trohafhadores Rum is Sem Term.
193
realiza~ao de desapropriaviics, milhares de familias careciam urgentemente do atendimento basi co, como alimcntos, cducac;ao c assistCncia medica. E, para superar essa situa~ao. rcivindicavam agilidade nas negocia<;iies para a solu~ao das areas de conflito; b) desapropriaviies: haviam inurn eras areas desapropriadas, cujos processes estavam emperrados, de modo que rcivindicavam a dinamiza~ao dos trabalhos para efetivar os assentamentos; c) reforma agn'i.ria: reivindicavam a execuyiio do Plano Nacional de Rcfonna Agraria e urn con junto de aviies para amp liar a arrecada~ao de areas, como por cxcmplo: terras griladas, terras de grandes devedorcs, ten·as pcrtenccntcs a fazendeiros mandantes ou cxccutores de assassinates etc. TambCm requeriam a apurayao dos assassinates e torturas de trabalhadores e religiosos, bern como dos casos de trabalho escravo; d) assentamentos: defendiam que o Programa de Crcdito Especial para a Refonna Agraria fossc adrninistrado corn recursos do Banco do Brasil c de outras fontcs do govcmo federal, e exigiatn a garantia de assistCncia tCcnica e recursos para a infra-estrutura basica para os asscntamcntos. Com rcla~ao a titula<;ao das tcrras, dcfcndiatn a criayiio de urn sistema que niio permitisse a venda, como forma de cvitar mna rcconccntrac;ao. TambCm reivindicavan1 a regularizayiio das areas de posseiros. Dernandavam a construyao de cscolas nos asscntamentos e realizayao de convenios corn universidades para a formaviio de profcssorcs. E a claboraviio de uma politica agricola voltada para o desenvolvirnento da agricultura camponesa (Jurna/ dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, abril-maio de 1990, p. 11-4).
A tenitorializa~ao do MST igualmentc expandiu rcalidadcs c possibilidades. A conquista da terra amplia as dcmandas, dcsdobrando os trabalhos e gcrando novas nccessidades. Todavia, essas novas precis6es esHio associadas ao dcscnvolvimcnto socioccon6mico e politico executado predominanternente pelas familias scm-terra. E a participayiio do Estado nesse processo e fundamental,ja que estao constmindo comunidades, sociabilidadcs, cidadania. Essa c outra luta. Principalmente naqucle memento, ern que o govemo Collar se instalava no poder e comcvava urn tcncbroso periodo de pcrscguiyao ao MST. Os sem-terra procuram o governo para discutir suas reivindicay6cs, mas o prcsidcntc Collor recusou-sc a recebe-los. Reuniram-se com o entao ministro Antonio Cabrera e entregaram uma pauta de rcivindicaviics. 0 ministro propos que o MST e a CUT integrassem o Conselho Nacional de Politica Fundiaria, quando dcbatcriam a respeito da politica de reforrna agniria daquclc govemo. Tamhem pediu uma relaviio dos acampamcntos do Movimcnto para que pudcssc visitar c pediu urn prazo de sessenta dias para dar uma resposta aos trabalhadores. E ainda convidou os sem-terra para participar de urn semin3.rio internacional de reforma agniria que prctcndia dcsenvolver. Com essas medidas paliativas, o governo csquivava-sc dos problemas apresentados, de modo que os sem-terra alertaram para a intcnsifica~ao da questao agraria, caso o governo niio apresentasse resultados concretes.
No Congresso Nacional, os scm-terra reuniram-sc como entao presidcntc doSenado, Nelson Carneiro, como prcsidcntc intcrino da Camara dos Dcputados, Inocencio de Oliveira c com o lidcr do govcmo, dcputado Rcnan Calhciros. Entrcgaram a pauta de reivindicaviies e ouviram que o "Poder Legislative eo governo estavam em-
194
penhados em viabilizar a reforma agniria". Os trabalhadores requereram dos parlamentarcs 0 apressamento, pel a urgencia, das votay6es dos projetos de lei refercntcs a reforma agniria. Durante as reuni6es com os podercs executive e legislativo, o MST promoveu uma passeata na Esplanada dos Ministcrios, manifestando a organizayao dos trabalhadores e encerrando o 2' Congrcsso. Todas aquelas ay6es marcavam o processo de luta em dcsenvolvimento e demarcavam a passagem para uma nova fasc da formayao do MST. Desde o inicio da decada de 1990, com a consolidayao de sua cstn1tura organizativa, os sctorcs de atividades e as inst3ncias de representayao, formarla em decorrCncia das ncccssidades sociais b<isicas, cstabelecidas por seus valores, normas, simbolos c pianos, o MST tornava-sc uma forte organizayao no processo de fonnayao do campesinato brasilciro.
0 fracasso do Plano Nacional de Reforma Agn\ria
Esse processo de institucionalizayao do MST foi conseqiiencia de seu processo de formayao e territorializayao no enfrentamcnto com os latifundiarios c como Estado. Lutando contra o latifundio e pela reforma agraria, os scm-terra formularam propastas e procuraram participar de politicas publicas de resoluyiics da questao agraria. Durante a ditadura militar ( 1964-1984), os trabalhadorcs rurais: posseiros e scm-terra, desenvolvcram lutas sociopoliticas, intensificando a demanda par urn projcto de reforma agraria. Todavia, a democracia da Nova Republica logo mostrou-se insuficientc, impcdindo a participayao cfetiva dos trabalhadores na realizayao do Plano N acional de Rcforma Agraria. No fim da ditadura militar, com a derrota das diretas-ja, em 1985, falecido o prcsidcntc Tancredo Neves, eleito indiretamentc, foi empossado o vice-presidentc Jose Sarney. No dia 30 de abril daquele ano, foi extinto o Ministcrio Extraordinario de Assuntos Fundiarios (MEAF) e criado o Ministerio da Reforma e do Desenvolvimento Agrario (MIRAD). Como ministro, fora indicado pela CNBB e nomeado por Tancrcdo Neves o advogado paraense Nelson Ribeiro. 0 engenheiro agr6nomo Jose Gomes da Silva, hist6rico defensor da reforma agniria, ocupara a presidencia do Institute Nacional de Colonizayao e Reforma Agn\ria.
Grande parte das institui9iies: igrcjas, partidos politicos e sindicatos, acreditavam na possibilidade da realizayao da reforma agraria. Em maio de 1985, urn grupo compasta por trabalhadores c estudiosos da qucstao agniria, coordenado par Jose Gomes da Silva, entregaram uma proposta de refonna agraria as lidcranyas politicas no Congresso Nacional. Iniciara um processo de adulterayao da proposta, que dcpois de doze versiies foi decretada como Plano Nacional de Rcforma Agniria (PNRA) pelo presidentc Jose Sarney, em 10 de outubro de 198553
. Acabara nesses atos a perspectiva de
53. A cere a do PNRA, vcr cspccialmcntc: Silva. JosC Gomes da. Caindu pur terra: crises da refOmw agrdria 1za l\'ova Rep1iblica. Silo Paulo: Editora Busca Vida, 1987; Ribeiro, Nelson de F. Caminlwda e esperanra da rej(mna agniria. Rio de Janeiro: Paz c Terra, 1987; Veiga, JosC Eli. A ref(mna que l'irou SU('I). Pctr6polis: Vozcs, 1990.
195
realizayao do plano de rcforma agraria, que estava sendo assinado. Com a desfigurayao que sofreu, o PNRA foi inviabilizado, iniciando urn Iongo proccsso de trocas de ministros c prcsidentes do Incra, de modo que os ruralistas mantivcram o controle do PNRA ate o scu enterro completo, em 1990, com a clciyao do govcrno Coli or. Cicntcs da inviabilidadc do PNRA, Nelson Ribeiro e Jose Gomes da Silva sc dcmitiram. Comcyava uma longa trajet6ria de substituiyiies no MIRAD c no Jncra ate a propria cxtinyao dcsscs 6rg<los, como demonstramos nos quadros 3.1 c 3.2.
QUADRO 3.1-MUDAN<;:AS DE MINISTROS E MINISTERIOS RESPONSAVEIS •
PELA REFORMA AGRARIA: 1985-1990
NOME DOS MINISTROS NOME DOS NOMEA<;:AO EXONERA<;:AO MINISTERIOS
• NELSON DE MINISTERIO DA 15/03/85 29/05/86 FIGUEIREDO RIBEIRO REFORMA EDO
DESENVOL V 1-•
MENTOAGRA-RIO-MIRAD
• IRIS REZENDE 14/02/86 28/05/86 MACHADO
DANTE MARTINS DE 29/05/86 02/06/87 OLIVEIRA • IRIS REZENDE 02/06/87 04/06/87 MACHADO
MARCOS DE BARROS 04/06/87 08/09/87 FREIRE • IRIS REZENDE I 0/09/87 22/09/87 MACHADO
JADER FONTENELLE 22/09/87 29/07/88 BARBALHO • IRIS REZENDE 29/07/88 15/08/88 MACHADO
LEOPOLDO PACHECO 16/08/88 15/01189 BESSONE
iRIS REZENDE MINISTERIO DA 16/01/89 15/03/90 MACHADO AGRICUL TURA
Fonte: MinistCrio Cxtraordin:irio de PoHtica FundiAria, 1999.
196
QUADRO 3.2 -MUDAN(:AS DE PRESIDENTES DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZA<;:AO E REFORMA AGAARIA: 1985-1990
NOME • NOMEA<;:Ao EXONERA<;:AO . . - .. ··-
JOSE GOMES DECRETO 10/04/85 DECRETO 21/10/85 DASILVA
NELSON DE DECRETO 21110/85 DECRETO 29/05/86 FIGUEIREDO RIBEIRO
. .. . .
PEDRO DO DECRETO 05/05/86 DECRETO 29/05/86 CARMO •
DANTAS --"- ··- - ··-
GUILHERME DECRETO 03/06/86 DECRETO 27/06/86 FREDERICO MOURA
I MULLER
RUBENS DECRETO 27/06/86 DECRETO I I /06/87 ILGENFRITZ DASILVA
JOSE DECRETO II /06/87 DECRETO I 0/09/87 EDUARDO VIEIRA RADUAN
AIR TON LUIZ PORT ARIA I4/09/87 PORT ARIA 24/09/87 EMPINOTTI
IRIS REZENDE DECRETO I 9/05/89 DECRETO I 9/07/89 I MACHADO
MARIO LUIZ DECRETO 19/07/89 DECRETO 16/05/90 PEGORARO
Fonte: MinistCrio Extraordinflrio de Politica Fundit'tria, 1999.
Observe-se o ministro curinga iris Rezendc Machado, que acompanha todo o processo de substituiyOcs atC se cstabelcccr como ministro da agricultura com a extin<;ao do MIRAD, em 15 de janeiro de 1989. Quatro mcscs depois, o govemo rcstabclcceu o Incra, que havia sido extinto em outubro de 1987, durante o proccsso constituinte, pclos ruralistas que criaram o Inter (Instituto Juridico das Tcrras Rurais). Mas o ataque dos ruralistas nao se limitou ao controlc politico dos 6rgaos responsavcis pel a rcforma agraria. Tambem se articularam fortcmcnte durante a Assembleia Nacional Constituinte, itnpondo urn enonnc rctrocesso ao Estatuto da Terra c liquidando
197
com a possibilidade de rcalizavi'io da reforma agn\ria54. Em !989, no final do governo
Sarncy, haviam sido asscntadas 84.852 familias, das I ,4 milhi'io de familias, o que significa apenas 6% do Plano Nacional de Rcfmma Agniria. E esse numero foi muito mais resultado das ocupayocs de terra do que de av6cs do govemo. Essas conquistas tambcm foram resultado do sanguc dcrramado na !uta. Nesses cinco anos, foram assassinados 585 pcssoas, uma media de ccnto e dezessete assassinates por ano. Assim, esse primeiro periodo da "democracia" da Nova Republica mostrou-se ainda mais violento que os vinte anos de ditadura militar, quando foram assassinadas 884 pessoas.
' E precise muito cui dado ao se fazer uma analise dos anos oitcnta, no que se ref ere as lutas pel a terrae pcla rcforma agriria. Mesmo ante a urn in ten so proccsso de cxclusao c violencia, os cmnponcscs scm-terra conquistaram nfio s6 a terra, por tneio das ocupayOes, mas tan1bCm construiram as bases estruturais do que vi ria a ser, na dCcada de 1990, uma das mais importantes organizav6es dos trabalhadores: o MST. Desse modo ni'io cabc aos sem-terra a alusiio de que a dec ada de 1980 foi uma di!Cada perdida. Ao contririo, por mcio de suas lutas mantiveram a reforma agn\ria na pauta politica. Essa questiio ocupou espayos no campo c na cidade, espacializando a !uta pcla terra. As conquistas dos scm-terra foram frutos das lutas plantadas no campo com as ocupav6es, e s6 dessa fonna obtivcram vit6rias nas negociaviics na cidade. Os acampamentos nas beiras das cstradas s6 foram superados com as ocupayoes de terra. Foram com essas ay6es que os scm-terra fizermn avanc;ar a luta e sua organizac;ao, construindo realidades e desdobrando-as. Desse modo, nao 6 possivel entender essa realidade que niio seja pcla compreensiio do que significa ocupar, resistir e produzir.
54. A rcspcito da rcfonna agniria na constituintc, vcr: Silva, JosC Gomes. Buraco negro: a refOrm a agniria na Cons~ tituinte. Sao Paulo: Paz c Terra, 1989.
198
' CAPITULO 4 - -
TERRITORIALIZA(AO E INSTITUCIONALIZAc;:AO DO MST 1990-1999
A territorializa~ao do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
0 2° Congresso, em 1990, acontcccu em meio ao processo de institucionaliza<;iio do MST. Naquele momenta, o Movimento havia fincado as raizes de sua cstrutura organizativa: as instiincias de rcprcscnta<;iio e as formas de organiza<;iio das atividades. Ao consolidar a sua estrutura, estabclccendo-a e ampliando-a, o MST intensificou a resistencia do campesinato scm-terra. No pcriodo 1985-1990, o MST sc territorializou, dcixou de ser o Movimento dos cinco estados do Sui, c sc tomou urn Movimcnto mais amplo, de can\ter nacional. De 1990 a 1999, nao ocorreram mudan<;as substanciais em sua estrutura. As modifica<;6es sucedidas foram a respeito da expansiio das atividades e das rcpresenta<;6es. Nessa dccada, o MST enfrentou novas dcsafios no descnvolvimento da sua tcrritorializa<;iio e da sua fonna<;ao.
Confonne analisamos no capitulo 3, em 1990, o MST estava organizado em dezoito estados. Na decada de 1990, os sem-terra prosscguiram as lutas nos rcspcctivos cstados c territorializaram o Movimento para os Estados do Para, Malo Grosso c Distrite Federal c em tomo, que analisamos neste capitulo. Em 1993, o MST se reorganizou no Rio de Janeiro e, desde 1997/1998, iniciou sua organiza<;iio no Estado de Tocantins e desenvolveu as primeiras a<;6es no Estado do Amazonas, organizando-se em vinte e !res unidadcs da federa<;iio. Assim, ncsscs estados, continuou o processo de territorializa<;iio para diversas microrregi6es, de modo que, par meio das ocupa<;6es e negocia.;6cs, o Movimento foi conquistando novas assentamcntos. Em 1990, o MST fez sua primeira ocupa<;iio no Pontal do Paranapanema, no Estado de Sao Paulo. Com a territorializa<;iio da !uta pcla terra na regiao, esta tomou-se uma das principais areas de conflitos par terra do pais. Enfrentando grileiros c lutando contra o proccsso de judiciariza.;iio da !uta pela terra', os scm-terra conquistaram dezcnas de assentamentos, desentranhando urn dos maiores grilos de terras devolutas do Estado2
1. A rcspcilo do proccsso de judiciariza'<ao, vcr Fcmandcs, 1997b; Morcyra, 1998.
2. A rcspcito da tcrritorializa~<fio do MST no Pontal do Paranapancma, vcr Fcmandcs, 1996a.
199
Em Minas Gerais, o MST conquistou um latifundio hist6rico. Em agosto de 1994, em Govemador Valadares, duzentas e noventa !ami lias ocuparam o latifundio conheeido como fazenda do Ministcrio. Essa propricdadc seria desapropriada em 1964, quando aconteceu o golpe militar3 0 asscntamento foi implantado em 1997 c batizado de Ozicl Alves Pereira, em homenagem a uma lideranya do Movimcnto, assassinada no massacre de Eldorado dos Carajils. Tambbn o latifundio Giacometti, localizado em Nova Laranjeiras, no Parana (que fora ocupado em 19804
), foi ocupado, em abril de 1996, par trcs mil familias, on de foi implantado, em 1997, o assentamento !reno Alves5 Dessa forma, o MST intensificou a !uta pcla terra, de modo que na decada de 1990 crcsccrarn tanto o nlimero de ocupay5cs quanta o nUmero de assentamcntos, em todas as regiiics. Esse proccsso foi rcsultado das ayiics do MST, em parte, c de
' outros movimentos sociais que surgiram a partir de 1994. A intcnsificayao da luta pela terra o governo federal rcspondeu cmn uma politica de asscntamcntos rurais.
Nessa decada, tambem iniciara o pi or momenta da vida do MST: foram os do is anos c mcio do govcrno Collar (15-03-1990 a 02-10-1992). Nesse tempo, ocorreu uma cscalada de rcprcssao contra o Movimcnto, de modo que, considcrando a palavra de ordcm ocupar, resistir, produ:::ir, o resistir foi mais intcnsificado. As ocupay6cs cram rcchayadas pcla policia, de modo que em 1990 diminuiram significativamcnte os numeros de ocupayocs e de familias na !uta pcla terra. Confonnc Stcdilc:
"0 governo Co/lor, ali:m de nGofazer a reform a agrciria, rC!solveu reprimir a MST. Acionou a Policia Federal, o que Cum agravante, pois niio C uma tropa de choque, C repressiio politica pura. 0 agente da Policia Federal Cum sr4eito mais preparado, mais scdimcntado. Niio batiam mais nas nossas cane/as, batiamna cabq'a. Essa reprcssiio nos afetou muito, muita gentefoi presa. Comev·aram afUzer escuta te/ef6nica. Tivemos, 110 minima, quatro secretarias estaduais invadidas pela Policia Federal" (Stedile e Fernandes, 1999, p. 69).
Foi quando o Movimento voltou-se para dentro, preocupando-se com a organicidadc c com a constru<;iio do Sistema Cooperativista dos Assentados e com a fundayiio da Confederayao das Coopcrativas de Refmma Agraria do Brasil- Concrab, em maio de 1992. Tambem nessa epoca, o MST articulou a I uta pela terra com outras lutas da classe trabalhadora, participando de jomadas nacionais conjuntas. Em janeiro de 1992, a FAO (Food and Agriculture Organization), Organizayiio das Nayoes Unidas para Agricultura e Alimentayao, aprescntava a primcira vcrsao de uma pcsquisa na-
3. Vcr capitulo 1: Minas (icrais.
4. Vcr capitulo 2: Parana.
5. !reno i\lvcs era uma lidcran~a do MST, que falcccu em acidcntc de earro.
200
cional a respcito dos indicadores socioecon6micos dos asscntamcntos ntrais0. Estc
rclat6rio aprcscntava as seguintcs conc1us6es:
"0 assentamento de popularJJes rurais de haixa renda nas dreas desaprupriadas pelo Incra revelou-se e.ficaz na promoc;Go do desenvolvimento rural e nafixa(·cio do homem no campo.
Apesar das limila('ties dos assentamentos em termos de inlra-estrutura social e econOmica a pesquisa mostrou que os bene.ficidrios da distrihuir;iio de ten·as geraram em nu?dia uma renda anual par familia equivalenfe a 3, 70 salrlrios minima.~· por fGmilia, valor este superior ci media de renda passive! de ser obtida par qualquer categuria de trabalhadores rurais no campo.
Tambl:m verificou-se que a gerw;iio de renda nos assentamentus, em bora aconter.·a de forma concentrada, cola bora no sen lido de melhorar o perfil da distribuir.·iio de mula geral" (FAO/PNUD/MARA, 1992, p. 1 00).
Assim, ocupando a terra e construindo suas cxistCncias, os scm-terra lutaram c ajudaram a derrubar o govcrno Collar. Continuou scu proccsso de fonna<;ao c territorializa<;ao superando vclhos dcsafios c dcfrontando-sc com novos dcsafios que surgem no dcscnvolvimento da luta. Desse modo, o MST construiu uma estrutura organizativa ampla c nccess:iria para um movitncnto camponCs que precisa enfrcntar as questocs do nosso tempo. Dcssa forma, por mcio da ocupa<;iio de terra, o MST contribuiu para consttuyao de um novo mapa das ocupay6es de tcrras c dos asscntan1cntos rurais, frutos da }uta c da rcsistCncia cmnponcsa.
Para
No anode 1989, o MST comcyou scu processo de tcrritorializayao no Estado do Pan!. Espacializando a !uta pcla terra, os primciros trabalhos foram fcitos por scm-terra
' vindos dos Estados de Goias, Maranhao, Ceara e Pernambuco. E importantc lcmbrar que no Primciro Encontro Naciona1, em Cascavel, janeiro de 1984, c no I" Congrcsso, em Curitiba, janeiro de 1985, grupos de trabalhadorcs rurais paraenses participaram dcsscs eventos, na perspectiva de criarem o Movimento no Pani e intcnsificarcm a rcsistencia camponcsa. Dcssc modo, alguns Sindicatos dos Trabalhadores Rurais vinculados aCUTe os trabalhos da CPT foram as principais referencias que os scmterra tiveram no inicio da articula<;ao de apoio a construyao do MST -PA. No dia I 0 de janeiro de 1990, o MST fez sua primcira ocupa<;ao no Para, que ocorrcu no municipio de Concei<;ao do Araguaia, no Sudeste Paracnse, quando em torno de ccm famflias ocuparam uma area da fazenda lnga. Outra parte dcssc latifundio de 15.000 ha cstava ocupada par possciros, que vinham enfrcntando jagun<;os c rcsistindo na terra. lnicia-
6. F AOfPNUD/MARA.. Principais imlicadores srJciu-ecvnVmicos dos assentamentos de refimna agrdria. Brasilia. 1992.
201
vam, assim, as a<;Oes do MST no Para: sem-terra lutando junto cmn posseiros em um dos estados de maior violencia contra os trabalhadores rurais.
Desde a deeada de 1960, com a constru~ao da Bclcm-Brasilia, e na dccada de 1970, com a Transamazonica, intensifieou-se o movimento migrat6rio das familias camponesas, especialmente do Nordeste, como do Sul e do Sudeste que vinham em busca da terra livre. Comprecndida, eonforme Martins: como urn:
"direito que, embora revogado pelo governo, em 1850, permaneceu inscrito nas concep90es e na experii!ncia de muitos trabalhadores, congr·uente, alicis, como tipo de agricultura que praticam. E mais: um direito de que os traballtadores se apropriaram em a/gum momenta da hist6ria social do pais ... Exatamente par tudo isso, os trabalhadores rurais en tram em conflito, hoje, como dire ito dominante, que conclama a propriedade absoluta da terra, reunindo num dire ito {mica a posse eo dominio" (Martins, 1991,68. Grifos no original).
No proccsso de tcrritorializa<;ao do capital, as terras indigenas cas terras de posseiros foram sendo apropriadas por grandes emprcsas como por exemplo: Volkswagen, Bradeseo, Banco Economico, Bamerindus, Lunardclli etc., inclusive com subsidies govcmamentais (Hebetic, 1991, p. 7; Oliveira, 1987, p. 69; Oliveira, 1997, p. 125; Coelho, 1997, p. 50 I). Dcssa forma, os latirundios e as gran des propriedadcs fechavam o cerco aos povos indigenas e aos camponeses, aumcntando os conflitos par terra na Amazonia. Somentc no Para, no periodo da ditadura militar, foram assassinadas 214 pessoas (MST, 1986b ). No period ada Nova Republica, a violencia contra os posseiros, peoes, religiosos, scm-terrae sindicalistas aumcntou. Segundo a Comissao Pastoral da Terra, no Para, foram assassinadas 389 pessoas no periodo 1985-1998. Sendo que, dos trczc julgamentos ocorridos, dez cxecutores foram condcnados e tres absolvidos (CPT, 1999). Sao muitas as refenoncias a respeito da vio!Cncia e da impunidade na !uta pela terra no Para7 Foi nesse processo de rcsistcncia dos posseiros e de cnfrentamento com os latifundiarios que o MST veio participar da !uta no estado.
Em janeiro de 1992, posseiros e sem-terra comemoravam a implanta<;ao do assentamento Inga. Depois de dais anos de !uta e resistencia dos posseiros e dos scm-terra, o MST conquistara seu primeiro assentamento. Ainda em 1990, no mes de julho, !50 familias organizadas no Movimento ocuparam a fazenda Canarana, tambem no municipio de Concei<;iio do Araguaia, resistiram e a conquistaram em 1993. No final de 1990 e inicio de 199!, os scm-terra com o apoio da CPT intensificaram os trabalhos de base na microrregiiio de Marab:\. Depois de sete meses de reunioes nas comunidades, mobilizaram em tomo de tres mil familias, e decidiram organizar uma ocu-
7. AlCm dos citados, destaeamns tambbn, entre outros, os trabalhos: Kotscho, 1982 e 1984: Oliveira, 1988; Pinto, 1980; Emmi, 1987; Figueira, 1986 e 1992; Oliveira Filho, 1991; Leroy, 1991.
202
pa<;iio massiva. Nesse tempo, as lideran<;as foram seguidas pela Policia Federal eo telefone da secretaria do MST foi grampcado. Em meados de junho de 1991, as policias Civil, Militar c Federal fecharam todas as saidas da cidade de Maraba para impedir a a<;iio dos sem-tcrra. No dia 17, ccrcaram a quadra onde estava localizada a sccretaria e prenderam 7 lideran<;as, acusando-as de sercm guerrilheiros c de promovcrem invasOes de terras em serie na regiao.
A prisiio das lidcran<;as do MST acontecia no ccm!rio do podcr, da violencia c da impunidade dos latifundiarios, das milicias armadas e das policias. Tambem era mais uma investida do govcmo Collar, que designou c cnviou urn delcgado da Policia Federal, de Brasilia, para comandar a opera<;ao contra o MST. A Sociedade Paracnse de Defesa dos Direitos Humanos protestou contra a prisiio arbitraria e se empenhou para libertar os scm-terra. Todavia, ainda ficaram presos par noventa dias. Com essa pcrscgui<;iio politica contra os sem-terra, os latifundiarios tentavam destruir o MST -PA, mas o que conseguiram foi a desmobiliza<;ao das atividades realizadas na microrregiao de Maraba. Ainda no final de 1991, os trabalhos de base foram retomados para a reorganiza<;ao dos grupos de familias. Em maio de 1992, os scm-terra participaram de uma jornada de lutas com os sindicatos de trabalhadores rurais filiados a CUT, entregando rcivindica<;iies ao Incra e ao governo cstadual para a desapropria<;ao de areas ocupadas par possciros e sem-tcrra. No dia 16 de julho, urn ana e um mes dcpois das prisiics, quinhentas e quarenta e oito familias sem-terra ocuparam a fazcnda Rio Branco, no municipio de Parauapcbas, latifimdio de 22.000 ha, pertencentc aos Lunardelli'.
A desocupa<;iio da fazenda Rio Branco foi imediata. A a<;iio de despejo aconteceu no decorrer da ocupa<;ao; enquanto algumas familias ainda chegavam para ocupar, outras ja estavam sen do despcjadas. A policia agiu rapidamcnte e como apoio dos jagun<;os da fazenda apreenderam as ferramentas dos trabalhadorcs. Nas li<;iics das experiencias de luta e resistencia, os scm-terra foram aprendendo, nas ocupa<;iies, a prcvcrem possiveis desdobramcntos da rea<;iio dos latifundiarios e do Estado. De modo que e preciso tcr sempre uma scgunda op<;iio para se deslocar na ocorrencia do despcjo. Nesse caso, montaram acampamento dcfronte a prefcitura e negociaram a cessao de transporte, de mancira que pudessem transferir o acampamento para a sede do Incra emMaraba. Esse acampamento durou cinco meses, tempo em que os scm-terra fizeram mna serie de manifesta<;iies e ncgocia<;iies, viajando a Bclem e a Brasilia, na tentativa de mudar a con juntura. 0 MST reivindicava a vistoria da Rio Branco que fora acordada nas negociay6es como lncra, mas que nao se cfetivava. Em dezembro, as familias rcocuparam a fazenda e o Incra acabou comprando 12.000 ha do latifimdio.
Com mais essa conquista, os scm-terra trabalhavam na consolida<;ao do MST, formando os setores de atividades para discutircm a organiza<;ao da educa<;ao e da
8. Os Lunardclli possucm "uma imensidiio de terra pelv pais ajOra "(Graziano Ncto, 1996, p. 21 ). Em SUo Paulo c no Parana, nas dCcadas de quarcnta c cinqiicnta, o patriarca dcssa tradicional familia foi considcrado o rei do cafC (Coelho, 1997, p. 514). Nas dCcadas de oitcnta c novcnta tambCm cram latifundiitrios no Para.
203
produy3.o nos asscntamentos9. Dcsse modo, dimcnsionavam a !uta e comcyaram as
negociayOes com as sccrctarias de cducay3.o dos tnunicipios ondc estavam estabelecidos, para a implanta<;ao das cscolas de ensino fundamental. Da mesma fmma, negociavam com o Incra a libera<;ao dos recursos do Programa Espacial de Crcdito para a Rcfonna Agraria (Procera) para os assentados. Tambem fundaram a Associa<;:iio de Produ<;iio e Comcrcializa<;:ao dos Trabalhadorcs Rurais do Asscntamento Rio Branco. Ainda tiveram que fazer v<irias manifcstayOes c ocuparam a prcfcitura de Parauapcbas para que fossem construidos os prCdios das escolas c do posto de saude no asscntamento. No cntrctanto dcssa luta, o MST organizou varios grupos de familias e no dia 26 de julho de 1994 duas mile quinhentas familias ocuparam uma area dcnominada Cinturiio Verde, parte de uma concessao de 411.946 ha- autorizada pelo Sen ado Federal em 1986 (Almeida, 1994, p. 108)- para a Companhia Vale do Rio Doce.
Trcs dias depois da ocupa<;ao, as familias foram dcspejadas c, novamente, transferiram o acampamento para a prefeitura de Parauapcbas, que Iiberou 6nibus e caminhoes para transportar as familias ate a scdc do Incra em Maraba. Todavia, dessa vez, a policia cercou a sedc do Instituto impedindo a ocupa<;ao. Os trabalhadores ncgociaram com o supcrintcndente o estabclccimento do acampamento das familias nas dcpcndCncias do Incra. Os sctn-terra ficaram acampados em Maraba durante cinco meses, negociando com os govcrnos estadual c federal, scm que aprcscntassem soluc;Oes para a situac;3.o. Durante o tempo de acampamento, ocorrcram prisOcs e as familias fizcram v<irias manifesta<;iics na cidadc de Maraba como forma de prcssionar o Estado para a cfctiva<;iio de projcto de assentamcnto. Foram a Bel em para uma audicncia como govcmador Almir Gabriel, que assumiu o compromisso de assentar as fan1ilias c nao tratar a questao como caso de policia. Scm resultados concretos, as familias retomaram para Parauapcbas c fizcram uma manifesta<;ao dcfronte a entrada da Companhia Vale do Rio Docc. Ncgociaram uma area da prefeitura para o acampamento das familias, ondc pennancccram ate maio de 1995, quando ocuparam mais uma parte da fazenda Rio Branco.
A segunda ocupa<;iio da Rio Branco acontcccu no dia I 5 de maio. Durante cinco meses, as familias resistiram na area sob a ameac;a constante de pistoleiros. Pecidirnm organizar uma marcha de 700 km ate Bclem para cobrar do govcmador a promessa de assentar as famihas. No dia 18 de outubro iniciaram a marcha e conscguirmn uma reuniao cmn o Incra e como govemo cstadual, que propuscram vistoriar a Rio Branco, dcsde que a marcha fossc cancclada. Os scm-terra nao accitaram a proposta, rcivindicavam o assentamcnto imediato. A vistoria, t3o-somcntc, nao era garantia de soluyao. Os laudos tCcnicos das vistorias cram muito rna is uma annadilha na ncgocia<;iio politica,ja que na maior parte das vezes os resultados cram favoraveis aos latifundiilrios, como foi o caso da Rio Branco:
9. E importantc dcstacar que as lutas da dCcada de novcnla difcrcnciam-sc das da dCcada de oitcnta pur trazcrcm as cxperiCncias de organiza<;iio da ocupa<;iio c do asscntamcnto con:;truidas no proccsso de fonna<;:1o c tcrritorializa~;iio do MST.
204
"Com 22.000 hade area total, afazenda Rio Branco era coberta de pastagens. razoavelmente produtivas ('iic), criando um gada de boa quaffdade. Seu !au do de avalia~·iio mostrou ser umafazenda produtiva, impassive! de ser desapropriada para fins de reforma agniria. Em bora niiofOsse uma propriedade exemplar, mantinha a reservaflorestal obrigat6ria, correspondente a 50% da clrea, e niio tinha his lUria de conflitos com os sew; empregados. Mas.fOi escolhida para ser invadida" (Graziano, 1996, p. 21-2).
Dcssa forma, a proposta do Incra c do govcrno cstadual nao aprcscntava solu.;ao para resolver os problemas das familias em marcha. Assim, continuaram atC Eldoradodos Caraj3.s, c foram convidados para uma ncgociayao em Brasilia, quando foram informados que o Incra compraria mais 3.383 ha da Rio Branco para a implanta<;ao do asscntamcnto. Depois de quinze mescs de luta c rcsistCncia, aquclas fatnilias conquistavam o dircito a terra, que dcnominaram de asscntamcnto Palmares, em homenagem a Zumbi c 3 rcsistCncia.
Essa I uta era parte da territorializa.;ao do MST -P A. Esse proccsso iniciara com as ocupayOcs e conquistas das fazcndas Ing3. e Canarana, em Concciyao do Araguaia, co asscntamcnto Rio Branco ctn Parauapcbas. No movimcnto dcsse proccsso, o MST continuou o trabalho de base para formar novos grupos de familias e organizar outra ocupa<;ao. Tinham em vista tm1 latifundio de 42.000 ha, dcnominado fazcnda Macaxeira, no municipio de Eldorado dos Carajas. Muitas das familias que participavam dos trabalhos de base foram posseiras nas tcrras da Macaxcira. A constitui<;ao dcssc latifllndio acontcccu por mcio da violCncia c da impunidadc. Essa hist6ria pcn11anccia na memoria dos cxpropriados. Segundo Graziano Neto, 1996, p. 28: "0 problema residia no seu anhgo dono, um politico de Parauapehas. Diziam que no passado ele havia harbarizado as pessuas, amea(·ado posseiros, brigando com os trabalhadores. Constava que havia conseguido a que/as terras pela.for~·a ".No dia 5 de novcmbro de 1995, em Curion6polis 10
, o en tao presidcntc do Incra, Francisco Graziano Ncto, vina para um ato publico de cntrcga dos lotcs do assentamento Pahnares. Para rcccpciomi-lo, alCm dos assentados, cstavam mil e quinhcntas familias que reivindicavam a desapropriayao da Macaxeira. Francisco Graziano relata esse mmnento:
"Quando chegamos em CurionOpolis, fOmos encaminhados para wn terreno ao /ado da rodoviafederal. Havia /duma grande aglomera~·clo de genie. 0 circa, porCm, era inesperado. Ao invCs de agradecerpelo assentamento nas terras dafazenda Rio Branco, o MST queria reclamar a desapropria~~ao de outra.f[JZenda, chamada Macaxeira, que jicava perto dati ...
10. 0 nome de sse municipio tcm como refcrCnci<~ o major Curi6, que tcvc uma atua~iio politica in tens<~ no garimpo de Serra Pel ada. no final da dCcada de 70 (vcr Kotscho, 1984). TambCm tcntou tksmobilizar o ncampamcnto da Ellcruzilhada N atalino. em I SlS 1 . no municipio de Ronda i\ Ita ( RS ). V cr capitulo 2: Em terra de quero-qucro. curi6 mlo canta.
205
Niio e jiicil. Ainda tentei invocar o testemunho do Fusquinha, o representante dos 'scm-terra' que liderou o grupo que JOi a Brasilia negociar o jim daquele acampamento. E/es tinham se comprometido, publicamente, u niio mais invadir terras na regiiio, desde que JOssem assentados na .fazenda Rio Branco. Afinal, apos Iantos anos de sofi·imento, acampados, vivendo na intempririe, receberiam a terra prometida" (Graziano Neto, 1996, p. 23-4, aspas do autor).
Ha que se fazer algumas observa96es a respeito dessas quest6es colocadas par Francisco Graziano, que precisam ser remetidas a sua tcsc de doutorado. Essa tcse foi publicada e foi prefaciada par Fernando Henrique Cardoso, onde cscreveu:
"0 que o livro nos mostra e a hist6ria de uma ilusiio. Ou melhor, de muitas ilusOes: nem Jul. no Brasil tanta terra agriculturGvel e disponivel como se imagina, nem o lat{fUndio improdutivo continua a sera base da prodw;iio e mesmo da estrutura da propriedade agricola brasileira, nem exist em Iantos 'se~n-terra 'cividospela posse da terra, como se imagina" (Cardoso, 1991, p. I 0. A spas do au tor).
A cxistencia de latifundios c de sem-terra nunca foi ilusiio, tampouco imagina-9iio. Nem ontem, ncm hoje. Siio cinco seculos de lutas contra o latifUndio, analisados por diversos cientistas, de v<lrias areas das CiCncias Humanas, como dcmonstramos no primeiro capitulo desta tese, e para as quais procuramos contribuir com este estudo a respeito da fonna9iio e territorializa9iio do MST. Com rela9iio a lese de Graziano Neto, tcmos as seguintes considera96es. Primeiro, com rela9iio aos latifllndios, tendo como base a amilise dos dados estatisticos do lnstituto Nacional de Coloniza9iio c Reforma Agniria e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, o autor chega a scguinte conclusao:
206
"Conforme procuramos mostrar ... , a predominiincia dos latifilndios na agricultura brasileira deve-se mais ao equivoco das estatisticas do que Q realidade dosjiltos. Em decorrencia, a elevada e crescente ociosidade da terra no pais tambimz niio corresponde a verdade. Isla signijica que a ideologia antilatifundiilria, a qual nos acostumamos a raciocinar, merece ser substituida par visiio mais moderna e coerente da realidade agraria" (Graziano Neto, 1989, p. 74).
Segundo, com rela9iio ao publico da reforma agraria, Francisco Graziano cscreve:
"Estima o PNRA que os benejiciarios potenciais da reforma agraria, formados par trabalhadores 'sem-terra ', posseiros, arrendatcirios, parceiros, parte dos assalariados rurais e minifundicirios, somariam um contingente de 6 a 7 mi/hoes de fami/ias ...
A compreensGo do porque desses nUmerus niio Cfdcil atrawis da leitura do Plano. Ncio hQ indicativos seguros sabre os critCrios utilizados para as estirnativas dos chamados benejiciGrios palencia is da reform a agrdria" (Graziano Neto, 1989, p. 84, grifos e aspas do antor).
Em sintese, Francisco Graziano contesta a existCncia co interesse de urn pUblico tao amplo na rcaliza<;iio de um programa de refonna agritria. Por outro !ado, o autor niio vC os latifUndios, mas sim "cmpresas moden1as". Enfim, a sua tcse exprcssa, entre outros, o seguinte ponto: que o assentamento dessa popula<;ao, principalmente da maior parte dos assalariados rurais, traria urn colapso no sistema alimentar. E segundo Graziano Neto: "Esse raciocinio niio Cfor(·ado, desde que se considere a existi!ncia de uma agricultura industrializada e niio latifundiaria" (Graziano, 1989, p. 114). Evidente que com essa eompressao da questiio agritria, a !uta dos sem-tcrra e um cstorvo para a "moderniza<;ao" da agricultura. Mais ainda, o autor dcfende que o proprio processo de desenvolvimento do capitalismo incorpora grande parte dos scm-terra por meio do assalariamento,promovendo o desenvolvimento rural (Graziano Neto, 1989, p. 115). Desse ponto de vista, soluciona-sc o problema com a oferta de cmpregos aos assalariados e com integra<;ao da agricultura familiar a agroindilstria e, quando necessaria, com uma politica de assentamentos rurais para solucionar os casas mais criticos de conflitos. 0 eqnivoco dessa tese eomparece, em parte, em trabalho mais recente do autor:
"Pouco emprego. E uma riqueza concentrada nas miias dos grandesfazendeiros, geralmenle ham ens do Sudeste e Sui do pais. Enormesfazendas, mas nada de !atifundio. Trata-se de empresas produtivas, com pastas p!antados, crianda gada de exce!enle qualidade. Sua opuli?ncia, entretanto, e um acinte d pobreza regional. Perdem-se de vista as divisas dessas terras, milhares de alqueires cada uma, muitas delas griladas par jagum;os a mando de proprietarios (sic). 0 gada recebendv maior aten,·iio que as pessaas" (Graziano Neto, 1996, p. 26).
Essa leitura que Graziano N eto faz da questao agritria revela incoerencia no tratamento do problema. Embora afinne que as enormes fazendas nao sao latirundios, reconhece a grande dimensao dcssas terras e o processo de grilagem, tao comum na Amazonia (como em todo o pais). Elc "ignora" os intercsses desscs latifundiitrios, tentando rotul3.-los de "empres3.rios modemos", que disseminam a violCncia contra os posseiros, os scm-terra cos indios. A impunidade c a arbitraricdade que fazem, da mcsma forma, com que os trabalhadores scjam escorrayados c muitas vczes submetidos ao trabalho cscravo. Embora rcconhe<;a a existcncia de terras griladas e a miseria da popula<;iio, associada a niio realiza<;ao da reforma agritria, quer que o MST niio continue com as ocupayOes, desconsidera essa importantc forma de acesso a terra, que tcm garantido a existcncia dcssa popula<;ao. Dessa fonna, os scm-terra nao espcrain: fazem, reivindicam, resistcm e ocupam tcrras e espayos politicos fundamentais
207
para romper com cssa presunyao a rcspcito do problema agr3rio. Essa qucstao n3.o C linear, nem tCcnica. Existem v3rios caminhos possivcis para buscar soluy6cs, todavia os que mais dcram resultados aos sem-terra formn a ocupayao e a prcssao politica. Niio tratar profundamcnte essas questoes impede solu<;iics possiveis aos eonflitos.
Evidcnte que, do ponto de vista de Graziano Ncto, os latifundiarios aparecem no ccn3rio da qucstao agr3ria como "os mocinhos" cos scm-terra como '"os bandidos". Assim, a leitura que o autor faz do problema chcga a ser grotesca:
"Contando cum a compreensiio dosproprietizrios, moc/usjuvens, em alguns dias de negociw;:clo, resolvemos uma pendCncia que se arrastava hO tanto tempo, COJ?figurando o maior COJ?flito agnirio da Amazc)nia. Ficava claro que o diO!ogu, u convencimento, a .fl·anqueza da negociac;Go numa mesa aberta, era o melhor caminho para resolver os conflitos agr!Jrios do pais.
A a!egria dos traba!hadores.fOi tamanha, que me convidaram para estar presente no a to de entrega daquelas terras. Queriam fi12er uma festa. Marcaram a data e !G fomos nOs ao Pard, sati.\feitos com a sohr<·iio do coJ?flito, querendo simbo!izar a vontade do governo.fi!deral de equacionar rapidamente (sic) a siluac;iio dos acampamentos de 'sem-terra ', que somavam 140 situar;ues pelo pais afora" (Graziano Neto, 1996, p. 23).
Nos pariimetros da tcsc de Graziano Neto, os latifundios sao comprados, os latifundi3rios sao comprccnsivos porque aceitam ncgociar c, por tudo isso, os scm-tcna devcm ficar fclizes e nao fazcr mais ocupay6cs, jU que nao h3 tcrras ociosas c ncm ha tantos scm-terra interessados para screm assentados. Mais um equivoco de Graziano, constatado ao chcgar em Curion6polis c cncontrar mais tnil c quinhentas familias cxigindo a dcsapropria<;ao da Macaxcira. A realidade encontrada nao era o que clc csperava c contrariava a sua tcse:
"Senti aquila como uma t•erdadeira traic;·iio. Minha rea~·iio fOi imediata. Chamei a lideranc;·a do movimento e ameacei: 'Se invadirem a A1acaxeira, nGo recebem a Rio Branco'. E, contemporizando, me comprometi a mandar rea!izar uma vis tori a tCcnica na nova Grea, pra verse era produtiva au niio. A lei tinha que ser cumprida "(Graziano Neto, 1996, p. 24-5).
Francisco Graziano nao tinha outra opy3.o, a n3o ser mandar fazer a vistoria. Como os sem-terra nao tinham outra op<;ao, a niio ser ocupar a terra. A falta de op<;6es cst3 dirctamente rclacionada com a incxistencia da rcfonna agni.ria.
Durante cinco meses, de 5 de novembro de 1995 ate 8 de mar<;o de 1996, em tornode mil c quatrocentas familias montaram acampamento no Centro de Orienta.;iio e Forma<;ao Agropastoril de Curion6polis, aguardando o resultado da vistoria da Macaxeira. No laudo de avalia<;iio "tecnica", o latifUndio foi classitieado como produtivo.
208
Os scm-terra ocuparam a Macaxeira c organizaram a rcsistencia contra os jagunyos e a policia. Iniciaram o proccsso de negociayao como lncra que propOs assent:l-los em um projeto de assentamcnto de 150.000 ha, na rcgiao de Tucurui. Os scm-terra nao concordaram. Muitas f<unilias haviam cnfrcntado problemas com malaria naqucla rcgifio. Nfio aceitaram o dcstcrro, o objctivo das fan1ilias era o latifUndio Macaxcira. H{l tempos, a Maeaxeira havia sido dividida em trczc fazcndas ( essa c uma cstrategia muito utilizada pc1os 1atifundiarios para cvitarem a dcsapropria.;ao), de modo que os scm-terra iniciaran1 as prcssOcs para tcntarcm mudar a con juntura. No dia 10 de abril de 1996, em torno de duas mil pcssoas iniciaram nova marcha para BclCm.
No dia 16 de abri1 de 1996, quando ehegaram na "curva do S", em Eldorado dos Cm·aj{ls, os scn1-tcrra decidiram bloqucar a rodovia PA 150, como fom1a de prcssionar o govcrno para a ncgociay3o c cxigir com ida. Con1 o bloqucio, o govcrnador cnviou um comandante da Policia Militar de Parauapcbas para negociar. Ficou acordado que, sc a rodovia fossc libcrada, o govcrno cnviaria alimentos c 50 6nibus para que os scm-terra fosscm ate MarabJ, ondc havcria ncgocia~Oes com o supcrintendcnte do
' Incra. As onze horas do dia 17 de abril, foram infonnados pclo comandantc que o acordo n3o seria cumprido. Os scm-terra dccidcm bloquear a rodovia novamcntc. As 16 horas chegaram do is batalhiics da Policia Militar: um vindo de Maraba eo outrode Parauapcbas. E nao vi cram para ncgociar. Chcgaram atirando c jogando bombas de g:ls lacrimogCnco. Os scm-terra tcntaram rcagir com pcdras c paus c com as poucas armas que tinham. Aconteccu o massacre. Segundo os dados oficiais: foram dczcnovc scm-terra mortos. A repercussiio desse fato foi intcmacional. Era o segundo massacre no govcrno Fcn1ando Hcnriquc Cardoso. 0 primciro foi ern Corumbiara, Rondonia, em 9 de agosto de 1995, quando quinhentas e quatorzc familias, organizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cmumbiara, oeuparam a fazenda Santa Elina. Durante o despejo violento, dcz scm-terra e dois policiais foram mortos.
No dia 2 de maio de 1996, doze mcmbros da Coordena<;ao Nacional do MST reuniram-se como prcsidentc Fernando Hcnrique Cardoso c como ministro da Rcforma Agriria, Raul Jungmann. Por causa do massacre, o prcsidcnte havia criado o MinistCrio Extraordinario de Politica Fundiaria, em 30 de abril de 1996, c dcmitiu o ministro da Agricultura Jose Eduardo Andrade Vieira, que tinha sob seu comando o Instituto Nacional de Coloniza<;ao e Reforma Agniria. 0 MST aprcscntou ao prcsidente alguns pontos fundamentais para a realiza.;ao da reforma agraria, rcsponsabilizou o governador Almir Gabriel co ministro da Justi<;a pclo Massacre de Eldorado dos Caraj:\s, cxigiu a prisao prcvcntiva dos policiais que partieiparam do cpis6dio e reivindicava a desapropriayao imediata do latifUndio Macaxciras.
Os scm-terra cntcrrarmn scus mortos c rctornaram para a Macaxcira. Metadc das familias sc dispcrsou. Em 1997, com nova vistoria, algumas areas da Macaxcira faram classificadas como improdutivas c parte do latif(mdio foi desapropriada, onde faram assentadas seiscentas e noventa familias em 18.089 ha. 0 assentamento foi batizado de 17 de Abril. 0 arquiteto Oscar Niemeyer projctou um monumcnto que chamou de Eldorado Memoria. No dia 7 de setembro, o monumcnto foi inaugurado em
209
Maraba. Duas semanas depois, com constantes ameayas de dcstruiviio pelos latifundiarios, o monumento foi derrubado a golpcs de picareta. No assentamento provis6rio as familias comcyaram a plantar suas primeiras ro<;as e a constituir os sctorcs de atividade do Movimento. lnauguraram suas escolas e os cursos de alfabctiza<;iio de jovcns e adultos. Nesse tempo, o MST inaugurou a Cooperativa Mista dos Assentamentos de Reforma Agraria do Sui e Sudeste do Para. Participando dessc proccsso de consolida<;iio do MST-PA, as familias do assentamcnto 17 de Abril reconstruiam suas vidas. Continuaram os trabalhos de base para organizar novas grupos de familias. A final, existem muitos sem-terra c muito latifundio para ocupar.
De I 0 a 17 de abril de 1997, em varios paises aeonteccram exposi.;oes de fotos de Sebastiiio Salgado, intituladas TERRA, com texto de Jose Saramago e um disco compacto com musieas eompostas c intcrprctadas por Chico Buarque. A primeira exposi<;iio acontcceu em Bruxelas, na Belgiea, quando o MST rcccbcu o Premio lntemacional Rei Balduino para o Dcsenvolvimento. As exposi<;oes foram cspa<;os, ondc o MST divulgou a !uta pcla terrae pela reforma agniria, denunciou a violencia c a impunidade, realizando varias manifcsta<;iics e instituindo o dia 17 de abril como o Dia Internacional de Luta Camponesa.
No Para, o MST continuou a !uta c a resistencia camponesa enfrentando os latifundiarios e a impunidade. No dia 14 de mar<;o de 1998, em tomo de quinhentas familias ocuparam a fazenda Goias II, em Parauapebas. Tentaram resistir, mas ante as amea<;as constantcs dos pistoleiros da fazcnda rcsolvcram desocupar a fazenda. No dia 26 de man;o, transferiram o acampamento para uma area prOxima ao assentamento Caraj<is e, durante a mudan<;a, foram cmboscados pelos pistolciros. No ataquc, nove scm-terra ficaram feridos e duas lideran<;as foram mortas: Onalicio Araujo Barros, conhecido como Fusquinha, e Valentim Serra. Em agosto de 1999, em Belem, aconteceu o primciro julgamento cos comandantes da opcra<;iio que resultou no massacre de Eldorado dos Carajas foram absolvidos. 0 julgamcnto foi intcrrompido. Ate o momento, a viol encia c a impunidade dos assassinos de trabalhadores sao uma realidade.
Por outre lado, os latifundi3rios-empres<irios fazem neg6cios com os conflitos. Como eo easo da fazenda Vale do Rio Cristalino. Esse latifundio de I 39.392 ha foi propricdadc da Volkswagem, que em I 973 reccbeu em investimentos U$ 25 mil hoes, sen do que da Superintendencia do Dcscnvol vimcnto da Amazonia vcio a maior parte. Segundo Martins, 1984, p. 79:
210
"Faz aproximadamente trCs meses que vdrios jornais do pais publicaram urn a dentfncia de trabalhadores rurais, peOes.firmada perante testemunhas idOneas em Cart6rio de Sao FC!ix do Araguaia, Mala Grosso, de que havia cerca de 600 escravos traba/hando nafazenda Vale do Rio Crista/ina, de propriedade da Vo/kswagem, no sui do Pard. Esses trabalhadores haviam conseguido fugir ... A grande empresa alemii de senvalve na AmazOnia cria~·iio de gada, com enormes subsfdios do governo brasileiro, que ultrapassam mais da metade de seu capital, em bases tecnicas sojisticadas ... "
Esse latifundio, que seria considerado uma empresa modcrna par Graziano Neto, foi vendido em 1986 para o Grupo Matsubara, do Parana. Em 1997, foi arrematado par Eufrasio Pereira Luiz, dono da Eufrasio V cicu1os- urn a concessiomiria Ford em Sao Paulo-, parR$ 20 milh5es em urn leilao. Em janeiro de 1999, o latifundiario pagou R$ 22,3 mil as lideran<;as do Movimento Brasileiro dos Scm-Terra (MBST), para que mile quinhentas familias ocupassem a Vale do Rio Cristalino. Imediatamente come<;aram as ncgocia.;5es como Incra para a desapropria<;ao do latifilndio por R$ 40 milhoes. A negociata foi dcscoberta eo processo esta paralisado 11
•
As familias que ocuparam a fazenda foram mobilizadas pclo MBST. Esse movimcnto nasccu no Distrito Federal, suas lideran<;as sao vinculadas ao Partido Socialista Brasileiro e rcalizam ocupa<;iies no Distrito Federal, no Maranhao c no Para. Esse e urn exemplo de coopta<;ao que mostra uma forma dos empresarios e latifundiarios se apropriarem de terras, como objctivo de tirar boas vantagens da questao agraria. Essa forma de fraude tern crescido com as condi<;5cs criadas pela recente politica govemamental implantada, denominada Banco da Terra, que surgiu para viabilizar a mercantiliza<;ao da qucstao agraria.
Distrito Federal 12
0 processo de forma<;ao do MST -OF comc<;ou em 1992. Nesse ano, aconteceram articulayOes para a mobilizayao de familias scm-terra. Eram experiCncias espontdneas e isoladas que contavam com o apoio de for<;as politicas locais: sindicatos rurais, urbanos e do Partido Socialista Brasilciro (PSB). No come<;o dos anos 90, o Movimento fora convidado para que viesse participar da !uta, contribuindo com suas experiencias. Num primciro momenta, veio urn sem-terra do MST-GO para conhcccr a rcgiao, as lutas cas perspectivas de organizar o Movimento. Depois de realizados os trabalhos de base nas cidadcs do Distrito Federal e nos municipios em tomo, foram constatadas as condi<;iies para a organiza<;ao do MST na rcgiao. As familias interessadas em lutar pcla terra cram migrantes de todas as regi5es do Brasil, predominando Nordeste c Nortc13 Muitas dessas familias vieram para Brasilia, com passagcns pagas pclos prcfeitos de seus municipios de origem. Noutros casos, os prefeitos fretavam 6nibus e as familias eram "despejadas" nas cidadcs satelitcs, ondc vinham a procura de empregos e, caindo na malha de politicos populistas, ganhavam lotcs urbanos.
Migrantes, dcscmprcgados, pcquenos chacareiros, compunham os interessados em participar da !uta pela terra. A primcira ocupa<;iio aconteccu no dia 15 de novembro de 1992, quando novcnta e duas familias ocuparam uma area no Distrito Federal.
11. A rcspcito, vcr: Follw de S. Paulo, 15 de agosto de 1999 c 27 de agosto de I 999.
12. A formayao do MST a partir do Distrito Federal comprccndc as rcgiOcs Lcstc goiano e Noroeste de Minas.
13. Um excmplo da predomin<ineia de migrantcs na !uta pel a terra no Distrito Federal esl:i na Disserta!;:io de mestrado de Molina, MOnica Castagna, 1998.
211
Para ajudar ncssa I uta c na organiza<;iio do MST -DF, vieram mais cinco militantes do Parana, Sao Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rondonia. Essa !uta foi realizada numa articulayao cmn o PSB, e no transcorrcr dos fatos, na construy5o da organizw;ao do acampamcnto, ocorrcram divergencias politicas, relativas a forma e ao contcudo da !uta. 0 MST priorizava a organiza<;ao por grupos de familias com a participayao nos nllcleos por sctorcs de atividadcs. N:lo intcrcssava ao Movimcnto uma dircyao de vanguarda, mas uma articulayao, em que a autonomia dos scm-tetra estivessc garantida. Afinal, a I uta era das familias scm-lena~ o Partido era uma institui<;iio de apoio a I uta~ e niio se sujcitavam as rela<;iies de dependcncia e ncm as politieas clicntelistas. As divcrgCncias levaram ao rompimento da articulac;ao. As familias foram asscntadas no Distrito Federal co MST sc retirou dcssa luta 14
.
0 MST continuou os trabalhos de base no Distrito Federal c nos municipios em tomo. Procurou formar uma articulayilo cmn os sindicatos dos trabalhadorcs rurais, mas cnfrentava problemas co1n os intcrcsses dos sindicalistas que qucriam limitar as lutas a sua base territorial. Todavia, o MST prctcndia fazer lutas massivas, organizando grupos de familias do OF c das regiiies circunvizinhas. Com os trabalhos de base, o Movimcnto mobilizara em ton1o de setccentas familias c tcntou fazcr uma ocupa<;iio cmjulho de 1994. Houvc vazamento das infonna<;oes e a a<;iio foi impedida por divcrsos bloqueios fcitos pcla Polieia Militar, que obrigou o retorno dos caminhocs aos municipios. Nesse tempo, estavam acampados em Brasilia oitenta scm-terra do MST-PA, que haviam oeupado a area denominada Cinturao Verde~ uma concessao da Companhia Vale do Rio Docc- c prcssionavam o govcrno para ncgociar o assentamcnto. Parte das familias organizadas do MST -DF partieipou dcssc acampamento, rcivindicando tambCln o scu assentamcnto. Dcpois de do is mcscs de acampamcnto, scm perspectivas de mudar a conjuntura, os scm-terra paracnscs rctornaram, enquanto os scm-tcn·a do OF c em tmno partiram para nova ocupa~ao.
No dia 13 de sctembro de 1994, em tomo de ccm familias ocuparam a fazcnda Do is Irmfios, na Regifio Administrativa de Brazil3ndia, no OF. Pcrmancccram acam-
~
padas ate janeiro de 1995, quando foram dcspejadas. Nessa trajetoria de !uta e rcsistCncia, montaram acampamcnto na Rcgifio Administrativa de Sobradinho. Ncsse proccsso, parte das familias dcsistiu, rcstando apenas scsscnta familias. Dcpois de avaliarcm a con juntura da I uta, dccidiram organizar o que dcnominaram de acampamcnto aberto. Rctomaram aos seus municipios e intensificaram os trabalhos de hasc no OF c nas rcgiOcs Lcstc goiano e Noroeste de Minas. Conseguiram a ccssao de uma area pertencentc a um pcqucno proprictario, em un1local cstratCgico, a margcm do rio Preto, localizado proximo a fronteira do OF, com OS Estados de Goias c Minas Gerais. 0 accsso ao local era possivcl por cstradas de terra, de modo que poderiam cvitar as barrciras policiais. Dessa forma, em maio de 1995, montaram um acampamento aberto, onde rcuniram em torno de mil familias e rcalizaram o Primciro Encontro do
14. 0 PSB nmtinuou articulando lutas no OF c acahou por criur o Movimcnto Brasilciro dos Scm Tcrn1. MAST.
212
MST-DF. Elcgcram uma coordcna,ao provis6ria e trac;aram as linhas politicas de atuayao do Movimento para o anode 1995, programando uma ocupac;ao massiva para o segundo scmcstrc. Esse tipo de acampamcnto e urn cspac;o de socializa,ao politica, onde as fatnilias discutem a con juntura c as lutas necess3rias para transform:l-la.
Em julho de 1995, quinhentos scm-terra de sse acampamcnto participaram do 3" Congresso de MST, em Brasilia. A cxpcriencia dessa participayao, quando puderam conhecer a amplitude da organizac;ao, deu novo animo ao MST-DF. No dia I' de setembro de 1995, scisccntas e cinqucnta familias ocuparam a fazcnda Barriguda, de 4.681 ha, no municipio de Buritis, na regiao Noroeste de Minas. Havia um laudo tccnico que classificava a Barriguda cmno produtiva. 0 MST rcivindicou nova vistoria c resistiu na area. No dia 10 de sctcmbro, duas pontes que possibilitavam o accsso dos acampados as cidadcs pr6ximas foram dcstruidas por jagun<;OS. Havia urn mCs que acontcccra o massacre de Corumbiara e, tcmcndo mn ataquc de pistolciros ou da pollcia, parte das f3milias abandonou o acampamcnto. Por fim, o novo laudo classificou o latifllndio como improdutivo co Incra iniciou o proccsso de desapropria~ao. Foi a primeira conquista do MST -DF, cujo asscntamento vcio a sc chamar Mae das Conquistas. As a96cs compreendidas dcsdc a articula.;ao, em 1992, ate a conquista da Barriguda, em sctcmbro de I 995, marcaram o processo de gcsta<;ao c nascimento do Movimcnto dos Trabalhadores Rurais Scm Terra no Distrito Federal e em tomo.
No dia 26 de novcmbro de 1995, o MST fez nova ocupa<;ao com ccnto e cinquenta familias no municipio de Agua Fria de Goias, na microrregiao em tomo de Brasilia. A fazcnda ocupada, de 2.760 ha, pcrtcncia a urn dcvcdor do Banco do Brasil, que cntrou em ncgocia\=30 como Incra c a fazenda foi desapropriada, formando assim o asscntamento Terra Conquistada. Ainda, em 1995, o MST apoiou a ocupa<;iio da fazenda Sarandi, em Planaltina no Distrito Federal, porum movimento isolado, de 25 familias que conquistaram a terra c se vincularam ao Movimento. Nessa mesma area, em abril de 1996, o MST criou mais um acampamento aherto, ondc durante tres mcscs oitoccntas familias acamparam c sc mobilizaratn como objetivo de fazcrcm uma ocupa<;iio massiva. Durante o tempo de acampamento, os scm-terra realizaram urn eonjunto de atividades para tOrtaleccr a organizayiio. Convidaram parlamentarcs, sindicalistas, religiosos e prefeitos que apoiavam a !uta para discutircm con1 as familias a rcspcito de suas perspectivas na !uta pela terra. Nesse tempo, o MST negociava cmn o govemador Cristovam Buarquc, que assumiu o comprmnisso de as sen tar duas mile quinhcntas familias.
Nesse espayo de sociahza\=iio politica os scm-terra foram definindo as ayOcs neccssarias para a conquista da terra. Colocavmn em pratica a palavra de ordcm "RciOnna Agraria: uma !uta de todos", procurando cnvolvcr difcrcntcs sctores da socicdade na !uta. No dia 30 de julho, ocuparam a fazenda Grotao, em Plana! tina. 0 proprictario entrou com pcdido de liminar de rcintegrac;ao de posse c, antes que acontcccsse o despcjo, o MST ncgociou o asscntamento das familias em areas do Govemo do Distrito Federal, nas Rcgiiics Administrativas, onde foram implantados os asscntamcntos: Nova Vit6ria e Rccanto da Conquista em Sao Sebastiao, c Trcs Conquistas em Paranoa.
213
Nesse tempo, com as experiencias adquiridas e com a forma9ao de novas lideranyas, organizaram outro acampamento aberto, com duzentas familias, no municipio de Cabeeeiras, na mierorregiao goiana em tomo de Brasilia. No dia 14 de julho, nessa mesma regiao, as familias ocuparam a fazenda Valeda Boa Esperan9a, de 8.820 ha, no municipio de Fonnosa, que tambem foi ocupada por duzentas e trinta familias organizadas pelo sindicato local. 0 latifundio j:i estava em processo de dcsapropria9iio, de modo que as familias foram assentadas c denominaram a area de Valeda Conquista.
Com essas conquistas, os scm-terra comeyaram a sc preocupar com a organicidadc do Movimcnto. lnvestiram na fmma9iio dos sctorcs de atividadcs nos assentamcntos c dcfiniram as instfrncias de represcntayao para fortalcccr a cstrutura organizativa do MST-DF. Elegeram os rcprcsentantes do OF para a Coordcna9iio e Dirc9iio Nacional e criaram uma secrctaria. Dessa forma, o Movimento se consolidava e prcparava-se para continuar seu processo de territorializayao.
Mato Grosso
H:i tempos, o MST tinha a preocupa9iio em se organizar em Mato Grosso, pois mantinha contato com lideran9as de movimentos popularcs. Essa questao semprc csteve prescnte no interior do MST, porque em Malo Grosso a !uta pela terra tern aumentado muito atraves da organizayao de movimentos sociais isolados, dcvido a grande demanda de familias scm-terra em urn cstado que possui uma intensa conccntra9ao fundiaria.
As terras do Estado de Mato Grosso foram apropriadas por meio da expropria9iio das na96cs indigenas. Durante o govemo militar, especialmente desde o inicio dos anos 70 ate meados da dccada de 1980, o estado foi o "paraiso" da coloniza9iio particular. 0 Incra tambem criou diversos projetos ofiCiais de coloniza9iio. Muitos dcsscs projetos foram implantados em tcrras indigenas, como por exemplo: em territ6rios Xavantes, Kreen-Akore, Apiaka, Kayabi etc. A apropria9iio dessas terras tambem aconteceu pela pratica da grilagem e muitos posseiros foram assassinados 15
Essas formas de apoderar-se das terras tinham como objetivo, entre outros, realizar a coloniza9iio dirigida. Ou seja, o govemo federal pretendia trazer para o Malo Grosso e para a regiiio amaz6niea os camponeses sem-terra das regioes Sui, Sudeste e Nordeste. Essa politiea ficou eonheeida como "Colonizar para niio refonnar" e signifieou um modo do Estado conduzir a apropria9iio das terras, entregando-as para empresas eapitalistas, tentando impedir sua ocupa9iio pelos possciros eo crescimento da organiza9iio sociopolitica dos camponcses. Do mesmo modo, rcpresentou a imposi-
15. A rcspcito, vcr Oliveira, Ariovaldo Umbel ina de. A ftnnteiru amazUnica mato-grossense: grilagem, corrupr;iio e J•iolencia. Tcsc de Llvrc-DocCncla. Departamento de Gcografia, Faculdadc de Fllosofia, Lctras c CiCncias Humanasda Univcrsldadc de Sao Paulo, 1997.
214
<;iio dos militares para niio fazer a rcforma agn\ria. F on;ou, assim, a migra<;iio das familias scm-terra e entre elas vicram tambem 252 familias de colonos que estavam acampadas na Encruzilhada Natalino, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sui, que faram trazidas pelo major Curio. A maioria absoluta das familias retornaram para o Rio Grande do Sui. Em 1986, restavam apenas 15 familias 16
Todavia, em parte, essas politicas de colonizaviio fracassaram c a !uta pcla terra continuou crescendo em Mato Grosso por meio das a<;oes dos trabalhadorcs scm-terra c os posseiros prosscguiram lutando pela terra, como sujcitos de suas realidadcs. Em 1995, a !uta foi intensificada com as a<;iies do MST, que iniciara sua primeira cxperiencia no estado. NoT Encontro Nacional, realizado em Salvador, em dczcmbro de 1993, o MST comemorava I 0 anos de existencia. Nesse evcnto, os scm-terra decidiram que o MST iria se organizar em Mato Grosso. Se par urn !ado consideravam os pcdidos das organiza<;oes populares c instituiviics de Mato Grosso, por outro tambem atendiam a necessidade de crescimento do proprio Movimento.
No segundo semestre de 1994, alguns militantes dos Estados de Rondonia, Mato Grosso do Sui, Santa Catarina e Rio Grande do Sui dirigiram-se para o estado como proposito de fun dar o MST -MT. Os primeiros trabalhos foram as visitas e as reunioes com profcssores da Universidadc Federal de Mato Grosso, com membros do Partido dos Trabalhadores, com agentcs de pastorais da lgrcja Cat6lica, padres c freiras da Comissao Pastoral da Terra c membros de diferentes sindicatos de trabalhadorcs filiados a Central Unica dos Trabalhadores, para a formalizaviio da articulaviio de apoio a formaviio do MST. Nesses cncontros, as entidadcs forneceram informaviies e dados sabre as centenas de conflitos par terra: as lutas de resistencia dos posseiros c dos sem-tcrra. Eram experiencias isoladas c fragmentadas em muitos grupos de familias. Por essa razao, nao conseguiam pressionar o Estado para resolvercm os problemas. Depois das rcunioes realizadas nas cidades de Rondon6polis e Cuiabil, foram iniciadas as visitas aos acmnpamentos de scm-terra em municipios das regiOcs Centro-Sui c Sudeste do estado.
Conheccram experiencias e~pontdneas e isoladas e outras organizadas e isoladas. Os grupos de familias eram conhecidos pelo nome do lider. Assim, existiam o movimcnto do JerOnimo, do Aparicio etc. Constatadas as cxperiE:ncias existcntes, os coordenadorcs do MST propuseram urn encontro com as organizav6es de apoio para fazcrem uma avaliayao das visitas aos acmnpamentos.
Em fevereiro de 1995, em urn cncontro de tres dias foi avaliada a con juntura eo MST apresentou as organiza<;oes de apoio a sua forma de organiza<;ao, bern como os seus principios, objetivos e estratcgias. Tambem estiveram presentes algumas lideran<;as de acampamentos. 0 Movimento propunha uma outra fom1a de organiza<;iio social, com setores organizados e participa<;iio das fami!ias nas decisoes mais impor-
16. Vcr capitulo 2: Nova Ronda Alta: terra promctida.
215
tantes. Pretendia-sc fortalecer a organiza<;ao dos trabalhadorcs para territorializar a !uta. Diante dcsscs fatos, ficou dccidido que o MST iniciaria a !uta na regiao Sudcste Mato-grosscnsc, onde existcm grandcs latifllndios c ondc sc cstabelcccratn as grandcs empresas agropccwlrias. Existc un1a forte organizay3o dos fazcndciros e latifundi3rios, que afin11avam n3o haver terras na rcgi5.o que pudesscm scr uti! izadas para rcfonna agrii.ria, c por cssa raz5.o todas as lutas por terra cram sufocadas. Por outro !ado, Conde cst3 scdiada a imprcnsa conde sc conccntram mil hares de familias scm-te1Ta. A dccisao de cscolhcr essa rcgiao como priorit3ria dcfinia outro cixo das lutas que acontcciam, na sua maioria, nas rcgiOcs Nmie c Nordeste Mato-grosscnscs.
0 objctivo principal do cncontro era fazer avanc;:ar a !uta pela terrae a organiza~ao dos scm-terra no est ado. De modo que, apOs a cria~ao de uma coordena~ao provisOria, come~aram os trabalhos de organiza~ao das familias sem-ten·a, moradoras das pcriferias dos municipios da rcgiao. Iniciava-se assim a formayD.o do setor de Frente de Massa, por meio do trabalho de base. No inicio, os militantes cnfrcntaram uma sCric de diflculdadcs, porque as familias ja nao acreditavam na pcrspectiva das !utas, por causa da fon11a como cram realizadas pclos grupos isolados. Nas rcuniOcs, muitas familias afirmaram tcr participado de v3.rias ocupa~Oes c foram dcspcjadas violentamcnte pcla policia c por milicias, em que os traba\hadorcs haviam sido torturados. Por nao terem aican~ado nenhum resultado, havia uma forte descrenya na possibilidadc de lutarem pel a tena. T atnbCm estavam cansadas dos oportunistas que cadastravam as familias, faziam carteirinha c cobravam uma taxa mensalmente. Levavam as familias para varias rcgiocs do cstado, mas nunca foram asscntadas.
Ao mesmo tempo em que eratn feitas as reuniOes nas cidades, tambCm aeonteciam os trabalhos nos aeampamentos no sentido de acompanhar as lutas em dcscnvolvimento. Durante os trabalhos de base, as lideran~as do Movimento procuravam salientar as difcrcnyas existentes entre o MST c os movimentos isolados. Argumentavam, rclatando as diferentes experiCneias do MST pelo paise as conquistas realizadas. 0 principal argumento utilizado era que o Movimento sc diferenciava dos outros por serum movimento nacional. Com esscs trabalhos, pela supcray8.o dos receios c pcla prOpria nccessidade das familias scm-terra em fazer a I uta, comeyou a aumentar o nlimero de famihas pm1icipantes nas rcuniOcs de base.
Pelo fato dos coordenadorcs do MST screm jovcns, cram conhccidos como "os meninos do Movimento Scm Terra". Isso atrapalhava porum !ado, mas ajudava por outro. Sc poderia transparecer inexpcriCncia, tambCm rcvclava a seriedade do trabalho que vinha scndo rcalizado, pcla constante presen<;a dos militantcsjunto as comunidades. Da mesma forma, o trabalho de alguns padres, de profcssores da Univcrsidade, de membros do Partido dos Trabalhadores ajudou muito, afian10ando a organizay3.o dos scm-terra. Cada familia que passava a confiar no Movimento procurava conveneer outras familias para trazerem na prOxima reuni8.o. Dessa mancira, em algumas comunidades ondc nas primeiras rcuniOes vi cram 5 familias, nos encontros scguintcs vinhan1 trinta, quarenta, atC scssenta familias.
216
0 Movimento entendia que nilo era possivcl fazer ocupa<;Oes com um nU.mcro pequeno de familias; pretendia fazer uma ocupa<;5o massiva. Por cssa razao, propOs a um grupo de ccnto c cinqiicnta familias de un1 movimento isolado que participassem conjuntamcnte de uma grande ocupa<;iio na rcgiiio Sudcstc. A proposta foi infrutifcra e acabou prcjudicando o trabalho rcalizado nas comunidades. A lidcran<;a dcssc grupo isolado argmnentava que assentar cento e cinqiicnta familias j;i era dificil, as sen tar mil familias era impassive!. De modo que tentaram dcsarticular os trabalhos que o MSTja havia rcalizado. Contudo, pcla consistCncia do traballio de base, da mistica realizada, a intcn<;fio do gnLpo fracassou eo Movimento continuou a organizayao das familias para a sua primeira ocupac;ao no cstado. As rcuni6es eram espa<;os de socializayao politica, ondc sc discutia a realidade das familias scm-terra, a questao agr:iria, a politica do governa c as raz6cs da nao realiza<;3o da reforma agr;iria. Nesses espa<;os, proeuravam recupcrar as trajctOrias das familias e as a<;Oes que precisavam desenvolver para mudarcm as suas realidades. Conformc os grupos de base iam sc fonnando, as prOprias familias indicavam outras comunidades, ondc cmnc<;avam mn novo trabalho.
No dia 14 de agosto de 1995, o MST -MT fez sua primeira ocupayiio. Nessc dia, aproximadamente mil e cem familias ocuparam a fazenda Alianc;a no municipio de Pcdra Prcta, na regiao Sudeste Mato-grosscnse e batizaram o acampamento de Zumbi dos Pal mares. Essa ac;ilo represcntou a inaugurac;5o de uma nova fonna de luta pela tetTa no estado e procurava romper com a concep<;iio das lutas isoladas e fragmentadas. Por outro I ado, dcsafiava o argumento dos cmpres;irios e latifundiirios que defendiam nao haver terras na regiiio para fazer asscntamentos. AICm de cortar a cerca do latifundio, o MST qucbrava o discurso politico dos latifundiarios, que scmpre sc organizaram para rechac;ar as ocupac;:Ocs naqucla regi8.o. 0 questionamento da realidade estava colocado. Daquclc momenta em diante, o MST procurou a negociayao em busca de uma soluyao para o seu problema. No processo de ocupac;ao, reprcsentantes de vUrias instituiyOcs compareccratn para apoiar a !uta. As familias contaram com a prcsen<;a de cstudantcs c professores da Univcrsidadc, de dcputados do PT, de presidcntcs de sindicatos, agcntes de pastorais, padres c frciras da CPT, obispo de Rondon6polis e cntidades de dircitos humanos. A bandcira do MST foi hastcada pcla primeira vez num latifU.ndio em Mato Grosso.
A organizay8.o daquelas fatnilias rcprescntava a difercn<;a. 0 acampatnento estava organizado em grupos que formavam nU.cleos. A forma de organizac;:ilo eo conjunto dos apoios colocavam critCrios para a negociayao. Nao era um gtupo isola do de um tnovimento espont3.nco. Era um movimento organizado c aquela ocupayao tnarcava o inicio de seu processo de territorializa<;5o no cstado. Por essas raz6es, aqucla I uta precisava triunfar. Do mesn1o modo que o latiflmdio estava em questao, a vida do Movimento tambCm estava. Se naqucla ocupa<;8.o houvesse violCncia, se nao houvesse eonquista, dificultaria scriamente o trabalho do MST -MT. 0 Movimento e as organizac;Oes de apoio tivcram urn imenso trabalho para reunir um grande nU.tncro de familias e agora precisavam divulgar para a sociedade a sua forma de lutar pela terra c pela rcforma agraria.
217
A imprensa mostrava a novidade: "o MST chegou em Mato Grosso". 0 MST ja era noticia ha algum tempo, tanto pcla hist6ria de !uta e resistencia que vern construindo, quanta pelo fato de que acabava de realizar o seu 3° Congrcsso Naeional em Brasilia, quando promoveu urn eonjunto de manifesta<;iics que foram nacionalmente divulgadas. Alem disso, tres semanas antes, havia acontecido o massacre de Corumbiara em Rondonia. Todos esses fatos representavam a constru<;iio da !uta dos scm-terra, a qual o MST e divcrsos outros movimentos sociais tern realizado. Igualmentc contribuiam para que niio houvesse uma a<;iio violcnta por parte do Estado e do latifundio contra aquela ocupa<;iio. Essa situa<;iio fez com que a juiza adiasse, par vinte dias, a reintegra<;iio de posse. Muitos par! am en tares e outras personalidades nacionais c intemacionais ligavam para a juiza ou enviavam fax, telcgramas para que ela conversasse com os scm-terra antes de tamar qualquer decisiio. E, de fato, ajuiza chamou os coordenadores do acampamcnto para uma conversa e entendimcnto sabre a questfio. Foram tnais de dcz rcuni6es e algumas aconteceram no acampamcnto, ondc ajuiza foi conhecer a realidade das familias. Enquanto isso, os coordenadores foram negociando como governo estadual. Foram oito audicncias como governador Dante de Oliveira. Reunioes que aconteccram dia e noite, em Cuiaba e em Rondon6polis.
Nas rcuni5es, os coordenadorcs rcivindicavam o nao uso da violCncia em mn passive! despejo e a realiza<;iio do assentamento daquelas familias na regiiio Sudeste Mato-grossense. E que as familias nao dcixariam a fazenda Alian<;a sem o compromisso do governo em solucionar os seus problemas. Dcpois de vinte dias de negocia<;iio, a juiza deu a liminar de reintegra.;iio de posse. Nesse tempo, em um acordo assinado pelo MST, pelo govcrno estadual e pelo Inera, ficou deeidido que o acampamento seria transferido para uma area do Estado, de 60 ha, no municipio de Rondon6polis. Antes, os tem10s do acordo foram apresentados as familias que, em asscmbleia, os aprovaram.
As contrapartidas do acordo continham urn conjunto de compromissos que o govema deveria cumprir: I - vistoriar imediatamente a fazenda Alian<;a, bern como outras areas indicadas pclo MST; 2- assentar, em seis meses, todas as familias na regiiio; 3 - o In era fomeceria as cestas basi cas para as familias; 4- as familias iriam plantar coletivamcnte na area provis6ria; 5 - o governo estadual forneceria as Ionas para que as familias montasscm o novo acampamcnto e agua potilVcl; 6 - o govemo cstadual se comprometia a remunerar os profcssores intcrinos que trabalhasscm nas cscolas provis6rias do acampamento e a prefcitura garantiria o material cscolar e a merenda.
As familias cumpriram a sua parte, desocupando a fazenda Alian<;a c transferindo-se para a area detenninada no acordo. Todavia, o Estado niio cumpriu a sua parte. Passaram-sc os seis mcses e as vistorias nao foram concluidas, nao entrcgaram o nllmero de rolos de lana que constava no acordo, a agua que levaram para o acampamento niio era apropriada para o consumo, causando problemas de saude, principalmente nas crianyas, e as ccstas basi cas nao eram suficientes. Por todas essas raz5es, as fa1nilias rcsolveram iniciar urn processo de !uta pennanente. Bloquearam a rodovia, reivindicando ao governo que cumprisse com os acordos firmados e ocuparam a sede do Incra em Cuiabil. Muitos trabalhadores foram amea<;ados de morte pelos latifundiarios, que prcssionavam o governo para niio implantar nenhum assentamento na regiiio.
218
Enquanto todas essas a<;iies cram desenvolvidas, o MST come<;ou a se organizar na regiao Centro-Sui Mato-grossense, no municipio de Caceres, construindo espa<;os de socializa<;iio politica nas comunidades, forman do novos grupos de famflias. Pelas expericncias de quinze anos de !uta, a avalia<;ao do MST e das organiza<;iies de apoio era que a !uta deveria scr pcnnanente e ampliada, para que obtivesscm conquistas. 0 Movimento ja contava com uma sccrctaria na cidade de Cuiaba, o que agilizava os contatos e os trabalhos de base. A organiza<;ao dos sem-tcrra da nova regiao contou com a participa<;iio de alguns militantcs formados na primeira ocupa<;ao. Como crescimento da forma de organiza<;ao do MST, constantementc, alguns militantcs passaram a scr amca<;ados de mortc. Pistoleiros foram contratados pclos latifundiarios para fazer a "limpeza da area". Todavia, a divulga<;ao dada pela imprensa a respeito das amea<;as intimidou a repressao. Tambem em 1995, o MST-MT rcccbcu o premia do Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade, pclo seu trabalho em defesa dos direitos dos scm-terra.
Sete municipios da regiao Centro-Sui foram visitados, onde sc realizaram os trabalhos de base desde o final de 1995 ate abril de I 996, quando o MST cfctivou a sua scgunda ocupa<;iio no estado. No dia 8 de abril, mile quinhentas e Ires famflias ocuparam a fazenda Santa Amelia no municipio de Caceres c criaram o acampamento Margarida Alves. A liminar de reintegra<;iio de posse saiu imediatamente, e mais uma vcz o MST reivindicou a presen<;a do governo estadual e do Podcr Judiciario para discutirem o destino das familias. 0 vice-governador Marcia Lacerda estava no poder. Era um politico populista, natural de Caceres e prmnetera uma solu.;ao para as familias. Pouco mais de uma semana depois da ocupa<;iio aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajas no Estado do Para. Todos esscs fatos cram referencias para que o Estado evitasse a rcpressao contra os scm-terra e forrnalizasse urn proccsso de negocia9ao para o assentamento das familias.
V arias rcuniOes foram rcalizadas com o govern a cstadual e com o lncra, mas a negocia<;iio nao avan<;ava. De sse modo, os sem-terra procuraram a juiza para conseguir urn prazo maior de pcrmanencia na circa, ate que conseguissem uma solw;ao junto ao Estado. Como a negocia<;iio niio avan<;ava na dire<;iio de uma possivel solu<;iio, o Movimento solicitou ao vicc-govemador que convenccsse o fazendeiro a ceder uma area de 10 ha, on de cstava localizado o acampamento, para que Ia as familias pcnnanecessem ate que fossem assentadas. As organiza<;iics de apoio tambem participavam das reuniiics, fortalecendo as rela<;iies entre trabalhadores scm-terrae as institui<;iics competentes para resolver o problema. Assim, foram todos negociar como fazendeiro: o vicc-governador, seu secretariado, parlamcntares e tambi:m o bispo da regiiio. Depois de dais dias de negocia<;iio, finalmcnte chegou-se a um acordo: as familias pctmaneceriam onde estavam acampadas por urn prazo de seis meses. Ncssc tempo, o govemo estadual eo Incra se comprometiam em vistoriar algumas areas, para asscntar em ate seis meses as familias do acampamento Margarida Alves e agilizar o assentamento das familias do acampamento Zumbi dos Palmarcs.
219
Esse acordo foi importante porque animava a !uta e possibilitava o prosseguimcnto das negociac;Ocs. 0 acampamcnto ficava em uma area bcm localizada, na BR 364, que liga Cuiaba a Porto V clho, a 28 km da cidade de Caceres. 0 MST ocupava um cspa<;o politico fundamental para divulgar a !uta pcla rcfom1a agn!ria na regiiio. No dia seguinte, o fazendeiro retirou o pedido de reintcgra<;iio de posse. Mas, outra vcz, o acordo nao foi cumprido ncm pclo governo estadual, ncm pclo Incra. Divcrsas a<;iies de protesto, articuladas pelos acampamentos das duas regiiies, foram desencadeadas. Os scm-terra ocuparam o Incra varias vczcs, fccharam as rodovias, mas nao conseguiram uma rcsposta positiva do govemo.
Frentc a intransigencia dos govern as estadual e federal. o MST decidiu, dcpois de um proccsso de discussao com as organizac;Oes de apoio, rcalizar duas caminhadas rumo a eidade de Cuiaba. No dia 17 de julho de 1996, as familias acampadas inieiaram as marchas rumo a capital do estado. Foram 950 pcssoas do acampatncnto Margarida Alves e 450 pcssoas do Zumbi dos Palmares, que caminharam 250 km cada grupo. 0 objetivo era de se cncontrarcm na entrada de Cuiaba para rcalizarcm uma grande manifcstay:lo, cxigindo que o govcrno do estado co Incra cumprisscm com os acordos finnados. As caminhadas foram fatos novas no estado c chamou a atenc;:lo da sociedade. A popula<;ao da cidadc p6de acompanhar diariamente o drama eo sacrificio das familias. A marcha que vinha de Rondon6polis sofrcu um atentado. Uma caminhoncte F -4000 atropelou e matou o trabalhador Geraldo Pereira Andrade. Par causa dcsse acontecin1ento, as duas can1inhadas pararam e fccharam as rodovias atC que fossc prcso o motorista, o que aconteceu no mesmo dia. No dia 3 I de julho, as duas marchas se encontraram na entrada da cidade de Cuiaba. Manifestaram para a sociedade os descasos do governo com rela<;ao a reforma agn!ria. 0 governo do estado alcgava que a quest3o n:lo era de sua compctCncia. 0 Incra nao viabilizava os asscntamentos porque n:lo tinha interesse em implantar asscntamcntos naquclas regi6es. Propunha levar as familias para as regiiics Norte e Nordeste do cstado.
Diante do impasse, os scm-terra decidiram pennaneccr em Cuiaba. Ocuparam a sedc do Incra e resolveram que s6 sairiam se fossem assentados. A ncgociay:lo havia chcgado a scu limite. Na primcira semana de setembro, o MST cntrcgou os I 0 ha ao fazendeiro confonne o cmnbinado e transfcriram o acampamento para a margem da rodovia. Diante da evidencia dos fatos, do comportamcnto dos scm-terra de cumprirem todos os acordos c exigirem do governo a mcsma postura, a situay:lo estava ficando insustentavel. Todavia, em setcmbro come<;ou a colheita dos primeiros frutos da luta. 0 Incra arrecadou algumas areas e iniciou o proccsso de assentamento das familias. Primeiro fora1n assentados os gn1pos de familias da rcgi:lo Sudcste. Confon11c as areas cram libcradas, rcalizava-sc urn sorteio cos grupos scguiam direto para a terra. Par fim, rcstou um grupo de familias do acampamcnto Margarida Alves, que tcve que ocupar a unidadc avan,ada do Incra de Caceres e depois de quarenta dias tambem foi assentado. Ate o final de outubro foram conquistadas 16 areas e as familias das duas regiiies foram asscntadas. Desde o primeiro semcstre de 1996, pelo menos vinte fazendeiros ofercceram suas propriedadcs ao Incra c declararam accitar os Titulos da
220
Divida Agraria para pagamento 17. Muitas das areas arrceadadas foram aprescntadas
pclos pr6prios scm-terra para qne o Inera agilizassc a negocia<;iio.
Em pouco mais de trinta dias, todas as familias cstavam c1n pr6-asscntamcntos. 0 primciro asscntamcnto implantado foi no municipio de Juscimcira e rcccbeu o nome de Geraldo Pereira Andrade. Nesse cntretanto, enquanto ainda as familias estavam scndo transfcridas para as areas, no dia 9 de outubro acontcceu um acampamcnto aber1o na regiao Sudoeste Mato-grosscnse, no municipio de Nova Olimpia. Dcssa vcz, nao houvc ocupay3.o, tnas sim uma conccntrac;Uo de mais de 1 .000 familias. Os coordcnadorcs dos grupos que se organizaram no acampamcnto cram militantes formados nas duas primciras lutas.
A eonccntra<;ao era para aconteeer em uma area eedida pclo vice-prefeito de Tangad da Scna. Todavia, no dia que cstava tnarcado para iniciar a ac;iio, cle voltou atr3s, pressionado pelos latifundiarios c por politicos do Partido da Frente Liberal. As familias tivcram que acampar nas margens da rodovia. Um acidcnte fatal causado por uma carrcta desgovernada matou cinco trabalhadores. Era noite eo motorista estava bCbado. Com essa fatalidade, as familias cxigiram do govcrno uma area para pcrmancccrem acampadas, enquanto succdia o processo de ncgociay3o para o asscntmnento. As familias eonscguiram uma area de 20 ha dentro da fazenda ltamarati, cujo dono, Olacyr de Moracs, cstava intercssado en1 negociar a venda da fazenda para o Incra. Em Tangara da Sena, havia um latifimdio que o MST indicou ao Incra, uma area de 37.000 ha, que foi vistoriada e rcsultou improdutiva. Depois dos processos de ncgoeia<;ao, a area foi dcsapropriada cas familias foram transfcridas e fundaram um dos assentamentos mais cxtensos do Brasil: o AntOnio Conselheiro.
Do is anos depois de o MST ter iniciado os trabalhos de forma<;ao em Mato Grosso, ja havia conquistado 17 asscntamentos, ondc passaram a viver mais de duas mil familias em 88.000 ha. Contava com trCs secretarias, uma na capital, uma em Caceres e outra em Rondon6polis. Na rcalizay3o dos cncontros rcgionais e dos cstaduais, os scm-tciTa definiam as politicas da luta c organizavam os sctorcs do Movimento, no processo de consolida<;ao da forma de organiza<;ao social. Realizaram diversos cncontros dos setorcs para articularcm as atividades dcsenvolvidas pelas familias assentadas e acampadas. 1996 foi urn ano de muitas lutas e conquistas. Em julho realizaram o primciro encontro de professorcs e lideran<;as de assentamentos. Em 12 de agosto, dia do anivcrsario de Margarida Alves e Dia Nacional de Mobiliza<;iio das Mulhercs contra a Violencia no Campo e pcla Refonna Agraria, acontcceu um encontra, quando participaram quatrocentas mulheres dcbatcndo a respcito de suas participa<;oes nas lutas pcla terrae pel a rcfom1a agraria. Todas cssas atividades fortalcceram a mistiea da !uta, contribuindo para fonna<;ao do MST -MT.
17. Nos Ultimos a nos, com a dirninui(,':iio do prcyo da terra, muitos fazendciros procuraram vender suas terras ao !nera. como forma de transfcnrcm scus cap1lais para outros set orcs da cconomia.
221
Em seu processo de forma<;ao e territorializa<;ao, por meio dos trabalhos de base, o MST come<;ou o anode 1997 com duas grandes ocupa<;6es simultiineas e um conjunto de outras a<;6es. Em mar<;o, o Movimento organiza uma oeupa<;ao no municipio de Sao Jose do Povo, na regiao Sudeste, com mil e seisecntas familias e o aeampamento recebeu o nome de "Padre Josimo". A antra aconteceu na regiao Centro-Sui, no municipio de Caceres com 1.500 familias eo acampamento foi batizado de Roseli Nunes. Os latifundios ocupados apresentaram problemas em comprovar a documenta<;iio e nao ocorren o despejo das familias, que come<;aram a preparar a terra para plantar. Apesar das liminares de reintegra<;iio de posse, o Movimento reeorreu ao governa estadual e ao Incra que comeyou as vistorias nas areas para desapropriayllo.
Em fevereiro de 1997, da regiiio de Rondon6polis partiu uma das eolunas da Marcha Naeional: Refom1a Agraria, Emprego e Justi.;a", que reuniu os Estados de Rondonia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goias, Distrito Federal e em tomo. Faram trezentos integrantes dos quatro cstados que caminharam ate Brasilia, promovcndo um fato hist6rico da !uta dos trabalhadores e rcgistrando a eonsolida<;ao do MST como o mais amplo movimento social do Pais. Tamb6m em Cuiaba, foi realizado um grande ato com mais de 1.200 scm-terra das tres regi6es do estado e reuniu mais de 4.000 trabalhadores de varias categorias.
No dimensionamento da !uta, novas desafios foram surgindo. No primciro semestre de 1997, o Setor de Educa.;ao realizou diversos encontros, como par exemplo dais encontros regionais dos sem-terrinha, o Primeiro Eneontro de Edueadoras e Educadores da Reforma Agraria e inieiou as trabalhos de alfabctiza<;ao de jovens e adultos dos assentamentos e acampamentos. Foram realizadas atividades de forma<;ao envolvendo as familias assentadas e as aeampadas como objetivo de fortaleecr a consolida<;:ao do Movimento.
Contribui~iies e desafios do MST para a trausforma~iio da realidade
Em seu processo de forma<;:ao e territorializa<;:ao, o MST constituiu uma estrutura organizativa multidimensionada em setores de atividades. A !uta pela terra c uma !uta de resistencia e no seu desenvolvimento, desde as trabalhos de base ate depois da conquista da terra, desdobram-se outras lutas. Os scm-terra nao sao apenas excluidos da terra, tambem sao excluidos de outros direitos basicos da cidadania. Dessa forma, procuram dcrrubar outras cercas alem das cercas do latifundio. E para conquistarem seus direitos, dimensionaram a !uta pela terra em !uta por educa<;:iio, par moradia, por trans porte, par saude, por politica agricola, enfim par uma vida digna. A exclusao dos trabalhadores e resultado das desigualdades geradas pelo desenvolvimcnto do capita-
18. As outras colunas da Marcha partiram de Siio Paulo, com scm-terra dcstc cstado c dos trCs cstados do Sui: c de Govcmador Valadarcs (MG), com scm-terra dcstc cstado, do Rio de Janeiro, do Espiritu Santo c Bahia. Com cssa manifcstayao o MST scdcstacou como uma das principais tOryas politicas de oposiyiio ao govcmo Fernando Hcnriquc Cardoso.
222
lismo, portanto, como afirma Martins, 1981, p. 177: "ja niio ha comofazer para que a /uta pel a terra niio seja uma !uta contra a capital, contra a expropriac;ao e a explorac;iio que estiio na sua essCncia ''. Compreendcndo essa rcalidade, os sem-terra criaram uma forma de organiza.;ao na qual os setores interagcm as dimensoes das divers as atividades, o que tem possibilitado amp liar a resistencia a expropria.;ao, no desenvolvimento da !uta de classes.
Por uma escola do campo
Nessc senti do, as dimensiics da !uta pela terra cstao eontidas nas atividades dos setores do MST. E uma dimensao importantc dessa !uta c a educa<;ao. Assim, con forme analisamos no capitulo 3, na segunda metade da decada de 1980, os sem-tcrra come<;aram a construir o Setor de Educac;ao, inieiando a clabora<;ao de uma pedagogia do Movimento e ocupando um importantc cspayo no territ6rio da hist6ria da educa(:iio (Caldart, 1999, p. 328). Dessc modo, como a firma Caldart, c preciso:
"Enxergar a escola como send a mais que escola, Q medida que seus novas sujeitos afazem sair de si mesma, e encarnar o ambiente educativo que e capaz de constitui-la como um Iugar em que as Sem Terra possum encontrar-se consigo mesmos, cuidando de sua identidade e de sua continuidade historica" (Caldart, 1999, p. 328, grifos da autora).
As escolas de assentamcntos c aeampamcntos devem ser cspa.;os de formac;ao humana dos sujcitos que as conquistam. Nao podem ignorar as suas lutas e resistCncias, negando a comprccnsao das condi<;6es de cxis!Cneia daqueles que fazcm a escola. Dessc modo, a !uta pela edueac;ao 6 tambem um desafio para os scm-terra. Porquc nao basta lutar pel a eseola, c prcciso eonstrui-la, no senti do de elaborar experieneias pedag6gicas voltadas para as suas necessidades e interesscs. Assim como a !uta pela cseola e uma dimcnsao da !uta pel a terra, a edueac;ao e um setor de atividade do MST. Com a organiza<;ao dessc setor, o Movimento deu os primeiros passos para superar os desafios referentes ao analfabetismo e a baixa escolaridade. Uma pesquisa realizada entre julho de 1994 e julho de 1995, nos aeampamentos e assentamentos vineulados ao MST, demonstrou que o fndiec de analfabetismo dessa popula<;ao era de 29%. A respeito da escolaridade das erian<;as, eonstatou-se que apenas 1,6% eonclufam o ensino fundamental; eerea de 20% das erianc;as e 70% dos jovens e adultos nao tinham aeesso a escola 19
• Para ten tar superar essa situac;ao de exclusao e de precariedade da escola publica, foi iniciado um eon junto de atividadcs que envolveram diversas institui<;iies.
J9. Univcrsidadc Esladual Paulista. Movimcnto dos Trabalhadorcs Rurais Scm Terra. Pesquisa nacional poramostra da sitlta('tlo educacionul em assentamentos e acampamellfos de re[Orma agnina -- RelatOrio _final. Sao Paulo: Uncsp-MST, 1995.
223
Em mcados dos anos 90, o Sctor de Educa~ao conscguiu aumentar o nUmcro de cursos de alfabctizay3o de jovens c adultos nos asscntamentos c acampamcntos. Tambem implantou cursos de formay;lo de professorcs c rcalizou encontros locais c nacionais, cspacializando c territorializando a pedagogia do Movimento20
. Essas cxpcriCncias cducacionais foram reforyadas j3 no comcyo dos a nos 90 com a criay3o do Curso de Magistcrio e do eurso Tcenieo em Administra<;iio de Coopcrativas (T AC), no Departamento de Educa<;iio Rural (DER) da Funda<;iio de Descnvolvimcnto, Educa<;iio c Pesquisa da Rcgiao Celeiro, no municipio de Braga (RS).
Esses cursos rcceberam alunos de todas as regiOcs do Brasil e, por sua amplitude, em janeiro de 1995, a Confedera<;iio das Cooperativas de Refom1a Agn\ria do Brasil (Concrab) inaugurou o Instituto Tccnieo de Capacita<;ao c Pesquisa da Refonna Agraria (!TERRA), em Yeran6polis (RS). Em 1996, no !TERRA, foi fundada a Escola JosuC de Castro, onde acontcccm os cursos de Ensino Supletivo de 1 u c 2° Graus co Curso de Magistcrio. Confonne Caldar1: "o objetivo principal do !TERRA e desenvolvo- atividades defonna(·l"w {escolar e niio) e de pe.Yquisa voltadas Us demandas de slws associadas, pondo C1~{ase nos processus de j(Jrmac;rlo organizativa e h;cnica, mas sem descuidar das demais dimensDes da j(Jnna(·cloleducw.;iio da pessoa hwnana" (Caldart, 1997, p. 95). Em 1995, essas expcricneias tivcram o reconhecimento do Unieef(Fundo das Na<;ocs Unidas para a lnfiineia), quando o MST reccbeu o Prcmio Educayiio e Participayfio ItaU-Uniccf, pclo dcscnvolvimcnto do programa "Por uma esco/a plfhlica de qualidade nas izreas de assentamentos ".
Ainda, em 1995, outro curso de Magisttrio foi iniciado no Espiritu Santo c, em 1998, em parecria com a Univcrsidade de ljui, foi criado o eurso de Pcdagogia daTerra para fonnayfro de profcssorcs de escolas de asscntamcntos. Ncssc mcsmo ano comcyaram as discussOcs para a implantayao de outro curso de Pcdagogia cia Terra em Mato Grosso, que passou funcionar em 1999, em parccria com a Univcrsidade Estadual do Mato Grosso. Nessc ano, outro curso de pcdagogia fbi iniciado em parccria com a Universidadc Federal do Espirito Santo. Construindo cssas cxpcriCncias, os scm-terra procuram tcr accsso ao ensino medio c a univcrsidadc, como forma de poderem contribuir para como desenvolvimcnto de suas comunidades, da I uta pel a terra e, ao mcstno tempo, cxpandir as possibilidades, criando as condiyOcs ncccss3rias para que outros scm-terra possmn cstudar, qualificando assim a cducay3o nas areas de assentamcnto c nos acampamcntos 21
.
Como descnvolvin1ento da formayao do MST e sua tcrritorializayao que o tomaram um Movimento nacional, novas dcmandas e dcsafios surgiram. Para fomcntar esse proccsso de formayao sociopolitica, o MST csta construindo, no municipio de Guararcma (SP), a Eseola Nacional Florestan Fernandes. Com essa Esco1a os scm-ter-
20. A respeito da pedagogia do MST, ver Caldart, 1999.
21. A respeito do proecsso de dcscnvolvimcnto do Set or de Educm;iio do M ST c de divcrsas cxpcriCncias nas cscolas de asscntamcntos c acampamcntos, vcr: Caldart, 1997 c 1999; Camini, 1998; Vcndramini, 1997.
224
ra pretcndcm intensificar os cstudos e as pcsquisas a rcspcito da realidadc que cstao construindo. Dcssa forma, na Escola Nacional ser5.o dcscnvolvidos cursos voltados para a !uta pela terra, para melhorar a produy:lo nos assentamentos, melhorar a organicidadc do MST, fonnar militantes para atuarcm nos setorcs de atividades, amp liar a solidariedadc com outras organizayOes de trabalhadores, proporcionando o intcrcfnnbio de conhecimcntos c experiCncias, unificar as lutas c ajudar a construir um projcto popular para o Brasil (MST, 1998c, p. 15).
No proccsso de consttuyfio de suas experiCncias com educayao, em julho de 1997, o MST realizou o I EN ERA (Encontro Nacional de Educadoras e Educadorcs da Rcforma Agniria). Estc even to aconteceu no campus da Univcrsidade de Brasilia c teve o apoio desta Univcrsidade e do Unicef. Participaram em torno de setecentos profcssores de escolas de assentamentos e acampamentos de dczcnovc estados e do Distrito Federal, c profcssores de divcrsas univcrsidadcs fcdcrais e cstaduais. Uma marca importantc: 0 I EN ERA 6 o fa to de tcr rccolocado a questao da cducayiiO no campo, inclusive pclo dcsafio proposto pclo Uniccf ao MST em articular a realizayfio de um cncontro para amp liar o debate a respcito dcssa qucst8.o, com a participay3o de outras instituiyOcs que tCtn essa mcsma preocupayao. Ainda, nessc cvcnto, nasceu a proposta de criayfio do Programa Nacional de Educay3o na Reforma Agnlria (PRONERA). Esse Programa foi implantado pclo Incra no ana de 1998, em divcrsas parccrias de universidadcs como MST. Ainda, em maio de 1998, o MST rcalizou o I" Eneontro Naeional de Educadoras e Educadores de Jovcns e Adultos, em Recife, reunindo profcssorcs de cscolas de assentamentos de todas as rcgi6es do pais. Nesse even to, os scm-terra prcstaram uma homenagem a Paulo Freire, lembrando o primciro anode sua morte.
Emjulho de 1998, em Luziania (GO), municipio do em torno de Brasilia, foi realizada a Confcrcncia Nacional Por uma Educa.;ao Basica do Campo, tendo como organizadores o MST, a Confercncia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Universidade de Brasilia, a Organiza.;ao das Na.;iics Unidas para a Eduea.;ao, a Cicncia e a Cultura (Unesco) eo Fundo das Na.;oes Unidas para a In!ancia (Unicel). Na ConferCncia reuniram-se em ton1o de mil participantes de diversas cntidades c instituiyOes que trabalham com a educay3o b3.sica em escolas rurais. Foram discutidas divcrsas expericncias de v:irias rcgiocs do pais e debatidas as politicas pirblieas c os projetos pedag6gicos para o desenvolvimento da proposta de Educa('iiu BGsica do Campo22
.
Todas essas atividades desenvolvidas pclo Sctor de Edueayao cspaeializaram as cxpcriCncias c tornaram-se importantes referencias educacionais. Tambem dimensionou as lutas pcla terra c pcla reforma agnlria em !uta por educa~ao.
22. :\ rcspcito dcssa proposta. vcr: Cal dart, Rosl·li Sa let c. Ccriolt, Paulo Ricardo c Fernandes, Bcmmdo Mam;:ann_ Por uma !·:duc~H;:iio B;\sica do Campo. Tcxto-ha1'e cia ConferCncia Nucionaf por wna l::ihtcU('ilo Bcistca do Campo_ Bra:.ilia: CM3B. !\1ST. Unc'.~co. Uniccfc UnB. 1998.
225
Uma cxpericncia pioneira, eriada no Rio Grande do Sui, e a Escola Itinerantc. Implantada em 1996:
"A Escola Itinerante nasceu das necessidades e da !uta dos acampados, especialmente das crianc,·as. lniciou sua organizac;:iio a partir da elaborar;iio de uma propos/a pedag6gica para atendimento ds criam;as. aos adolescentes e aosjovens dos acampamentos dos Sem-Terra, pel a Departamento Pedag6gico da Secretaria de Educw;iio!Divisiio de Ensino Fundamental, juntamente com o Set or de Educat;iio do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Rio Grande do Sui. Ap6s ter sido aprovada pelo Conselho Estadual de Educar;iio, com o nome de Experiencia Pedag6gica- Escola ltinerante, tendo como escola-base a Escola Estadual de I" Grau Nova Sociedade, do assentamento Itapuf, no municipio de Nova Santa Rita, que passou a dar suporte organizativo e institucional d Escola Itinerante, houve entiio o reconhecimento oficia/" (MST, l998b, p. 15).
A Escola Itinerante atende aos alunos de I' a 5' series do Ensino Fundamental que vi vern nos acampamentos. Os acampamcntos sao espayos de I uta e rcsistCncia, sao, portanto, lugares e momentos de transic;ao da vida das familias na !uta pel a terra. Constantemente, com os despejos c as mudanc;as dos locais das novas ocupac;iies, as crianc;as ficam sem aula. A proposta da Escola Itinerante c evitar que isso acontec;a: "A escola vai aondc o acampamento estiver". 0 fundamental e garantir a existencia da escola na trajct6ria da !uta. No transcorrcr dessas experiencias, os scm-terra ocuparam a cscola, assim como ocupam a terra, construindo as condiy6es prOprias de suas cxistCncias.
Outra demanda nos acampamentos e assentamentos e a organizac;5o dos grupos que trabalham para a mclhoria da saude dessas comunidades. Nos acampamentos e comum cncontrar "fann3cias" improvisadas para a tender c oricntar os acmnpados. Em alguns assentamentos, as mulheres produzcm plantas medicinais e remedios caseiros, como eo caso dos assentamentos da regiao de ltapeva (SP). A partir dessas experiencias foi constituido o Coletivo de Saude e, em 1998, os sem-terra realizaram o Primeiro Encontro Nacional, formalizando o Setor de Saude do MST23 A partir de sse even to, os membros do setor iniciaram trabalhos para organizar as experiencias e aprofundar odebate a respeito das politicas de saude para os assentamentos e acampamentos.
Outra dimensao da !uta pcla terra c a cultura. As experiencias vividas na cotidianidade em transformac;ao dos scm-terra, nesses movimentos de territorializac;ao, sao urn processo cducativo de formac;iio humana que expressam uma vivcncia sociocultural. De acordo com Caldart:
23. Esse C, portanto, o sctor de atividade mais reccntc do MST.
226
"Esta experilincia humana de participQ(;iio em urn movimento social como o MST produz aprendizados coletivos, que aos poucos se conformam em cultura, naque/e senti do de jeito de ser, habitos, posturas, convio;Oes, val ores, expressOes de vida social produzida em movimento, e que jti extrapolam OS limites deste grupo social espec(fico. Is to nao quer dizer que todas as pessoas que vivenciam estas ac;Oes coletivas aprendem a mesma coisa e da mesma maneira ... Cada sem-terra aprende a se-ta do seujeito e no seu ritmo, empurrado pel as circunstdncias que fOre; am essa conscic!ncia da necessidade de aprender. Mas esta diversidade nG.o nos impede de identificar OS aprendizados que s{io produtos da vivc!ncia coletiva no processo de conslru(.·iio do MST. HG urn modo de ser Sem-Terra que se compreende como tendCncia de ser das pessoas que jilzem parte do Movimento, emhora seus diversos trac;os possam nGo estar presentes, todos eles, em cada uma delas, separadamente, ainda que ten ham co/etivamente ajudado a produzi-/os" (Caldart, 1999, p. 133-4).
Um momenta importante de celebra<;iio e valoriza<;iio de suas experiencias e a mistica24
. Essa fcrtil atividadc cultural, dcscnvolvida em difercntcs mementos da vida dos sem-terra: nos encontros, nas escolas, no trabalho, nos acampamentos, nas cooperativas, nos curses e nas festas, promovem a formayiio do Movitnento, na constrw;iio da idcntidadc dos scm-terra. Nas misticas, os adultos, os jovens e as crian<;as rcpresentam scus cotidianos, lembram o passado e imaginam o futuro numa forma de arte e memoria. Essas atividades sao li<;oes de hist6rias e de vidas produzidas com sabcdoria e irrevercncia, que vcrtcm csperan<;as e desafios para transforrnar suas realidades. As poesias e as cany6es25
, os atos e as ay6es, a bandeira e as palavras de ordem, as manifesta<;oes ocorridas na espacializa<;ao do MST registram a constru<;iio de uma cultura da !uta pela terra. A espacialidade de suas a<;oes tomaram-se exprcssoes de manifcstayao e de resistCncia, de modo que os scm-terra ton1aram-se uma rcferCncia de organizac;iio para outros setores da sociedade, bem como a imprensa vern utilizando a prcposi<;iio "sem" para se referir a situa<;oes de priva<;iio e ou de exclusiio26
. Dessa forma, e no desenvolvimento dessa vivCncia sociocultural de luta pela terra, que os setn-tcrra in·adiam espa<;os de socializa<;iio politica nos trabalhos de base, em divcrsas comunidades do interior brasileiro. E parafraseando o pacta Joiio Cabral de Mclo Ncto,
24. Sabre a mistica. ver tambCm: capitulo 3: Construindo a cstrutura organizativa: inst<incias de rcprcscntayil.n.
25. 0 MST !anyou do is discos compactos: Artc em Movimcnto e I" Festival Nacional da Rcforma Agniria, que cnntCmmUsicas compostas pclos scm-terra c que contam o cotidiano da !uta c da rcsistCncia. Esses discos sil.o uma importantc cxpressiio da cultura da !uta pc!a terra.
26. Excmplos: as scm-matriculas, rcfcrCncia aos alunos da PUC contra o valor das mensalidadcs (0 Est ado deS. Paulo, I 7 de sctcrnbro de 1999, p. A I I): os scm-Onibus, rctCrCncia aos moradorcs de Siio Paulo que rcivindicavam transporte ( 0 Esrado deS. Paulo, 9 de dczcrnbro de 1998, p. C4): Movirncnto dos scm-ingrcsso. campanha da MTV apoiando os jovcns que rcivindicavam mais ingrcssos para a aprcscntayil.o da banda U2.
227
1979, p. 240, vao corrompendo com sangue novo a anemia, infecdonando a misCria com espermu;as e abrindo uma poria em mais said as para os excluidos da terra.
A coopera~iio na produ~ao
E ncssa perspectiva, em que pcrpassam todas as dimensOcs da !uta c da resistCneia camponesa, ou scja, que vai desde a preocupayao em garantir a educay3o c a saltde atC a organizayao do trabalho e da produyao nos assentamcntos, os scm-terra cnfrentam outro desafio: desenvolver o Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA).
Nao c passive! compreender o SCA apcnas pel a 16gica econ6mica, principalmcnte porque este Sistema nao foi pensado somcnte para desenvolver essa dimensao da organiza<;iio social dos scm-terra. 0 SCA e urn setor do MST c tern na coopcra<;iio agricola a pcrspectiva do desenvolvimento econ6mico dos assentados, garantindo a organicidade do Movimento. E uma forma de expandir e a organizay3o nos asscntamentos, contribuindo para a tcrritorializay5.o da !uta pcla terra c intcnsificando a participa<;iio em outras lutas da elassc trabalhadora no campo c na cidadc. 0 SCA foi construido a partir da 16gica da resistCncia camponcsa que est3 reprcsentada pelos principios c na estrutura organizativa do MST. Dessa forma, procura dcscnvolvcr a agricultura cmnponesa em que a rcsistCncia contra a exploray3.o, a cxpropriayao e a !uta continua pela terra nao estejam separadas. Neste senti do, parafrascando Cal dart, ]999, COO]JCI'G!;c/o C mais que COopera,·{)o, porquc OS SC!l1-tCJTa nao prctcndcm reproduzir o cooperativismo tradicional, mas sim construir uma nova conccpyao de coopcrac;ao que possa abranger as dimcnsi5cs da 16gica do MST. Desse modo, niio podcmos dissocia-lo de todas as dimensi5cs que o Sistema possui.
Por cssa raz3o, o Sistema traz em si esse cnorme dcsafio, que tcm sido uma das principais qucstocs do Movimcnto na dccada de 1990. Para contribuir com as rcflcxoes a respeito de suas cxperiencias, o MST publicou, em !993, scu primciro caderno de formay3.o sabre coopcray3.o agricola nos asscntamcntos para subsidiar as discussOes a rcspeito dcssa quest3.o:
228
"Temmuita genie que quando ouvefalar em cooperativas. logo /em bra daquelas empresas grandes, comandadas par grandes proprietGrios e que servem como mais um instrumenlo de explora~·?w do.Y pequenos.
Muitos pequenos agricultures se associaram a essas cooperativas induzidos pel a pofitica ojicial. EfOram enganados. Muitos perderam suas terras, e na verdade essas grandes cooperativas passaram a ser controladas pelos grande; produtores. E hoje silo potCncias capitalistas.
' E natural, port an to, que agora quando as movimentos populares, o sin-(/;calismo e o lvfST propOem a urganizac;·iio em cooperativas, muitos companheiros de base conjimdam com aquelas cooperativas capita lislas, que e!es cunhecem bem e ja sufi-eram por causa de/as" (MST, 1993b, 33-4).
Um exemplo dcsse proccsso de explorac;ao e expropriac;ao 6 o estudo de Jose Vicente Tavares dos Santos, quando pcsquisou os produtorcs de uva do Rio Grande do Sui. Neste trabalho, o autor analisou a rcla~ao entre os camponescs e as cooperativas e conclui:
"0 motivu jimdamental de as carnponeses se associ a rem em cooperativas deriva assim das condi(-·6es subordinadas em que se encontram no processo de troca de mercadorias, expressclo de sua suhordina('iio ao setor capitalista industrial. .. Assim, mesmo que a cooperativa_fi111Cione juridicamente corno propriedade dos associados, estruturalmente cia aparece como instituir.-iio do modo de produrJio capita/isla, como instituir,:iio que segue as determinar;Oes da reprodu~'iio amp!iada do capital.
Co11jigurando-se a cooperativa como componente da reprodur;iio ampliada do capital, nela viio se construir tamlH!m as tens6es sociais inerentes d diniimica do modo de prodw;iio capita/isla. Essas tens6es se man~festarn par duas vias. Par wn !ado, a diretoria estabelece relw;:rJes de exp/ora,·iio tanto sabre ns traba/hadores da couperatim quanta sabre as associados camponeses. Temos a cristaliza~·(Io das dire/arias como grupos dominantes no interior da:s cooperativas (pelos estatutos, as diretorias silo compos/as pur associ ados eleitos pel a assemh/Cia geral, podendo ser reeleitos). Assim, a ver{fica(·i7o da rela~·ao dos names dos membros das diretorias de algumas cooperativas, como a Garibaldi, Silo Joiio, Silo Vi tor, Forqueta, Emboaba etc. indica que desde a.fimdarJio na di:cada de 1930, ati: as dias atuais, vcirius nomespermanecem ucupando cargos de dire<;<lo" (Santos, 1984, p. 119-120).
Para tcntar supcrar csscs problemas, os scm-teiTa vCm construindo um outro tipo de coopcrativismo, sob controle dos trabalhadores: "Quandofalamos das Conperativas de Comercializa(·iio e Produ~'iio que estiio sendo criadas nos assentamentos, est amos pensando nwn lipo de empresa social que seja wnaferramenta a mais na !uta par uma sociedadejusta" (MST, 1993b, p. 33). Com esse objetivo, o Movimento aprescnta as difcrcnyas entre os dois tipos de coopcrativas:
229
Resumo das diferenc;as entre cooperativa tradicional e dos assentados
Caracteristicas Cooperativa tradicional Cooperativa dos Assenta-dos
SOcios Empres<irios rurais Pequcnos produtorcs (asscnta-
Pcqucnos produtores dos ou ni'io) c suas familias
Classe Capitalistas junto com traba- Somente trabalhadores lhadores
Quem trabalha Assalariados permanentes e Os pr6prios s6cios. Assalaria-tempor<irios dos temporJ.rios, somente
Pequenos produtores quando falta mi'io-dc-obra
Ramo de atividades Comercializayi'io Produyi'io agropecuiria
Agroindl1stria Comercializayi'io
Agroindl1stria
Poder de gestiio A minoria que detCm o maior A maioria decide sabre tudo o capital contro\a a dirctoria c que acontcce na cooperativa toma as dccisOcs
Forma de participac;iio Asscmb!Cias anuais AssembiCias mensais dos sOcios Conselho Dirctor
Conselho de reprcscntantcs dos setores
Distribuic;iio das sobras Os associados ni'io tCm como A decisi'io C do coletivo. Ge-controlar. Acontccc atravCs de ralmcnte acontece em funyiio prcstayiio de serviyos aos as- da quantidade e qualidade do sociados e atravCs dos fundos trabalho rcalizado e em fun-previstos por lei yiio da liberayao de militantes
para o MST. Acontece atravCs de serviyos, valores em di-nheiro e espCcie e por meio dos fundos previstos por lei
Planejamento das ativi- De cima para baixo. Os buro- De baixo para cima. Cada sc-dades cratas e a diretoria fazem tor faz o seu plano de trabalho
que deveni ser aprovado em assemb!Cia
lnovac;iio tecnolOgica x Por utilizar assalariados, ao Por niio podcr dcspcdir s6cios gerac;ii.o de empregos ado tar novas tccnologias ten- c ncm tcr miio-de-obra ociosa,
de a agir como cmprcsa priva- ao introduzir novas tecnolo-da, demitindo alguns empre- gias busca divcrsificar a pro-gados duyiio para manter o plena
em rego
Resultado social MantCm a tcndCncia de con- Possibilita o desenvolvimento centrayiio de renda e de pro- rural, bascado na mclhoria de priedade, estimulando a ex- vida dos trabalhadores e suas pulsi'i.o de trabalhadores do familias campo
Fonte: adaptado de MST, 1993b, p. 37.
230
Dcsde a implantac;ao das primeiras cooperativas, os sem-tcrra vern enfrentando os problemas inercntcs da organizac;ao camponesa no desenvolvimento do capitalismo. Nessas circunstancias, procuram desenvolver formas de resistcncia a explorac;ao e a expropriac;ao e ao mesmo tempo, num arduo trabalho politico, rcssocializar outros sem-tena, por meio da ocupac;ao da terra. Dessa forma, tentam amenizar o processo de diferenciar;iio do campesinato (Lenin, [ 1899] 1985, p. 35) c constroem as condic;oes sociopoliticas para (re)criar o campesinato nos processes de territorializac;ao e formac;ao do MST. Nesse sentido, csses processes sao a esscncia do MST, e por meio destes que o Movimento se faze resiste. Assim, o MST rcpresenta o desdobramento da luta camponesa pela terra, resistir para nao ser expropriado e lutar para conquistar a terra. A cxp1ora~ao dos sen1-terra, quer sejam cooperativados ou nao C urn fato, principalmente pela sujcic;ao da rcnda da lena ao capitaL Conforme Martins:
"No Brasil, o movimento do capital niio opera, de modo geral, no senti do da separar;iio entre a propriedade e a explorar;iio dessa propriedade ... 0 que vemos claramente, tanto no cas ada grande propriedade quanta no caso da pequena, e quefimdamentalmente 0 capital ten de a se apropriar da renda da terra. 0 capital tem se apropriado dire/amente de grandes propriedades au promovido a sua jorma9iio em setores econ6micos do campo em que a renda C alta, como no caso da cana, da soja, da pecwiria de corte. Onde a renda da terra e baixa. como no caso dos set ores de alimentos de consumo interno generalizado ... o capital niio se lorna proprietdrio da terra, mas cria condi~·Oes para extrair o excedente econ6mico ...
Essa, a/his, e a Lmica mane ira de en tender o porquC do alastramento rilpido e violenlo de conflitos pela terra em todo 0 pais nos ultimos anos ... " (Martins, 1981, p. 175-6).
A explorac;ao causada pcla apropriayao da renda da tcna pelo capital tendc a se intensificar ate a falcncia das coopcrativas e a cxpropriac;ao dos assentados. Nesse proccsso, de modo gcral, por meio da sujeic;ao da renda da tena ao capital, as cooperativas de assentamentos esHio em processo crescente de cndividamento, confonnc Dal Chiavon (1999, p. 49) constatou em seu estudo a rcspeito da situac;ao da Cooperuniao27, principalmente pclos baixos prcc;os dos produtos, o alto custo da infra-estrutura c dos insumos. A rcsistencia a esse processo c, tambem, politica, porque depende do poder de negociac;ao dos produtores. Assim, quando os scm-lena se organizam em cooperativas ou associac;ocs e na Confedcravao das Coopcrativas de Refonna Agraria do Brasil (Con crab), conseguem urn maior poder politico na !uta por uma politica agricola e na negociavao das dividas assumidas junto ao govemo federal.
27. Cooperativa de Prodw:;ao Agropeeu:iria Unii'io do Oeste localizada no assentamcnto Conquista da Fronteira, no municipio de Dionisio Cerqucira (SC).
231
A coopcra<;iio tambcm c uma fonna de organiza.;iio para a rcsis!Cncia da !uta camponcsa. A coopcra<;iio em suas difcrcntcs fonnas c uma pnitica hist6rica de diversos povos na organizac;ao de scus modos de vida, como rcsistCncia c vi sao prospcctiva, objetivando transformar suas rcalidades28
. Nessa perspcctiva, o MST vem constmindo divcrsas expcriencias, que se iniciaram com os estudos c visitas a difcrcntcs paiscs, confom1c apresentamos no capitulo 3, c por mcio de suas pr3ticas, dcsafiando-se na constru<;iio do SCA. Desdc a genese do MST ate 1985, varias expcricncias foram iniciadas em grupos coletivos c associa<;ocs. Na dccada de 1990, com a cria<;iio das primciras cooperativas, das centrais cstaduais c com a funda<;iio da Concrab ( 1992) as cxperiencias coopcrativistas foram n1ultiplicadas nos asscntmncntos. Ncssas cxpcriCncias, parte das familias scm-terra se organizou em coopcrativas. Dessc modo, relmem-se em nUcleos de produyao, gntpos semicoletivos, grupos colctivos, associa<;ocs, Cooperativas de Prodw;iio Agropecw!ria (CPAs), Cooperativas de Presta<;ao de Servi<;os (CPS), Coopcrativas de Presta<;ao de Scrvir;os Rcgionais CPSR, Coopcrativas de Produ<;iio c de Prcsta<;iio de Scrvi<;os CPPS, c Coopcrativas de Cr6-dito (Concrab, 1997b; Concrab, 1998).
Os nUclcos de produyao sao cstabelecidos de fonna em que as familias sc rcllncm por proximidade au parentcsco para trabalharcm na produyao de dctenninada cultura. Essas familias podcm cstar associadas as coopcrativas. Os grupos scmicolctlvos sao diversos c instilvcis. A utihzayao da tena, os investimentos, divisiio do trabalho e a comcrcializayao sao realizados de diferentcs fonnas, por unidade de produ<;iio familiar ou colctivamcntc. Da mesma forma, cssas familias podem cstar associadas as coopcrativas.
Grupo colctivo ton10u-sc um nome gcnCrico, muito utilizado entre os scm-terra, e nao significa que todas as atividadcs sao colctivizadas. Por cssa razao, "talvez o nome mais correto deva ser GRUPO DE AJUDA MUTUA" (MST, 1993b, p. 26). Todavia c importantc distinguir o que sc chama de grupos coletivos, porque existem as pniticas de ajuda mUtua conhecidas como mutirfro ou puxiriio, que acontcccm ctn casas de docn<;as, intcmpcrics, colhcitas, trocas de dias de scrvi<;o etc., quando familias inteiras se unem e se ajudam mutuamente. E hii os grupos que colctivizaram dcsdc a terra c outros mcios de prodw;ao, o trabalho, a produyao c a comcrcializayao como Co caso das Cooperativas de Produ<;iio Agropecuarias (CPAs). Tcmos, portanto, os grupos de ajuda mutua nos quais as familias sc organizam informalmentc, de acordo com as suas ncccssidadcs e as CPAs que sao organizadas formal mente, com pcrsonalidadc juridica, a partir de uma estrutura permanente, formadas por sctorcs de produyao c scrviyos, como por cxcmplo: setor de graos~ animal, horta; setor administrativo, de maquinas, de constm<;ao etc. (Concrab, 1997b, p. 70).
28. Um importantc c amplo cstudo a rcspcito de difcrcntcs cxpcriCncias de coopenu;iio no mundo est<! em Marcos, 1996, p. 272s.
232
As associa~Oes tambCm sao diversas e constituidas por familias em torno de um ou mais problemas da comunidade. Estao voltadas para a prcsta<;iio de scrvic;os, para conseguircm rccursos do Procera e para compra de m3quinas. Essa fonna de organizay3o dos produtores C a mais ampla nos asscntamcntos do MST. As associa~Oes n3o sao organizay6es econ6micas e, cmbora podendo atC comercializar a produyao dos asscntados, nao pod em tcr Iuera (Concrab, 1997b, p. 64 ). Em to do o Brasil, tambcm, C a mais ampla fon11a de organiza~ao nos asscntamentos. Segundo o I Ccnso da Rcl"onna Agn\ria do Brasil ( 1997), 52.85% dos assentados participam de associa<;iics.
As CPS (Cooperativas de Presta<;ao de Scrvi<;os) sao organizadas em um ou mais asscntamcntos de um municipio. A implantayao das coopcrativas, em geral, implica no planejamento teJTitorial dos asscntamcntos, porque pressupOe a organizay3o do espayo para produyfio e desenvolvimcnto social. Isto significa discutir o aproveitamento das unidadcs de produ<;iio, ou seja, os difcrcntcs modos de constituic;ao dos lotes: individual, colctivo ou misto. Esse procedimcnto tambCm 6 discutido no que sc rcfcrc ao capital, ao trabalho e ,\ moradia. As CPSR (Coopcrativas de Prcstac;ao de Serviyos Regionais) abrangcm v3rios assentamcntos em uma rcgi3o. Essas cooperativas organizam o proccsso de comercializay3o da produy3o, de insumos e bcns de consumo. TambCm prestam assistCncia e capacitayao t6cnica, bcm como realizam planejamentos nos contextos dos descnvolvimentos municipais c micron·cgionais.
Ncssc proccsso de ampliar;ao das cxpcricncias foram criadas as CPPS (Coopcrativas de Prodw;ao c Prcsta<;ao de Scrvi<;os). Essas podcm scr resultados do dcscnvolvimcnto das CPS, quando implantam unidadcs agroindustriais. Sao coopcrativas mistas rcgionais que trans formam c comercializam a produy3o de scus associados ou de terceiros, como por exemplo: despolpadeiras, fecularias, farinheiras, m3quinas de arroz, crvatciras, microusina de pastcurizayao de lcite, frigorifico etc. Os cooperados s5o as famillas asscntadas e os pequenos produtores do municipio ou da regiiio. Os diversos grupos colctivos, inclusive as CPAs, podem scr s6cios das CPSR e das CPPS (Concrab, 1997b, p. 62-71 ).
As Coopcrativas de Credito sao cxpericncias recentes, iniciadas em 1996, e operam com modalidades de crCdito provenientes de lin has oficiais, como por exemplo o Programa Especial de Cri:dito para a Rcfonna Agriria (Proccra) c do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) (Concrab, 1998, p. 23). A criayao dessas cooperativas teve como rcferCncia as cxperiCncias mexicanas de cooperativas de crcdito (Concrab, 1998, p. 13). Ate 1998, a Concrab havia criado a Coopcrativa de Cri:dito Rural do Centro Oeste do Parana, e a Coopcrativa de Credito Rural Horizontcs Novas de Novo Sarandi Ltda., que atcndcm 33 municipios "em duas regiVes onde lui umfurte desenvolvimento das couperativas regionais (CPS) e da organizw;iio agropecuiiria dos pequenos agricultures e assentados (Sarandi [RS} e Cantagalo [PRJ)" (Concrab, 1998, p. 23). As expcriencias cooperativas do MST estao em curso e cnfrcntam diferentcs tipos de problemas: dcsde baixa rcntabilidade a diferentes graus de cndividamcnto (Concrab, 1997a). Essa c, alias, a rcalidade das
233
cinqiicnta maiorcs coopcrativas do pais29, por causa, principalmcntc, da crisc que o
setor agricola vem enfrentando desde a implantaviio do Plano Real.
Dcsdc o final da dccada de 80 e inicio dos anos 90, foram implantadas as ccntrais de cooperativas nos estados (vcr quadro 4.1 ), e dezcnas de cooperativas em todas as grandes regioes brasileiras, onde atualmente estiio cstabclecidas 78 cooperativas (ver quadros 4.2, 4.3, 4.4, 4.5). A maior parte: 77%, bem como o maior numero de associados, conccntram-sc na rcgiiio Sul. 0 mesmo acontcce com os grupos coletivos (CPAs). Ainda, no Sul, das cooperativas dos assentados tambem participam pequenos agricultores. No Rio Grande do Sul hi! quatro cooperativas de pequenos agricultores filiadas a Concrab. Esse processo i: resultado do avan9o da !uta e do desenvolvimento das coopcrativas rcgionais, que muitas vczcs sao a lmica op9ffo de organiza9ffo cconOtnica para esses cmnponeses. Esse e urn exemplo dos impactos socioeconOmicos dos asscntamentos nos tnunicipios e nas microrregi6es.
QUADRO 4.1- RELA<;:AO DAS CENTRAlS ESTADUAIS •
FILIADAS A CON CRAB
Cooperativas Centrais de Reforma SEDE UF A niria (CCAs)
Coop. Central dos Assentados do Rio PORTO ALEGRE RS Grande do Sui Ltda. (COCEARGS)
Coop. Central dos Assentados do Espirito SAOMATEUS ES Santo Ltda. (CCA/ES)
Coop. Central dos Assentados da Bahia ITAMARAJU BA Ltda. (CCA/BA)
Coop. Central das Areas de Refonna Agri- FORTALEZA CE ria do Ceara Ltda. (CCA!CE)
Coop. Central de Reforma Agriria de San- CHAPECO sc ta Catarina Ltda. (CCA/SC)
Coop. Central de Reforma Agriria do Pa- CURITIBA PR rami Ltda. (CCA/PR)
Coop. Central de Reforma Agriria do SAO PAULO SP Estado de Sao Paulo Ltda. (CCA/SP)
Coop. Central das Areas de Rcfom1a Agri- CARUARU PE ria de Pernambuco Ltda. (CCA/PE)
Coop. Central de Rcforma Agniria do Ma- SAO LUIZ MA ranhiio (CCA!MA)
Fonte: Concrab, 1997a.
29. Vcr a rcspcilo: Anu{trio Brasilciro do Agribusiness. As 50 maiorcs cooperativas. In G!obo Rural, 1999, no 169. p. 132-3.
234
QUADRO 4.2- COOPERA TIV AS DO SISTEMA COOP ERA TIVISTA DOS ASSENT ADOS: CPA/CPS/CPPS/CPSR
REG. SIGLA NOME
* BA COOPAA - Fazenda Amarilina ~ BA COPRANOVA C . . Nova Sociedade Ltda.
BA r RAl INIAO ~I 1· Venceremos Ltda. BA COOPRASUL C ~ Construindo o Sui Ltda. BA COPAGRAN C de Prod~ do Corte Grande Ltd a.
BA COPRAREG ( . Reg. de R~ do Extremo Sui Ltda.
CE COOP AVI ( de Prod.~ de Yit6ria Ltda.
CE COPAGLAM ( de Prod~ L do Mineiro Ltda.
CE COPAMA C de Prod.~ do Ass. 25 de Maio Ltda.
CE COPAGUIA ( de Prod. do Asscntamcnto de Santana Ltda.
MA COOrERVID (' ~ dos p, Prod. da Vila Diamantc Ltda.
r ~~ (' MA de Prod. ~do Assent. 21 de Maio
MA COO MARA ( Mista dos Ass. de R.A. R1 Tocantina
PB COOPER VIDA ( ~ Mista Prod. Rurais Ass. Nova Vida
PE COOPRAV ( de Prod.~ Pedra Vermelha Ltda.
rE COOPASE ( de Prod. ~ Serrinha Ltda.
PE \SQ ( de Prod. ~Serra dos Qui[( Ltda.
PE COOPAPA ( de Prod. ~Panorama Ltda.
PI COMASJOri C• Mista dos Assentados de Sao Joiio Piau!
SE COOARr C< . R< dos Assent. R.A. Praia Norte Ltda.
RN COO RANG Coop. Reg. de Prod. e Prest. de Serv. Ass. Mato Grande
CPA- Coopcrativa de Produyiio Agropecuitria CPS- Cooperativa de Prestayiio de Serviyos CPPS ·- Coopcrativa de Produyi'i.o c Prcstayiio de Scrviyos CPSR- Coopcrativas de Prestayii.o de Scrviyos Rcgionais
Fonte: Concrab, 1998.
' ASSENTAMENTOS <>OU,, N" FORMAS SOC! OS
1.927
~ Vit6ria da r L 63 ( PS
!"de~ 75 CPPS
Prado 42 CPA
s~ .. Arataca 100 errs
N. ra. o osano Prado 32 CrPS
~·I 122 CPSR
Jtona CanindC 56 CPrS
~doMinciro Itarcma 225 CPPS
25 de Maio Madalena 33 CPPS
Monscnhor Tabosa 64 CPPS
Vila Diamante~ ~ do Meio 34 CPPS
4 de Maio ZC Doca 26 CPS
~ 11 Tocantina r, 153 CPS
Nova Vida Pitimbu 134 CPPS
Pedra Vem1clha Arcoverde 30 CPPS
Serrinha Ribeirfio 20 CPPS
Serra dos Q1 · Bonito 30 CPPS
Panorama Timballba 20 errs R, 1 " I sao Joiio 130 CPSR R, 1 " I 138 CPSR
Regiilo Mato Grande Joao Camara 400 CPSR
QlJADRO 4.3- COOPERATI\'AS DO SISTEI\IA COOPERATIVISTA DOS ASSENTADOS: CPA/CPS/CPPS/CPSR
REG. SIGLA NOME
l!F
SE
ES COO PANE . de Prod.~ :--!ova E~ · Ltda. ES COOPAAP de Prod~ Pip Nuck Ltda. ES COOPRANOVAS Coop. de Prod. Agrop. Nova Sociedade Ltda.
ES COOPRAVA de Prod. . Valeda Vit6ria Ltda.
ES COOPRACAMPOS ~JeR A ~ · Ltda.
ES COO PLANTE ~deRA~A .
I
SP COPROCOL . de · . Colet. I 1\ss. Pirituba
SP COOPADEC . de ~ Dcrli Cardoso Ltda.
SP COPAESE ( de . ~ de Setembro
SP COPANOSSA ( de Prod. . Nossa Sm. ·
SP COCAMP Coop. de Comcrcializw;iio do Pontal
SP COOAPRI ( . de R.A. e p, Prod~
SP COAPAR ( . dos A~ c p, . Prod. de Andcadmu e~1o
!A MG ~ ~ Novo Horizonte
REG. SIGLA NOME
liF
C-0
MS COOP AVI Mista dos Ass. de R.A. Vale do lvinhcma
MS COOPAC de Prod .. ~ Canudos Ltda.
REG. SIGLA :\O'IE liF
:\
PA COOMARSP Coop. Mista dos Ass. de R.A. Sul e Sudeste do Pani
CPA Coopcrativa de Produyiio Agropccw\ria CPS·· Coopcrativa de Prcsta9<1o de Scrviyos CPPS - Coopcrativa de Produ9Uo c Prcstm;<1o de Scn·i.:;os CPSR Coopcrativas de Prestar,:iio de Servi.:;os Rcgionais
Fonte: Concrab, 1998.
. ASSE!'iTAME!'iTOS Mll:" I\'" FORMAS
2.559
Vale Ouro 35 CPA
Pip Nuk Nova VcnCcia 32 CPA
13dcMaio Sao Gab. da Pa- ,, -" CPA
lha Valeda Vit()ria Silo Matcus 104 CPA
~ Nova Vcnecia 123 C'PSR
~. Pedro CanUrio ~2 CPSR Ptr.If-area 1 40 CPS
Pir.II-<irea 4 34 CPA
Pir.II area 3 17 CPPS
Pir.H-flrca 4 ,, 28 CPPS
Regional Tcodoro 1.700 CPPS
~ 1 I 195 CPSR
Andradina 78 CPSR
I" de Junho 1 ··~ 69 CPA •
ASSE:\TAME:\'TOS Mlll'o• ~" FORM AS
60 Sao Luis 32 CPPS
Sao Manoel Anast<icio 28 CPA
ASSE:\TAMEIHOS MUNICiPIOS. r>" SOCIOS. FORMAS
53
Regional Mamba 53 CPSR
QUADRO 4.4- COOPERATIVAS no SISTEMA COOP ERA TIVISTA DOS ASSENT ADOS: CPA/CPS/CPPS/CPSRICRED./TRAB.
REG.
UF s
RS
SIGLA
CREHNOR
ASSE:\TAMENTOS MUN .
I
. de CrCd. Rurall-lorizonu.:~ Novas de Novo Sa- Novo Sarandi Novo Sarandi
33
90 66 222
100
25
4.280
FORM AS
R
CRED.
QUADRO 4.5- COOPERATIV AS DO SISTEMA COOPERA TIVISTA DOS ASSENT ADOS: CP A/CPS/CPPS/CPSR/CRED./TRAB./PA
REG. SIGLA NOME
s
RS COOTAP
RS COOPTEC Coop. de Prestayiio de Serviyos TCcnicos
RS COOPAL Coop. de Prod. Agrop. Sete de Julho Ltda.
sc COPECOPA Coop. de Prestayao de Serv. Assentamento
sc
sc
sc COOPEROESTE Coop. Reg. de Comerc. Exh·emo Oeste Ltda.
sc COOPERCAM Coop. de Prod. Agrop. Construindo Caminho
CPA- Coopcrativa de Prodw;iio Agropccu3ria CPS -Coopcrativa de Prcstayiio de Scrviyos CPPS -- Coopcrativa de Prodw;:iio c Prcstayiio de Scrviyos CRED. - Coopcrativa de CrCdito CPSR -- Coopcrativas de Prcstayiio de Servir;:os Rcgionais TRAB- Coopcrativas de Trabalho
Fonte· Concrab, 1998.
ASSENT AMENTOS
Regional
Regional
Sete de Julho
Palmares
Conq. da Fronteira
Regional
Contestado
Porto Alegre
Porto Alegre
Santana do Li-
Nova Uniiio
Dionisio Cer-
Abclardo Luz
S. Miguel D'Oeste
Fraiburgo
N" SOCIOS
57
25
120
120
252
24
FORMAS
CPSR
CPSR
CPA
CPS
CPA
CPSR
CPA
A produyaO agropecmiria dos asscntamentos e bastante divcrsificada e parte destina-sc ao mercado local. A maior parte dos assentados csta subordinada aos atravessadores. A comercializa9iio tambem i: feitajunto aos atacadistas, varejistas e nas feiras locais, e "de forma secunddria, a prodw;:iio e destinada a outros benejicidrios, ds cooperativas e bodegas comunittirias. A Regiiio Sui constituiu-se em excet;iio ao resto do Pais, devido d sua prodw;iio ser, deforma majoritriria, destinada Us couperativas "(I Censo da Refonna Agniria do Brasil, 1996, p. 60). A diversificayiio da produyiio dos assentados vern contribuindo para desenvolvimcnto municipal e microrrcgional, quando ofcrcce alimcntos mais baratos para a popula9iio de baixa renda. Ainda sao escassos os cstudos a respeito dos impactos socioccon6tnicos dos assentamentos. Os poucos que estao scndo concluidos dcmonstram as transforma96es que os assentamentos vCm causando na cconomia local, mcsmo enfrentando diversos problemas, como dc_monstra uma pesquisa reccntc, realizada em Santa Catarina:
"As anlilise feitas a partir de alguns dados e da pesquisa de campo realiz ada no municipio de Abelardo Luz penn item afirmar que aconteceram mudanr;as e impactos importantes do ponto de vista econ6mico para a economia local, como estabelecimento dos assentamentos de reJOrma agrciria.
Ofato de representar atualmente aproximadamente 47% da popula,·ao do municipio significa que a participm;iio efetiva dos assentados nacomunidade local, se tornou indispenstivel para a manutem;iio de algumas atividades econ6micas. Inclusive, politicamente, qualquer candidato precisa do apoio de parte dos assentados para se viabilizar em qualquer cargo representativo.
Ver(ficou-se que, mesmo com a perda de importantes ilreas produtivas no municipio, o valor relativo da tirea utilizada com lavouras temporilrias aumentou de 44,9% para 46, 7% no periodo em que inicia-se o estabelecimento dos assentados, e as cireas produtivas niio utilizadas reduziram-se de 5% para 0, 9%. 0 aumento no percentual de tireas utilizadas com lavouras temportirias mesmo como desmembramento de tireas da regiiio sui do municipio demonstra claramente que nesse periodo houve uma intensificar,:ao da explorar,:ao das areas ao norte do rio Chapec6, regiiio onde se concentra os assentamentos rurais.
Constatou-se urn incremento nas vendas dos produtos e servic;os oferecidos pelo comercio local com a participac;:iio maior dos assentados.
Estes resultados, porem, escondem alguns problemas importantes como a insuficiencia e mti conservac;:iio das estradas vicinais que dificultam o escoamento da produc;:iio agricola dos assentados e a descontinuidade na concessao do PROCERA, entre outros, tem dificultado a obtenr,:ao de uma po.formance ainda melhor dos assentamentos no municipio.
239
Apesar de tudo, os resultados positivos verijicados no municipio de Abelardo Luz mas tram que, mesmo com todos os problemas e d(ficuldades dos trabalhadores rurais que ali se encontram, a alternativa dos assentamentus como op~'iiO ao desenvolvimento local, (> vici\'CI" (Reydon eta!., 1999, p. 10 ).
Em rcgiOcs ondc prcdominam ou prcdominavam os latifllndios, os asscntamcntos vao dcscnhando uma nova gcografia, on de a agricultura camponcsa passa a contribuir para como dcscnvolvin1cnto, transformando a rcalidadc local. Des sa fom1a, o proccsso de territorializay3o da luta pcla tcJTa tambCm prccisa scr considcrado na an3lisc dos impactos sociocconOmicos, como dcmonstra um cxemplo significativo que co lcvantamento feito pel a Cooperativa Central dos Asscntados do Rio Grande do Sui Ltda. (COCEARGS), em 1997, ao eomparar a produ~ao em um latitundio de 4.125 ha, que pcrteneia a V ARIG, e dcpois com a implanta<;ao do asscntamcnto Rondinha, no municipio de J6ia, na microrrcgiiio de Cruz Alta, cujo quadro rcproduzimos, parcialmcntc, no quadro 4,6:
QUADRO 4.6- COMPARATIVO: ASSENTAMENTO RONOINHA (LA TIFUNDIO DA V ARIG)
ASPECTOS ANTES DE POlS DA DESAPROPRIA<;:..\0 DE CONSTITUiDO 0
ASSENTAMENTO
Nlm1ero de habitantes I 0 fami!ias 686 possoas
Casas para moradia 8 127
Pocilga de alvcnaria 0 102
Est<ibulo de alvcnaria I 80
Galpoes 5 106
AnnazCns 2 3
Cercas 13.350m 159.380111
Estuf~t hortigranjeira 0 3
A~udcs 21 76
Fossas sCpticas 6 34
Escola 0 I
Rede c!Ctrica 2.300 111 12.000111
Bombas para irrigayao I 10
Poyo arlcsiano I 2
Caixa d'<i ua 3 51
Bomba d'<igua 2 7
240
Refcit6rio 0 4
lmplcmcntos agTicolas 0 49
Tratorcs 0 12
CaminhOcs 0 2
Carro~as 0 63
Plantadeira de tra~ilo animal 0 5
Suinos 0 1.806
Bovinos de corte e lcitciro 1.100 1.%1
A\'CS 0 6 903
Apicultura- caixas ll 361
Po mar 8 res 12.089 pes
Reilorcstamcnto 5.097 mudas 44.469 mudas
Arroz 0 27 ha
Milho 582 ha 921 ha
F cijao 0 171 ha
Hortigranjeiro 0 S ha
Aipim 0 47 ha
Mclancia 0 19 ha
Mclao 0 7.8 ha
Erva-mate 0 3.670 pes Soja 554 ha 86X ha
Tri o 0 168 ha
Leite 0 97. ?30 litros/mCs
Ordcnha 0 6 m<iquinas
Rcsfriador 0 7 unidadcs
Fonte: Coopcrativa Central dos Asscntados do Rio Grande do Sui (Coccargs). A \!ida no assenramenro. Porto Alegre: Coccargs, 1997, p. 20.
Esse cxemplo nos da uma no<;ao da divcrsi fica<;ao da produ<;iio c das atividadcs dos asscntamentos, que trans formam a por<;iio do territ6rio conquistada c impacta o scu em tomo. Ainda, para uma idCia da diversidade do que sc produz nessas areas em to do o Brasil, rclacionamos no quadro 4. 7 uma mostra da produyao agropccu<iria dos assentados por regiao:
241
QUADRO 4.7- PRODU<;:AO NOS ASSENTAMENTOS
REGlUES PRODU<;:AO AGROPECUARIA DOS ASSENTAMENTOS
NORDESTE Milho, fcijiJo-de-corda, rnandioca, arroz-de-sequciro, farinha-dc-mandioca, inhamc, batata doce, banana, aipim/macaxeira, gomalpol-vilho, Ieite, qucijo, a\godao herb<l.ceo, ab6bora, caju, mclancia, coco, laranja, abacaxi, castanha.
NORTE Milho, mandioca, cafC, arroz-de-sequeiro, farinha-de-mandioca, fci-jiio-de-corda, limao, cupuayu, fcijao, inhame, banana, aipim/maca-xeira, goma/polvilho, algodiJo hcrba.ceo, Ieite, ab6bora, caju, melan-cia, coco, laranja, abacaxi, castanha, arroz beneficiado, cana-de-a~U-car.
CENTRO-OESTE Milho, amendoin, mandioca, cafe, arroz-dc-sequciro, fari-nha-dc-mandioca, feijiJo-de-corda, limiJo, feiji'i.o, banana, algodao hcrbiicco, ab6bora, caju, melancia, coco, laranja, abacaxi, castanha, arroz bcncficiado, cana-dc-a~Ucar.
SUDESTE Milho, qui abo, mam3o, jil6, maxixc, abacate, mandioca, cafe, ar-roz-de-sequeiro, farinha-de-mandioca, fcij3o-dc-corda, limao, ma-mona, tomate, alfacc, couvc-flor, feijao, inhame, banana, aipim/ma-caxeira, fecula, polvilho, algodao hcrb<icco, ab6bora, pepino, cenou-ra, melancia, coco, laranja, abacaxi, castanha, arroz bcncficiado, cafe, cana-de-a~Ucar, Ieite.
SUL Milho, soja, fumo, mandioca, arroz-de-sequeiro, feijao, ab6bora, ar-roz beneficiado, batata docc, batata inglesa, amendoim, alface, quei-jo, erva-mate, aipim, cana-dc-a~Ucar, echola, pessego, batata salsa, mel de abelha.
Fonte: I Ccnso da Rcforma Agniria, 1997; 1TESP, 1998; Pcsquisa de campo, 1997.
Enfrentando desafios e contribuindo com a transforma<;ao da realidade, os scm-terra resistem contra a explora<;ao c a cxpropria<;ao. Com enormes dificuldades. desenvolvem suas experiencias: crrando c acertando, superando problemas e defrontando com novas quest5es. Constituiram diferentes formas de organiza<;ao nos assentamentos: os nUcleos, os grupos coletivos, as associa96es, os diversos tipos de coopcrativas, na forma<;ao de urn modelo de dcscnvolvimcnto para os asscntamentos. que conti:m urn can\ter politico de rcsis!Cncia c viabiliza a mobiliza<;iio para articula<;iio de lutas econ6micas e politicas, colaborando como avan<;o das ocupa<;5cs c da organicidadc do MST. Des sa forma, produzem as suas existencias, fonnando e territorializando do Movimcnto, incorporando outras familias na marcha da !uta pela terra. Assim, o assentamcnto c cada lotc dos scm-terra sao mais do que unidades e areas de produ<;ao, sao tam bern por<;5es do territ6rio conquistado para a resistencia e a !uta continuas.
Outros desafios sao as qucstiies da industrializa<;ao c da inser<;ao ao mercado. Nesse processo, o Sistema Cooperativista dos Asscntados tem implantado divcrsas unidades agroindustriais em cooperativas, conforme esta aprcscntado no quadro 4.8:
242
QUADRO 4.8- AGROINDUSTRIALIZA<;:AO NOS ASSENTAMENTOS
TIPO COOPERA TIV A MUNICiPIO/UF PRODU<;:AO
Beneficiamcnto de castanha COPAGLAN Itarema (CE) 550 kg/dia
Laticinio Prado 13 mil
Microusina de Ieite Assoc. 25 de Maio S. Miguel Oeste 1.800 IIdia
Microusina de Ieite Assoc. 23 de Ju- Cedro (SC) 800 IIdia nho
Abatedouro de frango COOPERUNIAO Dionisio Cerqucira 200 frangos/dia
Fitbrica de jeans COOPERUNIAO Dionisio Cerqueira 1.080 per;as mes
Ervateira Coopcrativa Cen- Abelardo Luz (SC) 2 toncladas dia
Beneficiamento de arroz COOPERVID do meio 1.5 toncladas dia
Ervateira Coopcrativa Cen- Santa Maria do 1.2 toncladas hora tral
Pasteurizar;iio e envasamento COOP AVI Paranacity (PR) 4 mill/dia
Beneficiamcnto ca- COOP AVI Paranacity (PR) 250 kg/dia na-de-ar;ltcar/a<;iJcar masca- 300 IIdia
Bcneficiamento de griio COAGRJ Nova Laranjciras 75 mil sacas (PR) est<itica
de
Beneficiamcnto de sementcs COPERAL Hulha Negra (RS) I ton./dia BJONATUR
Embutidos e defumados de COOP AIL Ibiruba (RS) 12 suinos dia
I
Abatcdouro de suinos COOP AN Nova Santa Rita 20 suinos dia
Fft.brica de conservas c doces ITERRA Vcran6polis (RS) I 0 ton. matCria-pri-
Fonte: Concrab, 1997a.
243
Existem, ainda, varios projctos de implanta,ao de us ina c microusinas de Ieite, resfriador e laticinios, confonnc rclacionados no quadro 4.9:
QUADRO 4.9- UNIDADES AGROINDUSTRIAIS EM IMPLANTA<;:AO
• TIPO COOPERATIVA, MUNICIPIO/UF FINANCIAMENTO
GRCPOOU ASSENTAMENTO
Microusina de Ieite Grupo infonnal Rondon6polis/MT Procera
Microusina de Ieite Grupo informal Araputanga/MT Proccra
Usina de Ieite CO MARA Imperatriz/MA 81030
Microusina de Ieite COARP Japoatii/SE Procera
Microusina de Ieite COOAPRI ltapcva/SP Procera
Microusina de Ieite COO PAC Anast3cio/MS Procera
Microusina de Ieite PA Nova Esperanva Jatci/MS Procera
Rcsfi·iador COAGRI Nova Laranjei- Procera ras/PR
Laticinios COCAMP Euclides da Cu- Procera nha/SP
Folllc · Concrab. 1997a.
Em sctembro de 1999, a COCEARGS expos os produtos das coopcrativas dos asscntados na Expointcr- principal fcira agropccu{lria do pais, rcalizada anualmcntc em Estcio (RS). Em outubro, o Instituto de Tcrras do Estado de Sao Paulo (ITESP) rcalizou o Forum Estadual de Comercializa,ao dos Produtos da Rcforrna Agraria, no Parque Estadual da Agua Branca, em Sao Paulo (SP), onde os scm-terra cxpuseram os scus produtos. Essas exposiyOcs marcam a participa<;:Uo dos asscntados nesscs cvcntos, ocupando cspayos, nos quais estavam ausentcs.
0 Sistema Coopcrativista dos Asscntados cnfrcnta divcrsos problemas com a viabilidadc da produ,ao nos asscntamentos c como modelo de coopcrativismo que cstii. implantando. Algumas coopcrativa5 cnccrraram suas atividadcs como sao os casas da COPAJOTA (Cooperativa de Produ,ao Agropecuaria Padre Josimo Tavares), em Promissao (SP), e da Coopcrativa de Produ,ao Nova Ramada, em Jl11io de Castilhos (RS). Evidentc que cssas cxpericncias defrontam-se com cnonncs obstaculos no modclo ccon6mico de dcscnvolvimcnto da agricultura capitalista, afinal, cssas cooperativas estao snbordinadas aos grandcs monop6!ios de mcrcado. De modo que a postura do SCA c buscar brcchas possivcis, propondo a comcrcializa\'aO nos mcrca-
30. Banco lntcramcricano de Dc~cnvolvimcnto.
244
dos locais e rcgionais, bern como procurando criar alternativas, como por exctnplo: a cria<;ao de mcrcados solidarios31 (Concrab, 1997b, p. 18). Faz parte da hist6ria do MST aprender com as lic;iies da !uta, de modo que as questiies permanentcs do Movimcnto estao sempre em debate e em busca de supera<;ao. Dessa forma, conli'ontando-se com esses obst<iculos e dcsafios, as experiCncias desenvolvidas tern contribuido, em geral, para o desenvolvimento econ6mico dos assentados e com as lutas pcla terra e pela rcforma agraria.
Os assentamentos mais bern organizados colaboram com as ocupm;Oes, liberam e financiam os trabalhos de militantes na territorializa<;ao da !uta em outros estados c regi6es, assim como para descnvolver a organicidade do MST por mcio dos setores de atividades.
No bicnio 1998/99, a Concrab realizou um convcnio com o !TERRA (Instituto Tccnico de Capacitac;ao c Pesquisa da Rcfonna Agraria), com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em Sao Leopolda (RS), e a Universidade de Brasilia, para criar o Curso de Especializa<;ao e Extcnsao em Administra<;ao de Cooperativas (CEACOOP). Essa c uma expcricncia para qualificar asscntados e tccnicos ( coordenadorcs, administradores, cngenhciros agr6nomos, tCcnicos agricolas) para as coopcrativas do SCA. Sao dez anos de expericncias de organiza<;ao cooperativa no MST. Cmn todos os desafios c qucst6es, o Sistema foi urn sctor importantc no processo de formayiio c tcrritorializayiio do Movitnento. Niio ha como separar a I uta ccon6mica da luta politica. Dessa forma, ao dcscnvolvcrem as cxperiCncias que resultam nos processos de fonnayao c territorializayao do MST, os scm-terra construiram uma importante forma de rcsistCncia contra a cxpropriac;ao c a cxplorayiio, enfrcntando o capitalismo na sua essCncia.
Estrutura organizativa do MST
A partir da praxis, os scm-terra articularam, no periodo 1979-1984, as condi<;iies necessarias para criar um movimcnto social campones. No periodo 1985-1990, territorializaram o MST, tornando-o urn movimento nacional, construindo e consolidando sua cstrutura organizativa32
. Dcsde o inicio dos anos 90, os scm-terra cstabelcceram cssa cstrutura, multidimcnsionada c em muvimento, comprecndida pclas fonnas de organizayiio das atividades e pclas instfi.ncias de reprcscntayao, transformando o MST em uma organiza<;ao social ampla. Desse modo, em 1999, a organiza<;iio do MST possuia o scguinte organograma:
31. Excmplos de tipos de cmprccndimcntos solid<irios cstao em Gaiger, 1999.
32. Vcr capitulo 3: Constmindo o caminho.
245
ESTRUTURA ORGANIZATIVA DO MST
INSTANCIAS DE REPRESENTA(:AO FORMAS DE ORGANIZA(:AO DAS ATIVIDADES
CONGRESSO NAC!ONAL SECRET ARIA NAC!ONAL
ENCONTRO NAC!ONAL SECRET ARIAS ESTADUA!S
COORDENA<;:AO NAC!ONAL SETOR DE FRENTE DE MASSA
D!RE<;:Ao NAC!ONAL
ENCONTRO ESTADUAL
COORDENA<;:AO ESTADUAL
D!RE<;:AO ESTADUAL
COORDENA<;:AO REGIONAL
COORDENA<;:AO DE ASSENTAMENTOS
E COORDENA<;:AO DE ACAMPAMENTOS
SETOR DE FORMA<;:AO
SETOR DE EDUCA<;:AO
SISTEMA COOPERAT!V!STA DOS ASSENT ADOS
SETOR DE COMUN!CA<;:AO
SETOR DE F!NAN<;:AS
SETOR DE PROJETOS
SETOR DE D!RE!TOS HUMAN OS
SETOR DE RELA<;:OES !NTERNAC!ONA!S
SETOR DE SAUDE
COLET!VO DE MULHERES
COLET!VO DE CULTURA
ART!CULA<;:Ao DOS PESQU!SADORES
MiST!CA
A organizayao das atividades possui diferentes forrnas: secretarias, setorcs, sistema, coletivos e articulayao. Essas formas em suas dimens6es cst3o em movitnento e pod em sc transforrnar no processo de construyao do MST, Assim, o colctivo ou a articulac;:lo podcm virar setores, urn setor pode se tamar um sistema, ou mantcrem-se nessas fonnas, ou atC mesmo deixaretn de existir, con forme as nccessidadcs e desafios que viio surgindo nessc proccsso33
33. Por cxcmp\o: o Sctor de Produ~iio que foi transfonnado em Sistema Coopcrativista dos Asscntados, c durante a prime ira mctadc dos a nos 90, quando foi criado o Sctor de NUc\cos, rcspons<ivcl pc!a organiza~ao de base nos asscntamcntos c acampamcntos. Estc Sctor foi cxtinto em 1995, scndo cssa atribui~ao confcrida a todos os sctorcs c colctivos, bcm como as inst<lncias.
246
Os sctores e os coletivos sao formas de organizavao existentes em diferentes escalas: local, regional, estadual e nacional, voltadas para o desenvolvimcnto das rclaviies e atividades correspondentes nos assentamentos e acampamentos, bern como as relavoes externas. Igualmentc, o Sistema Cooperativista dos Assentados abrange diferentes frentes de atividades relacionadas a produyaO agropecuaria, tecnologia, formayaO, credito, administra<;iio, planejamento, gestao, comercializaviio, desenvolvimento socioecon6mico, negociavoes c formas de organizaviio do trabalho.
As instancias possuem diferentes escalas de representaviio: nacional, estadual, regional e local. Sao f6runs de decisao politica: congresso e encontros, e instiincias representativas: eoordena<;ao e dire<;ao. A intcra.;ao entre as formas de organiza<;iio das atividades cas instiincias rcpresentativas acontece par meio da organicidade. As instiincias sao compostas par membros das dire.;oes, das coordenaviies, dos setores, do sistema coopcrativista c dos colctivos. Da mesma forma que os membros das instancias devem acompanhar as atividadcs, os mcmbros dos setorcs compOem as inst:incias.
Na decada de 1990, pelo scu caratcr de dimensionamento e movimento, a cstrutura organizativa do MST foi ampliada em sua forma de organizaviio das atividades, na constitui<;iio dos sctores de Direitos Humanos e de Saude, bern como com a criaviio do Coletivo de Cultura e da Articulaviio dos Pesquisadores. 0 Setor de Direitos Humanos c fonnado par advogados e atua na defesa dos direitos dos trabalhadorcs, principalmente no campo juridico. 0 Coletivo de Cultura tern trabalhado na valorizaviio da produvao artistica c cultural dos scm-terra. Produziram dais discos compactos e atuam nos cstados, onde tern disseminado a cultura popular. A articulavao dos pesquisadores vern elaborando propostas de linhas de pesquisas e projetos voltados para as questoes das lutas pela terrae pcla reforma agraria, do cooperativismo, da educaviio, da saude, da cultura, entre outros. Tambem atua, de modo geral, nos cursos de formaviio e na orientavao para rcalizaviio dos projetos de pesquisas desenvolvidos pelos participantes dcsses cursos. Essas atividades incorporam sem-terra e outros trabalhadores de diversas areas. Da mesma forma, a mistica envolve a todos. Como atividade sociocultural reline pessoas de todas as formas de organizavao das atividades. Assim, a mistica nao e urn coletivo formal, como sao OS de cultura e das mulheres. A mistica e formada par qualquer pessoa, onde ela cstiver: no acampamcnto, no assentamento, na escola, na cooperativa, no encontro etc.
Nessa trajet6ria de vinte anos de fonna<;ao c territorializavao o MST sc ampliou e dcixou de ser s6 urn movimento social para tornar-se tambem uma organizac;iio social presentc em vinte e trcs unidadcs da fcderavao34
. As diferentes frcntes de atuayao formmn uma organizac;iio- composta por acampamcntos, assentamentos, escolas, cooperativas, sccretarias, unidades agroindustriais, que possuem veiculos, m<lquinas e implementos, cnvolvcndo trabalhadores de varias categorias- que abrangc as divcrsas dimensocs da vida dos scm-terra.
34. Como podc scr obscrvado na p.igina 44 da Revista Scm Terra, 11° 8 (sctcmbro de \999), ondc constam os principais cndcrc~;os do MST nos cstados c no Distrito Federal.
247
Como foi dcmonstrado ate aqui, o MST atua intensamcntc em todas as dimensOcs da vida humana: politica, econ6mica, social, cultural etc., procurando dcscnvolvc-las. Esse multidimcnsionamento da cstrutura e das ayocs faz do MST uma ampla organizayao social. Todavia, a principal rcfcrCncia a sua existCncia csta diretamcntc vinculada a !uta pela terra, a rcsistcncia na terra, ao trabalho familiar, 0 que faz do MST um movimcnto camponCs com as qucstOes do nosso tempo. Como afirmei, os scm-tcn·a nao lutam s6 pcla terra, mas por todas as condiyOcs b<isicas de existCncia. E por cssa raziio vao dimcnsionando o Movimcnto. Dcssa forma, construiram essa cstrutura organizativa por meio de suas cxpcriCncias c rcilcxOcs. Na consolidayUo dcssa ampla cstrutura os scm-terra sc utilizaram de do is principios fundamentals c indissoci8.veis, que sao a organicidadc c o colctivo~ 5 . Esses principios articulam as dimensOcs politicas, ccon6micas, sociais c culturais, constituindo-sc numa concepy3o intcrativa, que sc cxprcssamna idcntidade c na divcrsidadc de suas pn:'i..ticas, nos proccssos de luta c rcsistCncia dcscnvolvidos na fonnayao c tcrritorializayao do MST. Assim, de acordo com Adcmar Bogo:
''C fimdamental efetuar a combina~·ao entre movimento e organiz(w/io, para evitar a desintegrac;rlo gratuita do movimento .'wei a! que adquirc, atraw!s do tempo, evidCncia politica como o MST. mas carrcga den fro de si enormcs fi·agilidades espontdneas que devon ser superadas para que este movimento de mass as passe, scm mudar sua natureza, para organiza~·iio de massas, criando dentro de seu ser uma estrutura orgcinica, que !he de sustentarclo" (Bogo, 1999, p. !31 ).
Assim, tambCm, o MST podc scr vista como mna estrutura poderosa segundo Martins, e de fa to C, mas tambem carrcga dentro de si enormesfragilidades, segundo Bogo. 0 Movimcnto, em sua trajet6ria hist6rica, cnfrentou os mais difcrentes problemas, superou alguns e ainda continua convivendo com muitos.
Nesscs vinte anos de vida, o Movimento tcm enfrentado grandcs dcsafios, que sao quest6cs com as quais os scm-terra convivcm en1 scu cotidiano e procm·am soluyOcs como condiyiio para super3-los. Dois cnormcs dcsafios que os scm-terra cnfrcntaram foram: a manutcnyao da sua fonna de I uta c rcsistCncia, impcdindo a divisiio em um movimento de I uta pel a terra c outrode assentados; outro dcsafio foi a persistCncia pel a autonomia. Em todos os cstados, os sem-terra rcccberam criticas por cntcnderem que sao os responsavcis pela direyao politica do Movimento; ainda, outro dcsafio esta sendo a implantayao do modelo cooperativista que propoe para os asscntamcntos. Todo esse processo e acompanhado por cientistas, que por mcio de suas pesquisas procuram intcrprctar essas pn'i..ticas sociopoliticas e econ6micas. Todavia, sao os sem-terra que constrocm suas realidadcs e por clas sao transformados. E como
35. A rcspcito das primciras disctt"st'ic's no MST sabre csscs principios, vcr capitulo 2: Nosso Mm·imcnto Jaqui pam fi-cntc.
248
pode scrobscrvado no grande volume de pub!icayiies do MST, tambem pensam sabre o caminho que cst3o construindo, que a cada dia C tao rna is largo quanta mais longo.
Encontros, congresso e conjunturas
Os Encontros Nacionais sao momcntos em que os scm-terra avaliam a con juntura politica, aprofundam o debate a rcspcito da qucstao agraria c dcfincm as lin has politicas de atuayao. Nos anos 90, em seu proccsso de fonnay3o c tcrritorializayao, o MST mantcve a qucst3.o agr3ria na pauta politica nacional c se dcstacou como principal interlocutor junto ao govcmo a rcspeito do problema agnirio. De acordo com Matiins:
"Q i\10v;menfo e 0 lflliCO agente SOCia/ Q procfamar todos OS dias que a
questiio agniria niio C sO nem predominantemente uma questiio econ6-mica. Ela C wna questZio politica. Mesmo grupos atuantes, da maior rclcwlncia histUrica e politica, corno a Comis.<.:iio Pastoral da Terra, ondc a/ids nasceu o Movimento Sem Terra,jd se equivocam na sua missao e no alcance de seutrabalho ao anunciarem na prdtica a precediincia das qucst6es econ6micas e tCcnicas em relw;:clo ds questOes propriamente suciais e politicas ...
, A medida que o Movimento dos Scm Terra questiona o il?iusto c anti-so-cial regime de propriedade, a medida que, ao reivindicar, cria impasses politicos criativos para as governantcs eo Est ado, d medida que obriga o Est ado, com suas w;Oes concretas de ocujJa(ciO de ten·as, de alguma fhrnw, ainda que tangencialmente, a tomar providiincias protelat6rias, a negociar, ajilzcr re.fOrmas tOpicas, nessa medida oMovimento questiona o Est ado oligeirquico e /ati.fimdista. Assim agindo, a Movimcnto dos Sem Terra atua no senti do de democratizar a prupriedade da terra c de desimpedir um flit or de persistiincia da menta/idade oligeirquica. Ncsse .<.:cntido ele e essencialmente modernizador, muito mais modernizador do que o capital que se compOs com a grande propriedadc .fimdiciria" (Mar1ins, 1997b, p, 64-5).
De fato, as ac;ocs do MST no campo politico, ocupando cspa<;os cstrategicos c rcivindicando o debate c saidas para a qucstfro agnlria, tCm sido uma forma importantc de pressao para obter dos govcrnantcs algumas rcspostas para a situayao dos scm-terra nas diversas rcgi6cs brasileiras. Na dCcada de 1990, o Movitncnto foi ao Pai{lcio do Plan alto diversas vczes para ncgociar politicas pU.blicas refcrcntcs aos asscntamentos rurais c soluyiics para os conflitos, Em2 de fcverciro de 1993, a Coordcnayiio Nacional do MST reuniu-sc com !tamar Franco. Dcpois de nove anos da fundayiio do Movimento, pcla primeira vcz, os sc1n-terra cram rcccbidos porum prcsidcntc da RepUblica. Nessa audiCncia, rcivindicaram a mudanya da prcsidCncia do Incra c aprcsentaram um documcnto contendo propostas de mcdidas cmcrgcnciais para a rcforma agrUria c
249
entre estas os vetos de artigos, incises e pan\grafos da Lei Agn\ria que cstava para ser promulgada36 Tambem reuniram-se como presidente do Banco do Brasil e como secretario-geral do Ministerio da Agricultura para discutirem os recursos do Programa Especial de Crcdito para a Rcfonna Agraria.
Entre 1991 e 1999, foram realizados quatro encontros nacionais eo 3° Congrcsso, conforme representado abaixo:
EVENTO LOCAL DATA 6° Encontro Nacional Piracicaba (SP) 19 a 23/02/1991
T Encontro Nacional Salvador (BA) 13 a 17/12/1993
3u Co~sso Brasilia (DF) 24 a 27/07/1995
8° Encontro Nacional Salvador (BA) 24 a 27/0!11996
9" Encontro Nacional Vit6ria (ES) 03 a 06/02/1999
No 6° Encontro Nacional, os scm-terra discutiram as aviies do Govemo Coli orca intcnsificaviio da violencia no campo. Tambem debateram as expcriencias de organizaviio dos assentamentos c dccidiram pcla implantaviio do Sistema Cooperativista dos Asscntados. Definiram uma jomada de lutas ern con junto corn a Central Unica dos Traba1hadorcs, a Confederavao Nacional dos Trabalhadorcs na Agricultura, a Comissao Pastoral da Terra, a Coordcnaviio Nacional dos Atingidos por Barragcns c o Movirnento de Sobrevivencia da Transarnaziinica. Era uma fonna de charnar a atcnviio da sociedadc para os conflitos no campo c a necessidade de realizavao darefonna agr3ria.
Em dezembro de 1993, na eidade de Salvador (BA), foi realizado o 7" Encontro Nacional, quando os sem-terra avaliararn a questiio agniria no periodo dos Govcmos Collor/Itarnar c aprovararn doeumento "Que Reforma Agraria Queremos", em que aprcscntavarn propostas e medidas que seriarn entregues aos candidatos as eleiviies presidenciais de 1994. Neste Encontro, OS sern-terra tarnbcrn dcfinirarn 0 apoio a candidatura Lula, por acreditarcm "sera (mica que, se vitoriosa, pode imp/an tar um programa democratico-popular e realizar a reforma agraria" (Jomal dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, n° 133, janeiro-fevcreiro de 1994, p. 2).
Ern maio de 1994, os rnovirnentos sociais do campo inauguraram urna ayao conjunta, organizando urna arnpla jornada de lutas que dcnorninararn Grito da Terra, com difcrentes tipos de rnanifestaviies em todo o Brasil: ocupaviies, passeatas, ncgociaviies etc. Pela prirneira vez, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Central Uniea dos Trabalhadorcs, a Confederaviio Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a Coordenaviio Nacional dos Atingidos por Barragens, o Movimcnto
36. Lei Agr<'tria 8.629/93. A rcspcito do proccsso de discussiio c clabora~iio dcsta Lei, vcr Fernandes, 1996a, p. 59s.
250
N acional dos Pescadores e o Conselho N acional dos Seringueiros, se mobilizaram na efetiva<;iio de propostas para a supera<;iio dos problemas estruturais do campo. Negociaram como Govemo !tamar uma serie de medidas referentcs a reforma agn\ria, politica agricola, direitos trabalhistas etc.
Emjulho de 1995, os scm-terra realizaram o 3' Congrcsso Nacional, em Brasilia. Este even to inaugurou a palavra de ordcm "Rejorma Agraria: uma /uta de todos ", refor<;ando e ampliando o debate a rcspeito da questilo agraria para diversos sctores da sociedade. Com rela<;iio a conjuntura politica, Fernando Henrique Cardoso venccra as elciy5es e implantara uma politica de assentamentos rurais em que assumira o seguinte compromisso:
"Os conflitos agrizrios existentes no Brasil siio conseqiiencia de uma situar;iio hist6rica que as politicas pUblicas niio foram capazes de reverter. Siio necesscirias, portantu, projimdas mudam;as no campo. 0 governo Fernando Hen rique vai enfl·entar essa questiio, com vontade politica e decisiio, dentro do estrito re5peito d lei. Com o aumento subs tancia! dos assentamentos a cada ana, a oqjetivo e atingir a cem milfamilias no z'tltimo ana do governo. Essa e uma meta ao mesmo tempo modesta e audaciosa, }Q que os assentamentos nunca superaram a marca anual de 20 mil jamilias" (Cardoso, 1994, p. 10 I).
No seu govcrno foram construidas as condi<;i'ies politicas para essa rcaliza.;iio, conforme podc ser observado pelos numeros da tabela 4.7. No ultimo dia do Congresso, o MST fez uma manifcsta<;ao em frcnte ao Palacio do Plana! to, enquanto a Coordena<;iio Nacional sc rcunia como prcsidente da Republica e entrcgaram uma paula de reivindica.;oes, bcm como uma estatucta de Zumbi dos Pahnares e a bandeira do MST. A pauta continha os seguintcs pontos: politica de reforma agniria; rcgulariza<;iio dos projetos de assentamentos; garantia de libera<;iio dos recursos do Programa Especial de Credito para a Reforma Agraria; vincula<;ao do Instituto Nacional de Coloniza.;iio e Reforma Agraria a Presideneia da Republica e assentamento imediato das familias acampadas37 (Jornal dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no !50, agosto de 1995, p. 5).
0 8' Eneontro Nacional foi realizado em janeiro de 1996, tambcm na cidade de Salvador (BA). Um dos pontos de discussiio dessc cvento foi a questiio da politica ncoliberal do govemo FHC, que rcsultara, entre diversos outros problemas sociais, no crescimento do dcsemprego. Nesse scntido, a !uta pela terra se intcnsificava em todo o pais, pclo aumento da demanda dos intcrcssados em participarem das lutas e no crescimento do nU.mero de ocupac;:Oes.
37. E importantc lcmbrar que o atcndimento is rcivindica(\:Ocs acontccc parcialmcntc por mcio da continuidadc da prcssiio politica.
251
Em 1998, Fernando Henri que Cardoso veneeu novamente as elcic;iies presidenciais. Em seu primciro mandata, em torno de 280 mil familias foram asscntadas ou tiveram suas posses rcgularizadas. Pelo mcnos quatro fatores contribuiram para sc chcgar a esse rcsultado. 0 mais importante foi a organizayao dos sctn-tciTa que intensificaram as ocupac;5es e tcrritorializaram a !uta, como podc scr obscrvado pelos nU.meros da tabela 4.2. Dessa fonna, desde 1994 surgiram divcrsos movimentos sociais e passaram a rcalizar ocupac;5cs de terra; outro fator C a rcgularizay3o fundiaria das tcrras de posseiros, principalmente na Regiao Norte; outro c que a politiea nco liberal intensificou o desctnprego ctn todos os sctores da cconomia. E tambCm, por causa da diminuic;iio do prec;o da terra que oeorreu a partir da implantac;ao do Plano Real. Para desespero dos latifundiarios, a ten·a perdeu em media 50% do seu valor. Segundo a pesquisa de Bastiaan e Plata:
"Os prer;os da terra de lavouras a partir de 1995 apresentam wna tendcincia decrescente em todas as regicies. Para o Brasil, eles diminuiram em media de R$ 1.951, 110 periodo de junho de 1988 a dezembro de 1994, para R$ 1.170 em 1997. Esta mudan,·a est aria associ ada a politica macroecon6mica imp/ementada pel a Plano Real" (Bastiaan, Reydon. Plata, Ludwig Agurto, 1999, p. 3).
Essa nova conjuntura possibilitou ao govcrno FHC a implantayao de uma politica para resolver o problema dos Jatifundiarios e ten tar diminuir o poder de pressao dos sem-tena. Para tanto, o governo criou o projeto-piloto Ccdula da Tena, que foi implantado em 1997, nos Estados do Maranhao, Ceara, Pernambuco, Bahia c Minas Gerais. Este projeto tcm participac;ao do Banco Mundial e foi desdobrado, em 1999, para o que o govcmo nomeou de Fundo de Terras e da Reforma Agraria- Banco da Terra. 0 argumcnto principal do governo para implantar esses projctos e:
"As jfmtes de economia de custos do projeto em compara~'iio com a abordagem tradicional da reforma agrdria siio as seguintes: a) prec;o mais baixo de aquish;iiolcompra de terra, como result ado da livre negociQ(;iio entre compradores e vendedores; h) custos mais baixos dos investimentos com a participa~'clo direta das comunidades na implenzenta~'c/o e c) maior adimph!ncia dos tomadores de emprCstimosjuntu aos bancos, comparativamente quando o pagamento C ji?ito a agCncias pUblicas" (Gabinete do Ministro Extraordinario da Politica Fundiaria. Cedula da Terra. Brasilia: s.d.).
Na rcalidade, com o projeto Ccdula da Ten·a o governo tcnta mudar a questao agniria do plano politico para o plano econ6mico, beneficiando os proprietaries de tena, que dessa forma podcm transferir scus capitais para outros sctorcs da cconomia. E quem paga a conta sao os trabalhadorcs, conforme concluiu o OESER em pesquisa rcccntc a respeito das condic;Oes de pagamcnto dcssas tcrras:
252
"Vender 'gala par lebre ', engananda os agricultares atraves de falsas avaliw;Oes de pagamento pode serfdcil, principa/mente cunsiderando as dUiculdades ecun6micas C!?fi·entadas pelos agricultores familiares. Par outro !ado, o agravante e que a terra adquirida e colocada como garantia do .financiamento, atravCs de alienac;·tw jiduciciria, au seja, caso o agricultor niio pass a pagar a divida, o banco pode tamar a terra como forma de pagamento.
Concluindo, refon;amos a importfmch1 e a necessidade de um crl:dito fimdiririo para po!encializar a agricultura familiar, principalmente para us arrendatcirios, m;,1(/i.mdistas e )ovens filhos de agricultores. Entretanto, as condi<J5es de pagamento precisam estar adequadas d rentahilidade da produ(iio agricola e relacionadas ao acesso a tecnologia, fOrnuu;iio pro.fissional, pesquisa, assistCncia tixnica, educa(·iio e outros crc?ditos agricolas.
A propos/a apresentada pelo Banco da Terra niio cumpre nenhum Jesses prC-requisilos, pelo contrGrio, poderti levar os agricultoresfami/iares e assalariados rurais,j{[ descapitalizados, para uma situa(·iio ainda mais critica" (OESER, 1999, p. 21 ).
0 ]ado oculto dcssa politica e explicitado pclo Forum Nacional de Rcfonna Agr3.ria 3 ~':
"Desorientado pel a impossibilidade de cooptar os trabalhadores rurais SCln-terra e de dissuadir suas ar6es pel a repressilo politico-militar, o Governo Federal, como apoio dos selores estrategistas civil-militares e do Banco Mundial, desenvulveu uma nova estratc?gia para desmohilizar os movimentos sociais e sindicais no campo, !1(10 mais dando CJ?f'ase as iniciativas no campo pu/itico-administrativo e ideu!Ogico, mas sim no econOmico, com o programa CCdu/a da Terrae a criac.-·iio do Banco da Terra, ambas fOrmas institucionais da propos/a de refurma agrtiria pelo mercado.
38. Do fl'lrum participam divcr::.as instilui~;lks: !nstitutn Brasi!ciro de An;'!liscs SociocconOmicas (!BASE), Comissao Pastoral da Terra (CPT), Movimcnto dos Trabalhadores Rurais Scm Terra (MST). Associai;fio Brasikira de Rcforma AgrUria { ABR A). Confcdcra((5.o Nacional dos Traba!hadorc~ na Agricultura (Con tag), Central (Jnica dos Trabalhadorcs (CUT), !nstituto Naciona! de Estudos Socion:ondmico~ (!NESC), Consclho !ndigcmsta Mission<irio (CIMI), Sccretaria Ab•n'1ria do Partido dos Tmbalhadorcs (SAPT), C;Jritas, ConferCncia Nacional dos Bispos do Bra<;il (Ci\!BR ), Consclho Nacional das !grcjas Crist;_ls (CONIC). ConfCdcra((i\o Nacional dos Scrvidorcs do In era. Movimento Nacional dos Dircitos Humanos (MNDH), Fcdcra9iio dos t'!rgiios para AssistCncia Socia! c Educacional (FASF), Assessoria c Sen·i9os a Projctos em Agricultura Altcrnativa {ASPTA), Movimcnto dos Atingidos por Barra gens ( MAB), Consclho Nacional dos Scringuciros (CNS). Movimcnto de Libcrtat;iio dos Sc111 Terra (MLST), Articula9:io Nacional das Mulhcrcs Trabalhadoras Rurais (ANMTR).
253
Nesse processo geral da reforma agrtiria pelo merc·ado, a iniciativa de venda au niio da terra ociosa (em geral da pior qualidade) passaria para o controle dos latifundiarios, tradicionais especuladores com a terra, sem a mediw;iio do Estado, e sem qualquer restric;iio par niio cumprirem ajum;iio social da terra como dispoe o artigo 184 da Constituic;iio Federal" (Forum Nacional de Refom1a Agn\ria, 1999, p. 3).
Com csta politica, o governo abre mao da competencia de fazer a rcforma agraria, procurando canter a intensificac;iio das ocupac;oes de terra, ofcrecendo maior poder politico aos latifundiarios. Esse processo ja aconteceu na claborac;iio do Plano Nacional de Reforma Agraria, em 1985, c na Constituic;iio de 1988, quando os latifundiarios conseguiram o controlc politico e foram vitoriosos. 0 Banco da Terrae a estratcgia politica para que, par meio da mcrcantilizac;iio da reforma agraria, possam tcr maior poder sobrc esse elemento da questiio agraria.
Essas questoes foram debatidas no 9° Encontro Nacional do MST, realizado nos dias 3 a 6 de feverciro de 1999, em Vit6ria (ES). Outros pontos debatidos ncste evento foram: a rcsolm;ao sabre a emancipayao dos assentamentos, em que os sem-tena repudiaram a proposta do govcrno que pretcndc emancipar os assentamentos, todavia niio tern cumprido com a implanlaviio da infra-cstrutura basica; a mobilizaviio para rccuperar as conquistas do Programa Especial de Crcdito para a Rcforma Agn\ria (Procera), que o governo substituiu pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
Dcsde 1989, o MST tern participado de diversos eventos com outras organiza<;oes camponesas da America Latina. A partir desses eneontros, construiram as condi<;Oes para a realizac;ao do I o Congresso Latina-Americana de Organizav5es do Campo (CLOC), que aconteceu em fevereiro de 1994, em Lima (Peru). 0 2° Congrcsso aconteceu no mes de novcmbro de 1998, em Brasilia, organizado pelo MST, CUT, Contag e ANMTR. Desse evento participaram oito organizav5es da America do Norte, Europa c ' Asia, que tambcm sao integrantes da articulaviio intcmacional Via Campesina.
Urn cvento importante que marcou a hist6ria do MST foi a Marcha Nacional: Reforma agraria, Emprego c Justi<;a. Durante sesscnta dias, trcs grupos de scm-terra partiram de Sao Paulo ( 600 pes so as), de Governador Valadares (MG) ( 400 pcssoas) e de Rondon6polis (MT) (300 pessoas), e caminharam ate Brasilia39
. Chcgaram a capital federal no dia 17 de abril, Dia Internacional da Luta Camponcsa, lembrando um ano do massacre em Eldorado dos Carajas (PA). Na chegada receberam o apoio de pelo menos sessenta mil pessoas numa das maiores manifestay6es oeorridas em Brasilia. Participaram dos atos partidos politicos c organizayocs de apoio a reforma agraria.
39. A rcspeito, ver o excclente trabalho de: Santos, Andrea Paula. Ribeiro, Suzana Lopes Salgado. Bom Meihy, JosC Carlos. Vozes da Marcha pel a Terra. Siio Paulo: Loyola, 1998.
254
Nos estados onde o MST esta organizado tambem aconteceram marchas em direvao as capitais. A Direvao Nacional marcou uma audiencia40 como presidente Fernando Henrique Cardoso e entregou urn doeumento manifestando suas eritieas a politica eeon6mica e a politica agn\ria, especialmcnte a respeito do modelo econ6mieo de desenvolvimento da agropeeuaria. Alcrtou para a situavao dos pequenos agrieultores e do desemprego. Declarou que aquilo que o governo chama de refonna agraria c tao-somentc uma politica de assentamcntos etc. E reivindicou, entre outros pontes, o asscntamcnto das familias acampadas e das eadastradas, o aumento do valor do cr6dito do Procera, bern como o aumento do montante de recursos para acon1panhar o crcscimcnto do nU.mero de assentamentos. TambCm rcivindicou a urgCncia de aprova9ao no congrcsso de projetos de lei que agilizam a reforma agraria, como, por exemplo, os projetos que impcdcm a arbitrariedade nas liminares de despejo e a cobran9a de juros compensat6rios nas desapropria96es (Jamal dos Traba!hadores RuraL' Sem Terra, n° 168, maio de 1997, p. 9).
Noutra direvao, o presidente entregou urn documento intitulado "Reforma Agniria: um compromisso de todos", em que aprescntou os programas de scu governo para a questao agniria. Entre estes, o Projeto Lumiar de assistcncia tecniea, o Projcto Emancipar, destinado a emaneipa9iio de assentamcntos, o Cedula da Terra, o Projeto Casulo dcsenvolvido em parcerias com prefcituras para implantavao de assentamentos (Cardoso, 1997). Este documcnto expressa uma politica agraria que o Movimento vern combatendo, porque continua cxcluindo os trabalhadores das decis6cs politicas.
Como objctivo de amp liar aorganiza9iio popular, em dezembro de 1997, o MST, a Central de Movimcntos Populares e a CNBB realizaram urn cvcnto em ltaici (SP), on de elaboraram os principios de uma Consulta Popular para discutir urn projeto para o Brasil. Nesse encontro, rcuniram-se lideranl'as populares, lideres rcligiosos, artistas, inteleetuais e politicos que debateram a iniciativa. Organizaram os prineipais compromissos da Consulta Popular: eriar espavos de socializa9iio politica para discutir os principais problemas nacionais e claborar urn projeto de desenvolvimcnto; articular lutas eon juntas para fortalecer o enfrentamento contra o projcto das elites; investir na forma,ao de militantes para fortaleeer as organizavi'ies populares e realizar uma marcha para divulgar a Consulta e procurar conscientizar a populavao. Em 1999, 0 numero de organizavi'ies popularcs participantes da Consulta foi ampliado e OS intcgrantcs41 rcalizaram a Marcha Popular pelo Brasil. Em tomo de mile cern lutadores do povo (como foram dcnominados os participantes da marcha) partiram do Rio de Janeiro emjulho, percorreram 1.600 km ate Brasilia, onde chegaram no dia 7 de outubro. No trajeto, visitaram 130 cidades e povoados, discutindo a realidade do povo e
40. TambCm participaram da audiCncia as scguintcs institui<;Ocs: CNBB, CUT, Con tag, CJMI c Movimcnto das Mulhcrcs Agricultoras.
41. AlCm das rcfcridas, passaram a compor a Consulta, os scguintcs movimcntos: Articula~iio Nacional das Mu!hcrcs Trabalhadoras Rurais, Movimcnto dos Pcqucnos Agricu\torcs c Movimcnto dos Atingidos por Barra gens.
255
ncccssidadc da organizac;ao popular para a construc;ao de um projcto para o Brasil42.
Em Brasilia rcalizaram, em frcnte ao Banco Central, uma manifcstay5o contra o Fundo MonctJrio Intcrnacional e pcla sobcrania do Brasil.
Com cssa iniciativa, o MST tendo como referCncia os scus principios, construidos desdc scu 1" Encontro, participa c ajuda a promovcr um projeto popular de descnvolvimento para o Brasil. Essa C uma cxpcriCncia bastantc rcccntc e cstii ctn proccsso de gcstacyao. Contudo, C ncccss3rio obscrvar que, na con juntura politica atual do pais, C scm dU.vida uma importantc fonna de organizay5o da classc trabalhadora do campo c da cidade na !uta contra as politicas neolibcrais. lgualmcntc C impmiantc dcstacar a presenya maciya dos camponcscs ncssa organizay3o. A rcspcito do devir dcssc proccsso, sao poucos os rcfcrcnciais para uma amllisc. Todavia, o MST tcm uma grande responsabilidadc sobre esse proccsso c. dcssa forma, dimcnsiona sua !uta n3o apcnas por pon;Oes do tcrrit6rio, mas sim em uma luta pcla transfon11ayfio social, politica c econ6mica do tcrritOrio brasilciro.
Outros movimentos sociais
Etnbora o J\1ST scja, com ccrteza, o mais organizado, o mais amplo co Unico movimcnto social organizado nacionalmcntc, dcsde 1994 surgiram outros movimcntos. Rcgistrci 15 movimcntos sociais lutando por terra. Essa luta C fcita em grande parte por movimentos sociais sociotcrritoriais, como tambCm por movimentos isolados .. o.
Durante as pcsquisas de campo, identifiquci os movimentos sociotcrritoriais, que constam no quadro 4.1 0. Sfio movimcntos de trabalhadorcs scm-terra c movimcntos sindicais que nasceram- ou passaram a participar- da !uta pel a tcn·a, prcdominantcmcntc a partir da primcira gcstao do govcmo Fernando Henriquc Cardoso. Tendo como rcfcrCncia a pcsquisa documental que rcalizci, ainda sao poucos os estudos a rcspcito desscs movimcntos sociais44
.
42. Algumas rcferCncias a rcspeito das propostas estiio em 11cnjamin, llJ9H, c Consulta Popular. s.d.
43. A rc:;pcito dessas no(ftlcs. vcr capitulo 5: Proccssos de ocupa(fiio: tipos e fom1as .. cspacializa(,':i"to c territorial iza~iio.
44. A rcspcito do ML T, vcr Costa, (iikaidc SllYa. 1996_ A rcspcito do MAST, ver Santos, Gilbcrto Vieira. J 999, c Fc!lclano, Carlos Alberto, 1999.
256
QUA ORO 4.10- OUTROS MOVIMENTOS SOCIOTERRITORIAIS
NOME ESTADO (S)
Comissao Pastoral da Terra~ Ltt J BA c PB
).,10\imcnto de Lutn nt>b Terra (MLT) BA PA
Movimento Sem Terra do Sul do Mato Grosso MT (MST-SMT)
Fcdcrayao dos Trabalhadorcs na Agricultura- PE Pernambuco t~'t rAPE)
Fcdcra~ao dos Trabalhadorcs na Agricultura do MS Estado do \1ato Grosso do Sui (I ~AGR'-MS)
Coordcnayao de Associayao de Asscntados do MS Mato Grosso do Sui tl.. 1MS)
Movimcnto da Terra tiVI J J PE
Movimcnto de ComissOcs de Luta t :L) PE
Fcdcr~wao dos Trabalhadorcs na Agricultura do MG Estado de Minas Gerais (t t (" '1VJ
Movimcnto 'n de Corumbiara RO
1\:tovimcnto da Libcrtayao dos Sem Terra MA - PE- MG. IVILST) RN c SP
L RO
Movimcnto l3rasi\ciro dos Scm Terra (MBST) Df-MA-PA
Mo\·imcnto dos Agricultorcs Scm Terra SP (Pontal doPa-
~'~' Movimcnto Unificado dos Scm Tcmt (MUST) SP (Ponlal do Pa~
. '!!")_
Pcsqu1sa c organiza(,:iio dos dado~: Ikmardo M:mr;ano Fcmandcs. 1998.
*/\no em que intensificou o prneesso de oeupar;Uo de terra.
• INICIO
1975
1994
1994
\995*
1996'
1996
1996
1996
1996'
1996
1997
1998
1998
199X
1998
Esse quadro C uma rcfcrCncia dos movimcntos socioterritoriais na !uta pel a terra. Em 1999, a Contag intcnsificou as ocupa<;ocs de terra c no dia 6 de abril'' realizou 59 ocupay6es em 11 estados, principalmente no Nordeste, Minas, Goiits e Malo Grosso do Sul. A Comissao Pastoral da Terra tem atuado em ocupa<;6cs de terra nos Estados da Paraiba c Malo Grosso do Sul, sendo que nos outros estados pat1icipa das articula<;ocs de apoio a ]uta.
Com rcla<;Uo aos tnovitncntos isolados, nao conscgui informa~Ocs scguras por causa da rapidcz das a<;oes da !uta e da efemeridade increntc a esse tipo de movimento. Todavia, selecionei OS que pude acompanhar em suas trajetbrias. sao movimentos
45. A Contag dcfiniu esse dia como o Dia Nacional da Ocupar;;\o de Terra.
257
isolados que surgiram na regiao do Pontal do Paranapanema entre os anos de 1995 a 1998. A maior parte dcsscs movimentos nao existe mais. Parte sc uniu c se transformou em movimcnto sociotcrritoria1, outros foram extintos (vcr quadro 4.11 ).
QUADRO 4.11 - MOVIMENTOS SOCIAlS ISOLADOS: PONTAL DO PARANAPANEMA (SP)
NOME MUNICiPIO INiCIO
Movimento Sem-Terra de Rosana 1995 Rosana
Brasileiros Unidos Querendo Pres. EpitUcio 1996 Terra
Movimento Esperan~a Viva* Mirantc do Para- 1996 napanema
Movimcnto da Paz Regente Feij6 1997
Movimcnto Terra Brasil** Pres. Venceslau 1997
~ovimento Unidos pela Paz Tarabai 1997
Movimento da Paz Scm-Tcr- Taciba 1997 ra***
Movimento Terrae Pilo Santo Anasticio 1997
Movimento Scm-Terra do Teodoro Sampaio 1998 Pontal
Movimento Terra da Espe- Pres. Bemardes 1998 ranya***
Pcsquisa e organizaviio dos dados: Bernardo Manvano Fernandes, 1998.
* Disscnsii.o do MST. ** Disscnsao do Brasilciros Unidos Qucrcm Terra. *** Disscnsii.o do Movimcnto Unidos Pel a Paz.
' LIDER- A POlO ' POLITICO
STR Rosana- Fcta-esp
Geraldo L. de Oli-veira-?
Ailton Barbosa- ?
Claricio de Oliveira -? Richard Sorigotti -')
Joao Mendes-?
Cclso Ccrcja- ?
0_0 . .
?-PT
Pedro Jose da Silva _?
Nas mudanyas ocorridas nas trajet6rias desses tnovimentos, o Movimento Brasileiros Unidos Querendo Terra ampliou-se, passou a rcalizar ocupayoes em outros municipios e tomou-se o Movimento Unificado dos Scm-Terra. Quanto ao Movimento dos Agricultores Scm Terra (MAST), este foi formado pela fusao dos outros movimentos sociais, ou pelo mcnos pclas dissidencias dcsscs movimentos.
Haque se considerar as difcrenyas politicas de alguns dcsses movimentos como MST, ja que parte 6 dissidencia do Movimento. Com re]ayao aos scm-terra que formaram o MAST, estes optaram por uma tendencia social-democrata e de acordo com sua carta de principios:
258
"Diante da inexordvel globalizw;ao- como urn movimento baseado na plena internacionaliza9iio e jluidez do capital em escala mundial- cabe d social~democracia, como fon;a politica capaz de catalisar energias disponiveis, um enorme papel.
Hoje em dia, em virtude do contexto emergente, as grandesfor9as politicas parecem estar concentradas no eixo liberalismo/social-democracia, com diversas variantes ... A refonna agrriria como politica social e que obteve relativo sucesso, principalmente nos Ultimos tres anos, tendo em vista o grande nUmero de familias assentadas e a quanti dade de rirea incorporada.
0 sucesso do programa de reforma agrdria niio pode ser medido somente a partir das realizw;Oes em term as de Greas desapropriadas e do mimero defilmflias assentadas.
Lamentavelmente, Governo Federal e MST mantiveram debate esti:ril quanta ao nUmero de filmilias efetivamente assentadas, provavelmente ambos os debatedores procuravam ocupar espac;os na midia. Os limites de uma reforma agrriria em grande escala decorrem de problemas on;amentririos e da capacidade tecnico-burocrritico governamental em implementar e assistir a refOrma agrdria. Parece que o Governo Federal tem consciencia desses limites, mas enveredou no jogo populista do MST" (Principios do MAST, p. 5-7, apud Santos, Gilberta Vieira, 1999, anexos).
Em 1998, os coordcnadores do MAST estiveram em Brasilia para apoiar a candidalura de Fernando Henrique Cardoso. 0 surgimento do MAST no Pontal do Paranapanema foi estratcgico, afinal c uma das principais regiiies de conflitos por terra no Brasil. Na !uta pela terra, esscs movimentos disputam tenit6rios, cspac;os politicos e constrocm diferentes fonnas de organizac;ao. Criaram, de sse modo, distintas matrizes politicas no processo de forrnac;ao do campesinato. Nessa rcalidadc, por meio das ocupac;iics, csses movimentos sociais tenitorializam-sc, configurando a geografia da !uta pela terra.
Geografia da !uta pela terra: ocupac;oes e assentamentos
Desde 1988 ate 1998, os numeros de ocupac;iies de terras e de fami1ias aumentaram intensivamcnte. Como pode ser observado nos gn\ficos 4.1 e 4.2.
Analisando os gn\fieos, observa-se que do anode 1994 para 1995 ha urn aumento em tomo de 50% no numero de familias partieipantes das ocupac;iies e de 20% no numero de ocupac;iies. Todavia, eomparando o anode 1995 como de 1996, esses numcros se multiplicam. 0 numero de ocupac;iies ereseeu 2. 7 vezes eo numero de familias dobrou. A organizac;ao dos movimentos soeiais, o aumento do desemprcgo e a politica de assentamentos do govcrno s:io os principais fatores para compreenden11os esscs creseimentos. A tendencia das oeupac;iies e do ntimero de familias e de creseimcnto e
259
em 1998 foram 599 ocupac;:ocs com 76.482 familias. Ate abril de 1999, haviam sido realizadas 249 ocupac;ocs com 29.223 familias (ver quadro 4.12).
Gr:ilico 4. L Brasil - N umero de Ocupa~oes de Terra : I 988-1998
700
599
500 ""' 398
r-~
' 300 .
100 1-16
llq
100 --T 8 1 81 89 'lJ',;
§ 0" 51 1:><;7; § ~~ ·~
;x
~ I<~ ~ X 0
1988 1989 1990 1991 1991 199J 199-1 1995 1996 1997 19<)8
Fontc: CPT, 1999.
G r{tfico 4.2 Brasil - Ocupa~ocs de Terra - Numero de Familias: 1988- 1998
90 000
so 000 16 -'M:!
:-:
70000 1\l.~
~ 5~ ~66 '" 60000
S8 "' ~ 50.000 •
10.000
"< '
'~ ~ " 'I() ~7~ ~~ ·~ ~
~ ~·
19.0'12 :O.Sib ~
~ 15.5JM
~ 10 3J5 I I 297 ~
~ ~' ~ ~ ~ t': ' ~ ~ ~ ~ f~ ~ ..... I>..;>.,
40.000
30000
20000
0 198~ 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Fo111c: CPT, 1999.
260
QUADRO 4.12 1996-1999- NUMERO DE OCUPA<,:OES E NUMERO DE FAMILIAS
PARTICIPA<,:AO DO MST
Ano No No N" de ocupa~Oes de familias de ocupa-geral geral \'OCS
MST
1996 398 63.080 176
1997 463 58.266 173
1998 599 76.482 132
1999 249* 29.223* 149**
Total 1709 227.051 630
Funtc: DATALUTA: Banco de Dados dn Luta pcla Terra, 1999.
Bases de dados: CPT- MST -- lm.:ra
* ate abri! ** atC maio
% N" de familias MST
44 45.218
38 28.358
22 30.409
60 24.519**
37 128.504
%
72
49
40
83
57
Estc quadro comparativo C apenas uma rcfcrCncia para analisan110s a participavilo do MST na !uta pel a terra. De 1996 a 1998, o MST rcalizou aproximadamcntc l/3 das ocupayiics e metade do total de familias ocupantcs se organizaram no Movimcnto, numa tcndcncia dccrcsccntc. Todavia, ate maio de 1999, realizou 60% das oeupay6es c organizou 83o/o das familias. Par meio da rcalizayao das ocupay6cs massivas c por cstar organizado em quasc todo o Brasil, o MST sc destaca tanto na participa9iio das familias quanta nas ocupay6cs.
Por meio da leitura da tabela 4.1, Iemos uma no9iio da distribuiyao regional das ocupayoes para o periodo de 1990 a 1994, govemos Collor/ltamar, e da tabcla 4. 7,
para o periodo de 1995 a 1999, governo Fernando Henrique Cardoso. No primciro periodo, 81.95% das ocupa9iies aconteccram nas rcgioes Nordeste, Sui, Sudcste e na regiao Centro-Oeste- prineipalmcnte em Goias e Mato Grosso do Sui, rcunindo 89% das familias ocupantes, sendo que os maiorcs nUmcros foram das rcgi6cs Nordeste e Sui. Ncssc pcriodo foram rca1izadas 421 ocupayoes com 74.247 familias. Com cxccl'iio do anode 1990, de intensa rcprcssao do governo Coli or, nos outros anos do pcriodo, a tcndencia da evoluyao do numcro de familias foi crcsccntc.
261
TABELA 4.1- OCUPAt;:OES DE TERRAS- BRASIL: 1990-1994
REGL~O/UF N'' OCUPA(:OES %
NORTE 76 18.05
AC I 0.24
AM 0 0
AP 0 0
PA 35 8.31
RO 11 2.61
RR 0 0
TO 29 6.89
NORDESTE 13 I 31.11
AL 9 2.13
BA 26 6.18
CE 13 3.09
MA 14 3.33
PB 10 2.37
PE 28 6.65
PI 6 1.42
RN 16 3.80
SE 9 2.13
CENTRO-OESTE 71 16.85
DF 5 1.19
GO 20 4.75
MS 37 8.78
MT 9 2.13
SUDESTE 52 12.35
ES 3 0. 71
MG 12 2.85
RJ 3 0.71
SP 34 8.08
SUL 91 21.61
PR 43 I 0.21
RS 29 6.89
sc 19 4.51
BRASIL 421 99.97
Fonte: DA T ALUT A -- Banco de Dados da Luta pcla Terra (UNESP!MST).
Bases de dados: CPT - MST- lncra
262
N" FAMiLIAS %
7.987 I 0.75
200 0.27
0 0
0 0
4.681 6.30
1.863 2.51
0 0
1.243 1.67
21.915 29.52
1.431 1.93
7.294 9.82
1.680 2.26
2.531 3.41
775 1.04
4.896 6.59
428 0.57
2.010 2.71
870 1.17
9.990 13.45
440 0.59
2.263 3.05
5.880 7.92
1.407 1.89
1 n.097 21.68
330 0.44
1.591 2.14
190 0.26
13.986 18.84
18.758 24.59
6.980 9.40
9.509 12.81
1.769 2.38
74.247 99.99
TABELA 4.2- OCUPA<;:(>ES DE TERRAS- BRASIL: 1995-1999
REGIAO/UF N" OCUPACOES %
NORTE 136 7.33
AC 10 0.54
AM 06 0.32
AP 0 0
PA 77 4.16
RO 21 1.13
RR 01 0.05
TO 21 1.13
NORDESTE 755 40.70
AL 83 4.48
BA 128 6.90
CE 22 1.18
MA 29 1.56
PB 63 3.40
PE 308 16.61
PI 23 1.23
RN 60 3.23
SE 39 2.10
CENTRO-OESTE 323 17.41
DF I I 0.59
GO 114 6.14
MS 161 8.67
MT 37 1.99
SUDESTE 359 \9.35
ES 29 1.56
MG 114 6.14
RJ 16 0.86
SP 200 10.79
SUL 282 15.20
PR 203 \0.94
RS 26 1.40
sc 53 2.86
BRASIL 1.855 99.99
Fonte: DAT ALUT A- Banco de Oados da Luta pc!a Terra (UNESP/MST).
Base de dados: CPT- MST · lncra
AtC abril de 1999
N" FAMiLIAS %
21.204 8.27
540 0.21
2.286 0.89
0 0
14.006 5.47
3.525 1.37
48 0.02
799 0.31
97.038 37.83
13.528 5.27
18.660 7.28
2.090 0.81
4.290 1.67
7. 751 3.02
35.090 13.69
2.694 1.05
5.913 2.30
7.022 2.74
48.155 18.77
1.306 0.51
10.585 4.13
26.172 I 0.20
\0.092 3.93
44.225 17.24
4.754 1.85
8.091 3.15
2.564 I 0.00
28.816 11.24
45.845 17.88
20.605 8.34
\8.009 7.02
7.231 2.82
256.467 99.99
263
No segundo pcriodo, o nltmero de ocupay6es mais que quadruplicou, cnquanto o nlimcro de familias crcsccu 3.5 vczcs. Ncsse pcriodo, apcnas 7.33°/o das ocupay6cs acontcccram na regiao Norte, cnvolvendo 8.27% das famUias ocupantes, com destaquc para o Estado do Para. 0 Nordeste foi a rcgi3.o com os maiorcs nUmeros, tanto de ocupa<;6es, quanta de familias, scndo que somente no Estado de Pernambuco ocorreram 41% das ocupa<;ocs com 33% das familias da regiao. Por mcio dos dados das ocupa<;6es, dcsdc 1988 ate 1998, pode-se observar na figura 4.1 que a maior parte das familias ocuparam terras nas regi6es Nordeste, Sui, Sudeste e Centro-Oeste. Na regi3.o Norte, dcstaca-se o Sudeste Paraense e RondOnia, ncsta ordctn.
Todavia, cmbora o menor nllmero de ocupay6es foi rcalizado na regi3.o Norte, a maior parte dos assentamentos das familias aconteccu nessa rcgillo (vcr tabclas 4.3, 4.4 e 4.5). Essa foi tcndencia predominante nos governos Figueiredo, Sarney e Collor/Itamar. Para estc ultimo, tcmos os dados de ocupa<;oes, de modo que podcmos fazcr uma comparay3.o entre os nlnneros de ocupay6es c de familias ocupantcs com os nUmeros de asscntamcntos c familias assentadas. Con forme a tabcla 4.6, no periodo aconteceram 91 ocupa<;6cs com 18.258 familias na regiiio Sui, sendo que somente faram asscntadas 5.677 familias. Temos a mesma realidade para as regi6cs Sudestc, Centro-Oeste c Nordeste.
Para o periodo do govcmo Fernando Henrique Cardoso, houve uma hgeira mudanya nessa tcndCncia. Todavia, mais da metade das familias foi assentada na AmazOnia, ou tiveram suas posses rcgularizadas, conformc a rcprcscntay3.o dos dados da tabela 4.7 na figura 4.2. A novidadc da politica desse governo foi a intcnsifica~ao dos asscntamcntos na regiao Nordeste, cmno observa-sc na tabcla 4.7. Principalmente nos estados ondc foi imp1antado o Projcto Cedu1a da Terra: Maranhao, Ceara e Bahia. Com cxccyao para o Estado de Pernambuco, ondc 35.090 fatnilias ocuparam terra c apcnas 8.221 loram assentadas. No Estado de Minas Gerais, onde tambcm foi implantado esse Projcto, igualmcntc o nUmcro de familias assentadas C menor que o nllmcro de familias ocupantes (ver tabe1a 4.8).
Nas rcgiiies Su1 e Sudeste, bcm como nos Estados de Mato Grosso do Su1, Alagoas c Sergipc, o nUmcro de familias assentadas C muito inferior ao nUmcro de familias ocupantes. Os sem-tcrra, por meio da intensificayao das ocupayOes, cst3.o prcssionando o governo que tem cvitado tocar na cstrutura fundi;iria das rcgiOcs Sui e Sudcstc. Alias, apcsar de todas as lutas e de todos os assentamcntos imp1antados, ate o tnomento a politica de asscntamcntos do govcrno federal nao conseguiu mexer com a cstrutura fundiaria brasileira. Conforme as tabe1as 4.9 e 4.10, comparado a participa~ao rclativa por grupos de areas, observa-se que as areas dos estabe1ecimentos de mcnos de I 00 ha represcntavam 21,21% em 1985. passando a 19.96% em 1995/6. No outro extrema, as areas dos estabelecimcntos com mais de 1.000 ha representavam 43.72% em 1985, passaram a 45.10% em 1995/6. Semprc 1embrando que cssa compara9iio e re1ativa,ja que o Censo de 1985 foi rcalizado em ano civil c o Ccnso de 1995/6 em ano agricola. Assim, csses ccnsos nao
264
sao companiveis, tomando-se como referCncias os nUmcros absolutos. Essa comparay3o, por participa<;3o rclativa dos grupos de area C, possivclmente, um indicador que a concentray3o da terra continua sendo uma realidade.
Todavia, dcsdc 1979 ate junho de 1999, o numcro de assentamcntos implantados era de 3.958, somando 475.801 familias assentadas em 22.996.197 ha. 53.28% dcssa area esta na rcgiao Norte (sendo que quasc mctadc [ 43%] situa-se no Estado do Para) c 45.42o/o dos asscntamentos cst3o na rcgi3o Nordeste. Ncssas duas rcgi6cs est3o assentadas 72.07% das familias (ver tabela 4.11 ). A distribuic;ao geografica desscs numcros podc ser observada nas figuras 4.2, 4.3 e 4.4.
0 grande dcsafio do MST c de outros movimcntos sociais C intcnsificar a conquista de assentamcntos nas rcgioes Sul e Sudeste. Dcsdc 1990 ate abril de 1999, o numero de familias ocupantcs foi de 124.395, cnquanto foram asscntadas apcnas 37.276, ou scja, 30% (vcr tabelas 4.6 c 4.8). 0 avanc;o da !uta ncssas rcgiiics est<\ associado a organiza<;3o dos trabalhadores scm-terra na territorializayfro das ocupay6es para rna is microrregi6cs dos estados e na intcnsificay3o da luta nas microrregiOes onde ja cst3o organizados, c a con juntura politica e cconOmica, por meio de politicas pllblicas para a implantay3o dos asscntamcntos. 0 nlnnero de assentamcntos cxistcntes Cum indicador favoravel para os scm-terra, porquc o aumcnto do nUmero de familias assentadas e organizadas contribui para a cspacializayao c ten·itorializac;ao da !uta. Na decada de 1980 e ate mcados dos anos 90, para fazcr uma ocupay3o, os scm-terra tinham muito mais dificuldadc. Atualmcntc, por meio das cxpcriCncias consttuidas c das conquistas, o podcr de organizay3o c de press5.o e maior. TambCm pela dccadCncia de algmnas areas canaviciras, principalmcnte na rcgiao Sudestc, e possivcllutar pcla implantac;ao de assentamentos nessas arcas46
. A !uta politica contra o atual modclo de desenvolvimento econ6mico da agropeeuaria e fator importantc para a tcrritorializayao do MST c de outros movimcntos scm-terra, bCin como para o dcscnvolvimento socioecon6mico dos asscntamcntos, como de toda a agricultura camponcsa.
46. Essa lambCm C uma proposta do Partido dos Trabalhadorcs a partir de uma pcsquisa do NU.clco de Economia Agricola do lnstituto de Economia da Unicamp. Partido dos Trabalhadorcs, 1999.
265
266
FIGURA 4.1
BRASIL - GEOGRAFIA DAS OCUPA<;:OES DE T ERRAS 1988-1998
numero de famllias por microrregi1io
ESCALA
Cu • ~· ..,._cto....,~Q~Wo ,.~..., Cellllloo-cto Edllotl ~ Aorwl I t I , .. '*'*-dldoe. Oor.o......_..cleC...., ~Irotnhl.AIII; Cr'ldii!M ....... ~ ~ u.n.:...,. PirM de ...... ,..._"" ..,..,""',.•'*'"e dtP*M.:..,..~. r.,..oo s.......,OibMtv .. ..._ Dlfll• tQto ....... Lt:ic:il ~en. .......... ~ AooiO. PA0EX • N Aew .. dlt ~de u..., . MST • ~-dol Ttllllbii\Jidol• ....... SMI TtrN;
0
,.,.. DA.TAUITA. • e.rcxt dill~ .. LMII .. T.,... • NERA • ..:a.o dlt E---. .. , ~J t sn • ,.,.._. .......... ,....,. • ~TAI'Cil' • '' I-~ , tlblodlit-... Cft:+ .... · aGEt .. ........ CPT. t iM
s
1000km
TABELA 4.3- ASSENTAMENTOS RURAIS- BRASIL: 1979-1984
Regi1i.o/UF N~ Assentamentos % No familias
NORTE 03 2.58 I 1.441
AM 01 0.86 1.385
PA 01 0.86 9.553
RO 01 0.86 503
NORDESTE 54 46.91 4.566
AL 02 1.73 199
CE 05 4.34 1.038
PB 01 0.86 13 I
PI 38 33.04 2.203
RN 07 6.08 902
SE 01 0.86 93
CENTRO-OESTE 03 2.58 221
GO 01 0.86 88
MS 01 0.86 133
MT 01 0.86 ,,
SUDESTE 25 21.72 3.033
ES OJ 2.60 56
RJ I I 9.56 1.190
SP I I 9.56 1.787
SUL 30 26.07 2.302
PR 10 8.69 1.484
RS 19 16.52 734
sc 01 0.86 84
BRASIL liS 99.86 21.563
Fonte: DAT ALUT A- Banco de Dados da Luta pcla Terra (UNESP/MST).
-'Cl- [email protected]
Bases de dados: Ioera- MST- ITESP- CPT
% Area (ha)
53.05 897.394
6.42 689.000
44.30 3.999
2.33 204.395
21.! 5 152.775
0.92 872
4.81 31.944
0.60 306
10.21 I 04.435
4.18 13.821
0.43 1.397
1.0 I 85.070
0.40 2.686
0.61 3.812 ry 78.572 .
14.04 60.329
0.25 584
5.51 19.808
8.28 39.937
I 0.66 28.960
6.88 14.812
3.40 13.250
0.38 898
99.91 1.224.528
%
73.27
56.26
0.32
16.69
12.44
O.D7 2.60
0.02
8.52
1.!2
0.11
6.93
0.21
0.31
6.41
4.91
0.04
1.61
3.26
2.35
1.20
1.08
O.D7 99.90
267
TABELA 4.4- ASSENT AMENTOS RURAIS- BRASIL: 1985-1989
Ree:iiio/UF N" Assentamentos 'Yo N" Fami\i:o~s 'Yo
NORTE 106 17.23 37.792 42.00
AC 10 1.62 1.791 1.99
AM 09 1.46 6.066 6.74
AI' 03 0.48 1.930 2. 14
PA 33 5.36 16.393 18.22
RO 15 2.43 7 .!50 7.94
RR 01 0.16 1.375 1.52
TO 35 5.69 3.087 3.43
NORDESTE 189 30.73 24.237 26.94
AL 05 0.81 297 0.33
BA 39 6.34 6.997 7.77
CE 43 6.99 3.887 4.32
MA 29 4.71 8.859 9.84
l'B 13 2. l [ 562 0.(12
PE 25 4.06 !_]51 1.27
I' I 10 1.62 441 0.49
RN 19 3 08 1.577 1.75
SE 06 0.97 466 0.51
CENTRO- 73 11.86 13.118 14.58 OESTE
(]() I I 1.78 1.025 1.13
MS 23 3.73 4.372 4.85
MT 39 6.34 7.721 8.58
SUDESTE 87 14.14 6.829 7.59
ES 21 3.41 698 0.77
MG 13 ") ' 1 1 1.492 1.65
RJ 25 4.()6 2.312 2.56
sr 28 4.55 2.327 2.58
SUL 160 26.01 7.374 8.19
PR 68 11.05 3.364 3.73
RS 46 7.47 2.014 2.23
sc 46 7.47 1.996 2.21
BRASIL 615 99.97 R9.350 99.30
Fonte: DATALUTA 11aneo de Dados da Lut.a pcla Terra (UNESP/MST).
P, · ncraf!:i·prudcnte.uncsp.br
Bases de dadns: lncra MST -· ITESP- CPT
268
Area (ha)
2.533.964
227.307
561.837
142.000
948.347
294.425
165.000
195.048
836.693
3.581
266.387
12H.697
339.393
9.543
17.625
!6.325
44.676
I 0.466
625.542
73.795
131.868
419.879
163.842
8.324
76.540
27.R1R
51.160
155.721
74.010
47.148
34.563
4.31 'i.762
%
'i:U I
5.26
13.01
3.29
21.97
6.82
3.lQ
4.51
19.38
()_()8
6. 17
2.98
7 86__
0.22
0.40
0.37
1.03
(L24
14.49
1.70
3.05
9.72
3.79
0.19
1.77
0.64
1. 1 R
3.60
]. 71
1.09
0.80
99.97
TABELA 4.5- ASSENTAMENTOS RURAIS- BRASIL: 1990-1994
Ree_iiio/VF ;";"" Assentamcntos 'Yo N" familias
NORTE 106 22. 17 37_\30
AC 08 1.67 1.493
AM 13 2.71 6.63S
AP Ill 0.20 450
PA 36 7.53 17.628
RO 14 1.92 5.374
RR 02 0.41 3.641
TO " 6.69 1.906
NORDESTE 1S6 38.91 14.682
AL ()(l 1_25 7M
JJA 13 ') . 7 1 1.675
CE 20 4.18 [ .274
MA 27 5.64 4.651
PB 26 5.43 994
PE I 8 3.76 626
PI 41 g_ 'i7 2.S27
RN 21 4.39 1.239
SE 14 2.92 632
CENTRO- 33 6.90 4.817 OESTE
GO 14 2.92 491
MS 05 1 .04 657
MT 14 2.92 3.669
SUDESTE 46 9.62 3.259
ES 06 1.25 89
MG 13 2.71 8X6
RJ 11 2.71 1.024
SP 14 2.92 1.260
SUL I 07 22.38 5.677
PR 46 9.62 3.503
RS 52 1 0.87 1.921
sc 09 1.88 253
HRASIL 478 99.98 6'i.565
Fonte: DAT ALUT A- Banco de Dados da Luta pe1a Terra (UNESPiMST).
J'.- nera({L.pnidente.unc-~p.br
Bases de dndos: lnem- MST - ITESP --CPT
% Area lha)
56.63 2.674.183
2.27 115.913
10. 12 474.390
0.6S 33.031
26.88 1.222.490
S.\9 402.3S6
5.55 2911.300
2.90 157.673
22.39 454.306
]_ 16 5.246
2.55 49.260
1.94 36.938
7.09 191.622
1.51 7.958
0.95 I 3.956
4.31 110813
1.88 31 .606
0.% 6.907
7.34 551.071
0.74 19.487
1.00 18.225
5.59 513.359
4.97 66.754
0.13 984
1.35 34.389
1.56 6.552
1.92 24X?.9
8.65 1)7 .256
5.34 59.145
2.92 33.386
0.38 4.725
99.98 3.843.570
%
69.57
2.23
12.34
0.85
31.80
I 0.46
7.76
4.10
1 U\1
0.13
1.28
0.%
4.98
0.20
0.36
2.88
0.82
0. 17
14.33
0.50
0.47
13.35
1.73
0.07
0.8(:._
0.17
0.64
2.53
1.53
O.X6
0.12
99.'.17
269
TABELA 4.6- COMPARA TIVO DE OCUPA<;:OES E ASSENTAMENTOS BRASIL: 1990-1994
Re2iiio/UF No Ocupa~;Oes ND assentamentos N" familias ocupantes
NORTE 76 106 7 987 AC I 08 200 AM 0 13 0 AP 0 01 0 PA 35 36 4.681 RO I I 14 1.863
RR 0 02 0 TO 29 32 1.243
NORDESTE 13 I 186 21.915
AL 9 06 1.431
BA 26 13 7.294
CE 13 20 1.680 MA 14 27 2.531
PB 10 26 775
PE 28 18 4.896
PI 6 41 428 RN 16 21 2.0 I 0
SE 9 14 870 CENTRO-OESTE 71 33 9 990 DF 5 0 440 GO 20 14 2.263
MS 37 05 5.880 MT 9 14 1.407
SUDESTE 52 46 16.097 ES 3 06 330 MG 12 13 1.591 RJ 3 13 190
SP 34 14 13.986
SUL 91 107 18.258 PR 43 46 6.980
RS 29 52 9.509
sc 19 09 1.769 BRASIL 421 478 74.247
Fonte: DATALUTA- Banco de Dados da Luta pcla Terra (UNESP/MST).
Bases de dados: CPT- MST- lncra- ITESP
270
N" famlliass assentadas
37.130 1.493 6.638
450 17.628
5.374
3.641
1.906 14.682
764
1.675
1.274
4.651
994 626
2.827 1.239
632 4.817
0 491 657
3.669 3.259
89 886
1.024
1.260 5.677
3.503 1.921
253 65.565
TABELA 4.7- ASSENTAMENTOS RURAIS- BRASIL: 1995-1999
Rl"~iiio/LIF No assentamentos % N" familias %
NORTE 490 17.81 98.657 32.96
AC 39 1.41 7.274 2.43
AM 07 0.25 1.294 0.43
AP 18 0.65 5.621 1.87
PA 237 8.61 56.327 18.81
RO 44 1.60 10.491 3.50
RR 24 0.87 7.080 2.36
TO I 21 4.40 10.570 3 53
NORDESTE 1.369 49.78 114.450 38.23
AL 37 1.34 3.985 1.33
BA 212 7.70 19.168 6.40
CE 297 I 0.8 14.881 4.97
MA 295 10.72 39.298 13' 12
PB 110 4.00 7.031 2.34
PE J37 4.80 8.221 2.74
PI 132 4.80 10.5\4 3.51
RN I 12 4.07 8.576 2.86
SE 42 1.52 2.776 0.92
CENTRO- 405 14.72 57.876 19.33 OESTE
Of 03 0. I 0 103 0.03
GO 141 5.12 9.494 3.17
MS 55 2.00 8.087 2.70
MT 206 7.49 40.192 13.42
SUDESTE 253 920 16.068 5.36
ES 23 0.83 1.718 0.57
MG 126 4.58 6.969 2.32
RJ 12 0.43 1.830 0.61
SP 92 3.34 5.551 1.85
SUL 233 8.47 12.272 4.09
PR 109 3.96 6.708 2.24
RS 78 2.83 3.615 1.20
sc 46 1.67 1.949 0.65
BRASIL 2.750 99.98 299.323 99.97
Fonte: OAT ALUTA --Banco de Dados da Luta pel a Terra (UNESP/MST). J''l- [email protected] Bases de dados: In era MST ITESP CPT
Area (ha) %
6.148.0\6 45.16
469.857 3.45
52.802 0 3' 698.479 5.13
3.052.952 22.42
948.555 6.96
453.495 3.33
47l.R76 3.46
3.680.691 27.03
22.226 0.16
611.912 4.49
515.102 3.78
1.529.659 11.23
89.764 0.65
93.482 0.68
559.322 4 I 0
220.629 1.62
38.595 0.28
3.033.421 22.28
uno O.DI
353078 2.59
215.474 1.58
2.462.999 18.09
484.\26 3.55
14.839 0.10
319.359 2.34
25.774 0.18
124.154 0.91
266.623 1.95
146.49H 1.07
87.431 0.64
32.694 0.24
13.612.877 99.97
271
TABELA 4.8- COMPARATIVO DE OCUPA(UES f; ASSENTAMENTOS BRASIL: 1995-1999
Re >iiiu/UF N" ocu lfi~Cie\ N" ll~scofamenfos N" familias ocupantcs
NORTE 13 () 440 21.204
AC 10 39 540
AM or. 07 2.286
AP ]) 18 0 PA 77 237 14.006
RO 2 I 44 ~ 'i'" .:l-~--
RR 01 24 48 TO 21 12 I 799
NOR.Dl:STF 755 1.369 97.038
AL X3 " 13.528
llA 128 212 18.660
CE ,, 2')7 2.090
MA 29 29'i 4.290
I'll 63 1 I 0 7.751
PF 308 132 35.090
PI 23 132 2Ji94
R~ 60 112 5.913
SE 39 4' 7.022
CENTRO-OESTE 323 405 48.155
DF II OJ 1.306
GO 114 14 I 10.585
MS 16 1 55 26.172
MT 37 206 10.092
SlJDESTE 159 253 44.225
ES 29 23 4.754
MG 114 126 8.091
RJ 16 12 2.564
sr 200 92 28.816
SUL 282 233 45.845
PR 203 I 09 20.605
RS 26 78 l X.009
sc 53 4(, 7.23!
BRASIL 1.855 2.750 256.467
Fonte: DATALUTA - Banco de Dados da Luta pcla Terra (UNESP/MST). --A,-- nem(a_pmdcntc.uncsp.br l3asc~ de dado~~ CPT MST- lncm- !TESP Atl: abril de ! 999
272
:\'' familiol~ lls~cntada~
98.657
7 274
I .294
5.62 [
56.327
10.491
7 .O.SO
I 0570
114.450
3.985
19.1(18
14.881
39.29-S
7.031
8.2' 1
I 0.5 I 4
l-l.576
2.776
5 7_.\,P(J
103 9.494
8.087
40.192
16.068
1.7! 8
6.969
uno 5.551
I ?.272
6.708
3.6! 5
! .949
299.323
TABELA 4.9- ESTRUTURA FUI\DIARIA- BRASIL -1985 ' de Areas
I 000 a
2000 a .. de 5000
de 1
+
No de Estahelecimentos
R22
Fonte: Ccnso Agropccutlrio, IBGE, 19):;5.
'
52.X2
29.69
7.
0.06
TABELA 4.10- ESTRUTURA FUNDIARIA- BRASIL -1995/96
Grupos de Areas No de Estabelecimentos % Area (ha)
de I 0 2.402.374 49.66 7.882.194
I 0 a -de 50 1.516.112 31.35 35.237.833
50 a - d~ I 00 400.375 8.28 27.455.753
I 00 a- de 200 246.314 5.09 32.919.190
200 a de 500 165.243 3.42 50.436.030
500 a · de 1000 58.407 1.21 40.186.297
1000 a- de 2000 28.504 0.6 38.995.636
2000 a - de 5000 14.982 0 3 44, 17K.250
5000 a - de I 0.000 3.688 0.08 24.997.3(,9
10.000 a de 2.147 0.04 43.031.313 100.000
I 00.000 e + 37 0.0007 8.291.381
Total 4.838.183 99.99 353.611.246
Fonte: Ccnso Agropccu<lrio, lBGE, 1995/96.
8.04
9 98
0.39
% 1_2_1
9.97
7 76
9.31
14.26
11.36
11.02
12.49
7 07
12.17
2.35
99.99
273
T ABELA 4.11 -ASSENT AMENTOS RURAIS- BRASIL: 1979-1999
Reeilio/UF N" Assentamentos % N" Familias %
NORTE 705 17.81 185 020 38.88
AC 57 1.44 10.558 2.21
AM 30 0.75 15.383 3.23
AP 22 0.55 8.001 1.68
PA 308 7.78 99.901 20.99
RO 73 1.84 23.518 4.94
RR 27 0.68 12.096 254
TO 188 4.74 15.563 3.27
NORDESTE 1.798 45.42 157.935 33.19
AL 50 1.26 5.245 1.10
BA 264 6.67 27.840 5.85
CE 365 9.22 21.080 4.43
MA 351 8.86 52.808 11.09
PB ISO 3.78 8.718 un PE 175 4.42 9.998 2.10
PI 221 5.58 15.985 3.35
RN 159 4.0 I 12.294 2.58
SE 63 1.59 3.967 0.83
CENTRO- 514 12.98 76.032 15.97 OESTE
DF 03 0.07 103 0.02
GO 167 4.21 11.098 2.33
MS 84 2 12 13.249 2. 78
MT 260 6.56 51.582 I 0.84
SUDESTE 411 10.38 29.189 6.13
ES 53 1.33 2.56 I 0.53
MG 152 3.84 9.347 1.96
RJ 61 1.54 6.356 1.33
SP 145 3.66 10.925 2.29
SUL 530 13.39 27.625 5.80
PR 233 5.88 15.059 3.16
RS 195 4.92 8.284 1.74
sc 102 2.57 4.282 0.89
BRASIL 3.958 99.98 475.801 99.97
Fonte: DATALUTA- Banco de Dados da Luta pcla Terra-- UNESP/MST.
~ -· [email protected]
Bases de dados: lncra- MST -ITESP- CPT. AtCjunho de 1999
274
Area (ha) %
12.253.557 53.28
783.077 3.40
1.778.029 7.73
873.510 3.79
5.227.788 22.73
1.849.761 8.04
916.795 3.98
824.597 3.58
5.124.465 22.28
31.925 0.13
927.559 4.03
712.681 3.09
2.060.674 8.96
107.571 0.46
125.063 0.54
790.895 3.43
310.732 1.35
57.365 0.24
4.295.104 18.67
1.870 0.00
449.046 1.95
369.379 1.60
3.474.809 15.11
774.511 3.36
24.731 0.10
430.288 1.87
79.952 0.34
239.540 1.04
548.560 2.38
294.465 1.28
181.215 0.78
72.880 0.31
22.996.197 99.97
FIGURA 4.2
GEOGRAFIA DOS ASSENTAMENTOS RURAIS DO BRASIL 1979-1999
numero de familias por microrregiao
_......,,...----- 13.121
©~--- 6.64!
~: &em.rdo Mol~ F.,_.. Coleboi~: Ecthon F...-. F~
G
G
S81MW!z....., daa o.doe: c:::lo¥es Alu.-.dre ct. Cano; Gloloan Moo•• lA.t; ~ 8orbou lbmollo; Salol iQI UN; MIN Bemwdolo G. F. Almoido; RoNs llargoo SIM; Silane Phi ct. Menlo: _.tio-. M. Vc Plnwl .... o.t>cn C. ct."*'-: S.gk> Col~-; ,..,._.,., S. A.-.; Gillorm V. daa Sol*-. OigbiZI9k Moire Ulcla ~ c.w-8orbou fbmoh)
0
/4f10110: PROEX · ~ct. Exlonlo ce. U1WOp - MST • ~llo daa Trobotlodoooo Rl.no Sern lema: Fone.: O.O.TAI..lJTA • 8onco ct. Dllcloo ct. L.ulo pole T11T11 • NERA • NUcloo ct. &ludoo. Peequlooo o Prcj1lc. ct. Ralonno Agnirle • FCTIUNESP • Prwoidonle Pn.donlo. oetembro ct. 19911. S.. ~ · 18GE 191M Bun ct. ct.doo; INCRA • MST • ITESP.
ESCALA
1000 km
N
s
275
•
I I 79-l 9
G
n · mero de ass~entamentos
or .microrregiao --~---78
45 1
ESCA. lA
0 1000 km
amasa Ramalho:
"""'""' Gjlberto v. OOs· - - . -
7
FIGURA 4.4 •
GEOGRAFIA DOS ASSENTAMENTOS RURAIS DO BRASIL 1979-1999
area em hectares par microrregiao
--..::,:-----951.153 r..--oc::-,->r---4oa.o53
2.315 '\.ll.J
G
G
ESCALA
0 1000 km
N
Coordena<;ao· Bomardo Ma~no Fernandes Col~ Edbon Famtlra FlorM Sls~ doll~ Cloves AleJalndre da CaslrO. Gt.lson Moreira Leal. ~ s.nx- Ramalho; E Solange Uma: Maria Bemardate G F. Almeida, Ron. 8orgM 5111111; Siena Pna da Monlls; Julana M. VR ~. Oolbooe C da P1ldua, s.rglo ~. Femando 5 Avla, Golbeno V doll~ 0.0 tal~ Meire LU.:. Esponl>osa. Crisliane 8attlou Ramalho S ~ PROEX- ~Reltoria da Ulansao da U.-o • MST - McMmenlo dos T~ Rlnls Sem lena: Fonle OAT ALUlA . s.nco da Oadool da 1..1Aa paY r...,.. • NERA • NUdeo de Esludae, Paoqulcat e Projetos da Reforma 1\greria - FCTIVNESP - Proaldenle ~. oeiAimbro de 1999. Base Canogr8fica • IBGE 1994 Bases da ~ INCRA- MST • ITESP.
277
' CAPITULO 5 -
A OCUPAC::AO COMO FORMA DE ACESSO A TERRA
Espa~os e territorios de Iotas e resistencias
Neste capitulo, apresento algumas reflexi'ies a respeito da oeupa<;iio como forma de acesso a terra nos processos de espaeializa<;iio e territorializaviio da !uta pela terra, desenvolvidos pelo MST e por outros movimentos sociais. Nesse contexte, favo uma constru<;iio analitica desses processes de ( re )eria<;iio do campesinato a partir dcssas formas de !uta c resistencia contra a exploraviio e a exclusao. A !uta pela terrae urn dos principais elementos para comprcendermos a questao agraria. A ocupayao e aresistcncia na terra siio formas dessa !uta. A reforma agn\ria e outre clemente da questao agn\ria. Pelo fato da nao realizaviio da reforma agraria, por meio das ocupa<;i'ies, os scm-terra intensifieam a luta, impondo ao govemo a realiza<;iio de uma politiea de asscntamentos rurais.
Ao apresentar a oeupa<;ao como fonna de acesso a terra, compreendo-a como uma ac;iio de resistCncia inercnte a formac;ao camponesa no interior do proccsso contradit6rio de desenvolvimcnto do eapitalismo, porque
"o capitalniio expande deform a absoluta o trabalho assalariado, sua relac;iio de trahalho e tipica, par todo canto e Iugar, destruindo de forma totale absoluta o trabalho familiar campones. Ao contrario, ele, o capital, a cria e recria para que sua produc;iio seja passive!, e com eta possa haver tamhbn a criac;iio de novas capitalistas" (Oliveira, 1991, p. 20).
Nessa realidade em que se descnvolvem a criayiio e a recriac;iio, acontece a exclusiio no processo de diferencim;iio do campesinato. Esse proccsso niio leva necessariamente a prolctarizayiio ou a transfon11ac;iio do campones em capitalista, causando a denominada desintegrac;iio do campesinato 1
• Leva tambem a recria,ao do campesinato por diferentcs formas. Uma e pela sujeic;iio da renda da terra ao capital, que acontece ante a "suhordinac;iio da produc;iio camponesa, pelo capital, que sujeita e expropria a
1. Confonnc Lenin ( 1899), p. 35s c Kautsky ( \899) \986, p. 149.
279
rellCia da terrae, mais que isso, expropria pratk·amente todo excedenfe produzido, redu~hldo o rendimento do camponris ao minirno necessclrio a sua reprodurJio fisica" (Oliveira, I 991, p. II). Desse modo, o movimcnto de fonna91io do campcsinato acontece simultancamentc pcla exclus3o e pela gerayao das condiy6es de rcalizay3o do trabaIho familiar na criay3o, destruiy3o e recriayao das rclay6cs sociais como a propricdade camponesa da terra, a posse, o arrendamento, a meay3o e a parceria:!,
Outraforma de recria('ilU do campesinato e por meio da ocupar;ao da terra. Em sua rcproduyao ampliada, o capital n3.o pode assalariar a todos, excluindo scmprc grande pmie dos trabalhadorcs. Da mcsma forma, na rcalidadc brasileira, o capital em scu proccsso contradit6rio de reprodU<;3o das relay6cs n5o capitalistas, n5o recria na mesma intensidadc com que exclui. Assim, por meio da ocupay3.o da terra os trabalhadorcs sc rcssocializam, lutando contra o capital c sc subordinando a clc, porque ao ocuparem e conquistarem a terra se reinserem na produ~·iJo capita/isla das relar;Oes niio capita/is/as de pmduc;ilo (Martins, 1981 ).
Em scu dcsenvolvimento desigual, o modo capitalista de produ9ao gcra incvitavclmente a expropriay3.o e a exploray3.o. Os expropriados utilizam-sc da ocupayfio da tena como fmn1a de reproduzirem o trabalho Huniliar. Assim, na resistCncia contra o proccsso de cxclus3.o, os trabalhadorcs criam uma fonna politica- para se rcssocializarcm, lutando pel a terrae contra o assalariamcnto- que C a ocupay5o da tena. Pmianto, a luta pcla tena C uma I uta constantc contra o capital. E a luta contra a cxpropriay3.o e contra a cxplorayao. E a ocupayao C uma ayao que os trabalhadores scm-tcna desenvolvcm, lutando contra a exclusiio causada pelos capitalistas c ou pclos proprictilrios de terra. A ocupay3.o C, portanto, uma forma de materializay3o da I uta de classes.
Esse proccsso de !uta para conquistar a terra c tanto de reprodw;ao quanta de prodw;ao do trabalho familiar, porque a maior parte dos trabalhadores que participam de.r..·sa !uta mmca tiveram terra, e parte nunca trabalhou no campo. Isso podc ser comprovado ao confrontannos as diferentes condiy6cs dos trabalhadorcs antes de scrcm asscntados. Apcnas 1/3 dcssa popula9iio tcvc accsso a terra como posse ou propriedade, mctadc trabalhava em terras alhcias cos assalariados rcpresentam 1/8 do total'. Segundo cssa classificayao, tcmos: proprictario 16,35%; posseiros 16,57%; as categorias parceiro, meeiro, foreiro, agrcgado, aJTcndat3rio, ocupante e outros compreendcm 54,63%, e assalariados I 2,45%. Ha uma situayao dissimulada que c a pcrccntagcm de trabalhadores urbanos que pm1icipam das ocupayocs. Nao podcm sc dcclarar, porquc serao desclassificados nos processos oficiais de sclcy3.o para os projctos de assentamentos, j3 que um critCrio, ainda em vigor, C que scjam trabalhadorcs turais.
2. A rcspcito dos difcrcntcs cxcmp1os dcssc proccsso, vcr Oliveira 1991; Garcia Jr.. 1989 c Martins, 1986 entre outros de scus 1ivros.
3. Fonte: Rclat6rio Final do I Ccnso da Rcforma Agnlria do Brasil. Brasili<J: JNCRA/CRUB/UnB, 1996.
2RO
Pcla nao rcali;ayao da reforma agniria, a ocupa<;ao de terra tem se tornado uma importante forma de accsso ,1 terra. Ncssc sentido, no dcscnvolvimento deste capitulo, apresento dados de alguns estados sabre a origem dos asscntamentos na intensificay8.o da !uta pcla terra. A ocupa,ao da terrae uma forma de intcrvenc;ao dos trabalhadores no proccsso politico c econ6mico de cxpropriayiio. Nas duas l1ltimas dCcadas, as ocupay6es ton1aram-se, ainda mais, mn proccsso importante de recriayfro do campcsinato c nao podem scr ignoradas. Essa realidade cxigc cnsaios te6ricos que contribuam para a comprccns8.o desse fen6meno. Criminalizar as ocupay6es C se csquivar do problema sociopolitico e econ6mico que elas represcntam. E condenar familias scm-terra que lutam pcla rccriay5o de suas cxistCncias como trabalhadoras. E accitar os intcrcsses dos latifundi<irios e o proccsso de intensificayfro da conccntray8.o da terra.
A tcnitoriahzay8.o do capital significa a dcstcnitorializay3o do campcsinato e vice e versa. Evidente que csscs processes nao sao lincarcs, tampouco scparados e contCm a contradiyfro porque na territorializayfro de um est<i contida a produyao e areproduyao de outro. No interior do processo de tenitorializayao do capital h3. a criayao, dcstruiyiio e rccriayao do trabalho familiar. Da desterritorializayao do campesinato produzcm-sc o trabalho assalariado co capitalista. Os avanc;os c rccuos dcsscs processes pclo tcn·it6rio sao determinados porum con junto de fatores politicos c econOmicos. Dcsse n1odo, destaco alguns que foram condicionantes para a fon11ayao da atual questUo agr<iria.
0 modelo de dcsenvolvimento agropccuario implantado, desde a dccada de !960, gcrou a intensillca,ao da eoncentra<;ao fundiaria, a cxpropria,ao c a cxpulsao de milh6es de familias. Nesse proccsso de cxclusao, os trabalhadorcs intcnsificaram a !uta pcla terra. A clabora10iio e nao realiza,ao de politicas de refonna agraria como o Estatuto da Terra co Plano Nacional de Reforma Agritria sfio partes dcsse conjunto de fatores condicionantes. Portanto, quanta mais se intensificam a expropriac;3o e a cxplorayao, mais crcscc a rcsistCncia. Nessa realidade, a ocupa<;Uo da terra C criac;ao dos trabalhadores sem-tcna para a sua prOpria ressocializayao.
A ocupayiio Cum proccsso socioespacial e politico complcxo que prccisa scr cntendido como fonna de luta popular de rcsistencia do campcsinato, para sua recriayiio c criayfio. A ocupac;5.o desenvolvc-se nos processes de espacializac;5o c tcrritorializayao, quando sao criadas c rccriadas as cxpcriCncias de rcsistCncia dos scm-terra. Neste scntido, aprcscnto cstc ensaio tc6rico, discutindo algumas das principals noy6es e conccitos aprcndidos ou construidos a partir da lcitura bibliograllca c da rcalidadc estudada, con1 o objetivo de contribuir para com a comprcensiio dessa questao.
0 trabalho de base, a espacializa~ao e a negocia~ao
Primciro, C precise dizer que a ocupayao C uma ayiio dccorrcntc de nccessidades c cxpectativas, que inaugura qucst6cs, cria fatos e descortina situay6cs. Evidentc que esse conjunto de elementos modillca a rcalidadc, aumcntando o fluxo das rclac;ocs
281
sociais. Sao os trabalhadores desafiando o Estado, que scmpre representou os interesses da burguesia agniria e des capitalistas em geral. Per essa razao, o Estado so apresenta politicas para atcnuar os processes de expropriayao e explorayao, sob intensa pressao des trabalhadores. A ocupayao e, en tao, parte de urn movimcnto de resistencia a esscs processes, na defesa des interesses des trabalhadores, que e a desapropriayao do latifundio, o assentamento das familias, a produyiio e rcprodu9ao do trabalho familiar, a cooperayao, a criayao de politicas agricolas voltadas para odesenvolvimento da agricultura camponesa, a gerayao de politicas publicas destinadas aos direitos basicos da cidadania.
A organizar;iio de uma ocupw;iio decorre da necessidade de sobrevivCncia. AeonIeee pela conscicncia construida na realidade em que se vive. E, portanto, urn aprendizado em urn processo historico de construyao das expcricncias de resistcncia. Quando urn grupo de familias come9a a sc organizar como objetivo de ocupar terra, desenvolve urn eon junto de procedimentos que toma forma, definindo uma metodologia de !uta popular'. Essa experieneia tern a sua logica construida na praxis. Essa logica tern como componentes constitutivos a indignayao e a rcvolta, a neccssidade e o interesse, a consciencia c a identidade, a experiencia e a resistencia, a concepyao de terra de trabalho contra a de terra de negocio e de explorayao, o movimento e a supcrayao.
Na formayiio do MST, os sem-terra criaram distintas metodologias de !uta. Sao procedimentos de resistencia desenvolvidos na trajetoria da !uta. Essas a96es sao diferenciadas em todo o Brasil. Na espacializayao da !uta pcla terra, os espayos de socializayao politica podcm acontecer em mementos distintos, com maier ou menor freqiiencia. Os acampamentos sao de diversos tipos: permanente ou determinado a urn grupo de familia. As formas de pressao sao distintas, de acordo com a con juntura politica, bern como as negociayoes. Essas pr:iticas sao resultados dos conhecimentos de experiencias, das trocas e da retlexao sobre elas, bern como das conjunturas politicas e das situayoes em que se encontram as frayoes dos territories a serem ocupadas, em difcrentes regioes brasileiras. Os elementos que comp6em as metodologias sao a formayao, a organizayao, as t:iticas de !uta e negocia9iies como Estado e os latifundiarios, que tern como ponte de partida o trabalho de base. As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), os sindicatos de trabalhadores rurais, as escolas e as proprias moradias sao alguns dos principais lugares e espayos sociais onde se realizam as reunioes des trabalhos de base.
Os trabalhos de base podem ser resultados da espacializayao e ou da espacialidade da !uta pela terra. Nascem sempre da propria necessidade das comunidades. A espacializayao e urn processo do movimento concreto da ayao em sua reproduyao noespayo e no territorio. Desse modo, os trabalhos de base pod em ser organizados por pessoas que vieram de outro lugar, onde construiram as suas experiCncias. Por excmplo: urn ou mais sem-terra de urn cstado que sc deslocam para outras regiiies do pais para organizar familias scm-terra. E, dessa fonna, vao criando o Movimento na sua terri to-
4. Urn cxcc\cntc trabalho tc6rico a rcspcito dcstc tcma C Sujeitos irreverentes, de Nogueira 1993.
282
rializa<;iio. A espacialidade c urn processo continuo de uma a<;iio na realidade, e o dimensionamento do significado de uma a<;iio. Desse modo, as pessoas do proprio lugar iniciam o trabalho de base porque ouviram falar, viram ou lerarn sobre ocupa<;oes de terra, ou seja, tomaram conhecimento por diferentes meios: falado, escrito, televisivo etc. E assim iniciam a luta pela terra construindo suas experiCncias.
Portanto, os trabalhos de base sao realizados em difcrentes lugares e em distintas condi<;oes. Acontecem por meio da constru<;ao do espa<;o de socializa<;ao politica5
Esse espa<;o possui tres dimensoes. A primeira e o espa<;o comunicativo, construido desde as primeiras reunioes. Eo momenta da apresenta<;ao, do conheccr-se e da dcfini<;ao dos objetivos. Sabem o porque de estarcm naquele lugar. Os motivos sao a necessidadc eo interesse que, juntos com a revolta e a indigna<;ao, rcpresentam atitudes c sentimentos que dctcnninam o tempo de ocupar. Eo inicio de uma expericncia de transforma<;ao de suas realidades. Outra dimensiio eo espa<;o interativo. Esta, depcndendo da metodologia, realiza-se antes, durante ou depois da ocupa<;ao da terra. No desenvolvimento dessas pniticas e des sa 16gica, constroem-se uma fonna de organiza<;ao social.
0 espa<;o interativo e urn continuo processo de aprendizado. 0 sentido da interayiio csta nas trocas de expcriCncias, no conhecimento das trajet6rias de vida, na conscientiza<;ao da condi<;ao de expropriados e explorados, na constru<;iio da identidadc scm-terra. 0 conteudo das reunioes dos trabalhos de base sao a recupera<;ao das hist6-rias de vida associadas ao desenvolvimento da questao agraria. Assim, a vida e experimentada como produtora de intcra<;oes. Fazem suas analises de conjuntura, das rela<;iies de fon;as politicas, da fonna<;ao de articula<;oes e alianvas para o apoio politico e ccon6mico. Dessc 1nodo, dcsenvolvem as condiy5es subjctivas por meio do interesse e da vontade, reconhecendo seus direitos e participando da constru<;iio de seus destinos. Defrontam-se com as condi<;iics objetivas da !uta contra os latifundiarios e seus jagun<;os, do enfrentamento com a policia, com o Estado.
Esse e um processo de fom1a<;ao politica, gerador da militancia que fortalece a organizaviio social. Todos esses processos, praticas e proccdimentos colocam as pessoas em movimento, na construyao da consciCncia de scus dircitos, em busca da supera<;iio da condi<;iio de expropriadas e exploradas. A supera.;iio de suas rcalidades comeva com a deliberaviio a respeito da participa<;iio na ocupa.;ao da terra. Essa tomada de decisiio tern como prcssuposto que somente com essa aviio podcrao encontrar soluviio para o estado de miseria em que vivem. Dcvem decidir tambem sobre qual terra ocupar, onde ocupar. Os latifundios sao muitos, niio hi dificuldade em encontra-los. Hi varias fontes de informav6es sobre a localizaviio das terras que nao cumprem com sua fun.;iio social. Desde o conhecimento que as comunidades possuem dos inumeros latifundios, pelos quais muitas vezes estao ccrcadas, ate informav6es conseguidas nas diversas instituiy6es govcrnamentais ou nao-govcmamentais que trabalham com a questiio agniria. Definida a terra, falta so mente a decisiio de quando ocupar. Ocupan-
5. A rcspcito da conslnu;ii.o dcssc conccito, vcr Fernandes, 1996a, p. 225s.
283
do, c dessa forma, os trabalhadores scm-terra vcm a publico, dimensionam o espa<;o de socializa<;iio politica, intervindo na realidadc, construindo o espa<;o de lutas c resistCncia, quando ocupam a tcna ou acampando nas margcns das rodovias.
Participar de uma ocupayiio niio e uma dccisiio tao simples, afinalmais do que expcriCncia, significa transfonnar a prOpria vida. Par cssa raziio, muitas vczes, para algumas familias, cxistc a indccisao eo mcdo. Para superar o medo C preciso confiam;a nas pcssoas que compOcm e coordcnam o Movimcnto. Assim, uma lidcranya tern a rcsponsabilidade de, ao defender a ocupa<;ao, aprescntar ideias e rcfcrcncias que permitam a supera<;iio das duvidas. Sao os argumentos desenvolvidos nas rcuniiies dos trabalhos de base, no dimensionamcnto do espayo de socializayiio politica. Dcsse modo, os coordenadorcs, os padres, os sindicalistas tomam-se itnportantcs referencias para os trabalhadorcs indecisos. Outra fom1a de convcncimento C a visita aos acmnpamentos e aos asscntamcntos, ou quando assentados d:lo tcstemunhos de suas lutas. Todavia, muitos ficam na esprcita e v:lo para o acampan1cnto depois de efctivada a ocupay:lo. Essas atitudes acabam gcrando um debate interno, quando muitas familias reclamam pelo fato de se sentirem boi de piranha. Ha tambC!n OS que sao chamados de andorinhas, que sao OS
que aparcccm vez ou outra no acampamento. Esses sao a expressao da indccisao ou do oportunismo. Ha, tambem, aqueles que participam de v<irios grupos de familia, assistem a realizayiio de v3rias ocupay6es, ate decidirem-se por ocupar.
As reuniiies rcalizadas nos trabalhos de base sao espa<;os gcradores de sujeitos construindo suas pr6prias existCncias. Essas reuni6es podem durar um, trCs, seis mescs ou ate anos, dcpendcndo da conjuntura. Podcm envolvcr um municipio, varios n1unicipios de uma microrrcgifio, v<irios municipios de varias microrrcgi6es, ou atC mais de um estado em ilreas de frontcira. Nos anos da ditadura, essas rcuni6es precisavam scr fcitas com bastante sigilo por causa da repressao. Com a tcrritorializay:lo da ]uta e aumento da participa<;:lo das familias, essas reuniiics se multiplicaram, deixando de scr rcuniOes com dezenas para contar com centenas de familias. Esse crescimento tambem trouxe problemas. Policiais e jagunyos passaram a sc infiltrar nas reuni()cs para espionar o descnvolvimento eo irrompimento da I uta. Esses espi6es muitas vezcs nao sao descobcrtos c a ocupayfio acaba sendo fntstrada. Para evitar esse fato, as lideran<;as passaram a infom1ar aos coordcnadores de grupos de familias o dia e Iugar das ocupayOes horas antes de suas rcalizayOcs. Por outro lado, o crescimcnto das ocupayOes C decorrente nao s6 da organizac;iio dos scm-terra, mas tambCm do aumenta das fonnas de apoio. Cada vez mais, as familias que participam dessas rcuniOes reccbem apoio das comunidades urban as e dos asscntados, bcm como das prefeituras que ccdem transpmic para participarem, inclusive, da ocupayao.
No entretanto desse proccsso procuram negociar com o Estado o assentamento das familias. Promessas e compromissos que na maior parte das vezes nao se realizam sao sempre as rcspostas que obtCm. No conhecimento das expcriCncias aprenderam que devcm construir as condiyOcs nccess<irias para conquistar a terra, participando da fom1a9ao do Movimcnto compreendido pel a eria<;iio de comissoes, nucleos, setorcs, coordenay6es. sao partes da fon11a de organizay3.o em movimcnto. Cada uma
284
composta par gmpos de pessoas rcsponsavcis pelas diversas necessidadcs das familias. A comevar pcla alimentaviio c na preocupayao de tcr cscola para as crianvas, para os jovens cos adultos. Criam comissoes de ncgociaviio para acompanhar o andamcnto do problema junto as instituiyocs e informar a sociedadc sobre seus atos; nuclcos c coordcnayOcs para manter o acampamcnto infonnado c organizado; sctores de cducaviio e saudc entre outros. No MST, csses trabalhos sao rcalizados por diversos sctorcs, tendo o setor de Frcntc de Massa como o rcsponsavcl pclo trabalho de base c dcscnvolvimcnto das ay6es.
Os trabalhadorcs scm-terra sao os principais sujcitos desse processo. Dcsdc o principia da !uta rcccbem o apoio de difcrcntcs instituiv6es, par meio de alian<;as que fonnam uma articulayao politica. As instituiyOcs envolvidas defcndcm a ocupayao como fom1a de accsso a terra. Nos vinte anos da formaviio do MST, em difcrcntcs conjunturas, reccbeu ou tem rcccbido apoio da Comissao Pastoral da Tcn·a (CPT),
' dos Sindicatos de Trabalhadorcs Rurais, da Central Unica dos Trabalhadorcs (CUT), do Partido dos Trabalhadorcs (PT), de outros partidos politicos e de diversas outras organizayOcs. Todavia, a rclayao na articulayao scmprc gcrou urn cmbatc politico, por causa das difercntcs concepyoes das atribuiviics que as partes das alianvas tem no dcscnvolvimento da !uta pcla terra. Algumas das questiics do em bate sao rclativas a autonomia dos trabalhadorcs. Muitas vczes, as organizay5cs tcntaram intcrfcrir nas decisocs dos trabalhadorcs, nao distinguindo as rcspcctivas compctcncias. Is so aeonIeee, par cxcmplo, quando pretendcram coordcnar as lutas, tentando reprcscntar os trabalhadores, defendendo que o MST dcvesse apcnas apoiar os scm-terra, quando na vcrdadc os scm-terra sao c fazem o Movimcnto.
0 cmbatc tambcm acontccc por causa das difcrentes conccpyiics de !uta. Estas sao cxtrcmamcntc difcrenciadas em todas as regiOcs do pais. H3. conccpyOcs favonivcis a posturas dcfensivas, outras que defendcm posturas ofcnsivas na realizayao das ocupayOes, comprccndidas como diferentcs fon11as de rcsistCncia a ayao das policlas e dos pistolciros. As posturas mais defensivas sustcntam o n3.o cnfrcntamento, optando apenas pcla negociayao, enquanto as ofcnsivas sustcntam a ncgociayao co enfrcntamento. A supcray3.o do cmbate acontecc pclo rcconhecimcnto da autonomia dos trabalhadores e das eompctcneias de cada institui<;iio. Na fonnavao do MST, cssa supera<;ao foi passive! dcpois de rompimcntos e rctomadas das relaviics, par meio das liyOes construidas nas lutas. De diferentcs fonnas, pcrsistiu scmprc a conccpy3.o que ocupar C a solU<;Uo. Esse foi, para todas as organizayOcs cnvolvidas na I uta, utn processo de aprendizagcm.
Ate tneados dos anos 90, os sctn-tcrra enfrentaram essa questao. Na fonnay3o do MST (MT), por cxcmplo, esse proccsso foi difcrcnciado. Ncsse cstado, os scm-terra apresentaram os seus principios para as instituiy0es de apoio a ]uta, dcfinindo as compctencias na fonnaviio da articulavao. Depois de anos de cmbate, as institui<;ocs rcconhecerrun as expcriCncias c a autonomia dos scm-terra. Assim csses camponescs scm-tcna falam suas pr6prias linguagcns, conquistando o rcspcito c a admiraviio de alguns c a avers:lo de outros. Foi a luta inccssantc pcla autonomia politica que muito contribuiu
285
para a espacializa<;ao e a tenitorializa<;ao do MST pelo Brasil. Nessc sentido, o MST nao e resultado de uma proposta politica de urn partido, nao e fruto de uma proposta da Igreja, nem do movimento sindical. Em bora tenba recebido apoio da conjuga<;ao dcssas for<;as politicas. 0 MST c uma realidade que surgiu da 16gica desigual do modo capitalista de produ<;ao. 0 Movimcnto e fruto dessa rcalidade e niio das institui<;iies.
E processo de cspacializa<;ao nem scmpre e desenvolvido em todas as suas dimensoes nas experiencias dos scm-terra. 0 que determina a efetiva<;ao de todos os procedimcntos para 0 dimensionamento do espa<;o de socializa<;iio politica e a conjuntura. Essas experiencias tern sido estudadas par pesquisadores que analisaram as pniticas de diversos movimentos sociais6
. Ha tambCtn movimentos que mobihzatn as familias scm a constru<;iio do espa<;o de socializa<;ao politica, como e o caso do MAST, conforme Feliciano, 1999, p. 125.
Processos de ocupa<;iio: tipos e formas- espacializa<;iio e territorializa<;iio
A ocupayao, como fonna de luta e acesso a terra, C urn continuo na hist6ria do campesinato brasileiro. Desde o principia de sua fonna<;ao, os camponeses em seu processo de cria<;ao e recria<;ao ocuparam terra. Nas ultimas quatro dccadas, os posseiros c os scm-terra sao os principais sujeitos dcssa I uta. E fundamental diferenciar os posseiros dos scm-terra. Em uma das entrevistas que fiz no Estado de Goias, perguntei a urn scm-terra: qual diferen<;a que havia entre elc e um posseiro, e cle me respondeu: os posseiros ocupam lri prci aqueles trem escanteado, nOs ocupamos aqui, nas heiras das BRs. Essa resposta e signifieativa porque remete a diferentcs espa<;os e a<;iies distintas. Os possciros ocupam terras, predominantemcntc, nas faixas das frentes de cxpansao, em areas de fronteira. Como avanyo da frente pioncira, ocorre o processo de cxpropria<;ao desscs camponeses, descnvolvido principalmcnte pela grilagem de terra, par latifundiarios e empresarios 7• Os sem-terra ocupam terras, prcdominantemente, em regi6es onde o capital ja se territorializou. Ocupam latifundios, propriedadcs capitalistas, terras de neg6cio e explora<;ao, terras devolutas e ou griladas. As lutas por fra<;oes do territ6rio- os assentamentos- representam urn processo de territorializa<;ao na conquista da terra de trabalho contra a terra de neg6cio e de explora<;ao. Essa diferen<;a e fundamental, porque o grileiro, o latifundiario, o empresario chegam ondc o posseiro esta. Os sem-terra estiio ou chcgam onde o grileiro, o latifundiilrio, o empres<lrio cstao.
Desde meados da deeada de 1980, quando o MST sc territorializou pclo Brasil afora, os trabalhadores sem-terrajuntos com os posseiros, os pequenos proprietarios,
6. Bons cstudos a rcspc!to dcsscs proccssos cstii.o em Farias, 1997, p. 119s; Momcsso, !997, p. 33s; Cintra, 1999, p. 122s.
7. A rcspcito, vcr Martins, JosC de Souza. Fronteira: a degradm;iiv dv vu/ro nos con/ins do humano. Silo Paulo: Hucitcc, 1997a, p. 145s.
286
meeiros, rcndeiros e parceiros, intensifiearam o processo de forma9iio do eampesinato brasileiro. A intensifica9ao das oeupa96es de terra eausaram grande impacto politico, de modo que os sem-terra passaram a ser os principais interloeutores, no enfrcntamento como Estado, na !uta pela terra c pela refonna agn\ria. Esses trabalhadores de origem rural ou urbana, estao lutando pela terra em todas as grandes regi6es. Para comprecnder melhor esse processo, analiso os tipos e formas de ocupa96es realizadas pelos sem-terra.
Tomando como referencia a abordagem analitica em Ocupw;:oes de terras par camponeses, de Eric Hobsbawm8
, procuro rcfletir sabre a questao das ocupa96es. Nesse trabalho, o autor, utilizando a cxpressao tipo, abordou o componente terra. Neste cnsaio, utilizo outros componentes, como familias e experif?ncias. Dcsse modo, OS tipos de OCUpayaO, portanto, estao rclacionados a propriedade da terra: publica, capitalista, de organizayoes nao-governamentais; as formas de organizayaO das familias c aos tipos de experii!ncias que constrocm. Desse modo, trabalho com as cxpress6es tipos e formas, procurando entender os processos de desenvolvimento da ocupa9ao de terra. Neste contcxto tam bern procuro aprofundar minhas reflcx6es a rcspeito dos processos de cspacializa9ao e territorializa9ao da !uta pela terra.
Hobsbawm destaca trcs tipos de ocupa96es: a) recuperaci6n ou terras de trabalho reconquistadas- que cstavam ocupadas h:i dccadas por camponeses, mas se cncontram em litigio por causa da tcrritorializa9iio do capital na expropria9ao das familias camponesas; b) terras devolutas, quando os camponeses ocupam terras pcrtencentcs ao Estado, em areas de fronteira, e cujas terras passam a scr griladas por latifundiarios, e c) ocupac;ao de latifundios. Nessc cstudo, Hobsbawm prcocupou-sc, principalmente, com as ocupa96es do primeiro tipo, que tambem tern relev:'mcia no Brasil, especialmente na Amazonia, onde parte das terras de posseiros foram apropriadas e griladas pelos latifundiarios e empresarios. Contudo, no nosso pais predominam as ocupa96es de terras devolutas e ou publicas, e as ocupa96es de latifundios, que tem sido importantes formas de acesso a terra.
Com referencia a forma de organizayaO dos grupos de familias, h:i dois tipos: movimentos i~wlados e movimentos territorializados. Os movimcntos territorializados sao construidos pclos trabalhadores e suas estruturas podem ter duas formas; movimento social ou movimento sindical. Esses movimentos recebem apoios de difcrentes instituiy6es em eonjunto ou em separado. As formas de apoio sao politica e econ6mica e acontecem por meio de articulav6es e ou alian9as. 0 movimento social pode receber apoio e ou cstar vineulado a alguma pastoral da Jgreja Cat6lica (Comissao Pastoral da Terra ou Pastoral Rural). Da mesma fonna, pode receber apoio de centrais sindicais, partidos e organiza96es nao-governamentais. Essas sao as institui96es que tem apoiado a !uta pela
8. Vcr a rcspcito: Hobsbawm, Eric. Pessous extraordincirias. Siio Paulo: Paz c Terra, 1998, p. 241 s.
287
terra, principalmente as ocupa~Oes. 0 movimento sindical, igualmcnte, pode receber apoio dessas instituiyOes atravCs de articulayOes e ou aliam;as.
Os significados de movimento isolado e movimento territorializado tCm como referCncia a organizar.-·tio social co eSJHI('O geogriljicu. Compreendo, como isolado, o movimento que se organiza em uma base territorial determinada. Que tetn o seu territOrio de atuay5o definido por circunst3ncias increntcs aos movimentos. Ou seja, nascem en1 diferentes pontos do espayo geogr3fico, em lutas de rcsistCncias. Brotam em terras de latifUndios atravCs da espacialidade da luta. Construindo. dessa forma, a sua territorialidade, comprecndida cmno processo de rcproduy5o de ay6es caracteristicas de um detcrminado territ6rio. 0 movimento social territorializado ou socioterritorial est3 organizado e atua etn diferentes lugares ao mcsmo tempo, ay5o possibilitada por causa de sua forma de organizay5o, que permite espacializar a luta para conquistar novas fray6es do territ6rio, multiplicando-sc no proccsso de tcrritorializay5o. Um bom cxemplo de movimento socioterritorial co MST.
Os movimcntos sociais isolados s5o aquelcs que se organizatn em um municipio ou um pequeno conjunto de municipios, para efetivar uma ocupay5o. Esses movimentos recebem apoios de uma ou mais par6quias, por mcio ou n5o das pastorais, de sindicatos, de partidos etc. Todavia, sua base territorial csta limitada pcla ay5o do movimcnto. Superando cssa condiyfio, podc vir a serum movimcnto tcrritorializado, organizando ayOes para alCm de sua base territorial de origem ou se vincular a uma organizayil.o tcrritorializada. Foi dcsse modo que os rcccntcs movimcntos sociais de I uta pel a terra se dcscnvolvcram.
Scm a supcray5o de sua circunst3ncia, os movin1cntos isolados sc cxtingucm. A perspcctiva da ten·itorializayao csta relacionada com sua forma de organizayao sociopolitica. Quando csscs movimcntos sao resultados de intcresscs imcdiatos da comuniclaclc, dcfcnclidos por lidcran<;as pcrsonalistas, que criam rcla<;iics de dcpcnclencia, a tendCncia Co esgotamento do movimcnto. Quando os movimcntos contemplam objctivos mais amp los, que nil.o scja apcnas resolver o prOprio problema, mas inscrir-sc no proccsso de I uta, c as lideranyas promovcm cspayos de socializayao politica, para a formac;:il.o de novas lidcranyas c cxpcriCncias, a tendCncia C de dcscnvolvimcnto da fonna de organizay5o, cspacializay5o c territorializayil.o. Des sa forma, amiUde, trabalham n3.o somentc com o prOprio problema, mas carrcgam a dimcns3.o da !uta pcla tcna, organizando novas grupos de familias, inaugurando novas lugarcs, espacializando e tcrritorializando o movimcnto e a I uta. Todo movimcnto sociotcrritorial nascc de um ou mais movimcntos sociais isolados.
As ocupa<;ocs podcm scr dcscnvolvidas por mcio dos seguintcs tipos de cxpcriCncias: espontclneas e isoladas, organizadas e isoladas, organizadas e espacializadas. As cxpcriCncias s5o scmprc formas de luta e rcsistCncia, porquc inauguram um cspayo, na luta pcla terra, que eo acampamento. Com rclayao a quantidade de
288
familias envolvidas, podcm ser em pequenos grupos ou massivas. Niio h<i uma referCneia muito precisa a respcito do nUmero de familias para distinguir uma ocupcu;iio massive/' da ocupay:lo por pequenos grupos. Todavia, as ocupayOcs massivas s:lo assim dcnominadas quando reltnem v<irias centenas ou atC milharcs de i8.milias.
As ocupa<;ocs isoladas c espontancas aconteccm majoritariamcnte por pcquenos grupos, numa ayao singular de sobrevivencia, quando algumas familias ocupam uma area scm configurarem uma forma de organizayilo social. Entram na terra em grupos c cnt:lo, pcla prOpria nccessidade, passam a constituir um movimcnto social. 0 canlter da cspontancidade esti no fa to de mlo haver uma preocupay.1o anterior em se construir uma forma de organizayao, o que acaba por acontecer, ou n.1o, no processo de ocupa<;iio. Essas ocupa<;6cs podcm resultar em urn movimcnto social isolado.
As ocupayOcs isoladas e organizadas sao realizadas por movimcntos sociais isolados de um ou mais municipios. A predomin3ncia C de fonnayao de pequcnos grupos, mas tambCm ocorrem ocupayOes massivas. As familias fmmam o tnovimcnto antes de ocuparem a terra. Organizam trabalhos de base, realizando v8.rias reuniOes ate a consumay:lo do fato. As tendCncias desses movimcntos sao: findarem depois da conquista da terra ou transfonnarem-se em tnovimento.s territorializados 10
. Esses dais tipos de ocupac;ao sao frutos da espacialidadc c da tcrritorialidade da [uta pcla terra.
Esses tipos difcrcm das ocupac;ocs rcalizadas pelos movimcntos sociotcrritoriais, que cxccutam ocupm;des organizadas e espacializadas. Essas sao experiCncias de luta rcsultantcs de cxpcriencias trazidas de outros lugarcs. Estao contidas em urn projcto politico rna is amplo e pod em fazcr parte de uma agenda de lutas. 0 significado de cspacializayao tem como rcferCncia a participayao de trabalhadores que ja viveram a experiCncia da ocupayao em diversos lugares e regiOes, e como militantes cspacializam essas experiCncias, trabalhando com a organizayao de novas ocupayOcs, territorializando a luta co movimento na conquista de novas frayOes do territ6rio- o assentamcnto -,a terra de trabalho. :E nessc processo que formam-se, num refazendo constantc ou, para usar uma cxprcssao de Thompson (1987),.fazendo-se em movimentos sociais, construindo seus espayos e scus tempos, transformando suas realidades.
9. 0 conccito de ··ocupa\ii.O mass iva" tern como significados: quantidadc c cxtcnsiio. Portanto. considcra-sc tanto o grande nllmcro de familias cnvolvidas, quanta a pni.tica de dcsdobramcnlo da \uta. quando a ocupa\iio l· organizada niio para conqmstar uma Area dctcnninada, mas sim para conquistar dctcrminadas ~trcas para todas as fami!ias.
HI. Um hom cxcmplo sii.o os movimcntos sociais no Estado do Parana. na primcira mctadc da dCcada de oitcnta: MASTRO. MASTES, MASTEN, MASTRECO c MASTEL, que formaram o MST (PR). Vcr capitulo 2: Terra por terra.
289
Como diagrama abaixo procuro ilustrar as ideias apresentadas nesta analise.
Processes de ocupayiio de terra: tipos e fonnas Componentes constitutivos
Terra- tipos de propriedades Familias - formas de organizayiio: movimentos isolados
movimentos territorializados
Experiencias- fonnas de I uta e resistencia; isoladas: esponUlneas ou organizadas;
organizadas e espacializadas
Os movimentos socioterritoriais realizam a ocupayao atraves do descnvolvimento dos processos de espacializa<;iio e territorializa.;iio da !uta pela terra. Ao espacializarem o movimento, territorializam a luta eo movimento. Esses processes sao interativos, de modo que espacializa<;iio cria a territorializa<;iio e e reproduzida par csta11
.
• A experiencia da oeupa<;ao no processo de territorializa<;i'io e um aprendizado. E
da constru<;iio de conhecimentos nas realidades dos grupos de familias c das Iutas de referencias que aprendem a fazer as suas Iutas. Lutas de refim?ncias sao aquclas que Ihes sao relatadas ou que conhcccram. Os movimcntos sociotcrritoriais, em seus processes de fonna<;iio, multiplicaram suas a<;oes c passaram a fazer v!trias ocupa<;oes num pequeno espa<;o de tempo ou ao mesmo tempo. E nos entretantos dos processos de negocia<;iio dessas ocupa<;i'ies para implanta<;iio de assentamentos, fazem novas ocupa<;oes, num continuo de espacializac;ao e territorializac;ao. Por essa razao, definimos o entretanto como um importante intervalo de tempo, quando no enquanto de uma !uta comec;a a nascer outra. Desse modo, e possivel intcnsificar o nlimcro de ocupac;Ocs, mobilizando e organizando eada vez mais familias. Nesse sentido, a ocupa<;ao 6 um processo soeioespacial, e uma a<;iio eoletiva, e um investimento sociopolitieo dos traba!hadores na eonstru<;iio da consciencia da resistencia no proeesso de exclusao. E dessa forma multiplieam-se as ocupa<;oes e o m\mero de familias participantes.
0 processo de territorializa<;iio fortaleceu os movimentos porque possibilita a espacializa<;iio das experiencias, que muito eontribui para o avan<;o da !uta em outros estados e regioes. Experiencias espacializadas agilizam a organiza<;ao porque os gru-
t 1. U m primciro cnsaio tc6rico a rcspcito dos proccssos de cspacializa~;Jo c tcrritoriallza'<iio cst<i. em F cmandcs, Bernardo Man"ano. MST: jiJrmm;iio e territorializa(,·iio. Siio Paulo: Hucitcc, 1996a.
290
pos de familias trabalham desde as experiencias vividas e avaliadas. Nesse sentido, o con1e~o de uma luta tern como refen?ncias outras lutas e conquistas. Assim, ao consumarem suas conquistas, territoriahzando-se, terao suas lutas relatadas na espacializayao do movimcnto. Dcssa fmma, vao construindo suas hist6rias, suas existencias.
Ao Iongo de suas experiencias, os scm-terra passaratn a combinar v8.rias fonnas de !uta. Essas acontcccm em scparado ou simultancamcntc com ocupayoes de terra. Sao as marchas ou caminhadas, as ocupayoes de predios publicos e as manifestay6cs dcfrontc as agcncias bancarias. Esses atos intensificam as lutas e aumentam o poder de pressao dos trabalhadores nas negociay6es com os diferentes 6rgaos do govcmo. Igualmentc cxp6em suas rcalidades, recebendo apoio c criticas da opiniao publica e de diversos sctores da sociedade. As caminhadas e marchas sao formas de manifcstayao politica produzidas na cspacializayao c produtoras de espacialidades.
Pclo dcscnvolvimcnto dos proccdimcntos das pn\ticas de lutas, nos processos de cspacializayao e territorializayao, e possivel definir dois tipos de ocupayao: ocupa<;:iio
de uma eirea determinada c ocupar.;iio massiva. A principal diferenya desses tipos esta no fato que, no primeiro, 0 tamanho da area e criteria para a mobiJizayaO e organizayaO das familias. Dependendo do tamanho da area podc scr uma ocupayao de pequenos grupos ou ate numerosos grupos, massificando a !uta. No segundo, a mobilizayao e organizayao tem como criteria as sen tar todas as familias sem-terTa, ocupando quantas areas forem necess:irias.
No primeiro tipo a ocupa<;ao c rcalizada como objetivo de conquistar somente a area ocupada. Portanto, as familias sao mobilizadas e se organizam para reivindicarem a terra ocupada. Havendo familias remanescentes, iniciam uma nova luta para se conquistar uma outra area. Cada ocupayao rcsulta na conquista de urn assentamento. A 16gica da organizac;ao das familias e mobilizar conforme as areas rcivindicadas. Essa 16gica muda com as ocupay5es massivas. Ncssc caso, os se1n-terra superaram a condi<;ilo de ficarem limitados ao tamanho da area reivindicada. 0 sentido da ocupayao deixou de ser somente pela conquista de uma determinada area, e passou a scr o assentamcnto de todas as familias, de modo que uma ocupac;ao podc rcsultar em varios assentamentos. Essa forma de organiza<;ao intensificou a territorializa<;ao da !uta. 0 critCrio principal para assentar as famflias nao e mais o limite territorial, mas o tempo e as formas em que as familias participam da !uta. A ocupayiio transformou-sc nmna luta continua pcla terra, num refazcndo constantc, conforrne as familias vao scndo assentadas, novas familias unern-sc as familias em luta. Assim, con forme vao conquistando frac;6es do tcrrit6rio, vao somando mais grupos de familias aos grupos de familias remanescentes.
Uma ocupa<;ao de uma area determinada podc sc transformar em uma ocupa<;ao massiva, nao s6 pela quantidade de familias que participam, mas por causa do dcsdobramento da !uta. Isso acontece quando, dcpois da conquista da terra reivindicada, passa-sc a ter conhecimento de urn con junto de areas que podem ser conquistadas c da
291
perspectiva de se rcunir divcrsos grupos de familias em uma mesma ocupa\'aO. Dessc modo, e importante destacar que a massifica,ao niio tern s6 o scntido de quanti dade, mas tambem ode qualidadc. Este e determinado pclo dimcnsionamento do espa1=o de socializa,ao politica, principalmcnte no fortalecimcnto do cspa<;o intcrativo, que acontece por meio da difusao de nucleos, setores e comissoes, de modo a fmialeccr o movimento. Nesses espac;os, as familias passam a trabalhar mais intensamente suas necessidadcs e perspectivas, como alimcntaviio, saude, educaviio, negocia,ao etc.
Com essas pnlticas, os scn1-terra reUnem-sc ctn movimcnto. Supcram bases territoriais e fronteiras oficiais. Na organizayao da ocupac;ao massiva, agrupam famflias de v3rios municipios e de 1nais de um cstado, quando em areas frontciric;as. Dcssc modo, romp em cmn localismos c outros intercsscs que possa1n impcdir o dcsenvolvimento da !uta pelos trabalhadores". Assim, os criterios de selc<;ao das familias a sercm assentadas nao podcm ficar rcstritos a procedencia das familias. As pcssoas que compOctn as comiss6es de seleyao precisam considcrar como crithio, entre os dctcrminados pelo governo 13
, a hist6ria da !uta.
Na cxccur;ao das ocupa<;oes, os scm-terra podcm rcalizar diferentes formas de cstabclccimcnto na terra. Hii experiCncias em que ocupam uma faixa de terrae prosseguem com as ncgociay6cs, reivindicando a desapropriayao da area. Ha expcriCncias em que ocupam a terra, dividcm em lotes e comeyam a trabalhar, noutras dcmarcam uma lmica area c plan tam coletivamente. Essas priiticas sao resultados do dcscnvolvimento da organizayao dos scm-terra. sao fonnas de resistCncia que colocam Cl11 questao a terra de trabalho contra a terra de cxplora<;ao.
Os processes de espacializa<;ao e territorializa<;ao diminucm c podem tcrminar quando as familias scm-terra conquistam os latifUndios de um ou mais municipios 14
•
Encerra-se assitn o que chamamos de ciclo das ocupay6es. Esse ciclo inicia-sc corn as primeiras ocupay6es e dura o tempo que existir terra para ser ocupada.
Por mais que sc tcnha um plancjamento. a espacializa<;iio da !uta por mcio da ocupayiio da terrae sempre um devir. Possui o senti do das possiveis transformay6es incessantcs, quando as conjunturas constluidas sc dissolvern c ou se relacionam, formando novas conjunturas, superando-se ou retroccdcndo. Portanto, por mais que os scm-terra tenham construido cxpcriCncias divcrsas, a espacializayao de uma ocupa<;ao nunca c urn fato completamcnte conhccido, tampouco dcsconhccido.
12. Como. por cxcmplo, o Dccrcto 35.R52 do Govemo do Estado de Siio Paulo. Em seu artigo l 0 , § l" determina que as 6unilias nao residentes hil pclo menus dois anos na regiiio, nao podem scr assentadas.
13. Entre os critCrios detenninados pclo govcmo l'Stiio: scr trabalhador rural, niio ser proprietitrio de terra, nao ser funcionitrio pt1blico etc.
14. Rams cxcmplos siio os municipios de Mirante do Paranapancma (SP). Ronda Alta (RS) c Pontiio (RS). omlc os sem·tcrra conquistaram a maior parte dos latiflmdios.
292
Os acampamentos: espa~os de lutas e resistcncia
As cxperiCncias nos acmnpamcntos marcam as hist6rias de vida dos scm-terra, confonne o exemplo descrito nas cstrofes abaixo:
Nestes versos simples eu quero relatar Detalhes das tra/has de um acampado .Ja desgastadas de tanto se lesar Porem para mim muito representam Porque me ajudaram terra conquistar
Um machado buena e um trCs listras que nao en trego Um mac,·o de prego, urn martelo e uma lona preta Uma caneta e 11111 caderninho para escrevinhar Quando a conjuntura desta !uta dura Sempre que mudava eu tinha que anotar
Tralhas de urn acampado Lctra: Clodoveu Ferraz Campos Musica: Amilton Almeida I" Festival Naeional da Reforma Agraria Palmeiras das Missoes (RS), 04 a 07 de fevereiro de 1999
Ser acampado e ser scm-terra. Estar no acampamcnto c resultado de decisoes tomadas a partir de dcsejos e de interesses, objetivando a transformaviio da realidade. 0 acampado C o scm-terra que tern par objetivo scr urn assentado. Sao duas categorias em uma identidade em forrnaviio.
Os acampamcntos sao espayos e tempos de transiviio na luta pcla terra. Sao, par conscguinte, realidades em transfomlavao. Sao uma forma de matcrializaviio da organiza~ao dos sem-terra e trazem em si, os principais elementos organizacionais do movimento. Predominantementc, sao resultados de ocupayoes. Sao, portanto, cspayos de lutas e de resistcncia. Assim sendo, demarcam nos latirundios os primeiros momentos do processo de territorializavao da I uta. As ayoes de ocupar e aeampar interagcm os processus de espacializaviio e territorializavao. Podem cstar localizados dcntro de um latifllndio ou nas margcns de uma estrada, con forme a con juntura politica e a correlaviio de foryas. Tambem podem scr a primeira ayao das familias ou podem sera reproduvilo dessa ar;iio par diversas vezes. Ha expericncias em que o acampamcnto c Iugar de mobilizar;ao para pressionar o govcmo na desapropria<;ao de terras. Todavia, em suas cxpcriCncias, os sctn-tcrra compreenderam que acampar sem ocupar dificilmcntc leva a conquista da terra. A ocupayao da terra C um trun fo nas ncgociayOes.
293
Muitos acampamentos ficaram anos nas beiras das rodovias sem que os trabalhadorcs conseguissem ser assentados. Smnente com a ocupayao, obtiveram exito na luta.
' A primeira vista, os acampamentos parecem ser ajuntamentos dcsorganizados de barracos. Todavia, possucm detenninadas disposi<;oes conformc a topografia doterreno e as condi<;ocs de desenvolvimento da resistencia ao dcspejo e das perspectivas de enfrentamento com jagun<;os. Podem estar localizados em fundos de vale ou nos espigoes. Os arranjos dos acampamentos sao prcdominantemente circulares ou lineares. Ncsscs cspayos existem lugares ondc, muitas vezes, os scm-terra plantam suas hortas, onde estabelecem a "escola" e "farrm\cia", bem como o local das assembleias.
Ao organizar um acampamento, os scm-terra criam diversas comissOcs ou cquipes, que dao forma a organiza<;ao. Participam familias inteiras ou parte de seus membros, que criam as condi<;ocs basicas para a manuten<;iio das suas neccssidades: saude, educa<;iio, seguran<;a, negocia<;ao, trabalho etc. Dcssa fonna, os acampamentos, freqiicntcmcntc, tcm escolas, ou seja, barracos de lona em que funcionam salas de aula, principal mente as quatro primeiras series do ensino fundamental; ha um barraco que funciona como uma "farmacia" improvisada e, quando dcntro do latifundio, plantam em mutiriio para garantircm parte dos alimentos de que nccessitam, quando, na estrada, plantam entre a rodovia e a cerca. Quando pr6ximos de assentamcntos, os acampados trabalham nos lotes dos assentados, como diaristas ou em difercntcs formas de mea<;iio. Tambcm vendem sua for<;a de trabalho como b6ias-frias para usinas de alcool e a<;ucar ou outras empresas capitalistas, ou para pecuaristas.
Na dccada de 1980, os acampamentos recebiam alimentos, roupas e remedios, principalmente das comunidades c de institui<;oes de apoio a !uta. Desde o final dos anos 80 e o inicio da dccada de 1990, como erescimcnto do numero de asscntamcntos, estes tambem passaram a contribuir com a !uta de divcrsas fonnas. Muitos ccdcm caminhoes para a rcaliza<;ao das ocupa<;ocs, tratores para preparar a terra c alimcntos para a popula<;ao acampada. Esse apoio e mais significative quando os assentados estao vinculados a uma cooperativa. Essa e uma marca da organicidade do MST. Como crescimcnto do apoio das comunidades, das instituiy5cs, dos assentamentos c com a consolida<;ao do MST, os scm-terra conseguiram intensificar o numero de ocupa<;oes c desenvolver a rcsistcncia, de modo a rcalizar dezenas de ocupa<;ocs simultaneas.
Na segunda mctade da decada de 1990, em alguns estados, o MST come<;ou uma experiencia que denominou de acampamento permanente ou acampamento aberto. Esse acampamcnto c estabelecido em uma regiao, onde existcm muitos latift\ndios. E um espa<;o de !uta e resistencia para onde as familias de diversos municipios sc dirigcm c se organizam. De sse acampamento permancnte, os scm-terra partc1n para v1irias ocupa<;oes, para onde podem sc transferir ou, em caso de despejo, retornarcm para o acampamento. Tambem conforrne vao conquistando a terra, vao mobilizando e organizando novas familias que passam a compor o acampamento. Como afinnamos, o acampamento acontccc no processo de cspacializa<;iio da !uta, inaugurando a territorializa<;iio. Ao organizarcm a ocupa<;iio da terra, os scm-terra promovem uma a<;ao
294
concreta de repercussi'io imediata. Essa a<;i'io e politica e se efetiva como ato de resistcncia, como condi<;i'io para negocia<;i'io, cujos desdobramentos esti'io condicionados a origem do fato. A ocupa<;i'io coloca como questi'io a propriedade capitalista da terra, no processo de cria<;i'io da propriedade familiar.
0 aeamparnento e Iugar de mobiliza<;i'io constante. Alern de espa<;o de !uta e resisteneia e tarnbern espa<;o interativo c espa<;o comunieativo. Essas trcs dirnensoes do espa<;o de socializa<;i'io politica desenvolvem-se no aearnparnento ern diferentes situa<;oes. No inicio do processo de forma<;i'io do MST, na decada de 80, em diferentes expcricneias de acarnparnentos, as familias partiarn para a ocupa<;i'io somente dcpois de meses de prcpara<;i'io nos trabalhos de base. Desse modo, os sem-tcrra visitavam as comunidades, relatavam suas cxperi€ncias, provocavam o debate e desenvolviam intensamcnte o espa<;o de socializa<;ilo politica ern suas dimensoes comunicativa c interativa. Esse procedirncnto possibilita o cstabelecimento do cspa<;o de !uta c resistencia de forma rnclhor organizada, pais as familias sao conhecedoras dos tipos de enfrentamentos da !uta. Durante scu processo de forma<;i'io, pela propria demanda da !uta, o MST construiu outras experiencias. Assim, nos trabalhos de base niio se dcsenvolvcram a dimensao interativa, que passou a acontecer no cspayo de luta c resistencia. E ainda, quando hi urn acarnpamento permanentc ou aberto, as familias podem iniciar-se na !uta inaugurando o cspa<;o comunicativo, dcsenvolvendo o cspa<;o inte-
• rativo no espa<;o de !uta e resistcncia. E o caso de quando os sem-tcrra estao lutando pela conquista de varias fazcndas e as familias vilo se somando ao acampamento, enquanto outras viio sendo assentadas.
No acampamento, os scm-terra fazcrn periodicamente analises da con juntura da !uta. Essa leitura politica e facilitada para OS movirnentos socioterritoriais porque estiio em cantata permanente com suas sccrctarias, de modo que podem fazer as analises a partir de rcferenciais politicos amp los, como, par exemplo, as ncgocia<;oes que esti'io acontecendo nas capitais dos estados c em Brasilia. Assirn, associam formas de !uta local com as lutas nas capitais. Ocuparn a terra diversas vczes como fonna de pressiio para abrir a ncgocia<;iio, fazern marchas ate as cidades, ocupam predios publicos, fazem manifesta<;oes de protestos, reunioes etc. Pcla correspondcncia entre esses espa<;os de !uta no campo e na cidade, sempre ha dctermina<;ao de um sabre o outro. As realidades locais sao muito diversas, de modo que tendern a predominar nas decisoes finais as realidadcs das familias que estilo fazendo a !uta. Dessa forma, as linhas politicas de atua<;iio sao construidas a partir desses parametros. E as instancias representativas do MST carregam essa cspacialidade e essa 16gica, pais um membra da coordena<;ao ou da dire<;iio nacional pmticipa do processo desde o acampamento ate as escalas mais amp las: regional, estadual c nacional.
Com essas a<;oes que contam corn o apoio das articula<;oes politicas, os scm-terra procuram rnudar a con juntura para desemperrar o processo de negocia<;iio. Todavia, nem sempre conseguem modificar a con juntura. Quando as negocia<;oes chegam no impasse, acontecem os conflitos violentos, como, por exemplo, a Pra<;a da Matriz, em Porto Alegre, e o massacre ern Eldorado dos Carajas.
295
Todos os acampamentos tCm suas hist6rias nas lutas das famihas scm-terra. Vale dcstacar pclo mcnos dais dos acampamentos hist6ricos do processo de fonna<;ao e territorializa<;ao do MST: o acampamento da Encmzilhada Natalino, em Ronda Alta no Rio Grande do Sul, co acampamento dos capuchinhos, em ltamaraju na Bahia". Garantir a existencia do acampamento, por n1eio da resistencia, impedindo a dispersao causada por diferentcs fonnas de violencia e fundamental para 0 succsso da !uta na conquista da terra. Essa foi a preocupa<;ao do MST (MT) em sua primcira ocupa<;ao no cstado, como e a prcocupa<;ao de todos os scm-terra a cada nova ocupa<;ao.
Salvor a ocupar;iiu, com a transfcrcncia das familias para fora do latifimdio, garantindo scmpre um Iugar para o acampamento, faz parte da 16gica da resistencia. Quando acontece o despcjo- palavra que tambem significa livrar-se de cstorvo, em que as pessoas sao tratadas como coisas num ato de violcncia lcgitimada pclajudiciariza<;ao da !uta pela terra (Fcmandes, 1997b; Morcyra, 1998)- as familias transferem o acampan1ento para outras areas, como, por cxcmplo, as margens das rodovias ou para terrenos cedidos pclas prcfcituras ou por outras institui<;iies. Quando sao despejadas das margens das rodovias, montam acampmnentos dentro de asscntamentos pr6ximos, esse territ6rio dos scm-terra, exprcssao da conquista na luta e resistencia.
A sustentayao dos acampamentos C uma forma de prcssao para reivindicar o asscntamcnto. E cssa e uma pnitica do MST, garantir o acampamento ate que todas as familias scjam assentadas. Para os outros movimcntos, cssa pratica nao C tao pcnnanente. Muitas vczcs ncgociam como govcrno o assentamcnto c acrcditando nas promessas, as familias rcton1am para scus municipios. De modo que, cvidentementc, a maior parte dos asscntamentos nao sc rcaliza. Tan1bem, muitas fmnilias que pcnnanecem acampadas desistem par uma scrie de motivos, principalmente pela falta de perspectiva c pcla violcncia dos despcjos c dos jagun<;os.
Na politica de implanta<;ao de assentamcntos mrais do govcmo federal, os acampamcntos (e as familias participantcs nos trabalhos de base que estiio sc mobilizando para ocupar) sao tambcm uma fom1a de prcssao e uma contribui<;ao dos scm-terra para a realizayao do cadastramento das familias benefici8.rias, bern como para intcnsificar a arrecadayao das areas. Essa e uma prova insofism3vel que as ayOes dos govcrnos federal c estaduais derivam das ayOcs dos movimentos sociais. 0 acampamento C espa<;o de !uta c resistencia no processo de espacializa<;ao c tenitorializac;iio da !uta pel a terra. Entre o tempo de acampamento e a conquista do assentamento (que configura a tcrritorializa<;ao), desenvolve-se a espacializac;iio. Uma forma c par mcio das romarias e ou das marchas.
A marcha c uma nccessidade para cxpandir as possibilidades de negociac;ao, para gerar novas fatos. Em seus ensinamcntos, por meio de suas cxperiCncias, os scm-terra tiveram divcrsas rcfcreneias hist6ricas. Alguns exemplos utilizados na mistica do
15. Vcr capitulo 2: 0 acampamcnto Encruzilhada Natalino c, no capitulo 3: Bahia.
296
Movimcnto sao: a caminhada do Povo Hebrcu rumo a terra prometida, na !uta contra a cscravidao no Egito; a caminhada de Gandhi c dos hindus rumo ao mar, na !uta contra o imperialismo inglCs; as marc has das revoluyOcs mexicana c chinesa, entre outras 16
.
Dessa fonna, os scm-terra ocupam a tctTa, espa<;:os de predios publicos, cspa<;os politicos divcrsos para dcnunciar os signilicados da cxplora<;ao c da cxpropria<;iio, lutando para mudar suas rcalidades. Ou, entao, como o cincasta Paulo Rufino conseguiu cxprimir de maneira tao objetiva quanta poetica:
"Dos campos, das cidades, dasfrentes dos pahicios, os Sem-Terra, este povo de beira de quase tudo, retiram suas li(.·Oes de semente e histOria. Assim exprimidos nessa espi:cie de geografia perdida que sobe entre as estradas, que f: par onde passam as que tJm onde ire as ccrcas, que i: onde estiio as que tem onde estar, os Scm-Terra sabem o quefazer: plan tam. E plan tam porque sabem que teriio apenas a almor;o que puderem co/her, como sabem que teriio apenas o pais que puderem conquistar" (Paulo Rufino: 0 Canto da Terra, 1991 ).
Organicidade c vincula<;ao
Uma importante condi<;ao para o avan<;o da !uta pel a terra 6 a organicidade dos movimcntos sociais. Esta c rcprcscntada pcla intera<;ao entre as distintas atividadcs do movimcnto social c pela cxpressiio do aCllmulo de.forr;as, na cspaeializa<;ao c tcrritorializa<;iio, que de acordo com Bogo e:
"a conquista de espa('OS social e geogrdfico, e sua manutenc,xlo atraves da intervenc,·Go organizada das pessoas au de um movimento de massas, elevando a nivel de consciencia atraw!s da perseguir.;clu de objetivos que se queiram alcan(.'ClY a curta, media e Iongo prazos ... 0 aczJmulo defOn;as se mede nao simplesmente pela quantidade de pessoas que parficipam das atividades, mas da quantidade e da eficiencia da diversidade de atividades que envolvem cada vez mais aspessoas que participam diretamente e a in.fluencia que est as tem sabre as demais" (Bogo, 1999, p. 138-140).
A organicidadc C uma caractcristica dos movimcntos sociotcrritoriais. E reprcsentada na manifesta<;iio do podcr politico e de pressao que os scm-terra possucm no desenvolvimcnto da !uta, tanto para conquistar a terra, quanta para as lutas que sc dcsdobram nessc proccsso. A separa<;ao das lutas pcla conquista da terra das lutas de resist6ncia na terra C uma forma de fragilizar os movimcntos. Portanto, a consciCncia das realidadcs em que vivcm e fundamental para a constru<;ao da organicidadc no
16. Vera respeito: Stedi\e, Joiio Pedro e Fernandes, Bernardo Man<;ano. Bral.!a geme: a traietOria do MST e a !uta pefa term no Brasil. Siio Paulo: Editora Fundayiio Pcrscu Abramo. \999, p. \49-155.
297
processo de formayiio da idcntidade dos sujeitos da !uta. E essa condiviio csta associada a vinculayiio das familias aos movimentos. E como Bogo evidencia, quantidade s6 serve como referencia para se eompreender a organicidade se estivcr associada a participayiio das pessoas nas diversas atividades da organizayiio, em suas difcrentes escalas: local, regional, estadual e nacional, de acordo, cvidcntcmcntc, com a cxtensiio da ayiio dos movimentos sociais.
A vinculaviio das familias aos movimentos e componente da dimensao da organicidade. E, neste sentido, e componente qualitativo. Como tambem e quantitativa. Assim, e muito trabalhoso calcular os graus de vinculavao das familias aos movimentos, par ser urn atributo qualitativo de identificayao, cujas dimens6es sao de dificil mensurac;3.o. Todavia, essa referencia e importante para que tenhamos uma ideia aproximada da dimensiio da organizavao. Fizemos urn levantamento junto a alguns coordenadores dos setores de atividades e das instancias de representavi'io do MST, em 15 estados e Distrito Fedcral 17
, conformc demonstrado na tabela 5.1.
Esses dados sao aproximados. Sao apenas uma referencia para termos uma novi'io da vinculavi'io das familias nesses estados. Sao familias, das quais seus membros ou parte deles participa da forma de organizavao das atividades e das instancias de representac;ao em suas difcrcntcs cscalas, ou mcstno que n3.o tenham participac;3.o nos setares, mas que sc identificam como Scm-terra e participam das a96es do MST. Essas
' pcssoas fazem c sao o Movimento. E por meio dessa compreensao de organicidade, expressa pela idcntidade politica, que nos rcferimos aos Scm-Terra do MST". Sao esses sujcitos que consideramos como vinculados ao MST. Todavia, e importante lembrar que ncm todos os vinculados participaram das lutas do MST desde o come90. Existcm Scm-Terra que nao participaram de oeupa96es realizadas pclo Movimento, cram movimentos isolados e que se vincularam depois da conquista da terra. Como M, tambem, scm-terra que participaram do MST desde o inicio da ocupayao, mas por divergencias politicas sc desvincularam do Movimento.
Dcssa forma tomamos como referencias os assentamentos que cstao vinculados ao movimento. Por vinculados comprccndcmos os asscntatnentos, onde a maior parte das familias participam dos sctorcs de atividades ou das ay6es do MST. Com relac;3.o ao grau de vinculac;ao h3 assentamentos parcialmente vinculados, onde vivern grupos de familias que participam das atividadcs ou das a96cs do Movimcnto. Nesse senti do, utilizamos parametros relativos para conseguir dados proporcionais tanto para o numero de assentamentos quanta para o numero de familias. A partir dessas refercncias podcmos analisar csses dados para termos uma no9ao dos graus de vineulavao das familias Scm-terra.
17. Essa foi uma prime ira fasc de uma das pcsquisas do DA T ALUT A. Os outros cstados ondc o MST cstii. organizado cstiio scndo pcsquisados.
18. Sem- Terra e o sujeito social cvnstituido pel as !taus do MST. Caldart, 1 999, p. 25. Esse C um proccsso intcrativo: participando do MST c sc idcntificando como Scm-Terra, as pessoas constrocm o Movimcnto.
298
Conforme os dados da tabcla 5.1, a regiao Sui possui o maiorpercentual de vincula<;ao. Evidente que este rcsultado esta associado a hist6ria recente da !uta pela terra na rcgiao, em que as a<;oes foram desenvolvidas predominantcmentc pelo MST, desdc a sua genese ate 1999. E a \mica regiao do pais, onde nao rcgistramos a atua<;ao de outros movimentos sociotcrritoriais.
Tabela 5.1- Vincula~iio das familias sem-terra ao MST: 1979/1980-1997/1998#
REGIAO/ ASSENT AMENTOS FAMiLIAS UF
Vinculado Niio vinculado Vinculado Niio vinculado
N w % w % N" % N" %
RO 14 24 45 76 3.204 15 17.679 85 NE 247 38 399 62 18.466 42 26.087 58 SE 3 I 52 28 48 2.031 53 1.763 47 AL 18 41 26 59 2.171 45 2.618 55 PE 65 52 61 48 3.567 56 2.842 44 CE 112 49 116 51 8.672 51 8.133 49 PI 21 8 168 92 2.025 16 I 0. 7 31 84 C-0 32 18 146 82 3.340 18 15.281 82
MS I I 20 33 80 2.296 24 7.180 76 DF* 5 62 3 38 280 54 239 46
GO 16 13 II 0 87 764 9 7.862 91
SE 124 38 204 62 8.260 35 15.571 65 MG 10 10 86 90 510 8 5.687 92
RJ 16 29 40 71 1.987 34 3.825 66 ES 33 79 9 21 1.375 88 184 12
SP 65 48 69 52 4.388 42 5.875 48
s 261 84 48 16 20.406 88 2.837 12
PR 19 78 41 22 10.752 82 2.332 28
sc 78 92 7 8 3.435 95 178 5
RS 164 100 0 0 6.219 95 327 5 TOTAL 678 44 842 56 53.676 41 77.455 59
#Em alguns est ados os primeiros assentamentos jhram implantados em 1979, noutros em 1980. Da mesma_forma, pura alguns est ados temos dados are 1997 e noutros ate meados de 1998, correspondente ao periodo da pesquisa.
* OF c em tomo, que corrcspondcm as rcgi6cs Lcstc Goiano c Noroeste de Minas.
Fame: OAT ALUT A: Banco de Dados da Luta pcla Terra, 1999.
Na regiao Nordeste, nos Estados do Ceara, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, aproximadamente metade dos assentamentos sao vinculados ao MST, o que e muito provavel que esta seja a segunda regiao com o maior percentual de vincula<;ao. Embora seja a regiao com maior atuayao dos outros movimentos socioterritoriais, conformc pode ser observado no quadro 4.6.
299
a regiiio Sudeste, aproximadamente uma tc r<;a parte dos assentamentos sao vinculados. Mums Gerai s c Sao Paulo silo os estados em que outros movimentos sociotcn itoriais tambcm aluam. 0 Estado do Espirito Santo possui um alto pereentual de 'mculac;:ao, onde em tomo de 8°'o das familias estiio vinculadas ao MST.
0 Centro-Oeste eo Norte do pais sao as regioes com mcnor vinculac;iio dos asscntamcntos ao MST. E tambcm sao as regioes onde csti'io assentadas 55% das familias. Mas sao as rcgioes onde estao localizados apcnas 31% dos asscntamcntos. as rcgiocs Sui,
udcstc, Nordeste c Centro-Oeste, onde os mo' tmcntos sociotemtoriais atuam com maior intenstdade, estao localizados 82% dos asscntamentos (ver label a 4. II ). E a maior parte dcsses asscntamentos foram conquistados por meio das ocupac;:ocs de te tTas.
A ocupac;ao como forma de acesso a ter ra
Nesses 20 anos de I uta, a oeupac;ao tomou-se uma importante fom1a de acesso a tcna. Aproxtmadamcnte 77°/o dos assentamentos implantados nas regiocs Sui c Sudcstc, nos Estados de Malo Grosso do Sui c Goias, c nos Estados do Ccani, Alagoas, Scrgtpc c Pcmambuco, no periodo 1986- 1997, foram origi nados por meio de ocupac;ocs de terra, confom1c pode ser obscrvado no grafieo 5.1.
Grafico 5.1 - 1986-1997 - t'uncro de asscntamenlos segundo n origem
0 Of\..:m pmJ<I<'
L L11J 1Jlll1 l 1 1 1111 ~ 1 l S.1ru l.wrna
I I I I I I I I II I I I II I I I~ I I
I I I I I I I I I
I I I I I I I I lml 11 ! !r I
I l ~ I I I I , I I
I I I I I I I
II III III I I I I I
Ccou .. I I I
1 1 l
I ? I
2 I •
0 20 •a 80 tOO 120 140 160 180
l· n111c: DutaLula Bunco de Dndos da Lu1a pel a Terra Uncspit-. I ST. 19911
300
Evidcnte que a interprctayaO desscs dados esta associada as analises feitas desde o comeyo desta lese. Esses numcros representam uma hist6ria de !uta, da qual o MST participou c participa intensamentc. Quando o govcrno federal afirma ter assentado mais de 280 mil familias, na vcrdade, cssa rcalidade foi construida predominantementc par causa de prcssoes resultantes das ocupayoes de tena, principalmente nas rcgiocs Nordeste, Centro-Oeste, Sudcstc e Sul.
Des de 1995 ate abril de 1999 for am implantados 2. 750 assentamentos com 299.323 familias. No cntanto, oconcram 1.855 ocupayocs com 256.467 familias, ou seja, proporcionalmente o numero de familias ocupantes rcprescnta 85% das familias assentadas (ver tabela 4.8).
Para as rcgiocs Nordeste e Centro-Oeste, os indices de familias ocupantes reprcsentam proporcionahnente 84% das familias asscntadas. Para as rcgiiies Sul e Sudestc, representam 273% c 175%. Ou scja: 45.845 familias lutaram pcla terra na rcgiiio Sul, enquanto o govcrno assentou 12.272. Das 44.225 familias que lutaram pela tcna na regiao Sudcste, os asscntamcntos implantados bencficiaram apenas 16.068 familias. A tnaior atuayilo do govemo acontcceu na regiilo Norte, onde asscntou c ou rcgularizou posses de 98.657 familias (vcr tabela 4.8).
Confonne o grafico 5.1, o Estado do Ceara e ondc sc localiza o maior numero de projctos de asscntamcntos criados pelo governo. Esse dado c resultado, em grande parte, de politicas do govemo cstadual c da implantayao do Projeto Cedula da Tena. Todavia, esse dado nao tcm a mesma corrcspondCncia nos Estados de Pernambuco e Minas Gerais, onde o Projeto tambcm foi implantado. Ainda, nos cstados da regiao Sudcste c Sui, onde cstao localizados 24% do total de asscntamcntos implantados ate junho de 1999, em tomo de 92% dos assentamentos foram originados de ocupayoes de terra.
Neste scntido, a !uta pel a terra impulsiona a politica de assentamentos rurais do govcrno federal. Por cssa razao c que questionamos: que reforma agraria? (Fcmandes, 1998). Chamar de rcfonna agn\ria essa realidade c interpret<\-Ia na linguagem do E<tado, das classes dominantcs (Martins, 1986c, p. 67). De fato, os assentamentos implantados sao resultados da !uta pel a tena, que tern contribuido para a cfetiva10iio da politica de asscntamcntos rurais. E a isso chamamos incorrctamcnte de rcfonna agril.ria.
Por mcio das ana!ises rcalizadas ate aqui, a questao agraria no Brasil csta Ionge de ser rcsolvida, enquanto for tratada como politicas compcnsat6rias. A !uta pcla democratiza<;flo do accsso a terra vcm crescendo como dcmonstramos nesse trabalho. A cstrutura fundi3ria ainda pcrmancce concentrada e crcsce o nUmcro de scm-terra, principalmentc pelo aumento do dcsemprcgo. Confonnc pesquisa reccntemcnte rcalizada por Gasques c Concci9ao, 1999, considcrando como publico potencial para a refonna agr3ria: pcquenos proprict3.rios 19
, arrcndat3rios, parceiros, ocupantcs e assalariados, tendo como refcrencias os dados do Censo Agropecm\rio de 199511996, es-
19. Pcqucnos proprict:irios de im(n-cis ct~ja area nfio alcancc a dimcnso'io Ja propricdadc familiar.
301
scs autores chegaram ao numero de 4.514 mil familias. A partir desse dado, os pesquisadores cstimaram a :irca necessaria para o assentamento, tendo como rcferCncia o modulo em hectares por familia, em torno de 160.000.000 de ha. Conforme a tabela 4.11, no periodo de 1979 a junho de 1999, foram assentadas 475.801 familias. Ou seja, o cquivalente a 10,5% do publico potencial, enquanto a area equivalc a 14%.
Sem a perspcctiva da realiza,ao de uma politica de reforma agraria que acelcrc esse processo, a !uta pcla terra continuara se desenvolvcndo por meio das aviies das familias scm-terra. Assim, a ocupa(:iio da terra tornou-se e se manterci wnaforma de acesso d terra no Brasil. E par meio dosprocessos de e5pacializm;iio e territorializa-9iio, as trabalhadores constroem as condi(:Oes btisicas de suas existencias, no processo deforma<;iio do campesinato brasileiro. Dessa forma, a questao agniria continua sendo urn desafio para todos n6s, c de acordo com Martins, 1994, p. 12-3: "Na verdade a questiio agrciria engole a todos e a tudo, quem sabe e quem niio sabe, quem
~ - ,... - " vee quem nao ve, quem quer e quem nao quer .
Todavia, ante aos desafios do futuro da !uta pela terra: ocupar, resistir, produzir expressa a !6gica da resislf!ncia d exclusao, a explorw:;ao e a exproprim;ao. Eo futuro da !uta nasce a cada dia nas mobiliza<;iies dos sem-tcrrinha. Essas crian(:as que estao aprcndendo, com as cxperiencias de scus pais, os significados das lutas c das resistencias, condiviies fundamentais para a constru(:ao de suas vidas.
302
BIBLIOGRAFIA
Abramovay, Ricardo. De camponeses a agricultores: Paradigmas do capitalismo agrcirio em questiio. Campinas, 1990. Tese (Doutorado). Departamento de Ciencias Sociais do Instituto de Filosofia e CiCncias Humanas da Universidade de Campinas.
Alencar, Francisco Amaro Gomes. Segredos intimas: a gestiio nos assentamentos de re.fOrma agrdria. Fottaleza, 1998. Disserta((50 (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Arnbiente). Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceari.
Alentejano, Paulo Roberto R. Reform a agrdria e pluriatividade no Rio de Janeiro: repensando a dicotomia rural-urbana nos assentamentos rurais. Rio de Janeiro, 1997. Dissettay5o (Mestrado em Ciencias em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade). Curso de P6sGradua~ao em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Alentejano, Paulo Roberto R. A Geografia das lutas pel a terra no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: inedito, 1998.
Alentejano, Paulo Roberto R. Os assentamentos rurais da BaL·wda Fluminense: um desafio d territorializw;iio do MST no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: in6dito, 1999.
Almeida, Alfredo Wagner Bemo de. A guerra dos mapas. Belem: Falango1a, 1994.
Amorim, Jaime. Estudo sabre a Zona Canavieira do Nordeste: sO a reform a agrdria pode mudara situayiio. Dassie MST. Caruaru, 1994.
ANCA (Associa~ao Nacional de Cooperayao Agricola). Programa de Apoio d Confederayiio Nacional dos Assentados e Fundo de Criidito Rural para Cooperativas e AssociayOes de Assentados. Sao Paulo, ANCA, 1990.
Andrade, Manuel Correia. A terra e o hom em no Nordeste. Sao Paulo: Brasiliense, 1964.
Andrade, Manuel Correia. Nordeste: a reforma agniria ainda e neces.wlria? Recife: Editora Guararapes, 1981.
Andrade, Manuel Correia. Lutas camponesas no Nordeste. Sao Paulo: Atica, 1986.
Antoni!, Andre Joao. Cultura e opulencia do Brasil. Sao Paulo: Edusp/ltatiaia, 1982.
Anu<lrio Brasileiro do Agribusiness. As 50 maiores cooperativas. In Gloho Rural, 1999, n" 169, p. 132-3.
Araltjo, Tftnia Bacelar ( coord. ). Descentralizayiio e reform a agrdria: wn process a em discussilo. Recife: Incra, 1998.
Asselin, Victor. Grilagem: corrupyiio e violencia em terras do Carajbs. Petr6polis: Vozes/CPT, 1982.
Azevedo, Fernando AntOnio. As Ligas Camponesas. Rio de Janeiro: Paz e Tena, 1982.
303
Barbosa, Y carim Mclgayo. 0 movimento campones de Trombas e Formoso. Revista Terru Li-vre, n° 6, p. 115-122, 1988.
Banios, Adelfo Martin. ANAP- 25 ailos de trabajo. Havana: Editora Politica, 1987.
Bastos, Elide Rugai. As Ligas Camponesas. Petr6polis: Vozes, 1984.
Batista, Luis Carlos. Brasiguaios nafronteira: caminhos e h1tas pel a liberdade. Silo Paulo, 1990. Dissertay3o (Mestrado em Geografia). Departamento de Geografta da Faculdadc de Filosofia, Letras c Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo.
Becker, Berta K., Miranda, Mariana e Machado, Lia. Fronteira amaz6nicu: questi5es sobre a gestdo do territOrio. Brasilia, Rio de Janeiro: Editora da UnB-Editora da UFRJ, 1990.
Benind., Elli. Conjlito religioso e prclxis. A a("iio politica dos acampados da Encruzilhada do Natali no e da Fazenda Anoni. Sao Paulo, 1987. Dissertayi'io (Mestrado em Ciencias daReligi3o).- Programa de P0s-Gradum;3o em Ciencias da Religiao da Pontificia Univcrsidade CatOlica de Sao Paulo.
Benjamin, CCsar et ul. A op('clo brasileira. Sao Paulo: Contraponto, 199R.
Bogo, Adcmar. Manter a esperanya. Can~·Jes da Terra. Si'i.o Paulo: MST, s.d.
Bogo, Ademar. Li\6es da !uta pel a terra. Salvador: Memorial das Letras, 1999.
Bonim, Anamaria Aim ore eta/. Movimentos sociais no campo. Curitiba: Editora da Universidade Federal do Paran8.-Ediy0cs Criar, 1987.
Brito Filho, Glauco. Mercado: as questcJes dos assentamentos da Regiiio Pdlo de Marabri (PA). Marab8., 1999. Monografia (Curso de Espccializay:lo e Extensao em Administrayao de Cooperativas). Instituto T6cnico de Capacita~ao e Pesquisa da Rcforma A!:,rritria; Universidadc de Brasilia; Universidade Vale do Rio dos Sinos.
Bruno, Regina. Senhores da terra, sen hares da guerra: a nova face politico das elites agroindustriais no Brasil. Rio de Janeiro: Forense UniversitJ.ria: UFRRJ, 1997.
Bussinger, Yanda Valad3o. Assentamentos e sem-terra no Espirito Santo: a importiJncia do papel dos mediadores. Rio de Janeiro, 1992. Dissertayfio (Mestrado em Sociologia). Programa de P6s-Gradua~ao em Sociologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Cabral, Maria do Socorro Coelho. Caminhos do gado: conquista e ocupa<;iio do Sui do Maranhiio. Sao Luiz: Secma, 1992.
Cal dart, Roseli Sal etc. Sem- Terra com poesia. Petr6polis: Vozcs, 1987.
Caldart, Roseli Salete e Schwaab, Bemadete. A educac;ao das crianc;as nos acampamentos e assentamentos. In GOrgen, Frei Sergio e Stedile, Joao Pedro. Assentamentos: a resposta econ6mica da refi.Jrma agrciria. Petr6polis: Vozcs, 1991.
Caldart, Roseli Salete. Educa<;clo em Movimento: forma<;do de educadores e educadoras do MST Petr6polis: Vozes, 1997.
Cal dart, Roseli Salete, Cerioli, Paulo Ricardo Fernandes, Bernardo Manyano. Por uma Educayao B8.sica do Campo. Texto-ba.se da Cm~ferCncia Nacional por uma Educariio Btisica do Campo. Brasilia: CNBB, MST, UNESCO, UNICEF e UnB, 1998.
Caldart, Rose\i Sa\ete. Escola C mais que escola na pedagogia do Movimento Sem-Terra. Porto Alegre, 1999. Tese ( doutorado ern Educa<;ao ). Prograrna de P6s-Gradua<;iio ern Educa<;iio, Faculdade de Educa<;iio da Univcrsidade Federal do Rio Grande do Sui.
304
Callado, AntOnio. Os indusrriais da seca e as Gal ileus de Pernambuco. Rio de Janeiro: Editora Civilizayiio Brasileira, 1960.
Camini, lsabela. 0 coridiano pedagtJgico de prqfessores e professoras de uma esco!a de assentamentos do MST: /imites e desafios. Porto Alegre, 1998. Dissertayiio (Mestrado em Educayilo). Programa de P6s-Graduayiio em Educay:fo da Universidade Federal do Rio Grande do Sui.
Campos, AntOnio Carlos. Assentamento VitOria da Uniclo: unidade_f(nniliar versus organizm;clo coletiva. Aracaju, 1997. Dissertay:lo (Mestrado em Geografia). NUcleo de P6s-Graduay:1o em Geografia, Centro de Educayiio e Ciencias Htunanas, Universidade Federal de Sergipe.
Cardoso, Ciro Flamarion S. Escravo ou campmu!s? 0 protocampesinato negro nas AmCricas. Siio Paulo: Brasiliense, 1987.
Cardoso, Femando Henrique. Pref<lcio. In Graziano Neto, Prancisco. A tragCdia da terra: o fracasso da nforma agrciria no Brasil. Silo Paulo: IGLU/FUNEP/UNESP, 1991, p. 9-14.
Cardoso, Femando Henrique. AJ/ios dobra, Brasil: proposta de gm·emo. Brasilia: s. n., 1994.
Cardoso, Fernando Henrique. Reform a agrciria: compromisso de todos. Brasilia: PresidCncia da Repl1blica, Sccretaria de Comunicayfi.o Social, 1997.
Castro, Edna M.R. de, HCbette, Jean (org.). Na trilha dos grandcs prqjetos: modernizm;tio e conflito na AmazOnia. Cademos NAEA n" 10. Belem: Universidade Federal do Para: Nltcleo de Altos Estudos Amaz6nicos, 1989.
Castro, Hebe Maria Mattos de. Ao sui da HistOria: lavradores pobres na crise do traha/ho escravo. Sao Paulo: Brasiliense, 1987.
Chayanov, Alexander Vasilevich. The theory of peasant economy. Illinois: The American Economic Association, 1966. Editado por Thorner, Daniel; Kerblay, Basile e Smith, R.E.F.
Chonchol, Jacques. Sistemas agrarios en AmCrica Latina: de Ia etapa prehispcinica a Ia modernizaci6n conservadora. Santiago: Fondo de Cultura Econ6mica, 1994.
Christoffoli, Pedro Ivan. EficiJncia econ6mica e gestiio democrcitica nas cooperativas de prodw;iio coletiva do MST. Siio Leopoldo, 1998. Monografia (Curso de Especializa<;Jo Superior em Cooperativismo). Centro de doc_umentayao e Pesquisa-CEDOPE, Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
Cintra, Maria da Conceiyiio Barbosa. A trajetOria do Movimento dos Trahalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Sergipe: 1985-1997. Recife, 1999. Disscrtayao (Mestrado em Scrviyo Social). Centro de Ciencias Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco.
Cobra, Amador Nogueira. Em wn recanto do sertiio paulista. Siio Paulo: Tipografia Hennyes, 1923.
Coelho, Maria CClia Nunes. A polemica ocupayiio dos sem-tcrra na regiiio dos Caraj<ls. In Per.spectivas do desenvolvimento sustentdvel (wna contribui~'lio para a AmazOnia). Ximcncs Tereza (org.). Belem: Universidade Federal do Parft.: Nltcleo de Altos Estudos Amaz6nicos-NAEA: Associayiio de Universidades Amaz6nicas, 1997, p. 495-530.
Comissiio Pastoral da Terra. ffistOria da Comissao Pastoral da Terra (MS) 1978-1992. Cam-po Grande: CPT, 1993.
CPT. A Luta pel a terra: a Comissao Pastoral da Terra 20 a nos depois. Siio Paulo: Paulus, 1997.
CPT. Assassinatos no campo- Brasi/1985-1998: vio/Jncia e impunidade. CPT: ltaici, 1999.
Confederayiio das Cooperativas de RefOnna Agdria do Brasil (Concrab). Concrah: quatro anos organizando a cooperm;:iio. Siio Paulo: Concrab, 1996.
305
Confedera~:io das Cooperativas de Reforma Agniria do Brasil (Concrab). Sistema cooperativista dos assentados em nUmeros. S:io Paulo: Concrab, 1997a.
Confedera~:io das Cooperativas de Reforma Agniria do Brasil (Concrab). Sistema Cooperativista dos Assentados. Caderno de Cooperw;iio Agricola n "5. S:io Paulo: Con crab, l997b.
Confedera~:io das Cooperativas de Reforma Agr3ria do Brasil (Concrab). Sistema de Cn!dito Cooperativo. Caderno de Coopera9iio Agricola no 8. Silo Paulo: Concrab, 1998.
Confederac;:io das Cooperativas de Refonna Agr3ria do Brasil (Concrab). Organicidade e nUcleos de base. S:io Paulo: Concrab, s.d.
Consulta Popular. Projeto popular para o Brasil. Consulta Popular: Silo Paulo, s.d.
Cooperativa Central dos Assentados do Rio Grande Sui (Coceargs). A vida no assentamento. Porto Alegre: Coceargs, 1997.
Correia, Jacinta Castelo Branco. Comunica9iio e capacitw;iio. Brasilia: Jattermund, 1995.
Cortez, C:icia; Silva, Edson; Taques, Luiz. A travessia do rio dos PGssaros. Bela Horizonte: s.n., 1985.
Cortez, C3cia. Brasiguaios: OS refugiados desconhecidos. sao Paulo: Brasil Agora, 1993.
Costa, Gileaide Silva. MLT: 0 Movimento de Luta pel a Terra: um movimento em movimento. Camp ina Grande, 1996. Dissertac;ao (Mestrado em Sociologia). Universidade Federal da Paraiba.
Cota, Raymundo Garcia. Carajiis: a invasiio desarmada. Petr6po1is: Vozes, 1984.
Cunha, Euclides da. Os Sertoes. Sao Paulo: Abril Cultural, 1982.
DATALUTA: Banco de Dados da Luta pela Terra. Revista do NUcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma AgrG:ria (NERA}, Sl!rie Pesquisa, n° I. Presidente Prudente: NERA, no prelo.
Dantas, Alexsandro Galena Ara~jo. Jmagens da terra: par uma poi!tica da !uta politica. Natal, 1996. Disserta~ao (Mestrado em Ciencias Sociais). Centro de Ciencias Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Dal Chiavon, Francisco. Os problemas econ6micos das Cooperativas de Produ9iio Agropecuciria (CPAs)- nos assentamentos de reforma agrciria. Chapec6, 1999. Monografia (Curso de Especializa~ao e Extensao em Administrac;ao de Cooperativas (CEACOOP). Instituto T6cnico de Capacitac;ao e Pesquisa da Reforma Agnlria. Universidade de Brasilia-Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
Davatz, Thomas. Mem6rias de wn colona no Brasil. Sao Paulo: Edusp-Itatiaia, 1980.
De Lannoy, Christophe. A tecnologia e as associar..-·Oes de cooperac;iio agricola em assentamentos de reforma agrGria. Porto Alegre, 1990. Programa de P6s-Gradua~3o em Sociologia Rural, Universidade Federal do Rio Grande do Sui.
Dellazeri, Dirlete. 0 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Mato Grosso do Sui (1984 a 1993). ljui, 1994. Monografia (Curso de Historia). lnstituto de Filosofia e Ciencias Humanas da Universidade de Ijui.
Derengoski, Paulo Ramos. Os rebeldes do Contestado. Porto Alegre: Tche Editora, 1987.
OESER. Banco da Terra: ancilise econ6mica e exemplos dejinanciamentos. Boletim DESER, Edi<;iio Especial, 1999.
306
Dias, Luzimar Nogueira. Massacre em Ecoporanga: lutas camponesas no Espirito Santo. Vit6ria: Cooperativa dos Jornalistas do Espirito Santo, 1984.
D'lncao e Mello, Maria da Conceic;ao. 0 b6ia-fria: acumular;iio e mi.w?ria. Petr6polis: Vozes, 1975.
D'Incao, Maria da Conceic;ao. Roy, Gerard. N6s cidadiios: aprendendo e ensinando democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
Donato, Hernani. Chiio Bruto. sao Paulo: Melhoramentos, 1969.
Duarte, Elio Garcia. Do mutiriio d ocupar;iio de terras: man(festar;Oes camponesas contempordneas em Goiiis. Sao Paulo, 1998. Tese (Doutorado em Hist6ria). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo.
Eckert, Cordula. Movimento dos Agricultores Sem-Terra no Rio Grande do Sui. Itaguai, 1984. Dissertac;ao (mestrado em Ciencias de Desenvolvimento Agricola),- Institute de Ci@ncias Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Emmi, Marilia. A oligarquia do Tocantins eo dominio dos castanhais. Be1i:m: Centro de Filasofia e Ciencias l-lumanas- NAEA- Universidade Federal do Para, 1987.
Engels, Friedrich. A situar;iio da classe trabalhadora na Inglaterra. Sao Paulo: Global, 1985.
Fabrini, Joao Edmilson. A posse da terrae o sem-terra no sui de Mato Grosso do Sui: o caso ltaquirai. Presidente Prudente, 1995. Dissertac;ao (Mestrado em Geografia). Curso de P6s-Graduac;ao em Geografia da Faculdade de Ci@ncias e Tecnologia- Unesp. Presidente Prudente.
F AO/PNUD/MARA. Principals indicadores s6cio-econ6micos dos assentamentos de reforma agriiria. Brasilia, 1992.
Farias, Marisa de Fcitima Lomba de. 0 acampamento America Rodrigues da Silva: esperanr;as e desilusOes na memOria dos caminhantes que lutam pel a terra. Araraquara, 1997. Dissertac;ao (Mestrado em Sociologia). Programa de P6s-Graduac;ilo da Faculdade de Ci@ncias e Letras da Universidade Estadual Paulista.
Franco, Mariana C. Pantoja. Xagu: de sem-terra a assentado. Rio de Janeiro, 1992. Dissertac;ilo (Mestrado em Sociologia). Institute de Filosofia e Ciencias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Feliciano, Carlos Alberto. A geografia dos assentamentos rurais no Brasil. Sao Paulo, 1999. Monografia (Bacharelado em Geografia). Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo.
Fernandes, Bernardo Manc;ano. MST: formar;iio e territorializar;iio. Silo Paulo: Hucitec, 1996a.
Fernandes, Bernardo Manc;ano. Refonna Agraria e modernizac;ao no campo. In Terra Livre, n" 11-12. Sao Paulo: AGB, !996b, p. 153-175.
' Fernandes, Bernardo Manc;ano. Por uma escola do campo. In Revista Agora: Santa Cruz do Sui, v. 3, n" 2, p. 35-46, jul/dez, !997a.
Fernandes, Bernardo Manc;ano. A judiciarizac;ao da I uta pela reforrna agrciria. In GEOUSPRevista de p6s-graduar;iio em Geografia. Sao Paulo: Departamento de Geografia da FFLCH-USP, !997b, p. 35-9.
Fernandes, Bernardo Manc;ano. Que Reforma Agrciria? In A questiio agriiria na virada doseculo. Vol. II- Mesas Redondas. XIV Encontro Nacional de Geografia Agrciria. Presidente Prudente, 1998.
307
Fernandes, Bernardo Manyano. La ten·itorializaci6n del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra en Brasil. In Maya, Margatita L6pez (org.). Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en America Latina en los aiios de ajuste. Caracas: Nueva Sociedad, 1999.
Ferreira, Angela Duarte Damascene. Movimcntos Sociais Rurais no Parana: 1978-1982. In Bonim, Anamaria AimorC eta!. J.\1ovimentos sociais no campo. Curitiba: Editora da Universidade Federal do Paran:i!Edi<;oes Criar, 1987, p. 9-50.
Ferreira, AurClio Buarque de Holanda . . Novo AurClio sCculo XXI. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
Ferreira, Eudson de Castro et alii. "A reconstruc;ao dos assentamentos rurais em Mato Grosso". Relat6rio Projcto Os impactos regional.~· dos assentamentos mrais: dimensOes sociais, politicas, ecom5micas e ambientais. Convenio FINEP/CPDA/UFRJ. Cuiab3., 1997.
Ferreira, Eudson de Castro et alii. A reconstruy:io dos assentamentos rurais em Mato Grosso. In Medeiros, Leoni !de Servolo e Leite, Sergio ( org.) A.format;iio dos assentamentos rurais do Brasil: processus sociais e politicas ptlblicas. Pmio Alegre/Rio de Janeiro: Editora da Universidade/UFRGS/CPDA,l999, p. 197-232.
ferreira, Vera e Amaury, Antonio. 0 espinho do quip6: Lampiiio, a hist6ria. S:io Paulo: Oficina Cultural Monica Buonfiglio, 1997.
Figueira, Ricardo Rezende. Rio Maria: canto da terra. Petr6polis: Vozcs, 1992.
Figueira, Ricardo Rezende. A justi<;a do lobo: posseiros e padres do Aragua fa. Petr6polis: Vozes, 1986.
f'onnam, Shepard. Camponeses: .\"tta participm;Go no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
FOrum Nacional de Refonna Agr<iria. Re.fOrma agrriria para democratizar o acesso a terra. Mimeo, 1999.
Franco, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. Sao Paulo: Editora da Unesp, 1997.
Funari. Pedro Paulo de Abreu. Arqueologia de Palmares: Sua contribuic;iio para o conhecimento da hist6ria da cultura afro-americana. In Reis, Joao Jose e Gomes, Fhivio dos Santos (org.). Lihcrdade par um.fio: his(()ria dos quilomhos no Brasil. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 26-51.
Gabinete do Ministro Extraordin<irio da Politica Fundi3.ria. Ci>dula da Terra. Brasilia: s.d.
Gabinete do Ministro Extraordin3.rio da Politica Fundi<lria. A nova reforma agnlria. Versfi.o preliminar. Brasilia, 1999.
Gaiger, Luiz Inilcio Germany eta!. A Economia Solid3.ria no RS: viabilidadc e perspectivas. Cadernos CEDOPE- Serie Movimentos Sociais e Cultura, no 15. Universidade do Vale do Rio dos Sinos- Centro de Documenta~ao e Pesquisa- CEDOPE: Sao Leopoldo, 1999.
Garcia Jr., Afrfrnio. 0 Sui: caminho do ro('ado: estratt?gias de reprodu~·ao camponesa e transformat;Go social. Sao Paulo: Marco Zero; Brasilia: Edit ora da UnB; MCT -CNPq, 1989.
Gasques, Jose Garcia; Concei~iio, JUnia Cristina P.R. da. A demanda de terra para reform a agr6ria no Brasil. Rio de Janeiro: www.dataterra.org.br, 1999.
Gehlen, I val do. Uma estratCgia camponesa de conquista da terrae o Estado: o caso dafazenda Sarandi. Porto Alegre, 1983. Dissertayiio (Mestrado em Sociologia). Programa de P6s-Graduay:io em Sociologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sui.
308
Gohn, Maria da GlOria. A crise dos movimentos populares dos anos 90. In Movimentos sociais e Edzu:acJio. Sfio Paulo: Cortez Editora, 1992.
Gohn, Maria da GlOria. Teoria dos movimentos sociais. Sao Paulo: Loyola, 1997.
Gomes, I ria Zanoni. 195 7: a revolt a dos posseiros. Curitiba: Edi~Oes Criar, 1986.
Gomes, I ria Zanoni. A recriw;iio da vida como obra de arte: 110 assentamento, a desconstru~iio/reconstnt('iio da subjetividade. Siio Paulo, 1995. Tese (Doutorado em Sociologia). Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras e Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo.
GOrgen, Frei Sergio. 0 massacre da Fazenda Santa Elmira. Petr6polis: Vozes, 1989.
G6rgen, Frci SCrgio. UmafOice Ionge da terra. Pctr6polis: Yozes, 1991.
G6rgen, Frci SCrgio e Stedile, Joilo Pedro. Assentamentos: a re~posta econ6mica da reforma agrdria. Petr6polis: Vozes, 1991.
GOrgen, Frei SCrgio. A resistJncia dos pequenos gigantes: a !uta e a organiza~iio dos pequenos agricultores. Petr6polis: Vozes, 1998.
Govemo do Estado do Rio de Janeiro. Levantamento histOrico dos conflitos de terra no Estado do Rio de Janeiro (1950-1990). Serie Documentos: Estudos e projetos sabre a estrutura fundi<lria- conflitos. Secretaria de Estado de Assuntos Fundi<lrios e Assentamentos Humanos. Rio de Janeiro, 1991.
Graziano Neto, Francisco. A verdade da terra: critica d reforma agrciria distrihrttivista. Sao Paulo, 1989. Tese (Doutorado em Administrayiio). Curso de POs-Graduayao da Fundayiio Getl1lio Vargas.
Graziano Neto. Francisco. A tragi!dia da terra: o fracasso da reform a agrdria no Brasil. Sao Paulo: IGLU/FUNEP/UNESP, 1991.
Graziano Neto, Francisco. Qual reforma agrizria? Terra, pobreza e cidadania. Sao Paulo: Gera,ao Editorial, 1996.
Graziano da Silva, JosC. i\1odernizw;do dolorosa. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982.
Grynszpan, Mil. rio (coord.) Levantamento histOrico dos conflitos de terra no Estado do Rio de Janeiro (1950-1990). Rio de Janeiro: Secretaria de Estado de Assuntos Fundi<lrios e Assentamentos Humanos, 1991.
Grzybowski, Candido. Caminhos e descaminhos dos movimentos sociais no campo. PctrOpolis: Vozes, 3" cd., 1987.
GuimarJ.cs, Alberto Passos. Quatro sixulos de lattjUndio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968.
Haesbaert, RogCrio. Des-territorializa~ci.o e identidade: a rede "gmlcha "no Nordeste. Nite-roi: EDUFF, 1997.
Hebette, Jean (org.). 0 cerco esta sejixhando. Petropolis: Yozes, FASE, NAEA, 1991.
Hobsbawm, Eric. Rebeldes primitivos. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.
Hobsbawm, Eric. Pessoas extraordinizrias. Sao Paulo: Paz e Terra, 1998.
Ianni, Octavia. Ditadura e agricultura. Rio de Janeiro: Civiliza<;iio Brasi1eira, 1986.
IBGE. Brasil: uma visiio geogrizjica dos anos 80. Rio de Janeiro: IBGE, 1988.
IBGE. Geografia do Brasil. Regiiio Norte. Vol. 3. Rio de Janeiro: IBGE, 1991.
INCRNCRUB/UnB. Re/atcirio final do I Censo do Reform a Agraria do Brasil. Brasilia, 1996.
309
Iokoi, Zilda Gricoli. Igreja e camponeses: Teologia da Libertac;iio e movimentos sociais no campo: Brasil e Peru, 1964-1986. Sao Paulo: Hucitec, 1996.
Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica. Censo Agropecudrio 1970. Rio de Janeiro: IBGE, 1975.
lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Censo Agropecudrio 1975. Rio de Janeiro: IBGE, 1979.
lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Censo Agropecuilrio 1980. Rio de Janeiro: IBGE, 1984.
Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica. Censo Agropecudrio 1985. Rio de Janeiro: IBGE, 1991.
lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. Censo Agropecwirio 1995-1996. Rio de Janeiro: IBGE, 1998.
Institute de Terras do Estado de Sao Paulo. Retrato da Terra 97/98: Perfil socioecon6mico e balanyo da produyao agropecu3ria dos assentamentos rurais do Estado de Sao Paulo. Cadernos ITESP. n" 9. Sao Paulo: ITESP, 1998.
Institute de Terras do Estado de Sao Paulo. Construindo o futuro: politicas de investimentos em assentamentos rurais, seus custos e resultados. Cadernos JTESP, no 10. sao Paulo: lTESP, 1998.
Lacoste, Yves. A Geograjia. In A Filosofia das Ciencias Sociais de 1860 aos nossos dias. Chfttelet, Fran10ois (org.). Rio de Janeiro: Zahar, 1973.
Kautsky, Karl. A questiio agraria. Sao Paulo: Nova Cultural, ( 1899) 1986.
Kotschol Ricardo. 0 massacre dos posseiros: conjlitos de terras no Araguaia - Tocantins. Sao Paulo: Brasiliense, 1982.
Kotscho, Ricardo. Serra Pelado: umaji?rida aberta na selva. Sao Paulo: Brasiliense, 1984.
Lefebvre, Henri. The Production of Space. Cambridge, Massachusetts: Blacwell Publishers, 1991 a.
Lefebvre, Henri. L6gica Formal/L6gica Dia!etica. Rio de Janeiro: Editora Civilizayao Brasi-leira, 1991 b.
Lefebvre, Henri. A cidade do capital. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 1999.
Leite, Jose Ferrari. A ocupO<;iio do Pontal do Paranapanema. Sao Paulo: Hucitec, 1998.
Lenin, Vladimir Ilich. 0 desenvolvimento do capitalismo na Rtl.ssia. Sao Paulo: Nova Cultu-ral, (1899) 1985.
Leroy, Jean-Pierre. Uma chama na AmazOnia. Petr6polis: Vozes/Fase, 1991.
Lerrer, Debora. 0 sam do sili!ncio nas versOes da prac;a. Sao Paulo, 1998. Dissertayao (Mestrado em Jornalismo). Escola de Comunicayao e Artes da Universidade de Sao Paulo.
Lisboa, Teresa Kleba. A !uta dos sem-terra no Oeste Catarinense. Florian6polis: co-ediyao Editora da UFSC/MST, 1988.
Lopes, Eliano Sergio Azevedo (coord.) eta!. Na linha do tempo: um olhar sobre os assentamentos rurais do Estado de Sergipe. Relat6rio do Projeto de Pesquisa "1mpactos regionais dos assentamentos rurais: dimens6es econ6micas, politicas e sociais. Convenio FINEP/ CPDA/UFRRJ. Aracaju, 1997.
310
Luft, Celso Pedro. Minidicionario LUFT. Sao Paulo: Atica, 1998.
Macdonald, Jose Brendan. Os conjlitos de terra na Paraiba, 1972-1995. Recife, 1995. Tcse (Doutorado em Hist6ria). Programa de POs-Graduar;::io da Universidade Federal de Pernambuco.
Machado, Antonio Maciel Botelho. A prodw;iio do saber sabre a jloresta pelos assentados na fazenda lpanema, !per6 (SP). Piracicaba, 1998. Dissertayiio (Mestrado em CiSncias Florestais). Escola Superior de Agricultura da Universidade de Silo Paulo.
Marcon, Tclmo. Acampamento Natalino. Passo Fundo: Ediupf, 1997.
Marcos, VaU:ria de. Comunidade Sinsei: (u)topia e territorialidade. Sao Paulo, 1996. Dissertayiio (Mestrado em Geografia). Faculdade de Filosofia, Letras e CiSncias Humanas da Universidade de Sao Paulo.
Martin, Jean Yves. Le MST-RN (Mouvement des Sans-tene dans le Rio Grande do Norte) 1990-1996, deploiement geographique d'un mouvement sociospatial rural: nouvelles pratiques territoriales et mutations identitaires. In Identiff!s et Territorialiti!s dans le Nordeste Brt?silien: le cas du Rio Grande do Norte. U.F.R. de Geographie-Sciences Sociales, Universite de Bordeaux lll- Michel de Montaigne, 1998.
Martine, George. Exodo rural, concentrayao urbana e fronteira agricola. In Martine, George e Garcia, Ronalda Coutinho (org.). Os impactos sociais da modernizar;:iio agricola. Silo Paulo: Editora Caetes, 1987, p. 59-79.
Martins, Edilson. NOs do Araguaia. Rio de Janeiro: Graal, 1978.
Martins, Edilson. AmazOnia, a Ultimafronteira. Rio de Janeiro: Editora Codecri, 1982.
Martins, Eduardo. Com todas as tetras. Sao Paulo: 0 Estado deS. Paulo, 1999.
Martins, Jose de Souza. Os camponeses e a politica no Brasil. Petr6polis: Vozes, 1981.
Martins, Jose de Souza. A militarizar;:iio da questiio agniria. Petr6polis: Vozes, 1984.
Martins, Jose de Souza. 0 cativeiro da terra. Sao Paulo: Hucitec, 1986a.
Martins, Jose de Souza. A reforma agrilria e os limites da democracia na "Nova RepUblica". Sao Paulo: Hucitec, 19R6b.
Martins, Jose de Souza. Niio h6 terra para se plantar neste veriio. Petr6polis: Vozes, 1986c.
Martins, Jose de Souza. Expropriar;:ao e violi?ncia. Sao Paulo: Hucitec, 1991.
Martins, Jose de Souza. A chegada do estranho. Sao Paulo: Hucitec, 1993.
Martins, Jose de Souza. 0 poder do atraso. Sao Paulo: Hucitec, 1994.
Martins, Jose de Souza. Fronteira: a degradarJio do outro nos conjins do humano. Sao Paulo: Hucitec, 1997a.
Martins, JosC de Souza. A questao agnlria brasileira eo papel do MST. In A reform a agr6ria e a /uta do MST(Stedile, Joao Pedro. [org.]). Petr6polis: Vozes, l997b.
Marx, Karle Engels, Friedrich. 0 Manifesto Comunista. Sao Paulo: Global Editora, 1987.
Marx, Karl. 0 capital. Vol. 5. Sao Paulo: Nova Cultural, 1988.
Medeiros, Leonilde Servolo de. Hist6ria dos movimentos sociais no campo. Rio de Janeiro: Fase, 1989.
Medeiros, Leonilde eta/. Assentamentos rurais: uma visiio multidisciplinar. Sao Paulo: Editora da Unesp, 1994.
31 1
Medeiros, Lconilde SCrvolo e Leite, SCrgio (org.). Aformm;clo dos assentamentos rurcJis do Brasil: processos sociais e politicas prlblicas. Porto Alegrc/Rio de Janeiro: Editora da Universidade/UFRGS/CPDA, I 999.
MCliga. Laerte Dornclcs c Janson, Maria do Carma. Encruzilhada do Natahno. Porto Alegre: Yozes, 1982.
Melo Neto, Joao Cabral de. Mot1e e Vida Severina. In Poe.Yias Completas. Rio de Janeiro: Jose Olympio Editora, I 979.
Mine, Carlos. A reconquista da terra. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1985.
Molina, MOnica Castagna. A refonna agniria eo Movimento dos Trahalhadores Rurais Sem- Terra: a reinvenf,-·ilo dofilturo. Campinas, 1998. Disserta9ao (Mestrado em Sociologia). Departamento de Sociologia do Instituto de filosofia e Ciencias Humanas da Universidadc de Campinas.
Monbeig. Pierre. Pioneiros efUzendeiros de 5'Go Paulo. Sao Paulo: Hucitec-Polis, 1984.
Momcsso, Mariana de Abreu. 0 MST na !uta pela terra em Pernambuco e afhrmm;iio do assen ramen to Ourives-Palmcira. Sao Paulo, 1997. Monografia (Gradua<;ao em Geografia). Departamento de Geografia, Faculdade de Pi1osofia, Letras e CiCncias Humanas da Universidadc de Sao Paulo.
Moniz, Edmundo. Canudos: a !uta pela terra. Sao Paulo: Global Editora, 1984.
Morais, Clodomir Santos de. Elementos sabre a teoria da organizayao. Caderno5; de Forma<-·cio, n° II. Siio Paulo: MST, 1986.
Morais, Clodomir Santos de. HistOria das Iigas camponesas do Brasil. Brasilia: Iattermund, 1997.
Moreira, Emilia. Por wn pedac;o de chiio. Vols. I e II. Joi'io Pessoa: Editora da UFPB, 1997.
Moreira, Emilia. Capitulos de Geograjia AgrGria da Paraiba. Joi'io Pessoa: Editora da UFPB, I 997.
Morcyra, SCrgio Paulo. As novas caras da violencia no campo brasileiro. In Conjlitos 110 campo- Brasil 97. Goiiinia: CPT, I 998, p. 7-2 I.
Motta, M<lrcia Maria Menendes. Nas.fronteiras do poder: cm~flito de terrae direito d terra no Brasil do st?culo XIX Rio de Janeiro: Vicio de Leitura: Arquivo Pl1blico do Estado do Rio de Janeiro, I 998.
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Cam;Oes da Terra. Sao Paulo: MST, s.d.
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Construindo o caminho. Sao Paulo: MST, I 986a.
MST. Assassinatos no campo: crime e impunidade: 1964-1985. MST: Sao Paulo, 1986b.
MST. Normas Gerais do MST. Sao Paulo: MST, 1989a.
MST. Plano Nacional do MST: 1989-1993. Caderno de Formw;iio, n" I 7. Sao Paulo: MST, I 989b.
MST. 0 que queremos com as esco\as dos assentamentos. Caderno de Formac;iio. n° 18. Sao Paulo: MST, I 99 I.
MST. Como fazer a escola que queremos. Caderno de Educac;iio, n° 1. S.L: MST, 1992.
312
MST. CalendJri0 histOrico dos trabalhadores. Cademo de Formm;iio, no 19. Sao Paulo: MST, !993a.
MST. A cooperac;ao agricola nos assentamentos. Cademo de Format:;iio, n" 20. Sao Paulo: MST, 1993b.
MST. Vamos organizar a nossa base. Sao Paulo: MST, 1995a.
MST. Programa de Reforma Agdria. Sao Paulo: MST, Cademo de Forma~·iio, n° 23. 1995b.
MST. Mistica: uma necessidade no trabalho popular e organizativo. Caderno de Fornuu;:iio. no 27. Sao Paulo: MST, 1998a.
MST. Escola Itinerante em Acampamentos do MST. Cole~·iio Fazendo Escola. Sao Paulo: MST, !998b.
MST. Campanha de Construyiio da Escola Nacional do MST. Caderno de Forma(,'iio, 11° 29. Sao Paulo: MST, 1998c.
MST. Crianyas em Movimento: as mobilizm;Oes infantis no MST. Coler,:iio Fazendo £scala. Porto Alegre: Setor de Educayiio- MST, 1999.
Navarro, Zander. Assentamentos rurais,fOrmatos organi::.acionais e desempenho produtivo ~o caso do assentamento Nova Ramada. Pm1o Alegre: mimeo., 1994.
Navarro, Zander (org.). Politica. protesto e cidadania no campo. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sui, 1996.
Navarro, Zander. Scte teses equivocadas sobre as lutas sociais no campo, o MST e a refonna agr3ria. InA refOrma agniria e a !uta do A1ST(Stedile, Joao Pedro [org.]). PetrOpolis: Yo~ ZCS, 19lJ7.
Navan·o, Zander. 0 prqjeto~piloto ··cedula da Terra"- comentUrios sobre as condif,'des sociais e polftico~institucionais de seu desenvolvimento recente. Porto Alegre: Parecer e1aborado a partir de solicitayiio da representayao brasileira do Banco Mundial. 1998.
Navarro, Zander; Moraes, Maria Stela; Menezes, Raul. Pequena HistOria dos asscntamentos mrais no Rio Grande do Sui: fmmac;ao e desenvo1vimento. In Medeiros, Leonilde Servo~ lo; Leite. Sergio. AfOrm{u;·do dos assentamentos rurais no Brasil: processos sociais e politicas p1fblicas. Porto Alegre/Rio de Janeiro: Editora da Univcrsidade Federal do Rio Grande do Sui/CPDA, 1999.
Nogueira, Adriano. Sujeitos irreverentes. Campinas: Papirus, 1993.
Norder, Luiz Antonio Cabello. Assentamentos rurais: casa, com ida e trahalho. Campinas, 1997. Disserta~Jo (Mestrado em Socio1ogia). Departamento de Sociologia do 1nstituto de Filosofia e CiCncias Humanas da Universidade de Campinas.
Novicki, Victor de Araltjo. Recuperando o individuo no movimento dos sem~terra: o caso t1u~ minensc ( 1983-1987). Estudos Sociedade e Agricultura, n" 5, p. 58-72, 1995.
Novicki, Victor de Araltjo. Gm·erno Brizola, movimentos de ocupac;iio de ten·as e assenta~ mentos rurais no Rio de Janeiro(! 983~1987). In Medeiros, Leoni1de eta!. Assentamentos ntrais: uma visiio multidisClj>linar. Sao Paulo: Editora da Unesp, 1994, p. 69~86.
Oliveira, Ariovaldo Umbclino de Agricultura e indUstria no Brasil. In Boletim Paulista de Ge~ ografia, no 58. sao Paulo: Associayiio dos GcOgrafos Brasileiros, 1981.
Oliveira, Ariovaldo Umbehno de. Modo capitalista de prodru;iio na agricultura. Sao Paulo: Atica, 1986.
313
Oliveira, Ariovaldo Umbelino de. AmazOnia: monop6/io, expropriar;iio e conjlitos. Campinas: Papirus, 1987.
Oliveira, Ariovaldo Umbelino de. lntegrar para entregar: politicas pitblicas e AmazOnia. Campinas: Papirus, 1988.
Oliveira, Ariovaldo Umbelino de. A agricultura camponesa no Brasil. sao Paulo: Contexte, 199 I.
Oliveira, Ariovaldo Umbelino. Agricultura brasileira: as transformar;i5es recentes. Sao Paulo: SPM/CEM, 1994.
Oliveira, Ariovaldo Umbelino de. A geograjia das lutas no campo. Sao Paulo: Contexte, 1996.
Oliveira, Ariovaldo Umbelino de. Afronteira amazOnica mato-grossense: grilagem, con·upc,:iio e violtncia. Sao Paulo, 1997. Tese (Livre-Docencia). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo.
Oliveira Filho, Moacyr. Rio Maria: a terra da morte anunciada. Sao Paulo: Edit ora Anita Garibaldi, 199 I.
Oliveira, Neilza Barreto de. Lutando pel a terra: abrindo miio de um poder alternativo. Aracaju, 1996. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Nllcleo de P6s-Graduayao em Geografia, Centro de Educayao e Ci@ncias Humanas, Universidade Federal de Sergipe.
Paiva, Vanilda (org.).1greja e questao agraria. Sao Paulo: Loyola, 1985.
Panini, Carmela. Reform a agrdria dentro e fora da lei. Sao Paulo: Ediy6es Paulinas, 1990.
Partido dos Trabalhadores. Politica para o setor sucroalcooleiro ji·ente a crise: uma proposta alternativa para o Estado de Sao Paulo. Sao Paulo: Diret6rio Regional do PT, 1999.
Pasquetti, Luis Antonio. A empresa social no contexto do terceiro setor: urn estudo do MST Sao Paulo, 1998. Dissertayao (Mestrado em Administrayao). Programa de estudos P6sGraduados da Pontificia Universidade Cat6lica de Sao Paulo.
Paulilo, Maria lgnez Silveira. Terra a vista ... e ao Ionge. Florian6polis: Editora da UFSC, 1996.
Pavan, Dulcin6ia. As Marias Sem-Terras: Trajet6ria e experitncias de vida de mulheres assentadas em Promissao (SP) 1985/1996. Sao Paulo, 1998. Dissertac;ao (Mestrado em Hist6ria Social). Programa de Estudos P6s-Graduados da Pontificia Universidade Cat6lica de Sao Paulo.
Perdigao, Francinete e Bassegio, Luiz. Migrantes amazbnicos. RondOnia: a trajetOria da ilu-sao. Loyola: Sao Paulo, 1992.
Pereira, Carlos Olavo da Cunha. Nas terras do rio sem dono. Rio de Janeiro: Record, 1990.
Pinto, LUcio Flivio. AmazOnia: no rastro do saque. Sao Paulo: Hucitec, 1980.
Pires, Ariel Jose. Assentamentos de sem-terra em Guarapuava: hist6rico e cotidiano. Assis, 1996 (Dissertayao em Hist6ria). Faculdade de Ciencias e Letras da Universidade Estadual Paulista.
Pizetta, Adelar Joao. A questiio agrGria eo MSTno Espirito Santo. Sao Mateus: MST, 1999.
Poli, Odilon Luiz. Aprendendo a andar com as pr6prias pernas: o processo de mobilizar;iio dos movimentos sociais do Oeste Catarinense. Campinas, 1995. Disserta9ao (Mestrado em Educayao). Faculdade de Educayao da Universidade de Campinas.
314
Porto, Mayla Yara. 0 Decreta que extinguiu o INCRA. In Revista Reform a Agrilria, n° 3, ana 17. Campinas: Associayao Brasileira de Reforma Agr3ria, 1988.
Prado JUnior, Caio. Hist6ria econ6mica do Brasil. Si'io Paulo: Brasiliense, 1974.
Prezia, Benedito e Hoomaert, Eduardo. Esta terra tinha dono. Sao Paulo: FTD, 1989.
Pureza, Jose. MemOria camponesa. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982.
Raffestin, Claude. Par uma Geografia do Poder. Sao Paulo: Editora Atica, 1993.
Ramalho, Cristiane Barbosa: Quem si'io as sem-terra? In Revista do NUc/eo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrilria, n° 1. Presidente Prudente, 1998, p. 59-71.
Ramos, Ana Valeria. A !uta pela terrae a !uta pela reforma agrdria: o Projeto de Assentamento Pirituba II -Area III. Sao Paulo, 1996. Trabalho de Gradua<;ao Individual (Geografia). Departamento de Geografia da Faculdade de Fi1osofia, Letras e Ciencias Humanas da Universidade de Si'io Paulo.
Reis, Joao Jose e Gomes, Fl<lvio dos Santos (org.). Liberdade par umfio: hist6ria dos qui/ambos no Brasil. Si'io Paulo: Companhia das Letras, 1996.
Reydon, Bastiaan; Escobar, Hector H.; Berta, James Luiz. Os assentamentos rurais e seu impacto nas economias locais: o caso do municipio de Abelardo Luz (SC). Campinas, 1999. [email protected]
Reydon, Bastiaan; Plata, Ludwig Agurto. Evolw;iio recente do prec;o da terra rural no Brasil e os impactos do Programa da Ci!dula da Terra. Datatena, 1999. www.datatena.org.br/ Documentos/Bastiaan.htm
Ribeiro, Darcy. 0 povo brasileiro. Si'io Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Ribeiro, Nelson de F. Caminhada e esperanqa da refurma agrilria. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
Ricci, Rud:i. Terra de ningut?m: representac;iio sindical rural no Brasil. Campinas, Editora da Unicamp, 1999.
Ricci, Rud:i. Novas movimentos sociais: uma nova concepc;iio de espac;o e gestiio pUblica. Belo Horizonte: www.cpp.com. br, 1999.
Rodriguez, Raimundo. CPA: 100 preguntas y rejpuestas. Havana: Editora Politica, 1984.
Rojas, Niurka Perez eta/. Transformaciones en el agro cubano durante Ia di!cada de los ai'ios 90. Presentaci6n para el V Congreso de ALASRU. Chapingo, Mexico, 1998, mimeo.
Ruckert, Aldomar Amaldo. A produc;iio capitalista do espac;u: construc;iio, destruit;iio ereconstruc;iio do territOrio do plana/to rio-grandense. Rio Claro, 1992. DissertayJo (Mestrado em Geografia). Institute de Geoci€:ncias e Ci€:ncias Exatas, Universidade Estadual Paulista.
Ruckert, Aldomar Arnalda. A trajet6ria da terra: ocupac;iio e colonizac;iio do centro-norte do Rio Grande do Sui: 1827-1931. Passo Fundo: Ediupf, 1997.
Ruscheinsky, Aloisio. Terrae politico: o Movimento dos Trahalhadores Sem-Terra no Oeste de Santa Catarina. sao Paulo, 1989. Dissertayao (Mestrado em CiSncias Sociais). Programa de Estudos P6s-Graduados em Ci€:ncias Sociais da Pontificia Universidade Cat61ica de Sao Paulo.
Sader, Eder. Quando nossos personagens entraram em cena. Silo Paulo: Paz e Terra, 1988.
315
Sader, Regina. Espac;o e !uta 110 Bico do Papagaio. Silo Paulo, 1986. Tcsc (doutorado ern Geegratia). Departamento de Gcografia. Universidade de Sao Paulo.
Santos, Andrea Paula; Ribeiro, Suzana Lopes Salgado; Born Meihy, Jose Carlos. Vozes da Marcha pela Terra. Sao Paulo: Loyola, 1998.
Santos, Gilberta Vieira. Os territ6rios da !uta pela terra no Pont a! do Paranapanema. Presidente Prudente, 1998 (Rclat6rio do Programa de Apoio ao Estudante). Departamento de Geografia, Faculdade de Citncias e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista.
Santos, Jose Vicente Tavares dos. Colonos do \-'inho. Sao Paulo: Hucitcc, 1984.
Santos, Jose Vicente Tavares dos (org.). Revolw;Oes camponesas na America Latina. Campinas, Editora da Unicampilcone Editora, 1985.
Santos, Jose Vicente Tavares dos. A1atuchos: exclusiio e !uta. Do Sui para a AmazOnia. Petr6-polis: Vozes, 1993.
Santos, Milton. A natureza do e.)pat;o. Sao Paulo: Hucitec, 1996.
Schiochet, Va\mor. Esta terrae minha terra: movimento dos desapropriados de PapandU\'G (SC). Blumenau: Editora da FURB, 1993.
Schmidt, Benicia Viera: Marinho, Danilo Nolasco C.; Marinho; Rosa, Sucli L. Couto. (org.). Os assentamentos de refOrm a agrdria no Brasil. Brasilia: Edit ora da Universidade de Brasilia, 1998.
Schmitt, Claudia Job. 0 tempo do acampamento: a constrw;·iio da identidade soc:ial e politica do "colono sem-terra ". Porto Alegre, 1992. Dissertac;5o ( Mestrado em Sociologia Rural). Programa de P6s-Graduayiio em Sociologia, lnstituto de Filosofta e Ciencias Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sui.
Schwadc, Eliscte. A /uta niiofaz parte da vida ... e a vida: o projeto politico religioso de wn assentamento no Oeste Catarinense. Florian6polis, 1993. Disserta<;iio (Mestrado em Antropologia Social). Curso de P6s-Gradua<;ao em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina.
Schwantes, Norberta. Uma Cruz em Terranova. Sao Paulo: Scritta, 1989.
Shanin, Teodor (comp.). Campesinos y sociedades campesinas. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 1979.
Sigaud, Lygia. Os c/andestinos e os direitos: estlldo sabre trabalhadores da cana-de-aplcar de Pernambuco. Sao Paulo: Livraria Duas Cidades, 1979.
Silva, Jose Gomes da. Caindo par terra: crises da re.forma agrdria na Nova Reptlhlica. Silo Paulo: Editora Busca Vida, 1987.
Silva, Jose Gomes. Buraco negro: a refbrma agrdria na constituinte. SJ.o Paulo: Paz e Terra, 1989.
Silva, Paulo Roberto Palhano. Novo momenta da !uta pel a terra: quando o patriio sai de cena. Natal, 1995. Disscrtac;:lo (Mestrado em Ciencias Sociais). Centro de Ciencias Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Silva, Rosemiro Magno da. Assentamentos de pequenos produtores rurais de Sergipe: 1945-1992. Aracaju: Sccretaria de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Iniga,ao, 1996.
Silva, Roscmiro Magno da, Lopes. Eliano SCrgio Azevedo. Con/lito.~· de terrae reforma agrdria em Sergipe. Aracaju: EDUFS, 1996.
3\6
Sottili, Rogerio. MST: A Nm;:iio ali!m da cerca. A fOtograjia na constnu;:Jo da imagem e da expressiio poUtica e social dos sem-terra. Sao Paulo, 1999. Dissertayao (Mestrado em Hist6-ria). Pontitlcia Univcrsidade de Sao Paulo.
Souza, Maria AntOnia. Asfonnas organizacionais de produc;iio em assentamentos rurais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Scm Terra (A1ST). Campinas, 1999. Tese (Doutorado em Educayao). Faculdade de Educayao da Universidade de Campinas.
Souza, Regina Sueli de. Ordem e contra-ordem: 0 processo politico constitutivo do MST na e.\pec{ficidade do assentamento Rio Vermelho. Brasilia, 1997. Disserta<;iio (Mestrado em Serviyo Social). Instituto de Ciencias Humanas da Universidade de Brasilia.
Stedile, Joao Pedro. 0 que e cooperm;iio agricola. S.n.: Francisco Westphalen, s.d.
Stedile, Jo5o Pedro e Frei Sergio. A twa pela terra no Brasil. Sao Paulo: Scritta, 1993.
Stedilc, JoJo Pedro (org.). A questiio agrdria hoje. Porto Alegre: Editora da Universidade Fe-deral do Rio Grande do Sui- Associay:lo Nacional de Cooperay:lo Agricola, 1994.
Stedlle, Joao Pedro (org.). A refOrma agrGria e a !uta do MST Vozes: Petr6polis, 1997.
Stedile, Jo5.o Pedro e Fernandes, Bernardo Manyano. Brava gente: a trajetOria do MST e a /uta pela terra no Brasil. Sao Paulo: Funda<;:1o Perseu Abramo, 1999.
Stokke, Verena e Hall, Michael M. A introdw;ao do trabalho livre nas fazendas de cafC em Silo Paulo, in Revista Brasileira de HistOria, n° 6, p. 80-120, 1984.
Strapazzon, JoJo Paulo Lajus. "£a verba sefe:z terra": ./1.1avimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (SC) 1980-1990. Florian6polis, 1996. Dissertm;ao (Mestrado em Sociologia Politica). Centro de Filosofia e Ciencias Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina.
Strapazzon, Joao Paulo. Eo Verba sefi:z Terra: Mavimenta dos Trahalhadarf's Rurai.'\ Sem Terra (SC) 1980-1990. Chapec6: Editora Grifos, 1997.
Strozake, Juvelino. A lei e as acupw;:Oes de terras. Siio Paulo: MST, 1998.
Sutton, Alison. Trahalho escravo: um ela na cadeia da moderniza(;ao no Brasil de hoje. Silo Paulo: Loyola, 1994.
Sztompka, Piotr. A sociologia da nnulam;a social. Rio de Janeiro: Civiliza<;iio Brasileira, 1998.
Tarrow, Sidney. Pmver in A1ovement. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Thompson, Edward H. AformarUo da classe apcrciria inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
Thompson, Edward H. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. Siio Paulo: Companhia das Lctras, 1998.
Toledo, Roberto Pompeu. 0 presidente segundo o sociOlogo: entrevista de Fernando Henrique Cardoso a Roherto Pompeu de Toledo. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1998.
Universidade Estadual Paulista-Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Pesquisa nacional por amostra da situa(tlo educacional em assentamentos e acampamentas de reforma agrGria - Relatc'>rio Final. Sao Paulo: Unesp-MST, 1995.
Vainfas, Reinaldo. Deus contra Palmares: Rcpresentay6es senhoriais e id6ias jesuiticas. In Reis, Joao Jose e Gomes, Flilvio dos Santos (org.). Liberdade par wnfio: hish5ria dos quilombos na Brasil. S5o Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 60-80.
317
Valverde, Orlando ( coord.). A organizm;iio do espw;o na faixa da TransamazOnica. Rio deJaneiro: IBGE, 1979.
Valverde, Orlando. Grande Carajcis: planejamento da destrui<;iio. Rio de Janeiro; Sao Paulo; Brasilia: Forense Universitaria; Universidade de Sao Paulo e Fundac;ilo Universidade de Brasilia, 1989.
Vasques, Antonio C.B. A evolw;iio das ocupar;Oes das ten·as do municipio de Teodoro Sampain. Franca, 1973. Tese (Doutorado em Geografia). Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Franca.
Veiga, Jose Eli. A reforma que virou suco. Petr6polis: Vozes, 1990.
Velho, Ot<ivio Guilherme. Frentes de expansiio e estrutura agr6ria: estudo do processo de penetrar;iio numa drea da TransamazOnica. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1972.
Velho, Ot<ivio Guilhenne. Capitalismo autoritcirio e campesinato. Rio de Janeiro: Difel, 1974.
Vendramini, C6lia Regina. Conscii!ncia declasse e experiencias s6cio-educativas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Siio Carlos, 1997. Tese (Doutorado em Educa<;ao). Programa de P6s-Gradua<;ao em Educa<;ao da Universidade Federal de Sao Carlos.
Villa, Marcos Antonio. Canudos: 0 povo da terra. sao Paulo: Editora Atica, 1995.
Wagner, Carlos. A saga de Joiio sem terra. Petr6polis: Vozes, 1989.
Wagner, Carlos. Brasiguaios: homens sem pdtria. Petr6polis: Vozes, 1990.
Welch, Cliffe Geraldo, Sebastiiio. Lutas camponesas no interior paulista. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
Zamberlam, Jurandir e Florao, Santo Reni S. Assentamentos: resposta econOmica da pequena propriedade da regiiio de Cruz Alta. Passo Fundo: Editora Berthier, 1989.
Zamberlam, Jurandir. Coopera<;iio: a desajio que comer;a a sulcar a terra. Cruz Alta: Unicruz, 1990.
Fontes documentais:
Jornal dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
Revista Sem Terra
Relat6rios dos Encontros Nacionais e Congresses
Transcric;Oes das entrevistas da pesquisa memorial
Dassie Encruzilhada Natalino. 90 p. s.n.t.
Dassie Ronda Alta, 89 p. s.n.t.
Dassie sabre a viotencia no meio rural. sao Paulo: MST, 1990, 28 p.
Impressa da Escola Nacional Florestan Fernandes
Impressa da Confederac;ao das Cooperativas de Reforma Agdria do Brasil
Impressa da Bionatur- Sementes Agroecol6gicas
318
PeriOdicos:
A Tarde - Bahia
Gazeta de Alagoas
Correia da Parafba
Diitrio da Borborema- Paraiba
0 Momenta - Paraiba
0 Povo - Ceara
Hoje em Dia - Minas Gerais
DiG rio do Rio Dace- Minas Gerais
DiG rio da Tarde- Minas Gerais
Bam Dia - Minas Gerais
Folha deS. Paulo
0 Estado deS. Paulo
lorna! do Brasil- Rio de Janeiro
0 Globo - Rio de Janeiro
Zero Hora- Rio Grande do Sui
0 Liberal- Pad
319
VOZES SEDE E SHOWROOM PETROPOLIS RJ Internet: http://www.vozes.com. br (25689-900) Rua Frei luis, 100 Caixa Postal 90023 Tel.: (Oxx24J2233-9000 Fox: (Oxx24 2231-4676 E-mad: [email protected] UNIDADE DE VENDA NO EXTERIOR PORTUGAL Av. 5 de Outubro, 23 R/C 1050-047 Lisboa Tel.: (00xx351 21J355-1127 Fax: (00xx351 21 355-1128 E-ma1l: [email protected] UNIDADES DE VENDA NO BRASIL APARECIDA, SP Var~o (12j70-000) Centro de Apoio aos Romeiros Setor "A", ASa "Oeste" Ruo 02 e 03- lojas 111/112 e 113/114 Tei.:JOxxl2j564-1117 Fax: Oxx12 564-1118 BEL HORIZONTE, MG Atacado e vorejo
\30130- 170) Rua Ser_giRe, 120- loja 1 el.: 10xx3113226-9T69
Tel.: Oxx31 3226-9010 Fax: Oxx31 3222-7797 Vorejo (30190-060) Rua TuQiss--.114 tel.: /Oxx31J3273-2j3o Fax: Oxx31 3222-4482 Varejo (30160-031) Rua E,mirito Sonto
1 845
Tel.: ~"3U 3274-8148/3274-8088 Fax: Oxx31 3274-8143 BETI , M Parceira Comercial Aletheia livraria e Papelaria lido, Campus PUC Minas (32630-000) Rua do Rosel rio, 1081 -Angola Tei.:~Oxx31J3532-4373 Fox: Oxx31 3595-8519 BRA ILIA, DF Atocodo e vareis_; (70730-516) SCLR/Norte, Q 704, 81. A, n9 15 tel.: ~xx6ll326-2436 Fax: Oxx61 326-2282 CAM INA , SP Varejo (13015-002) Ruo Br_ de Joguara, 1164 Tel.: wxx 19u3231- 1323 Fax: Oxx 19 3234-9316 CON AGE , MG Parc:eiro Comerciol Aletheia Livrorio e Popela ria Lido. Campus PUC Minos (32285-040) Ruo Rio Comprido, 4580- Boirro Cinco Tel.: 10xx3li 3352-7818 Fox: Ox;dl 3352-7919 CUIABA, T Atacodo e varejo (78005-9701 Rua AntOnio Mario Coelho, 197 A Tel.: 10xx65 623-5307 Fax: Oxx65 623-5186 CUR TIBA, PR Atacodo e vorejo 180020-00~ Rua Volunt6rios do P6tria, 41 - loja 39 T ei.:~Oxx41 233-1392 Fox: Oxx41_ 224-1442 FLO IAN POLIS, SC Atacodo e vorejo (8801 0-030) Rua JerOnimo Coelho, 308 Tel.: ~Oxx48J222 -411 2 Fax: Oxx48 222-1052 FOR ALEZA, CE Atocado e vorejo (60025-100} Rua Major Facundo, 730 Tel.: (Oxx85) 231-9321 Fax: (Oxx85) 221-4238 GOIANIA, GO Atocado e varejo (74023-010) Rua 3, nQ 291 Tel.: {Oxx62) 225-3077 Fox: (Oxx62) 225-3994
JUIZ DE FORA, MG Atacodo e varejo (36010-041) Ruo Espfrito Santo, 963 Tel.: (Oxx32) 3215-9050 Fox: (Oxx32) 3215-8061 LONDRINA, PR Atacado e vorejo (8601 0-390) Ruo Pi auf, 72- loja 1 Tel.: (Oxx43) 337-3129 Fox: (Oxx43)325-7167 MANAUS,AM Alacodo e varejo (69010-230) Rua Casto Azevedo, 91- Centro Tel.: (Oxx92) 232-5777 Fax: (Oxx92) 233-0154 PETR6POLIS, RJ Vorejo (25620~001) Rua do lmperador, 834- Centro Telefox: {Oxx24) 2233-9000 R. 245 PORTO ALEGRE, RS Atacado {90035-000) Rua Romiro Barcelos, 386 Tel.: (Oxx51) 3225-4879 Fax: (Oxx51) 3225-4977 Varejo {90010-273) Rua Riachuelo, 1280 Tel.: (Oxx51) 3226-3911 Fax: (Oxx51) 3226-371 0 RECIFE, PE Atacodo e vorejo (50050-41 O) Ruo do Principe, 482 Tel.: {Oxx81} 3423-4100 Fax: (Oxx81) 3423-7575 Varejo (5001 0- 120) Rua Frei Caneco, 12, 16 e 18 Boirro Santo AntOnio Tel.: (Oxx81) 3224-1380 e 3224-4170 RIO DE JANEIRO, RJ Ataccdo (20040~009) Av. Rio Branco, 311 solo 605 a 607- Centro Tel.: (Oxx21) 2215-6386 Fox: (Oxx21) 2533-8358 Varejo (20031-201) Ruo Senodor Dontos, 118-1, esquina com Av. Almiranle Barroso, 02 Tel.: {Oxx21) 2220-8546 Fox: (Oxx21) 2220-6445 SALVADOR, BA Alocodo e vare1o (40060-41 0) Ruo Carlos Gomes, 698-A Tel.: (Oxxll) 329-5466 Fax: (Oxx71) 329-4749 - . SAO LUIS, MA Vorejo (6501 0-440) Ruo do Palma, 502 -Centro Tel.: (Oxx98) 221-0715 Fax: {Oxx98) 231-0641 SAO PAULO, SP Atacodo Rua dos Parecis, 7 4- Combuci 01527-030- Sao Paulo, SP Tel.: (Oxx11)3277-6266 Fax: (Oxx11) 3272-0829 Varejo (01006-000) Rua Senador Feij6, 168 Tel.: {Oxx11) 3105-7144 Fax: {Oxxll) 3107-7948 Vorejo {0 1414-000) Rua Haddock Lobo, 360 Tel.: {Oxx 11) 256-0611 Fax: (Oxx11) 258-2841
xx- C60IGO DAS PRESTADORAS DE SERVIt;OS TELEF6NICOS PARA LONGA DISTANCIA.
Bernardo Manc;ano Fernandes e professor nos cursos de graduac;;ao e pos-graduac;;ao em Geografia da Faculdade de C1enc1as e Tecnolog1a da Unesp. campus de Pres1dente Prudente Coordena o Nucleo de Estudos PesqUisas e ProJelos de Reforma Agrana (NERA). onde desenvolve o DATALUTA (Banco de Dados da Luta pela Terra) Fez a graduac;;ao, o mestrado e o doutorado no Curso de Geografia da Faculdnde de Filosofia Letras e C1enc1as Humanas da USP Ha ma1s de uma decada estuda o Mov1mento dos Trabalhadores Rura1s Sem Terra e desde 1990 e membra do Setor de Educac;;ao do MST Publicou MST formar;ao e territonallzac;ao (Huc1tec. 1996): Brava gente - A tra1et6na do MST e a /uta pela terra no Brasil. em co-autona com Joao Pedro Sted1le (Ed1tora Fundac;;ao Perseu Abramo. 1999) alem de d1versos art1gos em rev1stas C1enllf1cas nac1ona1s e 1nternac1onais
0 0 c
""
•
•
Neste livro, Bernardo Man9ano Fernandes analisa os processes de forma<;:ao e territonaliza<;:ao do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), desde sua origem- em 1979 - ate 1999, em 22 estados. onde o Movimenlo esta organ1zado. E uma 1mportante referemc1a para se compreender a lrajet6ria dos sem-terra em todas as regioes brasileiras.
0 autor estuda a genese do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em cada Estado, desde a organiza<;:ao dos trabalhos de base. as ocupa<;:oes de terra e as formas de res1stencia, os confrontos com os lat1fund1arios, com os governos federal e estadua1s e os enfrentamentos com jagun<;:os e policia1s, ate a implanta<;:ao dos assentamentos rurais. Recupera. dessa forma. as experiencias que leva ram a constru<;:ao do MST. em suas rela<;:oes com as mst1tU1<;:6es de apoio a reforma agrana, bern como as suas conquistas· terra. trabalho, coopera<;:ao e educa<;:ao, num processo de ressocial1za<;:ao de parte da popula9ao excluida.
Desse modo, analisa na geografia da luta pela terra os momentos importantes da h1st6na do MST gesta<;:ao e nascimento. consolida<;:ao e mstltucionaliza<;:ao. sempre por meio da territorializa<;:ao da luta pela terra. cond1<;:ao essencial para compreender a forma<;:ao do Movimento em suas d1versas dimensoes: social , economica e politica.
A tese pnnc1pal deste livro e a de que a ocupa<;:ao tornou-se uma 1mportante forma de acesso a terra num pais onde a reforma agrana ainda nao foi realizada. Portanto, a luta pela terra e a expressao mais coerente e que explica a razao do cresc1mento do numero de assentamentos. que e resultado da a<;:ao dos semterra. a qual o Estado responde com uma politica de implanta<;:ao de projetos de assentamentos rurais
www.vozes.com.br
(b EDITORA Y VOZES
Umo vodo pelo bom livro
E moo vendm, vozes.cor br
ISBN 85.326.2345-X
788532 623454
•