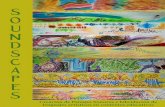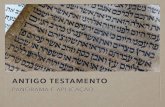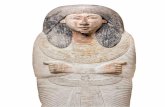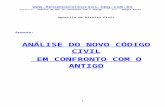PARA A INSTRUÇÃO DOS HOMENS ENCARREGADOS DOS NEGÓCIOS PÚBLICOS NO FINAL DO ANTIGO REGIME PORTUGUÊS
A constituição de paisagens de poder: cidade e paisagem nos estudos sobre o mundo grego Antigo –...
Transcript of A constituição de paisagens de poder: cidade e paisagem nos estudos sobre o mundo grego Antigo –...
A constituição de paisagens de poder: cidade e paisagem nos estudos sobre o mundo grego Antigo – e como temas contemporâneos de reflexão1.
The constitution of landscapes of power: city and landscape in the studies about
the Ancient Greek World – and as subjects of contemporary thought
Resumo
O poder não se restringe aos aparatos de governo, o que se percebe quando se lhe inclui em esferas sociológicas e antropológicas de locações formais, e se lhes entende como relações sociais (Weber 2004, 2012), consideradas no interior de relações geopolíticas entre grupos e elites. Neste contexto teórico, ainda, as perspectivas arqueológicas sobre o poder trazem contribuições essenciais, pois permitem confrontar mais diretamente as dificuldades postas para entender o poder e as autoridades através dos espaços construídos, espaços que são partes de paisagens (Smith 2003) que se apresentam então como efetivas “iconografias do poder” (Veronese 2006). Analisamos a constituição de paisagens de poder no mundo grego Antigo e nas cidades contemporâneas – foco em São Paulo – o que permite perceber formações e afirmações de poder que estão inseridas em dinâmicas temporais e espaciais próprias. E o que leva a perceber diferentes concepções de poder e autoridade. Estudo que considera que o futuro dos estudos clássicos se relaciona com temas caros à contemporaneidade; no caso, as relações sociais no interior das cidades e as relações com o ambiente construído e com o poder que aí se manifesta. Palavras-chave: Paisagem de poder, cidade, pólis, Arqueologia Clássica, História Antiga
Abstract The power is not restricted to government apparatuses, what is perceived when it includes in sociological and anthropological spheres of formal leases, and considers them as social relations (Weber 2004; 2012), considered within the geopolitical relations between groups and elites. In this theorical context, yet, the archaeological perspectives about the power bring essencial contributions on this account, they allow to confront more directly the difficulties to understand the power and the authorities through the built spaces, that are part of landscapes (Smith 2003) posing as effective “landscapes of power” (Veronese 2006). We analysed the constitution of landscapes of power in the Ancient Greek World and in the contemporary cities – focus in São Paulo – wich allows to realize formations and affirmations of power that are inserted in own temporal and spacial dynamics. And wich leads to notice diverse conceptions of power and authority. Study that consider that the futur of the classical studies relates to themes dear to contemporary; in the case, the social relations within the cities and the relations with the built environment and with the power that manifests itself here. Key-words: Landscape of power, city, pólis, Classical Archaeology, Ancient History
1 Texto ampliado da comunicação de mesmo título apresentada na mesa Novos enfoques em Arqueologia Clássica: a cidade do passado na cidade do futuro, no XIX Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, que teve lugar em Brasilia-DF em Julho de 2013.
É intelectualmente frutífero e estimulante que a Academia constantemente se pergunte sobre onde ela está e para onde está indo – ou para onde ela pretende ir. Particularmente no Brasil, onde os estudos clássicos são relativamente recentes em relação à já estabelecida tradição de pesquisas congêneres na Europa, essas reflexões de caráter introspectivo ganham um ímpeto ainda maior.
Muito já se discutiu sobre a necessidade de se estabelecer o contraponto entre ideias e realidade social, entre o que estudamos e a sua historiografia, entre o mundo antigo e o moderno, o que inclui o nosso mundo; desde os escritos de Arnaldo Momigliano (1997), Moses Finley (1989; 1994) e François Hartog (1982) – entre outros – pensadores que se dedicaram a entender a tradição historiográfica moderna sobre História Antiga – temos consciência de que os historiadores antigos e modernos, assim como os arqueólogos, antropólogos, geógrafos e sociólogos, etc., são produtos de uma tradição e de uma sociedade.
Na Arqueologia a tendência é que se passe a dar menos atenção a aspectos econômicos e funcionais, ou antes, que não restrinjam toda perspectiva de explicação sobre a mudança cultural unicamente a fatores adaptativos, em favor de uma busca pelos modos como estruturas naturais e arquiteturais foram experimentadas pelas pessoas no passado, e em como a antiga modificação da paisagem pode, então, ser interpretada como reflexo de processos cognitivos (JAMESON, SHAW, 1999, p. 351).
No contexto das reflexões pós-modernas e pós-coloniais, onde se busca perceber as diferentes “vozes” no interior das culturas/sociedades (VAN DOMMELEN, 2011, p. 1-6), os enfoques leviatanológicos2 também tem sido revistos. Passam a ser considerados os diversos componentes humanos em termos de inclusão e exclusão e as suas diferentes agências no processo de formação e transformação cultural: a da cultura, a de sua versão materializada (GOSDEN, 2005), a dos diversos grupos, assim como a dos indivíduos (na medida em que essa consideração é possibilitada pelas evidências), mas também a agência do pesquisador.
Em termos de análises sobre o poder, e se lhe definimos culturalmente, esses novos enfoques permitem traçar não somente o desenvolvimento dos modos pelos quais os agentes tomam o poder político, mas também os modos pelos quais essas ações surgiram a partir de modos específicos de pensar definidos culturalmente, em vez de por motivações “universais” como definidas por conceitos generalizantes como poder ou prestígio (ROBB, 2005, p 4).
E também podemos procurar entender quem são os estudiosos de clássicas de hoje. Entender como se dão suas relações com a tradição e a sociedade do mundo em que vivem, e dar atenção para os modos como esses estudiosos experimentam o espaço, o poder e as paisagens de poder de hoje.
*** A percepção do poder nos espaços, lugares e paisagens é um trabalho complexo,
pois o poder se inclui em diversas dimensões da vida que não se restringem apenas aos aparatos de governo. Restrição que pode reduzir a análise. Mais enriquecedor ao debate seria incluir o poder em uma esfera sociológica e antropológica de locações formais, considerando-se relações de produção, de manutenção e de soberania, e o que permite incluir relações geopolíticas entre os grupos e entre elites (SMITH, 2003, p. 11-12).
Para o arqueólogo das paisagens de poder Adam T. Smith há uma tendência nas Ciências Sociais em se focar mais no ‘quando’ do que no ‘onde’ no que se refere à vida política. Tanto as teorias marxistas quanto as neoliberais se restringem a explanações e críticas restritas a descrever transformações políticas através do tempo; privilégio temporal que Henri Lefebvre (1991) atribui à Hegel, a partir de quem a temporalidade da
2 Enfoques que, assim como na tese exposta em O Leviatã, de Thomas Hobbes, partem da premissa de que “o indivíduo não existe como tal, mas somente como a expressão de um sistema todo-poderoso que recebe designações variadas: sociedade, cultura ou discurso hegemônico, ou alguma forma desse discurso, seja ele capitalista, nacionalista ou colonialista” (SAHLINS, 2006, p. 137). Nesta linha pode-se pensar no “superorgânico” de Leslie White, nas teorias sobre a criação social do indivíduo de Louis Althusser, nas hegemonias de Gramsci, ou na tese de Foucault, carregada de poder (SAHLINS, 2006, p. 138-139).
História passou a assumir o papel explanador central no entendimento da produção política, aí, “a espacialidade do Estado é removida a um problema puramente mecânico de engenharia, com pouca relevância para um entendimento geral da emergência de formas políticas, ou sobre a imagem da própria ordem civil”; tendência que diz respeito também ao próprio modo como os estudiosos experimentam suas próprias espacialidades.
Na Antropologia Política, campo que surge tardiamente em meados do século XX com trabalhos de britânicos sobre sociedades africanas, principalmente sobre os Nuer por Evans-Pritchard, ou sobre os Tallensi por Meyer Fortes, o espaço aparece apenas como unidades de segmentos territoriais onde ocorrem performances e rituais. Nas obras de sociólogos como Norbert Elias (1994), Anthony Giddens (2003) e Pierre Bourdieu (1989) surgem perspectivas orientadas em atores e ações com a consideração de relações entre espaço e tempo, mas estes ainda não consideram a necessidade de uma sensibilidade espacial, reiterando o privilégio do tempo sobre o espaço em relações entre atores, no que falham em prover uma visão real de como o espaço está implicado na (re)produção de estruturas ou constrangendo agentes (SMITH, 2003, p. 14-15).
Desde a década de 1970 vários campos das Ciências Sociais têm se concentrado na formulação de enfoques críticos à espacialidade da política. A renovação tem vindo especialmente da Geografia Humanista, através de pensadores que têm lançado algumas de suas premissas epistemológicas, procurando derrubar o historicismo hegeliano que domina as análises sobre o poder, dentre esses são notáveis as obras de Henri Lefebvre e David Harvey.
A consideração dos modos como o tempo e o espaço são sentidos hoje é importante na compreensão de como olhamos para essas mesmas dimensões no passado. Pois é evidente que o olhar moderno, influenciado pelo historicismo e pelo evolucionismo social provê enfoques desespacializados sobre a política no mundo antigo.
Harvey (2011) percebe a Modernidade como o momento em que acontece a dissolução do tempo e do espaço. Marshall Berman (1986), analisando os contextos da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, lembra das grandes obras ligadas à visões propagandísticas diundidas por Stálin e por Hitler, por exemplo. Essas obras e toda a articulação do espaço com fins propagandísticos levam a uma percepção de que “o domínio sobre o espaço é uma fonte fundamental e pervasiva de poder social na e sobre a vida cotidiana” (HARVEY, 2011, p. 207).
Vejamos, então, como se deu essa dissolução do tempo e do espaço e de como esse fenômeno se reflete nos modos como percebemos, hoje, o poder nos espaços e nas paisagens. Veremos que essa dissolução é um reflexo da dissolução e da despersonalização do próprio poder – se não do próprio Estado – na sociedade capitalista, e que produz paisagens cuja expressão mais notável são as grandes cidades, como São Paulo, caso que comentaremos rapidamente. Isso com o objetivo de entender de onde falam os estudiosos do poder no mundo antigo; a que tipo de noção de poder, relacionado com uma percepção do poder no espaço, os estudiosos estão inseridos.
Já Max Weber, sociólogo que se empenhou ao longo de toda a sua obra em entender o capitalismo, definia a situação de classe em relação à extenção e natureza “de disposição (ou da falta deste) sobre bens ou qualificação de serviço e da natureza de sua aplicabilidade para a obtenção de rendas ou outras receitas” (WEBER, 2012, p. 199); em outras palavras, a sociedade de classes capitalistas se organiza e se define em função da posse ou não de dinheiro: situação de classe é sinônimo de situação no mercado. E é isto que tem definido os modos como o espaço nas cidades tem sido ocupados, produzindo uma paisagem que reflete a dissolução do poder estatal e uma consequente crise de representação e de identificação política.
“Um dos argumentos para tornar os ricos ainda mais ricos é que eles reinvestirão na produção, o que gerará mais empregos e melhores condições de vida para o povo”, mas desde 1970 eles tem investido cada vez menos em produção; em favor da compra de ativos, ações, direitos de propriedade, inclusive intelectual, e imobiliária. E quando a classe capitalista começa a comprar ativos, o valor deles tende a aumentar, e com isso, o
valor das propriedades imobiliárias tende também a elevar-se. Isso não torna uma cidade necessariamente melhor, mas sim mais cara. Além disso, para construir condomínios de luxo e casas exclusivas, os capitalistas acabam tendo que empurrar os grupos mais pobres para fora das suas terras. Quem não possui dinheiro – e ocupa posições inferiores no mercado – acaba sendo socialmente segregado, e onde o solo urbano se torna mercadoria, surge a segregação espacial.
O preço dos imóveis e o custo de vida subiram exageradamente, levando, como dizia Henri Lefebvre, a ser subtraído dessas pessoas o seu “direito à cidade” (1996). “Às vezes ele é subtraído por meio de ações do Mercado, às vezes, por meio de ações do governo, que expulsa as pessoas de onde elas vivem, às vezes, ele é subtraído por meios ilegais, violentos, ateando-se fogo a um prédio” (HARVEY, 2009, p. 271) ou a uma favela inteira; há não muito tempo, São Paulo sofreu incêndio após incêndio em favelas dos entornos de áreas nobres da cidade (GARCIA, 2012; NASSIF, 2012).
Se considerarmos que a hegemonia política depende da capacidade de controlar o contexto material da experiência pessoal e social, o que vemos é que na pós-modernidade é o domínio do dinheiro que possibilita o controle do espaço e do tempo, garantindo determinadas situações de classe. Ao mesmo tempo, o domínio do espaço e do tempo podem ser reconvertidos em domínio sobre o dinheiro. Assim, é difícil hoje perceber onde a autoridade está alocada, pois na medida em que o poder não reside em indivíduos, mas no próprio dinheiro, ele se despersonalizou.
Imagem 1. Propaganda veiculada no jornal Estado de São Paulo, de 7 de janeiro de 1970
de empreendimento imobiliário de luxo (Predial Novo Mundo) lançado no Jardim Europa, em São Paulo.
Uma propaganda de um empreendimento imobiliário veiculado em um jornal em
1970 (Imagem 1) dá uma mostra de como determinadas áreas da cidade passam em si a se constituirem como paisagens de poder. “Morar Bem” significa ter “direito à cidade”; e na sociedade capitalista, ter “direito à cidade” é privilégio de quem pode pagar por isso. A própria cidade, assim, vai constituindo uma paisagem que é resultado de sensibilidades espaciais imaginadas através da criação de novas concepções de poder.
Essa paisagem é difusa por toda a cidade, mas ela se encontra muito bem estruturada em determinados pontos, como os arredores das avenidas Paulista, Brigadeiro Faria Lima, Nações Unidas, nos bairros dos distritos conhecidos como
Jardins3, Morumbi e a região central (Vale do Anhangabaú, etc.), apenas para citar alguns exemplos, onde se nota que a riqueza e o poder, intimamente relacionados, estão despersonalizados, mas ao mesmo tempo são posse de indivíduos – anônimos – ou de corporações que se manifestam na paisagem das cidades por meio de grandes condomínios, edifícios residenciais e comerciais (SOUZA, 1994) e cujos arredores recebem uma infra-estrutura financiada por órgãos estatais (poder estatal que é sustentado pelos detentores do poder econômico).
O poder se manifesta, despersonalizado como vimos, ao longo de todas essas regiões, se exercendo sobre os passantes ao criar neles uma admiração por esses espaços e pelo que eles representam: a ideia de “morar bem” (que é propalado pelas construtoras através de uma publicidade que “vende sonhos”), sucesso, acesso a bens de consumo e serviços; e o desejo de se vincularem a todo esse ideário, materializado nesses espaços.
Chegamos assim a dois problemas. Primeiro, entender como os antigos constituíam e percebiam as suas paisagens de poder enquanto uma realidade diferente da nossa, o que revela a importância dos enfoques antropológicos. Sabemos que a ordenação do espaço e do poder não eram estranhas aos antigos. Aristóteles, em sua proposta para as póleis ideais, descreveu as ordens espaciais específicas para poder obter cada forma constitucional idealizada (SMITH, 2003, p. 19). “Mais do que outras Ciências Sociais, as perspectivas arqueológicas sobre a vida política podem confrontar mais diretamente as dificuldades postas para entender a autoridade através dos espaços” (SMITH, 2003, p. 5), na medida em que ela traz essa dimensão material – espacial – da realidade para a análise. De fato, esta relação é arqueologicamente verificável, onde é notável que as transformações políticas nas sociedades antigas eram predicadas na produção de paisagens específicas.
A partir de minuciosas análises de plantas de cidades gregas, considerando seus contextos políticos, sociais e econômicos, Aleksandra Wasowicz (1983) notou que os seus programas urbanos refletem programas econômicos, sócio-políticos e ideológicos4, incluso religiosos; caso, por exemplo, de Quersoneso Táurica (Imagem 2) nos séculos IV-III a.C., onde se notou que a planta urbana, dividida em quadras e edifícios públicos e privados uniformemente distribuídoss, reflete o programa de uma pólis democrática. Já Megalópolis (Imagem 3), capital da Liga Arcadiana fundada no século IV a.C., oferece um quadro diferente. Com um plano urbano bipartido: de um lado com a ágora, exprimindo bem as funções municipais do centro, de outro com o Thersileion e o grande teatro, onde se reuniam os membros da Liga, que traduz as suas funções federais; e com um santuário dedicado a Zeus Soter (CORSO, 2005) em um ponto central, garantindo a proteção e legitimando politicamente a cidade e a Liga.
3 A região dos Jardins inclui os bairros Jardim Paulista, Jardim América, Jardim Europa e Jardim Paulistano, todos fazendo parte da subprefeitura de Pinheiros. Ela é limitada pelas avenidas Rebouças, Marginal Pinheiros, Brigadeiro Luís Antônio e Paulista. 4 Entende-se aqui ideologia como definida por Alain Knapp, “não só uma reflexão epifenomênica sobre a base político-econômica de uma sociedade, mas como mais um meio pelo qual grupos mantêm, resistem ou mudam ativamente seu poder relativo dentro da sociedade” (KNAPP, 1988, p. 132).
Imagem 2. Plano de Quersoneso Táurica no final do século IV a.C. (Sceglov 1980, fig. 1)
Imagem 3. Plano de Megalópoles, capital da Liga Arcadiana, mostrando a relação entre o
teatro e o Thersilium (sul do rio Helisson), e a ágora (norte); o santuário de Zeus Soter (Salvador) está a norte da margem, mas à vista dos edifícios do sul, o que lhe garante uma posição de
centralidade.
Um ponto importante a se considerar é que, no mundo antigo, poder e religião eram domínios difusos um no outro, o que se expressou materialmente de forma bastante notável5, o que se evidencia pela profusão de vestígios arqueológicos de cunho religioso
5 Pesquisadores como François de Polignac (1995) e Francesca Veronese (2006) tem mostrado como o conceito de sagrado é central na análise da realidade política para o mundo grego antigo, o qual consideram
nos assentamentos gregos, fornecendo um quadro onde os deuses estavam concretamente ligados às póleis. E o que se manifesta de modo bastante eloquente na grande monumentalidade e centralidade dos santuários nas paisagens das póleis, apresentando-se como estruturas de destaque utilizadas para expressar o poder político (HIRATA, 2010).
O que se nota é que a relação entre poder e espaço era percebida pelos antigos gregos, assim como sua noção de poder perpassava outras questões que não apenas a econômica, refletindo no modo como as paisagens de poder eram constituídas. Estamos lidando com outra realidade, que deve ser entendida em seus próprios termos.
O segundo problema consiste em entender como os estudiosos percebem o poder no passado, e como essa percepção se contamina pela sensibilidades de um poder diluído através do espaço e da paisagem das cidades contemporâneas.
Tratam-se de análises com forte viés antropológico, cuja tradição se inicia com os estudos de Louis Gernet, e depois com Jean-Pierre Vernant, que acentuam uma integração global de práticas e concepções sociais, fundindo a unidade e a identidade da coletividade, particularmente a religião. Desta “cidade dos antropólogos” o político está excluído; como defendeu Claude Lévi-Strauss, “à História [...] as classes dirigentes, os fatos de armas, os reinados, os tratados, os conflitos e as alianças; à etnologia, a vida popular, os costumes, as crenças, as relações elementares que os homens estabelecem com o meio” (LÉVI-STRAUSS, 1983, p. 1217).
Neste contexto a “cidade dos historiadores” é uma cidade-politeia, onde o poder se encontra desarticulado dos demais domínios, incluso dos espaços: claro reflexo das concepções modernas de poder e de sua percepção nas paisagens. São comuns, por exemplo, na História Antiga Romana, as tentativas de se entender a construção da imagem política de determinado imperador romano, ou mesmo a natureza e a forma do poder imperial, geralmente baseando-se apenas em discursos – tomados de fontes textuais. Ana Teresa Gonçalvez busca, em um artigo, entender sob o governo de Tibério, “a preocupação com a difusão de uma imagem política que abarcasse a dinâmica de conferência de um estatuto de autoridade e legitimidade ao governo imperial, bem como vários outros aspectos políticos de seu Principado” (GONÇALVES, 2009), através da análise de um único texto, os Anais de Tácito, um Senador (ou seja, um membro da elite romana) que escrevia pelo menos uma geração após a morte do Imperador; não se questiona a legitimidade de Tácito enquanto fonte, mas é claro que se devem reconhecer os seus limites6.
Põe-se a questão: até que ponto a consideração de discursos tomados unicamente a partir de fontes textuais – de uma única – legitimam a busca por se conhecer a “construção de uma imagem política” de um governante para a população que ele governa, em um mundo onde a leitura não é um hábito universal, e onde o espaço é uma via de comunicação privilegiada entre o poder e os demais grupos que formam a sociedade? Este modelo de poder desarticulado e desespacializado e cuja imagem é produzida a partir de uma ou poucas fontes textuais é o que há de mais recorrente. Fábio Duarte Joly (2004), em sua Dissertação de Mestrado, se vale de conceitos como espaço político, mas sem defini-lo ou aplicá-lo, o que não poderia fazer de fato sem considerar a documentação material – o espaço, que é uma realidade material – e baseando-se apenas, novamente, em Tácito (e em poucas referências a Suetônio e Sêneca). O espaço, aí, torna-se apenas parte de um discurso que busca dar ares de renovação ao trabalho, o qual acaba na verdade seguindo uma tradição já estabelecida de centrar-se no político de modo desarticulado e desespacializado.
como principal instrumento de comunicação ideológica e de controle político, imprescindíveis na formação da identidade do mundo grego. 6 Arnaldo Momigliano (1997) e Moses Finley (1989) chamam atenção sobre a necessidade de se reconhecer os limites impostos pela documentação. Ulpiano T. B. de Meneses (1983) percebendo esses limites da documentação textual, realiza uma notável defesa ao uso das fontes materiais no estudo das sociedades antigas; sobre Tácito cf. MOMIGLIANO, 2004.
Contra a cidade-politeia dos historiadores, a cidade-koinonia dos ‘historiadores’-antropólogos acabou por descentralizar o ‘objeto’ cidade de si mesmo; na cidade dos antropólogos só há o tempo do rito e dos tipos sociais que a ele se relacionam, engrossando um “batalhão da alteridade”: jovens, mulheres, escravos, artesãos, etc. (LOREAUX, 1986, p. 239-255)7. A cidade se torna apenas koinonia, uma comunidade de onde estão ausentes os conflitos políticos. Dicotomia – entre politeia ou koinonia – que leva, por um lado, a trabalhos de historiadores sobre os “discursos” políticos que não levam em conta a realidade social e ideológica da pólis grega, desconsiderando aqueles elementos essenciais a que os antropólogos da Grécia Antiga se dedicam – e lembrando do caráter difuso das instituições no mundo antigo; e por outro lado, aos trabalhos de ‘historiadores’-antropólogos que, ao desconsiderar o político, criam uma imagem idealizada, homogênea, de uma cidade onde não há grupos e indivíduos em conflito.
Esta dicotomia não é mais possível, na medida em que ela implica uma revisão das distinções fundamentais que davam uma definição unívoca do político, o que presspõe uma separação nítida entre instituições e práticas especificamente políticas, o que não existia. Polignac (1997) reconhece nesses trabalhos uma mostra de certos aspectos da crise moderna da representação política, onde a perda das referências e a interferência do discurso não aparecem mais como sintomas de uma crise limitada à esfera política, mas como indício de uma crise mais geral dos processos de representação e de identificação. Crise que levou a uma diluição do poder nas cidades contemporâneas e que se reflete no olhar sobre as cidades do passado.
Como afirmam Michael Parker Paerson e Colin Richards (1994), a relação entre a ocupação do espaço e as expressões de poder são uma via de acesso privilegiada para o estudo das estruturas sociais e políticas. O espaço “é uma via de comunicação entre grupos sociais hegemônicos ou poderes institucionalizados e os demais grupos de indivíduos integrantes de uma sociedade” (HIRATA, 2010, p. 24), sendo a sua consideração nos estudos sobre a pólis um profícuo caminho para uma antropologia do político na Grécia Antiga. O futuro dos estudos clássicos não poderá, assim, se desvincular de uma crítica aos modelos políticos e sociais contemporâneos, que impregnam os estudos sobre o passado, refletindo na cidade antiga uma crise de identidade e de representação política que é nossa, que desarticula e dilui o poder, desespacializando-o. E, quem sabe, os estudos clássicos, oferecendo novos modelos para se pensar esses processos de representação e de identidade, não possam contribuir às reflexões sobre o nosso próprio mundo?
Referências Bibliográficas
BERMAN, Marshall. (1986). Tudo o que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Companhia das Letras.
BOURDIEU, Pierre. (1989). O poder simbólico. Rio de Janeiro, Lisboa: Bertrand Brasil, Difel.
CORSO, Antonio. (2005). The triad of Zeus Soter, Artemis Soteira and Megalopolis at Megalopolis. Ancient Arcadia. Papers from the Norwegian Institut at Athens.
ELIAS, Norbert. (1994). A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Zahar.
FINLEY, Moses. (1989). Uso e abuso da História. São Paulo: Martins Fontes.
FINLEY, Moses. (1994). História Antiga: testemunhos e modelos. São Paulo: Martins Fontes.
GARCIA, Janaina. (2012). MP investiga se incêndios nas favelas de São Paulo têm relação com interesse imobiliário. UOL Notícias, 07 de set. 2012. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/09/07/mp-investiga-se- 7 Oswyn Murray vê a pólis “francesa” (koinonia) como “um tipo de eucaristia” (MURRAY, 1992).
incendios-nas-favelas-de-sao-paulo-tem-relacao-com-interesse-imobiliario.htm>. Acesso em 10 jun. 2013.
GIDDENS, Anthony. (2003). A estruturação da sociedade. São Paulo: Martins Fontes.
GONÇALVES, Ana Teresa Marques, CAMPOS, Rafael da Costa. (2009). A construção de uma imagem política: aspectos da administração imperial de Tibério nos Anais de Tácito. Ágora. Estudos Clássicos em Debate, v. 11.
GOSDEN, C. (2005). What do objects want? Journal of Archaeological Method and Theory, v. 12, n. 3.
HARTOG, François. (1982). Introduction: Histoire ancienne et histoire. Annales ESC, ano 37, n. 5-6.
HARVEY, David. (2009). Alternativas ao neoliberalismo e o direito à cidade. Novos Cadernos NAEA, v. 12, n. 2.
HARVEY, David. (2011). Condição Pós-Moderna. 21ed. São Paulo: Edições Loyola.
HIRATA, Elaine Farias Veloso. (2010). Monumentalidade e representações do poder tirânico no ocidente grego. In. Gabriele Cornelli (ed). Representações da Cidade Antiga: categorias históricas e discursos filosóficos. Brasília, Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, Classica Digitalia Vniversitatis Coninbrigensis.
JAMESON, Robert, SHAW, Ian. (1999). A dictionary of Archaeology. Oxford: Blackwell.
JOLY, Fábio Duarte. (2004). Tácito e a metáfora da escravidão. São Paulo: Edusp.
KNAPP, Alain. (1988). Ideology, Archaeology and Polity. Man, New Series, v. 23, n. 1.
LEFEBVRE, Henri. (1991). The Production of Space. Oxford: Blackwell.
LEFEBVRE, Henri. (1996). Right to the City. In. ___. Writings on Cities. Londres: Blackwell.
LÉVI-STRAUSS, Claude. (1983). Histoire et ethnologie. Annales ESC, v. 38.
LOREAUX, Nicole. (1986). Repolitiser la cité. L’Homme, t. 26, n. 97-98.
MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. (1983). A cultura material no estudo das sociedades antigas. Revista de História (USP), v. 115.
MOMIGLIANO, Arnaldo Dante. (1997). Ensayos de historiografía antigua y moderna. México: Fondo de Cultura Económica.
MOMIGLIANO, Arnaldo Dante. (2004). As raízes clássicas da historiografia moderna. Bauru-SP: Edusc.
MURRAY, Oswyn. (1992). Cités des raison. In. Simon Price (ed.). La Cité grecque d’Homère à Alexandre. Paris: La Découverte.
NASSIF, Luis. (2012). Sobre os incêndios em favelas. Blog do Luis Nassif, 24 de set. 2012. Disponível em <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/sobre-os-incendios-em-favelas> Acesso em 10 jun. 2013.
PEARSON, M. P., RICHARDS, C. (eds.). (1994). Architecture and Order: approaches to Social Space. Londres: Routledge.
POLIGNAC, François de. (1995). Cults, territory and the origins of the Greek City-State. Chicago: The University of Chicago Press.
POLIGNAC, François de. (1997). Anthropologie du politique en Grèce ancienne. Annales ESC.
ROBB, John. (2005). Agency. In Paul Bahn, Colin Renfrew (eds). Archaeology: the key concepts. Londres: Routledge.
SAHLINS, Marshall. (2006). História e Cultura: apologias a Tucídides. Rio de Janeiro: Zahar.
SCEGLOV, Alexander. (1980). Utilisation de la photographie aérienne dans l´’etude du cadastre de Chersonésos Taurique (IVe-IIe s. av. n. ère). DHA, v. 6.
SMITH, Adam T. (2003). The Political Landscape: constellations of authority in Early Complex Societies. Berkeley, Nova Iorque, Londres: The University of California Press.
SOUZA, Maria Adélia. (1994). A identidade da metrópole. São Paulo: Edusp.
VAN DOMMELEN, Peter. (2011). Postcolonial archaeologies between discourse and practice. World Archaeology, v. 43, n. 1 – Postcolonial Archaeologies.
VERONESE, Francesca. (2006). Lo spazio e la dimensione del sacro: Santuari greci e territorio nella Sicilia arcaica. Pádua: Esedra.
WASOWICZ, Aleksandra. (1983). Le programme urbain de la polis grecque. Architecture et Societé de l’archaïsme grec à la fin de la république romaine. Roma: École Française de Rome. Publications de l’École Française de Rome 66.
WEBER, Max. (2012). Economia e Sociedade. V. 1. Brasília: Ed.Unb.