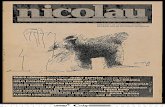000304620.pdf - Sistema de Bibliotecas FGV
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 000304620.pdf - Sistema de Bibliotecas FGV
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS ESCOLA BRASILEIRA DE ADMThlSTRAÇÃO PÚBLICA CENTRO DE FO&\1AÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A MISSÃO HISTÓRICA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL NA ÁREA DA CULTURA
DISSERTAÇÃO APRESENTADA À ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ORIENTAÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SERGIO LUIZ DIAS PORTELLA
Rio de Janeiro, 2001.
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO pírBLICA
A MISSÃO HISTÓRICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
NA ÁREA DA CULTURA
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO APRESENTADA POR SERGIO LUIZ DIAS PORTELLA
E APROVADA EM PELA COMISSÃO EXAMINADORA
QUES - DOUTOR
~ FRANCISCO WEFFORT - DOUTOR
A todos que agradeço, dedico .•.
à memória de pai: é uma felicidade que não pude dar a ele em vida.
à Simone, esposa carinhosa e companheira paciente: estímulo e apoio constantes, sem eles a chance estaria perdida.
a meus filhos, Lucas Manuela Caio e Luiza: refrigério e zelo, que me fazem avançar e consolidar.
aos mestres, e em especial ao professor Enrique Saravia: a virtude de ser capaz de possibilitar a construção, virtude incomum e nobre hoje em dia.
E como muitos foram os amigos e colaboradores, obrigado,
A todos dedico e agradeço ...
RESUMO
o objetivo do trabalho foi delimitar um núcleo reflexivo ou um núcleo de ações que pudessem ser indicadores da missão da administração pública federal de cultura, a partir do estudo da evolução histórica de suas instituições.
O estudo conclui que o período que se configura como mais denso, quando se discute a questão da missão institucional da área federal de cultura, é anterior à criação do Ministério da Cultura em 1985 e localiza-se entre o final da década de 70 e início da década de 80. Este se liga a um período ainda mais anterior na década de 30, articulando os trabalhos e os pensamentos de Mário de Andrade (1935) e Aloísio Magalhães (1980), respectivamente.
O trabalho filia-se ao ambiente dos estudos de política pública e cobre o período de 1935 a outubro de 2000. E o atual período de 1991 a 2000 é avaliado, segundo as perspectivas desse núcleo de ações e reflexões em tomo do ano de 1980.
Palavras-chaves: I. Política Pública; 11. Política Cultural; 111. Estado e Cultura; IV. Aloísio Magalhães.
ABSTRACT
The intend of this study was the delimitation of a reflective nucleus ou a nucleus of activities wich could be indicators of the mission of the public administration concerning Culture on national basis, starting from the histoical evolution of its institutions.
Considering Culture as an institutional task, the study reveals that the period of more intense configuration is the one anterior to the creation of de Ministry of Culture in 1985, and particularly evident between the late 70's and the beginning of the 80's. This period is linked to an earlier one, in the 30's, combining the work and ideas of Mario de Andrade (1935) and Aloísio Magalhães (1980).
The work is inserted in the ambit of studies on public policy covering the period between 1935 and October, 2000. The present period from 1999 at 2000 is evaluated according to the perspectives of this nucleus of actions and reflections based on the year 1980.
Keywords: I. Public Policy; 11. Cultural Policy: 111. State and Culture; IV. Aloísio Magalhães.
IV
Apresentação
Introdução
Parte I: 1990 a 1991
ÍNDICE
o Primeiro ano do Governo Collor: o Desmonte da Cultura
A Resistência ao Primeiro Ano do Governo Collor
Parte 11: De 1936 a 1989
Introdução: AM reflete MA
Capítulo I: Ante-projeto de Mário
Capítulo 11: O Bem Cultural Abaporu
Capítulo lI!: Lembranças do Futuro
Capítulo IV: O Bodoque Bem Manejado
Capítulo V: A degustação do que é propriamente cultural
Capítulo VI: Em respeito à memória de Aloísio
Parte 111: De 1991 até hoje
Introdução: O Julgamento Antropofágico
A Primeira Digressão: Ética e Ecologia Humana
A Segunda Digressão: Memória e Identidade
A Terceira Digressão: a Matéria Invisível
O Decreto e a Fortaleza da Carta
VII - IX
X - XIII
14-30
14
27
31-106
31
34
48
63
71
78
97
107 -146
107
120
129
131
132
v
Apresentação
Seria possível através da pesquisa histórica de sua evolução delimitar um núcleo
reflexivo ou um núcleo de ações que pudessem ser indicadores da missão da administração
pública federal de cultura? Foi esta busca que norteou todo o trabalho de pesquisa, com
suas surpresas que apontaram necessárias mudanças de rumo e a própria expressão no
formato escrito desta dissertação.
A partir das surpresas, uma especial mudança de rumo deve ser destacada pois
favorece a leitura do material que se segue.
Acreditava-se que, para efeito de realização do objetivo final proposto, o período de
análise iria do ano de 1986 até os dias atuais, que praticamente coincidia com a criação do
Ministério da Cultura em 1985. O ano de 1986 inaugura no Brasil a criação de mecanismos
de beneficios à cultura utilizando-se deduções fiscais do Imposto de Renda., com o advento
da Lei Sarney. Esta Lei funciona até 1990, quando foi revogada. Em 1991, o Governo
federal resolveu reinstituir mecanismos da Lei Sarney com várias modificações,
estabelecendo novo formato e criando a Lei 8.313 de dezembro de 1991, que ficou
conhecida como Lei Rouanet. Ainda neste processo temporal, era importante destacar o
Decreto l.493 de 17 de maio de 1995 que aumenta de 2% para 5% o limite de dedução do
Imposto de Renda devido em favor de projetos culturais devidamente aprovados pela
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNlC. É com este decreto que a gestão do
Ministro Weffort se inicia na prática, e com ela todos os desdobramentos que se
considerava importantes para o objetivo do projeto de pesquisa. E, portanto, o período de
1995 a 2000, era considerado o mais relevante.
VII
No entanto, o trabalho de pesquisa demonstrou que, este não era o período mais
relevante, nem muito menos os anos anteriormente citados. O período que se configurava
como mais denso, quando se discutia a questão da missão institucional da área federal de
cultura, era muito anterior e localizava-se entre o final da década de 70 e início da década
de 80. Este se conectava com um período mais anterior ainda na década de 30. Esta
surpresa determinou, outros estudos, mais históricos, e, por fim, uma nova estrutura de
exposição dos resultados encontrados.
Dessa forma, logo depois à Introdução - que visa filiar a exposição da pesquisa
propriamente dita ao ambiente dos estudos de política pública -, segue-se a Primeira Parte
da dissertação que trata especificamente dos anos de 1990 a 1991. A Segunda Parte vai de
1935 a 1989. E, por fim, a Terceira Parte conclusiva segue de 1991 até outubro de 2000.
Dito isto, podemos responder à questão: Por que iniciar a exposição dos trabalhos
desta monografia com o ano Collor/lpojuca Pontes, correspondente à Parte I? Porque trata
se de um terremoto, de um terrível terremoto. À distância, a partir de uma metáfora
geológica, pode-se falar de uma fratura - como o terremoto Big One que se espera na
Califórnia. Mas se diminuirmos a distância - para parâmetros mais humanos - podemos
falar do terremoto que foi a gestão Ipojuca Pontes do ponto-de-vista de seus dramas
pessoais, com todas as suas conseqüências e tragédias conexas. A mais grave de todas é a
ruptura com o passado, pois cria uma incompreensão da estrutura do administração pública
federal de cultura, por parte de seus gestores maiores posteriores, alinhando ao seu objetivo
principal a gestão das leis de incentivo a cultura. Muitos podem objetar e dizer que a
primeira ruptura acontece em 1985, com a criação do próprio Ministério da Cultura. Mas
aqui preferimos dizer que houve apenas um salto e que a continuidade poderia ser
VIII
restabeleci da posteriormente, como a iniciou Celso Furtado. E, é por essa razão que tal
período está incluso na Parte 11, e certamente é muito diferente do que acontece em 1990.
Na Parte lI, portanto, fazemos um trabalho de arqueologia. Diante das ruínas do
terremoto de 1990, perguntamos: Existia alguma civilização aqui? A resposta nos leva ao
início da década de 80 e esta, há uma década mais anterior ainda, a de 30, articulando os
trabalhos e os pensamentos de Mário de Andrade e Aloísio Magalhães. Sim, existia uma
grande civilização aqui e nosso esforço é descrevê-la, demonstrando como as reflexões e as
ações na busca da construção de uma missão pública para a área federal de cultura estavam
se realizando.
Na Parte m, trabalhamos as perspectivas dos novos construtores, restauradores de
ruínas, reinterpretando seus pedaços com ou sem as plantas originais ou achando-as
irrelevantes ou não. Na Parte 1I1, o período de 1991 a outubro de 2000 é julgado, segundo
as perspectivas da Parte 11. Já a Parte I, não fosse pelos desastres e mortos, poderia
simplesmente ser esquecida.
Sergio Portella
Em outubro/2000
IX
INTRODUÇÃO
Esta dissertação A missão histórica da administração pública federal na área da
cultura apresentada ao Curso de Mestrado em Administração Pública da Escola Brasileira
de Administração Pública da Fundação Getulio Vargas teve como objetivo central
responder à questão sobre qual é, segundo a perspectiva de sua história e evolução, a
missão institucional da administração pública federal na área de cultura, segundo os
parâmetros criados pelos pesquisadores e executores de políticas públicas européias e
amencanas.
1.1. Políticas públicas
As administrações européias e americanas foram obrigadas a responder com maior
rapidez à modificação da estrutura do poder público caracterizada: pela dispersão da
autoridade política em instituições descentralizadas, pela fragmentação da decisão geral em
estruturas particulares só relacionadas funcionalmente, e pela crescente conversão do
Estado em uma estrutura não superior politicamente, mas ativa dentro da dinâmica social.
Este novo Estado deixa de ser soberano e racional, transformando-se em relacional e
limitado.
Neste sentido, pode-se destacar algumas reflexões sobre o assunto feitas por
Subirats, que concluiu que analisar políticas públicas parece se constituir num bom
caminho para se conseguir a melhoria do funcionamento da administração pública. Tais
análises não gerariam um manual de soluções para ser aplicado em qualquer situação. Mas,
x
à medida que se aumente a utilização destas técnicas. com sua maior prática, pode-se
chegar a considerações prescritivas sobre a realidade. (Subirats, 1989)
As políticas públicas, enquanto técnicas atuais de administração do Estado, buscam
dar conta: da rapidez com que o contexto político se modifica rotineiramente, do impacto
das novas tecnologias, da rápida obsolescência do conhecimento, do fenômeno da
globalização, e de que maneira as organizações públicas podem responder à
informatização. Tudo isso acompanhado de um aumento da participação da sociedade em
sua gestão, da legitimidade da sua existência enquanto organização, proporcionando formas
de avaliação de seu impacto social, e conseguindo gerar os seus financiamentos.
1.2. Políticas públicas em países em desenvolvimento
Neste ponto deve-se levar em conta algumas características dos países em
desenvolvimento, e de suas conseqüências para a utilização de análises de políticas públicas
nesses países, delimitadas por Saasa.
Primeiro que, nesses países, tanto a elite política como a burocrática moldam mais a
opinião das massas do que estas, os pontos de vista das lideranças. Segundo que, deve-se
sempre considerar o ambiente interno e externo do país em estudo, sempre muito
dependente dos contextos políticos internacionais e da própria percepção de seus atores.
Terceiro que, no caso dos países em desenvolvimento, a teoria da tomada de decisão
racional pode ser contestada, no sentido de que taís tomadores de decisão não dispõem de
tempo, informação, capacidade analítica e recursos financeiros, nem de estrutura
organizacional para seguir o processo prescrito pela formulação da política.
XI
Nesses países, o estilo da formulação das políticas públicas leva às seguintes
conclusões: a) a racionalidade prescrita pelo modelo é inatingível; b) o risco e a incerteza
caracterizam os processos decisórios; c) a fragmentação na formulação de políticas em
geral está ausente; d) a formulação é centralizada, com limitados insumos sociais; e) para
os indivíduos tomadores de decisões há um grande potencial da liderança política orientar
as tendências de formulação de políticas; t) existe boa possibilidade de erros de cálculo na
formulação das políticas.
A formulação da política pública é uma atividade de tal modo complexa que a sua
concepção como uma dicotomia de fim-meios, sustentada por quase todas as teorias
tradicionais, seria falaciosa. Ela não evolui linearmente, conforme os modelos do sistema
de insumos-produto mostraram, mas, sim, num padrão multi direcional em que vários
fatores interagem e exercem influência mútua nesse processo complexo. (Saasa, 1985)
1.3. Políticas públicas em cultura
Destacada a análise de políticas públicas como um caminho de razoável sucesso
para a melhoria do funcionamento e das prestações de serviços da administração pública,
deve-se portanto relativizar o seu padrão europeu e/ou americano para o contexto dos
países em desenvolvimento.
Mas o padrão de análise de políticas públicas resultante de outras esferas da
administração pública também não deve ser relativizado no momento em que este é
aplicado à esfera do sistema de cultura? O instrumental racional para o desenvolvimento
das políticas públicas seria capaz de dar conta das singularidades expressivas, simbólicas, e
na maioria das vezes subjetivas das ações culturais? Como medí-Ias?
XII
A avaliação das políticas torna-se aqui especialmente crítica. Por exemplo, uma
peça de teatro de pouco público significa que é de menor qualidade, culturalmente falando?
A avaliação de ações culturais supõe uma técnica e uma problemática adaptadas.
Como afirma Saez, deve-se construir uma problemática transdisciplinar, onde o saber do
analista não se limite apenas às tecnologias da ação pública. Pois, nesse caso, a maior
liberação das capacidades de expressão e da criatividade dos indivíduos, ou participação
social mais ativa são - por exemplo - efeitos importantes de uma política cultural que
poderiam ser desmerecidos em uma análise tradicional. Análise que não considera a
transdisciplinaridade da questão (Saez, 1985).
Trata-se aqui de entrar, por fim, no campo ainda recém nascido dos indicadores
culturais: "Cultura é abstrata. Portanto só pode ser observada indiretamente. Cada simples
materialização da cultura, evidentemente, pode ser observada e descrita em grandes
detalhes. Mas a cultura como tal - uma classe de fenômeno abstrato - não pode ser
observada diretamente. Ela deve ser estudada através de tipos de indicadores" (Rosengren,
1985: 14). Indicadores que se diferenciam dos indicadores econômicos e dos sociais, que
possibilitariam não só a comparabilidade das situações mas também a sua medição.
Discussão importante, contudo ainda pouco desenvolvida em todo o mundo, e iniciada por
Gerbner em 1969, com seus estudos sobre a TV americana. E no Brasil, certamente por
Aloísio Magalhães em seus primeiros trabalhos realizados no Centro Nacional de
Referência Cultural, década de 70.
Dessa forma, uma das tarefas da pesquisa foi adequar o instrumental da análise de
políticas públicas à área de cultura, no Brasil, associando-a a descrição de sua evolução
histórica no período que vai de 1935 aos dias atuais de outubro de 2000.
XIII
PARTE I: De1990 a 1991
o Primeiro Ano do Governo Collor - o desmonte da Cultura
Ao anunciar sua reforma administrativa, o Governo Collor (1990-91) apresentou-se
como o arauto da modernidade, cuja maior tarefa seria imprimir ao Estado brasileiro
competência e rapidez na execução de sua política, por meio de uma completa redefinição
dos objetivos da máquina administrativa federal e de uma drástica redução de suas
dimensões.
Mas, apesar do discurso, o que se verificou, na prática, foi uma total ausência de
critérios na formulação da reforma administrativa. O governo apenas exibiu a sua
incapacidade administrativa, furtando-se a cumprir atribuições do Estado definidas pela
Constituição Federal. Eximindo-se de tais atribuições, o Governo Collor se entregou à tarefa
de desaparelhar o Estado, tornando-o inoperante e propondo um corte linear de pessoal,
sem uma ampla discussão de critérios de dispensa e sem uma análise aprofundada da
situação real das instituições atingidas. E o marketing político do governo passou a
extravasar um frontal desrespeito ao servidor público, transformado-o em inimigo número
um da sociedade brasileira.
Toda a máquina administrativa do Governo Federal sofreu com a falta de critérios. O
Estado teve muitas de suas atividades fundamentais simplesmente paralisadas, instalando-se
o caos, a incompetência e a continuidade de velhas práticas de desmandos. A situação
chegou ao ápice nas instituições culturais.
14
Nenhuma outra área da administração pública foi tão atingida quanto a da cultura. E
nenhuma de grandes instituições culturais coordenadoras de política nacionais para o setor
permaneceu imune ao efeito devastador das medidas provisórias decretadas em março de
1990. Estas medidas, ainda que mais tarde tenham sido alteradas por projetos de conversão
elaborados pelo Congresso, não definiram nem a forma, nem o conteúdo e nem as diretrizes
básicas das instituições federais que deveriam suceder as anteriores, sobretudo no que se
refere ao Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (ffiAC). Permaneceu um vazio institucional,
pela indefinição de princípios que deveriam reger a ação do Estado na área cultural.
A lógica que presidiu a reforma administrativa do Governo Collor sobrepunha as
razões de mercado à ação administrativa do Estado. E nesse campo de batalha, essa foi uma
das posições que enfrentou uma segunda representada basicamente pelo corpo técnico das
instituições e muitas entidades civis e privadas. Para esta segunda posição, no campo da
cultura, porém, os princípios de mercado devem ser relativizados. Para ela, em relação a
determinadas faixas sociais, a oferta de certos produtos pode ser farta e ágil o bastante para
satisfazer a demanda público-receptor, mas, ainda assim, há uma extensa parcela da
população brasileira que permaneceria à margem da produção e dos circuitos de distribuição
cultural do país. A ação do mercado, neste caso, apenas exacerbaria diferenças, favorecendo
uma padronização especialmente daninha para as atividades culturais, no que se refere à sua
qualidade, sua diversificação, difusão e à formação e ampliação de seu público-receptor.
Neste sentido a ação do Estado é essencial como contrapartida a um mercado que tende a
ser cada vez mais restrito e elitista e como garantia da diversidade democrática de
manifestações culturais.
15
Especialmente para esta segunda posição, no campo da preservação da memória e
do patrimônio cultural brasileiros, a atuação do Estado reveste-se de papel civilizatório de
caráter estratégico, que transcende em muito às determinações estritas do mercado e se
coloca no plano da constituição da nacionalidade. Ao Estado cabe atuar na preservação da
pluralidade de bens culturais, materiais e imateriais, garantindo a estes bens o acesso de
segmentos cada vez maiores da população. Neste contexto, não há como medir o custo da
ação estatal apenas do ponto de vista financeiro. Deixando-se de lado o fato de que, em
1990, todos os recursos destinados à cultura somavam apenas 0,05% do orçamento da
União, e de que os servidores federais desta área somavam, em todo o Brasil, um contigente
de pouco mais de três mil pessoas, o anunciado "enxugamento" das instituições culturais
significaria o seu esvaziamento e a sua total inoperância.
No caso de sua tarefa patrimonial, especificamente, apesar da amplitude da tarefa de
guarda, proteção, valorização e exposição ao público do patrimônio cultural e natural
brasileiro, as instituições responsáveis dentro da área de cultura do governo sempre
conviveram com um quadro bastante reduzido de pessoal. Até o início da reforma
administrativa do Governo Collor, a Fundação Pró-Memória contava com l.676 servidores
no seu quadro permanente, não estando contabilizado neste número o pessoal contratado
pelo regime de prestação de serviços, notadamente os encarregados de obras, responsáveis,
em última instância, pela restauração de muitos bens públicos. Contando com os prestadores
de serviços, o quadro funcional chegava a apenas 2.112 servidores.
A reforma administrativa, porém, considerou que o quadro funcional para realizar
todas as tarefas deveria se resumir, nas questões de patrimônio, a exatos l.055 servidores.
Ou seja: a reforma do Governo Collor previu um corte de cerca de 50% de pessoal. Tal
16
perspectiva inviabilizava por completo o cumprimento das obrigações constitucionais do
Estado diante deste vasto patrimônio público, em especial nas áreas mais frágeis, naqueles
que são mais dificeis de serem preservados ou que precisavam de atendimento imediato
frente ao perigo de perda irreversível.
A essas duas posições somava-se uma terceira posição que defendia uma posição
entremeios às anteriores de que o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, recém criado
pela reforma do Governo Collor e que reaglutinava os órgãos federais responsáveis pela
preservação dos bens tombados, deveria restringir-se ao papel de órgão normatizador e
repassador de recursos financeiros. Desta forma, este instituto contaria com uma estrutura
administrativa bem reduzida de modo a efetuar repasses aos estados, municípios e
instituições privadas, garantindo por meio deles a execução descentralizada da política de
preservação do patrimônio cultural e natural. Esta posição era interessante para aqueles
primeiros que tocavam a reforma sem critérios do Governo Collor, mas completamente
inaceitável para os defensores da segunda posição que argumentavam o total despreparo dos
estados e municípios para receberem responsabilidades e recursos na área patrimonial.
Nessa discussão, a menos fundamentada era aquela defendida pela área central do
Governo Collor: a do mercado, que acabava se escorando naqueles que viam a
descentralização proposta pela Constituição de 88 como a solução para os dilemas da área
federal de cultura. Já para aqueles que defendiam o fortalecimento das áreas federais,
contrapunha-se a esta visão simplista da atuação do Governo Federal a própria experiência
histórica. Para eles, a experiência mostrava que a busca da cooperação com governos
estaduais e municipais - e mesmo da iniciativa privada - há muito tempo se constituía prática
da administração federal, com resultados quase sempre insatisfatórios. Tal experiência
17
demonstrava que toda vez que o Estado brasileiro deixou de ter meios para fazer cumprir os
dispositivos constitucionais de preservação cultural a situação se agravou a um ponto
insustentável. Portanto, o Estado não poderia abrir mão de seu papel civilizatório
estratégico, como agente sintetizador de experiências regionais, coordenador de políticas
nacionais e como pólo difusor de procedimentos técnicos adequados.
Neste sentido, a divergência apontada na visão política das estratégias de
cumprimento das tarefas constitucionais do Estado opõe eficiência e agilidade, de um lado,
versus ineficiência e burocratismo, do outro. Esta dicotomia, na verdade, buscava ser
resolvida por todas as posições em jogo, lutando contra o que fora o "normal e o comum"
numa parte preponderante da história política brasileira: a ação clientelista, personalista,
fisiológica e desagregadora de esforços de modernização da administração pública. Esta era
uma encruzilhada que se apresentava à ação de preservação patrimonial no Brasil naquele
momento, ação herdeira de Mario de Andrade, Rodrigo Melo Franco de Andrade e Aloísio
Magalhães.
Os defensores dessa tradição, baseada principalmente no corpo técnico das
instituições, destacavam que ao se considerar as dimensões do país e a diversidade regional
que o caracteriza, não existiria outra forma de atuação do poder público, nesta área, senão a
de criar com sua ação um processo civilizatório nacional que integrasse as diversas formas
de manifestações regionais naquilo que se denomina como o patrimônio cultural brasileiro e
que não pode ser pensado apenas como um somatório de culturas agregadas. Caso
contrário, a Constituição não poderia ser respeitada ao atribuir à ação do Estado a
construção da cidadania e da identidade nacionais. Os artigos 215 e 216 da Constituição
Federal são bastantes claros e objetivos no que se refere às obrigações do Estado com
18
relação ao pleno exercício dos direitos culturais do cidadão, cabendo ao Poder Público
promover e proteger o patrimônio cultural e natural brasileiro.
Sem dúvida que para cumprir um compromisso deste porte, reclama da instituição
representante do Poder Público condições técnicas e administrativas sofisticadas, capazes de
integrar diversas demandas regionais num conjunto articulado de políticas nacionais de
preservação do patrimônio cultural brasileiro. Essas condições técnicas e administrativas
foram, na verdade, historicamente construídas por meio de prática e reflexão das agências
federais do patrimônio brasileiro, constituindo a sua própria razão de funcionamento, e a sua
legitimidade até aquele momento da História brasileira.
A tradição histórica de exigir a atuação do Estado na defesa e preservação do
patrimônio nacional foi mantida pela Constituição de 88. Foram igualmente
institucionalizadas as formas de atuação que caracterizam a ação governamental. Dentre as
diversas vertentes da ação estatal, a primeira se expressa na compreensão de que o
patrimônio nacional é composto por uma pluralidade de bens culturais e nacionais, devendo
as ações de preservação se restringirem, de forma específica, às partes de seu amplo
conjunto, sejam elas bens arquitetônicos, sítios históricos urbanos, bens naturais de interesse
cultural ou paisagistico, sítios e bens arqueológicos, bens móveis e integrados e bens
arquivísticos e bibliográficos de interesse cultural.
Na década de 1930, o Estado brasileiro orgaruzou a sua atuação de defesa e
preservação do patrimônio nacional. Foram envolvídos nesta estruturação vários intelectuais
brasileiros, como Lúcio Costa, Mário de Andrade, Rodrigo de Melo Franco e Carlos
Drummond de Andrade. Neste contexto surgiu o decreto-lei no. 25 de 30 de novembro de
1937, que ampliava a ação legal do Estado na preservação dos bens culturais. Este
19
instrumento legal, ainda hoje em vigor, possibilitou o início de uma adminístração
sistemática da política de preservação.
Já na década de 1930, portanto, a ação do Estado pretendia atingir a totalidade e a
pluralidade dos bens culturais e naturais signíficativos, com medidas de proteção,
conservação e fiscalização. Tal concepção das tarefas do Estado foi mantida até o presente,
passando por diversos governos federais, justificando sua necessidade, além de estarem de
acordo com as atuais recomendações da Unesco, que estabelecem que a preservação do
patrimônio histórico e artístico de cada nação deve abranger um conjunto de ações visando a
inventariar, documentar, reconhecer, proteger (pelo tombamento ou outras formas de
acautelamento), conservar (restaurar, manter, revitalizar, tomar acessível e referenciável),
fiscalizar e promover os bens culturais e naturais.
A segunda vertente é museológica, caracterizada pela administração de ações de
preservação de bens organizados em coleções, segundo critérios de ordem histórica, artística
ou científica, e administrados por instituições com a função de permitir o acesso da
comunidade ao bem protegido, por meio de sua exposição e do referenciamento de seus
significados nos museus.
Neste ponto, a ação do Governo Federal remonta a 1922, quando foi criado o
Museu Histórico Nacional, ao qual se somaram outros museus nacionais, como o Museu de
Belas Artes, o Museu Imperial, o Museu da República, os museus regionais, os museus
evocativos e as casas históricas.
A terceira vertente é originária da ação do Centro Nacional de Referência Cultural
(CNRC), criado na década de 1970 por Aloísio Magalhães. Esta vertente é caracterizada por
ações de preservação de bens e processos integrantes da cultura popular. Tais bens abarcam
:1;~fjtECA MAHlO HENHiQUE SIMOas. filNUA~O GETULlD \' ARGU
20
uma vasta gama de processos e modos de criar, fazer e viver, além de formas de expressão.
São as tecnologias patrimoniais, o artesanato popular, as línguas, as expressões culturais e
artísticas regionais, como danças, músicas, lendas, tradição oral e escrita, entre outros
processos culturais.
Não obstante esse aparato conceitual e essa especificidade no trato que requerem os
bens culturais de caráter processual, as atividades dessa vertente da ação patrimonial estão
subordinadas aos mesmos objetivos que determinam as ações de preservação nas demais
vertentes.
Assim, às ações propriamente de referência cultural (conhecimento) se somam
àquelas vinculadas ao reconhecimento legal e administrativo (tombamento, registro e outras
formas de acautelamento) e as de conservação (revitalização, divulgação, exposição etc).
As agências federais de preservação patrimonial sempre se organizaram de acordo
com objetivos e dimensões nacionais. Tais objetivos são: a definição e a coordenação de
políticas nacionais de preservação patrimonial~ a consolidação (síntese) das experiências
regionais numa política nacionalmente abrangente~ a execução direta e descentralizada de
atividades e obras de caráter exemplar e pedagógico no campo da preservação~ a
transferência de recursos tecnológicos e metodológicos da área central para as áreas
regionais~ busca de parceiros institucionais entre estados, municípios e entidades
particulares.
Esse "modo de fazer" sempre foi a maIS importante herança deixada pelas
instituições federais de patrimônio desde 1937. Até aquele ano de 1990, ela consagrava o
papel de que a área central deve ter como cabeça de um sistema executivo descentralizado, à
qual compete a geração e a coordenação de políticas nacionais, a síntese e a
21
compatibilização das ações regionais, a produção e a transferência às áreas de ponta de
conhecimento, normas, critérios, métodos e técnicas. Nela ficaria consagrado também o
papel das áreas estaduais ou regionais, como responsáveis pelas coordenações regionais de
política federal do patrimônio; pela articulação de parcerias regionais, pela difusão de
recursos tecnológicos e pela execução direta de obras e atividades de caráter exemplar e
pedagógico para a instituição como um todo e suas parcerias.
É importante ressaltar que a própria instituição, ao longo de mais de 50 anos, criou,
especializou e aperfeiçoou sua massa critica, uma vez que não existiam no país cursos de
formação em preservação do patrimônio cultural. Os técnicos da SPHANlPró-Memória não
são apenas os executores da política federal nesta área. Eles constituem um inestimável
patrimônio para a instituição, uma vez que detêm os conhecimentos técnicos necessários e a
memória dos regulamentos e limites a que a ação institucional se encontra exposta,
conhecimentos e memórias muitas vezes apreendidos na prática quotidiana.
Por esta razão, toda a orientação da política federal de patrimônio, em todos as
gestões presidenciais desde 1937, foi a de preservar e prestigiar o corpo técnico da
instituição, corpo técnico este ainda demasiado pequeno e numericamente deficiente para a
enorme tarefa, mas competente, eficaz e responsável pela autoridade do órgão.
Com relação à tentativa de reforma administrativa articulada e coerente empreendida
pelo Governo Collor, esta foi uma das principais conseqüências: a dispersão e a degradação
do corpo técnico das instituições, que dificilmente poderão ser corrigidos em prazo curto.
Não poderá ser refeito rapidamente o que demorou 50 anos para ser construído. O
esvaziamento técnico, por exemplo, do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural
corresponderia ao seu desmantelamento político e institucional. Por esta razão, a agência
22
federal de preservação sempre foi ciosa do adensamento e da qualificação de sua área
técnica.
Mas as dificuldades da formação de políticas coerentes de administração para a área
cultural já vinham acontecendo desde o Governo Sarney, que buscava descentralizar
rapidamente, a partir das prerrogativas da Constituição de 88, tentando restringir a área
central à repassadora de recursos financeiros, segundo interesses clientelistas, personalistas e
fisiológicos, já que estados e municípios não estavam tecnicamente preparados para suas
funções, nem a sociedade e a área federal possuíam mecanismos formais de controle dessas
funções. A tendência a substituir o primado da competência técnica por critérios
burocráticos sempre existiu como possibilidade. Além disso, o rigor técnico na
administração da política de preservação do patrimônio cultural brasileiro contrariou
inúmeros interesses, resultando em pressões políticas e econômicas.
O golpe decisivo, porém, deveu-se à ascensão do clientelismo generalizado na vida
política nacional, durante as negociações congressuais que resultaram na prorrogação de
mandato presidencial de José Sarney. Denominada pela imprensa de política do é-dando
que-se-recebe, a proposta do bloco parlamentar autodenominado Centrão atrelou
definitivamente a política do Governo Sarney às práticas do clientelismo, do personalismo e
da fisiologia, que se traduzia, no discurso e no cotidiano, pelo esvaziamento da atuação
institucional de seu conteúdo técnico.
As instituições da área da cultura não foram exceções à regra. Suas áreas técnicas
foram esvaziadas, prevalecendo os critérios falsamente administrativos que visavam a
transformá-las em repassadoras de recursos aos estados, municípios e entidades privadas.
Curiosamente, as mesmas posições clientelistas apressam-se em organizar o assédio final às
23
entidades culturais, propondo ao Governo Collor uma nova fase, em nome da
descentralização, do federalismo e do municipalismo.
Portanto, para o corpo técnico das instituições federais, mesmo antes de assumir o
novo governo, já era tramada a desmantelação técnica e institucional da SPHANlPró
Memória. Para eles, lamentavelmente, encontravam-se na Comissão de Transição do
Governo Collor defensores da política do clientelismo e do fisiologismo generalizados.
Algumas dessas forças haviam conquistado postos na própria direção da SPHANlPró
Memória ao fim do Governo Sarney, período que lograram paralisar boa parte da
instituição.
De qualquer modo, descolorindo as ideologias, este quadro projetava para o novo
governo uma perspectiva sombria de continuísmo no esvaziamento técnico da área da
cultura. A política de desmantelamento do papel estratégico desempenhado pelas
instituições federais, inclusive para realizar a descentralização administrativa, seja na área
responsável pelo patrimônio histórico e artístico nacional ou não, confrontava diretamente
com o discurso da eficácia e da competência administrativa que o Governo Collor vinha
sistematicamente veiculando.
Os novos dispositivos constitucionais cnaram melhor distribuição das receitas
públicas entre as instâncias federativas, ocasionando a necessidade de reestruturação dos
papéis e funções da União, dos estados e municípios. Além dos aspectos orçamentários,
estados e municípios foram fortalecidos pelo quadro político democrático, ampliando suas
demandas e capacidades de influência junto à União.
Este quadro político resultou das lutas democráticas da sociedade civil brasileira e
poderia ensejar uma proficua cooperação entre os governos federal, estaduais e municipais,
24
as entidades civis e as empresas privadas, em busca de agilidade, eficácia, descentralização e
participação ampla nas ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro.
Entretanto, caso fosse desarticulada a função coordenadora da agência federal
resultante de sua competência técnica acumulada, a ação preservacionista - aqui o corpo
técnico da área central tinha razão - poderia cair prisioneira dos interesses políticos
fisiológicos e clientelistas. Estas tendências estruturais impõem ao Governo federal a opção
entre dois caminhos possíveis. O primeiro afirma que, ao lado dos recursos financeiros, a
União pode e deve compatibilizar, sistematizar e transferir procedimentos técnicos e
metodológicos às instituições públicas, estaduais ou municipais, e as entidades privadas que
proponham a atuar na preservação do patrimônio cultural brasileiro. Desta forma seria
possível ampliar a extensão e a eficácia da ação preservacionista.
Tal ampliação, no entanto, ao mesmo tempo que implica a descentralização
federativa das ações, exige igualmente uma compatibilização nacional capaz de integrar as
diversas experiências regionais. Este caminho estabelece um vínculo de necessidade e
cooperação mútua entre o órgão federal e as diversas instâncias federativas. Este caminho
reafirma o papel estratégico do Estado por meio da administração da política nacional de
preservação do patrimônio cultural brasileiro, incentivando e elevando as iniciativas
regionais bem como compatibilizando-as através de uma coordenação nacional. Isso impõe,
portanto, um organismo eficiente e com competência técnica.
O segundo caminho é a opção pelo clientelismo, que não efetiva laços de cooperação
técnica entre as instâncias federativas, não integra nacionalmente as atividades regionais, não
as compatibiliza e nem as eleva a uma dimensão política nacional. O esvaziamento da
competência e do papel técnico dos órgãos federais destinados à cultura serviria, então,
25
apenas aos interesses privados de cunho personalista de eventuais dirigentes e beneficiários
das políticas fisiológicas.
O Governo Federal, naquele momento no primeiro ano de Governo Collor, por
ignorância, por desprezo, ou por outros interesses, pareceu optar pelo segundo caminho no
que se refere à área de cultura. Pelo menos foi o que fez parecer a ameaça de demissão que
pairou sobre grande parte do corpo técnico e administrativo das instituições federais
destinadas à cultura. No caso específico da preservação do patrimônio cultural brasileiro, o
fantasma do clientelismo surgiu por trás das reiteradas propostas de uma suposta
descentralização das ações preservacionistas do Estado, acompanhada de um esvaziamento
da capacitação técnica e do conteúdo estratégico da agência federal a que se atribui a
responsabilidade constitucional da preservação deste patrimônio.
Nesse sentido, também apostou-se no segundo caminho quando se discutiu a
proposta de atrelar a atividade preservacionista aos interesses de mercado, sejam tais
interesses considerados do ponto de vista econômico ou político. Esta proposta de
atrelamento, se efetivada, deixaria a atividade preservacionista à mercê do personalismo e do
oportunismo de eventuais dirigentes. Retirando-se, assim, da instituição encarregada de
preservar o patrimônio público qualquer conteúdo estratégico, técnico, qualquer objetivo
político a perseguir, subtraindo-a das condições essenciais para o cumprimento de suas
obrigações constitucionais e tomando tal entidade dispensável.
Quando se deixa envolver pela falácia da descentralização, o Governo Collor
procura, na verdade, desobrigar -se de suas atribuições constitucionais de guarda,
valorização e preservação do patrimônio natural e cultural brasileiro. Os maiores prejuízos
26
não foram contabilizados pelos quadros técnicos e administrativos ameaçados de demissão,
mas sim pelos cidadãos brasileiros no seu direito a este patrimônio, anos depois.
A resistência ao Primeiro Ano do Governo Collor e a posse do Embaixador Rouanet
A primeira medida do Governo Collor foi a extinção dos órgãos de cultura, com
corte linear e geral do quadro de pessoal. Não houve qualquer diagnóstico de funções e
necessidades, qualquer avaliação de desempenho e de adequação do quadro de pessoal às
atividades legais a serem atendidas.
Na maioria dos projetos tocados por tais órgãos, nos primeiros tempos de Reforma
administrativa, o corte de pessoal atingiu a até 50% dos efetivos. Para que tal corte fosse
possível seria necessário apagar a estrutura até então vigente e sua memória. E também
fazia-se necessário aprofundar o esvaziamento do conteúdo estratégico das instituições.
Caso contrário, ficaria evidente que a agência federal, fosse ela qual fosse, não conseguiria
levar a cabo qualquer objetivo com um corte de pessoal tão profundo e sem critério.
O esvaziamento estratégico adequava-se perfeitamente à política do Secretário de
Cultura Ipojuca Pontes, com a sua pretensão de atrelar a cultura às demandas de mercado.
Sob a capa de descentralização, a cultura ia sendo atrelada ao clientelismo das políticas
regionais. Era a continuidade da política do-é-dando-que-se-recebe, tão em voga no
Governo Sarney.
A criação do mAC, do mpc e da FPL propiciou mais um golpe nas já tradicionais
instituições da Funarte, Fundacen, Fundação do Cinema Brasileiro, SPHANlPró-Memória,
Biblioteca Nacional e Instituto Nacional do Livro. Aproveitando o fracionamento intenso
das instituições, o governo convocou quem sobrou e quem se dispunha a colaborar e fez
27
deles seus assessores. Com estes buscava-se implantar uma estrutura nova que negava
totalmente a tradição e as tendências de mudança estocadas há vários anos, diluindo funções
e redefinindo objetos tradicionalmente desenvolvidos pelos extintos órgãos. Exemplo: o
estatuto sugerido para o ffiPC era totalmente distinto da maioria absoluta das propostas que
eram discutidas na casa e representava apenas a posição de uma pequena minoria de
técnicos de Brasília. Com este estatuto, entretanto, cristalizava-se a desestruturação final do
sistema SPHANlPró-Memória.
Temia-se que o apagamento da memória começasse pelo nome, e com a memória,
fossem apagadas as atribuições. Este temor mostrou-se plenamente justificado, pois não foi
outra a ação do Governo Collor. Os proponentes dos nomes ffiAC, ffiPC e FBN
esqueciam-se que a superação das antigas formas de atuação não implicaria necessariamente
na implantação de novas formas. Poderia significar, como significou de fato, a colocação do
vazio institucional em seu lugar: o esvaziamento técnico e a transformação dos órgãos
nascentes em meros repassadores de recursos, sem função executiva, bem apropriada para a
política de clientela.
De todo este processo, que começou com as demissões e concluiu-se com o
esvaziamento da área técnica, resultou na paralisação das atividades e na letargia
administrativa, situação bem caracterizada nos relatórios dos inventariantes. Além da
paralisação dos trabalhos, o clima de perseguição política e insegurança fez o saldo final de
todo o processo.
Sem o conhecimento deste quadro, qualquer exposição sobre a resistência da
sociedade e dos trabalhadores da área de cultura ficaria deslocada e sem sentido. A Reforma
Administrativa, por sua extensão e violência, pegou o corpo técnico desmobilizado e com
28
um precário nível de organização. Além disso, o feroz apoio da mídia difundiu o pânico
entre eles e os induziu à paralisia. Mais ainda, a sinonimia para servidor passava a ser
marajá, incompetente, sanguessuga do dinheiro público. A desmoralização do aparelho
administrativo do Estado servia duplamente ao Governo Collor. Por um lado, a
desqualificação do Estado fazia avançar seu projeto de privatização e desregulamentação da
atividade econômica. Por outro, retirava da luta dos servidores a base do apoio social. No
início de 1990, a maioria da população, trabalhada pela mídia, defendia o ataque
indiscriminado e sem critério contra o funcionalismo público, dando legitimidade à ação do
governo, em especial, de João Santana.
Portanto, o funcionalismo estava nesta conjuntura: intimidado; sem apOlO social;
exposto em suas distorções, sem nada ser dito sobre as causas políticas e históricas destas;
dividido; enfraquecido; desorganizado e imiscuído de posições oportunistas, sem ética e
fisiológicas.
No início de 1990, existia um esforço de discussão nos diversos órgãos de cultura
em busca da superação dos problemas acumulados e do aperfeiçoamento dos trabalhos em
andamento. A Reforma Administrativa atropelou todo este processo. Sem condições, nem
tempo, de realizar um amplo debate, as associações dos servidores utilizaram a tática de
formar grupos de trabalho, com agregação mais ou menos aberta e voluntária, para redigir
propostas alternativas às disposições das medidas provisórias 150 e 151. O tempo mostrou
que a compilação de propostas tem muito pouca influência na elaboração de alternativas.
Era preciso ser mais rápido com relação aos congressistas e reverter a direção da opinião
pública, contrária aos interesses dos servidores e da própria área de cultura.
29
Nesse período, ainda isoladamente ou com apoio de outras associações, servidores
de cada instituição realizaram uma séria de eventos. Os funcionários da Funarte
promoveram a exposição "20 mil eventos" e o debate "Cultura no Governo Collor", com a
presença de Marilena Chauí, Antonio Houaiss e José Américo Pessanha. Os servidores da
Biblioteca Nacional enviaram, por duas vezes, cartas abertas endereçadas ao Presidente
Collor e ao Secretário de Cultura Ipojuca Pontes e realizaram o Abraço à Biblioteca
Nacional. Os trabalhadores da SPHANlPró-Memória encontraram-se com parlamentares
sensíveis à questão cultural.
Todas essas atividades apontaram para a necessidade de articulação mais próxima e
eficaz de todas as associações de funcionários. Foi então criado o Fórum das Associações de
Servidores da Área Federal de Cultura.
O fórum dos servidores visava à população em geral~ denúncia pública, objetivando
alargar o apoio à luta dos servidores federais e visava também aos parlamentares dos
Congresso, em especial durante a votação das medidas provisórias 150 e 151. Tal
movimento recebeu o apoio de importantes setores da sociedade civil.
Resistindo como podiam e com o apoio da sociedade as instituições federais
conseguiram preservar o que puderam e perder o menos possível de seu conteúdo pessoal e
técnico, forçando uma ação conciliatória do Governo Federal: em março de 1991, acontece
a posse do Embaixador Rouanet como Secretário de Cultura, modificando o discurso do
Governo para a área e restabelecendo o diálogo possível.
30
PARTE 11: De 1936 a 1989
Introdução: AM reflete MA
A propósito do título desta introdução, Aloísio Magalhães reflete Mário de Andrade,
em dois sentidos propriamente. Primeiro, daquele do fenômeno fisico expresso pela luz no
espelho. Nele, Aloísio Magalhães espelha Mário de Andrade, recebe a luz de Mário de
Andrade e, como um espelho, a espelha, a repete, se confunde com o original, não fosse a
inversão da imagem. Segundo, no sentido do ato abstrato de refletir do pesquisador, que se
debruça sobre o que estuda, disseca-o, vai em suas entranhas e retira as razões de sua busca
que diretamente não tem a ver com o objeto em si. Nele Aloísio Magalhães pensa Mário de
Andrade, transforma-o em objeto e, na pesquisa, busca-lhe o essencial - para si mesmo, não
se confundindo com a matéria do estudo.
Essa problemática da relação de AM com MA pode ser vista nas afirmações de dois
grandes pesquisadores brasileiros quando falam de Aloísio Magalhães. Sergio Miceli destaca
o eixo dos estudos deste último: liA partir de uma releitura da proposta inicial formulada
por Mário de Andrade, o pessoal do CNRC [Centro Nacional de Referência Cultural,
fundado por Aloísio em 1975] foi-se dando conta da relegação a que fora condenado todo
um acervo de atividades econômicas artesanais e manufatureiras que se colocam na raiz de
práticas sociais cuja inteligibilidade estava a exigir a compreensão de seu contexto histórico
de ocorrência e reprodução" (Sergio Miceli, 1981). E, Antônio Houaiss que expressa a
utopia dessa reflexão: "(. .. ) sua paixão por uma sistemática memorial que não fosse pontual,
nem linear, nem superficial, mas, se possível, cúbica ou tridimensional, graças ao que o
31
projeto da memória nacional fosse tão abrangente que nada se perdesse de nossa história"
(Antônio Houaiss in Magalhães, 1985 - abertura). Utopia pois, seria possível um projeto da
memória nacional que fosse tão abrangente a ponto de nada se perder de nossa história, a
ponto de ser a própria história (Borges, 1999 - p. 50)? A pista desta utopia/paradoxo, e da
sua formulação lógica, está em Mário de Andrade e no seu ante-projeto para a criação do
Serviço de Proteção ao Patrimônio, de 1936.
O período de que se trata nesta Parte 11 começa com o pedido do Ministro
Capanema à Mário de Andrade do ante-projeto do SPHAN, criando-o em 1937, tendo a
frente Rodrigo Mello Franco, que o chefia até o ano de 1967, sendo substituído por Renato
Soeiro, que por fim o entrega à direção de Aloísio em 1979. Nesta Parte 11, ainda seguimos
até 1989, véspera do governo Collor.
O vórtice da leitura desse período de 1936 a 1989 se encontra nos anos de 1979,
1980, 1981 e 1982. Neles, Aloísio Magalhães assume a direção de todo o sistema federal de
cultura. E, é por isso, que, antes de enfrentar o olho desse furacão, devemos considerar
ainda o modus operandis da personalidade Aloísio Magalhães, segundo seu amigo José
Laurênio de Melo. E se muitas vezes o pensamento AM parece aos pedaços - incompleto - é
porque, "para ele, não havia grande distância entre visão, reflexão e ação" (José Laurênio de
Melo in Magalhães, 1985 - p.26) sendo estas complementares entre si e sempre apoiadas
urna nas outras. Algo que também pode se ver no designo
Aliás, a descrição da personalidade de Aloísio e o seu encontro com fazer design são
realizados por José Laurênio quando escreve: "( ... ) de repente aquele moço esguio, inquieto,
viajante compulsivo, a transitar com desembaraço por todas as latitudes geográficas e
espirituais - e por isso mesmo parecendo à beira do diletantismo e da gratuidade -
32
abandona essa região fluida e rarefeita da disponibilidade e se faz designer (nota). ( ... ) Eu
não saberia dizer se ele afinal encontrou seu alvo. É dificil saber. Mas a verdade é que o
design lhe deu ensejo de mobilizar todo o seu imenso potencial de criação e reflexão. É de
se supor até que a atividade de designer é que lhe permitiu, por modos e vias de que só ele
tinha o segredo, ir pouco a pouco fazendo a sua íntima e pessoal descoberta do Brasil"
(Magalhães, 1985 - p.25 e 26).
Portanto, Aloísio não faz arte básica - a exemplo da idéia de ciência básica 1. Ele - a
exemplo da idéia de ciência aplicada - faz arte aplicada, isto é, design. E nesse movimento
visualiza o objeto em questão envolvido por seu ambiente existencial maior. E, nele, no
objeto, busca o que lhe é essencial - a sua personalidade, a sua marca. Por fim, a expressão
da sua identidade, a logomarca, conjuga esta ciência com a arte mais específica de quem a
faz. Da mesma forma, de maneira macroscópica, Aloísio age com o Brasil, quando assume
os seus trabalhos mais públicos (CNRC, SPHAN, Secretaria de Cultura do MEC), busca o
que é essencial à cultura, acreditando ser possível buscar o que é essencial a um país para
criar sua logomarca ou identificar seus símbolos, para poder compreender a sua alma e saber
estimular o desenvolvimento das formas e cores que se materializam a partir dela, da sua
brasilinidade.
Nesse trabalho constrói um dos mais poderosos quadros de referência conceitual na
área da cultura de que se tem notícia - mesmo que inacabado -, só comparável aos artistas
de 22, especialmente Mário de Andrade. Aliás, podemos dizer que Aloísio reconecta a
matriz Mário de Andrade, no sentido literal que hoje nos oferece o fenômeno da Internet:
quando a linha cai e você reconecta o provedor.
1 Distinção usada por Mário de Andrade em seu ante-projeto de lei.
33
Capítulo I: Ante-projeto de Mário, um outro manifesto antropófago
Deve-se reconhecer que quando Mário escreve o seu ante-projeto, a discussão não
era nova. Ela vem desde antes do Império2 E mesmo no período de que se trata, nos anos
20 e 30, em vários estados já se fazia a discussão ser mais frutífera, dizem que até tão
completa como a de Mário3. Este ante-projeto datado de 24 de março de 1936, é por essa
razão uma espécie de boa síntese das reflexões modernistas de Mário e seus companheiros
de 22 somadas às discussões sobre patrimônio até então realizadas, no país e no exterior.
Mas o que mais impressiona no texto de Mário, além da exterioridade da sua relação
com Aloísio Magalhães, é que em suas poucas páginas - algo próximo de 15 laudas de 25
linhas -, ele transforma a ampla questão do patrimônio, na forma como ali é
colocada, em uma ação objetiva e fundamental para a nação brasileira. O conceito
de patrimônio amplo abrange todas as manifestações socioculturais e artísticas do país e ao
S.P.A.N. de Mário - Secretaria do Patrimônio Artístico Nacional - cabia determiná-las,
organizá-las, conservá-las, defendê-las e propagá-las.
2 A primeira discussão em território brasileiro. em tomo da proteção de monumentos históricos, foi resgistrada por carta de D. André de Melo e Castro. Conde das Galveias. Vice-Rei do Estado do Brasil de 1735 a 1749 elogiando as intenções do Governador de Pernambuco a respeito de construções ali deixadas pelos holandeses. A segunda menção feita à questão da preservação ocorre já durante o Império quando o Conselheiro Luiz Pedreira de Couto Ferraz, transmite ordens aos Presidentes das Provícias, já que ele era Ministro do Imperador, para que obtivessem coleções epigráficas para a Biblioteca Nacional e.ao Diretor das Obras Públicas da Corte, para que tivesse cuidado na reparação dos monumentos a fim de não destruir as inscrições neles gravadas. Trinta e dois anos depois o Chefe da Seção de manuscritos da Bibliteca Nacional percorre as províncias da Bahia. Alagoas. Pernambuco e Paraíba. afim de recolher a epigrafia dos monumentos da região. 3 A primeira iniciativa acontece em Minas Gerais. em julho de 1925. quando o então presidente estadual Mello Vianna resolveu organizar uma comissão para estudar o assunto do patrimônio histórico e artístico. buscando impedir a redução do avcervo mineiro em função do comércio de antiguidades. A Bahia, sendo o presidente estadual Francisco Góis Calmon, tomou a iniciativa de organizar a defesa do acervo histórico e artístico através de leis estaduais e decretos no ano de 1927. E em 1928, o exemplo foi seguido pelo Estado do Pernambuco com a lei estadual que criava a Inspetoria Estadual de Monumentos Nacionais e um museu.
34
Em seu Capítulo 11, o ante-projeto definia então Patrimônio Artístico Nacional:
"todas as obras de arte pura ou de arte aplicada, popular ou erudita, nacional ou estrangeira,
pertencentes aos poderes públicos, a organismos sociais e a particulares nacionais, a
particulares estrangeiros, residentes no Brasil". Ao Patrimônio Artístico Nacional pertencem
"exclusivamente as obras de arte que estiverem inscritas, individual ou agrupadamente, nos
quatro livros de tombamento adiante designados".
Essa obras de arte - a partir de então patrimoniais, por estarem inscritas em um dos
livros de tombamento - devem pertencer, pelo ante-projeto, a pelo menos oito das seguintes
categorias: arte arqueológica; arte amerindia; arte popular; arte histórica; arte erudita
nacional; arte erudita estrangeira; artes aplicadas nacionais; artes aplicadas estrangeiras.
As definições dessas artes é o que propriamente dá forma à idéia de patrimônio de
Mário. E, assim ele as cria, mesclando definições gerais com listas exemplares, onde a
expressão etecetera tem sem dúvida grande importância (como se dissesse: "se esqueci, aí
está, na etecetera. "):
"Das artes arqueológica e ameríndia. Incluem-se nestas categorias todas as
manifestações que de alguma forma interessem à arqueologia em geral e particularmente à
arqueologia e etnografia ameríndias.
35
''Essas manifestações se especificam em: a) Objetos: fetiches; instrumentos de caça,
de pesca, de agricultura; objetos de uso doméstico; veículos, indumentária, etc., etc.; b)
Monumentos: jazidas funerárias; agenciamento de pedras; sambaquis, litógrifos de qualquer
espécie de gravação, etc.; c) Paisagens: determinados lugares da natureza, cuja expansão
tlorística, hidrográfica ou qualquer, foi determinada definitivamente pela indústria humana
dos Brasil, como cidades lacustres, canais, aldeamentos, caminhos, grutas trabalhadas, etc.;
d) Folclore ameríndio: vocabulários, cantos, lendas, magias, medicina, culinária ameríndias,
etc.
''Da arte popular. Incluem-se nesta categoria todas as manifestações de arte pura ou
aplicada, tanto nacional como estrangeira, que de alguma forma interessam à etnografia,
com exclusão da ameríndia. Essas manifestações podem ser: a) Objetos: fetiches, cerâmica
em geral, indumentária, etc.; b) Monumentos: arquitetura popular, cruzeiros, capelas e
cruzes mortuárias de beira-estrada, jardins, etc.; c) Paisagens: determinados lugares
agenciados de forma definitiva pela indústria popular, como vilarejos lacustres vivos da
Amazônia, tal morro do Rio de Janeiro, tal agrupamento de mocambos no Recife, etc.; d)
Folclore: música popular, contos, histórias, lendas, superstições, medicina, receitas
culinárias, provérbios, ditos, danças dramáticas, etc.
''Da arte histórica. Incluem-se nesta categoria todas as manifestações de arte pura ou
aplicada, tanto nacional como estrangeira, que de alguma forma retletem, contam,
comemoram o Brasil e a sua evolução nacional. Essas manifestações podem ser: a)
Monumentos (há certas obras de arte arquitetônica, escultórica, pictórica que, sob o ponto
de vista de arte pura não dignas de admiração, não orgulham o país nem celebrizam o autor
36
delas. Mas, ou porque fossem criadas para um determinado fim que se tornou histórico - o
forte de Óbitos, o dos Reis Magos - ou porque se passaram nelas fatos significativos da
nossa história - a Ilha Fiscal, o Palácio dos Governadores de Ouro Preto - ou ainda porque
viveram nelas figuras ilustres da nacionalidade - a casa de Tiradentes em São João deI Rei, a
casa de Rui Barbosa - devem ser conservadas tais como estão, ou recompostas na sua
imagem "histórica".): ruínas, igrejas, fortes, solares, etc. Devem pela mesma qualidade
"histórica" ser conservados exemplares típicos das diversas escolas e estilos arquitetônicos
que se refletiram no Brasil. A data para que um exemplar típico possa ser fixada: de 1900
para trás, por exemplo, ou de cinqüenta anos para trás~ c) Iconografia nacional: todo e
qualquer objeto que tenha valor histórico, tanto um espadachim de Caxias, como um lenço
celebrando o 13 de Maio. Pode ser considerado "histórico" para fins de tombamento, o
objeto que conservou seu valor evocativo depois de 30 anos~ c) iconografia estrangeira
referente ao Brasil: grawras, mapas, porcelanas, etc., etc., referentes à entidade nacional de
qualquer dos seus aspectos, história, política, costumes, Brasil, natureza, etc.~ d) Brasiliana:
todo e qualquer impresso que se refira ao Brasil, de 1850 para trás. Todo e qualquer
manuscrito referente ao Brasil, velho de mais de 30 anos, se inédito, e de 100 anos, se
estrangeiro e já publicado por meios tipográficos~ e) Iconografia estrangeira referente a
países estrangeiros: incluem-se nesta categoria objetos que tenham conservado seu valor
histórico universal de 50 anos para trás.
"Da arte erudita nacional. Incluem-se nesta categoria todas e qUaisquer
manifestações de arte, de artistas nacionais já mortos, e também de artistas vivos, as obras
de arte que sejam propriedade de poderes públicos, ou sejam reputadas "de mérito
nacional". São condições para que uma obra de arte de artista nacional vivo seja reputada
37
"de mérito nacional": 1. ter a obra conquistado ao artista qualquer primeiro ou segundo
prêmio ou segundo prêmio ao ano final de curso em escolas oficiais de Belas-Artes; 2. ter a
obra conquistado ao artista qualquer espécie de primeiro prêmio em exposições coletivas
organizadas pelos poderes públicos; 3. ter a obra conquistado o título acima referido por
quatro quintos de votação completa do Conselho Consultivo do S.P.A.N.
''Da arte erudita estrangeira. Incluem-se nesta categoria todas e quaisquer obras de
arte pura de artistas estrangeiros que pertençam aos poderes públicos ou sejam reputadas
"de mérito". São condições para que um artista estrangeiro seja reputado "de mérito": 1.
Figurar o artista em Histórias da Arte universais; 2. Figurar o artista em museus oficiais de
qualquer país; 3. No caso do artista ainda estar vivo e não preencher nenhuma das duas
condições anteriores, conquistar o título por quatro quintos de votação completa do
Conselho Consultivo do S.P.A.N.
''Das artes aplicadas nacionais. Incluem-se nesta categoria todas manifestações de
arte aplicada (móveis, torêutica, tapeçaria, joalheria, decorações murais, etc.) feita por
artista nacional já morto, ou de importação nacional do Segundo Império para trás. Inclui-se
ainda, dos artistas nacionais vivos, toda e qualquer obra de arte aplicada que pertença aos
poderes públicos.
''Das artes aplicadas estrangeiras. Inclui-se nesta categoria toda e qualquer obra de
arte aplicada de artista estrangeiro, que figure em Histórias da Arte e museus universais."
Cabe ainda destacar as considerações de Mário sobre os livros de tombamento e
museus correspondentes às definições de Patrimônio anteriores. Assim, define: "O S.P.A.N.
possuirá quatro livros de Tombamento e quatro Museus, que compreenderão as oito
categorias de artes acima discriminadas. Os livros de tombamento servirão para neles serem
38
inscritos os nomes dos artistas, as coleções públicas e particulares, e individualmente as
obras de arte que ficarão oficialmente pertencendo ao Patrimônio Artístico Nacional. Os
museus servirão para neles estarem expostas as obras de arte colecionadas para a cultura e
enriquecimento do povo brasileiro pelo Governo Federal. Cada museu terá exposta no seu
saguão de entrada, bem visível, para estudo e incitamento ao público, uma cópia do livro de
tombamento das artes a que ele corresponde. Eis a discriminação dos quatro livros de
tombamento e dos museus correspondentes: 1. Livro de Tombo Arqueológico e
Etnográfico, correspondente às três primeiras categorias de artes, arqueológica, ameríndia e
popular; 2. Livro de Tombo Histórico, correspondente à quarta categoria, arte histórica; 3.
Livro de Tombo das Belas-Artes / Galeria Nacional de Belas-Artes, correspondentes às
quinta e sexta categorias, arte erudita nacional e estrangeira; 4. Livro de Tombo das Artes
Aplicadas / Museu de Artes Aplicadas e Técnica Industrial, correspondentes às sétima e
oitava categorias, artes aplicadas nacionais e estrangeiras."
Das discussões, possíveis objeções ao ante-projeto, deve-se destacar a que trata do
Museu de Artes Aplicadas e Técnica Industrial, por indicar a amplitude do que entende
Mário por Patrimônio Artístico. "Quarta Objeção: Por que o quarto museu é chamado de
Museu de Artes Aplicadas e Técnica Industrial? Então a técnica industrial é uma arte?
Resposta: Arte é uma palavra geral, que neste seu sentido geral significa a habilidade com
que o engenho humano se utiliza da ciência, das coisas e dos fatos. Isso foi aproveitado para
preencher uma feia lacuna do sistema educativo nacional, a meu ver, que é a pouca
preocupação com a educação pela imagem, o sistema talvez mais percuciente de educação.
Os livros didáticos são horrorosamente ilustrados; os gráficos, mapas, pinturas das paredes
das aulas são pobres, pavorosos e melancolicamente pouco incisivos; o teatro não existe no
39
sistema escolar; o cinema está em três artigos duma lei, sem nenhuma ou quase sem
nenhuma aplicação. Aproveitei a ocasião para lembrar a criação dum desses museus técnicos
que já estão se espalhando regularmente no mundo verdadeiramente em progresso cultural.
Chamam-se hoje mais ou menos universalmente assim os museus que expõem os progressos
de construção e execução das grandes indústrias, e as partes de que são feitas, as máquinas
inventadas pelo homem. São museus de caráter essencialmente pedagógico. Os modelos
mais perfeitos geralmente citados são o Museu Técnico de Munich e o Museu de Ciência e
Indústria de Chicago. Imagine-se a Sala do Café ( ... )".
E etecetera, as marcas canibais do patrimônio antropofágico. Ou, ''Roteiros.
Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros" Frase do Manifesto Antropófago
de Oswald de Andrade (Manifesto Antropófogo, 1928) que orientou os trabalhos da XXIV
Bienal ( ... ). Sete vezes Roteiro que se amplia mais a frente no Manifesto Antropófago
quando se lê: "Contra a Memória fonte do costume. A experiência pessoal renovada. Somos
concretistas. As idéias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças públicas.
Suprimamos as idéias e as outras paralisias. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais, acreditar
nos instrumentos e nas estrelas". O ante-projeto de Mário também é concretista e suas "etc.
e etc." sinônimos dos sete roteiros de Oswaldo São Andrades, são antropófagos. O melhor
exemplo disso, em seu ante-projeto, é a definição de erudito, normatizada por regras
concretas, critérios específicos, honrarias definidas burocraticamente - seja nacional ou
estrangeiro. Estamos diante do patrimônio antropofágico de Mário, que tudo devora,
regurgita, e vomita novo, irreconhecível. A ironia é que é justamente a ciência criada para
estudar as tribos, os índios - antropófagos ou não -, que acaba por instrumentalizar essa
antropofagia do patrimônio. São os conceitos advindos da antropologia que permitem a
40
Mário, transformar todas as manifestações sócio-culturais em patrimônio artístico, como
objetivamente o faz ao formular e responder à quarta objeção sobre os Museus de Artes
Aplicadas e Técnica Industrial. Realiza, assim, um puro ato antropofágico, que pode ser
definido pela explicação de Weffort em seu texto de abertura para a XXIV Bienal de São
Paulo (1998): "Ao reelaborar a noção de antropofagia, que, do ponto de vista europeu, era
uma prática primitiva, bárbara, e contrária aos mais elementares princípios de humanidade,
Oswald de Andrade propôs uma interpretação irônica e irreverente de como, no Brasil, as
influências vindas de fora são incorporadas a um "corpo" nativo, transformadas em alimento
que o fortalece sem descaracterizá-lo". Ainda com relação à utilização da etnologia como
arma antropofágica podemos citar Miceli ao explicar o que acontece na França cultural de
Miterrand-Lang: "O conceito de patrimônio foi se antropologizando em tal proporção que
passou a se mostrar sensível a toda e qualquer experiência social". Neste ponto, o interesse
aumenta para o destaque de Miceli sobre a França das décadas de 70 e 80 porque, em 1936,
no Brasil, estas antropofagias antropológicas já eram, pelo menos, uma realidade teórica no
ante-projeto de Mário de Andrade.
Cultura larga, de boca larga, capaz de engolir o mundo inteiro. ''Perguntei a um
homem o que era o Direito. Ele me respondeu que era a garantia do exercício da
possibilidade. Esse homem chamava-se Galli Matias. Comi-o". Até diante do
incompreensível, "comi-o" diria Oswald de Andrade. E etcetera e etcetera. O patrimônio
antropofágico de Mário se assemelha a idéias amplas como a de cidadania para o
pensamento moderno urbanístico 4, ou a de desenvolvimento sustentável para os movimentos
4 A associação da cultura com a valorização de espaço urbanos é até bem comum e de vasto sucesso, para não citar Paris e Nova York, citamos Barcelona, onde a cultura hoje passou a ser o item estratégico estruturador de toda a cidade catalã (Ajuntament de Barcelona, 1992).
41
ambientalistas da década de 905 ou a do conceito ampliado de saúde para os sanitaristas
passam a discutir o tema da promoção da saúde, nos anos 806 E que, por isso, nada há de
retórico nas suas afirmações do tipo: "defender o nosso patrimônio é alfabetização".
A potência desta perspectiva institucional, relida a partir de 1973, reorienta as
discussões de Aloísio: "Até que um dia, eu conversava com o Mário Pedrosa em uma
barraca de praia, na ilha de Itamaracá, defronte ao Forte Orange, quando ele, deslumbrado
por aquele espaço, disse que, na crise brasileira, os problemas tinham que ser compreendidos
como um todo e não através de segmentos isolados. Isto soou imediatamente como uma
resposta à minha inquietação. Ou a gente conscientiza o bem cultural como um todo ou não
iremos resolver nunca o problema do patrimônio arquitetônico. O aumento da complexidade
diminui a tensão" (Magalhães, 1985 - p.186). Contudo, alerta Miceli: "Seja como for, a
'generosidade etnográfica' da proposta andradina revelou-se descompassada das
circunstâncias daquele momento, ao passo que a entronização do barroco firmou-se com a
pedra de toque da política preservacionista.
5 Ver Dansereau na Parte III desta monografia. 6 Tal conceito ampliado de saúde correlato da qualidade de vida já está absorvido Pela Organização Mundial de Saúde. Ver também a Parte III desta monografia.
42
Cumpre frisar esses aspectos na medida em que os conteúdos substantivos dessa
política tem muito a ver com a conjuntura de sua criação. Nesse sentido, o SPHAN é um
capítulo da história intelectual e institucional da geração modernista, um passo decisivo da
intervenção governamental no campo da cultura e o lance acertado de um regime autoritário
empenhado em construir uma 'identidade nacional' iluminista no trópico dependente"
(Miceli, 1987).
Aqui, Miceli trata de outro Andrade - Rodrigo Melo Franco de Andrade - que era o
ponto de contato entre o Governo Getulista e o ante-projeto de Mário. Ele por indicação de
Mário e escolha do Ministro Capanema é quem vai conduzir por dentro do Estado Getulista
a criação do SPHAN: a valorização do que é, do que poderia ser brasileiro. Um forte apelo
para o governo autoritário de Vargas. Mas que se por um lado favorece as construções de
Mário, também a limita. A questão do nacionalismo em Vargas favorece a questão
patrimonial, "mas isso não tomaria a proposta andradina politicamente viável na época de
sua formulação" (Miceli, 1987).
A tramitação da proposta de criação do Serviço na máquina governamental é o
melhor exemplo dessa dialética de estimular/limitar. Quando Capanema recebeu a proposta
de Mário, solicitou imediatamente à Câmara dos Deputados que aprovasse emenda ao
projeto de reorganização geral do Ministério da Educação, incluindo o SPHAN em sua
estrutura ministerial. Ao mesmo tempo, pede ao Presidente da República autorização para
fazer funcionar, em caráter experimental e desde logo, esse novo serviço. Seu pedido foi
feito em 13 de abril de 1936 e aprovada por Getúlio Vargas, em 19 do mesmo mês. Nesse
ponto, escolhe o diretor do Serviço, Rodrigo Melo Franco de Andrade, que teve como
principal tarefa esboçar o anteprojeto de lei federal, pronto em 23 de julho de 1936. Nesse
43
ínterim, a 13 de janeiro de 1937, o Serviço experimental já é oficializado pela lei n°. 378 que
reorganiza o Ministério da Educação e Saúde Pública. Quanto à lei federal, no momento de
sua apreciação na Câmara e posteriormente no Senado, com nova votação de emendas na
Câmara prevista para 10 de novembro, neste mesmo dia, há o golpe de estado dissolvendo o
Congresso Nacional. Então, a Constituição outorgada traz em si a disposição, até então,
mais vigorosa de defesa do patrimônio, descrita em seu artigo 134: "Os monumentos
históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou locais particularmente dotados
pela natureza, gozam de proteção e dos cuidados especiais da Nação, dos Estados e dos
Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o
patrimônio nacional". E Capanema não se atrasa. Dias depois do golpe, apresenta nova
exposição de motivos pedindo nova reconsideração para o projeto quase aprovado pelo
Congresso dissolvido. O então Presidente Getúlio Vargas acata e assim temos na publicação
de 30 de novembro de 1937, do decreto-lei n°. 25, a seguinte definição do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional: "Artigo 1°. Constitui o patrimônio histórico e artístico
nacional o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por
seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. ( ... )
Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a
tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe
conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou
agenciados pela indústria humana".
Esta definição, mesmo que mais acanhada do que a de Mário, é considerada
avançada para a época. No entanto, nem mesmo ela pode ser seguida por Rodrigo Melo
44
Franco. Em entrevista ao Jornal do Brasil- maio de 1979 - (JB, caderno B, p.l), já como o
novo diretor do IPHAN, Aloísio esclarece a sua posse analisando o trabalho possível de
Rodrigo: "Sei que muitas pessoas estranharam minha ida, porque achavam que para lá
deveria ir um arquiteto. Essas pessoas não compreenderam que o verdadeiro patrimônio,
como foi concebido por Rodrigo Mello Franco de Andrade e por Mário de Andrade, já
incluía a dimensão abrangente de bem cultural 7. Acho que pensam isso porque Rodrigo nos
primeiros tempos do patrimônio viu, de maneira extremamente inteligente, que tinha que
atacar em uma só linha, a mais dramaticamente atingida. Eram os prédios. Derrubavam-se
prédios históricos. O grande trabalho foi conscientizar as elites: Governo, Clero, Poder
Judiciário. Esta função que era prioritária, acabou se confundindo com o IPHAN. O próprio
Rodrigo tinha perfeita consciência disso. No primeiro número da Revista do Patrimônio,
publicada em 1937, ele escreveu: 'O presente número, desde logo se ressente de grandes
falhas, versando quase todo sobre monumentos arquítetônicos, como se o patrimônio
histórico e artístico nacional consistisse principalmente nestes' - e Aloísio complementa -
"( ... ) o que estamos fazendo não é novidade nenhuma" (Magalhães, 1985 - p.218).
7 Ou seja: o bem cultural móvel. as atividades do povo, as atividades artesanais. os hábitos culturais da comunidade (Magalhães. 1985 - p.217).
45
Deixar de lado, a totalidade da questão, parece ter sido uma estratégia acertada.
Durante 30 anos, Rodrigo Mello Franco dirigiu o SPHAN - aliás DPHAN, já que em 1946
foi elevado à categoria de Diretoria -, cercado por grandes nomes (Lúcio Costa, Prudente de
Morais Filho, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Luís Jardim, Mário de
Andrade) e uma pequena mais qualitativa equipe de arquitetos, artistas plásticos,
pesquisadores, fotógrafos, engenheiros, capaz de seguir as suas três orientações básicas:
inventariar o que existia de amostragem mais significativa da formação brasileira; socorrer
urgente, e salvar alguns monumentos que estavam profundamente atingidos pela ruína e
ameaçavam perecimento completo; introduzir na normalidade nacional, inclusive e
principalmente no campo jurídico, não apenas a figura do tombamento e suas conseqüências,
especialmente aquelas que representavam um gravame caindo sobre a propriedade privada.
Luis Saia - que substituiu Mário de Andrade na Direção da Regional do Patrimônio em São
Paulo - complementa em artigo do n°. 17 da Revista Arquitetura este quadro: "A fim de
enfrentar tamanha tarefa era indispensável ao SPHAN municiar-se de estudos e colocar
corajosamente em segundo plano tudo o que pudesse ser feito mais tarde, com mais
experiência e mais gente: controle do comércio de arte, tombamento paisagístico, inventário
de artes menores, aproveitamento e revalorização de monumentos cuja função se tomara
obsoleta, tombamento de conjuntos urbanos, etc."
A segunda fase da instituição vai de 1967 a 1979 e se caracteriza principalmente pelo
tombamento de conjuntos urbanos, assessorados por grandes técnicos do patrimônio
internacionais. A primeira ação desse tipo foi a conversão de Paraty em monumento nacional
(24 de março de 1966). Seguiram-se planos para as cidades históricas de Minas Gerais,
46
Nordeste e Centro-Oeste. Na Bahia, Cachoeira e Porto Seguro foram erigidos monumentos
nacionais em 18 de janeiro de 1971 e 18 de abril de 1973, respectivamente. Nesta gestão, a
de Renato Soeiro, o Patrimônio também trocou de nome passando, em 27 de julho de 1970,
de Diretoria para Instituto, o famoso IPHAN, que Aloísio Magalhães iria assumir em 1979.
Aloísio, fortalecido pela experiência inovadora do Centro Nacional de Referência
Cultural (CNRC), assume o IPHAN com a decisão de que era hora de não mais deixar em
segundo plano nenhum dos pontos indicados por Luis Saia. Na verdade, "sua noção de bens
culturais", descreve Joaquim Falcão em sua introdução à coletânea de textos e entrevistas de
Aloísio, "se opôs à noção de patrimônio histórico e, ao mesmo tempo, a incorporou. Opôs
se na medida em que a noção de patrimônio foi, historicamente, apropriada e reduzida à
noção de preservação do patrimônio de pedra e cal. De preservação arquitetônica dos
monumentos da etnia branca e sua elite civil, militar ou eclesiástica. Incorporou-o na medida
em que patrimônio histórico passou a ser espécie, e bens culturais, o gênero. Trata-se,
portanto, de conceito mais abrangente, que incorpora o bem ecológico, a tecnologia, a arte,
o fazer e o saber. Das elites e do povo também. Da etnia branca e também da negra e da
indígena. Pois, como gostava de dizer: 'a cultura brasileira não é eliminatória, é somatória'.
Registre-se que para esta noção de bem cultural Aloísio Magalhães buscou apoio em Mário
de Andrade" (Magalhães, 1985 - p.18). Isto é, o bem cultural- podemos apelidar - abaporu
de Aloísio forjado na reflexão sobre os anos 30 e em seus trabalhos no CNRC é um bom
disfarce para o patrimônio antropofágico de Mário.
47
Capítulo 11: O Bem Cultural Abaporu
Quando Aloísio assume o IPHAN, em 1979, ele não podia utilizar simplesmente a
idéia de patrimônio artístico de Mário - o patrimônio antropofágico. Pela sua intensa
utilização e sucesso de trabalho durante a imensa e extraordinária gestão de Rodrigo Melo
Franco e, posteriormente, continuada por Renato Soeiro, a expressão patrimônio passou a
ser praticamente sinônimo de patrimônio arquitetônico. Era preciso diferenciar, para poder
se fazer compreender. É aí que Aloísio passa a desenvolver o conceito de bem cultural- uma
espécie de patrimônio antropofágico, um bem cultural abaporu.
"Tarsila descreve o Abaporu como "uma figura solitária monstruosa, pés imensos,
sentada numa planície verde, o braço dobrado repousando num joelho, a mão sustentando o
peso-pena da cabecinha minúscula. Em frente, um cacto explodindo numa flor absurda". A
partir de comentários de uma amiga, que dizia que suas pinturas "antropofágicas"
(1928/1930) lembravam-lhe seus pesadelos, Tarsila identifica a origem de sua pintura desta
fase: "Só então compreendi que eu mesma havia realizado imagens subconscientes,
sugeridas por histórias que ouvira em criança", contadas na hora de dormir pelas velhas
negras da fazenda. "Segui apenas uma inspiração sem nunca prever os seus resultados.
Aquela figura monstruosa, de pés enormes, plantados no chão brasileiro ao lado de um
cacto, sugeriu a Oswald de Andrade a idéia da terra, do homem nativo, selvagem,
antropófago "(Amaral, 1992).
"Ao receber, em 11 de janeiro de 1928, este quadro de Tarsila como presente de
aniversário, Oswald de Andrade comentou, impressionado: "É o homem, plantado na terra".
Conversando com ela e com o colega Raul Bopp, propuseram-se a fazer um movimento em
48
torno deste quadro, dando origem ao movimento antropofágico. Seu título foi composto
consultando um dicionário da língua dos índios tupi-guarani. Abaporu vem de aba (homem)
e poru (comer) e significa o mesmo que Antropofagia, que vem do grego antropos (homem)
e fagia (comer). Segundo Paulo Herkenhoff, curador-geral da XXIV Bienal "A
Antropofagia é o momento histórico de grande densidade no modernismo brasileiro ( ... ), um
momento de busca por emancipação e atualização destes artistas". Emancipação da tradição
acadêmica, da importação atrasada de modismos europeus. Atualização em relação às
questões relevantes no local e momento em que vivem e às discussões contemporâneas de
artistas de todo o mundo sobre os rumos da arte moderna." (Núcleo educação da XXIV
Bienal de São Paulo recuperado no si/e www.XXIVBienal.com.br).
Esta definição é a tarefa que também se impõe Aloísio Magalhães, o mais tardio dos
antropófagos. E, nesse sentido, suas reflexões se concretizaram pela primeira vez, na criação
do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC). A citação que se segue não foi
realizada de algum debate sobre os efeitos da globalização em nossos anos 90, mas
provavelmente de um encontro acontecido nos idos da década de 70, por Aloísio em
entrevista a Álvaro Rodrigues (texto datilografado /s.d./ laudas 10 e 11, sob o título "Por
que o produto brasileiro não tem estilo?" - Magalhães, 1985) e trata das razões para a
criação do CNRC. Aloísio argumenta: ''Uma das conseqüências mais flagrantes do
achatamento do mundo é a perda ou diminuição de caracteres próprios das culturas. Mesmo
em contextos muito estratificados como a cultura japonesa, em que os elementos da cultura
nacional são profundamente diferenciados, a diminuição e perda de valores próprios pela
aceitação de valores mais universais é enorme. Se isso é válido em culturas já mais
assentadas, imagine então o que acontece em países como o nosso. Mas todo fenômeno tem
49
seu lado positivo e negativo. Nesse sentido a posição brasileira é bastante peculiar.
( ... )Estamos num ponto em que ainda é possível fazer determinadas opções e já é possível
uma série de outras, pela infra-estrutura de base."
Aloísio continua descrevendo essas constatações, que segundo ele foram resultantes
de discussões realizadas em Brasília por um pequeno grupo de pessoas "com
responsabilidades diversas". E desses debates em petit comiteé, destaca um que
simbolicamente representa a deflagração da criação do CNRC: ''F oi uma pergunta que o
Ministro Severo Gomes me fez a respeito do produto brasileiro. 'Por que não se reconhece
o produto brasileiro? Por que ele não tem uma fisionomia própria?' Minha resposta mais
imediata foi que, para se criar uma fisionomia própria de uma cultura é preciso antes
conhecer a realidade desta cultura em seus diversos momentos. Existem enormes inversões
de conhecimento sobre uma coisa precisa, sobre uma certa tecnologia, mas compreensão de
universos mais amplos está carecendo de ser feita. Uma de nossas tarefas é fazê-la. Não
somos ainda uma instituição e evitamos sê-lo. Somos um projeto elástico, mas espalhando
se pelo Brasil inteiro, documentando e elocubrando sobre as nossas realidades."
Tamanha tarefa só poderia ser realizada por um bem cultural abaporu, um
patrimônio antropofágico, capaz de identificar os indicadores culturais de um povo que teria
como principal marca a própria criatividade: "Bom, a capacidade de invenção, para mim,
toma-se cada vez mais clara ser o grande atributo do homem brasileiro (Magalhães, 1985 -
p.171)".
E, em 1 0. de julho de 1975, após uma série de discussões semanais entre o Ministro
da Indústria e Comércio Severo Gomes, o designer Aloísio Magalhães e o Embaixador
50
Wladimir Murtinho, Secretário da Educação do Distrito Federals, o MIC e o Governo do
Distrito Federal firmam um convênio que assegura recursos para estudo de viabilidade do
projeto 0l.0l.15. Com o apoio da Fundação Universidade de Brasília, o grupo de trabalho
denominado Centro Nacional de Referência Cultural, ganha espaço no campus da
universidade, sob coordenação de Aloísio Magalhães. O resultado do estudo de viabilidade
produz a assinatura de um convênio de cooperação técnica e financeira para a consolidação
do próprio CNRC. A data é 2 de agosto de 1976 e assinam o convênio a Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, o Ministério da Educação e Cultura, o Ministério
da Indústria e do Comércio, a Caixa Econômica Federal, a Fundação Universidade de
Brasília e a Fundação Cultural do Distrito Federal. Nele, cabe ao CNRC estabelecer um
sistema referencial básico para descrição e análise da dinâmica cultural brasileira, limitado
pela: "a) adequação às condições específicas do contexto cultural do país; b) abrangência e
flexibilidade nas descrição dos fenômenos que se processam em tal contexto e na vinculação
dos mesmos às raízes culturais do Brasil; c) explicitação do vínculo entre o embasamento
cultural brasileiro e a prática das diferentes artes, ciências e tecnologias, objetivando a
p ... : cepção e o estímulo, nessas áreas, de adequadas alternativas regionais".
8 O Embaixador W1adimir Murtinho se encontra hoje no Ministério da Cultura como assessor especial do Gabinete do Ministro.
51
Esse sistema referencial básico sena composto por uma rede de indicadores
culturais, que emergiriam de situações peculiares à nossa cultura. Tais situações, ao serem
encontradas eram, primeiro, e obviamente, identificadas - captadas - como relevantes.
Depois, indexadas - memorizadas e referenciadas - por sua relevância. E, por fim, na forma
mais adequada, devolvidas à comunidade pela razão mesma dessa relevância. Identificação,
indexação, devolução faziam parte de uma metodologia de ação do CNRC, onde, por um
processo de reflexão, os três momentos se intercomunicavam e interagiam continuamente.
Os resultados expressivos conseguidos pelo Centro acabam por viabilizar um termo
aditivo ao convênio anterior, em 16 de outubro de 1978, que incluem mais dois parceiros: o
Banco do Brasil e o Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnológico (CNPq).
A partir do estudo e compreensão das circunstâncias da produção cultural brasileira,
baseada em sua própria realidade - assim se auto-objetivava o CNRC -, o Centro Nacional
de Referência Cultural pôde pelo conjunto de seus projetos fornecer - segundo Aloísio
mesmo - ''um quadro de amostragem altamente representativo da realidade cultural brasileira
e '. sua dinâmica" (Magalhães, 1985 - p. 57). Em seus quatro programas trata: 1) do
artesanato como referência cultural, isto é, traçado de uma sistemática ampla para o
mapeamento da atividade artesanal no Brasil, consideradas suas múltiplas vinculações com
as circunstâncias históricas, sócio-culturais e econômicas do país; 2) de levantamentos
sócio-culturais, definidos como o conhecimento dos processos de transformação sócio
cultural, especialmente com vistas ao estudo de modelos alternativos de desenvolvimento; 3)
da história da tecnologia e da ciência no Brasil, com os objetivos de conhecer as técnicas e o
saber tradicional artesanais, de compreender as economias de pré-mercado e de estimular a
52
descoberta de tecnologias alternativas nas atividades de transformação do país; 4) de
levantamentos de documentação sobre o Brasil: levantamentos, referenciação, preservação e
difusão desses documentos.
O texto acima que pode ser consultado em anexo (anexo lI), na sua íntegra, na
verdade faz parte, de uma primeira argumentação de Aloísio sobre a necessidade de
integração do CNRC ao quadro geral do sistema administrativo, mesmo que uns anos antes
defendesse o contrário. A partir deste momento, tal integração seria para ele o único meio
de viabilizar o retorno à comunidade dos trabalhos realizados: "Quanto ao terceiro [a
devolução], o mais importante e o que configura a finalidade principal do projeto, é que
representa a razão de ser deste documento. De fato, é chegado o momento de constatar que
uma ação efetiva dos resultados obtidos através dos indicadores que se tornam conhecidos
só pode ser realizada tendo o CNRC uma posição claramente definida dentro do quadro
geral do sistema administrativo e dele fazendo parte como instrumento auxiliar válido"
(Magalhães, 1985 - p. 57).
Mas, afinal, o que poderíamos dizer que Aloísio havia acumulado? Um conjunto de
indicadores culturais, que lhe garantem através do seu mapeamento sinalizar os caminhos da
cultura brasileira? Não, muito mais do que isso! Ele com a experiência do CNRC e suas
reflexões, Aloísio acumulou antropofagia! "Tupy or not tupy that is the question" (Oswald
Andrade - Manifesto Antropófago, 1928 - texto integral no anexo I). Desenvolveu a sua
capacidade de engolir, regurgitar e vomitar completamente novo! Ele desenvolveu uma
máquina de leitura, uma máquina de ler brasilis. Ele desenvolveu um processo de trabalho:
aquele de olhar a realidade e dizer ali propriamente o que seria brasileiro e qual o seu
possível trajeto. Tão preciso, que poderia dizer o que é ser universal: ''Universal, meus
53
senhores, não é igual" (Magalhães, 1985 - p.84) . Isso fica muito claro quando Aloísio trata
da questão do artesanato, ou quando comenta - novamente e novamente - sobre a
capacidade de invenção do povo brasileiro: "Uma coisa parece evidente: a certeza de que a
realidade brasileira contém riquezas que ainda permanecem desconhecidas e como que
protegidas por um imenso tapete que as encobre e abafa. Para descobri-las e conhecê-las
dispomos de um admirável potencial humano, rico de invenção e tolerância. Resta-nos
trabalhar, mantendo-nos conscientes de nossa responsabilidade social" (Magalhães, 1985 -
p.57). Oswald concorda, sendo sempre mais direto: "Contra todos os importadores de
consciência enlatada. A existência palpável da vida" (Manifesto Antropófago, 1928).
Aloísio, então, passa a testar a sua máquina devoradora - seu bem cultural abaporu -
em várias direções. No ato de registrar atos de inventividade do povo brasileiro como uma
característica que lhe é própria, Aloísio se lança, corajosamente, em reflexões sobre
situações pontuais de tempo, espaço, individuais - no caso de peças específicas de artesanato
ou de algum artista em particular -, como em situações mais amplas envolvendo grandes
linhas temporais - históricas até -, espaciais e coletivas - onde a cidade de Brasília seria o
melhor espécime. Assim o faz quando em entrevista de abril de 1979 (Magalhães, 1985 - pp.
171, 172 e173) lhe perguntam:
''Existe algum exemplo para mostrar, provar isso?
''Bom, deve haver muitos. Alguns pequenos a gente tem identificado, tem inclusive
falado sobre eles. Há um que particulannente me encanta pelo seu sentido poético e, até
mesmo, de amor, que são aquelas lâmpadas de querosene que são usadas pelo homem
brasileiro na região que ainda hoje não chega a eletricidade, e eles usam o bulbo da lâmpada
elétrica como depósito de querosene. A meu ver, o conteúdo de invenção e graça desse
54
objeto é extraordinária. E de humor, quer dizer, já que eu não tenho luz elétrica, fisicamente,
transformo, altero ele para uma lâmpada com outro tipo de tecnologia. Ela recua no tempo,
ela mesma, e serve como lâmpada. ( ... )Santos Dumont, por outro lado, com enorme
disponibilidade do sentido de ser brasileiro diante de certas coisas, por não ter muito apego
a amarras antigas, se volta para a frente."
Vai do bulbo esvaziado de sua eletricidade que mesmo assim produz a luz pelo
querosene ao mais pesado do que o ar de Santos Dumont capaz de voar, num movimento
balanceado que dá a Aloísio a possibilidade de generalizar: "( ... ) artesanato é a tecnologia de
ponta de um contexto em determinado processo histórico. ( ... ) artesanato é o momento da
trajetória, e não uma coisa estática". Portanto, quando se quer oferecer aumento de renda ao
artesão, dando-lhe a possibilidade de repetir um detenninado produto, quando se faz mais
pedidos do que a sua produção normal: "O remédio que se oferece é a idéia de que ele repita
mais. Que passe a ter mais beneficio através da repetição reiterada e monótona daquele
momento da trajetória. E isso é inadequado porque corta o fio da trajetória, o fio da
invenção, da evolução da invenção" (Magalhães, 1985 - p.172). A generalização de Aloísio
vai mais longe embalado pelo seu movimento de pendular: "Na realidade eu penso que,
dentro do conceito clássico e ortodoxo, não existe propriamente artesanato no Brasil. O que
parece existir é uma disponibilidade imensa para o fazer, para a criação de objetos. ( ... ) são
formas iniciais de uma atividade que quer entrar na trajetória do tempo. Quer evoluir na
direção de maior complexidade e de resultados mais efetivos. ( ... ) nós temos é que observar
essa disposição, essa presença muito alta do índice de invenção. (. .. ) um alto índice de
invenção, como sendo uma atitude pré-design. Em outras palavras, o artesão brasileiro é
basicamente um designer em potencial, muito mais do que um artesão clássico. ( ... )0 que
55
esta tese procura demonstrar é que o grande potencial está no homem. A atitude certa é
aceitar esse homem, na sua dinâmica e ajudá-lo, a partir de indicadores do seu passado,
ajudá-lo a dar o passo adiante necessário à contemplação de sua trajetória" (Magalhães,
1985 - p.175).
A fortaleza da tese aCIma faz os casos se multiplicarem e se multiplicarem. E
etecetera e etecetera. Da mesma forma que o sofista, diante da pergunta socrática do que é
o belo, só consegue apontar exemplos de belo (Diálogos de Platão: Hipías Maior, 1980).
Aloísio acumula uma quantidade impressionante de casos, onde não mencionar alguns seria
perder não só a profundidade do seu método como a sua graça. Típico quando trata do
reaproveitamento de pneus no Nordeste brasileiro: ''Isso denota o quê? Denota que o
homem do interior de uma região do Nordeste encontrou intuitivamente - eu chamo isso de
tecnologia da sobrevivência - uma forma de fazer riquíssima. Como invenção, pelo que
contém de criativo esse processo. Você já imaginou o que é, do lixo, de uma coisa que não
tem mais uso, você retirar uma nova matéria-prima? E essa matéria-prima ser transformada
em outro produto, e esse produto ter encaixe e ter conveniência para o uso coletivo? Você
vê o grau de elaboração a que já chegou. O bujão do lixo que não machuca, que
corresponde ao tamanho de uma casa média de família do Nordeste. Um utensílio que
corresponde a uma necessidade básica da comunidade. Que ele elabora ao nível da maneira
de se carregar melhor, de se tampar, até ao nível de se decorar o objeto (Magalhães, 1985 -
p.228). ( ... ) Ele chegou a um nível de elaboração tal que já tem duas fases: a do sujeito que
recupera do pneu uma nova matéria-prima e a do sujeito que compra essa matéria-prima e
faz os seus produtos, os seus artefatos. Equipamentos feitos por eles, entendem? O distensor
é maravilhoso para abrir as lonas, os instrumentais são todos criados pela prática. E
56
representa uma economia curiosíssima. O principal produto desse fazer é um depósito, em
três tamanhos" (Magalhães, 1985 - p.228).
Outros casos, como o do caju ou do Museu de Tecnologia Patrimonial, seguem a
linha de Mário e de sua quarta objeção, que ele - Mário - batizara, em seu ante-projeto,
como sendo um tipo de arte aplicada. "Porque o caju, em primeiro lugar, sendo um produto
natural do Brasil, tem três grandes predicados para ser uma análise exemplar. Primeiro, o
predicado de consciência histórica, ou seja, ele é conhecido desde o descobrimento e usado
até hoje. ( ... ) O segundo predicado é o do espaço. Quer dizer, o caju cobre um contexto
brasileiro de uma imensa abrangência. E o terceiro é a diversidade de usos e produtos que
derivam daquele produto natural. Bom, em segundo lugar, o interesse do produto do caju é
que, pela reiteração, a presença dele é tão intensa que já transcende o próprio uso no sentido
de fruto alimentício. ( ... ) A diversidade de usos é tal que ele já saltou para fora do uso direto
e já tem os usos simbólicos, né? Medidor de tempo, divisor de espaço temporal: antes e
depois da chuva do caju. Você tem objetos de arte usando o caju; mobiliário com trabalho
de talhas feitos com caju; pintura feita com uso de caju, poesia citando caju; literatura em
torno do caju". (Magalhães, 1985 - p.223) E já destacando os pontos positivos e negativos,
apontando para um possível tombamento da fábrica de vinho de caju na Paraiba, que seria
um típico exemplo do Museu de Artes Aplicadas e Técnicas Industriais de Mário, acrescenta
em outra ocasião: "Uma fruta que um dia foi brasileira, cantada em poemas, pintada em
óleos e aquarelas, rezadas por curandeiros, bebida por foliões, o caju hoje é produzido em
maior quantidade em Moçambique. As propriedades químicas do caju - entre elas, o
componente LCC, usado em quase todos os adesivos, resinas, inseticidas naturais, etc. - lhe
valeram 243 patentes no Instituto Nacional do Caju, na Índia, 111 americanas, 75 inglesas e
57
as demais divididas entre Índia e Japão. O Brasil só pegou mesmo resfriado, com a
diminuição dos cajueiros e suas fontes riquíssimas de vitamina C. Temos de evitar, em
outros setores, a repetição do que ocorreu com o caju. Temos de evitar que, por falta de
compreensão, desperdicemos o que temos na busca de algo que nem sempre nos
desenvolve, nem nos interessa. ( ... ) O caju é como boi. Tudo se aproveita. No século XIX
havia vários pequenos fabricantes de vinho de caju. Hoje só há uma fábrica, na Paraíba. ( ... )
Hoje, nós, brasileiros, compramos de volta os derivados de caju, já manufaturados pelos
americanos, ingleses, japoneses" (Magalhães, 1985 - p. 225).
E como se Aloísio estivesse ouvindo-nos, ele diz mais a frente: "Já que se está
tratando de situações exemplares, vêm à tona duas outras. A primeira é a da Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré. ( ... ) A partir do passado daquela estrada de ferro fomo-nos
aproximando do presente da região. Verificamos que o grande anseio da comunidade era no
sentido de que ela voltasse a funcionar, corrigindo um ato tecnocrático e centralizado r de
desativação. Ao se aplicar o decreto de que todas as ferrovias com menos de 600
quilômetros são economicamente inviáveis, não se levou em conta a peculiaridade de que
em muitos casos o fator econômico não é o predominante. E o fator básico na Madeira
Mamoré era o da integração social, portanto, cultural. Ela funcionava como um sistema
vascular, alimentando também culturalmente aquela área da região amazônica" ( ... )"0
Museu de Orleans representa uma segunda situação de exemplaridade" (Magalhães, 1985 -
p.226). "( ... )Uma pequena cidade do sul de Santa Catarina, uma curiosa experiência: o
Museu de Tecnologia Patrimonial. Nessa região os imigrantes europeus trouxeram uma série
de equipamentos de produção de farinha de mandioca, de beneficiamento de milho, serraria,
carpintaria, tudo movido a roda d'água. Todas as peças, todas as engrenagens são de
58
madeira. E elas existem ainda, perfeitamente úteis e suficientes nesta área de Santa Catarina.
(. .. ) Lá elas estão todas reunidas e em funcionamento. A própria comunidade é quem toma
conta. ( ... ) De forma que está lá em Orleans este exemplo curioso, maravilhoso, de uma
espécie de Disneylândia da verdade, onde as coisas funcionam para o uso da comunidade,
um grande, maravilhoso brinquedo, cujo resultado é a própria substância de vida da
comunidade" (Magalhães, 1985 - p. 227).
Então, Aloísio aponta sua máquina abaporu para a história das artes e para a história
política do Brasil, em busca de seus casos exemplares. De cara, enquadra o próprio Mário
de Andrade quando ele se encontra com Chico Antônio, no sertão do Rio Grande do Norte:
''É uma coisa admirável essa peça, esse encontro de dois gigantes. O erudito, o homem de
formação, de todos aqueles valores, que se defronta com um sujeito simpático e tal, e ambos
se consideram verídicos, atuais, entende? Essa idéia de dois pólos, a gente tentar ver dentro
desse contexto heterogêneo, é que vai nos ajudar a entender o caminho. O próprio Mário é
que mostra como Chico Antônio era igual a ele. E o Chico Antônio sabia disso, porque diz a
ele - diz cantando: ( ... ) O senhor quando voltar pra sua terra vai sentir falta de mim por isso,
por isso, mas quando voltar aqui pode me chamar que eu venho" (Magalhães, 1985 - p. 64).
E Aloísio segue por dentro da história colecionando e colecionando, pois "os exemplos são
inúmeros: o confronto entre a Escola de Recife, assentada no pensamento cientificista de
Tobias Barreto e a mentalidade romântica~ ambas, em certo sentido, encontraram o ponto de
equilíbrio no humanismo de Joaquim Nabuco; a figura de D. Pedro 11 que, mediando entre
forças contrapostas, presidiu por mais de quarenta anos - fato notável para a história de
qualquer povo - o processo de consolidação da unidade nacional; a grande ênfase no
pensamento positivista tomou-se indispensável para o equilíbrio de forças contrárias na
59
criação da República; ( ... ) o Marechal Rondon, homem de formação militar ligada à tradição
positivista, foi o interlocutor mais sensível e compreensivo do espírito mágico e mítico de
nossas comunidades indígenas. Constata-se, assim, que situações paradoxais, permeadas de
ambigüidades, são indispensáveis e imanentes a todo processo social criativo" (Magalhães,
1985 - P 50). E no interior do processo criativo puro, Aloísio pode arriscar que Aleijadinho
"passa a ser muito mais forte, a sua expressão adquire maturidade, quando ele abandona o
mármore e encontra a pedra-sabão. Em outras palavras, quando o artista, dentro do seu
contexto, se desvencilha de uma matéria-prima que era importada ideologicamente em certo
sentido, que era modelo de um comportamento europeu. ( ... ) Então, o sentido é muito
amplo, não é a utilidade só no sentido do consumo, mas a utilidade da verdade de se usar a
matéria-prima que você tem à mão. E o exemplo do Aleijadinho me parece muito
pertinente" (Magalhães, 1985 - p.l01). Também parece ser pertinente o exemplo de A
Pedra do Reino de Ariano Suassuna, pois ela "pode ser lida em qualquer página, qualquer
página contém o todo do livro. Certa crítica literária superficial acusa o livro de repetitivo,
esquece que ele é reiterativo e que cada página contém o todo do universo do próprio
livro". (Magalhães, 1985 - p.l0l)
O caso de A pedra do Reino mais a obra do artista-plástico Francisco Brennand são
mais exemplares do que outros exemplos, porque para Aloísio estes dois casos trazem a
marca da passagem das fases da intuição e da conceituação na cultura brasileira para a fase
da ação: ''Parece-me claro que, em relação ao processo cultural brasileiro, o primeiro passo
que se deu, no sentido da percepção desse valores autônomos e de seu possível
aproveitamento no sentido da formação de uma cultura brasileira própria, foi o da sua
intuição por alguns grandes homens brasileiros. A essa intuição segue-se naturalmente uma
60
conceituação. E, em terceiro lugar, a conseqüência lógica disso tudo é a ação. Não seria da
minha competência analisar detalhadamente esses grandes homens, mas citaria apenas dois:
Euclides da Cunha e Gilberto Freyre. Em ambos os casos, as duas primeiras etapas desse
processo civilizatório - intuição e conceituação - apresentam-se de maneira clara".
Neste ponto, quando Aloísio aplica seu método, sua maquinaria antropofágica, à
história recente brasileira, na busca de indicar o exemplo exemplar da etapa ação do
processo civilizatório brasileiro, é que acaba por praticar a sua maior ousadia estabelecendo
um exemplo espetacular do que seria uma marca essencial da cultura brasileira: "( ... ) a
construção de Brasília. Por mais que se queira negar, por mais que se queira, com pequenos
argumentos, diminuir a importância desse gesto, acredito firmemente que significou o
momento decisivo da ação cultural brasileira. Dentro da concepção de que nos trópicos
convivem pólos opostos, podemos dizer que Brasília tenta unificar o cartesiano e o barroco,
isto é, o espontâneo ou natural. E por que o aspecto cartesiano na construção de Brasília?
Por causa da necessidade de, através de um certo formalismo, de uma certa hierarquização,
de uma forma simétrica, realmente propiciar um sistema adequado ao desenvolvimento do
pensamento globalizante de todo brasileiro. E tudo que possa haver de excessivamente
cartesiano na concepção de Brasília foi rapidamente compensado, em termos de
espontaneidade, pelo surgimento de uma constelação de cidades satélites, trazendo pó, a
presença dos valores naturais, oriundos de todas as áreas brasileiras, balanceando os excesso
de racionalismo porventura existentes na cidade" (Magalhães, 1985 - p.99). "É uma cidade
construída pela razão, que abriga uma representatividade alta de brasileiros de um nível
cultural alto que são os homens que vêm com a preocupação de metodologia e de comando,
que poderia se tomar demasiadamente racional nessa relação e que é contrabalançada, nessa
61
situação, de imediato pela presença de uma representatividade em alto nível de
diversificação de tudo que é realmente peculiar ao fenômeno brasileiro". (Magalhães, 1985 -
p. 252 e 253)
Vale a pena um último exemplo, daquele que Aloísio cita durante a sua saudação ao
Presidente João Figueiredo, em 12 de novembro de 1979, na sede do IPHAN em Brasília.
Neste dia, o Presidente assinou três documentos que reformularam a estrutura do órgão
federal de proteção dos bens culturais brasileiros: instituindo a Fundação Nacional Pró
Memória; transferindo o Programa de Cidades Históricas para o IPHAN; e transformando o
IPHAN em SPHAN, de Instituto para Secretaria no MEC:
''Finalmente, Presidente, não querendo mais me alongar, gostaria de lhe entregar um
objeto. É que, Presidente, nas minhas andanças pelo Brasil tenho encontrado muita coisa de
grande significado, de grande simbolismo, muita coisa que representa a invenção e a
capacidade de criação do homem brasileiro. Da Amazônia vem este bastão de comando
ritual dos nossos índios. A feitura, a feição fisica do instrumento, mostra bem que é um
bastão de comando. Entretanto, Presidente, no interior deste instrumento se esconde e está
guardado o oposto quase da idéia de comando, no sentido de presença fisica, que é o
sentimento musical, sentimento próprio do brasileiro. Este bastão, a qualquer movimento
que se faça com ele, produz o barulho da chuva, sinal de fertilidade, de criação. E ele, ao
mesmo tempo que é, na sua expressão de bastão de comando e de ordem, um objeto de
razão, esconde no seu interior o sentimento do homem brasileiro. Essa síntese me parece
muito própria do temperamento e do tipo de qualidade do homem brasileiro" (Magalhães,
1985 - p.72).
62
Aqui, mais do que o exemplo do artefato indígena do pau-de-chuva, mais uma marca
da cultura brasileira, é a própria situação um exemplo da ação da maquinaria antropófoga de
Aloísio Magalhães. Depois, de apontar em todas as direções, ela se volta para si mesma, e
passa a engolir todas as estruturas administrativas da área federal de cultura. Esta situação é
exemplar, porque simbolicamente marca - com a citação do bastão de comando ritual dos
índios - o início dessa ação abaporu para além dos exemplos culturais, artísticos ou
históricos. Em direção de si mesma.
Capítulo li: Lembranças do futuro: "Tupy or not Tupy"
Seria possível descrever a forma abstrata da maquinaria antropófaga de AM, do bem
cultural abaporu? Seria possível responder à pergunta como funciona e traçar seus manuais
de uso e manutenção? Poderíamos listar os dez pontos mais comuns de mau funcionamento
e orientar usuários?
Duas abstrações de AM poderiam cobrir essas questões. A primeira relacionada ao
que chama de memória biológica, em contraponto à idéia do senso comum de que um
indivíduo tem boa memória. E a segunda, a um aparato tecnológico relativamente antigo,
encontrado em várias culturas, com facetas de universalidade e que na brasileira tem o nome
especial de bodoque.
Se à palavra patrimônio está associado o sinônimo patrimônio arquitetônico, de
pedra e cal - o que faz Aloísio opor a ela a idéia de bem cultural, que incorpora patrimônio
de pedra e cal e vai muito mais além -, o mesmo acontece com a idéia de memória nacional
associada apenas ao ato de guardar o passado - que o faz opor a ela a idéia de memória
biológica: ''É preciso refletir um pouco sobre o conceito de memória nacional, que para mim
63
está a~ guardada nos grandes depósitos do saber que são o Museu Nacional, a Biblioteca
Nacional, o Arquivo Público, os órgãos regionais. A memória nacional está nos livros, no
trabalho do Instituto do Patrimônio Histórico, enfim, em todas as entidades que, ao longo
do tempo, se ocupam do problema da trajetória histórica da nação. A memória nacional,
portanto, não precisa ser procurada. O que precisa ser feito é a dinamização da memória
nacional, é a mobilização dessas informações guardadas para que participem da vida
nacional. E aí faço, de novo, o uso de uma imagem comparativa com o organismo humano.
Quando se fala em memória num sentido figurado, quando se empresta a idéia de memória a
um fato qualquer, em geral há uma tendência a se tomar isso como 'juntar' ou 'guardar'
alguma coisa, 'reter'. E isso me parece insatisfatório, eu prefiro o conceito biológico de
memória: guardar, reter, para em seguida mobilizar e devolver"(Magalhães, 1985 - p.67). A
definição é eminentemente antropófaga: reter - engolir -; mobilizar - regurgitar -; e devolver
- vomitar.
''Bom, em primeiro lugar eu acho o seguinte: essa palavra 'memória' eu nunca uso.
Porque para mim, pelo menos, ela conota uma coisa que é muito estática, como se fosse o
repositório parado onde se juntam, se guardam coisas, se guardam por guardar. Eu acho que
se você fosse tomar a palavra 'memória', teria que tomar num sentido mais fisiológico, ou
seja: guardar para poder trabalhar como elemento na direção de uma expressão. Eu acho
que o problema é que a dinâmica de uma cultura está sempre num tal movimento - numa
evolução, senão ela seria uma cultura morta -, que você tem que tratar esses elementos
dinamicamente" (Magalhães, 1985 - p. 220).
Para o sujeito que tem boa memória, as conseqüências dessa maquinaria são dificeis
de entender. Aloísio aponta uma delas: "Essa relação de tempo é curiosa porque é preciso
64
entender o bem cultural num tempo multi dimensional. A relação entre a anterioridade do
passado, a vivência do momento e a projeção que se deve introduzir é uma coisa só. É
necessário transitar o tempo todo nessas três faixas, porque o bem cultural não se mede pelo
tempo cronológico" (Magalhães, 1985 - p. 66). Dessa forma, "o tempo cultural não é
cronológico. Coisas do passado podem, de repente, tornar-se altamente significativas para o
presente e estimulantes do futuro" (Magalhães, 1985 - p. 67). O bem cultural abaporu é
especialmente extemporâneo, nos mesmos termos de Niesztche: era demais para a sua época
(Deleuze, 1974). ''E é nesse sentido que a tarefa da preservação do patrimônio cultural
brasileiro, ao invés de ser uma tarefa de cuidar do passado, é essencialmente uma tarefa de
refletir sobre o futuro". Em outras palavras, o bem cultural abaporu, realizado no presente,
são sempre lembranças do futuro.
De que tecnologia temporal estamos falando especificamente? Daquela associada à
maquinaria do bodoque: "Pode-se mesmo dizer que a previsão ou a antevisão da trajetória
de uma cultura é diretamente proporcional à amplitude e profundidade de recuo no tempo,
do conhecimento e da consciência do passado histórico. Da mesma maneira como,
analogicamente, uma pedra vai mais longe na medida em que a borracha do bodoque é
suficientemente forte e flexível para suportar uma grande tensão, diametralmente oposta ao
objetivo de sua direção" (Magalhães, 1985 - p.44).
Em outras palavras, essa ação da memória biológica, essência de um bem cultural
abaporu, pode ser descrita dentro de seu ambiente extemporâneo pela fisica de lançamento
de projétil desenvolvida pela ação do chamado bodoque. Portanto, se estamos nós no
ambiente extemporâneo de um bem cultural abaporu qualquer, o plano onde se encontra a
forquilha do bodoque é o tempo presente. A sua superficie, encrostada no plano presente e
65
única com ele, determina para frente o espaço infinito do futuro e para traz o espaço infinito
do passado. A globalidade do fenômeno - futuro/forquilha/passado - é extemporânea como
um todo, mas também em um ponto específico: no projétil, como se poderá ver mais
adiante.
Dessa forma, a borracha da forquilha pende preguiçosamente num tempo passado
recente, presa na atualidade da madeira. E o projétil um composto rochoso - ou não -,
resultado do amálgama de várias gerações geológicas definidas culturalmente, e
especialmente selecionado pela sua adequação ao abstrato espaço para projétil da borracha
presa na forquilha, é pressionado por uma força exterior consciente contra a borracha que o
envolve. Nesse momento, devemos considerar que a escolha do projétil e a pressão que
sofre na borracha (e a própria tensão da borracha) ao ser puxada na direção diametralmente
oposta a que será lançado correspondem ao que Aloísio chama identificação. Ela é
representada pelo sentido presente/passado.
Claro que podemos entender que se o projétil não for suficientemente resistente para
agüentar a pressão dos dedos sobre a borracha que o pressiona, ele - o projétil - irá
esfarelar. Situação que deve ser encarada como um momento positivo da identificação.
Esfarelar ou não, e uma borracha que suporte grande tensão são momentos importantes para
identificação de indicadores culturais. A borracha, flexível e ao mesmo tempo resistente,
pode ser analogamente, por exemplo, identificada com o Centro Nacional de Referência
Cultural: "Somos um projeto elástico" (Magalhães, 1985 - p.19). Aloísio não esconde.
Então, diz-se que a força exterior é consciente porque tensiona o máximo necessário
para atingir o alvo e não o máximo suportável pelo conjunto borracha/projétil. É também
consciente porque ajusta a forquilha na direção do alvo. Há aqui, naturalmente, uma ação
66
conscientemente balística e o alvo é o conteúdo - ou o produto - cultural que se quer atingir.
E o projétil é lançado. Mas antes, é preciso que se diga, que essa consciência balística
composta pelo ajuste da direção ao alvo, pelo ajuste da força de tensão ao alvo e pelo
conhecimento propriamente gravitacional da trajetória de um projétil indica o início da
segunda fase, que Aloísio chama de indexação. O conhecimento balístico é, simplesmente, a
lógica da indexação e esta fase é propriamente representada pelo momento especial do
ajuste para o alvo (direção/tensão/gerenciados pelo conhecimento balístico) até o momento
especial em que o projétil já lançado passa pelo espaço vazio entre as hastes da forquilha. A
indexação é, portanto, representada pelo sentido passado/presente.
Por fim, o momento especial da passagem do projétil pelas hastes da forquilha é
temporalmente complexo, pois ali residem todos os sentidos temporais. Ali também se
realiza, além dos sentidos indicados mais acima, o sentido presente/futuro. Mas
principalmente se realiza, por anterioridade lógico-temporal, o sentido presente/presente.
Este sentido representa a fase considerada por Aloísio como a mais importante de toda a
trajetória, e ao mesmo tempo, o diferencial das idéias comuns de (ter boa) memória e
patrimônio (de pedra e cal). O sentido presente/presente é o momento da devolução à
comunidade dos resultados da identificação e da indexação.
No momento especial da devolução, o projétil ganha o ar e - já que o sistema
forquilhalborracha/força consciente foi desmobilizado - passa a realizar em si todo o
sistema. O projétil e sua trajetória passam a conter todas as forças de realização do seu vôo,
isto é, todo o sistema anteriormente ativado, todos os sentidos temporais. O projétil, de
determinada perspectiva, contém a semente de outro bodoque/projétiVforça consciente; de
outro bem cultural abaporu. Pode-se ver como é importante que a analítica da trajetória seja
67
explicitada no momento da devolução, onde a sua precisão é o parcial rebatimento da
trajetória, registrada pelo sentido da indexação no eixo de reflexão presente/presente
oferecido pelo momento da devolução. Assim, Aloísio o expressa: "Os três momentos se
intercomunicam e interagem continuamente num processo de reflexão" (Magalhães, 1985 -
p. 56). Isto é, quando a fase de identificação se inicia já traz em si fragmentos de indexação,
projetando a devolução; o mesmo podemos dizer da indexação, onde a sua própria
realização são momentos tímidos mas já evidentes de devolução e momentos finais da
consolidação da identificação; e a devolução - que necessariamente é composta por uma
analítica da trajetória balística - identifica a identificação e indexa a indexação ao devolver
também a devolução.
Ainda por fim, deve-se destacar que o projétil, em qualquer momento de que
participe, traz em si o presente absoluto, como se ele esticasse o plano presente nos vários
sentidos que realiza, para frente ou para trás. Dito de outra forma: o projétil traz em si a
extemporaneidade de todo o conjunto abaporu. Ele nasce no presente, pela reação à força
consciente realizada pela borracha ancorada na forquilha. Carrega o presente até o máximo
passado da tensão e o atualiza (o toma novamente presente) ao refazer a trajetória inversa -
note-se bem: somente por causa da flexibilidade tensionada da borracha. E leva o presente
ao futuro ao passar pelas hastes da forquilha e o realiza (toma o futuro, presente) pela
analítica da trajetória e por sua pontencialidade de tomar-se um novo bodoque.
Assim, é o mundo de Aloísio: vários bodoques/projétis/forças conscientes
acontecendo extemporaneamente e se multiplicando em novos bodoques e muitas vezes
chocando-se em pleno vôo e se auto-germinando e se auto-determinando bodoques
voadores, até que a balística se tome o estudo da força gravitacional planetária, cósmica,
68
astronáutica. Por isso, ele diz que a cultura é altamente dinâmica. E assim é o mundo de
Aloísio: antropofágico. "Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente.
Filosoficamente. Única lei do mundo" concorda Oswald (Manifesto Antropófago, 1928).
Nesse mundo de estilingues e refeições canibais, tudo muda, sempre. O que seria por
exemplo o ato de tombar um monumento? Na Revista do Patrimônio 22 (coincidência com
Semana de 22?), comemorando 50 anos de SPHAN, no artigo "Documentos Históricos,
documentos de cultura", Antonio Augusto Arantes aborda o que poderia ser dessa
perspectiva balística o ato de tombar: "( ... ) Os bens do patrimônio cultural não são apenas
signos que constituem discursos do presente sobre o passado. A meu ver, seja respondendo
às exigências e restrições ditadas pelos paradigmas técnico-conceituais adotados pelos
especialistas, seja atendendo ou não aos gostos, desejos, necessidades e ambições de
proprietários e usuários, a ação preservacionista coloca freqüentemente esses bens em
contraste critico com os seus equivalentes contemporâneos (sobretudo na questão
ambiental). E, em conseqüência disso, ainda que pertencendo ambivalentemente ao presente
e ao passado, eles devem ser interpretados como signos novos, articulados em linguagem de
hoje e constitutivos de práticas sociais atuais" (Magalhães, 1985 - p.53).
Melhor exemplo para a utilização acadêmica do bodoque não há: Engolir - regurgitar
- vomitar. O que se vomita? Sempre algo novo, irreconhecível para quem se assenta no
passado ... ou melhor: que pensa ser possível fazer este tipo de reflexão de purificação sobre
o passado. Tombar como um ato de preservação do passado não existe: "Se Versalhes
falasse é uma utopia reacionária e saudosista e não uma façanha para o bico de técnicos em
restauração", diria Miceli (SPHAN, 1987). E por quê? Porque a cada projétil lançado pelo
bodoque, nova é a força consciente - sócio-cultural - que o impulsiona, em outra missão,
69
para além daquela anterior para qual o material rochoso do qual o projétil fazia parte exigia.
Nas palavras de Antonio Augusto Arantes (SPHAN, 1987), "pode-se argumentar que os
registros que se produzem sobre os acontecimentos passados são, também, interpretações
culturais desses acontecimentos. Os chamados documentos históricos são, também, nesse
sentido, documentos de cultura e para que se possa interpretá-los adequadamente, sem
simplificações ou reducionismo, passa a ser de extrema relevância colocarmos a nós mesmos
e a nossa atividade na condição de objeto e formularmos, com a isenção possível, questões
do tipo quem, quando, onde, como, por que, e com que conseqüências,,9.
9 É a analítica da trajetória. Talvez não haja definição melhor do que esta oferecida por Arantes. 70
Ou seja, passa a ser relevante todo o contexto da prática preservacionista e, mais
uma vez, não apenas o seu resultado" (Magalhães, 1985 - p.54). Em Oswald (Manifesto
Antropófago, 1928) pode-se encontrar que "o espírito recusa-se a conceber o espírito sem
corpo. O antropomorfismo. Necessidade da vacina antropofágica. Para o equilíbrio contra as
religiões de meridiano. E as inquisições exteriores".
Capítulo IV: O bodoque bem manejado ou "contra a memória fonte do
costume".
Pode-se então agora considerar com toda a profundidade necessária porque, por
onde passa, Aloísio busca convencer da inventividade do povo brasileiro. Trata-se de uma
única questão que pode ser valorizada a partir de duas diferentes perspectivas: uma relativa
ao manejo do bodoque; outra relativa à conservação de nossa identidade. Questão única de
vários formatos que pode ser retirada de uma entrevista datilografada pertencente ao acervo
da antiga Rio Gráfica e Editora: "( ... ) de onde viria a grande capacidade de invenção do
brasileiro?" Questão que ganha importância, pela comentário de Aloísio - já citado
anteriormente: ''Bom, a capacidade de invenção, para mim, cada vez se toma mais clara ser
o grande atributo do homem brasileiro". (Magalhães, 1985 - p.171 e pp.47 e 48).
Em síntese, para Aloísio, a partir da primeira perspectiva, a capacidade de invenção é
o grande atributo do homem brasileiro porque o bodoque aloisiano é bem manejado por ele.
Aqui, precisamos dar um passo atrás e lembrar que o bodoque de Aloísio é resultado
de suas reflexões sobre a dicotomia entre a idéia de ter boa memória versus memória
biológica. E que, portanto, o movimento extemporâneo do bodoque é, na verdade, o jeito
natural de ação da memória biológica. Isto é, todas as ações-reflexões-vontades humanas do
71
nosso universo só se realizam pelo mecanismo naturalmente acionado da memória biológica,
isto é, do bodoque aloisiano. Ora se o mecanismo de ação humano-universal é o do
bodoque, do quê que aqui se trata afinal? Se as coisas naturalmente se passam assim, qual é
a questão afinal? Bem, trata-se do bom ou do mau manejo do bodoque.
Dentro dessa perspectiva, ter capacidade de invenção é então manejar
antropofagicamente bem o bodoque da memória biológica. Os exemplos desse bom manejo
pelo povo brasileiro são imensos, e muitos já foram citados acima, mas cabe dizer que
elencá-Ios, aqui, neste momento, é porque todo o elenco está a serviço de um lançamento de
projétil específico em Aloísio, aquele da máquina cultural pública.
''Única lei do mundo. ( ... ) Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do
antropófago". Em Oswald (Manifesto Antropófago, 1928), é claro, pois nada é meu, nem
mesmo o meu passado, pois tudo muda, tudo se transforma. Heráclito e o rio renovado a
cada dia, citação tão comum para nós do Ocidente e tão subestimada. Também em Aloísio.
Nesse aparente caos, cabe reconhecermos os marcos, as referências. É a questão da
perspectiva da conservação da identidade de um povo.
Portanto, a segunda perspectiva da questão única sobre a inventividade do povo
brasileiro, a da conservação da identidade, ganha um dinamismo completamente
improposital ao que normalmente se chama de identidade de um povo. A sua identidade é
reconstruída diariamente, principalmente por aquele povo que maneja bem o bodoque.
O que é propriamente manejar mau o bodoque? Escolher mau o projétil e ele
esfarelar no momento da forte pressão na borracha. Escolher um projétil maior do a abertura
da forquilha. Tensionar a borracha a ponto de perder a sua elasticidade ou arrebentá-la.
Desmerecer a relação entre força e mira, pressão e elasticidade da forquilha, alvo e
72
consciência balística. Em todos esses, pelo menos a última fase do bem cultural abaporu -
por isso a mais importante pois completa o processo da memória biológica - fica
comprometida. A devolução, conseqüência lógico-natural da identificação e da indexação, e
seu natural feedback não acontecem. A participação do povo é perdida. Se a esta
participação não se chega e dela portanto não se pode também participar, fases de
identificação e conservação da memória são momentos paradoxais de um movimento não
realizado. Portanto, na máquina pública cultural, o bom manejo do bodoque trata de romper
ilusões como a de conservar a memória, isto é, de que para um povo se desenvolver é
preciso ter ''boa memória" do seu passado. Ou de que é possível fazer uma ação de
preservação histórica sem que isso seja uma atualização de um passado e, portanto, sua
transmutação em peça do presente e, por fim, a sua transfiguração em "signo novo"
(SPHAN, 1987), de futuro, irreconhecível do ponto-de-vista memorialista. A não ser é claro
que se faça uma analítica da trajetória, antropofágica, que é obviamente o lançamento de
mais um projétil.
A radicalidade da questão em Aloísio pode ser vista quando ele fala do turismo.
Opinião que facilmente chegou a ser mal interpretada. Diz Aloísio, diante da pergunta sobre
as pressões para se desenvolver aceleradamente, quando a política do patrimônio está
voltada para o uso e a exploração turística dos bens, fazendo-os sofrer alterações para pior:
''Uso é uma coisa muito mais ampla. Se no caso preciso da restauração de um conjunto em
Salvador, ele vai ter um beneficio em relação ao melhor ritmo do turismo, ele tem muito
mais quando você verifica o revocacionamento de comunidade em tomo daquela área. Você
tem outros fatores que são muito mais poderosos, muito mais importantes na definição de
uma consciência brasileira sobre bens culturais do que o turismo. Eu daria um 0,0 (zero
73
vírgula zero), não sei, à dinamização para o turismo. Não é um demérito em relação ao
turismo. É apenas mostrando que a coisa é muito mais profunda do que simplesmente o
fator turismo" (Magalhães, 1985 - p.183). O bom manejo do bodoque é muito mais
importante e o "revocacionamento" para o uso comunitário de um bem tombado é atingir o
ponto de mira e estímulo da criatividade de uma comunidade. O turismo cultural francês foi
potencializado pelas políticas culturais daquele país em função da alta densidade de
patrimônio cultural acumulado - e não o contrário (nota: sobre cidades culturais mundiais)!
E é essa compreensão profunda de Aloísio que produz sedução nos governos
militares que o apóiam. A crença no tema da inventividade do povo brasileiro é tão grande
em AM que - como no caso de MA com Vargas - AM também é favorecido pela ideologia
nacionalista dos governos militares. À época dos militares, deve-se considerar que é um
discurso muito sedutor para estes. A busca do desenvolvimento empreendida pela últíma
geração dos militares do golpe leva a crer na busca de uma terceira via, na busca do que é
nacional, na busca de soluções brasileiras - nem capitalismo selvagem, nem comunismo ateu.
Do ponto de vista de muitos historiadores, a questão de soluções brasileiras pode ter
um embasamento frágil dentro do imaginário militar, já que desconectada da sociedade que
suporta o seu poder. Mas de nenhuma maneira o mesmo pode ser dito da questão das
soluções brasileiras em Aloísio. Como não se pode, em Mário de Andrade, na sua relação
com o governo getulista.
Não há dúvida de que o discurso de Aloísio o aproximou dos discursos - sentimentos
talvez - dos militares. A possibilidade de não ter que se entregar aos ímperialistas,
capitalistas ou socialistas. O discurso era um bálsamo para os ouvidos militares. Mas em
Aloísio, o bom manejo da criatividade por um povo indica não só a sua inclinação e
74
flexibilidade para fazer surgir o novo como uma comunhão rica e profunda com o seu
passado. Tão rica que ele pode afirmar que nada há de novo, por mais novo que possa
parecer (Magalhães, 1985 - p.37 e seguintes). E isso vai muito além do que se podia esperar
dos governos militares.
No entanto, em função da parte que tocava os militares, agradecidos, estes
favorecem o bom trânsito da máquina de Aloísio 10. E o bem cultural abaporu, o novo design
do patrimônio antropofágico, passa, então, a devorar tudo com cada vez mais desenvoltura,
com cada vez mais vontade. Os poucos meses que se seguem a 27 de março de 1979
quando Aloísio é empossado no cargo de Diretor-Geral do IPHAN pelo então ministro
Eduardo Portella até 13 de junho de 1982, quando vem a falecer, são especialmente
degustáveis para a história antropofágica dos organismos culturais governamentais.
Segundo a cronologia de José Laurênio de Melo (Magalhães, 1985 - p.28 a 36), já
logo após de sua posse, em abril de 79, sob o impacto das chuvas, Ouro Preto, que sofre
com deslizamentos de terra, leva Aloísio a iniciar seus trabalhos como Diretor do IPHAN
promovendo um seminário que leva não só à mobilização de recursos técnicos e financeiros
para a estabilização do solo e recuperação da área urbana como promove o surgimento de
várias iniciativas de ação comunitária. O seminário de Ouro Preto ficou conhecido como o
início de uma nova prática do IPHAN: o diálogo com as populações dos centros históricos
protegidos, principal instrumento de abordagem dos problemas de preservação de tais sítios
a partir de então. Neste mesmo ano, acontecem o Seminário de Paraty, a Convenção sobre a
Renovação Urbana de Praia Grande (São Luís do Maranhão), o Encontro em Defesa do
Patrimônio Cultural de Olinda e outros.
75
Em maio, Aloísio cumpre o Regimento Interno do IPHAN instalando a Primeira
Diretoria Regional do órgão. Previstas em nove, desde 1976, a primeira e a segunda não
haviam sido implantadas. A segunda ficaria para o próximo ano. Ala. Diretoria Regional
compreendia os Estados do Amazonas, Pará, Acre e os Territórios do Amapá e de Roraima.
Sua sede ficou localizada na cidade de Belém.
No meio do ano de 1979, iniciam-se os estudos para a incorporação ao IPHAN do
Centro Nacional de Referências Cultural (CNRC) e do Programa de Cidades Históricas
(PCH). Este último, havia sido criado em 1973, tendo característica interrninisterial e
atuando intimamente ligado ao IPHAN. Tinha como finalidade revitalizar os núcleos
históricos e fomentar a integração comunitária, através da formação de recursos humanos e
geração de empregos em núcleos históricos, inicialmente do Nordeste e posteriormente do
A fusão ia de encontro às idéias de Aloísio de que, não era possível cumprir todo o
ciclo do bem cultural, se não fosse garantida de forma regular, e portanto institucional, a
fase da devolução à população dos trabalhos de identificação e indexação desses bens. Por
outro lado, se o IPHAN representava essa âncora institucional, o CNRC e o PCH traziam o
dinamismo perdido aos centro de reflexão deste Instituto, lacrado em suas ações de pedra e
10 Miceli (1981) destaca o que ele chama de Tríplice Aliança: o ministro General Golbery, Afonso Arinos e Lúcio Costa 11 Em janeiro de 1973, por solicitação dos ministros do Planejamento e da Educação, foi nomeado um grupo interministerial, constituído de representantes do MEC, do Ministério do Planejamento. do Ministério do Interior (Sudene) e do Ministério da Indústria e Comércio (Embratur). Sua finalidade era efetivar estudos sobre a situação do patrimônio histórico do Nordeste, possibilitando uma restauração e aproveitamento integrados, baseando-se no surgimento econômico, social e fisico dos núcleos históricos, proporcionando a sua ocuupação e, em consequência, a salvaguarda dos valores culturais. Em 21 de maio de 1973, foi criado o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do Nordeste. com sua utilização para fins turisticos, abrangendo Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco. Paraiba. Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. A dotação orçamentária específica do Fundo de Desenvolvimento de Projetos Integrados. Em junho de 1975 foi criado grupo de trabalho encarregado de executar proposta do programa para o Espírito
76
cal. Dessa forma, pelo Decreto 84.198 de 13 de novembro de 1979, o presidente João
Figueiredo transforma o Instituto em Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, a SPHAN. No dia 26 do mesmo mês, o Congresso Nacional vota a Lei 6.757 que
autoriza o poder executivo a instituir a Fundação Nacional Pró-Memória. Em 30 de
novembro, portaria do Ministro da Educação e Cultura, Eduardo Portella, atribui à Aloísio
os encargos referentes à implantação e ao funcionamento da SPHAN, órgão normativo, e da
Pró-memória, órgão operacional, responsáveis em nível federal pela preservação do acervo
cultural e natural do país.
O ano de 1980, não seria menos animado do que o anterior, iniciando-se com dois
decretos do Presidente da República que, em 16 de janeiro, aprova o estatuto da Fundação
Nacional Pró-Memória e nomeia Aloísio Magalhães presidente da Fundação. Já como
Secretário da SPHAN e Presidente da Pró-Memória, em fevereiro, Aloísio participa de
reuniões de trabalho em São Luís, que tratam do projeto de revitalização do centro histórico
da capital maranhense.
Faz parte do projeto a restauração do prédio e a reativação econômica do
Laboratório-Farmácia Vital de Mattos, por seu caráter exemplar de atividade produtiva
voltada para a utilização de matérias-primas da região, em fins do séc. XIX. Durante o
encontro, foi instalada a 2a. Diretoria Regional da SPHAN, sediada em São Luís e
abrangendo os estados do Maranhão, Piauí e Ceará.
Em fevereiro, Aloísio também participou de reunião do Comitê do Patrimônio
Mundial da Unesco, em Paris, para pleitear a inscrição de Ouro Preto na lista dos
monumentos reconhecidos como patrimônio cultural da humanidade.
Sant, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A consolidação dos objetivos do PeR foi finalmente obtida com a
77
Em abril, foi a Londres, e com o apoio do Banco do Brasil e do Ministério das
Relações Exteriores arrematou em leilão cinco lotes de documentos originariamente
integrantes dos autos da devassa da Inconfidência Mineira. E os devolveu à população de
Minas Gerais.
Em agosto, Aloísio inaugura o Museu ao Ar Livre de Orleans, resultado de proposta
da comunidade local com apoio da Pró-Memória, destinado a preservar - em funcionamento
e a disposição da comunidade - a tecnologia dos imigrantes que colonizaram o sudeste de
Santa Catarina.
Em dezembro, o novo Ministro da Educação e Cultura, General Rubem Ludwig,
designa Aloísio Magalhães como responsável também pela Secretaria de Assuntos Culturais
(SEAC) e pelos estudos da fusão da SEAC com a SPHAN.
E, aqui, então, é preciso contar outra história, aquela sobre o outro braço dessa
forquilha, que faria par com o braço SPHAN+CNRC+PCH, unidos ao tronco da criação da
Secretaria de Cultura do MEC e que completa figura do bodoque de Aloísio.
Capítulo V: A degustação do que é propriamente cultural ou "Só me interessa
o que não é meu".
Enquanto a vertente patrimonial se desenvolvia desde 1936 - mais efetivamente a
partir do ante-projeto de Mário de Andrade -, onde estavam aportadas no governo federal as
áreas propriamente culturais, suas companheiras?
Assim como a vertente patrimonial, sempre estiveram ligadas ao Ministério da
Educação, que também nem sempre foi propriamente educacional. Sua primeira versão
integração deste ao IPHAN e posteriormente ao sistema SPHANlPró-Memória. 78
chamava-se Ministério da Educação e Saúde Pública, criada em 14 de novembro de 1930. O
Ministério da Educação e Cultura surgiu somente em 25 de julho de 1953, quando também
foi criado o Ministério da Saúde.
Durante este primeiro período, de 1930 a 1953, as instituições de educação extra
escolar do Ministério da Educação e Saúde Pública incluíam o Instituto Nacional do Livro,
o Serviço Nacional do Teatro, o Serviço de Radiodifusão Educativa, a Casa de Ruy
Barbosa, a Biblioteca Nacional, o Museu Histórico Nacional, o Museu de Belas-Artes. Junto
às instituições de educação escolar, isto é, universidades, colégios e liceus federais, estava
ainda o Instituto Nacional de Cinema Educativo.
Com a criação do Ministério da Educação e Cultura, no entanto, a área cultural
começa a ter formato institucional muito mais tarde do que a educacional. Os primeiros
movimentos se iniciam em 1969, durante gestão do ministro Jarbas Passarinho com a
criação da Embrafi1me (extinguindo o Instituto Nacional do Cinema), a já mencionada
transformação do IPHAN em Diretoria (1970) e a criação do Departamento de Assuntos
Culturais (DAC). Este último ainda com um formato institucional amebóide - nada mais
informe do que a palavra assuntos -, mas mesmo assim um avanço ao definir-se seus limites.
Destaque ainda nessa gestão para o Programa de Reconstrução de Cidades Históricas - o
PCH - da Seplan e o lançamento do Programa de Ação Cultural (P AC) - todos os três de
1973.
Quanto ao último, o PAC, deve-se uma especial atenção. Ele é um dos embriões do
que costumou-se chamar de vertente executiva da área cultural do MEC, em contraposição
à vertente patrimonial. Segundo Miceli (1981 - p.55), além de oferecer abertura de crédito -
financeiro e político - a áreas desassistidas pelos demais órgãos federais, representou uma
79
tentativa oficial de melhoria do relacionamento do governo para com meios artísticos e
intelectuais.
As funções de formulação de políticas e coordenação a cargo do Departamento de
Assuntos Culturais - DAC, não impediram que o P AC firma-se um novo estilo e uma
doutrina própria de prática cultural, operando com núcleos e grupos tarefas voltados para o
atendimento de várias áreas de produção (teatro, dança, literatura, patrimônio e artes-
plásticas). Para Miceli, a sua flexibilidade vinha do vultoso montante de recursos a sua
disposição além da possibilidade de contratar pessoas fora da estrutura funcional de carreira
Portanto, pela rigidez das pautas de atuação de outros órgãos especializados do
MEC (tipo INL, INC e SNT) e exiguidade de recursos, a flexibilidade financeira e
operacional do P AC permitiu a sua atuação como agenciador de repasse de recursos.
Somando-se a isso, o apoio a grupos de produtores atuantes mais sem representação
adequada no governo, levou ao P AC à construção de uma legitimidade considerável dentro
do espaço institucional do MEC, constituindo-o num poderoso e moderno empresário de
espetáculos, abrindo novas frentes no mercado de trabalho cultural.
Para se evitar os conflitos internos, essa vertente executiva foi sendo cada vez mais
acentuada pelo P AC, principalmente para evitar resistências por parte da equipe que
conduzia a vertente patrimonial do MEC. "O evento - conclui Miceli (1987) - passou a ser a
antítese do tombamento ", num esforço que, mesmo assim, não conseguiu contornar as rotas
de colisão com os outros órgãos.
11 A dotação orçamentária do PAC. proveniente do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, só foi suprimida em 1979. pela gestão Eduardo Portella.
80
Miceli realça que, à medida que as "rotas de colisão" foram se acentuando, o PAC
foi sendo enxugado. Em seu auge, o PAC chegou a ter aproximadamente 130 funcionários,
70 envolvidos diretamente no Programa e 60 cedidos por outros órgãos do MEC. Mas seus
próprios dirigentes resolveram recuar e extinguir núcleos que pudessem indicar avanços
sobre áreas institucionalizadas. O P AC passou a repassar recursos para áreas afins a projetos
aprovados: teatro, SNT, folclore; Campanha Nacional do Folclore Brasileiro e assim por
diante. Esta retração acarretou a diminuição de funcionários e acirrou os debates em tomo
da institucionalização de seus trabalhos, numa fórmula que preservasse a autonomia de
contratações e os recursos do FNDE. Um banco de cultura era o formato que se acreditava
ser capaz de financiar pedidos de empresários teatrais, produtores cinematográficos, artistas
plásticos, músicos e orquestras.
Tais demandas culminaram com a criação da Fundação Nacional de Arte (Funarte)
em 1975, muito aquém dos desejos acima explicitados e incluindo inicialmente apenas as
artes-plásticas, a música erudita e as atividades desenvolvidas pela Campanha de Defesa do
Folclore Brasileiro13. Mas, as razões substanciais não se limitaram a uma tentativa de melhor
relacionamento com os intelectuais e artistas, nem tampouco aos trabalhos bem sucedidos
dos administradores do P AC e DAC. A criação da Funarte estava estreitamente ligada -
como ficou expresso em seu primeiro formato institucional - às crises nas áreas da música
erudita (Orquestra SinfOnica Nacional) e das artes-plásticas (Museu de Arte Moderna) na
cidade do Rio de Janeiro. A Funarte trouxe para essas áreas principalmente a garantia de
galerias, exposições itinerantes, monografias e abertura de espaço para os artistas e
produtores dos mercados regionais. Estamos precisamente na gestão Ney BragaJEuro
81
Brandão (74 a 78), que em seu último ano cria a SEAC (Secretaria de Assuntos Culturais do
MEC).
Segue-se a rápida gestão de Eduardo Portella no ano de 1979, com suas principais
transformações conduzidas na vertente patrimonial do MEC, com a extinção da dotação
orçamentária do FNDE para o P AC.
E voltamos onde estávamos, em 1980, com o início da gestão de Rubem Ludwig no
MEC que ao entregar a direção da SEAC a Aloísio - que já presidia a Pró-Memória e dirigia
a SPHAN - solicita o desenvolvimento de estudos para criar a Secretaria de Cultura do
MEC, fundindo todos os organismos culturais abaixo de uma mesma coordenação.
o texto de Aloísio publicado na revista Cultura - número 36 com o título "As duas
vertentes do bem cultural" é extremamente esclarecedor daquele momento institucional, bem
como de suas principais tendências e questões:
"Agora, ao assinar a Portaria 274, de 10 de abril de 1981, criando a Secretaria de
Cultura (SEC), 'por transformação das Secretarias do Patrimônio e Artístico Nacional
(SPHAN) e de Assuntos Culturais (SEAC)', o ministro Rubem Ludwig fornece o necessário
respaldo institucional para que se tenha, no MEC, um único órgão central, de direção
superior, na área da cultura.
"A fim de viabilizar a idéia das duas vertentes, a Secretaria de Cultura conta com
duas subsecretarias. A Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a ela
compete aprovar, dirigir e coordenar os programas, projetos e atividades referentes ao
inventário, classificação, tombamento, cadastramento, conservação e restauração dos bens
de interesse natural e cultural.
13 Quando foi criada a Campanha de Defesa do Folclore. em 1975. ela estava subordinada ao Departamento
82
''Por seu lado, à Subsecretaria de Assuntos Culturais (SEAC) compete planejar,
coordenar e supervisionar a execução de atividades de estímulo às manifestações culturais,
dando apoio às entidades federais, estaduais, municipais e privadas, evitando duplicidade de
atuação. Ela poderá, ainda, executar, supletivamente, projetos culturais cuja exemplaridade
ou necessidade de coordenação assim o recomende.
"A fim de descentralizar suas atividades e agilizar suas atuação, a Secretaria de
Cultura conta ainda com duas fundações, correspondentes às duas subsecretarias, às quais
fica reservado o papel de articular e dinamizar seus respectivos sistemas. São elas a
Fundação Nacional de Arte (Funarte) e a Fundação Nacional Pró-Memória (Pró- Memória),
que se reportam, respectivamente, à SEAC e à SPHAN.
"A Pró-Memória tem ainda os Museus da Inconfidência, do Ouro, de São João del
Rei, do Diamante, de Caeté, das Bandeiras, das Missões, da Imigração, de Arqueologia e
Artes Populares de Paranaguá, de Arte Sacra de Santa Rita e mais quatorze casas históricas
em diversos estados. Por seu lado, a Funarte abriga os Institutos Nacionais de Música, de
Artes Plásticas e do Folclore.
"Além disso, fazem ainda parte do sistema a Biblioteca Nacional, o Museu Histórico
Nacional, o Museu Imperial, o Instituto Nacional do Livro, a Fundação Joaquim Nabuco, a
Fundação Casa de Rui Barbosa, a Empresa Brasileira de Filmes SI A, o Serviço Nacional de
Teatro, o Museu Nacional de Belas-Artes e o Museu Villa-Lobos.
"Especialmente, pelo território nacional, a Secretaria da Cultura contará com
diretorias regionais e representações, às quais competirá executar as atividades das
subsecretarias em suas respectivas jurisdições.
de assuntos Culturais. É incorporada à Funarte em 1978.
83
"Não se trata, como já foi dito diversas vezes, de criar um ministério da cultura,
embora não se possa descartar esta idéia para um futuro ainda distante, quando o avanço do
processo brasileiro vier a exigir a separação entre educação e cultura. Mas, por enquanto,
isto é prematuro e indevido, pois um ministério da cultura seria fatalmente um órgão fraco,
tanto do ponto de vista financeiro quanto do conceitual.
''Por enquanto, em nosso pais, não se pode divorciar cultura e educação, mas, muito
ao contrário, é necessário incentivar o estreitamento das relações entre as duas áreas, em
virtude do papel primordial que o processo cultural desempenha no educacional, na medida
em que uma educação desprovida do seu contexto sócio-cultural não passa de mera técnica
sem grande utilidade ou a serviço da progressiva perda de identidade nacional. Não há
desenvolvimento harmonioso e nem se faz uma nação forte se, na elaboração das políticas
econômicas do país, não são levadas em consideração as variáveis culturais e o papel que aí
desempenha o sistema educacional" (Magalhães, 1985 - pp. 136 a 139).
Neste momento, tudo foi devorado. Há um ritual antropofágico: o bodoque
aloisiano.
Fincada na realidade brasileira está a SEC, que se divide, criando uma forquilha. Na
pnrnelra haste da forquilha: SPHAN+CNRC+PCH; na segunda haste,
SEAC+PAC+lnstitutos de Cultura e outros órgãos como a EMBRAFILME. A borracha
pendendo: Pró-Memória e Funarte. Certo, faltam muitos ajustes que nunca irão acontecer14,
nem mesmo com a gestão de Celso Furtado15, já como Ministro da Cultura. Mas a estrutura
essencial foi realizada por Aloísio justamente neste momento, através da Portaria 274, de 10
de abril de 1981, do ministro Ludwig, que a materializou.
14 O artesanato nunca conseguiu se transforma em IPHAN.
84
o bodoque aloisiano existiu por apenas dois anos - mas existiu como uma
concretização das melhores concepções de Mário de Andrade: Uma utopia antropofágica:
macunaíma. Então, do que se trata mais uma vez?! Da "única lei do mundo". Pelo texto de
Aloísio citado acima, podemos divisar um conjunto de questões, das mais específicas para a
mais geral, seguindo-se o mesmo caminho de AM. E, sem o menor tropeço ou dúvida,
pode-se ir dos objetivos à missão de um sistema governamental de cultura. Deve-se repetir:
sem o menor tropeço ou dúvida.
Pois então a primeira questão: a diferença entre a vertente do bem patrimonial e a da
produção, circulação e consumo da cultura. A vertente patrimonial está "preocupada em
saber guardar o já cristalizado em nossa cultura, buscando identificar esse patrimônio,
recuperá-lo, revitalizá-Io, referenciá-Io e devolvê-lo à comunidade a que pertença". Já a
outra vertente está ''voltada para a dinâmica da produção artística nos vários setores, como
literatura, teatro, música, cinema, artes plásticas, etc., na qual se está atento para captar o
que ocorre na realidade brasileira e estimular onde for necessário, para, mais tarde,
eventualmente, verificar o que, do material obtido, cristalizou-se e incorporou-se à dimensão
patrimonial" (Magalhães, 1985 - p.135).
Neste ponto deve-se destacar a expressão saber guardar. Aloísio não diz,
simplesmente, guardar o já cristalizado, mas saber guardar. Trata-se de uma sabedoria, pois
a primeira pergunta, simples e complexa, que deve ser respondida, segundo ° prof. Irapoan
Cavalcanti16, é: O que deve ser preservado, na linha do tempo?
Isto é: fosse possível a partir do presente, abrir uma janela temporal para o passado,
com o intuito de responder à pergunta ist%u/aquilo deve ser preservado, teríamos três
15 Reconhecida gestão estruturadora do Ministério da Cultura atual.
85
respostas possíveis: sim, não, talvez. Sim quando, no presente, o objeto é completamente
visível pelos seus registros e seus contornos materiais. Não, quando no presente, apenas
poucos registros são visíveis e o objeto é invisível. Talvez, quando no presente, temos
registros visíveis e partes de contornos materiais (Ver esquema Irapoan).
A complexidade das respostas sim/não/talvez está na definição de quem, quem
determina os contornos visíveis. Quem? Diante da janela do presente para o passado, quem
olha, quem pode olhar? Dependendo de quem vê, todos os contornos são influenciados, a
própria faculdade da visão é redefinida, é qualificada: míope, estrábica, parcialmente
danificada, cega. Ou sempre normal. Para quem vê, para quem pode ver, sua visão sempre
pode ser - é - qualificada de padrão normal. Nesse ponto nunca foi demais apoiarmos
Deleuze (1988), ou para os mais conservadores, Pierre Bordieu (1992). Não estamos em
uma posição divina onipresente. Sempre se olha de algum lugar. Deve-se buscar dessa forma
sempre se aumentar o número daqueles que olham e do seu consenso sobre o que é visível e
também explicitar sempre os critérios, isto é, de onde se olha. Isso, simplesmente porque em
algum momento - em algum rápido momento -, o lugar do qual se olha, e todos que neles
estão, passará inevitavelmente à posição de "objeto observável".
Portanto, é simples: o que deve ser preservado? Tudo que resiste, do ponto-de-vista
do qual se olha, à linha do tempo. O ponto-de-vista é o complexo. E é, quanto a isto, na
área cinza, que reside o maior problema. Com a sabedoria do saber guardar, devemos
considerar como uma espécie de dogma ético da preservação que, na área cinza, se esconde
muito mais a nossa dificuldade visual do que experiências humanas desprezíveis do ponto
de-vista da sua preservação e da sua memória. Como advoga o próprio prof. Irapoan, "na
16 O prof. Irapoan Cavalcanti hoje faz parte da FGVIRJ. 86
dúvida, preserve". Em 1987, parece que este era o caso da novissima Brasília - hoje,
corretamente patrimônio da humanidade.
Esquema Irapoan - O que deve ser preservado, na linha do tempo?
Não +/- Área cinza Sim
Quanto a vertente "voltada para a dinâmica da produção artística do presente" -
típica área cinza -, as normas de operação da administração federal aloisiana, segundo o
prof Irapoan, eram: primeiro, nunca produzir; segundo, evitar o direcionamento na
produção - apenas incentivar; terceiro, caso fosse inevitável direcionar ou fosse necessário
dar uma direção aos incentivos, que esta sempre fosse determinada por conselhos
compostos por representação a mais ampla possível - isto é, sem comprometer a
operacionalidade do próprio conselho - de interessados, autoridades e sociedade em geral.
Trata-se da pergunta básica da vertente da produção/circulação/consumo da cultura: O que
deve ser incentivado? Com estas normas de operação acima, Aloísio e sua equipe demarcam
os limites essenciais à questão. De onde se originam esses limites? Da consciência de que
esta é a mesma questão básica da vertente anterior.
O que deve ser preservado? O que deve ser incentivado? Para Aloísio e sua equipe é
a mesma pergunta que muda de tonalidade ao se percorrer a linha do tempo. Travestida de
87
extrema cristalização do passado: o que deve ser preservado? Travestida da extrema
instabilidade do presente: o que deve ser incentivado? O que é preservado passa a ser
parâmetros de incentivo. O incentivado é o que tem mais chances de se tornar preservado.
E o experimental? O experimental é normalmente instabilidade atual de qualidade,
aplicada, refletida, sobre o preservado. Isto é: o experimental é a exceção que confirma a
regra.
Na verdade, a objeção acima, do ponto de vista antropofágico, não faz o menor
sentido e, neste ponto da reflexão, a surpresa vem mais uma vez do próprio Aloísio. Sendo a
questão da preservação/incentivo a mesma, tudo passa a ser área cinza. Tudo é experimental
- degustável - se falamos como um antropófago, pois nada é preservável, até o momento
que o tomamos, e o comemos: destruindo-o, ao triturá-lo pelos dentes e ao besuntá-lo pela
saliva, na busca da boa digestão de nossa visão presente. Essa interpretação exige de Aloísio
um redimensionamento da sua reflexão. Ele a refaz, definindo de que lugar ele fala - ou de
qual lugar ele gostaria de falar. Aplicando o mesmo esquema anterior: área cinza/área
cristalizada, ele divide a ação político-econômica do processo desenvolvimentista - é deste
lugar que ele fala - "em dois planos: o do metadesenvolvimento, em nível macro, que
compreende as grandes infra-estruturas de apoio, e do paradesenvolvimento, em nível, micro
associado à identificação de necessidades ligadas ao comportamento e hábitos, usos e
costumes da comunidade" (Magalhães, 1985 - p. 241).
Enquanto o metadesenvolvimento se realiza a partir do centro na direção da periferia
da sociedade, o paradesenvolvimento surge pulverizadamente na periferia e em seu
movimento de consolidação "existencial" - fenomenológico, diria Aloísio - segue em
direção ao centro. Nessa dialética do movimento meta/para, surgem - como no esquema
88
anterior, zonas cinzas, de transição - eventos mistos "tanto dominados ou determinados
pelo nível meta quanto pelo nível para".
Bom, para relembrar: as ações ditas culturais das quais tratam as ações político
econômica dos órgãos de Aloísio são, portanto, paradesenvolvimento - sejam grandes
complexos urbanos - Brasília - sejam manífestações populares - Bumba-meu-boi -, onde a
área cinza predomina. O paradesenvolvimento asseguraria a identidade cultural do país num
processo de desenvolvimento determinado conjuntamente ao nível meta. A identidade - a
personalidade - de um povo é fluida, dinâmica (ver discussão sobre memória no início da
Parte 111), principalmente se é um país jovem como o Brasil. E o percurso do para em
direção ao meta, é o percurso da criatividade de um povo: a sua evolução. A reconstrução
do passado e da referência cultural de um povo é na verdade um instrumento de
autoreconhecimento do presente - um espelho para que aquele que olha possa se olhar e
refletir, literalmente e abstratamente.
Essa é a tarefa que Aloísio propõe a si mesmo e também à recém criada Secretaria
de Cultura do MEC. A capacidade de oferecer um sistema de identidade que aponte
caminhos, preserve experiências, estoque iniciativas e facilite a criatividade do povo
brasileiro em seu esforço de desenvolvimento para uma sociedade democrática, onde os
cidadãos estejam dotados dos requisitos indispensáveis a uma ação de homem integrado ao
seu contexto, à sua cultura (Magalhães, 1985 - p244).
Sistema porque a imagem do espelho não é estática, é algo indefinível na relação
entre espelho, luz e aquele que se olha e vê que se reflete. Aqui a segunda questão muito
objetiva - derivativa da primeira: que tipo de estrutura pode suportar o dinamismo da ação
cultural? Que tipo de organízação pode ser versátil o suficiente para manter em dinamismo a
89
identidade de um povo, que não a desfigure regularmente, nem transforme os registros em
cristalizações?
Tais respostas não chegaram a se configurar plenamente, pois Aloísio unificando as
duas áreas, a patrimonial e a de eventos, realizava a unificação de nomes em torno da
questão cultural, mas estava longe de unificar os conceitos e as ações. A Secretaria de
Cultura do MEC era híbrida. Enquanto a área de patrimônio possuía um projeto - mesmo
que cristalizado em torno da "pedra e cal" -, a área de apoio às produções artísticas havia
surgido a partir de dois tipos de pressão: a dos artistas (e produtores) que tinham acesso ao
poder e a dos artistas (e produtores) sem acesso ao poder. Os primeiros eram os de perfil
mais tradicional. Os do segundo grupo, mais populares, eram considerados mais a esquerda,
por si mesmo ou pelos militares. De qualquer maneira, o resultados das pressões se davam
na mesma direção. Na busca de soluções, de ordem financeira para os tradicionais, e na
demonstração de não necessidade da arte dos segundos, os militares e políticos no poder
tenderam a criar mecanismos de incentivo em seus governos que se concretizavam na
criação de instituições culturais federais, para que pudessem reconduzir mais verbas para o
setor - acalmando o primeiro grupo - e manter sob controle com direcionamento das ações
- contornando ou tentando contornar a pressão do segundo grupo mais ligado às aspirações
de retorno democrático da população. Essa é a história da Funarte: resultado da conjugação
das pressões no final da década de 70. Essa é a história também do Ministério da Cultura,
em 1985, durante a formação da Nova República. A necessidade de criar espaço para os
artistas, excluídos durante a ditadura ou não, nas áreas do poder, e também estancar os
pedidos de verbas, sempre gerou em nossa história recente a criação de órgãos ditos
culturais ou de mecanismos de incentivo, já que o espaço na agenda pública para as questões
90
culturais sempre careceu de densidade política, colocando-as sempre em plano secundário.
A única vez que essa posição na agenda pública não acontece, resultado da desastrosa
atuação do Governo Collor na área, gerou uma ação semelhante as anteriores, com a
recriação de nomes de várias instituições, culminando com a criação da Lei Rouanet.
Política cultural para a área realmente nunca existiu. A sua possível construção foi
interrompida em junho de 1982 com a morte de Aloísio.
Portanto, à questão: Que organização poderia ser tão versátil, suportando essa
concepção sistêmica da cultura? Não há resposta. O que se tem é a herança da Funarte e a
criação da Pró-Memória. No caso da Funarte, o projeto era aproximá-la das concepções
ligadas à área patrimonial, isto é, às de bem cultural. Não havia naquele momento muito a
fazer além disso. Mas o caso da Fundação Nacional Pró-Memória era outro. A entrevista do
prof. Irapoan publicada em maio de 1980 é muito importante para se compreender o que
acontecia na época. Nesta entrevista, publicada em publicações SPHANlPró-Memória n°. 6,
o prof. Irapoan descreve muitos aspectos da estrutura e de como a sua deficiência aqui é
usada como vantagem. Com poucos recursos e um quadro extremamente reduzido para as
necessidades do país, mas contando com funcionários altamente qualificados, a Fundação
Nacional Pró-Memória se estrutura no formato de matriz. Isto é, sem um organograma pré
definido a Pró-Memória passa a ter seus recursos humanos, financeiros e materiais alocados
por projetos e prioridades no mesmo padrão dos estúdios de cinema de Hollywood, onde se
fez essa primeira experiência administrativa. Para os padrões do governo brasileiro, é uma
proposta muito inovadora, que só vai encontrar paralelos conceituais na hodierna discussão
sobre flexibilização do estado, tão comum e necessária nos staffes públicos de qualquer país
do mundo moderno. Na verdade, a Pró-Memória ao absorver os resultados do CNRC,
91
também absorve a sua estrutura flexibilizada de funcionamento por projetos. Em sua
entrevista, o prof Irapoan esclarece: ''Nós vamos atuar através da elaboração de projetos. A
cada coisa que demande fazer, nós definiremos um projeto. Então, averiguaremos as
necessidades de material, pessoal, serviços e, no momento em que terminar o projeto, esse
conjunto de pessoal, material etc., será deslocado para outro projeto". Pretende-se da
mesma forma que o núcleo da Secretaria de Cultura funcione quase sem organograma,
tendo-se ligações praticamente diretas dos diretores de museus e afins e de outras estruturas,
como a Funarte e Pró-Memória, com o Gabinete do Secretário, Sr. Aloísio Magalhães. Uma
espécie de assembléia permanente.
Esta concepção abrangente de cultura e sua conseqüente estrutura flexibilizada em
suas instituições, nos levam naturalmente à terceira questão: Por que não um Ministério da
Cultura? Justamente, responde Aloísio, porque falta conteúdo. E na falta de conteúdo,
faltará recursos. Não que não houvesse clareza da missão: Aloísio tinha chegado lá por
causa disso. Não que não houvesse a tradução da missão em objetivos realizáveis: a própria
ação de que se trata é um resultado disso. O que temos é ainda um estágio primário do
desenvolvimento dessas concepções, dentro de uma estrutura ainda híbrida, isto é, não
adequada à missão. Se a haste patrimonial estava alinhada com o propósito. A haste da
produção, distribuição e consumo da cultura, recém incorporada e unificada aos projetos de
Aloísio, estava muito longe disso. Como dizer a uma haste que surgiu para produzir,
interferir e dirigir através da doação de recursos - por pedido, por lobby dos artistas e
produtores mesmos - que ela não deve produzir, interferir ou dirigir - pelo menos dessa
forma tão direta e sem controle social. É a essa falta de conteúdo que Aloísio se refere.
92
De maneira esquemática, é o que se tem abaixo. Desenho original em papel feito por
Aloísio guardado pelo prof. Irapoan.
No futuro, Aloísio vê uma migração em três fases de acontecimentos:
Ação baseada em critérios patrimoniais,
na intersecção do patrimônio com ação
cultural
da Cultura (só quando todas as ações forem patrimoniais)
A primeira fase é a que se vivia naquele momento. A busca da aproximação da área
patrimonial com a área das ações. A segunda fase seria a criação de uma área de intersecção
a partir dos resultados da primeira fase. Nela, as ações se realizariam somente a partir de
critérios patrimoniais. Quando todas as ações da estrutura fossem realizadas a partir de
critérios patrimoniais teríamos a terceira fase, isto é, a possibilidade da criação do Ministério
da Cultura. Antes desse momento seria criar um ministério fraco. Sem conteúdo pois o perfil
institucional das áreas da Secretaria não estava unificado. E pelo trabalho de Aloísio, sem
conteúdo, sem projeto, não há como justificar as verbas para qualquer órgão que pudesse
ser criado. Famosa a paráfrase atribuída a Aloísio por seus conhecidos: ''Mais vale ser o
93
rabo de um leão do que a cabeça de uma rato". Bem o rato seria um possível ministério da
cultura. O leão, o existente Ministério da Educação.
Aqui, passamos à quarta questão: Educação e Cultura. Um projeto mais amplo para
a área de Cultura Federal. E vale repetir: ''Por enquanto, em nosso país, não se pode
divorciar cultura e educação, mas, muito ao contrário, é necessário incentivar o
estreitamento das relações entre as duas áreas, em virtude do papel primordial que o
processo cultural desempenha no educacional, na medida em que uma educação desprovida
do seu contexto sócio-cultural não passa de mera técnica sem grande utilidade ou a serviço
da progressiva perda de identidade nacional. Não há desenvolvimento hannonioso e nem se
faz uma nação forte se, na elaboração das políticas econômicas do país, não são levadas em
consideração as variáveis culturais e o papel que aí desempenha o sistema educacional."
(Magalhães, 1985 - P 237 e seguintes)
A defesa do tema feita por Aloísio é mais uma peça da sua genialidade. Ele distingue
dois tipos de processos educacionais: a educação do príncipe e a educação para a liberdade.
O primeiro tipo está ligado a um determinado episódio. Em Tiradentes, Minas Gerais,
Aloísio conta que depois de insistentes pedidos, ele resolveu examinar uma pasta de velhos
documentos pertencentes a uma senhora. ''Era uma série de autógrafos, havia cartas,
documentos de uma certa importância, ligados ao Segundo Reinado. Mas, no final dessa
pasta, eu me deparei com alguns documentos que me chamaram e me tocaram
profundamente. Tratava-se de uma série de exercícios, de exercícios escolares de caligrafia
do principe D. Pedro menino. Retive esses documentos que me flagraram de uma maneira
muito especial, até que pude entender do que se tratava. É que debaixo, por detrás,
escondido no estudo simplesmente formal da caligrafia, e de como a letra devia ser um
94
elemento e um indicador simbólico legível, por detrás dessa pura e formal aplicação
metodológica do aprendizado do escrever, por detrás de tudo isso se escondiam conceitos.
E o príncipe tinha que escrever e repetir dezenas de vezes, centenas de vezes aquelas frases
para que aprendesse a escrever corretamente. Mas provavelmente era muito mais importante
que ele aprendesse do ponto de vista conceitual. O príncipe deve fazer tal coisa, o príncipe
não deve fazer tal coisa. É próprío ao príncipe comportar-se dessa maneira, é próprio ao
príncipe não se comportar dessa maneira. E o que se deduzia disso é que se tentava fazer a
cabeça do principe. Tentava-se impingir na cabeça da criança indefesa, aberta, sensível,
plasmável a qualquer pensamento, idéias preconcebida.
"Isso me deixou perplexo. Perplexo por constatar que existe uma educação do
príncipe e que essa educação do príncipe é, de certo modo, aquela a que todos nós fomos
submetidos, ou seja, as idéias, os conceitos, as frases, os textos, os livros são, em grande
parte, impostos ao aprendizado sem maior verificação, sem uma mais profunda análise da
adequação desse texto, da propriedade dessa informação, da adequação desse conceito à
educação do homem. E, por contraponto, imaginei a situação contrária, numa forma
dialética entre a educação do príncipe e o que chamei a educação para a liberdade".
(Magalhães, 1985 - p.245)
Dessa forma, para Aloísio, a educação do pfoÍncipe é de cima para baixo e obedece a
todo um programa impositivo, compulsório, do conhecimento e da criança. Esta educação
ao pretender a continuidade do processo civilizatório, mascara a idéia de permanência, do
controle, da inevitabilidade de uma continuidade formal do aprendizado do homem. Ela
impõe conceitos.
95
Já a educação para a liberdade é de baixo para cima, livre, espontânea, feita à base de
um aprendizado direto com a realidade. Essa educação, em tudo oposta a anterior, faz que o
homem experimente realidades, entre em contato com formas reais e próximas a ele e só a
posteriore leve a conceituações.
Por fim, Aloísio dá um destaque especial ao fato de que o aprendizado para a
liberdade é "geralmente feito através dos oficios. Do exercício direto do aprendizado, do
fazer, desse aprendizado acumulativo, do aprendizado do oficio é que emerge
posteriormente a capacitação de uma consciência nítida daquele fazer ou daquele
conhecimento, e conseqüentemente, conceitos podem ser emitidos" (Magalhães, 1985 -
p.247). O melhor exemplo do que fala Aloísio é dado por ele mesmo. O próprio conceito de
educação para a liberdade é um exemplo desse processo que ele descreve, pois foi assim que
ele também construiu tal conceito: através do exercício de seu oficio de secretário de cultura
do MEC, examinando documentos, capacitando a sua consciência e a partir daí podendo
emitir conceitos.
Ora, falta - aqui - o essencial: Não é possível educar para a liberdade sem considerar
as variáveis culturais daquele que aprende. Isto é, "A Educação é a codificação adequada de
uma cultura, é o processo de transmissão e de continuidade de uma cultura. Então, é
impossível- sobretudo num país em movimento, não feito ainda, não explicitado - separar
se uma coisa da outra, sob pena de você quebrar esse tipo de compromisso da Educação, a
que me referi. Por isso eu me posicionei publicamente contrário à criação de um Ministério
da Cultura" (Magalhães, 1985 - p.237).
Temos então duas torções importantes. Primeira torção, a melhor maneira de educar
- para a liberdade - é através da cultura na qual aquela educação é praticada. No MEC, o
96
"C" de cultura passa a ser tão importante quanto o ''E'' de educação. Juntos passam a criar
um dinamismo institucional único para o desenvolvimento do país. Por outro lado, a
segunda torção, a idéia de que a cultura, se isolada, perde toda a força. Naquele momento
institucional, o eixo educacional está muito maís bem assentado do que o cultural. Isto é,
naquele momento, mais valia ser a cauda do leão do que parir um rato.
Capítulo VI: Em respeito à memória de Aloísio: ~'Comi-o". A Morte como
sempre inesperada.
A menos de um mês de sua morte, Aloísio declarava: "A primeira coisa que eu
gostaria de lembrar a vocês, e para a qual eu gostaria que vocês atentassem, é que a nova
Secretaria da Cultura do Ministério da Educação e da Cultura está sendo estruturada a partir
do filão patrimonial. Em outras palavras, ao contrário do que em muitos casos tem
acontecido, ao contrário mesmo do que muitas pessoas desejariam, a formação de uma
unidade conceitual do bem cultural no Brasil, em termos de maior presença e maior
configuração sistêmica, está sendo organizada à base inicial do bem patrimonial. É do velho
IPHAN, é da concepção de Mário de Andrade e da luta admirável, persistente de Rodrigo, é
da extraordinária presença desse grupo inicial a partir da década de 30, mais precisamente a
partir de 37, é dessa filosofia, é dessa conceituação que hoje emerge toda uma visão
projetiva do bem cultural do Brasil".
Nesse discurso ele saudava os participantes do VII Congresso Nacional de Museus,
em 18 de maio de 1982 e marcava mais um momento especial de sua gestão. Em outubro de
81, através de portaria baixada pelo ministro da Educação e Cultura se incorporara à
Fundação Pró-Memória os seguintes órgãos do MEC: Biblioteca Nacional, Instituto
97
Nacional do Livro, Museu Imperial, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Histórico
Nacional, Museu da República e Museu Villa-Lobos, consolidando a estrutura da Secretaria
de Cultura do MEC criada em 10 de abril. A Secretaria foi composta pelas subsecretarias do
SPHAN e de Assuntos Culturais (e respectivas fundações Pró-Memória e Funarte), a
Embrafilme, a Fundação Casa de Rui Barbosa e a Fundação Joaquim Nabuco.
Ainda no ano de 1981, algumas ações emblemáticas. Em janeiro, no contexto das
tecnologias patrimoniais, inicia-se com equipe da Pró-Memória o registro da fabricação do
vinho de caju na Fábrica de Vinho de Caju Tito Silva e Cia em João Pessoa. Em março
instala-se Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Câmara de Deputados para
investigar a situação do patrimônio histórico e cultural nacional, que é magistralmente
utilizada por Aloísio para divulgar seus trabalhos e suas novas concepções para a área. Em 5
de maio chega à estação de Porto Velho uma locomotiva procedente de Santo Antônio de
Madeira, reinaugurando os primeiros oito quilômetros reconstruídos da estrada de Ferro
Madeira-Mamoré. Na última semana de junho a Pró-Memória realiza o ato de devolução à
Sala dos Milagres do Santuário do Bom Jesus do Matosinho, em Congonhas, de uma
coleção de 89 ex-votos, agora tombados pelo SPHAN e restaurados. Aprovado por todos
os representantes dos órgãos da Secretaria de Cultura do MEC, em setembro, Brasília, o
Documento Diretrizes para a operacionalização da Política Cultural do MEC. Chegando
novamente em outubro de 81, Aloísio ainda é eleito vice-presidente do Comitê do
Patrimônio Mundial da Unesco. Em novembro, a Secretaria de Cultura do MEC propõe à
Unesco a inclusão de Olinda na Lista do Patrimônio Mundial.
No começo de 1982, Aloísio tem plena consciência do que fazer. Utilizando o nicho
da educação - o conceito mais amplo e capaz na época para proteger o seu bem cultural -
98
vai abrindo espaço, através da lateralidade de suas ações, sempre localizando nas outras
estruturas do estado o que ali poderia haver de apoio ao bem cultural, através da busca da
participação comunitária, sempre fechando o ciclo da identificação, indexação e devolução
do bem cultural, e através da busca do reconhecimento internacional para os seus trabalhos e
para a cultura brasileira.
Em março de 82, o Paço Imperial é entregue pelos Correios à Fundação Pró
Memória. Imediatamente, o secretário de Cultura do MEC autoriza a elaboração do projeto
definitivo de restauro e o início das obras. Em abril instala-se a 3a. DR da SPHANlPró
Memória, elevando-se a dez o número de diretorias regionais. E em 9 de junho embarca
para a Europa para defender a candidatura de Olinda a Patrimônio da Humanidade. Nas
questões de tombamento mundial, Aloísio apreende rapidamente o que é essencial para a
aprovação do monumento: a imagem. Se em Ouro Preto, é utilizada a paisagem, em Olinda,
Aloísio utiliza a imagem do recorte irregular de seus telhados coloniais, ladeira abaixo, a
partir do alto, da vista da Igreja de Olinda, já que as casas em si haviam sofrido muitas
interferências. Para isso, Aloísio produz, ele mesmo, onze litografias dos telhados de Olinda.
A sua intenção - que nunca se concretiza - era apresentá-las na reunião do Comitê da
Unesco como parte da argumentação da defesa de Olinda. No dia 11 de junho, vai a Veneza
e participa do início dos trabalhos da reunião de Ministros da Cultura dos Países Latinos.
Sente-se mal e é internado. Sofre duas hemorragias cerebrais e falece em 13 de junho.
O contato restabelecido com a Semana de 22. Foi isso que foi se perdendo, após a
morte de Aloísio. AM reflete MA mais uma vez. O que parece ser um movimento histórico
natural. A Mário de Andrade, segue-se Rodrigo Mello Franco e Renato Soeiro - a
consolidação dos movimentos ultracriativos da Semana de 22 promove apenas um pedaço
99
daquele pensamento poderoso. E é - guardadas as proporções do trajeto interrompido pela
morte de Aloísio - o que se vê com as gestões de Marcos Villaça e outros. Diante dos
ventos democráticos da Nova República, a inércia institucional - de sucesso - do SPHAN se
protege. E novamente, temos o Patrimônio de pedra e cal. O que é ainda novo, com a morte
de Aloísio, não resiste às mudanças institucionais do país.
Nesse contexto surge, em 1985, o Ministério da Cultura.
Por que um Ministério da Cultura? Nenhuma discussão se compara a que tínhamos
no tempo de Aloísio, quando até os seus entrevistadores brincavam de chamá-lo de ministro,
pois era visível a obra em construção, do espaço institucional próprio brotando. O que força
a criação do ministério é, diante de uma organização frugal do fórum, um conjunto de
variáveis. Dentre elas os próprios restos do projeto institucional de Aloísio nas mãos de seus
sucessores. Depois, o esforço dos representantes da Nova República em redemocratizar os
espaços dos governos permitindo acesso de muitos excluídos à máquina governamental.
Aqui muitos artistas, que ficaram à margem por resistirem à hegemonia militar. Por fim, na
reconstrução dos espaços institucionais, por que não incluir o espaço cultural com mais
precisão, já que novo poderia ser o contorno da Nova República. O movimento em tomo do
Fórum de Secretários de Cultura, liderados por José Aparecido é fundamental. O
reconhecimento ao seu trabalho lhe dá o primeiro título de ministro da Cultura da história
republicana brasileira. Mas nada aqui se aproxima da problemática cultural apontada por
Aloísio e Mário de Andrade. Na verdade dificil é dizer que no nascimento do Ministério da
Cultura houvesse alguma problemática cultural. A não ser aquela propriamente política e
completamente justificável pelo momento em que se vivia. Três citações para corroborar
essa hipótese. A primeira do próprio Ministro José Aparecido sobre os planos da nova pasta
100
que "vão mesmo emergir dos que criam, produzem ou consomem cultura - sem nenhuma
índole autoritária. É preciso dizer que nós voltamos ao tempo de respeitar e reconhecer que
o povo é o protagonista da história" (SPHAN, 1987). A segunda é um trecho do documento
resultado de amplo seminário promovido pelo Ministério da Cultura em agosto de 1985. No
documento, o ministério da cultura aparece como uma espécie de "lobby pela
democratização geral do país, buscando influir sobre outros ministérios - tendo em vista que
seu papel, por definição, é o de gerador e sustentador da nova perspectiva política
inaugurada com a Nova República" (SPHAN, 1987). A terceira citação é uma reflexão
sobre as duas primeiras feita pelo prof Gabriel Cohn em seu artigo "Concepção Oficial de
Cultura e Processo Cultural", publicado na Revista do Patrimônio e Artístico Nacional n°·
22. Diz o professor: "A tendência geral dessas concepções é nitida. Propostas importantes
do ponto de vista político e social são feitas em nome da política cultural, mas a cultura
mesma vai-se tomando evanescente ao longo da argumentação, ao oscilar entre concepções
tão amplas, ao ponto de a privarem de todo conteúdo, ou tão restritivas que a fixam como
elemento subordinado a instâncias sociais particulares" (SPHAN, 1987).
O artigo do professor é de 1987, durante a gestão do então ministro da Cultura
Celso Furtado. Antes dele, havíamos tido José Aparecido de Oliveira 18/03/85 a 30/05/85
(três meses), que deixou o ministério para assumir o governo do Distrito Federal. Nesse
momento, a pasta da cultura não tem nem mesmo orçamento por não haver sido prevista na
estrutura financeira do governo federal. Isso só acontecerá um ano depois.
O sucessor de José Aparecido é Aluísio Pimenta, de 30/05/85 a 14/02/86
(totalizando nove meses). Em sua gestão, famosa é a discussão em tomo da importância da
101
resistência cultural diante da sua descaracterização pela invasão de valores internacionais. É
a broa de milho versus o croissantl7
Segue-se a gestão de Celso Furtado, de 14/02/86 a 29/07/88 (totalizando 29 meses).
Esperava-se que o prof. Celso Furtado fizesse uma parada rápida na Cultura antes de
assumir a economia do pais, mas não é o que acontece. O novo ministro se lança num
esforço de estruturação administrativa que ainda não havia ocorrido desde a criação da pasta
da cultura. Busca a conexão com a antiga estrutura que tem em Aloísio o seu último
formato. Chega mesmo a se ligar conceitualmente à experiência do final da década de 70, ao
associar a questão da cultura à questão do desenvolvimento. E nessa reflexão caracteriza a
cultura como "o fruto dos esforços que realizam os homens para melhorar sua qualidade de
vida". O movimento de abrigar a questão cultural debaixo de um conceito mais amplo e
elástico, já havia ocorrido em Aloísio, ligando-a a educação. Resultado das discussões da
Assembléia Constituinte, a questão cultural se interliga aqui à definição ampla de qualidade
de vida. Passa a ser o reflexo dessa busca. Como aponta o prof. Gabriel Cohn: "Nessas
condições abre-se o caminho para associar a cultura ao desenvolvimento e para conceber as
reivindicações democráticas da perspectiva do progresso e da modernização capitalista".
Dentro desse espírito, surge a primeira experiência de Lei de Incentivo à Cultura federal
baseada na renúncia em prol de instituições culturais cumpridoras dos critérios indicados na
legislação, a então conhecida Lei Sarney 18 . A afirmação do Ministro Furtado de que a
17 Para um antropófago a questão não tem o menor sentido. pois tudo pode ser engolido: O que importa é o que se vomita. 18 A Lei Sarney, Lei 7505 de 2 de julho de 1986, exigia o cadastramento de pessoas e firmas interessadas em captar recursos via renúncia fiscal se qualificando como entidade cultural junto ao Ministério da Cultura. No período de suas existência se calcula uma captação total em torno de R$ 150.000.000,00. Mas as denúncias em torno de sua utilização facilitaram o seu fim com a chegada do Governo Collor. Qualquer nota fiscal emitida por uma entidade cultural cadastrada poderia ser utilizada para se conseguir créditos fiscais, fosse ela relativa a um projeto cultural ou não.
102
principal tarefa da política cultural era abrir espaço para criatividade, escondia ainda as
pressões em busca de recursos por parte dos produtores de cultura. A criatividade é por
definição uma experiência humana que dispensa espaço. Ela mesma o cria, nas condições
mais adversas. Não é preciso citar a quantidade impressionante de obras-primas produzidas
em situações completamente antagônicas. Se não é de abrir espaço para a criatividade, do
que se trata então? Trata-se de abrir espaço para a própria pasta da cultura, carente de
legitimidade pela sua falta de projeto institucional explícito. Nesse sentido a Lei Sarney é
uma forma engenhosa de responder às pressões constantes de maiores verbas para a cultura,
sem que a indicação de quem receberia esses recursos significasse dirigismo por parte do
governo central. As pressões acabam por vencer e para o último ano do Governo Sarney,
ganho durante a constituinte, volta José Aparecido, de 20/09/88 a 15/03/90 (19 meses). Sem
projeto para a área da cultura porém com grande legitimidade junto à elite cultural e artística
brasileira, o ministro faz o que sabe, busca dar à cultura brasileira projeção internacional,
com relativo sucesso. No entanto, o ministério continua vivendo o que Aloísio temia: era um
ministério fraco, sempre oferecido como lambuja nas negociações do poder, sem conteúdo,
ao sabor das pressões dos grupos produtores de cultura, e portanto sem recursos. Um
ministério "tanto faz".
Depois vem o pior. Na sua fraqueza, a cultura - como todo o governo - é atacada
pelo bólido da reforma administrativa do Governo Collor. Daí sobra pouco e o estrago
comandado pelo senhor Ipojuca Pontes, de 15/03/90 a 11/03/91 (exato um ano), só tem um
bem: reúne em torno da questão cultural todos os intelectuais, artistas, produtores e
cientistas que faz o Governo Collor girar sobre si mesmo e entronizar o embaixador
Rouanet como novo ministro. De 11103/91 a 02/10/92 (20 meses), o ministro Rouanet
103
basicamente apagou, ou tentou apagar, o enorme incêndio em que havia se transformado a
área cultural - internamente à estrutura e na própria sociedade. Nesse ato de bombeiro, o
ministro basicamente conduziu longas negociações com funcionários, artistas, produtores e,
por fim, com própria área central do Governo Collor e com a Assembléia Legislativa,
gerando a Lei de Incentivo substituta da Lei Sarney - extinta pelo próprio Governo Collor -
e ainda hoje a mais conhecida do pais. A Lei Rouanet 19, que ironicamente nunca chegou a
funcionar plenamente na gestão do seu progenitor.
Bem, como sabemos, o incêndio provocado pelas ações do Governo Collor, que
acabou atingindo todo o pais e todas as suas áreas, tem como maior vitima o próprio Nero.
Do impeachment surge o Governo Itamar Franco e o primeiro ministro da Cultura dessa
nova série de rápidas gestões. O famoso intelectual e filólogo Antônio Houaiss assume o
ministério de 20/10/92 a 02/09/93, por onze meses. Ele, que fora com Betinho um dos mais
tenazes defensores da área cultural contra a devastação colorida, não resiste às pressões do
seu próprio objeto de defesa. Sem muito a fazer, com a estrutura toda aos pedaços, Houaiss
consegue basicamente iniciar as discussões para a criação da lei de audiovisual - versão
19 A Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991. ficou conhecida como Lei Rouanet e somente agora, em 2000, passa a trocar de nome naturalmente ficando mais conhecida como Lei de Incentivo à Cultura. A possibilidade de descontar 3% do imposto renda devido para as empresas e 6%, para pessoas fisicas ainda esta longe de atingir suas melhores potencialidades, mas mesmo assim possibilitou uma retomada de discussões e financiamentos como esta defendido por esta monografia. No texto da Lei 8.313 que institui o Pronac - Programa Nacional de Apoio à Cultura há algo de especial. Nele, é possível encontrar o esboço do que poderíamos chamar de diretrizes para uma política cultural do Ministério da Cultura, pois o Pronac deve: I. Contribuir para facilitar a todos , os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercicio dos direitos culturais; 2. promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos humanos e conteúdos locais; 3. apoiar e valorizar e difundir o conjunto de manifestações culturais e seus respectivos criadores: 4. proteger as expressões culturais dos grupos formados da sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional; 5. salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar. de lazer e ,;ver da sociedade brasileira: 6. preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro; 7. desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de outros povos e nações: 8. estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal. formadores e informadores de conhecimento. cultura e memória; 9. priorizar o produto cultural originário do pais".
104
apurada da Lei Rouanet para a área de cinema, essa sim transformada em terra arrasada pelo
Governo Collor20 O novo ministro José Jerônimo Moscardo de Souza fica somente quatro
meses (de 02/09/93 a 09/12/93) pois faz um desabafo público solicitando mais atenção por
parte do então ministro da Fazenda. Atitude inconcebível já naquela época. Segue Luiz
Roberto do Nascimento e Silva, de 15/12/93 a 31/12/94, que se concentra na Lei Rouanet e
faz os primeiros esforços em torno da operacionalização da lei. Com as eleições de
Fernando Henrique Cardoso, assume então o atual ministro Franscico Weffort, que vem
fazendo a mais longa gestão na área cultural federal de que se tem notícia. No posto, desde
janeiro de 1995.
Nesse período de existência do Ministério da Cultura, é bom que se distinga. Se
pudéssemos ligar os primeiros textos de Mário de Andrade às atuais ações do Ministério da
Cultura, o que se vê em Collor é uma inflexão muito profunda desta trajetória - a destruição,
a mutilação, desse pensamento antropófago patrimonial poderoso, uma espécie de invasão
branca: os europeus economistas matam os antropófagos culturais. Não há aceleração, nem
atraso, mas sim uma fratura - exposta, do ponto-de-vista propriamente fisioterapêutico.
A retomada com Rouanet e sua Lei é a necessária fisioterapia do doente que saiu de
acidente em choque profundo. A Lei de incentivos foi a negociação possível conduzída por
um embaixador e tinha dois viés. Primeiro, para o governo de Collor: você podia dizer, é um
meio de fazer a cultura entrar definitivamente no mercado, pois no I Mundo - EUA -
também é assim. Segundo, para a cultura: você podia argumentar, vamos reconstruir e só se
reconstrói com dinheiro, esse governo não dará dinheiro, já os seus amigos mecenas
poderão dar. O primeiro momento da Lei é a sua passagem pelo Congresso, a sua
20 A produção cinematográfica no período desceu a zero. 105
construção. Depois, o impecheament. E, com ele uma ilusão. A de que poderia se ter um
ministério funcionando basicamente em torno da lei, sem uma missão institucional e
operacional precisa. Portanto, na ilusão, a segunda fase da Lei e de seu ministério foi como
torná-la operacional: Houaiss, Moscardo, Luiz Nascimento. Mas só quem vai conseguir
torná-la realmente operacional é Weffort. Este esforço vai até % do governo de Weffort. E
aí, a fase da desilusão. Depois de todos os esforços, não temos uma área de cultura
financiada e além disso o MinC se torna refém da lei. A brincadeira corrente é que a sigla
MinC significa Ministério do Incentivo à Cultura. A ação dos produtores e diretores de
cinema tem sido magistral nesse esforço.
Dessa forma e infelizmente, não há como escapar do mito da gestão de Aloísio. E
também nada de estranho seria defender-se a restauração daquele pensamento antropófago
patrimonial poderoso. No entanto, o que aqui cabe destacar é que:
1. Em um determinado momento esse pensamento, antropofágico, abaporu, ou o
que seja, foi hegemônico dentro da estrutura de poder dos órgãos federais de
cultura;
2. Este pensamento segue uma linha histórica que vem desde os modernistas;
3. Na fase em que foi interrompido ainda estava no estágio artesanal, de pré-designo
Não esqueçamos que, para Aloísio, o artesanato sempre foi tecnologia de ponta;
4. E que, portanto, se aplicássemos a ele uma outra tecnologia - aquela das de
política pública - não poderíamos lhe arrancar possibilidades impressionantes,
transformando-o em bodoque de uma missão para a área cultural - organizada -
em todo o país? Talvez, sim.
106
PARTE ill: Del991 até hoje
Introdução: O julgamento antropofágico.
A posição da cultura na agenda dos governos sempre foi uma questão menor.
Colocada sempre como fundamental para o desenvolvimento do espírito humano, nunca a
importância para o espírito humano, do ponto de vista das prioridades de governo e suas
agendas de ação, foi bem definida e por isso nunca gerou programas concretos de
valorização da administração cultural dentro das máquinas burocráticas das gestões públicas.
o primeiro Governo FHC tinha, como um todo, a missão de recuperar o tempo
perdido de uma maneira bem objetiva: arrumando a casa. Esperava-se principalmente que o
Governo de FHC trouxesse estabilidade político-institucional e econômica. Tal missão se
refletia por todas as áreas do governo, inclusive - e porque não - também na área da
cultura, tão bem desmantelada pelo Governo Collor.
Quando Weffort assume, ele encontra uma área de cultura vivendo uma longa
ressaca institucional. Sem projeto político, mas cheia de esperanças em torno de uma lei
recheada de problemas para se tornar operante. E nisso a sua gestão se concentra, na
operacionalidade das leis de incentivo. Diante das ruínas, o que se tinha com mais cara de
casa para ser arrumada era justamente a Lei Rouanet. Em seu discurso de posse, Fernando
Henrique menciona um termo que poucas vezes - ou que nenhuma vez - freqüentou as
mensagens presidenciais: produtor cultural. Expressão que somente os afins ao mercado de
cultura costumam utilizar com normalidade. Em um de seus primeiros atos, o presidente - e
107
seu ministro da cultura - aumenta o percentual de dois para 5% do imposto de renda devido
a ser utilizado pelas empresas para o incentivo a projetos culturais. E, então, o Secretário de
Apoio à Cultura do MinC, Álvaro Moisés, se lança numa cruzada para tornar a Lei de
Incentivo uma realidade. Perante esta missão quase divina, todo o ministério se curva.
Na busca de operacionalização da lei, por Weffort, tudo foi feito. A continuidade da
sua equipe o permitiu. Era como se houvesse tempo. Como se fosse possível dizer: "vamos
devagar e fazer certo, nunca foi feito certo, pela primeira vez vamos fazer certo, passo-a
passo". Fazer certo, o quê? Fazer a construção da máquina ministerial da cultura, que nunca
havia sido terminada. Aproveitando o consenso em torno da lei de incentivo, se trabalhou
essa construção. E em um movimento louvável de diálogo com a sociedade, foi sendo
atacado cada ponto que se considerava o próximo estrangulamento, o próximo gargalo da
lei.
Nesse momento, a centralidade dessa idéia era expressa na própria estrutura
administrativa do Mine. Tínhamos ligadas ao Gabinete do ministro, a Secretaria Executiva
(Sra. Maria Delith Balaban), a Secretaria de Intercâmbio Internacional e Projetos Especiais
(Sr. Eric Nepomuceno), a Secretaria de Política Cultural (Sr. Octaviano Del Fiori), a
Secretaria de Apoio à Cultura (Sr. Álvaro Moisés) e, posteriormente, já demonstrando o seu
poder de pressão, a Secretaria de Audiovisual (Sr. Moacir de Oliveira). E se o MinC gira em
torno da Lei. Todas as secretarias giram em torno da famosa SAC - Secretaria de Apoio à
Cultura, pois ela conduz todos os trabalhos burocráticos em torno da Lei, com o apoio da
Secretaria Executiva que então, praticamente, era responsável por todas as verbas do Fundo
. Nacional de Cultura - a versão estatal da figura do mecenato da Lei Rouanet. Todo o resto
108
da base do ministério, as conhecidas coligadas - IPHAN, museus, Biblioteca Nacional,
Funarte, Fundação Palmares - ficam atreladas ao esforço da SAC, a espera do que pode
acontecer. Isto é, tais estruturas coligadas observam e, ao mesmo tempo, mantêm a
independência de suas ações, como se a conexão MinC e coligadas fosse apenas ocasional.
Não havia ainda acontecido a CrIse da Ásia, e a paridade dólar/real mantinha a
euforia da arrumação da casa. E, como era de se esperar, temos como resultado, na área da
cultura, indicadores importantes 1.
Até que somos vítimas da globalização da econorma. E dentro do pacote de
contenção do ministro Malan, temos o que o Presidente Fernando Henrique qualificou de
"maldades desnecessárias": o incentivo à cultura também é atingido, sendo reduzido de seus
cinco para 3 %.
Foi uma espécie de contra-senha: seria possível se chegar ao desenvolvimento da
área cultural baseando-se somente em leis de incentivo e nos esforços da área federal? A
partir daí, nada mais foi o que era antes. Mesmo com os avanços propostos pela equipe
ministerial, algo havia se quebrado. Se havia crise no mercado, pior era para quem dependia
1 Segundo o Secretário Álvaro Moisés. comentando a pesquisa .. A Economia da Cultura". especialmente no caso dos investimentos federais, diz: "Quanto ao Governo Federal. verificou-se um padrão claramente estável de gastos com cultura entre 1985 e 1990, durante o governo Sarney, quando as taxas de gastos oscilaram de 208 a 197 milhões de reais. Mas, a partir de 1990 e. particularmente, entre 1991 e 1992, no auge do governo Collor, ocorreu uma queda drástica de recursos alocados para a cultura, ou seja, 131 e 108 milhões de reais, respectivamente, para cada ano. Isso explica-se pela orientação daquele governo de, praticamente, desobrigar o Estado de suas responsabilidades com a cultura. Os gastos com cultura voltaram a registrar algum crescimento, no entanto, em 1993, já no governo Itamar Franco e. depois, começaram a crescer significativamente a partir do início do governo Fernando Henrique Cardoso. De fato, em 1995 chegaram a 245 milhões e em 1996 a 336 milhões de reais: além disso, quando a análise comparativa de todo o período estudado concentra-se exclusivamente nos dados relativos aos gastos do Ministério da Cultura. isto é, somente de sua administração direta. sem levar elO conta fundações e outros órgãos públicos, inclusive de administração indireta, o maior volume de gastos públicos com cultura é alcançado em 1996, no governo FHC. atingindo nesse ano cerca de R$ 157 milhões de reais. enquanto em 1988, por exemplo. esse
109
ainda da boa vontade dele e de seu bom humor. A cultura estava definitivamente na mão de
quem nunca havia prezado a cultura? A ilusão se transformava gradativamente em desilusão.
Movimento liderado principalmente pelos cineastas - ironicamente, os que mais bem foram
tratados pelo MinC nesse trabalho de construção das leis. ganhando uma lei especial só para
eles. Aliás, aqui cabe uma discussão exemplar, a cinematográfica.
A título de terem sido a área mais sofrida. Como já havia dito - a produção de filmes
é zerada pelo Governo Collor. De terem sido responsáveis por importantes obras de
resistência durante a ditadura. Por se considerarem o instrumento mais moderno e essencial
para a compreensão da realidade brasileira (Painel VI: Cultura e Cinema como Afirmação de
Identidade Nacional - Notas para Discussão, XI Fórum Nacional INAE, 2000). E, por
possuírem um "casf' ligado à televisão capaz de assustar ou cativar qualquer autoridade em
Brasília, os afins do cinema brasileiro - liderados principalmente por antigos diretores da
sétima arte, muitos advindos do movimento do Cinema Novo - desenvolvem a idéia de que
eles são diferentes. São diferentes por tudo que foi dito acima e, além disso, e
principalmente, porque suas atividades são de uma magnitude ímpar: eles são uma indústria.
Como o turismo, eles são - dizem eles - uma indústria sem chaminés. E como o turismo é
ligado, buscam em seu movimento se ligar ao Ministério da Indústria e do Comércio. Os
afins ao cinema sabem que o MinC é muito pobre para dar a alavancagem que eles acreditam
ser necessária para que o sistema industrial cinematográfico possa se tomar uma realidade.
No entanto, nem mesmo o seu lobby consegue mantê-los ligados permanentemente a
Indústria e Comércio. Inicialmente devem se contentar com o cantinho de todos os outros
índice não havia ultrapassado a cifra de 95 milhões. em 1990 não havia chegado a 17,5 milhões e em 1994
110
artistas: a cultura. E no MinC eles acabam dando trabalho à equipe de Weffort. Inclusive
todos os boatos de troca de ministro surgem sistematicamente lá - no "cast". A quantidade
de ajustes solicitados na lei de audiovisual é impressionante e a quantidade dos ajustes
executados, não menos2. As crises lideradas pelos diretores de cinema se seguem como uma
rotina e mantendo a sua disposição ao diálogo, o ministério segue sua rotina de mudanças
burocráticas na mesma velocidade.
Muito esclarecedor é o artigo de opinião de Arnaldo labor "Cinema sai do ovo
cultural para a vida real", que tem como chamada o subtítulo "Parece que o Governo
entendeu a importância do audiovisual", publicado em "O Globo" de 10 de outubro de
2000. Diz labor: "Ficamos mortos durante vários anos, com produção zero, até o advento
da Lei de Audiovisual, que criou uma Renascença meio torta, pois estimulava a produção e
deixava o mercado intocado. Com a globalização da economia, com fronteiras abertas, com
o fim da lei da obrigatoriedade, conseguimos fazer filmes ótimos e caros, pelo financiamento
subsidiado, mas o mercado continuou longe de nossos filmes. E nada existe fora do
mercado, como diz o sábio slogan da Arnerican Express. Por isso, vivemos uma Renascença
ilusória, há alguns anos. Continuamos nos reunindo em desespero na casa do Barretão, na
do Zelito, varamos noites tentando nos salvar deste grande erro: não éramos indústria nem
comércio, éramos apenas cultura. E cinema não é só isso. Agora, estamos diante das
últimas reuniões do século. O Governo criou o Grupo Executivo da Indústria
Cinematográfica. E há uma grande novidade nisso. O GEIC tem como presidente o Pedro
Parente, chefe da Casa Civil. E ali estão os ministros Pedro Malan, Alcides Tápias, Pimenta
alcançara somente 40 milhões". 2 Ver site do Ministério da Cultura: www.minc.gov.br/legislação
IH
da Veiga, Aloísio Nunes Ferreira e Weffort e, pela primeira vez, depois de 5.329 horas de
reunião que me consumiram em 25 anos, o Governo considera o cinema mais que um fato
apenas cultural. Agora, o cinema vai ser uma prioridade nacional, que passa pelo comércio,
pela indústria, pela importância do audiovisual no mundo dos satélites e da internet".
Realmente, muito esclarecedor.
Como se fosse possível errar pessoalmente em situações de corte sociológico como
esta, onde os cineastas do Cinema Novo remanescente erraram? O que o cinema pode
oferecer que a televisão já não o fez, para ser tratado como prioridade nacional?
Infelizmente se ele tem algum valor é como cultura e pelo tamanho que ele tem:
cinema no Brasil é uma espécie de artesanato, uma espécie de tecnologia de ponta, diria
AM, que atinge a sua maturidade industrial - já atinge e muito bem e com qualidade de
Primeiro Mundo - na televisão brasileira. O equívoco - se é que existe algum erro na
perspectiva do galinheiro (como o próprio labor autodefine o seu grupo, pois ela é apenas a
perspectiva de um determinado galinheiro) - é achar que o Brasil pode repetir o que o EUA
fez com a sua indústria - aí sim indústria - cinematográfica. O fenômeno americano é único
no mundo. E certamente de dificil repetição. A tentativa do caso francês é típica pois se
esforçou com todas as possibilidades da sociedade francesa e nunca conseguiu a escala
americana, nem mesmo para seu mercado interno.
No entanto, nós, brasileiros, temos exemplos na área de audiovisual tão competitivos
quanto os de qualquer país do mundo. Até com relação aos Estados Unidos. A Música
Popular Brasileira, associada aos seus clipes, é um. A área de publicidade, e seus filmetes, é
outro. As telenovelas, um inquestionável. E os programas infantis que são produzidos 112
inclusive em outros países, como os tênis nike, outro indiscutível. Claro que, além desses e
responsável por estes, deve-se repetir o maíor exemplo: a TV aberta brasileira. Porque o
exemplo da TV nunca é considerado quando se fala de imagem? Há algo de falacioso no
país dos cineastas. Esta aí o artigo do labor para apoiar essa tese. A questão do cinema
nacional - a partir da história montada pelos pares - é completamente incompleta. Contar a
história do cinema nacional a partir apenas de sua cinematografia é omitir praticamente toda
a sua história. Falar de imagem ou do audiovisual no Brasil sem considerar a história da TV
e especialmente da TV Glob03. é não ir fundo na questão e transformar o GEIC numa ação
entre amigos, mais uma como era a Embrafilme um pouco antes de ser extinta. Ação entre
quais amigos? Estão ali listados no artigo do labor. Eles usam como lobby de pressão dos
artistas de cinema? Não, não teria precisão falar dessa forma. Usam como lobby de pressão
os artistas de televisão! Bastaria uma lei de incentivo baseada no faturamento publicitário
das televisões para resolver o problema artesanal do cinema brasileiro - pelo menos por
enquant04. Não é que o governo brasileiro não entenda a importância do audiovisual como
diz labor. Na verdade o Governo não consegue nem tocar no assunto como deveria, isto é,
nas televisões. Podemos dizer que a mesa de discussões sobre as questões audiovisuaís
relevantes para o país nunca foi montada. Mas será que essa é possível de ser montada e
interessante ao poder silencioso dominante? Infelizmente, brinca-se quando se diz que o
Brasil tem que equilibrar sua balança comercial cinematográfica - tão negativa, sem se
3 A TV Globo fundada em 1965. 91 emissoras. 8.500 funcionários. Média de 59% de participação de audiência em 1996. Cobertura em 33,7 milhões de domicílios com TV equivalente a 99% de cobertura em todo o país. Maior produtora de programas de TV do mundo. Cria e produz em seus próprios estúdios 78% de toda a programação exibida durante 20 horas diárias. Programas exportados para 128 países nos cinco continentes (Globo TV Network: TV Fact Book. 1996). 4 O bolo publicitário. definido como investimento bruto em mídia mais produção, segundo dados da TV Globo, variou de 1992 a 1995, de US$ 2,275 bilhões para US$ 5.8-'1 bilhões (Globo TV Network: TV Fact Book. 1996).
113
considerar por exemplo a exportação de telenovelas (Globo TV Network: TV Fact Book,
1996). Brinca-se quando se diz que o cinema é fundamental para revelar o Brasil que nós
brasileiros não conhecemos sem considerarmos as justas produções de telenovelas. Brinca
se quando se mede a participação internacional brasileira a partir das indicações e perdas do
cinema no Oscar não se ponderando a quantidade de premiações ganhas por comerciais
brasileiros no exterior. Não se considera a especificidade da relação cinema brasileiro e sua
TV, ou da TV e seu cinema, quando na mesma noite em se comemora a possibilidade do
filme "Central do Brasil" ganhar o Oscar holywoodiano de melhor filme estrangeiro, ele - o
filme - ser exibido na grade normal da TV Globo. Há algo de racionalmente podre nessa
argumentação jaborianesa, infelizmente. Ele mesmo - um dos principais porta-vozes do
cinema nacional - trocou a profissão de cineasta pela de comentarista de assuntos gerais na ...
TV Globo.
114
Portanto, no final do primeiro mandato do Governo FHC, em função do audiovisual
o MinC se modificou completamente. E Álvaro Moisés em mais uma cruzada santa largou
toda a cultura para se dedicar exclusivamente à Lei de audiovisual. Um estudo sobre a
importância da cultura para a economia foi o último esforço geral deste cruzado tentando
demonstrar como economicamente a cultura é importante para a economia. A frase
redundante é proposital, pois a tarefa é inglória e fadada ao fracasso - caminho percorrido
pelos ecólogos e há muito abandonado (APED, 1999) - mesmo que o marketing seja outro
e se diga que "cultura é um bom negócio"s.
o cinema é o melhor exemplo de como o MinC ficou refém das necessidades de
financiamento dos artistas no final do primeiro governo de FHC. A sua estrutura
administrativa acabou se modificando em função dessas necessidades. A Secretaria
Executiva passou a ser uma espécie de Chefia de Gabinete robusta, destituída do poder de
5 A análise do Secretário Álvaro Moisés para os dados conseguidos pela sua pesquisa destaca ainda que: "A pesquisa do Ministério da Cultura também analisou os investimentos em cultura realizados por empresas privadas e públicas. Nesse caso. partindo do pressuposto de que as 500 maiores empresas privadas. 99 maiores empresas públicas. 50 maiores bancos e 2 mais importantes holdings estatais constituem o universo mais significativo de empresas que investem em cultura, no país. os pesquisadores da Fundação João Pinheiro basearam-se em uma amostra do mesmo universo. composta por 111 empresas dos ramos financeiro e não-financeiro, para aplicar um questionário especialmente desenhado para os fins da pesquisa.Os resultados mostram. em primeiro lugar, que 53% das empresas consultadas escolhem o marketing cultural como meio preferencial de ação de comunicação com o mercado consumidor. De outra parte, as empresas que investem em cultura - segundo a amostra de 111 firmas consultadas - dão prioridade às seguintes áreas culturais em suas ações de comunicação: música. audiovisual. patrimônio histórico. artes cênicas e produção editorial. ( ... ) Finalmente, duas outras informações mostram. ainda, a importância das descobertas dessa pesquisa: de um lado. as respostas das empresas mostraram.. claramente, a relação entre o aumento do patrocínio a projetos culturais e a existência e funcionamento das leis de incentivo fiscal ao setor. A pesquisa mostrou que as leis federais foram as mais utilizadas. particularmente. a Lei Rouanet (8.313). que viabilizou cerca de 84% dos projetos patrocinados no periodo em análise. enquanto 16% dos mesmos foram apoiados pelas 12 leis estaduais e/ou pelas 17 leis de Municípios de capital em vigência. A outra revelação interessante refere-se aos principais motivos invocados pelas empresas para tomarem a decisão de investir em projetos culturais: 65% delas considera que esse investimento representa ganho de imagem institucional. enquanto 28% acham que o investimento agrega valor à marca da empresa".
115
cuidar de toda a verba do Fundo Nacional de Cultura, passando a ser um núcleo de projetos
especiais e de política cultural. A Secretaria de Política Cultural junto com a de Intercâmbio
Internacional desaparecem. E o que indicava a criação de uma Secretaria de Audiovisual,
orientou as modificações: a segmentação da operação administrativo-financeira do MinC
por áreas artísticas. Foram criadas as secretarias de Música e Artes Cênicas; de Patrimônio e
Museus; e de Livro e Leitura. E seguindo ainda o exemplo da Secretaria de Audiovisual, tais
secretários passam a cuidar de tudo que é relativo a seus temas culturais e artísticos, mesmo
que seja Fundo Nacional de Cultura, Mecenato, assuntos internacionais ou emendas
parlamentares no orçamento da União. Pela sua complexidade o Projeto Monumenta, com
parte das verbas garantida pelo BID, apesar de sua vinculação temática ao Patrimônio, passa
a ter uma secretaria executiva em separado, respondendo diretamente e ao mesmo tempo à
Secretaria de Patrimônio e ao Gabinete do ministro. Uma pequena mudança nos
organogramas, já que os grupos administrativos de funcionários continuaram nas secretarias
herdadas mas, que foi fundamental para as decisões: todo o poder aos secretários do
ministro, em detrimento inclusive da famosa CNIC - Comissão Nacional de Incentivo à
Cultura. A então poderosa comissão sofre ainda dois enfraquecimentos oriundos de duas
outras modificações. Uma, de caráter geral tanto para a Lei Rouanet como para a Lei de
Audiovisual: o aceite em regime de urgência e de imediata aprovação para projetos com
patrocinadores já acertados. E outra, específica para a Lei de Audiovisual: a criação da
Comissão de Notáveis para a Política de Audiovisual. Mesmo jogando a pá-de-cal na CNIC,
a Comissão de Notáveis mal consegue funcionar em função de suas decisões autocráticas,
gerando mais um movimento de descontentamento entre os cineastas, que levou à criação
do GEIC de que fala Jabor em seu esclarecedor artigo.
116
Dessa forma, as crises encabeçadas pelo cinema acabam por modificar a Lei de
Incentivo e hoje ela é outra. As projeções demonstram uma certa acomodação de terreno
por parte do mercado, com relação aos limites de utilização do teto de renúncia fiscal, e as
novidades poderão ser - ainda não as são - as leis estaduais e municipais pelo país a fora
(nota: há um número crescente de leis de incentivos estaduais e municipais, com destaque
para as da Bahia e Minas Gerais que ainda não se tornaram plenamente operacionais ou com
impacto definitivo para as suas áreas de influência).
No entanto, o número de projetos em busca da aprovação nas leis de incentivo
federais aumenta a cada ano em função de um fenômeno muito interessante: a aprovação
passa a ser considerada pelo mercado uma espécie de selo mínimo de qualidade. O que não
garante, de maneira nenhuma, que a captação irá se concretizar. Em sua ampla maioria,
70% de tais projetos aprovados não conseguem captar os recursos necessários para a sua
realização e são definidos como projetos-palha por alguns integrantes da CNIC. Os outros
30%, capazes de realizarem a sua captação, são compostos em sua maioria por projetos
ligados de alguma forma a instituições reconhecidas ou a grupos lobistas como o dos
cineastas consagrados ou então, pertencem ao grupo de uma das principais mutações da lei
rouanet: a das instituições culturais criadas por empresas que podem assim descarregar seus
créditos fiscais culturais quase que em si mesmas. Centro Cultural Banco do Brasil, Instituto
Moreira Salles, Instituto Itaú são exemplos de um fenômeno que se multiplica a cada dia
pelas telefônicas, empresas de eletricidade, bancos e muitos outros ramos. Uma espécie de
sarneyzação da Lei Rouanet6. Os problemas de congestionamento burocrático e
6 Um estudo encomendado pelo próprio Mine e entregue pela consultora Marta Porto/Unesco-RJ. em junho de 2.000. busca estancar esse problema. obrigando a tais empresas a financiarem cultura fora de seus institutos numa escala exponencial para cada real colocado em seu instituto ou afim.
117
desenvolvimento da autonomia burocrática, que gera a tentação de definir o que é cultura
por parte dos anéis burocráticos que se formaram em torno das leis de incentivo federais,
ainda é um problema menor perto dos indicados anteriormente mas que certamente tende a
dominar as problemáticas futuras. Se é possível falar de medo e sobrevivência, tais anéis
burocráticos desenvolvem o medo de nada mais se ter sem a lei, o que resultou na crítica
jocosa de que a sigla MinC deveria significar Ministério do Incentivo à Cultura.
Sem dúvida é a falta de projeto institucional que gera todas essas distorções e que
tornam o MinC refém das necessidades financeiras dos diversos grupos artísticos do país.
Apesar dos problemas aqui destacados, dentro dos limites que o modelo da lei oferece, o
trabalho possível foi realizado e ele, seguindo a linha de coerência que o produziu - isto é,
baseado no diálogo com a sociedade - deve ser finalizado. O último passo lógico do esforço
empreendido pelo ministro Weffort e sua equipe deve ser dado: A lei deve ser entregue
definitivamente para a sociedade. Os mecanismos devem ser simplificados ao máximo: como
o que reconhece o direito ao crédito de projetos com patrocinadores. E a regularização,
acompanhamento e reconhecimento de créditos culturais para a realização dos projetos
devem ser provisonados por institutos de cultura e pesquisa especialmente destinados a isso,
descolados completamente do funcionamento dos ministérios e de suas coligadas. Ao MinC
caberia a coordenação de tal sistema, podendo dessa forma se dedicar plenamente à busca
de sua missão institucional.
No entanto, a dubiedade institucional perpassa todo o segundo Governo FHC e as
dificuldades em seu início - 1999 - são grandes. Existe uma certa apatia. E no jogo da
divisão de poderes, a cultura sem posicionamento passa a ser mais uma vez moeda de troca -
ou troco - já que no final ninguém a quis. Enquanto o ministro Weffort viajava, a pasta foi
118
oferecida publicamente, através da mídia, a vários parceiros menores da base de sustentação
do Governo FHC. Nenhum oferecimento se concretizou. Só ficou o sentimento de que a
Cultura não era tão especial como parecia ser para a estrutura de Governo. E o MinC
parecia continuar em tomo de uma lei. Perdido. Sem projeto institucional. Acreditando que
a melhor tarefa é conseguir mais e mais dinheiro para a área.
Mesmo que o MinC tenha tido um relativo sucesso nessa questão do financiamento
- em 12 de setembro de 2000, conseguiu aprovar a lei que eleva para três por cento, o valor
dos recursos destinados ao Fundo Nacional de Cultura, de todos os prêmios das loterias
federais -, ele continua sem um projeto institucional, capaz de ser expresso em lei e por uma
política nacional de cultura.
Em suma, a situação inicial do segundo governo FHC parece ser a mesma do inicio
do primeiro governo, a não ser por um acontecimento raro: A Carta de Fortaleza e,
posteriormente, o decreto de 4 de agosto de 2000. Uma regurgitação antropofágica na
figura do patrimônio imaterial.
Mas para tratar dela são necessárias algumas digressões, pOIS este capítulo
conclusivo, como já destacado, visa ambientar as discussões culturais em tomo da questão
das agendas de governo, seja federal, estaduais ou municipais. Estas digressões se ligam a
três trabalhos científicos referenciais. Partimos da mesma perspectiva estudada por Kuhn
(1980) de que os modelos de reflexão das ciências sociais e humanas surgem primeiro em
campos consolidados do saber científico, como a fisica, a biologia e outros. Teorias de
administração que freqüentam a periferia desse sistema científico acadêmico estão dessa
forma sujeitas às marolas compreensivas que partem do centro do saber consolidado até
119
atingi-las das mais diversas formas, em suas bordas, com mais força ou muito fracas, com
poder elucidativo ou simplesmente com o poder organizador de práticas, instrumentalizadas
no modismo da armação do sistema descritivo de tais teorias. Se a um primeiro momento
parece desprezível tal influência, pois muitas vezes não passa de modismo, num segundo
momento, se depurada e esclarecida, deve-se considerar que é impossível se compreender
qualquer arcabouço teórico-prático sem se considerar o material acadêmico/científico em
que tais tijolos foram plasmados e, portanto, a sua definítiva influência.
Dito isto, a intenção é criar um espaço reflexivo capaz de destacar a discussão da
potencialidade estruturante da questão cultural, que poderá modificar a posição da
administração pública dos organismos culturais nas prioridades da agenda de governo. Daí,
a necessidade de três digressões, que na verdade atualizam as reflexões de AM.
A primeira digressão: Ética e Ecologia Humana
A primeira digressão trabalha os estudos do canadense de Pierre Dansereau sobre
Ética e Ecologia Humana (APED, 1999). O ingrediente trágico da discussão: a destruição
do planeta, uma coetânia hodierna da morte pessoal. Pierre Dansereau é um pesquísador
referencial no esforço das ciências ambientais em encontrar uma definitiva união entre os
estudos naturais e humanos. Esforço que pode ser resumido por suas próprias palavras: "As
ciências do meio ambiente estão à procura de uma nova síntese do saber de uma nova
prescrição cujo princípio será mais ecológico do que econômico e mais ético do que
científico". Ele também nos oferece um descritivo dessa nova síntese do saber ao destacar
os nove principais pontos da conhecida Declaração de Vancouver (1990):
120
"1. Os impactos do homem sobre seu meio ambiente alcançaram uma irreversibilidade
sem precedentes que nos conduz para além dos instrumentos utilizados na gestão
convencional.
"2. A ruptura macro-ambiental, uma repercussão das nossas intervenções, causa danos
que transcendem os poderes nacionais. O pensamento global deve constantemente se
reabastecer no nível da ação local.
"3. Somente uma nova gestão da solidariedade, através de consultas realizadas entre
gerações, classes e nações, nos permitirá formular de maneira válida os nossos
problemas.
"4. Necessitamos, antes de maIS nada, romper o ciclo da guerra e reorientar as
economias e os intercâmbios.
"5. Não se pode separar os efeitos deletérios da pobreza, da ignorância e da injustiça que
constituem ao mesmo tempo a causa e a conseqüência da crise. A ruptura deste círculo
vicioso é essencial a uma apreensão útil da miséria humana, e ao fortalecimento da
vontade de mudança.
"6. Toma-se necessário no mínimo inventar o futuro para favorecer a emergência de
novas estruturas de alocação e de gestão. Pelo fato de todos os nossos desastres serem
atribuíveis a fracassos de imaginação, o desafio reside numa capacidade criativa de
renovação.
"7. Devemos voltar-nos para uma austeridade feliz, o que implica o consentimento a
certas coações antes que elas passem a ser impostas pela emergência de catástrofes. As
121
inevitáveis reformas nas estruturas políticas e econômicas não se viabilizam sem
mudanças de percepção e de procedimento.
"8. Face à trilogia diversidade-continuidade-acordo, seremos conduzidos a aceitar as
diferenças, a respeitar as heranças e a organizar intercâmbios.
"9. A aptidão a destruir, a vontade de viver e a capacidade de construir constituem três
forças antagônicas que devemos equilibrar se ousarmos optar pela harmonia, pela paz e
pela justiça."
o esforço de Dansereau em desenvolver o conceito de ecossistema (APED. 1999 - p.
19 e seguintes) de forma que ele possa ser utilizado da maneira mais ampla possível, ao mesmo
tempo que especificamente, é impressionante. Um conceito capaz de comportar o estudo de
um andorinha, de uma árvore e de uma menina canadense ou brasileira é digno de nota.
Mas transitá-lo aqui, como queremos, para que ele possa encontrar o conceito de
cultura talvez possa parecer por demais global e pouco local. Por isso, acreditamos que
necessitamos de umfi/tro compreensivo. um transmutador a/químico. Ou de uma maneira
mais moderna: a navegação dos estudos biológicos/ambientais para a área da
cultura/antropologia, tendo como ambiente a administração pública, pode ser feita sem
traumas utilizando-se o filtro da área de promoção da saúde (Cadernos da Escola Nacional
de Saúde Pública/2000):
"Traçando a sua própria concepção de saúde de maneira ampla, considerando a
questão da qualidade de vida das populações como marco de reflexão, a promoção da saúde
propõe a articulação de saberes técnicos e populares e a mobilização de recursos
122
institucionais e comunitários, públicos e privados para o enfrentamento e resolução do
processo saúde-doença e seus determinantes.
"Nos paises em desenvolvimento, particularmente no Canadá, Estados Unidos e
países da Europa Ocidental, o conceito moderno de promoção da saúde surge e se
desenvolve de forma mais vigorosa nos últimos 20 anos, onde sua prática ganhou contornos
de movimento ideológico e social.
''De qualquer maneira, observa-se grande coincidência entre os conceitos de
promoção da saúde com o de desenvolvimento humano sustentável, Agenda 21, direito à
cidade e a moradia e outros, como o cooperativismo. Em todos eles trabalha-se com fatores
determinantes internos e externos aos respectivos campos a que centralmente se referem
(desenvolvimento, ambiente, saúde, aglomerações humanas e produção coletiva de bens e
serviços), o que evoca a ação inter -setorial para o enfrentamento dos problemas
identificados. Além disso, a valorização do conhecimento popular e da participação social e
sua articulação com outros movimentos sociais como o movimento ecológico/ambientalista
e o movimento feminista são a base da formulação conceitual e das práticas da promoção da
saúde como também desses outros conceitos.
''Dessa forma, ao mencionar-se a saúde como fator essencial do desenvolvimento
humano, um dos campos de ação da promoção da saúde passa a ser a criação de ambientes
favoráveis. O desenvolvimento sustentável coloca o ser humano como agente central do
processo de defesa do meio ambiente e tem no aumento da expectativa de vida saudável e
com qualidade um de seus principais objetivo. A "governance" implica na ampla
participação da comunidade na definição de questões culturais da vida coletiva. Em todos
123
estes conceitos preconiza-se a importância da equidade. seja na distribuição de renda, seja
no acesso aos bens e serviços produzidos pela sociedade.
"O que vem a caracterizar a promoção da saúde modemamente, é a constatação do
papel protagônico dos determinantes gerais sobre as condições de saúde. A saúde toma-se
um produto resultante de um amplo espectro de fatores relacionados com a qualidade de
vida, incluindo um padrão adequado alimentação e nutrição, de habitação e saneamento,
boas condições de trabalho, oportunidades de educação ao longo de toda a vida, ambiente
fisico limpo, apoio social para famílias e indivíduos, estilo de vida responsável e um espectro
adequado de cuidados de saúde. Suas atividades estariam, então mais voltadas ao coletivo
de indivíduos e ao ambiente, a Carta de Otawa (OMS, 1986) menciona, entre os cinco
campos de ação prioritários, a criação de ambientes favoráveis à saúde compreendido num
sentido amplo, de ambiente fisico, social, político, econômico e cultural, através de políticas
públicas e de ambientes favoráveis ao desenvolvimento da saúde e do reforço da capacidade
dos indivíduos e das comunidades.
"É nesta dimensão ampliada de ambiente que a promoção da saúde prescreve a
criação de ambientes favoráveis entre os seus cinco campos prioritários de ação. De fato,
um elenco muito importante de determinantes da saúde encontra-se situado nestas distintas
"dimensões ambientais" referidas.
"A criação de ambientes favoráveis à saúde implica no reconhecimento da
complexidade das nossa sociedades e das relações de inter-dependência entre diversos
setores. A proteção do meio ambiente e a conservação dos recursos naturais, o
acompanhamento sistemático do impacto que as mudanças no meio ambiente produzem
sobre a saúde, bem como a conquista de ambientes que facilitem e favoreçam a saúde, como
124
o trabalho, o lazer, o lar, a escola e a própria cidade passam a compor, centralmente a
agenda da saúde.
"A agenda 21, a carta para a ação resultante da grande Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Cúpula da Terra de 1992, aponta
claramente que nossas perspectivas de saúde dependem do "desenvolvimento adequado de
nosso meio ambiente natural e social" (Agenda 21, 1992).
"( ... ) A perspectiva das políticas públicas saudáveis distingui-se e ultrapassa em
abrangência as ações ambientais da saúde pública tradicional, e mesmo as políticas urbanas
de expansão de serviços e bens de consumo coletivo. Implica numa abordagem mais
complexa, devendo ser compreendida como uma (re)formulação inovadora tanto do
conceito de saúde quanto do conceito de Estado e de seu papel perante a sociedade. Pode
se dizer que a noção de políticas públicas saudáveis só pode ser compreendida e
desenvolvida a partir de uma nova concepção de saúde e de uma nova concepção de Estado
e de política pública.
"A nova concepção de saúde importa numa visão afirmativa, que a identifica com
bem-estar e qualidade de vida e não simplesmente com ausência de doença. A saúde deve
ser vista como resultado de um complexo de fatores e situações biológicas, sociais,
econômicas, culturais, cuja interação define a cada momento e em cada lugar o padrão de
saúde, inclusive o quadro de transição/polarização epidemiológica contemporâneo. A saúde
deixa de ser um estado estático, biologicamente definido, para ser compreendido como um
estado dinâmico, socialmente produzido.
"Nesse marco, a intervenção visa não apenas diminuir o fISCO de doenças, mas
aumentar as chances de saúde e de vida, implicando numa intervenção multi e intersetorial
125
sobre os chamados determinantes do processo saúde-enfermidade: eIS a essência das
políticas públicas saudáveis.
"Proporcionar saúde significa. além de evitar doenças e prolongar a vida, assegurar
meios e situações que ampliem a qualidade de vida "vivida", ou seja, ampliem a capacidade
de autonomia e o padrão de bem-estar, o que por sua vez são valores socialmente e
culturalmente definidos, importando em valores e escolhas. Assim, a intervenção sanitária
nessa perspectiva refere-se não apenas à dimensão objetiva dos agravos, mas aos aspectos
subjetivos, relativos portanto às representações sociais de saúde e doença. Mais do que
remover fatores de risco, trata-se de enfrentar situações de risco sanitário, onde o risco
sanitário pode ser impactado, diminuído ou ampliado, mediante intervenções que, malgrado
ou para além de sua base técnica, devem ser sempre socialmente construídas e legitimadas.
"Assim, as políticas saudáveis envolvem ou têm como objeto não apenas os riscos de
adoecer ou morrer, mas também os riscos ou obstáculos à vida com qualidade, com bem
estar, com autonomia.
"A nova concepção de Estado, subjacente à proposta das políticas públicas
saudáveis, é aquela que (re)estabelece a centralidade de seu caráter público e de sua
responsabilidade social, ou seja, seu compromisso com o interesse público e com o bem
comum. Nesse contexto, é possível superar a idéia de políticas públicas como iniciativas
exclusivas ou monopolísticas do aparelho estatal. Elaboradas e pactuadas em fóruns
participativos, expressivos da diversidade de interesses e necessidades sociais, as políticas
públicas tendem a ser comprometidas com a saúde quanto têm sua implentação controlada
pela participação ativa da sociedade. Representam assim uma nova e mais adequada
redistribuição de direitos e responsabilidades entre o Estado e a sociedade" .
126
"( ... ) Segundo a OMS, uma cidade saudável deve ter as seguintes características:
• meio fisico limpo e seguro
• assegurar as necessidades básicas para todos
• comunidade forte, integrada, sem exploração e com apoio mútuo
• alto grau de participação pública na administração local
• acesso às diferentes experiências, à interação e comunicação
• promoção e celebração das tradições históricas e culturais" (OMS, 1992).
O patrimônio antropofágico hoje, Patrimônio em Mário e Aloísio pode ser defendido
da mesma maneira que biodiversidade definida por Dansereau (APED. 1999- pp. 447 e
seguintes) e que inclui as manifestações humanas. O tratamento da questão é bem conduzido
por Joaquim Falcão na introdução que realiza ao livro apócrifo de coletâneas de textos,
entrevistas e discursos de Aloísio Magalhães "E Triunfo?": "Os aspectos positivos da
cultura jovem decorrem por um lado da constatação de que a forma civilizatória dos países
ricos e velhos não trouxe felicidade a nenhum dos seus povos. Ao contrário, levou-os à
violência urbana, à militarização compulsiva, ao medo permanente da guerra, ao intermitente
desemprego e à crescente especulação financeira. Por outro lado decorrem do fato do país
detentor de uma cultura jovem ter maior potencialidade de invenção e criação. Não estão
ainda sedimentados os parâmetros culturais definitivos. A contrapartida positiva da maior
fragilidade é a maior flexibilidade diante da inovação. Daí a necessidade de se preservar
manifestações culturais espontâneas e populares, eventualmente portadoras de soluções não
percebidas pelos países ricos e velhos. Mesmo porque, como dizia, nos países jovens e
pobres, a mudança é uma necessidade" (Magalhães, 1985 - p. 21 ). É impressionante como
essa questão está definida em Aloísio, ela o leva a seguir um caminho que na maioria dos
127
países só atinge a maturidade reflexiva no final da década de 80 e anos 90, e que é a questão
do desenvolvimento sustentável, que Aloísio chama de desenvolvimento hannonioso, cujo o
instrumento para sua concretização é justamente o bem cultural. Em suas palavras durante o
discurso na instalação do I Encontro dos Conselhos Estaduaís de Cultura das Regiões
Centro-Oeste e Norte, em Goiânia, 26 de maío de 1982, temos: ''Eu vim a São Paulo para
uma reunião de tecnologia, uma reunião extremamente científica e tecnológica, de nivel
muito alto. Eu estava chegando do Nordeste e baixei de repente nessa reunião que já havia
começado e fiquei perplexo com o nível em que os problemas eram tratados. O nível, a
escala de valores, os milhões de cruzeiros para determinar o fluxo do metrô em relação a
determinado desenho. Enfim, era uma escala tão grande quando em outros contextos não se
poderia imaginar aquilo. E eu não sabia como intervir, como entrar na conversa. E de
repente me lembrei, não sei se intuitivamente, me virei, interrompi a reunião e disse bem
alto: E Triunfo? Aí a reunião parou, um sujeito olhou para outro e disse: Triunfo? Outro
disse: E o que é Triunfo? Que era o que eu queria. Aí eu disse: Quando você viaja pelo
sertão de Pernambuco, a partir de serra Talhada, você avista o primeiro grande maciço dos
chapadões do Araripe. É esse maciço que constitui verdadeiramente o nome daquele lugar,
que é o contraforte do chapadão do Araripe, e vai mudando a paisagem, vai mudando a
paisagem e começam a aparecer árvores, frutas, fruta-de-conde, uma série de pequenos
sítios, a construção muda, uma construção freqüente de pedras, pedra seca, muros e cerca
de pedra seca. Toda a paisagem vai mudando à proporção que você vai subindo a Serra do
Araripe. E quando você chega a mil metros de altura, numa curva de estrada, você avista a
cidade de Triunfo. Tem um açude parado, refletindo a cidade, uma pequena cidade no topo
da Serra do Araripe, harmoniosa, uma cidade antiga, com as ruas, as praças, os prédios de
128
dois andares. Uma escala humana perfeitamente mantida, uma densidade correta. (00') Enfim,
todo um processo de harmonia entre ecologia e necessidades técnicas, toda uma forma de
vida que a meu ver tem uma representatividade imensa que de nada tinha a ver com a escala
da discussão em que nós estávamos. Essa foi a única maneira que eu encontrei de intervir na
conversa e deixar uma cunha, deixar uma referência que não sei se atuou ou não nas cabeças
das pessoas daquele nivel de tecnologia, mas que era realmente a tentativa de dizer que
existe Triunfo. E quantos triunfos existem por aí? (Magalhães, 1985 - p.42 e 43). Nessa
lógica, Aloísio se aprofunda e pode discutir de uma maneira tão precisa e antecipada a
globalização atual. A comunicação que se segue data de 8 de novembro de 1977 em reunião
do Conselho Federal de Cultura. Diz Aloísio: "A conscientização e uso adequado de nossos
valores é a única maneira de nos contrapormos, oferecendo alternativas nossas, à inevitável
velocidade de transferência cultural entre nações no mundo de hoje. ( ... ) Relembrar a
importância da continuidade do processo cultural a partir de nossas raízes não representa
uma aceitação submissa e passiva dos valores do passado, mas a certeza de que estão ali os
elementos básicos com que contamos para a conservação de nossa identidade cultural"
(Magalhães, 1978).
A segunda digressão: Memória e Identidade
A segunda digressão trata da questão da memória e da identidade. Trata-se de
pesquisa na área de neurociências publicada pela Revista Nature de lO/ago/2000.
Correlaciona-se à definição de memória em Aloísio. Para os pesquisadores Karim Nader,
Glenn E. Schafe e Joseph E. Ledoux da Universidade de Nova Y ork o modelo mrus
129
conhecido de memória deve ser revisto a partir de suas pesquisas em laboratório. Para eles,
o novo modelo deve levar em conta que a memória de longo prazo é lábile, isto é, instável.
Dessa forma, as memórias - mesmo aquelas de experiências traumáticas e que por isso são
consideradas permanentes - são guardadas numa sopa química extremamente instável e,
portanto, podendo ser modificadas ou destruídas com muito maís facilidade do que se
pensava antes. Taís cientistas defendem que nenhuma lembrança pode ser recuperada da
mesma forma ou para sempre. Isso é impossível. Cada vez que uma coisa é relembrada, ela
não pode ser simplesmente devolvida para o arquivo de memórias. Ela precisa ser reescrita
no código químico usado pelo cérebro. Segundo os cientistas: "O modelo tradicional de
memória diz que fatos novos são transformados em pedaços de memória estável, de longo
prazo, num processo de geração de proteínas chamado consolidação. Nossas descobertas
desafiam esse modelo. Descobrimos que as memórias de longo prazo entram num estado
quimicamente instável toda vez que são relembradas. Além disso, demonstramos que cada
vez que alguma coisa é relembrada, precisa ser reconsolidada, com a produção de novas
proteínas". ("Lembranças podem ser alteradas no cérebro", Ciência e Vida, O Globo, 21 de
agosto de 2000).
A memória é naturalmente muito maís antropofágica do que se pensava e... tão
próxima do bodoque aloisiano cósmico. E portanto, não só toda biodiversidade natural é
humana, como todo o olhar sobre a biodiversidade é único e deve ser também registrado,
pois "a antropofagia é a única lei do mundo" (Manifesto Antropófago, 1928)7.
7 A síntese dos saberes que prega Dansereau - a lógica da solidariedade - só é possível em sua plena magnitude utilizando-se a técnica de registro de quem olha. Técnica tão comum nos estudos antropológicos, sociológicos e também no CNRC de Aloísio
l30
A Terceira Digressão: a Matéria Invisível
A terceira digressão liga-se a estudos já consolidados e aceitos pela comunidade
científica mais avançada, e tem a ver com a busca da unificação da teoria da relatividade e da
teoria quântica: a teoria da matéria escura. Liga-se a idéia de bem cultural e patrimônio
imaterial. Pelas contas cósmicas, para que o universo visível faça sentido, isto é, possa todos
os dias existir, é necessário que exista uma quantidade considerável de matéria invisível,
também conhecida como matéria escura. Algo em tomo de 70% de matéria invisível para o
total de matéria visível existente, uns poucos 30% da massa universal (Brockman, 1988 - p.
39). Isto é: para se ser materialista hoje é preciso acreditar no invisível, não paupável, não
perceptível "etc e etc" (Ante-projeto de Mário de Andrade, 1935) e "Roteiro, roteiro,
roteiro ... " (Manifesto Antropófago, 1928).
E se dessa forma temos aqui como rediscutir as grandes maquinarias de explicação
do mundo ocidental atual: o modelo do mundo como necessidade material que gera a
interpretação baseada na rigidez da necessidade: da qual trata a ciência econômica - quanto
falta, quanto vale, quanto é possível -, baseada na obviedade do materialismo, que gera a
consideração de que só podemos considerar o que é visível.
o pensamento da matéria escura rompe com o conceito da necessidade. Não porque
a necessidade ainda não possa ser a grande regente do universo. A questão é que não há
como saber se ela o é. É por esta principal razão que o universo concebido como o resultado
de uma composição de acaso e necessidade passou a ganhar espaço. Concepção coligada a
Nietzsche (Deleuze, 1974). Isto é não há como saber previamente qual a necessidade que
impele um acontecimento, pois não há dados visíveis suficientes para se fazer tais previsões.
131
Mas podemos afirmar que se aconteceu alguma coisa era porque era necessária. Estamos
então diante de uma ciência memorialista: só é possível prever o passado. E aqui temos uma
conseqüência importante, pois se a única ciência possível é a história, nenhuma teoria pode
apoiar a ação pois por princípio tudo pode acontecer. Em outras palavras, todas as teorias
são na verdade intervenções, ações de uma outra espécie - podemos dizer - mas são sempre
- desculpe o pleonasmo - ações executivas.
o bem cultural de Aloísio é, na verdade, um instrumento para indicar, possibilitar o
conhecimento mais total de um determinado universo, pois ele é composto de 70% de
imaterialidade e 30% de materialidade e seus 100% são propriamente o conjunto da
realidade. Por isso, não é possível pensar Aloísio preservando apenas prédios, pedra e cal.
Seria algo quase que grotesco. ''Há uma interrogação sutil: como preservar, quando, onde,
de que maneira? Não se pode deixar de incluir a vida. Não há cidade morta" (Magalhães,
1985 - p.86).
o Decreto e a Fortaleza da Carta
Podemos então voltar a Carta de Fortaleza que irá gerar o Decreto Presidencial de 4
de agosto de 2000, que institucionaliza a figura do patrimônio imaterial. É interessante que
nos escombros do que fora o aparato de cultura antes do governo Collor, a equipe de
Weffort tenha levado seis longos anos para reencontrar Aloísio.
Em sua reportagem tratando da figura do Patrimônio Imaterial, no site do MinC
(wwwminc.gov.br), o IPHAN assina o seguinte texto: "A partir dos anos 70, o conceito de
patrimônio cultural amplia-se e passa a incluir, além de obras arquitetônicas, urbanísticas e 132
artísticas de grande .valor, manifestações de natureza imaterial que constituem importantes
referências culturais e relacionam-se à identidade, à memória e à ação dos grupos sociais".
Eles estão objetivamente falando de Aloísio e prosseguem: "A Constituição promulgada em
1988 confirmou, em seu Artigo 216, esse conceito ao também incluir no rol do patrimônio
cultural brasileiro as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver. Em novembro
de 1997, em comemoração aos seus 60 anos, e retomando uma discussão que faz parte de
sua história, o IPHAN promoveu em F ortalezalCE um seminário internacional com o
objetivo de discutir estratégias e formas de proteção ao patrimônio imaterial. A Carta de
Fortaleza, documento final do evento, recomendou, entre outras indicações, o
desenvolvimento de estudos para a regulamentação do registro como principal modo de
preservação dos bens culturais de natureza imaterial".
Antes de continuarmos com o texto do IPHAN é essencial reproduzirmos a íntegra
do documento a Carta de Fortaleza: "Em comemoração aos seus 60 anos de criação, o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN promoveu em Fortaleza, de
10 a 14 de novembro de 1997, o Seminário "Patrimônio Imaterial: Estratégias e Formas de
Proteção", para o qual foram convidados, e estiveram presentes, representantes de diversas
instituições públicas e privadas, da UNESCO e da sociedade, todos signatários deste
documento. O objetivo do Seminário foi recolher subsídios que permitissem a elaboração de
diretrizes e a criação de instrumentos legais e administrativos visando a identificar, proteger,
promover e fomentar os processos e bens "portadores de referência à identidade, à ação e à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira" (Artigo 216 da
Constituição), considerados em toda a sua complexidade, diversidade e dinâmica,
particularmente, "as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações
133
científicas, artística e tecnológicas". com especial atenção àquelas referentes à cultura
popular.
"O plenário, considerando:
"1. a crescente demanda pelo reconhecimento e preservação do amplo e diversificado
patrimônio cultural brasileiro, encaminhada pelos poderes públicos e pelos SOCIaIS
organizados;
"2. que, em nivel nacional, cabe ao IPHAN identificar, documentar, proteger, fiscalizar,
preservar e promover o patrimônio cultural brasileiro;
"3. que o patrimônio cultural brasileiro é constituído por bens de natureza material e
imaterial, conforme determina a Constituição Federal;
"4. que os bens de natureza imaterial devem ser objeto de proteção específica; e
"5. que os institutos de proteção legal em vigor no âmbito federal não se têm mostrado
adequados à proteção do patrimônio cultural de natureza imaterial;
propõe e recomenda
"1. que o IPHAN promova o aprofundamento da reflexão sobre o conceito de bem cultural
de natureza imaterial, com a colaboração de consultores do meio universitário e instituições
de pesquisa;
''2. que o IPHAN, através de seu Departamento de Identificação e Documentação,
promova, juntamente com outras unidades vinculadas ao Ministério da Cultura, a realização
134
do inventário desses bens culturais em âmbito nacional, em parcena com instituições
estaduais e municipais de cultura, órgãos de pesquisa, meios de comunicação e outros;
"3. que o Ministério da Cultura viabilize a integração do referido inventário ao Sistema
Nacional de Informações Culturais;
"4. que seja criado um grupo de trabalho no Ministério da Cultura, sob a coordenação do
IPHAN, com a participação de suas entidades vinculadas e de eventuais colaboradores
externos, com o objetivo de desenvolver os estudos necessários para propor a edição de
instrumento legal, dispondo sobre a criação do instituto jurídico denominado registro,
voltado especificamente para a preservação dos bens culturais de natureza imaterial; e
"5. que o grupo de trabalho estabeleça as necessárias interfaces para que sejam estudadas
medidas voltadas para a promoção e o fomento dessas manifestações culturais, entendidas
como iniciativas complementares indispensáveis à proteção legal propiciada pelo instituto do
registro. Essas medidas serão formuladas tendo em vista as especificidades das diferentes
manifestações culturais, e com a participação de outros agentes do poder público e da
sociedade.
"O plenário ainda recomenda:
"6. que a preservação do patrimônio cultural seja abordada de maneira global, buscando
valorizar as formas de produção simbólica e cognitiva;
"7. que seja constituído um banco de dados acerca das manifestações culturais passíveis de
proteção, tomando a difusão e o intercâmbio das informações ágil e acessível;
135
"8. que sejam buscadas parcerias com entidades públicas e privadas com o objetivo de
conhecer as manifestações culturais de natureza imaterial sobre as quais já existam
informações disponíveis;
"9. que, relativamente aos Estudos de Impacto Ambiental (ElA) e Relatórios de Impacto
Ambiental (RIMA), o IPHAN encaminhe ao Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) proposta de regulamentação do item relativo ao patrimônio cultural, de modo a
contemplá-lo em toda a sua amplitude;
"10. que seja desenvolvido um Programa Nacional de Educação Patrimoníal, a partir da
experiência do IPHAN, considerando sua importância no processo de preservação do
patrimônío cultural brasileiro;
"11. que seja estabelecida uma Política Nacional de Preservação do Patrimônio Cultural com
objetivos e metas claramente definidos; e
"12. que o Ministério da Cultura procure influir no processo de elaboração das políticas
públicas, no sentido de que sejam levados em consideração os valores culturais na sua
formulação e implementação.
"O plenário encaminhou as seguintes moções:
"1. Moção de defesa da legislação de preservação
"Em defesa do reconhecimento, eficácia, atualidade e excelência jurídica do Decreto-lei n.
25/37, em vigor, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, cujas
disposições foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988.
136
"Em defesa da criação de instrumentos legais complementares com o objetivo de
regulamentar as outras formas de acautelamento e preservação mencionadas no parágrafo
primeiro do Artigo 216 da Constituição Federal.
"2. Moção de apoio ao IPHAN
''Pelo repúdio a qualquer tipo de medida que venha a reduzir a capacidade operacional do
IPHAN, já bastante defasada em relação às suas atribuições legais e administrativas,
inclusive no que conceme a extinção de cargos efetivos, comissionados e funções, e o
conseqüente desligamento de servidores não estáveis.
''Pela garantia de sobrevivência do IPHAN e de todas as suas conquistas nas áreas de
identificação, documentação, proteção, preservação e promoção do patrimônio cultural
brasileiro.
''Pelo reconhecimento das atividades exercidas pelo IPHAN como função típica de Estado,
através da criação de uma carreira especial.
"3. Moção de apoio ao Ministério da Cultura
''Pelo repúdio a qualquer tipo de medida que venha a reduzir a capacidade operacional do
Ministério da Cultura e demais entidades vinculadas, de modo a não comprometer suas
atribuições institucionais, inclusive no que conceme á extinção de cargos efetivos e o
conseqüente desligamento de servidores não estáveis.
"4. Moção de defesa à Lei de Incentivo à Cultura
137
"Pela manutenção dos beneficios previstos na Lei de Incentivo à Cultura, que estimulam a
parceria entre Estado e sociedade na tarefa de preservar e promover o patrimônio cultural
brasileiro.
"5. Moção de apoio às expressões culturais dos povos ameríndios
''Pelo reconhecimento da cultura indígena como integrante do patrimônio nacional brasileiro,
devendo, a exemplo de outras etnias, ser objeto de atenção dos órgãos do Ministério da
Cultura.
"6. Moção de congratulações à 48 Coordenação Regional do IPHAN
"Pelo reconhecimento da importância de realização do Seminário "Patrimônio Imaterial:
estratégias e formas de proteção" e da excelência de sua organização.
''Fortaleza, 14 de novembro de 1997".
Podemos então seguIr o texto do DIDIIPHAN: "Considerando essas
recomendações, o Ministro da Cultura, instituiu, em março de 1998, uma comissão,
composta pelos conselheiros do Iphan Joaquim Falcão, Marcos Vilaça e Thomas Farkas, e
por Eduardo Portela, Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, para desenvolvimento
dessa proposta": Aqui comentar é inevitável. Quem é Thomas Farkas? Fotógrafo, que nos
anos 60 , envolveu-se com cinema e organizou a caravana composta de jovens diretores, que
percorreu o interior do Brasil e registrou costumes e tradições do povo brasileiro. O
resultado foi dezenas de documentários, responsáveis pela formação de cineastas como
138
Geraldo Sarno, Sergio Muniz, Paulo Gil Soares e Guido Araújo. Quem é Joaquim Falcão?
Dispensa grandes apresentações. Acabou de deixar, depois de muitos anos, a direção da
Fundação Roberto Marinho para integrar a direção das Organizações Globo, que já deixou
para integrar os quadros da FGV -Rio. Mas na época era o sucessor esperado para substituir
Aloísio após a sua morte. Diz-se que Aloísio o havia treinado para isso. Quem é Marcus
Villaça? Atual integrante ministro do TCU, foi quem substituiu Aloísio - não Joaquim
Falcão -, que buscou continuar o trabalho iniciado por Aloísio, até 1985. Quem é Eduardo
Portella? Estava Ministro da Educação, quando possibilitou as mudanças fundamentais na
estrutura do ministério solicitadas por Aloísio. Em outras palavras, a Comissão montada por
Weffort é o propriamente AM.
Segue o texto do IPHAN: "Nesses 17 meses, o Grupo de Trabalho Patrimônio
Imaterial/GTPI realizou, por solicitação da comissão, ampla pesquisa sobre a experiência
brasileira no trato da matéria, bem como sobre as recomendações, experiências e legislações
internacionais que dispõem sobre o assunto. Essas informações permitiram caracterizar o
estágio atual da discussão sobre a proteção do patrimônio imaterial no Brasil e no exterior;
identificar as formas de apoio e valorização mais recomendadas ; e os principais problemas
que ocorrem nessa área de atuação. Paralelamente, o grupo desenvolveu, também, discussão
conceitual sobre o universo abarcado pelos bens culturais imateriais, o que possibilitou
reuní-Ios em quatro categorias básicas, de acordo com sua natureza, características e
demandas de registro, apoio e valorização.
"Os estudos e discussões prévias permitiram consolidar alguns princípios que
nortearam a confecção da proposta de instrumento legal, bem como a caracterização do
139
instituto do registro como um instrumento de reconhecimento e valorização do patrimônio
imaterial. Mais do que inscrição em Livro público ou ato de outorga de um título, o registro
significará identificação e produção de conhecimento sobre o bem cultural. Significará
conhecer e registrar pelos meios técnicos mais adequados, o passado e o presente da
manifestação e suas diferentes versões. Significará, ainda, tomar essas informações
amplamente acessíveis ao público, de modo eficiente e completo, mediante a utilização dos
recursos hoje proporcionados pelas novas tecnologias de informação. Enfim, o objetivo
principal é manter o registro da memória desses bens culturais, única maneira possível de
preservá-los.
"O registro assim proposto não se limita, contudo, a conferir ao Estado um papel de
mero observador. O conhecimento gerado sobre esses bens permitirá identificar
precisamente as formas mais adequadas de apoio à sua continuidade, como, por exemplo,
ajuda financeira a detentores de saberes específicos, divulgação, facilitação do acesso a
matérias-primas, concessão de incentivos fiscais, entre outras. Propõe-se que essas ações de
apoio sejam desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, a ser
criado juntamente com o instituto do registro. O programa terá como meta implementar, no
âmbito do Ministério da Cultura, política pública de identificação, inventário e valorização
desse patrimônio.
"O decreto presidencial foi considerado o instrumento legal mais adequado para
institucionalizar o registro do patrimônio imaterial. A tramitação do processo foi organizada
de maneira análoga à do processo de tombamento, mas com uma novidade : a parceria em
sai instrução. Embora coordenados pelo IPHAN, ao qual caberá também o pronunciamento
140
técnico sobre as propostas, os estudos para a instrução serão realizados em parceria com
outras instituições públicas e privadas, aproveitando-se o conhecimento já produzido e
acumulado sobre essas manifestações culturais".
o decreto presidencial 3.551, de 4 de agosto de 2000, realiza indicações apontadas
pelo anteprojeto de Mário de Andrade nos anos 30 e "Institui o Registro de Bens Culturais
de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências".
Abaixo a íntegra do decreto 3. 551 :
"O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei no 9.649, de 27 de maio de
1998,
"DECRETA:
"Art. lo Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que
constituem patrimônio cultural brasileiro.
"§ 1 o Esse registro se fará em um dos seguintes livros:
"I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de
fazer enraizados no cotidiano das comunidades;
"lI - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que
marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de
outras práticas da vida social;
141
"IH - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
"IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras,
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas
culturais coletivas.
"§ 20 A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a
continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade
e a formação da sociedade brasileira.
"§ 30 Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais
de natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se
enquadrem nos livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo.
"Art. 20 São partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro: I
- o Ministro de Estado da Cultura; H - instituições vinculadas ao Ministério da
Cultura; IH - Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal; IV -
sociedades ou associações civis.
"Art. 30 As propostas para registro, acompanhadas de sua documentação técnica,
serão dirigidas ao Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN, que as submeterá ao Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural.
"§ 10 A instrução dos processos de registro será supervisionada pelo IPHAN.
142
"§ 20 A instrução constará de descrição pormenorizada do bem a ser registrado,
acompanhada da documentação correspondente, e deverá mencionar todos os
elementos que lhe sejam culturalmente relevantes.
"§ 30 A instrução dos processos poderá ser feita por outros órgãos do Ministério da
Cultura, pelas unidades do IPHAN ou por entidade, pública ou privada, que detenha
conhecimentos específicos sobre a matéria, nos termos do regulamento a ser
expedido pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
"§ 40 Ultimada a instrução, o IPHAN emitirá parecer acerca da proposta de registro
e enviará o processo ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, para
deliberação.
"§ 50 O parecer de que trata o parágrafo anterior será publicado no Diário Oficial da
União, para eventuais manifestações sobre o registro, que deverão ser apresentadas
ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural no prazo de até trinta dias, contados
da data de publicação do parecer.
"Art. 40 O processo de registro, já instruído com as eventuais manifestações
apresentadas, será levado à decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
"Art. 50 Em caso de decisão favorável do Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural, o bem será inscrito no livro correspondente e receberá o título de
"Patrimônio Cultural do Brasil".
143
"Parágrafo único. Caberá ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural determinar
a abertura, quando for o caso, de novo Livro de Registro. em atendimento ao
disposto nos termos do § 30 do art. 10 deste Decreto.
"Art. 60 Ao Ministério da Cultura cabe assegurar ao bem registrado:
"I - documentação por todos os meios técnicos admitidos. cabendo ao IPHAN
manter banco de dados com o material produzido durante a instrução do processo.
"11 - ampla divulgação e promoção.
"Art. 70 O IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a
cada dez anos, e a encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para
decidir sobre a revalidação do título de "Patrimônio Cultural do Brasil".
''Parágrafo único. Negada a revalidação, será mantido apenas o registro, como
referência cultural de seu tempo.
"Art. 8° Fica instituído, no âmbito do Ministério da Cultura, o "Programa Nacional
do Patrimônio Imaterial", visando à implementação de política específica de
inventário, referenciamento e valorização desse patrimônio.
''Parágrafo único. O Ministério da Cultura estabelecerá, no prazo de noventa dias, as
bases para o desenvolvimento do Programa de que trata este artigo".
Portanto, segue o IPHAN, "o ato culminante do registro será a inscrição em um dos
quatro Livros estabelecidos na proposta de instrumento legal. F oram denominados,
respectivamente : Livro dos Saberes - para o registro de conhecimentos e modos de fazer
144
tradicionais; Livro das Celebrações - para festas, rituais e folguedos que marcam a vivência
coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e outras práticas da vida social;
Livro das Linguagens - para o registro das formas de expressões orais ou escritas de
natureza musical, poética, iconográfica ou cênica; e Livro dos Lugares - destinado à
inscrição de espaços comunitários, como mercados, feiras, praças e santuários, onde se
concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. Optou-se, assim, por delimitar o
universo dos bens culturais imateriais por meio da indicação do conteúdo dos Livros de
Registro, rejeitando-se conceituações rígidas e aprisionadas. Espera-se que essa definição
abrangente estimule o processo de construção do conceito de patrimônio imaterial,
mantidos, naturalmente, os parâmetros estabelecidos pela Constituição"g.
O feliz encontro entre a administração de Weffort com AM deve ser estimulado e
preservado e apostando em um bom final podemos citar mais uma vez e derradeiramente o
próprio Aloísio: "Quais são os valores pennanentes de uma nação? Quais não podem ser
postos em dúvida? Só os bens culturais. Só o acervo do nosso processo criativo, aquilo que
construímos na área da cultura, na área da reflexão, que deve tomar aí o seu sentido mais
amplo - costumes, hábitos, maneiras de ser. Tudo aquilo que foi sendo cristalizado nesse
processo, que ao longo desse processo histórico se pode identificar como valor pennanente
da nação brasileira. Estes são os nossos bens, e é sobre eles que temos que construir um
processo projetivo. O mais são imensas e fantásticas variáveis que todos desconhecem como
resolver: a variável econômica e mesmo a variável política. Tentamos descobrir caminhos,
8 O artigo constitucional é de uma amplitude cosmogônica e, por isso. tudo pode ser incluído. E se tudo pode - nos lembra a expressão tudo é cultura - então. nada pode. Não fosse o trabalho acumulado em Aloísio. neste caso. nada teríamos mesmo. No bom sentido - aquele de Mário de Andrade - o decreto presidencial de 4 de agosto pode ser definido como o decreto do etecetera e etecetera.
145
BIBLIOGRAFIA
ADORNO, Theodor W e HORKHEIMER, Max. A indústria cultural: o iluminismo como
mistificação de massas (ensaio constante da "Dialética do Iluminismo" de 1947). In: Costa,
Lima (org.). Teoria da cultura de massa. Rio de janeiro. Paz e Terra, 1978.
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Dimensió i estructura deI sector cultural a Barcelona.
Barcelona, Imprernta Municipal, 1992.
ANDRADE, Rodrigo Mello Franco de. Brasil: monumentos históricos e arqueológicos. Monumentos
Históricos y Arqueológicos I1I, n°. 122, México, 1952.
ANDRADE, Oswaldo Manifesto Antropófago. Revista de Antropofagia, n. 1, ano 1, maio
1928.
APED. Ecologia Humana. ética e educação: a mensagem de Pierre Dansereau (Paulo Freire Vieira e
Mauricio Andrés Ribeiro, orgs.). Florianópolis, 1999.
AMARAL, Aracy A. Arte na Semana de 22. São Paulo: Perspectiva e Bovespa, 1992.
____ o Tarsila: sua obra e seu tempo. São Paulo: Perspectiva e Edusp, 1975.
ARANTES, Antonio Augusto. Documentos históricos, documentos de cultura. In: Revista do
Patrimônio, n°. 22, Rio de Janeiro: SPHAN, 1987.
ARGENTINA, AUDITORIA GENERAL DE LA NACION. Herramentas de auditoria de gestión.
Buenos Aires, 1995.
BALABAN, Maria Delith. Os números da Cultura. In: Um olhar sobre a cultura brasileira
(Francisco Weffort e Márcio Souza, orgs.). Rio de Janeiro: Associação de Amigos da Funarte,
1998.
BANCO MUNDIAL. Determinación de la eficacia deI desarrollo. La evaluacion ex post en el Banco
Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Washington, D.C. 1994.
146
tentamos achar o deus, tentamos abrir a nação a uma reflexão mais nova. Estamos num
processo nítido de querer encontrar nossa identidade política.
"Como se encontrará? Onde se encontrará? Não há outro caminho a não ser o
conhecimento, a identificação, a consciência coletiva, a mais ampla possível, dos nossos
bens e nossos valores culturais. ( ... ) Nós emergimos como nação no momento em que as
grandes nações tecnológicas do Ocidente já reconhecem ou já sabem que em parte o modelo
desenhado por elas é insatisfatório, não resolveu, nem aumentou grau (desculpem essa
improposital imagem), não aumentou o grau de felicidade do homem" (Magalhães, 1985 -
p.41 - Discurso na instalação do I Encontro dos Conselhos Estaduais de Cultura das
Regiões Centro-Oeste e Norte. Goiânia, 26 de maio de 1982 - a menos de um mês de sua
morte.)
O Patrimônio Antropofágico, o Bem cultural Abaporu, é a nossa associação
responsável aos projetos de políticas públicas saudáveis e nosso esforço organizado pelo
desenvolvimento sustentável. Mas é também a possibilidade de nosso salto quântico
enquanto pais, para além das imensas e fantásticas variáveis da economia e da política.
146
BENJAMIN, Waher. A obra de arte na época de suas técnicas de reproducão. Abril Cultural, São
Paulo, 1975.
BORGES, Jorge Luis. Magias Parciais de Quixote. Obras completas de Jorge Luis Borges, vol. 2.
São Paulo: Globo, 1999.
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Perspectiva, São Paulo, 1992.
BROCKMAN, John. Einstein, Gertrude Stein, Wittgenstein e Frankenstein: reinventando o universo.
São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutacão. São Paulo: Cultrix, 1986.
CARRITHERS, Michael. Por que los humanos tenemos cuhura? Madrid, Alianza, 1992.
CASSIRER, Ernst. Las ciencias de la cultura. México, Fondo de Cultura Económica, 1955.
CAST ANHAR, José Cezar. 100 dias do governo Collor: avaliação da reforma administrativa.
Cadernos EBAP, n°· 54, Rio de janeiro: agosto de 1990.
CENTRE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES DE
PICARDIE. L'Évaluation dans l'administration. Paris, P.U.F., 1993.
CNRC. Quatro anos de trabalho do Centro Nacional de Referência Cultural. Brasília, 1979.
COHN, Gabriel. Concepção oficial de cultura e processo cultural. In: Revista do Patrimônio, n°. 22,
Rio de Janeiro: SPHAN, 1987.
COSTA, Lúcio, et aI. A Lição de Rodrigo. Recife, DPHAN, 1969.
CROWTHER, Win. Análisis administrativo: manual de trabajo. San José de Costa Rica, 1985.
DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
DELEUZE, Gilles. Nietzsche et la philosophie. P.U.F., 1974.
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL. Guia do
Dirigente Municipal de Cultura. Porto Alegre, Nova Prova, 1997.
FERREIRA, Paulo César. Pilares via satélite: da Rádío Nacional à Rede Globo. Rio de Janeiro:
Rocco, 1998.
147
FRAISSE, Jean; BONETTI, MicheL GAULEJAC Vincent de. L'évaluation dynamique des
organisations publiques. Paris, Les Editions L'Organisation, 1987.
FRANCE, CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIALE. L'évaluation des politiques publiques.
Paris.,Direction des Journaux Officiela, 1990.
FRANCE, CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIALE. Petit guide de l'evaluation des politiques
publiques. Paris. La Documentation Francaise, 1996.
FRANCE, CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L'ÉV ALUATION. L'évaluation en développment 1995.
Paris, La Documentation Française. 1996.
FRANCO, Maria Ignez Mantovani. Lei Sarney: desafio à competência. In: Revista do Patrimônio,
n°. 22, Rio de Janeiro: SPHAN, 1987.
FURTADO, Celso. Pronunciamento do ministro. In: Revista do Patrimônio, n°. 22, Rio de Janeiro:
SPHAN, 1987.
GALBRAITH, Jay R. Organizando para competir no futuro. São Paulo: Makron Books, 1995.
GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Acaso e repetição em psicanálise: urna introdução à teoria das
pulsões. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1986.
GILSON, Étiene. Cultura de massa e sociedade de massa. Lisboa, Moraes, 1970.
GOLDMANN, Lucien. O conceito de estrutura significativa na história da cultura [1958]. In:
Dialética e Cultura. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979.
GRAMPP, Willian D. Arte, inversion y mecenazgo. Barcelona: Editorial Ariel,1991.
GROSSMAN, Jean Baldwin. Evaluating social policies: principies and U.S. experience. The World
Bank Research Observer. Washington, voi. 9, n.2, July 1994, pp. 159-80.
GUERRERO AMP ARAN, Juan Pablo. La evaluación de políticas publicas: enfoques teóricos y
realidades en nueve países desarrollados. Gestión y Política Pública. México, voI. IV, n. 1,
primer semestre 1995. pp. 47-115.
148
HORTA, Maria de Lourdes Parreiras. Guia Básico de Educacão Patrimonial. Brasília: IPHAN,
Museu Imperial, 1999.
INAE. Cultura e cinema como afirmação de identidade nacional (relator Gustavo Dahl) .. Fórum do
Instituto Nacional de Altos Estudos. Rio de Janeiro, 2000. mimeo.
KNOX, Colin and McALISTER, Denise. Policy evaluation: incorporating user's view. Public
Administratiuon, Oxford. Vol. 73, n.3, autumn 1995, pp. 413-36.
KUHN, Thomas. A Estrutura das RevoluÇÕes Científicas. Rio de Janeiro, 1980.
LEITE, Sebastião Uchoa. Governo Collor: os dez meses que assolaram a cultura. Revista Piracema,
n°. 1, Rio de Janeiro,1993.
LERSTRINGANT, Frank. O canibal:grandeza e decadência. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 1977.
MAGALHÃES, Aloísio. Bens culturais: instrumento para um desenvolvimento harmonioso. Brasília,
1978. mimeo.
MAGALHÃES, Aloísio. E Triunfo? : a questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1985.
MALINOWSKI, Bronislaw. Uma teoria científica da cultura. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1962
[1941].
MEC. Patrimônio histórico e artístico. Legislação brasileira de proteção aos bens culturais. Rio de
janeiro, 1976.
MENY, Yves et THOENIG, Jean-Claude. Politiques Publiques. Paris. P.U.F. 1989.
MÉTHODES POUR L'ÉV ALUA TION DES POLITIQUES CUL TURELLES NATIONALES.
Stockholm. Ministére Suédois de L'Ecation Nationele et des Affaires Culturelles, 1986.
MICELI, Sergio. O processo de construção institucional na área cultural federal (anos 70). In:
Estado e Cultura no Brasil (Sergío Miceli, org.). Rio de Janeiro, 1981.
149
MICELI, Sergio. SPHAN: refrigério da cultura oficial. In: Revista do Patrimônio, n°. 22, Rio de
Janeiro: SPHAN, 1987.
MICELI, Sergio. Teoria e Prática da Política Cultural Oficial no Brasil in: Revista de Administracão
de Empresas. Rio de Janeiro, voI. 24. no. I
MINISTÉRIO DA CULTURA. Cultura no Brasil 1996. Brasília, 1996.
MOHARIR, V. Approach and contents for a long tenn education programme in public policy for
developing countries. Brussels, ILAS/IASIA, 1990 (mimeo).
MOISÉS, José Álvaro. Os efeitos das leis de incentivo .. In: Um olhar sobre a cultura brasileira
(Francisco Weffort e Márcio Souza, orgs.). Rio de Janeiro: Associação de Amigos da Funarte,
1998.
MOLLARD, Claude. L'Ingénieri Culturelle. Paris: Presses Universitaires, 1994.
MONNIER, Éric. L'évaluation de l'action des pouvoirs publics. Paris, Economica, 1992.
NACIONES UNIDAS, CEP AL, DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL. La crisis deI desarrollo
social: retos y posibilidades. In: KLIKSBERG, Bemerdo (comp.). Cómo enfrentar la pobreza?
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1989, pp. 23-88.
NEWMAN, John et aI. Using randomizing control designs in evaluating social science programs in
developing countries. The World Bank Research Observer. Washington. D.C., voI. 9, n.2. July
1994, pp. 181-20l.
NIOCHE, Jean-Pierre e POINSARD, Robert (eds). L'évaluation des politigues publiques. Paris,
Economica, 1984.
PICADO, Xinia. Las metodologias de evalución para programas sociales. Revista Centroamericana
de Administración Pública. San José de Costa Rica, n.17. jul/dic, 1989, pp. 85-104
PLATÃO. Diálogos: Hípias Maior e outros. Pará: 1980.
PRIGOGINE, Ilya. A ordem nasceu do caos. In: SORMAN, Guy. Os verdadeiros pensadores de
nosso tempos. Rio de Janeiro: Imago, 1989.
150
REDE GLOBO. TV dados. Rio de Janeiro, 1996.
SAASA, Oliver S. A Fonnulação da política pública nos países em desenvolvimento: a utilidade dos
modelos contemporâneos de tomada de decisão. Public Administration And Development, v 5,
nO 4, pp 309-321, 1985.
SAEZ, Guy. Les politiques de la culture. In: Traité de Science Politique, (M. Grawitz et 1. Léca,
orgs.), v. 4, pp 388-422. Paris: PUF, 1985.
SANTOS, Ângelo Oswaldo de Araújo. Restaura-se o Patrimônio. In: Revista do Patrimônio, n°. 22,
Rio de Janeiro: SPHAN, 1987.
SARA VIA, Enrique. Estructura de la industria cultural iberoamericana. In: HARVEY, Edwin et aI.
Cultura y política cultural en Iberoamérica. Madrid: Cedeal, 1994.
SARA VIA, Enrique. Financiamiento de la cultura em épocas de recesion. In: Investigacion e
Gerencia, no. 43, vol. IX, Caracas, 1992.
SARA VIA, Enrique. La elaboracion de la politica publica em el area de la cultura. Seminario
internacional sobre la gerencia cultural. Caracas, 1991. mirneo.
SEPLAN. Pré-diagnóstico do IPHAN. Documento n°. 100. Convênio IPHAN-SEMOR-SEPLAN.
Brasilia, 1978.
SEPLAN. Programa de Cidades Históricas. Brasilia, 1979.
SPHAN. Revista do Patrimônio, n° 22, Rio de Janeiro, 1987.
SUASSUNA, Ariano. A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue Vai-e-Volta. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1971.
SUBIRA TS, Joan. Análisis de políticas públicas y eficácia de la administración. Madrid. INAP,
1989.
SUBIRA TS, José. Los instrumentos de las políticas, el debate público y el processo de evaluación.
Gestión y Política Pública. México, v.4, n°. 1, primer semestre de 1995, pp. 5-23.
151
VIVERET, Patrick._L'évaluation des politiques et des actions publiques. Paris. La Documentation
Française. 1989.
WEFFORT, Franscisco C. A cultura e as revolucões da modernização. Rio de Janeiro: Edições
Fundo Nacional de Cultura, 2000.
WHITE, Leslie. O conceito de sistemas culturais. Rio de Janeuo, Zahar, 1978.
152
ANEXO I
Manifesto antropófago.
Oswald de Andrade
Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente.
Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos
os coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz.
Tupy or not tupy that is the questiono
Contra todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos.
Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.
Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitosos postos em drama.
Freud acabou com o enigma mulher e com outros sustos da psicologia impressa.
O que atrapalhava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e
o mundo exterior. A reação contra o homem vestido. O cinema americano informará.
Filhos do sol, mãe dos viventes. Encontrados e amados ferozmente, com toda a
hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos touristes. No país da cobra
grande.
Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais. E nunca
soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental. Preguiçosos no mapa
múndi do Brasil.
Uma consciência participante, uma rítmica religiosa.
Contra todos os importadores de consciência enlatada. A existência palpável da
vida.
E a mentalidade prelógica para o Sr. Levi Bruhl estudar.
153
Queremos a revolução Caraíba. Maior que a Revolução Francesa. A unificação de
todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós a Europa não teria sequer a sua
pobre declaração dos direitos do homem.
A idade do ouro anunciada pela América. A idade de ouro. E todas as girls.
Filiação. O contato com o Brasil Caraíba. OÚ Villegaignon print terre. Montaigne.
O homem natural. Rousseau. Da Revolução Francesa ao Romantismo, à Revolução
Bolchevísta, à Revolução surrealista e ao bárbaro tecnizado de Keyserling. C amínhamos.
Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fizemos
Cristo
nascer na Bahia. Ou em Belém do Pará.
Mas nunca admítimos o nascimento da lógica entre nós. Contra o Padre Vieira.
Autor do
nosso primeiro empréstimo, para ganhar comíssão. O rei analfabeto dissera-lhe:
ponha isso
no papel mas sem muita lábia. Fez-se o empréstimo. Gravou-se o açúcar brasileiro.
Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia.
O espírito recusa-se a conceber o espírito sem corpo. O antropomorfismo.
Necessidade da vacina antropofágica. Para o equilíbrio contra as religiões de meridiano. E
as inquisições exteriores.
Só podemos atender ao mundo orecular.
Tínhamos a justiça codificação da vingança. A ciência codificação da Magia.
Antropofagia.
A transformação permanente do Tabu em totem.
154
Contra o mundo reversível e as idéias objetivadas. Cadaverizadas. O stop do
pensamento que
é dinâmico. O indivíduo vítima do sistema. Fonte das injustiças clássicas. Das
injustiças românticas. E o esquecimento das conquistas interiores.
Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros.
O instinto Caraíba.
Morte e vida das hipóteses. Da equação eu parte do Kosmos ao axioma Kosmos
parte do eu. Subsistência. Conhecimento. Antropofagia.
Contra as elites vegetais. Em comunicação com o solo.
Nunca fomos catequizados. Fizemos foi Carnaval. O índio vestido de Senador do
Império. Fingindo de Pitt. Ou figurando nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos
portugueses.
Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista. A idade de ouro.
Catiti Catiti
Imara Notiá
Notiá Imara
Ipejú.
A magia e a vida. Tínhamos a relação e a distribuição dos bens fisicos, dos bens
morais, dos bens dignários. E sabíamos transpor o mistério e a morte com o auxílio de
algumas formas gramaticais.
Perguntei a um homem o que era o Direito. Ele me respondeu que era a garantia
do exercício da possibilidade. Esse homem chamava-se Galli Matias. Comi-o.
Só não há determinismo, onde há mistério. Mas que temos nós com isso?
155
Contra as histórias do homem, que começam no Cabo Finisterra. O mundo não
datado.
Não rubricado. Sem Napoleão. Sem César.
A fixação do progresso por meio de catálogos e aparelhos de televisão. Só a
maquinaria.
E os transfusores de sangue.
Contra as sublimações antagônicas. Trazidas nas caravelas.
Contra a verdade dos povos missionários, definida pela sagacidade de um
antropófago,
o Visconde de Cairu:-É a mentira muitas vezes repetida.
Mas não foram cruzados que vieram. F oram fugitivos de uma civilização que
estamos comendo, porque somos fortes e vingativos como o Jabuti.
Se Deus é a consciência do Universo Incriado, Guaraci é a mãe dos viventes. Jaci é
a mãe
dos vegetais.
Não tivemos especulação. Mas tínhamos adivinhação. Tínhamos Política que é a
ciência
da distribuição. E um sistema social-planetário.
As migrações. A fuga dos estados tediosos. Contra as escleroses urbanas. Contra
os
Conservatórios, e o tédio especulativo.
De William James a Voronoff. A transfiguração do Tabu em totem. Antropofagia.
156
o pater famílias e a criação da Moral da Cegonha: Ignorância real das coisas +
falta de imaginação + sentimento de autoridade ante a pro-curiosa (sic).
É preciso partir de um profundo ateísmo para se chegar à idéia de Deus. Mas o
caraíba
não precisava. Porque tinha Guaraci.
O objetivo criado reage como os Anjos da Queda. Depois Moisés divaga. Que
temos nós
e
com isso?
Antes dos portugueses descobrirem o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade.
Contra o índio de tocheiro. O índio filho de Maria, afilhado de Catarina de Médicis
genro de D. Antônio de Mariz.
A alegria é a prova dos nove.
No matriarcado de Pindorama.
Contra a Memória fonte do costume. A experiência pessoal renovada.
Somos concretistas. As idéias tomam conta, reagem, queimam gente nas praças
públicas. Suprimamos as idéias e as outras paralisias. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais,
acreditar nos instrumentos e nas estrelas.
Contra Goethe, a mãe dos Gracos, e a Corte de D. João VI.
A alegria é a prova dos nove.
A luta entre o que se chamaria Incriado e a Criatura-ilustrada pela contradição
permanente do homem e o seu Tabu. O amor quotidiano e o modus vivendi capitalista.
Antropofagia. Absorção do inimígo sacro. Para transformá-lo em totem. A humana
157
aventura. A terrena finalidade. Porém, só as puras elites consegUiram realizar a
antropofagia carnal, que traz em si o mais alto sentido da vida e evita todos os males
identificados por Freud, males catequistas. O que se dá não é uma sublimação do instinto
sexual. É a escala termométrica do instinto antropofágico. De carnal, ele se torna eletivo e
cria a amizade. Afetivo, o amor. Especulativo, a ciência. Desvia-se e transfere-se.
Chegamos ao aviltamento. A baixa antropofagia aglomerada nos pecados
do catecismo - a inveja, a usura, a calúnia, o assassinato. Peste dos chamados
povos cultos e cristianizados, é contra ela que estamos agindo. Antropófagos.
Contra Anchieta cantando as onze mil virgens do céu, na terra de Iracema - o
patriarca João Ramalho fundador de São Paulo.
A nossa independência ainda não foi proclamada. Frase típica de D. João VI:-Meu
filho, põe essa coroa na tua cabeça, antes que algum aventureiro o faça! Expulsamos a
dinastia. É preciso expulsar o espírito bragantino, as ordenações e o rapé de Maria da
Fonte.
Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud-a realidade
sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem penitenciárias do matriarcado de
Pindorama.
Oswald de Andrade
Em Piratininga
Ano 374 da deglutição do Bispo Sardinha.
Originalmente publicado em Revista de Antropofagia, n.1, ano I, maio de 1928, São Paulo.
ANDRADE, Oswaldo Manifesto Antropófago. "Revista de Antropofagia", n. 1,
ano 1, maio 1928.
158
ANEXO II Centro Nacional de Referência Cultural - CNRC
Estudo e compreensão das circunstâncias da presente produção cultural brasileira, a partir de sua própria realidade.
Programas/proveitos gerais
l. Artesanato
Conhecimento dos processo de produção, comercialização e consumo; das matérias-primas e técnicas artesanais. Experiências de indexação, de cinema e de fotografia como recursos documentais
Projetos/proveitos específicos
o Artesanato como Referência Cultural Traçado de uma sistemática ampla para o mapeamento da atividade no Brasil, consideradas suas múltiplas vinculações com as circunstâncias históricas, sócio-culturais e econômicas do país.
Tecelagem Popular no Triângulo Mineiro Levantamento e documentação das técnicas de fiação, tingimento e tecelagem; da fabricação de instrumentos e obtenção das matérias-primas. Classificações dos padrões de produtos; estudo de sua evolução.
Artesanato Indígena no Centro-Oeste Levantamento, documentação e análise das técnicas de produção do artesanato indígena, com seu entendimento pelo contexto sócio-econômico que as gera.
Cerâmica de Amaro de Tracunhaém Documentação fotográfica de trabalho de cerâmica utilitária e figurativa; gravações de depoimentos dos artesãos; análise e indexação do universo da atividade.
Brinquedos Populares do Nordeste Documentário cinematográfico sobre a fabricação e comercialização de brinquedos populares nas feiras de cidades do Nordeste.
Artesanato do Médio São Francisco Registro de aspectos da vida, tradições e costumes na região; coleta de peças artesanais e exposições representativas realizadas em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.
Fabricação e Comercialização de Lixeiras - Um artesanato de Transfonnação Registro do processo de aproveitamento de pneumáticos usados como depósitos de lixo e sua análise econômica.
159
2. Levantamentos Sócio-Culturais
Conhecimento dos processo de transformação sócio-culturais, especialmente com vistas ao estudo de modelos alternativos de desenvolvimento.
Projetos/proveitos específicos
Programa Ecológico e Cultural do Complexo Industrial-Portuário de Suape Preservação e aproveitamento das caracteristicas ambientais e culturais da região, do seu patrimônio paisagistico e arquitetônico, num adequado planejamento da instalação do Complexo. Projeto de Levantamento Ecológico e Cultural das Lagoas de Mundaú e Manguaba Avaliação dos efeitos da instalação do pólo cloroquímico de Maceió sobre a ecologia, cultura e qualidade de vida das populações locais.
Etnomusicologia na Área Nordestina Coleta de música folclórica e religiosa, documentação fotográfica e cinematográfica dos ritos correspondentes, com subsídios para rever-se a classificação da música tradicional brasileira.
Cultura Paulistana e Renovação Urbana Conhecimento das dinâmicas culturais das diversas correntes migratórias na antiga e na a nova industrialização paulista, tomando-se um dos bairros da cidade (o Brás) como foco de estudo.
Tesouro Elaboração de um vocabulário controlado para a análise e processamento de informação sobre a cultura brasileira.
Estudo da Polêmica Relativa à Cultura Instaurada pelo Modernismo Reavaliação das pesquisas que se desenvolveram de 1922 a 1945 e como consequência do movimento modernista. interessando às artes, à história. à sociedade. à pedagogia, à linguística, ao folclore.
3. História da Tecnologia e da Ciência no Brasil
Conhecimento das técnicas e do saber tradicional artesanais; compreensão das economias pré-mercado e estímulo à descoberta de tecnologias alternativas nas atividades de transformação do país.
Projetos/proveitos específicos
Estudo Multidisciplinar do Caju Conhecimento do papel desempenhado pelo caju e de sua potencialidade como recurso, em diversos contextos, desde o da química e nutrição até o das ciências humanas e artes.
160
A Marca Estampada em Folha-de-flandres em Juiz de Fora Levantamento das marcas litográficas impressas principalmente em latas destinadas a produtos alimentícios; compreensão da interinfluência entre o desenho da marca e fatores econômicos, técnicos e estéticos.
Indústrias Familiares dos Imigrantes em Orleans, Santa Catarina Implantação de um museus ao ar livre, com preservação de maquinaria do século XIX; organização e preservação de arquivo (150.000 documentos) voltado para a história do imigrante europeu no estado.
4. Levantamentos de Documentação sobre o Brasil
Levantamento, referenciação, preservação e difusão de documentação sobre o Brasil. Experiências de adequação, ao usuário, de sistemas de arquivamento e informação.
Projetos/proveitos específicos
Levantamento Bibliográfico de Documentação Estrangeira sobre o Brasil Sistematização da bibliografia estrangeira relativa ao Brasil, que se encontra no exterior, com vistas a torná-la acessível aos estudiosos do Brasil.
Documentação do Patrimônio Cultural Brasileiro Levantamento e classíficação dos acervos dos museus brasileiros e dos organismos que cuidam do registro de bens; subsídios para a definição do bem cultural no Brasil.
Recuperação e Preservação de Filmes do Acervo da Fundação Cinemateca Brasileira Tratamento e indexação de filmes do período do estado (DIP), desenvolvendo-se técnicas de fichamento de documentários cinematográficos.
Indexação e Microfilmagem da Documentação em Depósito no Museu do Índio Organização e preservação do arquivo básico do Museu, essencial para o conhecimento da dinâmica do contato interétnico, assim como para planejamento no âmbito da FUNAI.
Condições de Vida do Rio Antigo Conhecimento do Rio de Janeiro da Primeira República (1889-1930), com levantamento, indexação e leitura de iconografia da época.
Análise e Publicação do Mapa Etno-histórico de Curt Nimuendaju reexame e divulgação de uma obra esse ncial para o conhecimento das populações indígenas brasileiras.
Brasil Holandês
161
Conhecimento da presença holandesa no Brasil Colonial. enfatizando-se suas vinculações com a influência holandesa na América Latina e Carihe.
Documentação sobre as Viagens de G.L Langsdorffno Brasil Tradução para o português e resumo do catálogo descritivo do material coletado para expedição. ora em depósito na URSS, e organização da bibliografia critica sobre o assunto.
D. Pedro 11 e seu tempo Levantamento e apresentação, numa exposição colante de 3.000 exemplares. de farta iconografia sobre o reinado de D. Pedro 11, acompanhada de textos informativos.
Documentação Cinematográfica sobre a Construção de Brasília Montagem de um documentário sobre a construção de Brasília. com recuperação de material audiovisual filmado e gravado na cidade. em 1959.
Levantamento e Microfilmagem da Documentação Brasileira no Exterior Sistematização das informações contidas nos documentos relativos ao Brasil que se encontram no exterior, com vistas a torná-los acessíveis aos estudiosos no país.
162