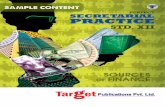UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO A GESTÃO...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO A GESTÃO...
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO
ROSELY DIAS DA SILVA
A GESTÃO SECRETARIAL NA
PERSPECTIVA DA ÉTICA DISCURSIVA
NITERÓI - 2013
ROSELY DIAS DA SILVA
A GESTÃO SECRETARIAL NA PERSPECTIVA DA ÉTICA
DISCURSIVA
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Direito da
Universidade Federal Fluminense, como requisito
para a obtenção do título de Mestre em Ciências
Jurídicas e Sociais.
Orientador: Prof. Dr. Gilvan Luiz Hansen
Niterói
2013
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO
Universidade Federal Fluminense
Superintendência de Documentação
Biblioteca da Faculdade de Direto
S586
Silva, Rosely Dias da.
A gestão secretarial na perspectiva da ética discursiva / Rosely Dias da
Silva. – Niterói, 2013.
181 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas e Sociais) – Programa de
Pós-graduação em Sociologia e Direito, Universidade Federal Fluminense,
2013.
1. Ensino superior. 2. Secretário. 3. Secretariado. 4. Regulamentação
profissional. 5. Ética. I. Universidade Federal Fluminense. Faculdade de
Direito, Instituição responsável. II. Título.
CDD 340.1
ROSELY DIAS DA SILVA
A GESTÃO SECRETARIAL NA PERSPECTIVA DA
ÉTICA DISCURSIVA
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Direito da
Universidade Federal Fluminense, como requisito
para a obtenção do título de Mestre em Ciências
Jurídicas e Sociais.
Aprovada em ________________________.
BANCA EXAMINADORA:
______________________________________________
Orientador: Prof. Dr. Gilvan Luiz Hansen – UFF
Universidade Federal Fluminense
_________________________________________________________
Membro titular externo: Prof. Dr.Clodomiro José Bannwart Júnior
Universidade Estadual de Londrina
______________________________________________
Membro titular interno: Prof. Dr. Edson Alvisi Neves
Universidade Federal Fluminense
Niterói
2013
Ao meu marido Ademir, ao meu filho Cyrus, à minha
filha Alessandra, pela compreensão nos momentos de
ausência, para estudar.
À minha mãe Deolinda de Souza Dias, que sem seu
amor, dedicação e sacrifício, eu jamais teria chegado
até aqui.
Ao meu pai Jorge Dias, que estaria orgulhoso neste
momento (in memoriam).
AGRADECIMENTOS
Ao meu orientador e eterno Mestre, Prof. Dr. Gilvan Luiz Hansen, ser humano
incomparável, que nos momentos de aflição, dúvidas, medos, estava sempre presente com um
conselho, uma palavra amiga, uma orientação e um sorriso nos lábios, mesmo quando seus
olhos espelhavam o esgotamento de suas energias por tantos compromissos assumidos.
Pessoa que não só delega sobre ética, mas mostra o que é ser ético com seu exemplo de “agir
de acordo com o que se fala.” Muito obrigado!
Aos Professores Doutores Clodomiro José Bannwart Junior e Edson Alvisi Neves,
por aceitarem o convite para serem membros da banca desta dissertação.
À amiga e parceira Tânia Marcia Kale, por tudo que vivemos nesses dois anos de
curso e ainda continuaremos vivendo.
À amiga Solange Machado Blanco, nossa querida “Sol”, pela amizade, incentivo,
todos os socorros prestados nas horas de dúvidas e por todos os sorrisos, quando nossa
vontade era de chorar.
Ao Sr.Valter Theodoro de Souza, de Olinda – PE, pessoa iluminada, por todo
incentivo, palavras positivas e incentivadoras, nas horas mais difíceis que passei durante
todo trajeto do mestrado
À Universidade Federal Fluminense, pela acolhida e possibilidade de crescimento
acadêmico.
Às Universidade Estadual de Londrina - UEL e Universidade Estadual do Paraná
– UNESPAR, Campus FECEA – Faculdade de Ciências Econômicas de Apucarana, por
me concederem a licença capacitação, oferecendo incentivo ao crescimento profissional e
intelectual, visto que sem o afastamento das atividades laborais, não haveria possibilidade do
desenvolvimento deste trabalho aqui apresentado.
Ao Programa de Pós Graduação em Sociologia e Direito e seus prezados
Professores, pelo conhecimento a mim proporcionado.
A todos que direta e indiretamente colaboraram e incentivaram na realização desse
trabalho. Vocês foram essenciais.
“Para fazer que a Humanidade avance moralmente
e intelectualmente, são precisos homens superiores
em inteligência e em moralidade.”
Alan Kardec
SILVA, Rosely Dias. A gestão secretarial na perspectiva da ética discursiva. 2013.180 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídicas e Sociais) - Universidade Federal Fluminense,
Niterói. 2013.
RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo discutir a gestão secretarial contemporânea e suas
implicações ético-jurídico-morais, tomando como referencial teórico-prático as concepções
discursivas do direito, da ética e da ação. Para o seu desenvolvimento, foram realizados
estudos de textos e bibliografias atinentes ao debate sobre os fundamentos da ética discursiva,
sobre as questões ético-jurídico-morais no âmbito institucional e sobre a gestão secretarial na
perspectiva discursiva. Num primeiro momento, fez-se a verificação, no âmbito institucional,
da facticidade das questões ético-jurídico-morais, analisando sua complexidade e como se dão
as relações no ambiente institucional universitário, no qual o secretário está inserido. Num
segundo momento, apresentou-se o secretário como profissional e como pessoa
(imageminstitucional e autoimagem), apresentando sua história, suas responsabilidades e
competências necessárias para desenvolvimento de suas atividades. Já num terceiro momento,
realizou-se uma análise dos documentos normativos (Códigos de Ética, Regimentos,
Legislação) adotados como orientação aos profissionais do Secretariado nas instituições, bem
como se apontou o que as principais lideranças sindicais estaduais e Federação Nacional das
Secretárias e Secretários - FENASSEC tem feito em prol dos secretários, para a garantia de
parâmetros e condutas sociais e institucionais esperadas destes profissionais. E, por fim,
apresentou-se a proposta da ética do Discurso em Habermas na gestão de secretaria, partindo
da premissa que o Secretário precisa estar sintonizado com o seu tempo, moralmente
comprometido com a instituição e com seus colaboradores, desempenhando papel decisivo de
articulação institucional e no engrandecimento moral no ambiente em que atua. Assim,
mostrou-se que a Ética do Discurso vem ao encontro do ideal de uma gestão secretarial de
respeito social e do direito dos cidadãos que fazem parte do contexto Institucional.
Palavras-chave: Universidade. Regulamentação profissional. Secretário. Ética do discurso.
Gestão secretarial.
SILVA, Rosely Dias da. The secretarial managemente in the perspectiver of discursive
ethic. 2013. 180 f. Dissertation (Master in Law and Social Sciences) Federal University
Fluminense, Niterói. 2013.
ABSTRACT
The present am of this work was to debate the secretarial management and this it ethical and
legal implications, taking the theoretical-practical reference the discursive conceptions of law,
ethic and action. To the development of it, studies of texts and referent bibliographies
secretarial management into discursive perspective. At first moment a checking was done,
into the institutional scope, of the facticity of the ethical-legal-moral questions, analysis its
complexity and how the relations are into the institutional university scope, in which the
secretary inserted as professional and as person (Institutional image and self-image),
presenting his history, responsibilities and competences which are necessary to the
development of his activities. In a third moment, an analysis of normative documents was
accomplished (Ethic Codes, Regiments, Legislation) adopted like orientation to the
professionals of secretariat in the institutions, as well as, some of the main as union
leaderships and National Federation of secretaries (man and women) FENASSEC has do one
in benefit of secretaries, to guarantee the social of parameters and behaviors expected of these
social and institutional professionals. And, at last, an ethic proposal to the Habermas's
Discourse in the secretarial management, starting from the principle that the Secretary needs
to be synchronized with his time, morally committed to the institution and his collaborators
developing a decisive role of institutional articulation and in the growing of moral in the
scope it acts. In this way, it was shown that the Discourse Ethicscomes to meet the ideal of a
secretarial management of social respect and the right of citizens who are part of the
institutional context.
Key-words: University. Professional regulation. Secretary. Discourse ethics. Secretarial
management.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................. 10
CAPÍTULO 1 - ÉTICA, INSTITUIÇÃO E SECRETÁRIO:
COEXISTÊNCIA COMPLEXA ....................................................................... 12
1.1 UNIVERSIDADE, ÉTICA E IDENTIDADE INSTITUCIONAL ........................................... 12
1.1.1 Ética, Moral e Legitimidade ................................................................................ 14
1.1.2 Ética e Perspectivas Políticas: Liberalismo e Republicanismo.............................. 16
1.1.1.3 Universidade e moralidade .................................................................................. 21
1.2 UNIVERSIDADE, ÉTICA E SOCIEDADE .................................................................... 23
1.2.1 O CENÁRIO CONTEMPORÂNEO E A UNIVERSIDADE ............................................... 24
1.3 UNIVERSIDADE, ÉTICA E RELAÇÕES INTRA-INSTITUCIONAIS.................................. 31
1.4 UNIVERSIDADE, ÉTICA E PODER INSTITUCIONAL ................................................... 33
CAPÍTULO 2 - O PAPEL DO SECRETÁRIO ................................................ 36
2.1 O SECRETÁRIO COMO PROFISSIONAL E COMO PESSOA (IMAGEM
INSTITUCIONAL E AUTO-IMAGEM) ....................................................................... 36
2.1.1 Sobre a Origem da Profissão Secretário ............................................................... 36
2.1.2 O Profissional Secretário ..................................................................................... 38
2.1.3 O Secretário Enquanto Pessoa ............................................................................. 40
2.2 O SECRETÁRIO COMO GESTOR DE CONHECIMENTO ............................................... 42
2.3 O SECRETÁRIO COMO GESTOR DE RELACIONAMENTOS .......................................... 45
2.3.1 O Conflito ........................................................................................................... 49
2.3.1.1 Origem e dinâmica do conflito ............................................................................ 49
2.3.1.2 Visão negativa do conflito ................................................................................... 52
2.3.1.3 Visão positiva do conflito.............................................................................. ......... 53
2.4 O SECRETÁRIO COMO INSTÂNCIA DE ETICIDADE E MORALIDADE ........................... 55
CAPÍTULO 3 - AS DIRETRIZES NORMATIVAS E
INSTITUCIONAIS ........................................................................................... 60
3.1 REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO SECRETÁRIO ................................................... 60
3.1.1 Histórico da Luta pela Regulamentação da Profissão do Secretário no Brasil ....... 60
3.1.2 Lei de Regulamentação da Profissão.................................................................... 63
3.1.3 O Código de Ética da Profissão do Secretario ...................................................... 68
3.2 HISTÓRICO DA LUTA PARA CRIAÇÃO DO CONSELHO PROFISSIONAL DE
SECRETARIADO .................................................................................................... 71
3.2.1 Projeto Conselho de Classe.................................................................................. 86
3.2.1.1 Alguns pontos do ante-projeto ............................................................................. 86
3.3 O TRABALHO REALIZADO PELOS SINDICATOS QUE REPRESENTAM A CLASSE
SECRETARIAL ...................................................................................................... 87
3.3.1 O SINSERJ - Sindicato dos Secretários e secretárias do Rio de Janeiro ............... 87
3.3.2 O SISDF - Sindicato das Secretárias e Secretários do Distrito Federal ................. 88
3.3.3 O SINSEPAR - SINDICATO DAS SECRETÁRIAS DO PARANÁ ...................................... 89
3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS............... 91
CAPÍTULO 4 - PROPOSTA DISCURSIVA DA GESTÃO DE
SECRETARIA .................................................................................................. 93
4.1 A ÉTICA DO DISCURSO DE HABERMAS .................................................................. 93
4.2 A GESTÃO SECRETARIAL NA PERSPECTIVA DA ÉTICA DO DISCURSO ...................... 100
CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO ......................................................................... 103
REFERÊNCIAS ................................................................................................ 105
ANEXOS ............................................................................................................ 109
ANEXO A - Portaria 3.103, de 29 de abril de 1987- DOU de 30.04.87 ................ 110
ANEXO B - Estatuto Social da FENASSEC........................................................ 111
ANEXO C - Lei 7.377, de 9 de setembro de 1985, modificada pela Lei 9262
de 10 ............................................................................................... 115
ANEXO D - Decreto nº 70274/1972 .................................................................... 117
ANEXO E - Código de Ética Profissional do Secretário ...................................... 155
ANEXO F- Decreto-Lei 3.688 de 3 de outubro de 1941, pelo exercício
ilegal da profissão ou atividade ....................................................... 159
ANEXO G- Projeto de Lei da criação do Conselho de Classe dos
Secretários e Secretárias .................................................................. 174
10
INTRODUÇÃO
O desenvolvimento das sociedades contemporâneas traz uma crescente
complexificação nas relações institucionais e, no âmbito interno às instituições, gera a
necessidade de relações interpessoais a cada dia mais aprimoradas e sofisticadas quanto à sua
qualidade.
Em meio a isso, a atuação do profissional da área de Secretariado se torna sempre mais
desafiadora, pois a gestão secretarial implica a capacidade de gerenciamento de relações
interpessoais que atingem toda a instituição. Pela Secretaria, circulam informações,
conhecimentos, expectativas, demandas e interações dos diferentes setores que compõem a
instituição; da habilidade do secretário, por conseguinte, depende, direta ou indiretamente,
boa parte dos resultados institucionais.
Além disso, praticamente todas as ações, despachos e documentos que chegam ou
partem da secretaria de uma instituição têm implicações jurídico-legais. Dependendo da
natureza da Instituição, uma ação levada a efeito a partir da secretaria pode ter implicações no
âmbito de defesa do consumidor, do direito econômico, do direito civil e até mesmo do direito
penal. E, ainda que seja legal a ação, pode trazer em seu bojo consequências de disseminação
de injustiça social.
Diante de tal contexto, a gestão secretarial ganha importância estratégica decisiva na
vida das instituições, necessitando de especial atenção no que tange aos parâmetros que a
orientam em seu acontecer. E aqui é que se tornam fundamentais a presença e a discussão
acerca dos aspectos ético-morais e jurídicos da gestão secretarial.
O tema da ética, da moral e do direito na gestão secretarial apresenta, pois, pertinência
e relevância no horizonte das sociedades contemporâneas, razão pela qual o desenvolvimento
do trabalho aqui apresentado, voltado para a discussão deste assunto, encontra plena
justificativa e apresenta total viabilidade.
O objetivo deste trabalho foi discutir a gestão secretarial contemporânea e suas
implicações ético-jurídico-morais, tomando como referencial teórico-prático as concepções
discursivas do direito, da ética e da ação.
Uma de nossas inquietações foi perceber até que ponto há nas instituições hoje uma
preocupação no sentido de pautarem sua atuação social em parâmetros ético-morais e de
responsabilidade social, em atenção também a critérios de justiça juridicamente pautados, e
se há comprometimento efetivo das instituições com atitudes ético-jurídico-morais ou estas
são apenas elementos de um discurso estrategicamente necessário para a venda de uma
11
imagem politicamente correta das instituições perante outros segmentos da sociedade.
Também desejamos verificar em que nível se dá o comprometimento das entidades
ligadas à gestão institucional (sindicatos, associações, Universidades) no sentido de promover
a reflexão sobre a dimensão ético-jurídico-moral nas instituições. Quais são os parâmetros
passados enquanto diretrizes normativas aos profissionais da área de secretariado? Como estes
parâmetros efetivamente incidem no cotidiano das relações estabelecidas no âmbito
institucional? Os parâmetros normativos são construídos e vivenciados em respeito aos
pressupostos de um Estado Democrático de Direito, ou são unilateralmente concebidos e
implantados, sem que haja participação democrática dos concernidos?
O profissional que atua como secretário das instituições e empresas tem noção das
implicações jurídicas que incidem sobre sua atuação e mesmo sobre as atividades
institucionais? Como se dá o conhecimento destas normas jurídicas? Ela é disseminada na
instituição? Qual o papel do gestor secretarial nesta disseminação?
É possível pensarmos os parâmetros normativos em bases de uma teoria da ação
comunicativa e de uma ética do discurso, a partir de uma plataforma habermasiana? Que
implicações isso traria tanto para o conteúdo dos parâmetros normativos, bem como para a
forma com que são estabelecidos como diretrizes e como são praticamente implementados nas
instituições?
A metodologia adotada foi estudos dos textos e da bibliografia atinentes ao debate
sobre os fundamentos da ética discursiva, sobre as questões ético-jurídico-morais no âmbito
institucional e sobre a gestão secretarial na perspectiva discursiva, análise dos documentos
normativos (Códigos de Ética, Regimentos, Legislação) adotados como orientação aos
profissionais de Secretariado nas instituições. Além disso, a verificação, no âmbito
institucional, através de sondagens, via entrevistas, da facticidade das questões ético-jurídico-
morais em algumas instituições da Região Norte do Paraná.
Para atingir os objetivos e discutir os problemas atinentes ao tema a que nos
propusemos, abordamos no primeiro momento, Ética, Instituição e Secretário: Coexistência
Complexa; no segundo momento, O Papel do Secretário; no terceiro, as Diretrizes Normativas
e Institucionais; e no quarto e ultimo momento, Proposta Discursiva da Gestão de Secretaria.
12
CAPÍTULO 1
ÉTICA, INSTITUIÇÃO E SECRETÁRIO: COEXISTÊNCIA COMPLEXA
1.1 UNIVERSIDADE, ÉTICA E IDENTIDADE INSTITUCIONAL
Vivemos em uma sociedade complexa, e neste contexto estão inseridas as instituições
universitárias, que, por sua vez, tendem a ser complexas, visto que as pessoas que nelas atuam
vêm de diferentes formações sociais, religiosas e econômicas.
Na Universidade, há uma diversidade de pessoas com projetos, expectativas, desejos,
atitudes e opiniões diferentes, que muitas vezes são conflitantes e demonstram as divisões e as
contradições dessa esfera social. Observamos diferentes concepções éticas coexistindo no
ambiente universitário. Essa multiplicidade de concepções éticas, internalizadas nos atores
institucionais, é reveladora de uma complexidade da própria instituição.
Diante disso, certamente existem diferentes perspectivas de valor de interesses em
conflito.
Ao discutirmos a identidade da Universidade, não podemos ignorar que esta, enquanto
instituição social, é um reflexo da complexidade da sociedade na qual está inserida.
Habermas (1983, p. 77) comenta que:
A questão de saber se é possível que uma sociedade complexa, (como, por
exemplo, a nossa) forme uma identidade racional de si mesma remete ao
significado com que desejo usar a palavra “identidade”: uma sociedade possui uma identidade, a ela atribuída, num sentido diverso do trivial, ou
seja, não no sentido por exemplo, em que um objeto é identificado como o
mesmo objeto por diferentes observadores, ainda que esses o percebam e os descrevam de modo diferente.
O autor ilustra o conceito de identidade a partir da individualidade de cada pessoa. Na
medida em que afirmam sua própria identidade,
[...] elas têm uma identidade: uma identidade do Eu que não lhes é
meramente atribuída. Isso se manifesta sobretudo em situações críticas,
quando essa é confrontada com exigências, quando uma pessoa é confrontada com exigências que estão em contradição com as expectativas
surgidas são ao mesmo tempo e igualmente legítimas ou também com as
estruturas de expectativa experimentadas e assumidas no passado (HABERMAS, 1983, p. 78).
Advindas de suas experiências adquiridas ao longo da vida, bem como de relações
construídas durante toda sua caminhada, a pessoa forma sua identidade com base no
13
aprendizado oriundo das experiências vividas e das relações construídas ao longo do tempo, o
que a faz um ser único no universo, mesmo que outras pessoas também tenham o mesmo
horizonte de compreensão histórica que elas.
É nessa identidade individual onde estão intrínsecos os desejos, valores, conceitos,
interesses, necessidades e expectativas, a partir dos quais cada pessoa se relaciona com o
mundo (HANSEN, 2013b).
Habermas (1983, p. 91) analisa a tese hegeliana a qual afirma que "o plano para as
sociedades complexas formarem sua identidade é a organização estatal”, e que a sociedade
moderna encontrou a sua identidade racional no estado soberano, cabendo à filosofia
representar essa identidade como racional.
O autor considera difícil imaginar que a filosofia, bem como a religião, seja capaz de
se tornar o bem comum de toda uma população, no tocante à legitimação do Estado.
Ao questionar se as sociedades complexas podem construir uma racionalidade de si
mesmas, Habermas (1983, p. 95) se reporta à tese de Luhmann1, na qual este afirma que “as
sociedades complexas não são mais capazes de produzir identidade através da consciência dos
membros de seu sistema” e “a evolução social foi além da situação na qual tenha sentido
referir o homem à relações sociais."
Habermas não concorda com as colocações de Luhmann e comenta que “uma
integração suficiente de sistema da sociedade não representa nenhum equivalente funcional
para a medida exigida de integração social”, afirmando que “não é possível conservar um
sistema social se não forem satisfeitas as condições de conservação de seus membros”
(HABERMAS, 1983, p. 95).
Nas relações humanas, ou mesmo entre grupos determinados grupos da sociedade,
existem atitudes, comportamentos e reações tidas como padrões entre os seus membros.
Para Habermas, em sociedades complexas, se uma identidade coletiva pudesse se
formar, ela teria a conformação de uma identidade própria da comunidade, das que formam
discursiva e experimentalmente o seu saber relacionado à identidade através de projeções de
identidade concorrentes entre si.
Portanto, em sociedades complexas, a identidade coletiva toma forma de uma
identidade não determinada.
1Niklas Luhmann (Lüneburg, 8 de dezembro de 1927 - Oerlinghausen, 6 de novembro de 1998) fo um sociólogo
alemão, sendo considerado, juntamente com Jürgen Habermas, um dos mais importantes representantes da
sociologia alemã atual.
14
Assim como é difícil construir uma identidade social, é difícil construir uma
identidade na Universidade enquanto instituição, já que ela também é complexa, porque nela
há diferentes atores, que formam grupos sociais, muitas vezes atuando a partir perspectivas
éticas distintas, ou meramente estratégicas e às vezes até antiéticas.
Há diferentes éticas coexistindo em intenção. Trata-se de éticas que são geradoras de
projetos institucionais que têm uma dimensão política, dimensão jurídica e dimensão de
gestão. São projetos distintos, conforme ao grupo que chega ao poder, pois dependem da
concepção ética ou estratégica (o mais comum), ou por nomeação, como é o caso dos
assessores especiais que, alguns deles e em muitas circunstâncias, começam a realizar a
gestão e passam a agir numa perspectiva ética e não de moral.
Urge, todavia, que explicitemos o que queremos expressar quando falamos de ética e
de moral, a fim de que nossa exposição ganhe consistência e contornos mais definidos.
1.1.1 Ética, Moral e Legitimidade
Tomando por base o pensamento habermasiano, podemos entender que a ética é
composta de um conjunto de valores estabelecidos como válidos por uma coletividade
(comunidade, sociedade, empresa etc.), além de concepções sobre aquilo que esta coletividade
compreende para si como viver bem, ou bem viver.
De certo, os valores culturais transcendem o desenrolar factual da ação; eles
condensam-se nas síndromes históricas e biográficas das orientações
axiológicas à luz das quais os sujeitos podem distinguir o “bem viver” da reprodução de sua vida como “simples sobrevivência”. Mas as idéias do bem
viver não são representações que se tenham em vista como um dever
abstrato; elas marcam de tal modo a identidade de grupos e indivíduos que constituem uma parte integrante da respectiva cultura ou personalidade.
Assim, a formação do ponto de vista moral vai de mãos dadas com uma
diferenciação no interior da esfera prática – as questões morais que podem,
em princípio, ser decididas racionalmente do ponto de vista da possibilidade de universalização dos interesses ou da justiça, são distinguidas agora das
questões valorativas, que se apresentam sob o mais geral dos aspectos como
questões do bem viver (ou da auto-realização) e que só são acessíveis a um debate racional no interior do horizonte não-problemático de uma forma de
vida historicamente concreta ou de uma conduta de vida individual
(HABERMAS, 2003, p. 130-131).
Este conjunto de valores e de concepções de bem viver passa a definir e espelhar o
modo de ser e de pensar da coletividade a que pertencem e, quando não respeitados, geram
conflitos e provocam ações no sentido de coibir os desvios ou o desrespeito manifestado.
15
[...] ética se refere a um conjunto de valores e de concepções de bem viver partilhados por uma coletividade, enquanto que a moral diz respeito a um
conjunto de princípios racionais auto-referentes (positivos ou negativos) que
devem orientar a definição de normas a partir de uma perspectiva universal, tendo como referencial a justiça. [...] Deste modo, a minha ação enquanto
servidor será moral quando, tomada como modelo, poderá ser imitada por
todos (universalizada) e isto gerará um ambiente melhor e uma sociedade
melhor; se, porém, a minha ação for universalizada e tal situação implicar a ameaça à sociabilidade ou à coexistência produtiva e pacífica, então ela não
será moral (HANSEN, 2013c, no prelo).
Observam-se na Universidade muitos grupos sociais que chegam ao poder dentro da
instituição e que, por terem estratégias e projetos de gestão institucional alicerçados num
modo de compreensão ético das coisas, acabam excluindo e deixando de lado outros projetos
éticos. Com isso, as decisões políticas, de gestão e de administração, muitas vezes enfrentam
um déficit de legitimação institucional, ou seja, as pessoas que fazem parte daquele contexto
não reconhecem as decisões tomadas pelos gestores como justas e, muitas vezes, não aderem
e passam a sabotar, mesmo que de forma discreta, os projetos propostos. Elas não se sentem
parte do processo.
Para Habermas (2002b, p. 344), “a legitimidade trata da existência de uma moral
convencional que, por determinar normas prévias, gerais e vinculantes para todos,
possibilitam o surgimento de um poder político que possa justificar a sua autoridade
coercitiva.”
De acordo com Hansen (2013b), um gestor, para adquirir reconhecimento público e
legitimidade institucional para exercer sua função, “deve estar tecnicamente preparado e
conhecer daquilo sobre o qual fala e sobre o qual define escolhas, caminhos, prioridades,
apontando-as aos demais.” Desta forma, ele terá condições de apontar caminhos e tarefas aos
seus colaboradores: “Somente assim adquirirá reconhecimento público e legitimidade
institucional para exercer sua função.”
Já a legitimação, no entendimento de Hansen, decorre da percepção por parte dos
cidadãos de que as instituições em que estão inseridos são justas, que agem para o bem de
todos, que atuam para o melhor interesse deles, merecendo ser apoiada e contar com sua
adesão e lealdade.
Quanto ao que chamamos anteriormente de déficit de legitimação, Habermas diria que
se trata de crise de legitimação, isto é, uma condição em que uma ordem política ou um
governo não é capaz de obter a adesão dos cidadãos e nem de investir-se de autoridade
suficiente para exercer seu governo (HABERMAS, 1975, p. 68-75).
16
Quando acontecem altos índices de abstenção em uma eleição numa sociedade
democrática como a nossa, por exemplo, podemos considerar um indicador de crise de
legitimação; o que não é diferente do que ocorre na Universidade. Isso, porém, não acontece
só com o voto, mas na adesão a projetos de realização de mudanças: de um simples sistema a
ser implantado para a melhoria do fluxo de informação até a adoção de políticas acadêmicas
ou à criação de cursos, tudo se torna foco de controvérsia e palco onde as contendas advindas
do entrechoque ético-moral e do déficit de legitimidade se fazem presentes.
Quando os gestores decidem implementar qualquer mudança, os grupos que não
fizeram parte do processo decisório colocam obstáculos, resistem, e muitas vezes sabotam o
trabalho de quem aceitou o que foi determinado, mesmo que haja uma portaria ou resolução
que assegure legalidade à implementação.
Esses elementos acima colocados geram dificuldades institucionais, razão pela qual as
instituições universitárias, mesmo que sendo públicas, muitas vezes têm uma gestão
administrativa que não consegue implementar projetos, os quais acabam sofrendo uma
descontinuidade. Várias obras começam e, quando há troca de gestão, não são finalizadas,
principalmente quando grupos que faziam parte da oposição ganham a eleição e passam a ter
o poder de decidir.
1.1.2 Ética e Perspectivas Políticas: Liberalismo e Republicanismo
Embora existam diferentes concepções éticas na instituição, elas se reúnem
normalmente em duas compreensões políticas da sociedade, a liberal e a republicana.
Explicitemos, de maneira breve, as principais características de ambas e seus efeitos na gestão
das instituições universitárias:
A) A concepção liberal
A democracia liberal se revela diante dos elementos que nortearam a bandeira liberal:
igualdade, liberdade e fraternidade.
A teoria clássica da democracia liberal pode ser encaixada diante dos chamados
valores intrínsecos do liberalismo, ou seja, a defesa da propriedade privada, a noção de
cidadania, a igualdade formal pelas leis, o respeito às regras de civilidade, a postura do
profissional, a investidura do cargo, a formação e a escolha racional do sujeito diante de como
irá estabelecer suas relações em sociedade. Ser um sujeito probo, reto, que defende a vida e os
seus interesses mais imediatos, mas que se move na busca individualista do próprio sucesso
17
(HABERMAS, 2002b, v.1, p. 114) e encontra na lei uma espécie de legitimação que o afasta
do fardo moral, já que basta cumprir a estrita legalidade para que este se sinta justificado em
sua conduta como gestor.
Tal peculiaridade no que tange à estrita legalidade faz com que se observe, no
contexto das instituições públicas onde tal perspectiva liberal se mostra presente, que as
pessoas que fazem parte do grupo político que está no poder apresentem um esforço e uma
pró-atividade em termos de atendimento às demandas dos aliados políticos (processos de
trabalho que envolva tempo; acesso ágil às informações, liberação de verbas, remanejamento
dos colaboradores para auxiliar nos setores etc.); em contrapartida, aqueles que não se
mostram aliados políticos no processo eleitoral, seja pelo fato de não se terem envolvido no
processo, seja por mostrarem pontos de vista opostos às propostas, ou mesmo por sua
insatisfação com a forma com que o candidato ao poder já havia trabalhado em outras épocas,
ficam, de certa forma, neutralizados, uma vez que são submetidos ao fluxo burocrático e ao
estrito esforço exigidos pelos prazos legais.
De acordo com Habermas (2002a, p. 19):
Na perspectiva liberal, o processo democrático se realiza exclusivamente na
forma de compromissos de interesses. E as regras da formação do
compromisso, que devem assegurar a equidade dos resultados, e que passam pelo direito igual e geral ao voto, pela composição representativa das
corporações parlamentares, pelo modo de decisão, pela ordem dos negócios
etc., são fundamentadas, em última instância, nos direitos fundamentais liberais.
Ainda conforme o mesmo autor:
Na concepção liberal o processo democrático cumpre a tarefa de programar
o Estado para que se volte ao interesse da sociedade: imagina-se o Estado como aparato da administração pública, e a sociedade como sistema de
circulação de pessoas em particular e do trabalho social dessas pessoas,
estruturada segundo as leis de mercado. A política sob essa perspectiva, e no sentido de formação política da vontade dos cidadãos, tem função de
congregar e impor interesses sociais em particular mediante um aparato
estatal já especializado no uso administrativo do poder político para fins
coletivos (HABERMAS, 2002a, p. 296).
Hansen (2013b) comenta que “nas instituições universitárias estatais, mantidas com
recursos governamentais, a concepção liberal mantém a mesma racionalidade instrumental,
variando apenas em parte a sua aplicação.”
O autor aponta alguns sintomas da visão liberal nas instituições estatais:
18
a) A condução da gestão a partir de práticas centralizadoras de decisão e de
controle da informação, posto que muitos gestores ajam como se fossem o CEO de uma corporação, cuja manifestação é lei inexorável e deve ser
cumprida imediatamente sem qualquer possibilidade de argumentação ou
questionamento, mesmo quando diz respeito a questões técnicas que não são de conhecimento, domínio ou compreensão do gestor.
b) Na ânsia de recursos para impulsionar projetos, pesquisas ou até mesmo
para complementar uma remuneração julgada insuficiente, alguns gestores se
lançam em empreendimentos cujo objetivo é muito mais a comercialização de produtos rentáveis do que a preocupação com o impacto daquela
atividade no âmbito da educação. Assim, proliferam cursos de pós-
graduação ou de extensão, cursos corporativos etc., que acabam por criar estruturas anômalas na instituição universitária para abrigá-los. É o caso de
algumas fundações, núcleos, laboratórios, centros de estudos, que acabam
direcionando suas atividades para a atuação empresarial mais ou menos explícita, trazendo sobre todos os demais organismos similares (fundações,
núcleos, laboratórios, centros de estudos), que não se desviaram dos
propósitos originários, a mesma desconfiança da opinião pública e dos
órgãos de fiscalização e controle (MEC, INEP, CAPES, CNPq, MP, TCE, TCU).
c) No âmbito jurídico, observam-se situações que alguns pesquisadores
denominam “baixa institucionalidade”, que são externadas nas condutas de gestores que tomam decisões e desenvolvem ações sem qualquer
preocupação com a previsão de legalidade exigida ao ato administrativo. E
mesmo quando tais gestores revelam esta preocupação, decidem e agem com base numa concepção de liberdade negativa, como no setor privado, fazendo
coisas com o argumento de que as mesmas não estão proibidas por lei e que,
portanto, estão inclusas no horizonte de discricionariedade previsto ao gestor
público. Estes gestores, de maneira equivocada, não se apercebem de que ao gestor público só é permitido fazer o que está estritamente previsto em lei e
que o campo da discricionariedade também é definido legalmente, com
previsão jurídica para os casos específicos aos quais se aplica. d) Persiste uma hierarquização e dicotomia funcional que é típica de
instituições privadas, mas inexplicável em instituições estatais. Os docentes
e os técnicos administrativos mantêm, em muitos setores, um
comportamento de estranhamento e de assimetria funcional, a qual não encontra respaldo legal, visto que todos são servidores públicos, submetidos
a dispositivos legais constitucionais e infraconstitucionais coincidentes,
ainda que exerçam atividades distintas. e) Em determinados gestores pode ser observada uma preocupação
exacerbada de análise institucional a partir de parâmetros quantitativos
característicos do ambiente mercadológico. Isso se reflete, por exemplo, na realização de cursos e treinamentos para servidores cuja preocupação é mais
voltada para a quantidade de pessoas atingidas do que para o teor de
qualidade de formação propiciada aos mesmos (HANSEN, 2013c).
B) A concepção republicana
Já na democracia republicana, parece-nos conduzir o indivíduo a uma dinâmica de
participação direta; é algo mais que a própria participação ou das formas de participação que o
indivíduo estabelecerá em sociedade, ou com os outros. Ela exige a formação, o
19
conhecimento, o respeito de si e do outro como se o maior desafio fosse garantir a vida em
sociedade, do próprio planeta, da política.
Na perspectiva republicana, a individualidade se constrói de forma contextual e
dialógica, nela não existe um sujeito abstrato e racional. Neste modelo, é sobrelevada a
virtude cívica, o pertencimento a uma comunidade: “Para o republicanismo, a política é o
modus vivendi: se o indivíduo se reconhece como um sujeito que pertence a uma comunidade,
participa da vida pública. A autonomia pública, o exercício da soberania popular, a cidadania
ativa, enfim, transformam-no em sujeito de direito” (MELO, 2013, p. 2).
Se na concepção liberal, a política parece ter uma função mediadora entre o Estado e a
sociedade, para fins coletivos, na concepção republicana, conforme Habermas (2002a, p. 269-
281):
[...] a política não se confunde com essa função mediadora; mais do que isso,
ela é constitutiva do processo de coletivação social como um todo. Concebe-se a política de forma de reflexão sobre um contexto de vida ético. Ela
constitui um médium em que os integrantes de comunidades solidárias
surgidas de forma natural se conscientizam de sua interdependência mútua e, como cidadãos, dão forma ao prosseguimento às relações pré-existentes de
reconhecimento mútuo, transformando-as de forma voluntária e consciente
em uma associação de juris consortes livres e iguais. Com isso, a
arquitetônica liberal do Estado e da sociedade sofre mudança importante. Ao lado da instância hierárquica reguladora do poder soberano estatal e da
instância reguladora descentralizada do mercado, ou seja, ao lado do poder
administrativo e dos interesses próprios, surge também a solidariedade como terceira fonte de integração social. [...] Segundo a concepção republicana, a
formação democrática da vontade tem a função essencialmente mais forte de
constituir a sociedade enquanto uma coletividade política e de manter viva a
cada eleição a lembrança desse ato fundador.
Observa-se que há uma maior incidência das concepções republicanas nas instituições
universitárias estatais, e nas instituições privadas elas aparecem menos frequentemente.
Hansen (2013a) exemplifica quais os sintomas republicanos mais presentes nas
instituições universitárias e aponta em quais circunstâncias se tornam explícitos:
a) No vetor político que orienta a gestão, de modo que os gestores
apresentam preocupação em prestar contas de suas ações aos atores
institucionais e aos diversos segmentos sociais (discentes, docentes, técnicos
administrativos, órgãos públicos, sociedade). Se, por um lado, esta face política da gestão é positiva, por outro lado pode gerar distorções, posto que
alguns gestores, no afã de sua continuidade no poder, razão pela qual
necessitam estar em constante evidência institucional, modulam sua atuação administrativa em parâmetros obtusos, onde o foco das iniciativas é mais
direcionado para a propaganda e promoção do gestor do que à valorização
do resultado institucional gerado pela iniciativa levada a cabo pelo mesmo.
20
b) Vinculado a isso, encontramos a necessidade de publicidade das ações do
gestor público e, com ela, a necessidade de fundamentar as decisões. Esse é
um elemento importante na gestão democrática de instituições universitárias estatais, porque gera transparência e confiabilidade. Entretanto, quando isso
não é bem compreendido ou aplicado por algum gestor, a fundamentação
dos atos se converte em justificação e os fins passam a justificar os meios
nem sempre ortodoxos ou convencionais utilizados. c) O exercício da cidadania na instituição universitária estatal ocorre em
diversas instâncias, seja pela participação dos diferentes atores institucionais
na escolha dos gestores em vários níveis, seja pela possibilidade de atuação, via representação, em órgãos colegiados de decisão ou pela participação em
eventos acadêmicos ou de formação continuada que permitem a
manifestação de opiniões e a assunção de posições políticas ou ideológicas.
Em determinadas oportunidades, contudo, ocorrem extrapolações derivadas de populismos, quando gestores institucionais dão legitimidade
representativa a grupos ou pessoas que se apresentam como vozes da
soberania popular, sem que efetivamente reúnam em si esses atributos. O risco, nestas circunstâncias, é de tornar a instituição refém dos interesses
particulares, em detrimento do bem comum e do interesse público.
d) O ordenamento jurídico a que está submetida a instituição universitária estatal é, em nível nacional, razoavelmente orgânica e articulada. No âmbito
interno, esta legislação deve estar coadunada às diretrizes gerais, mas
contemplar as particularidades e o ethos institucional, característica
republicana, sendo definida a partir de procedimentos de participação democrática e de um amplo debate institucional, privilegiando os canais já
instituídos e legitimados (conselhos, departamentos, colegiados, fóruns etc.).
Se, porém, em face do enrijecimento de posições quedar vencida a possibilidade de diálogo e se o gestor se conformar a esse resultado, sem
procurar incessantemente o restabelecimento dos canais democráticos de
discussão e de deliberação, haverá um esvaziamento das instâncias decisórias da Universidade, provocando como consequência em déficit de
legitimidade democrática das decisões. Ademais, as normas e a legislação
interna produzida a partir deste cenário tendem a ser casuísticas, pontuais e,
por isso mesmo, inorgânicas, por vezes contraditórias, impregnadas de lacunas e de casos omissos. Isso tudo tende a gerar uma dificuldade
crescente na gestão das questões rotineiras e cotidianas, cuja resolução
depende de um referencial normativo estável, consistente, congruente e sistemático (HANSEN, 2013b).
Desse embate de perspectivas, liberal e republicana, é que, de alguma maneira, surge o
contraste de identidade da instituição. Porém, a identidade da Universidade deve ser pautada
não somente em concepções éticas específicas, mas também numa concepção de moralidade
pública.
1.1.1.3 Universidade e moralidade
A moralidade pública é exigência Constitucional na legislação pátria, prevista
inicialmente para a administração pública, mas igualmente inspiradora das demais
21
instituições, especialmente quando elas são prestadoras de um serviço ligado a um bem
público, como é o caso de Universidades, que tratam de oferecer educação à sociedade.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, arejada pelo desejo de se
criar um verdadeiro Estado Democrático de Direito até então inexistente,
inseriu-se expressamente o princípio da moralidade e o constituinte o fez em dois momentos: no art. 5º, LXXIII, quando aborda o instituto da Ação
Popular, afirmando, inclusive, ser possível o ajuizamento desta importante
ação constitucional para zelar e tutelar a moralidade administrativa e com o propósito de anular ato lesivo ao patrimônio público; e no art. 37, caput,
quando talha os princípios basilares da Administração Pública, informando
ser um deles a moralidade (MOURA, 2008, p. 2).
Por se tratar de moralidade a respeito do que é inerente a uma instituição pública,
apresenta-se a seguir o Art. 37 da Constituição Federal de 1988, que aborda os princípios da
administração pública, consequentemente da Universidade publica.
Mas o que significa princípios? Reale (1986, p. 60) descreve princípios como:
[...] verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia
de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos
relativos à dada porção da realidade. Às vezes também se denominam princípios certas proposições, que apesar de não serem evidentes ou
resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da validez de um
sistema particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessários.
Entendido o que é principio, apresentamos o que reza Artigo 37 da Constituição
Federal: “Art. 37- A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]” (BRASIL, 1991, p.
202).
Com base na descrição de Silva (2006), segue abaixo o significado de cada principio
disposto no art. 37 da Instituição:
a) Principio da legalidade - é fundamental no regime jurídico-administrativo, visto
que, além de ser essencial, específico e informador, submete o Estado à lei; a administração
pública só pode ser exercida se estiver na conformidade da lei; garante ao cidadão, proteção
de abusos dos agentes administrativos, bem como limita o Poder do Estado em interferir na
esfera das liberdades individuais; não está condicionado somente à atividade da
administração, estendendo-se também às demais atividades do Estado; visa beneficiar os
interesses da coletividade como um todo, que é o objetivo principal de toda atividade
22
administrativa; tem por finalidade evitar que os agentes públicos ajam com liberdade contra a
coletividade, sem seguir as normas especificadas em lei e se desviando do interesse coletivo.
b) Principio da impessoalidade - visa à neutralidade e à objetividade das atividades
administrativas no regime político, que tem como objetivo principal o interesse público; o
administrador que esteja no exercício de suas atividades deve trabalhar em prol do interesse
público e jamais usar a máquina administrativa na promoção pessoal ou política; sua
finalidade é evitar que os agentes públicos beneficiem alguém ou a si mesmos, ou
prejudiquem pessoas que não são de seu agrado.
c) Princípio da moralidade – o gestor deve ter um comportamento ético e jurídico
adequado; veta condutas eticamente inaceitáveis e transgressoras do senso moral da
sociedade; é condição para a Administração e seus agentes atuarem na conformidade de
princípios éticos; norteia a ação administrativa e controla o poder discricionário do
administrador; seu conteúdo objetivo é a boa-fé (obrigação de comportar-se honestamente) e
confiança (esta ligada à gestão pública), e o conteúdo subjetivo é o dever de probidade; a
finalidade desse principio é evitar o desvio do poder.
Habermas (1989 apud HANSEN, 2013b) comenta que:
A moralidade consiste na possibilidade de construirmos, intersubjetivamente, normas e princípios tais que se colocam como
imperativos nas nossas relações e que não podem ser descuidados, sob pena
de implicarem a instalação da injustiça e do ressentimento e, com eles, o
risco da aniquilação da espécie ou, no nosso caso, da instituição universitária.
d) Principio da publicidade - qualquer cidadão pode se dirigir ao Poder Público e
requerer cópias e certidões de atos e contratos; visa à transparência das atividades públicas,
para que os administrados possam ter conhecimento do que os administradores estão fazendo;
é um instrumento de verificação de princípios como legalidade, moralidade,
proporcionalidade, imparcialidade, impessoalidade e outros; deve tornar público todo ato
legal ou ação do Poder Público:
A constituição é explicita, mas de forma indireta, em enunciar o princípio
geral de que "todos os atos deverão ser públicos", condicionando
severamente as exceções, sempre em lei expressa, aos casos de possível
afronta ao direito de privacidade (protegido no mesmo artigo, inciso X) ou interesse social (o interesse social prevalece sobre o individual, pelo
princípio da solidariedade (SILVA, 2006).
23
e) Princípio da eficiência - é obrigação da Administração Pública atender bem, com
urbanidade, rapidez, transparência, segurança, imparcialidade e sem burocracia, sempre com
vistas à qualidade, ou seja, na exata medida de sua necessidade, satisfazendo às exigências
coletivas num regime de igualdade; a escolha da solução deve ser a mais adequada ao
interesse público, de modo a satisfazer plenamente a demanda social.
Mesmo havendo uma legislação clara a ser seguida, nem sempre ela é posta em prática
como se propõe.
A instituição Universidade, que já tem os seus problemas de construção de identidade
em função da sua complexidade interna, ainda se vê impactada pelas demandas externas, na
medida em que ela não está isolada. Ela também está em relação com outras instituições da
sociedade e recebe uma influência sempre forte e presente da política, da economia, do
mercado. Dessas áreas da existência humana, dessas esferas que passam também a pressionar
a Universidade e exigir dessa instituição o cumprimento de determinadas funções sociais.
Essas pressões também não são únicas. A Universidade recebe pressões e interesses distintos,
que interferem sobre a vida institucional.
1.2 UNIVERSIDADE, ÉTICA E SOCIEDADE
Atualmente, a Universidade tem enfrentado grandes desafios com relação à sociedade
como um todo, especialmente no âmbito do mercado, tendo em vista que a Universidade
possui comprometimento com o desenvolvimento e transformação social, política, econômica
e cultural em âmbito local, estadual e nacional. Mas, será que seu universo vai realmente até
as fronteiras do país ou, visto que hoje vivemos num mundo globalizado, onde as fronteiras já
foram ultrapassadas, o compromisso da Universidade se tornou igualmente global?
A Universidade enfrenta também uma tensão na sua relação com a sociedade, que é
uma relação, de novo, pautada eticamente, ou seja, ela se move a partir de um conjunto de
valores, que não necessariamente são os mesmos valores de segmentos da sociedade com a
qual está se relacionando. E isso também é gerador de problemas. Passemos, pois, a analisar
os problemas principais da relação Universidade-Sociedade e suas implicações éticas.
24
1.2.1 O Cenário Contemporâneo e a Universidade
Vivemos numa era tecnológica que, a cada dia que passa, torna-se mais avançada, o
que atinge a indústria, a educação, a informação, entre tantas outras instâncias.
Os governos, por sua vez, se veem enredados em burocracias excessivas e razões
estratégicas de operação, em hierarquias de cargos pensados de forma engessada e produzindo
excesso de normas e regulamentos.
Diante dos avanços tecnológicos, não mais são comportáveis ações, por governos ou
instituições públicas, que não sejam cada vez mais baseadas em conhecimentos e
informações. Se isso pode trazer melhorias aos cidadãos dentro das nações, o que tem sido
observado, no entanto, como consequência, são desigualdades nas condições de vida das
pessoas, diante de transformações constantes e de uma rapidez assustadora para as quais elas
não são preparadas, sensibilizadas ou educadas.
Isso tudo tem sido reunido num termo amplo, multifacetado e, por isso mesmo, sujeito
a muitas controvérsias: globalização.
A globalização está reestruturando o modo como vivemos, e de uma maneira
muito profunda. Ela é conduzida pelo Ocidente, carrega a forte marca do
poder político e econômico americano e extremamente desigual em suas consequências. Mas a globalização não é apenas o domínio do Ocidente
sobre os demais; afeta os Estados Unidos tanto quanto outros países. Além
disso, a globalização influencia a vida cotidiana tanto quanto eventos que ocorrem numa escala global (GIDDENS, 2010, p. 15).
A globalização nos lança diante de um paradoxo, posto que nos tornou de algum modo
planetários e ouvidos por todos, mas ao mesmo tempo insignificantes. Se a tecnologia e os
transportes nos permitiram estar em todos os lugares do planeta, física ou virtualmente,
ganhamos força e potencial de expressão internacional, pois nossas ações e palavras podem
ser vistas e seguidas por todos; em contrapartida, somos mais um entre milhões de potenciais
usuários de sistemas de informações, consumidores de produtos e tecnologias, e a nossa
manifestação, especialmente via redes sociais, é condição para a movimentação do mercado e
da máquina de consumo; e aquilo que manifestamos tem a relevância de alguns segundos,
pois imediatamente os nossos proferimentos se confinam ao anonimato do esquecimento
virtual.
As verdades que antes pareciam sólidas estão cada vez mais fluidas e submetidas a
torrente de crises econômicas e políticas, de recursos finitos, de uma população cada vez
25
maior. Tudo isso recai sobre a Universidade, visto que ela é uma instituição de grande
importância para o desenvolvimento da sociedade como um todo.
De acordo com Hansen (2013b):
A humanidade vive um momento crucial de sua história, pois se vê diante de profundas transformações em todos os campos da existência, numa
intensidade e velocidade jamais vistas. Diante deste contexto, inúmeros são
os riscos e as oportunidades, mas cresce a importância do papel institucional e social da Universidade; conhecer o contexto onde estamos inseridos e
traçar um panorama do nosso tempo se torna imprescindível.
A partir do século XX, houve uma expansão demográfica que causou um grande
impacto na vida em sociedade, tornando-se uma característica marcante dessa época para os
dias de hoje.
Habermas, em sua obra Constelação Pós-Nacional (2001), aponta para três problemas
característicos do século XX:
1) Crescimento populacional:
Houve um aumento populacional muito rápido a partir do século XIX, em
consequência do avanço da medicina, para tratar enfermidades que até então eram
consideradas fatais.
Já no século XX, para termos uma ideia, a população mundial, até meados de 1920, já
havia atingido o primeiro bilhão de pessoas no mundo. De acordo com dados da Wikipédia,
nos 10 anos seguintes, 1930, já éramos dois bilhões de habitantes no planeta. Dessa época
para a atualidade, já somos quase sete bilhões e, conforme Hansen (2013b), “[...] a previsão
da ONU é que até meados do século XXI sejamos nove bilhões de seres humanos neste
planeta.”
Em 1950, cinco anos após a criação das Nações Unidas, a população
mundial era estimada em cerca de 2,6 bilhões de pessoas. De acordo com
estimativas da ONU, a população mundial chegou a 5 bilhões em 11 de julho de 1987, e atingiu a marca de 6 bilhões de pessoas em 12 de outubro de
1999. Agora, 10 anos depois, ela é estimada em aproximadamente 7 bilhões.
Esta expansão rápida e contínua da impressão humana num planeta que parece cada vez menor tem sérias implicações em quase todos os aspectos da
vida. Questões estas que dizem respeito à saúde e ao envelhecimento, à
migração em massa e à urbanização, à demanda por habitação, ao
abastecimento inadequado de alimentos, ao acesso à água potável, entre outras. O rápido aumento da população expõe problemas como o crime
transnacional, a interdependência econômica, mudanças climáticas, a
disseminação de doenças como HIV/AIDS e outras pandemias, e assuntos
26
sociais como igualdade de gêneros, saúde reprodutiva, maternidade segura,
direitos humanos, situações de emergência, e outras (ONU, 2013).
Esse crescimento foi causado pela transformação do homem, com a industrialização,
urbanização, agricultura e, como já dito acima, pelos avanços na área da saúde. Mas, ao
mesmo tempo, surgem novas doenças, novos desafios para a medicina.
Apesar dessa transformação, ainda nos encontramos diante do fato de que é muita
gente para pouco recurso, e aí temos conflitos de territórios de interesse, que envolvem
recursos escassos.
Diante desse contexto, a Universidade deve estar atenta a esses grandes desafios
consequentes de uma população cada vez maior, com um território mundial cujo espaço
habitável tem-se tornado cada vez menor para acomodar tantas pessoas, com uma sociedade
cujas características são diversas.
Cabe à Universidade, enquanto instituição formadora, o desafio de acompanhar essas
velozes transformações em que a sociedade está envolvida. Percebe-se que, se houve
planejamento populacional e/ou acompanhamento, por parte do Estado e da Universidade,
estes não foram eficientes; não houve uma discussão ou reflexão, em face dos recursos
existentes.
Como consequência, observam-se problemas sociais gritantes, como pessoas passando
fome, morando em condições subumanas. Há miséria e exclusão social.
Hansen (2013b) observa que esse contingente populacional passa a ser interpretado e
tratado pelas instituições políticas, governamentais e acadêmicas como massa.
Habermas (2001, p. 54) comenta que:
[...] desde o início do século XX, um rápido aumento populacional. A
explosão demográfica foi a princípio percebida na figura social da “massa”.
Antes de Psicologia das Massas (Le Bond), já se conhecia a concentração das massas nos burgos, e também a mobilização em massa de trabalhadores
e emigrantes, manifestantes, grevistas e revolucionários. Mas apenas no
início do século XX fluxos de pessoas, organizações e ações em massa,
concentraram-se em manifestações ameaçadoras que provocaram a visão da Rebelião das Massas (Ortega e Gasset). Na manifestação em massa da
Segunda Guerra Mundial, no sofrimento em massa dos campos de
concentração, assim, como no caos em massa do pós-guerra, descobriu-se o coletivismo, que já se anunciara na capa do Leviatã de Hobbes: já aí os
indivíduos encontram-se anônimos, fundidos na figura de um macro-sujeito
que age coletivamente.
A Universidade enfrenta hoje uma tensão na sua relação com a sociedade, que é uma
relação, novamente, pautada eticamente, ou seja, ela se move a partir de um conjunto de
27
valores, que não necessariamente são os mesmos valores de segmentos da sociedade com a
qual a Universidade está se relacionando. E isso também é gerador de problemas.
Como a instituição universitária consegue dar resposta, hoje, aos desafios da
tecnologia, da globalização, das formas de aprendizado, da fluidez das verdades, ao mesmo
tempo em que consegue se preservar, para não virar capacho do sistema financeiro, não virar
mais um grande colégio e preservar certo papel social, como geradora de critica, geradora de
novas perspectivas?
Diante do que vem ocorrendo desde o século XX e no atual século XXI, a
Universidade tem por obrigação repensar como as grades curriculares dos cursos oferecidos
pela instituição têm sido construídas, quais atividades e programas envolvem a comunidade
para tratar dos problemas que se apresentam e qual a melhor forma de buscar soluções em
conjunto com servidores, discentes e comunidade.
2) Mudança estrutural do trabalho
Por conta do aumento do crescimento populacional, vieram outras necessidades, outros
desafios, como o da introdução de novos métodos de produção para aumentar a produtividade,
minimizando a necessidade de trabalho. Houve um grande êxodo rural.
As pessoas que migraram da zona rural para as cidades criaram a necessidade de uma
ampliação das atividades laborais e novos conhecimentos foram essenciais para lidar com
máquinas e equipamentos das fábricas. Outras necessidades no mercado foram aparecendo,
como: novos produtos para atender à nova realidade, bens, oferta de emprego, de serviços,
entre outros.
Atualmente, tanto nos grandes centros como nas áreas rurais, novos conhecimentos
são indispensáveis para lidar com máquinas e equipamentos sofisticados e tecnologicamente
complexos, com moderníssimos sistemas e programas. Além disso, os trabalhadores rurais
que vieram pra a cidade passaram a disputar vagas “num mercado de trabalho voltado cada
vez menos para os setores primários e secundários da economia, mas fortemente orientado
para o setor terciário (comércio e serviços) e quaternário (informações, pesquisa e inovação).”
Diante dessa nova tendência de mercado, “houve uma verdadeira revolução educacional, já
que a formação de ensino fundamental e médio são pré-requisitos para a obtenção de vagas
menos remuneradas, enquanto vagas com maior remuneração exigem formação universitária
em nível de graduação e pós-graduação” (HABERMAS, 2001, p. 55).
28
Diante de tanta mudança e necessidade de novos conhecimentos, tornou-se crescente a
busca por cursos universitários, pois as pessoas se interessam por maior qualificação, a fim de
conseguirem um espaço no mercado cada vez mais competitivo e exigente.
Hansen (2013b) comenta que:
[...] a preocupação destas pessoas, em sua maioria, é com a obtenção de um
treinamento que as habilite a operar tecnicamente e manipular equipamentos, sem qualquer preocupação de ordem epistemológico-cognitiva que se volte à
produção de um novo significado para o próprio trabalho na sociedade.
Individualizado e separado pela mídia de massas, cada um corre atrás do próprio sucesso, pensado em termos exclusivistas, enquanto auto-realização
fundada num egoísmo racional.
A Universidade sofre pressão diante da necessidade do mercado e do imediatismo das
pessoas em possuírem um curso superior, para dar um retorno imediato aos interessados em
conseguir um certificado de graduado, a fim de obterem um trabalho mais bem remunerado.
Infelizmente, o que o público quer é um tipo de educação fast food para atender suas
necessidades imediatas. Não há uma preocupação com o seu desenvolvimento intelectual,
cultural, e sim um adestramento técnico necessário para sua atuação no mercado.
Hansen (2013b) chama a atenção no sentido de que a Universidade não acabe cedendo
à pressão social massificada por uma transformação do ensino superior em uma fábrica de
soluções mágicas e miraculosas. Para o autor, “o maior problema se encontra no eco e guarida
que este discurso falacioso e reducionista encontra nos atores das instituições universitárias,
especialmente quando assimilados e assumidos por gestores universitários” (HANSEN,
2013b). Para ele, preparar o acadêmico para o mercado vai muito além de um treinamento das
habilidades técnicas para se operar um equipamento ou sistemas no desempenho das funções
no trabalho. A preparação “exige cada vez mais uma atenção para o trabalho enquanto
dimensão constitutiva da produção do sentido da espécie humana, pelos processos de
interação e comunicação a ele inerentes.”
3) Dos progressos cientifico-tecnológicos
Desde que o homem existe e evolui, vêm ocorrendo avanços tecnológicos,
atravessando os séculos e, a partir do século XX, revolucionou-se o modo de viver e agir da
sociedade. Houve um avanço nas tecnologias industriais, militares e no campo da medicina,
bem como no transporte e meios de comunicação.
Novos equipamentos digitais são implementados nas indústrias, que reduzem a
necessidade de mão de obra e ao mesmo tempo exigem mão de obra especializada para operá-
29
los, em razão de se tratar de equipamentos delicados e altamente precisos. Também na
medicina, surgiram equipamentos cirúrgicos e laboratoriais de qualidade impecável.
As distâncias não são mais desafios incontornáveis. Houve um avanço incrível com
transportes, que oferecem conforto, segurança e rapidez.
O efeito de aceleração advindo das técnicas avançadas de comunicação e de transporte possui uma importância totalmente diferente para a modificação a
longo prazo do horizonte cotidiano de experiências. [...] A consciência do
espaço e do tempo é afetada de um outro modo pelas novas técnicas de transmissão, armazenamento e elaboração de informações. [...] As distâncias
espaciais e temporais não são mais “vencidas”; elas desaparecem sem deixar
marcas na presença ubíqua de realidades duplicadas. A comunicação digital
finalmente ultrapassa em alcance e em capacidade todas as outras mídias. Mais pessoas podem conseguir e manipular quantidades maiores de
informações múltiplas e trocá-las em um mesmo tempo que independe das
distâncias. Ainda é difícil de se avaliarem as consequências mentais da Internet, cuja aclimatação no nosso mundo da vida resiste de um modo mais
enérgico do que a de um novo utensílio doméstico (HABERMAS, 2001, p.
57-58).
As informações, através de aparelhos de comunicação e internet, chegam em questão
de segundos, a qualquer lugar do planeta. Tudo isso tem atendido à sede insaciável de
consumo das pessoas; através de tecnologias e de um forte marketing, conquistam-se novos
clientes de forma massiva.
Habermas (apud HANSEN, 2013b) “chama a atenção para o fato de que a tecnologia
entrou de uma forma tão avassaladora no nosso dia a dia que já não conseguimos mais nos
desvencilhar dela, já que nos tornamos tecno-dependentes.”
Observa-se um número cada vez maior de pessoas (adolescentes, jovens e adultos) nas
ruas, nos restaurantes, na escola etc., com seus celulares, comunicando-se com outras pessoas
ou conversando, ou mandando torpedos, ou mesmo utilizando internet, em aparelhos cada vez
mais sofisticados. Se perguntássemos a elas se sobrevivem sem essa tecnologia, fatalmente a
resposta seria não, pois já foi incorporada ao seu cotidiano. Outro exemplo é o computador,
utilizado para a produção de textos, rotinas administrativas que atualmente são realizadas
através de sistemas de informações gerencias implantados, internet e outros tantos programas
para agilizar os processos no trabalho. Sem isso, o trabalho fica engessado e o processo para.
As estruturas do mundo da vida carregadas de tecnologia exigem de nós,
laicos, agora como antes, a relação inocente com aparelhos e dispositivos
enigmáticos, uma confiança habitual no funcionar de técnicas e computadores opacos. Em sociedades complexas todo especialista torna-se
30
um laico diante de todos os demais especialistas (HABERMAS, 2001, p.
57).
As novas tecnologias nos trazem inúmeros benefícios, que realmente agilizam e dão
qualidade ao trabalho e na vida fora dele, oferecendo conforto.
Contudo, Hansen (2013b) nos alerta para os riscos que acompanham a benesses que as
tecnologias trazem para nosso cotidiano.
[...] estamos hoje sendo formatados e reformatados nos nossos hábitos;
adequamos preferências às máquinas e aos aparelhos tecnológicos que
possuímos (ou que nos possuem!). Somos controlados no nosso tempo e no
nosso espaço, monitorados por GPS, celulares e outros aparelhos conectados a satélites. Em muitos casos, já não temos separação entre tempo livre e
tempo de trabalho, vida social e vida privada; estamos num constante “big
alguma coisa”, aparecendo e sendo controlados. Inclusive nossas manifestações começam a ser padronizadas, pois devemos raciocinar e nos
manifestar em 140 caracteres, se é que se possa argumentar em tão ínfimo
espaço. Nossas palavras atingem o mundo, graças à internet e às redes
sociais, mas tem a visibilidade de pouco mais que um segundo, já que logo é suplantada pela torrente de novas mensagens de tantos outros ciosos por
também grunhir algumas palavras, tornando obsoleta nossa manifestação.
A Universidade hoje tem mais que obrigação não só de acompanhar os avanços
tecnológicos, como o acesso digital via rede, com sistemas de informações que abrangem todo
o processo de operacionalização de serviços da instituição, como de abrir novos espaços e
conhecimentos para o desenvolvimento tecnológico.
A tecnologia desenvolvida e aplicada precisa ser disponibilizada para facilitar o
desenvolvimento das atividades das pessoas que compõem a universidade como um todo e
também oferecer acesso às informações da comunidade, quando precisam recorrer à
universidade por motivos acadêmicos ou acompanhamento do que lhe é oferecido, para novos
conhecimentos, cursos, lazer, entre outras atividades.
Ainda não se pode deixar de destacar que tecnologia na universidade é um instrumento
necessário para o ensino-aprendizagem. Os quadros negros podem, e isso já acontece em
algumas instituições de ensino superior, ser substituídos por modernos quadros digitais
interativos, multimídias e outros tantos equipamentos que auxiliam no ensino-aprendizagem.
Além disso, por meio dos avanços tecnológicos, é possível realizar teleconferências com
celebridades do meio educacional, via satélite. Sem contar que, com os avanços tecnológicos,
tornou-se possível o ensino a longa distância – EAD, que leva conhecimento aos acadêmicos
que podem fazer seus cursos sem sair de casa, administrando seu tempo para estudar.
31
Entrementes, as sociedades modernas pós-industriais são caracterizadas por
setor quaternário de trabalho baseado no saber, como as indústrias high-tech
ou os serviços de saúde, os bancos ou a administração pública, que depende da influência de novas informações e, em última análise, de pesquisa e
inovação. Essa, por sua vez, deve-se a uma “revolução na educação”.
Enquanto a formação superior perdeu o status elitista, as Universidades
tornaram-se frequentemente o foco de agitações políticas (HABERMAS, 2001, p. 55).
1.3 UNIVERSIDADE, ÉTICA E RELAÇÕES INTRA-INSTITUCIONAIS
Observa-se na Universidade o predomínio de uma eticidadede em grupos que chegam
ao poder e querem realizar os seus valores de interesse.
Numa instituição, observa-se esse tipo de comportamento acontecendo, com uma certa
constância, seja por gestores de instâncias superiores ou mesmo de instâncias administrativas
ou acadêmicas distribuídas nesse complexo ambiente universitário.
Os conflitos de interesse e de perspectivas éticas que se colocam, a cada mudança de
gestão, seja em qual estância for, geram por um lado desmotivação de pessoas, perseguição a
outras pessoas, subutilização da capacidade de produção e, também, tentativas de
neutralização daqueles que são vistos como potenciais rivais ou que representam concepções
éticas distintas do grupo que entra.
Ações como as acima citadas geram uma descontinuidade de processos, certa
intransparência dos atos administrativos e acadêmicos.
Se o grupo que trabalha num setor ou um órgão da instituição passa a ter como gestor
a pessoa que recebeu seu apoio, tem condições de realizar seu trabalho com certa
tranquilidade. Se este gestor era da oposição de quem estava à frente dos trabalhos, até o
momento, certamente vai tentar mudar tudo que já foi realizado e querer imprimir sua marca,
descontinuando o trabalho anterior.
O contrário também pode acontecer: o gestor eleito ser aliado do gestor anterior, e dar
continuidade a alguns projetos. Mas, com certeza, ainda assim, vai mudar alguma coisa para
imprimir sua marca.
Porém, se ocorrer o caso de o gestor nomeado para o cargo não ser aquele que o grupo
apoiava ou esperava, fatalmente terá dificuldades de obter informações e colaboração dos
demais. Sofrerá com a desmotivação e resistência do grupo do qual será o líder, mas mesmo
assim desejará e imprimirá sua marca, descontinuando os processos e impondo novos, ou seja,
parará tudo que se estava fazendo e começará outro trabalho do zero, com ou sem o apoio do
grupo.
32
Em função dos interesses privados e de valores de grupos, éticas específicas, ou
mesmo por questões meramente estratégicas, onde a ética passa longe, também existe a
questão de servidores, sejam gestores, colaboradores ou docentes, que simplesmente se
apropriam de informações institucionais, de dados e projetos institucionais para benefício
próprio, seja para pleitear um cargo em outras instituições governamentais, ou outras
instituições de ensino, ou mesmo para uma carreira política.
Percebe-se, diante do que foi acima exposto, que aqueles que possam significar um
risco à realização desse tipo de projeto de poder, tendem a ser afastados, oprimidos,
neutralizados, perseguidos e até excluídos da participação, competentes ou não. Pois o que
vale é fazer parte do grupo de interesses, caso contrário “está fora”.
Ao mesmo tempo, observa-se que existem outros grupos que se movem
estrategicamente, na direção de criar vínculos de domínio, ou seja, vínculos baseados no
cargo, em função gratificada, em privilegiar determinados grupos comprando adesões. Essas
relações são assimétricas, isto é, não são relações de confiança, de credibilidade; ao contrário,
essas pessoas que se vendem hoje passam, de gestão em gestão, a pleitear um cargo e o
conseguem, porque sempre se vendem para o grupo de que às vezes são rivais, porém é
aquele que está no poder.
Grupos como os acima citados não agem por simpatia política, por adesão política ou
algo do gênero. Agem no auto-interesse, por egoísmo racional. É nesse contexto que muitos
viram cabo eleitoral do candidato que prometer um cargo e oferecer vantagens. E, caso outro
candidato ofereça algo melhor, o mesmo grupo que apoiava o candidato oposto deixa de
apoiá-lo e migra, sem nenhum escrúpulo, para aquele que oferece mais regalias. É meramente
uma adesão estratégica assimétrica.
Em muitos casos, só há uma colaboração enquanto for possível levar vantagem.
Não podemos também deixar de frisar que existem grupos pautados em éticas
diferentes, nos quais não há a intenção de vantagens, ao contrário, cumprem seu papel com
profissionalismo, colaboram com a instituição, independente de quem esteja no poder,
pensam na instituição e no que ela representa na sociedade.
Entre eles há um profissional, cuja formação é pautada num comportamento ético-
moral em que seu agir tem por obrigação ser em prol do bem comum e de colaboração, com
atuação imparcial e ações, respeito e simetria para com todos os atores institucionais, o
Secretário Executivo.
33
1.4 UNIVERSIDADE, ÉTICA E PODER INSTITUCIONAL
Desde que surgiu o planeta Terra e com ele os seres humanos, estes se viram
impelidos a se relacionar, ou seja, desde que o mundo é mundo, seres humanos relacionam-se
uns com os outros.
Hansen (1994, p. 54) comenta que as relações estabelecidas entre os humanos têm
“uma razão de ser, um valor, não é meramente algo sem sentido” e que “a ação de dar um
sentido a um ser, transformando-o num „algo‟. Comenta o autor que “a possibilidade de agir
sobre outrem, de sorte a determinar suas reações; a capacidade de manipular objetos e
fenômenos a partir de nossa vontade”. Podemos entender que nesse contexto convencionou-se
a denominação "poder", que “visto sob este prisma, revela-se, de fato, como um elemento
constitutivo da própria substancialidade humana e, neste sentido, ser homem implica
necessariamente construir relações, e relações de poder.”
Na Universidade, ambiente em que as pessoas interagem constantemente, não é
diferente se construir relações e relações de poder.
Muitas situações acontecem nas relações institucionais, como já apresentado no tópico
anterior, e nelas observam-se pessoas que buscam, de alguma forma, estar no poder, ou ao
lado dele.
O papel assumido neste trabalho é justamente colocar em discussão inquietações sobre
como se dá o poder dentro da instituição, de acordo com o que se observa no dia a dia vivido
nela.
Observam-se ações de busca pelo poder por meio de comportamentos nem sempre
considerados éticos, mas sim antiéticos.
Quando pessoas, para conquistar um determinado status na instituição, lançam mão de
mecanismos nada convencionais, como, por exemplo, agir com relação ao outro de forma
ameaçadora, ou seja, „caso você não faça parte do meu grupo, suas chances de continuar
trabalhando no setor que hoje atua são mínimas‟, elas estão, nesta relação de poder,
exercitando o poder que pressupõem ter sobre o outro.
Foucault (1994, p. 237) denomina o exercício do poder como:
[...] um conjunto de ações sobre ações possíveis; ele opera sobre o campo de
possibilidade onde se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele incita, induz, desvia, facilita ou torna mais difícil, amplia ou limita, torna
mais ou menos provável; no limite, ele coage ou impede absolutamente, mas
é sempre uma maneira de agir sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto
eles agem ou são suscetíveis de agir. [...] O exercício do poder consiste em
34
“conduzir condutas” e em ordenar probabilidades. O poder, no fundo, é
menos da ordem do afrontamento entre dois adversários, ou do vínculo de
um com relação ao outro, do que da ordem do „governo‟.
A partir da definição de poder estabelecida acima, bem como da obra Microfísica do
Poder (1989), de Foucault, dois aspectos nos parecem provocadores no que tange à reflexão
sobre o poder exercido nas instituições universitárias: a) o primeiro diz respeito ao exercício
do poder no que concerne às suas finalidades; b) o segundo diz respeito aos atores que
exercem este poder na instituição.
a) Exercício do poder no que concerne às suas finalidades
Na sociedade em geral e mais especificamente também nas instituições universitárias,
o poder é compreendido e exercido como uma finalidade em si mesmo ou como um meio para
a realização e um projeto institucional. No primeiro caso, aqueles que exercem o poder tem
como finalidade exclusiva a manutenção do mesmo e tendem a agir no sentido da
conservação status quo, via de regra pela imobilização de todo e qualquer processo
institucional que possa significar risco de transformação da mesma. E quando ameaças
institucionais ocorrem no sentido da rebelião são promovidas pseudomodificações, de sorte
que as pessoas tenham a sensação de que as coisas mudaram sem que efetivamente nada
mude. Exemplo desta postura nas instituições universitárias é a criação de setores, divisões, e
órgãos, sem a devida infraestrutura para que haja o seu funcionamento. Deste modo,
modifica-se sem gerar transformação, nem tampouco ameaça o poder instituído. No segundo
caso, o poder é encarado como um meio para a realização de um projeto institucional baseado
em valores e concepções de bem viver. Sob este prisma, o exercício do poder se volta para a
transformação da instituição no sentido da realização de um projeto politico partilhado por
uma coletividade. E quanto maior for esta coletividade a se reconhecer no projeto politico
construído e nos valores a ele vinculados, tanto maior será a legitimidade do exercício desse
poder na instituição, posto que os atores institucionais se reconhecem no projeto efetivado e
sentem seus valores e interesses representados naqueles que exercem o poder. Mesmo aqueles
que não partilham daqueles valores, mas desde que tratados a partir princípios republicanos
como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tendem a cooperar
com a consecução do projeto, por reconhecerem a forma justa com que se da exercício do
poder.
35
b) Os atores que exercem o poder na instituição
Embora as instituições sejam organizadas em níveis hierárquicos de poder, o exercício
do mesmo se dá microfisicamente, o que significa na prática, embora o Conselho
Universitário, CEPE ou a reitoria tenham em exercício de poder mais concentrado, estes não
possuem controle absoluto sobre o modo como cada um dos atores institucionais (docentes,
técnico administrativo, discentes) exerce a porção de poder que lhes cabe no setor esse o
exercício específico onde atuam. E o exercício deste poder microfísico e por vezes sub-
reptício e clandestino se volta em muitas situações numa direção diferente daquela
intencionada pelos atores de poder mais concentrado e qualificado.
Na facticidade do viver e conviver institucional da Universidade, diversos aspectos
interferem no seu acontecer. Ao longo deste primeiro capítulo, nossa intenção foi chamar a
atenção de alguns desses aspectos, especialmente no que tange aos aspectos éticos, morais,
estratégicos, presentes nas relações e na gestão universitária. Neste contexto, também
procuramos pontuar as influências externas sofridas pela Universidade, em cenário de
globalização e de avanços tecnológicos acentuados.
Apontamos, na sequência, as implicações ético-morais nas relações interinstitucionais,
e mostramos, finalmente, que a Universidade vê o seu acontecer clivado e cravejado de
influências políticas.
No entanto, considerando os propósitos deste trabalho, passaremos a nos debruçar
mais especificamente sobre o segmento de atores institucionais, que contribuem, através do
seu modo de ser e da característica de sua formação profissional, para que a Universidade
tenha hoje virtudes e patologias no seu acontecer. Este segmento é o dos secretários.
36
CAPÍTULO 2
O PAPEL DO SECRETÁRIO
2.1 O SECRETÁRIO COMO PROFISSIONAL E COMO PESSOA (IMAGEM INSTITUCIONAL E AUTO-
IMAGEM)
2.1.1 Sobre a Origem da Profissão Secretário
Não se tem a data exata em que surgiu a profissão secretário, mas, segundo
pesquisadores, em meados de 5000 a 3000 a.C., surgiram pessoas que desempenhavam
atividades muito parecidas com as dos secretários de hoje.
Para Ribeiro (2005, p. 34), há pelo menos 5000 a.C. surgiram os escribas, o que parece
dever-se ao fato de que no Egito e na Mesopotâmia foram desenvolvidos sistemas de
represamento e irrigação, o que aumentou o crescimento populacional e fez com isso surgir a
necessidade de um órgão de controle social, tornando necessários os registros do que era
realizado.
Segundo a autora, nessa época, havia um número significativo de escribas que eram
encarregados de todos os registros dos acontecimentos da população: uns registravam
colheita, outros fiscalizavam impostos, outros eram responsáveis em registrar a produção
agrícola e dos artefatos. Também havia escribas para o registro administrativo, que anotavam
as ações e decisões de mandatários e membros da nobreza, muito semelhante com a função de
secretários em dias atuais.
De acordo com Natalense (1998 apud RIBEIRO, 2005, p. 35):
Percebe-se que o “antepassado” do secretário foi o escriba: profissional que,
em tempos remotos, realizava tarefas bastante semelhantes às do secretário:
“o escriba oriental é o homem que domina a escrita, faz contas, classifica os
arquivos, redige as ordens, aquele que é capaz de recebê-las por escrito e que, por conseguinte, é naturalmente encarregado da sua execução.”
O escriba profissional era uma figura importante nos vários aspectos da administração
do antigo Egito, tanto no civil, militar e religioso. A maioria não sabia escrever e, quando uma
pessoa que não dominava a escrita precisava redigir ou ler um documento, pagava o serviço a
um escriba.
37
Figueiredo (1987, p. 13) comenta que:
O termo „Secretário‟, de origem latina, significa „o que guarda segredos‟, e
até nossos dias não se pode imaginar um profissional da categoria que não seja capaz de manter o mais absoluto sigilo sobre os assuntos do Chefe e da
empresa. Curioso observar, também, que a profissão surgiu com
características de ser especificamente masculina.
Na idade média, a função de secretário era restrita aos monges, que tinham dentro da
sua ordem religiosa a função de secretários, visto que eles dominavam a escrita e, por isso,
tinham a responsabilidade de ser os guardiões dos documentos e escritos importantes daquela
época. Conhecidos como copistas, esses monges também redigiam ordens.
Um episódio interessante é comentado por Sabino e Rocha (2004, p. 7), de quando se
tem registro da primeira aparição da mulher como secretária. Foi em 1812, quando Napoleão
Bonaparte já no posto de General do Exercito Francês, “entre seus assessores diretos, valeu-se
de uma secretária (cujo nome a história não registra) para escrever seus feitos.” Porém, isto
não agradou a sua esposa Josefina, que não aceitou sua decisão e o fez trocar de secretário.
Assim, Napoleão contratou um homem para secretariá-lo nos seus feitos, Jean François
Champollion, considerado grande gênio linguístico e decifrador de hieróglifos, habilidades
estas exigidas na época para um secretário.
[...] houve épocas que marcaram mais a necessidade desses profissionais, como por exemplo: (1) na Revolução Comercial (1400-1700); (2) na
Revolução Industrial na Inglaterra, a partir de 1760 e (3) após as duas
grandes Guerras Mundiais (1914 a 1918 e 1939 a 1945), em função da
escassez de mão-de-obra masculina é que surge a necessidade das mulheres
ocuparem esta função (SABINO; ROCHA, 2004, p. 7).
Pode-se dizer que da década de 30 até o final da década de 80 do século passado, a
profissão passou a ser exercida, em sua vasta maioria, por mulheres. Somente a partir da
década de 90 os homens reaparecem exercendo a função de secretário, o que é fácil entender,
uma vez que esta profissão foi considerada pela ONU (Organização das Nações Unidas), em
1997, como uma das que mais cresce no mundo (ALONSO, 2002, p. 18).
Assim, surge a profissão num mercado carente de secretários capacitados e preparados
para lidar com informações, processos, tecnologias e pessoas. A parte histórica sobre a luta da
categoria será abordada no próximo capítulo deste trabalho, na parte da luta pela
regulamentação da profissão.
38
2.1.2 O Profissional Secretário
Com o passar do tempo, a globalização e as novas tecnologias, tem-se exigido do
secretário conhecimentos que vão além de técnicas secretariais. Foi preciso desenvolver novas
competências, como: boa comunicação, adaptação, criatividade, pró-atividade, liderança,
flexibilidade e comprometimento.
O secretário é muito mais que um assessor, é um formador de opinião no qual o
executivo deposita toda a sua confiança.
O secretário atual construiu uma sólida ponte para transpor o abismo intelectual que o
separava do executivo ou gestor superior. Na prática, é tão culto, inteligente, preparado e
ousado quanto eles.
Medeiros e Hernandes (1999, p. 17) comentam que, em suas atividades diárias, o
profissional de secretariado deve ser mais do que uma pessoa encarregada de digitação de
correspondência, é, pois, nesse momento, verdadeiro assessor, profissional altamente
qualificado.
É visível a diferença entre um secretário moderno e o secretário antigo. O secretário
moderno (executivo) tem uma preparação diferenciada. Hoje os cursos de secretariado
executivo, oferecem em suas grades disciplinas como: administração, marketing, comércio
exterior, sociologia geral, sociologia empresarial, psicologia nas relações de trabalho,
contabilidade, matemática financeira, gestão de projetos, economia, processamento de dados
(informática), noções de direito e direito comercial, ética profissional, além das técnicas
secretariais, gestão de secretaria, português e idiomas.
A secretária moderna atua como elo entre clientes internos e externos, parceiros e
fornecedores, e para que essa possa auxiliar o executivo, precisa conhecer o funcionamento o
funcionamento da instituição como um todo. Para tanto, precisa ter um excelente
relacionamento interpessoal e buscar atualização constante.
A profissão secretário exige discrição. Embora cheguem a seu conhecimento notícias
sobre o que acontece em toda a instituição, e mesmo de fora dela, muitas informações que lhe
são confiadas não podem ser divulgadas.2
Para manter alto grau de profissionalismo e a estima de todos, deve manter-se calada
sobre tais notícias, garantindo a confiança de todos, inclusive do executivo ou gestor superior.
2Em respeito ao Capítulo IV - Do Sigilo Profissional Art.6º. - A Secretária e o Secretário, no exercício de sua
profissão, deve guardar absoluto sigilo sobre assuntos e documentos que lhe são confiados.
39
Além dos princípios básicos como educação, gentileza, simpatia, o perfil de um bom
profissional em secretariado é ser: inovador, negociador, polivalente, criativo, participativo,
responsável, organizada, proativo, competente, eficiente, eficaz, flexível, determinado, gestor,
amistoso, empreendedor, programador de soluções, assessor, motivador, comunicável,
discreto, atencioso, facilitador, além dos conhecimentos técnicos.
Ao mesclar competências técnicas e comportamentais, ela reúne o „fazer” e
o “assessorar‟, escolhe ferramentas tecnológicas e exercita habilidades de relacionamento, comunicação, administração de conflitos, acompanhamento
de objetivos e metas. Em resumo, exercita seu profissionalismo (GARCIA
2005, p. 20).
O secretário executivo deve agir como agente de mudanças, agente de resultados,
agente facilitador e agente de qualidade.
Precisou desenvolver novas competências como: boa comunicação, adaptação,
criatividade, pró-atividade, liderança, flexibilidade e comprometimento.
Conforme Neiva e D´Elia (2009, p. 19):
Mudou o perfil. Ampliaram-se as competências. Cresceram a dimensão e o
nível de responsabilidade. Aliada a todos essas mudanças, há também a
constatação da nossa importância no cenário mundial. A profissão secretarial situa-se entre as três profissões que mais cresce na atualidade.
O secretário atual é um profissional multifuncional e sua atuação na instituição torna-
se cada dia mais necessário. Porém, para suprir as necessidades do âmbito organizacional,
esse profissional precisa apresentar uma série de competências que contribuam na resolução
de situações, seja para a tomada de decisão, seja para gerar conhecimentos, seja para lidar
com relacionamento interpessoal.
A imagem do Secretário está relacionada com seu comprometimento e suas
responsabilidades, com o desenvolvimento de suas competências, no contexto institucional e
social.
O secretário moderno conectado com o mundo globalizado, segundo Neiva e D´Elia
(2009, p. 29), atua como elo entre os clientes internos e externos, parceiros e fornecedores;
gerencia as informações; administra processos de trabalho; prepara e organiza o „meio de
campo‟ para que soluções e decisões sejam tomadas com qualidade. Ele é um agente
facilitador e, como tal, vai revelando o seu desempenho na rede de relações interpessoais que
administra. É neste contexto que vai imprimindo sua marca.
40
Hoje não basta o profissional saber redigir um excelente relatório, assessorar na
elaboração de um projeto, ter comprometimento e responsabilidade naquilo que foi proposto a
desenvolver: ele precisa atualizar-se constantemente para atender às exigências das
atualizações tecnológicas (equipamentos cada vez mais complexos e precisos).
Segundo Bond e Oliveira (2009, p. 14), “o mercado está exigindo muito mais de
qualquer profissional, o que gera atualizações constantes nas funções exercidas dentro da
organização.”
Se o secretário não souber como se relacionar com todos que fazem parte da empresa
ou instituição, de nada adianta todo um conhecimento técnico sofisticado.
Assim como na vida, não estamos sozinhos no trabalho. Vivemos numa sociedade,
seja no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, religioso ou social. E, para lidar com o
todo social, o secretário deve buscar conhecimentos que mostrem a ele o melhor caminho para
lidar com gente.
E, para lidar com as pessoas, o secretário precisa saber ouvi-las, buscar entender seus
argumentos, se for o caso, apresentar os próprios argumentos também, ou seja, pautar-se no
diálogo.
2.1.3 O Secretário Enquanto Pessoa
Refletir sobre a própria profissão, sobre seu próprio desempenho profissional não é
tarefa fácil. Imagine então fazer uma autocrítica de suas atitudes no ambiente profissional, que
de certa maneira é uma extensão da sua casa, visto que, enquanto secretário, a
responsabilidade e comprometimento exigidos tomam mais tempo de sua vida do que ele
percebe.
A autocrítica refere-se à capacidade interna do indivíduo de realizar uma
crítica de si mesmo. Ela implica na análise de seus atos, da sua maneira de
agir, dos erros cometidos e das possibilidades de realizar uma autocorreção.
Desta forma o sujeito se aprimora. Esse mecanismo é inerente ao processo de autoconhecimento – o ser conhece a si mesmo, identifica seus pontos
fortes e fracos, suas potencialidades, e a partir daí corrige os rumos de sua
jornada existencial, e se aplica também a um grupo social e a uma instituição (SANTANA, 2013).
Quando se pensa em um encontro consigo mesmo, é que acontece a autocrítica, uma
sucessão de movimentos psíquicos que são muito mais complexos do que se imagina.
41
Podemos apresentar duas formas diferentes de secretariado, no que se refere a se
autoavaliar:
1ª) O Secretário que vive mergulhado na rotina de trabalho, preocupado em dar conta
de suas responsabilidades, preocupado em corrigir as falhas dos colaboradores, ou mesmo
preocupado em ver o defeito alheio e buscar corrigi-lo, infelizmente, percebendo o
semelhante e não a si mesmo, pode incorrer na falha de não se voltar a si mesmo e fazer uma
autoavaliação, se autoexaminar como pessoa, como profissional, verificando suas atitudes.
2ª) O secretário, mesmo mergulhado na rotina diária, com muitos afazeres, pode ser
uma pessoa extremamente perfeccionista, que acaba cobrando muito de si mesmo, e exagera
na sua autoavaliação, julgando-se apenas uma pessoa com muitos defeitos, sofrendo no seu
íntimo com a forma com que age no dia a dia.
Há que se contemplar os dois lados do próprio comportamento: 1) o positivo – os
êxitos, os méritos, as competências desenvolvidas, as conquistas; 2) o negativo – reconhecer
as deficiências, as fraquezas, os fracassos e as frustações.
Para se repensar como pessoa e como profissional, um elemento se faz necessário: o
autoconhecimento.
É preciso ter consciência de si mesmo, de quem é, e o que pretende; como são suas
reações diante das situações e das relações com o outro.
Bond e Oliveira (2009, p. 23) elucidam que “precisamos mergulhar na descoberta de
nós mesmos, para tomar consciência dos nossos pontos fortes, das nossas qualidades como
seres humanos. Precisamos também, olhar para nós mesmos, com toda humildade, e
reconhecer nossos pontos fracos e nossas necessidades.”
Quando o secretário passa a reconhecer quais são os seus pontos fracos e passa ter
consciência de que seus atos são reflexos de quem é enquanto ser humano, poderá corrigir
cada um deles. O mesmo acontece com seus pontos fortes, tendo em vista que se sentirá mais
confiante em si mesmo, em sua capacidade de conseguir alcançar suas metas de forma
positiva.
A partir desse processo interno, há que se refletir sobre qual a melhor forma de agir
perante a si mesmo e com o outro. Neste sentido, buscaremos, no quarto e último capítulo
deste trabalho, apontar como proceder enquanto profissional e pessoa humana, sob a
perspectiva da ética discursiva.
42
2.2 O SECRETÁRIO COMO GESTOR DE CONHECIMENTO
Diante de um cenário globalizado, de tantas mudanças acontecendo em questão de
segundos no mundo inteiro, o profissional de Secretariado Executivo também precisa
acompanhar o que acontece, obtendo informações e também as repassando de uma forma
ética e profissional.
Além das técnicas secretariais convencionais, este profissional desenvolveu e ainda
está em constante desenvolvimento de novas competências.
Dentre tantas competências está a gestão do conhecimento, que, de acordo com o
Relatório Consolidado do Comitê Executivo do Governo Eletrônico (BRASIL, 2004, p. 17),
trata-se de:
[...] um conjunto de processos sistematizados, articulados e intencionais,
capazes de incrementara habilidade dos gestores públicos em criar, coletar,
organizar, transferir e compartilhar informações e conhecimentos estratégicos que podem servir para a tomada de decisões, para a gestão de
políticas públicas e para inclusão do cidadão como produtor de
conhecimento coletivo.
No Brasil, desde os anos 90 o termo gestão do conhecimento já era utilizado no meio
empresarial, contudo, nas instituições públicas, sua discussão surgiu com o Decreto de 28 de
outubro de 2003, que criou 8 (oito) Comitês Técnicos, no âmbito do Comitê Executivo do
Governo Eletrônico3, com a finalidade de coordenar e articular o planejamento e a
implementação de projetos e ações nas respectivas áreas de competência, dentre eles a Gestão
de Conhecimento (GC) e Informação Estratégica. Mas, somente em 2004, o assunto realmente
teve sua implementação, com discussões e pesquisas realizadas junto ao IPEA - Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (BRASIL, 2004).
Atualmente vivemos num mundo complexo, onde fazemos parte de uma sociedade
complexa, e o Secretário Executivo, que atua numa universidade que também é complexa,
precisa desenvolver seu trabalho com maestria perante esse contexto.
O profissional em secretariado atua em um ambiente repleto de informações, sejam
documentais ou virtuais, advindas de e-mail, notícias, redes sociais e tantas outras formas que
3O Comitê Executivo do Governo Eletrônico tem o objetivo de formular políticas, estabelecer diretrizes,
coordenar e articular as ações de implantação do Governo Eletrônico, voltado para a prestação de serviços e
informações ao cidadão (BRASIL, 2004).
43
a tecnologia proporciona. Além de tudo isso, seu trabalho envolve, principalmente,
relacionamento interpessoal, ou seja, relaciona-se o tempo todo com pessoas.
Lidar com pessoas exige realizar trabalhos que vão além das técnicas operacionais,
exige saber como passar as informações, transformando-as em conhecimento.
De acordo com Nonato Junior (2009, p. 226-227), a partir do século XX novas teorias
passaram a demandar a Gestão do Conhecimento mais humana e aliada à prática: “Passou a
ser necessário entender toda a dimensão simbólica que cerca os objetivos, situações e
profissões”. Segundo Baudrillard (apud NONATO JUNIOR, 2009, p. 22), esse valor
simbólico atribuído ao conhecimento é o chamado valor signo, no qual a valoração do objeto
não está mais associada à sua utilidade, mas ao sistema psicossocial que ele representa.
No âmbito das profissões, este valor se incorpora ainda mais intensamente,
pois passa-se a valorizar a atuação simbólica de cada profissional e não
apenas o trabalho físico que este realiza, por isso Gestão do conhecimento precisa invadir o espaço das organizações e universidades, instaurando novas
formas de conceber a atuação acadêmica dos profissionais e intelectuais. A
mudança do conhecimento na contemporaneidade remete às várias
reformulações que ocorrem no cenário social. As principais transformações que abordam a necessidade de uma nova abordagem no trato com o
Conhecimento são: 1. A consciência dos direitos humanos; 2. A consciência
da paz mundial e da política internacional; 3. A consciência ecológica ambiental; Os novos desafios da Ciência e das Profissões; Revolução na
Gestão do Potencial Humano e Informacional. É nessa perspectiva que a
Gestão do Conhecimento chega às organizações (NONATO JUNIOR, 2009, p. 227).
Conforme Nonato Junior (2009, p. 243), o Secretário Executivo é capaz de atuar como
um intelectual em seu campo de trabalho, „lendo-o, interpretando-o, analisando e teorizando-
o‟ e, nessa perspectiva, pode tanto aprender, como fazer a Gestão do conhecimento.
Pelo secretário passam todas as informações referentes não só ao órgão onde atua
como à instituição como um todo, além das informações externas. Cabe a esse profissional
realizar o gerenciamento das informações, sejam elas verbais ou documentais.
Com os avanços tecnológicos, o gerenciamento, o armazenamento e a
transmissão de informações ficaram mais simples para quem domina a
informática e os demais aparelhos eletrônicos. Com isso em vista globalização e das exigências do mercado, o fluxo de informações tende a
ser maior. “Saber gerenciar o fluxo de informações pode resultar na
transformação de simples dados ou informações em conhecimento, o que influencia indiretamente nos resultados da empresa.” Fazer a gestão do
conhecimento não é simplesmente repassar informações, há que saber a
quem, quais e como serão distribuídas (BOND; OLIVEIRA, 2009, p. 23).
44
No ambiente secretarial, é uma constante relacionar-se com o gestor superior,
colaboradores e demais gestores e servidores de outros setores e órgãos institucionais.
O secretário sabe quais os caminhos das informações, ou seja, para quais pessoas
devem ser repassadas, em que momentos e qual urgência em fazê-los.
Toda informação, quando transformada em conhecimento, melhora o desempenho de
todos os seus colaboradores, que também aprendem e consequentemente também podem
gerar novos conhecimentos, e assim sucessivamente.
Contudo, para o secretário atuar com excelência, precisa saber de que forma, neste
caso, que tipo de comportamento é necessário para que o conhecimento realmente surta
efeitos positivos no transcorrer das atividades desempenhadas por todos.
Bond e Oliveira (2009, p. 82) descrevem dois tipos de conhecimento, considerados
importantes na gestão do conhecimento: conhecimento tácito e o conhecimento explícito.
Conhecimento tácito – esse tipo de conhecimento está ligado às capacidades, às habilidades, às experiências e até à intuição das pessoas, ou
seja, refere-se ao conhecimento implícito. São as deduções feitas a partir das
entrelinhas, ou aquilo que uma pessoa consegue entender somente pelo
comportamento ou pela fala, isto é, não exatamente pelas frases que são ditas, mas pelo modo como são emitidas (grifo nosso).
O secretário, cujo perfil vai além de atividades técnicas operacionais, e que atua
diretamente com o público interno e externo da instituição, que busca informações,
orientações do ambiente público, deve possuir uma percepção aguçada, para raciocinar e
entender em determinada situação ou situações; ser capaz de armazenar informações, para
saber usá-las ou repassá-las no momento necessário. Isso é ter conhecimento tácito.
Para Bond e Oliveira (2009, p. 82), “os valores pessoais também são considerados
conhecimento tácito – transparência, honestidade, respeito [...] esses valores são percebidos
pelas suas atitudes e comportamentos, e também, estão implícitos, ou seja, são descobertos na
convivência.”
Conhecimento explícito – como o próprio nome já diz, é o conhecimento
que é explicitado verbalmente, por desenho, gráficos, planilhas, documentos, entre outros formas de expressão. É o conhecimento expresso formalmente
para uma ou mais pessoas. Deve ser comunicado de forma clara pois o
receptor da mensagem deve compreender corretamente a informação
passada (BOND; OLIVEIRA, 2009, p. 82, grifo nosso).
Para as autoras, o conhecimento explícito pode ser desenvolvido para ser visualizado,
comunicado, compreendido e assimilado por qualquer pessoa, o que é muito importante para
45
o profissional de secretariado entender sua dinâmica, visto que é por meio deste que se dá a
comunicação entre o secretário e demais colaboradores ou parceiros na instituição, quando
estes enviam documentos como planilhas, relatórios, dialogando a respeito de algum assunto
profissional, por exemplo.
Dos dois conhecimentos apresentados, o tácito nos parece ser o mais difícil de ser
articulado formalmente, ou seja, na linguagem formal, visto que é de cunho pessoal
incorporado à experiência individual de cada membro, envolvendo fatores intangíveis,
provenientes de valores, perspectivas, sentimentos, crenças, habilidades e emoções, entre
outros. É uma fonte importante de competição entre os envolvidos na instituição e só pode ser
avaliado através da ação.
Em toda instituição, o conhecimento é condição sine qua non no desempenho das
atividades secretariais e no relacionamento entre todos os concernidos, ou seja, entre todos os
membros que a compõem.
De acordo com Batista (2012, p. 43):
O servidor público que participa das iniciativas de GC4 amplia seus
conhecimentos e habilidades. Isso acontece em função do aprendizado e da inovação que ocorrem nos processos de GC. Por meio dos processos de GC,
o servidor público pode assumir atitudes positivas em relação à
aprendizagem e adotar importantes valores éticos e morais.
De nada adianta receber inúmeras informações e ter oportunidade de aumentar os
conhecimentos de uma equipe de trabalho, se não houver abertura para isso.
Gerenciar o conhecimento é tão importante quanto sua aquisição, ou seja, é preciso
saber aproveitá-lo, canalizá-lo e explorá-lo.
Nesse sentido, é que a ética discursiva habermasiana é uma perspectiva inteligente
para o secretário realizar a gestão do conhecimento, bem como outras, haja vista que sua
proposta é para o envolvimento de todos os concernidos, com direito a se expressar,
colocarem seus argumentos, sem coação e, juntos, chegarem a um consenso, construindo um
conhecimento válido para todos.
2.3 O SECRETÁRIO COMO GESTOR DE RELACIONAMENTOS
Com a aceleração da economia mundial e as novas demandas da sociedade, muitas
mudanças no Brasil e no mundo têm sido impulsionadas. Consequentemente, houve
4 O autor utiliza a sigla CG para Gestão do Conhecimento.
46
mudanças que ainda não temos como mensurar, mas, olhando com otimismo, observa-se que
a produtividade aumentou e, com isso, a economia cresceu.
De acordo com Zinn (2012), ainda não há possibilidade de se mensurar todos os
efeitos da globalização, mas essas alterações certamente já afetaram significativamente o
trabalho e “um dos desafios é a nova estrutura organizacional que enxugou as hierarquias,
dando espaço para a autonomia e fazendo com que as funções delegadas somente aos gestores
fizessem parte fizessem parte do cotidiano de qualquer profissional.” Essa nova realidade nas
organizações vem exigindo dos profissionais de secretariado o desenvolvimento cada vez
mais subjetivo no trabalho, como temperamento pessoal, aprendizado contínuo, visão
sistêmica e participação nos resultados.
Observa-se, nesse contexto da informação, tecnologia e dinamismo econômico, que os
resultados dependerão muito das relações profissionais, dos conhecimentos e habilidades
pessoais do que do próprio capital.
Tanto no mercado privado como nas instituições públicas, com a necessidade de suprir
as novas exigências do milênio, o profissional de secretariado precisa acompanhar as
necessidades de sua época e, assim, deixar de ser somente um assessor para assumir o papel
de gestor, tendo em vista que é de sua responsabilidade administrar o fluxo das informações,
realizar a gestão das informações, transformando-a em conhecimento, mostrar criatividade,
ser empreendedor, ter visão sistêmica estratégica do processo de trabalho para priorizar suas
atividades, ou seja, ele precisa cumprir satisfatoriamente várias habilidades gerenciais para
dar suporte ao executivo ou gestor superior, proporcionando a ele mais tempo para dedicar-se
a questões mais estratégicas e políticas na instituição.
Cabe ao secretário somar forças respeitando a hierarquia. E, diante dessa
multifuncionalidade, está a gestão de relacionamento que, neste propósito, não tem igual
intenção da gestão de relacionamento aplicado ao marketing, do CRM (Customer
Relationship Management), que, de acordo com Medeiros (apud CAMARANO, 2002, p. 10-
18):
[...] está intimamente ligada ao compartilhamento e reutilização de
conhecimento, gerenciamento de processos e qualidade de comunicação e
relacionamento, visando um aumento na produtividade das pessoas e, conseqüentemente, da organização. [...] busca criar o melhor relacionamento
possível com o cliente, em todo o ciclo de vida deste cliente com a empresa,
e não apenas na venda. Não é, em absoluto, uma ideia nova, uma vez que muitas empresas sempre buscaram criar um bom relacionamento com seus
clientes.
47
O objetivo do CRM (Customer Relationship Management) é estratégico e busca
monitorar os hábitos de compra dos clientes e estabelecer um relacionamento com foco na
produtividade dos colaboradores, no aumento das vendas e, consequentemente, no lucro.
Já gestão de relacionamento a qual nos referimos é a forma como um secretário, numa
perspectiva edificadora, pode gerenciar as relações interpessoais na instituição e com a
comunidade externa.
Em um ambiente institucional, há uma diversidade de pessoas com expectativas,
desejos, projetos, necessidades diferentes uma das outras. E é com estas pessoas que o
secretário se relaciona todos os dias, às vezes mais tempo com elas do que com a própria
família, sejam elas colaboradores, gestores superiores, parceiros de trabalho, pessoal
responsável pela higiene, a pessoa que trabalha na portaria da instituição, o pessoal que
trabalha manutenção, entre tantos outros que atuam na complexidade da instituição onde ele
atua.
É próprio da profissão do Secretário conhecer o todo, conhecer, se não todo mundo, a
maior parte dos indivíduos que atuam na instituição. Ele não se limita apenas a uma sala, uma
escrivaninha e um telefone. Suas competências ultrapassam esses limites. Por isso, saber se
relacionar é indispensável ao Secretário. Ele realmente faz jus ao clichê “relacionamento é
tudo”.
Apesar de a tecnologia estar bastante avançada e todos ouvirem os rumores de que o
robô brevemente substituirá o homem, devemos lembrar que a organização é formada por
pessoas, sendo necessário, pois, dar mais atenção especial aos seres humanos que compõem a
instituição: “Atualmente, as empresas estão valorizando mais as habilidades de relacionar-se
bem com os colegas do que especialidades técnicas” (BOND; OLIVEIRA, 2009, p. 72).
O secretário atual é proativo, trabalha em equipe, seja equipe de dois, com seu gestor
superior, seja com seus colaboradores, seja com seus parceiros nas relações intra-
institucionais, seja como público externo.
Na relação entre gestor superior e secretária, “é fundamental, ainda, transformar a
subordinação em pró-ação e desenvolver tarefas conjuntas para a melhoria do trabalho e a
obtenção de sucesso na equipe” (BOND; OLIVEIRA, 2009, p. 57).
O comportamento de um secretário se revela ao trabalhar em grupo. Conforme
comentam Bond e Oliveira (2009, p. 61), “indivíduos que conseguem realizar um bom
trabalho em grupo, geralmente são flexíveis a ponto de aceitar a opinião dos outros e
convictos o suficiente para expor opiniões quando necessário.”
48
Em qualquer tipo de relacionamento é preciso saber ouvir o outro e, nas relações de
parceria, não é diferente.
Neiva e D‟Elia (2003 apud BOND; OLIVEIRA, 2009, p. 62) apresentam as atitudes
que um Secretário pode desenvolver numa parceria positiva:
1. Prestar atenção às idéias sugeridas pelo outro, saber escutá-las e avaliá-las;
2. Aceitar o parceiro como ele é, mesmo não concordando com todas suas
ideias, pois uma pessoa é muito mais que isso; 3. Ter tolerância na medida certa, sem ser atingido pelo comportamento ou
comentários de outros;
4. Adaptar-se às situações;
5. Ter bom comportamento na relação com os parceiros; 6. Assumir as responsabilidades e nunca colocar a culpa em outra pessoa;
7. Cooperar e interagir com a equipe;
8. Evitar colocar em evidência 'eu' quando possível, pois numa parceria ela não deve existir.
Também é importante que o Secretário busque o autoconhecimento, elemento que
pode conduzi-lo ao desenvolvimento da humildade, que o leve ao outro controle, à empatia,
elementos considerados essenciais para resolução de conflitos.
Cada vez mais aumenta a necessidade de trabalhos em equipe, e isso é um fator
determinante para o sucesso, tanto pessoal como profissional. Mas, conforme aumenta o
número de interrelacionamentos, aumentam também as chances de conflito com elas.
(ALONSO, 2002, p. 23).
Realizar a gestão de relacionamentos não é tarefa fácil para um Secretário, mas um
desafio diário objetivando os melhores resultados nas relações de trabalho.
Pichering (1998, apud ALONSO, 2002, p. 23-24) comentam que:
Administrar conflitos com sucesso requer o desenvolvimento da
competência em 5 áreas: entender os ingredientes críticos do pensamento dos colaboradores; 2) Alinhar as responsabilidades às necessidades dos
outros; 3) Trazer as interações diárias às práticas necessárias para o suporte;
4) Desenvolver técnicas para a solução de conflitos para a negociação a fim de vencer os vários tipos e desafios; 5) Começar a desenvolve ferramentas e
sistemas pessoais para lidar com tensões e pressões.[...] Partindo do
princípio e de que cada indivíduo tem seu modo de pensar e agir de acordo
com suas experiências passadas na vida, fica fácil imaginar o quanto é complicado, complexo, juntar vários, ou simplesmente dois indivíduos em
torno de uma mesma meta/objetivo.
49
Na gestão de relacionamento, a situação com a qual o Secretário mais se deparará é a
de conflitos. Sejam quais forem, é este profissional que acaba incumbido de resolver o
impasse.
Entendamos então o que seja o conflito.
2.3.1 O Conflito
Desde o começo da humanidade, o conflito é uma constante na convivência em
sociedade. Os indivíduos, já na pré-história, se confrontavam entre si pela disputa do território
ou dos alimentos. O conflito está presente na vida em sociedade, em todos os seus segmentos;
ele integra o cotidiano humano.
A palavra conflito vem do latim 'conflictu', que significa embate dos que lutam;
desavença; guerra; luta; combate; colisão ou choque (FERREIRA, 1986, p. 363).
2.3.1.1 Origem e dinâmica do conflito
Os seres humanos, desde a sua concepção, já começam a interagir com outro ser da
sua espécie. Primeiramente com a mãe; após o nascimento, com as pessoas que estão à sua
volta e, no decorrer de sua existência, com parentes, amigos, colegas de escola, trabalho e
outros tantos que participam da sua caminhada durante a vida. Ele é um ser que tem por
característica conviver em grupo, ou seja, com outros seres iguais a ele.
A espécie humana se caracterizou, sob a perspectiva da etologia, ao longo da sua presença no planeta terra, como uma espécie gregária, cuja
sobrevivência dependeu sempre da capacidade dos indivíduos de atuar em
conjunto e de colaborar entre si para a manutenção de todos. [...] no interior dos grupos humanos, ao longo do tempo, surgiram divergências e contendas
advindas da discrepância de perspectivas, projetos, expectativas, desejos e
necessidades (HANSEN, 2010, p. 11).
Por se tratar de um ser humano, este se diferencia de outros animais, por ser
considerado o único dotado de razão, ou seja, capaz de pensar e agir. É um ser que tem
necessidades, desejos, expectativas e projetos. Possuindo tais necessidades, ele corre o risco
de tê-las frustradas em algum momento de sua jornada, e isso pode gerar para si ou para
outrem um conflito. Nesse último caso, há possibilidade também de frustrar a expectativa do
outro.
50
O conflito surge porque as pessoas têm conhecimentos, expectativas, desejos, projetos,
necessidades e interesses distintos sobre determinadas questões, e isso as leva, muitas vezes, a
se contrapor.
Machado (2011, p. 5) comenta que:
Para um entendimento mais preciso sobre a dinâmica dos conflitos, devemos ter uma visão mais abrangente de suas inúmeras possibilidades, pois, para
algumas pessoas o termo conflito pode ocasionar um medo intenso, no
entanto, se faz necessário reconhecer que existe um modo destrutivo e um modo construtivo de proceder.
Ainda segundo o autor, um conflito pode surgir como uma pequena divergência de
opinião e, muitas vezes, toma proporções maiores, quando pode tornar-se uma hostilidade
franca, que leve a um conflito destrutivo entre pessoas ou grupo. Mas nem todas as
divergências podem seguir esse triste trajeto, muitas levam a entendimento e resoluções
positivas.
Na concepção de Faria (2012), o conflito pode ter origem em uma de três dimensões, a
saber:
Percepção: quando você percebe que suas necessidades, desejos ou interesses tornam-se incompatíveis pela presença ou atitude de uma outra
pessoa;
Sensação: quando você tem uma reação emocional frente a uma situação ou
interação que aponta para um sentimento de medo, tristeza, amargura, raiva, etc.
Ação: quando você torna explícito para a outra parte, ou outras partes, as
suas percepções, os seus sentimentos ou age no sentido de ter uma sua necessidade satisfeita, mas essa sua ação interfere na satisfação de
necessidades de outras pessoas (grifo do autor).
Diante das colocações do autor, após estas dimensões podemos considerar o conflito
instaurado.
Já, para Habermas (2003, p. 64), pautando-se na fenomenologia de Strawson, o
conflito tem sua origem a partir de:
[...] uma reação emotiva, por causa de seu caráter insistente, é adequada para
demonstrar que até mesmo ao mais empedernido dos homens, por assim
dizer, o teor de realidade das experiências morais; ele parte a saber, da indignação com que reagimos às injúrias. Essa reação sem ambiguidades
consolida-se e pereniza num ressentimento que fica a arder escondido, se a
ofensa não for de alguma maneira „reparada‟. Esse ressentimento persistente revela a dimensão moral da injúria sofrida, porque não reage imediatamente,
como o susto ou raiva, a um ato de ofensa, mas à injustiça, a um ato que o
51
outro comete contra mim. O ressentimento é a expressão condenação moral
(que se caracteriza antes pela impotência).
Nesse sentido, o conflito se instaura quando alguém fere de alguma forma a dignidade
do outro, causando mágoa, raiva, entre outros sentimentos negativos.
Quando o conflito se instaura, segundo Hodgson (1996, p. 212), passa por diversos
níveis, que se apresentam a seguir:
Nível 1: Discussão – normalmente é racional, aberta e objetiva.
Nível 2: Debate – neste estágio, as pessoas podem começar a fazer
generalizações e buscar padrões de comportamento. O grau de objetividade começa a se reduzir.
Nível 3: Façanhas – as duas partes demonstram uma grande falta de
confiança no caminho pela outra parte. Nível 4: Imagens Fixas – são estabelecidas imagens pré concebidas da outra
parte.
Nível 5: “Loss of face” – torna-se difícil para cada uma das partes retirar-se,
pois isso caracterizaria “ficar com a cara no chão”. Nível 6: Estratégias – a comunicação se restringe a ameaças, demandas e
punições.
Nível 7: Falta de Humanidade – frequentemente começam a acontecer os comportamentos destrutivos. Os grupos começam a sentir-se e ver-se como
menos humanos.
Nível 8: Ataques de nervos – a autopreservação passa a ser a única
motivação. Indivíduos ou grupos preparam-se para atacar e serem atacados. Nível 9: Ataques generalizados – não há outro caminho a não ser um lado
vencendo e o outro perdendo.
Os níveis apresentados pelo autor podem referir-se a qualquer tipo de conflito, seja ele
uma pequena discussão entre duas pessoas ou uma guerra entre países.
Quanto maior o nível que o conflito atinja, seja qual for o tipo do conflito, mais difícil
será para solucioná-lo. Quando o conflito é ignorado, ele tende a crescer e se agravar.
Entretanto, se ele é reconhecido e são tomadas ações construtivas, ele pode ser resolvido mais
facilmente e até tornar-se uma força positiva para a mudança.
O que normalmente acontece é que nós temos uma formação cultural que tende a
encarar o conflito de uma forma negativa, pois nós viemos de uma tradição de pensamento
cultural que trabalha a noção de verdade como propriedade e como algo objetivo.
Os conflitos podem ser vistos de duas maneiras pelo indivíduo. A primeira, negativa,
que vê o conflito como algo apenas prejudicial, evitando-o a todo custo e, não se podendo
evitá-lo, procura, pelo menos, ter seus efeitos minimizados; a segunda, positiva, que procura
verificar os benefícios de um conflito, benefícios estes que podem identificar-se nas
diferenças de opiniões e visões, e até mesmo nas possibilidades de aprendizagem e
52
enriquecimento em termos pessoais e culturais: “o conflito, quando estabelecido, pode gerar
diferentes consequências, que vão da aniquilação dos envolvidos nele à superação do mesmo
e a conciliação dos litigantes” (HANSEN, 2013a).
2.3.1.2 Visão negativa do conflito
Temos uma formação cultural que tende a encarar o conflito de uma forma negativa,
pois nós viemos de uma tradição de pensamento cultural que trabalha a noção de verdade
como propriedade e como algo objetivo. Nessa formação, a verdade já está em nós e, se temos
a verdade, temos interesses, expectativas, desejos, necessidades e nos chocamos com outro e
não temos dúvida de que ele esteja errado.
Nesse sentido, o outro tem que ser eliminado ou convencido, de algum modo, passado
por cima, para aceitar as nossas necessidades desejos e expectativas, porque elas são os
interesses verdadeiros e nós somos os donos da verdade, ela está em nós, e se ela está em nós,
aquilo que fazemos é verdadeiro, justo, bom etc., logo, somos o lado bom do conflito e o
conflito tem que ser eliminado, através da eliminação do outro, com austeridade a aquele que
ousa nos contrapor.
Essa é uma base totalitária e uma base absolutista, e em cima dessa base foi construída
a cultura ocidental cristã, de eliminação do conflito pela eliminação do outro, como, por
exemplo: na fogueira da inquisição, ou porque é considerado bárbaro ou herege, ou porque
não era considerado gente. Também a ideia de raça pura: somos melhores que o outro. Isso é
que está na base, hoje, do discurso do racismo e exclusão pelos espalhados pelo mundo. Essa
perspectiva leva o conflito como algo negativo e algo que tem que ser eliminado,
normalmente pela eliminação do outro.
Como se percebe, “o conflito envolve aspectos psicológicos. A definição de conflito
como um desentendimento ou luta expressa, estabelecida entre pessoas, que percebem a
incompatibilidade e a impossibilidade de transposição das diferenças e o atendimento de seus
interesses e necessidades [...]” (PASSOS, 2011, p. 2).
Só há conflito porque existem diferenças. E se formos reinterpretar a própria ideia de
conflito veremos que “se todo mundo pensasse igual, fosse igual, e agisse igual não haveria
conflito. Só há conflito porque existem expectativas desejos e necessidades dissonantes, e isso
é uma afirmação do eu e do outro, nessa relação” (HANSEN, 2013a).
Como temos interesses e necessidades diferentes e o conflito se dá justamente pela
incompatibilidade do que pensamos da forma que agimos e do que esperamos do outro,
53
estamos na iminência de que nossas expectativas sejam frustradas, o que geraria em nós o
ressentimento, ou vice-versa, o que é negativo nas relações.
Na vida cotidiana, quando nos relacionamos com pessoas de formação diferente da
nossa, histórias de vida diferentes, visão de mundos diferentes etc., um simples gesto
grosseiro, uma palavra mal colocada, um tratamento agressivo, pode gerar um conflito, e
deste também o sentimento angustiante do ressentimento, pois nossas expectativas de um
tratamento de respeito são quebradas, frustradas.
O mesmo pode acontecer num ambiente institucional. Por exemplo: percebem-se as
expectativas quebradas e o conflito instaurado num simples comentário maldoso sobre um
trabalho que se faz bem feito e o outro coloca defeito, criticando-o pelo simples gosto de
contrariar; num tratamento grosseiro por parte de um colega de trabalho; pela chefia, quando a
pessoa se dedica dias, às vezes finais de semana, feriados, deixando de lado lazer, família,
para realizar um trabalho e este não é reconhecido; quando o funcionário se dedica, cumpre
seu trabalho com competência e honestidade e é avaliado pela chefia, com péssimas notas.
Tudo pelo fato de o chefe querer mostrar que é melhor e tem o poder.
O ressentimento causa, nas pessoas afetadas, mágoas, inconformidade, sensação de
impotência, sentimento de vingança, redução da autoestima e até depressão profunda.
Dependendo da situação, afeta não só psicológico da pessoa, como causa sérios problemas na
sua saúde física.
Nesse contexto é que surge a questão de um resgate da própria ideia de conflito. Não
se cria, portanto, a partir de um conflito o consenso, cria-se a partir dele uniformidade de
pensamento pela eliminação das diferenças.
2.3.1.3 Visão positiva do conflito
O conflito visto na atualidade também possui um lado positivo, que pode contribuir
para o fortalecimento e enriquecimento das relações sociais. O conflito é fonte de ideias
novas, podendo levar a discussões abertas sobre determinados assuntos, o que se revela
positivo, permitindo a expressão e exploração de diferentes pontos de vista, interesses e
valores.
Para Nascimento e El Sayed (2012, p. 48):
Em alguns momentos, e em determinados níveis, o conflito pode ser
considerado como necessário; caso contrário entra-se na estagnação. Então, podemos analisar que os conflitos não são necessariamente negativos; e sim,
54
a maneira como lidamos com eles é que pode manifestar algumas reações. A
administração de conflitos consiste exatamente na escolha implementação
das estratégias mais adequadas para se lidar com cada tipo de situação.
De acordo com Hansen (2013a), “um conflito encontra sua superação quando,
reconhecidos os três elementos pressupostos nele (subjetividade, alteridade, relação) por parte
dos litigantes, é respeitado o processo dialógico na busca de resolução da contenda. Daí será
possível a obtenção de dois resultados: o dissenso e o consenso.”
Hansen ainda comenta que o “dissenso é o resultado da diferenciação dos participantes
de um processo social qualquer no que tange a concepções, necessidades, expectativas,
valores ou desejos, fator que vai implicar na presença de interesses dissonantes ou divergentes
entre os mesmos num caso ou situação específica.”, ou seja, as pessoas, por pensarem
diferente, agirem diferente, podem não concordar com seu semelhante, que também possui
ideias e atitudes diferentes das dela. Daí que podemos observar a todo momento diferentes
opiniões e posturas na vida social, profissional, política, econômica, religiosa, entre outras.
O autor ainda observa que “diante do dissenso, a reação da coletividade pode ser
bárbara, levando à aniquilação (eliminação, tortura, banimento) do dissidente com sequelas
terríveis para o grupo social, ou pode ser de busca da superação do dissenso pela construção
de consenso” (HANSEN, 2013b).
Se pensarmos no conflito como espaço do dissenso, isto é, um dissenso que está
colocado não na perspectiva ontológica metafísica da verdade, mas sim na perspectiva
linguístico-discursiva da verdade, logo, a verdade é uma construção intersubjetiva e
cooperativa e está ligada a uma pretensão de validade da nossa linguagem, que diz que,
quando falo do que sinto, não se trata de saber se é verdadeiro ou falso, mas sim, se é sincero
ou não sincero.
Esta é uma pretensão de validade expressiva. E, da mesma maneira, se falamos das
relações sociais, falamos num mundo intersubjetivo, portanto, numa pretensão de validade de
regras, normas. E nós transitamos por esse ambiente.
Então, a ideia de conflito pode ser pensada a partir desse ambiente linguístico-
discursivo, em que somos atores sociais, em inter-relação, construindo linguístico-
discursivamente os significados, para que se possa chegar ao consenso.
Para Habermas, o consenso deriva da ação comunicativa, isto é, se dá pelo
entendimento mútuo, se dá pela intersubjetividade entre os concernidos.
Chamo de comunicativas às interações nas quais as pessoas envolvidas se põem de acordo para coordenar seus planos de ação, o acordo alcançado em
cada caso medindo-se pelo reconhecimento intersubjetivo das pretensões de
55
validez. No caso de processos e entendimento mútuo linguísticos, os atores
erguem com seus atos de fala, ao se entenderem uns com os outros sobre
algo, pretensões de validez, mais precisamente de pretensões de verdade, pretensões de correção e pretensões de sinceridade, conforme se refiram a
algo no mundo objetivo (enquanto totalidade do estado de coisas existentes),
a algo no mundo social comum (enquanto totalidade relações interpessoais
legitimamente reguladas de um grupo social) ou a algo no mundo subjetivo próprio (enquanto totalidade das vivências a que te acesso privilegiado)
(HABERMAS, 2003, p. 79).
Hansen (2013a) explica que “o consenso é concebido comumente como um acordo de
várias pessoas em torno de ações, atitudes e condutas, advindas da convicção partilhada por
estas de que as referidas ações sejam as mais adequadas num contexto específico.”
Nesse viés, o conflito, ao invés de ser encarado como algo prejudicial, algo que deva
ser extirpado e exorcizado, passa a ser um objeto de crescimento, uma forma pedagógica, um
aprendizado: “o conflito pode ser um momento de aprendizado, maturação das relações
institucionais, sejam estas instituições: namorado x namorada, marido x esposa;
universidades, empresas privadas ou instituições do poder público” (HANSEN, 2013a).
Dessa forma, então, podemos entender que o conflito não pode ser visto apenas como
destrutivo, violência verbal ou física, rivalidades, mas sim como um processo que começa na
nossa percepção e termina com a adoção de uma ação adequada e positiva; nesse caso, uma
construção pedagógica construtiva. Esta construção pode-se dar a partir do pensamento de
Habermas e a sua proposta da Ética do Discurso que apresentaremos no quarto capítulo deste
trabalho.
Acreditamos que o Secretário é um profissional que possui a capacidade de
entendimento do conflito, pode contribuir de maneira positiva na resolução dos conflitos que
por ventura se desencadeiem no ambiente institucional, poupando seu gestor superior dessa
tarefa.
2.4 O SECRETÁRIO COMO INSTÂNCIA DE ETICIDADE E MORALIDADE
Ser secretário do terceiro milênio, no papel de gestor de secretaria nas instituições, é
um desafio, pois se lida com um ambiente complexo, em face dos intrincados meandros
político-sociais, econômico-mercadológicos, jurídico-burocráticos e até mesmo ambientais,
nos quais estas Instituições estão inseridas.
56
Na gestão de secretaria, observam-se dois modelos éticos coexistindo, a Ética
Fundamentalista e a Ética Utilitarista, sendo estes os que mais se destacam no ambiente de
atuação do Secretário:
A Ética Fundamentalista parte do princípio de que Deus Criou o mundo e
que agir eticamente é cumprir a vida dentro dos parâmetros substanciais
divinos. Ou seja, nossas ações devem seguir os mandamentos de Deus. Ele é o ser maior. Assim, seguindo seus preceitos, estamos agindo eticamente para
com nossos semelhantes (HANSEN & SILVA, 2009, p. 74).
Se o secretário pensar somente por esse ângulo, aplicará aos seus subordinados (pois
não serão vistos como colaboradores) que sua verdade é inquestionável, pois no seu papel de
gestor, suas atitudes e decisões são indiscutíveis enquanto responsável pelo setor. Da mesma
forma, a sua visão diante de seu gestor superior (ou chefia) também não pode ser contestada,
ou seja, tudo que se ordenar é verdade absoluta e só resta aos subalternos acatar as ordens.
Haverá um dogmatismo no relacionamento com os demais servidores da instituição,
haja vista que a tendência será repassar aos mesmos que a forma de tratamento aplicada é
verdadeira e indiscutível. Sendo assim, as decisões tomadas serão unilaterais, atendendo
apenas aos interesses de quem faz a gestão e com foco na tradição de sua atuação: “Sempre
foi assim”.
Já a Ética Utilitarista é definida por Hansen e Silva (2009, p. 75) como aquela em que:
[...] predomina a racionalidade instrumental, o individualismo, em que o
valor da pessoa é medido pela utilidade. Quanto mais posses e mais domínio, mais o ser humano se realiza. Não importa o meio para conseguir o que se
deseja. Neste contexto cada parte envolvida se importa apenas com suas
necessidades e interesses e não se preocupa com a necessidade ou interesse
do outro, pois o que vale é conseguir o que se almeja enquanto que o outro se torna um meio para que o objetivo seja alcançado. Não importa o outro,
mas sim o resultado almejado.
Nesse sentido, se um Secretário agir de forma instrumental àqueles que fazem parte do
seu ambiente de trabalho, constantemente, tratando-os como se fossem um objeto, um
instrumento para alcançar seus objetivos e interesses, enfatizando a eficiência do outro a todo
tempo, querendo resultados que sejam para seu próprio beneficio e interesses egoístas,
fatalmente chegará um determinado momento em que não mais terá a confiança e o respeito
de todos, visto que nenhum ser humano gosta ou aceita ser tratado como um objeto, que se
usa e descarta.
57
Em muitas situações, principalmente naquelas em que o secretário não tem a formação
profissional adequada para assumir a responsabilidade de conduzir uma secretaria executiva,
seu comportamento cotidiano não é destoante de outros atores institucionais, que igualmente
se movem nesta perspectiva.
No entanto, em que pese esta conduta predominante, o fato é que as relações
institucionais só conseguem gerar uma instituição promissora e socialmente realizadora de
seus propósitos (educação, no caso das universidades) se são construídas em torno de relações
de credibilidade e de confiança, que ficam prejudicadas quando sistematicamente o secretário
se move pelos modelos éticos acima mencionados.
Conforme Hansen e Silva (2009, p. 76):
Nesse contexto cambiante, são exigidas decisões rápidas e ações precisas,
pois disso depende o sucesso e a continuidade da própria Instituição. Todavia, tais decisões e ações necessitam estar fundadas em informações
corretas e em procedimentos absolutamente irretocáveis, de sorte que
exigem credibilidade nos mesmos que é oriunda da confiabilidade em quem as presta ou executa. E aí é que encontramos o espaço de atuação do
secretário na gestão Institucional. A atuação do secretário nas Instituições,
portanto, é hoje, e mais do que nunca, marcada pela confiança e pela ética, pois se espera dele o compromisso com a fidedignidade da informação, com
a lisura nos procedimentos, com a retidão nas atitudes e com a qualidade
solidária nos relacionamentos.
O Secretário é um profissional de confiança que deve primar pelo sigilo no que
concerne ao conhecimento detido em suas mãos e que não podem ser socializados aos demais
membros da instituição.
A confiança é elemento decisivo na construção das relações sociais e, na atuação do
secretário, esta se torna condição de possibilidade do seu atuar profissional.
Nesse sentido, buscamos em Giddens, a partir do prisma habermasiano (que coloca a
razão comunicativa como base para que se possa falar sequer em ação estratégica) entender o
que seja a confiança.
Simmel (apud GIDDENS, 1991, p. 29) esclarece que confiança existe,
[...] quando “acreditamos" em alguém ou em algum princípio; "Ela exprime
a sensação de que existe entre a nossa ideia de um ser e o próprio ser uma conexão e unidade definidas, uma certa consistência em nossa concepção
dele, uma convicção e falta de resistência na rendição do Ego a esta
concepção, que pode repousar em razões específicas, mas não é explicada
por elas".
58
O Secretário é profissional que deve ser respeitado, pela confiança que inspira nas
pessoas, pelo seu exemplo de virtude, de postura ética, de ação simétrica com o outro.
Além disso, ele pode ser enquadrado no que comenta Freidson (apud GIDDENS,
1991, p. 30) “que por sistemas peritos quero me referir a sistemas de excelência técnica ou
competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e social em que
vivemos hoje.”
O secretário é um profissional que pode ser considerado um perito no que se refere à
sua capacidade técnica e ética de atuação na instituição, visto que muitos dependem de seu
conhecimento técnico para tomar decisões e de sua postura ética perante situações cotidianas
que acontecem continuamente no seu trabalho.
Giddens (1991, p. 30) ainda ressalta que “a maioria das pessoas leigas consulta
„profissionais‟ - advogados, arquitetos, médicos etc., - apenas de modo periódico ou irregular.
Mas os sistemas nos quais está integrado o conhecimento dos peritos influencia muitos
aspectos do que fazemos de uma maneira contínua.”
Ao mesmo tempo em que se promove uma quebra das tradições pelo debate reflexivo
gerado pela radicalização da modernidade, houve maior promoção da autonomia do sujeito e
a fé cega no homem e na ciência, herdada do iluminismo (racionalidade), trazendo riscos e
incertezas ao colocar em cheque a humanidade. Nesses termos, o autor enfatiza que a vida
moderna vem sendo caracterizada por várias descontinuidades.
Para o autor, todos os mecanismos de desencaixe dependem da confiança, considerada
como artigo de fé, que se baseia na experiência que estes sistemas geralmente funcionam
conforme as nossas expectativas.
Sendo assim, cumpre ao Secretário uma grande responsabilidade em conquistar e
manter a confiança no seu trabalho, no que concerne ao atendimento das expectativas
depositadas no seu profissionalismo e como pessoa humana.
Entendamos que ser Secretário não é só cumprir as responsabilidades características
de sua atividade. Para além dos desafios institucionais impingidos a ele, há também um
conjunto de diretrizes normativas que balizam a sua atuação.
As diretrizes normativas são, por um lado, garantidoras de parâmetros e condutas
sociais e institucionais esperadas do profissional. Porém, muitas vezes, são o retrato de
concepções políticas (liberais, republicanas, utilitaristas, fundamentalistas etc.) que afetam a
própria legitimidade desta legalidade, necessitando de constante e permanente discussão, a
fim de que se mantenha atual, eivada de moralidade e garantidora de democracia, tanto na sua
elaboração quanto na sua implantação e aprimoramento, via fiscalização e debate (sindical,
59
institucional, social). É sobre essas diretrizes que regulam a profissão Secretário que
abordaremos a seguir.
60
CAPÍTULO 3
AS DIRETRIZES NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS
3.1 REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO SECRETÁRIO
3.1.1 Histórico da Luta pela Regulamentação da Profissão do Secretário no Brasil
A partir dos anos 50, a atuação da secretária começa a ser percebida na estrutura
empresarial brasileira, com a chegada das multinacionais, visto que esta executava apenas
algumas atividades técnicas secretariais, como anotar recados, receber as pessoas que
visitavam a empresa, datilografia, taquigrafia, atendimento telefônico e organização de
arquivos. Ainda era vista como uma pessoa servente e disponível, isto é, que obedecia e não
pensava e podia trabalhar o número de horas que fosse para atender sua chefia.
A luta pelo reconhecimento e normatização da profissão teve início no Brasil a partir
dos anos 60. Época em que iniciaram os treinamentos específicos para as secretárias, até então
atividade exercida por mulheres, com maior exigência dos executivos de que tivessem uma
postura mais de assessoria.
Muitos anos antes de existir uma lei que regulamentasse a profissão, a primeira organização de Secretárias foi fundada, sob a denominação de
Clube das Secretárias Executivas do Rio de Janeiro, em Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, como Associação das Secretárias do Rio Grande do Sul. [...]
ASERGS, que iniciou o processo de formalização para transformar a entidade em Associação Profissional das Secretárias, com o objetivo de
fundar um sindicato da categoria (SABINO; ROCHA, 2004, p. 16).
Cabe aqui informar que, no dia 15 de dezembro de 1970, o clube das Secretárias do
Rio de Janeiro transformou-se em “Associação das Secretárias do Rio de Janeiro”, que foi a
primeira Associação civil que surgiu com o objetivo de reunir e agrupar a classe, visando à
conscientização e ao aprimoramento profissional.
A ideia tomou proporções tais que associações análogas foram surgindo no Estado; em
pouco espaço de tempo, “quase todas as Unidades da Federação, inclusive o Território do
Amapá, já possuíam as suas entidades de classe, e foi sentida a necessidade de se criar um
órgão que as coordenasse e as representasse a nível nacional” (FIGUEIREDO, 1987 apud
LIEUTHIER, 2013).
61
A autora ainda comenta que no dia “7 setembro de 1976, foi criada, então, a ABES -
Associação Brasileira de Entidades de Secretárias, participando do ato as associações dos
seguintes Estados: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e
Sergipe.”
Entre os anos 60 até os anos 70, todas as discussões de problemas e interesses da
classe secretarial eram realizadas na ASERGS, e as secretárias já debatiam em nível nacional
“a importância do reconhecimento formal da profissão de Secretariado”. Iniciava-se então um
movimento sindical, organizado, determinado, que vencendo as resistências, teve seu pleito
atendido pela Lei 6.556 de 5 de setembro de 1978, primeira lei que regulamentava a profissão
(SABINO; ROCHA, 2004, p. 16).
A lei então já deixava claro que o exercício da profissão de secretário deveria se dar
apenas por profissionais que atendessem as suas prerrogativas. Observa-se que nessa época o
secretário precisava apenas ter o certificado de 2º Grau, Técnico em Secretariado.
De acordo com a Lei 6.556 de 5 de setembro de 1978:
Art. 1º O exercício da atividade de Secretário, com as atribuições previstas
nesta Lei, será permitido ao portador de certificado de conclusão do curso regular de Secretariado, a nível de 2º grau.
Art. 2º Poderá beneficiar-se da prerrogativa do artigo anterior o profissional
que conte dois ou mais anos de atividades próprias de Secretário, na data da
vigência desta Lei, e que apresente certificado de curso a nível de 2º grau. Art. 3º São atribuições do Secretário:
a) executar tarefas relativas à anotação e redação, inclusive em idiomas
estrangeiros; b) datilografar e organizar documentos;
c) outros serviços de escritório, tais como: recepção, registro de
compromissos e informações, principalmente junto a cargos diretivos da organização (BRASIL, 1978, grifo do autor).
Conforme Alonso (2002, p.18) “o primeiro curso Técnico em Secretariado. Teve
inicio em São Paulo, na Fundação „Escola e Comércio Álvares Penteado‟, e 1943, embora
tenha sido aprovado em 27 de março de 1973 e reconhecido apenas em 4 de julho de 1979.
Já a criação do primeiro Curso Superior em Secretariado Executivo no Brasil se deu
na Universidade Federal da Bahia, na cidade de Salvador, no ano de 1969, porém só
reconhecido em 1998. De acordo informações extraídas da FENASSEC – Federação
Nacional dos Secretários e Secretárias (apud RIBEIRO, 2005, p. 36), “o primeiro curso
superior reconhecido no Brasil foi o da Universidade Federal de Pernambuco, criado em 1970
e reconhecido em 1978.”
62
De acordo com Sabino e Rocha (2004, p. 16), “a ampliação do conceito e a distinção
entre o Secretariado técnico e o executivo veio somente em 30 de setembro de 1985, quando
foi assinada a Lei 7.377.” Lei esta que sofreu alterações na sua redação, quando em 10 de
janeiro de 1996, foi a Lei 9.261 que “estabeleceu o secretariado com profissão e não simples
função.” Além disso, “a legislação preservou os direitos dos secretários que já atuavam na
área.”
Com a regulamentação da profissão, houve a possibilidade de se criar órgãos que
defendessem os interesses da classe, ou seja, os sindicatos.
Assim, através da Portaria 3.103, de 29 de abril de 1987 (Anexo A), publicada no
diário oficial da União, a profissão passou a ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho,
como categoria diferenciada.
O enquadramento sindical deixa claro que o Secretariado compõe uma
“categoria diferenciada”, ou seja, a categoria independe do ramo de
atividade da empresa em que o secretário atua. O Artigo 511 da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, em seu parágrafo 3º define: “categoria
Profissional Diferenciada é a que se forma por empregados que exerçam
profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional
especial ou em consequência de vida singulares” (SABINO; ROCHA, 2004, p. 17).
Isso significa que os secretários, qual seja a empresa ou instituição que atuem, como
compõem uma categoria diferenciada, podem ser representados pelo sindicato específico da
sua classe.
A partir de então, vários sindicatos foram criados no país, sendo que o primeiro a ser
oficializado foi o SISERGS – Sindicato das Secretárias e Secretários do Rio Grande do Sul,
em 30 de abril de 1987, vigorando a partir 01 de maio do mesmo ano.
Com vários sindicatos estaduais representando a classe, surgiu a necessidade de um
órgão de representação nacional, assim, em 31 de agosto de 1988, foi criada a FENASSEC –
Federação Nacional das Secretárias e Secretários.
A FENASSEC, como órgão de maior representatividade da classe no país, de acordo
com o seu Artigo 1º do Estatuto Social, registrado em Cartório sob nº 00105856, é
legalmente reconhecida na forma da legislação vigente pelo Ministério do Trabalho (Anexo
B).
De acordo com dados extraídos do site da FENASSEC, os sindicatos estão divididos
por Regiões:
63
Região Norte: SINSEAM - Sindicato das Secretárias do Estado do Amazonas,
SINSEPA – Sindicato das Secretárias do Estado do Pará, SINSERR – Sindicato das
Secretárias do Estado de Roraima,
Região Nordeste: SINSEAL - Sindicato das Secretarias do Estado de Alagoas,
SINDSEB - Sindicato Das Secretárias (os) Do Estado Da Bahia, SINDSECE – Sindicato das
Secretárias do Estado do Ceará, SINDSEMA – Sindicato dos Secretários do Estado do
Maranhão, SINSEPB – Sindicato das Secretárias do Estado da Paraíba, SINSEPE – Sindicato
das Secretárias do Estado de Pernambuco, SINSEPI – Sindicato das Secretárias do Estado do
Piauí , SINSERN – Sindicato das Secretárias do Estado do Rio Grande do Norte, SINSESE –
Sindicato das Secretárias do Estado de Sergipe.
Região Centro Oeste: SISDF – Sindicato das Secretárias e Secretários do Distrito
Federal, SINDSEMS Sindicato das Secretárias do Mato Grosso do Sul, SISEMAT – Sindicato
das Secretarias do Mato Grosso;
Região Sudeste: SINDESEC/ES - Sindicato das Secretárias do Estado do Espírito
Santo, SINDSEMG – Sindicato das Secretárias do Estado de Minas Gerais, SINSERJ –
Sindicato das Secretárias do Estado do Rio de Janeiro, SINSESP – Sindicato das Secretárias
do Estado de São Paulo, SINSEC-ABC – Sindicato dos Profissionais de Secretariado da
Região do Grande ABC, SINSECAMP – Sindicato das Secretárias do Município de
Campinas e Região;
Região Sul: SINSEPAR – Sindicato das Secretárias do Estado do Paraná, SINSESC –
Sindicato das Secretárias do Estado de Santa Catarina, SISERGS – Sindicato das Secretárias
do Estado do Rio Grande do Sul.
Com a união dos sindicatos, foi criado o Código de Ética Profissional dos Secretários,
publicado, em 07 e julho de 1989, no Diário Oficial da União,
3.1.2 Lei de Regulamentação da Profissão
Conforme consta no site do Ministério do Trabalho e Emprego, na Classificação
Brasileira de Ocupações – CBO – Listagem das Profissões Regulamentadas: normas
regulamentadoras, a Profissão Secretário e Técnico em Secretariado consta na posição 58 na
classificação numérica.
A profissão do Secretário foi regulamentada pela Lei 7.377, de 30 de setembro de
1985 e foi modificada pela Lei 9.261 de 10/01/1996 (Anexo C).
64
A modificação consta: A lei 7.377 de 1985, dispõe sobre o Exercício da Profissão de
Secretário (BRASIL, 1985), e Lei 9.261, modificou alguns artigos da lei 7.377. (Altera a
redação dos incisos I e II do art. 2º, o caput do art. 3º, o inciso VI do art. 4º e o parágrafo
único do art. 6º da Lei nº 7.377, de 30 de setembro de 1985).
Hoje, quando se acessa a lei 7.377, esta aparece com a redação já modificada pela lei
9.261 de 10/01/1996.
A título de exemplo, a redação do art. 2o. da Lei 7.377 antes de ser modificada pela lei
9.261 era:
Art. 2º - Para os efeitos desta lei, é considerado: I - Secretário-Executivo o profissional diplomado no Brasil por Curso
Superior de Secretariado, reconhecido na forma da lei, ou diplomado no
exterior por curso superior de Secretariado, cujo diploma seja revalidado no Brasil, na forma da lei;
II - Técnico em Secretariado o profissional portador de certificado de
conclusão de curso de Secretariado, em nível de 2º grau (BRASIL, 1985).
A Lei atual contempla dois níveis de Secretário:
I - Secretário Executivo
a) o profissional diplomado no Brasil por curso superior de Secretariado,
reconhecido na forma de Lei, ou diplomado no exterior por curso de Secretariado, cujo diploma seja revalidado no Brasil, na forma de Lei.
b) o portador de qualquer diploma de nível superior que, na data de vigência
desta Lei, houver comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos trinta e seis meses, das atribuições
mencionados no Art.4º. desta Lei.
II - Técnico em Secretariado
a) o profissional portador de certificado de conclusão de curso de Secretariado em nível de 2º. Grau.
b) portador de certificado de conclusão do 2º. grau que, na data de início da
vigência desta Lei, houver comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos trinta e seis meses,
das atribuições mencionados no Art.5º. desta Lei.
“Art. 3º. É assegurado o direito ao exercício da profissão aos que, embora não habilitados nos termos do artigo anterior, contém pelo menos cinco anos
ininterruptos ou dez anos intercalados de exercício de atividades próprias de
secretaria na data de vigência desta Lei” (FENASSEC, 2012).
Devido ao tempo que a Lei foi alterada, poucas são as pessoas que ainda se beneficiam
do item b) para Secretário Executivo e item b) para Técnico em Secretariado. Hoje é
necessário ser portador de diploma tanto na primeira como na segunda categoria.
Neiva e D‟Elia (2009, p. 267) orientam que o profissional de Secretariado recém-
formado “para exercer suas atividades, em conformidade com a lei em tela”, “é preciso ter o
65
registro na SRTE – Superintendência Regional do Trabalho e do Emprego. [...] Antiga DRT –
Delegacia Regional do Trabalho.”
Há Superintendências espalhadas em todo país, basta que o interessado procure a mais
próxima na sua Cidade ou Estado, observando que “a entrada no processo pode ser por um
portador, mas só o requerente ou parente de primeiro grau pode retirar o registro. Após a
entrada na documentação, o requerente deve retornar após 15 dias úteis, com carteira de
trabalho e protocolo do processo” (NEIVA; D‟ELIA, 2009, p. 267).
Os documentos necessários para o registro na SRTE podem ser verificados junto aos
respectivos sites dos Sindicatos da classe secretarial no Estado do requerente, visto que em
todos eles, inclusive no site da FENASSEC, estão disponibilizadas instruções e modelos da
documentação a ser preenchida e apresentada.
No que se refere ao Art. 4º da Lei, são atribuições Secretário Executivo:
“I – Planejamento, organização e direção dos serviços de secretaria”; discriminamos o que são
cada uma das partes:
Planejamento: é planejar de forma profissional, estabelecendo objetivos, prevendo
positivamente suas metas, podendo também estabelecer várias formas de chegar ao resultado
esperado, se este for pensado estrategicamente. Trata-se também de um processo que pode
constantemente ser realimentado de situações, de soluções e resultados. Planejar é um
processo dinâmico, com base em uma multidisciplinaridade, interatividade, visto que a
tomada de decisão é um processo contínuo dentro de uma instituição ou organização. A partir
do planejamento, também se estabelece os procedimentos de controle.
De acordo com Machado et al. (2012, p. 106), planejamento é:
O processo contínuo e dinâmico voltado à identificação das melhores
alternativas para o alcance da missão institucional, incluindo a definição de
objetivos, metas, meios, metodologia, prazos de execução, custos e responsabilidade materializados em planos hierarquicamente interligados:
o conjunto de documentos elaborados com finalidade de materializar o
planejamento por meio de programas e ações, compreendendo desde o nível estratégico até o nível operacional, bem como propiciar a avaliação e a
instrumentalização do controle.
Organização – palavra originada do Grego “organon”, que significa instrumento,
utensílio, órgão ou aquilo com que se trabalha, ou seja, é a forma como se dispõe um sistema
para atingir os resultados que se pretende alcançar.
66
Neiva e D‟Elia (2009, p. 54) comentam que “ser organizado implica estabelecer
objetivos, fazer planos e cumprir programas. É, portanto, o ato de reunir uma estrutura
ordenada e pronta para alcançar os objetivos da empresa.”
Direção: estar a frente do trabalho, contando com pessoas para buscarem juntos o
resultado que foi estabelecido no planejamento, com eficiência máxima. Bond e Oliveira
(2009, p. 15) afirmam que “é nessa etapa que se mede a eficiência da equipe, cujo objetivo é
atingir todas as metas planejadas.”
“II – Assistência e Assessoramento Direto a Executivos”
Assistência e assessoramento: dar assistência e assessoramento, não é como muitos
ainda imaginam ser um secretário servente, submisso, que servia cafezinho e passava recados.
O sentido claro ao que está colocado na Lei em tela é prestar assistência em projetos,
atividades administrativas, assessorar com informações e documentos que auxiliem na tomada
de decisão e, por muitas vezes, realizar atividades que desonerem o executivo, para que ele
possa realizar outras tarefas que exigem mais tempo, mais concentração e conquista de novos
negócios ou novas parcerias, novos projetos importantes na instituição. É ser o braço direito e
esquerdo, os olhos; é parceria com serviços de qualidade, eficiência e que realmente dê
tranquilidade para o executivo alcançar a eficácia, no que tange à sua responsabilidade de
conquista e tomada de decisões.
“III – Coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de empresas”
Aqui, cabe a responsabilidade de coletar informações e organizá-las, sejam impressas
ou digitalizadas. A documentação pode ser em forma de correspondências, relatórios, vídeos,
planilhas eletrônicas ou outros necessários para as tomadas de decisão do executivo, ou
mesmo para melhorar o desempenho das pessoas envolvidas na empresa ou instituição,
facilitando nas negociações realizadas no contexto.
“IV – Redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro”
Mesmo que o executivo seja um profissional que redija muito bem seus textos, há
outras atividades importantes que lhe tomam um tempo precioso. Para que ele tenha espaço
67
para pensar e realizar outras tarefas gerenciais, o secretário tem a competência e obrigação
profissional para redigir textos especializados, mesmo em idioma estrangeiro.
“V – Interpretação e sintetização de textos e documentos”
Esta é outra atividade que poupa o tempo do executivo, que já recebe a informação já
interpretada e sintetizada para se posicionar sobre o assunto relativo ao documento recebido,
ou seja, seu tempo mais uma vez é poupado para que realiza outras atividades que demandam
sua responsabilidade efetiva.
“VI – Taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de explanações, inclusive em
idioma estrangeiro”
Este item nos parece um tanto ultrapassado e que deveria ser revisto na lei, visto que,
com as tecnologias atuais, seria uma perda de tempo utilizar da taquigrafia; muito menos o
secretário moderno e atual ainda precisa que se dite o que deve ser escrito.
Quanto aos discursos, conferências palestras de explanações, há equipamentos de
múltiplas funcionalidades para gravar e fazer a tradução deste tipo de evento.
“VII – Versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de
comunicação da empresa”
“VIII – Registro e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas”
“IX – Orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento à
chefia”
Com referência aos itens VII, VIII, IX, o Secretário, como gestor responsável de uma
secretaria executiva, hoje não só traduz documentos de idioma estrangeiro, registra e distribui
documentação e informação formal e informal que circula no ambiente institucional ou
organizacional. Suas atividades vão além disso. Hoje ele faz a gestão da informação que, de
acordo com Neiva e D‟elia (2009, p.64), “em um mundo em que a era do conhecimento
imensurável”, é agente de “responsabilidade social”, pois agrega ao seu papel profissional a
missão de cidadão, usando da sua influência “para disseminar atitudes éticas e saudáveis, em
68
prol da sustentabilidade do planeta”. Também o secretário executivo é um gestor de
resultados, porque assessora os “níveis decisórios”, monitorando objetivos, metas, fazendo a
“gestão de pessoas e processos de trabalho”, bem como faz a gestão de relacionamentos.
“X – Conhecimentos protocolares”
A palavra protocolo (2010, p. 363), que vem do latim protocollum, conforme o
dicionário Houaiss, significa: 1.registro de atos oficiais, 2.registro de uma conferência
internacional ou negociação diplomática, 3.livro de registro das correspondências oficiais de
uma empresa, repartição pública etc., 4.comprovante do que foi registrado. 5.conjunto de
normas reguladoras de atos públicos especialmente no governo e na diplomacia; cerimonial.
O Secretário Executivo, além do conhecimento técnico de protocolo, conforme os
significados de 1 a 4, acima discriminados, precisa conhecer muito bem as normas que
regulam os atos públicos. Os conhecimentos protocolares são importantíssimos. Há que se
saber como receber e se comportar profissionalmente, na recepção de autoridades municipais,
Estaduais, Federais e estrangeiros. Um exemplo é conhecer e obedecer à ordem geral de
precedência em solenidades oficiais, reguladas pelo Decreto nº 70.274\1972 (Anexo D), da
Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, que aprova as
normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência.
Já o Art.5º. trata das atribuições do Técnico em Secretariado:
I – organização e manutenção dos arquivos da secretária; II – classificação,
registro e distribuição de correspondência; III – redação e datilografia de
correspondência ou documentos de rotina, inclusive em idioma estrangeiro; IV – execução de serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro
de compromissos, informações e atendimento telefônico.
O Técnico em Secretariado é um profissional que tem atribuições mais operacionais, e
talvez fosse interessante fazer uma revisão e readequação das atribuições no que se refere ao
item III de suas atribuições.
3.1.3 O Código de Ética da Profissão do Secretario
O Código de Ética da Profissão do Secretário foi publicado no Diário Oficial da União
de 7 de julho de 1989 (LIEUTHIER, 2013) (Anexo E). É composto de VIII Capítulos e 20
artigos, dos quais, neste trabalho específico, abordaremos alguns considerados fundamentais.
69
“Art.1º. – Considera-se Secretário ou Secretária, com direito ao exercício da profissão,
a pessoa legalmente credenciada nos termos da lei em vigor.”
Neste artigo, fica claro que só será considerado Secretário ou Secretária quem se
enquadrar na Lei 7.377, de 30 de setembro de 1985, modificada pela Lei 9.261 de 10\01\1996,
já apresentada no item anterior.
“Art.3º. – Cabe ao profissional zelar pelo prestígio e responsabilidade de sua profissão,
tratando-a sempre como um dos bens mais nobres, contribuindo, através do exemplo de seus
atos, para elevar a categoria, obedecendo aos preceitos morais e legais.”
Neste artigo, observa-se a preocupação de mostrar ao secretário o quanto é
responsável pela sua imagem profissional e que deve haver um cuidado com seus
comportamentos, e que seu atos devem servir de bom exemplo a todos de sua categoria. Deve
cuidar para que suas atitudes jamais denigram a imagem profissional. Para tanto, deve
obedecer aos preceitos morais, ou seja, adotar atitudes e comportamento honesto, justo e
legal, atendendo às normas comportamentais estabelecidas pela empresa, sendo uma pessoa
de confidencialidade.
Capítulo III
Dos Deveres Fundamentais
“Art.5º. – Constituem-se deveres fundamentais das Secretárias e Secretários: a) considerar a
profissão como um fim para a realização profissional; b) direcionar seu comportamento
profissional, sempre a bem da verdade, da moral e da ética; c) respeitar sua profissão e
exercer suas atividades, sempre procurando aperfeiçoamento; d) operacionalizar e canalizar
adequadamente o processo de comunicação com o público; e) ser positivo em seus
pronunciamentos e tomadas de decisões, sabendo colocar e expressar suas atividades; f)
procurar informar-se de todos os assuntos a respeito de sua profissão e dos avanços
tecnológicos, que poderão facilitar o desempenho de suas atividades; g) lutar pelo progresso
da profissão; h) combater o exercício ilegal da profissão; i) colaborar com as instituições que
ministram cursos específicos, oferecendo-lhes subsídios e orientações.”
Capítulo IV
Do Sigilo Profissional
70
“Art.6º. – A Secretária e o Secretário, no exercício de sua profissão, deve guardar absoluto
sigilo sobre assuntos e documentos que lhe são confiados” (grifo nosso).
Este artigo que se refere ao sigilo está pautado na Constituição Federal e consta do
título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos:
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins
de investigação criminal ou instrução processual; XVI – é assegurado a
todos o acesso à Informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional (grifo nosso).
O que impede para determinados tipos de profissão expor o conhecimento detido.
Significa que o profissional deve manter sempre o segredo a ele confiado, de informações,
acontecimentos, documentação que estão sob sua responsabilidade e lhes foram confiados.
Há, neste contexto, uma responsabilidade muito grande, uma vez que ao secretário são
confiados domínio e manipulação da informação.
Capítulo V - Das Relações entre Profissionais Secretários
“Art.8º. – Compete às Secretárias e Secretários: a) manter entre si a solidariedade e o
intercâmbio, como forma de fortalecimento da categoria; b) estabelecer e manter um clima
profissional cortês, no ambiente de trabalho, não alimentando discórdia e desentendimento
profissionais; c) respeitar a capacidade e as limitações individuais, sem preconceito de cor,
religião, cunho político ou posição social; d) estabelecer um clima de respeito à hierarquia
com liderança e competência.”
Neste artigo, cumpre observar que o secretário deve respeitar a dignidade da pessoa
humana em si e nas relações que estabelece com colegas, com pessoas que recebem o serviço
de sua profissão etc.
Conforme Silva (2012, p. 73):
Neste princípio está implícita a ideia de que o profissional deve manter um
tratamento respeitoso e educado com as pessoas com as quais se relaciona, com colegas de trabalho, com subordinados e superiores hierárquicos, ou
seja, para ser ético, um profissional não pode nunca se acomodar e acreditar
que já sabe tudo; ao contrário, deve buscar constantemente aperfeiçoamento de si próprio e da profissão que exerce [...].
71
“Art. 9º. – É vedado aos profissionais: a) usar de amizades, posição e influências obtidas no
exercício de sua função, para conseguir qualquer tipo de favoritismo pessoal ou facilidades,
em detrimento de outros profissionais; b) prejudicar deliberadamente a reputação profissional
de outro secretário; c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro,
contravenção penal ou infração a este Código de Ética” (grifo nosso).
Capítulo VII
Das Relações com as Entidades da Categoria
“Art.20º. – Constituem infrações: a) transgredir preceitos deste Código; b) exercer a
profissão sem que esteja devidamente habilitado nos termos da legislação específica
(grifo nosso); c) utilizar o nome da Categoria Profissional das Secretárias e/ou Secretários
para quaisquer fins, sem o endosso dos Sindicatos de Classe, em nível Estadual e da
Federação Nacional nas localidades inorganizadas em Sindicatos e/ou em nível Nacional.”
O trabalhador na área de secretariado que não atua com o registro profissional – de
acordo com as Leis 7.377/85 e 9.261/96 – exerce a profissão ILEGALMENTE.
Exercer ilegalmente uma profissão regulamentada, no caso o Secretariado, por
exemplo, constitui contravenção penal capitulada no artigo 47 da Lei das Contravenções
Penais, Decreto-Lei 3.688 de 03 de outubro de 1941, pelo exercício ilegal de profissão ou
atividade. (ANEXO F)
"Art. 47 - Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher
as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze
dias a três meses, ou multa.”
3.2 HISTÓRICO DA LUTA PARA CRIAÇÃO DO CONSELHO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO5
Conforme Lieuthier (2013), a luta pelo Conselho Profissional de Secretariado vem de
uma longa caminhada.
Para os profissionais de Secretariado a constituição do Conselho Profissional irá fortalecer a categoria com o aumento do número de vagas no mercado de
trabalho. Além de fiscalizar o exercício profissional irá instituir o sigilo
5Todo histórico tem por base informações, via e-mail, gentilmente, fornecidas pela atual presidente da Fenassec,
Srª Maria Bernadete Lira Lieuthier.
72
profissional, para coibir os abusos cometidos contra esses profissionais e
possibilitará o aprimoramento e a formação de mão-de-obra especializada,
com o aumento do nível de instrução dos profissionais, que sentirão a necessidade cada vez maior de especialização em suas áreas de atuação, o
que gerará retornos relevantes para o governo e para a sociedade como um
todo (LIEUTHIER, 2013).
Em 1997, a luta pela criação do Conselho de Secretariado iniciou através da presidente
da FENASSEC, na época presidida por Leida Maria Mordenti Borba de Morais, que começou
uma grande campanha que contou com a adesão da massa do secretariado brasileiro.
Em 1998, Senadora Regina Assumpção (PTB/MG), atendendo a uma solicitação da
Federação, apresentou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei do Senado nº. 91, de 1998,
para a Criação do Conselho Federal de Secretariado e também dos Conselhos Regionais.
De acordo a Srª. Maria Bernadete Lira Lieuthier, atual presidente da FENASSEC, foi
realizado “um trabalho intenso, ininterrupto e simultâneo por parte das presidentes de
sindicatos junto aos parlamentares de seus Estados”; foi realizado um abaixo-assinado,
colhendo assinatura dos profissionais de secretariado favoráveis à criação do conselho em
todo o País e o “plantão no Congresso em Brasília, acompanhando o projeto pelas diversas
comissões da Câmara e do Senado, por onde o Projeto tramitou até chegar à sanção em 10 de
maio de 2000, pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso.”
Porém, o projeto de Lei foi apresentado na vigência da Lei 9.649/98 que, em seu art.
58, transformava os Conselhos Profissionais de autarquia de Direito Público em pessoa
jurídica de direito privado.
Esta Lei teve vigência até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade-
ADIN que havia contra ela, ocorrida antes da sanção do projeto de lei, fato que levou o
presidente a vetá-lo sob o fundamento de que a iniciativa para criação de autarquia era
privativa do Chefe do Poder Executivo. Tanto isto é verdade que no período de vigência da
referida MP foi criado por lei de iniciativa de parlamentar o Conselho Nacional de Educação
Física, cujo autor foi o ex-deputado Eduardo Mascarenhas (RJ).
Dessa forma, o Conselho que já estava aprovado pelo Congresso Nacional não recebeu
sanção presidencial, sendo vetado, mesmo com todo o trabalho realizado, com o apoio
político de diversos parlamentares da Câmara e do Senado, e horas e horas de trabalho e
ausência de nossas famílias. Em 2003, a ADIN é julgada e derruba o parágrafo 58 da Lei
9.649/98.
No dia 26 de fevereiro de 2003, a Presidente da FENASSEC, Maria Bernadete Lira
Lieuthier, a Vice-Presidente da Região 3, Maria Antonieta Ferreira Mariano e a Diretora
73
Administrativa, Maria do Carmo Assis Todorov, estiveram reunidas com o Secretário
Adjunto do Trabalho, Dr. Marco Antonio de Oliveira, onde entregaram o pedido para que o
Ministério do Trabalho tomasse a iniciativa de apresentação de um novo Projeto de Criação
dos Conselhos Federal e Regionais de Secretariado. Tal pedido só foi oficialmente
protocolado no dia 7/10/2003, sob no. 46.003854/2003-08.
Desde então, o Ministério do Trabalho e Emprego criou um Grupo de Trabalho sobre
Conselhos de Fiscalização Profissional, formado nos termos do Memo-Circular nº.
62/SE/MTE, para estudar todos os pedidos de criação de Conselhos Profissionais. Entretanto,
durante todo esse período nenhum conselho foi criado.
A luta da FENASSEC e dos Sindicatos filiados é agilizar os trabalhos desse Grupo
para que o projeto seja encaminhado ao Congresso Nacional para começar novamente a
percorrer todas as Comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
No dia 08/11/2005, foi realizada audiência com o Ministro do Trabalho, Luiz
Marinho, na sede do Ministério do Trabalho em Brasília. Na ocasião, a presidente da
FENASSEC, Maria Bernadete Lira Lieuthier, reivindicou ao Ministro a agilização do trâmite
do processo que foi protocolado naquele Ministério desde o ano de 2003.
No dia 03 de maio de 2006, no auditório Nereu Ramos, no Congresso Nacional, em
Brasília/DF, foi realizado um Ato Político, principal atividade do IV Encontro de Secretariado
do Distrito Federal e Região, para buscar apoio dos parlamentares da Casa para a criação do
Conselho Federal de Secretariado.
O Ato foi prestigiado por diversos parlamentares que falaram sobre a importância do
profissional de secretariado para o país e assinaram lista de apoio à luta pela criação do
Conselho. Marcaram presença os deputados: Daniel Almeida (PCdoB/BA); Fernando Ferro
(PT/PE – líder do partido na Câmara); Arlindo Chinaglia (PT/SP - líder do governo); Carlos
Mota (PSB/MG); Paulo Pimenta (PT/RS); Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP); Marco Maia
(PT/RS); André Figueiredo (PDT/CE); José Múcio Monteiro (PTB/PE – líder do partido na
Câmara); José Eduardo Cardoso (PT/SP); Selma Schons (PT/PR); Dra. Clair (PT/PR); o
Deputado Estadual Simão Pedro (PT/SP); e o Senador Paulo Paim (PT/RS).
O Ato teve início na tarde do dia 02/05/06, com visitas das presidentes e
representantes dos sindicatos de secretárias e secretários de todo o país, filiados à
FENASSEC, aos gabinetes dos presidentes de comissões e demais deputados e senadores,
reforçando o convite à participação na abertura do Encontro e pedindo apoio para a criação do
Conselho Federal de Secretariado.
74
Pela primeira vez, os profissionais, estudantes e docentes de secretariado estiveram
juntos num grande movimento político pela criação do Conselho da Categoria. O público foi
de 210 participantes vindos de todos os Estados do Brasil, além de expressiva delegação de
Angola e de Moçambique.
O Sr. Antônio Alves de Almeida, Presidente da CNTC – Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio, abriu o encontro ressaltando aspectos importantes da missão do
profissional de secretariado e o estímulo à luta que a FENASSEC proporciona aos seus
filiados através de encontros e reuniões nacionais e regionais. O Sr José Carlos Perret Schulte,
1º Secretário da CNTC, afirmou que o apoio dos parlamentares revela a força do movimento e
exortou a todos que se unam para lutar junto ao Congresso Nacional. A Srª Maria Bernadete
Lira Lieuthier lembrou que o Ato político é um marco na história da Federação e da categoria,
e que os presentes passarão a fazer parte daquela história. A Sra. Normélia Nogueira ressaltou
que cabe aos secretários e secretárias do Brasil o empenho e concentração de esforços
conjuntos para a criação do Conselho Federal de Secretariado. No decorrer dos trabalhos, as
Presidentes de Sindicatos deram seus testemunhos de luta pela valorização e engrandecimento
da profissão.
Ao final do Ato, o Senador Paulo Paim (PT/RS), ao se comprometer com a luta da
categoria pela criação do Conselho Federal de Secretariado, lembrou a força da união que
garantiu a vitória dos estudantes e sindicalistas franceses sobre o governo.
A presidente da FENASSEC, Maria Bernadete Lira Lieuthier, enfatizou que a luta pela
criação do Conselho da profissão continua, sendo necessário muito empenho de todos para a
sua concretização.
O próximo passo foram os Atos Solenes em homenagem a profissão e pela criação do
Conselho de Secretariado nas Assembleias Estaduais de todo o Território Brasileiro,
começando por São Paulo, no dia 26 de maio de 2006, no plenário Franco Montoro, da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Iniciativa do Deputado Estadual Simão
Pedro (PT/SP) e apoio da FENASSEC, do Sindicato das Secretárias do Estado de São Paulo,
Sindicato das Secretárias de Campinas e Região e Sindicato dos Profissionais de Secretariado
de Santo André e Região. Participaram mais de 170 pessoas, entre estudantes da Unifai, São
Judas, PUC/SP, Uninove, UNIP, Ítalo e as escolas técnicas Aprígio Gonzaga e Camargo
Aranha. Em final de junho de 2006, a presidente da FENASSEC, Bernadete Lieuthier, reuni-
se pela segunda vez com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em Brasília. Na
oportunidade, foi entregue um documento sobre a importância da entidade para a profissão. O
ministro informou que existe da comissão que tem como objetivo criar critérios e um
75
regimento para normatizar, até o final do ano, o processo de criação dos Conselhos.
Participaram também do encontro o deputado federal Arlindo Chinaglia (PT/SP), Osvaldo
Bargas, Chefe do Gabinete do Ministro, Solange, assessora jurídica do Ministério, o advogado
da FENASSEC, Marco Antonio Rocha Junior, a vice-presidente da FENASSEC, Stela Pudo
Basiuk (SP), e as diretoras da FENASSEC Rita de Cassia Moreira (BA) e Normélia Nogueira
(DF).
No dia 23/10/2007, acontece na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, a Audiência Pública para debater a
criação do Conselho Federal de Secretariado.
A importância do profissional Secretário para as empresas e para a sociedade, a
valorização da profissão, a luta da categoria pela criação do seu Conselho próprio e,
consequentemente, a importância do Conselho Federal para a categoria foram temas
ressaltados por todos os oradores da audiência.
A audiência teve início às 14h08, e foi presidida pelo Deputado Nelson Marquezelli
(PTB-SP), Presidente da CTASP, convidando para compor a Mesa o Sr. Eudes Carneiro,
representante do Ministro do Trabalho e Emprego, Maria Bernadete Lira Lieuthier,
representando na ocasião a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC,
e o Dr. Marco Antonio Oliveira Rocha da Silva Jr, Assessor e representante da Federação
Nacional das Secretárias e Secretários (FENASSEC).
O Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) saudou os profissionais e representantes da
categoria e parabenizou a iniciativa do Dep. Vicentinho para a instalação daquela Audiência
Pública. Ressaltou que as Secretárias e Secretários estão muito presentes na vida dos
brasileiros, dos executivos, gestores e organizações, atuando com ética nas pequenas e
grandes empresas, tanto públicas quanto privadas, e que são de fundamental importância
fazendo o elo com a sociedade brasileira.
O presidente da Câmara dos Deputados, Dep. Arlindo Chinaglia (PT-SP), honrou a
categoria participando da abertura dos trabalhos. Falou da importância dos profissionais terem
o seu conselho próprio para uma maior valorização da profissão, bem como para definir
funções e responsabilidades. Registrou que já acompanhou um evento da categoria na
Assembleia Legislativa de São Paulo e que não esqueceu a luta das Secretárias. Colocando-se
a disposição, como Presidente da Câmara, para ajudar no que pudesse.
O Dr. Eudes Carneiro, na condição de representante do Excelentíssimo Ministro do
Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, disse que o Ministério do Trabalho (MT) entende que
76
devem ser criados os conselhos para uma maior cobrança dos filiados e melhor qualificação
de mão-de-obra para o mercado.
Afirmou que o ministro Carlos Lupi está sensível às causas dessa categoria, que atua
em todos os segmentos. E em seu nome, do Senhor Ministro e do Secretário das Relações do
Trabalho, agradeceu o convite e se colocou à disposição na SRT para aprofundar a discussão
em prol da criação do conselho.
Maria Bernadete Lira Lieuthier, presidente da Federação Nacional das Secretárias e
Secretários (FENASSEC) e representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Comércio (CNTC), disse que a profissão já está consolidada o suficiente para se
autorregulamentar, e se autofiscalizar de maneira eficiente e madura, por meio de um
conselho. E que aquela audiência representava um grande passo na história da profissão.
Ressaltou o apoio da CNTC para a criação do Conselho Federal de Secretariado e
agradeceu a feliz iniciativa do deputado Vicentinho e aos demais parlamentares presentes,
bem como o importantíssimo apoio do Presidente daquela Casa, o deputado Arlindo
Chinaglia: “Certamente a audiência foi um passo importante para a concretização de um dos
sonhos há tanto tempo acalentado pela categoria: a criação do seu Conselho Federal de
Secretariado.”
O Dr. Marco Antonio Oliveira Rocha da Silva Júnior, assessor da FENASSEC,
lembrou que a atividade é regida por lei (7377/85) e um código de ética, que é de 1989, mas
que a Federação não tem como fiscalizar essa atividade, nem punir os maus profissionais.
A criação do Conselho dará à profissão condições de aprimorar suas atividades, além
de proporcionar-lhes melhores condições de fiscalização da categoria; que a profissão de
Secretário por ser uma função de confiança, o Conselho poderá assegurar o sigilo profissional
e a fidelidade das informações; que o exercício profissional exige qualificação e
confiabilidade.
Disse ainda que secretária é uma função de confiança em razão de suas atribuições,
sendo a confiabilidade intrínseca à profissão, que ser secretária é coisa séria e que exige
principalmente formação específica e conhecimentos técnicos.
Solicitou ao representante do Ministério do Trabalho e Emprego empenho na análise
do processo, por se tratar de uma reivindicação muito justa da categoria. Márcia Siqueira
assessora da Federação Nacional das Secretárias e Secretários (FENASSEC), convidada para
aquela audiência, disse que: “com o achatamento da estrutura organizacional os profissionais
Secretários passaram a ter mais atribuições e maior responsabilidade, atuando como co-
77
gestores. E para tanto devem conhecer e entender das questões que envolvem as empresas e as
decisões que irão tomar naquela célula organizacional.”
Ressaltou que o profissional Secretário atua com um grande poder, em razão do
volume de informações que passa por ele. E, se esse profissional não tiver pleno
conhecimento de como gerenciar essas informações, ele pode cometer um grave erro com
prejuízos irreparáveis à organização. Por isso, exige-se sólida formação técnica e qualificação
específica desse profissional. Portanto, o cargo deve ser sempre ocupado por um Secretário ou
Secretária devidamente habilitada.
A presidente Maria Bernadete Lira Lieuthier comentou que:
Atualmente, existem cerca de dois milhões de Secretárias e Secretários no
Brasil e a categoria representada pela FENASSEC vem dando grandes avanços. Discutindo níveis de atuação da profissão por meio de fóruns em
quase todo o Brasil; trabalhando com o Ministério da Educação para a
melhoria da formação dos profissionais Secretários, tendo inclusive contribuído para a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Secretariado Executivo. Fato que mereceu registro no texto legal.
Ela ainda reforça que o trabalho mostra que a categoria tem maturidade suficiente para
saber o que deve decidir e fazer pela profissão. Mas é necessária a criação de um Conselho
para efetivamente cobrar e aplicar a sua lei de regulamentação e a atuação plena da profissão.
O deputado Vicentinho (PT-SP), que propôs o debate, assumiu a presidência dos
trabalhos salientando a importância das discussões para a compreensão da necessidade do
conselho para a categoria, categoria esta que tem demonstrado condições de caminhar com
suas próprias pernas, de se autofiscalizar e de definir regras, de defender o direito ao sigilo, de
atuar com ética. Disse que, sendo uma categoria reconhecida, então nada mais justo que seja
criado o seu Conselho próprio.
O Deputado Vicentinho (PT-SP) acredita que a criação do conselho dará aos
secretários “condições de aprimorar suas atividades, além de proporcionar-lhes melhores
condições de fiscalização da categoria”.
O Deputado Barbosa Neto (PDT-PR) cumprimentou o Dep. Vicentinho pela
sensibilidade por esse processo que é extremamente justo ao Secretariado do País, pois vai
melhorar a sua qualificação. Disse que a categoria pode contar com o seu apoio.
O Deputado Pinto Itamaraty (PSDB-MA) também louvou a iniciativa do Dep.
Vicentinho, quando busca debater a criação do Conselho Federal dos Secretários e
Secretárias, pessoas que completam o trabalho de cada executivo, cada empresário, cada
78
gestor etc., contribuindo com o seu trabalho para o crescimento econômico e social do país.
Disse que qualquer caminhada em benefício dessa importante classe contaria com a sua
disposição para impulsionar essa luta.
Parabenizou a Sra. Nilzenir Ribeiro, professora universitária e presidente do Sindicato
das Secretárias e Secretários do Maranhão, pela luta desenvolvida no seu Estado.
O Presidente dos trabalhos fez leitura da mensagem enviada pelo Senador Paulo Paim
(PT/RS), informando que por razão de compromisso assumido anteriormente, não seria
possível comparecer à audiência, entretanto, entendia que a criação do Conselho Federal de
Secretariado é de extrema importância para a categoria. Podem contar com o seu apoio no
Senado Federal.
Finalizando os trabalhos, o Dep. Vicentinho (PT-SP), que propôs a realização da
audiência, registrou a presença do Dep. Rômulo Gouveia (PSDB/PB), agradeceu aos
expositores e convidados pelo aprofundamento do debate, aos parlamentares e aos
profissionais presentes, e disse que, a partir de então, seriam realizadas reuniões de trabalho
sobre o tema, e deveriam ocorrer ainda encontros nos Ministérios do Planejamento, da
Fazenda e da Casa Civil. E que a luta continuava.
Participaram da audiência: Profissionais, Coordenadores e Estudantes de Secretariado,
além das Diretoras da FENASSEC e dos Sindicatos dos Estados: Bahia, Maranhão, Rio de
Janeiro, Piauí, São Paulo (Estadual), Sindicato do ABC, Sergipe, Distrito Federal,
Pernambuco, Minas Gerais e Paraná.
Em 30/01/2008, foi realizada Audiência com o Ministro do Trabalho e Emprego,
Carlos Lupi, em Brasília. Durante a audiência, a Presidente da FENASSEC, Maria Bernadete
Lira Lieuthier, reapresentou ao Ministro um anteprojeto de Lei atualizado em que
normatizava o sigilo profissional para a categoria, para o exercício pleno da profissão,
pedindo ainda que o anteprojeto fosse tramitado em regime de urgência. O Ministro
demonstrou interesse em resolver a questão jurídica e autorizou, a pedido da FENASSEC, a
criação de um Grupo de Trabalho no Ministério, para estudar com profundidade a temática. O
ministro concordou quanto à necessidade do sigilo profissional e afirmou que iria colaborar.
Estavam presentes os assessores técnicos da Federação Marco Antonio de Oliveira Rocha
Júnior e Márcia Siqueira.
Nos dias 19 e 20/02/2008, foi instalado o Grupo de Trabalho do Ministério do
Trabalho (MT) e com representantes do próprio Ministério e da FENASSEC. Após discutida
e analisada a conveniência pública e a legalidade da criação do Conselho, deveria o
requerimento ser encaminhado à Casa Civil e, posteriormente, ao Congresso Nacional.
79
Entretanto, para surpresa do Dr. Marco Antonio de Oliveira Júnior, representante da
FENASSEC no GT (Grupo de Trabalho), o assessor da SRTE, Eudes Carneiro, anunciou que
dependeria de um decreto Presidencial para poder responder ao nosso requerimento de análise
de conveniência pública para a criação do Conselho. A FENASSEC entendia que essa posição
revestia-se de excesso de burocracia, posto que o Ministério é um órgão do Poder Executivo e
a solicitação da Federação era para que o MTE apenas analisasse o pedido de análise quanto à
conveniência pública, para que o requerimento pudesse ser encaminhado à Casa Civil. Essa
informação do assessor Eudes Carneiro causou surpresa à FENASSEC, uma vez que o mesmo
na Audiência Pública do dia 23 de outubro de 2007, na Câmara dos Deputados, representando
o TEM, afirmou em alto e bom som para todos os presentes que a SRTE – Secretaria
Regional do Trabalho e Emprego era favorável à criação do nosso Conselho, demonstrando
interesse em resolver o problema.
Com esse impasse, em 12 de Março/2008, a presidente da FENASSEC, Maria
Bernadete Lira Lieuthier, foi à Casa Civil para audiência com o Sr. Marcos de Castro Lima,
Subchefe de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência
da República, e no dia 13/03/2008, com o Sr. Marivaldo de Castro Pereira, Chefe de Gabinete
da Subchefia para Assuntos Jurídicos.
No dia 26/03/2008, aconteceu audiência com o Chefe do Gabinete da Presidência da
República, Senhor Gilberto Carvalho. A Presidente Maria Bernadete Lira Lieuthier, a diretora
Normélia Nogueira, Presidente do SISDF, e o assessor Marco Antonio de Oliveira Rocha
Silva Júnior foram recebidos pelo assessor do Sr. Gilberto Carvalho, ocasião em que foi
protocolizado requerimento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República para a criação
do Conselho de Secretariado, com o envio de projeto de lei ao Congresso Nacional.
Em 10/04/2008, por meio do Ofício 389-Supar/SRI, o Sr. Marcos de Castro Lima,
Subchefe de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência
da República, comunicou a FENASSEC que, de ordem do Senhor Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, o nosso requerimento
teria sido encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, para análise e providências
cabíveis.
Em 03/04/2008, o Estado de São Paulo deu mais um importante passo para agilizar a
criação dos Conselhos Regionais e Federal de Secretariado. No dia 03/04/2008, a Moção de
Apelo ao Presidente da República, pela Criação dos Conselhos Regionais e Federal de
Secretariado, proposta pelo Deputado Simão Pedro (PT/SP), foi aprovada conclusivamente,
80
por unanimidade, pela Comissão de Relações do Trabalho da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, sendo encaminhada ao Senhor Presidente da República.
Em 10/04/2008, foi a vez do Estado de Maranhão. Em Sessão da Assembleia
Legislativa, o Deputado Estadual Edivaldo Holanda (PTC/MA) colheu assinaturas de apoio a
criação do Conselho Federal. Na Câmara, o Vereador José Joaquim Ramos, também
manifestou o apoio da Casa.
Em 20/05/2008, a Presidente da FENASSEC e o assessor Marco Antonio de Oliveira
Rocha Silva Júnior estiveram reunidos com a Dra. Hébe, Chefe de Gabinete do Advogado
Geral da União - AGU, em Brasília, para tratar sobre o posicionamento do MTE sobre sua
atribuição para analisar o requerimento de criação do conselho, sendo informados na ocasião
que aquele Ministério é o competente, sim, para tratar da temática.
Em 21/05/2008, o Líder do Governo no Senado, Senador Romero Jucá (PMDB-RR),
recebeu em seu gabinete a Vice-presidente Regional II da FENASSEC, Aurilena Fagundes,
de RR, a Vice-Presidente Executiva da FENASSEC, Stela PudoBasiuk, a Presidente do
Sindicato de AL, Aurivane Alexandre, e o assessor Marco Antonio de Oliveira Rocha Silva
Júnior, e prometeu empenhar-se para a criação do nosso Conselho Federal.
Em 23/05/2008, os mais de 800 congressistas do XVI Congresso Nacional de
Secretariado-Consec deram uma importante contribuição à criação do conselho profissional.
Seguiram em caravana ao Congresso Nacional e foram recebidos no auditório Nereu Ramos,
em Brasília, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Ghinaglia. Todos vestiam
camisetas com o slogan: “Eu defendo sim a criação do Conselho Federal de Secretariado”.
Sensibilizado com a mobilização da categoria, o parlamentar ressaltou que é inquestionável a
importância do secretário para o efetivo funcionamento das organizações. O deputado
Vicentinho (PT/SP), autor da indicação Parlamentar de nº. 1899 ao Governo Federal para
instituir o Conselho de Secretariado, salientou que os secretários têm uma responsabilidade
muito grande, pois lidam com informações e sigilo profissional, devendo ser respeitados na
sua dignidade como profissionais. Ficou patente a força de mobilização da categoria pela
criação do seu conselho.
Em 26/05/2008, O Estado de RR junta-se a luta pelo Conselho com a:
“MOÇÃO APELO Nº 006/08 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora torna pública a seguinte: -
Moção de Apelo ao Exmo. Sr. Presidente da República, para que determine ao Ministério do
Trabalho e Emprego a adoção de providências para análise e aprovação do Requerimento que
originou o Processo Administrativo nº 46.003854/2003-08, proposto pela FENASSEC –
81
Federação Nacional das Secretárias e Secretários, e que objetiva a criação do Conselho
Federal de Secretariado
Palácio Antônio Martins, 26 de maio de 2008.
Dep. FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO - Presidente em exercício Dep.
MARÍLIA PINTO - 1ª Secretário, Dep. REMÍDIO MONAI - 2º Secretário JUSTIFICATIVA
Tramita no Ministério do Trabalho e Emprego o Processo Administrativo n°
46.003854/2003-08, proposto pela Federação Nacional das Secretárias e Secretários -
FENASSEC. Tal propositura visa a análise, por parte do Ministério do Trabalho e Emprego,
da legalidade e da conveniência pública da criação do Conselho Federal de Secretariado, que
se constituirá como autarquia federal, que deve ser criada por lei cujo projeto é de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo. A análise da legalidade fica a cargo de técnicos jurídicos que,
certamente, emitirão parecer favorável, posto que não há obstáculo algum em nosso
ordenamento jurídico à criação de autarquia federal especial - Conselho Profissional, para
que, uma categoria profissional que possui nível de formação técnico e superior se
autorregulamente e fiscalize, assim como acontece com os Conselhos de Contabilidade,
Enfermagem, Odontologia etc. A análise da conveniência pública depende da vontade política
de se abordar e estudar a questão, levando em conta os anseios da categoria e os benefícios
para a sociedade, que passamos a expor:
O profissional de secretariado exerce função de confiança, em razão de suas
atribuições (Leis Federais 7.377/85 e 9.261/96). Por conta disso, muitos patrões ou dirigentes
acabam por contratar pessoas que não possuem a formação profissional adequada, mas que
gozam de sua confiança, o que faz com que, muitas vezes, as empresas suprimam a
qualificação profissional em razão da confiança. Para reverter este quadro, é necessário que os
empregadores sintam-se seguros com relação à aplicação efetiva de um código de ética e,
ainda, que essa relação de emprego esteja amparada por institutos que lhe garantam segurança
jurídica, como o do sigilo profissional. O Conselho de Secretariado, luta antiga da categoria,
traz a possibilidade de que a profissão seja regulamentada e fiscalizada pelos próprios
profissionais de secretariado, através de seus eleitos, que deverão, inclusive, defender as
prerrogativas profissionais indispensáveis à garantia de maior espaço no mercado de trabalho
e melhoria salarial.
O aumento da profissionalização beneficiará a sociedade, pois, sem sombra de
dúvidas, trará maior agilidade e versatilidade às empresas, com segurança jurídica em relação
à confidenciabilidade e fidelidade das informações, algo indispensável para o crescimento e
maior geração de empregos. Além do que, somente por meio da institucionalização e da
82
confidenciabilidade das informações, por meio da instituição de sigilo profissional, será
possível a efetiva profissionalização desta função: “secretariar”, que existe desde as primeiras
organizações sociais e que, historicamente, infelizmente, tem sido vista mais sob o prisma da
confiança pessoal do que pela formação profissional, muito embora tenhamos avanços por
conta das ações dos sindicatos que representam a categoria e de sua Federação Nacional.
Assim, por todo o exposto, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima apela ao Exmo.
Sr. Presidente da República para que determine ao Ministério do Trabalho e Emprego a
adoção de providências para análise e aprovação do requerimento que originou o processo
administrativo nº 46.003854/2003-08, proposto pela FENASSEC – Federação Nacional das
Secretárias e Secretários e que objetiva a criação do Conselho Federal de Secretariado, pois é
de latente interesse público que o Conselho Federal de Secretariado seja criado.”
Em 23/07/2008, a presidente foi recebida pelo Ministro das Relações Institucionais,
José Múcio Monteiro, que, conhecedor da importância da profissão e da nossa luta constante
pela criação do Conselho Profissional, prontificou-se a ajudar no sentido de agilizar o
processo na Casa Civil.
30/9/2008 – Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina.
06/10/2008 – Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Conheça a íntegra da Sessão Solene.
11/10/2008 – Estudantes e professores do Curso de Secretariado Trilíngue das
Faculdades Claretianas do Município de Rio Claro/SP debatem a criação do Conselho em
painel composto pela presidente do Sindicato de Campinas-Sinsecamp, Ondina Fratini, Stela
Pudo, vice-presidente da FENASSEC, Dr. Marco Antonio, assessor da FENASSEC e o
Deputado Paulo Teixeira-PT/SP.
Outubro/2008 – Universidade Católica de Goiana debate Conselho no IX Seminário
Curricular – Palestraram sobre o tema o coordenador do curso – prof. Roque Toscano e o
assessor técnico da FENASSEC, Dr. Marco Antonio.
29/10/2008 - Audiência às 15h30min, no Ministério do Trabalho, para tratar sobre o
encaminhamento do parecer da SRTE, para a Casa Civil.
FENASSEC pressiona ministro do Trabalho e Emprego pela criação do Conselho
Federal de Secretariado
Em audiência com o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, a presidente da
Federação Nacional das Secretárias e Secretários (FENASSEC), Bernadete Lieuthier, foi
reforçar pessoalmente a importância da criação do Conselho Federal de Secretariado para a
83
categoria. O encontro foi realizado no dia 30 de Janeiro, em Brasília. Estavam presentes os
assessores técnicos da federação, Marco Antônio de Oliveira Rocha da Silva Júnior e Márcia
Siqueira, e o assessor especial do ministério, Ezequiel Sousa do Nascimento. No ano passado,
a categoria foi ao Congresso Nacional, com o mesmo objetivo de pressionar os parlamentares.
Ocasião em que foi realizada uma audiência pública na Comissão de Trabalho e Serviços
Públicos da Câmara dos Deputados.
Durante a reunião, Bernadete Lieuthier reapresentou ao ministro um anteprojeto de
Lei, já atualizado, pois o anterior se encontrava no ministério desde 2003: “Nossa luta pelo
Conselho é antiga e pedimos que seja tramitado em regime de urgência, para que logo depois
seja emitido parecer favorável à propositura do projeto de lei pelo presidente da República,
por meio da Casa Civil”.
No projeto reformulado, ela informou que foi normatizado o sigilo profissional: “Há
uma necessidade de instituição do sigilo profissional para a categoria, como meio de exercício
pleno da profissão, o que só será possível com a criação do Conselho”.
Ela também enfatizou que o profissional de Secretariado exerce função de confiança
em razão de suas atribuições: “Na atualidade, a detenção de informações e, principalmente,
seu caráter confidencial são vitais para que se obtenha êxito em determinada atividade
econômica e poucos empregados detêm como o profissional de Secretariado”.
A presidente requereu que juntasse ao processo anterior toda a documentação
apresentada, incluindo a transcrição da audiência pública, realizada no dia 23 de outubro do
ano passado, realizada na Comissão de Trabalho e Serviços Públicos da Câmara Federal, na
presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP). O evento
contou com o total apoio de deputados e senadores presentes, além da presença maciça de
profissionais.
O ministro demonstrou interesse em resolver a questão jurídica e autorizou, a pedido
da FENASSEC, a criação de um Grupo de Trabalho no Ministério para estudar com
profundidade a temática. Para Carlos Lupi, demonstrou sensibilidade quanto à necessidade do
sigilo profissional e afirmou que iria colaborar: “Agora depende de uma análise da Secretaria
de Relações do Trabalho e do departamento jurídico do Ministério.”
30/10/2008 – O Sindicato de Santa Catarina, juntamente com a categoria secretarial de
Santa Catarina, realizou Audiência Pública e fez Moção de Apoio para a criação do Conselho.
A iniciativa partiu da Dep. Odete de Jesus (PRB/SC). A presidente do Sinsesc, Ana Maria
Neto, e o assessor da FENASSEC, Dr. Marco Antonio, participaram do evento.
84
Em 06/01/2009, O Ministério do Trabalho encaminhou à Casa Civil uma exposição de
Motivo Interministerial a qual tomou o nº EMI – 01/2009. Esta exposição teve por finalidade
expor à apreciação proposta de anteprojeto de lei que dispõe normas para apreciação de
minutas de anteprojeto de lei que visam a criação de conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas.
Em 21/01/2009, a EMI seguiu para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
e foi protocolada sob nº de processo: 03000.000226/2009-45. O Processo foi submetido à
equipe técnica do MP e, após análise, devolvido com sugestão de encaminhamento ao
Ministério do Trabalho e Emprego para conhecimento e reexame da proposta.
Em 08/06/2010, a presidente da FENASSEC, Bernadete Lieuthier, tomou
conhecimento de que a matéria já havia sido revista pelo Ministério do Trabalho e que o
Ministério do Planejamento já havia devolvido o processo à Casa Civil.
A presidente da FENASSEC continuou confiante no sucesso da luta da criação do
Conselho da profissão. Disse que os entraves foram até então ultrapassados, e que a proposta
do anteprojeto encaminhado pelo Ministro do Trabalho ao Senhor Presidente da República
para criar Decreto, instituindo critérios para a criação de conselhos profissionais de profissões
já regulamentadas, foi uma grande vitória da categoria, e que o Decreto era, definitivamente,
o que faltava para a concretização do anseio da classe e que viria, sem sobra de dúvidas,
valorizar a profissão do Secretariado no Brasil.
As ações para criação dos Conselhos continuaram tanto no Congresso quanto no
âmbito do Executivo. Conforme histórico do site, na última audiência ocorrida com o
Ministro do Trabalho, o então Ministro Carlos Lupi, fomos informadas de que o MT
encaminhou à Casa Civil uma Exposição de Motivos Interministeriais (EMI 01/2009 –
Processo nº 03000.000226/2009-45) com a proposta de um anteprojeto de lei dispondo sobre
a competência do MT, para a criação de conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas, disciplinando os procedimentos do Ministério e determinando os requisitos a
serem seguidos pelos interessados na criação de um conselho.
Nesse sentido, grupos de estudos foram formados com técnicos do MT, Casa Civil e
MP para definir os parâmetros para criação de conselhos profissionais e regulamentação de
profissões.
Em 14.12.2012, para surpresa da FENASSEC, tomaram conhecimento de que o
Processo nº 03000.000226/2009-45 (proposta de anteprojeto de Lei que dispõe sobre normas
para apreciação de minutas de anteprojeto de lei que visam à criação de conselhos de
85
fiscalização de profissões regulamentadas) se encontrava arquivado desde 31.01.2012, no
Ministério do Planejamento,
No início do mês de fevereiro de 2012, o Processo foi devolvido ao Ministério do
Trabalho, e a FENASSEC solicitou vistas do processo para saber o motivo do arquivamento
pelo Ministério do Planejamento, bem como as alegações para a devolução do processo ao
Ministério do Trabalho.
A FENASSEC, em 08 de janeiro de 2013 verificou que o secretário executivo
adjunto do Ministério do Planejamento despachou no sentido do Ministério do Trabalho dizer
se ainda havia interesse na tramitação da matéria. Dizia ainda o despacho que caso existisse
interesse do MTE, no prosseguimento da matéria, que atualizasse a proposta via SIDOF,
considerando as manifestações da então SEGES e da CONJUR/MP constantes dos autos.
Em 18/02/2013, a Sra. Maria da Glória Bittencourt AFT/SIT/MTE emitiu a Nota
Técnica 29/2013 – MGB/SIT/TEM, em que, após breves considerações, ressaltava que, como
o anteprojeto originou-se no âmbito da Secretaria de Relações do Trabalho, cabia a ela se
posicionar acerca da conveniência e oportunidade no prosseguimento da matéria e apresentar
subsídios ao Gabinete do Ministro para resposta à solicitação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
A FENASSEC tem envidado todos os esforços para que haja prosseguimento do
processo, com a manifestação favorável do Ministério do Trabalho (MT). Entretanto, como é
público, está acontecendo uma série de mudanças no Ministério do Trabalho, inclusive com o
próprio chefe da pasta, que, em pouquíssimos meses, mudou por duas vezes, e, com a
mudança de Ministros, sofreu alteração toda estrutura interna do ministério, fato que tem
dificultado as ações empreendidas pela federação.
A FENASSEC está buscando o apoio imprescindível dos Senhores Parlamentares,
principalmente os da base do governo, para dar impulso ao processo e, consequentemente, à
justa luta dos profissionais de Secretariado pela criação do seu Conselho de Classe, tão
importante e necessário para a consolidação da profissão.
Infelizmente, nem todas as informações são divulgadas, para não criarem falsas
expectativas.
Pelo exposto até o momento, a FENASSEC, juntamente como os Sindicatos dos
Secretários dos Estados, não mediram esforços para dar sequência ao processo.
A seguir, apresentamos o Projeto de Lei da Criação do Conselho de Classe, recebido
da presidente da FENASSEC, Srª Maria Bernadete Lira Lieuthier.
86
3.2.1 Projeto Conselho de Classe
Projeto de Lei da Criação do Conselho de Classe dos Secretários e Secretárias (Anexo
H).
3.2.1.1 Alguns pontos do anteprojeto
Neste item, apresentamos somente os pontos do Anteprojeto considerados mais
importantes:
. Atribuições – O Conselho Federal de Secretariado e os conselhos regionais têm por
atribuição orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, bem como supervisionar o
cumprimento e aplicação do Código de Ética Profissional.
• Sigilo – O sigilo profissional poderá ser oposto em juízo ou fora dele pelo prazo de
10 anos, após o término do contrato de prestação de serviços profissionais.
• Inscritos – Apenas serão inscritos os profissionais:
1- Com diploma em Curso de Secretariado, oficialmente autorizado.
2- Com diploma obtido por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na
forma da legislação em vigor.
3- Os profissionais inscritos nos quadros do Conselho que tenham concluído o ensino
médio e tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos profissionais,
pelo tempo mínimo de 10 anos, anteriores à criação da lei.
• Direção – O dirigente não poderá ocupar cargo no mesmo órgão por mais de dois
mandatos, tendo a duração de quatro anos.
• Conselho Deliberativo – As instituições superiores de ensino farão parte do
Conselho Deliberativo dos Conselhos Regionais, com a composição de quatro representantes.
• Anuidade – A primeira anuidade será paga integralmente ao Conselho Federal, para
promover a estruturação do mesmo e dos Conselhos Regionais. O valor da primeira anuidade
não poderá ultrapassar 10% do valor do piso salarial para um mês de trabalho.
A seguir, apresentamos o que o que alguns Sindicatos têm feito pela classe secretarial,
as quais representam.
Esclarecemos que foram escolhidos apenas alguns sindicatos, devido ao universo
destes serem muitos, não dando para obter respostas de todos a tempo.
87
Assim, apresentaremos os relatos do SINSERJ – Sindicato dos Secretários do Rio de
Janeiro, por ser responsável por Secretários de uns dos maiores mercados de trabalho para
estes profissionais; SISDEF – Sindicato das Secretárias e Secretários do Distrito Federal, por
ser responsável pelo profissionais que atuam no mercado da Capital do país; e SINSEPAR –
Sindicato das Secretárias do Estado do Paraná, por ser responsável pelo mercado do Estado
onde atuo como docente na área secretarial. Esses sindicatos responderam prontamente à
solicitação de informações sobre o trabalho realizado pelos sindicatos em prol da classe.
3.3 O TRABALHO REALIZADO PELOS SINDICATOS QUE REPRESENTAM A CLASSE SECRETARIAL
3.3.1 O SINSERJ – Sindicato dos Secretários e secretárias do Rio de Janeiro6
De acordo com Freitas (2013), o SINSERJ foi fundado em 04 de fevereiro de 1988. A
Carta Sindical o credencia como entidade legalmente constituída, para representar a categoria
profissional no estado do Rio de Janeiro. Mas os destinos da entidade estão bem alicerçados
no Estatuto Social – qual uma carta magna das entidades sindicais – atualizado, fixando
diretrizes para o fiel cumprimento dos direitos e deveres da Categoria, dos associados, dos
integrantes da Diretoria Executiva e dos representantes junto à Federação, em consonância
com as suas prerrogativas.
Desde a sua fundação, a entidade vem lutando incansavelmente pela defesa dos
interesses da categoria, seja no sentido do reconhecimento de seu trabalho no mercado, seja
investindo em sua valorização profissional.
Consciente de que a educação é a mola mestra do crescimento profissional e humano,
o SINSERJ vem investindo nela o melhor dos seus esforços. A sua luta tem sido amplamente
compensada, porque já ofereceu a 11.200 trabalhadores, registro de Técnico em Secretariado,
formados pelo SINSERJ.
Também, devidamente habilitados como secretários executivos, existem atualmente
9.300 profissionais, entre eles os detentores de registro, após a conclusão do Curso de Pós-
Graduação, Gestão em Secretariado Executivo, em parceria com Universidade do Grande Rio
– Unigranrio, hoje, lamentavelmente extinto, após ter formado alunos de sete (7) turmas.
Mesmo tendo escolhido a educação como sua prioridade número um, o SINSERJ não
deixa de agir em outros campos.
6 As informações contidas neste tópico foram encaminhadas, gentilmente, pela presidente do SINSERJ, Srª
Gerarda Freitas.
88
O SINSERJ tem sido salvaguarda na defesa da integridade moral da secretária. Em
duas ocasiões, ingressou no Ministério Público com processo contra órgãos da imprensa
escrita, por ter veiculado em suas edições, matérias ofensivas à imagem do profissional. E foi
bem sucedido.
Participa dos processos de negociação coletiva de empresas públicas e privadas,
levando para o debate as cláusulas sociais e econômicas, bem como as sadias questões que
dizem respeito à valorização profissional.
No âmbito do governo do Estado, esteve presente nas discussões do reajuste dos pisos
estaduais e conseguiu que, na lei promulgada em 08 de março de 2013, o profissional de
secretariado integrasse o rol das categorias estaduais, com os seus respectivos pisos
referendados.
A visão modernista das atividades sindicais é nossa meta. O sistema sindical está preso
a antigas práticas que emperram o desenvolvimento de forma sustentável e autêntica, de
acordo com os primados da ética e da moral.
3.3.2 O SISDF – Sindicato das Secretárias e Secretários do Distrito Federal 7
De acordo com Nogueira (2013), o que sindicato tem a mais, além do já exigido na
legislação, são as Convenções Coletivas de Trabalho assinadas com a Fecomercio,
Sindicondomínio, Secovi e o Sescon (cuja abrangência são as Empresas e Escritórios de
Serviços Contábeis, de Advogados, de Assessoria e uma série de outros segmentos), que
exigem, desde 2006, o Registro Profissional.
Isso obriga os empregadores a só contratarem profissionais devidamente habilitados,
de acordo com a lei de regulamentação, e implica que, como o sindicato não tem a
prerrogativa de fiscalizar o exercício da profissão, posto que esta é do conselho, quando
alguma empresa não cumpre o que está acordado nas Convenções Coletivas (CCTs) esta
entidade faz denúncia ao Ministério Público do Trabalho (MPT) por descumprimento de
cláusula convencional.
Como exemplo, transcrevemos abaixo a cláusula da CCT assinada, já este ano, com o
segmento da Terceirização (Seac/DF) e informamos que a íntegra desta e das últimas CCTs,
assinadas com as entidades patronais citadas acima, podem ser visualizadas na página desta
entidade: <www.sisdf.com.br> em Convenções Coletivas Trabalhistas.
7 Informações, gentilmente, fornecidas pela presidente do SISDF, Srª Maria Normélia Alves Nogueira
89
Nogueira (2013) apresenta as cláusulas sobre a obrigação do registro profissional do
Secretário para atuar nas empresas de Brasília:
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - REGISTRO PROFISSIONAL
As empresas ficam, terminantemente, proibidas de contratar para as
funções de Técnico em Secretariado e/ou Secretário Executivo, profissionais sem o Registro Profissional, obtido nas SRTEs/MTE, exigido
pela legislação vigente.
Parágrafo Primeiro – Os trabalhadores já contratados como Secretários Técnicos, embora sem o registro profissional, que estejam,
comprovadamente, matriculados em algum curso profissionalizante de
Técnico em Secretariado, até 31/12/2012, terão o prazo de seis meses, a partir de 1º de janeiro de 2013, para apresentar o Registro Profissional.
Parágrafo Segundo – Os trabalhadores já contratados, como Secretários
Executivos, embora sem o registro profissional, que estejam,
comprovadamente, matriculados em algum curso tecnólogo e/ou de
graduação em secretariado executivo, até 31/12/2012, deverão
apresentar semestralmente a declaração de escolaridade da Instituição de
Ensino (grifo do autor).
A cláusula acima exposta faz parte de uma conquista do sindicato em prol das
Secretárias e Secretários do Distrito Federal apenas.
3.3.3 O SINSEPAR – Sindicato Das Secretárias Do Paraná
Conforme Maina (2013), a atuação do SINSEPAR luta pela valorização do
profissional de Secretariado desde a formação profissional e nas normas coletivas de trabalho
junto aos sindicatos patronais que representam diversos setores.
De acordo com a atual presidente do SINSEPAR, Srtª. Neuralice Cesar Maina, desde a
sua fundação em 1987, por Denize Carneiro de Campos, este sindicato vem atuando na defesa
individual e coletiva dos profissionais e estudantes de Secretariado, participando de atividades
sociais e sindicais e de atividades educacionais nos estabelecimentos de ensino, como reunião
com professores, coordenadores, palestras aos estudantes e entrevistas para os cursos EAD,
socializando as informações sobre carreira e mercado de trabalho, legislação profissional,
legislação trabalhista, legislações que protegem trabalhadores contra discriminações e
violências no mercado de trabalho e na sociedade, registro profissional, conselho de classe,
empreendedorismo, sindicalismo, políticas de gênero, globalização profissional etc.
Participou da construção inicial do Projeto de Criação do Conselho Federal de
Secretariado, bem como da mobilização nacional pelo conselho, no Congresso e no Senado
90
Federal, onde contou com o apoio de parlamentares do Paraná, tanto em Brasília, como na
Assembleia Legislativa com uma moção de apoio.
O SINSEPAR desde a sua criação vem atuando na defesa da categoria profissional de
Secretariado nas negociações coletivas de trabalho e atualizando anualmente os Acordos e
Convenções, os quais estão disponíveis no sistema mediador do Ministério do Trabalho:
<www.mte.gov.br> (FIEP - FECOMÉRCIO - SINAPRO - SINAEES - COPEL - SANEPAR
E SESCAP), onde, além do piso salarial e conquistas econômicas, temos algumas cláusulas
sobre a legislação profissional e estágios.
No blog, no site e no Facebook, para disponibilizar informações que possam chegar ao
maior número de secretários no Estado e no país, o sindicato divulga suas atividades e
eventos, bem como promove campanhas de sindicalização, abaixo-assinados, como a Petição
Pública, que será posteriormente encaminhado ao Ministro do Trabalho e Emprego, Dr.
Maoel Dias, solicitando apoio na liberação do Conselho de Classe
(http://www.peticaopublica.com.br/?pi=CFS2013).
Também, como para melhor comunicação com os membros da classe, disponibiliza os
seguintes endereços online: www.jornaldassecretarias.blogspot.com, www.sinsepar.com.br,
www.facebook.com/neuralicemaina) e www.fsindical.org.br.
O SINSEPAR mantém parcerias com demais sindicatos da área de secretariado, a
exemplo do SINSESP, que pela sua Presidente ISABEL CRISTINA BAPTISTA, na troca de
informações sobre negociações coletivas e em parcerias em eventos, ministra palestras e
entrevistas no Paraná.
O SINSEPAR firmou parceria com o SINSESP na realização do Congresso
Internacional de Secretariado, que será realizado dias 21 a 24 de novembro de 2013, em
Campos do Jordão - ver programa em www.coins.sinsesp.com.br e com o SESC TURISMO,
para que o Paraná tenha uma maior delegação para o COINS.
No sindicalismo, o SINSEPAR está filiado na Central Força Sindical (mais de 1.700
entidades sindicais) e participa ativamente das atividades Estaduais e Nacionais (Congresso
Estadual da Força Sindical do Paraná será realizado dia 19 de junho de 2013, na Associação
Banestado no Litoral do Paraná, com os temas: I) A Agenda Programática da Central para os
próximos quatro anos; II) Propostas Políticas de incentivo ao crescimento da economia e ao
desenvolvimento do país; III) A reforma da legislação trabalhista e da organização sindical;
IV) A política internacional da Força Sindical; V) As iniciativas orientadas ao fortalecimento
da Força Sindical; VI) Proposta de novo estatuto da Força Sindical; VII) As diretrizes
políticas e organizacionais específicas da Força PR; VIII) Eleição e posse da diretoria
91
estadual, conselho fiscais e respectivos suplentes da Força PR; IX) Eleger os Delegados do
PR ao 7º Congresso da Força Sindical Nacional. Inscrições até 11/06/2013 no site:
www.fsindical.com.br/congresso.
Ainda no primeiro semestre de 2013, o SINSEPAR realizará um encontro de
Coordenadores, Docentes, Estudantes e Profissionais de Secretariado junto com as Secretarias
de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia e Administração, para uma avaliação conjunta
dos cursos técnicos, e superiores: tecnologia e bacharelado, no Paraná.
Muito já se fez, mas muito ainda tem que ser feito para o alcance dos objetivos
propostos pelo SINSEPAR, e somente com a maior conscientização, participação,
sindicalização e integração profissional da classe junto às instituições e unidade nas ações, a
curto prazo, pode-se obter algum avanço, e o mais importante no momento será a provação do
PL que cria o Conselho Federal e Regionais de Secretariado.
Assim, caminha-se em busca de uma maior valorização profissional e de conquistas
para a nossa nobre profissão de Secretariado, superando dificuldades e desejando que os
desafios se transformem em oportunidades de crescimento, comprometimento, valorização,
inovação, unidade e grandes realizações, e que tudo isso nos motive sempre a seguir em
frente.
3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS
Verificando o conjunto de diretrizes normativas que balizam a atuação do Secretário,
observamos que estas não estão imunes às influencias sociais e políticas.
Tendo como referência o histórico das lutas pela regulamentação da profissão do
secretário, pelo Conselho Federal de Secretariado e pelos Conselhos Regionais da classe
secretarial, observamos a necessidade de um processo permanente de avaliação e de crítica
tanto aos dispositivos normativos (que com o passar dos anos e com as inovações
tecnológicas, precisam de uma revisão e atualização) quanto às práticas secretariais nas
instituições, nas representações sindicais e corporativas, no parlamento.
Percebemos que as instituições representativas não têm medido esforços para a
aprovação dos conselhos fiscalizadores que efetivamente atuem e garantam o espaço de
atuação do secretário, conforme rege a Lei 7.377, de 30 de setembro de 1985.
92
Ademais, há um “dever ser” democrático e moral que serve de referência para um
projeto profissional e de universidade a ser construído, que passa por um diapasão discursivo
que abordaremos no último capítulo deste estudo, o capítulo 4.
93
CAPÍTULO 4
PROPOSTA DISCURSIVA DA GESTÃO DE SECRETARIA
Verificando que a atuação do Secretário nas Instituições públicas, como, por exemplo,
numa Universidade, é mais do que nunca, marcada pela confiança e pela ética,
compromissada com a fidedignidade das informações, retidão nas atitudes e qualidade
solidária nos relacionamentos, percebemos que há uma perspectiva ética que se identifica com
as exigências da atuação desse profissional, a Ética do Discurso de Habermas, apresentada a
seguir.
4.1 A ÉTICA DO DISCURSO DE HABERMAS
Os alicerces da Ética do Discurso são apresentados por Habermas em sua obra
Consciência Moral e Agir Comunicativo, no capítulo que o autor intitula de “Notas
Programáticas para a Fundamentação de Uma Ética do Discurso”.
A Ética do discurso significa a ética do apresentar razões, o que presume um ambiente
crítico, ou seja, termos razões para questionar. Quando se tem uma atitude que não é tida
como normal, a reação do outro é perguntar: por quê? Ou seja, é questionar. No momento em
que se questiona, está se promovendo uma situação de discurso, e a pessoa que apresentar
suas razões ou argumentos do por que disse ou fez, está realizando o diálogo que leva, para
Habermas, ao discurso.
O discurso pressupõe a participação simétrica dos concernidos competentes na comunicação isenta de qualquer coação. Participante competente na
comunicação é aquele com a capacidade de distinguir confiadamente entre
ser e aparência, essência e fenômeno, ser e dever-ser (DUTRA, 2002, p.
165).
Em sua proposta de discurso, Habermas, segundo Hansen (2010, p. 34), “adota uma
estratégia de fundamentação da mesma mediante a construção de argumentos que conduzam
uns possíveis oponentes, céticos participantes do discurso, à atitude de não poder negar o que
é afirmado sob pena de cair em contradição performativa.”8
8 Contradição performativa, segundo Hansen éaquela que surge quando alguém afirma algo (conteúdo), mas o
ato do seu proferimento contradiz o conteúdo que ele afirmou. Ex.: quando alguém fala, por exemplo, a frase
“eu sou mudo”, o ato (falar) contradiz o conteúdo afirmado (“eu sou mudo”).
94
Ou seja, como se fosse um jogo de xadrez9, Habermas procura conduzir seu “oponente
argumentativo” à situação de não ter saída, o que o obriga a concordar incondicionalmente
com os argumentos e conclusões a que chega o debate.
Habermas considera a Ética do Discurso inicialmente desenvolvida por Karl
Otto Apel como a abordagem mais promissora na atualidade. Assim, buscará
apresentar sua proposta em consonância ao programa de fundamentação apeliano, aperfeiçoando-o, sem perder o referencial kantiano contido na obra
de seu colega frankfurtiano (SILVA, 2005, p. 36).
O itinerário habermasiano, nesse prisma, passa pelo enfrentamento de possíveis
objeções formuladas pelo cético na tentativa que este faz de inviabilizar qualquer ética em
bases racionais.
A primeira objeção apresentada pelo cético é a de que a ética não pode ser tematizada
a partir da razão, e diz que “a razão é calculadora. Ela pode avaliar verdade de fato e relações
matemáticas e nada mais. No âmbito da prática, só pode falar de meios. Sobre os fins ela tem
que calar”, e ainda argumenta que, desde Kant, isto é contestado pelas éticas cognitivas, e que
as questões práticas são “passíveis de verdade” (HABERMAS, 2003, p. 62).
Para essa objeção cética, Habermas contrapõe, introduzindo a fenomenologia moral de
Strawson, dizendo que quando alguém nos ofende e não repara a ofensa, ficamos ressentidos,
com a sensação de mágoa, de dor, de decepção, de impotências, e até de vingança. Porém, não
é um mero ressentimento de caráter psicológico, mas também passa a ter um caráter moral,
pois o agredido se sente ofendido se sente injuriado enquanto ser humano, que possui um
espaço social, no qual se vê atingido na sua dignidade e respeito público.
De acordo com Habermas (2003, p. 64), “Strawson parte da reação emotiva que por
causa de seu caráter insistente, é adequada pra demonstrar até para o mais empedernido dos
homens, por assim dizer o teor de realidade das experiências morais; ele parte, a saber, da
indignação com que reagimos às injúrias.”
Uma pessoa em face à injúria sente-se agredida, e esta se pereniza num ressentimento
que, caso não haja de alguma maneira a reparação da ofensa recebida, fica escondido,
internalizado em seu ser.
Nós, seres humanos, temos expectativas na relação com os outros e tais expectativas
vão depender do tipo de relação mantida.
9 O objetivo do jogo de xadrez é mover as peças no sentido de capturar a peça central do jogo, qual seja, o rei.
Para isso, cada jogador move as peças para se proteger do ataque do outro e também para atacar as peças do
adversário, cercando-as de sorte a inviabilizar o movimento destas e, uma vez isso conseguido, capturá-las e
eliminá-las, tornando mais fácil a empreitada de captura do rei adversário.
95
Caso uma ofensa recebida pelo agredido sofra uma reparação do agressor (ex. pedido
de desculpas), este mesmo que ainda esteja magoado, o ressentimento moral tende a ser
suprimido.
Hansen (2010, p. 54) observa que:
Outro elemento que pode eventualmente gerar o efeito da superação do ressentimento moral é a constatação, por parte do agredido, de que o
agressor protagonizou a ofensa sem estar de posse das plenas condições
mentais ou de domínio da razão, por possuir debilidade mental ou estar em estados psicológicos de descontrole extremo (embriaguez, drogas, psicose,
surto, alucinações medicamentosas etc.). Deste modo, a ofensa não teve
motivação ligada ao desrespeito específico ao agredido, mas surgiu como
produto do destempero e do descontrole irascível de quem ataca a qualquer um que esteja próximo naquele momento.
Diante desse contexto, Habemas (2003) apresenta quatro observações feitas por
Strawson:
1) Para as ações que insultarem a integridade do outro, e quem o fez, se desculpar. Tão
logo suas desculpas sejam aceitas, o ofendido não se sentirá mais tão injuriado ou
diminuído.
2) Os diferentes sentimentos morais estão entrelaçados uns aos outros em relações
internas, só os sentimentos pessoais do ofendido é que podem ser compensados por
um pedido de desculpas daquele que ofendeu, bem como somente quem foi
ofendido é que pode aceitar as desculpas e perdoar a injustiça que sofreu;
3) Somente a pessoa que feriu a integridade do outro deverá receber a indignação e o
ressentimento de quem magoou. Todavia, essa indignação não deve seu caráter
moral à circunstância de que a interação entre duas pessoas particulares tenha sido
perturbada, mas antes à infração de uma expectativa normativa que tenha validez
para todos os membros do grupo social.
[...] se nas relações afetivas, em situações determinadas contra pessoas
particulares, não estivesse associadas a essa forma impessoal de indignação, dirigida contra a violação de expectativas de comportamento generalizadas
ou normas, elas seriam destituídas de caráter moral. É só pretensão a uma
validez universal que vem conferir a um interesse, a uma vontade ou uma norma a dignidade de uma autoridade moral (STRAWSON apud
HABERMAS, 2003, p. 68).
4) Há notória conexão interna entre a autoridade de normas e mandamentos vigentes, o
dever em que os destinatários das normas se encontram de fazer o que é deliberado
96
e deixar fazer o que é proibido, e, por outro lado, aquela pretensão impessoal com
que apresentam as normas de ação e mandamentos. A saber, mostrar que são
legítimos. A indignação e a censura contra a violação das normas só podem se
apoiar, em uma última análise, num conteúdo de raciocínio pessoal. Quem faz tal
censura quer dizer que o culpado pode eventualmente se justificar – por exemplo,
recusando como injustificada a expectativa normativa à qual apela a pessoa tomada
de indignação. “Dever fazer algo” significa “ter razões para fazer algo”. “O que
devemos fazer?” aponta à questão técnica da produção social quanto à adequação
dos meios aos fins, de efeitos desejáveis.
Nesta última observaçãstao, Habermas (2003, p. 69) diz que:
Strawson reúne suas diferentes observações, insiste na ideia de que só podermos evitar que o sentido das justificações moral-práticas das maneiras
de agir nos escape, se não perdermos de vista a rede de sentimentos morais
tecida na prática comunicativa quotidiana e se localizarmos corretamente a questão: „O que devo fazer? O que devemos fazer?
Assim, de acordo com Habermas (2003, p. 70), a fenomenologia dos fatos morais
propo por Strawson chega aos seguintes resultados:
a) que o mundo dos fenômenos morais só é descoberto a partir da atitude
performativa dos participantes em interações;
b) que as reações e ressentimentos afetivos em geral remetem a critérios
suprapessoais para a avaliação de normas, ou seja, pessoas têm expectativas de
conduta com relação a outras e, quando frustradas, geram ressentimento, raiva,
desejo de vingança.
c) que a justificação prático-moral de um modo de agir ocorre via aspecto diferente da
avaliação afetivamente neutra de relações meio-fim, mesmo que esta possa ser
derivada de pontos de vista de bem-estar social.
Quando nossa relação é de primeira e segunda pessoas (Eu-Tu), a
expectativa é moral; quando a relação é de terceira pessoa (Eu-Ele ou Eu-
Isso), nossa atitude é objetivante; a ciência tem essa última atitude, pois trata as cobaias como objetos, assimétricos, portanto, e não como simétricos. As
empresas também, pois o que interessa é o lucro, e você como pessoa é
apenas um isso, um meio para chegar lá (SILVA, 2005, p. 38).
97
Mais uma vez Habermas consegue provar ao cético que, nas expectativas recíprocas
de convivência ligadas a um tipo de relacionamento, existem elementos morais. Logo, o
cético não pode alegar que ética e moral são devaneios.
O cético afirmará que pode existir ética e moral, mas cada um tem a sua, o que é
subjetivismo ético; também pode alegar que existem valores morais verdadeiros e eternos,
aqueles dados por Deus, ou pelos genes, o que é objetivismo ético.
Contrapondo o cético, Habermas (2003) argumenta o seguinte:
a) contra o subjetivismo, argumentará que se as pessoas têm expectativas morais
mútuas somente é porque existem valores partilhados e fundados
intersubjetivamente. Então, quando cada um tem seus valores e sua ética, cai-se
num relativismo, o que significa que não tem ética alguma. Postura essa que não
pode ser defendida, visto que é equivocada, posto que não tem sentido alguém
fundar valores que só valem para si e para mais ninguém;
b) contra o objetivismo, argumentará que só se pode falar em moral ou ética porque
existe a possibilidade de escolha de valores (ética) ou normas (moral). Sem isto,
sequer poderemos falar de ética e moral. Assim, defender valores colocados na
natureza ou revelados por entidade externa à razão humana significa inviabilizar a
própria discussão sobre a ética. E, como já observamos que existem os conflitos e
expectativas mútuos no campo da ética, conclui-se que a postura objetiva está
equivocada.
Hansen (2010, p. 46) comenta que a refutação das posturas objetivistas e subjetivistas
à universalização é capaz de dar validade e objetividade (aceitação por todos) aos valores e
normas.
Na procura de um princípio-ponte para garantir a universalização de normas,
Habermas toma por referência os preceitos do Imperativo Categórico de Kant.
A interpretação de Habermas ao Imperativo categórico de Kant é: “um principio que
exige a possibilidade de universalizar as maneiras de agir e as máximas, ou antes, os
interesses que elas levam em conta (por conseguinte, tomam corpo nas normas da ação)
(HABERMAS, 2003, p. 84).
Contudo, Habermas observa que o Imperativo Categórico de Kant possui dificuldade
para ser considerado princípio-ponte e apresenta dois motivos básicos, que, de acordo com
Hansen (2000, p. 17):
98
[...] a) pelo fato de gerar mal entendidos ao propor o critério de
universalização das máximas como garantia para a comprovação da
legitimidade destas no sentido de serem tidas como leis morais. O que no entender de não é condição suficiente, para garantir o caráter moral de uma
máxima; b) por apresentar uma perspectiva monológica quanto à sua
aplicação: eu posso, em qualquer local onde esteja, aplicar o Imperativo
Categórico sobre quaisquer máximas e chegar sozinho à conclusão acerca da validade das mesmas como leis morais ou não, sem que os concernidos pelas
normas tenham que estar presentes ou opinar sobre a legitimidade das
mesmas. Isso pode nos conduzir à absolutização do nosso ponto de vista moral e levar-nos a cometer uma falácia etnocêntrica.
Mediante as dificuldades acima colocadas, Habermas vê a necessidade da
reformulação do Imperativo Categórico, concordando com McCarthy quando comenta que “a
ética discursiva pode ser compreendida como uma reconstrução da ética Kantiana”
(BORGES; DALL‟AGNOL; DUTRA, 2002, p. 101).
A tese de McCarthy é deduzida do texto “Trabalho e Interação”, no qual Habermas
afirma:
Kant pressupõe o caso o limite de uma sintonização preestabelecida dos
sujeitos agentes [...] As leis morais são absolutamente universais no sentido de que, ao valerem para mim como gerais, eo ipso, é preciso pensá-las como
válidas para todos os seres racionais. Por conseguinte, sob tais leis, a
interação dissolve-se em ações de sujeitos solitários e autossuficientes, cada
um dos quais deve agir como se fora a única consciência existente e, no entanto, ter, ao mesmo tempo, a certeza de que todas as suas ações sujeitas a
leis morais concordam, necessariamente e de antemão, com todas as ações
morais de todos os outros sujeitos possíveis (HABERMAS apud BORGES; DALL‟AGNOL; DUTRA, 2002, p. 102).
Para Freitag (1992, p. 245), a ética discursiva de Habermas é uma teoria moral
cognitivista que procura dar continuidade ao princípio moral enunciado por Kant.
Habermas dirá que podemos e devemos fundamentar as normas morais através de
discursos práticos.
Neste contexto é que Habermas apresenta em sua obra Consciência Moral e agir
comunicativo os pressupostos que “se apresentam como condições e possibilidades para atos
de fala livres de coação e, por conseguinte, potencialmente realizados das expectativas
coletivas manifestas pelos participantes de situações reais de fala.” (HANSEN, 2010, p. 49).
Nas situações reais de fala, porém, temos uma situação ideal como uma espécie de
pano de fundo, situação essa racional. São os pressupostos racionais presentes em cada
discurso que Habermas (2003, p. 110-112) desenvolverá, com base no seu discípulo, Robert
Alexy;
99
[...] tais são de caráter lógico-semântico, procedural ou processual.
Esses pressupostos lógico-semânticos (1), procedurais (2) e
processuais (3) podem ser assim exemplificados: (1.1) A nenhum falante é lícito contradizer-se;
(1.2) Todo o falante que aplicar um predicado F a um objeto A tem que estar disposto a aplicar F a qualquer outro objeto que se assemelhe a A sob todos
os aspectos relevantes.
(1.3) Não é lícito aos diferentes falantes usar a mesma expressão em sentidos diferentes [...]
(2.1) A todo o falante só é lícito afirmar aquilo em que ele próprio acredita.
(2.2) Quem atacar um enunciado ou norma que não for objeto da discussão tem que indicar uma razão para isso [...]
(3.1) É lícito a todo o sujeito capaz de falar e agir participar de Discursos.
(3.2) a. É lícito a qualquer um problematizar qualquer asserção.
b. É lícito a qualquer um introduzir qualquer asserção no Discurso. c. É lícito a qualquer um manifestar suas atitudes, desejos e necessidades.
(3.3) Não é lícito impedir falante algum, por uma coerção exercida dentro ou
fora do Discurso, de valer-se de seus direitos estabelecidos em (3.1) e (3.2).
Segundo Freitag (1992, p. 244), o modelo de Alexy apresenta três regras discursivas
básicas a serem observadas:
1) Todo e qualquer sujeito capaz de agir e falar pode participar de discursos. Esta
primeira regra fixa os critérios de inclusão dos participantes, reais ou potenciais, de
um discurso.
2) Todo e qualquer participante de um discurso pode problematizar qualquer
afirmação, introduzir novas afirmações no discurso, exprimir suas necessidades,
desejos e convicções. Aqui percebemos que esta regra assegura a todos os
participantes direitos e oportunidades iguais para dar sua contribuição na base da
argumentação.
3) Nenhum interlocutor pode ser impedido, por forças internas ou externas ao
discurso, de fazer uso pleno de seus direitos assegurados nas regras 1 e 2. Esta
última esclarece as condições das relações, livre de violência ou coação.
Essas regras aqui apresentadas correspondem às condições para o que Habermas
denomina como a situação ideal de fala.
Conforme Hansen (apud SILVA, 2005, p. 41):
[...] a partir desses pressupostos, e ainda da incorporação reconstrutiva do
Princípio de Universalização (U) proposto por Karl O. Apel, com o
acréscimo que faz do Princípio do Discurso (D), Habermas conclui que é fundamental que qualquer regra por estabelecer precise ser discutida entre
100
todos os concernidos por ela, ou seja, a totalidade daqueles que forem
possivelmente afetados devem participar desse processo de definição de
normas sociais. Essa é uma condição, além das já mencionadas na citação de Habermas acima, que devem ser respeitadas quando da definição do que
sejam condições quantitativa e qualitativamente satisfatórias de vida
individual e coletiva no ambiente onde estão situadas (espaço-tempo).
Com esses argumentos, Habermas alinhava seu projeto de ética discursiva, projeto que
nos parece consistente e que a profissão Secretário em suas atividades profissionais se
identifica.
4.2 A GESTÃO SECRETARIAL NA PERSPECTIVA DA ÉTICA DO DISCURSO
Dentre os requisitos que se mostram imprescindíveis a um secretário na atualidade,
estão elementos como discrição e sigilo, capacidade de relacionamento multicultural e de
respeito aos seus interlocutores, domínio de informações e gerenciamento a partir de critérios,
habilidade na solução de problemas, na administração de vaidades e no gerenciamento de
conflitos.
Para atender essas exigências, o profissional de secretariado não pode mais tomar
como referência absoluta os parâmetros pretéritos de conduta moral e os valores exclusivos de
seu grupo social. A globalização e a diversificação cultural, religiosa, étnica e valorativa hoje
presentes implicam a necessidade de novos paradigmas éticos. É nesse contexto que se insere
a Ética do Discurso.
Entre as exigências ao Secretário, para uma boa atuação profissional, acreditamos que
seja importante destacar a gestão do relacionamento, a gestão do conhecimento, a gestão com
conflitos, tendo em vista que este profissional, em seu ambiente profissional, está em
constante contado com pessoas.
Se o secretário atua diariamente com pessoas e se relaciona com todos, é
certo que, além de detentor de informações importantes e sigilosas é uma pessoa que vive em contato verbal constante com os membros que atuam na
instituição. Assim, necessita de uma grande capacidade de entender a
diversidade cultural que há entre seus interlocutores, pois cada um vem de um ambiente diferente, uma educação diferente e vivem situações pessoais e
profissionais do cotidiano diferentes e, principalmente, são pessoas humanas
(HANSEN; SILVA, 2009, p. 81).
101
Entender a diversidade cultural não é tarefa fácil, pois cada um tem uma história de
vida, um modo de ver o mundo, foi educado de maneira diferente, portanto, o secretário é um
profissional preparado para esta realidade.
No papel de gestor secretarial e trabalhando com um grupo de colaboradores, sua
atuação dentro dos parâmetros éticos discursivos, servirá de exemplo na construção de um
ambiente agradável, onde as pessoas passam a se respeitar, e, a partir daí, constrói uma
imagem de credibilidade e respeito. Isso refletirá positivamente na instituição com certeza.
A ação do secretário a partir da ética discursiva na prática pode conquistar harmonia e
comprometimento de todos os concernidos, principalmente se tratar seus parceiros com
simetria (atitude onde a relação é eu-tu e não eu-isso), ou seja, tratar o outro como pessoa
humana e não como um mero objeto que pode ser usado e descartado. Numa relação de
respeito ao outro, é possível criar um ambiente em que todos colaborem com todos.
Ao aplicar as regras básicas discursivas propostas por Alexy, dos quais já comentamos
anteriormente, o secretário poderá fazê-lo proporcionando aos seus colaboradores e parceiros
de trabalho o direito de participar nas reuniões, ou mesmo nas conversas informais que
tenham objetivos institucionais, com sugestões e argumentos para buscar a melhor solução
para o assunto colocado em discussão, sem contradição, sem atribuir predicados diferentes
para o que está em discussão, com sinceridade, argumentando sobre a opinião dada, sem
coação. Nesse sentido, estará incluindo-os na situação real de fala, do discurso que neste
espaço de comunicação se formou.
Quando as pessoas se sentem incluídas no processo da conversa, se sentem livres para
expor suas sugestões e argumentos, contribuindo com o que se está discutindo e procurando
soluções. Sendo tratado com simetria e respeito, elas se sentem parte do processo. Neste
contexto é que acontece o real direito de participação no discurso.
Uma vez os concernidos participantes do discurso se sentem parte do processo, estarão
assim comprometidos com a solução dada, a decisão tomada e, comprometidos, realizarão
suas tarefas dentro do que foi combinado por todos, ou seja, do consenso a que chegaram e,
também, não terão constrangimento ao lembrar ou ser lembrado quando, por ventura, estejam
se desviando daquilo que foi estabelecido por todos os concernidos.
De acordo com Hansen e Silva (2009, p. 82): “Quando todos participam do diálogo
buscando soluções e resultados na gestão secretarial, sentem-se envolvidos no processo, são
parte dele, o que certamente pode proporcionar um comprometimento maior com o trabalho
em seu ambiente, consenso, comprometimento e cobrança mútua.”
102
Ao agir de forma comunicativa, adotando parâmetros éticos, não só na secretaria sob
sua responsabilidade, mas também nas relações interinstitucionais, além de exemplo
(confuso), pode semear a proposta de estabelecimento de normas e procedimentos em
parcerias e, a partir daí, que estes sejam cumpridos e cobrados, por todos os concernidos, sem
medos ou sentimentos de ofensa.
O secretário do século XXI deve se preocupar com seu perfil técnico, atualizando-se
sempre, fazendo cursos para dominar conhecimentos sobre as novas tecnologias e as novas
estratégias de gestão. Porém, jamais deixar de primar pela postura ética profissional e pessoal.
Sempre que se deparar com uma situação de conflito, tomadas de decisão que reflitam
no ambiente de trabalho, deve procurar a melhor solução junto aos demais concernidos,
buscando o consenso, através do diálogo, em que todos se sintam no direito de argumentar
sobre o assunto e, com isso, chegar a um resultado que seja considerado pelos envolvidos o
melhor possível a todos.
103
CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO
Assumimos nesta dissertação de mestrado destacar o Secretário Executivo e sua
atuação nas instituições universitárias a partir da perspectiva da Ética do Discurso em
Habermas.
Para cumprir o que nos propusemos, realizamos primeiramente um estudo sobre a
complexidade da instituição pública universitária, observando quais são as perspectivas
democráticas nela presentes. Pudemos perceber que tais perspectivas são a liberal e
republicana, explicitando as suas principais características e efeitos numa universidade.
Também analisamos os problemas mais destacados na relação Universidade-Sociedade e suas
implicações éticas. Além disso, observamos o modo pelo qual se dão as relações intra e extra
institucionais na gestão universitária.
A intenção, no primeiro capítulo, foi chamar a atenção sobre os aspectos éticos, morais
e estratégicos presentes nas relações e na gestão universitária. Neste cenário, o secretário tem
participação ativa no que acontece na Universidade, buscando apontar as influências externas
sofridas pela instituição frente à globalização e à tecnologia, que avançam num ritmo veloz.
No segundo capítulo, apresentamos o secretário enquanto profissional, sua história,
seu perfil, sua multifuncionalidade e, enquanto pessoa, sua autoimagem. Elucidamos suas
responsabilidades como gestor de conhecimento e gestor de relacionamentos, já apontando
para a ética proposta por Habermas, tendo em vista uma identificação da profissão secretário,
por estar em constante contato com as pessoas, com o agir comunicativo.
Já no terceiro capítulo desta dissertação, orientamos nossa reflexão movidos pela
hipótese de que os órgãos ligados à gestão institucional (sindicatos, associações de classe, e
até mesmo Universidades) promovem muitas discussões sobre a ética, a moral e os aspectos
jurídicos nas instituições. Todavia, os parâmetros propostos nos pareciam baseados em
modelos conservadores de gestão, em que predomina a visão centralizada, monocrática e
impregnada de características autoritárias, situando-se, via de regra, aquém das exigências
ético-morais-jurídicas atinentes a um Estado Democrático de Direito. Tornou-se muito
interessante realizar um estudo sobre o efetivo comprometimento destes órgãos na promoção
da reflexão sobre a dimensão ético-moral-jurídica, com adoção de parâmetros normativos que
sejam construídos e vivenciados em respeito aos pressupostos de um Estado Democrático de
Direito e de forma participativa.
Assim, no terceiro capítulo, procuramos mostrar as diretrizes normativas e
institucionais, apresentando um breve histórico da luta pela regulamentação da profissão do
104
secretário, discorrendo sobre as leis e o código de ética que regem a atuação e a conduta do
secretário, comentando alguns destes documentos por nós considerados importantes para o
seu entendimento. Além disso, apresentamos o histórico da luta pela criação do Conselho de
Federal e Conselhos Regionais da classe secretarial, além de evidenciar o que a Federação
Nacional das Secretárias e Secretários – FENASSEC e os Sindicatos Estaduais não têm
medido esforços, para garantir os direitos dos secretários e fazer cumprir o que foi
estabelecido na Lei 7.377, de 30 de setembro de 1985, e no Código de Ética da Profissão do
Secretário, publicado no Diário Oficial da União de 7 de julho de 1989.
Com referência ao acima exposto, há necessidade, até em função dos avanços
tecnológicos e a velocidade das informações que chegam devido à globalização, de um
permanente processo de avaliação e crítica das competências do secretário e suas práticas nas
instituições, tanto nos dispositivos normativos quanto nas representações sindicais e
corporativas, no parlamento.
Finalmente, apresentamos a Ética do Discurso em Habermas, onde expusemos os
principais elementos contidos na proposta desse filósofo, que alinhava seu projeto de ética
discursiva, projeto que nos parece o mais consistente com uma nova perspectiva ético-moral-
jurídica para o profissional em secretariado, e como este pode contribuir para melhorá-la
através do estabelecimento de diretrizes e sua implantação nas instituições. Nesse sentido,
apontamos situações práticas em que a ética do discurso pode ser aplicada, o que certamente
servirá de exemplo, estabelecendo uma nova forma de agir intersubjetivamente, com
comprometimento moral junto a todos os concernidos e à instituição.
105
REFERÊNCIAS
ALONSO, Maria Ester Cambréa. A arte de assessorar executivos. São Paulo: Pulsar, 2002.
BATISTA, Fábio Ferreira. Modelo de gestão do conhecimento para a administração
pública brasileira: como implementar a gestão do conhecimento para produzir resultados em
benefício do cidadão. Brasília: IPEA, 2012.
BOND, Thereza Maria; OLIVEIRA, Marlene de Oliveira. Manual do profissional de
secretariado: conhecendo as técnicas secretariais. Curitiba: Ibepx, 2009. v. 2, 3.
BORGES, Maria de Lourdes; DALL‟AGNOL, Darlei, DUTRA, Delamar Volpato. Ética. Rio de
Janeiro: DP&A, 2002.
BRASIL. Comitê Executivo do Governo Eletrônico. Oficinas de planejamento estratégico:
relatório consolidado. 2004. Disponível em:
<http://www.governoeletronico.gov.br/anexos/E15_243diretrizes_governoeletronico1.pdf/>.
Acesso em: 13 jun. 2013.
______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 27. ed. São
Paulo: Saraiva, 1991.
______. Decreto nº 70.274 de 9 de março de 1972. Aprova as normas do cerimonial e a
ordem geral de procedência. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70274.htm> Acesso em: 29 jul. 2013.
______. Lei nº. 6556 de 5 de setembro de 1978. Dispõe sobre a atividade de Secretário e dá
outras providências. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-
6556-5-setembro-1978-366543-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 13 jun. 2013.
______. Lei nº. 7.377 de 30 de setembro de 1985. Dispõe sobre da profissão de secretário e
dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7377consol.htm>. Acesso em: 13 jun. 2013.
______. Ministério do Trabalho e do Emprego. Classificação Brasileira de Ocupações:
listagem das profissões regulamentadas. Disponível em: <http://www.mtecbo.
gov.br/cbosite/pages/ regulamentacao.jsf> Acesso em: 13 jun. 2013.
CAMARANO, Luciano. CRM gestão de relacionamento com o cliente: uma abordagem
prática. 2002. 62 f. Monografia (Bacharelado em Curso de Ciências da Computação) -
Departamento de Ciência da Computação, Universidade Federal de Lavras, Lavras.2002.
DUTRA, Delamar V. Kant e Habermas: a reformulação discursiva da moral kantiana. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 2002. (Coleção Filosofia n.137).
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS- FENASSEC. Lei e
regulamentação. Disponível em:
<http://www.fenassec.com.br/b_osecretariado_lei_regulamentacao.html>. Acesso em: 10 jan. 2012.
FIGUEIREDO, Vânia. Secretariado: dicas & dogmas. Brasilia: Thesaurus, 1987.
106
FOUCAULT, Michel. Lesujet et le pouvoir. In: ______. Dits et écrits. Paris: Gallimard,
1994. p. 222-243. Tome IV.
______. Microfísica do poder. Tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
FREITAG, Bárbara. Itinerário de antígona: a questão da moralidade. São Paulo: Papirus,
1992.
FREITAS, Gerarda Ribeiro de Freitas. Rosely Dias. [mensagem pessoal] Mensagem recebida
por <[email protected]> 17 abr. 2013.
GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São
Paulo: Ed. UNESP, 1991.
______. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. 7. ed. Rio de
Janeiro: Record, 2010.
HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio
Seligmann-Silva, São Paulo: Littera Mundi, 2001.
______. A inclusão do outro: estudos de teoria política. Tradução de George Sperber e Paulo
AstorSoethe. São Paulo: Loyola, 2002a.
______. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 2002b. v. 1.
______. Consciência moral e agir comunicativo. 2. ed. Tradução de Guido Antonio de
Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. (Biblioteca Tempo Universitário, 84 –
Série Estudos Alemães).
______. Para a reconstrução do materialismo histórico. Tradução de Carlos Nelson
Coutinho. São Paulo: Brasiliense, 1983.
______. Teoría de laacción comunicativa. Madrid: Taurus, 1987.
______. Theorems of legitimation crisis. In: ______. Legitimation crisis. Boston: Beacon
Press, 1975. Chapter 6, p. 68-75.
HANSEN, Gilvan Luiz. Gestão de conflitos. In: OLIVEIRA, Rosana Terezinha Queiroz de.
(Org.). Gestão universitária. Niterói: EDUFF, 2013a No prelo.
______. Gestão universitária: tensões e perspectivas. In: Oliveira, Rosana Terezinha Queiroz
de (Org.). Gestão universitária. Niterói: EDUFF, 2013b. No prelo.
______.A gestão de pessoas em instituições do poder judiciário. No prelo.
______. A melancolia do poder e o poder da melancolia. Boletim - Centro de Letras e
Ciências Humanas (UEL), Londrina, v. 14, n. 27, p. 53-64, 1994.
______.Kant: razão, liberdade e moralidade. In: HANSEN, Gilvan Luiz; CENCI, Elve Miguel
(Org.). Racionalidade, modernidade e universidade. Londrina: Edições CEFIL/EDUEL,
2000. p. 1-24.
107
______. Os elementos utópicos na concepção habermasiana de situação ideal de fala. In:
CENCI, Elve Miguel; MÜLLER, Maria Cristina. Ética, política e linguagem: confluências.
Londrina: CEFIL, 2004. p. 124-138.
______. Razão, modernidade e conflito. Londrina, 2011. Apostila palestra Mediação de
Conflitos - Mestrado em Direito da Universidade Estadual de Londrina.
______. A resolução de conflitos no estado democrático de direito: uma perspectiva
habermasiana. 2010. 78 f. Monografia (Graduação em Direito) – Centro Universitário
Plínio Leite, Niterói.
HANSEN, Gilvan Luiz; SILVA, Rosely Diasa. A importância da ética na gestão secretarial.
In: PORTELA, Keyla Christina Almeida; SCHUMACHER, Alexandre José. Gestão
secretarial: o desafio da visão holística. Cuiabá: Adeptus, 2009. p. 73-84.
HODGSON, Jane. Thinking on your feet in negotiations. Londres: Pitman, 1996.
LIEUTHIER, Maria Bernadete Lira. Solicita ajuda para dissertação. [mensagem pessoal].
Mensagem recebida por <[email protected]> em 17 abr. 2013.
MACHADO, Fernanda Martins Pelosi. O papel do gestor na administração de conflitos.
2011. 41f. Monografia (Pós Graduação em Gestão de Recursos Humanos) - Instituto a Vez do
Mestre, Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro.
MACHADO, Nelson et al. GBRSP gestão baseada em resultado no setor público: uma
abordagem didática para implementação em prefeituras, câmaras municipais, autarquias,
fundações e unidades organizacionais. São Paulo: Atlas, 2012.
MAINA, Neuralice Cesar. Dados Sinsepar para professora Rosely Dias dissertação do
mestrado. [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <[email protected]> em 27
maio 2013.
MELO, Daniela de Mendonça. Democracia: entre liberais, republicanos e deliberativos.
Constitucional. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7826>. Acesso em: 22 jul. 2013.
MOURA, Evânio. O princípio da moralidade na administração pública do estado. 2008.
Disponível em: <http://www.viajuridica.com.br/>. Acesso em: 15 jan. 2013.
MÜLLER, Mary Estela; CORNELSEN, Julce Mary. Normas e padrões para teses,
dissertações e monografias. 6. ed. Londrina: EDUEL, 2007.
NASCIMENTO, Eunice Maria; EL SAYED, Kassem Mohamed. Administração de
conflitos. Disponível em: <http://www.someeducacional.com.br/apz/gestao_conflitos/4.pdf>
Acesso em: 5 jan. 2012.
NEIVA, Edméa Garcia; D´ELIA, Maria Elizabete Silvia. As novas competências do
profissional de secretariado. 2. ed. São Paulo: IOB, 2009.
NOGUEIRA, Maria Normelia Alves. Ajuda para dissertação de mestrado [mensagem
pessoal] Mensagem recebida por <[email protected]> em16 abr. 2013.
108
NONATO JUNIOR, Raimundo. Epistemologia e teoria do conhecimento em secretariado
executivo: a fundação das ciências da assessoria. Fortaleza: Expressão, 2009.
ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS. A ONU e a população mundial. Disponível
em: <http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-em-acao/a-onu-e-a-populacao-mundial/>.
Acesso em: 30 maio 2013.
PASSOS, Célia. Teoria do conflito. Rio de Janeiro. 2011.Apostila do Curso Mediação de
Conflitos- Ministério Público - RJ, Mediare - cursos técnicos e gerenciais.
PEREIRA, José Matias. Manual de gestão pública contemporânea. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2009.
PROTOCOLO. In: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Minicionário Houaiss.
Dicionário da língua portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. p. 363.
REALE, Miguel. Filosofia do direito. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1986.
RIBEIRO, Laudicena de Fátima. Regras básicas para apresentação de trabalhos. 2013.
Disponível em: <http://www.uel.br/bc/portal/arquivos/apostila-normalizacao.pdf>. Acesso
em: 10 jul. 2012.
RIBEIRO, Nilzenir de Lourdes Almeida. Secretariado: do escriba ao gestor. 2. Ed. São Luiz:
Socingra, 2005.
SABINO, Rosimeri Ferraz; ROCHA, Fabio Gomes. Secretariado: do escriba ao web writer:
a história, a evolução e as competências do Secretariado no 3º milênio. Rio de Janeiro,
Brasport: 2004.
SANTANA, Ana Lucia. Autocrítica. Disponível em:
<http://www.infoescola.com/psicologia/autocritica/> Acesso em: 20 jun. 2013.
SILVA, Flavia Martins André. Poderes basilares da administração pública: artigo 37 da
Constituição Federal. 2006. Disponível em:
<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2636/Poderes-basilares-da-Administracao-
Publica-Artigo-37-da-Constituicao-Federal>. Acesso em: 15 fev. 2013.
SILVA, Rosely Dias. Ética do discurso em Habermas: uma perspectiva contemporânea.
2005. 39 f.Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Filosofia Moderna e
Contemporânea: aspectos éticos) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina. 2005.
______. Reestruturação das atividades da secretaria executiva da editora da UEL. 1999.
66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Secretariado Executivo) - Centro de
Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina, Londrina. 1999.
SILVA, Édison Gonzague Brito. Ética profissional. Alegrete: Instituto Federal Farroupilha,
2012.
ZINN, Luciane Müller Freitas. Secretário como gestor de pessoas. Disponível em:
<http://www.gestaoplanob.com.br/?p=147>. Acesso em: 10 maio 2013.
110
Anexo A
Portaria Nº 3.103, de 29.04.87 - DOU de 30.04.87
Secretárias - Enquadramento Sindical
O Ministro de Estado do Trabalho, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 570
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº. 5.452, de 1º de maio de
1945, tendo em vista o que consta do Processo nº. 24.130.001361/85;
Considerando as condições singulares de vida das secretárias, no exercício de suas
atividades profissionais, fato que as diferencia das demais atividades;
Considerando o disposto na Lei nº 7.377, de 30 de setembro de 1985, que criou o estatuto
profissional dos integrantes da categoria em questão,
Resolve:
Criar no 2º grupo - Empregados de Agentes Autônomos do Comércio - do plano da
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio - a categoria profissional
diferenciada "SECRETÁRIAS".
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Almir Pazzianotto Pinto
111
ANEXO B
Artigo 1º do Estatuto Social da Fenassec - Federação Nacional dos Secretários e
Secretárias , registrado em Cartório sobe o nº 00105856
A FEDERAÇÃO NACIONAL DAS SECRETÁRIAS E SECRETÁRIOS, legalmente
reconhecida na forma da legislação vigente pelo Ministério do Trabalho em 07 de março de
l.990, com sede, foro e domicílio no Distrito Federal em Brasília, no SCS Quadra 1, Edifício
Ceará, sala 407 – CEP 70303-900, entidade sindical de segundo grau, de direito privado, sem
fins lucrativos, constituída por tempo e prazo indeterminados, com base territorial em todo o
território nacional, é constituída para fins de estudo, coordenação, proteção, defesa e
orientação geral e legal da categoria profissional de secretariado com formação em Técnico
em Secretariado, Tecnologia em Secretariado, Bacharel em Secretariado Executivo e todos os
profissionais que atuem em áreas de Secretariado, como Assessores, Assistentes, Auxiliares,
de todos os ramos e áreas de conhecimento dessa atividade no primeiro, segundo e terceiro
setores, conforme atribuições constantes nos artigos 4º e 5º da Lei 7.377/85, modificada pela
Lei 9.261/96, que regulamenta a Profissão de Secretariado, independente da denominação
anotada na ficha de registro e CTPS do empregado, bem como aquelas decorrentes de atos
publicados no órgão oficial, na forma do contido na legislação regulamentar, mais
especificamente na Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), das entidades com
representação na categoria profissional diferenciada de secretariado com formação em
Técnico em Secretariado, Tecnologia em Secretariado e Bacharel em Secretariado Executivo
e todos os profissionais que atuem em áreas de Secretariado, como Assessores, Assistentes,
Auxiliares, de todos os ramos e áreas de conhecimento dessa atividade no primeiro, segundo e
terceiro setores, conforme atribuições constantes nos artigos 4º e 5º da Lei 7.377/85,
modificada pela Lei 9.261/96, que regulamenta a Profissão de Secretariado, independente da
denominação anotada na ficha de registro e CTPS do empregado, bem como aquelas
decorrentes de atos publicados no órgão oficial, na forma do contido na legislação
regulamentar, mais especificamente na Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), sob sua
jurisdição no território nacional, integrada no 2º Grupo dos Trabalhadores Autônomos do
Comércio a que se refere o Artigo 577, da Consolidação das Leis do Trabalho, de
conformidade com a Portaria 3103/87 do Ministério do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452/43, tendo como princípio básico a liberdade e a autonomia, preservando a unicidade
sindical, a solidariedade profissional e social e reger-se-á pelo presente Estatuto.
Artigo 2º - São prerrogativas da Federação:-
a) representar perante os poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, no âmbito nacional, e
empresas dos setores públicos e privados, os interesses individuais ou coletivos dos
Sindicatos Filiados, e de igual forma os interesses da categoria nas localidades onde não
exista Sindicato representativo da Categoria Profissional diferenciada legalmente
reconhecido;
b) defender e ampliar com todos os meios ao seu alcance, os direitos e interesses da Categoria
Profissional reconhecida pela Portaria nº 3.103/87, do Ministério do Trabalho, perante as
autoridades constituídas;
c) defender os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria
profissional representada, inclusive como substituto processual;
d) impetrar mandado de segurança coletivo (Art. 5º, LXX da Constituição Federal), impetrar
mandado de injunção (Art. 5º, LXXI da Constituição Federal) e ajuizar ações coletivas ou
individuais (Art. 8º, III da Constituição Federal), em nome dos integrantes da categoria
112
profissional de secretariado com formação em Técnico em Secretariado, Tecnologia em
Secretariado e Bacharel em Secretariado Executivo;
e) celebrar convenções, acordos, contratos coletivos de trabalho ou instaurar dissídio em favor
dos profissionais inorganizados em Sindicato, assistir ou representar os Sindicatos federados,
nas ações de idêntica natureza, quando solicitada ou autorizada;
f) atuar junto ao Estado, como órgão técnico e consultivo, no estudo e solução dos problemas
que se relacionem com a Categoria Profissional diferenciada representada pela Federação;
g) atuar junto às autoridades competentes, administrativa, judiciária e legislativa, e empresas
do setor público e privado, no sentido do rápido andamento e da solução de tudo que direta ou
indiretamente diga respeito aos interesses da categoria;
h) eleger ou designar representantes da classe coordenada, para assuntos de interesse da
Federação e dos Sindicatos federados;
i) fazer cumprir as determinações do Código de Ética da profissão, fiscalizando a prática
exercida pelos profissionais, instituições, organizações e empresas diversas, zelando pela
observância dos princípios e diretrizes do Código, funcionando como órgão julgador;
j) assegurar o direito de greve, competindo à categoria decidir em assembléia específica para
esse fim, sobre a oportunidade de exercê-lo, e os interesses que devam por meio dele
defender;
k) criar Fundações ou firmar convênios com Fundações que se relacionem com assuntos de
interesse da categoria que representa.
l) fixar contribuições as entidades federadas.
m) impor contribuições a todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional não
representados por entidades sindicais, através de acordos, convenções, contratos coletivos e
dissídios coletivos de trabalho.
n) Representar a categoria profissional a nível internacional, podendo firmar convênios de
cooperação técnica e intercâmbios culturais com entidades estrangeiras.
o) incentivar, promover e desenvolver ações e atividades de responsabilidade social nas áreas
de esporte, cultura e lazer.
Artigo 3º - São deveres da Federação:
a) criar serviços de consultoria técnica em assuntos jurídicos, econômicos, sociais,
educacionais e culturais para os Sindicatos federados;
b) manter serviço de assistência judiciária, atendendo, quando requerido, consultas ou
prestando essa assistência sempre que aconselhável e oportuno aos federados, quando
requerido ou diretamente aos profissionais da categoria, nas localidades onde não exista
Sindicato legalmente organizado;
c) promover a conciliação nas convenções, acordos ou dissídios coletivos de trabalho, de
interesse dos Sindicatos federados e dos profissionais inorganizados;
d) coordenar, orientar e/ou criar associações e/ou Sindicatos pertencentes à Categoria
Profissional diferenciada que representa;
e) zelar pela fiel observância das leis sociais vigentes e que dizem respeito à Categoria
Profissional;
f) defender os direitos da classe, nas questões em que fizerem parte os federados, quando
solicitada;
113
g) tomar iniciativa perante os poderes competentes, pleiteando a instituição de legislação
específica, de interesse da classe;
h) elaborar pareceres sobre projetos de qualquer natureza que se relacionem direta ou
indiretamente, com os interesses da categoria;
i) promover bienalmente o Congresso Nacional da categoria, organizado pelas entidades
federadas e quadrienalmente o Simpósio Internacional;
j) promover e organizar, eventos nacionais e/ou internacionais da categoria com a participação
dos federados;
k) apoiar, quando solicitado, os eventos estaduais e interestaduais dos federados;
l) colaborar com os órgãos competentes na criação e/ou melhoria dos cursos de formação,
qualificação, aperfeiçoamento, complementação, e extensão inerentes à profissão;
m) colaborar para a melhoria das condições de segurança e saúde dos integrantes da categoria
a nível nacional, nelas compreendidas as de ambiente de trabalho e dos serviços prestados à
classe, bem como outras que tenham reflexo em seu bem estar físico, mental e social;
n) colaborar com os órgãos da Previdência Social, nos assuntos que se relacionem direta ou
indiretamente com os interesses da categoria;
o) elaborar e coordenar a produção e circulação das publicações de divulgação da Federação;
p) enviar aos federados até o décimo quinto dia seguinte da respectiva aprovação, um quadro
demonstrativo de suas atividades, acompanhado de relatório, com a indicação do número de
associados e balanço anual demonstrando sua situação econômico-financeira;
q) enviar aos federados até o décimo dia útil do mês subsequente a posição financeira de
forma sucinta;
r) elaborar projetos de qualquer natureza que direta ou indiretamente se relacionem com os
interesses da categoria;
s) repassar aos sindicatos filiados que estejam quites com suas obrigações estatutárias, o
percentual de 20% (vinte por cento) do resultado financeiro final, distribuídos em valores
iguais dos eventos promovidos e organizados pela federação, no prazo de até 60 (sessenta)
dias após a realização do evento;
t) Após 30 (trinta) dias do recebimento das mensalidades de que trata o artigo 9º, letra "a",
desse Estatuto, a Federação poderá repassar às Vice-Presidências Regionais, em proporção de
igualdade, até 30% (trinta por cento) do montante efetivamente recebido; condicionado ainda
o repasse à comprovação de efetiva necessidade.
Artigo 4º - São condições para o funcionamento da Federação:-
a) observância rigorosa das leis e do princípio de moral e compreensão dos deveres cívicos;
b) abstenção de qualquer propaganda político-partidária, como também de candidatura a
cargos eletivos estranhos à Federação;
c) inexistência do exercício de cargo eletivo cumulativamente com o de emprego remunerado
pela Federação;
d) gratuidade no exercício de cargo eletivo, ressalvada a hipótese do afastamento do trabalho
para o desempenho do mandato ou da representação sindical, de conformidade com o Artigo
521, Parágrafo Único da CLT;
e) proibição da cessão gratuita ou remunerada da sede da Federação à entidade de índole
político-partidária.
114
DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 11 – A Federação compreende os seguintes órgãos institucionais:
a) Conselho de Representantes.
b) Diretoria.
c) Conselho Fiscal.
d) Delegados Representantes no conselho da Confederação.
A diretoria (Diretoria Administrativa/Executiva) é composta de 10 (dez) membros, um
Conselho de Representantes junto à Confederação e um Conselho Fiscal, eleitos juntamente
com igual número de suplentes e terá o seu mandato por 04 (quatro) anos, a saber:
Presidência, Vice Presidência Executiva, Vice Presidência da Região I, Vice Presidência da
Região II, Vice Presidência da Região III, Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira e de
Captação de Recursos, Diretoria de Assuntos Técnicos e Profissionais, Diretoria de
Seguridade Social e Assuntos Jurídicos e Diretoria de Planejamento e Marketing.
A Vice-Presidência da Região I compreende os Estados de Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
A Vice-Presidência da Região II compreende o Distrito Federal e os Estados do Espírito
Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa
Catarina.
A Vice-Presidência da Região III compreende os Estados do Acre, Amapá, Amazonas,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Artigo 23 - À Diretoria Administrativa/Executiva compete:
a) dirigir a Federação de acordo com o presente Estatuto, administrar o patrimônio social e
promover o bem geral dos Sindicatos Federados e da Categoria Profissional diferenciada
representada;
b) elaborar os regimentos de prestação e execução de serviços internos, sociais e assistenciais
necessários, subordinados a este Estatuto;
c) cumprir e fazer cumprir as leis em vigor, bem como o Estatuto, regimentos e resoluções
próprias das Assembleias Gerais;
d) elaborar até 30 (trinta) de novembro de cada ano e submeter à Votação da Assembleia
Geral do Conselho de Representantes, com parecer do Conselho Fiscal, a proposta do
orçamento, de receita e despesas para o exercício seguinte, observada a Legislação em vigor;
e) elaborar até 30 de junho de cada ano e submeter à votação da Assembleia Geral do
Conselho de Representantes, com parecer do Conselho Fiscal, um Relatório de Atividades do
ano anterior e respectivo balanço, nos termos da lei e instruções em vigor;
f) ao término do mandato a Diretoria Administrativa/Executiva fará prestação de contas de
sua gestão no exercício financeiro correspondente, levantando para esse fim, por contabilista
legalmente habilitado, os balanços de receita e despesa, nos livros Diário e Caixa, em cujos
balanços, além da assinatura do contabilista, constarão as do Presidente e do Diretor
Financeiro, nos termos da Lei e do regulamento em vigor;
g) reunir-se em sessão ordinária bimestralmente com a presença obrigatória da Presidência,
Vice Presidência Executiva e Vice Presidências Regionais. Caso a Diretora efetiva não possa
comparecer, deverá representá-la sua suplente ou um membro da diretoria da Federação,
designado pela substituída;
h) nas reuniões mencionadas na alínea anterior, o Presidente poderá convocar outros membros
da diretoria, não citados;
i) aplicar as penalidades previstas neste Estatuto;
Parágrafo Único:- As decisões serão tomadas pelo critério da maioria dos presentes.
115
ANEXO C
Lei 7.377, de 30 de setembro de 1985 e foi modificada pela Lei 9.261 de 10\01\1996.
Lei de Regulamentação da Profissão
Lei 7377, de 30/09/85 e Lei 9261, de 11/01/96
Dispõe sobre o exercício da profissão de secretário e dá outras providências
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. O exercício da profissão de secretário é regulado pela presente Lei.
Art.2º. Para os efeitos desta Lei, é considerado:
I - Secretário Executivo
a) o profissional diplomado no Brasil por curso superior de Secretariado, reconhecido na
forma de Lei, ou diplomado no exterior por curso de Secretariado, cujo diploma seja
revalidado no Brasil, na forma de Lei.
b) o portador de qualquer diploma de nível superior que, na data de vigência desta Lei, houver
comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante pelo menos
trinta e seis meses, das atribuições mencionados no Art.4º. desta Lei.
II - Técnico em Secretariado
a) o profissional portador de certificado de conclusão de curso de Secretariado em nível de 2º.
grau
b) portador de certificado de conclusão do 2º. grau que, na data de início da vigência desta
Lei, houver comprovado, através de declarações de empregadores, o exercício efetivo, durante
pelo menos trinta e seis meses, das atribuições mencionados no Art.5º. desta Lei.
Art. 3º. É assegurado o direito ao exercício da profissão aos que, embora não habilitados nos
termos do artigo anterior, contém pelo menos cinco anos ininterruptos ou dez anos
intercalados de exercício de atividades próprias de secretaria na data de vigência desta Lei.
Art.4º. São atribuições do Secretário Executivo:
I - planejamento, organização e direção de serviços de secretaria;
II - assistência e assessoramento direto a executivos;
III - coleta de informações para a consecução de objetivos e metas de empresas;
IV - redação de textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro;
116
V - interpretação e sintetização de textos e documentos;
VI - taquigrafia de ditados, discursos, conferências, palestras de explanações, inclusive em
idioma estrangeiro;
VII - versão e tradução em idioma estrangeiro, para atender às necessidades de comunicação
da empresa;
VIII - registro e distribuição de expediente e outras tarefas correlatas;
IX - orientação da avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento a
chefia;
X - conhecimentos protocolares.
Art.5º. São atribuições do Técnico em Secretariado:
I - organização e manutenção dos arquivos da secretaria;
II - classificação, registro e distribuição de correspondência;
III - redação e datilografia de correspondência ou documentos de rotina, inclusive em idioma
estrangeiro;
IV - execução de serviços típicos de escritório, tais como recepção, registro de compromissos,
informações e atendimento telefônico.
Art.6º. O exercício da profissão de Secretário requer prévio registro na Delegacia Regional do
Trabalho do Ministério do Trabalho e far-se-á mediante a apresentação de documento
comprobatório de conclusão dos cursos previstos nos incisos I e II do Art.2º. desta Lei e da
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS.
Parágrafo Único - No caso dos profissionais incluídos no Art.3º., a prova da atuação será
feita por meio de anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social e através de
declarações das empresas nas quais os profissionais tenham desenvolvido suas respectivas
atividades, discriminando as atribuições a serem confrontadas com os elencos especificados
nos Arts.4º. e 5º.
Art.7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.8º. Revogam-se as disposições em contrário.
José Sarney
AlmirPazzianotto
Fernando Henrique Cardoso
Paulo Paiva
117
ANEXO D
Decreto nº 70.274\1972
Ordem geral de precedência em solenidades oficiais.
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO No 70.274, DE 9 DE MARÇO DE 1972.
Aprova as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item
III, da Constituição,
DECRETA:
Art . 1º São aprovadas as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência, anexas ao
presente Decreto, que se deverão observar nas solenidades oficiais realizadas na Capital da República,
nos Estados, nos Territórios Federais e nas Missões diplomáticas do Brasil.
Art . 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 9 de março de 1972; 151º da Independência e 84º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto Mario David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho Julio Barata
J. Araripe Macêdo
F. Rocha Macêdo
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinícius Pratini de Moraes
Benjamim Mário Baptista
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hiygino C. Corsetti
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.3.1972 e Retificado no DOU de 16.03.72
DAS NORMAS DO CERIMONIAL PÚBLICO
118
CAPÍTULO I
Da Precedência
Art . 1º O Presidente da República presidirá sempre a cerimônia a que comparecer.
Parágrafo único. Os antigos Chefes de Estado passarão logo após o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, desde que não exerçam qualquer função pública. Neste caso, a sua precedência será
determinada pela função que estiverem exercendo.
Art . 2º Não comparecendo o Presidente da República, o Vice-Presidente da República presidirá a
cerimônia a que estiver presente.
Parágrafo único. Os antigos Vice-Presidente da República, passarão logo após os antigos Chefes
de Estado, com a ressalva prevista no parágrafo único do artigo 1º.
Art . 3º Os Ministros de Estado presidirão as solenidades promovidas pelos respectivos
Ministérios.
Art . 4º A precedência entre os Ministros de Estado, ainda que interinos, é determinada pelo
critério histórico de criação do respectivo Ministério, na seguinte ordem: Justiça; Marinha; Exército;
Relações Exteriores; Fazenda; Transportes; Agricultura; Educação e Cultura; Trabalho e Previdência
Social, Aeronáutica; Saúde, Indústria e Comércio; Minas e Energia; Planejamento e Coordenação
Geral; Interior; e Comunicações.
§ 1º Quando estiverem presentes personalidades estrangeiras, o Ministro de Estado das Relações Exteriores terá precedência sobre seus colegas, observando-se critério análogo com relação ao
Secretário-Geral de Política Exterior do Ministério das Relações Exteriores, que terá precedência
sobre os Chefes dos Estados-Maior da Armada e do Exército. O disposto no presente parágrafo não se
aplica ao Ministro de Estado em cuja jurisdição ocorrer a cerimônia.
§ 2º Tem honras, prerrogativas e direitos de Ministro de Estado o Chefe de Gabinete Militar da
Presidência da República, o Chefe do Gabinete Civil da Presidência, o Chefe do Serviço Nacional de
Informações e o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e, nessa ordem, passarão após os
Ministros de Estado.
§ 3º O Consultor-Geral da República tem para efeitos protocolares e de correspondência, o
tratamento devido aos Ministros de Estado.
§ 4º Os antigos Ministros de Estado, Chefes do Gabinete Militar da Presidência da República,
Chefes do Gabinete Civil da Presidência da República, Chefes do Serviço Nacional de Informações e
Chefes do Estado Maior das Forças Armadas, que hajam exercido as funções em caráter efetivo,
passarão logo após os titulares em exercício, desde que não exerçam qualquer função pública, sendo,
neste caso, a sua precedência determinada pela função que estiverem exercendo.
§ 5º A precedência entre os diferentes postos e cargos da mesmas categoria corresponde à ordem
de precedência histórica dos Ministérios.
Art . 5º Nas missões diplomáticas, os Oficiais-Generais passarão logo depois do Ministro-
Conselheiro que for o substituto do Chefe da Missão e os Capitães-de-Mar-e-Guerra, Coronéis e Coronéis-Aviadores, depois do Conselheiro ou do Primeiro Secretário que for o substituto do Chefe da
Missão. Parágrafo único. A precedência entre Adidos Militares será regulada pelo Cerimonial militar.
119
Da Precedência nos Estados Distrito Federal e Territórios
Art . 6º Nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, o Governador presidirá às solenidades
a que comparecer, salvo as dos Poderes Legislativo e Judiciário e as de caráter exclusivamente militar,
nas quais será observado o respectivo cerimonial.
Parágrafo único. Quando para as cerimônias militares for convidado o Governador, ser-lhe-á
dado o lugar de honra.
Art . 7º No respectivo Estado, o Governador, o Vice-Governador, o Presidente da Assembléia legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça terão, nessa ordem, precedência sobre as autoridades
federais.
Parágrafo único. Tal determinação não se aplica aos Presidentes do Congresso Nacional da
Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, aos Ministros de Estado, ao Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República, ao Chefe do Serviço Nacional de Informações, ao Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas e ao Consultor-Geral da República, que passarão logo após o Governador.
Art . 8º A precedência entre os Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios é
determinada pela ordem de constituição histórica dessas entidades, a saber: Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul,
Ceará, Paraíba, Espirito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe,
Amazonas, Paraná, Guanabara (Excluído pelo Decreto nº 83.186, de 1979), Acre, Mato Grosso do Sul
(Incluído pelo Decreto nº 83.186, de 1979), Distrito Federal, e Territórios: Amapá, Fernando de
Noronha, Rondônia e Roraima.
Art . 9º A precedência entre membros do Congresso Nacional e entre membros das Assembléias Legislativas é determinada pela ordem de criação da unidade federativa a que pertençam e, dentro da
mesma unidade, sucessivamente, pela data da diplomação ou pela idade.
Art . 10. Nos Municípios, o Prefeito presidirá as solenidades municipais.
Art . 11. Em igualdade de categoria, a precedência, em cerimônias de caráter federal, será a
seguinte:
1º Os estrangeiros;
2º As autoridades e os funcionários da União.
3º As autoridades e os funcionários estaduais e municipais.
Art . 12 Quando o funcionário da carreira de diplomata ou o militar da ativa exercer função
administrativa civil ou militar, observar-se-á a precedência que o beneficiar.
Art . 13. Os inativos passarão logo após os funcionários em serviço ativo de igual categoria,
observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 4º.
Da precedência de Personalidades Nacionais e Estrangeiras
Art . 14. Os Cardeais da Igreja Católica, como possíveis sucessores do Papa, tem situação
correspondente à dos Príncipes herdeiros.
120
Art . 15. Para colocação de personalidades nacionais e estrangeiras, sem função oficial, o Chefe
do Cerimonial levará em consideração a sua posição social, idade, cargos ou funções que ocupem ou
tenham desempenhado ou a sua posição na hierarquia eclesiástica.
Parágrafo único. O chefe do Cerimonial poderá intercalar entre as altas autoridades da República
o Corpo Diplomático e personalidades estrangeiras.
Casos Omissos
Art . 16. Nos casos omissos, o Chefe do Cerimonial, quando solicitado, prestará esclarecimentos de natureza protocolar bem como determinará a colocação de autoridades e personalidades que não
constem da Ordem Geral de Precedência.
Da Representação
Art . 17. Em jantares e almoços, nenhum convidado poderá fazer-se representar.
Art . 18. Quando o Presidente da República se fizer representar em solenidade ou cerimônias, o
lugar que compete a seu representante é à direita da autoridade que as presidir.
§ 1º Do mesmo modo, os representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, quando membros
dos referidos Poderes, terão a colocação que compete aos respectivos Presidentes..
§ 2º Nenhum convidado poderá fazer-se representar nas cerimônias a que comparecer o
Presidente da República.
Dos Desfiles
Art . 19. Por ocasião dos desfiles civis o militares, o Presidente da República terá a seu lado os
Ministros de Estado a que estiverem subordinados as corporações que desfilam.
Do Hino Nacional
Art . 20. A execução do Hino Nacional sé terá início depois que o Presidente da República
houver ocupado o lugar que lhe estiver reservado, salvo nas cerimônias sujeitas a regulamentos
especiais.
Parágrafo único. Nas cerimônias em que se tenha de executar Hino Nacional estrangeiro, este
precederá, em virtude do princípio de cortesia, o Hino Nacional Brasileiro.
Do Pavilhão Presidencial
Art . 21. Na sede do Governo, deverão estar hasteados a Bandeira Nacional e o Pavilhão
Presidencial, quando o Chefe de Estado estiver presente.
Parágrafo único. O Pavilhão Presidencial será igualmente astreado: I - Nos Ministérios e demais repartições federais, estaduais e municipais, sempre que o Chefe de
Estado a eles comparecer; e
II - Nos locais onde estiver residindo o Chefe de Estado.
Art. 21. O Pavilhão Presidencial será hasteado, observado o disposto no art. 27, caput e § 1o: (Redação
dada pelo Decreto nº 7.419, de 2010)
121
I - na sede do Governo e no local em que o Presidente da República residir, quando ele estiver no
Distrito Federal; e (Redação dada pelo Decreto nº 7.419, de 2010)
II - nos órgãos, autarquias e fundações federais, estaduais e municipais, sempre que o Presidente da
República a eles comparecer. (Redação dada pelo Decreto nº 7.419, de 2010)
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo ao Pavilhão do Vice-Presidente da República.
(Redação dada pelo Decreto nº 7.419, de 2010)
Da Bandeira Nacional
Art . 22. A Bandeira Nacional pode ser usada em todas as manifestações do sentimento patriótico
dos brasileiros, de caráter oficial ou particular.
Art . 23. A Bandeira Nacional pode ser apresentada:
I - Hasteada em mastro ou adriças, nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos de
esporte escritórios, salas de aula, auditórios, embarcações, ruas e praças, em qualquer lugar em que lhe
seja assegurado o devido respeito.
II - Distendida e sem mastro, conduzida por aeronaves ou balões, aplicada sobre parede ou presa
a um cabo horizontal ligando edifícios, árvores, postes ou mastros;
III - Reproduzida sobre paredes, tetos, vidraças veículos e aeronaves;
IV - Compondo com outras bandeiras, panóplias, escudos ou peças semelhantes;
V - Conduzida em formaturas, desfiles, ou mesmo individualmente;
VI - Distendida sobre ataúdes até a ocasião do sepultamento.
Art . 24. A Bandeira Nacional estará permanentemente no topo de um mastro especial plantado
na Praça dos Três Poderes de Brasília,no Distrito Federal, como símbolo perene da Pátria e sob a
guarda do povo brasileiro.
§ 1º. A substituição dessa Bandeira será feita com solenidades especiais no 1º Domingo de cada
mês, devendo o novo exemplar atingir o topo do mastro antes que o exemplar substituído comece a ser
arriado.
§ 2º. Na base do mastro especial estarão inscritos exclusivamente os seguintes dizeres:
Sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a Bandeira Sempre no alto.
- visão permanente da Pátria.
Art . 25. Hasteia-se diariamente a Bandeira Nacional:
I - No Palácio da Presidência da República;
II - Nos edifícios sede dos Ministérios;
III - Nas Casas do Congresso Nacional;
122
IV - No Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores e nos Tribunais Federais de
Recursos;
V - Nos edifícios sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos Estados, Territórios e
Distrito Federal;
VI - Nas prefeituras e Câmaras Municipais;
VII - Nas repartições federais, estaduais e municipais situadas na faixa de fronteira;
VIII - Nas missões Diplomáticas, Delegação junto a Organismos Internacionais e Repartições
Consulares de carreira, respeitados os usos locais dos países em que tiverem sede;
IX - Nas unidades da Marinha Mercante, de acordo com as leis e Regulamentos de navegaçã,
polícia naval e praxes internacionais.
Art . 26. Hasteia-se obrigatoriamente, a Bandeira Nacional, nos dias de festa ou de luto nacional
em todas as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos.
Parágrafo único. Nas escolas públicas ou particulares, é obrigatório o hasteamento solene da
Bandeira Nacional, durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana.
Art . 27 A Bandeira Nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite.
§ 1º. Normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e o arriamento às 18 horas.
§ 2º. No dia 19 de novembro, Dia da Bandeira o hasteamento, é realizado às 12 horas, com
solenidades especiais.
§ 3º. Durante a noite a Bandeira deve estar devidamente iluminada.
Art . 28. Quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas simultaneamente, a Bandeira
Nacional é a primeira a atingir o tope e a última a dele descer.
Art . 29. Quando em funeral, a Bandeira fica a meio-mastro ou a meia adriça. Nesse caso no
hasteamento ou arriamento, deve ser levada inicialmente até o tope.
Parágrafo único Quando conduzida em marcha, indica-se o luto por um laço de crepe atado junto
à lança.
Art . 30. Hasteia-se a Bandeira Nacional em funeral nas seguintes situações:
I - Em todo o País quando o Presidente da República decretar luto oficial;
II - Nos edifícios-sede dos poderes legislativos federais, estaduais ou municipais, quando
determinado pelos respectivos presidentes, por motivos de falecimento de um de seus membros;
III - No Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores, nos Tribunais Federais de Recursos e nos Tribunais de Justiça estaduais, quando determinado pelos respectivos presidentes, pelo
falecimento de um de seus ministros ou desembargadores;
123
IV - Nos edifícios-sede dos Governos dos Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios por
motivo do falecimento do Governador ou Prefeito, quando determinado luto oficial para autoridade
que o substituir;
V - Nas sedes de Missões Diplomáticas, segundo as normas e usos do país em que estão situadas.
Art . 31. A Bandeira Nacional em todas as apresentações no território nacional, ocupa lugar de
honra, compreendido como uma posição:
I - Central ou a mais próxima do centro e à direita deste, quando com outras bandeiras pavilhões
ou estandartes, em linha de mastros, panóplias, escudos ou peças semelhantes;
II - Destacada à frente de outras bandeiras, quando conduzida em formaturas ou desfiles;
III - À direita de tribunais, púlpitos, mesas de reunião ou de trabalho.
Parágrafo único. Considera-se direita de um dispositivo de bandeira as direita de uma pessoa
colocada junto a ele e voltada para a rua, para a platéia ou de modo geral, para o público que observa o
dispositivo.
Art . 32. A Bandeira Nacional, quando não estiver em uso, deve ser guardada em local digno.
Art . 33. Nas repartições públicas e organizações militares, quando a Bandeira é hasteada em
mastro colocada no solo, sua largura não deve ser maior que 1/5 (um quinto) nem menor que 1/7 (um
sétimo) da altura do respectivo mastro.
Art . 34 Quando distendida e sem mastro, coloca-se a Bandeira de modo que o lado maior fique
na horizontal e estrela isolada em cima não podendo se ocultada, mesmo parcialmente por pessoas
sentadas em suas imediações.
Art . 35. A Bandeira Nacional nunca se abate em continência.
Das Honras Militares
Art . 36. Além das autoridades especificadas no cerimonial militar, serão prestadas honras
militares aos Embaixadores e Ministros Plenipotenciários que vierem a falecer no exercício de suas
funções no exterior.
Parágrafo único. O Governo pode determinar que honras militares sejam excepcionalmente
prestadas a outras autoridades.
CAPíTULO II
Da Posse do Presidente da República
Art . 37. O Presidente da República eleito, tendo a sua esquerda o Vice-Presidente e, na frente, o
chefe do Gabinete Militar e o Chefe do Gabinete Civil dirigir-se-á em carro do Estado, ao Palácio do
Congresso Nacional, a fim de prestar o compromisso constitucional.
Art . 38. Compete ao Congresso Nacional organizar e executar a cerimônia do compromisso constitucional. O Chefe do Cerimonial receberá do Presidente do Congresso esclarecimentos sobre a
cerimônia bem como sobre a participação na mesma das Missões Especiais e do Corpo Diplomático.
124
Art . 39. Prestado o compromisso, o Presidente da República, com os seus acompanhantes,
deixará o Palácio do Congresso dirigindo-se para o Palácio do Planalto.
Art . 40. O Presidente da República será recebido, à porta principal do Palácio do Planalto, pelo
Presidente cujo, mandato findou. Estarão presentes os integrantes do antigo Ministério, bem como os
Chefes do Gabinete Militar, Civil, Serviço Nacional de Informações e Estado-Maior das Forças
Armadas.
Estarão, igualmente, presentes os componentes do futuro Ministério, bem como os novos Chefes
do Serviço Nacional de informações e do Estado-Maior das Forças Armadas.
Art . 41. Após os cumprimentos, ambos os Presidentes acompanhados pelos Vices-Presidentes
acompanhados pelos Vices-Presidentes Chefes do Gabinete Militar e Chefes do Gabinete Civil, se encaminharão par ao Gabinete Presidencial e dali para o local onde o Presidente da República receberá
de seu antecessor a Faixa Presidencial. Em seguida o Presidente da República conduzirá o ex-
presidente até a porta principal do Palácio do Planalto.
Art . 42. Feitas as despedidas, o ex-Presidente será acompanhado até sua residência ou ponto de
embarque pelo Chefe do Gabinete Militar e por um Ajudante-de-Ordens ou Oficial de Gabinete do
Presidente da República empossado.
Art . 43. Caberá ao Chefe do Cerimonial planejar e executar as cerimônias da posse presidencial.
Da nomeação dos Ministros de Estado, Membros dos Gabinetes Civil e Militar da Presidência da
República e Chefes do Serviço Nacional de Informações e do Estado-Maior das Forças Armadas.
Art . 44. Os decretos de nomeação dos novos Ministros de Estado, do Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, do Chefe do
Serviço Nacional de Informações e do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas serão assinados no
Salão de Despachos.
§ 1º O primeiro decreto a ser assinado será o de nomeação do Ministro de Estado da Justiça, a
quem caberá referendar os decretos de nomeação dos demais Ministros de Estado, do Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República, do Chefe do Serviço Nacional de Informações e do Chefe do Estado Maior das Forças
Armadas.
§ 2º Compete ao Chefe do Cerimonial da Presidência da República organizar a cerimônia acima
referida.
Dos Cumprimentos
Art . 45. No mesmo dia, o Presidente da República receberá, em audiência solene, as Missões
Especiais estrangeiras que houverem sido designadas para sua posse.
Art . 46. Logo após, o Presidente receberá os cumprimentos das altas autoridades da República,
que para esse fim se hajam previamente inscrito.
Da Recepção
Art . 47. À noite, o Presidente da República recepcionará, no Palácio do Itamarati, as Missões
Especiais estrangeiras e altas autoridades da República.
Da Comunicação da Posse do Presidente da República
125
Art . 48. O Presidente da República enviará Cartas de Chancelaria aos Chefes de Estado dos
países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas, comunicando-lhes sua posse.
§ 1º As referidas Cartas serão preparadas pelo Ministério das Relações Exteriores.
§ 2º O Ministério da Justiça comunicará a posse do Presidente da República aos Governadores
dos Estados da União, do Distrito Federal e dos Territórios e o das Relações Exteriores às Missões
diplomáticas e Repartições consulares de carreira brasileiras no exterior, bem como às Missões
brasileiras junto a Organismos Internacionais.
Do Traje
Art . 49. O traje das cerimônias de posse será estabelecido pelo Chefe do Cerimonial, após
consulta ao Presidente da República.
Da Transmissão Temporária do Poder
Art . 50. A transmissão temporária do Poder, por motivo de impedimento do Presidente da
República, se realizará no Palácio do Planalto, sem solenidade, perante seus substitutos eventuais, os
Ministros de Estado, o Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, o Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e os demais
membros dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República.
CAPíTULO III
Das visitas do Presidente da República e seu comparecimento a solenidades oficiais.
Art . 51. O Presidente da República não retribui pessoalmente visitas, exceto as de Chefes de
Estado.
Art . 52. Quando o Presidente da República comparecer, em caráter oficial, a festas e solenidades ou fizer qualquer visita, o programa será submetido à sua aprovação, por intermédio do Chefe do
Cerimonial da Presidência da República.
Das Cerimônias da Presidência da República
Art . 53. Os convites para as cerimônias da Presidência da República serão feitos por intermédio
do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores ou do Cerimonial da Presidência da República,
conforme o local onde as mesmas se realizarem.
Parágrafo único. Os cartões de convite do Presidente da República terão as Armas Nacionais gravadas a ouro, prerrogativas essa que se estende exclusivamente aos Embaixadores Extraordinários
e Plenipotenciários do Brasil, no exterior.
Da Faixa Presidencial
Art . 54. Nas cerimônias oficiais para as quais se exijam casaca ou primeiro uniforme, o
Presidente da República usará, sobre o colete da casaca ou sobre o uniforme, a Faixa Presidencial.
Parágrafo único. Na presença de Chefe de Estado, o Presidente da República poderá substituir a
Faixa Presidencial por condecoração do referido Estado.
Das Audiências
126
Art . 55. As audiências dos Chefes de Missão diplomática com o Presidente da República serão
solicitadas por intermédio do Cerimonial do Ministro das Relações Exteriores.
Parágrafo único. O Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores encaminhará também, em
caráter excepcional, pedidos de audiências formulados por altas personalidades estrangeiras.
Livro de Visitas
Art . 56. Haverá, permanentemente, no Palácio do Planalto, livro destinado a receber as
assinaturas das pessoas que forem levar cumprimentos ao Presidente da República e a Sua Senhora.
Das Datas Nacionais
Art . 57. No dia 7 de Setembro, o Chefe do Cerimonial da Presidência, acompanhado de um dos Ajudantes de Ordens do Presidente da República, receberá os Chefes de Missão diplomática que
desejarem deixar registrados no livro para esse fim existentes, seus cumprimentos ao Chefe do
Governo.
Parágrafo único. O Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores notificará com
antecedência, os Chefes de Missão diplomática do horário que houver sido fixado para esse ato.
Art . 58. Os cumprimentos do Presidente da República e do Ministro das Relações Exteriores pelo dia da Festa Nacional dos países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas serão
enviados por intermédio do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores.
CAPíTULO IV
Das Visitas Oficiais
Art . 59. Quando o Presidente da República visitar oficialmente Estado ou Território da
Federação, competirá à Presidência da República, em entendimento com as autoridades locais,
coordenar o planejamento e a execução da visita, observando-se o seguinte cerimonial:
§ 1º O Presidente da República será recebido, no local da chegada, pelo Governador do Estado ou
do Território e por um Oficial-General de cada Ministério Militar, de acordo com o cerimonial Militar.
§ 2º Após as honras militares, o Governador apresentará ao Presidente da República as
autoridades presentes.
§ 3º Havendo conveniência, as autoridades civis e eclesiásticas e as autoridades militares poderão
formar separadamente.
§ 4º Deverão comparecer à chegada do Presidente da República, o Vice-Governador do Estado. O Presidente da Assembléia Legislativa, Presidente do Tribunal de Justiça, Secretários de Governo e o
Prefeito Municipal observada a ordem de precedência estabelecida neste Decreto.
§ 5º Ao Gabinete Militar da Presidência da República, ouvido o Cerimonial da Presidência da
República, competirá organizar o cortejo de automóveis da comitiva presidencial bem como o das
autoridades militares a que se refere o parágrafo 1º deste artigo.
§ 6º As autoridades estaduais encarregar-se-ão de organizar o cortejo de automóveis das demais
autoridades presentes ao desembarque presidencial.
127
§ 7º O Presidente da República tomará o carro do Estado, tendo à sua esquerda o Chefe do Poder
Executivo Estadual e, na frente, seu Ajudante-Ordens.
§ 8º Haverá, no Palácio do Governo, um livro onde se inscreverão as pessoas que forem visitar o
Chefe de Estado.
Art . 60. Por ocasião da partida do Presidente da República, observar-se-á procedimento análogo
ao da chegada.
Art . 61. Quando indicado por circunstâncias especiais da visita, a Presidência da República poderá dispensar ou reduzir as honras militares e a presença das autoridades previstas nos §§ 1º, 2º e 4º
do artigo 59.
Art . 62. Caberá ao Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores elaborar o projeto do
programa das visitas oficiais do Presidente da República e do Ministro de Estado das Relações
Exteriores ao estrangeiro.
Art . 63. Quando em visita oficial a um Estado ou a um Território, o Vice-Presidente da
República, o Presidente do Congresso Nacional, o Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente
do Supremo Tribunal Federal serão recebidos, à chegada, pelo Governador, conforme o caso, pelo
Vice-Governador, pelo Presidente do Poder Judiciário Estaduais.
Art . 64. A comunicação de visitas oficiais de Chefes de Missão diplomáticas acreditados junto ao Governo brasileiro aos Estados da União e Territórios deverá ser feita aos respectivos Cerimoniais
pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, que também fornecerá os elementos do
programa a ser elaborado.
Art . 65. O Governador do Estado ou Território far-se-á representar à chegada do Chefe de
Missão diplomática estrangeira em visita oficial.
Art . 66. O Chefe de Missão diplomática estrangeira, quando em viagem oficial, visitará o Governador, o Vice-Governador, os Presidentes da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Justiça e
demais autoridades que desejar.
CAPíTULO V
Das Visitas de Chefes de Estado Estrangeiros
Art . 67. As visitas de Chefes de Estado estrangeiros ao Brasil começarão, oficialmente, sempre
que possível, na Capital Federal.
Art . 68. Na Capital Federal, a visita oficial de Chefe de Estado estrangeiro ao Brasil iniciar-se-á com o recebimento do visitante pelo Presidente da República. Comparecerão ao desembarque as
seguintes autoridades: Vice-Presidente da República, Decano do Corpo Diplomático, Chefe da Missão
do país do visitante, Ministros de Estado, Chefe do Gabinete Militar da Presidência Da República,
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Chefe do Serviço Nacional de Informações, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Governador do Distrito Federal, Secretário Geral de
Política Exterior do Ministério das Relações Exteriores, Chefes dos Estados Maiores da Armada, do
Exército, e da Aeronáutica, Comandante Naval de Brasília, Comandante Militar do Planalto, Secretário-Geral Adjunto para Assuntos que incluem os dos país do visitante, Comandante da VI Zona
Aérea, Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, Chefe da Divisão política que trata de
assuntos do pais do visitante, além de todos os acompanhantes brasileiros do visitante. O chefe do
Cerimonial da Presidência da República, os membros da comitiva e os funcionários diplomáticos da
Missão do país do visitante.
128
Parágrafo único. Vindo o Chefe de Estado acompanhado de sua Senhora, o Presidente da
República e as autoridades acima indicadas far-se-ão acompanhar das respectivas Senhoras.
Art . 69. Nas visitas aos Estados e Territórios, será o Chefe de Estado estrangeiro recebido, no
local de desembarque, pelo Governador, pelo Vice-Governador, pelos Presidentes da Assembléia
Legislativa e do Tribunal de Justiça, pelo Prefeito Municipal e pelas autoridades militares previstas no § 1º do artigo 59, além do Decano do Corpo Consular, do Cônsul do país do visitante e das altas
autoridades civis e militares especialmente convidadas.
CAPíTULO VI
Da chegada dos Chefes de Missão Diplomática e entrega de credenciais
Art . 70. Ao chegar ao Aeroporto da Capital Federal, o novo Chefe de Missão será recebido pelo
Introdutor Diplomático do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
§ 1º O Encarregado de Negócios pedirá ao Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores dia
e hora para a primeira visita ao novo Chefe de Missão ao Ministro de Estado das Relações Exteriores.
§ 2º Ao visitar o Ministro de Estado das Relações Exteriores, o novo Chefe de Missão solicitará a audiência de estilo com o Presidente da República para a entrega de suas credenciais e, se for o caso,
da Revogatória de seu antecessor. Nessa visita, o novo Chefe de Missão deixará em mãos do Ministro
de Estado a cópia figurada das Credenciais.
§ 3º Após a primeira audiência com o Ministro de Estado das Relações Exteriores, o novo Chefe de Missão visitará, em data marcada pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, o
Secretário-Geral Adjunto da área do país que representa e outros Chefes de Departamento.
§ 4º Por intermédio do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, o novo Chefe de
Missão solicitará data para visitar o Vice-Presidente da República, o Presidente do Congresso
Nacional, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, os Ministros de Estado e o Governador do Distrito Federal. Poderão igualmente ser marcadas audiências
com outras altas autoridades federais.
Art . 71. No dia e hora marcados para a audiência solene com o Presidente da República, o
Introdutor Diplomático conduzirá, em carro do Estado, o novo chefe de Missão de sua residência, até o Palácio do Planalto. Serão igualmente postos à disposição os membros da Missão Diplomática
carros de Estado.
§ 1º Dirigindo-se ao Palácio Presidencial, os carros dos membros da Missão diplomática
precederão o do chefe de Missão.
§ 2º O Chefe de Missão subira a rampa tendo, a direita o introdutor Diplomático e, a esquerda, o
membro mais antigo de sua Missão; os demais membros da Missão serão dispostos em grupos de três,
atrás dos primeiros
§ 3º A porta do Palácio Presidencial, o chefe do Cerimonial da Presidência e por Ajudante-de-
Ordens do Presidente da República, os quais o conduzirão ao Salão Nobre.
§ 4º Em seguida, o Chefe do Cerimonial da Presidência da República entrará, sozinho, no Salão
de Credenciais, onde se encontra o Presidente da República, ladeado, à direita, pelo Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, e, à esquerda pelos Ministros de Estado das Relações Exteriores e
129
pelo Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, e pedirá permissão para introduzir o novo
chefe de Missão.
§ 5º Quando o Chefe de Missão for Embaixador, os membros dos Gabinetes Militar e Civil da
Presidência da República estarão presentes e serão colocados, respectivamente, por ordem de
precedência, à direita e à esquerda do Salão de Credenciais.
§ 6º Quando o Chefe de Missão for Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, estarão
presentes somente as autoridades mencionadas no § 4º.
§ 7º Ladeado, à direita, pelo Chefe do Cerimonial da Presidência e, à esquerda, pelo Ajudante-de-
Ordens do Presidente da República, o Chefe de Missão penetrará no recinto, seguido do Introdutor
Diplomático e dos membros da Missão. À entrada do Salão de Credenciais, deter-se-á para saudar o
Presidente da República com leve inclinação de cabeça.
§ 8º Aproximando-se do ponto em que se encontrar o Presidente da República, o Chefe de
Missão, ao deter-se, fará nova saudação, após o que o Chefe do Cerimonial da Presidência da
República se adiantará e fará a necessária apresentação. Em seguida, o Chefe de Missão apresentará as
Cartas Credenciais ao Presidente da República, que as passará às mãos do Ministro de Estado das
Relações Exteriores. Não haverá discursos.
§ 9º O Presidente da República convidará o Chefe de Missão a sentar-se e com ele conversar.
§ 10. Terminada a palestra por iniciativa do Presidente da República, o Chefe de Missão
cumprimentará o Ministro de Estado das Relações Exteriores e será apresentado pelo Presidente da
República ao Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República e a Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República.
§ 11. Em seguida, o Chefe de Missão apresentará o pessoal de sua comitiva; cada um dos
membros da Missão se adiantará, será apresentado e voltará à posição anterior.
§ 12 Findas as apresentações, o Chefe de Missão se despedirá do Presidente da República e se
retirará precedido pelos membros da Missão e pelo Introdutor Diplomático e acompanhado do Chefe
do Cerimonial da Presidência e do Ajudante-de-Ordens do Presidente da República. Parando no fim
do Salão, todos se voltarão para cumprimentar o Presidente da República com novo aceno de cabeça.
§ 13. Quando chegar ao topo da rampa, ouvir-se-ão os dois Hinos Nacionais.
§ 14. O chefe de Missão, o Chefe do Cerimonial da Presidência e o Ajudante-de-Ordens do
Presidente da República descerão a rampa dirigindo-se à testa da Guarda de Honra, onde se encontra o
Comandante que convidará o Chefe de Missão a passá-la em revista. O Chefe do Cerimonial da
Presidência e o Ajudante-de-Ordens do Presidente da República passarão por trás da Guarda de Honra, enquanto os membros da Missão e o Introdutor Diplomático se encaminharão para o segundo
automóvel.
§ 15. O Chefe da Missão, ao passar em revista a Guarda de Honra, cumprimentará de cabeça a
Bandeira Nacional, conduzida pela tropa, e despedir-se-á do Comandante, na cauda da Guarda de
Honra, sem apertar-lhe o mão.
§ 16. Terminada a cerimônia, o Chefe de Missão se despedirá do Chefe do Cerimonial da
Presidência e do Ajudante-de-Ordens do Presidente da República, entrando no primeiro automóvel,
que conduzirá, na frente do cortejo, à sua residência onde cessam as funções do Introdutor
Diplomático.
130
§ 17. O Chefe do Cerimonial da Presidência da República fixará o traje para a cerimônia de
apresentação de Cartas Credenciais, após consulta ao Presidente da República.
§ 18. O Diário Oficial publicará a notícia da apresentação de Cartas Credenciais.
Art . 72. Os Encarregados de Negócios serão recebidos pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores em audiência, na qual farão entrega das Cartas de Gabinete, que os acreditam.
Art . 73. O novo Chefe de Missão solicitará, por intermédio do Cerimonial do Ministério das
Relações Exteriores, que sejam marcados dia e hora para que a sua esposa visite a Senhora do
Presidente da República, não estando essa visita sujeita a protocolo especial.
CAPíTULO VII
Do Falecimento do Presidente da República.
Art . 74. Falecendo o Presidente da República, o seu substituto legal, logo que assumir o cargo,
assinará decreto de luto oficial por oito dias.
Art . 75. O Ministério da Justiça fará as necessárias comunicações aos Governadores dos Estados
da União do Distrito Federal e dos Territórios, no sentido de ser executado o decreto de luto,
encerrado o expediente nas repartições públicas e fechado o comércio no dia do funeral.
Art . 76. O Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores fará as devidas comunicações às Missões diplomáticas acreditadas junto ao Governo brasileiro, às Missões diplomáticas e Repartições
consulares de carreira brasileiras no exterior às Missões brasileiras junto a Organismos Internacionais.
Art . 77. O Chefe do Cerimonial da Presidência da República providenciará a ornamentação
fúnebre do Salão de Honra do Palácio Presidencial, transformado em câmara ardente.
Das Honras Fúnebres
Art . 78. Chefe do Cerimonial coordenará a execução das cerimônias fúnebres.
Art . 79. As honras fúnebres serão prestadas de acordo com o cerimonial militar.
Art . 80. Transportado o corpo para a câmara ardente, terá início a visitação oficial e pública, de
acordo com o que for determinado pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores.
Do Funeral
Art . 81. As cerimônias religiosas serão realizadas na câmara ardente por Ministro da religião do
Presidente falecido, depois de terminada a visitação pública.
Art . 82. Em dia e hora marcados para o funeral, em presença de Chefes de Estado estrangeiros,
dos Chefes dos Poderes da Nação, Decano do Corpo Diplomático, dos Representantes especiais dos
Chefes de Estado estrangeiros designados para as cerimônias e das altas autoridades da República, o
Presidente da República, em exercício, fechará a urna funerária.
Parágrafo único. A seguir, o Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República e o Chefe do
Gabinete Civil Presidência da República cobrirão a urna com o Pavilhão Nacional.
131
Art . 83. A urna funerária será conduzida da câmara ardente para a carreta por praças das Forças
Armadas.
Da Escolta
Art . 84. A escolta será constituída de acordo com o cerimonial militar.
Do Cortejo
Art . 85. Até a entrada do cemitério, o cortejo será organizado da seguinte forma:
- Carreta funerária;
- Carro do Ministro da Religião do Finado; (Se assim for a vontade da família);
- Carro do Presidente da República, em exercício;
- Carro da família;
- Carros de Chefes de Estado estrangeiros;
- Carro do Decano do Corpo Diplomático;
- Carro do Presidente do Congresso Nacional;
- Carro do Presidente da Câmara dos Deputados;
-Carro do Presidente do Supremo Tribunal Federal;
- Carros dos Representantes Especiais dos Chefes de Estado Estrangeiros designados para as
cerimônias;
- Carro do Ministro de Estado das Relações Exteriores;
- Carro dos demais Ministros de Estado;
- Carros dos Chefes do Gabinete Militar da Presidência da República, do Chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República, do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas;
- Carros dos Governadores do Distrito Federal, dos Estados da União e dos Territórios;
- Carros dos membros dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República.
§ 1º Ao chegar ao cemitério, os acompanhantes deixarão seus automóveis e farão o cortejo a pé.
A urna será retirada da carreta por praças das Forças Armadas que a levarão ao local do sepultamento.
§ 2º Aguardarão o féretro, junto à sepultura, os Chefes de Missão diplomática acreditados junto
ao Governo brasileiro e altas autoridades civis e militares, que serão colocados, segundo a Ordem
Geral de Precedência, pelo Chefe do Cerimonial.
Art . 86. O traje será previamente indicado pelo Chefe do Cerimonial.
132
Art . 87. Realizando-se o sepultamento fora da Capital da República, o mesmo cerimonial será
observado até o ponto de embarque do féretro.
Parágrafo único. Acompanharão os despojos autoridades especialmente indicadas pelo Governo
Federal cabendo ao Governo do Estado da União ou do Território, onde der a ser efetuado o
sepultamento, realizar o funeral com a colaboração das autoridades federais.
CAPÍTULO VIII
Do Falecimento de Autoridades
Art . 88. No caso de falecimento de autoridades civis ou militares, o Governo poderá decretar as
honras fúnebres a serem prestadas, não devendo o prazo de luto ultrapassar três dias.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se à situação de desaparecimento de autoridades civis ou
militares, quando haja indícios veementes de morte por acidente.(Renumerado do parágrafo único para 1º pelo Decreto nº 3.780, de 2.4.2001)
§ 2o Em face de notáveis e relevantes serviços prestados ao País pela autoridade falecida, o
período de luto a que se refere o caput poderá ser estendido, excepcionalmente, por até sete dias.
(Redação dada pelo Decreto nº 3.780, de 2.4.2001)
CAPÍTULO IX
Do Falecimento de Chefe de Estado Estrangeiro
Art . 89. Falecendo o Chefe de Estado de um país com representação diplomática no Brasil e
recebida pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores a comunicação oficial desse fato, o Presidente da República apresentará pêsames ao Chefe da Missão, por intermédio do Chefe do
Cerimonial da Presidência da República.
§ 1º O Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores providenciará para que sejam enviadas
mensagens telegráficas de pêsames, em nome do Presidente da República, ao sucessor e à família do
falecido.
§ 2º O Ministro de Estado das Relações Exteriores enviará pêsames, por telegrama, ao Ministro das Relações Exteriores do referido país e visitará, por intermédio do Introdutor Diplomático, o Chefe
da Nação.
§ 3º O Chefe da Missão brasileira acreditado no país enlutado apresentará condolências em nome
do Governo e associar-se-á às manifestações de pesar que nele se realizarem. A critério do Presidente
da República, poderá ser igualmente designado um Representante Especial ou uma missão
extraordinária para assistir às exéquias.
§ 4º O decreto de luto oficial será assinado na pasta da Justiça, a qual fará as competentes
comunicações aos Governadores de Estado da União e dos Territórios. O Ministério das Relações
Exteriores fará a devida comunicação às Missões diplomáticas brasileiras no exterior.
§ 5º A Missão diplomática brasileira no país do Chefe de Estado falecido poderá hastear a Bandeira Nacional a meio pau, independentemente do recebimento da comunicação de que trata o
parágrafo anterior.
133
CAPÍTULO X
Do Falecimento do Chefe de Missão Diplomática Estrangeira
Art . 90. Falecendo no Brasil um Chefe de Missão diplomática acreditado junto ao Governo
brasileiro o Ministério das Relações Exteriores comunicará o fato, por telegrama, ao representante
diplomático brasileiro no país do finado, instruindo-o a apresentar pêsames ao respectivo Governo. O
Chefe do Cerimonial concertará com o Decano do Corpo Diplomático e com o substituto imediato do
falecido as providências relativas ao funeral.
§ 1º Achando-se no Brasil a família do finado, o Chefe do Cerimonial da Presidência da
República e o Introdutor Diplomático deixarão em sua residência, cartões de pêsames,
respectivamente, em nome do Presidente da República e do Ministro de Estado das Relações
Exteriores.
§ 2º Quando o Chefe de Missão for Embaixador, o Presidente da República comparecerá à
câmara mortuária ou enviará representante.
§ 3º À saída do féretro, estarão presentes o Representante do Presidente da República, os Chefes
de Missões diplomáticas estrangeiras, o Ministro de Estado das Relações Exteriores e o Chefe do
Cerimonial.
§ 4º O caixão será transportado para o carro fúnebre por praças das Forças Armadas.
§ 5º O corteja obedecerá à seguinte precedência:
- Escolta fúnebre;
- Carro fúnebre;
- Carro do Ministro da religião do finado;
- Carro da família;
- Carro do Representante do Presidente da República;
- Carro do Decano do Corpo Diplomático;
- Carros dos Embaixadores estrangeiros acreditados perante o Presidente da República;
- Carros de Ministros de Estado;
- Carros dos Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários acreditados junto ao
Governo brasileiro;
- Carro do substituto do Chefe de Missão falecido;
- Carro dos Encarregados de Negócios Estrangeiros;
- Carros do pessoal da Missão diplomática estrangeira enlutada;
§ 6º O traje da cerimônia será fixado pelo Chefe do Cerimonial.
134
Art . 91. Quando o Chefe de Missão diplomática não for sepultado no Brasil, o Ministro das
Relações Exteriores, com anuência da família do finado, mandará celebrar ofício religioso, para o qual
serão convidados os Chefes de Missão diplomática acreditados junto ao Governo brasileiro e altas
autoridades da República.
Art . 92. As honras fúnebres serão prestadas de acordo com o cerimonial militar.
Art . 93. Quando falecer, no exterior, um Chefe de Missão diplomática acreditado no Brasil, o Presidente da República e o Ministro das Relações Exteriores enviarão, por intermédio do Cerimonial
do Ministério das Relações Exteriores, mensagens telegráficas de pêsames, respectivamente, ao Chefe
de Estado e ao Ministro das Relações Exteriores do país do finado, e instruções telegráficas ao representante diplomático nele acreditado para apresentar, em nome do Governo brasileiro,
condolências à família enlutada. O Introdutor Diplomático, em nome do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, apresentará pêsames ao Encarregado de Negócios do mesmo país.
CAPÍTULO XII
Das Condecorações
Art . 94. Em solenidades promovidas pelo Governo da União só poderão ser usadas
condecorações e medalhas conferidas pelo Governo federal, ou condecorações e medalhas conferidas
por Governos estrangeiros.
Parágrafo único. Os militares usarão as condecorações estabelecidas pelos regulamentos de cada
Força Armada.
Ordem Geral de Procedência
A ordem de procedência nas cerimônias oficiais de caráter federal na Capital da República, será a
seguinte:
1 - Presidente da República
2 - Vice-Presidente da República
Cardeais
Embaixadores estrangeiros
3- Presidente do Congresso Nacional
Presidente da Câmara dos Deputados
Presidente do Supremo Tribunal Federal
4- Ministros de Estado (*1)
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República
Chefe do Serviço Nacional de Informações
135
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas
Consultor-Geral da República
Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários estrangeiros
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Ministros do Supremo Tribunal Federal
Procurador-Geral da República
Governador do Distrito Federal
Governadores dos Estados da União (*2)
Senadores
Deputados Federais (*3)
Almirantes
Marechais
Marechais-do-Ar.
Chefe do Estado-Maior da Armada
Chefe do Estado-Maior do Exército
Secretário-Geral de Política Exterior (*4)
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica
(*1) Vide artigo 4º e seus parágrafos das Normas do Cerimonial Público
(*2) Vide artigo 8º das Normas do Cerimonial Público
(*3) Vide artigo 9º das Normas do Cerimonial Público
(*4) Vide artigo 4º § 1º das Normas do Cerimonial Público
5 - Almirantes-de-Esquadra
Generais-de-Exército
Embaixadores Extraordinários e Plenipotenciários (Ministros de 1 a classe) (*5)
Tenentes-Brigadeiros
Presidente do Tribunal Federal de Recursos
136
Presidente do Superior Tribunal Militar
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
Ministros do Tribunal Superior Eleitoral
Encarregados de Negócios estrangeiros
6 - Ministros do Tribunal Federal de Recursos
Ministros do Superior Tribunal Militar
Ministros do Tribunal Superior do Trabalho
Vice-Almirantes
Generais-de-Divisão
Embaixadores (Ministros de 1 a classe)
Majores-Brigadeiros
Chefes de Igreja sediados no Brasil
Arcebispos católicos ou equivalentes de outras religiões
Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Presidente do Tribunal de Contas da União
(*5) Considerem-se apenas os Embaixadores que chefiam ou tenham chefiado Missão
diplomática no exterior, tendo apresentado, nessa condição, Cartas Credenciais a Governo estrangeiro. Quando estiverem presente diplomatas estrangeiros, os Embaixadores em apreço terão precedência
sobre Almirantes-de-Esquadra e Generais-de-Exército. Em caso de visita de chefe de Estado, Chefe do
Governo ou Ministros das Relações Exteriores estrangeiros, o Chefe da Missão diplomática brasileira no país do visitante, sendo Ministro de 1 a classe, terá precedência sobre seus colegas, com exceção do
Secretário-Geral de Política Exterior.
Presidente do Tribunal Marítimo
Diretores-Gerais das Secretarias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
Procuradores-Gerais da Justiça Militar, Justiça do Trabalho e do Tribunal de Contas da União
Substitutos eventuais dos Ministros de Estado
Secretários-Gerais dos Ministérios
Reitores das Universidades Federais
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal
137
Presidente do Banco Central do Brasil
Presidente do Banco do Brasil
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
Presidente do Banco Nacional de Habitação
Secretário da Receita Federal
Ministros do Tribunal de Contas da União
Juízes do Tribunal Superior do Trabalho
Subprocuradores Gerais da República
Personalidades inscritas no Livro do Mérito
Prefeitos das cidades de mais de um milhão (1.000.000) de habitantes
Presidente da Caixa Econômica Federal
Ministros-Conselheiros estrangeiros
Adidos Militares estrangeiros (Oficiais-Generais)
7 - Contra-Almirantes
Generais-de-Brigada
Embaixadores Comissionados ou Ministros de 2 a classe
Brigadeiros-do-Ar.
Vice-Governadores dos Estados da União
Presidentes das Assembléias Legislativas dos Estados da União
Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados da União
Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil
Chefe do Gabinete da Vice-Presidência da República
Subchefes dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República
Assessor Especial da Presidência da República
Assessor-Chefe da Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República
Assistente-Secretário do Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República
138
Secretários Particulares do Presidente da República
Chefe do Cerimonial da Presidência da República
Secretários de Imprensa da Presidência da República.
Diretor-Geral da Agência Nacional
Presidente da Central de Medicamentos
Chefe do Gabinete da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional
Chefe de Informações
Chefe do Gabinete do Estado-Maior das Forças Armadas
Chefe Nacional de Informações
Chefes dos Gabinetes dos Ministros de Estado
Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas
Presidente do Conselho Federal de Educação
Presidente do Conselho Federal de Cultura
Governadores dos Territórios
Chanceler da Ordem Nacional do Mérito
Presidente da Academia Brasileira de Letras
Presidente da Academia Brasileira de Ciências
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa
Diretores do Gabinete Civil da Presidência da República
Diretores-Gerais de Departamento dos Ministérios
Superintendentes de Órgãos Federais
Presidentes dos Institutos e Fundações Nacionais
Presidentes dos Conselhos e Comissões Federais
Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas de
âmbito nacional
Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais
Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho
139
Presidentes dos Tribunais de Contas do Distrito Federal e dos Estados da União
Presidentes dos Tribunais de Alçada dos Estados da União
Reitores das Universidades Estaduais e Particulares
Membros do Conselho Nacional de Pesquisas
Membros do Conselho Nacional de Educação
Membros do Conselho Federal de Cultura
Secretários de Estado do Governo do Distrito Federal
Bispos católicos ou equivalentes de outras religiões
Conselheiros estrangeiros
Cônsules-Gerais estrangeiros
Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Mar-e-Guerra, Coronéis-Aviadores)
8 - Presidente das Confederações Patronais e de Trabalhadores de âmbito nacional
Consultores Jurídicos dos Ministérios
Membros da Academia Brasileira de Letras
Membros da Academia Brasileira de Ciências
Diretores do Banco Central do Brasil
Diretores do Banco do Brasil
Diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
Diretores do Banco Nacional de Habitação
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Coronéis
Conselheiros
Coronéis-Aviadores
Secretários de Estado dos Governos dos Estados da União
Deputados Estaduais
Desembargadores dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e dos Estados da União
140
Adjuntos dos Gabinetes Militares e Civil da Presidência da República
Procuradores-Gerais do Distrito Federal e dos Estados da União
Prefeitos das Capitais dos Estados da União e das cidades de mais de quinhentos mil (500.000)
habitantes.
Primeiros Secretários estrangeiros
Procuradores da República nos Estados da União
Consultores-Gerais do Distrito Federal e dos Estados da União
Juizes do Tribunal Marítimo
Juizes dos Tribunais Regionais Eleitorais
Juizes dos Tribunais Regionais do Trabalho
Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de um milhão (1.000.000) de habitantes
Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Fragata, Tenentes-Coronéis e
Tenentes-Coronéis-Aviadores)
9 - Juizes dos Tribunais de Contas do Distrito Federal e dos Estados da União.
Juizes dos Tribunais de Alçadas dos Estados da União
Delegados dos Ministérios nos Estados da União
Presidentes dos Institutos e Fundações Regionais e Estaduais
Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas de
âmbito regional ou estadual.
Monsenhores católicos ou equivalentes de outras regiões.
Ajudantes-de-Ordem do Presidente da República (Majores)
Capitães-de-Fragata
Tenentes-Coronéis
Primeiros Secretários
Tenentes-Coronéis-Aviadores
Chefes do Serviço da Presidência da República
Presidentes das Federações Patronais e de Trabalhadores de âmbito regional ou estadual
141
Presidentes das Câmaras Municipais das Capitais dos Estados da União e das cidades de mais de
quinhentos mil (500.000) habitantes
Juizes de Direito
Procuradores Regionais do Trabalho
Diretores de Repartições Federais
Auditores da Justiça Militar
Auditores do Tribunal de Contas
Promotores Públicos
Procuradores Adjuntos da República
Diretores das Faculdades Estaduais Particulares
Segundos Secretários
Cônsules estrangeiros
Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Corveta, Majores e Majores-Aviadores
10 - Ajudantes-de-Ordem do Presidente da República (Capitães)
Adjuntos dos Serviços da Presidência da República
Oficiais do Gabinete Civil da Presidência da República
Chefes de Departamento das Universidades Federais
Diretores de Divisão dos Ministérios
Prefeitos das cidades de mais de cem mil (100.000) habitantes
Capitães-de-Corveta
Majores
Segundos Secretários
Majores-Aviadores
Secretários-Gerais dos Territórios
Diretores de Departamento das Secretarias do Distrito Federal e dos Estados da União
Presidente dos Conselhos Estaduais
Chefes de Departamento das Universidades Estaduais e Particulares
142
Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de cem mil (100.000) habitantes
Terceiros Secretários estrangeiros
Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-Tenentes, Capitães e Capitães-Aviadores).
11 - Professores de Universidade
Prefeitos Municipais
Cônegos católicos ou "equivalentes" de outras religiões
Capitães-Tenentes
Capitães
Terceiros Secretários
Capitães-Aviadores
Presidentes das Câmaras Municipais
Diretores de Repartições do Distrito Federal, dos Estados da União e Territórios
Diretores de Escolas de Ensino Secundário
Vereadores Municipais
A ordem de precedência, nas cerimonias oficiais, nos Estados da União, com a presença de
autoridades federais, será a seguinte:
1 - Presidente da República
2 - Vice-Presidente da República (*1)
Governador do Estado da União em que se processa a cerimônia
Cardeais
Embaixadores estrangeiros
3 - Presidente do Congresso Nacional
Presidente da Câmara dos Deputados
Presidente do Supremo Tribunal Federal
4 - Ministros de Estado (*2)
Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República
143
Presidência da República
Chefe de Serviço Nacional de Informações
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas
Consultor-Geral da República
Vice-Governador do Estado da União em que se processa a cerimônia
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado da União em que se processa a cerimonia
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que se processa a cerimônia
Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários estrangeiros
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Procurador-Geral da República
Governadores dos outros Estados da União e do Distrito Federal (*3)
Senadores
(*1) Vide artigo 2º das Normas do Cerimonial Público
(*2) Vide artigo 4º e seus parágrafos das Normas do Cerimonial
(*3) Vide artigo 8º, artigo 9º e artigo 10 das Normas do Cerimonial Público
Deputados Federais (*4)
Almirantes
Marechais
Marechais-do-Ar
Chefe do Estado-Maior da Armada
Chefe do Estado-Maior do Exercíto
Secretário-Geral da Polílica Exterior (*5)
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica
5 - Almirantes-de-Esquadra
Generais-de-Exército
144
Embaixadores Extraordinário e Plenipotenciários (Ministros de 1ª classe) (*6)
Tenentes-Brigadeiros
Presidente do Tribunal Federal de Recursos
Presidente do Tribunal Superior Militar
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
Ministros do Tribunal Superior Eleitoral
Prefeito da Capital estadual em que se processa a cerimônia
Encarregos de Negócios estrangeiros
6 - Ministros do Tribunal Federal de Recursos
Ministros do Superior Tribunal Militar
(*4) Vide artigo 9º das Normas do Cerimonial Público
(*5) Vide artigo 4º § 1º das Normas do Cerimonial Público
(*6) Consideram-se apenas os Embaixadores que chefiam ou tenham chefiado Missão
diplomática no exterior, tendo apresentado, nessa condição, Cartas Credenciais a Governador Estrangeiro. Quando estiverem presentes diplomatas estrangeiros, os Embaixadores em apreço terão
precedência sobre Almirantes-de-Esquadra e Generais-de-Exército. Em caso de visita de Chefe de
Estado, Chefe do Governo ou Ministro das Relações Exteriores estrangeiros, o Chefe da Missão diplomática brasileira no país do visitante, sendo Ministro de 1º classe, terá precedência sobre seus
colegas, com exceção do Secretário-Geral de Política Exterior.
Ministros do Tribunal Superior do Trabalho
Vice-Almirante
Generais-de-Divisão
Embaixadores (Ministros de 1ª classe)
Majores-Brigadeiros
Chefes de Igreja sediados no Brasil
Arcebispos católicos ou equivalentes de outras religiões
Presidente do Tribunal de Contas da União
Presidente do Tribunal Marítimo
Diretores-Gerais das Secretarias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
145
Substitutos eventuais dos Ministros de Estado
Secretários-Gerais dos Ministérios
Reitores da universidades Federais
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal
Presidente do Banco Central do Brasil
Presidente do Banco do Brasil
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
Presidente do Banco Nacional de Habilitação
Ministros do Tribunal de Contas da União
Juízes do Tribunal Superior do Trabalho
Subprocuradores-Gerais da República
Procuradores-Gerais da Justiça Militar
Procuradores-Gerai da Justiça do Trabalho
Procuradores-Gerais do Tribunal de Contas da União
Vice-Governadores de outros Estados da União
Secretário da Receita Federal
Personalidades inscritas no Livro do Mérito
Prefeitos da cidade em que se processa a cerimônia
Presidente da Câmara Municipal da cidade em que se processa a cerimônia
Juiz de Direito da Comarca em que se processa a cerimonia
Prefeitos das cidades de mais de um milhão (1.000.000) de habitantes
Presidente da Caixa Econômica Federal
Ministros-Conselheiros estrangeiros
Cônsules-Gerais estrangeiros
Adidos Militares estrangeiros
(Oficiais Generais)
146
7 - Contra-Almirantes
Generais-de-Brigada
Embaixadores Comissionados ou Ministros de 2ª classe
Brigadeiros-do-Ar.
Direito-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil
Chefe do Gabinete da Vice-Presidência da República
Subchefes dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República
Assessor Especial da Presidência da República
Assessor-Chefe da Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República.
Assistente-Secretário do Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República
Secretários Particulares do Presidente da República
Chefe do Cerimonial da Presidência da República
Secretários de Imprensa da Presidência da República
Diretor-Geral da Agência Nacional
Presidente da Central de Medicamentos
Chefe do Gabinete da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional
Chefe do Gabinete do Serviço Nacional de Informações
Chefe do Gabinete do Estado-Maior das Forças Armadas
Chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
Governadores dos Territórios
Procurador da República no Estado
Procurador-Geral do Estado
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Presidente do Tribunal de Alçado do Estado
147
Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas
Presidente do Conselho Federal de Educação
Presidente do conselho Federal de Cultura
Chanceler da Ordem Nacional do Mérito
Presidente da Academia Brasileira de Letras
Presidente da Academia Brasileira de Ciências
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa
Diretores do Gabinete Civil da Presidência da República
Diretores-Gerais dos Departamentos de Ministérios
Superintendentes de Órgãos Federais
Presidentes dos Institutos e Fundações Nacionais
Presidentes dos Conselhos e Comissões Federais
Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas de
âmbito nacional
Chefes dos Gabinetes dos Ministros de Estado
Reitores das Universidades Estaduais e Particulares
Membros do Conselho Nacional de Pesquisas
Membros do Conselho Federal de Educação
Membros do Conselhos Federal de Cultura
Secretários do Governo do Estado em que se processa a cerimônia
Bispos católicos ou equivalentes de outras religiões
Conselheiros estrangeiros
Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Mar-e-Guerra, Coronéis e Coronéis-
Aviadores)
Presidentes das Confederações Patronais e de Trabalhadores de âmbito nacional
Consultores Jurídicos dos Ministérios
Membros da Academia Brasileira de Letras
148
Membros da Academia Brasileira de Ciências
Diretores do Banco Central do Brasil
Diretores do Banco do Brasil
Diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
Diretores do Banco Nacional de Habitação
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Coronéis
Conselheiros
Coronéis-Aviadores
Deputados do Estado em que se processa a cerimônia
Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado em que se processa a cerimônia
Adjuntos dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República
Prefeitos das cidades de mais de quinhentos mil (500.000) habitantes
Delegados dos Ministérios no Estado em que se processa a cerimônia
Primeiros Secretários estrangeiros
Cônsules estrangeiros
Consultor-Geral do Estado em que se processa a cerimônia Juízes do Tribunal Marítimo Juizes do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado em que se processa a cerimônia
Juizes do Tribunal Regional do Trabalho do Estado em que se processa a cerimônia
Presidentes das Câmaras Municipais da Capital e das cidades de mais de um milhão (1.000.000)
de habitantes.
Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Fragata, Tenentes-Coronéis e Tenentes-
Coronéis-Aviadores)
9 - Juiz Federal
Juizes do Tribunal de Contas do Estado em que se processa a cerimônia
Juizes do Tribunal de Alçada do Estado em que se processa a cerimônia
Presidentes dos Institutos e Fundações Regionais e Estaduais
149
Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas de
âmbito regional ou Estadual Diretores das Faculdades Federais
Monsenhores católicos ou equivalentes de outras religiões
Ajudantes-de-Ordem do Presidente da República (Majores)
Capitães-de-Fragata
Tenentes-Coroneis
Primeiros-Secretários
Tenentes-Coronéis-Aviadores
Chefes de Serviço da Presidência da República
Presidentes das Federações Patrimoniais e de Trabalhadores de âmbito regional ou estadual
Presidentes das Câmaras Municipais das Capitais dos Estados da união e das cidades de mais de
quinhentos mil (500.000) habitantes
Juizes de Direito
Procuradores Regionais do Trabalho
Diretores de Repartições Federais
Auditores da Justiça Militar
Auditores do Tribunal de Contas
Promotores Públicos
Procuradores Adjuntos da República
Diretores das Faculdades Estaduais e Particulares
Segundos Secretários estrangeiros
Vice-Cônsules estrangeiros
Adidos e Adjuntos Militares Militares estrangeiros (Capitães-de-Corveta, Majores e Majores-
Aviadores)
10 - Ajudante-de-Ordem do Presidente da República (Capitães)
Adjuntos dos Serviços da Presidência da República
Oficiais do Gabinete Civil da Presidência da República
Chefes de Departamento das Universidades Federais
150
Diretores de Divisão dos Ministérios
Prefeitos das cidades de mais de cem mil (100.000) habitantes Capitães-de-Corveta
Majores
Segundos Secretários
Majores-Aviadores
Secretários-Gerais dos Territórios
Diretores de Departamento das Secretarias do Estado em que se processa a cerimônia
Presidentes dos Conselhos Estaduais
Chefes de Departamento das Universidades Estaduais e Particulares
Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de cem mil (100.000) habitantes
Terceiros Secretários estrangeiros
Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-Tenentes, Capitães e Capitães-Aviadores)
11 - Professores de Universidade e demais Prefeitos Municipais
Cônegos católicos ou equivalentes de outras religiões
Capitães-Tenentes
Capitães
Terceiros Secretários
Capitães-Aviadores
Presidentes das demais Câmaras Municiais
Diretores de Repartições do Estado em que se processa a cerimônia
Diretores de Escolas de Ensino Secundário
Vereadores Municipais
A ordem de precedência nas cerimônias oficiais, de caráter estadual, será a seguinte:
1 - Governador
Cardeais
2 - Vice-Governador
151
3 - Presidente da Assembléia Legislativa
Presidente do Tribunal de Justiça
4 - Almirante-de-Esquadra
Generais-de-Exército
Tententes-Brigadeiros
Prefeito da Capital estadual em que se processa a cerimônia
5 - Vice-Almirantes
Generais-de-Divisão
Majores-Brigadeiros
Chefes de Igreja sediados no Brasil
Arcebispos católicos ou equivalentes em outras religiões
Reitores das Universidades Federais
Personalidades inscritas no Livro do Mérito
Prefeito da cidade em que se processa a cerimônia
Presidente da Câmara Municipal da cidade em que se processa a cerimônia
Juiz de Direito da Comarca em que se processa a cerimônia
Prefeitos das cidades de mais de um milhão (1.000.000) de habitantes
6 - Contra-Almirantes
Generais-de-Brigada
Brigadeiros-do-Ar
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral
Procurador Regional da República no Estado
Procurador-Geral do Estado
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
Prasidente do Tribunal de Contas
Presidente do Tribunal de Alçada
152
Chefe da Agência do Serviço Nacional de Informações
Superintendentes de Órgãos Federais
Presidentes dos Institutos e Fundações Nacionais
Presidentes dos Conselhos e Comissões Federais
Presidentes das Entidades Autárquicas, sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas de
âmbito nacional
Reitores das Universidades Estaduais e Particulares
Membros do Conselho Nacional de Pesquisas
Membros do Conselho Federal de Educação
Membros do Conselho Federal de Cultura
Secretários de Estado
Bispo católicos ou equivalentes de outras religiões
7 - Presidentes das Confederações Patronais e de Trabalhadores de âmbito nacional
Membros da Academia Brasileira de Letras
Membros da Academia Brasileira de Ciências
Diretores do Banco Central do Brasil
Diretores do Banco do Brasil
Diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
Diretores do Banco Nacional de Habitação
Capitães-de-Mar-e-Guerra
Coronéis
Coronéis-Aviadores
Deputados Estaduais
Desembargadores do Tribunal de Justiça
Prefeitos das cidades de mais de quinhentos mil (500.000) habitantes
Delegados dos Ministérios
Cônsules estrangeiros
153
Consultor-Geral do Estado
Juizes do Tribunal Regional Eleitoral
Juizes do Tribunal Regional do Trabalho
Presidentes das Câmaras Municipais da Capital e das cidades de mais de um milhão (1.000.000)
habitantes
8 - Juiz Federal
Juiz do Tribunal de Contas
Juizes do Tribunal de Alçada
Presidentes dos Institutos e Fundações Regionais e Estaduais
Presidentes das Entidades Autarquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas de
âmbito regional ou estadual
Diretores das Faculdades Federais
Monsenhores católicos ou equivalentes de outras religiões
Capitães-de-Fragata
Tenentes-Coroneis
Tenentes-Coroneis-Aviadores
Presidentes das Federações Patronais e de Trabalhadores de âmbito regional ou estadual
Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de quinhentos mil (500.000) habitantes
Juizes de Direito
Procurador Regional do Trabalho
Auditores da Justiça Militar
Auditores do Tribunal de Contas
Promotores Públicos
Diretores das Faculdades Estaduais e Particulares
Vice-Cônsules estrangeiros
9 - Chefes de Departamento das Universidades Federais Prefeitos das cidades de mais de cem mil
(100.000) habitantes
Capitães-de-Coverta
154
Majores
Majores-Aviadores
Diretores de Departamento das Secretarias
Presidentes dos Conselhos Estaduais
Chefes de Departamento das Universidades Estaduais e Particulares
Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de cem mil (100.000) habitantes
10 - Professores de Universidade Demais Prefeitos Municipais
Cônegos católicos ou equivalentes de outras religiões
Capitães-Tenentes
Capitães
Capitães-Aviadores
Presidentes das demais Câmaras Municipais
Diretores de Repartição
Diretores de Escolas de Ensino Secundário
Vereadores Municipais
155
ANEXO E
Código de Ética Profissional do Secretário
Publicado no Diário Oficial da União de sete de julho de 1989.
CÓDIGO DE ÉTICA
Publicado no Diário Oficial da União de sete de julho de 1989.
Capítulo I
Dos Princípios Fundamentais
Art.1º. - Considera-se Secretário ou Secretária, com direito ao exercício da
profissão, a pessoa legalmente credenciada nos termos da lei em vigor.
Art.2º. - O presente Código de Ética Profissional tem por objetivo fixar
normas de procedimentos dos Profissionais quando no exercício de sua profissão, regulando-
lhes as relações com a própria categoria, com os poderes públicos e com a sociedade.
Art.3º. - Cabe ao profissional zelar pelo prestígio e responsabilidade de sua
profissão, tratando-a sempre como um dos bens mais nobres, contribuindo, através do
exemplo de seus atos, para elevar a categoria, obedecendo aos preceitos morais e legais.
Capítulo II
Dos Direitos
Art.4º. - Constituem-se direitos dos Secretários e Secretárias: a) garantir e
defender as atribuições estabelecidas na Lei de Regulamentação; b) participar de entidades
representativas da categoria; c) participar de atividades públicas ou não, que visem defender
os direitos da categoria; d) defender a integridade moral e social da profissão, denunciando às
entidades da categoria qualquer tipo de alusão desmoralizadora; e) receber remuneração
equiparada à dos profissionais de seu nível de escolaridade; f) ter acesso a cursos de
treinamento e a outros Eventos/Cursos cuja finalidade seja o aprimoramento profissional; g)
jornada de trabalho compatível com a legislação trabalhista em vigor.
156
Capítulo III
Dos Deveres Fundamentais
Art.5º. - Constituem-se deveres fundamentais das Secretárias e Secretários:
a) considerar a profissão como um fim para a realização profissional; b) direcionar seu
comportamento profissional, sempre a bem da verdade, da moral e da ética; c) respeitar sua
profissão e exercer suas atividades, sempre procurando aperfeiçoamento; d) operacionalizar e
canalizar adequadamente o processo de comunicação com o público; e) ser positivo em seus
pronunciamentos e tomadas de decisões, sabendo colocar e expressar suas atividades; f)
procurar informar-se de todos os assuntos a respeito de sua profissão e dos avanços
tecnológicos, que poderão facilitar o desempenho de suas atividades; g) lutar pelo progresso
da profissão; h) combater o exercício ilegal da profissão; i) colaborar com as instituições que
ministram cursos específicos, oferecendo-lhes subsídios e orientações.
Capítulo IV
Do Sigilo Profissional
Art.6º. - A Secretária e o Secretário, no exercício de sua profissão, deve
guardar absoluto sigilo sobre assuntos e documentos que lhe são confiados.
Art.7º. - É vedado ao Profissional assinar documentos que possam resultar
no comprometimento da dignidade profissional da categoria.
Capítulo V
Das Relações entre Profissionais Secretários
Art.8º. - Compete às Secretárias e Secretários: a) manter entre si a
solidariedade e o intercâmbio, como forma de fortalecimento da categoria; b) estabelecer e
manter um clima profissional cortês, no ambiente de trabalho, não alimentando discórdia e
desentendimento profissionais; c) respeitar a capacidade e as limitações individuais, sem
preconceito de cor, religião, cunho político ou posição social; d) estabelecer um clima de
respeito à hierarquia com liderança e competência.
Art.9º. - É vedado aos profissionais: a) usar de amizades, posição e
influências obtidas no exercício de sua função, para conseguir qualquer tipo de favoritismo
pessoal ou facilidades, em detrimento de outros profissionais; b) prejudicar deliberadamente a
157
reputação profissional de outro secretário; c) ser, em função de seu espírito de solidariedade,
conivente com erro, contravenção penal ou infração a este Código de Ética.
Capítulo VI
Das Relações com a Empresa
Art.10º. - Compete ao Profissional, no pleno exercício de suas atividades: a)
identificar-se com a filosofia empresarial, sendo um agente facilitador e colaborador na
implantação de mudanças administrativas e políticas; b) agir como elemento facilitador das
relações interpessoais na sua área de atuação; c) atuar como figura-chave no fluxo de
informações desenvolvendo e mantendo de forma dinâmica e contínua os sistemas de
comunicação.
Art.11º. - É vedado aos Profissionais: a) utilizar-se da proximidade com o
superior imediato para obter favores pessoais ou estabelecer uma rotina de trabalho
diferenciada em relação aos demais; b) prejudicar deliberadamente outros profissionais, no
ambiente de trabalho.
Capítulo VII
Das Relações com as Entidades da Categoria
Art.12º. - A Secretária e o Secretário devem participar ativamente de suas
entidades representativas, colaborando e apoiando os movimentos que tenham por finalidade
defender os direitos profissionais.
Art.13º. - Acatar as resoluções aprovadas pelas entidades de classe.
Art.14º. - Quando no desempenho de qualquer cargo diretivo, em entidades
da categoria, não se utilizar dessa posição em proveito próprio.
Art.15º. - Participar dos movimentos sociais e/ou estudos que se relacionem
com o seu campo de atividade profissional.
Art.16º. - As Secretárias e Secretários deverão cumprir suas obrigações, tais
como mensalidades e taxas, legalmente estabelecidas, junto às entidades de classes a que
pertencem.
158
Capítulo VIII
Da Obediência, Aplicação e Vigência do Código de Ética
Art.17º. - Cumprir e fazer cumprir este Código é dever de todo Secretário.
Art.18º. - Cabe aos Secretários docentes informar, esclarecer e orientar os
estudantes, quanto aos princípios e normas contidas neste Código.
Art.19º. - As infrações deste Código de Ética Profissional acarretarão
penalidades, desde a advertência à cassação do Registro Profissional na forma dos
dispositivos legais e/ou regimentais, através da Federação Nacional das Secretárias e
Secretários.
Art.20º. - Constituem infrações: a) transgredir preceitos deste Código; b)
exercer a profissão sem que esteja devidamente habilitado nos termos da legislação
específica; c) utilizar o nome da Categoria Profissional das Secretárias e/ou Secretários para
quaisquer fins, sem o endosso dos Sindicatos de Classe, em nível Estadual e da Federação
Nacional nas localidades inorganizadas em Sindicatos e/ou em nível Nacional.
159
ANEXO F
DECRETO-LEI Nº 3.688 - DE 03 DE OUTUBRO DE 1941 –
CLBR 31/12/1941
- LEIS DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS
Alterado pela LEI Nº 11.983, DE 16 DE JULHO DE 2009 - DOU DE 17/07/2009
Alterado pela LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 - DOU DE 03/10/2003
Alterado pela LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980 - DOU DE 21/08/1980
Alterado pela LEI Nº 6.416, DE 24 DE MAIO DE 1977 - DOU DE 25/05/1977
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 180
da Constituição, decreta:
PARTE GERAL -
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO PENAL
Art. 1º Aplicam-se às contravenções as regras gerais do Código Penal, sempre que a
presente Lei não disponha de modo diverso.
TERRITORIALIDADE
Art. 2º A lei brasileira só é aplicável à contravenção praticada no território nacional.
VOLUNTARIEDADE. DOLO E CULPA
Art. 3º Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se,
todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra,
qualquer efeito jurídico.
TENTATIVA
Art. 4º Não é punível a tentativa de contravenção.
PENAS PRINCIPAIS
Art. 5º As penas principais são:
I - prisão simples;
II - multa.
PRISÃO SIMPLES
Art. 6º A pena de prisão simples deve ser cumprida, sem rigor penitenciário, em
estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semi-aberto
ou aberto.
§ 1º O condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados à
pena de reclusão ou de detenção.
160
§ 2º O trabalho é facultativo, se a pena aplicada não excede a 15 (quinze) dias.
REINCIDÊNCIA
Art. 7º Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de
passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, por
qualquer crime, ou, no Brasil, por motivo de contravenção.
ERRO DE DIREITO
Art. 8º No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusáveis, a
pena pode deixar de ser aplicada.
CONVERSÃO DA MULTA EM PRISÃO SIMPLES
Art. 9º A multa converte-se em prisão simples, de acordo com o que dispõe o Código
Penal sobre a conversão de multa em detenção.
Parágrafo único. Se a multa é a única pena cominada, a conversão em prisão simples se
faz entre os limites de 15 (quinze) dias e 3 (três) meses.
LIMITES DAS PENAS
Art. 10. A duração da pena de prisão simples não pode, em caso algum, ser superior a 5
(cinco) anos, nem a importância das multas ultrapassar cinqüenta contosde réis.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DE PRISÃO SIMPLES
Art. 11. Desde que reunidas as condições legais, o juiz pode suspender, por tempo não
inferior a 1 (um) ano nem superior a 3 (três), a execução da pena de prisão simples,
bem como conceder livramento condicional.
PENAS ACESSÓRIAS
Art. 12. As penas acessórias são a publicação da sentença e as seguintes interdições de
direitos:
I - a incapacidade temporária para profissão ou atividade, cujo exercício dependa de
habilitação especial, licença ou autorização do poder público;
II - a suspensão dos direitos políticos.
Parágrafo único. Incorrem:
a) na interdição sob nº I, por 1 (um) mês a 2 (dois) anos, o condenado por motivo de
contravenção cometida com abuso de profissão ou atividade ou com infração de dever a
ela inerente;
b) na interdição sob nº II, o condenado à pena privativa de liberdade, enquanto dure a
execução da pena ou a aplicação da medida de segurança detentiva.
161
MEDIDAS DE SEGURANÇA
Art. 13. Aplicam-se, por motivo de contravenção, as medidas de segurança
estabelecidas no Código Penal, à exceção do exílio local.
PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE
Art. 14. Presumem-se perigosos, além dos indivíduos a que se referem os nºs I e II do
art. 78 do Código Penal:
I - o condenado por motivo de contravenção cometida em estado de embriaguez pelo
álcool ou substância de efeitos análogos, quando habitual a embriaguez;
II - o condenado por vadiagem ou mendicância;
III - (Revogado pela Lei nº 6.416, de 24/05/77).
IV - (Revogado pela Lei nº 6.416, de 24/05/77).
INTERNAÇÃO EM COLÔNIA AGRÍCULA OU EM INSTITUTO DE
TRABALHO, DE REEDUCAÇÃO OU DE ENSINO PROFISSIONAL
Art. 15. São internados em colônia agrícola ou em instituto de trabalho, de reeducação
ou de ensino profissional, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano:
I - o condenado por vadiagem (art. 59).
II - o condenado por mendicância (art. 60 e seu parágrafo).
III - (Revogado pela Lei nº 6.416, de 24/05/77).
INTERNAÇÃO E MANICÔMIO JUDICIÁRIO OUEM CASA DE CUSTÓDIA E
TRATAMENTO
Art. 16. O prazo mínimo de duração da internação em manicômio judiciário ou em
casa de custódia e tratamento é de 6 (seis) meses.
Parágrafo único. O juiz, entretanto, pode, ao invés de decretar a internação, submeter o
indivíduo a liberdade vigiada.
AÇÃO PENAL
Art. 17. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício.
PARTE ESPECIAL
CAPÍTULO I -
DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES À PESSOA
FABRICO, COMÉRCIO, OU DETENÇÃO DE ARMAS OU MUNIÇÃO
Art. 18. Fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da
autoridade, arma ou munição:
162
Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa, ou ambas
cumulativamente, se o fato não constitui crime contra a ordem política ou social.
PORTE DE ARMA
Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da
autoridade:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, ou multa, ou ambas
cumulativamente.
§ 1º A pena é aumentada de um terço até metade, se o agente já foi condenado, em
sentença irrecorrível, por violência contra pessoa.
§ 2º Incorre na pena de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa,
quem, possuindo arma ou munição:
a) deixa de fazer comunicação ou entrega à autoridade, quando a lei o determina;
b) permite que alienado, menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa inexperiente no manejo
de arma a tenha consigo;
c) omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado,
menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa inexperiente em manejá-la.
ANÚNCIO DE MEIO ABORTIVO
Art. 20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto:
Pena - multa.
VIAS DE FATO
Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, se o fato não
constitui crime.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior
de 60 (sessenta) anos. (Incluído pela Lei nº 10.741, de 1º /10/2003 - DOU DE 03/10/2003)
INTERNAÇÃO IRREGULAR EM ESTABELECIMENTO PSIQUIÁTRICO
Art. 22. Receber em estabelecimento psiquiátrico, e nele internar, sem as formalidades
legais, pessoa apresentada como doente mental.
Pena - multa.
§ 1º Aplica-se a mesma pena a quem deixa de comunicar à autoridade competente, no
prazo legal, internação que tenha admitido, por motivo de urgência, sem as
formalidades legais.
163
§ 2º Incorre na pena de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa,
aquele que, sem observar as prescrições legais, deixa retirar-se ou despede de
estabelecimento psiquiátrico pessoa nele internada.
INDEVIDA CUSTÓDIA DE DOENTE MENTAL
Art. 23. Receber e ter sob custódia doente mental, fora do caso previsto no artigo
anterior, sem autorização de quem de direito:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa.
CAPÍTULO II -
DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES AO PATRIMÔNIO
INSTRUMENTO DE EMPREGO USUAL NA PRÁTICA DE FURTO
Art. 24. Fabricar, ceder ou vender gazua ou instrumento empregado usualmente na
prática de crime de furto:
Pena - prisão simples, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
POSSE NÃO JUSTIFICA DE INSTRUMENTO DE EMPREGO SAL NA
PRÁTICA DE FURTO
Art. 25. Ter alguém em seu poder, depois de condenado por crime de furto ou roubo,
ou enquanto sujeito à liberdade vigiada ou quando conhecido como vadio ou mendigo,
gazus, chaves falsas ou alteradas ou instrumentos empregados usualmente na prática de
crime de furto, desde que não prove destinação legítima:
Pena - prisão simples, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, e multa.
VIOLAÇÃO DE LUGAR OU OBJETO
Art. 26. Abrir, alguém, no exercício de profissão de serralheiro ou ofício análogo, a
pedido ou por incumbência de pessoa de cuja legitimidade não se tenha certificado
previamente, fechadura ou qualquer outro aparelho destinado à defesa de lugar ou
objeto:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa.
EXPLORAÇÃO DE CREDULIDADE PÚBLICA
Art. 27. Explorar a credulidade pública mediante sortilégios, predição do futuro,
explicação de sonho, ou práticas congêneres:
Pena - prisão simples, de 1 (um) a 6 (seis) meses, e multa.
164
CAPÍTULO III -
DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES À INCOLUMIDADE
PÚBLICA
Art. 28. Disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via
pública ou em direção a ela:
Pena - prisão simples, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.
Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de 15 (quinze) dias a 2 (dois)
meses, ou multa, quem, em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou
em direção a ela, sem licença da autoridade, causa deflagração perigosa, queima fogo
de artifício ou solta balão aceso.
DESABAMENTO DE CONSTRUÇÃO
Art. 29. Provocar o desabamento de construção ou, por erro no projeto ou na execução,
dar-lhe causa:
Pena - multa, se o fato não constitui crime contra a incolumidade pública.
PERIGO DE DESABAMENTO
Art. 30. Omitir alguém a providência reclamada pelo estado ruinoso de construção que
lhe pertence ou cuja conservação lhe incumbe:
Pena - multa.
OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA OU CONDUÇÃO DE ANIMAIS
Art. 31. Deixar em liberdade, confiar à guarda de pessoa inexperiente, ou não guardar
com a devida cautela animal perigoso:
Pena - prisão simples, de 10 (dez) dias a 2 (dois) meses, ou multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:
a) na via pública, abandona animal de tiro, carga ou corrida, ou o confia a pessoa
inexperiente;
b) excita ou irrita animal, expondo a perigo a segurança alheia;
c) conduz animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia.
FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO
Art. 32. Dirigir, sem a devida habilitação, veículo na via pública, ou embarcação a
motor em águas públicas:
Pena - multa.
165
DIREÇÃO NÃO LICENCIADA DE AERONAVE
Art. 33. Dirigir aeronave sem estar devidamente licenciado:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, e multa.
DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO NA VIA PÚBLICA
Art. 34. Dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em
perigo a segurança alheia:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa.
ABUSO NA PRÁTICA DA AVIAÇÃO
Art. 35. Entregar-se, na prática da aviação, a acrobacias ou a vôos baixos, fora da zona
em que a lei o permite, ou fazer descer a aeronave fora dos lugares destinados a esse
fim:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa.
SINAIS DE PERIGO
Art. 36. Deixar de colocar na via pública sinal ou obstáculo, determinado em lei ou
pela autoridade e destinado a evitar perigo a transeuntes:
Pena - prisão simples, de 10 (dez) dias a 2 (dois) meses, ou multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem:
a) apaga sinal luminoso, destrói ou remove sinal de outra natureza ou obstáculo
destinado a evitar perigo a transeuntes;
b) remove qualquer outro sinal de serviço público.
ARREMESSO OU COLOCAÇÃO PERIGOSA
Art. 37. Arremessar ou derramar em via pública, ou em lugar de uso comum, ou de uso
alheio, coisa que possa ofender, sujar ou molestar alguém:
Pena - multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, sem as devidas cautelas, coloca
ou deixa suspensa coisa que, caindo em via pública ou em lugar de uso comum ou de
uso alheio, possa ofender, sujar ou molestar alguém.
EMISSÃO DE FUMAÇA, VAPOR OU GÁS
Art. 38. Provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender
ou molestar alguém:
166
Pena - multa.
CAPÍTULO IV -
DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES À PAZ PÚBLICA
ASSOCIAÇÃO SECRETA
Art. 39. Participar de associação de mais de cinco pessoas, que se reúnam
periodicamente, sob compromisso de ocultar à autoridade a existência, objetivo,
organização ou administração da associação:
Pena - prisão simples, de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.
§ 1º Na mesma pena incorre o proprietário ou ocupante de prédio que o cede, no todo
ou em parte, para reunião de associação que saiba ser de caráter secreto.
§ 2º O juiz pode, tendo em vista as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, quando
lícito o objeto da associação.
PROVOCAÇÃO DE TUMULTO. CONDUTA INCONVENIENTE
Art. 40. Provocar tumulto ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso, em
solenidade ou ato oficial, em assembléia ou espetáculo público, se o fato não constitui
infração penal mais grave:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, ou multa.
FALSO ALARMA
Art. 41. Provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar
qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, ou multa.
PERTURBAÇÃO DO TRABALHO OU DO SOSSEGO ALHEIOS
Art. 42. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios:
I - com gritaria ou algazarra;
II - exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais;
III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
IV - provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem
guarda:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa.
CAPÍTULO V -
DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES À FÉ PÚBLICA
RECUSA DE MOEDA DE CURSO LEGAL
167
Art. 43. Recusar-se a receber pelo seu valor, moeda de curso legal do País:
Pena - multa.
IMITAÇÃO DE MOEDA PARA PROPAGANDA
Art. 44. Usar, como propaganda, de impresso ou objeto que pessoa inexperiente ou
rústica possa confundir com moeda:
Pena - multa.
SIMULAÇÃO DA QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO
Art. 45. Fingir-se funcionário público:
Pena - prisão simples, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.
USO ILEGÍTIMO DE UNIFORME OU DISTINTIVO
Art. 46. Usar, publicamente, de uniforme, ou distintivo de função pública que não
exercer; usar, indevidamente, de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja
regulado por lei.
Pena - multa, se o fato não constitui infração penal mais grave.
CAPÍTULO VI - DAS CONTRAVENÇÕES RELATIVAS À
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE
Art. 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem
preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa.
EXERCÍCIO ILEGAL DO COMÉRCIO DE COISAS ANTIGAS E OBRAS DE
ARTE
Art. 48. Exercer, sem observância das prescrições legais, comércio de antigüidades, de
obras de arte, ou de manuscritos e livros antigos ou raros:
Pena - prisão simples, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.
MATRÍCULA OU ESCRITURAÇÃO DE INDÚSTRIA E PROFISSÃO
Art. 49. Infringir determinação legal relativa à matrícula ou à escrituração de indústria,
de comércio, ou de outra atividade:
168
Pena - multa.
CAPÍTULO VII -
DAS CONTRAVENÇÕES RELATIVAS À POLICIA DE COSTUMES
JOGO DE AZAR
Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público,
mediante o pagamento de entrada ou sem ele:
Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, estendendo-se os
efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se existe entre os empregados ou participa do
jogo pessoa menor de 18 (dezoito) anos.
§ 2º Incorre na pena de multa, quem é encontrado a participar do jogo, como ponteiro
ou apostador.
§ 3º Consideram-se jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte;
b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam
autorizadas;
c) as apostas sobre qualquer outra competição esportiva.
§ 4º Equiparam-se, para os efeitos penais, a lugar acessível ao público:
a) a casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente
participam pessoas que não sejam da família de quem a ocupa;
b) o hotel ou casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e moradores se proporciona
jogo de azar;
c) a sede ou dependência de sociedade ou associação, em que se realiza jogo de azar;
d) o estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que se dissimule
esse destino.
LOTERIA NÃO AUTORIZADA
Art. 51. Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:
Pena - prisão simples, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, estendendo-se os
efeitos da condenação à perda dos móveis existentes no local.
§ 1º Incorre na mesma pena quem guarda, vende ou expõe à venda, tem sob sua guarda,
para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria não
autorizada.
§ 2º Considera-se loteria toda ocupação que, mediante a distribuição de bilhete, listas,
cupões, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção
de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza.
§ 3º Não se compreendem na definição do parágrafo anterior os sorteios autorizados na
legislação especial.
LOTERIA ESTRANGEIRA
169
Art. 52. Introduzir, no País, para o fim de comércio, bilhete de loteria, rifa ou tômbola
estrangeiras:
Pena - prisão simples, de 4 (quatro) meses a 1 (um) ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua
guarda, para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação, bilhete de
loteria estrangeira.
LOTERIA ESTADUAL
Art. 53. Introduzir, para o fim de comércio, bilhete de loteria estadual em território
onde não possa legalmente circular:
Pena - prisão simples, de 2 (dois) a 6 (seis) meses, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende, expõe à venda, tem sob sua
guarda, para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação, bilhete de
loteria estadual, em território onde não possa legalmente circular.
EXIBIÇÃO OU GUARDA DE LISTA DE SORTEIO
Art. 54. Exibir ou ter sob sua guarda lista de sorteio de loteria estrangeira:
Pena - prisão simples, de 1 (um) a 3 (três) meses, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem exibe ou tem sob sua guarda lista de
sorteio de loteria estadual, em território onde esta não possa legalmente circular.
IMPRESSÃO DE BILHETES, LISTA OU ANÚNCIOS
Art. 55. Imprimir ou executar qualquer serviço de feitura de bilhetes, lista de sorteio,
avisos ou cartazes relativos a loteria, em lugar onde ela não possa legalmente circular:
Pena - prisão simples, de 1 (um) a 6 (seis) meses, e multa.
DISTRIBUIÇÃO OU TRANSPORTE DE LISTAS OU AVISOS
Art. 56. Distribuir ou transportar cartazes, listas de sorteio ou avisos de loteria, onde
ela não possa legalmente circular:
Pena - prisão simples, de 1 (um) a 3 (três) meses, e multa.
PUBLICIDADE DE SORTEIO
Art. 57. Divulgar, por meio de jornal ou outro impresso, de rádio, cinema, ou qualquer
outra forma, ainda que disfarçadamente, anúncio, aviso ou resultado de extração de
loteria, onde a circulação dos seus bilhetes não seja legal:
170
Pena - multa.
JOGO DE BICHO
Art. 58. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer
ato relativo à sua realização ou exploração:
Pena - prisão simples, de 4 (quatro) meses a 1 (um) ano, e multa.
Parágrafo único. Incorre na pena de multa aquele que participa da loteria, visando a
obtenção de prêmio, para si ou para terceiro.
VADIAGEM
Art. 59. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho,
sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria
subsistência mediante ocupação ilícita:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses.
Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda, que assegure ao condenado meios
bastantes de subsistência, extingue a pena.
MENDICÂNCIA
Art. 60 . Revogado pela LEI Nº 11.983, DE 16 DE JULHO DE 2009 - DOU DE
17/07/2009
Art. 60. Mendigar, por ociosidade ou cupidez:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3
(três) meses.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de um sexto
a um terço, se a contravenção é praticada:
a) de modo vexatório, ameaçador ou
fraudulento;
b) mediante simulação de moléstia ou
deformidade;
c) em companhia de alienado ou de menor de 18
(dezoito) anos.
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo
ofensivo ao pudor:
Pena - multa.
171
EMBRIAGUEZ
Art. 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause
escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa.
Parágrafo único. Se habitual a embriaguez, o contraventor é internado em casa de
custódia e tratamento.
BEBIDAS ALCOÓLICAS
Art. 63. Servir bebidas alcoólicas:
I - a menor de 18 (dezoito) anos;
II - a quem se acha em estado de embriaguez;
III - a pessoa que o agente sabe sofrer das faculdades mentais;
IV - a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibida de freqüentar lugares onde
se consome bebida de tal natureza:
Pena - prisão simples, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa.
CRUELDADE CONTRA ANIMAIS
Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a trabalho excessivo:
Pena - prisão simples, de 10 (dez) dias a 1 (um) mês, ou multa.
§ 1º Na mesma pena incorre aquele que, embora para fins didáticos ou científicos,
realiza, em lugar público ou exposto ao público, experiência dolorosa ou cruel em
animal vivo.
§ 2º Aplica-se a pena com aumento de metade, se o animal é submetido a trabalho
excessivo ou tratado com crueldade, em exibição ou espetáculo público.
PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE
Art. 65. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranqüilidade, por acidente ou por motivo
reprovável:
Pena - prisão simples, de 15 (quinze) dias a 2 (dois) meses, ou multa.
172
CAPÍTULO VIII -
DAS CONTRAVENÇÕES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
OMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DE CRIME
Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade competente:
I - crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício de função pública,
desde que a ação penal não dependa de representação;
II - crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de
outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a
comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal:
Pena - multa.
INUMAÇÃO OU EXUMAÇÃO DE CADÁVER
Art. 67. Inumar ou exumar cadáver, com infração das disposições legais:
Pena - prisão simples, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa.
RECUSA DE DADOS SOBRE PRÓPRIA IDENTIDADE OU QUALIFICAÇÃO
Art. 68. Recusar à autoridade, quando por esta justificadamente solicitados ou
exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão,
domicílio e residência:
Pena - multa.
Parágrafo único. Incorre na pena de prisão simples, de 1 (um) a 6 (seis) meses, e multa,
se o fato não constitui infração penal mais grave, quem, nas mesmas circunstâncias, faz
declarações inverídicas a respeito de sua identidade pessoal, estado, profissão,
domicílio e residência.
PROIBIÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA A ESTRANGEIRO
Art. 69. (Revogado pela Lei nº 6.815, de 19/08/80.)
VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL DA UNIÃO
Art. 70. Praticar qualquer ato que importe violação do monopólio postal da União:
Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa, ou ambas
cumulativamente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 71. Ressalvada a legislação especial sobre florestas, caça e pesca, revogam-se as
disposições em contrário.
173
Art. 72. Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1942.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1941; 120º da Independência e 53º da República.
GETÚLIO VARGAS
174
ANEXO G
Projeto de Lei de criação do Conselho de Classe dos Secretários e Secretárias
PROJETO DE LEI
“Cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de
Secretariado e dá outras
providências”.
O Presidente da República Federativa do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Capítulo I - Da Criação e Atribuições dos
Conselhos Federal e Regionais de Secretariado
Artigo. 1o - Ficam criados o Conselho Federal de Secretariado e os Conselhos Regionais de
Secretariado, dotados de personalidade jurídica de direito público, com autonomia financeira,
organizacional e administrativa.
Artigo 2° - O Conselho Federal de Secretariado (CFS) e os Conselhos Regionais de
Secretariado (CRS) têm por atribuição orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da
Profissão de Secretário, bem como supervisionar o cumprimento e aplicação do Código de
Ética Profissional, dos profissionais habilitados e inscritos nos Conselhos regionais
Artigo 3° - A designação de Profissional de Secretariado é prerrogativa dos profissionais
regularmente inscritos nos Conselhos Regionais de Secretariado, ficando instituído o sigilo
profissional a todos os profissionais regularmente inscritos.
Parágrafo único – O sigilo Profissional poderá ser oposto em juízo ou fora dele pelo prazo de
10 (dez) anos após o término do contrato de prestação de serviços profissionais.
Artigo 4° - Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Secretariado os
seguintes profissionais:
I – os possuidores de diploma obtido em curso de secretariado, oficialmente autorizado ou
reconhecido;
II - os possuidores de diploma em secretariado expedido por instituição de ensino superior
estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;
III – os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham concluído o ensino médio e
tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais de Secretariado,
pelo tempo mínimo de 10 (dez) anos anteriores a propositura desta Lei.
175
Capítulo II - Do Conselho Federal
Artigo 5° - O Conselho Federal de Secretariado terá jurisdição em todo o Território Nacional
e sede e foro no Distrito Federal e será composto por brasileiros natos e naturalizados,
devidamente habilitados nos termos da presente lei.
Parágrafo único - O Conselho Federal de Secretariado (CFS) poderá, quando necessário,
instalar unidades regionais, com a devida anuência da diretoria do Conselho Regional de
Secretariado (CRS) respectivo.
Artigo 6° - Compete ao Conselho Federal de Secretariado(CFS):
I – zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização do Profissional de
Secretariado;
II – representar em Juízo, ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais relativos às
prerrogativas da profissão de secretariado, ressalvadas as competências privativas da
Federação e Sindicatos representativos da categoria;
III - elaborar e alterar o seu Regimento Interno;
IV - aprovar os Regimentos Internos organizados pelos Conselhos Regionais, modificando o
que se tornar necessário, a fim de manter a respectiva unidade de ação;
V – supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional;
VI– elaborar e alterar o Código de Ética do profissional de Secretariado, quando for o caso e
publicar suas alterações;
VII – cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Secretariado;
VIII - aplicar multas e penalidades;
IX – editar e alterar resoluções, portarias e provimentos;
X - tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais de
Secretariado e dirimí-las;
XI - reexaminar, em grau de recurso, as decisões dos Conselhos Regionais de
Secretariado(CRS);
XII - publicar o relatório anual de seus trabalhos, em que deverá figurar a relação dos
profissionais registrados;
XIII - instituir e alterar modelos de Carteira de Identidade Profissional, Certificado de
Inscrição, insígnias da profissão e demais impressos;
176
XIV - elaborar e deliberar sobre o Balanço Financeiro, o Relatório Anual de Atividades, a
Previsão Orçamentária e enviar cópia para os Conselhos Regionais de Secretariado até 30
(trinta) dias após a aprovação dos mesmos;
XV - homologar, suprir ou anular atos dos Conselhos Regionais de Secretariado;
XVI - promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional;
XVII – colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos de Secretariado;
XVII – estabelecer as condições para a criação e funcionamento das seções dos Conselhos
Regionais;
XIX - convocar e realizar eleições para sua Diretoria;
XX – promover diligências, inquéritos ou verificações sobre o funcionamento dos Conselhos
Regionais em todo o Território Nacional e adotar medidas para a melhoria de sua gestão;
XXI - exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por Lei;
Artigo 7° - O Conselho Federal de Secretariado (CFS) será composto por:
I - Diretoria - composta por 1(um) Presidente, 2 (dois) Vice-Presidentes, 1 (um) Secretário
Geral, 1 um Secretário Adjunto e 1 Tesoureiro, com igual número de suplentes.
II - Conselho Fiscal - composto por três membros efetivos e igual número de suplentes;
III - Pleno - composto por dois representantes de cada Conselho Regional, eleitos entre seus
membros;
IV - Comissões e Grupos de Trabalho - a critério de cada Conselho respectivo.
Parágrafo Único – As competências dos órgãos de que trata este artigo e as atribuições dos
cargos serão definidas no regimento interno.
Artigo 8° - A eleição dos dirigentes se dará por meio de chapas, compostas por profissionais
inscritos por no mínimo 5 (cinco) anos nos Conselhos Regionais, sendo considerada vitoriosa
a chapa que obtiver o maior numero de votos dos componentes do pleno.
Parágrafo único – O dirigente não poderá ocupar cargo no mesmo órgão por mais de dois
mandatos.
Artigo 9° - O mandato terá a duração de 4 (quatro) anos e as eleições ocorrerão nos meses de
setembro.
Artigo 10 - O patrimônio do Conselho Federal de Secretariado constituir-se-a:
I – doações,
II - legados,
III – subvenções e
IV – aquisições
177
Artigo 11 - A renda do Conselho Federal de Secretariado será composta por:
I- 20% (vinte por cento) da renda bruta de cada Conselho Regional, nela não se
compreendendo doações e legados;
II- quantia arrecadada pela promoção de cursos e eventos.
CAPITULO III – Dos Conselhos Regionais
Artigo 12 - Cada Conselho Regional de Secretariado (CRS) terá sede e foro na Capital do
Estado ou de um dos Estados de sua jurisdição, a critério do Conselho Federal de Secretariado
(CFS).
Artigo 13 - Compete aos Conselhos Regionais de Secretariado (CRS):
I- elaborar seu Regimento Interno e submetê-lo à aprovação do Conselho Federal de
Secretariado;
II- editar Resoluções, Portarias e Provimentos;
III- deliberar sobre os pedidos de inscrição, cancelamento e suspensão da inscrição dos
Profissionais de Secretariado, bem como de revisão dos registros existentes;
IV-organizar o registro Profissional e expedir a Carteira de Identidade Profissional,
indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública, em todo o território nacional e
servirá de documento de identidade;
V- examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e das
infrações dos dispositivos legais vigentes, relativos ao exercício da profissão de secretário,
decidindo a respeito;
VI- fiscalizar o exercício da profissão de secretário, impedindo e punindo as infrações, bem
como enviando às autoridades competentes minucioso relatório documentado, sobre fatos
que se apurarem e cuja solução não seja de sua alçada;
VII– publicar relatório anual de seus trabalhos;
VIII– manter cadastro atualizado dos Secretários inscritos na sua respectiva jurisdição;
IX- cumprir, pontualmente, suas obrigações financeiras junto ao Conselho Federal de
Secretariado(CFS);
X- credenciar as pessoas físicas e jurídicas que queiram explorar o nome da profissão sob
qualquer pretexto e através de qualquer meio;
XI-elaborar e aprovar o Balanço Financeiro e o Relatório Anual de Atividades e a Previsão
Orçamentária e enviar cópia para o Conselho Federal de Secretariado até 30 (trinta) dias
após a aprovação dos mesmos;
XII- conhecer e decidir os assuntos atinentes à Ética Profissional, impondo as penalidades
cabíveis;
178
XIII- fixar o valor da anuidade, da taxa de expedição de Carteira de Identidade Profissional e
demais taxas administrativas;
XIV- eleger a sua Diretoria e Representantes no Pleno do Conselho Federal de Secretariado;
XV- propor ao Conselho Federal de Secretariado medidas visando melhorias ao exercício
profissional;
XVI- pagar pontualmente a respectiva taxa do Conselho Federal de Secretariado;
XVII- definir o valor da hora técnica profissional;
XVIII- exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei e pelo Conselho
Federal de Secretariado.
Parágrafo Único: ao CRS exercerão supletivamente, nas respectivas jurisdições, as
competências e funções atribuídas ao CFS nesta lei, nas resoluções e nos provimentos.
Artigo 14 - O Conselho Regional de Secretariado (CRS) terá a seguinte composição:
I - Diretoria - composta por 1(um) Presidente, 2 (dois) Vice-Presidentes, 1 (um) Secretário
Geral, 1 um Secretário Adjunto e 1 Tesoureiro, com igual número de suplentes.
II - Conselho Fiscal - composto por três membros efetivos e igual número de suplentes;
III - Conselho Deliberativo - composto por 4 (quatro) representantes das entidades
representativas de Profissionais de Secretariado, criadas nos termos da Constituição Federal,
com personalidade jurídica própria, 4 (quatro) das instituições superiores de ensino de
Secretariado, oficialmente autorizadas ou reconhecidas e 5 (cinco) profissionais de
secretariado sem qualquer vinculo com as instituições supramencionadas de cada Conselho
Regional, eleitos pela categoria profissional;
IV - Comissões e Grupos de Trabalho - a critério de cada Conselho respectivo.
Artigo 15 – Aos Conselhos Regionais aplicar-se – á o disposto nos artigos 8° e 9° desta lei.
Artigo. 16 - A renda dos Conselhos Regionais de Secretariado será composta por:
I - taxa de expedição de carteiras de identidade profissional;
II - pagamento de anuidades;
III - doações,
IV - legados e
V – rendas eventuais.
CAPITULO IV – Do Registro
Artigo 17 - O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Secretariado manterão,
devidamente atualizados, por ordem alfabética e numérica, os registros profissionais,
classificados conforme os títulos de habilitação, para facilitar o atendimento de consultas
diversas, publicando relação no Diário Oficial da União, sempre que entenderem necessário.
179
Artigo 18 - A todo profissional devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional, de
acordo com esta Lei, será entregue Carteira de Identidade Profissional, numerada, registrada e
visada a qual conterá:
I - seu nome por extenso;
II - sua filiação;
III - sua nacionalidade e naturalidade;
IV – data de formatura, ou declaração de sua categoria de provisório;
V - natureza do título de habilitação;
VI - número de Registro no Conselho Regional de Secretariado;
VII - sua fotografia de frente (3 x 4) datada e impressão datiloscópica do polegar;
VIII - sua assinatura;
IX - assinatura do representante do Conselho Regional de Secretariado;
X - data de expedição da Carteira de Identidade Profissional;
XI – numero do Registro Geral (RG);
XII – numero do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
XIII – numero do Título de Eleitor
Parágrafo Único - A expedição da Carteira de Identidade Profissional fica sujeita a pagamento
de taxa, a ser definida no Regimento Interno.
Artigo 19 - A Carteira de Identidade Profissional substituirá o diploma ou o título de
provisionamento para os efeitos legais, servirá de carteira de identidade para qualquer
finalidade e terá fé pública.
Artigo 20 – O procedimento relativo aos processos administrativos, bem como as penalidades
a serem aplicadas serão estabelecidos no regimento interno, garantindo-se sempre a ampla
defesa e o contraditório.
CAPITULO V – Das Disposições Transitórias
Artigo 21 - Os primeiros membros efetivos e suplentes do Conselho Federal de Secretariado
serão eleitos para um mandato provisório de dois anos, em reunião das entidades
representativas de Profissionais de Secretariado, criadas nos termos da Constituição Federal,
com personalidade jurídica própria, e das instituições superiores de ensino de Secretariado,
oficialmente autorizadas ou reconhecidas, que serão convocadas pela Federação Nacional das
Secretárias e Secretários - FENASSEC, no prazo de até noventa dias após a promulgação
desta.
§ 1º – Os diretores eleitos para o mandato provisório receberão apenas ajuda de custo;
§ 2º - O exercício do mandato provisório não será computado para efeitos do parágrafo único
do artigo 8º desta lei.
Artigo 22 – Para a eleição referente ao mandato provisório e segunda eleição do Conselho
federal, bem como para a 1° eleição dos Conselhos Regionais, serão dispensadas as
exigências do artigo 8°
Artigo 23 – A diretoria provisória terá o prazo de 18 (dezoito) meses para estruturar os
Conselhos Regionais.
180
Artigo 24 – O Regimento Interno do CFS, bem como o Código de Ética, serão criados dentro
do prazo de 3 (três) meses após a eleição da diretoria provisória
Artigo 25 – O Conselho Federal de Secretariado cadastrará provisoriamente todos os
profissionais de que trata o artigo 4º até que seja criado o respectivo Conselho Regional.
Artigo 26 – A primeira anuidade será paga integralmente ao Conselho Federal para promover
a estruturação do mesmo e dos Conselhos Regionais.
Parágrafo Único – O valor da primeira anuidade não poderá ultrapassar 10% (dez por cento)
do valor do piso salarial para um mês de trabalho, em consonância com a titulação junto ao
conselho.
Artigo 27 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Artigo 28 - Revogam-se as disposições em contrário.
JUSTIFICATIVA
A categoria dos profissionais de secretariado está organizada há mais de 30 anos,
sendo que o seu reconhecimento data de 1978, através da Lei 6556, tendo sido devidamente
regulamentada no ano de 1985 por meio da Lei 7.377.
A representatividade da categoria se dá única e exclusivamente por sindicatos
distribuídos por todo o Brasil, num total de 24 entidades, que embora bastante atuantes em
benefício da categoria são carentes de poder disciplinador e fiscalizador, poder este que só
pode ser exercido, pela criação, pelo Governo Federal, do Conselho Federal da respectiva
categoria.
No decorrer de quase trinta anos de organização houvera um grande movimento de
profissionalização de secretárias e secretários em todo o território nacional com o surgimento
de cursos específicos de técnicos e de nível superior em secretariado (bacharelado),
tecnológico e de pós-graduação (latu-sensu) que passaram a fornecer subsídios técnicos,
fundamentos científicos e filosóficos.
Esta profissionalização se deu em razão das mudanças e progressos da economia
mundial, exigindo maiores responsabilidades, habilidades e eficiência por parte dos
secretários e secretárias não havendo mais espaço para o amadorismo decorrente de uma
simples função.
O profissional de Secretariado exerce função de confiança em razão de suas
atribuições. Ele tem acesso à quase todas as informações da empresa ou departamento onde
trabalha, sendo certo que deve administrar estas informações reproduzindo-as de maneira fiel
181
a seus destinatários, mantendo-as sob sigilo e organizando-as de modo a garantir versatilidade
ao distribuir ou recuperar tais informações.
Na atualidade, a detenção de informações e, principalmente, a sua
confiadenciabilidade são vitais para que se obtenha êxito em determinada atividade
econômica e poucos empregados as detém como o profissional de secretariado.
Por conta disso, muitos patrões ou dirigentes acabam por contratar pessoas que não
possuem a formação profissional adequada, mas que gozam de sua confiança, o que faz com
que, muitas vezes, as empresas suprimam a qualificação profissional em razão da confiança.
Para reverter este quadro, é necessário que os empregadores sintam-se seguros com
relação a aplicação efetiva de um código de ética e, ainda, que esta relação de emprego esteja
amparada por institutos que lhe garantam segurança jurídica como o do sigilo profissional.
Outro problema, freqüentemente enfrentado pela categoria é o desvio de função,
situação em que o profissional de secretariado, embora exerça as funções definidas pela lei de
regulamentação da categoria, é registrado sob outra denominação, perdendo rendimentos e
benefícios conquistados por seus sindicatos.
É difícil e oneroso, para as Delegacias Regionais do Trabalho, fiscalizar os direitos das
categorias diferenciadas como a dos profissionais de secretariado e com a criação de um
Conselho Profissional, encarregado, por delegação da administração pública direta, da
fiscalização do exercício profissional, certamente teremos uma fiscalização efetiva dos
direitos e deveres inerentes ao profissional de secretariado, desonerando o Ministério do
Trabalho e Emprego e beneficiando a sociedade.
Somando-se esse quadro as peculiaridades da profissão de secretário cuja
característica de difusão de profissionais em todos os ramos de atividades e em decorrência do
princípio da eficiência trazido pelo Art. 37 da Constituição Federal, acreditamos que a criação
de autarquia para este fim vai colaborar e muito para a maior efetividade da fiscalização e o
conseqüente incentivo a qualificação profissional, no que consiste em questão de interesse
público como passaremos a demonstrar:
A profissão de secretário(a) consiste em função de confiança em razão de suas
atribuições, exigindo um profissional consciente de suas responsabilidades e obediente a um
código de ética, principalmente por gerenciar informações de importância vital para empresas
e órgãos. De tal monta uma autarquia especial direcionada à fiscalização e maior
representação de classe viria a não só incentivar a qualificação profissional como também
coibir, através do poder disciplinar, a geração de danos ao patrimônio e a integridade moral de
empresas e pessoas através de vazamento de informações.
182
Também cumpre ressaltar que as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de
graduação em secretariado executivo (anexo 2), dos tecnólogos e dos técnicos em secretariado
fornecem ferramentas para contribuir com o melhor desempenho de todas as atividades
exercidas em nosso país, cabendo aqui referência ao princípio da isonomia.
No Ministério do Trabalho e Emprego existem inúmeros requerimentos de criação de
conselhos.
Muitos pleiteiam Conselhos sem qualquer embasamento ou finalidade, apenas por
interesses pessoais, existindo requerimentos em nome de categorias que sequer estão
regulamentadas ou, se estão, ainda não possuem nenhuma necessidade.
Alguns requerimentos são feitos por entidades sérias, que buscam com tal, melhorias
para o pleno exercício da profissão e para a sociedade como um todo.
Outros poucos buscam a criação dos Conselhos, porque sem eles é inviável o pleno
exercício da profissão e praticamente impossível a fiscalização do exercício profissional, além
de ser do maior interesse público.
Este é, sem dúvida alguma, o caso dos profissionais de secretariado.
Ao se contratar um advogado, um contador, um administrador de empresas, que são
profissões que também exigem confiabilidade, além de conhecimentos técnicos, o
empregador possui a segurança de que as informações confiadas a estes profissionais está
protegida por um código de ética instituído por lei e que a fiscalização do exercício da
profissão é específica e eficiente.
Muitas vezes os profissionais de secretariado têm as informações que os três nobres
profissionais acima citados possuem juntos, porém sem qualquer proteção destas informações
através de um código de ética e da prerrogativa do sigilo profissional.
Tal deficiência do pleno exercício profissional, faz com que o profissional de
secretariado, habilitado tecnicamente, tenha sua vaga, no mercado de trabalho, ocupada por
pessoas de baixa qualidade técnica, mas que gozam da confiança pessoal do empregador.
Por todo o exposto, e porque se trata de pleito da categoria profissional, demonstrado
pela resolução, anexa, da Federação Nacional dos Secretários e Secretárias é que entendemos
que a criação deste conselho profissional é essencial à categoria e do maior interesse da
sociedade.
Brasília,