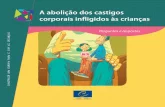Num encontro às cegas com a Violência ... - Investigo
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Num encontro às cegas com a Violência ... - Investigo
TESIS DE DOUTORAMENTO
Num encontro às cegas com a Violência? Contributos da Psicologia Feminista Crítica para a compreensão da violência no namoro nas culturas juvenis
Ana Isabel da Silva Castro Forte
2020
Ana
Isab
el d
a Si
lva
Cast
ro F
orte
TE
SIS
DE D
OUT
ORAM
ENTO
Num
enc
ontr
o às
cega
s com
a V
iolê
ncia
? Con
trib
utos
da
Psic
olog
ia F
emin
ista
Críti
ca p
ara
a co
mpr
eens
ão d
a vi
olên
cia
no n
amor
o nas c
ultu
ras j
uven
is 2
020
Escola Internacional de Doutoramento
Ana Isabel da Silva Castro Forte
TESIS DE DOUTORAMENTO
NUM ENCONTRO ÀS CEGAS COM A VIOLÊNCIA?
CONTRIBUTOS DA PSICOuLOGIA FEMINISTA CRÍTICA PARA A
COMPREENSÃO DA VIOLÊNCIA NO NAMORO NA CULTURAS JUVENIS
Dirigida por:
Prof. Dra. Yolanda Rodríguez Castro
Prof. Dra. María Lameiras Fernández
2020
Escola Internacional de Doutoramento Da. YOLANDA RODRÍGUEZ CASTRO, Profesora Contratada Doctora del Área de Personalidad Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Da. MARÍA LAMEIRAS FERNÁNDEZ, Catedrática de Universidad del Área de Personalidad Evaluación y Tratamientos Psicológicos.
HACEN CONSTAR que el presente trabajo, titulado “Num encontro às cegas com a
Violência? Contributos da Psicologia Feminista Crítica para a compreensão da violência
no namoro nas culturas juvenis”, que presenta Dª Ana Isabel da Silva Castro Forte para
la obtención del título de Doctora, ha sido elaborado bajo nuestra dirección en el programa
de doctorado “Ciencias da Educación e do Comportamento”.
Ourense, 2 de marzo de 2020.
Las Directoras de la tesis doctoral,
Dra. Yolanda Rodríguez Castro Dra. María Lameiras Fernández
Mulheres de Abril
Mulheres de Abril somos
mãos unidas
certeza já acesa em todas
nós
Juntas formamos fileiras
decididas
ninguém calará a nossa
voz
Mulheres de Abril somos
mãos unidas
na construção operária do país
Nos ventres férteis a vontade
erguida
de um Portugal que o povo
quis
Mulheres de Abril, Maria Teresa Horta em Poesia Reunida, p. 450
VII
AGRADECIMENTOS
O mês de abril talvez seja o mês mais importante para os/as Portugueses/as uma
vez que, o seu dia 25 assinala a Revolução dos Cravos que consistiu na queda do regime
ditatorial e na implementação de um estado democrático através de uma nova
Constituição. Para muitos/as de nós, é um importante marco de celebração da liberdade,
da transformação social e da força da vontade do povo.
Sonhar abril é transpor este evento para uma visão ou futuro desejando uma
nova revolução, que à semelhança da que teve lugar em 1974, possa introduzir
mudanças sociais que melhorem as circunstâncias de vida das pessoas e as dignifique.
Termino este trabalho num mês de abril muito embora particularmente diferente
dos que vivi até agora, num período em que o mundo se vê a braços com uma pandemia
e em quarentena em casa devido às restrições impostas por um estado de emergência
nacional declarado há mais de cinco semanas. A segurança das minhas quatro paredes e
o suporte e a saúde das pessoas que me rodeiam tem-me vindo a garantir o privilégio de
concluir este trabalho de investigação e a sonhar abril da minha janela.
Escolhi assim dar início à apresentação deste trabalho com o poema intitulado
Mulheres de Abril de Maria Teresa Horta, uma das conhecidas Três Marias que foram
acusadas pelo estado ditatorial de ter redigido um livro considerado um atentado à
moral e que terá despertado a atenção e o apoio internacional para o que foi considerado
uma das primeiras causas feministas. Escolhi-o também porque considero que retrata o
diálogo intergeracional feminista que, ao longo deste percurso, foi tendo lugar em mim.
O foco deste trabalho nas questões de género que afetam as gerações juvenis esteve
desde logo ancorado na memória histórica do movimentos feministas nacionais e
internacionais, no seu impacto e importância social originando uma conversa, nem
sempre fácil, entre o passado, o presente e o futuro dos feminismos.
Os vários privilégios, que atualmente, estão presentes na minha vida, em várias
das suas esferas e na multiplicidade de papéis que desempenho simultaneamente
acrescem-me da responsabilidade de continuar a contribuir afincadamente com o meu
trabalho para a edificação de uma sociedade mais igualitária e do reconhecimento das
pessoas que me rodeiam e que contribuíram, tantas vezes de forma invisível, para que
este trabalho pudesse ser concluído.
VIII
Em primeiro lugar quero agradecer à Professora Yolanda e à Professora Maria
Lameiras pela orientação desta tese e por terem reflectido comigo o impacto e a
pertinência deste estudo. Yolanda, agradeço-te a paciência e a total disponibilidade, o
ânimo nos momentos mais difíceis deste meu percurso e por teres celebrado cada passo
que dei incentivando-me a nunca desistir e acreditando sempre que eu seria capaz de
levar até ao fim esta árdua tarefa.
Quero também agradecer à Professora Sofia Neves, companheira desta e de
outras aventuras académicas, pela disponibilidade para refletir comigo vários aspetos
deste trabalho. Agradeço as perguntas instigadoras de reflexão e o incentivo à procura
da minha voz de investigadora.
À Professora Maria José Magalhães, ainda que menos envolvida neste processo,
agradeço o acompanhamento e ensinamentos do período inicial do meu interesse pela
investigação feminista, que continuam influenciar e a inspirar o meu trabalho presente;
Todas vocês constituem-se para mim importantes referências pessoais e
profissionais de humanismo, rigor, qualidade e coragem dentro e fora da Academia.
Obrigada por terem plantado uma semente de esperança no meu trabalho académico e
por me ensinarem, a cada momento, a teoria e a prática da sororidade.
Às escolas que aceitaram participar neste estudo pelo apoio concedido e por me
terem permitido o trabalho de proximidade com os/as seus/suas alunos/as;
À minha avó Maria porque me ensinou a transgressão, a resistência e o cuidado
e porque lutou para que tivéssemos escolaridade e uma qualidade de vida
significativamente melhores do que as suas;
À minha mãe Amélia e ao meu pai Leonardo que não medem esforços nem
limitem para me ajudar em todos os meus projetos e me ensinaram diariamente o valor
do trabalho e a perseverar;
Ao Dúlio pela presença e amparo, pela alegria e motivação e por ter tantas vezes
feito uma pausa no seu trabalho e sonhos para me ajudar com os meus. Obrigada pelas
conversas na varanda e por desenharmos um projeto de vida feminista em conjunto;
À Joana Garrido, à Ana Sofia, à Joana Topa, à Sónia Godinho e à Patrícia São
João pela amizade, um dos pilares da minha existência e por, mesmo à distância,
iluminarem as minhas horas do lobo;
À Amélia Queirós, que alia melhor do que ninguém a amizade e o
profissionalismo, pelo cuidado e generosidade com que me ajudou na revisão do texto;
IX
Aos e às jovens que entusiasticamente partilharam comigo as suas visões,
opiniões e experiências e que me ensinaram tanto sobre relacionamentos de intimidade
juvenil. Espero que este trabalho contribua para a amplificação das vossas vozes.
Da minha janela sonho um abril diferente do que hoje vivemos.
Sem medos e inseguranças, inclusivo, justo e livre de violência para todas as
pessoas sem as quais este trabalho não teria sido possível e para as gerações juvenis, em
especial, para as jovens raparigas.
Estou segura que um novo abril chegará!
XVIII
REFERÊNCIAS ...................................................................................... 337
ANEXOS .................................................................................................. 383
ANEXO A - Instrumento quantitativo ............................................................... 385
ANEXO B - Guião semi-estruturado para condução de focus group ....................... 401
ANEXO C1 - Pedido de autorização para realização de estudo - Escolas ................ 405
ANEXO C2 - Pedido de autorização para realização de estudo – Figuras Parentais... 409
ANEXO C3 - Consentimento informado para preenchimento de questionários - Jovens
................................................................................................................... 413
ANEXO C4 - Consentimento informado para preenchimento de questionários – Para
participação em focus group ............................................................................ 417
ANEXO D - Declaração Orientadoras ............................................................... 421
ANEXO E - Declaração de compromisso doutoranda .......................................... 425
XIX
Indíce Tabelas
CAPÍTULO 1
SER ADOLESCENTE NA ERA DIGITAL
Tabela 1 - Classificação de riscos online para crianças e jovens ............................. 45
Tabela 2 - Motivos indicados para percepção de impacto das tecnologias
na vida dos/as jovens ........................................................................................ 46
CAPÍTULO 2
VIOLÊNCIA 2.0 NOS RELACIONAMENTOS
DE INTIMIDADE JUVENIL
Tabela 3 - Finalidades da Lei da Educação Sexual (Lei n.º 60/2009) .................... 125
Tabela 4a - Orientações curriculares para a implementação da educação
sexual por nível de ensino ............................................................................... 126
Tabela 4b - Orientações curriculares para a implementação da educação
sexual por nível de ensino ............................................................................... 127
CAPÍTULO 3
METODOLOGIA
Tabela 5 - Relação entre as Perguntas de Investigação, os Objetivos, Hipóteses e
Metodologia ................................................................................................. 161
Tabela 6 - Fases de Desenvolvimento da Dimensão Quantitativa do Estudo .......... 165
Tabela 7 - Fases de Desenvolvimento da Dimensão Qualitativa do Estudo ............ 166
Tabela 8 - Distribuição do Número de Focus Groups por Género e Tipo de Ensino 168
Tabela 9a - Guião Semiestruturado para Condução de Focus Group ..................... 180
Tabela 9b - Guião Semiestruturado para Condução de Focus Group ..................... 181
XX
CAPÍTULO 4
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
Tabela 10 - Perfil Sociodemográfico dos/as Adolescentes em Função do Género ... 191
Tabela 11 - Perfil Sociodemográfico dos/as Adolescentes em Função do Género ... 193
Tabela 12 - Perfil sociodemográfico dos/as adolescentes no uso de tecnologias de
informação em função do género ..................................................................... 195
Tabela 13 - Perfil Sociodemográfico dos/as Adolescentes no Uso de
Tecnologias de Informação em Função do Género .............................................. 196
Tabela 14a - Perfil Sociodemográfico dos/as Adolescentes no Uso de
Tecnologias de Informação em Função do Género .............................................. 197
Tabela 14b - Perfil Sociodemográfico dos/as Adolescentes no Uso de
Tecnologias de Informação em Função do Género .............................................. 198
Tabela 15 - Caracterização das Relações de Intimidade em Função do Género ....... 200
Tabela 16 - Caracterização das Relações de Intimidade em Função do Género ....... 201
Tabela 17 - Conhecimentos sobre Violência no Namoro ..................................... 202
Tabela 18a - Conhecimentos sobre Violência no Namoro ................................... 203
Tabela 18b - Conhecimentos sobre Violência no Namoro ................................... 204
Tabela 18c - Conhecimentos sobre Violência no Namoro ................................... 205
Tabela 18d - Conhecimentos sobre Violência no Namoro ................................... 206
Tabela 18e - Conhecimentos sobre Violência no Namoro ................................... 208
Tabela 18f - Conhecimentos sobre Violência no Namoro .................................... 209
Tabela 18g - Conhecimentos sobre Violência no Namoro ................................... 210
XXI
Tabela 18h - Conhecimentos sobre Violência no Namoro ................................... 211
Tabela 19 - Atitudes Acerca da Violência no Namoro em Função do Género ......... 212
Tabela 20 - Mitos sobre o Amor ..................................................................... 212
Tabela 21 - Escala de Sexismo Ambivalente ..................................................... 213
Tabela 22 - Comportamentos de Sexting .......................................................... 214
Tabela 23 - Atitudes de Sexting ...................................................................... 215
Tabela 24 - Correlações entre subescalas de Atitudes e conhecimentos sobre
violência no namoro e Variáveis sociodemográficas ............................................ 216
Tabela 25 - Correlações entre Escalas de Sexting e Variáveis Sociodemográficas. . 218
Tabela 26 - Correlações entre as Escalas de Mitos sobre o Amor e de Sexismo
Ambivalente ................................................................................................. 219
Tabela 27 - Correlações entre as Principais Escalas ........................................... 222
Tabela 28 - Esquema de contraste das hipóteses ................................................ 281
XXIII
Indíce Figuras
Figura 1 - Modelo EU Kids Online revisto .......................................................... 51
Figura 2 - Escada de Participação de Hart (1992) ............................................... 132
Figura 3 - Abordagem OMEDA à participação juvenil ....................................... 133
Figura 4 - Articulação entre as diferentes etapas de delineação da investigação ...... 160
Figura 5 - Distribuição de participantes por género e tipo de ensino ...................... 167
Figura 6 - Temas gerais do questionário quantitativo .......................................... 171
Figura 7 - Descrição Análise de Conteúdo ........................................................ 183
Figura 8 - Descrição de códigos e famílias de códigos ........................................ 184
Figura 9 - Codificação dos excertos de discurso................................................. 184
Figura 10 - Níveis de análise das categorias de análise de conteúdo ...................... 185
Figura 11 - Categoria Principal Relações Sociais de Género e subcategorias
de segunda e terceira ordem ............................................................................ 223
Figura 12 - Categoria principal Relacionamentos de Intimidade
Juvenil e subcategorias de segunda e terceira ordem............................................ 231
Figura 13 - Categoria principal Ciberviolência na Intimidade Juvenil e
subcategorias de segunda e terceira ordem ......................................................... 253
3
Resumo
Em pleno século XXI, nunca se assumou tão importante estudar as
transformações sociais introduzidas pelo acesso à Internet e aos dispositivos
tecnológicos, tais como telemóvel, computador e tablet, redes sociais, sites, entre
outros, já que oferecem novas oportunidades de comunicação, aprendizagem, trabalho e
socialização. Neste sentido, torna-se igualmente crucial aprofundar o conhecimento
sobre os seus impactos nas relações sociais de género, motivo pelo qual, no presente
estudo, procedemos a uma análise de género sobre os relacionamentos de intimidade
juvenil a partir de uma perspetiva feminista.
Várias das mudanças introduzidas decorrem com tal velocidade que,
frequentemente, as percecionamos vertiginosas, não tendo tempo para uma reflexão
cuidada acerca das suas potencialidades e riscos, vendo-nos, em algumas circunstâncias,
privados de opções alternativas que nos garantam, simultaneamente, equivalente acesso
a oportunidades e informação. O cenário digital influencia também o desenvolvimento
de crianças e jovens que, nascidos no apogeu da Internet e das tecnologias digitais, as
valorizam muito positivamente (Ricoy, Feliz & Sevillano, 2010) e consideram difícil de
imaginar o seu dia-a-dia sem elas, sendo frequente o encontro de relatos seus indicando
mal-estar ou ansiedade quando privados destes dispositivos ou afastados de redes
sociais e/ou do entretenimento virtual.
O rápido e precoce acesso das crianças e adolescentes às tecnologias de
informação e comunicação não tem precedentes na história da inovação tecnológica
(Garmendia, Garataonandia, Martínez & Casado, 2011). De ressalvar, porém que,
apesar de frequentemente denominadas de novas tecnologias, as tecnologias de
informação e comunicação já não são assim tão recentes, uma vez que estavam já
presentes aquando do nascimento da Geração Z, a geração dos/as adolescentes
participantes neste trabalho de investigação. Assim sendo, as tecnologias de informação
e comunicação tiveram uma influência generalizada no seu processo de crescimento e
desenvolvimento, de tal modo que estes/as são frequentemente considerados a geração
digital (Garikapati, Pendyala, Morris, Mokhtarian, & McDonald, 2016), impulsionando
a pesquisa sobre o impacto das tecnologias e ambientes virtuais na socialização e
experiências juvenis (Fernández, 2011).
É indubitável a crescente influência da era digital em todas as esferas da vida
4
humana e a sexualidade não constitui uma exceção. No entanto, se por um lado a
Internet e as tecnologias digitais proporcionam circunstâncias únicas relacionadas com
as possibilidades ao nível da interação, do fornecimento de informação e do
conhecimento da diversidade sexual, por outro lado constitui-se um espaço de
normalização de violência e objetificação feminina.
Inscritos num vasto repertório comportamental, situado no cruzamento entre as
tecnologias e a sexualidade, estão os comportamentos de sexting, ora motivados pela
curiosidade, ora facilitados pela familiaridade dos/as jovens com as tecnologias. Não
obstante constituírem-se como novas formas de expressão e vivência da sexualidade,
estes comportamentos poderão aumentar os riscos de violência sexual online dadas as
circunstâncias em que são iniciados, devido a pressões ou coações para envio de
conteúdos sexuais ou resultar, a posteriori, em chantagem, perseguições ou assédios
digitais. A literatura emergente acerca destes comportamentos alerta para a sua natureza
genderizada, revelando que são as mulheres e as jovens mulheres quem apresenta maior
risco de vitimação sexual online decorrente do envolvimento em práticas de sexting.
Dando os primeiros passos ao nível nacional, a investigação sobre abuso digital
nos relacionamentos de intimidade é ainda mais escassa em Portugal. Da mesma forma,
os estudos relativos a comportamentos de sexting, quer na população adulta quer na
jovem, encontram-se neste momento a despertar interesse na comunidade académica,
vindo a revelar-se cada vez mais necessários estudos que permitam munir a intervenção
preventiva de competências e estratégias adequadas de combate à violência digital na
intimidade, em especial à violência sexual online. Adicionalmente, a produção de
conhecimento sobre estes tópicos depara-se com práticas provenientes de uma cultura
de prevenção que terá sido, durante um período demasiadamente longo, frágil ou
praticamente inexistente (Matos, 2006) e, ainda hoje, pouco direcionada para tipologias
específicas de abuso, tal como a violência sexual (Caridade & Machado, 2013), sendo
necessário impulsionar os trabalhos de desocultação da violência sexual nas populações
mais jovens, face a uma realidade caracterizada pela falta de estudos e a uma urgente
necessidade de aumentar a atenção e o investimento científicos para esta tipologia
específica de violência (Caridade & Machado, 2008). Dentro do caminho que está por
percorrer no sentido de ampliar a compreensão deste fenómeno e das transformações
histórico-culturais de que é alvo, constata-se que, em matéria de violência na
intimidade, as análises qualitativas ou de natureza multimodal permanecem escassas,
sendo pouco frequente a produção de conhecimento científico a partir dos discursos e
5
significados juvenis sobre as suas vivências de violências íntimas, destacando-se apenas
algumas investigações de natureza qualitativa, em Portugal (Caridade, 2011; Dias,
Manita, Gonçalves & Machado, 2012; Neves & Torres, 2015).
Tendo em conta este enquadramento, o presente projeto doutoral pretende
estudar o fenómeno da violência no namoro, quer perpetrado presencialmente quer na
sua transposição para o contexto digital enquanto ciberviolência, colocando o discurso
juvenil no centro da produção do conhecimento científico acerca das problemáticas
sociais de género que afetam o quotidiano dos/as mais jovens. Optámos por escolher um
ponto de partida epistémico, ancorado na Psicologia Feminista Crítica, de forma a
amplificar as vozes juvenis, sobretudo das raparigas, na compreensão da violência nos
relacionamentos de intimidade juvenil.
Esta tese de doutoramento apresenta como principais objetivos a caracterização
das dinâmicas de violência nas relações que decorrem cara a cara ou através do meio
digital, a exploração do papel das tecnologias nos relacionamentos de intimidade juvenil
e a caracterização dos comportamentos de sexting juvenil. Para o efeito, recorreu-se a
uma metodologia multimodal que combinou uma dimensão quantitativa através da
administração de questionários sobre mitos sobre o amor, sexismo ambivalente,
conhecimentos sobre violência no namoro e atitudes face à violência no namoro,
comportamentos de sexting, atitudes face ao sexting, e uma dimensão qualitativa onde
foram conduzidos focus group discussions em torno dos temas relações sociais de
género, relacionamentos de intimidade juvenil e tecnologias, violência no namoro
comportamentos de sexting.
O conjunto de participantes, na dimensão quantitativa deste trabalho, consta de
169 jovens, 77 raparigas e 92 rapazes, com idades compreendidas entre os 13 e os 18
anos, provenientes do Litoral Norte de Portugal, dos/as quais 77 frequentam o Ensino
Geral e 91 o Ensino Profissional. Destes, 143 adolescentes (62 raparigas e 81 rapazes)
integraram também a dimensão qualitativa, tendo participado posteriormente nas
discussões conduzidas em formato de focus group. Foram conduzidos um total de 18
focus groups, 4 com a participação de apenas raparigas, 7 com participantes somente de
rapazes e 7 grupos mistos com participantes de rapazes e raparigas. Cada focus group
teve entre 7 e 11 participantes e uma duração de aproximadamente 45 minutos.
O tratamento de dados quantitativos foi conduzido com o programa de análise
estatística SPSS, versão 24 para Mac, e a análise dos dados qualitativos foi realizada
6
com o programa informático ATLAS.ti v.7, de forma a organizar os discursos
provenientes dos focus groups em categorias e subcategorias de análise.
Os principais dados deste estudo sugerem que a ciberviolência na intimidade
apresenta dinâmicas semelhantes às já estudadas na violência no namoro cara a cara e
que a violência de género trespassa para as atividades e interações estabelecidas através
dos dispositivos tecnológicos, revelando-se na presença de estereótipos de género,
narrativas de amor e atitudes de tolerância e legitimação face a comportamentos
abusivos que alicerçam desigualdades de género entre raparigas e rapazes.
Uma grande maioria dos/as participantes refere não estar ou ter estado, no passado,
num relacionamento de intimidade violento, porém perceciona a violência no namoro
como uma situação frequente nos seus quotidianos. No que respeita às causas da
violência no namoro, os/as participantes identificaram, sobretudo, aspetos intrapessoais
em detrimento de aspetos familiares, interpessoais ou sócio-culturais. Também se
verificou que identificam diferentes tipologias de violência, considerando a violência
verbal mais frequente nas suas faixas etárias e a violência psicológica a tipologia mais
invisível, no entanto com maior impacto e consequências. Os comportamentos de
controlo (saídas à noite, telemóvel, vestuário) nem sempre foram reconhecidos como
comportamentos abusivos, sendo frequentemente associados pelos/as jovens a
manifestações de preocupação, desconhecimento, ciúmes e desconfiança. Contudo, nos
resultados obtidos não foram encontradas diferenças de género relativamente aos
conhecimentos sobre violência no namoro.
Tomando em consideração as conceções de amor emergentes nas construções
discursivas dos/as participantes, verificou-se a proeminência das narrativas de amor
romântico, apesar de ter sido possível também identificar, ainda que com menor
destaque, narrativas alternativas apoiadas em visões de amor apaixonado e amor
companheiro. Além disso, os resultados revelaram que os rapazes demonstram maior
propensão para a manutenção do mito amor-maltrato, ao contrário do esperado nas
hipóteses levantadas.
Embora não tenham sido encontradas diferenças de género nos níveis de tolerância
face à violência no namoro a tolerância face à violência física é, na opinião dos/as
jovens, mais frequente em casais mais velhos. Porém, os/as participantes relataram
situações conhecidas desta tipologia de violência no seu grupo de pares e os rapazes
7
revelaram naturalização de comportamentos de abuso físico nos seus próprios
relacionamentos, introduzindo-a como uma prática de brincadeira e provocação, a qual
denominam de “violência carinhosa”.
Relativamente à análise dos níveis de sexismo ambivalente, verificou-se que tanto
rapazes como raparigas, revelam elevados níveis de sexismo benevolente e os rapazes
atingem valores mais altos do que as raparigas no que respeita a sexismo hostil. O
sexismo hostil surgiu também associado a atitudes mais tolerantes face à violência
psicológica.
Os dados que concernem ao acesso à Internet e ao uso de dispositivos tecnológicos
permitem constatar que a idade média do primeiro acesso à Internet é de 8.88 anos e que
quase a totalidade dos/as participantes teve acesso à Internet nos últimos 3 meses,
fazendo-o com uma frequência diária, e tendo à sua disposição um telemóvel, um
computador e/ou tablet com acesso à Internet. Mais de metade deste conjunto de jovens
passa mais de 3 horas por dia na Internet. Assim, no presente estudo, os/as participantes
identificaram como principais aspetos positivos do uso das tecnologias nos
relacionamentos de intimidade a diminuição da distância e a facilitação da partilha de
sentimentos e da comunicação. Por outro lado, os principais aspetos negativos
associados à utilização de tecnologias nos relacionamentos de intimidade prendem-se
com a diminuição da confiança no outro/a, a normalização dos ciúmes e dos
comportamentos de controlo e a promoção de desentendimentos entre os casais.
No que respeita aos comportamentos de sexting, foi possível verificar que vários/as
participantes desconheciam o termo sexting, mas reconheciam a prática desse
comportamento frequente nos relacionamentos juvenis. As raparigas foram identificadas
pela maioria dos/as participantes como tendo mais comportamentos de sexting
relacionado com o envio de conteúdos, e os rapazes surgiram mais associados ao pedido
de envio de sexts para provocar, promover uma troca de conteúdos e/ou incentivar as
raparigas a partilharem fotografias. Porém, os dados quantitativos apontam que são os
rapazes quem apresenta uma maior frequência do envio de fotografias ou vídeos
sexualmente sugestivos ou despidos, usando telemóvel ou redes sociais, Skype ou
equivalentes, tendo-se verificado diferenças de género na prática destes
comportamentos.
8
Considerando as atitudes face ao sexting, não se encontraram diferenças de género
acerca de quem considera o sexting mais despreocupado ou divertido. No entanto,
foram encontradas diferenças de género na perceção de risco destes comportamentos
tendo as raparigas demonstrado maior consciência acerca dos riscos decorrentes da
partilha de conteúdos erótico-sexuais. Ao contrário do esperado, os rapazes
apresentaram mais expectativas relacionais decorrentes da prática de sexting tendo-se
verificado diferenças de género relativamente a esta dimensão. Também podemos
destacar que os níveis de conhecimentos sobre violência no namoro dos/as adolescentes
surgiram negativamente correlacionados com a frequências de comportamentos de
sexting, tendo-se constatado que são os/as participantes com menores conhecimentos
quem apresenta maior frequência de comportamentos de sexting.
Os principais motivos identificados pelos/as participantes neste estudo para o envio
de sexts, são o aumento da popularidade, a diversão e o risco, a manutenção da relação
amorosa, o exercício de poder e a chantagem.
As atitudes face à vítima da divulgação não autorizada de conteúdos sexuais
revelam ambivalência, tendo sido possível observar a emergência de discursos de apoio
e empatia, mas também vários outros moralmente punitivos sobre os comportamentos
das vítimas e, simultaneamente, desresponsabilizadores da pessoa que divulga os
conteúdos. Os/As participantes manifestam atitudes negativas face à pessoa que difunde
os conteúdos erótico-sexuais, especialmente se esta violação de privacidade acontece no
âmbito de uma relação de namoro.
Tendo em conta os casos partilhados de divulgação não consentida de conteúdos
erótico-sexuais, constatou-se a sua associação a dinâmicas violentas de chantagem e a
ameaças que configuram situações de sextorsion e revenge porn, constituindo-se,
paralelamente, exemplos de violência sexual online. Em todas as situações a vítima foi
uma rapariga e o agressor o seu namorado, ex-namorado ou amigo do ex-namorado.
Desta forma, concluiu-se que a violência sexual online decorrente de comportamentos
de sexting juvenil é genderizada e apoia-se, entre outros aspetos, em expectativas
tradicionais de género e na presença de um duplo padrão sexual para os
comportamentos sexuais de rapazes e raparigas.
9
Apesar de os resultados encontrados terem possibilitado atingir os objetivos a
que nos propusemos, devem ser consideradas algumas limitações ao nosso estudo. Em
primeiro lugar, o número de participantes na dimensão quantitativa do estudo situou-se
consideravelmente abaixo do número de participantes previsto, comprometendo a
representatividade da amostra e justificando as dificuldades na obtenção dados com
significância estatística ao nível da análise comparativa e correlações apenas
moderadas. Ainda ao nível do procedimento de recolha de dados, a condução dos focus
groups com jovens que estavam na mesma turma pode ter influenciado, em alguma
extensão, a espontaneidade da informação transmitida, na medida em que as
características das relações interpessoais anteriormente estabelecidas poderão ter sido
transpostas para as discussões focalizadas, nomeadamente, ao nível das relações de
poder, alianças, oposições entre os/as participantes, bem como ao nível do conteúdo
partilhado, retratando, várias vezes, situações familiares a todas as pessoas presentes,
exceto à investigadora.
Com base nos dados obtidos nesta investigação, recomenda-se que a prevenção
da violência nos relacionamentos de intimidade continue a debruçar-se no trabalho junto
dos/as jovens, apetrechado de flexibilidade e adaptabilidade que permitam acompanhar
as mudanças ao nível dos comportamentos afetivo-sexuais e contemplar diferentes
reconfigurações nos relacionamentos de intimidade. Esta flexibilidade e esta
adaptabilidade deverão proceder a um alargamento das dinâmicas afetivo-sexuais
juvenis, reconhecendo e incluindo outras denominações, tais como andar, estar, ficar,
na multiplicidade de vivências íntimas juvenis. Além do mais, torna-se fundamental não
se desvalorizarem estas configurações, reconhecendo que também estas poderão ser
pautadas por violência de género e aumentar a consciência de outros constrangimentos
que poderão advir de visões adultocêntricas, nomeadamente, critérios de moralidade ou
outros julgamentos que possam toldar a capacidade de apoiar os/as jovens e de os
educar para uma vida livre de violência.
Em segundo lugar, os dispositivos tecnológicos e a proximidade trazida pela
Internet introduzem novas dinâmicas de interação, algumas delas de natureza sexual,
podendo até facilitar a expressão emocional e a desinibição. Não obstante, o mundo
virtual abre um novo espaço a diferentes meios e novas vias para a perpetração de
violência nos relacionamentos de intimidade que, no novo plano digital, podem
maximizar as consequências e impactos da vitimação. Tendo em conta os resultados
10
obtidos neste estudo, recomenda-se também a adaptação de estratégias de prevenção
capazes de responder a esta transversalidade, adequando-se às transformações
introduzidas pelo uso de dispositivos tecnológicos e acesso ao espaço virtual. Estas
adaptações requerem esforços articulados de diferentes setores.
Assim, de forma a melhor nos prepararmos para as constantes mudanças que
pautam a atualidade dos relacionamentos e da intimidade, reforça-se a importância de
uma ação concertada entre escolas, figuras parentais, serviços de internet, site providers
e profissionais que trabalham com a juventude.
Tendo em conta as opções epistémicas, o posicionamento feminista crítico
demonstrou-se um enquadramento adequado para promover o aprofundamento do
conhecimento acerca das perceções juvenis sobre a violência nos relacionamentos de
intimidade cara a cara ou perpetrada através dos meios digitais, o papel que
desempenham as tecnologias nos relacionamentos amorosos e a emergência de
comportamentos afetivo-sexuais, ainda pouco conhecidos, como o sexting, na medida
em que impulsionou a pesquisa num grupo social cujo protagonismo no desenho de
políticas de combate à violência é ainda inconsistente e, no seio deste grupo, procurou-
se amplificar as vozes das jovens raparigas e das suas experiências. Neste sentido, a
escolha de uma perspetiva interseccional contribui para uma maior problematização da
interação entre variáveis, tais como género e idade, para além de muitas outras que, não
constituindo o foco deste estudo, como classe social, natureza do currículo académico,
orientação sexual e religião, influenciam percursos de vida, pautados por diferentes
categorias identitárias que determinam uma localização de maior ou menor poder nos
contextos sociais e culturais, onde os/as participantes se desenvolvem.
Concomitantemente, a escolha de uma metodologia mista, combinando métodos
quantitativos e qualitativos de recolha de dados, permitiu retirar opacidade aos dados
estatísticos e complementar as informações com situações vividas ou conhecidas
pelos/as participantes e uma captação mais naturalista dos seus discursos
socioculturalmente localizados. Por estes motivos, é necessária a condução de mais
estudos de natureza mista e de natureza qualitativa e, inclusivamente, alargar o estudo a
outros grupos de pessoas que desempenham papéis primordiais na educação dos/as
jovens, assim como professores/as, figuras parentais, profissionais de juventude e das
áreas de proteção de crianças e jovens.
Dado o exposto, importa que, simultaneamente, se reforce a necessidade de
maior capacitação dos/a professores/as para a implementação de um modelo de
11
educação sexual compreensiva e integral, holística e com informação rigorosa e de
qualidade que possa responder às reais necessidades e vivências afetivo-sexuais juvenis
e à diversidade sexual. Esta capacitação requer que, ao mesmo tempo, se incremente a
auscultação das suas opiniões e a incorporação das mesmas na implementação
contextualizada ao meio envolvente destes conteúdos.
Considera-se fundamental que se proceda a um cruzamento da educação sexual com
a educação digital, uma vez que ambas são necessárias para uma maior segurança
juvenil.
Por último, consideramos importante fomentar a participação juvenil cívica e
política nas matérias de combate à violência de género, em especial à violência nos
relacionamentos de intimidade juvenil, de todas as orientações sexuais, para que as suas
opiniões possam ser ouvidas e influenciar e para que os/as jovens possam ter
responsabilidade em ações que visam a abordagem de temas que afetam as suas vidas.
Neste sentido, é determinante promover o seu envolvimento através de processos de
auscultação e mecanismos consultivos para que possam protagonizar a delineação e o
estabelecimento de prioridades de ação, tendo em vista a resposta às suas necessidades.
A par disto, consideramos também importante a sensibilização de decisores/as
políticos/as para a importância da tomada de decisões partilhadas com os/as jovens e da
criação de espaços de diálogo entre decisores/as e jovens, uma vez que se constituem
mecanismos que alicerçam a educação para a cidadania e para a participação juvenil
através do estímulo ao pensamento crítico e à iniciativa. Não menos importante é o
olhar atento sobre a inclusão de jovens pertencentes a grupos que se possam confrontar
com mais ou maiores barreiras à participação cívica e política, nomeadamente, jovens
provenientes de contextos de risco ou multidesafiados ou de grupos socialmente
invisibilizados, tais como jovens mulheres, migrantes e/ou LGBTQl+.
Palavras chave: ciberviolência nos relacionamentos de intimidade, comportamentos de
sexting, violência sexual online, educação sexual, participação juvenil, género.
13
Resumen
En pleno siglo XXI nunca ha sido tan importante estudiar las transformaciones
sociales generadas por el acceso a Internet y a los dispositivos tecnológicos como los
teléfonos móviles, ordenadores o tablets ya que ofrecen nuevas oportunidades para la
comunicación, el aprendizaje, el trabajo y la socialización. De forma que es esencial
profundicar en el conocimiento de su impacto en relaciones sociales de género sobre las
relaciones de intimidad juvenil desde una perspectiva de análisis feminista.
Varios de los cambios generados se producen con tal rapidez que habitualmente
los percibimos vertiginosamente, sin tener tiempo para reflexionar cuidadosamente
acerca de sus potencialidades y riesgos. Viéndonos, en algunas circunstancias,
privados/as de opciones alternativas que garanticen simultáneamente igualdad de acceso
a las oportunidades así como a la información. El escenario digital influye también en el
desarrollo de niños, niñas y jóvenes, que nacidos/as en el auge de Internet y de las
múltiples opciones tecnológicas, las valoran muy positivamente (Ricoy, Feliz, &
Sevillano, 2010) incluso considerando difícil de imaginar su día a día sin ellas, siendo
frecuente encontrar manisfestaciones en las que expresen malestar o ansiedad, cuando
no se les permite acceder a estos dispositivos, a las redes sociales o a otros espacios de
entretenimiento virtual (Alonso, Rodríguez, & Fernández, 2017).
El rápido y precoz acceso de los niños, niñas y adolescentes a las tecnologías de
la información y de la comunicación no tiene precedente en la historia de la innovación
tecnológica (Garmendia, Garataonandia, Martínez, & Casado, 2011). A pesar de que
habitualmente son denominadas nuevas tecnologías, se puede afirmar que las
tecnologías de la información y la comunicación ya no son tan recientes porque han
formado parte del nacimiento y de la generación de jóvenes Generación Z, siendo esta
generación de adolescentes, los y las protagonistas en esta tesis doctoral. De forma que
las tecnologías de la información y la comunicación han tenido una influencia
generalizada en su proceso de crecimiento y desarrollo, ya que habitualmente se les
considera la generación digital (Garikapati, Pendyala, Morris, Mokhtarian, &
McDonald, 2016). Una realidad que ha impulsado la búsqueda de investigaciones sobre
el impacto de las tecnologías y los entornos virtuales en la socialización y las
experiencias adolescentes (Fernández, 2011).
14
Es incuestionable la influencia de la era digital en todas las esferas de la vida
humana, y la sexualidad no constituye una excepción. No obstante, si por un lado
Internet y las tecnologías proporcionan oportunidades únicas relacionadas con las
posibilidades de interacción social, del aumento de la información y del conocimiento
de la diversidad sexual; por el otro, se constituye un espacio de normalización de la
violencia y de la objetivización del cuerpo de las mujeres.
Así, inscritas en un amplio repertorio conductual situado en la intersección entre
las tecnologías y la sexualidad emergen los comportamientos de sexting, a veces
motivados por la curiosidad y otras veces, por la familiaridad de los/as jóvenes con las
tecnologías. A pesar de que las conductas de sexting constituyen nuevas formas de
expresar y vivenciar la sexualidad, estos comportamientos pueden aumentar el riesgo de
violencia sexual online en función a las circunstancias en las que se inician, debido a la
existencia de presiones o coacciones para enviar contenidos sexuales o colocarles,
posteriormente, en situaciones de chantaje, hostigamiento o acoso online. El conjunto
de Literatura emergente sobre estos comportamientos alerta sobre su naturaleza
generalizada, revelando que son las mujeres y las jóvenes las que tienen un mayor
riesgo de victumización sexual online derivado de su implicación en conductas de
sexting.
Dando los primeros pasos en Portugal, la investigación sobre el abuso digital en
las relaciones de parejas adolescentes es inicipiente. De igual manera, también los
estudios sobre los comportamientos de sexting, tanto en la población adulta como en la
de jóvenes, actualmente están despertando interés en la comunidad académica,
revelándose cada vez más la necesidad de estudios que permitan ofrecer conocimientos
y estrategias preventivas para combatir la violencia digital en las relaciones de pareja de
adolescentes, en especial la violencia sexual online. Además, la producción de
conocimientos sobre estos temas, también se relaciona con las prácticas derivadas de
una cultura de prevención que se habría desarrollado durante un periodo demasiado
largo, frágil o prácticamente inexistente (Matos, 2006) y, todavía hoy, poco relacionado
con las diferentes estrategias de abuso, como la violencia sexual (Caridade & Machado,
2013). Siendo necesario impulsar el estudio y la deconstrucción de la violencia sexual
en la población más joven frente a una realidad caracterizada por la falta de
investigaciones y la urgente necesidad de aumentar el interés y la inversión científica
sobre esta tipología específica de violencia (Caridade & Machado, 2008). Dentro del
camino que hay que recorrer para ampliar la comprensión de este fenómeno y las
15
transformaciones histórico-culturales a las que está sujeto, se pone de manifiesto que en
materia de violencia en las relaciones de parejas adolescentes que los estudios
cualitativos o de naturaleza multimétodo siguen siendo escasos. Así, la producción de
conocimiento desde los discursos y los significados adolescentes sobre las vivencias en
las relaciones de parejas adolescentes es todavía poco frecuente, destacando solo
algunas investigaciones de naturaleza cualitativa en Portugal (Caridade, 2011; Dias,
Manita, Gonçalves, & Machado, 2012; Neves & Torres, 2015).
Teniendo en cuenta este enfoque, la presente tesis doctoral pretende estudiar el
fenómeno de la violencia en las relaciones de parejas adolescentes, tanto perpetrado
cara a cara como en su trasposición en el contexto digital, también denominada Cyber
Teen Dating Violence. Colocando el discurso adolescente en el centro de la producción
de conocimiento científico sobre las problemáticas sociales de género que afectan
cotidianamente a los/as más jóvenes. Para ello, optamos de un punto de partida
epistémico anclado en la psicología Feminista Crítica para amplificar las voces de los y
las jóvenes, especialmente de las chicas, en la comprensión de la violencia en las
relaciones de parejas adolescentes.
Esta tesis de doctoral tiene como objetivos generales: analizar la caracterización
de las dinámicas de violencia en las relaciones que tienen lugar en el cara a cara o a
través de los medios digitales; explorar el papel de las tecnologías en las relaciones de
parejas adolescentes; y, analizar los comportamientos de sexting adolescente. Para ello,
se ha recurrido a una metodología multimétodo que combina la dimensión cuantivativa
a través de la administracion de cuestionarios sobre los mitos del amor, el sexismo
ambivalente, los conocimienos sobre la violencia en las relaciones de pareja de
adolescentes, las actitudes hacia la violencia de pareja adolescente, los comportamientos
de sexting y las actitudes hacia el sexiting, y la dimensión caulitativa a través de focus
group centrados en los temas de relaciones sociales de género, relaciones de intimidad
juvenil y las tecnologías, la violencia en las relaciones de pareja adolescentes y los
comportamientos de sexting.
En el estudio cuantitivo han participado 169 jóvenes, 77 chicas y 92 chicos, con
edades comprendidas entre los 13 y los 18 años del norte de Portugal, de los/as cuales
77 son alumnado de Educación Secundaria y 91 de Formación Profesional. En el
estudio cualititativo, finalmente, participan 143 adolescentes (del estudio cuantitativo),
62 chicas y 81 chicos. Se llevaron a cabo un total de 18 focus groups (FG), de los
cuales 4 FG fueron solo de chicas, 7 FG fueron de chicos y los 7 restastes FG fueron
16
mixtos. Todos los focus group tuvieron una duración de aproximadamente de 45
minutos.
El tratamiento de datos cuantitativos fue realizado con el programa de análisis
estadístico SPSS, versión 24 para Mac, y el tratamiento de datos cualitativos se llevó a
cabo con el programa informático ATLAS.ti v.7 para organizar los discursos de los
focus group en categorías y subcategorías de análisis.
Los principales resultados de esta investigación sugieren que la Cyber Teen
Dating Violence presenta dinámicas similares a las ya estudiadas en la violencia de las
relaciones de parejas adolescentes perpetrada cara a cara y que la violencia de género
traspasa las actividades e interacciones establecidas a través de los dispositivos
tecnológicos, revelándose la presencia de estereotipos de género, mitos de amor
romántico y actitudes de tolerancia y legitimación frente a comportamientos abusivos
que sustentan a las desigualdades de género entre chicas y chicos.
A pesar que la mayoría de los/as participantes expresa no tener experiencia de
situaciones de violencia en sus relaciones de pareja, suelen percibir numerosos
comportamientos violentos en sus relaciones afectivas como algo normalizado y
cotidiano en su día a día. Con respecto a las causas de violencia en las relaciones de
parejas adolescentes, los/as participantes identifican sobre todo cuestiones
intrapersonales. También se constató que identifican diferentes tipologías de violencia,
considerando la violencia verbal como la más frecuente en su grupo etario y la violencia
psicológica como el tipo más invisible, sin embargo, con mayor impacto y
consecuencias negativas. Las conductas de control (como por ejemplo, de salir de
noche, de vigilar el teléfono móvil, o incluso controlar la ropa que se pone su pareja) no
siempre se reconocieron como comportamientos abusivos, siendo habitualmente
asociados por los/as jóvenes como preocupación, desconocimiento, celos y
desconfianza. Este patrón de comportamiento es muy similar entre chicos y chicas, y
está en línea con los resultados que no muestran diferencias de género en relación al
nivel de conocimientos sobre la violencia en las relaciones de parejas adolescentes.
Teniendo en cuenta las concepciones del amor que emergen en las
construcciones discursivas de los/as participantes, se ha constatado la existencia de los
mitos del amor romántico, aunque también fue posible identificar, aunque en menor
medida, discursos alternativos del amor basados en visiones de amor asociado a la
pasión y de amor fraternal como compañeros. Conjuntamente, los resultados revelaron
17
que son los chicos los más tolerantes con el mito de vinculación del amor con el
maltrato que sus compañeras.
No se han encontrado diferencias de género en relación a los niveles de
tolerancia hacia la violencia de pareja y de tolerancia hacia la violencia física, y este
tipo de violencia es, en opinión de los y las protagonistas, más frecuente en las parejas
de mayores, ya que los/as participantes relataron situaciones conocidas en su grupo de
iguales y además en sus argumentos, los chicos mostraron la naturalización de las
conductas de abuso físico en sus propias relaciones, introduciéndolo como una práctica
de juego y provocación que denominan "violencia amorosa".
En cuanto a sus actitudes sexistas ambivalentes, se ha comprobado que tanto
chicos como chicas muestran niveles elevados de sexismo benevolente muy similares,
mientras que los chicos presentan un mayor nivel de sexismo hostil que sus
compañeras. Además, el mayor nivel de sexismo hostil se asocia con las actitudes más
tolerantes hacia la violencia de tipo psicológica.
Otro de los resultados en los que se centra esta investigación analizar el acceso a
Internet y el uso de dispositivos tecnológicos que tienen los y las adolescentes
participantes. Se constata que la media de edad del primer acceso a Internet es de 8.88
años y que casi la totalidad de los/as participantes tuvieron acceso a Internet en los
últimos 3 meses; además afirman acceder a Internet diariamente a través de su móvil, de
su ordenador o de una tablet, siendo más de la mitad de los y las participantes los que
afirman que pasan más de 3 horas diarias conectados a Internet.
Los/as participantes también identificaron tanto los aspectos positivos como
negativos de la utilización de las tecnologías en sus relaciones de pareja. Así, los
principales aspectos positivos que aludieron fue la disminución de la distancia y la
facilidad para compartir sentimientos y comunicarse con su pareja afectiva. Mientras
que los aspectos negativos se relacionabam con la pérdida de confianza en la pareja, la
normalización de los celos, las conductas de control y los desacuerdos entre los
miembros de la pareja.
Otro foco de atención de este estudio es analizar los comportamientos de sexting
del colectivo adolescente participante. En relacion al fenómeno del sexting, se ha
comprobado que varios/as adolescentes desconocían el término sexting, pero reconocían
que la práctica de este comportamiento es frecuente en las relaciones de jóvenes. La
mayoría de los/as informantes en sus argumentos identificaron a las chicas como las
más activas en el envío de contenidos de sexting mientras que los chicos afirmaban que
18
solicitaban a las chicas el envío de contenido erótico-sexual con la finaliad de
provocar, promover un intercambio de contenidos y/o incentivarlas a que compartan sus
fotografías íntimas. No obstante, los datos cuantitativos apuntan que son los chicos
quienes más envían fotos y/o videos de contenido erótico a través de su teléfono móvil o
de las redes sociales, Skype o equivalentes.
En relación a las actitudes hacia el sexting, no se han encontrado diferencias en
función del género en cuanto aquien considera el sexting como algo divertido o
despreocupado. Sin embargo, se han encontrado diferencia de género en relación a la
percepción del riesgo y a las expectivas relacionales. Son las chicas muestran una
mayor percepción de los riesgos asociados a compartir contenidos erótico sexuales a
través de internet que sus compañeros. Al contrario de lo esperado, son los chicos los
que muestran mayores expectativas relacionales derivadas de la práctica del sexting que
las chicas. También podemos destacar que el nivel de conocimiento sobre la violencia
en las relaciones de parejas adolescentes correlaciona negativamente con la frecuencia
de comportamientos de sexting, de forma que se comprueba que los/as participantes con
menor conocimiento son los que más practican sexting.
En cuanto a los principales motivos a los que aluden los y las participantes para
el envío de sexts estarían el aumento de la popularidad, la diversión, el riesgo, el
mantenimiento de la relación de pareja, o incluso afirmaron que les permite ejercer
poder sobre la otra persona o llegar a chantajearla.
En los argumentos de los y las adolescentes se ha detectado actitudes
ambivalentes hacia la divulgación no autorizada de contenidos sexuales. Por un lado, se
han identificado discursos de apoyo y de empatía hacia las víctimas de este tipo de
contenidos y actitudes negativas hacia la persona que divulga los contenidos erótico-
sexuales, especialmente si esta violación de la privacidad fue perpetrada en ámbito de la
relación de pareja. Pero, también por otro lado, se han identificado otros argumentos
moralmente punitivos sobre los comportamientos de las víctimas y al mismo tiempo, de
desreponsabilización al autor/a que divulgara este tipo de contenidos.
Analizando los casos de divulgación no consentida de contenidos erótico-
sexuales que el colectivo de adolescentes relata se ha constatado su vinculación con
dinámicas de chantaje y amenazas que se materializan en situaciones de sextorsion y
revenge porn constituyendo simultáneamente situaciones de violencia sexual online. En
todas las situaciones narradas, la víctima siempre fue una chica y el agresor fue su
19
novio, su ex-novio o amigos del ex-novio. En este sentido, se puede afirmar que la
violencia sexual online resultante de las conductas de sexting adolescente está
genderizada y está respaldada, entre otros aspectos, en expectativas de género
tradicionales y la presencia del doble rasero moral sexual en los comportamientos
sexuales de chicos y chicas.
A pesar de que los resultados de esta investigación han permitido alcanzar los
objetivos planteados, deben considerarse algunas limitaciones en nuestro estudio. En
primer lugar, el número de participantes en la dimensión cuantitativa del estudio fue
considerablemente inferior al número de participantes esperado, comprometiendo la
representatividad de la muestra y evidenciándose las dificultades para encontrar datos
con significación estadística en términos de análisis comparativo y obteniendo sólo
correlaciones moderadas. Respecto al procedimiento de recogida de datos, la conducta
de los focus group con jóvenes que estaban en la misma clase puede haber influido, en
cierta medida, en la espontaneidad de la información obtenida en la medida en que las
características de las relaciones interpersonales previamente establecidas, podrían haber
sido reflejadas en el debate, particularmente, respecto a las relaciones de poder,
alianzas, rivalidades entre los/as participantes, así como en el nivel de contenido
compartido, varias veces, retratando situaciones familiares para todas las personas
presentes, excepto a la investigadora.
Por lo tanto, en relación a los resultados obtenidos en esta investigación, en
primer lugar, se recomienda que la prevención de la violencia en las relaciones de
parejas adolescentes debe seguir centrándose en el trabajo con los/as jóvenes, tal y
como se ha venido llevando a cabo en el contexto portugués. Ofreciendo flexibilidad y
adaptaciones que permitan acompañar los cambios al nivel de los comportamientos
afectivo-sexuales y contemplar diferentes reconfiguraciones en las relaciones de
intimidad. Esta flexibilidad y adaptabilidad deberá ampliar las dinámicas afectivo-
sexuales de los/as jóvenes, incluyendo otras denominaciones como andar, estar, quedar
en la multiplicidad de vivencias íntimas adolescentes. Adicionalmente, se revela
fundamental no desvalorizar estas configuraciones, reconociendo que también pueden
estar basadas en la violencia de género y aumentar la conciencia de otras limitaciones
que pueden surgir de visiones adultocéntricas, particularmente, los criterios de
moralidad u otros juicios que pueden nublar la capacidad de apoyar a los/as jóvenes y
educarlos/as para una vida libre de violencia.
20
En segundo lugar, los dispositivos tecnológicos y la proximidad que ofrece
Internet introducen nuevas dinámicas de interacción, algunas de ellas de naturaleza
sexual, pudiéndose hasta facilitar la expresión emocional y la desinhibición. No
obstante, el mundo virtual también abre un nuevo espacio a diferentes medios y nuevas
vías para perpetrar la violencia online en las relaciones de parejas adolescentes, que en
el nuevo plano digital pueden maximizar las consecuencias e impactos de la
victimización. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación,
también se recomienda adaptar estrategias de prevención capaces de responder a esta
transversalidad, adaptándose a los cambios introducidos por el uso de dispositivos
tecnológicos y el acceso al espacio virtual. Estas adaptaciones requieren esfuerzos
articulados de diferentes sectores. Por último, la mejor forma de estar preparados/as
para los cambios constantes que guían las relaciones actuales y de intimidad, se refuerza
la importancia de la acción conjunta entre escuelas, figuras parentales, servicios de
internet y profesionales que trabajan con jóvenes.
Teniendo en cuenta las opciones epistémicas, el posicionamiento feminista
crítico ha demostrado ser un marco adecuado para promover la profundización del
conocimiento sobre las percepciones adolescentes sobre la violencia en las relaciones de
pareja en el cara a cara o perpetrada a través de los medios digitales. Destacar el papel
que desempeñan las tecnologías en las relaciones de pareja así como la aparición de
comportamientos afectivo-sexuales, todavía poco conocidos como el sexting en el
contexto portugués, en cuanto a que han impulsado la investigación en un grupo social
cuyo protagonismo en el diseño de políticas para combatir la violencia todavía es
inconsistente y, dentro de este grupo, se ha buscado dar voz a los/as jóvenes y sus
experiencias. En este sentido, la elección de una perspectiva interseccional ha
contribuido a una mayor problematización de la interacción entre variables como el
género y la edad, además de muchas otras que no han sido foco de atención de este
estudio, como la clase social, el recorrido académico, la orientación sexual, la religión,
etc. que influencian los recorridos de vida pautados por diferentes categorías identitarias
que determinan una ubicación de mayor o de menor poder en los contextos sociales y
culturales donde se desarrollan los/as participantes. Además, la elección de una
metodología multimétodo, combinando métodos cuantitativos y cualitativos de recogida
de datos, ha permitido eliminar la opacidad de los datos estadísticos y complementar la
información con situaciones vividas o conocidas por los/as participantes y una captura
más naturalista de sus discursos localizados socioculturalmente. Por ello, es necesario
21
llevar a cabo más estudios de naturaleza mixta e incluso extender el estudio a otros
grupos de personas que desempeñan papeles primordiales en la educación de los/as
adolescentes como docentes, figuras parentales, profesionales del ámbito de la juventud
y de áreas de protección de niños, niñas y jóvenes.
También, se considera esencial, reforzar simultáneamente la necesidad de una
mayor capacitación docente para la implementación de un modelo de educación sexual
comprensiva e integral, holístico y con información rigurosa y de calidad que pueda
responder a las necesidades reales y a las vivencias afectivo-sexuales adolescentes y de
diversidad sexual. Esta formación requiere, al mismo tiempo, escuchar más sus
opiniones e incorporarlas en la implementación contextualizada de estos contenidos.
Adicionalmente, es esencial combinar la educación sexual y la educación digital,
puesto que ambas son necesarias para una mayor seguridad de los y las adolescentes.
Finalmente, consideramos importante fomentar la participación cívica y política
de los/as jóvenes en materia de lucha contra la violencia de género, en particular la
violencia en las relaciones de parejas adolescentes en todas las orientaciones sexuales
para que sus opiniones puedan ser escuchadas, influir y tener responsabilidad en
acciones que permitan abordar los temas que afectan a sus vidas. En este sentido, es
crucial promover su participación a través de procesos y mecanismos de consulta para
que también puedan protagonizar la delimitación y el establecimiento de prioridades de
acción teniendo en cuenta la respuesta a sus necesidades. Además de esto, también
consideramos importante la sensibilización de los decisores políticos respecto a la
importancia de la toma de decisiones compartidas con los/as jóvenes y la creación de
espacios de diálogo entre los poderes políticos y los/as jóvenes, ya que constituyen
mecanismos que apuntalan la educación para la ciudadanía y para la participación
juvenil a través del estímulo del pensamiento crítico y la iniciativa. No menos
importante es la mirada atenta sobre la inclusión de jóvenes pertenecientes a grupos que
pueden encontrarse con más o mayores barreras para la participación cívica y política,
particularmente, jóvenes de contextos de riesgo con múltiples desafíos en diferentes
esferas o de grupos socialmente invisibilizados tales como las mujeres jóvenes,
migrantes o LGBTIQ+.
Palabras clave: ciberviolencia en las relaciones de parejas adolescentes,
comportamentos de sexting, violencia sexual online, educación sexual, participación
juvenil, género.
25
As transformações sociais introduzidas pelo acesso à Internet e aos dispositivos
tecnológicos tais como telemóvel, computador, tablet oferecendo novas oportunidades
de comunicação, aprendizagem, trabalho e de relacionamentos interpessoais. As
mudanças que configuram decorrem com tal rapidez que frequentemente as
percepcionamos vertiginosas não tendo tempo para uma reflexão cuidada acerca das
suas potencialidades e riscos deixando-nos, em algumas circunstâncias, privados de
opções alternativas que garantam igual acesso a oportunidades e informação. Todas
estas transformações, potencialidades e riscos acontecem frequentemente nas vidas das
pessoas reconfigurando relações internas e externas nos locais de trabalho, no grupo de
pares e, não menos frequentemente, nos contextos familiares e de intimidade. A
tecnologia está imbricada nos diferentes domínios das nossas vidas tendo-nos garantido
o acesso ao que Werner Herzog denominou, no documentário realizado em 2016 sobre
este tema, Admirável Mundo em Rede mas que ao mesmo tempo introduziu
comportamentos e espaços que potencialmente configuram novos riscos e requerem o
domínio de novos conhecimentos e competências.
Neste cenário, ocorre também o desenvolvimento de crianças e jovens que
nascidos no apogeu da Internet e das tecnologias digitais não imaginam o seu dia-a-dia
sem elas sendo frequente o encontro de relatos seus indicando mal-estar ou ansiedade
quando privados destes dispositivos ou afastados de redes sociais ou do entretenimento
virtual.
Face à indubitável influência da era digital em todas as esferas da vida humana,
a sexualidade humana não constitui uma exceção. Na última década assistimos ao
aparecimento de plataformas de encontros e redes sociais tais como o Grindr destinada a
promover o contacto de pessoas LGBTI no mundo inteiro ou o Tinder pensado para
facilitar o contacto entre pessoas solteiras e viver de forma positiva esse status tal como
referem na sua missão: “Celebramos que estar solteiro/a é uma viagem. Uma viagem
extraordinária. Estar solteiro/a não é aquilo que se vive, de forma infeliz, antes de se
assentar num relacionamento estável. Nós representamos a forma como uma geração
inteira escolhe viver as suas vidas”. Adicionalmente, verifica-se também o incremento
de outras possibilidades de exploração da cibersexualidade tais como salas de webcams,
bordéis 2.0, sistemas de teledildónica. No entanto, se por um lado a Internet e as
tecnologias digitais proporcionam oportunidades únicas relacionadas com as
possibilidades e o fornecimento de informações e o conhecimento de diversidade sexual
por outro constitui-se um espaço de normalização de violência e objetificação feminina.
26
Os comportamentos de sexting inscrevem-se num repertório comportamental
mais vasto situado no cruzamento entre as tecnologias e a sexualidade. Não se
constituindo os primeiros comportamentos deste género, surgem posteriormente ao sexo
telefónico ou por webcam podendo surgir, entre vários motivos possíveis, relacionados
com o estabelecimento de relações à distância, a sedução e o divertimento entre
parceiros/as íntimos atuais ou potenciais. Para além destes propósitos tem-se vindo a
compreender que estes comportamentos poderão aumentar os riscos de violência sexual
online já que poderão quer ser iniciados por pressões ou coações para envio de
conteúdos sexuais, quer resultar em posterior chantagem, perseguições ou assédios
digitais. O conjunto de Literatura emergente sobre estes comportamentos alertam para a
sua natureza genderizada revelando que são as mulheres e as jovens mulheres quem
apresenta maior risco de vitimação sexual online decorrente do envolvimento em
práticas de sexting.
Assim, aceitando o desafio de compreender as transformações nas sociedades
pós-modernas, os comportamentos individuais e de grupo e a nós mesmas desde a
perspetiva dos/as jovens, apresentamos este projeto de investigação no âmbito do
Programa Doutoral em Ciências da Educação e do Comportamento Going on a blind
date with violence? – contributos da psicología crítica feminista para a compreensão
da violência no namoro nas culturas juvenis. Este projeto pretende estudar o fenómeno
da violência no namoro, quer perpetrado cara-a-cara quer na sua transposição para o
contexto digital na também denominada Cyber Teen Dating Violence, colocando o
discurso juvenil no centro da produção de conhecimento científico acerca das
problemáticas sociais que afetam o quotidiano dos/as mais jovens. Conscientes da
frequente desvalorização dos/as jovens, das suas opiniões, experiências e dos seus
direitos cívicos nas sociedades contemporâneas, optamos por escolher um ponto de
partida epistémico ancorado na Psicologia Feminista Crítica de forma a amplificar as
vozes juvenis, sobretudo das jovens raparigas, na compreensão da violência nos
relacionamentos de intimidade juvenil.
O nosso trabalho apresenta como principais objetivos a caracterização das
dinâmicas de violência nas relações que decorrem cara-a-cara ou através do meio
digital, explorar o papel das tecnologias nos relacionamentos de intimidade juvenil e
caracterizar os comportamentos de sexting juvenil. Para o efeito, serão combinadas
metodologias qualitativas e quantitativas, nomeadamente, focus group discussions e a
administração de questionários. Do conjunto de participantes neste estudo fazem parte
27
169 jovens com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos provenientes do litoral
norte de Portugal que participaram na dimensão quantitativa destes estudo. Destes 143
integraram também a dimensão qualitativa tendo participando posteriormente nas
discussões conduzidas em 18 focus groups.
Assim, organizou-se este trabalho em duas partes, o marco teórico e o empírico.
A primeira parte intitulada da Curiosidade à descoberta do Outro/a Juvenil visa o seu
enquadramento teórico e divide-se em dois capítulos. O primeiro capítulo Ser
Adolescente na Era Digital elenca considerações sobre a Geração Z à qual pertencem
os/as participantes deste estudo e apresenta dados sobre os seus acessos e usos de
tecnologias e redes sociais bem como contributos provenientes de pesquisas sobre riscos
e oportunidades online. Ainda no mesmo capítulo é contextualizado o impacto digital e
tecnológico no desenvolvimento sexual juvenil. Para o efeito são apresentadas
sumariamente algumas teorias explicativas sobre a sexualidade humana e
posteriormente exploradas as construções sócio-culturais de masculinidades e
feminilidades adolescentes. Por fim, apresenta-se uma reflexão sobre o papel e
influencia dos media na promoção de violência de género por via da cristalização de
desigualdades entre mulheres e homens e da objetificação feminina.
O segundo capítulo é dedicado ao enquadramento da Violência 2.0 nos
Relacionamentos de Intimidade. Num momento inicial enquadra as transformações que
se fazem sentir nos relacionamentos de intimidade na atualidade e as suas implicações
para a compreensão e estudo do fenómeno sendo posteriormente seguido pela
apresentação estudos sobre o estado da arte da violência nos relacionamentos de
intimidade juvenil e por considerações acerca da abordagem feminista a este fenómeno.
De seguida é conceptualizada a Cyber Teen Dating violence, particularmente quando
decorrente de comportamentos de sexting, sendo apresentados dados nacionais e
internacionais sobre a violência digital na intimidade e o estado da arte sobre
comportamentos de sexting juvenil articulando os principais estudos sobre a delimitação
do construto, a sua prevalência, motivações, atitudes e riscos associados e
consequências. Este capítulo encerra com um terceiro momento dedicado à participação
juvenil nas políticas públicas de combate à violência nos relacionamentos de
intimidade. Este momento articula os conceitos de cidadania de intimidade e direitos
sexuais e reprodutivos juvenis para problematizar a participação juvenil, as
potencialidades e obstáculos à promoção do envolvimento cívico e social dos/as jovens,
em especial das jovens raparigas, em matéria de igualdade de género, diversidade e
28
violência na intimidade.
Já dentro do Marco Empírico, o terceiro capítulo foca a metodologia utilizada.
Aqui é inicialmente apresentada a problemática de estudo enquadrando-a nos
pressupostos teóricos e epistemológicos escolhidos, seguindo-se a apresentação dos
objetivos gerais e específicos. Adicionalmente, são formuladas as hipóteses levantadas e
caracterizado o tipo de estudo e o grupo de participantes. Este capítulo compreende
ainda a descrição dos procedimentos de recolha de dados das dimensões quantitativas e
qualitativas, dos instrumentos na recolha de dados e das etapas conduzidas para a
análise da informação.
O quarto capítulo compreende a apresentação de resultados tendo em conta o
género. Inicialmente são apresentados os dados quantitativos que caracterizam o perfil
sociodemográfico dos/as participantes, o seu uso de tecnologias de informação e a
caracterização das relações de intimidade. Também se apresentam dados sobre os seus
conhecimentos sobre violência no namoro, as atitudes face a diferentes tipologias de
violência no namoro, mitos sobre amor e comportamentos e atitudes face ao sexting.
Num segundo momento, são apresentados os dados qualitativos acerca das percepções
juvenis sobre relações sociais de género, os relacionamentos de intimidade e da
ciberviolência na intimidade juvenil.
O quinto capítulo constitui a discussão dos principais resultados quantitativos e
qualitativos obtidos e a sua interpretação à luz dados de outros estudos nacionais e
internacionais bem como uma reflexão sobre constrangimentos e limitações do presente
estudo. No sexto capítulo são sumariadas as principais conclusões deste trabalho e no
oitavo capítulo constam as reflexões finais sendo enunciadas as implicações que os
resultados obtidos no presente estudo tem para as práticas educativas. Por último,
apresentam-se as referências bibliográficas.
33
Sinopse
A palavra adolescência deriva do latim “adolescere” (adolescer) que significa
desenvolver-se até à maturidade. Este processo de amadurecimento é difícil de balizar
temporal e conceptualmente, levando alguns autores, tal como Kimmel (2008) a
denominar de adultescência ou “Kidults” o período mais avançado ou tardio desta
etapa, uma vez que a passagem à fase adulta, por via da concretização de alguns
marcadores tradicionais (casar, ter filhos, comprar uma casa), parece dilatada nas
sociedades contemporâneas. Assim, a adolescência bem como a sexualidade humanas
parecem iniciar-se com a biologia e terminar com a cultura (Lameiras, Carrera, &
Rodríguez, 2013; Papalia, Feldman, & Martorell, 2013; Sprinthall & Collins, 2008),
sendo necessário intersectar as transformações do período pubertário com as
expectativas e padrões culturais e sociais transmitidos sobre esta etapa
desenvolvimental. Paralelamente, o desenvolvimento da identidade é a tarefa
“universalmente” atribuída a esta etapa. Por este motivo, o presente capítulo dedica-se
ao processo da construção identitária dos/as jovens, à sua problematização na sociedade
digital e à influência das tecnologias de informação e comunicação no seu
desenvolvimento afetivo e sexual.
Partindo de uma tentativa de captar alguns aspetos distintivos da Geração Z e do
seu acesso às tecnologias e redes sociais e uso das mesmas, a primeira parte deste
capítulo aborda ainda os principais riscos e oportunidades online e a possibilidade de
um equilíbrio entre ambos. Posteriormente, é também abordado o desenvolvimento
sexual juvenil na era digital, começando por uma breve incursão nas teorias explicativas
sobre sexualidade, uma exploração da relação entre masculinidades e feminilidades e
cultura e, por fim, com a problematização da influência dos media no desenvolvimento
afetivo-sexual.
1.1 Internet, Tecnologia e Juventude
A revolução digital caracteriza as grandes transformações que se fazem sentir no
século XXI, pautando-as por conexões complexas estabelecidas através de dispositivos
eletrónicos, pela internet e pelas redes sociais que agora facilitam, numa maior ou
34
menor extensão, o contacto próximo e muitas vezes permanente entre pessoas e
realidades anteriormente determinadas por distanciamentos geográficos, sociais ou
culturais. Esta realidade favoreceu o aparecimento de condições que permitiram o
alargamento e diversificação da comunicação, tendo trazido também, para os
relacionamentos interpessoais, novas possibilidades e descobertas (Fernández,
Calatayud, & Vicent, 2013). O crescente acesso e democratização do uso de tecnologias
nas diferentes esferas do funcionamento humano conduziram, inevitavelmente, a
profundas transformações sociais sentidas nas vivências pessoais, laborais e relacionais,
bem como nas exigências e características de diferentes gerações que as experienciam.
Não sendo esta explosão tecnológica necessariamente boa ou má (Turner, 2015),
apresenta, indubitavelmente, vantagens e desvantagens dependendo ora do foco nos
constrangimentos associados a uma profunda mudança na interação humana, ora nas
potencialidades individuais e coletivas que proporciona. Estas transformações
adquirem, por isso, um papel extremamente importante na leitura e compreensão de
diferentes grupos sociais e geracionais. Esta influência tem vindo a ser reportada na
literatura disponível acerca do assunto explorando-se reportórios comportamentais,
cognitivos e sociais nos processos de ser, estar e crescer num espaço-mundo online e
permitindo a identificação de diferenças geracionais relativamente à presente era
tecnológica. Assim o acesso praticamente constante a espaços virtuais influencia
determinantemente as experiências de socialização humanas. Não constituindo uma
exceção, torna-se crucial não só equacionar, mas refletir-agir sobre as transformações
que redesenham as novas experiências de socialização juvenil, tornando o espaço virtual
um palco de igual ou maior preponderância no processo de crescimento biopsicossocial.
Nestas interações, agora mediadas por tecnologias digitais, os/as jovens vão construindo
culturas de pares e aprendizagens partilhadas sobre a natureza e significado das normas
sociais (Ponte, 2016) influenciando, inevitavelmente, a sua construção da identidade. A
este respeito, Stald (2008) explorou o conceito de “mobile identity” juvenil,
apresentando-o com duplo significado. Por um lado, referindo-se à influência do
telemóvel e dos media na construção da identidade e, por outro, à fluidez e deste
processo, influenciada por diferentes fatores e em permanente negociação sobre quem,
como e junto de quem sou. Na sua abordagem ao valor simbólico atribuído pelos/as
jovens ao seu telemóvel e do papel que desempenha na construção da identidade móvel,
sugere uma reflexão em quatro eixos: disponibilidade, experiência de presença, diário
pessoal, e aprendizagem de normas sociais.
35
O primeiro eixo, disponibilidade, prende-se com o facto de os telemóveis dos/as
jovens estarem permanentemente, ou quase permanentemente, ligados/as.
Simultaneamente, também os/as jovens permanentemente ou quase
permanentemente disponíveis para as outras pessoas através da comunicação,
informação ou entretenimento. A ausência de tempos livres de dispositivos eletrónicos
espelha alguma necessidade de controlo sobre estas novas “extensões” do
relacionamento humano, vivendo os/as jovens constantes interrupções através de
estímulos sonoros, visuais, vibratórios. De igual forma, esta quase total disponibilidade
poderá resultar em experiências de confusão, pressão e stress decorrentes de
sentimentos de frustração ou perda de tempo associados a uma interação social pautada
pela flexibilidade do tempo e pelo aumento do potencial de negociação humano (sobre
entendimentos, atividades, eventos, entre outros aspetos).
A experiência de presença alicerça-se em torno de três pressupostos
interrelacionados: o primeiro é a perceção de presença num espaço partilhado, vital para
a construção de relações de confiança e pertença social, variando em função do
conhecimento, conteúdo, características e intenções da comunicação. O segundo é a
possibilidade de estar simultaneamente presente em mais do que um espaço e refere-se a
ocupar fisicamente e mentalmente/virtualmente espaços diferentes. A última diz
respeito ao potencial de distúrbio causado pelo telemóvel numa situação social, ou seja,
estar comprometido com uma interação social online de troca de mensagens via
whatsapp no meio de uma festa, por exemplo, aumentando o potencial de distúrbio
proveniente do telemóvel numa qualquer situação social física.
O terceiro eixo corresponde ao diário pessoal que está diretamente relacionado
com o facto deste dispositivo se constituir como uma ferramenta que permite
documentar não só informação, mas também experiências, criando uma espécie de
memória emocional, não só individual, mas também coletiva.
Por último, os eixos anteriores permitem também a emergência do quarto eixo: a
significação do telemóvel enquanto ferramenta de aprendizagem de normas sociais
através da interação social juvenil que continuamente redesenha e redefine normas e
significados de utilização através do uso dos dispositivos móveis.
37
facilitaram a aquisição do computador portátil de baixo custo, também conhecido como
Magalhães, tendo terminado após 2012 (Mascheroni & Cuman, 2014).
Os/As jovens nascidos/as neste período são frequentemente designados por
“nativos/as digitais”, graças a terem nascido e sido educados/as em estreito e direto
contacto com as tecnologias e nunca terem vivido antes da internet. Contudo, diferentes
investigadores/as consideram que esta denominação carece de rigor na tradução da
realidade já que crianças e jovens não dominam automaticamente o uso das tecnologias
e revelam tendência para um menor domínio de competências criativas e críticas do que
instrumentais (Helsper & Eynon, 2010; Ponte & Batista, 2019; Simões, Ponte, Ferreira,
Doretto, & Azevedo, 2014).
Num estudo recente, o Pew Research Center (2018) indica que
aproximadamente metade da Geração Z pertence a minorias raciais ou étnicas. Quando
comparada com os Millenials, esta geração apresenta maior probabilidade de frequência
do ensino superior e de ter sido educada por, pelo menos, um/a progenitor/a com
escolaridade superior. Não obstante, é uma geração que testemunha as dificuldades
económicas das suas famílias, o aumento do fosso económico entre classes e o
encolhimento da classe média (as cited in Turner, 2015). A Geração Z cresceu num
mundo pautado pela rápida e constante mudança, revelando fluência em social
networking e maior à vontade para interagir numa sociedade permanentemente
conectada. O estudo da Commscope (2017) intitulado “The Generation Z – Study of
Tech Intimates” refere inclusivamente que esta geração apresenta um “digital bond”
com a internet e as tecnologias, ou seja, uma ligação emocional com o mundo e
dispositivos virtuais.
No seio da sociedade americana, esta geração tem sido descrita como birracial
ou multirracial e como uma geração que parece lidar com questões sociais, em
particular, com questões LGBTIQ+ com menor secretismo:
São uma geração hiper-conectada, altamente opinativa e interessada no
ativismo uma vez que a internet e o panorama dos media desenvolveu-
lhes uma consciência aguçada e preocupada com os acontecimentos
mundiais. Vivendo numa era de progresso generalizado em assuntos
como casamento igualitário ou body positivity, estão a forjar um novo
38
território em conversas mais vastas sobre identidade; são o grupo da
fluidez de género e da inclusão em todas as suas formas. (Rapp, 2019,
p.8)
Relativamente à sua situação laboral, os/as post-Millennials apresentam menos
trabalhos “full-time”, facto que se pensa estar relacionado com a maior frequência
universitária (Turner, 2015). A intuição, a fluidez digital e o multi-tasking combinam de
uma forma inovadora as suas capacidades e interesses: “With these values in tow, many
gen Zers, some of whom are already starting to enter the workforce, are leveraging
social apps to build communities and creative endeavors that are intertwined with a
passion for advocacy, art, or entrepreneurship” (Rapp, 2019, p.8).
Um outro estudo, desenvolvido pelo JWT Inteligence em parceria com o Snap
Inc. (Rapp, 2019) onde participaram 1208 jovens da geração Z americanos/as e
ingleses/as indicou que cerca de um pouco mais de metade dos/as participantes
considera a sua geração mais criativa do que as anteriores e o espaço virtual,
nomeadamente as aplicações digitais, mais estimulante da sua criatividade do que o
espaço offline. Mais de metade dos/as participantes usa aplicações digitais para se
expressar criativamente (56%) e um quinto para desenvolver a sua própria marca,
porém, são também vários os/as jovens que o fazem por paixão (46,5%), rejeitando a
ideia do branding pessoal. Adicionalmente, este estudo apresenta outras características
e interesses deste grupo de jovens, destacando que são trilingues na medida que
cresceram a expressando-se na internet e a partir de ferramentas visuais criativas e tendo
mudado a forma de comunicar com as marcas e os mercados. Esta geração apresenta
também menos receios de explorar novas identidades e diferentes formas de se
expressar, tendo um quinto dos/as participantes neste estudo referido que as suas
publicações são sobre quem verdadeiramente são e sobre os seus quotidianos, o que
indica que valorizam a autenticidade e a história pessoal no compromisso criativo. O
humor e o entretenimento desempenham também uma importante influência no
processo criativo e no consumo desta geração. Assim sendo, estes/as jovens consideram
importante e procuram formas offline para expressar a sua criatividade, combinar o
analógico com o digital e aumentar as possibilidades dos seus produtos finais. No que
respeita causas sociais, esta geração desafia normas de género e padrões de beleza,
ultrapassando representações tradicionalistas e promovendo a diversidade.
40
tem vindo a contribuir para o avanço da investigação sobre o acesso aos meios digitais e
à sua utilização em diferentes países europeus e, posteriormente, pan-europeus. Este
estudo tem vindo a ocorrer em diferentes fases: EUKO (2006-2009), EUKO 2 (2009-
2011), EUKO 3 (2011-2014) e EUKO 4 (2014-2018), tendo também redefinido os seus
objetivos, adaptando-se às necessidades de estudar as rápidas transformações sociais e
as suas implicações na prática. De uma maneira geral, a primeira fase do projeto ter-se-á
debruçado mais sobre a identificação das principais situações de risco; a segunda etapa
(2009-2011) nos usos e experiências de crianças e jovens na internet, situações de risco
e meios de segurança utilizados; a terceira (2011-2014) e mais recente, a quarta (2014-
2018) fases, dedicaram-se à caracterização das tendências nos novos ambientes digitais,
ao alargamento do conhecimento sobre competências e direitos digitais e à identificação
de fatores e mediações na abordagem dos riscos digitais.
O segundo estudo, NCGM - Net Children Go Mobile (Mascheroni & Cuman,
2014), é um projecto co-financiado pelo Safer Internet Programme (agora denominado
Better internet for Kids) com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre as
mudanças no acesso e uso da internet e a sua relação com os riscos online. Esta pesquisa
combinou métodos quantitativos e qualitativos e foi conduzida em 7 países europeus
(Reino Unido, Dinamarca, Itália, Roménia, Irlanda, Portugal e Bélgica), junto de cerca
de 3500 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos.
Os principais dados provenientes destes dois projetos indicam que, comparando
os dados obtidos em 2010 (EUKO, 2010) com os do estudo NCGM 2014 (Mascheroni
& Cuman, 2014), é possível constatar que a frequência de acesso à Internet está a
aumentar e a idade de acesso a diminuir. Relativamente à forma como se tem acesso à
internet verifica-se que um aumento de dispositivos de uso mais individualizado como
os smartphones. Tendo em conta o local de acesso, a casa continua a ser o espaço onde
a maioria dos/as jovens tem acesso à internet, porém, o número de jovens que o faz a
partir do quarto tem vindo a aumentar. Desta forma, o uso de dispositivos
individualizados combinado com o uso de um local de acesso mais privado, como o
próprio quarto, são fatores que dificultam a supervisão parental. Tendo em conta as
atividades realizadas na internet, estar nas redes sociais e ver vídeos destacam-se como
as principais escolhas juvenis e têm vindo a demonstrar um aumento na sua
popularidade. O uso das mensagens instantâneas permanece como uma das principais
41
atividades online, tanto para a realização de trabalhos de casa com outros colegas como
para jogar jogos online. Também se verifica um aumento no download de conteúdos e
da partilha de vídeos e de fotografias e na leitura de notícias online, sugerindo também
um aumento do uso da internet para interesses cívicos. Um outro aspeto deste estudo
relaciona-se com a avaliação da satisfação dos/as jovens com o conteúdo disponível
online, constatando-se uma ligeira diminuição desta satisfação, em especial das
raparigas. Relativamente à literacia digital, os dados apontam para ligeiros aumentos
nas competências digitais juvenis relacionados com o aumento de segurança online.
Por último, os resultados sobre a mediação parental revelam várias diferenças
entre os diferentes países europeus participantes no estudo. Porém, é possível constatar
que a mediação parental é mais regular em jovens mais novos e que as raparigas
continuam a ter mais supervisão do que os rapazes. A supervisão dos rapazes tem vindo,
inclusivamente, a revelar uma diminuição na sua frequência. De uma maneira geral, as
estratégias de mediação familiar ativa (encorajar, oferecer ajuda, dialogar) são mais
frequentes que as estratégias de mediação restritiva (proibição de redes sociais,
dispositivos de controlo parental, filtros) (Livingstone, Mascheroni, Ólafsson, &
Haddon, 2014).
Um outro estudo, conduzido nos EUA pelo Pew Research Center (2018), onde
participaram 7743 adolescentes americanos/as com idades compreendidas entre os 13 e
os 17 anos, indicou que cerca 95% dos/as participantes tem smartphone ou acesso
facilitado a um; 88% tem acesso a um computador na sua casa e 84% a uma consola de
jogos. Estes dados reforçam a existência de um acesso praticamente universal a
smartphones independentemente das variáveis idade, género, raça e nível
socioeconómico. Relativamente ao acesso a um computador em casa, são os/as jovens
cujas famílias apresentam maior escolaridade e nível sócio económico mais elevado que
apresentam maior acessibilidade a este recurso. Por último, a grande maioria dos/as
jovens tem acesso a consolas e 90% jogam videojogos (quer seja na consola, no
computador, no telemóvel, etc.) mas são os rapazes o grupo que maior frequência
revela, tendo 92% indicado possuir uma consola ou acesso a ela e 97% assumido a
prática de videojogos, em comparação, respetivamente, com 75% e 83% das raparigas.
No que respeita ao uso de redes sociais, o Facebook, que no estudo anterior
ocupava o primeiro lugar do uso de plataformas virtuais dos/as adolescentes, foi
42
ultrapassado pelo Youtube, Instagram e Snapchat, demonstrando uma reconfiguração
dos interesses e preferências dos/as jovens na atualidade.
Cerca de 45% da amostra indicou ser utilizadora praticamente constante da
internet, tendo sido encontradas diferenças relativamente ao género, raça e etnia. Assim,
cerca de 50% dos/as utilizadores/as praticamente constantes eram do género feminino e
tendo os rapazes hispânicos revelado também maior probabilidade de estarem quase
permanentemente na internet, quando comparados com jovens caucasianos.
Tendo em consideração a realidade nacional, Portugal revela uma elevada
adesão dos/as internautas às redes sociais apesar de ser um país com um acesso tardio à
internet (Mascheroni & Cuman, 2014; Ponte, 2016). Desta forma, em 2009 o acesso à
internet estava ao alcance de apenas 50% da população e em 2014 à disposição de 65%
dos agregados familiares, valor este que aumentava significativamente nos casos de
agregados com jovens com idades até aos 15 anos, atingindo os 90%. Em 2017, o
acesso à internet em casa, por famílias com crianças até aos 15 anos, chegou aos 97%
(INE, 2017).
Os principais dados do uso de tecnologias e acesso à internet decorrem da
participação nacional nos dois projetos anteriormente apresentados: no EUKO entre
2006 e 2018 e no NCGM em 2014. O Projeto NCGM e Meios Digitais Moveis em
Portugal foi conduzido com a participação de 501 crianças e jovens com idades
compreendidas entre os 9 e os 16 anos. Por sua vez, no EUKO IV (Ponte & Batista,
2019) participaram 1974 jovens com idades compreendidas entre os 9 e os 17 anos,
tendo os objetivos focado questões relacionadas com as mudanças nos ambientes
digitais, as formas de acesso e uso dos dispositivos tecnológicos, as competências
digitais, as situações de risco emergente e, em território nacional, incluiu dois módulos
adicionais: Cidadania Digital e Internet das Coisas.
Tendo em conta o uso de dispositivos tecnológicos e da internet é possível
perceber que uma criança ou um/uma jovem de nacionalidade portuguesa passa em
média 3 horas diárias na internet e este número tende a aumentar com a idade do/a
inquirido/a. O smartphone tornou-se o dispositivo de eleição dos/as jovens
portugueses/as, sendo usado diariamente por 9 em cada 10 jovens (Ponte & Batista,
2019). Este facto é o resultado da tendência para a diminuição da utilização de
43
computador portátil após ter sido impulsionado pelas políticas nacionais expansionistas
o acesso a equipamentos e à internet, nomeadamente, pela aquisição a baixo custo dos
portáteis Magalhães (Mascheroni & Cuman, 2014).
No que respeita às atividades realizadas na internet, 80% usam-na todos os dias
para ouvir música e ver vídeos e 75% para comunicar com familiares e amigos/as ou ir
a redes sociais. Cerca de 50% referem jogos online (2/3 rapazes) e cerca de 1/3 para ler
notícias e fazer trabalhos de casa (Ponte & Batista, 2019). Estes resultados são bastante
semelhantes aos encontrados em 2014 no NCGM (Mascheroni & Cuman, 2014) que
destacaram ouvir música, ver videoclips, estar nas redes sociais e trocar mensagens,
sendo realizadas diariamente por aproximadamente metade da amostra deste estudo.
Um outro estudo nacional, constou também a importância atribuída às redes sociais,
multimédia (vídeos e música) e jogos online, bem como a transversalidade destas
mesmas preferências numa amostra de jovens com idades compreendidas entre os 12 e
os 30 anos (Patrão & Hubert, 2016). Outras pesquisas que procuraram compreender o
tempo online dedicado ao estudo, mencionam que os/as jovens do ensino básico
dedicam 2 horas por semana online em atividades escolares, os/as do ensino secundário
aproximadamente 6 horas semanais e os/as do ensino superior cerca de 42 horas
(Patrão, 2016; Patrão & Machado, 2016). Foram encontradas diferenças de género
relativamente às atividades mais frequentemente realizadas entre os/as jovens mais
novos/as e também nos/as mais velhos/as. Tendo em conta o grupo mais velho de
adolescentes, as raparigas apresentam uma maior frequência de visitas a redes sociais,
utilização de chat rooms, uso de internet para pesquisa de temas de interesse e para
trabalhos de casa e download de filmes e músicas. Tanto no grupo mais novo como no
mais velho, são os rapazes quem lidera a prática de jogos, sozinhos ou contra o
computador. Os jovens mais velhos destacam-se também no visionamento de
videoclips, transmissões de televisão e leitura de notícias online. No que respeita às
redes sociais, 97% dos/as jovens que indicam ter um perfil online são utilizadores/as do
Facebook sendo esta a rede social mais utilizada seguida do Instagram com cerca de
19% (Mascheroni & Cuman, 2014). O recente relatório do EUKO IV (Ponte & Batista,
2019) indica também que 9 em cada 10 dos/as jovens portugueses/as refere ter
competências digitais sobre saber que informações partilhar, como remover ou bloquear
pessoas, instalar aplicações. Menos expressivas são as competências digitais
informacionais e criativas.
45
danos decorrentes de uma experiência negativa online deve continuar a focar-se, tal
como nos estudos sobre riscos offline, nas consequências provocadas ao nível físico,
emocional, psicológico e social.
De uma maneira geral, a literatura sobre este assunto tende a organizar os riscos
em três categorias: conteúdo, contacto e conduta:
- Conteúdo: está relacionado com a exposição a assuntos indesejados ou
inapropriados;
- Contacto: diz respeito à comunicação e participação da criança em
atividades iniciadas por adultos/as que poderão constituir-se solicitações
perigosas ou não saudáveis;
- Conduta: comportamento ou conduta da criança e jovem que poderá
levar a conteúdo ou contactos de risco.
Tabela 1
Classificação de riscos online para crianças e jovens Conteúdo:
Criança enquanto recetor Contacto:
Criança enquanto participante
Conduta: Criança enquanto
interveniente
Comercial Publicitar, spam, patrocínio Monitorizar/colher informação pessoal
Apostar, downloads ilegais, pirataria
Agressivo Conteúdo violento/ horrível/ de ódio
Ser vítima de bullying, assédio ou de stalking
Fazer bullying ou assediar alguém
Sexual Conteúdo sexual, pornográfico e prejudicial
Conhecer desconhecidos, ser aliciado/seduzido/a
Criar e carregar material pornográfico
Valores Conselhos/informação racista e parcial(e.g. drogas)
Automutilação, indesejado Providenciar conselhos (e.g. pró-suicídio)
Nota. Traduzido de Introduction – Kids online: opportunities and risks for children (Livingstone &
Haddon, 2009)
Relativamente às perceções de impacto das tecnologias nas crianças e jovens
inquiridos a nível internacional, o estudo americano do Pew Research Center (2018)
aponta que cerca de 31% dos/as jovens considera que as tecnologias têm um impacto
positivo, 24% um impacto negativo e 45% avalia-o como nem positivo nem negativo
O quadro abaixo detalha os motivos apresentados pelos/as jovens nesta
avaliação de impacto.
46
Tabela 2
Motivos indicados para percepção de impacto das tecnologias na vida dos/as jovens Impacto Positivo Impacto Negativo
- Contactar com amigos/as e família (40%)
- Facilitar o acesso a notícias e informação (16%)
- Encontro com pessoas com os mesmos interesses (15%)
- Entretenimento (9%)
- Expressão Pessoal (7%)
- Apoio de outros/as (5%)
- Novas aprendizagens (4%)
- Outro (6%)
- Bullying/ Divulgação Rumores (27%)
- Prejudica relações/falta de contacto pessoal (17%)
- Perceções irrealistas de outras pessoas (15%)
- Distração/Dependência (14%)
- Pressão de Pares (12%)
- Provoca questões de saúde mental (4%)
- Drama, no geral (3%)
- Outro (12%) Nota. Traduzido de estudo Pew Center Research (2018)
Os motivos que parecem mais relacionados com uma avaliação positiva do
impacto das tecnologias foram a possibilidade de contactar com amigos/as e família e
procurar informação. Por outro lado, o bullying/propagação de rumores e ser prejudicial
para os relacionamentos foram indicados como os principais motivos para uma
avaliação de impacto negativo.
Nos estudos europeus, comparativamente com os dados de 2010, verificou-se
que os/as jovens com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos estão mais
expostos/as a mensagens de ódio, encontrando-se uma subida moderada no nível de
risco, em geral relacionado com a exposição a discursos de ódio, sites pro anorexia,
sites de mutilação, ciberbullying. A percentagem de jovens que indica desconforto com
algo que encontrou na internet subiu de 13% para 17%. Adicionalmente, são as
raparigas e os/as adolescentes que mais reportam danos provenientes dos riscos
emergentes. Verifica-se também o aumento de cyberbullying entre raparigas e jovens
mais novos e o aumento do contacto com conteúdo de natureza sexual ainda que, a
maioria do conteúdo sexual a que os/as jovens estão expostos seja offline. Os
comportamentos de sexting apresentam uma diminuição na comparação dos resultados
entre estes dois estudos bem como o contacto offline com alguém conhecido na internet
(Livingstone et al., 2014).
Alguns dos dados sobre severidade e prevalência de situações de risco online
destacam a divulgação de informação pessoal a estranhos/as, visualização de
47
pornografia online, visualização de conteúdo violento ou contendo mensagens de ódio e
encontro com um contacto virtual (Livingstone & Haddon, 2009).
Outros trabalhos, como os de Kamil Kopecky (2015) e O’Keeffe & Clarke-
Pearson (2011) (as cited in Kopecky, 2016), debruçaram-se sobre os riscos encontrados
nas redes sociais, em particular no Facebook, tendo sinalizado a comunicação com
pares, a divulgação de conteúdo inapropriado, questionável e ilegal, o abuso de
privacidade, o uso excessivo desta rede social e outros riscos adicionais (como por
exemplo marketing e fraude online, propagação de vírus, etc.), áreas focais para uma
análise mais aprofundada. No que se refere aos impactos psicológicos, Weinsten (2010)
alerta que elevados períodos de tempo passados na internet, especialmente em
videojogos, poderão comprometer a capacidade de lidar com a frustração, medo e
desconforto e, simultaneamente, comprometer o desenvolvimento de mecanismos de
coping para resolver situações do dia-a-dia ou o estabelecimento de relações de amor e
amizade (as cited in Turner, 2015). Ser vítima ou testemunha de abuso online acarreta
também impactos sociais nas vidas dos/as jovens, sendo que cerca de 51% das raparigas
e 42% dos rapazes reporta hesitar em participar em debates online após estas
experiências, diminuindo a participação digital em especial de jovens raparigas. Tendo
em conta o tipo de abuso sofrido, jovens rapazes apresentam maior exposição a
conteúdos de ódio racial e de extremismo religioso e jovens raparigas a assédio sexual
online. Relativamente, às estratégias de prevenção de críticas online ou abordagens
indesejadas utilizadas por ambos os géneros são diferentes, sendo que as raparigas
adotam mais frequentemente comportamentos de monitorização dos seus perfis,
aparência e opiniões online e os jovens rapazes denotam uma maior tendência para
ignorar ou minimizar o abuso, muito provavelmente visando o cumprimento de
expectativas tradicionais masculinas (EIGE, 2018).
No que respeita aos dados provenientes do contexto português e tendo em
consideração o recente relatório do projeto EUKO IV (Ponte & Batista, 2019), cerca de
23% dos/as participantes viveram situações de risco na internet que incomodaram ou
perturbaram. Este valor duplicou relativamente aos dados obtidos em 2014 e este
crescimento foi mais visível nos/as mais novos/as (9-10 anos). Estes dados permitem
distinguir entre exposição ao risco e o dano percecionado (neste estudo aferido por
sentimento de incómodo na experiência). O bullying online e offline é a situação que
48
parece incomodar ou perturbar mais os/as jovens. Destes/as, três quartos menciou este
sentimento de incómodo constatando-se um aumento deste fenómeno relativamente aos
dados encontrados pelo estudo em 2010. Assim, cerca de 24% dos/as jovens indicaram
ter sido vítimas de bullying no último ano, tendo sido uma situação transversal às faixas
etárias inquiridas, mas com diferenças de género, já que foram as raparigas quem mais
reportou esta situação quando comparadas com os rapazes e estes os que apresentam
mais probabilidade de ser alvo desta forma de violência. O bullying perpetrado através
de meios tecnológicos ultrapassou o cara-a-cara nos últimos dados obtidos.
Um outro risco diz respeito à exposição a conteúdos de cariz sexual, tendo 37%
dos/as jovens participantes indicado ter visto na internet ou noutro lugar imagens
(ilustrações, fotografias, vídeos) com este teor. A maior parte destas visualizações foi
realizada na internet (91%) e na televisão (83%). Esta situação apresenta-se mais
frequente na faixa etária compreendida entre os 15 e os 17 anos (59%) e no grupo dos
rapazes (44%) mais do que no das raparigas (29%). A exposição a este tipo de imagens
tem-se mantido estável no grupo das raparigas quando comparado com os dados de
2014, mas subiu de 27% para 44% no grupo masculino de jovens. No que respeita ao
dano associado a estas experiências, cerca de 11% referiram ter sentido algum ou
bastante incómodo e 8% muito incómodo. Cerca de 49% dos/as jovens indicou
indiferença e 31% satisfação com a visualização de conteúdos sexuais. Os dados
encontrados apontam também que a perturbação com este tipo de imagens diminui com
o aumento da idade. As diferenças de género apresentam-se muito significativas,
constatando-se que 47% dos jovens rapazes reportaram maior contentamento com a
visualização de conteúdos sexuais em comparação com os 8% de jovens raparigas.
Relativamente a comportamentos de sexting, cerca de 26% dos/as jovens com mais de
11 anos referem ter recebido ou enviado conteúdos de natureza sexual. Os/As
participantes mais velhos/as e os rapazes reportaram maior frequência na receção destes
conteúdos e foram os/as mais velhos/as quem mais frequentemente enviou estes
conteúdos não tendo sido encontradas diferenças de género neste comportamento. Estes
dados encontram-se mais aprofundados na abordagem das diferenças de género dos
riscos online e nos estudos empíricos apresentados no Capítulo II. No que se refere à
situação de risco associada ao encontro com pessoas que os/as jovens conheceram
online, 53% dos/as participantes contactaram com pessoas que conheceram na internet.
Deste conjunto de jovens apenas 2% indicaram que a experiência foi de algum modo
49
perturbadora. Os/As restantes jovens consideraram-na uma experiência positiva, tendo
79% reagido com contentamento e 19% com indiferença. Outras situações de risco
foram percecionadas pelos/as jovens participantes neste estudo, entre as quais,
destacam-se conteúdos negativos gerados por utilizadores/as, mau uso de dados
pessoais, sharenting (partilhas por figuras parentais, docentes e amigos/as) e a
datificação e vigilância. Relativamente à exposição a conteúdos negativos gerados por
utilizadores/as, 46% visualizaram imagens nojentas ou violentas contra pessoas ou
animais, 45% em sites onde se falava de automutilação, 43% em sites com mensagens
de ódio contra certos grupos ou pessoas, 35% em sites sobre experiências de consumo
de drogas, 32% em sites sobre como ficar magro e 29% em sites com conteúdos sobre
formas de suicídio. No âmbito do mau uso de dados pessoais, 19% dos/as participantes
identificaram que os dispositivos móveis foram afetados por um vírus ou spyware, 7%
que alguém usou os seus dados de uma forma que não lhes agradou e que 8% usou a sua
password para aceder à sua informação e fingir a sua identidade; 5% indicou ter sido
vítimas de burla na internet e 9% ter gasto demasiado dinheiro em jogos e aplicações.
Relativamente ao sharenting, 28% dos/as jovens indicaram que as figuras parentais
publicaram textos, vídeos ou imagens sobre eles sem consulta prévia sobre a sua
concordância. Destes, 14% pediram aos pais para retirarem esses conteúdos, 13%
ficaram incomodados/as com esse acontecimento e 7% teve imagens suas divulgadas
por um/a professor/a sem o seu consentimento. Um total de 6% destes/as jovens
reportou ter sido alvo de mensagens ofensivas ou negativas após as publicações feitas
pelas suas famílias. No que se refere à partilha de conteúdos feita por amigos/as, cerca
de 25% mencionaram ter acontecido sem o seu consentimento.
No que respeita às estratégias para lidar com situações perturbadoras ou que
causam incómodo na internet, sobretudo no que se refere a um contacto indesejado ou
agressivo, a maioria referiu a utilização de estratégias passivas, tais como ignorar o
problema e esperar que ele se resolva por si ou fechar a janela. Cerca de 33% indicaram
utilização de estratégias ativas como o bloqueio do contacto. As estratégias para lidar
com estas situações são sobretudo o bloqueio de pessoas, ignorar o problema e esperar
que se resolva ou fechar a janela da aplicação. No entanto, são as raparigas que revelam
maior recurso às estratégias ativas. A redefinição das definições da privacidade e/ou a
denúncia de uma situação online são ainda pouco frequentes.
51
minimização de riscos e maximização de oportunidades da navegação online das
crianças e jovens.
Diferentes estudos de relevo sobre os riscos e oportunidades online
(Livingstone, Mascheroni, Staksrud, & 2015; UNICEF, 2017a) referem a existência de
uma tensão, não só na literatura disponível mas também nas discussões públicas, entre a
proteção de crianças online e o seu direito à informação e participação: “current public
policy is increasingly driven by overemphasized albeit real, risks faced by children
online, with little consideration for potential negative impacts on children’s rights to
freedom of expression and acess to information” (p.4).
No estudo de oportunidades e riscos online para crianças e jovens, a pesquisa
longitudinal da rede EUKO (2006-2018) tem vindo a proceder à construção de um
modelo para permitir o estudo comparado dos usos da internet e dos media e da sua
relação com os riscos e as oportunidades que as crianças e jovens encontram online. De
seguida, é apresentado o modelo mais recente (cf. Figura 1) e as suas implicações para a
prática da produção de evidências científicas nesta área (Livingstone et al., 2015;
Livingstone, Haddon, Gorzig, & Oláfsson, 2011).
Figura 1 Modelo EU Kids Online revisto
52
Este modelo realça a existência de factores que poderão influenciar a
experiência online de crianças e jovens dividindo-os em três níveis: individual, social e
national. Sendo um modelo centrado na criança, deverá ser interpretado de dentro para
fora: do nível individual para o nível nacional (Livingstone et al., 2011; Hasebrink,
Livingstone, Haddon, & Ólafsson, 2009; Ponte & Simões, 2008).
Ao nível individual, este modelo foca-se de uma forma abrangente na forma
como os usos da internet poderão influenciar o bem-estar das crianças e jovens, quer
positivamente, por via das oportunidades que são proporcionadas e que poderão resultar
em benefícios mesuráveis, ou negativamente, pela exposição a situações de risco que
poderão resultar em danos também mesuráveis. Neste nível, o modelo enfatiza a inter-
relação entre as características demográficas (idade, género, estatuto sócio-económico)
e psicológicas (questões emocionais, auto-eficácia, comportamentos de risco) das
crianças e jovens na caracterização do uso, actividades, risco e experiência de dano
online.
No nível societal, são apresentados os factores sociais que desempenham um
papel mediador nas experiências online de crianças e jovens, nomeadamente, a família,
a escola e os pares. da família (para além da ação das figuras parentais também
irmãos/irmãs e avós tem um papel ativo na socialização para o uso dos media), a escola
(dentro e fora do contexto formal de educação) e os/as pares (sobretudo no que se refere
ao seu papel na socialização para determinadas subculturas, perceções de risco e
oportunidade, estratégias para lidar com o risco).
Por último, no nível nacional são salientados factores tais como a diferenciação
sócio-económica, o enquadramento legal do uso da internet, a infraestrutura
tecnológica, o sistema educativo e os valores culturais. De uma forma geral, este nível
de análise, engloba também o sistema de significados de uma determinada sociedade
onde se incluem, para além dos aspetos referidos, a confissão e práticas religiosas, as
subculturas presentes, as tensões entre liberdade e repressão social e o pânico
mediatizado associado à infância.
Como referido anteriormente, este modelo tem vindo a sofrer várias atualizações
ao longo do tempo ajustando-se aos dados que vão sendo obtidos e à identificação de
novas necessidades ao longo de tempo mas tem vindo a contribuir para ilustrar a
54
adolescente do género feminino. Estes dados apontam que analisando os cerca de 14%
dos/as jovens alvo de solicitações de cariz sexual, este valor revela uma diminuição para
ambos os géneros destes pedidos (11% para raparigas e 5% de rapazes) quando
comparado com dados passados da mesma pesquisa, ainda que as raparigas com idades
compreendidas entre os 14 e os 17 anos continuem a ser o principal grupo alvo.
Igualmente importante são as informações obtidas sobre a forma como os/as jovens
lidam com este tipo de solicitações, tendo sido possível perceber que, nos casos de
solicitações graves (contacto offline regular por email, telefone, solicitação para
encontro real), a maioria dos/as jovens bloqueou a pessoa solicitante ou saiu do
computador (66%), pediu para parar, confrontou ou ameaçou (16%) ou ignorou o
pedido (11%). Dados obtidos num estudo conduzido com professores/as (Davidson &
Martellozo, 2005) indicam que estes/as consideram o trabalho desenvolvido na área da
prevenção da violência sexual online apenas focado no alerta para os riscos virtuais
existentes poderá ser infrutífero se não for articulado com educação sexual mais
alargada sobre abuso sexual e comportamentos sexuais adequados. Assim, a
prevenção de experiências online causadoras de danos deverá ser multifacetada, na
medida em que diversas são as naturezas dos riscos que emergem no espaço virtual,
implicando a intervenção concertada e articulada de diferentes agentes, tais como
famílias, escolas, comunidades, indústrias e governos e uma atenção às vulnerabilidades
das crianças no âmbito online e offline (UNICEF, 2017b).
Porém, o alarmismo em torno do uso da internet pode trazer obscurantismo aos
benefícios da utilização dos espaços virtuais e constituir-se um retrator da agência
juvenil das raparigas. Cassell e Cramer (2008) mencionam que a redução do número de
casos de violência online contra jovens raparigas perpetrada por estranhos, bem como a
história da relação das mulheres com as comunicações e tecnologias, tem vindo a causar
pânico moral e desempoderamento das jovens mulheres em diferentes esferas e a limitar
a sua participação online em espaços e interações importantes para o seu
desenvolvimento, tais como a criação de redes sociais fora da família, a exploração de
identidades alternativas, a experimentação de posições de gestão e liderança (na gestão
de fóruns, blogues, etc.), a descoberta e expressão desejos sexuais, a demonstração de
domínio tecnológico e informático em ambientes virtuais que, em algumas situações, se
constituem envolventes dotadas de maior segurança e privacidade do que determinados
contextos físicos. Também a fact sheet publicada pelo European Institute for Gender
55
Equality (EIGE, 2018) sobre oportunidades e riscos da digitalização juvenil com base
no género sinaliza como medidas necessárias para a promoção de espaços seguros
online o reforço da inclusão da perspetiva de género nas políticas juvenis e digitais, o
reconhecimento do cyberbullying como violência de género e o apoio à plena
participação de jovens mulheres nos espaços digitais.
Desta feita, na abordagem aos riscos e oportunidades online, as perspetivas
apenas focadas na proteção dos/as jovens e, em especial das jovens mulheres, poderão
comprometer não só o pleno exercício dos seus direitos digitais mas também afastá-
los/as de oportunidades de crescimento e resistência associadas às tecnologias e ao
espaço virtual. Macedo (2007 as cited in Cerqueira, Ribeiro, & Cabecinhas, 2009)
enumera as potencialidades do ciberfeminismo na perspetiva de Dona Haraway,
sublinhando que as tecnologias poderão contribuir para a libertação das mulheres uma
vez que concedem oportunidades de redefinição e coexistência de identidades
alternativas livres do corpo.
1.2 O Desenvolvimento Sexual Juvenil na Era Digital
“Although I’m only fourteen, I know quite well what I want, I know who is
right and who is wrong. I have my opinions, my own ideas and principles,
and although it may sound pretty mad for an adolescent, I feel more
of a person than a child, I feel quite independent of anyone”.
Anne Frank
The diary of Anne Frank (2012, p. 149)
A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2018) enquadra o período da
adolescência entre os 10 e os 19 anos dividindo-o em dois momentos: um inicial,
compreendido entre os 10 e os 15 anos e, um outro que lhe segue, dos 16 anos em
diante. Compreendida como a transição da infância para a idade adulta, a adolescência
caracteriza-se por um conjunto de transformações biológicas, cognitivas, relacionais,
podendo também ser considerado um período de profundas mudanças sociais já que,
frequentemente, surge associado a uma crescente autonomia relativamente à família, à
entrada no mundo do trabalho e ao estabelecimento de relacionamentos de intimidade.
56
Enquanto transição, a adolescência é algo difícil de captar ou balizar com precisão,
sobretudo no que se refere ao seu início e término, sendo por vezes descrita por
oposição ou comparação com as etapas infantil e adulta do desenvolvimento humano.
Este desafio à sua delimitação torna-se particularmente interessante não só no que
respeita à sua localização exata do ponto de vista teórico mas também na sua aplicação
prática no desenho e opções metodológicas de intervenções junto dos/as jovens e,
naturalmente plasmado, nas vivências, discursos e práticas que nos trazem as suas auto-
perceções de “não ser uma coisa nem outra: não ser criança, nem adulto...”. Este estar a
caminho de ser (adulto/a), uma espécie de projeto on-going de edificação da identidade
foi descrito por Erikson (1968) quando apresentou esta etapa desenvolvimental como
crucial para a descoberta do Self. Lameiras et al. (2013) realçam a necessidade de não
entenderem a adolescência como única e universal para todos/as os/as jovens. Desta
forma, mais correto seria falarmos de adolescências e adolescentes já que esta etapa
ocorre de diferentes maneiras. Kimmel (2008) problematiza também o aparecimento de
uma nova etapa desenvolvimental, a adultescência, uma fase específica posterior à
adolescência mas ainda não totalmente considerada fase adulta, devido ao alargamento
temporal das sociedades contemporâneas. Segundo o autor, os motivos para o
aparecimento desta nova realidade prendem-se com o aumento da esperança média de
vida (e a diminuição da urgência em estabelecer compromissos a longo termo tais como
casamento, aquisição de casa, etc...), as mudanças económicas (altera a linearidade das
trajetori s profissionais), a emergência de estilos parentais “helicopte o” levando a que
as crianças sejam mais relutantes a correr riscos e menos resilientes e às mudanças ao
nível dos papéis sociais femininos que não foram acompanhadas por necessárias
mudanças nos papéis tradicionais de género masculinos.
Contudo, apesar dos desafios que apresenta o estudo da(s) adolescência(s), é
possível identificar alguns aspetos comuns a esta etapa no que se refere às
transformações fisiológicas e psicossociais dos/as jovens adolescentes. Desta feita, se ao
nível fisiológico estas mudanças caracterizam-se pelo despertar sexual, a orientação do
desejo face a outra pessoa e a descoberta da identidade sexual, no plano psicológico,
destaca-se a configuração da identidade pessoal e a edificação do eu face a outras
pessoas muitas vezes acompanhado de ansiedades e dúvidas. Frequentemente, estes
processos são pautados por tensões, pela perda da idealização das estruturas família e
escola (até então detentoras da autoridade) e, consequentemente, implicam um
57
redirecionamento da importância atribuída à família para o grupo de pares que passa a
ser tido em conta como principal referência na esfera social (Alegret, 2005). Torna-se
por isso útil compreender a adolescência com recurso a duas premissas: diversidade e
crise ou conflito. A primeira premissa exige que nas abordagens ao tema da
adolescência sejam tidas em conta três perspetivas (Funes, 2003):
- Diversidade das realidades sociais onde crescem os/as jovens: expressões
estéticas, culturas e subculturas juvenis de pertença, etc.;
- Não uniformização do processo maturativo;
- Diversidade das realidades, nomeadamente, ao nível das diferenças de
género que implicam diversas realidades de adolescências femininas e
adolescências masculinas;
A segunda premissa, diz respeito à crise ou conflito na adolescência, entendidos
com carácter positivo e associados à busca da identidade pessoal e sexual (Funes, 2003;
Lopez & Oroz, 1999). Lopez & Oroz (1999), referem que esta crise é evolutiva e
cultural. Assim sendo, é evolutiva na medida em que traduz as transformações
significativas de vários domínios, influenciando a forma como o/a jovem processa e
interpreta o mundo, as relações sociais que estabelece e as dinâmicas sexuais. Por sua
vez, é também cultural na medida em que, apesar das relutâncias em reconhecer os/as
jovens adolescentes como sexualmente ativos, a sociedade vai progressivamente
aumentando a liberdade para experiências e vivências tais como chegar mais tarde a
casa, passar noites fora de casa, incitar a relacionamentos de intimidade, sem, no
entanto, lhes proporcionar uma educação afetivo-sexual adequada.
Plummer (2010 as cited in McLelland, 2016) faz referência à necessidade de
proceder também a uma “generational-age-embodied analysis of sexuality” (p.176)
considerando que têm vindo a ser necessários estudos geracionais sobre sexualidade já
que, no decorrer do desenvolvimento sexual de uma geração, houve a influência de
fatores políticos, sociais, legais, culturais ou médicos que interagiram na construção
simbólica do seu repertório sexual. Desta feita, é também necessário proceder a uma
tentativa de captação das experiências e significados atribuídos pela geração Z às suas
vivências de intimidade. Apesar desta localização histórica social necessária, e para que
melhor possamos compreender o desenvolvimento afetivo-sexual da Geração Z, será de
59
perspetivas construtivistas em 3 abordagens: minimamente construtivistas,
marcadamente construtivistas e construtivistas radicais.
As primeiras, as abordagens minimamente construtivistas, constituem-se
respostas da psicologia tradicional à formação da identidade de género tendo emergido
sobretudo das correntes psicanalítica, comportamental e cognitiva. Estas abordagens
distanciaram-se pouco das abordagens essencialistas na medida que continuaram
influenciadas pelo determinismo biológico, o binarismo de género e mantiveram o foco
nas diferenças sexuais. As segundas, as abordagens marcadamente construtivistas
reconhecem interação entre sexo e género, transcendendo o predeterminismo e a rigidez
das anteriores e incidem, sobretudo, na influência psicossocial. Resultando de estudos
mais integrais, abertos e flexíveis, reconhece uma retroalimentação entre as categorias
sexo e género e sublinham o papel dos elementos ambientais e socializadores na
configuração da identidade sexuada. Estes contributos são provenientes da filosofia e da
psicologia e foram especialmente influenciados pelos movimentos feministas,
destacando-se dentro destes os contributos do trabalho de Simone Beauvoir (1949/2009)
em torno da desnaturalização do género. O trabalho desta autora fez questão de separar
sexo e género. Assim, problematizando o género como não natural apresentou um
enfoque na cultura e não na natureza para discutir os motivos que levariam as mulheres
a serem consideradas “o segundo sexo”. Simone de Beauvoir combinou influências do
existencialismo e do pensamento feminista para realizar uma denúncia contra a opressão
patriarcal que só poderá ser ultrapassada através da aplicação dos princípios de
liberdade, responsabilidade e individualidade para todas as mulheres.
Por último, as abordagens construtivistas radicais colocam toda a ênfase do
desenvolvimento da identidade de género na dimensão sociocultural da pessoa,
atribuindo grande parte da sua influência à cultura envolvente e considerando-a mutável
e dependente da subjetividade humana. Assim, o género varia de acordo com os
significados e interpretação que o entorno social e histórico atribuiu ao sexo biológico
mas delegando livre e voluntariamente à pessoa a construção da sua identidade de
género.
61
simultaneamente, significados sobre o que é ser jovem rapaz e rapariga. Várias destas
mensagens sociais de género estão imbuídas de conceções, expectativas e repertórios
comportamentais que determinam a forma como os/as jovens pautam os seus
comportamentos de acordo com o seu sexo biológico, ou seja, desenvolvendo
interesses, gostos, vocações que poderão estar, em maior ou menor extensão,
alicerçados em representações de género tradicionais e localizadas num dado momento
sociocultural e histórico. Estas representações constituem a base das construções
sociais de masculinidade e feminilidade e, por conseguinte, também poderosíssimos
prescritores de formas de ser-estar-relacionar socialmente mais aceites.
A construção das masculinidades
Um dos primeiros e mais influentes trabalhos no estudo das masculinidades é o
livro da australiana Raewyn Connell, publicado em 1995, intitulado Masculinities. Esta
obra oferece uma perspetiva feminista crítica sobre a construção da identidade
masculina e advoga a existência de diversas masculinidades relacionadas com diferentes
posições de poder e expectativas numa sociedade de privilégio masculino sobre
mulheres mas também hierarquizada entre rapazes e homens. Connell (1995) começa
por argumentar que, apesar de todas as sociedades terem expectativas relacionadas com
o género, nem todas têm o conceito de masculinidade. Desta feita, este conceito parece
estar relacionado com o conceito de feminilidade, obrigando a que as masculinidades só
possam ser entendidas na relação com as feminilidades: “masculinity and femininity are
inherently relational concepts, which have meaning in relation to each other, as a social
demarcation and a cultural opposition” (Connell 1995, p. 44). Indo um pouco mais além
nesta explicação, Paechter (2006) caracteriza-a de dual, na medida em que a
masculinidade se constituiria como aquilo que os rapazes e os homens fazem e a
feminilidade aquilo que fazem outros/as. Estas construções sociais exigem por isso um
enquadramento numa reflexão mais alargada sobre políticas de género entre homens e
mulheres e entre homens e homens tal como refere Kenway & Fitzclarence (1997). Por
este motivo Connell (1995) sublinha a necessidade de focar o trabalho de compreensão
da construção social da masculinidade nos processos e relações que homens e mulheres
estabelecem entre si e na forma como experimentam vidas genderizadas, acabando por
se referir também a um outro importante termo denominado masculinidade hegemónica.
62
A autora descreve a masculinidade hegemónica de uma forma simultaneamente
dominante e dominadora de ser homem: por via do exercício da influência e autoridade
no estabelecimento de relações dominação-subordinação de género e relativamente a
outras expressões de masculinidade, legitimando o patriarcado. Estas diferentes
expressões de masculinidade, denominadas de masculinidades subordinadas, são alvo
de repressão e opressão pelo grupo hegemon co que as “expulsaria do círculo da
legitimidade masculina” (p. 79).
Após terem sido alvo de críticas, Connell e Messerschmidt (2005) procederam à
revisão do conceito, reformulando que o cerne do conceito de masculinidades
hegemónicas deveria continuar a ser a pluralidade de masculinidades existentes e a
hierarquização entre elas e que o foco da sua compreensão deveria ser a hegemonia
criada e predominante em vez da sua redução ao exercício de dominação.
Acrescentaram ainda que esta hegemonia poderá não traduzir o completo quotidiano de
rapazes e homens, mas está presente na exaltação de figuras de referência e autoridade
masculina, mesmo que a maioria dos rapazes e homens não consiga responder ao
padrão imposto por estas expectativas.
De uma forma geral, e localizado no contexto ocidental, a uma masculinidade
hegemónica estão associadas ideias de força e resistência física, coragem e competição,
auto-controlo e confiança, maior domínio de competências instrumentais e de
performance pública e uma neutralidade emotiva por afastamento de ideias
diametralmente opostas de fragilidade, dependência, irracionalidade e emotividade
associadas ao género feminino. Nesta lógica, a definição da masculinidade hegemónica
faz-se por afastamento do que constitui o feminino, desvalorizando-o (Kenway &
Fitzclarence, 1997). Por outro lado, Thorne (1993) alerta para o viés de considerarmos
masculino certos aspetos que surgem em grupos dominantes em determinadas situações
e para a utilidade de falarmos nessa pluralidade enquanto masculinidades
hegemónicas/dominantes ou subalternas. Esta constatação permite-nos perceber, por
consequência, também a existência de grupos subalternizados (entre rapazes e homens)
resultantes de complexas interseções de variáveis. Desta feita, tal como alertam Coston
e Kimmel (2012) no trabalho realizado por homens com diversidade funcional,
homossexuais e da classe trabalhadora sobre as estratégias para reduzir, neutralizar ou
resistir à marginalização provocada pelas exigências dos padrões da masculinidade
63
hegemónica, a abordagem do privilégio social não deverá ser reduzida às duas posições
diametralmente opostas, de com ou sem privilégio. A sua compreensão exigirá assim
ser complexificada por via da análise da influência de outras variáveis tais como:
disability status, a sexualidade e a classe.
Debruçando-se sobre as suas dinâmicas, Brannon (1976) sistematiza quatro
regras de manutenção da masculinidade: “nada de mariquices, sê o maior, faz-te forte e
dá-lhes o inferno” (as cited in Kimmel, 2008, p.45-46) que parecem desincentivar os
jovens rapazes a desempenharem algum comportamento que possa remotamente
associar-se à do outro género, sob risco de não serem considerados verdadeiros homens
e a equiparar a riqueza financeira a poder. Estas “silenciosas” regras de masculinidade
parecem estar a contribuir para um empobrecimento das relações e interações sociais
entre mulheres e homens uma vez que não acompanham as mudanças ao nível dos
papéis tradicionais do género feminino, facilmente colidindo com a alteração de
algumas expectativas sociais provenientes das conquistas e passos emancipatórios dos
movimentos feministas.
Estando a igualdade de género comprometida com o combate a uma matriz
opressora machista, importa alertar que esta influencia negativamente a vida de todas as
pessoas, conduzindo-os a situações de desigualdades social, política e económica e
retirando a liberdade individual e coletiva. O distanciamento de uma masculinidade
hegemónica significa também o afastamento de uma posição social de poder, ainda que
simbólico, no seio das relações interpessoais (Paechter, 2006). A sua manutenção, por
outro lado, acarreta várias consequências no plano individual, interpessoal e coletivo
também denominadas de masculinidade tóxica. Apesar de não ser possível encontrar
uma definição comum de masculinidade tóxica, o termo pretende espelhar a
interconexão de normas, crenças e comportamentos associados à masculinidade que
poderão causar danos a mulheres, outros homens e a crianças. A denominação “tox ca”
relaciona-se assim com o potencial dano que poderá advir destes discursos e práticas
para o seu entorno (Sculos, 2017) como por exemplo, o assédio sexual, entendido por
Robinson (2005) como uma expressão de legitimação e reforço do status público e
privado da masculinidade hegemónica. Heilman e Barker (2018) consideram que esta
identidade e normas masculinas estão intimamente relacionadas com a violência
perpetrada ou sofrida por homens, sendo o grupo que apresenta uma maior
64
probabilidade de cometer crimes de violência, mas também de ser vítima de homicídio
ou suicídio. Mais ainda, identificam cinco processos de construção de masculinidades
que poderão aumentar a probabilidade de rapazes e homens experienciarem violência
por via da sua perpetração ou vitimação:
- Reconhecimento social da sua masculinidade: um processo que não só
exige a confirmação desse reconhecimento por parte de outros/as mas
também a sua constante reconfirmação;
- Policiamento da performatividade masculina: processo de vigilância da
performatividade de rapazes e homens em comparação com um ideal do
que é ser homem;
- “Genderização” do coração: silenciamento e redução da expressão
emocional dos jovens rapazes desde muito cedo no seu desenvolvimento
a uma conformidade com certas expressões consideradas apropriadas ao
género masculino;
- Divisão de espaços e culturas segundo o género: alguns espaços e
culturas decorrem da divisão de géneros propiciando oportunidades para
o ensaio e aprendizagem de comportamentos violentos;
- Reforço do poder patriarcal: por via da violência enquanto processo que
garante a manutenção do privilégio masculino sobre as mulheres e sobre
homens com expressões de masculinidade que não coincidem com os
padrões tradicionais e hegemónicos.
A construção das feminilidades
Como referido anteriormente, apesar de Connell (1995) considerar que o
conceito de masculinidade está intimamente relacionado com o conceito de
feminilidade obrigando a que as masculinidades só possam ser entendidas na relação
com as feminilidades, Paechter (2006) acredita que esta relação é de natureza dual, ou
seja, que não retrata dois termos que se relacionam em igualdade mas sim uma interação
onde um, a feminilidade, é negado para a tentativa de definição do outro termo
relacionado. Na verdade, vários/as autores/as definiram a feminilidade por ausência de
masculinidade (Kessler & McKenna, 1978). Para Paechter (2006) a construção social da
feminilidade afasta-se bastante do anteriormente abordado sobre construção da
65
masculinidade uma vez que, durante o seu processo de produção, não propicia o acesso
a posições de poder nem garantem a manutenção do patriarcado. Assim sendo, não
podemos falar de feminilidades hegemónicas, na medida em que a hegemonia implica a
ocupação de um lugar de poder. A hiperfeminilidade seria então o que a autora entende
como uma posição desprovida de poder sendo o resultado da relação dual com as
masculinidades que a “branquearam”, mas também do “reinado” das estruturas
patriarcais. Por outro lado, Schnurr, Zaysts e Hopkins (2016) não concordam com este
posicionamento sugerindo que a utilização do conceito feminilidade hegemónica poderá
demonstrar-se de grande interesse, sobretudo nos estudos sociolinguísticos para a
compreensão de realidades de determinadas mulheres (no caso deste estudo, das
mulheres que acompanham os seus maridos executivos expatriados em Hong Kong). No
seu trabalho diferenciam o carácter interno das feminilidades hegemónicas, ou seja,
sendo apenas dominantes em relação a outras feminilidades e não representando uma
posição de poder na ordem de género social, como por exemplo, feminilidades mais
relacionadas com maternidade constituem-se dominantes face a outras mais orientadas
para a carreira profissional, porém subalternas e legitimadoras de masculinidades
hegemónicas. Por este motivo, Kenway e Fitzclarence (1997) subscrevem a necessidade
de maior estudo sobre as feminilidades, nomeadamente as que se caracterizam por uma
maior subserviência, autossacrifício, abnegação relativamente ao género masculino uma
vez que poderão reforçar a expressão de masculinidades hegemónicas.
Se, por um lado, o distanciamento de uma masculinidade hegemónica significa
também o afastamento de uma posição social de poder, ainda que simbólico, no seio das
relações interpessoais. o distanciamento de uma feminilidade repleta de representações
estereotipadas de género significa o seu oposto, ou seja uma rejeição do
desempoderamento decorrente desta posição social (Paechter, 2006). A pesquisa de
Tolman, Impett, Tracy e Michael (2006) tentou perceber as relações entre a
interiorização de ideologias de feminilidade tradicionais, nomeadamente no que se
refere à inautenticidade no relacionamentos e à objetificação do corpo e a saúde mental
das jovens raparigas. Os dados desta pesquisa indicam a existência de uma relação entre
objetificação do corpo e baixa autoestima e humor depressivo. Adicionalmente,
constatou-se que a inautenticidade nos relacionamentos e a objetificação do corpo são
responsáveis por 50% da variação dos valores de humor depressivo e dois terços da
variação da autoestima. “Parecer bem” e “soar bem” são, na opinião das autoras,
66
estratégias ensinadas às jovens raparigas para o desejado êxito no cumprimento dos seus
papéis tradicionais de género que comprometem o bem-estar psicológico e diminuem o
seu “estar/sentir bem”. Por este motivo, é necessária uma educação promotora de uma
reflexão mais crítica sobre os custos da transmissão destas estratégias.
Ainda que de forma controversa, Paechter (2006) advoga que para tentar repor a
igualdade na relação dos conceitos de feminilidades e masculinidades seria aconselhado
admitir que ainda estamos longe de ultrapassar o binarismo de género na medida em
que menos frequentemente uma pessoa se define de outra forma. Porém, seria
importante compreender que a identidade de género apenas se refere à autoperceção
sobre ser homem, mulher ou outra categoria e pouco indica sobre a construção da
masculinidade ou feminilidade de uma pessoa.
A escola promotora de diferentes masculinidades e feminilidades
Estando a escola comprometida com a educação de cidadãos e cidadãs, mas
sendo também um espaço onde se verifica um alastramento de atos de violência, é
urgente refletir de que forma podem estes espaços implicar-se na construção de
masculinidades e feminilidades mais plurais. A escola é um dos principais agentes de
socialização na infância e é neste processo que se desenvolve uma importante parte da
construção das identidades basta para isso olhar para o jogo, como nos propõem Marín
(2018), enquanto uma atividade que pratica projetos de género para o futuro nos
processos de identificação (p. 38).
Para isto, é necessário que as intervenções realizadas possam ir além do carácter
universal, frequentemente comum à prevenção, mas possam operar ao nível dos
sistemas ideológicos e de valores escolares (Kenway, Fitzclarence, & Fahey, 2010).
Apesar de a escola apresentar um potencial enorme na prevenção da violência e na
desconstrução de masculinidades e feminilidades restritas e socialmente castradoras, a
questão central e, talvez mais difícil de explorar, são as formas que deverão adotar para
este fim.
Robinson (2005) aponta a necessidade de as escolas colocarem nas suas
prioridades o combate à violência de género e ao assédio em meio escolar enumerando
algumas das necessidades ao nível da prática educativa recomendando uma aposta
67
consistente na desconstrução de discursos que reforcem a masculinidade hegemónica e
o binarismo de género simultaneamente subalternizando expressões que se afastam dela.
Esta desconstrução, acrescenta, deverá ser conduzida através de programas que
promovam: 1) a credibilidade de outras masculinidades alternativas, nas quais se
incluam masculinidades não-heterossexuais e menos violentas; 2) a consciencialização
sobre a relação entre a masculinidade hegemónica e o fenómeno de violência sexual; 3)
a capacidade dos/as jovens se compreenderem em constante mudança e reconhecerem a
constante negociação e renegociação de status nas suas relações interpessoais.
Também Marín (2018) enumera tarefas para a desconstrução da masculinidade
hegemónica destacando a valorização da ética de cuidado que incluiu a preocupação e a
responsabilidade pelo/a outro/a, a exploração das masculinidades enquanto modelo de
humanidade de forma a melhor perceber a necessidade de uma cedência de privilégios e
a preparar um tempo sem visibilidade ou reconhecimentos, a disputa dos mitos e
crenças associados à masculinidade hegemónica, o aprofundamento das masculinidades
enquanto subjetividades naturalmente associadas ao poder com impacto no corpo e, por
último, o combate à violência masculina e aos seus privilégios.
Torna-se por isso necessário uma cultura escolar que não subscreva e apoie
masculinidades hegemónicas que naturalizam a violência e a subalternidade do género
feminino. Da mesma forma são necessárias abordagens educativas que não façam uma
intervenção meramente racional sobre a violência nem reforcem o privilégio social do
masculino rejeitando simultaneamente estruturas de organização em torno de relações
opressivas entre crianças e adultos. Também o desenvolvimento de juízos críticos
juvenis que possam alicerçar as competências de autonomia e responsabilidade das
crianças e dos/das jovens e o combate à marginalização de grupos específicos dentro da
comunidade escolar, evitando a sua discriminação, são urgentes e necessários para uma
intervenção escolar que possa construir masculinidades e feminilidades capazes de
conviver em situação de igualdade (Kenway et al., 2010). A par da importância dos
contextos escolares na socialização de crianças e jovens, o subcapítulo que se segue visa
também estimular a reflexão sobre o papel de socialização desempenhado pelos media
no processo de desenvolvimento afetivo sexual juvenil.
69
trabalhos de Marín (2015) e Marín e Vásquez (2014) consta-se que em vários jogos as
personagens femininas são poucas, apresentam imagens corporais altamente
sexualizadas ou mesmo vestuário não condicente com os cenários de jogo e reforçam
papéis tradicionais de género (por exemplo a necessidade de ser salvas). Por outro lado,
as personagens masculinas respondem a padrões hegemónicos associados a perpetuação
de estereótipos sobre poder (conseguir um bom carro, boas roupa), à busca de sexo e ao
reforço da auto-estima através da violência contra as mulheres. Estas possibilidades, de
cenários sedutores e irrealistas, incorporam as mulheres numa cultura de consumo
perpetuando visões sobre a sexualidade alienadas, mercantilizadas e narcisistas. Esta
realidade tem também vindo a ser alvo de denúncias por parte da Amnistia Internacional
(2004) que verifica que vários videojogos remetem as mulheres para personagens
passivas ou vítimas da história que enquadra o jogo. Neste sentido os seus papéis são
frequentemente secundarizados e invisibilizados ou tornam-se vítimas da submissão aos
desejos masculinos que, em alguns videojogos, culminam em violações, torturas ou
assassinatos.
Porém, se por um lado o espaço virtual veicula desigualdades através da
linguagem e de meios potenciadores da fetichização e sexualização dos corpos
femininos contribuindo para a manutenção da cultura patriarcal no espaço online
(Menezes & Cavalcanti, 2017) é, simultaneamente, como indicam Buhi, Daley,
Fuhrmann e Smith (2009) o espaço onde os/as jovens mais procuram informações sobre
saúde sexual, sendo estas mais procuradas do que qualquer outro tipo de informação.
É por isso crucial tomar em consideração esta dupla responsabilidade dos media.
Assim sendo, importa perceber de que forma estes dois aspetos do mundo online
poderão interagir combatendo ou perpetuando papéis sexuais de género e desigualdades
na intimidade dos/as jovens tendo em conta que, quando desprovidos de uma educação
para a sexualidade holística, integral e de qualidade promovida pelos principais agentes
educativos (família e escola), recorrem à internet como substituto de referência.
Em primeiro lugar importa, tal como sugere o Report of the APA Task Force on
the Sexualization of Girls (APA, 2007), distinguir entre sexualidade saudável e
componentes do processo de sexualização. Assim, tal como se descreve:
70
A sexualidade saudável é uma componente importante da saúde física e
mental, promove a intimidade, a ligação emocional e o prazer compartilhado,
e envolve o respeito mútuo entre parceiros que consentem (Satcher, 2001;
COnselho de Educação e Informação sobre Sexualidade dos Estados Unidos
[SIECUS], 2004). Por outro lado, a sexualização ocorre quando: o valor de
uma pessoa provém apenas da sua atratividade ou comportamento sexual, em
detrimento de outras características; uma pessoa é mantida em um padrão
que iguala a atratividade física (definida estiratmente) a ser sexy; uma pessoa
é sexualmente objetivada – isto é, transformada em algo para uso sexual de
outras pessoas, em vez de ser vista ocmo uma pessoa com capacidade de
ação e tomada de decisão independentes; e/ou a sexualidade é
inadequadamente imposta a uma pessoa. (p.1)
Este relatório deixa claro que rapazes e raparigas, homens e mulheres podem ser
sexualizados/as e que para que a sexualização ocorra pode estar presente apenas uma
das condições acima referidas.
Os impactos da sexualização de jovens raparigas podem fazer-se sentir em
diferentes áreas, podendo estar associados à diminuição da saúde física, mental e sexual,
comprometimento cognitivo, ansiedade e insatisfação relacionada com a imagem
corporal, construção de crenças e atitudes estereotipadas sobre feminilidades e papéis
sexuais femininos e contribuir para a exploração sexual de raparigas. Sublinhe-se
também que estes impactos se fazem sentir nos rapazes e homens uma vez que
conduzem à construção de ideais femininos irracionais e que se constituem como
obstáculos ao seu investimento na construção de relacionamentos íntimos satisfatórios.
A sexualização de jovens raparigas tem impacto também nas mulheres adultas na
medida em que também idealiza a juventude enquanto a única etapa de vida repleta de
vitalidade e aparência física capaz de responder a padrões de beleza tradicionais. Por
último, os principais impactos sociais prendem-se com a manutenção de sexismo das
relações sociais de género e a perpetuação de desigualdades nos diferentes âmbitos
sociais, e consequentemente, a proliferação do assédio sexual no contexto escolar,
violência de género e a exploração sexual de raparigas (APA, 2007).
Em segundo lugar, é crucial problematizar os dados da procura de informação
sobre conteúdos relacionados com saúde sexual juvenil online e perceber como poderão
71
os meios digitais constituir-se veículos de informação adequada e pertinente para os
jovens (Saskatchewan Prevention Institute, 2015).
A procura de informação sobre saúde sexual online permite aos/às jovens uma
exploração dos conteúdos com privacidade e à medida das necessidades individuais. No
entanto, apesar de os/as jovens revelarem preocupação com a qualidade e rigor da
informação de carácter sexual que procuram, existe pouco conhecimento sobre quais as
fontes online, em que medida a pornografia é considerada uma fonte de informação
credível (Livingstone & Mason, 2015) e qual o impacto desta pesquisa (Saskatchewan
Prevention Institute, 2015). Não obstante, “os novos” media proporcionam o acesso
dos/as jovens a informação e discussões sobre uma maior diversidade de
comportamentos sexuais e conduzem-nos/as a familiarizarem-se com temas que podem
causar desconforto ou embaraço, com os seus próprios corpos e aprendizagens sobre
diferentes práticas sexuais (Boyar et al., 2011; Brown et al., 2009; Levine, 2009 as cited
in Saskatchewan Prevention Institute, 2015).
Esta informação é relevante para todos/as os/as jovens mas adquire especial
importância para jovens provenientes de meios socioeconómicos mais desfavorecidos e
para a juventude LGBTQI+ (Livingstone & Mason, 2015). Tal como defendem Van
Doorn e Van Zoonen (2008), ao mesmo tempo que a internet reforça ideias tradicionais
sobre mulheres e homens, permite a transgressão às masculinidades e feminilidades (as
cited in Cerqueira et al., 2009)
Uma das questões centrais a ser problematizada prende-se com a exposição
dos/as jovens não só à informação sobre saúde sexual mas também a outro tipo de
conteúdos sexuais, de forma intencional ou não, tais como a pornografia que tendem a
veicular scrips sexuais tradicionais de género. Estes scripts implicam necessariamente
que as raparigas se vejam confrontadas com a escolha entre performances hiper-
feminilizadas ou fora do socialmente esperado. De igual modo, também a exposição dos
rapazes ao reduzido repertório comportamental das masculinidades hegemónicas,
encoraja a uma performance de género emocionalmente esvaziada e, eventualmente,
mais agressiva. A exposição a este tipo de conteúdos tende a reforçar expectativas
irrealistas e duplos padrões para rapazes e raparigas (Livingstone & Mason, 2015).
72
De forma a melhor cuidar do desenvolvimento afetivo-emocional e dos direitos
juvenis sexuais, é necessário a inclusão de estratégias políticas que incorporem
(Livingstone & Mason, 2015):
- O reconhecimento de direitos: resultantes do uso da internet tais como o
direito à informação, expressão e experiência e o direito à associação
contemplados na Convenção dos Direitos da Criança;
- O reconhecimento da voz e opinião de crianças e jovens: por via da
audição, auscultação e incorporação das suas opiniões nos debates e
recolha de informação e a sua participação da delineação de estratégias
educativas sobre esta matéria;
- Melhorias educativas: a inclusão de uma educação sexual abrangente e
compreensiva nos curricula desde cedo, garantindo a articulação de
conteúdos sobre saúde sexual e reprodutiva bem como o acesso à
educação noutros domínios tais como emoções, consentimento,
identidade, dinâmicas relacionais saudáveis e não saudáveis, fontes de
informação de qualidade e ferramentas de análise crítica sobre os media;
- Apoio parental: promovido por entidades governamentais e escolares que
possam dotar as figuras parentais não só de conhecimento e competência
para acompanhar o desenvolvimento afetivo-sexual dos/as jovens, mas
também recursos e ferramentas adequadas que possam capacitar esta
tarefa;
- Políticas apoiadas em evidência empíricas e um investimento na
investigação e desenvolvimento de abordagens de capacitação das
figuras parentais no acompanhamento e promoção de usos adequados das
tecnologias de informação de crianças e jovens;
- Investigação qualitativa com foco nas perspetivas e opiniões juvenis
sobre a temática.
75
Sinopse
Este capítulo debruça-se sobre a violência nos relacionamentos de intimidade
juvenil pretendendo captar e caracterizar a emergência de formas de vitimação
associadas ao mundo online e à utilização de dispositivos tecnológicos. Adicionalmente,
tem como objetivo reflectir sobre a importância da participação juvenil nas políticas
públicas de combate às desigualdades de género na intimidade. De forma a cumprir
estes objetivos, o presente capítulo divide-se em três partes.
A primeira parte explora os relacionamentos de intimidade juvenil partindo de
uma reflexão sobre a intimidade na pós-contemporaneidade e as suas (re)configurações.
Neste sentido, desde os valores contemporâneos são abordadas as mudanças que se
fazem sentir na esfera da intimidade e a emergência de novas formas e terminologias
descritivas associadas aos relacionamentos de intimidade sendo também problematizada
a necessidade de alargamento do termo de relações de namoro para melhor capturar e
compreender a(s) realidade(s) juvenil.
Na segunda parte é feita uma incursão na violência na intimidade juvenil
partindo de uma redesenha sobre a sua prevalência a nível internacional e nacional e
enquadrando-o fenómeno na abordagem feminista, aprofundando em particular o papel
das crenças e atitudes juvenis face à violência no namoro e dos mitos sobre o amor e
posteriormente, a ciberviolência nos relacionamentos de intimidade juvenil. De
seguinda são abordados os dados sobre comportamentos de sexting juvenil, as
motivações e atitudes associadas assim como os seus riscos e consequências quando
relacionados com situações de abuso digital na intimidade.
Por último, termina com uma terceira parte dedicada à participação juvenil nas
políticas públicas de combate à violência nos relacionamentos de intimidade, iniciando-
se com uma localização do direito a uma vida livre de violência no âmbito da cidadania
de intimidade, mapeando directrizes e políticas no território português de promoção de
igualdade de género e apresentando diferentes modelos de promoção da participação
cívica juvenis, os seus constrangimentos e potencialidades e, por fim refletindo acerca
da invisibilidade da participação cívica das raparigas.
77
nomeadamente, da valorização do desenvolvimento técnico e do individualismo, mas de
uma forma ainda mais proeminente (Cruz, 2013). Para descrever a atual fase de Pós-
modernidade, o filosofo recorre ao prefixo “hiper” para ilustrar uma era de crescimento
em massa do consumo e dos valores individualistas: o hiperconsumo e o
hipernarcisismo emerge no cerne de uma Modernidade “ao quadrado ou superlativa”
(p. 49) e organiza-se em torno das transformações sentidas no domínio democrático-
individualista e nas dinâmicas do mercado económico e da tecnociência. Este
crescimento desmesurado é experimentado então em todas as esferas de vida da pessoa,
impondo-se não só na área económica e tecnológica, mas também na social e individual,
através de um vertiginoso aumento de manifestações que compõem uma atual cultura de
excesso(s): redes sociais, ciberespaço, pornografia, desportos radicais, comportamentos
de risco, obesidade, entre outras (Lipovetsky & Serroy, 2009).
Face à incapacidade de acompanhar e/ou travar a rapidez da modernização à sua
volta, as pessoas desenvolvem vazios que coexistem com a “espetacularização” do
meio que as rodeia. Estes vazios impulsionam buscas individuais de sentido,
valorização do Eu e supressão de desejos individuais por via da massificação do
consumo e dos meios de comunicação (Lipovetsky & Charles, 2004).
Nesta compreensão da Hipermodernidade, importa também proceder à distinção
entre os constructos de individualismo e egoísmo, já que são frequentemente utilizados
como sinónimos em abordagens de caráter moral. Na abordagem antropo-histórica que
propõe, Lipovetsky refere-se ao individualismo enquanto a soberania da pessoa as leis e
sobre si mesma, tornando-a assim, livre e igual a todas as outras pessoas e a reguladora
da sua vida. Neste sentido, o individualismo aproxima-se mais do constructo liberdade
e menos do de egoísmo, que diria mais respeito à valorização do Eu em detrimento
detrimento da valorização do Outro (Fronteiras do pensamento, 2019).
Tal como escreve Sébastien Charles na introdução que faz ao pensamento de
Lipovetsky, “Os indivíduos hipermodernos são ao mesmo tempo mais informados e
mais desestruturados, mais adultos e mais instáveis, menos ideológicos e mais
tributários das modas, mais abertos e mais influenciáveis, mais críticos e mais
superficiais, mais cépticos e menos profundos” (Lipovetsky & Charles, 2004, p. 27).
78
Este hipernarcisismo suplanta o individualismo dos anos pós-modernos, como
nos explicam Lipovetsky e Charles (1994):
O que mudou principalmente foi o ambiente social e a relação com o
presente. A desagregação do mundo da tradição é vivida não mais sob o
regime da emancipação, e sim sob o da tensão nervosa. É o medo que
importa e o que domina em face de um futuro incerto; de uma lógica da
globalização que se exerce independentemente dos indivíduos; de uma
competição liberal exacerbada; de um desenvolvimento exacerbado das
tecnologias da informação; de uma precarização do emprego; de uma
estagnação inquietante do desemprego num nível elevado. Nas décadas
de 60 ou 70, quem teria pensado em ver nas ruas, como se vê hoje, um
Narciso de vinte anos a defender a sua aposentadoria quarenta anos antes
de beneficiar dela? O que poderia ter-se assemelhado estranho ou
chocante no contexto pós-moderno nos parece hoje perfeitamente
normal. Narciso é doravante corroído pela ansiedade; o receio se impõem
ao gozo, e a angústia, à libertação. (p. 28)
A exaltação do individualismo nas sociedades hipermodernas conduz,
irremediavelmente, à diminuição das experiências e forças comunitárias, debruçando-se
a pessoa mais sobre si mesma e, consequentemente, aumentando a sua fragilidade e
perceção de isolamento. A visão do autor não demoniza a era hipermoderna, porém
alerta-nos para o paradoxo que esta encerra, vislumbrado nesta dualidade o vazio e o
excesso, isto é, quanto mais vazio, mais desejo.
Com uma visão significativamente menos otimista, apresentam-se os contributos
sobre a Pós-modernidade de Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo polaco, que se
debruçou sobre a compreensão e análise das sociedades modernas e das transformações
sociais decorrentes dos avanços tecnológicos. Neste subcapítulo, colocou-se o foco na
sua análise sobre as mudanças operadas nos relacionamentos de intimidade que foram
alvo de ampla exploração em duas das suas principais obras: Amor Líquido, sobre a
fragilidade dos laços humanos (Bauman, 2004), e Vida para Consumo, acerca da
transformação das pessoas em mercadoria (Bauman, 2007).
79
Bauman (2007) reflete sobre o impacto da modernidade, caracterizada pela
rapidez, mudança, imprevisibilidade e incerteza, considerando que influencia
negativamente a qualidade dos relacionamentos humanos (quer da pessoa consigo
mesma, quer com os/as outros/as). O autor distingue duas épocas na Era Moderna: a
modernidade pesada ou sólida e a modernidade leve ou líquida. A primeira época
inspirou-se nos valores humanistas e da revolução francesa, foi introduzida pelas
mudanças ligadas ao capitalismo e pretendeu romper a organização social tradicional
que oferecia poucas oportunidades à mobilidade social de pessoas. A esta época seguiu-
se a modernidade líquida, que espelha uma atualidade pautada pela inexistência de
certezas, outrora vividas, em constante avanço científico e tecnológico. A escolha da
metáfora líquida tem como objetivo o retrato de uma realidade fluída, em constante
mudança e facilmente adaptável a qualquer nova forma envolvente, relativamente aos
seus valores, regras e ideais. Estas características generalizam-se também nas relações
interpessoais estabelecidas, reconfigurando-se em conexões humanas mais frágeis,
instáveis e com maior potencial de serem rompidas. Tal como descreve Bauman (2004,
p. 6): “A modernidade líquida em que vivemos traz consigo uma misteriosa fragilidade
dos laços humanos – um amor líquido. A segurança inspirada por essa condição
estimula desejos conflitantes de estreitar esses laços e ao mesmo tempo mantê-los
frouxos”.
Nesta cultura imediatista e de curto prazo, a satisfação de desejos e necessidades
humanas devem ser obtidos o mais rapidamente possível, deteriorando processos
humanos de organização, planificação e investimento a longo prazo, ora reproduzindo,
ora tornando-se uma extensão da sociedade de consumo (Bauman, 2007).
Já no campo da aplicação dos seus anteriores contributos às mudanças que se
faziam sentir nos relacionamentos de intimidade, o autor cunha o termo “amor líquido”
que se prende com a angústia e ambivalência afetivas experienciada pelas pessoas: se
por um lado buscam as outras devido ao medo de solidão, por outro mantêm uma
distância que permita estar pronto e aberto para outras potenciais oportunidades
relacionais.
Ilustrando homens e mulheres contemporâneos, Bauman (2004) descreve:
80
(...) desesperados por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos
e sentimentos facilmente descartáveis, ansiando pela segurança do
convívio e pela mão amiga com que possam contar num momento de
aflição, desesperados por “relacionar-se” e, no entanto desconfiados da
condição de “estar ligado” em particular de estar ligado
permanentemente para não dizer eternamente, pois temem que tal
condição possa trazer encargos e tensões que eles não se consideram
aptos nem dispostos a suportar, e que podem limitar severamente a
liberdade de que necessitam para (...) relacionar-se (...). No nosso mundo
de furiosa “individualização”, os relacionamentos são bênçãos ambíguas.
Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como determinar quando
um se transforma no outro. Na maior parte do tempo, esses dois avatares
coabitam embora em diferentes níveis de consciência. No líquido cenário
da vida moderna, os relacionamentos talvez sejam os representantes mais
comuns, agudos, perturbadores e profundamente sentidos da
ambivalência. (p. 9-10)
O acesso incondicional a novas oportunidades relacionais que se afigurem como
mais interessantes e apelativas, facilita a substituição sucessiva de ligações anteriores
menos satisfatórias retrata a fragilidade dos laços afetivos estabelecidos na era líquida e
a génese da velocidade e angústia que pautam a fragmentação dos vínculos sociais
atuais.
Neste sentido, Bauman (2004) indica que as relações online podem ser uma
armadilha na medida em que os relacionamentos interpessoais na Era Moderna tendem
a reconfigurar-se, podendo ser vividos a partir de modelos de mercado, ou seja,
apoiando-se no mesmo desejo de consumo individual da relação consumidor/a-produto.
Assim, esta log ca de mercado procede a uma “colonização” (p. 35) dos
relacionamentos humanos, estendendo-se e estruturando o seu estabelecimento,
manutenção e rutura (Bauman, 2007).
Em contraste com o passado:
as relações online (...) parecem feitas à medida para o líquido cenário da
vida moderna, em que se espera e se deseja que as possibilidades
82
expressões tais como o ficar (Ribeiro, Avanci, Carvalho, Gomes, & Pires, 2011), mais
frequente na literatura e estudos disponíveis em português do Brasil, ou o hook-up, mais
recorrente nos estudos em língua inglesa, povoam os discursos dos/as jovens referindo-
se, também estas, a construções íntimas juvenis. Não só nas línguas portuguesa e
inglesa ocorre esta pluralidade semântica, mas também Hamby, Nix, De Puy e Monnier
(2012), no âmbito de uma avaliação da adaptação cultural de um programa de
prevenção de violência no namoro, de origem americana, referem a não existência de
uma palavra em francês suíço com significado equivalente a dating. Os/As jovens e
profissionais suíços/as participantes nos focus groups conduzidos para este efeito
preferiram a utilização de termos em língua francesa mais casuais e com menos
compromisso que dating para se referirem a relacionamentos de intimidade juvenis.
Os/as mesmos/as autores/as verificaram que, apesar de amplamente utilizado nos EUA,
a designação de namorado ou namorada, tem vindo a ser substituída por novas
expressões emergentes tais como significant other, partner, long term companion (p.
40). Esta não correspondência dos termos utilizados na adaptação de programas de
prevenção a diferentes realidades culturais e às transformações contemporâneas poderá,
inevitavelmente, condicionar o alcance e propósitos dos mesmos. Ainda que
permaneçam em número escasso, o interesse sobre estas nuances discursivas, bem como
pelas diferentes perceções e significados juvenis atribuídos, tem levado a um aumento
do número de estudos sobre diferentes interações íntimas.
Deste facto, são exemplo os estudos sobre a “hook up culture”, a maioria dos
quais provenientes dos E.U.A e conduzidos com jovens universitários. Este termo diz
respeito a um vasto leque de comportamentos de intimidade que poderão variar entre
beijar a ter relações sexuais, usualmente, com um/a parceiro/a com a qual não se
vislumbra uma relação íntima de maior compromisso. Desta feita, constitui-se uma
forma de estabelecer relacionamentos de intimidade alternativos às tradicionais relações
de namoro (Recalde, 2016), sendo frequentemente motivado pela gratificação sexual
(Owen, Fincham, & Moore, 2011) e representando uma mudança na abertura e
aceitação de relações sexuais não comprometidas (Garcia, Reiber, Massey, &
Merriwether, 2012). Garcia e Reiber (2008) apresentam uma definição de hook up:
é uma interação sexual espontânea na qual: 1) as pessoas estão
explicitamente numa relação romântica não tradicional um/a com o/a
83
outro/a (como por exemplo, não namoram), 2) não existem acordos à
priori sobre os comportamentos a ocorrer, e 3) explicitamente não existe
uma promessa de um relacionamento intimo ou amoroso posterior. (p.
196)
Estima-se que cerca de 60% a 80% dos/as estudantes universitários norte-
americanos/as já tiveram alguma experiência de hook-up (Garcia et al., 2012).
Investigações conduzidas com mais novos, apontam para cerca de 70% dos/as jovens
sexualmente ativos com idades entre os 12 e os 21 anos terem tido relações sexuais sem
compromisso (Grello, Welsh, Harper, & Dickson, 2003) e para 61%, com idades que os
situam entre o 7º e o 11º ano, terem tido algum tipo de encontro sexual fora de um
relacionamento de namoro (Manning, Giordano & Longmoro, 2006 as cited in Garcia et
al., 2012).
Uma outra pesquisa (Currier, 2013) debruçou-se sobre a ambuiguidade do uso
do termo hook up, constatando que rapazes e raparigas usam esta designação recorrendo
a estratégias diferenciadas em função do género e confirmando que, enquanto os
rapazes utilizam hook up para intencionalmente comunicarem terem tido relações
sexuais, muitas das raparigas que participaram neste estudo utilizam-no com o objetivo
contrário, ou seja, para comunicarem que não tiveram relações sexuais.
O aprofundamento do conhecimento sobre as experiências de hook up beneficia,
tal como defendem Garcia et al. (2012) de um cruzamento interdisciplinar dos
paradigmas da biologia evolutiva e sociocultural. A análise destas experiências deverá,
desta forma, complexificar e decorrer a diferentes níveis de análise tendo em conta que,
tal como referem algumas das investigações anteriormente citadas, as experiências de
hook up parecem pautar-se de mais laços emocionais e ligações afetivas do que o que
sugerem os discursos públicos. Na verdade, em muitas destas vivências, uma das
pessoas desenvolve afetos íntimos e de amizade ou até sentimentos não correspondidos,
apesar da diretriz, mais ou menos discutida, de separação entre sexo e emoção.
Não obstante a sua escassez nos estudos conduzidos sobre a realidade
portuguesa, é possível ouvir, nos discursos juvenis sobre a temática, a utilização de
verbos tais como andar ou estar, para ilustrar diferentes formas de ter relacionamentos
de intimidade juvenil. Estes termos são percecionados frequentemente por alguns
84
adultos/as e jovens com menor compromisso associado quando comparados com os
relacionamentos de namoro, mas constituem-se, de igual modo, importantes
experiências íntimas do desenvolvimento emocional e afetivo-sexual juvenil.
Desta forma, será feita uma tentativa de aproximação aos relacionamentos de
namoro e, posteriormente, tecidas considerações sobre as suas limitações e implicações
para a prática académica e intervenção psicoeducativa, terminando com a justificação
da utilização do termo Relacionamentos de Intimidade Juvenil na condução da presente
investigação.
Tal como já referido anteriormente, a maturação sexual e os primeiros
relacionamentos afetivos são aspetos centrais da adolescência. Frequentemente, as
relações de namoro designam as relações amorosas dos adolescentes, no entanto, tal
como refere a OMS (1986 as cited in Eisenstein, 2005), namoro e adolescência não são
sempre coincidentes, uma vez que nem sempre estas relações acontecem só na
adolescência, podendo acontecer em qualquer etapa da vida adulta com e sem
coabitação.
Contudo, como referem Bowen & Walker (2015) não há definição legal de
relações de namoro. Iconis (2013) considera que as relações de namoro são relações de
intimidade entre duas pessoas que não têm uma relação conjugal ou marital. Sugarman
e Hotaling (1991) consideram que o namoro engloba três dimensões: compromisso,
interação futura e intimidade física. Outros/as autores/as acrescentam ainda a
estabilidade (Bertoldo & Barbará, 2006), e uma maior abertura ao público e um maior
compromisso e vínculo às características destas relações (Ribeiro et al., 2011). Béjin
(1897) faz referência a duas visões sobre o namoro: uma pré e outra pós-revolução
industrial. A primeira consistia na etapa, geralmente curta e com supervisão parental, do
relacionamento amoroso até ao casamento. A segunda, presente ainda na atualidade e
mais diversa, enquadra diferentes formas de vivências amorosas, mais ou menos
duradouras, com ou sem coabitaçãoo.
Bertoldo e Barbará (2006) estudaram as representações de jovens universitários
sobre relações de namoro tendo encontrado que a amizade é descrita como aspeto
central, interligando-se com outros elementos tais como cumplicidade, confiança e
amor. Este papel central da amizade sugere, segundo os/as autores/as, representações
85
juvenis mais igualitárias e apoiadas na mutualidade e parceria enquanto satisfatórias
para ambas as pessoas. Não obstante, os dados obtidos neste estudo permitiram
encontrar diferenças de género nas representações de namoro, tendo as raparigas
enfatizado mais elementos relacionados com a confiança e afeto e os rapazes com o
sexo.
No seu trabalho, Silva, Paulos e Maia (2018) distinguem ficar e namoro,
apontando que o primeiro se prende mais com a atração física e que o segundo se
constuitui um relacionamento mais íntimo e regular, mais próximo da realidade
familiar, podendo envolver o conhecimento e relacionamento com as figuras parentais
do/a namorado/a.
Por outro lado, Justo (2005) refere-se aos relacionamentos de namoro enquanto
etapa posterior ao ficar (que diria assim respeito a um momento inicial de intimidade),
que coloca os/as jovens face ao conflito entre a promessa de segurança, fidelidade,
confiabilidade e durabilidade, e a promessa de independência, autonomia, realização e
diversidade. A utilização deste termo, estaria assim, intimamente relacionada com
noções de efemeridade e encurtamento temporal. Porém, não se podendo compreender
apenas como uma moda ou uma vivência relacional superficial e isolada, mas uma
expressão de novos paradigmas relacionais presentes nas sociedades contemporâneas.
Ribeiro et al. (2011) referem que os relacionamentos de intimidade juvenil são
delineados mediante parâmetros que podem constituir pólos antagónicos: compromisso
- não compromisso, longa duração - curta duração, intimidade – superficialidade,
envolvimento emocional - não envolvimento emocional e exclusividade - não
exclusividade. São estes parâmetros que, de uma forma mais ou menos consciente, estão
na base da diversidade dos relacionamentos de intimidade juvenil.
Os desafios ao nível da delimitação do conceito de relação de namoro, bem
como das inúmeras nuances que poderá conter, estravazam para o estudo sobre a
violência na intimidade. Por este motivo, Oliveira e Sani (2005) sublinham a
importância de operacionalizar este constructo, especialmente no que se refere à
investigação sobre violência nas relações amorosas. Também Rodrigue e Fernet (2016)
sublinham a necessidade de estudar a vitimação física, emocional e sexual nos
relacionamentos mais casuais bem como o entendimento do consentimento e as
experiências de intimidade sexual associadas a consumo excessivo de álcool. Estas
87
do nível da vitimação e perpetração de atos abusivos, principais fatores de risco e
consequências associadas.
Os estudos de prevalência da violência no namoro têm apresentado taxas com
grande variação que poderão ir dos 12,1% (Henton, Cate, Royal, Lloyd, & Christopher,
1983) aos 72,4% (Aldrighi, 2004) (as cited in Caridade & Machado, 2013). Esta
variabilidade parece estar relacionada com as diferentes opções metodológicas
(Caridade & Machado, 2012) presentes nos estudos conduzidos sobre a temática. Estas
opções poderão também compreender diferentes definições de violência no namoro e,
consequentemente, implicações destas perspetivas na determinação das práticas
abusivas avaliadas. Por exemplo, alguns estudos excluem a violência sexual da
conceptualização de violência no namoro (O’Keefe, 2005) e outros não diferenciam a
vitimação e perpetração, medindo apenas a exposição a atos violentos (Sugarman &
Hotaling, 1989). Apesar destes contrangimentos, a maioria da literatura disponível sobre
prevalência da violência no namoro tem vindo a ser unânime no reconhecimento da
elevada frequência, extensão e gravidade na vida dos/as adolescentes, quer na forma
perpetrada, quer na forma sofrida (Neves, Correia, Torres, Borges, Silva, & Topa, 2018;
Nicodemus, Davenport, & McCutcheon, 2009; O’Keefe, 2005; Wincentak, Conolly, &
Card, 2016 ).
Evidências empíricas internacionais
Tal como referido anteriormente, o estudo de Makepeace (1981) é considerado
pioneiro na tentativa de melhor compreender a violência nos relacionamentos de
intimidade, uma vez que alertou que esta problemática ocorria também nas vidas de
jovens universitários/as e impulsionou a investigação académica posterior sobre o
assunto. Cerca de vinte anos depois, um estudo representativo, com a participação de
7824 raparigas americanas a frequentar o ensino entre o 9º e o 12º ano, concluiu que
uma em cada dez raparigas mencionou ter vivido violência não se tendo encontrado
taxas de prevalência mais elevadas nas alunas do 12º ano (Howard & Wang, 2003).
Uma investigação de Boladale, Adesanmi e Olutayo (2013) verificou que 34% dos/as
participantes universitários/as tinham experienciado violência no namoro nos últimos 12
meses. Outro estudo conduzido com 3495 jovens mexicanos verificou que cerca de 88%
reportou não considerar que se encontrava numa relação abusiva, 15,2% que já tinha
experienciado sentimentos de medo e 27% que já se tinha sentido aprisionado/a em
88
algum momento de um relacionamento de intimidade. Contudo, os autores/as apontam
que, apesar de muitos/as dos/as participantes indicarem não ter vivido uma relação
abusiva, a grande maioria desta amostra indicou já ter experienciado abuso. Este dado
sugere que, mesmo sabendo identificar situações de abuso vividas, os/as jovens tendem
a não se auto-percecionarem como vítimas (Ayala, Molleda, Rodríguez-Franco, Galaz,
Ramiro-Sánchez, & Diaz, 2014).
Taxas de prevalência mais baixas são apresentadas por Franco, Bellerin,
Borrego, Díaz e Molleda (2012), que indicam que cerca de 5.5% das raparigas entre os
5 e os 25 anos foram maltratadas numa relação de intimidade, e por Viejo (2014), que
considera que o envolvimento em violência na intimidade é ocasional, oscilando entre
2.3% (vitimação leve) e 6.7% (vitimação grave). Porém, dados mais recentes apontam
que uma em cada cinco mulheres e um em cada sete homens que experienciaram algum
tipo de violação, abuso físico e/ou assédio por um/a parceiro/a amoroso/a,
experienciaram também algum tipo de violência íntima entre os 11 e os 17 anos de
idade (Center for Disease Control and Prevention, 2016), e situam a taxa de prevalência
entre 6 e 21% para rapazes e entre 9 e 37.2% para raparigas, revelando-se mais baixas
nos/as jovens mais novos/as (inferior a 10%) comparativamente com os/as mais jovens
mais velhos/as (entre 20 e 30%), constatanto ainda que as mulheres apresentam taxas de
vitimação mais elevadas para ambos os grupos etários (Jennings et al., 2017).
Tendo em conta as diferentes tipologias de violência na intimidade, (Hird, 2000;
Howard, Wang, & Yan, 2007) estimam que a violência física está presente nos
relacionamentos de 10 a 15% dos estudantes da Secundária. Também González e
Santana (2001) concluíram que 7.5% dos rapazes e 7.1% das raparigas reconhecem
terem agarrado ou empurrado pelo menos 1 vez o/a namorado/a e (Katz, Carino, &
Hilton, 2002; O’Leary & Sleep, 2003) concluíram que 22 a 24% dos/as jovens
entrevistados/as no seu estudo sofrem de violência física. Por outro lado, o estudo de
Munoz-Rivas, Rodriguez, Grana, O’Leary e Gonzalez (2007) revelou que 14% dos/as
participantes reconheceram já terem exercido violência física sobre o/a namorado/a.
Dados mais recentes apontam para taxas de vitimação física de rapazes e raparigas entre
os 10 e os 25%. Considerando as investigações que combinam o estudo da violência
física e sexual, Silverman, Ray, Mucci e Hathaway (2001) referem que um em cada
cinco adolescentes é vítima de violência física e sexual perpetrada pelo/a companheiro/a
89
e Oliver e Doménec (2017) localizam a taxa de vitimação física e sexual em cerca 1.7%.
Outros estudos sobre violência sexual indicam que 47.9% a 66.6% dos/as adolescentes
admitem já terem agredido sexualmente (Fernandez Fuertes & Fuertes-Martín, 2005;
Ortega, Rivera, & Sanchez, 2008) e 51.7% dos/as adolescentes já terem sofrido
violência sexual (Fernandez Fuertes & Fuertes-Martín, 2005). Outros estudos, também
recentes, apontam que a a taxa de vitimação sexual de mulheres se situa entre os 9 e os
13% (Kliem, Baier, & Bergmann, 2018; Lau, Nguyen, & Markham, 2016). No que diz
respeito à violência verbal, o estudo de González e Santana (2001) concluiu que 23.9%
dos rapazes e 28.8% das raparigas manifestam ter usado, alguma vez, violência verbal
contra o seu namorado/a e o de Munoz-Rivas et al. (2007) que 60 a 70% dos estudantes
referiram já terem agredido verbalmente, em algum momento, o seu/a sua
companheiro/a. Mais recentemente, o estudo de Rodríguez, Lameiras, Carrera e Alonso
(2017) encontrou taxas baixas de violência no namoro entre jovens galegos/as, com
exceção da tipologia violência verbal, tendo esta uma elevada percentagem de rapazes e
raparigas indicado ser alvo de insultos ou ofensas verbais pelo/a seu/sua namorado/a.
Também o estudo da violência psicológica revela algumas inconsistências nos
dados sobre a sua prevalência. Ureña, Romera, Casas, Viejo e Ortega-Ruiz (2015)
alertam que esta tipologia é menos estudada do que as outras formas de violência no
namoro devido à dificuldade em objetivar os comportamentos que a constituem e em
proceder à identificação da sua prevalência. Um outro estudo (Niolon et al., 2015), que
pretendeu distinguir a incidência de diferentes tipologias de violência perpetradas,
concluiu que, na amostra de 1673 jovens participantes, 77% indicaram terem tido algum
comportamento de abuso físico ou emocional contra o/a namorado/a, 20% terem
ameaçado, 15% terem abusado sexualmente, 13% terem exercido violência relacional e
6% terem perseguido. Neste estudo foram as raparigas que demonstraram mais
comportamentos de abuso relacionados com ameaças, abuso emocional ou verbal e
físico. Os rapazes, por sua vez, perpetraram mais frequentemente violência sexual.
Tomando em consideração a literatura sobre os principais fatores de risco para a
volência nos relacionamentos de intimidade, a exposição a modelos de violência nos
relacionamentos de intimidade familiar (Park & Kim, 2018) e nos relacionamentos de
intimidade anteriores, destaca-se como um dos mais importantes factores de risco
(Sabina, Cuevas, & Pickens, 2016). Vários são os estudos que se debruçaram sobre a
90
associação entre violência no namoro e experiências familiares anteriores violentas. A
este respeito, destacam-se o trabalho de Bradford (1999), que concluiu que ser
testemunha e/ou alvo de violência familiar está relacionado com vivências posteriores
de relacionamentos de intimidade violentos, e o de Dee (2012) e Gover, Jennings,
Tomsich, Park e Rennison (2011), que perceberam que ser vítima de maus-tratos
familiares aumenta o risco de violência no namoro, quer na forma perpetrada quer na
forma sofrida. Posteriormente, Boladale et al. (2013) verificam que um em cada três
dos/as universitários que experienciaram violência no namoro nos últimos 12 meses,
assistiram a violência física nas suas casas e um em cada dez tem histórias anteriores de
vitimação. Partindo da análise de diferentes tipos de mau-trato infantil na família de
origem, Herbert et al. (2017) verificaram que o abuso sexual infantil, o abuso
psicológico, o abuso físico, a negligência e a presença em condutas violentas entre os
pais, são fatores de risco para a vitimação de violência no namoro.
Não só as experiências relacionadas com violência na família, mas também o
envolvimento com pares com comportamentos agressivos ou antossociais, surgem como
importantes factores de risco para a violência no namoro (Foshee et al., 2012; Park &
Kim, 2018). As condutas negativas de pares, ser vitimizado pelos/as colegas, o assédio
sexual de parceiros/as (Garthe, Sullivan, & McDaniel, 2016; Hérbert et al., 2017) e
sofrer ou perpetrar bullying (físico, psicológico ou cyberbullying) (Park & Kim, 2018),
especialmente no caso de rapazes (Niolon et al., 2015), surgem como fatores de risco
associados à violência no namoro. Estes dados vão ao encontro dos obtidos num estudo
anterior, por O’Keefe (2005), onde foram encontradas maiores taxas de incidência de
violência no namoro em grupos de jovens em risco ou a frequentar sistemas de ensino
alternativos.
Tendo em conta a identificação dos principais fatores de risco associados às
características sociodemográficas, alguns estudos encontram a violência nos
relacionamentos de intimidade transversal aos diferentes estratos socioeconómicos
(O’Keefe, 2005; Shamu et al., 2015), enquanto outros encontram dados que constatam
que o nível socioeconómico se relaciona negativamente com a perpetração e a vitimação
de violência no namoro (Park & Kim, 2017) para ambos os géneros (Wincentak et al.,
2016).
91
Gresssard, Swahn e Tharp (2015) e Taquette e Monteiro (2019) consideram que
a violência nos relacionamentos de intimidade juvenil se apoia na cultura patriarcal,
podendo ocorrer com maior frequência em contextos onde o privilégio masculino co-
existe com racismo, heterossexismo e pobreza e podendo aumentar a probabilidade das
jovens raparigas serem vítimas de violência física na intimidade.
O caráter circular e contextual da violência no namoro explica que índices mais
elevados desta vitimação em circunstâncias onde outros tipos de violência se verifica
também na família, na comunidade ou na escola (Taquette & Monteiro, 2019). Estas
considerações vão ao encontro dos resultados de um estudo anterior conduzido por
Shamu et al. (2015), com jovens sul-africanos/as expostos/as a violência familiar e a
práticas de castigo corporal, no contexto escolar onde foi possível encontrar elevados
índices de violência física e sexual nos relacionamentos de intimidade.
Por último, os principais fatores de risco individuais. Sugarman e Hotaling
(1997) aludem ao efeito significativo da desejabilidade social, tendo concluído que as
pessoas que mais reportam violência no namoro apresentam menores pontuações de
desejabilidade social. Posteriormente, Belshaw, Siddique, Tanner e Osho (2012)
encontraram uma associação estatisticamente significativa entre violência no namoro e
comportamentos suicidas; Devries et al. (2013) observaram uma relação positiva entre
ser vítima de violência no namoro e tentativas de suicídio em mulheres; Castellví et al.
(2016) confirmaram a existência de maior risco de tentativa de suicídio em jovens
(rapazes e raparigas) vítimas de violência no namoro em comparação com jovens não
expostos à violência. Também Howard e Wang (2003) identificaram a presença de
clusters de risco, em especial em raparigas com historial de violência de namoro, que
explicariam a maior probabilidade de exibir comportamentos sexuais de risco, violentos
e/ou suicidas, bem como de apresentar sentimentos de tristeza profunda e/ou de usar
substâncias psicoativas.
Outros fatores, tais como o uso de álcool e substâncias psicoativas, estão
também associados à violência no namoro (Baker, 2016; Ouytsel, Ponnet, & Walrave,
2017; Wiersma, Cleveland, Herrera, & Fisher, 2010; Yan, Howard, Beck, Shattuck, &
Hallmark-Kerr, 2009), sobretudo na perpetração de violência física, tendo o consumo de
álcool sido considerado um fator preditor para os rapazes (Niolon et al., 2015) e níveis
mais altos de consumo de álcool associados positivamente com a perpetração de
92
violência no namoro (Rothman, McNaughton, Johnson, & La Valley, 2012) e com a
vitimação do género feminino (Devries et al., 2013). Adicionalmente, Wincentak et al.
(2016) encontraram diferenças de género relativamente à perpetração de violência no
namoro mas o mesmo não aconteceu no que respeita a vitimação excepto no que
respeita à violência sexual no namoro onde se verifica que as raparigas apresentam
menores níveis de perpetração e maiores níveis de vitimação. Por último, a iniciação
sexual surge também associada ao aumento do risco de violência física e sexual (Hanna,
2006), predizendo a perpetração de violência no namoro por rapazes (Niolon et al.,
2015).
No entanto, de uma maneira geral, os estudos sobre as consequências e impacto
de experiências de violência nos relacionamentos amorosos são escassos (Taquette &
Monteiro, 2019) e poucas vezes conduzidos sobre as consequências para jovens rapazes,
vítimas ou agressores (Glass et al., 2003). Os estudos existentes sobre este aspeto
tendem a adotar uma definição mais alargada de violência no namoro, enquadrando os
principais impactos nos âmbitos psicológico, físico, legal e social. Assim sendo, e tendo
em conta os impactos psicológicos, a experiência de múltiplas formas de violência no
namoro aumenta a presença de sintomatologia psicológica (Eshelman & Levendosky,
2012), em especial presença de sintomatologia depressiva e baixa autoestima (Ouytsel
et al., 2017). As vítimas apresentam também maior risco para ideação e
comportamentos suicidas (Belshaw et al., 2012).
Na literatura existente, é possível encontrar diferenças de género,
nomeadamente, ao nível das experiências negativas, indicando que as raparigas
reportam mais experiências negativas decorrentes da violência do que os rapazes. A
experiência de vitimação masculina está mais fortemente associada à experiência de
sentimentos de raiva do que a vitimação feminina (Rutter, Weatherill, Taft, & Orazem,
2012).
A frequência do abuso conduz à presença de maior sintomatologia nas suas
vítimas, não só psicológica, mas também física (Eshelman & Levendosky, 2012). A
violência no namoro, quer na forma perpetrada quer sofrida, surge ainda enquanto
importante preditor de comportamentos autolesivos (Murray, Wester, & Paladino,
2008). Apesar de pouco mencionada na literatura, a consequência mais grave da
violência no namoro poderá ser o femícidio (Taquette & Monteiro, 2019).
93
Além do exposto, a perpetração de violência no namoro acarreta consequências
do ponto de vista legal para os/as agressores/as. Por isso, importa lembrar que a
violência no namoro se localiza entre políticas juvenis e políticas nacionais relacionadas
com a violência doméstica. Desta feita, a abordagem legal deste crime no sistema penal
juvenil poderia beneficar de um maior equilíbrio entre a filosofia “tolerância zero à
violência doméstica” e consequente responsabilização pela perpetração do crime e o
foco na proteção das crianças e jovens e intervenção orientada para a reabilitação
(Zosky, 2010).
Do ponto de vista social e escolar, as experiências de violência nos
relacionamentos de intimidade poderão conduzir as vítimas ao isolamento social,
absentismo escolar, baixo rendimento académico e a dificuldades no estabelecimento de
relacionamentos sociais seguros (CDC, 2016; Taquete & Monteiro, 2019). Apesar do
suporte social ser uma variável moderadora entre a vitimação e o bem-estar psicológico
(Holt, & Espelage, 2005), facto é que a maioria das vítimas se demonstra relutante em
pedir ajuda. Estes resultados são também apoiados no estudo de Ackard, Eisenberg e
Neumark-Stainer (2007) onde se constatou que apenas 32% dos rapazes e 44% das
raparigas que reportaram violência no namoro pediram ajuda. Num outro estudo,
Boladale et al. (2013) encontraram percentagens superiores a 90% de vítimas que não
pediram ajuda e que, quando esta foi pedida, se dirigiu a familiares e a amigos/as, ou
seja, não teve lugar ao nível legal. Estes dados vão ao encontro dos de Murray e
Kardatzke (2007) que verificaram que os pedidos de ajuda são mais facilmente dirigidos
a amigos do que a profissionais, tais como psicólogos ou agentes policiais com
conhecimento na matéria. Não obstante, o suporte social proveniente de figuras de
proximidade familiar ou de relacionamentos de amizade, o auxílio profissional de
qualidade poderá desempenhar um importantíssimo papel para apoiar tanto as vítimas
como os/as agressores/as, caso a desejem (Martsolf, Colbert, & Drauker, 2012).
De forma a facilitar o pedido de ajuda, Murray e Kardatzke (2007) consideram
aspetos chave para a intervenção de profissionais de aconselhamento psicológico: i) o
reconhecimento de que a violência física e sexual é frequente nos contextos
universitários e de que a violência psicológica é ainda mais frequente que as tipologias
anteriores; ii) o conhecimento dos fatores de risco individuais e familiares, quer para a
vitimação quer para a perpetração, das especificidades nas dinâmicas de poder e de
94
controlo e das dificuldades relacionadas com o pedido de ajuda; iii) a sensilibização
para o facto de que a experiência de um relacionamento de intimidade poder ser
ocultada no pedido de ajuda inicial ou nos motivos que levam o/a jovem a pedi-la.
Evidências empíricas no contexto português
Tendo em conta a realidade nacional, importa referir que a violência no namoro
integra o crime de violência doméstica previsto no artigo 152° do Código Penal, com a
alteração introduzida pela Lei n.º 19/2013 que estende, pela primeira vez, a proteção às
relações de namoro especificamente nos termos descritos na sua alínea b):
Quem, de modo reiterado ou não, infligir maus tratos fisicos ou
psíquicos, incluindo castigos corporais, privações da liberdade e ofensas
sexuais a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente
mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro ou uma relação
análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação é punido com pena de
prisão de um a cinco anos, se pena mais grave não lhe couber por força
de outra disposição legal. (Diário da República, I Série, n.º 37, de 21 de
fevereiro de 2013)
Um dos primeiros estudos sobre a prevalência da violência no namoro em jovens
portugueses/as foi conduzido por Lucas (2002) e focou a agressividade nas relações de
namoro. Este contou com a participação de 925 jovens, com idades compreendidas
entre os 12 e os 17 anos, tendo-se verificado que os rapazes fazem mais frequentemente
uso da agressividade física e as raparigas da verbal. Mais tarde, Paiva e Figueiredo
(2004) verificaram que o abuso psicológico, quer na forma sofrida (50,8%), quer na
perpetrada (53,8%), é o tipo de violência mais frequentemente reportado tendo sido
mencionado por mais de metade dos/as participantes nesta pesquisa. No mesmo estudo,
a coerção sexual surgiu como a segunda tipologia mais frequente, tendo sido perpetrada
por 18.9% dos/as participantes e sofrida por 25.6%. Machado, Caridade e Martins
(2010) conduziram uma investigação de prevalência de abusos físicos e emocionais nos
relacionamentos de namoro, numa amostra de 4667 jovens, com idades compreendidas
entre os 11 e os 29 anos. Os principais resultados indicam que 25.4% da amostra foi
vítima de pelo menos um ato abusivo do/a seu parceiro/a no ano anterior, dos quais
13.4% correspondiam a abusos de natureza física e 19.5% emocional. Por outro lado, no
95
que respeita à perpetração de violência, 30.6% dos/as participantes reportou ter abusado
do/a seu/sua parceiro/a, estando 22.4% relacionados com abuso emocional e 18.1% com
abuso físico. Numa investigação (Manuel, 2014), onde participaram 1258 jovens de 21
anos, encontraram-se também elevados índices de vitimação psicológica (61.4%) de
ambos os sexos, de coerção sexual (30.3%) e de violência física (18.6%). O mesmo
estudo conclui que 63.1% dos/as participantes indicam ter já perpetrado violência
psicológica, 28.5% coerção física e 17.7% violência física. Outros dados (Beserra,
Leitão, Fabião, Dixe, Veríssimo, & Ferriani, 2016) sobre adolescentes com idades entre
os 16 e os 24 anos, concluíram que 5.9% dos/as participantes mantinham relações
violentas.
Apesar de elevados, nos dados da prevalência de violência no namoro, a grande
maioria dos/as jovens não se autopercecionam como vítimas, tal como verificou
Marques (2016) no estudo conduzido com 475 estudantes universitários, onde cerca de
84% das pessoas que já foram vítimas de algum ato abusivo não se reconheceram como
tal. Neste estudo, cerca de 52.6% reportam já terem sido vítimas de violência no
namoro, 63% dos participantes do sexo masculino indicaram terem tido pelo menos um
comportamento abusivo no seu percurso académico face a 48.2% das raparigas.
No que diz respeito às características das vítimas, vários são os estudos onde as
raparigas são quem mais reporta ter sofrido de atos de violência pelos parceiros, apesar
de alguns estudos não encontrarem diferenças de sexo estatisticamente significativas no
que diz respeito à vitimação (Machado, Caridade, & Martins, 2010). Outros estudos
apoiam a existência de uma reciprocidade na violência no namoro, indicando uma maior
tendência para a perpetração de violência por ambos/as os/as parceiros/as (Duarte &
Lima, 2006; Paiva & Figueiredo, 2004), uma bi-direccionalidade (com exceção na
coerção sexual) (Manuel, 2014).
Também na realidade portuguesa os estudos parecem indicar diferenças de
género, tendo em conta as diferentes tipologias de violência no namoro. Por exemplo,
no estudo de Paiva e Figueiredo (2004), os rapazes surgiram como principais vítimas de
violência física e as raparigas de violência e coerção sexual. Resultados semelhantes
foram encontrados no estudo de Manuel (2014) onde os rapazes sobrevieram
essencialmente como agressores de coerção sexual e as raparigas como perpetadoras de
violência física. Outros estudos apontam que os rapazes são simultaneamente mais
96
agressores e vítimas de violência psicológica (Beserra et al., 2016; Duarte & Lima,
2006).
Relativamente às diferenças de género, é possível encontrar divergências nos
dados encontrados, uma vez que alguns estudos apontam que rapazes e raparigas são
simultaneamente vítimas e agressores nas relações de namoro (Caridade, 2011; Paiva e
Figueiredo, 2004; Saavedra, 2010), contrariando os dados dos estudos da década de 80
que apontavam para uma maior vitimação do género feminino, tal como o de
Makepeace (1981) ou outros mais recentes (Neves et al., 2018). Esta aparente
reciprocidade parece não corresponder aos dados provenientes dos contextos legais,
médicos e sociais onde as mulheres se apresentam como as vítimas mais frequentes de
violência nos relacionamentos de intimidade. Se, por um lado, alguns estudos indicam
que são os jovens rapazes quem sofre mais violência psicológica nos relacionamentos
de intimidade (Harned, 2001) ou a presença de prevalências semelhantes de violência
física entre mulheres e homens (Caridade, 2011), por outro lado, os mesmos dados não
são encontrados noutras pesquisas, nem no que se refere à violência (Neves, 2014;
Wincentak et al., 2016).
Tal como refere Neves (2014) a “aparente dupla posição das raparigas”, ou seja,
o seu aparecimento enquanto vítimas e agressoras nos relacionamentos de intimidade
juvenil, chama a atenção para a necessidade de o estudo da violência ir para além do
estudo da frequência dos atos abusivos e debruçamento sobre os seus impactos na vida
das vítimas (Harned, 2001). De facto, diferentes autores/as têm vindo a concluir que são
as jovens mulheres quem reporta danos psicológicos e físicos mais severos decorrentes
de experiências de violência no namoro (Harned, 2001; Neves, 2014) ou mais
sentimentos de medo ou terror da vitimação sofrida (Coker et al., 2000). Outro facto que
tem sido consistente na grande maioria dos estudos, prende-se com o facto das raparigas
apresentarem maiores índices de vitimação sexual (Harned, 2001; Neves, 2014).
Relativamente à idade, alguns estudos apontam que são os/as adolescentes mais
velhos/as quem mais reporta vitimação e perpetração deste tipo de crime (Machado et
al., 2010), enquanto que no trabalho desenvolvido por Lucas (2002) foram os/as
participantes mais velhos/as de ambos os sexos que apresentaram maior agressividade.
97
Tendo em conta a escolaridade, os/as alunos/as universitários parecem reportar
mais frequentemente situações de violência no namoro. Os/as alunos/as do Ensino
Profissional tendem a estar mais representados/as em ambos os grupos de vitimação e
perpetração (Machado, Caridade, & Martins, 2010).
Relativamente aos dados sobre violência no namoro provenientes das
organizações de apoio a vítimas na sociedade civil, destacam-se os relatórios da União
de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR, 2019) e os do Observatório de Violência
no Namoro (Neves et al., 2020). O primeiro é um estudo representativo e quantitativo
com a participação de 4938 jovens, com idades compreendidas entre os 11 e os 20 anos,
e teve como objetivo avaliar a prevalência de indicadores de vitimação nas relações de
namoro e a legitimação da violência no namoro pelos/as jovens. Os principais
resultados deste estudo nacional indicam que dos/as jovens que têm ou já tiveram uma
relação amorosa, 58% reporta algum indicador de violência no namoro. Tendo em conta
o tipo de vitimação experienciada, cerca de 11% apresentaram indicadores de violência
física e 34% de violência psicológica. Os dados sobre os indicadores de vitimação
constituem, neste relatório, uma subida significativa quando comparados com os dados
do ano anterior (UMAR, 2019).
No que respeita à legitimação, as autoras realçam que 67% do total de
participantes consideram natural pelo menos uma das formas de violência na
intimidade, subindo para cerca de 75% quando considerados/as os/as que reportaram
algum indicador de vitimação. Relativamente ao tipo de violência legitimado, a
violência nas redes sociais foi legitimada por cerca de 23% do grupo de participantes e a
violência sexual foi legitimada por cerca de 34% dos participantes do sexo masculino e
por 15% do sexo feminino. Relativamente ao tipo de comportamentos naturalizados,
cerca de 9% legitimaram abusos físicos e 27% comportamentos de controlo. Os
comportamentos de controlo foram os que apresentaram maiores índices de legitimação
por ambos os sexos, tendo cerca de 36% legitimado a proibição de uso de algum tipo de
roupa. A perseguição foi legitimada por cerca de 33% dos rapazes e por 17% das
raparigas (UMAR, 2019).
Os dados decorrentes do Observatório de Violência no Namoro (Neves et al.,
2020) são recolhidos através de uma plataforma online de denúncias onde são registadas
situações de violência no namoro, pessoais ou testemunhadas. Durante 2019 foram
98
feitas 74 denúncias nesta plataforma, 51.4% de ex-vítimas, 37.8% de testemunhas e
cerca de 10.8% de atuais vítimas. Relativamente ao sexo e idade da pessoa denunciante,
95.9% das queixas foram feitas por pessoas do sexo feminino e a média de idades é de
26.86 anos. As testemunhas denunciantes foram, na sua maioria, colegas de escola ou
da faculdade, seguindo-se psicólogos/as, amigos/as, professores/as, colegas de trabalho
e funcionários/as da escola. No que respeita às características das vítimas, 89.2% são do
sexo feminino, 96.4 % de nacionalidade portuguesa, 66.2% estudante e 87.8%
heterossexual. A média de idades para as vítimas do sexo feminino é de 21.4 anos e
para as do sexo masculino é de 21.6 anos. Relativamente aos/às agressores/as, 91.9%
são do sexo masculino, 70.0% atuais namorados das vítimas e 21.6% são ex-
namorados/as. A média da idade dos/as agressores do sexo masculino é de 22.5 anos e a
das agressoras de 23.9 anos (Neves et al., 2020).
Tendo em conta a situação denunciada e as tipologias presentes, 87.3% das
situações incluíam violência verbal, 75.7% violência psicológica, 64.9%
comportamentos de controlo, 35.1% perseguição, 32.4% violência social, 27.0%
violência física, 27.0% violência sexual, 12% ameaças de morte, 6.8% violência
económica, 4.1% tentativas de homicídio e 1.4% homicídio. Cerca de 47.3% destas
situações ocorreram mais do que uma vez e 62.2% em vários momentos do dia tendo
decorrido em 62.2% das vezes no espaço casa, 48.6% na rua, 36.5% na escola, 29.7%
no espaço online e 27.0% das vezes em estabelecimentos públicos. Considerando as
principais causas atribuídas à violência, os ciúmes foram indicados em 70.3% das
denúncias, 40.5% problemas mentais do/a agressor/a, problemas familiares em 25.7%,
15% a conduta da vítima, 18.9% por influência de familiares ou amigos/as, consumo de
álcool ou outras substâncias pelo/a agressor/a em 14.9%, 13.5% a dificuldades
económicas, 6.8% por problemas mentais da vítima e 2.7% por consumo de álcool ou
outras substâncias por parte da vítima. Um total de 25.7% das vítimas necessitaram de
tratamento médico, 2% de serem hospitalizadas e 10.9% das vítimas indicam indicaram
terem precisado de ajuda para recorrerem a serviços especializados. Nas situações
relatadas em 2018, 72.3% das vítimas não apresentaram denúncia, lidando com os
problemas sozinhos/as ou com a ajuda de amigos/as. Das vítimas denunciantes, 7.9%
indicou precisar de apoio para realizar esta denúncia (Neves et al., 2020).
99
O estudo do programa de prevenção Uni +, um programa de prevenção de
violência no namoro em contexto universitário (Neves et al., 2018), permitiu verificar
que os/as jovens que praticam violência são os/as que simultaneamente revelam crenças
mais tradicionais sobre o género e os relacionamentos de intimidade. Neste sentido, os
participantes do sexo masculino demonstraram-se mais permissivos e tolerantes à
violência sexual do que as participantes do sexo feminino. Tendo em conta a
identificação dos motivos da violência no namoro, 5% dos/as participantes neste estudo
revelou a presença de crenças de responsabilização das vítimas de violência sexual,
indicando como principais motivos deste crime a provocação. Cerca de 11% deste
grupo também consideraram o piropo como sendo lisonjeador. A violência foi também
justificada com recurso à narrativa do amor romântico e psicopatologização dos
agressores, dados que parecem sugerir, simultaneamente, com uma tendência para a
culpabilização da vítima e desresponsabilizaçãoo do agressor.
Em Portugal, existem ainda poucos estudos sobre a violência sexual no âmbito
de relações de intimidade juvenil. Não obstante, os trabalhos existentes têm vindo
consistentemente a alertar para a elevada prevalência deste tipo de violência como, por
exemplo, o estudo de Paiva e Figueiredo (2004), verificando que a coerção sexual se
encontra em segundo lugar nas tipologias de abuso mais frequentes entre jovens
adultos/as e tendo encontrado, na sua amostra, que 18.9% perpetraram e que 25.6%
sofreram esta vitimação. Também as associações da sociedade civil têm vindo a
recolher dados importantes sobre esta matéria. Os resultados mais recentes do relatório
da UMAR (2017), que compreendeu a participação de 5500 jovens, com uma média de
idades de 15 anos, revelam uma grande preocupação com a naturalização da violência
de cariz sexual, tendo-se concluído que 24% dos/as participantes legitima ações de
violência sexual nos relacionamentos de namoro, 22% dos quais do sexo masculino e
5% do sexo feminino. Do total dos/as que legitimam, 13% fazem-no no que concerne à
pressão para ter relações sexuais. No que respeita à prevalência de vitimação, os
resultados do mesmo estudo apontam para 6% de jovens vítimas de atos de violência
sexual geral e para 5% das raparigas e 2% dos rapazes já terem sido pressionados para
relações sexuais nos seus relacionamentos de intimidade.
Relativamente às informações sobre a violência no namoro com utilização das
novas tecnologias e do espaço virtual, 24% dos/as jovens não reconhece as situações de
101
relacionamentos de intimidade (Neves & Fávero, 2010). Dentro desta perspetiva, as
crenças e atitudes face à violência no namoro e a manutenção de mitos sobre o amor
desempenham um papel importante na sustentação do sexismo nas sociedades
patriarcais. Por este motivo, apresentam-se de seguinda dois importantes eixos para uma
leitura teórica feminista da violência nos relacionamentos de intimidade juvenil: as
crenças e atitudes sobre a violência nos relacionamentos de intimidade e os mitos sobre
o amor.
2.1.4.1. Crenças e atitudes sobre violência nos relacionamentos de intimidade juvenil
As representações sociais de género têm vindo a ser consideradas centrais na
análise das atitudes e crenças sobre a violência no namoro. Ismail, Berman, e Ward-
Griffin (2007) conduziram um estudo qualitativo conduzido, tendo percebido que
vítimas e agressores/as tendem a uma maior desvalorização e normalização da violência
no namoro e justificação de comportamentos abusivos que se prendem com a pressão
para ter namorado, a incapacidade de reconhecer os sinais da violência e a pressão para
responder às expectativas de género de forma a agradar adultos/as ou outras figuras de
referência, nomeadamente, o hold on de um namorado/a. Um outro estudo de natureza
qualitativa exploratória, conduzido com jovens canadianos/as por Lavoie, Robitaille e
Hébert (2000), verificou que a culpabilização da vítima e desresponsabilização do/a
agressor/a surgem, frequentemente, como leituras interpretativas para a ocorrência de
violência num relacionamento. Desta forma, a violência surge como resultado de
práticas provocatórias prévias da vítima ou induzidas por psicopatologia ou consumo de
álcool e substâncias psicoativas do agressor (Lavoie et al., 2000; Neves et al., 2018).
Também Bowen et al. (2013) procederam à análise de atitudes face à violência
no namoro em jovens europeus (Inglaterra, Suécia, Alemanha e Bélgica), com idades
compreendidas entre os 12 e os 17 anos, tendo concluído que, de uma maneira geral,
demonstram atitudes de aceitação face à violência e tendem a desvalorizar a violência
perpetrada pelas raparigas, compreendendo-a, na maior parte das vezes, como reação à
infidelidade. No entendimento dos/as autores/as deste estudo, as visões juvenis
estereotipadas parecem apoiar-se nas representações restritivas dos media, em particular
da televisão, sobre violência nos relacionamentos de intimidade, que alicerçam,
102
também, barreiras (tais como vergonha) para a procura de ajuda de jovens vítimas
masculinas. Outro aspeto importante é sugerido no trabalho de Ali, Swahn &
Hamburger (2011) que revela que tanto jovens rapazes e como raparigas apresentam
maior aceitação de comportamentos de retaliação levados a cabo por de raparigas do
que por rapazes. As atitudes de aceitação de violência física contra rapazes e raparigas
estão significativamente associadas à perpetração e vitimação de abuso físico nos
relacionamentos de intimidade juvenil.
2.1.4.2. Mitos sobre o amor
As ideias, desejos e descobertas em torno do amor juvenil são de extrema
importância no processo de desenvolvimento afetivo-sexual dos/as jovens bem como na
construção da sua identidade.
Neves (2007) refere que o estudo do amor necessita de um enquadramento
social, histórico, político e cultural, uma vez que se constitui uma dimensão da
afetividade, tendo o seu campo de estudo realizado uma passagem das leituras mais
individuais para outras mais estruturais. Esta passagem requer uma transição do
questionamento da individualidade para um interesse pela produção de discursos de
ordem social sobre a intimidade.
Um trabalho inicial sobre o estudo do amor foi conduzido por John Lee (1973,
1976), tendo distinguido a existência de amor “primário” e amor “secundário”. No amor
primário incluíam-se três tipos de amor: Eros, Ludos e Storge. Eros diz respeito a uma
vivência de um amor intenso, passional e incontrolável. Ludos corresponde, por sua
vez, a um amor lúdico com menor grau de compromisso e onde o contacto sexual
adquire uma grande importância. Por último, Storge relaciona-se com a experiência da
amizade, desde um compromisso emocional com os olhos postos no futuro. O amor
secundário compreende igualmente três outras formas: Manía, que corresponde a um
amor obsessivo (composto por Ludos e Eros) e baseado em dependência e posse,
Pragma (combinação de Storge e Ludus), que é um amor pragmático e racional, e
Agapé ou amor altruísta (interação entre Storge e Eros) que, por seu turno, traduz um
amor de total entrega e abnegação, indo ao encontro da satisfação das necessidades do/a
parceiro/a.
103
Muitos dos discursos juvenis sobre o amor estão imbuídos de crenças fortemente
associadas a estereótipos de género e a desigualdades sociais e estruturais que pautam as
relações entre homens e mulheres na sociedade contemporânea (Lameiras, Carrera &
Rodríguez, 2009), resultando em diferentes formas de vivenciar experiências de
intimidade. De facto, a manutenção e perpetuação destes estereótipos e destas
desigualdades parecem contribuir para o desenvolvimento de diferentes valores, atitudes
e emoções experienciados por rapazes e raparigas e para a sua transferência nas
vivências de intimidade juvenil, em especial nos comportamentos e expectativas
relacionais.
O amor é determinado por aprendizagens e condicionamentos sócio-culturais
(Bosch, Ferrer, Ferreiro, & Navarro, 2013), sendo a sua experiência pessoal e expressão
influenciadas pela organização e estrutura das sociedades e culturas (Ferrer & Bosch,
2013) que, por sua vez, conduzem a socializações diferenciadas de jovens rapazes e
raparigas e ao desempenho de distintos papéis sociais (Bosch et al., 2013), muitas vezes
tradicionais e conservadores que cristalizam desigualdade de género nas várias esferas
de vida dos/as jovens.
Bosch et al. (2007) enumeram como principais características do amor
romântico, vivências muito intensas de alegria ou sofrimento. Nestas experiências
incluem-se: secundarizar-se através da dependência e adaptação ao/à parceiro/a, perdoar
ou procurar justificar ações, estar constantemente na companhia da outra pessoa ou
realizar todas as atividades com o/a parceiro/a aglutinando interesses e apetências, crer
que nunca se irá sentir o mesmo por outra pessoa, sentir desesperança face à
possibilidade de rutura, vigiar as demonstrações de afeto, idealizar o/a parceiro/a e
atribuir significado positivo a atos de sacrifício. De facto, o amor romântico alicerça e
justifica o estabelecimento de relações de poder desigualitárias no espaço público e
privado, determinando organizações sociais de acentuada diferença entre homens e
mulheres (Neves, 2007).
Yela (2003) alerta para a manutenção social de um conjunto de falsas crenças
sobre a natureza do amor:
104
- Existência da cara metade, ou seja, que só uma pessoa está destinada
para cada um/a e que o/a parceiro/a escolhido/a estava destinado/a,
sendo a melhor escolha;
- Homem e mulher estão destinados a relacionarem-se intimamente;
- Os ciúmes são uma prova de amor e, inclusivamente, quando não
presentes poderão significar falta de interesse e afeto;
- O amor é capaz de tudo, também conhecido por mito da
omnipotência;
- O matrimónio enquanto único resultado de um relacionamento
estável;
- A paixão deve permanecer intensa ao longo do tempo, eternizando-
se;
- A compatibilidade entre amor e violência, permitindo a associação
causal e lógica nas situações amar alguém que se maltrata e
maltratar alguém que se ama.
Estes mitos são crenças que surgem na forma de verdades absolutas, inflexíveis
e resistentes (Bosch & Ferrer, 2002; Ferrer, Bosh, & Navarro, 2010), tendo vários
trabalhos académicos focado qual o seu papel na construção das masculinidades e
feminilidades e dos pressupostos que tecem sobre os relacionamentos íntimos (Barron,
Martínez-Inigo, De Paul, & Yela, 1999; Bosch et al., 2013; Rodríguez, Lameiras,
Carrera, & Vallejo, 2013a; Yela, 2003). Uma investigação conduzida em Espanha
expõe a elevada presença de mitos em jovens adolescentes. Os seus resultados indicam-
nos que as raparigas demonstram maiores visões idealizadas do amor e maiores crenças
na sua durabilidade e omnipotência face às adversidades. Por outro lado, os resultados
encontrados nos jovens do género masculino revelam maior aceitação de ciúmes,
compreendendo-os como uma manifestação de amor e da crença de vínculo amor-
maltrato (Rodríguez, Lameiras, Carrera, & Vallejo, 2013b).
Marroquí e Cervera (2014), conduziram um estudo com o intuito de perceber de
que forma ocorre a interiorização de mitos sobre o amor romântico e qual a sua relação
com o estabelecimento de relacionamentos de intimidade não saudáveis, orientando um
grupo de participantes com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos. Neste estudo
105
foi possível perceber que cerca de 73% das pessoas participantes revelaram acreditar
que o amor pode tudo, 70.6% que o amor é cego e 65% que existe uma “cara metade”
para cada pessoa. Nas diferenças encontradas, os participantes do género masculino
apontam uma maior tendência para indicarem que não poderão ser felizes sem uma
relação e as participantes do género feminino para acreditarem que existe uma pessoa
destinada para elas, reforçando mais predominantemente o mito da “cara metade”. A
maioria do grupo inquirido rejeitou que se pode maltratar alguém que se ama ou amar
alguém que se maltrata; porém, a grande maioria, independentemente do género,
considerou que se deve fazer tudo por amor e que o amor pode tudo. Outros estudos
conduzidos, com a mesma escala, argumentam que as raparigas apresentam visões sobre
o amor mais idealizadas e relacionadas com sexismo benevolente, e que os rapazes
revelam maiores crenças no mito de vinculação amor-maltrato (Rodríguez-Castro et al.,
2013b).
Tendo em conta que os/as jovens apresentam uma grande aceitação dos mitos
sobre o amor, é importante aprofundar o conhecimento sobre as suas implicações nas
práticas quotidianas de intimidade (Rodríguez-Castro et al., 2013b). Saliente-se, ainda, a
necessidade de se proceder a um questionamento crítico dos discursos em torno do amor
e da intimidade, para que uma maior democratização nos relacionamentos afetivos
juvenis possa acontecer por via da restruturação das narrativas sobre amor romântico
em realidades de amor confluente (Neves, 2007). Estas conceções reduzidas, tantas
vezes impregnadas de estereótipos de género e atitudes promotoras de sexismo juvenil,
manifestam-se também no espaço virtual e, naturalmente, nas expressões e descobertas
de intimidade juvenil que aí tomam lugar.
2.2 Ciberviolência nos Relacionamentos de Intimidade Juvenil: O Sexting
no Interface da Violência Sexual Online
Um dos objetivos da presente pesquisa é caracterizar as dinâmicas de abuso
digital nos relacionamentos de intimidade. Por esta razão, o presente subcapítulo
procede a um enquadramento das situações decorrentes de comportamentos associados
ao abuso digital, tais como a divulgação não consentida e a chantagem ou coação dentro
de relacionamentos de intimidade juvenil, muitos dos quais decorrentes de
106
comportamentos de sexting e integrando complexas dinâmicas violentas de natureza
sexual. O contexto digital e globalizante tem vindo a justificar uma maior atenção nas
práticas de sexting, em especial, às práticas que poderão decorrer de forma não
consensual, causar dano e/ou constituir-se abuso sexual online (Barrense-Dias,
Berchtold, Surís, & Akre, 2017). Assim, a perda do controlo das mensagens de carácter
sexual e privado poderá resultar num aumento de riscos interligados que coloca os/as
jovens em situações de grande vulnerabilidade de vitimação sexual, consitituindo-se
uma forma de humilhação e exposição pública (Machado & Pereira, 2013). Apesar das
diferentes terminologias existentes nos estudos, a ciberviolencia nos relacionamentos de
intimidade juvenil poderá manifestar-se de várias formas, quer seja por humilhação no
meio online, stalking, reverge porn, entre outras (Brown & Hegarty, 2018). Acresce a
evidência de esta tipologia frequentemente decorrer simultaneamente com outras formas
mais tradicionais de violência no namoro (Hinduja & Patchin, 2011; Zweig, Dank,
Yahner, & Lachman, 2013 as cited in Fernet, Lapierre, Hébert, & Cousineau, 2019).
Numa recente publicação, Ehman e Gross (2019) alertam que o estudo do
cyberbullying, no âmbito dos relacionamentos de intimidade, em especial o de natureza
sexual, permanece muito pouco aprofundado, propondo no seu trabalho uma definição
deste tipo de violência:
O cyberbullying sexual, daqui em diante, será definido como qualquer
comportamente sexualmente agressivo ou coercive, facilitado pelo uso de
plataforma sociais digitais (isto é, mensagens de texto, sites de redes
sociais, aplicativos de telemóveis, etc.). Tais comportamentos podem
incluir, mas não estão limitados a: enviar fotos de nudes ou mensagens
sexualmente explícitas a outra pressoa sem o seu consentimento
expresso, ameaçar partilhar online uma foto de alguém se esta pessoa não
consete contato sexual, coagir alguém a enviar fotos sexualmente
explícitas contra a sua vontade, aprtilhar fotos ou mensagens
sexualmente explícitas com outras pessoas que não as inicialmente
destinadas a usar plataformas socias digitais, fazer publicamente
comentários sexualmente explícitos não desejados nas redes sociais etc.
de alguém. (p.82)
108
Internet. Adicionalmente, os seus resultados apontam que 47.6% do conjunto de
participantes perpetrou cyberbulling contra o/a namorado/a com uso de telemóvel e
14% através da Internet. Neste estudo, os rapazes surgem como os principais
perpetradores de cyberbulling.
Relativamente às dinâmicas de ciberviolência na intimidade, Lúcio-López e
Prieto-Quezada, (2014) verificaram que 59.4% dos/as adolescentes participantes no seu
estudo perguntam ao/à namorado/a sobre as suas amizades nas redes sociais e que 59%
controlam as suas interações virtuais. Verificaram também que 27.2% afirmou já ter
falseado uma identidade para controlar o/a namorado/a. Estes resultados vão ao
encontro dos obtidos no trabalho de Sánchez, Munoz e Ortega (2015) que concluiu que
93% dos/as jovens já tinha estado envolvido em práticas de abuso digital, sobretudo
através de controlo (85.3%) e de comportamentos online intrusivos (75.3%). No mesmo
sentido, Borrajo, Guadix, Pereda e Calvete (2015) concluem que as agressões diretas e o
controlo são as estratégias mais frequentes nas dinâmicas de abuso digital em relações
de intimidade juvenil. Outras estratégias que emergem na literatura disponível,
constatam também que 16.7% dos/as participantes trocou as passwords com o/a
namorado/a e 6.1% afirmou ter roubado a chave do endereço eletrónico do/a
namorado/a. Um total de 12% enviou mensagens que desprestigiavam o seu namorado/a
e 15.4% foi vítima desta situação (Montilla, Pazos Gómez, Coronado, & Oliva, 2016).
Adicionalmente, Cortésa, Aragóna, Martíneza, e Méndez (2017) apontam que o
controlo, monitorização e vigilância online está presente em 44.3% das situações de
violência digital, seguindo-se de agressão verbal em 15.5%, de agressão sexual em
11.9%, de coação sexual em 7.7% e de humilhação em 6.6%.
Estudos recentes, como o de Rodríguez, Alonso, Lameiras e Faílde (2018) e
Rodríguez, Alonso, Martínez, Carrera e Lameiras (2019), concluem que a
ciberviolência nas relações de intimidade juvenil é perpetrada sobretudo com recurso ao
controlo online e à vigilância de atividades. Estes resultados apresentam que mais de
um terço dos/as participantes revelaram ser controlados/as pelo/a namorado/a
virtualmente e quase metade refere que o/a namorado/a toma conta da hora da sua
última ligação à Internet nas diferentes aplicações do telemóvel. Tendo em conta as
diferenças de género, cerca de 19% dos rapazes e 29.4% das raparigas admitiram
controlar as amizades do/a namorado/a nas aplicações e redes sociais, porém são as
110
constructo no crescente número de investigações sobre a temática, remetendo-o para
uma “área cinzenta” (Barrense-Dias et al., 2017, p. 544).
Drouin, Vogel, Surbey e Stills (2013) mencionam a existência de várias
inconsistências em torno do estudo do sexting, identificando três áreas, em particular,
onde estas se repercutem: na definição do conteúdo da mensagem, no meio usado para
envio e na caracterização do contexto relacional onde decorre. Para estes/as autores/as,
se por um lado as múltiplas definições do conteúdo da mensagem constituem a maior
inconsistência neste campo de estudo, a indefinição sobre o meio de transmissão e envio
da mensagem é, provavelmente, o aspeto que traz mais constrangimentos do ponto de
vista metodológico a este tópico. Estes dois aspetos estão por isso na base das
dificuldades de comparação de dados entre estudos.
As primeiras investigações conduzidas sobre sexting recorreram à utilização de
uma visão mais restrita sobre o fenómeno, limitando-o ao envio de mensagens de texto
com conteúdo erótico e sexual (Martín-Pozuelo, 2015). Perspetivas mais amplas deram
origem a estudos posteriores, tendo-se incluído o envio e receção de fotografias eróticas
ou nudez (Ferguson, 2011) e a intenção de atrair o/a receptor/a (Martínez-Otero, 2013).
Um outro exemplo é o trabalho de Weisskirch e Delevi (2011) que incluiu na definição
utilizada o envio e receção de mensagens de texto, fotografias e vídeos sexualmente
sugestivos ou de nudez. Mais recentemente, Livingstone e Görzing (2014) ampliaram
esta definição incluíndo a criação de conteúdos e troca entre pares através de telemóvel,
redes sociais ou aplicações de mensagens instantâneas, influenciando os estudos
conduzidos na atualidade, estudos estes que têm vindo a incluir a produção, a difusão e
troca de mensagens, fotografias e vídeos de cariz sexual através do uso de diferentes
dispositivos tecnológicos ou até, na visão de investigadores/as tal como Gómez e Ayala
(2014), considerando-o uma ferramenta de cibersedução das sociedades pós-modernas.
Não obstante a diversidade de definições presentes na literatura, na presente
pesquisa utilizou-se esta definição mais recente com o objetivo de ampliar a
possibilidade de captação dos significados atribuídos pelos/as jovens participantes e
permitir a construção da sua própria definição, não excluindo as suas visões sobre esta
prática.
111
Associado às questões da delimitação do constructo anteriormente explanadas, o
estudo da prevalência de sexting demonstra acentuadas inconsistências (Cooper,
Quayle, Jonsson, & Svedin, 2016; Livingstone & Mason, 2015; Lounsbury, Mitchell, &
Finkelhor, 2011) e grandes variações de resultados, que poderão ir dos 0.9 % aos 60%
nos estudos conduzidos junto a pessoas com idades superiores a 18 anos. A este
respeito, os estudos sobre envio e receção apresentam maiores índices de prevalência do
que os estudos apenas sobre o envio de conteúdos sexuais. Constatou-se igualmente que
a idade também influencia os valores, demonstrando-se consistentemente mais altos em
participantes mais velhos/as (Barrense-Dias et al., 2017).
Outras questões metodológicas não menos importantes somam-se a estas, tais
como as diferenças nos instrumentos utilizados (Lounsbury et al., 2011) e a escassez de
estudos qualitativos que permitam inferir sobre significados e contextos desta realidade.
De igual forma, a prevalência internacional dos comportamentos de sexting em
adolescentes não foge à regra no que respeita à grande variabilidade dos valores
encontrados. Alguns estudos evidenciam taxas de prevalência baixas ou médias que
oscilam entre os 9.6% e os 19% (Cox-Communications, 2009; Dake, Price, Mazriarz, &
Ward, 2012; Mitchell, Finkelhor, Jones, & Wolak, 2012); outros apontam níveis mais
elevados situados entre os 22% e os 54% (Houck et al., 2014; Van-Ouytsel, 2017).
Dentro dos estudos que pretendiam averiguar o envio ou “post” online de
conteúdos sexuais, Baumgartner, Sumter, Peter, Valkenburg e Livingstone (2014)
encontraram prevalências que oscilam entre os 0.9% e os 11.5% entre jovens com
idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos. Um outro estudo (Kopecky, 2012)
conduzido com jovens da República Checa verificou que cerca de 9.7% destes/as
tinham enviado uma imagem ou vídeo seu nu/a ou parcialmente nu/a. Este envio de
sexts adolescentes tem vindo a demonstrar-se mais comum entre parceiros românticos
(Burén & Lunde, 2018).
Relativamente aos dados disponíveis na literatura sobre a receção de imagens
com conteúdo sexual, um estudo conduzido no Reino Unido, com jovens dos 11 aos 16
anos, encontrou prevalências de 15% para a receção de mensagens sexuais, tendo
apenas um quarto destes/as indicado desconforto após este evento (Livingstone &
Görzig, 2014).
112
Tendo em conta os estudos que se focaram na averiguação da prevalência de
sexting, incorporando as práticas enviar, receber e disseminar na definição utilizada,
destaca-se o estudo de Lenhart (2009) cujos dados indicam que 4% dos adolescentes de
nacionalidade americana, com idades compreendidas entre 12 e 18 anos, enviaram
imagens ou vídeos sexualmente sugestivos e 15% receberam conteúdos semelhantes.
No mesmo país, Strassberg, McKinnon, Sustaíta e Rullo (2012) verificaram que numa
amostra de 606 estudantes do ensino secundário, 20% tinham enviado uma imagem
pessoal de caráter sexual através do telemóvel, cerca do dobro tinham recebido imagens
com conteúdo semelhante e mais de 25% tinham reencaminhado este tipo de imagens a
outras pessoas. Também os trabalhos de Lippman e Campbell (2014) encontraram
prevalências de 21%, para receção 48% e 2.3% para reencaminhamento a uma outra
pessoa. Burén e Lunde (2018) verificaram prevalências entre 20% e 32% para a receção
de sexts e 4% a 16% no envio dos mesmos conteúdos numa pesquisa conduzida na
Suécia com 1653 jovens.
Tendo em conta as diferenças de género encontradas, os dados não revelam
também consensualidade, mais uma vez, devido à questão das múltiplas definições
usadas nos estudos (Barrense-Dias et al., 2017). Assim, por um lado existem estudos
que revelam que os rapazes enviam mais frequentemente conteúdos sexuais do que as
raparigas (Baumgartner et al., 2014; Johnsson, Priebe, Bladh, & Svedin, 2014; Van-
Ouytsel, Walrave, & Van Gool, 2014; West, Lister, & Hall, 2014) e outros que
concluíram que são as raparigas quem envia mais conteúdos (Cox Communications,
2009; Livingstone and Görzig, 2014; Ybarra & Mitchell, 2014) e quem reporta mais
solicitações por parte de rapazes (Temple et al., 2012) ou mais pressão para envio
(Burén & Lunde, 2018). Outros estudos ainda, indicam que não há diferenças entre
rapazes e raparigas relativamente à recepção e envio de conteúdos sexuais (Dake et al.,
2012; Lenhart, 2009).
Os estudos qualitativos têm por isso providenciado importantes contributos para
o conhecimento sobre esta prática, confirmando que as raparigas são mais alvo de
críticas negativas derivadas dos seus comportamentos de sexting do que os rapazes
(Barrense-Dias et al., 2017; Lippman & Campbell, 2014; Ringrose & Harvey, 2015;
Ringrose, Harvey, Gill, & Livingstone, 2013) ou quando recusam o envio de sexts
(Lippman & Campbell, 2014). O aspeto da pressão para envio sentida pelas jovens
113
raparigas é apoiada no trabalho de Ringrose, Gill, Livingstone e Harvey (2012) que
refere que os rapazes parecem desempenhar um papel mais ativo solicitando,
armazenando e distribuindo sexts de raparigas ou usando-os como moeda de troca.
Ainda tendo em conta a variável idade, vários estudos indicam que o sexting é
mais frequente em adolescentes mais velhos/as (Baumgartner et al., 2014; Cox
Communications, 2009; Dake et al., 2012; Livingstone & Görzig, 2014; Strassberg, et
al., 2012; Ybarra, Kimberly, & Mitchell, 2014).
Fazendo a comparação entre países, as culturas mais tradicionais revelam
diferenças de género mais acentuadas, realçando que os rapazes estão mais envolvidos
em comportamentos de sexting do que as raparigas (Baumgartner et al., 2014; Ybarra &
Mitchell, 2014).
Evidências nacionais
Em Portugal, as evidências científicas são ainda escassas, apesar de algumas
investigações contribuírem com informações relevantes para o estudo do fenómeno. No
âmbito do projeto EUKO, Baumgartner et al. (2014) concluíram que 3% dos/as
adolescentes portugueses/as, com idades compreendidas entre os 11 e os 16 anos, já
praticou sexting, tendo a prática sido mais prevalente em rapazes (3.4%) do que em
raparigas (2.6%). Através do inquérito realizado pelo projeto NCGM (Simões et al.,
2014), em termos globais e quanto à incidência de sexting, apurou-se que 5% das
crianças e adolescentes portugueses/as afirmam ter experienciado esta situação, e que
apenas 3% se sentiram incomodados/as com o sucedido. Apesar de estes resultados
mostrarem um claro recuo em relação aos resultados de 2010, quando atingiram 15%
(Simões et al., 2014), o atual valor de incidência em Portugal situa-se abaixo da média
europeia (11%), que oscila entre os 5% (Itália, Reino Unido, Portugal) e os 22%
(Roménia – 21%; Dinamarca – 22%). Adicionalmente, os dados deste estudo apontam
que as raparigas, mais do que os rapazes, referem receber este tipo de mensagens bem
como os/as adolescentes mais velhos/as (15-16 anos) e os/as internautas de famílias de
meio socioeconómico baixo.
A investigação conduzida por Silva, Teixeira, Vasconcelos-Raposo e Bessa
(2016), com pessoas de idades compreendidas entre os 18 e os 52 anos, indica que as
114
mulheres apresentam atitudes positivas face ao sexting, sendo também elas as que mais
interesse demonstram neste tipo de comportamentos. Relativamente ao estudo da idade,
os/as participantes mais jovens apresentam maior interesse no sexting e os/as que têm
atitudes mais positivas face a estas práticas.
2.2.2.2. Motivações e Atitudes face ao sexting
Apesar da escassez de estudos de natureza qualitativa onde possam ser tidas em
consideração as motivações para comportamentos de sexting por parte de jovens rapazes
e raparigas, Cooper et al. (2016) dividiram em quatro os principais motivos para as
práticas de sexting encontradas na literatura: flirtar ou despertar atenção romântica,
prática consensual dentro de uma relação de itimidade, experimentação juvenil e
pressão de pares.
Outros estudos anteriores foram identificando de igual forma estas razões,
nomeadamente, o despertar da atenção e interesse amoroso do/a namorado/a ou de
alguém com quem se gostaria de manter uma relação íntima. Esta motivação também
foi constatada no trabalho de Kopecký (2012), assim como a facilitação de contacto
sexual posterior (Henderson & Morgan, 2011; Lippman & Campbell, 2014; NCPTUP,
2008). Neste sentido, Temple e Choi (2014) concluíram que o sexting é,
frequentemente, um comportamento preliminar às relações sexuais dentro de um
relacionamento de intimidade juvenil. E, de facto, apesar de não ter sido encontrada
associação entre sexting e a satisfação com a relação, estas práticas podem ser
compreendidas nos/as adolescentes como formas de expressão de sentimentos e de
necessidade de proximidade física e sexual nos relacionamentos de intimidade juvenil
(Van Ouytsel, Walrave & Ponnet, 2019).
Assim sendo, o sexting tem vindo a ser entendido como uma prática considerada
frequente entre parceiros/as íntimos (NCPTUP, 2008; Van-Ouytsel et al., 2017) e
fazendo parte de dinâmicas de relacionamento amoroso. Assim, a vontade de se
“oferecer um presente sexy” ao/à namorado/a (NCPTUP, 2008), a necessidade de
retribuição por se ter recebido anteriormente conteúdos de natureza sexual assim como
de reforçar ou provar confiança (Drouin et al., 2013; Lenhart, 2009), são aspetos que
têm vindo a surgir associados à pratica de sexting entre casais.
115
Porém, as características específicas de cada relacionamento de intimidade
poderão estar relacionadas com diferentes motivações para o sexting (Mitchell et al.,
2012), sendo, por isso, importante aprofundar o conhecimento sobre esta associação e
perceber, por exemplo, se relações mais comprometidas ou mais casuais, influenciam as
motivações para a prática. A este respeito, Drouin et al. (2013), sugerem que em
relacionamentos mais comprometidos, o sexting poderá ser motivado pela necessidade
de manutenção da intimidade, como, por exemplo, nas situações em que um/a dos/as
parceiros/as intímos está longe. Por outro lado, a prática de sexting com intuito de
relações sexuais poderá estar associada a relacionamentos mais casuais.
O sexting pode também ser motivado pela curiosidade e experimentação juvenis
que ocorre com o aparecimento de novas oportunidades no espaço online (Bailey &
Hanna, 2011). O aborrecimento, a influência do ambiente ou de pares e a auto-
representação são aspetos que emergiram no estudo de Kopecký (2012) relacionados
com a necessidade de descoberta e exploração da sexualidade juvenil. Outros estudos
constataram que os/as jovens o consideram divertido (Cox-Communications, 2009) e
uma forma de explorar a sua identidade (Henderson & Morgan, 2011; Kopecky, 2015).
Por último, a pressão de namorados/as e/ou pares surge ainda na literatura como
um dos motivos relacionados com a prática de sexting (Englander, 2012; Lee, Moack, &
Walker, 2016; NCPTUP, 2008). As pressões para o envolvimento em comportamentos
de sexting relacionam-se com situações de violência digital na intimidade juvenil. Desta
feita, Marcum, Higginns e Ricketts (2014) verificaram no seu estudo que 13% dos
comportamentos de sexting foram “não desejados” mas consentidos, indo ao encontro
dos 60% dos/as adolescentes descobertos por Temple e Choi (2014) que tiveram
comportamentos de sexting a pedido de outra pessoa. Alguns estudos referem que as
raparigas reportam mais frequentemente esta pressão do que os rapazes (AP-MTV,
2009; Englander, 2012; Temple et al., 2012; Van-Ouytsel et al., 2017; Walker, Sanci, &
Temple, 2013). O estudo National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy
(NCPTUP, 2008) indicou a presença de 51% de raparigas que praticavam sexting
devido a pressões de rapazes, comparativamente com 18% de rapazes mencionando a
pressão de raparigas para o fazerem. No trabalho de Choi, Van Ouytsel & Temple
(2016) evidencia-se o elevado número de raparigas que terá sofrido coerção sexual
relacionada com as práticas de sexting, tendo 14.7% enviado sexts e 13.4% recebido,
116
indo ao encontro do estudo de Smith-Darden et al. (2017), onde 8% das participantes
referiram ter sido obrigadas pelos namorados a enviar conteúdos de natureza sexual. Por
fim, o estudo de Wolak et al. (2012) identificou que a pressão, a coerção, a chantagem e
o uso dos sexts como formas de vingança contra o/a parceiro/a afetivo/a são mais
frequentemente praticados pelos rapazes contra as/os suas/seus parceiras/os.
A literatura disponível tem vindo, conjuntamente, a debruçar a sua atenção sobre
as atitudes juvenis face ao sexting. Alguns dos dados encontrados revelam atitudes mais
positivas nos/as participantes que mencionaram já terem praticado sexting do que nos/as
participantes que nunca o tinham feito (Meydan, Mitchell, & Rothman, 2018;
Strassberg et al., 2013).
Outros estudos mencionam que jovens adolescentes, com idades entre os 13 e os
18 anos, consideram o sexting errado, quando praticado antes dos 18 anos (Cox
Communications, 2009) ou uma prática perigosa (Pérez, Fuente, García, Guijarro, &
Blas, 2010). Porém, noutro estudo, foram precisamente os/as adolescentes mais
novos/as quem considerou a prática mais divertida e flirty (NCPTUP, 2008). Os/as
jovens universitários/as são quem mais revela considerar o sexting com o/a parceiro/a
uma prática adequada num relacionamento de intimidade (Woolard, 2011), tendo-se
paralelamente verificado que são os/as jovens mais velhos/as que demonstram atitudes
mais positivas face a estes comportamentos (Meydan et al., 2018).
As raparigas, contudo, tendem a relatar experiências menos positivas associadas
a estes comportamentos (Englander, 2012) e a serem percecionadas mais negativamente
pelos pares (Cooper et al., 2016; Klettke, Hallford, & Mellor, 2014) quando o fazem,
surgindo no estudo de Walrave, Heirman e Hallam (2014) com atitudes mais
desfavoráveis face ao sexting e com um papel mais passivo na produção de conteúdos
para consumo masculino. Speno e Aubrey (2019) referem que a auto-objetificação está
associada positivamente a atitudes mais favoráveis face ao sexting, funcionando,
posteriormente, como preditor de envolvimento em sexting com parceiro/a de confiança
ou em sexting resultante de sugestões situacionais, enquanto que Van Ouytsel, Ponnet e
Walrave (2016) consideram que o sexting está mais frequentemente associado ao
consumo de pornografia para rapazes e raparigas.
117
2.2.2.3. Emergência de riscos associados: sextorsion, cyberstalking e revenge porn
Na opinião de Gómez e Ayala (2014) há uma demonização e criminalização
presente na investigação sobre o tema, que se foca, em grande extensão, na procura de
ligação do sexting com outros comportamentos de risco para a saúde juvenil (consumos:
uso de drogas e tabaco; promiscuidade: sexo oral e anal - double standard), decorridos
debaixo e pressão e coação. Alguns destes estudos encontraram uma associação entre
sexting juvenil e outros comportamentos de risco, dos quais se destacam os
comportamentos sexuais de risco (Judge, 2012; Richards & Calvert, 2009; Temple et
al., 2014). Além destes, foram conduzidos estudos sobre as associações entre sexting e
uso de substâncias e impulsividade, sendo, contudo, necessárias mais explicações sobre
estas relações, nomeadamente, se as substâncias poderão funcionar como desinibidoras
ao envio de sexts, se estão relacionadas com a exposição a modelos familiares com
consumos prévios ou a grupos de pares com comportamentos transgressivos (Temple et
al., 2014). Outras investigações ainda acrescentam que personalidades sensation seeking
surgem como preditoras do envolvimento em comportamentos sexting (Baumgartner,
Sumter, Peter, & Valkenburg, 2012; Van Ouytsel et al., 2014; Ybarra & Mitchell,
2014).
No que respeita à perceção do risco, os/as jovens demonstram estar conscientes
de diferentes desfechos negativos decorrentes do envio de conteúdos sexuais, tendo
75% dos/as adolescentes que participaram no estudo NCPTUP (2008) indicado que o
envio de sexts poderá ter consequências muito severas. O estudo de Wei (2012)
corrobora a perceção de elevado risco por parte dos/as jovens e ainda acrescenta que as
raparigas são percecionadas como as principais vítimas de práticas ou que poderão
sofrer maiores danos. Contudo, apesar das perceções sobre diferentes desfechos e
riscos, o facto é que os/as jovens continuam a fazê-lo, não se tendo encontrado dados
que distingam sexters de não sexters sobre o maior ou menor grau de risco
percecionado (Gómez & Ayala, 2014).
A perda de controlo sobre imagens e outros conteúdos que são divulgados sem
consentimento e o seu encaminhamento a um potencial ilimitado de recetores das
imagens, textos ou gravações de conteúdo erótico-sexual são dois possíveis desfechos
das práticas de sexting (Van-Ouytsel, Van-Gool, Walrave, Ponnet, & Peeters, 2016).
118
Adicionalmente, a associação de comportamentos de sexting a atos abusivos de
intimidade juvenil poderá relacionar-se com três fenómenos de vitimação digital que se
interligam, nomeadamente, sextorsion, cyberstalking e revenge porn, também
conhecida como “pornografia de vingança”.
Fajardo, Gordillo e Regalado (2013) definem-na como sextorsion com base na
chantagem e no uso de mensagens, fotos ou vídeos que a vítima poderá ter produzido
através de ameaças da sua divulgação e com vista a obter algum benefício. Segundo
Rodríguez et al., (2019) consiste num tipo de violência associado a comportamentos de
sexting, podendo incluir pressão, coação ou obrigação do/a namorado/a a enviar
material erótico-sexual por meio tecnológico e virtual ou, depois de participar em algum
comportamento de sexting, ocorrer chantagem ou extorsão do/a namorado/a com vista a
atingir os fins desejados, como, por exemplo, mais sexts, relações sexuais, entre outros.
Esta forma de violência é um tipo de exploração sexual não exclusiva de casais de
adolescentes (Almanza, Castillejo, & Vargas, 2013).
O segundo fenómeno, denominado de ciberstalking, é também conhecido como
“assédio cibernético”. O ciberstalking é realizado contra a vontade da vítima, através de
ameaças constantes e apoia-se no medo ou ameaça percecionada da vítima (Torres,
Robles, & De Marco, 2014), constituindo-se uma invasão repetida e disruptiva da vida
das vítimas e uma forma de perseguição e abuso através das tecnologias e da Internet
(Bocji & Farlane, 2002; Royakkers, 2000). Estes comportamentos, executados de forma
intencional, são utilizados para prejudicar, principalmente, os/as namorados/as ou ex-
namorados/as, no espaço virtual ou através dos dispositivos tecnológicos, convertendo-
se em manifestações de ciberviolência nas relações adolescentes e adquirindo a forma
de ameaças, falsas acusações, roubo de identidade, vigilância das atividades online da
vítima, chantagem, humilhações públicas, entre outras configurações (Bocij &
McFarlane, 2002; Estébanez, 2013). Os dados de cyberstalking mostram que as vítimas
tendem a ser jovens, entre os 16 e os 29 anos, e que cerca de 78% das mulheres que
sofreram assédio offline também o vivenciaram online (Burgess & Baker, 2002),
alinhando-se com outros/as investgadores/as que consideram que esta modalidade tem
raízes no stalking tradicional (Ellison, 1999; Gregorie, 2001). Tendo em conta a sua
prevalência, o estudo conduzido por Smith-Darden et al. (2017) indica que afeta 17% de
casais de jovens adolescentes.
119
Por último, a disseminação não consensual destas imagens ou conteúdos sexuais
pelo/a namorado/a, ou ex-namorado/a com intuito de prejudicar a vítima (Halder &
Jaishankar, 2013; Walker & Sleath, 2017) é designada de revenge porn. A “pornografia
de vingança” constitui-se uma forma de abuso sexual genderizada (McGlynn, Rackley
& Houghton, 2017) que, frequentemente, ocorre no seguimento de uma rutura da
relação de intimidade adulta ou juvenil (Bloom, 2014; Matsui, 2015; Osterday, 2016),
sem mútuo acordo (Dawkins, 2014; Ronay, 2014), tomando forma de pornografia não
consentida (Rodríguez-Castro et al., 2019). Os estudos sobre taxas de prevalência
apontam que a vitimação se situa entre 1.5% e 30% (Dick et al., 2014; Stanley et al.,
2016) mostrando ainda que 14% a 24% dos/as jovens se auto-identificaram como
perpetradores/as (Stanley et al., 2016). Walker e Sleath (2017) consideram a
“pornografia de vingança” como um tipo de abuso sexual baseado em imagens e
Branch, Hilinski, Johnson e Solano (2017) verificaram que 10% da amostra do seu
estudo tinha uma foto privada que tinha sido partilhada com mais pessoas do que o
destinatário final e que 53.8% dos/as participantes referiram ficar perturbados/as quando
algumas fotos sexuais foram partilhadas sem consentimento. As raparigas surgem como
as príncipais vítimas deste estudo. As consequências para as vítimas do género
feminino, tal como sinaliza Bates (2017), são sobretudo sentimentos de ansiedade,
depressão, transtorno pós-traumático e pensamentos suicídas.
Estudos sobre estes emergentes fenómenos são ainda escassos, porém é urgente
o investimento académico para melhor conhecer as dinâmicas que pautam a
transposição da violência na intimidade para o espaço online e desenvolver e
implementar programas co-educativos que promovam um uso responsável dos
dispositivos tecnológicos e dos espaços virtuais bem como de relações livres de
violência offline e online (Rodríguez et al., 2019).
2.2.2.4. Consequências
Os/as jovens parecem percecionar os comportamentos de sexting como uma
prática perigosa, identificando como possíveis consequências exploitation e bullying,
possíveis ataques ou abusos sexuais, má reputação, sanções legais ou punições
escolares, aumento da probabilidade de ser raptado/a ou morto/a e suicídio (Kopecký,
2012).
120
Segundo Livingstone e Gorzig (2014), além da escassez de estudos sobre as
consequências do sexting juvenil, verifica-se ainda menos estudado o impacto negativo
ou a avaliação dos danos da disseminação não consentida destes conteúdos. Por este
motivo, conduziram um estudo sobre receção de sexts e experiência de dano associada
tendo concluído que os rapazes, os/as jovens com mais dificuldades psicológicas e os/as
jovens que apresentam comportamentos de risco offline são quem apresenta maior
probabilidade de receber conteúdos de natureza sexual. Considerando o dano sofrido,
foram as raparigas, os/as adolescentes mais novos/as e os/as que enfrentam dificuldades
psicológicas quem mais reporta desconforto decorrente da receção destes conteúdos.
Tal como referem Van- Ouytsel et al. (2016), a violência digital nos
relacionamentos de intimidade ocorre sem que vítima e agressor tenham,
necessariamente, de estar juntos. Tendo em conta que pode acontecer a qualquer hora e
em qualquer lugar, as consequências associadas à ciberviolencia nos relacionamentos de
intimidade juvenil podem ser maximizadas (Rodríguez et al., 2019).
Esta distribuição não consensual e partilha de imagens sexuais privadas de uma
forma generalizada, muitas vezes sob a forma de revenge porn, tem repercussões não só
no imediato, mas constitui também uma ameaça constante de que essas imagens possam
ressurgir mais tarde na sua vida, trazendo danos diferenciados (Rodríguez, Alonso,
Carrera, Faílde, & Cid, 2016).
Na verdade, alguns estudos têm vindo a relacionar o envolvimento em práticas
de sexting com sintomatologia psicológica, tendo sido encontrada a associação
sentimentos de tristeza, raiva e transtornos de ansiedade (Bilic, 2013; Korenis & Billick,
2014; Temple et al., 2014), bem como depressão e suicídio (Siegle, 2010), afetando o
desenvolvimento psicológico, sexual, afetivo e/ou social. Porém, a grande maioria
destes estudos não são longitudinais e permitem apenas capturar variáveis
simultaneamente presentes num mesmo momento da pesquisa e não, como seria
desejável, na sua relação de causa-efeito (Livingstone e Gorzig, 2014). Porém, como
referem Temple et al. (2014), se o sexting poderá ser considerado um “marcador” (p.
35) para diferentes comportamentos de risco, não existem evidências de que se constitui
um “indicador” de comprometimento ou diminuição da saúde mental juvenil.
121
Olhando para os estudos conduzidos no contexto português, o impacto do
cyberbullying perpetrado por um/a namorado/a constitui-se um acontecimento com um
impacto negativo muito acentuado, tendo Neves, Ferreira, Abreu, Borges e Topa (2019)
verificado que 57% das vítimas de cyberbullying sofre um efeito psicológico
considerável.
2.3 A Participação Juvenil nas Políticas Públicas de Combate à Violência
nos Relacionamentos de Intimidade
“Some say I should be in school. But why should any young person be
made to study for a future when no one is doing enough to save that
future? What is the point of learning facts when the most important
facts given by the finest scientists are ignored by our politicians?”
Greta Thunberg, 16 anos, ativista ambiental sueca
As palavras de Greta Thunber são sobre a crise ambiental com que nos
deparamos atualmente, mas poderiam ser perfeitamente transpostas para as
desigualdades de género estruturais. Não pretendendo questionar se as crianças e os/as
jovens deverão obrigatoriamente ter acesso a sistemas educativos formais e a frequentá-
los, importa problematizar, partindo das mesmas perguntas colocadas pela jovem sueca.
Por que preparar os/as jovens para um futuro que estruturalmente de vislumbra desigual,
muitas vezes em contextos escolares pautados já por mecanismos que permitem o
assédio sexual nos seus espaços, coartam liberdades individuais e esculpem crianças e
jovens para o aprimorado desempenho dos papéis de género desejado pelas suas
famílias, sociedades e culturas? Qual o propósito da aprendizagem escolar se esta
denota um desfasamento da produção do conhecimento nos estudos de género e de
saúde sexual e reprodutiva e, como na situação portuguesa, até das políticas públicas e
dos compromissos estatais, assumidos internacionalmente, de combate à violência de
género? Qual o papel dos/as jovens face a este cenário? Quais as suas visões e sonhos?
De que forma imaginam o seu futuro e como podemos preparar o seu caminho para os
passos que irão dar? Que soluções vislumbram para os problemas sociais com que nos
deparamos? Como são incluídos nos processos consultivos das políticas públicas que
afetam as suas vidas? Quando os ouviremos e como os ouviremos são algumas das
124
define eixos e objetivos estratégicos de âmbito nacional até 2030. Desta estratégia
fazem parte três planos de ação onde constam medidas e metas concretas até 2021:
- Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens;
- Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as
Mulheres e a Violência Doméstica;
- Plano de Ação para o Combate à Discriminação em razão da Orientação
Sexual, Identidade e Expressão de Género, e Características Sexuais.
A temática da violência no namoro é diretamente abordada no Plano de Ação
para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica
(2018-2021) no objetivo estratégico 1: Prevenir - erradicar a tolerância social às várias
manifestações da VMVD, conscientizar sobre os seus impactos e promover uma cultura
de não violência, de direitos humanos, de igualdade e não discriminação, mais
concretamente no objetivo específico 1.2 - Qualificar os programas de prevenção
primária e secundária e respetivas entidades e profissionais, e promover a sua
implementação a nível territorial através das medidas: 1.2.1- Avaliação da eficácia e da
conformidade dos programas de prevenção primária e secundária que acedem a
financiamento público, com requisitos mínimos a fixar num guia e 1.2.2 1.2.2. -
Promoção de programas e mecanismos de prevenção e estratégias de apoio a crianças e
jovens, ao nível da prevenção primária e secundária. Os indicadores de resultados
estabelecidos para o cumprimento destas medidas foram:
- Programas que acedem a financiamento público avaliados em
conformidade com o guia;
- Rapazes em CE e escolas que demonstram alteração (positiva) de
comportamentos/percepções;
- Projetos de prevenção da violência no namoro na plataforma, que adotam
metodologias uniformizadas.
Acresce ainda a Lei n.º 60/2009 para a implementação da Educação Sexual em
contexto escolar (Diário da República, I Série, n.º 151, de 6 de agosto 2009), que se
inscreve na Educação para a Saúde em meio escolar, sendo considerado um documento
de relevo para o combate à violência no namoro e a promoção de relacionamentos
125
igualitários inicialmente impulsionada pelo debate público e preocupações relacionadas
com a gravidez adolescente, a prevenção de infeções sexualmente transmissíveis e
comportamentos sexuais de risco que se fizeram sentir no decorrer da década de 90 em
Portugal.
A definição de Educação Sexual engloba o “processo pelo qual se obtém
informação e se formam atitudes e crenças acerca da sexualidade e do comportamento
sexual” (GTES, 2005, p. 7), estabelecendo a presente Lei n.º 60/2009 (Diário da
República, I Série, n.º 151, de 6 de agosto 2009), a obrigatoriedade do seu regime de
aplicação nos projetos educativos escolares. Por esta via, comprometem-se ao
cumprimento das seguintes finalidades de seguida apresentadas (cf. Tabela 3).
Tabela 3
Finalidades da Lei da Educação Sexual (Lei n.º 60/2009)
a. A valorização da sexualidade e afectividade entre as pessoas no desenvolvimento individual,
respeitando o pluralismo das conceções existentes na sociedade portuguesa;
b. O desenvolvimento de competências nos jovens que permitam escolhas informadas e seguras no
campo da sexualidade;
c. A melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais dos jovens;
d. A redução de consequências negativas dos comportamentos sexuais de risco, tais como a gravidez
não desejada e a infeções sexualmente transmissíveis;
e. A capacidade de proteção face a todas as formas de exploração e de abuso sexuais;
f. O respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais;
g. A valorização de uma sexualidade responsável e informada;
h. A promoção da igualdade entre os sexos;
i. O reconhecimento da importância de participação no processo educativo de encarregados de
educação, alunos, professores e técnicos de saúde;
j. A compreensão científica do funcionamento dos mecanismos biológicos reprodutivos;
k. A eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na violência em função do
sexo ou orientação sexual.
Desta forma, a Lei n.º 60/2009 (Diário da República, I Série, n.º 151, de 6 de
agosto 2009), compreende uma estratégia educativa transversal aos diferentes anos
letivos de escolaridade obrigatória, com exceção do Pré-escolar. Para a concretização
destas finalidades, as escolas são incentivadas ao estabelecimento de parcerias com
outras entidades da área da educação para a saúde e educação sexual, bem como a
126
organizarem gabinetes de informação e apoio ao aluno/a disponíveis à população
escolar, pelo menos durante uma manhã e uma tarde por semana. Estes gabinetes
deverão ser dinamizados por profissionais com formação especializada nestas matérias
e articular com os gabinetes de saúde infantil e unidades móveis ao dispor das escolas
do Instituto Português da Juventude e do Desporto.
A Portaria n.º 196- A/2010 de 9 de Abril (Diário da República, I série, n.º 69 de
9 de abril de 2010) veio regulamentar a Lei n.º 60/2009 (Diário da República, I Série,
n.º 151, de 6 de agosto 2009) e definir as orientações curriculares adequadas para os
diferentes níveis de ensino, respondendo aos objetivos mínimos da área da Educação
Sexual. Estes objetivos poderão ser concretizados nos períodos destinados às áreas
curriculares e não curriculares e integrados na Educação para a Saúde (cf. Tabela 4a e
4b).
Tabela 4a
Orientações curriculares para a implementação da educação sexual por nível de ensino
1.º ciclo
(1.º ao 4.º anos)
Carga Horária: mínimo 6 horas/ano
Noção de corpo; O corpo em harmonia com a Natureza e o seu ambiente social e cultural; Noção de família; Diferenças entre rapazes e raparigas; Proteção do corpo e noção dos limites, dizendo não às aproximações abusivas.
2.º ciclo
(5.º e 6.º anos)
Carga Horária: mínimo 6 horas/ano
Puberdade - aspetos biológicos e emocionais; O corpo em transformação; Caracteres sexuais secundários; Normalidade, importância e frequência das suas variantes biopsicológicas; Diversidade e respeito; Sexualidade e género; Reprodução humana e crescimento; contraceção e planeamento familiar; Compreensão do ciclo menstrual e ovulatório; Prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas; Dimensão ética da sexualidade humana.
127
Tabela 4b
Orientações curriculares para a implementação da educação sexual por nível de ensino
3.º ciclo
(7.º ao 9.º anos)
Carga Horária: mínimo 12 horas/ano
Dimensão ética da sexualidade humana: Compreensão da sexualidade como uma das componentes mais sensíveis da pessoa, no contexto de um projeto de vida que integre valores (por exemplo: afetos, ternura, crescimento e maturidade emocional, capacidade de lidar com frustrações, compromissos, abstinência voluntária) e uma dimensão ética; Compreensão da fisiologia geral da reprodução humana; Compreensão do ciclo menstrual e ovulatório; Compreensão do uso e acessibilidade dos métodos contracetivos e, sumariamente, dos seus mecanismos de ação e tolerância (efeitos secundários); Compreensão da epidemiologia das principais IST em Portugal e no mundo (incluindo infeção por VIH/vírus da imunodeficiência humana - HPV2/vírus do papiloma humano - e suas consequências) bem como os métodos de prevenção. Saber como proteger o seu próprio corpo, prevenindo a violência e abuso físico e sexual e comportamentos sexuais de risco, dizendo não a pressões emocionais e sexuais; Conhecimento das taxas e tendências de maternidade e da paternidade na adolescência e compreensão do respetivo significado; Conhecimento das taxas e tendências das interrupções voluntárias de gravidez, suas sequelas e respetivo significado; Compreensão da noção de parentalidade no quadro de uma saúde sexual e reprodutiva saudável e responsável; Prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas.
Ensino Secundário
Carga Horária: mínimo 6 horas/ano
Compreensão ética da sexualidade humana. Sem prejuízo dos conteúdos já enunciados no 3.º ciclo, sempre que se entenda necessário, devem retomar-se temas previamente abordados, pois a experiência demonstra vantagens de se voltar a abordá-los com alunos que, nesta fase de estudos, poderão eventualmente já ter iniciado a vida sexual ativa. A abordagem deve ser acompanhada por uma reflexão sobre atitudes e comportamentos dos adolescentes na atualidade: Compreensão e determinação do ciclo menstrual em geral, com particular atenção à identificação, quando possível, do período ovulatório, em função das características dos ciclos menstruais. Informação estatística, por exemplo sobre: Idade de início das relações sexuais, em Portugal e na UE; Taxas de gravidez e aborto em Portugal; Métodos contracetivos disponíveis e utilizados; segurança proporcionada por diferentes métodos; motivos que impedem o uso de métodos adequados; Consequências físicas, psicológicas e sociais da maternidade e da paternidade de gravidez na adolescência e do aborto; Doenças e infeções sexualmente transmissíveis (como infeção por VIH e HPV) e suas consequências; Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; Prevenção dos maus tratos e das aproximações abusivas.
128
Tendo em conta alguns dos contributos académicos sobre a temática da
Educação Sexual, é possível constatar que Portugal carece de programa que se constitua
uma abordagem compreensiva sobre como o género e a cultura de classe étnica,
regional e local podem determinar a forma como rapazes e raparigas vivenciam a sua
sexualidade (Saavedra, Magalhães, & Soares, 2007). Um outro trabalho, de Santos et
al., (2012) constata uma aparente ocultação da forma como rapazes e raparigas vivem e
constroem as suas experiências sexuais e uma tendência para a transmissão de
sexualidades hegemónicas que silenciam outras orientações sexuais. Desta feita,
consideram a educação sexual um importante veículo de empoderamento, cidadania e
autonomia das jovens do sexo feminino tendo em conta as dificuldades apresentadas
pelas jovens mulheres para a negociação da sua sexualidade e desejo.
Por estes motivos, Nogueira, Saavedra e Costa (2008) concluem ser essencial
pensar as diferentes interseções destas categorias para que a intervenção ao nível da
educação sexual seja verdadeiramente eficaz e para que se ultrapassem visões negativas
sobre a sexualidade juvenil na abordagem de informações de prevenção de
comportamentos sexuais de risco. Mais ainda, consideram que os programas de
educação sexual e prevenção de comportamentos específicos devem cuidar do papel de
ambos os sexos na interação sexual, valorizando o envolvimento e cuidado do sexo
masculino nas questões de saúde sexual e reprodutiva e promovendo formas de
comunicação que facilitem a partilha das responsabilidades destas questões entre os/as
parceiros/as íntimos/as.
Um outro exemplo ao nível das políticas nacionais existentes é o Programa
Parlamento dos Jovens, aprovado na Resolução da Assembleia da República 42/2006
(Diário da República, I Série-A, n.º 107, de 2 de junho de 2006), dirigido aos/às jovens
do 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e Secundário das escolas do ensino público,
particular e cooperativo do continente, das regiões autónomas e círculos da Europa e de
fora da Europa. Este programa tem como parceiros da Assembleia da República, o
Ministério da Educação, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e as
secretarias regionais que tutelam a educação e a juventude nos Açores e na Madeira
para o desenvolvimento e execução do programa.
129
Esta iniciativa tem como objetivos:
- Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e
política;
- Dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato
parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do
Parlamento, enquanto orgão representativo de todos os cidadãos
portugueses;
- Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões
e pelas regras de formação das decisões;
- Incentivar a reflexão e o debate sobre um tema, definido anualmente;
- Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais;
- Estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das
ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade
da maioria;
- Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões
que afetem o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir
as suas propostas junto dos orgãos do poder político.
O acompanhamento e orientações do modelo de sessões do programa e das suas
etapas preparatórias é da responsabilidade da Comissão Parlamentar de Educação,
Ciência e Cultura. O programa apresenta diferentes fases durante o ano letivo, sendo a
primeira na Escola e consistindo na promoção do debate do tema proposto
internamente, e/ou com convidados/as, e na organização de um processo eleitoral de
formação de listas para eleição de deputados/as, campanha e eleição. Após esta eleição,
decorre uma sessão escolar onde se aprova o projeto de recomendações da escola e se
elegem os/as representantes à sessão distrital ou regional. Na segunda fase, que decorre
ao nível distrital, são apresentados os projetos escolares que se submetem à sessão
nacional e eleitos/as os/as deputados/as jovens para a fase seguinte. A terceira e última
sessão, decorre na Assembleia da República e reúne os/as deputados/as jovens que
representam cada distrito. Após o debate nas comissões, e em plenário, é aprovada a
recomendaçãoo final sobre o tema da edição anual desta iniciativa.
131
para a implementação de políticas que beneficiem tanto a população juvenil como
outros grupos de pessoas. Constitui-se assim também, uma referência de promoção da
cooperação entre jovens, organizações juvenis e órgãos de poder local e regional.
No entanto, a participação juvenil estende-se além do envolvimento político e/ou
participação em conselhos de juventude, podendo materializar-se noutras expressões
juvenis, tais como trabalho voluntário, educação entre pares, presença em cargos de
direção de associações, envolvimento em organizações ou clubes, dinamização de
grupos de discussão online e outras atividades de tempos livres. Apesar de ainda não ser
consensual, são também tidas como novas formas de participação outras expressões, tais
como assinar petições, participação em grupos de apoio, boicote a produtos,
manifestações, usar a Internet para recolher informação, expressar opinião e influenciar
processos de tomada de decisão, entre outras (CoE, 2015).
A participação é um antídoto à prática educativa tradicional, que corre o
risco de deixar os jovens alienados e suscetítiveis à manipulação. Através
duma participação genuina em projetos, que envolvam soluções para
problemas reais, os jovens desenvolvem competencias de reflexão crítica
e de comparação perspectivas essenciais à autodeterminação de crenças
políticas. O benefício é duplo: à auto-realização da criança e à
democratização da sociedade. (Hart, 1992, p. 36)
Tal como refere Hart (1992), a participação constitui-se um direito fundamental
de cidadania, uma vez que permite a aprendizagem aos/às jovens sobre o seu papel
enquanto cidadãos/ãs. Porém, “A participação juvenil não acontece simplesmente; não
se desenvolve do nada” (Faz-te ouvir!, 2015, p. 26). Para que aconteça, é necessária a
presença de algumas pré-condições que permitam e estimulem o envolvimento juvenil,
definidas em e para cada contexto específico pelos/as seus/suas intervenientes. Baseado
na escada da participação de cidadãos de S. Arnstein, Hart propôs um modelo chamado
“escada da participação de crianças”, que ilustra os diferentes graus de participação de
crianças e jovens na vida da comunidade (cf. Figura 2).
132
Figura 2 Escada de Participação de Hart (1992)
A proposta de Hart (1992) compreende oito degraus na escala da participação
juvenil. O topo da escada refere-se a uma participação iniciada por jovens onde pessoas
adultas são convidadas a tomar parte do processo de tomada de decisão, enquanto que
no primeiro degrau da escada falamos duma participação juvenil onde pessoas jovens
são apenas convidadas a participar sem terem qualquer tipo de influência em decisões
ou resultados advindos de determinado processo, sendo na verdade a sua participação
usada apenas para alcançar outros objetivos.
Analisando detalhadamente os restantes degraus, a sétima escada diz respeito a
uma participação semelhante à do último degrau, com a diferença na menor participação
de pessoas adultas. Os degraus quatro a seis relacionam-se com processos iniciados e
geridos por pessoas adultas, diferindo entre eles o tipo de participação e envolvimento
de pessoas jovens. Enquanto que no degrau seis existe uma tomada de decisão
133
partilhada, no quinto degrau existe apenas uma auscultação ou consulta feita a jovens.
Já no quarto degrau, as pessoas jovens são convidadas a assumir papéis ou tarefas
específicas no projeto, sem estarem necessariamente a par do seu papel e influência a
larga escala. No terceiro degrau temos jovens que assumem responsabilidades sem que
tenham qualquer tipo de influência na tomada de decisão e que, consciente ou
inconscientemente, acabam por ter um papel meramente simbólico, sendo dada a
perceção de que os/as jovens participam, mas não tendo, na verdade, qualquer poder de
escolha relativamente ao que fazem ou como o fazem. O segundo degrau diferencia-se
do primeiro na medida em que não existe um uso do papel de jovens, com objetivos
relacionados com os seus interesses, sendo que são usados apenas como “decoração”,
estando presentes em eventos ou projetos com alguma visibilidade, mas sem qualquer
tipo de ação destinada a si em concreto. De acordo com esta proposta de modelo de
participação de crianças e jovens, importa destacar que nos primeiros três degraus da
mesma não existe qualquer tipo de participação de jovens.
Uma outra abordagem à participação juvenil, conhecida OMEDA
(Oportunidades, Meios, Espaços, Direito e Apoio), permite avaliar até que ponto
qualquer um dos cinco principais fatores (oportunidades, meios, espaço, direito e apoio)
influenciam a participação juvenil presente num determinado momento (CoE, 2015) (cf.
Figura 3).
Figura 3 Abordagem OMEDA à participação juvenil
134
Assim, o primeiro fator diz respeito às oportunidades, implicando que, para que
a participação ocorra, é preciso haver uma oportunidade, ou seja, um acesso fácil à
informação, às iniciativas existentes e ao local onde se encontram. Este fator, quando
rigorosamente implementado, permite que os/as jovens possam participar duma forma
informada na sua comunidade local, através de mecanismos que adequados à sua
participação. O fator referente aos meios compreende a existência de recursos básicos,
inerentes quase à sobrevivência de qualquer pessoa, que devem ser assegurados antes de
qualquer outra coisa. Enquanto estas necessidades básicas não forem supridas, é natural
que os/as jovens com menos recursos sintam maior dificuldade em participar na vida da
sua comunidade. Nesse sentido é essencial que se priorize a resposta a necessidades
básicas de forma a não comprometer a participação. O terceiro fator da abordagem
OMEDA diz respeito ao espaço. Foca-se na necessidade física da existência dum espaço
onde os/as jovens possam encontrar-se, reunir-se, organizar e participar nas suas
iniciativas, assim como na existência dum espaço e onde os/as jovens possam, de forma
devidamente enquadrada, tomar parte na elaboração de políticas, através da
manifestação das suas opiniões, duma forma visível, e cujas decisões tomadas tenham
impacto real, fugindo a um esquema de representação simbólica. Posteriormente, o
seguinte fator diz respeito ao direito que os e as jovens têm, fundamental e implícito, de
participar. Este direito vai desde direitos cívicos e políticos, a direitos sociais,
económicos e culturais. Por fim, os jovens têm necessidade de ter apoio para que
possam de facto alcançar as suas ambições, desenvolver o seu potencial e talento. Este
último fator, o apoio, refere-se aos tipos de ajuda que os/as jovens precisam de ter,
podendo manifestar-se de diferentes formas. É importante que os/as jovens possam ter
ajuda financeira para realizar as suas iniciativas, de forma a que não se vejam
impedidos, por exclusão, de participar. Também é necessário que tenham algum tipo de
apoio organizacional ou institucional que reconheça a importância e o contributo do seu
papel na comunidade e que apoie os/as jovens no desenvolvimento das suas iniciativas
duma forma estruturada. Para que haja uma participação significativa, é importante que
os cinco fatores estejam presentes em determinado projeto, iniciativa ou processo e
sejam tidos em conta como um sistema de elementos interdependentes.
Por último, considera-se fundamental promover um diálogo estruturado entre
jovens e representantes das estruturas de governação nos seus diferentes níveis, bem
como aumentar o número de iniciativas que sejam organizados para, com e por jovens
135
sobre igualdade de género. Este reposicionamento poderá trazer consequências positivas
ao nível do impacto individual e comunitário, mas também aumentar a qualidade das
intervenções realizadas, ancorando-as no protagonismo juvenil enquanto ferramenta de
transformação social e promoção da democracia.
2.3.3.1. Potencialidades e constrangimentos da participação juvenil
Como visto acima, a participação juvenil é inerente à criação de condições para
que possa acontecer duma forma produtiva, forma esta que não difere muito da
participação de qualquer cidadão, acarretando, ainda assim, algumas barreiras a
contornar.
A participação juvenil traz benefícios muito concretos e visíveis, não só para
os/as próprios/as jovens, mas também para as organizações e comunidades aonde
pertencem. No entanto, para que haja uma participação significativa, é necessária a
articulação de todas as partes (jovens, associações e administrações local) e a partilha da
responsabilidade na garantia das condições necessárias à participação juvenil.
Considerando as potencialidades da participação juvenil, destacam-se as diferenças
positivas nas suas vidas, fazendo com que se sintam ouvidos/as e estimulando o
desenvolvimento das suas capacidades. Outro aspeto positivo relaciona-se com a
criação de espaços de uso de talentos e competências juvenis em prol da comunidade e,
simultaneamente, o reconhecimento das pessoas adultas sobre o potencial juvenil. A
participação juvenil estimula os/as jovens a assumirem as responsabilidades das suas
ações e deciões e promove uma compreensão mais aprofundada da democracia e do seu
funcionamento. Adicionalmente, torna os processos de tomada de decisão mais
representativos e desenvolve nas pessoas adultas as competências de trabalho com
jovens e a compreensão das suas necessidades e opiniões. Por último, aumenta a
criatividade na abordagem e resolução de questões locais e regionais (CoE, 2015).
Por outro lado, o trabalho com jovens não está isento de constrangimentos,
podendo ser sinalizados, quer ao nível comunitário (associado a questões políticas,
culturais ou de valores), quer ao nível individual. Tendo em conta os constrangimentos
mais estruturais, destacam-se os diferentes valores e hábitos de jovens e adultos/as, o
136
insuficiente apoio e incentivo à participação, a posição dos/as jovens na hierarquia
social, as visões paternalistas sobre a juventude e os estereótipos redutores sobre
adultos/as e jovens (CoE, 2015). Ao nível individual, a autoestima e a sua capacidade de
tomada de perspetiva do/a outro/a influencia a sua capacidade de se percecionar capaz
de colaborar num grupo ou comunidade e a sua habilidade de comunicar eficazmente
com os/as outros/as. Estes aspetos requerem a sensíbilidade dos/as adultos/as às
barreiras trazidas pelas crianças e adolescentes. Também a classe social, e outras
categorias identitárias, tais como o género, poderão comprometer a sua participação, já
que as desigualdades sociais poderão ser transportas para desigualdades ao nível do
acesso a oportunidades de participação (Hart, 1992).
2.3.3.2. A invisibilidade da participação cívica das jovens raparigas
Segundo Weller (2006), existe um gap no conhecimento sobre a participação
feminina nas culturas e subculturas juvenis, tanto nos estudos sobre a juventude como
nos estudos feministas, que resulta numa invisibilização do papel das raparigas nas
manifestações político-culturais, um pouco por todo o mundo, e uma maior dificuldade
de captação dos seus estilos e significados.
Situados entre estes dois campos de saber, os estudos sobre raparigas, também
conhecidos como Girlhood Studies, só muito recentemente foram alvo de maior atenção
e consideração académica, tendo até então ocupado um lugar entre os estudos feministas
e os da juventude. Situada na interface destas duas áreas de conhecimento, esta
emergente área da pesquisa foi frequentemente marginalizada perante a
“masculinização” universal da pesquisa sobre a juventude e a “adultização” dos estudos
feministas que partilhavam, juntamente com os movimentos sociais, preocupações,
primordialmente relacionadas com a vida das mulheres adultas (Kearney, 2009).
A socialização das raparigas tende a promover a sua proteção e dependência e
não a sua autonomia. Desta feita, Hart (1992) constatou um menor número de projetos
comunitários direcionados a raparigas nos países em desenvolvimento, relacionando
este facto com a natureza dos espaços que ocupam, em geral mais limitados ao espaço-
casa e às tarefas que lhes são destinadas. Esta invisibilidade das raparigas requer o
137
desenho de programas que atendam às especificidades culturais de género de forma a
melhor diminuir as barreiras à sua participação. De facto, as jovens raparigas estão
frequentemente fora do centro das atividades desenvolvidas nas associações e clubes
juvenis, sendo, simultaneamente, menos visíveis e as suas necessidades menos tidas em
conta (Batsleer, 2017).
O envolvimento juvenil em grupos formais e não formais na comunidade é
preditor do envolvimento cívico e político na vida adulta (Larson & Hansen, 2005;
Verba, Schlozman, & Brady, (1995). Assim sendo, e indo ao encontro de Batsleer
(2017), a escassa participação de jovens raparigas nestes espaços de promoção de
cidadania contribui para uma maior alienação sobre a importância das atividades cívicas
e políticas na vida adulta. De forma a melhor ilustrar este facto, um estudo italiano
verificou que, apesar de não existirem diferenças no interesse político entre jovens
rapazes e raparigas de 14 anos, o mesmo não se verifica a partir dos 18 anos,
sinalizando-se um maior interesse dos jovens rapazes e acentuando-se este fosso de
género na transição para a vida adulta (Istat, 2010). Esta diferença tende a diminuir
quando as mulheres apresentam uma educação e um nível sócio-económico mais
elevados. Anteriormente, já Jennings (1979) tinha explanado que estas diferenças na
participação cívica e política reforçavam os papéis tradicionais de género e resultavam
em recursos e oportunidades de participação diferenciados para homens e mulheres,
como, por exemplo, o tempo disponível para a participação e a sua concorrência com o
tempo necessário à execução de tarefas tradicionais de género.
Portney, Eichenberg e Neimi (2009) conduziram um estudo com jovens com
idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos sobre diferenças de género na
participação política e cívica, concluindo que os rapazes revelam estar mais informados
do que as raparigas. Para além disso, as suas evidência revelam que assim que as
raparigas obtêm acesso à informação sobre participação política e cívica, esta diferença
esbate-se significativamente. As influências parentais emergiram neste estudo como
particularmente importantes para determinar a participação das jovens raparigas.
Adicionalmente, Cicognani, Zani, Fournier, Gavray e Born (2011) concluiram que as
raparigas são mais incentivadas pelas suas famílias a participarem em atividades
supervisionadas por adultos/as e mais estruturadas. Apesar dos esforços e melhorias que
se têm vindo a fazer para a diminuição do gap de género na participação cívica e
138
política das mulheres ao longo das últimas décadas (Inglehart & Norris, 2003; Paxton,
Kunovich, & Hughes, 2007), as diferenças de género revelam-se em diferentes tipos de
participação. Ou seja, as mulheres optam mais por uma participação informal e
demonstram uma maior inclinação para atividades cívicas, como o voluntariado,
enquanto que os homens revelam uma maior tendência para atividades de cariz político
(Wilson, 2000 as cited in Cicognani et al., 2011).
Outro aspeto a destacar prende-se com diferenças de género na perceção e
desenvolvimento de competências de liderança (Kezar & Moriarty, 2000). Os modelos
de liderança masculina tendem a apoiar-se na hierarquia, poder diretivo e na competição
e recompensa, enquanto que os modelos de liderança feminina apresentam um maior
foco na construção da relação, na empatia e no empoderamento (Douglas, 2012; Kezar
& Moriarty, 2000 as cited in Daniel, Dlamini, Stanton, Koustova, 2013).
Daniel et al. (2013) confirmaram no seu estudo a existência de diferenças de
género e de background cultural no desenvolvimento de competências de liderança,
tendo as jovens participantes identificado barreiras relacionadas com o género, não só
no caminho para chegar a cargos de liderança, mas também na sua autoperceção como
líderes. Este facto parece relacionar-se com a insegurança sobre as suas capacidades,
mesmo em situações onde algumas destas raparigas já demonstravam alto
comprometimento com a comunidade, revelando que vários estereótipos de género se
constituem barreiras à sua participação cívica.
Levando em consieração o anteriormente descrito, e com os olhos postos no
percurso de desenvolvimento de uma jovem rapariga até se tornar mulher adulta,
vislumbra-se a necessidade de reunir esforços educativos para a promoção da
participação cívica e política juvenil que atentem aos dados dos estudos existentes e que
possam incluir estratégias diferenciadas para a promoção do espírito crítico e das
competências cívicas de rapazes e raparigas (Cicognani et al., 2011; Portney et al.,
2009). Estas estratégias deverão partir de uma auscultação dos/as jovens e serem
delineadas e adequadas para a escuta do/a Outro/a (Spivak, 2002) juvenil, no sentido do
empoderamento dos/as jovens para a resolução dos problemas que afetam as suas vidas,
agora e no futuro, de um modo não subalternizado; estarem comprometidas com a
redução das diferenças de género promotoras de desigualdades e com a contribuição
139
para o delineamento de políticas mais igualitárias, nomeadamente, as de combate à
violência contra as mulheres.
Tal como refere a UNICEF (2006), a eliminação de todas as formas de violência
contra raparigas requer estudos e análises que procedam à inclusão das perspetivas
dos/as jovens, em especial das jovens mulheres. Só a inclusão das suas perceções e
perspetivas poderá melhorar o processo de tomada de decisão sobre as maneiras mais
adequadas de combate à violência de género. A promoção de espaços seguros para
jovens rapazes e raparigas que garantam o adequado apoio de adultos/as e o acesso a
oportunidades para agirem por si próprios torna-se fundamental para transformar o
papel dos/as jovens na resolução dos problemas que afetam as suas vidas, permitindo
que deixem de ser meramente recetores/as das intervenções conduzidas e se constituam
como protagonistas das transformações sociais desejadas e necessárias. Uma mudança
no paradigma de intervenção contribuirá para que jovens raparigas possam assumir
papéis de maior destaque, para (re)definir o seu valor nas estruturas sociais envolventes
e para significar a importância dos seus contributos no desenho de políticas públicas de
combate à violência de género. Por último, esta mudança poderá também ser
determinante para a sua capacitação e empoderamento para lidar com situações abusivas
que possam enfrentar no seu dia-a-dia.
Finalizado o marco teórico desta pesquisa, dá-se início ao marco empírico que
compreende os capítulos de metodologia, apresentação de dados, discussão de dados e
conclusões.
145
Sinopse
O Capítulo 3 compreende a apresentação e descrição do desenho metodológico
utilizado nesta pesquisa dividindo-se, para o efeito, em diferentes momentos.
O primeiro momento diz respeito à definição da problemática do estudo, onde
são enquadradas questões relacionadas com o estado da arte da violência nos
relacionamentos de intimidade em Portugal, assim como as preocupações e o
questionamento suscitado nas investigadoras que originaram a condução desta pesquisa.
O segundo momento debruça-se sobre os pressupostos teórico-epistemológicos
que estão na base das opções metodológicas que enquadram este trabalho e que
compreende a articulação entre o Construcionismo Social e Teoria Feminista Crítica,
em particular a Teoria da Interseccionalidade. São também abordadas as considerações
e os cuidados éticos que estiveram na condução desta investigação com adolescentes
antes, durante e após a recolha de dados.
No terceiro e quarto momento elencam-se os objetivos gerais e específicos e as
hipóteses formuladas terminando com a apresentação da sua articulação juntamente
com as questões de partida desta investigação.
O quinto momento foca-se no tipo de estudo conduzido e na sua natureza
multimodal bem como na descrição das fases de condução das dimensões quantitativa e
qualitativa de recolha de dados.
O sexto momento aborda a caracterização do grupo de participantes em ambas
as dimensões deste estudo e o sétimo momento os procedimentos levados a cabo na
recolha de dados. No oitavo momento são descritos os instrumentos utilizados quer na
dimensão quantitativa (questionários, escalas e inventários) quer na qualitativa (guião
de condução dos focus groups). O último momento, apresenta detalhadamente o
processo de armazenamento, tratamento e análise dos dados quantitativos e qualitativos
recolhidos.
146
3.1 Problemática de Investigação
A violência no namoro tem vindo a merecer o interesse da investigação
científica mundial nos últimos vinte anos. Em Portugal, sobretudo nos últimos 10 anos,
também se verificou um aumento do interesse por esta problemática e da produção do
conhecimento acerca da violência nos relacionamentos juvenis, tendo sido possível
conhecer a prevalência deste problema, as tipologias de maus tratos mais
frequentemente perpetradas e experienciadas por rapazes e raparigas (Machado et al.,
2010), bem como identificar fatores protetores e de risco associados (Caridade &
Machado, 2010).
Este interesse e investimento têm vindo a ser protagonizados, nos domínios
académicos e sociais, pelos/as diferentes atores/as (investigadores/as, ativistas,
trabalhadores/as dos sectores social e político, etc.) cujo esforço e dedicação ao combate
contra a violência doméstica conduziram igual e progressivamente à desocultação,
sensibilização e discussão do fenómeno nos contextos juvenis e na população
portuguesa em geral. A violência no namoro (entre namorados/as e ex-companheiros/as
heterossexuais e homossexuais) está hoje, no domínio jurídico-legal, incluída no crime
de violência doméstica previsto no artigo 152º do Código Penal. No âmbito político-
social, esta problemática é também uma prioridade comtemplada na Estratégia Nacional
para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 «Portugal + Igual». Recentemente,
dentro do domínio académico, as discussões em torno da violência nos relacionamentos
de intimidade juvenil têm procurado explorar questões que surgem ainda pouco claras
ou ambíguas nos estudos até aqui desenvolvidos. Desta feita, uma destas questões
prende-se com o papel que a variável género desempenha na compreensão da violência
em contextos de intimidade. Caridade e Machado (2013) referem que o género parece
não explicar a presença de dinâmicas violentas entre casais heterossexuais. No mesmo
sentido, inúmeros/as autores/as identificam reciprocidade e mutualidade na descrição
dos atos de violência praticados por rapazes e raparigas e apontam o simultâneo
desempenho de papéis de perpetração e vitimação nos seus relacionamentos íntimos
(Machado, Matos, & Moreira, 2003; Paiva & Figueiredo, 2004; Saavedra, 2010). Este
pressuposto parece, no entanto, não reunir consenso entre investigadores/as. Neves
(2014) sublinha a importância de problematizar esta “aparente dupla posição” das
jovens mulheres na violência no namoro, investindo em estudos que permitam explorar
147
mais aprofundadamente as experiências dos/as jovens, de forma a melhor compreender
esta contradição e conhecer os motivos e especificidades dos episódios violentos.
Um outro aspeto emergente da investigação conduzida em território nacional é a
discrepância entre as atitudes (parecem demonstrar intolerância à violência na
intimidade) e os comportamentos dos/as jovens portugueses/as, facto que tem também
vindo a constituir-se um essencial foco de interesse na compreensão desta problemática.
Assim sendo, a investigação deverá direcionar-se no sentido de uma melhor
compreensão da elevada prevalência de comportamentos abusivos reportada, apesar da
não tolerância à violência demonstrada pelos/as jovens (Caridade & Machado, 2013),
complementando a investigação académica pré-existente com pesquisas que nos
permitam aceder a uma maior diversidade de discursos juvenis (Machado et al., 2010).
Outros/as autores/as alertam para a necessidade de estudar de que forma as culturas
juvenis influenciam a manutenção e perpetuação de desigualdades de género na
sociedade tendo em conta a identificação de elevados índices de sexismo hostil, o
enraizamento de estereótipos de género e a justificação do uso da violência como
estratégia de negociação de conflitos (Rodríguez & Caldas, 2010; Rodríguez &
Magalhães, 2013) nos/as jovens portugueses/as. Por último, a investigação sobre
comportamentos de sexting nos relacionamentos de intimidade juvenil em Portugal é
praticamente inexistente, sendo os escassos estudos atualmente publicados de natureza
quantitativa conduzidos com pessoas com idades superiores a 16 anos (Ribeiro, 2019;
Silva et al., 2016).
Contudo, este gradual foco na violência nos relacionamentos de intimidade
juvenil ter-se-á deparado com um preconizar de práticas provenientes de uma cultura de
prevenção que terá sido, durante um período demasiadamente longo, frágil ou
praticamente inexistente (Matos, 2006) e, ainda hoje, pouco direcionada para tipologias
específicas de abuso, tais como a violência sexual (Caridade & Machado, 2013), ou
para grupos juvenis específicos. Dentro do caminho que ainda há a percorrer para
ampliar a compreensão deste fenómeno e das transformações histórico-culturais de que
é alvo, constata-se que os estudos qualitativos ou de natureza multimodal permanecem
escassos, sendo pouco frequente a produção de conhecimento científico desde os
discursos e significados juvenis sobre as suas vivências de violências íntimas,
destacando-se apenas algumas investigações de natureza qualitativa em Portugal
148
(Caridade, 2011; Dias, Manita, Gonçalves, & Machado, 2012; Neves & Torres, 2015).
Igualmente importante e necessário é impulsionar o estudo e a desocultação da
violência sexual nas populações mais jovens face a uma realidade caracterizada pela
falta de estudos e uma urgente necessidade de aumentar o interesse e investimento
científicos sobre esta tipologia específica de violência (Caridade & Machado, 2008).
Pelos motivos elencados, apesar do interesse nacional e dos significativos passos
que foram dados nas políticas sociais sobre a violência nos relacionamentos de
intimidade, muito parece estar ainda por compreender. No presente estudo, as
investigadoras propõem-se aceitar o desafio de aprofundar o conhecimento sobre as
relações sociais de género e a violência nas relações juvenis de intimidade, em
particular as perpetradas com o uso de dispositivos tecnológicos, partindo do discurso
dos/as próprios/as jovens, procurando deste modo compreender as suas primeiras
experiências de relacionamentos de intimidade e os significados que lhes atribuem,
colocando as suas próprias palavras e os seus próprios termos no centro da produção de
conhecimento científico. Assim sendo, a problemática central deste estudo organiza-se
em torno da questão: Quais os discursos juvenis acerca da violência nos
relacionamentos de intimidade?, operacionalizando-se em torno de outras questões
mais específicas que se foram desfiando para a delimitação do objeto de estudo:
- Como são percecionadas as relações sociais de género pelos/as jovens?
- Que conceções sobre amor estão mais presentes nos discursos juvenis?
- Quais os atuais discursos juvenis sobre violência nos relacionamentos de
intimidade juvenil?
- Quais as perceções sobre violência nos relacionamentos de intimidade
juvenil, nomeadamente, sobre a sua frequência, tipologias mais comuns e
consequências?
- Qual o papel das tecnologias nos relacionamentos de intimidade juvenil?
- Quais os riscos associados ao uso das tecnologias nas dinâmicas de
intimidade juvenil?
- Qual a frequência e conhecimento sobre práticas de sexting?
- Quais as perceções sobre o envolvimento de jovens rapazes e raparigas
em comportamentos de sexting?
149
- Quais as opiniões, crenças e motivações para o sexting nos/as jovens
participantes?
- Que consequências poderão advir das práticas de sexting? Há diferenças
tendo em conta o género?
- Qual o impacto de comportamentos de sexting na vida dos/as jovens
participantes?
3.2 Pressupostos Teóricos e Epistemológicos
Vários modelos explicativos têm vindo a ser utilizados na compreensão da
violência nas relações de intimidade. Entre as várias abordagens existentes é possível
identificar as de caráter individual, sistémico e sociocultural e, no estudo de cada uma
delas, a respetiva valorização, ora de fatores individuais, ora de fatores relacionais ou
culturais. A vasta literatura disponível sobre o fenómeno da violência no namoro tem
vindo a recomendar a adoção de uma abordagem compreensiva e multidimensional no
entendimento, no estudo e na explicação sobre os relacionamentos violentos (Caridade
& Machado, 2013).
Neves (2014) tem vindo a referir dificuldades de conciliação entre diferentes
modelos teóricos que apresentam, na leitura que oferecem acerca da realidade,
perspetivas que se antagonizam na forma como pretendem ser explicativas sobre a
violência na intimidade. Esta limitação ou incompatibilidade teórica, parece exigir um
estudo aprofundado sobre as especificidades acerca dos motivos, da reciprocidade e das
repercussões da violência no namoro em termos de pertenças de género (Neves, 2014).
O’Keefe (1997) refere também que as questões de género são, frequentemente,
negligenciadas nos estudos sobre os comportamentos violentos que rapazes e raparigas
apresentam no seio dos seus relacionamentos íntimos.
Partindo da assumpção de que “saber é poder” e constatando que uma das
preocupações centrais dos movimentos feministas se prende, precisamente, com a
assimetria na distribuição de poder entre mulheres e homens torna-se claro que as
questões epistemológicas, ou seja a forma como se produz conhecimento científico, não
são questões menores no presente trabalho de investigação feminista. Acrescenta-se
ainda que também não o são as questões metodológicas e éticas que esboçam o desenho
150
empírico deste trabalho. Porém, não existe uma epistemologia ou metodologia feminista
única, consensual ou homogénea mas sim debates em torno de potencialidades e
limitações de diferentes abordagens na produção de conhecimento (Harding & Norberg,
2005). Porém, a realidade destes debates em Portugal não é tão frutífera como noutros
países (Amâncio, 2001) e beneficiaria de um novo impulso e expansão (Pereira &
Santos, 2014).
Posto isto, a presente investigação optou pela escolha de uma abordagem
sociocultural que faz nascer as hipóteses de pesquisa no seio de um enquadramento
teórico que articula o Construcionismo Social e a Teoria Feminista Crítica.
Desta forma o Construcionismo Social compreende o género como uma
construção social organizada num sistema de significados que determina as interações e
o acesso ao poder e a recursos (Crawford, 1995; Denzin, 1995) que dá sentido às
interações sociais e se materializa nelas. Assim sendo valoriza as categorías sociais, os
processos resultantes do uso da linguagem e a especificidade histórica e cultural
(Gergen, 1982; 1994) (as citted in Nogueira, 2001).
Orientando-se teóricamente no construcionismo social, o feminismo crítico
pretende ser inclusivo e integrador e compreende os grupos de mulheres e de homens
como heterogéneos, entendendo essa diversidade como determinante do acesso
diferenciado a poder e comprometendo-se com o combate à opressão e às desigualdade
(Neves, 2008). Enquadra-se na crítica realizada pelos feminismos à ciência que
denúncia o enviesamento androcêntrico e as generalizações abusivas provenientes de
um saber feito pelo masculino universal (Collin, 1991) e pela secundarização ou
invisibilização das mulheres como objeto ou sujeito (Kamuf, 1990) (as citted in
Nogueira, 2001).
Assim se como nos ilustra Audre Lorde (1984) “As ferramentas do mestre nunca
demolirão a casa do mestre”, a psicologia feminista crítica emerge como uma
alternativa às formas de produção de conhecimento, advogando a necessidade de
romper com os paradigmas tradicionais e positivistas. Segundo Neves (2005) a
psicologia feminista visa o aprofundamento do conhecimento sobre as questões de
género mas também a sua interação com outros sistemas de hierarquias sociais tais
como a raça, a classe social, a orientação sexual e, de especial interesse para este estudo,
151
a idade.
Simultaneamente, será também privilegiada também a Teoria da
Interseccionalidade que teve origem nos anos 70 em torno das reivindicações do
movimento feminista negro e anti-racista (Nogueira, 2011). Esta designação só mais
tarde foi cunhada por Kimberlé Crenshaw (1991) com recurso ao termo
Interseccionalidade referindo-se às interseção das diversas categorias de pertença que
multideterminam complexos fenómenos de opressão e desigualdade. Assim, tem como
objetivo problematizar os impactos das hierarquias sociais, culturais e de classe nas
opressões que vivem grupos particulares de mulheres que inicialmente não faziam parte
da teorização feminista (Oliveira, 2010).
Como resultado do debate em torno das questões epistemológicas e
metodológicas salienta-se também que a produção de conhecimento neste trabalho é
socialmente situada e parcial (Haraway, 1988) ou seja “corresponde a uma
incorporação dos saberes, partindo da opção pela responsabilidade na produção dos
saberes e pela sua localização sócio-histórica. Assim, a objetividade na produção
feminista assenta na parcialidade, no olhar contextualizado, em vez dos falsos
universalismos da ciência positiva, indissociavelmente inscrita na metanarrativa
patriarcal e moderna, em busca de verdades para a sua autolegitimação” (Oliveira &
Amâncio, 2006, p. 601).
Estas características são essenciais na responsabilidade deste estudo e no seu
compromisso em desafiar a ciência tradicional associada à produção de conhecimento
proveniente de grupos dominantes e a produção de discursos alternativos (Nogueira,
2001) acerca dos/as adolescentes e das relações sociais de género nas culturas juvenis
procurando amplificar as vozes juvenis, sobretudo das jovens raparigas, na
compreensão da violência nas relações de intimidade que os/as afeta enquanto vítimas
e/ou agressores/as.
Decorrente da recusa da objetividade, o processo reflexivo torna-se também uma
das ferramentas centrais na investigação feminista. Esta reflexividade prende-se com o
assumir da influência sócio-cultural, histórica e política na produção científica mas
também um reconhecimento do envolvimento do/a investigador/a neste processo. É
simultaneamente um exercício e um instrumento (Ramazanoglu & Holland, 2002) de
153
participação da pesquisa e que consideram ter beneficiado da participação (Maia, Graça,
Cunha, Ribeiro, Mesquita, & Antunes, 2008) é crucial que os princípios da beneficência
e não maleficência, da justiça e da equidade sejam sirectrizes na condução de estudos
com vítimas (Caridade, 2017) ou potenciais vítimas.
Na verdade o cumprimento dos principio éticos na investigação com crianças e
jovens é mais difícil do que com adultos podendo levantar desafios no âmbito legal,
técnico e económico. Porém umas das questões centrais subjaz no dilema de como
beneficiar os/as jovens participantes dos avanços resultantes da produção de
conhecimento e simultaneamente protege-las da sua vulnerabilidade (Kipper, 2016).
Ou seja, trata-se de como contribuir para a formulação de conhecimento que aprofunda
a compreensão das problemáticas que enfrentam garantindo a sua segurança, os seus
direitos e o seu bem-estar (Ferreira & Souza, 2012)
No presente estudo as considerações éticas apoiaram-se sobretudo nas guidelines
internacionais da America Psychological Association (APA, 2002) e no Código
Deontológico da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP, 2016). A Literatura sobre
questões de ética na pesquisa com crianças e jovens, em particular sobre violência nos
relacionamentos de intimidade, é escassa. Dentro dos contributos existentes sobre
questões gerais éticas no trabalho destacam-se as guidelines para a investigação com
crianças e jovens do National Chidren’s Bureau (Shaw, Brady, & Davey, 2011) no
Reino Unido. Neste documento enquadra-se, desde inicio, a participação das crianças e
jovens na produção de conhecimento na Convenção dos Direitos da Criança (UNICEF,
2019), nomeadamente, no seu artigo 12 onde se pode ler que “Os Estados Partes
garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a
sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em
consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade.” (p.13)
reconhecendo-os/as como especialistas das suas vidas e reconhecendo a importância dos
seus contributos para o avanço da investigação, do desenho de políticas (públicas ou
organizacionais) e para as melhorias dos serviços (a si direccionados).
Sem nos alongarmos mais acerca das questões éticas na investigação com jovens
passamos a ilustrar de que forma foram transversalmente incluídas no presente trabalho
desde o seu desenho metodológico até ao que se prevé para a sua disseminação.
Apresentaremos assim as principais ações contempladas para garantir a incluso dos
154
procedimentos éticos no nosso trabalho sem as descrevermos ao pormenor. Essa
posterior descrição de alguns dos elementos, como por exemplo da recolha de
autorização dos representantes legais, poder ser encontrada no subcapítulo
procedimentos de recolha de dados. De seguida são apresentados principais cuidados
éticos tidos em conta nos momentos anteriores, sucedâneos e posteriores à recolha de
dados junto dos/as jovens:
Anterior à Recolha de Dados
- Reunião de apresentação do estudo e dos seus objetivos e clarificação de todas
as questões procedimentais relacionadas com a condução do estudo em ambiente
escolar;
- Recolha de autorização da pessoa responsável pelo estabelecimento escolar para
condução do estudo;
- Recolha de autorização do/a representante legal dos/as alunos/as com idades
inferiores a 18 anos.
Durante a Recolha de Dados
- Explicação do estudo, objetivos e procedimentos e clarificação de dúvidas
colocadas pelos/as adolescentes;
- Recolha do consentimentos informado dos/as jovens para a sua participação no
estudo (nos momentos iniciais à condução da dimensão quantitativa e da
qualitativa);
- Antes do ínicio do preenchimento do instrumento quantitativo os/as jovens
foram convidados a ler a última página do mesmo onde constam informações
acerca da possibilidade de esclarecimento sobre os temas presentes nos
questionários bem como disponibilizado apoio para pedido de ajuda;
- Sensibilização para a importância do clima de respeito nos focus group, a
privacidade do que é partilhado pelos/as colegas e a sensibilidade dos temas
conversados e para a decisão acerca do que partilha, explicando para o efeito,
que ninguém é obrigado a partilhar situações pessoais ou que tragam
desconforto relativamente a nenhuma das perguntas colocadas;
- Apresentação com utilização de nome não verdadeiro à escolha para recolha de
155
dados áudio;
- Condução da última pergunta do focus group acerca da participação e impacto
do estudo;
- Respeito pela interrupção na participação no estudo (quer na aplicação do
instrumento quantitativo quer nos focus groups);
- Interrupção da gravação áudio para alguma partilha mais sensível quando
solicitado por algum/a jovem;
- Disponibilização para debriefing pós-experimental para clarificação de questões
colocadas sobre violência ou algum tópico emergente nos grupos de discussão;
- Apoio e encaminhamento de jovens quando necessário em situações de pedido
de ajuda, disclousure de situações de violência etc.
Posterior à Recolha de Dados
- Convite para sessões de apresentação/discussão de dados preliminares nas
escolas participantes;
- Devolução de dados às instituições educativas;
- Elaboração e disseminação de materiais preventivos.
Terminamos as nossas considerações sobre as questões éticas nesta pesquisas
advogando que tal como refere Ricou (2014) que “a ética é uma utopia muito útil”
(p.446) articulando posteriormente esta ideia com Galeano acerca da utopia para
explicar que a ética no exercício da psicologia se trata de um impulso de aproximação
constante a uma prática clínica ou académica de sucesso e eficácia: “Para que serve
então a utopia? Para isso mesmo: para que tu e eu não deixemos de caminhar” (p.446).
3.3 Objetivos do Estudo
Esta investigação é composta por duas dimensões: uma quantitativa e outra
qualitativa. Apesar dos objetivos gerais serem os mesmos, na primeira dimensão
procura-se explorar algumas das variáveis na amostra de participantes de forma a
complementar a dimensão qualitativa, onde os discursos juvenis foram o foco de
análise. Dentro da análise dos discursos juvenis, será cuidadosamente explorada a
157
Objetivo 1 Conhecer as perceções juvenis sobre relações sociais de género.
Objetivo 2 Conhecer as principais conceções sobre amor presentes nos discursos juvenis.
Objetivo 3 Avaliar a presença de mitos sobre o amor nos/nas adolescentes.
Objetivo 4 Identificar os principais discursos, as perceções e vivências em torno da violência nas
relações de intimidade nos/as jovens portugueses/as.
Objetivo 5 Averiguar diferenças em função do género nos discursos, nas perceções e vivências nas
relações de intimidade dos/as jovens rapazes e raparigas.
Objetivo 6 Reconhecer as motivações e significados juvenis associados à perpetração e vitimação
nos relacionamentos de intimidade juvenil.
Objetivo 7 Conhecer as principais perceções juvenis sobre frequência, tipologias e consequências
da vivência de violência nos relacionamentos de intimidade juvenil.
Objetivo 8 Aprofundar o conhecimento e averiguar a presença de diferenças em função do género
sobre como emergem as dinâmicas de exercício de poder e de controlo nos
relacionamentos de intimidade juvenil bem como é negociado o poder, o desejo e a
vontade.
158
Objetivo 9 Explorar o papel das tecnologias nos relacionamentos de intimidade juvenil.
Objetivo 10 Averiguar a relação entre uso de tecnologias nas dinâmicas de intimidade juvenil e a
emergência de formas de violência de intimidade online.
Objetivo 11 Avaliar o conhecimento e frequência de práticas de sexting nos/nas adolescentes.
Objetivo 12 Compreender os comportamentos de sexting dos/das adolescentes em função do género.
Objetivo 13 Analisar as atitudes face ao sexting dos/das adolescentes em função do género.
Objetivo 14 Explorar as motivações adolescentes para comportamentos de sexting em função do
género.
Objetivo 15 Avaliar a perceção de risco associada a comportamentos de sexting.
Objetivo 16 Identificar situações de violência nos relacionamentos de intimidade associados com o
envio de sexts entre adolescentes.
Objetivo 17 Explorar as consequências da divulgação não consentida de conteúdos de natureza
erótico-sexual.
159
3.4 Hipóteses do Estudo
As hipóteses de investigação pretendem formular direções de resposta às
questões que norteiam a investigação (Haber & LoBiondo, 2014) constituindo-se
afirmações que pretendem explicar as relações entre variáveis, medidas ou conclusões
(Hulbert, 2004) e trazer orientação, especificidade e foco à problemática em estudo
(Kumar, 2011). De forma a contribuirem para (s) objetivo(s) da investigação, as
hipóteses devem ter os seguintes atributos: serem simples, específicas e
conceptualmente claras; permitirem a sua verificação; estarem relacionadas com os
conhecimentos já existentes sobre a temática; serem operacionalizáveis (Kumar, 2011).
Tendo em conta que a presente investigação é de natureza multimodal, as hipóteses
formuladas dizem sobretudo respeito à dimensão quantitativa do estudo uma vez que a
dimensão qualitativa visa, de uma maneira geral, descrever e caracterizar os fenómenos
estudados. Segue-se o levantamento de hipóteses estabelecidas para esta pesquisa:
Hipótese 1. As conceções sobre amor dos/as jovens apoiam-se numa visão de
amor romântico.
Hipótese 2. As raparigas apresentam uma maior manutenção do mito do amor-
maltrato do que os rapazes.
Hipótese 3. Os rapazes apresentam níveis mais elevados de sexismo hostil face
às mulheres do que as raparigas.
Hipótese 4. Os rapazes apresentam maiores níveis de sexismo benevolente face
às mulheres do que as raparigas.
Hipótese 5. As raparigas apresentam mais conhecimentos sobre violência no
namoro do que os rapazes.
Hipótese 6. Os rapazes apresentam maior tolerância à violência psicológica
perpetrada por raparigas.
Hipótese 7. Os rapazes apresentam maior tolerância à violência física perpetrada
por raparigas.
161
Tabela 5
Relação entre as Perguntas de Investigação, os Objetivos, Hipóteses e Metodologia
Problema de Investigação: Aprofundar o conhecimento sobre as suas primeiras experiências de relacionamentos de intimidade e os significados que lhes atribuem os/as jovens através dos seus discursos, colocando-os no centro da produção de conhecimento científico sobre problemáticas sociais de género que afetam os seus relacionamentos de intimidade.
Pergunta de Investigação: “Quais os discursos juvenis acerca da violência nos relacionamentos de intimidade?” Objetivos Gerais: - Analisar as características e dinâmicas da violência nos relacionamentos de intimidade juvenil cara-a-cara ou perpetrada com abuso digital, também denominada por ciberviolência na intimidade. - Explorar papel das tecnologias nos relacionamentos de intimidade juvenil, isto é, as transformações que estão a ter lugar na intimidade em virtude da ampla utilização de dispositivos tecnológicos e do acesso à Internet. - Aprofundar o conhecimento sobre sexting e ciberviolência nas relações de intimidade procurando caracterizar os comportamentos de sexting juvenil desde as percepções juvenis acerca dos conhecimentos, comportamentos, motivações, atitudes e riscos associados.
Perguntas de Investigação Objetivos Específicos Hipóteses Instrumento
- Como são percecionadas as relações sociais de género pelos/as jovens? - Que conceções sobre amor estão mais presentes nos discursos juvenis?
OB.1 Conhecer as perceções juvenis sobre relações sociais de género.
H3. Os rapazes apresentam níveis mais elevados de sexismo hostil face às mulheres do que as raparigas. H4. Os rapazes apresentam maiores níveis de sexismo benevolente face às mulheres do que as raparigas.
Q
Q
OB.2 Conhecer as principais conceções sobre amor presentes nos discursos juvenis.
H1. As concepções sobre amor dos/as jovens apoiam-se numa visão de amor romântico.
Q + FG
OB.3 Avaliar a presença de mitos sobre o amor nos/nas adolescentes.
H2. As raparigas apresentam uma maior manutenção do mito do amor-maltrato do que os rapazes.
Q + FG
Nota. OB=Objetivo específico; H=Hipótese; Q=Questionário; FG=Focus Group
162
Perguntas de Investigação Objetivos Específicos Hipóteses Metodologia
- Quais os atuais discursos juvenis sobre violência nos relacionamentos de intimidade juvenil? - Quais as perceções sobre violência nos relacionamentos de intimidade juvenil, nomeadamente, sobre a sua frequência, as suas tipologias mais comuns e consequências? - Que conceções sobre amor estão mais presentes nos discursos juvenis?
OB.4 Identificar os principais discursos, perceções e vivências em torno da violência nas relações de intimidade nos/as jovens portugueses/as.
H13. Os/As jovens que revelam maior manutenção de mitos sobre o amor apresentam menores conhecimentos sobre violência no namoro.
Q + FG
OB.5 Averiguar diferenças em função do género nos discursos, percepções e vivências nas relações de intimidade dos/as jovens rapazes e raparigas.
FG
OB.6 Reconhecer as motivações e os significados juvenis associados à perpetração e vitimação nos relacionamentos de intimidade juvenil.
H5. As jovens raparigas apresentam mais conhecimentos sobre violência no namoro do que os rapazes. H16. Os/As jovens com atitudes mais tolerantes face à violência psicológica apresentam maiores níveis de sexismo hostil.
Q
Q
OB.7 Conhecer as principais perceções juvenis sobre frequência, tipologias e consequências da vivência de violência nos relacionamentos de intimidade juvenil. OB.8 Aprofundar o conhecimento e averiguar a presença de diferenças em função do género sobre como emergem as dinâmicas de exercício de poder e de controlo nos relacionamentos de intimidade juvenil bem como é negociado o poder, o desejo e a vontade.
H6. Os adolescentes rapazes apresentam maior tolerância à violência psicológica perpetrada por raparigas. H7. Os rapazes apresentam maior tolerância à violência física perpetrada por raparigas. H8. As raparigas apresentam menor tolerância à violência sexual perpetrada quer por rapazes quer por raparigas.
Q
Q
Q
FG Nota. OB=Objetivo específico; H=Hipótese; Q= Questionário; FG=Focus Group
163
Nota. OB=Objetivo específico; H=Hipótese; Q=Questionário; FG=Focus Group
Perguntas de Investigação Objetivos Específicos Hipóteses Metodologia
- Qual o papel das tecnologias nos relacionamentos de intimidade juvenil? - Quais os riscos associados ao uso das tecnologias nas dinâmicas de intimidade juvenil?
OB.9 Explorar o papel das tecnologias nos relacionamentos de intimidade juvenil.
FG
OB.10 Averiguar a relação entre uso de tecnologias nas dinâmicas de intimidade juvenil e a emergência de formas de violência de intimidade online.
FG
OB.11 Avaliar o conhecimento e a frequência de práticas de sexting nos/nas adolescentes.
H15. Os/As jovens com mais comportamentos de sexting apresentam menores conhecimentos sobre violência no namoro.
Q
- Qual a frequência e conhecimento sobre práticas de sexting?
OB.12 Compreender os comportamentos de sexting dos/das adolescentes em função do género. OB.13 Analisar as atitudes face ao sexting dos/as adolescentes em funçãoo do género.
H9. As raparigas participam mais em comportamentos de sexting do que os rapazes.
Q + FG
OB.14 Explorar as motivações adolescentes para comportamentos de sexting em função do género.
H12. As raparigas apresentam mais expectativas relacionais decorrentes da prática de sexting.
Q + FG
OB.15 Avaliar a perceção de risco associada a comportamentos de sexting.
H11. As raparigas percecionam mais riscos associados ao sexting do que os rapazes. H14. Os/As jovens com menores conhecimentos de violência no namoro apresentam menor perceção de risco de comportamentos de sexting.
Q + FG
Q
OB.16 Identificar situações de violência nos relacionamentos de intimidade associados com o envio de sexts entre adolescentes.
H15. Os/As jovens com mais comportamentos de sexting apresentam menores conhecimentos sobre violência no namoro. H16. Os/As jovens com atitudes mais tolerantes face à violência psicológica apresentam maiores níveis de sexismo hostil.
FG
OB.17 Explorar as consequências da divulgação não consentida de conteúdos de natureza erótico-sexual.
FG
164
3.5 Tipo de Estudo
Este estudo tem como principais objetivos analisar as características e dinâmicas da
violência nos relacionamentos de intimidade juvenil, explorar o papel das tecnologias nos
relacionamentos de intimidade e aprofundar o conhecimento sobre sexting e ciberviolência
nas relações de intimidade procurando caracterizar os comportamentos de sexting juvenil
desde as percepções e discursos juvenis acerca dos conhecimentos, práticas, motivações,
atitudes e riscos associados. Para o efeito, foram combinadas metodologias quantitativas e
qualitativas, num estudo de natureza multimodal (Hunter & Brewer, 2003; Johnson &
Onwegbuzi, 2004; Morse, 2003, 2015; Naveda, Colina, Marín, & Perozo, 2014), com recurso
à administração de questionários e à condução de focus groups, enquadrando-se nos
pressupostos teóricos e epistemológicos anteriormente apresentados e servindo de base para
proceder a uma análise de género dos dados recolhidos. Estas opções metodológicas
prendem-se com a necessidade de captar realidades sociais complexas e atuais face aos
constrangimentos que a utilização de apenas uma das metodologias poderia trazer ao
cumprimento dos objetivos estabelecidos, já que apresentaria limitações na compreensão e
aprofundamento de subjetividade e nuances inerentes ao objeto de estudo através dos
discursos dos/as jovens (Creswell, 2008; Creswell & Tashakkori, 2008; Hernández-Sampieri
& Mendoza, 2008).
Hernández-Sampieri, Fernández e Baptista (2010) indicam que a utilização de
metodologias combinadas apresenta como principais vantagens a possibilidade de uma maior
teorização, contribuindo para uma perspetiva mais ampla e profunda da problemática de
estudo. Adicionalmente, a oportunidade de uso de estratégias de recolha de dados mais
criativas e dinâmicas proporciona dados mais variados que poderão ser fundamentais para o
maior rigor científico permitindo ao/à investigador/a a articulação e interpretação de
informações provenientes das diferentes perspetivas.
No presente estudo, a dimensão quantitativa constitui-se uma exploração dos temas
visados nos objetivos gerais e a dimensão qualitativa foca-se no aprofundamento destas
problemáticas a partir das palavras, dos discursos e significados dos/as protagonistas deste
estudo (Hawe, Degeling, & Hall, 1993).
166
A técnica de recolha de dados selecionada foi a condução de focus groups uma vez
que amplia a liberdade dos participantes se expressarem (Denzim & Lincoln 2000) no seio do
grupo de participantes e diminui, por outro lado, o sentimento de destaque da participação
individual que poderia ser experimentado, por exemplo, com a realização de entrevista
individual semi-estruturada (Kvale, 2011). Esta técnica apresenta características que
permitem a flexibilidade e promovem à vontade para a abordagem de temas considerados
mais sensíveis (Barbour & Kitzinguer, 1999; Barbour, 2013)
Na tabela 7, são apresentados os passos seguidos para o desenvolvimento da dimensão
qualitativa e para dar resposta aos objetivos estabelecidos no presente estudo.
Tabela 7
Fases de Desenvolvimento da Dimensão Qualitativa do Estudo
FASE 1 Desenvolvimento da metodologia mais adequada para o acesso às opiniões, perceções e crenças dos/as adolescentes sobre o objeto de estudo da investigação.
FASE 2 Seleção dos/das participantes e consentimento informado. FASE 3 Realização e gravação áudio dos focus groups FASE 4 Verificação e transcrição da informação. FASE 5 Leitura da informação. FASE 6 Inclusão da informação no programa de tratamento e gestão da informação ATLAS.ti 7. FASE 7 Leitura, análise e categorização da informação. FASE 8 Interpretação, discussão e redação dos resultados.
3.6 Participantes
Os/As participantes nesta pesquisa foram convidados/as a participar em ambas as
dimensões, quantitativa e qualitativa, do estudo. Assim sendo, foram inicialmente aplicados
os instrumentos quantitativos e posteriormente conduzidos os focus groups. A diferença no
número de participantes entre a dimensão quantitativa e qualitativa corresponde aos/às
alunos/as que, apesar de terem concordado em colaborar na primeira fase da pesquisa, não
quiseram colaborar na fase posterior.
170
No fim de cada focus group, foi preenchido o documento de análise com as
impressões gerais sobre a discussão. Os dados foram recolhidos entre maio 2016 e junho de
2017.
A recolha de dados foi realizada com base numa metodologia qualitativa e com
recurso à técnica de grupo focal com vista à promoção de uma discussão semiestruturada e
socializada em grupo. A comunicação grupal serve para captar discursos ideológicos e
representações simbólicas associadas aos fenómenos sociais (Arboleda, 2008) que se
pretendem estudar ou conhecer mais aprofundadamente. O guião para condução dos focus
groups foi semiestruturado e integrou um conjunto vasto de questões sobre relações sociais de
género, conceções de amor e violência nos relacionamentos juvenis. Foram ainda
introduzidas questões abertas sobre o uso das tecnologias nos relacionamentos de intimidade
juvenil e sobre conhecimentos, comportamentos, atitudes e riscos associados às práticas de
sexting.
A recolha de dados levada a cabo seguiu os procedimentos de autorização do/a
diretor/a da/o escola/agrupamento de escolas e encarregados/as de educação utilizados na
dimensão quantitativa do estudo. Adicionalmente, foi ainda pedido aos/às alunos/as um outro
consentimento informado escrito, desta vez relacionado com a participação na discussão
focalizada e de recolha de dados em formato áudio. Neste consentimento estavam explicados
o direito à informação do/a aluno/a e garantido o anonimato e confidencialidade dos dados
recolhidos. Os focus groups decorreram nas instalações escolares e tiveram uma duração
média de 40 minutos. Devido a motivos de confidencialidade, rigor científico e de
preservação da identidade, os exertos discursivos foram codificados da seguinte maneira:
- Identificação do/a participante: M (rapariga) e H (rapaz) seguido do número de
identificação de participante e da sua idade (exemplo: M3, 16 – rapariga 3 de
16 anos)
- Identificação do focus group : FGG (do Ensino Geral) e FGP (do Ensino
Profissional) precedido de número de identificação e da natureza do grupo:
masculino, feminino ou misto (exemplo: FGP14 – Misto; FGP13 - Rapazes).
172
computador ou tablet com Internet, frequência do acesso à Internet nos últimos três meses,
média de horas diárias na Internet, locais de acesso à Internet, usos do tempo na Internet e
acesso à Internet com ou sem supervisão.
Questionário sobre Relacionamentos de Intimidade Juvenil (adhoc)
Nesta secção do instrumento foram colocadas perguntas relacionadas com estar num
relacionamento amoroso atual, a existência de algum relacionamento amoroso anterior,
género do/a namorado/a atual, experiência de situação de violência nos relacionamentos
amorosos atuais e passados e tipologia(s) de violência(s) na relação amorosa atual ou passada.
Conhecimentos sobre a Violência no Namoro (Dixe & Fabião, 2013)
O questionário sobre conhecimentos acerca de violência no namoro (Dixe & Fabião,
2013) foi construído no âmbito do projeto “Prevenir a Violência no Namoro – N(amor)o
(Im)Perfeito – fazer diferente para fazer a diferença” e é composto por 47 afirmações: 1. O
ciúme não é causa de violência no namoro; 2. A violência no namoro acontece porque os/as
namorados/as pensam que têm direito de se imporem um ao outro; 3. O ciúme é uma das
principais causas de violência no namoro; 4. Os rapazes são violentos por natureza; 5.
Existem casos de violência no namoro entre os/as jovens da nossa idade; 6. A violência no
namoro é uma situação pouco frequente; 7. A violência no namoro não existe; 8. O ciúme é
sinal de amor; 9. Uma bofetada não faz mal a ninguém; 10. O álcool é a principal causa de
violência no namoro; 11. As drogas são a principal causa de violência no namoro; 12. A
violência no namoro só aparece nos estratos sociais baixos; 13. Quando se namora, devemos
fazer aquilo que agrada ao outro; 14. O fim da relação de namoro significa o fim da violência;
15. A violência pode manter-se após acabar o namoro; 16. Um empurrão não é um
comportamento violento; 17. A violência no namoro é facilmente identificável; 18. Os/As
namorados/as provocam a violência pela forma como se vestem; 19. Só mantém uma relação
de namoro violento quem quer; 20. A violência no namoro provoca isolamento da vítima; 21.
O sentimento de culpa é frequente nas vítimas de violência; 22. O baixo rendimento escolar é
uma consequência frequente da violência no namoro; 23. A violência no namoro é um
problema que só diz respeito ao casal de namorados; 24. O/A namorado/a só controla o/a
outro/a porque gosta muito dela/e; 25. Um/a namorado/a que gosta do outro não agride; 26.
Temos o direito de escolher as/os amigas/os do/a nosso/a namorado/a; 27. Os/As amigos/as
173
não comuns prejudicam a relação de namoro; 28. Gozar com as opiniões do/a namorado/a não
é violência; 29. Gozar com os interesses do/a namorado/a não é violência; 30. Ainda que
namore tenho direito a manter os meus/ as minhas amigos; 31. É difícil terminar uma relação
de namoro violenta porque o outro faz ameaças drásticas; 32. A violência entre os parceiros
não acaba após o casamento; 33. Exercer o poder sobre o/a namorado/a não é violência; 34.
Controlar o/a meu/minha namorado/a é uma manifestação de amor; 35. Tenho o direito de dar
um beijo ao/à meu/minha namorado/a sempre que quero; 37. O sentimento de raiva gera
violência; 38. A gravidez indesejada pode ser uma consequência da violência no namoro; 39.
Quando um/a namorado/a diz que não quer ter atividade sexual está a fazer-se difícil; 40.
Os/As namorados/as só podem sair se forem juntos/as; 41. Os/As namorados/as devem
vestir-se para agradar um/a ao/à outro/a; 42. Os/As namorados/as podem ler as mensagens
de telemóvel um/a do/a outro/a; 43. Os/As namorados/as devem informar os/as parceiros
sempre onde estão; 44. Os/As namorados/as devem informar os/as parceiros/as sempre com
quem estão; 45. A violência no namoro não tem consequências psicológicas; 46. A violência
no namoro só tem consequências físicas; 47. Obrigar o/a namorado/a a iniciar a atividade
sexual é uma forma de violência sexual. Estas afirmações foram colocadas no formato de
Verdadeiro- Falso. As preposições falsas são: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
Os itens foram pontuados com 1 (um) para resposta certa e 0 (zero) para resposta
errada. Sendo a pontuação máxima 47, os scores mais elevados indicam maior nível de
conhecimentos.
Atitudes Face à Violência no Namoro (Saavedra, 2010)
Para aferir resultados relativamente a este aspeto, foi usada a adaptação portuguesa
(Saavedra, 2010) da Attitudes Toward Dating Violence Scale (Price & Byers, 1999). Esta
escala é composta por 76 itens organizados em três subescalas face à violência masculina no
namoro (física, psicológica e sexual) e três subescalas face à violência feminina no namoro
(física, psicológica e sexual).
Assim, pertencem à subescala atitudes acerca da violência psicológica perpetrada por
rapazes nas relações de namoro: 1. Um rapaz não deve insultar a namorada; 2. Um rapaz não
deve dizer à namorada o que fazer; 3. Uma rapariga deve pedir autorização ao namorado para
174
sair com os amigos; 4. Os relacionamentos resultam melhor quando as raparigas procuram
agradar aos namorados; 5. Não existe nenhuma razão para um rapaz ameaçar a namorada; 6.
Por vezes, os rapazes não conseguem evitar insultar as namoradas; 7. Uma rapariga deve
mudar a sua forma de ser para agradar ao namorado; 8. Uma rapariga deve fazer sempre o que
o namorado lhe diz para fazer; 9. Um rapaz não precisa de saber tudo o que a namorada faz;
10. Não existe nenhuma razão para um rapaz insultar a namorada; 11. É normal um rapaz
gritar com a namorada quando está furioso; 12. Um rapaz pode dizer mal da namorada; 13.
Não existe nenhuma razão para um rapaz gritar e berrar com a namorada; 14. Uma rapariga
não deve estar com os amigos se isso aborrecer o namorado; 15. É importante que uma
rapariga se vista sempre da forma que o namorado quer.
Dando continuidade a este questionário, fazem parte da subescala atitudes acerca da
violência física perpetrada por rapazes: 16. Uma rapariga deve acabar o namoro se o
namorado lhe bater; 17. Algumas raparigas merecem levar uma bofetada dos namorados; 18.
Não é correto um rapaz bater na namorada; 19. Por vezes os rapazes não conseguem evitar
dar murros na namorada; 20. Não existe nenhuma razão para um rapaz empurrar a namorada;
21. Por vezes um rapaz não consegue evitar bater na namorada quando ela o irrita; 22. Não
existe nenhuma razão para um rapaz dar uma bofetada à namorada; 23. Por vezes o ciúme põe
um rapaz tão louco que ele bate na namorada; 24. As raparigas que traem os namorados
merecem ser esbofeteadas; 25. Por vezes, o amor faz com que um rapaz fique tão louco que
ele bate na namorada; 26. Normalmente um rapaz não bate na namorada a não ser que esta
mereça; 27. Um rapaz pode bater na namorada se ela merecer.
Prosseguindo, a subescala atitudes acerca da violência sexual perpetrada por rapazes
integra os itens: 28. Quando um rapaz paga a conta num encontro pode pressionar a namorada
para ter relações sexuais com ele; 29. Os rapazes não são donos do corpo das namoradas; 30.
Quando os rapazes ficam muito excitados sexualmente, não conseguem evitar ter relações
sexuais; 31. Os rapazes nunca devem embriagar as namoradas para conseguirem ter relações
sexuais com elas; 32. Um rapaz não deve tocar na namorada a não ser que ela queira; 33. Um
rapaz pode forçar a namorada a beijá-lo; 34. Às vezes os rapazes têm de ser brutos com as
namoradas para as excitarem; 35. Para provar o seu amor, uma rapariga deve ter relações
sexuais com o namorado; 36. Uma rapariga que entra no quarto de um rapaz está a concordar
em ter relações sexuais com ele; 37. Não tem mal pressionar uma rapariga para ter relações
175
sexuais; 38. Não tem mal pressionar uma rapariga para ter relações sexuais se ela já teve
relações no passado; 39. Depois de um casal assumir um compromisso, o rapaz não tem o
direito de forçar a namorada para ter relações sexuais.
Tendo em conta as subescalas sobre violência feminina nas relações de namoro, a
subescala atitudes acerca da violência psicológica perpetrada por raparigas é composta
pelos itens: 40. Não existe nenhuma desculpa para uma rapariga ameaçar o namorado; 41.
Não existe nenhuma razão para uma rapariga insultar o namorado; 42. As raparigas têm o
direito de dizer aos namorados como se devem vestir; 43. Um rapaz deve fazer sempre o que
a namorada lhe diz para fazer; 44. Se uma rapariga berrar e gritar com o namorado, não o
magoa a sério; 45. As raparigas têm o direito de dizer aos namorados o que fazer; 46. É
importante que um rapaz se vista sempre da forma que a namorada quer; 47. Por vezes as
raparigas não conseguem evitar insultar os namorados; 48. Um rapaz deve pedir sempre
autorização à namorada para sair com os amigos; 49. Uma rapariga pode dizer mal do
namorado; 50. É normal uma rapariga gritar com o namorado quando fica furiosa; 51. Por
vezes, as raparigas têm de ameaçar os namorados para eles as ouvirem; 52. Uma rapariga não
deve controlar o que o namorado veste.
De seguida, da subescala atitudes acerca da violência física perpetrada por raparigas
fazem parte as seguintes afirmações: 53. Uma rapariga pode bater no namorado se ele
merecer; 54. Não tem mal se uma rapariga empurrar o namorado; 55. Por vezes, as raparigas
não conseguem evitar dar murros nos namorados; 56. Alguns rapazes merecem levar uma
bofetada da namorada; 57. Por vezes, uma rapariga tem de bater no namorado para ele a
respeitar; 58. Normalmente, uma rapariga só bate no namorado quando ele merece; 59. Uma
rapariga não deve bater no namorado, independentemente do que ele tenha feito; 60. Não
existe nenhuma razão para um rapaz levar uma bofetada da namorada; 61. Puxar o cabelo é
uma boa forma de uma rapariga se vingar do namorado; 62. Nunca está correto uma rapariga
dar uma bofetada ao namorado; 63. Algumas raparigas têm que bater nos namorados para
serem ouvidas; 64. Um rapaz deve terminar um namoro com uma rapariga se esta o
esbofetear.
E, por último, a subescala atitudes acerca da violência sexual perpetrada por
raparigas compreende os restantes itens: 65. Uma rapariga não deve tocar no namorado a não
176
ser que ele queira; 66. Não tem nada de mal um rapaz mudar a sua opinião sobre ter relações
sexuais; 67. Um rapaz deve terminar o namoro com a namorada se ela o obrigar a ter relações
sexuais; 68. Uma rapariga só deve tocar no namorado nos sítios onde ele quer; 69. Um rapaz
que entra no quarto de uma rapariga está a concordar em ter relações sexuais; 70. Não tem
nada de mal uma rapariga forçar o namorado a beijá-la; 71. As raparigas nunca devem
embriagar os namorados para conseguirem ter relações sexuais com eles; 72. Mesmo se um
rapaz tiver dito “sim” sobre ter relações sexuais, tem sempre o direito de mudar de ideias; 73.
Depois de um casal assumir um compromisso, a rapariga não tem o direito de forçar o
namorado a ter relações sexuais; 74. As raparigas nunca devem mentir aos namorados para
eles terem relações sexuais com elas; 75. Para provar o seu amor, um rapaz deve ter relações
sexuais com a namorada; 76. Uma rapariga pode dizer a um rapaz que gosta dele só para
conseguir ter relações sexuais com ele.
As respostas às afirmações deste questionário organizam-se numa escala de Likert: de
0 (Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente). Na versão adaptada, o alpha de
Cronbach da escala total é de 0,94. Tendo em conta a fiabilidade das subescalas, encontraram-
se os seguintes valores de alpha de Cronbach: 0,77 na subescala de violência psicológica
perpetrada por rapazes; 0,81 na subescala de violência física perpetrada por rapazes; 0,80 na
subescala de violência sexual perpetrada por rapazes; 0,79 na subescala de violência
psicológica perpetrada por raparigas; 0,84 na subescala de violência física perpetrada por
raparigas; 0,83 na subescala de violência sexual perpetrada por raparigas.
Os valores de alpha de Cronbach obtidos neste estudo foram de 0,93 na escala global,
0,44 na subescala de violência psicológica perpetrada por rapazes, 0,83 na subescala de
violência física perpetrada por rapazes, 0,90 na subescala de violência sexual perpetrada por
rapazes; 0,85 na subescala de violência psicológica perpetrada por raparigas; 0,85 na
subescala de violência física perpetrada por raparigas e 0,82 na subescala de violência sexual
perpetrada por raparigas.
Escala de Mitos sobre o Amor (adaptada de Rodríguez, Lameiras, Carrera, &
Vallejo, 2013)
Foi adaptada a versão espanhola de Rodríguez et al. (2013b), que avalia a manutenção
de mitos sobre o amor (Bosh et al., 2007) e que compreende a inclusão de 7 itens que retratam
177
7 mitos distribuídos em duas subescalas: Mito da Idealização do Amor (5 itens) e Mito da
Vinculação Amor- Maltrato (2 itens).
Da primeira subescala fazem parte os itens 1. Todas as pessoas têm uma cara metade;
2. A paixão intensa dos primeiros tempos devia durar sempre; 3. O amor é cego; 4. Os ciúmes
são uma prova de amor e 5. O amor verdadeiro pode tudo. A subescala do Mito Vinculação
Amor-Maltrato inclui os restantes itens, nomeadamente: 6. Pode-se amar alguém que se
maltrata e 7. Pode-se maltratar alguém que se ama.
As respostas aos itens sobre mitos de amor organizam-se numa escala de Likert de 1
(Discordo Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente). No estudo original da versão espanhola da
escala Rodríguez et al., (2013), a fiabilidade encontrada foi de 0,70 para a subescala Mito da
Idealização do Amor e de 0,86 para a subescala Mito da Vinculação Amor-Maltrato. Neste
estudo, os valores de alpha de Cronbach encontrados foram de 0,42 para a escala global, 0,38
na subescala de Mitos de Idealização de Amor e 0,63 na subescala de Mitos de Vinculação
Amor-Maltrato.
Inventário Sexismo Ambivalente (Glick & Fiske, 1996)
Foi utilizada a versão espanhola reduzida Rodríguez et al., (2009) do Inventário de
Sexismo Ambivalente (Glick & Fiske, 1996) onde se medem as atitudes de sexismo hostil e
benevolente face às mulheres. A subescala de Sexismo Hostil integra os itens: 1. As mulheres
tentam ganhar poder controlando os homens; 2. As mulheres exageram os problemas que têm
no trabalho; 3. Assim que uma mulher consegue que um homem se comprometa com ela,
tenta, regra geral, controlá-lo de perto; 4. Quando as mulheres são vencidas por homens numa
competição justa, queixam-se, geralmente, que foram discriminadas; 5. Existem muitas
mulheres que, para enganarem homens, insinuam-se sexualmente, primeiro, e depois rejeitam
os seus avanços e 6. As mulheres feministas estão a fazer exigências completamente
irracionais aos homens. Da subescala de Sexismo Ambivalente fazem parte os itens: 7. Muitas
mulheres caracterizam-se por uma pureza que poucos homens possuem; 8. As mulheres
devem ser queridas/desejadas e protegidas pelos homens; 9. Todo o homem deve ter uma
mulher a quem amar; 10. O homem está incompleto sem a mulher; 11. As mulheres, em
comparação com os homens, tendem a ter uma maior sensibilidade moral e 12. Os homens
deveriam estar dispostos a sacrificar o seu próprio bem-estar com o objetivo de garantir
178
segurança económica às mulheres.
As respostas a estas proposições organizam-se numa escala de Likert de 0 (Discordo
Totalmente) a 5 (Concordo Totalmente) estando as pontuações mais altas associadas a
maiores níveis de sexismo. A fiabilidade da escala é de 0,82 na subescala Sexismo Hostil e
0,65 na subescala Sexismo Benevolente. Os valores de Alpha de Cronbach obtidos neste
estudo foram de 0,86 na subescala de Sexismo Hostil e 0,75 na subescala de Sexismo
Ambivalente.
Escala de Comportamentos de Sexting (adaptada de Weisskirch & Delevi, 2011)
A Escala de Comportamentos de Sexting de Weisskirck & Delevi (2011) é composta
por 5 itens com formato de resposta organizada numa escala de Likert de 1 (Nunca) a 5
(Sempre). Na presente pesquisa foi aumentado o número de itens para 9 de forma a responder
aos objetivos estabelecidos, uma vez que a escala original limita os comportamentos de
sexting ao envio de conteúdos através do telemóvel. Assim sendo, foram duplicados os itens
de forma a averiguar os mesmos comportamentos através de outras vias tecnológicas, tais
como redes sociais e Skype. As pontuações mais elevadas nesta escala correspondem a uma
maior participação em comportamentos de sexting.
Na escala original constam os seguintes itens: 1. Já enviei uma fotografia ou um vídeo
sexualmente sugestivo de mim mesmo/a; 2. Já enviei uma fotografia de mim mesmo/a em
roupa interior através do telemóvel; 4. Já enviei uma fotografia de mim mesmo/a despido/a
usando o telemóvel; 6. Já enviei uma mensagem de texto sexualmente sugestiva pelo
telemóvel e 8. Já enviei uma mensagem de texto com propostas de cariz sexual usando o
telemóvel. Foram acrescentados à escala original os itens: 3. Já enviei uma fotografia de
mim mesmo/a através das redes sociais, Skype ou equivalentes; 5. Já enviei uma fotografia
de mim mesmo/a despido/a usando as redes sociais, Skype ou equivalentes; 7. Já enviei uma
mensagem de texto sexualmente sugestiva usando as redes sociais, Skype ou equivalentes e
9. Já enviei uma mensagem de texto com propostas de cariz sexual usando as redes sociais,
Skype ou equivalentes. O alpha de Cronbach do estudo da escala foi 0,86, sendo a fiabilidade
encontrada no presente estudo de 0,84.
179
Escala de atitudes face ao Sexting (Weisskirch & Delevi, 2011)
A Escala de Atitudes face ao Sexting pretende avaliar as atitudes dos/as adolescentes
face à prática de sexting. A escala é composta por 17 itens distribuídos em três subescalas:
Divertido e Despreocupado, Perceção de Risco e Expetativas Relacionais. As respostas aos
referidos itens organizam-se numa escala de Likert de 1 (Nunca) a 5 (Sempre) sendo que
pontuações mais altas nos itens pertencentes às subescalas Divertido e Despreocupado e
Expetativas Relacionais indicam atitudes mais positivas face ao sexting. Na subescala
Perceção de Risco, pontuações mais altas indicam maior identificação dos riscos associados a
esta prática.
A primeira escala integra os seguintes itens: 1. O sexting é só uma maneira de seduzir
(namoriscar, cortejar, galantear); 2. O sexting não provoca nenhum dano; 3. O sexting é
divertido; 4. O sexting é emocionante; 5. O sexting faz parte de uma relação; 6. O sexting é
algo normal nas relações sentimentais de hoje em dia e 7. O sexting não é grande coisa.
A segunda subescala, Percepção de Risco, inclui os itens: 8. Creio que o sexting pode
causar-me problemas no futuro; 9. Enviar textos sexualmente sugestivos é perigoso; 10.
Enviar imagens sexualmente atrevidas deixa-me indefeso/a; 11. Enviar vídeos sexualmente
sugestivos é perigoso e 12. É preciso ter cuidado com o sexting.
Por último, a terceira escala, denominada de Expetativas Relacionais, incluiu os itens
13. Partilho as mensagens de sexting que recebo com os/as meus/minhas amigos/as; 14.
Partilho as minhas mensagens de sexting com os/as meus/minhas amigos/as; 15. O/a
meu/minha parceiro/a sentimental espera que lhe envie textos sexualmente atrevidos; 16. O/a
meu/minha parceiro/a sentimental espera que lhe envie fotografias e vídeos de conteúdo
sexual explícito e 17. O sexting melhora a minha relação ou a minha possível relação.
Não existem informações sobre as propriedades psicométricas no estudo original desta
escala. Na presente investigação, os alphas de Cronbach encontrados em cada subescala
foram respetivamente: 0,74 na subescala Divertido e Despreocupado, 0,82 na subescala
Perceção de Risco e 0,82 na subescala Expetativas Relacionais.
181
Tabela 9b
Guião Semiestruturado para Condução de Focus Group
Temas chave Perguntas Chave
III. Novas e Velhas Formas de Violência no Namoro
4. Na vossa opinião, existe violência no namoro entre os/as jovens? Gostava de vos ouvir relativamente a este tema.
Sub-questões para ajudar a facilitação:
- Que causas podem estar associadas? - Quais as formas mais frequentes? - Quais são as dinâmicas da violência e que significado(s) é/são dados
atribuídos pelos/as jovens? Tem consequências?
- Violência/Controlo com as TIC: jovens que controlam o/a seu/sua namorado/a pelo telemóvel, tweeter, whatsapp, etc? Conhecem o termo sexting? Por que é que vos parece que as pessoas fazem isto? Quem o fará com maior frequência? Rapazes ou raparigas?
- Quem é que ajuda os/as jovens em situações de violência (âmbito escolar)? 5. O que é que acham que deveria ser feito para haver menos relações violentas? 6. Quais as dificuldades que um/a jovem enfrenta para sair de um namoro violento? 7. O que diriam ou fariam a outro/a jovem que estivesse envolvido/a numa situação de violência para o/a ajudar?
IV. Ciberviolência na Intimidade Juvenil
8. Quais os aspetos positivos das tecnologias nos relacionamentos de intimidade? E quais os aspetos negativos? 9. Conheciam o termo sexting? 10. É uma prática frequente entre os/as jovens da vossa idade?
- Há diferenças em função do género nas práticas de sexting? - Quem envia mais frequentemente conteúdos erótico-sexuais? - Quais as motivações para a prática de sexting? - Que riscos poderão advir desta prática? - Conhecem algum caso onde os conteúdos erótico-sexuais foram divulgados
sem consentimento? O que aconteceu? - Que consequências tiveram as diferentes pessoas envolvidas? - Qual o impacto psicológico na divulgação de conteúdos erótico-sexuais
para as pessoas que foram expostas? - Que obstáculos poderão enfrentar estas vítimas?
V. Questões de Encerramento
- O que acharam da vossa participação neste estudo? - Durante esta conversa houve algum tema que tenha sido mais difícil de
abordar ou tenha causado desconforto? - Há alguma coisa que gostassem de ter perguntado ou esclarecido durante esta
conversa e que achem importante clarificar agora?
183
diferente e exclusivo, sendo também possível organizarem-se em categorias de ordem
superior incluindo vários critérios únicos; 2. as categorias são exaustivas de forma a que toda
a informação deve ser incluída em alguma categoria; 3. as categorias devem ser exclusivas,
implicando que cada informação só pode ser incluída numa categoria; 4. as categorias devem
ser significativas e refletir os objetivos da investigação; 5. as categorias devem ser claras e
replicáveis para que a informação seja facilmente incluída numa categoria e não noutra.
Todos os códigos foram organizados em famílias de códigos de ordem superior, procedendo
assim à análise de conteúdo da informação recolhida. Foram analisados, a partir de 18
documentos primários, 180 códigos e 981 citações, 3 famílias de códigos, das quais 1 (uma)
faz referência às relações de género, 8 aos relacionamentos de intimidade e 10 ao papel das
tecnologias nos relacionamentos de intimidade juvenil (cf. Figura 7).
Figura 7 Descrição Análise de Conteúdo
O discurso dos/das jovens foi então analisado através de uma categorização exaustiva
de forma a serem extraídas categorias primárias, secundárias e terciárias em torno dos
principais temas desta investigação: relações sociais de género, relações de intimidade juvenil
e o papel das tecnologias nos relacionamentos de intimidade, estando ilustrado na Figura 8 os
códigos e famílias de códigos utilizadas. A Figura 9 ilustra as codificações atribuídas nos
excertos de discurso analisados.
184
Figura 8 Descrição de códigos e famílias de códigos
Figura 9 Codificação dos excertos de discurso